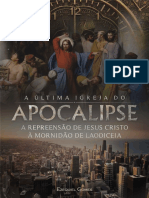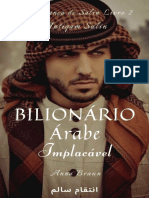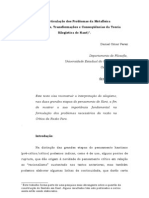Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Daniel Omar Perez A Predicação Do Ser Kant
Daniel Omar Perez A Predicação Do Ser Kant
Enviado por
Daniel Omar PerezTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Daniel Omar Perez A Predicação Do Ser Kant
Daniel Omar Perez A Predicação Do Ser Kant
Enviado por
Daniel Omar PerezDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Predicao do Ser. (A anlise kantiana no perodo pr-crtico.
Uma aproximao lgico-semntica do texto Principiorum Primorum Cognitionis Metaphysicae Nova Dilucidatio.)
Daniel Omar Perez.
Resumo: Este artigo visa uma leitura da Nova Dilucidatio de Kant, destacando o trabalho filosfico do perodo pr-crtico como um labor de anlise sinttico e semntico de proposies.
1- Introduo Tem-se geralmente estabelecida uma ruptura intransponvel entre os chamados perodos prcrtico e crtico, na obra de Kant, at o ponto de desacreditar o primeiro como dogmtico ou meramente empirista, segundo seja o ano de edio do texto pr-crtico em questo. Uma classificao muito conhecida comanda desde o fundo quase que todas as leituras dos textos kantianos antepondo, de maneira no-crtica, o resultado pesquisa. Vejamos como funciona. Primeiramente haveria um Kant pr-crtico e outro crtico. Alguns comentadores arriscam que o crtico deveria ser subdividido entre aquele das duas primeiras crticas e o da ltima, no discutirei esses argumentos aqui. Entretanto, o Kant pr-crtico deveria ser secionado em: a) o momento do racionalismo dogmtico que se estenderia desde o comeo da obra at incios de 1760, este sub-periodo estaria caracterizado pela fsica de Newton e a metafsica de Leibniz e Wolff, determinando as grandes linhas de pesquisa e pensamento; b) o momento do empirismo, que se prolongaria por toda a dcada de 1760, ali Kant teria sustentado as influncias de Locke e Hume, como tambm de Rousseau e Shafterbury. Apesar de ter sido o prprio Kant quem chamou de dogmtico o seu primeiro perodo em vrios momentos da etapa crtica, no parece adequado considerar que isso implique diretamente o esquecimento daqueles textos, muito pelo contrrio, possvel encontrar a o comeo da problematizao de vrios tpicos que sero sistematizados mais tarde, na etapa crtica. Philonenko diz, que se bem Kant olha para os escritos pr-crticos sem agrado, e tal vez desejara no v-los publicados em suas obras, a utilidade de estud-los importante, j que "se v formar aos poucos as noes principais, por exemplo, a distino entre pensar e conhecer, a distino entre razo lgica e razo real, a separao entre matemtica e filosofia". Deste modo os textos pr-crticos seriam vistos como pr-originrios. A importncia do seu valor estaria no seu carter germinal. Tudo se passa como se as "noes principais" em estado pr-crtico foram corrigidas, aos poucos, para serem transformadas em "crticas". Dando um passo a mais que Philonenko, ns podemos dizer que no se trataria exatamente da origem germinal daquilo que evoluiria com o passo do tempo, at se converter no fruto da "crtica". justamente atravs desses mesmos tpicos tratados
no perodo pr-crtico como j aparecem os problemas lgico-semnticos fundamentais do texto crtico. Os textos pr-crticos j apresentam, embora fragmentariamente, os problemas que sero sistematizados na etapa crtica. O deslocamento de sentido que se produz na relao pr-crtico/crtico traz as marcas dos antigos textos. Isto no representaria nem uma ruptura, nem uma evoluo no sentido estrito. Uma reflexo de Kant, (Rx 4964) sobre a CRP, permite pens-los neste sentido. "Por este trabalho, o valor de meus escritos metafsicos precedentes integralmente negado. Eu procurei apenas salvar a justeza da idia". Com efeito, o trabalho crtico choca com a empresa metafsica da poca anterior. por isso que o valor daqueles escritos, em relao aos seus resultados, deve ser deixado de lado para os interesses da etapa crtica. Mas, "a justeza da idia" que ele procura salvar aquilo que emerge nos textos pr-crticos, e que aqui tentarei enunciar como a "preocupao pela significao dos conceitos e a formulao de problemas com sentido". Essa ser a problemtica a sistematizar a partir dos trabalhos da dcada de setenta. Assim sendo, possvel ler nos textos pr-crticos que: na medida em que Kant tenta resolver problemas metafsicos e cientficos defronta-se com problemas de significao. Todos aqueles textos sobre lgica, sobre o conceito de fora, de esprito, de Deus, de moral ou de natureza, so objeto de uma reflexo sobre problemas de significao no uso e aplicao dos termos. Esta preocupao, aos poucos, vai se tornando uma exigncia temtica. assim como se evidenciam, no que Kant j declara como o modo dogmtico de formulao e resoluo de problemas metafsicos: a) o uso abusivo de regras lgicas que tendo validade para as formaes proposicionais no so, por isso, a origem da prpria existncia das coisas sensveis; b) o uso abusivo de alguns princpios de experincia, que no tendo garantias fora desta, so aplicados a objetos que no pertencem a nenhuma experincia possvel, carecendo de qualquer fundamento objetivo; c) a clusula metafsica de "razo suficiente" que usada, na metafsica tradicional, sem qualquer restrio em relao s coisas existentes; d) a confuso do modo de conhecimento matemtico com o modo de conhecimento filosfico (conhecimento por construo de conceitos e conhecimento por conceitos respectivamente), e e) a mistura do mbito das relaes lgicas abstratas (que independem de toda e qualquer experincia) com o campo das coisas existentes (que devem ser determinadas em relao a uma experincia possvel) sem fazer qualquer distino clara que permita, depois, vincul-las adequadamente. Todos estes tpicos so tratados por Kant de diversos modos. Algumas vezes ocupam um lugar central, indicados de maneira especfica como o objetivo explcito da pesquisa empreendida, e outras so s assinalados marginalmente, mas, mesmo assim, possuem uma importncia nuclear para o contedo do texto. Isto tudo desenha-se em uma tenso da escrita kantiana que, na mesma medida em que pretende alcanar uma "metafsica certa", defronta-se com os prprios problemas da metafsica, quer dizer, com os problemas que a prpria metafsica tem no seu funcionamento. Por outras palavras, Kant procura explicitamente a verdadeira metafsica, sua estrutura, seu mtodo, mas, nessa busca, s consegui achar problemas. O questionamento da antiga metafsica, torna-se atividade questionadora e finalmente crtica. no prprio decorrer da escrita kantiana que se produz essa metamorfose. As proposies mudam de sentido, o significado dos termos deslocado, o gesto kantiano toma outra forma. oportuno aclarar, antes de mais nada, que esta "temtica da significao" kantiana da etapa prcrtica no surgiu sem inconvenincias, teve seus progressos e tambm seus retrocessos. Por causa desses movimentos "textuais" foram necessrios alguns rodeios e caminhos indiretos para chegar sua formulao decisiva. Podemos, portanto, observar como, por exemplo, em um conjunto daqueles escritos da primeira poca, a saber: Histria Universal da Natureza e Teoria do Cu Onde se Trata do Sistema e da Origem Mecnica do Universo Segundo os Princpios de Newton (1755), Breve Esboo de Algumas Meditaes Sobre o Fogo (1755, b), Monadalogia Fisicae (1756), Investigao Acerca da Evidncia dos Princpios da Teologia Natural e da Moral
(1764), a preocupao semntica surge a partir do tratamento das relaes entre a cincia da natureza e a metafsica. Aqui Kant procura mostrar: a) a necessidade de autonomia das leis fsicas em relao a qualquer explicao ou interveno no cientfica, e b) a necessidade de seguir um mtodo experimental e construtivo na explicao cientfica. Isto desenvolvido por Kant no tratamento de problemas concretos da cincia da sua poca (fsica, qumica, astronomia e matemtica). Entretanto, no mesmo perodo, tambm possvel observar as dificuldades que Kant tem para explicitar e aplicar claramente os resultados da problemtica da significao na prpria metafsica, voltando dessa maneira, a cometer o mesmo erro dogmtico que tinha sido questionado anteriormente. A Monadalogia Fisicae (1756) o exemplo disso. Aqui Kant pretende demonstrar a existncia real das mnadas por um simples raciocnio lgico sem qualquer referncia sensvel na sua operao. Essa distino do campo da lgica em relao ao mbito do real sensvel aprofundada noutros textos, tais como: Nova Dilucidatio (1755, c) e Acerca da Falsa Sutileza das Quatro Figuras do Silogismo (1762); ali questionado o estatuto da demonstrao lgica no que se refere ao conhecimento objetivo da existncia das coisas elas mesmas. O tratamento do princpio de razo suficiente e da teoria do silogismo revela-nos as dificuldades semnticas envolvidas, tanto na indagao dos primeiros princpios do conhecimento como na interpretao das operaes lgicas. No primeiro caso preciso restringir o uso do princpio de razo suficiente conhecendo as suas limitaes, entretanto, no segundo caso, Kant nos adverte que necessrio adequar os resultados da deduo silogstica ao conhecimento efetivo da realidade. A distino das relaes lgicas e do campo das coisas sensveis apresenta conseqncias semnticas importantssimas com relao aplicao e ao reconhecimento dos limites da lgica. Por exemplo em Ensaio Para Introduzir o Conceito de Magnitudes Negativas... (1763) Kant tentar distinguir a oposio real (de dois predicados de uma mesma coisa que do um resultado afirmativo) da contradio lgica (que impede qualquer resultado vlido) destacando a necessidade de levar em conta o contedo da expresso formal. Contudo, em nico Fundamento Para a Demonstrao da Existncia de Deus (1763), seguindo a mesma linha de demarcao, Kant no vai considerar a existncia como um predicado ou determinao lgica, mas sim como "posio" absoluta do objeto. Nos dois textos est em jogo a existncia como efetividade, impossvel de ser reduzida mera determinao lgica. Todas essas pesquisas trazem como resultado o verdadeiro fracasso daquele projeto empreendido por Kant nos seus primeiros trabalhos, a saber: procurar uma boa metafsica que alcance conhecimentos certos. A cada passo encontra-se com contradies e obscuridades semnticas na formulao e resoluo de tais problemas. Devido a isto Kant chega a afirmar que a metafsica no existe, e se existe to s o sonho de um visionrio. No interior desta interpretao global, que damos a modo de introduo, abordaremos apenas um texto, onde tentaremos destacar no s os resultados do trabalho, seno sobre tudo o procedimento no tratamento dos temas em questo. A Nova dilucidatio se apresentar como um indicativo do trabalho de Kant nos seus primeiros textos, embora seja apenas na elaborao parcial de alguns dos tpicos acima mencionados.
2- A anlise proposicional dos princpios do conhecimento. O objetivo declarado do trabalho da dissertao latina Principiorum Primorum Cognitionis Metaphysicae Nova Dilucidatio de 1755 "lanar alguma luz sobre os primeiros princpios de nosso conhecimento". Para alcanar esta meta Kant divide o texto em trs sees.
A primeira teria duas tarefas, a saber: 1) "avaliar de maneira rigorosa as alegaes correntes em favor da primazia suprema e incontestada do princpio de contradio em relao a todas as verdades", e 2) "expr corretamente o que deve ser estabelecido quanto a esta questo". A segunda, propor-se-ia "expr tudo o que contribui para a exata compreenso e demonstrao do princpio de razo suficiente, bem como as dificuldades que da surgem e que contribuem para o obscurecer, e opor a essas dificuldades o vigor dos argumentos". E finalmente, na terceira seo, "estabelecer dois novos princpios do conhecimento". neste quadro onde Kant desenvolve seu trabalho. Com efeito, Kant parte de um diagnstico negativo do estado atual da metafsica. Segundo parece, seus prprios princpios e regras de funcionamento no esto adequadamente formulados. Sintaticamente confusos, ambguos e vagos na sua aplicao, mister aprimor-los em beneficio de um conhecimento metafsico certo e rigoroso. Rigoroso, tanto quanto o conhecimento da fsica, com relao ao qual Kant se prope ajust-lo, s vezes analogamente, s vezes utilizando seus exemplos de maneira que funcionem metonimicamente em relao s novas explicaes elaboradas. Seja como for, a questo passar dos problemas de significao, que carregam as formulaes inadequadas, da metafsica tradicional para um domnio de conhecimentos metafsicos "irrefutveis" (para usar a palavra do texto). O fio condutor desta indagao ser o cuidado do termo "ser" em duas de suas variantes, a saber: 1) enquanto noo gramatical, como funo de cpula, que liga sujeito e predicado formando uma proposio do tipo [S . P] . 2) enquanto noo lxica, como marca gramatical de identidade, que refere terceira pessoa do singular do presente do indicativo (), e que semanticamente se desloca, ao menos no texto kantiano, para o termo "existe", como noo predicativa "S existente". Estes dois aspectos do termo ser permitem Kant elaborar duas instncias de anlise, uma sinttica, onde reformula os princpios lgicos, e outra semntica, onde restringe a sua interpretao e aplicao. No se trata exatamente de um paralelismo do tipo gramtica-sinttica e lxico-semntica, mas sim, como veremos logo, de um cruzamento de aspectos e instncias. Tanto o princpio de identidade, que reformulado sintaticamente, quanto o de razo suficiente, que alm da reformulao sinttica exige a restrio semntica, devem levar em conta o termo ser como cpula e como noo lxica para ser examinados e redefinidos. Propor-nos-emos desenvolver esta colocao tentando, na medida do possvel, seguir a prpria ordem da letra de Kant.
3- Identidade, contradio e terceiro excludo. Na primeira seo, Acerca do princpio da contradio, Kant trata o tema em trs proposies. Na Proposio I se afirma que: No existe um princpio nico, absolutamente primeiro e universal, para todas as verdades.
Kant chega a esta sentena a partir da anlise da estrutura da proposio do tipo S-P. De acordo com seu raciocnio, um princpio nico, primeiro, deve ser simples. Isto , se implica, na sua formulao, vrias proposies, quer dizer, se est composto por vrias partes simples, se o predicamento refere a mais de um sujeito, ento s aparentemente um princpio "nico". Para que seja realmente simples a proposio deve ser ou negativa ou positiva. Uma proposio nica simples -segundo Kant- no pode abarcar e fundamentar a totalidade das formulaes que so, basicamente, ou negativas ou positivas, devido a que de uma proposio negativa s poderamos extrair diretamente conseqncias negativas, o que analogamente aconteceria com as positivas. Deste modo, um tipo de proposio no pode ser deduzida da outra. assim como, para obter conseqncias positivas das afirmaes negativas, precisamos de introduzir a mediao de outra proposio, a saber: verdadeiro tudo aquilo cujo oposto falso. Aqui, o princpio do terceiro excludo permitiria a passagem da afirmao positiva para a negativa, ou vice-versa. Seguindo ento o raciocnio kantiano, poderamos dizer que pareceria ser que s a introduo do terceiro excludo garantiria a unidade dos dois aspectos do denominado "princpio de Identidade", reformulado do seguinte modo, tal como diz na proposio II: Existem dois princpios absolutamente primeiros de todas as verdades, um para as verdades afirmativas: "Tudo aquilo que , ", e outro para as verdades negativas: "Tudo o que no , no ". Ambos so geralmente chamados "Princpio da Identidade". Este tipo de reformulao cumpriria com a exigncia de simplicidade, que caberia a um princpio primeiro, na afirmao positiva ou negativa do prprio termo. Deste modo, de acordo com Kant, existem dois tipos de demonstraes para as classes de formulaes acima indicadas, uma direta e outro indireta. A demonstrao direta deduz a verdade da proposio das noes do sujeito S e do predicado P, onde P concorda com S. Isto , de acordo com o princpio de identidade no seu duplo aspecto, segundo seja a formulao negativa ou positiva. Sendo assim, a concordncia entre S e P pode ser afirmativamente negativa ou afirmativamente positiva, devido funo gramatical de cpula do termo "ser". Onde o termo geral designado pelo sujeito S inclui ou exclui na sua extenso o predicado P atravs da cpula. O caso da demonstrao indireta (atravs do princpio do terceiro excludo) que surge atravs da reduo dos termos, apresenta-se nos seguintes passos, a saber: _ verdadeiro tudo aquilo cujo oposto falso , _ tudo aquilo cujo oposto negado, deve ser afirmado. _ Tudo aquilo que no no existente, existe. _ Tudo o que , . Igualmente, aplicando o procedimento de reduo segunda formulao falso tudo aquilo cujo oposto verdadeiro, obteramos: Tudo o que no , no . Assim sendo, o procedimento de reduo, da demonstrao indireta, conduziria ao princpio de identidade (no seu duplo aspecto) como fundamento de todo o universo de proposies. Neste caso, tanto a funo gramatical quanto a noo lxica esto envolvidos. No s se trata de enunciar uma relao de identidade atravs da cpula, mas tambm de afirmar o prprio termo enquanto noo lxica. Termo este, irredutvel do ponto de vista da anlise kantiana, devido a sua unidade e simplicidade.
Assim sendo: Na demonstrao direta temos: Tudo o que , . S P. Na demonstrao indireta temos: Tudo o que , . O ser E em ambos os casos sua contrapartida negativa. Deste modo, chegaramos ao termo mais simples, o termo "ser"( e sua contrapartida negativa) como instncia ltima. Consequentemente, na proposio III se estabelece a: Superioridade do princpio da identidade sobre o princpio da contradio como regra suprema na subordinao das verdades. De acordo com Kant, o princpio de contradio: impossvel que uma coisa seja e no seja ao mesmo tempo, uma definio de impossvel que pressupe os termos e no-, como dissemos, os nicos termos verdadeiramente irredutveis, simples e primeiros. Isso significaria que a formulao composta, transgredindo a exigncia de simplicidade de uma proposio absolutamente primeira, e posterior ao princpio da identidade, que daria conta dos elementos simples incorporados em dita proposio (tal como ns demonstramos estendendo o raciocnio kantiano). Como podemos observar, no se trata de mero tecnicismo sinttico. O que est em questo, nesta elucidao, o esclarecimento, a travs da reconsiderao, da lei que rege os raciocnios de nosso esprito, que procede por anlise e que parte de um termo "absolutamente simples" o Ser. em funo do termo "ser", em seu duplo aspecto lexico-gramatical, que Kant consegui avanar na lei do raciocnio humano e comear a "dar luz aos primeiros princpios do conhecimento". A inteligncia humana, segundo Kant, (a diferena da inteligncia Divina, que atuaria de tal modo que teria sob si todas as relaes em um nico ato de intuio intelectual) uma inteligncia obscurecida pelas trevas, modo potico de falar da finitude. Entretanto, a inteligncia divina ilumina de uma s vez a totalidade das coisas. Assim, a seqncia discreta da anlise humana, caracterstica fundamental do raciocnio discursivo (que se desenvolve entre as luzes e as sombras), diferenciar-se-a do continum da intuio intelectual divina (como pura luz). Se levarmos em conta o dito anteriormente, a metfora das trevas poderia ser lida como indicando essa finitude do humano diante do infinito do divino, desta maneira como o prprio procedimento, o passo a passo do raciocnio humano, deve ser iluminado na sua formulao, essa a tarefa em questo. Feito isto, Kant d um passo a mais no tratamento do raciocnio humano e avana na elucidao de um princpio mais complexo.
4- Razo Suficiente O segundo ponto problematizado o princpio de razo suficiente. Em funo disto, na seo II, Kant comea pela definio da Razo determinante a partir dos seus elementos fundamentais. Assim, podemos ler a Proposio IV: "Determinar" considerar um predicado excluindo o seu oposto. Chamamos "razo" quilo que determina um sujeito em relao a um predicado. A razo divide-se em razo "anteriormente" determinante e razo "posteriormente" determinante. A razo anteriormente determinante aquela
cuja noo precede o que determinado, isto , sem a suposio da qual o determinado no inteligvel. A razo posteriormente determinante aquela que s considerada quando a noo por ela determinada j o foi algures. Podemos tambm chamar primeira razo, aquela que responde questo "porque", quer dizer, aquela que diz respeito ao ser ou devir; segunda aquela que responde questo "o qu", quer dizer, aquela que diz respeito ao conhecimento. pertinente indicar que na edio bilinge das Werke, aqui utilizada, a traduo de Ratio Grund, como geralmente se traduziria do latim para o alemo; o tradutor portugus preferiu utilizar Razo em vez de Fundamento. O termo "razo" em portugus tem, entre outras acepes (como causa, motivo, fundamento ou causa justificativa), a de ser "prova por argumento". Esta ltima significao a privilegiada em um momento da anlise, mas a escrita kantiana permite essa leitura ambivalente (entre prova como processo e causa como instncia) tanto que acaba culminando na prpria problemtica da Fundamentao como Causa ltima. Em alemo essa ambivalncia tambm pode ser mantida, "Grund" refere a "Boden" ou "Feld", mas tambm sinnimo de "Argument" que refere a "Beweisgrund". Antes de avanar em qualquer afirmao sobre deslocamentos semnticos sigamos as distines do texto. Em relao ao primeiro tipo de determinao Kant faz uma nota de rodap, que pode ser bastante esclarecedora, para caracterizar o enunciado da razo determinante, a saber: Poder-se- acrescentar a razo IDNTICA onde a noo de sujeito, pela sua perfeita identidade com o predicado, determina este; por exemplo, um tringulo de trs lados; neste caso, a noo de determinado no segue nem procede a noo de determinante. Assim, a explicitao da relao de identidade nos permite constituir o seguinte quadro de classificaes: RAZO ANTERIORMENTE DETERMINANTE IDENTIDADE RESPONDE "PORQUE?" RAZO DE SER ANTECEDNCIA POSTERIORMENTE DETERMINANTE EXPERINCIA RESPONDE "O QU?" RAZO DE CONHECER CONSEQNCIA
Trata-se de dois tipos de relao ou encadeamento entre sujeito e predicado, onde a verdade da proposio est dada pela coerncia da relao. E -como diz Kant- dado que a verdade resulta da determinao de um predicado num sujeito, a razo determinante no apenas o critrio de verdade mas tambm a sua fonte... Com efeito, a "determinao", como "critrio e origem" da verdade, exige um tratamento cuidadoso e apurado tanto nas sua formulao quanto na suas conseqncias. Em funo disso, Kant exemplifica os dois tipos de determinaes com a explicao dos eclipses dos satlites de Jpiter. Citemos o texto: Para ilustrar a diferena entre as razes anterior e posteriormente determinantes tomarei como exemplo os eclipses dos satlites de Jpiter: afirmo que eles fornecem a razo de conhecer da propagao da luz, propagao que no instantnea, mas de uma determinada velocidade; mas esta razo apenas determina, como conseqncia, esta verdade, pois que se no existisse qualquer satlite de Jpiter ou se as suas revolues no fossem seguidas da sua ocultao, a luz no deixaria de estar em movimento no tempo, embora talvez o ignorssemos. E para mais me aproximar da definio apresentada, poderei dizer que os fenmenos dos satlites de Jpiter, provando que o movimento da luz no instantneo, pressupem exatamente essa propriedade
da luz, sem a qual eles no poderiam produzir-se. Consequentemente estes fenmenos determinam apenas aquela verdade. Detemos aqui o texto para reler alguns destaques. Tratar-se-a ento de uma operao denominada razo de conhecer, onde a partir do estudo de um fenmeno (os eclipses dos satlites de Jpiter) poder-se-ia determinar uma verdade, a da propagao da luz, na qual se determina a sua velocidade e se prova -como se cita- que seu movimento no instantneo. A observao do fenmeno permite-me explicar algo que est na sua base e que, por sua vez, faz com que o "fenmeno" seja tal fenmeno. O fenmeno enquanto fenmeno apresenta, na razo de conhecer, algo que no fenmeno. O fenmeno deixa aparecer outro tipo de ratio, Grund, fundamento. Continuamos a citao kantiana: Mas a razo de ser, isto , a razo pela qual o movimento da luz est ligado a uma certa durao temporal (se adaptarmos a opinio de Descartes) assenta na elasticidade dos glbulos elsticos do ar que, conforme a leis da elasticidade, cedem um pouco ao choque tornando assim perceptveis, na medida em que os renem numa grande srie, os momentos nfimos de tempo absorvido em cada glbulo. Esta razo anteriormente determinante: sem a sua existncia no haveria absolutamente lugar para a determinao, pois se os glbulos de ter fossem perfeitamente rgidos no perceberamos nenhum intervalo de tempo, fosse qual fosse a imensidade das distncias percorridas entre a emisso e a chegada da luz. Assim sendo, na mesma medida em que explicitada, na observao, a razo de conhecer (posteriormente determinante, isto quer dizer, no nvel do fenmeno), devemos levar em conta um outro nvel de explicao, que aquele da razo de ser. A razo de ser, como dissemos, est na base, na origem, no nascimento do fenmeno, tal como manifestaria o termo do tradutor alemo Entstehungsgrund. Aquilo que se denomina "anteriormente determinante" pareceria ser que funcionaria como hiptese de trabalho (mas no como "mera" hiptese, j que tem o peso de ser "fundamento de origem", "razo de nascimento" do que aparece no fenmeno), e o "posteriormente determinante" como conseqncia da experincia de um fenmeno em questo. O procedimento de escolha da "hiptese", ou em termos mais rigorosamente kantianos da "razo anteriormente determinante", no aleatrio, nem executado meramente por meio do ensaio e do erro, mas a partir da excluso de seu oposto. Um exemplo ilustra este procedimento, diz Kant: para ns um ponto indeterminado saber se o planeta Mercrio gira ou no em torno do seu eixo, dado que nos falta uma razo que apoie uma ou outra hiptese, excluindo a outra. As duas permanecem possveis no sendo verdadeira nem uma nem outra, em relao ao nosso conhecimento. Por outras palavras, no tendo uma ratio cognoscendi (razo de conhecer), que nos permita excluir uma hiptese em favor da afirmao da oposta, no podemos avanar em qualquer ratio essendi, razo anteriormente determinante. Se aplicarmos o mesmo procedimento no caso da escolha dos glbulos de ter elsticos ou rgidos, poderamos sim afirmar uma das opes, devido a que temos uma razo para isso. Portanto, para declarar possvel de ser verdadeira ou falsa uma determinada afirmao que no possamos observar fenomenicamente, devemos ter uma razo (posteriormente determinante) que apoie uma hiptese e exclua sua oposta. O processo na sua totalidade implica inferncia e excluso da oposio do anteriormente determinante em relao com o que aparece fenomenicamente. deste modo, que podemos dizer que no s temos um mtodo para achar uma razo de ser, mas tambm um critrio para estabelecer sua possibilidade de verdade ou falsidade. Vemos ento, de acordo com Kant, que existem duas formas de determinao inteiramente diferentes em relao a sua origem, procedimento e conseqncias. Deste modo, conformam-se dois modelos explicativos dissimiles, embora confluam em uma mesma realidade. A utilidade desta elucidao seria a de no confundir o que teria o estatuto de "hipottico" com aquilo que efetivamente observvel, dado.
Assim sendo, pereceria ser que a distino dos dois procedimentos, entre anterior e posterior, no princpio de razo suficiente, s possvel a partir do esclarecimento do princpio de identidade nos seus termos mais simples. Sendo que "o ser ": 1) o do ser pode ser demonstrado atravs de uma relao de identidade, " porque absolutamente necessrio que seja"; 2) o do ser pode ser demonstrado atravs da afirmao do termo; " porque existe". Em vistas desta reformulao, ao contrrio do que aparentemente poderamos afirmar, temos que em 1 a no-contradio lgica no suficiente para a afirmao de uma razo anteriormente determinante, mesmo quando 1 formulado nos limites da ordem lgica ou "ideal", a operao, para sua aceitao, envolve uma razo posteriormente determinante, ou efetiva, que permita pr em prtica o mtodo da afirmao de um termo pela excluso do oposto. assim como 2 no s exige uma sintaxe coerente, mas tambm uma semntica que permita que a afirmao do termo tenha uma referncia efetiva, e assim dar sustento afirmao de 1. Naquele caso (2) o "" do ser apresentado e no apenas deduzido como necessrio (1). Portanto, na leitura do termo Ratio, Grund, Razo ou Fundamento a prpria noo de "ser" na sua distino a que est em questo. Esta distino fica oculta na definio de "razo suficiente" de Wolff, que Kant acha errnea, e por isso prefere reelaborar e chamar de "razo determinante", destacando no enunciado a prpria operao, j que -como dissemos na citao - determinar colocar uma coisa de tal maneira que o oposto seja excludo. Assim sendo, a definio de Wolff: (A razo o que permite compreender porque que uma coisa em vez de no ser.) misturou -segundo as palavras do prprio Kant- o definido e a definio, dado que o porque, suficientemente claro do ponto de vista do senso comum para poder ser utilizado numa definio, supe contudo, sem o exprimir, a noo de razo. Portanto, torna-se necessrio deixar em claro que o "porque" implica uma "razo", isto , porque razo uma coisa em vez de no ser. E consequentemente, essa razo teria de ser explicitada como anterior ou posteriormente determinante. Uma vez realizado este esclarecimento Kant avana na explicitao e demonstrao da Proposio V: Nada verdadeiro sem uma razo determinante. Para demonstrar esta proposio, Kant comea considerando a verdade de uma proposio a partir da determinao do sujeito pela afirmao de um predicado na excluso de seu oposto. Isto , para que uma proposio seja verdadeira um sujeito S determinado em relao a um predicado P. Assim sendo, o predicado P, que determina ao sujeito S, exclui o seu oposto ~P. Portanto, dado um sujeito S, sua predicao no pode ser P e ~P. Esta excluso opera em virtude do princpio de contradio. O princpio da contradio uma exigncia lgica para o funcionamento da regra. Isto indicaria que a verdade da proposio est dada pela excluso do predicado oposto ao sujeito em questo. Sem a excluso no h qualquer verdade, porque no haveria qualquer razo de determinao. Dito em outras palavras, para que uma proposio seja verdadeira deve existir uma razo determinante. E esta razo aparece, como temos visto, na excluso de um termo a partir da afirmao de seu oposto.
Esta mesma demonstrao desenvolvida por Kant seguindo um raciocnio inverso. Dado um sujeito dado, devemos ter uma razo determinante para afirmar um predicado P na excluso de seu oposto. Neste caso ele menciona esquematicamente aquilo que j foi desenvolvido no exemplo dos satlites de Jpiter. Quer dizer, existe sempre uma razo anteriormente determinante, ou gentica, se preferimos, ou pelo menos idntica, pois a razo posteriormente determinante no constitui a verdade, limitando-se a explic-la. Nesta citao temos mais um elemento de destaque, a saber: aquilo que constitui a verdade (razo anteriormente determinante) e aquilo que explica a verdade (razo posteriormente determinante). Esta ltima, tal como o prprio Kant nos indica, estaria no nvel da certeza, mas como de observar, a certeza na explicao do fenmeno est baseada em uma razo anteriormente determinada que "constitui" a verdade daquela. Portanto, na aplicao do princpio de razo determinante para a explicao de um fenmeno, temos ordenada uma seqncia de classes e uma seqncia no interior de cada classe. Uma seqncia de relaes causais de um tipo, no caso da razo posteriormente determinante, isto , de carter observvel; e uma seqncia de relaes causais de outro tipo, no caso da razo anteriormente determinante, de carter ideal. Deste modo, na relao da determinao da verdade, a causa ideal, enquanto constituinte da verdade do que "", a ratio essendi, a razo de ser, o fundamento de origem, daquilo que no fenmeno, enquanto que explicao da verdade do que "", ratio cognoscendi, razo de conhecer, fundamento de cognio. Com estes resultados Kant abordar o problema da existncia. Tratar das razes que determinam a existncia, enquanto considerada como "razo da existncia" do ser. Na Proposio VI Kant sustenta que: absurdo afirmar que uma coisa possui em si a razo da sua prpria existncia. Para demonstrar dito enunciado nosso autor analisa a noo de ratio como "causa" no seguinte raciocnio, que ns redigiremos em suas trs etapas, a saber: 1) Tudo aquilo que contm em si a razo da existncia de qualquer coisa a causa dessa coisa. 2) Se admitirmos a existncia de uma coisa que contm em si a razo da sua prpria existncia, ela seria a sua prpria causa. 3) Mas, uma vez que a noo de efeito posterior: a mesma coisa seria ento anterior e posterior a si mesma, o que absurdo. Assim, a noo de causa envolvida na ratio est concebida em uma srie seqencial. O tempo introduzido no terceiro passo (na noo de anterioridade e posterioridade) para dar sentido ao conceito em questo, determina a aplicao deste restringindo seu uso. A relao de causalidade entre duas coisas que realmente existem se do em uma seqncia, que segundo Kant no seria outra que a do anterior-posterior. s levando em conta esta restrio que Kant pode dizer que (...) ...tudo aquilo que existe devido a uma necessidade absoluta, existe no devido a uma razo, mas porque seu oposto absolutamente impensvel. Esta impossibilidade do oposto constitui a "razo de conhecer" da existncia, mas falta ento inteiramente a razo anteriormente determinante. Mesmo quando pensarmos o caracter de absoluta necessidade da existncia de uma coisa, necessidade lgica, ideal ou constitutiva racionalmente, essa necessidade responderia a uma razo posteriormente determinante, isto , a afirmao da sua necessidade condio de algo que de algum modo possvel de ser observado nos fenmenos.
Levando em conta esta diretriz, Kant passa a analisar o que resultaria da proposio "tantas vezes repetidas": Deus contm em si a razo da sua prpria existncia. Deus aqui pensado como princpio supremo e absoluto das razes e das causas, a razo de si mesmo. A Causa das causas a Causa Absoluta. Portanto, no haveria causa alm da Causa Absoluta, nem mesmo razo de qualquer tipo. Segundo Kant, os filsofos que sustentam essa proposio apelam prpria noo de Deus na qual postulam que a existncia divina se determina a si mesma, mas -adverte-nos Kant- esta operao de ordem ideal e no real. As ordens real e ideal, que so justamente aquelas que ns denominamos de observvel e hipottica, aqui distinguir-se-iam em uma seqncia lgica possvel, e uma sensvel. Na ordem "real", ao procurarmos a razo posteriormente determinante, procedemos levando em conta as exigncias e restries do efetivamente existente, na ordem do "ideal" procedemos de um modo diferente: Constitumos a noo de um certo ser no qual se encontra a plenitude da realidade; atravs deste conceito, devemos confess-lo, necessrio conceder a esse ser a prpria existncia. Eis a argumentao: se todas as realidades foram reunidas, sem distino de grau, num determinado ser, esse ser existe. Esse o processo da anlise do conceito (e Kant coloca o acento precisamente nessa palavra conceptum, que substitui a anterior "notionem") e que leva a descrever uma ordem distinta da "real", uma ordem "ideal", "conceitual". E por isso, tambm, que Kant nos advertir: Mas se elas so apenas concebidas como reunidas, ento o prprio ser existe apenas como idia. pertinente repetir a ltima parte da citao: existe apenas como idia. Ora, que uma coisa exista ns o sabemos na medida que possamos determin-la em um fenmeno, no observvel, no real. Mas, quando se trata de explicar o real mesmo o processo muda seu estatuto, as coisas existem, mas existem apenas como idia. Temos assim uma existncia real e uma existncia ideal daquilo que . Em vistas disso Kant prope a reformulao da argumentao, de tal modo que fique explcita a idealidade do raciocnio, o carter ideal da "existncia do ser", a saber: constituindo ns a noo de um ser ao qual chamamos Deus, determinmo-lo de tal maneira que a existncia encontra-se a includa. Se esta noo preconcebida verdadeira, verdadeiro igualmente que Deus existe. Fique claro que o sintagma "constituindo em ns a noo de um ser" no d razo para inferir da a existncia efetiva de um tal ser. Apenas existe enquanto "conceito". A existncia concebida na unidade do conceito. Temos ento a distino de existncia "real", "efetiva" e a existncia "ideal", "concebida". assim como Kant declara na Proposio VII que: Existe um ser cuja existncia precede a possibilidade de si mesmo e de todas as coisas e do qual, por isso, dizemos que existe de modo absolutamente necessrio Esse ser chamado Deus. Coerentemente com o exposto acima Kant aborda a demonstrao a partir da definio da categoria da possibilidade. Para melhor compreender o raciocnio dividi-lo-emos em suas partes, a saber: 1- a possibilidade estaria dada pela no contradio de certas noes reunidas. 2- a possibilidade resultaria de uma comparao. 3- a comparao necessita que existam coisas para comparar. 4- onde no existe nada, nada pode ser comparado e, porm dito possvel. 5- s existe possibilidade quando algo existe e existe necessariamente.
6- tambm necessrio que esta realidade que existe de todas as maneiras seja reunida num nico ser. Em 1 se estabelece a definio da mera possibilidade lgica a partir da no-contradio dos termos. Em 2 a prova da no-contradio estaria dada pela comparao dos termos em questo, isto , no so contraditrios porque comparativamente no so antagnicos. Ora, o antagonismo ou no-antagonismo s pode-se dar entre coisas que "so" (3). A possibilidade de que algo seja s pode ser determinada (dedutivamente ou efetivamente) do que "", tal como vimos quando indagamos o duplo aspecto do "princpio de identidade", do que "no " nada pode ser (4). Assim, somente do que "" alguma coisa pode chegar a ser (5). Sendo necessrio que aquilo que pode chegar a ser, ou de alguma maneira j , reenvie a o que "" originariamente. A argumentao forma uma circularidade que passa da afirmao do "", do ser efetivamente existente, necessariedade do "" do ser idealmente existente que acaba constituindo o fundamento (o verdadeiro Ser) do primeiro. A passagem de um ponto para o seguinte do raciocnio feita no sem alguma dificuldade. Mesmo assim, Kant passa rapidamente para se deter s no esclarecimento do ponto 6. A estratgia baseia-se na passagem da pluralidade do contingente para a necessidade do absoluto. As realidades que constituem a matria dos nossos conceitos, ligadas a privaes, estariam determinadas, limitadas na sua existncia por uma razo. Isto , o contingentemente existente remete quilo absolutamente necessrio em uma causalidade lgica. Para que exista necessidade absoluta pois necessrio que elas (as coisas contingentes) existam sem limitaes, quer dizer, que constituam (sejam logicamente reunidas em) um ser infinito. Eis aqui a concluso de Kant: Existe pois um Deus e um Deus nico, princpio absolutamente necessrio de toda a possibilidade. a partir da possibilidade das coisas que Kant se prope provar a existncia de Deus como "princpio absolutamente necessrio", e porm, como a ratio, Grund, Razo, Fundamento, verdadeiro Ser do que realmente existe. Mas, preciso levar em conta que, como diz Kant, eis uma demonstrao da existncia de Deus do ponto de vista da essncia. A ordem da "essncia" significa aqui, como j dissemos, que ns s podemos inferir um princpio a partir da possibilidade das coisas enquanto "razo anteriormente determinante". Se aplicarmos o mtodo da afirmao de um termo pela excluso de seu oposto veremos, seguindo o raciocnio kantiano, que: se suprimimos a existncia de Deus, fazemos desaparecer no apenas a existncia, mas mesmo a possibilidade interna das coisas. Portanto, a possibilidade e a necessidade so idnticas na noo de Deus. Assim, quando Kant, nas duas ltimas sentenas da prop. VII escreve: Deus o nico ser no qual a existncia primeira, ou se preferirmos, em que a existncia idntica possibilidade. E no existe nenhuma noo dele se a separarmos da sua existncia, o que est em jogo o caracter constitutivo, "ideal", da argumentao. Na verdade, tanto na proposio VI quanto na VII, Kant esta tentando levar uma polmica contra os argumentos de Descartes sobre a existncia de Deus destacando os dois nveis de argumentao. Na Proposio VIII Kant se estende sobre a necessidade de uma razo determinante para as coisas contingentes. Desta vez demonstrando que a necessidade absoluta da existncia de uma coisa contingente estaria em contradio com a "hiptese" acima indicada (res exsistet absolute necessario, quod repugnat hypothesi). pertinente dar ouvido ao termo "hiptese", utilizado por Kant, para se referir ao estatuto da explicao do princpio de todas as coisas. neste sentido que a existncia deve ter uma razo determinante, se ela no existir, ento o ser (contingente) existe de um modo absolutamente necessrio, o que entra em contradio com o caracter contingente do efetivo. Dito isto, Kant aborda o problema em uma polmica contra os argumentos de Crusius. Esquematicamente os seus argumentos podem ser apresentados do seguinte modo:
1- certas coisas existentes so to bem determinadas pela sua prpria existncia que seria intil procurar qualquer outra determinao. 2- a volio livre determinada na sua ao, pela sua prpria existncia e no determinada anteriormente por razes que existam antes dela. Crusius questiona o caracter ambguo do princpio de razo suficiente, indicando a dificuldade de descobrir que tipo de "razo" (moral, cognitiva, real, ideal) devemos subentender quando o usamos. Apesar de Kant escrever retoricamente que "como as nossas asseres no caim sob sua alada, no temos nada a responder-lhe", ele procede com sua resposta: Quem examinar os nossos argumentos com cuidado, ver que distingo claramente a razo de verdade (ratione veritatis) da razo da existncia (ratione actualitatis). Em relao a isto Kant desenvolve novamente sua explicao da razo anteriormente determinante, mas no apenas para se opor ao argumento de "ser causa de si mesmo" e sim para desenvolver, a partir da razo anteriormente determinante, um outro tipo de causalidade que aquela dos fenmenos fsicos. Em funo disto distingue "razo de verdade" de "razo de existncia". Definindo a primeira a partir da relao de identidade entre sujeito e predicado em uma proposio. A verdade realizada pela identidade entre o predicado e as noes que so compreendidas no sujeito, perspectivado, quer de um modo absoluto, quer nas suas relaes. Quer dizer, enquanto necessidade lgica. No caso da "razo de existncia" (ratione actualitatis) o prprio processo que muda. Citamos Kant: Na razo de existncia, onde as coisas so consideradas como existentes, examinamos no se a existncia das coisas determinada, mas donde deriva esta determinao; se no existe nada que exclua o oposto, a coisa deve ser considerada como existente por si mesma e de maneira absolutamente necessria; mas se a existncia da coisa tomada como contingente, necessrio que haja outras coisas que, determinando-a desta maneira e no de outra qualquer, excluam j, de uma maneira antecedente, o oposto da existncia desta coisa. Com efeito, Kant distingue, j no interior da razo de existncia, e a partir do mtodo da afirmao de um termo pela excluso de seu oposto, entre aquilo, cuja existncia, pode ser considerada absolutamente necessria, e aquilo que apenas pode ser tomado contingentemente. Definamos, absoluto como aquilo diante do qual nada pode ser excludo, e, portanto, deve ser afirmado em si, "necessariamente existente"; contingente como aquilo que, em funo das suas relaes, pode ser afirmado a partir da excluso de seu oposto "possivelmente existente". Deste modo, ns podemos introduzir um tipo de razo determinante para explicar a "existncia" do contingente em uma seqncia construda a partir de um conjunto de predicados, os quais so afirmados na excluso do oposto. Assim, a existncia se apresenta como noo predicativa de um sujeito S, ora ideal, ora efetivo. Sendo esta "noo predicativa" outorgada ao sujeito S em funo de uma razo de determinao. Assim, diz Kant, se alguma coisa no tivesse razo, nada seria a sua razo, donde teramos que nada seria alguma coisa, o que um absurdo. Mais uma vez, este raciocnio responde ao princpio de identidade reformulado em seu duplo aspecto, onde o que "" s pode ser derivado do que "", sendo que a nada "no " no pode ser derivado o que "". Zingano, comentando de passagem este texto, declara: "Kant sensvel distino entre razo de existir e razo de pensar". At ali ns podemos perfeitamente aderir afirmao pela leitura do texto, mas quando Zingano define pensar e existir coloca, sem soluo de continuidade, um texto de 1763, O nico Fundamento Possvel para a Demonstrao da Existncia de Deus, para fundamentar sua interpretao e escreve: "pensar um objeto pr algo como relativo a ele; a existncia, porm, a posio absoluta de uma coisa e distingue-se por isso de todo predicado que posto como tal sempre simplesmente como modo de relao a uma outra coisa". A partir da Zingano cruza ambos os textos para nos advertir que "no devemos iludir-nos: sua significao (a da posio absoluta da existncia) ainda outra do que a do sistema crtico". No discutirei aqui essa tese, mas sim o cruzamento pouco feliz de dois textos que, embora pertencendo mesma poca pr-crtica, no apresentam uma homogeneidade que autorize a justificar as sentenas de um pelos argumentos
do outro. Na Nova Dilucidatio a existncia ainda uma noo predicativa, falar de "posio absoluta" seria contradizer toda a argumentao de seu discurso. O problema aqui no o racionalismo de Kant, mas sua concepo da determinao do Ser. Kant no poderia ter afirmado a questo da "posio" sem um aprofundamento da anlise semntica da noo gramatical "", que ele s elabora mais tarde. Outra objeo de Zingano em relao anlise do agir humano. Segundo parece se observar, sob o comando da premissa a etapa pr-crtica no ainda crtica "no devemos iludir-nos" o comentador escreve: "Distante da doutrina crtica, na qual a ao moral a nica que permite criar uma regio especial mediante uma recusa ao fechamento da vontade sobre si na referncia exclusiva ao seu prazer, Kant distingue, por enquanto, o agir humano por um a mais, a inclinao interna da vontade, que o torna um evento mais complexo, mas no o diferencia em gnero dos eventos naturais, pois seu problema consistia justamente na manuteno de um mesmo plano, cuja origem ltima est em Deus, que compreende tanto o evento quanto o ato humano". Em confronto com esta interpretao continuaremos a reconstruo do texto kantiano. Segundo Kant, Crusius questionaria o princpio de razo suficiente dizendo que faz reviver a necessidade imutvel de todas as coisas e a fatalidade estica, e rebaixa a liberdade e a moralidade. Para reproduzir claramente o argumento que demonstra esta proposio, citamos: Se tudo o que acontece no pode produzir-se sem uma razo anteriormente determinante, ento tudo o que no acontece no pode acontecer, dado que evidente que no existe razo para isso e sem razo, absolutamente nada se pode produzir. E dado que, por todas as razes das razes necessrio conceder isso seguindo a ordem inversa da sua sucesso, da resulta que tudo se produz em virtude de um encadeamento natural, de um modo to bem ligado e coordenado que desejar o oposto de um acontecimento qualquer ou mesmo de uma ao livre, desejar o impossvel, pois que no h razo susceptvel de produzir esse facto. A argumentao crusiana contundente, se ns sustivssemos um tal princpio de determinao, ento qualquer acontecimento moral ficaria subsumido sob a fatalidade do encadeamento natural. No faria qualquer sentido falar de liberdade. Com efeito, tal como diz Kant, parafraseando Crisipo, arrastando sries eternas de conseqncias, acabamos por chegar ao comeo do mundo que revela imediatamente Deus como autor, e encontramos a a razo ltima dos acontecimentos, to frtil em resultados que, uma vez esta razo colocada, os acontecimentos decorrem uns dos outros, atravs dos sculos, segundo uma lei sempre imutvel. O que est em jogo aqui o prprio campo de sentido, ou nos termos do texto o tipo de "determinao", que constitui a possibilidade dos problemas medulares na histria do pensamento, a saber; "plano divino / livre arbtrio", "natureza / liberdade". A realizao do mal em relao com a determinao das causas se associa ou ignorncia, na verso crist do platonismo, ou doena, na procura "cientfica" das causas naturais do comportamento humano. Tanto em um paradigma quanto noutro fica aberta a questo do "livre arbtrio" do cristo e da "liberdade moral" do sujeito moderno. Ambos os conflitos s podem surgir a partir da confuso do campo de sentido que possibilita a formulao das proposies que constituem os respectivos argumentos. Tal como indica Kant no caso do cristianismo, rescrevendo o argumento de seu adversrio: A razo determinante faz com que esta ao no apenas se produza preferencialmente, mas mesmo que nenhuma outra se possa produzir em vez dela. Deus cuidou to bem do encadeamento de tudo o que nos acontece que absolutamente nada de diferente se pode produzir. No somos pois responsveis pelos nossos actos; Deus a nica causa de todos esses actos: ele ligou-nos a leis que nos obrigam a realizar o nosso destino. No significar isto que nenhum pecado pode ofender a Deus? Se um pecado cometido, isso acarreta que a srie encadeada de coisas fixada por Deus, no pode admitir algo diferente. Que censura pode pois Deus dirigir aos pecadores, por causa de aes que, desde o comeo do mundo, ele provocou? Esta seria a concluso qual chegaramos no interior da argumentao do plano divino. A mesma operao pode ser observada no interior da argumentao naturalista que usada em relao ao homem moderno. Apresenta-se assim uma dicotomia: ou no existe qualquer determinao, ou a
liberdade uma mera iluso. Mais uma vez, o que est em jogo no apenas uma definio, mas a interpretao semntica do conceito de "causalidade" em relao com o que verdadeiramente .
5- A determinao da Vontade A argumentao kantiana sobre a vontade visa se diferenciar de duas concepes paradigmticas sobre o agir humano. Uma considera o agir como Absolutamente determinado, sem possibilidade nenhuma de poder evitar o que deve acontecer. Outra aborda a "liberdade" como sendo sem qualquer constrangimento, considerando a situao como em um estado de indiferena. Parece ser que outra resposta comum entre os filsofos para este tipo de objees, tem sido a de distinguir a "necessidade hipottica" de tipo moral, da "necessidade absoluta". Kant declara compartilhar com Crusius que esta distino to empregada enfraquece bem pouco a fora da necessidade e a certeza da determinao. Uma determinao hipottica ou absoluta continua a ser determinao. A operao de determinao de um sujeito a partir da afirmao de um predicado pela excluso do oposto a mesma em ambos os casos. Tal como Kant diz, no est a em questo a fora ou eficcia da necessidade, isto , de saber se num ou noutro caso uma coisa mais ou menos necessria; o prprio princpio da necessidade que est em questo, a origem da necessidade de uma coisa. E poucas linhas mais adiante Kant acrescenta: a questo essencial no est em saber at que ponto necessria a existncia futura das coisas contingentes, mas em saber de onde vem esta necessidade. Com efeito, o que est em questo no o grau de certeza da seqncia causal que se constitui a partir da determinao, mas a natureza da sua prpria necessidade. O problema visa o modo de fazer sentido da determinao. essa a chave que orienta a resposta kantiana. Citamos: ... nas aes livres dos homens, quando as consideramos determinadas, o oposto encontra-se excludo, mas no por razes exteriores aos desejos e s inclinaes espontneas do sujeito, como se o homem fosse empurrado, contra a sua vontade a realizar as suas aes, por uma necessidade inevitvel. Mas na prpria inclinao da vontade e dos desejos, na medida em que o homem cede, voluntariamente, s sedues das representaes, as nossas aes so determinadas por um vnculo, sem dvida, inteiramente indiscutvel, mas voluntrio, conforme a uma lei invarivel. Tal como podemos observar, a vontade, motivada pelas suas inclinaes e desejos, propensa seduo das representaes, constitui-se como origem de uma seqncia causal no que se refere aos atos morais. Trata-se de distinguir a determinao da cadeia de acontecimentos fsicos da dos atos morais. A diferena entre as aes fsicas e os atos morais no pode ser tratado em termos de grau de certeza, mas de modo. ... na maneira (modus) pela qual a certeza destas aes determinada pelas razes... -e mais adiante Kant acrescenta- ... uma vez que os motivos do entendimento (motiva intellectus) aplicados vontade, suscitam essas aes.... nesse momento do texto kantiano que a interpretao de Zingano parece ser pouco justa, no se trataria de um "a mais", tal como ele indica, mas de um "modus". O "modus" anuncia de alguma forma um proceder e no apenas uma complexidade. a vontade, determinada por aquilo que o entendimento considera agradvel, a qual condiciona o rumo dos atos do homem. neste sentido que o homem "livre" e pode assim livremente determinar seus atos. Trata-se de uma concordncia da vontade com o objeto. A vontade inclinada pelo desejo no agrado de um objeto, a isto podemos denominar "os motivos do entendimento", "as razes internas" das quais Kant fala. Por outras palavras, a partir da livre vontade, em uma inclinao espontnea, que o sujeito escolhe em direo do mais agradvel, sendo a espontaneidade uma ao que se deriva de um princpio interno. Isto o que Kant denomina "livre determinao", sendo a liberdade um modo de determinao. Assim, a ao no inevitvel, mas infalvel tendo em considerao a inclinao dos teus desejos, naquelas circunstncias. A situao no seria a de um "estado de indiferena". Pelo contrrio, a fora natural do desejo, enraizada no esprito humano, no se dirige apenas para os objetos, mas tambm para as vrias representaes que contm, num caso dado, os motivos da escolha, de modo que temos fora suficiente para lhe conceder ou lhe retirar a nossa ateno,
ou desvia-la de algum modo, e que, consequentemente estamos conscientes de poder, no apenas tender para o objeto conforme o nosso desejo, mas ainda alterar de diversas formas, segundo a nossa fantasia, as prprias razes objetivas, ento nessa medida, dificilmente nos podermos impedir de pensar que a direo da nossa vontade no est submetida a nenhuma lei nem a qualquer determinao fixa. Nem fatalismo, nem indiferena, o que Kant procura estabelecer a causalidade dos atos pela liberdade da nossa vontade, tentando constituir outro tipo de seqncia de determinaes que aquele das aes fsicas. Tal como podemos observar, achar que Kant est apenas repetindo o texto leibniziano seria no mnimo reduzir o argumento e as conseqncias do esforo do trabalho apresentado. Kant est propondo diferentes nveis de determinao, onde fazem sentido diferentes tipos de proposies, a saber: as que referem a uma ordem ideal, as que referem a uma ordem efetiva de tipo fsico e as que referem a uma ordem efetiva de tipo moral.
6- As duas determinaes Em relao com o anteriormente expressado, fica ainda aberta a questo de como conciliar com a bondade e santidade de Deus , esta existncia futura e determinada dos males de que ele a causa ltima e determinante?. Com efeito, Kant reafirma a os dois tipos de determinao causal (fsico e moral), como forma de eliminar o conflito. Citemos: Se como acontece com as mquinas, os seres inteligentes fossem orientados de um modo puramente passivo para as coisas que acarretam determinaes e transformaes seguras, eu estaria de acordo que a responsabilidade ltima de tudo poderia ser lanada sobre Deus, arquiteto da mquina. Mas os actos realizados pela vontade de seres inteligentes e dotados do poder de determinarem as suas aes tem origem, sem dvida alguma, num princpio interno de desejos conscientes e na escolha de uma direo na liberdade do juzo. Como vemos, na primeira sentena expressa-se a determinao de tipo fsico, e na segunda a determinao de tipo moral, a relao causal em uma e outra instncia muda seu estatuto. No primeiro caso, a determinao fsica vinculada a um fundamento ideal. Isto ns desenvolvimos anteriormente em alguns dos seus aspectos. No segundo caso, a apario de novos elementos (sentimento de responsabilidade, poder de opo e modificao sobre as condies objetivas) exige outra "razo determinante". Assim, embora esse ser inteligente esteja encerrado, em razo do estado de coisas que precede o acto livre, numa tal rede de circunstncias que pode prever com grande certeza que ir realizar o mal, apesar de tudo esta existncia futura determinada por razes nas quais o aspecto mais relevante a inclinao voluntria para o mal.... . Em uma mesma realidade cruzam-se, sob diferentes aspectos, diferentes tipos de determinaes. A liberdade determina o ato enquanto acontecimento de nossa vontade. Portanto, teramos um ato livre. Por outra parte, enquanto acontecimento fsico existe uma relao causal que o coloca em uma srie de determinaes que podem ser pensadas como fundadas em uma causa ideal. Fica assim, reformulado, reelaborado e demonstrado o "princpio de razo determinante" procurando evitar ambigidades sintticas e confuses de aplicao. claro que o labor da etapa crtica mudar em aspectos essncias (e quero destacar este ltimo termo) com relao a estes tpicos, justamente por radicalizar sistematicamente o tratamento da significao. Mas isso no implica apagar as elaboraes explcitas dos textos pr-crticos em funo de destacar a diferena entre ambos.
7- A determinao ntico-ontolgica Na Proposio X o princpio de "razo determinante" permite Kant postular uma conseqncia de grande importncia, a saber: a quantidade de realidade absoluta no mundo no se altera
naturalmente; no aumenta nem diminui. Com efeito, a reelaborao filosfica do princpio de Lavoiser dir: como no h mais no efeito do que na razo (causa), a quantidade de ser no pode mudar. Por outras palavras, o ser enquanto que "" varivel na sua magnitude, no h lugar para o no-ser, no h lugar para "o nada" a partir do qual poderia surgir um plus, alguma coisa que "seja" sem ser na causa. Isto tudo, fica esclarecido se lembrarmos, mais uma vez, a formulao do duplo aspecto do princpio de identidade. O exemplo que ilustra esta operao extrado da fsica. Se, por exemplo, um corpo A pe em movimento um outro corpo B atravs do choque, uma certa fora, uma certa realidade acrescentada a este ltimo, mas uma igual quantidade de movimento retirada ao corpo que bate; consequentemente, a soma das foras presentes no efeito igual s foras da causa. Utilizando o mesmo princpio, e por analogia com o raciocnio anterior, Kant acha razovel ensaiar uma explicao metafsica: No h dvida de que a percepo infinita da totalidade do universo, sempre presente no fundo da alma, ainda que de um modo inteiramente obscuro, contm j toda a realidade que deve existir nos pensamentos, quando, mais tarde, eles forem iluminados por uma grande luz; o esprito, dirigindo ento a sua ateno para alguns destes pensamentos, enquanto a afasta, no mesmo grau, de alguns outros, lana sobre eles uma luz mais viva e adquire um conhecimento cada vez mais extenso; claro que ele no aumenta deste modo o domnio da realidade absoluta (pois o material de todas as idias permanece o mesmo), mas a forma desta realidade que consiste na combinao das noes e na ateno aplicada sua diversidade ou sua harmonia, certamente modificada. Tanto no esprito quanto na matria o ser que "" em quantidade imutvel, do contrrio estaramos transgredindo o prprio princpio de identidade. Algo a destacar podemos encontrar no caso da liberdade. Segundo o argumento kantiano, e sobre tudo a figura fsica que ele usa para ilustrar o raciocnio, a liberdade no vista como um ato de criao, como um acontecimento onde alguma coisa a mais surge, mas como um ponto onde a orientao da cadeia de determinaes toma outro rumo. Assim, qualquer explicao, ora fsica, ora metafsica, no pode quebrar as cadeias de determinaes sem quebrar a lei que rege nossos raciocnios. Mas Deus, como ser criador, no possui essa determinao. Ele, como causa daquilo que , no possui a limitao de seu efeito. Aqui Kant estabelece uma relao diferencial entre o ens supremo e o ens criado, esse diferencial permite o ato mesmo da criao. Isto , trata-se de um diferencial que permite que aquilo que "" seja. Esse diferencial denominado em termos kantianos "iluminao".
8- Do uso da razo determinante Na proposio XI: Onde se citam e refutam alguns falsos corolrios extrados de um modo pouco legtimo do princpio de razo determinante; Kant discute com Baumgarten o "princpio de conseqncia" e com Leibniz o "princpio dos indiscernveis". No caso de Baumgarten, com o "princpio de conseqncia" enunciado como "nada existe sem efeito, ou melhor, tudo o que existe contm em si a sua conseqncia", Kant retoma a distino entre razo de conhecer e de existncia para afirmar que sua aplicao pode ser pertinente no primeiro caso, onde se considera a noo geral que convm s noes que engloba, ou aos predicados que pertencem a um sujeito no interior de uma certa relao e em determinadas condies, mas no no segundo caso. No caso de Leibniz, com o "princpio dos indiscernveis" enunciado como "o conjunto de todas as coisas, tomado na sua totalidade, no apresenta nenhuma que seja semelhante, em todos os pontos, a qualquer outra", Kant tenta refutar a interpretao no sentido amplo que se faz daquele. A saber: ... as coisas cuja totalidade dos caracteres perfeitamente igual e que no se distinguem por nenhuma diferena, parece deverem ser consideradas uma e a mesma coisa. Consequentemente, todas as coisas perfeitamente semelhantes so o mesmo ser que ocupa vrios lugares. A isto Kant refuta: Para que exista identidade perfeita entre duas coisas iguais,
necessrio que exista, igualmente, identidade perfeita entre todas as suas determinaes, quer externas, quer internas. Como se poder ento, nesta determinao universal, excluir a determinao de lugar? Consequentemente, as coisas que apresentam os mesmos caracteres internos, diferindo exclusivamente pelo lugar que ocupam, no podem ser a mesma coisa. Com efeito, o conflito surge na interpretao do significante "ser", no modo em que o ser determinado. Em termos kantianos poderamos dizer que a acepo leibniziana refere ao carter ideal, um ser conceitualmente determinado, mas, a isto Kant outorga uma outra determinao, dita espacial, refere ao carter de aquilo que realmente determinado, fisicamente determinado. Trata-se de colocar em jogo as relaes exteriores entre corpos realmente existentes, e no apenas concebidos idealmente. No prprio texto Kant exemplifica do seguinte modo: Seja A uma substncia e B outra substncia. Faamos com que A ocupe o lugar de B. Ento, uma vez que A no se distingue de B pelos seus caracteres internos, ocupando mesmo o lugar de B, A ser igual a B, sob todos os pontos de vista e o que se chamava A chama-se agora B. Mas o que se chamava B, transportado para o lugar de A chamar-se- agora A, uma vez que a diferena dos caracteres indica apenas a diferena de lugares. Esta argumentao est ligada estreitamente ao princpio de Arquimides e no coloca mais do que j foi dito na histria da fsica. No nos deteremos aqui em uma anlise da concepo do espao que est sendo colocada neste texto, mas podemos dizer de passagem que a exterioridade possui um estatuto ontolgico de grande importncia. Na distino entre anterior e posteriormente determinante a questo da exterioridade das relaes cumpre uma funo essencial. Toda a explicao do posteriormente determinante e a existncia do contingente precisa da exterioridade como exigncia fundamental para fazer sentido. Daqui decorre justamente um dos "princpios de conhecimento metafsico" que Kant prope.
9- Princpios de aplicabilidade Feita a distino interno/externo em relao com a determinao do ser Kant enuncia a seguinte regra ou Princpio de sucesso: As mudanas s podem afetar as substncias na medida em que estas se relacionam com outras sendo a mtua mudana de estado destas substncias determinada pela sua dependncia recproca. Esta formulao (onde a mudana esta definida pela sucesso de determinaes, e portanto, pelas relaes entre as substncias no tempo), est claramente orientada contra a concepo wolffiana da "mudana continua devido a um princpio interno de atividade". Mais uma vez, a empresa antileibniziana. Eles apresentam uma definio arbitrria de fora, como sendo aquilo que contm a razo das mudanas.... Baseado no carter externo, efetivo da determinao, coloca a espao-temporalidade como condio da aplicao do princpio de razo determinante. Isto ensaiado por Kant contra o argumento idealista da inexistncia dos corpos reais e contra o princpio leibniziano de harmonia preestabelecida. No caso do Princpio de coexistncia, a realidade efetiva das coisas est colocada em relao com sua causa ideal, mas para destacar a necessidade do espao como condio da relao entre as coisas. a que se fundamenta a fora de atrao ou gravitao universal de Newton.
10- Concluso Assim sendo, temos ento, que uma pesquisa sobre "os primeiros princpios do conhecimento metafsico" em duas instncias de anlise, sinttica e semntica, desenha-se sobre a base de uma indagao do termo "ser". 1- A partir da anlise proposicional dos princpios do conhecimento, no qual considerado o nvel lgico-sinttico, Kant se prope alguns esclarecimentos de caracter operativo e investiga o "ser"
enquanto noo gramatical, cpula. Paralelamente examina o "ser" enquanto noo lxica, na sua instncia lgico-semntica, observando suas determinaes e concluindo na sua irredutibilidade. 2- A polmica de Kant contra os argumentos de Descartes, Baumgarten, Wolff e Crusius, que so levados em conta em este texto, baseia-se sobre o denominador comum de compreender a existncia como "predicado". Toda a anlise kantiana considera o caracter "predicativo" do termo "existncia". Se, por um lado, Kant tenta distinguir seus argumentos de os de seus adversrios, a partir de diferentes classificaes e procedimentos, por outro lado, ele compartilha com aqueles a mesma concepo "bsica" (se que essa palavra pertinente aqui, depois de tantos esclarecimentos) da "existncia" enquanto "predicado". No entanto, mesmo no perodo pr-crtico, em um texto como O nico Fundamento possvel para a Demonstrao da existncia de Deus (1763), ele mudar radicalmente a interpretao do conceito de existncia. 3- O surgimento de elementos ontico-ontolgicos da determinao do ser s possvel a partir de uma anlise filosfico-lingstica.
Bibliografia: Kant, I. Werke. Ed. W. Weischedel. Darmstad, WBG, 1983. ______ . Textos Pr-Crticos. Trad. Jos Andrade, Alberto Reis. Portugal, Rs-Editora, 1983. Perez,D.O. Formulao de Problemas e Teoria do Significado -Parte I. Revista Tempo da Cincia Nro. 8, 1997. ____________ Formulao de Problemas e Teoria do Significado -Parte II. Revista Tempo da Cincia Nro. 9, 1998. _________ Kant Pr-crtico. A Desventura Filosfica da Pergunta... Brasil, Cascavel: Edunioeste, 1998. Philonenko, A. LOeuvre de Kant.Paris, J.Vrin ,1983. Zingano, M.A. Razo e Histria em Kant. S.P.: Editora Brasiliense, 1989.
Você também pode gostar
- 4 As Sete Artes Liberais-1Documento14 páginas4 As Sete Artes Liberais-1Angel Castão0% (1)
- A Última Igreja Do Apocalipse - A Repreensão de Jesus Cristo À Mornidão de LaodiceiaDocumento139 páginasA Última Igreja Do Apocalipse - A Repreensão de Jesus Cristo À Mornidão de LaodiceiaNathan GuimarãesAinda não há avaliações
- Reprograme Seu Cerebro Ebook Gratuito PDFDocumento34 páginasReprograme Seu Cerebro Ebook Gratuito PDFsm_carvalho100% (1)
- Revogação Do KarmaDocumento4 páginasRevogação Do KarmaJoão Paulo Vaz100% (3)
- Vazio LuminosoDocumento18 páginasVazio LuminosoLuiz Pinheiro100% (1)
- KEVIN TRUDEAU - Curas Naturais Que Eles Não Querem Que Você Saiba - LIVRO-576 PágDocumento96 páginasKEVIN TRUDEAU - Curas Naturais Que Eles Não Querem Que Você Saiba - LIVRO-576 Págapi-3830837100% (1)
- Kangula Nkisi 2020Documento79 páginasKangula Nkisi 2020Sergio Jitu100% (2)
- A Questão Do Desejo em Hegel e LacanDocumento10 páginasA Questão Do Desejo em Hegel e LacanJoão ViniciusAinda não há avaliações
- PDF - A Guerra Contra Deus PDFDocumento128 páginasPDF - A Guerra Contra Deus PDFRogério BentesAinda não há avaliações
- Bilionario Arabe - Implacavel - Anna BraunDocumento135 páginasBilionario Arabe - Implacavel - Anna BraunAida GarciaAinda não há avaliações
- Entrai Pela Porta EstreitaDocumento21 páginasEntrai Pela Porta EstreitaManuel TunguimutchumaAinda não há avaliações
- Conselhos Sobre A Escola Sabatina PDFDocumento129 páginasConselhos Sobre A Escola Sabatina PDFClaudemberg Silva50% (2)
- Apostila de Exercícios de FilosofiaDocumento90 páginasApostila de Exercícios de FilosofiaMr. Z051100% (1)
- Anotações Lefébvre Lógica Formal - Lógica DialéticaDocumento4 páginasAnotações Lefébvre Lógica Formal - Lógica DialéticaBruno Leonardo BarcellaAinda não há avaliações
- Daniel Omar Perez O Sexo e A Lei em Kant e A Ética Do Desejo em LacanDocumento9 páginasDaniel Omar Perez O Sexo e A Lei em Kant e A Ética Do Desejo em LacanDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- Como Surgiu A Ciencia ModernaDocumento21 páginasComo Surgiu A Ciencia ModernaJose Onesio Ramos100% (1)
- Sumário: Mude Sua Vida!Documento108 páginasSumário: Mude Sua Vida!Ector Vinicius100% (1)
- Daniel Omar Perez Os Significados Do Conceito de Hospitalidade em KantDocumento12 páginasDaniel Omar Perez Os Significados Do Conceito de Hospitalidade em KantDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- A Relação Entre A Teoria Do Juizo e Natureza HumanaDocumento26 páginasA Relação Entre A Teoria Do Juizo e Natureza HumanaDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- Daniel Omar Perez A Filosofia Como Literatura em Jorge Luis BorgesDocumento9 páginasDaniel Omar Perez A Filosofia Como Literatura em Jorge Luis BorgesDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- Daniel Omar Perez A Semântica Transcendental de KantDocumento2 páginasDaniel Omar Perez A Semântica Transcendental de KantDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- Daniel Omar Perez Os Significados Da História em KantDocumento43 páginasDaniel Omar Perez Os Significados Da História em KantDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- Daniel Omar Perez A Semântica Transcendental de KantDocumento2 páginasDaniel Omar Perez A Semântica Transcendental de KantDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- (Des-) Articulação Dos Problemas Da MetafísicaDocumento41 páginas(Des-) Articulação Dos Problemas Da MetafísicaFranzé MatosAinda não há avaliações
- Paradoxo PerdidoDocumento227 páginasParadoxo PerdidopangIossAinda não há avaliações
- FundamentosLogicaMatematica ColecaoUABUFSCar PDFDocumento171 páginasFundamentosLogicaMatematica ColecaoUABUFSCar PDFfgmp030182Ainda não há avaliações
- A Dúvida CartesianaDocumento3 páginasA Dúvida CartesianaAdriana Henriques S. BorgesAinda não há avaliações
- Univag - CadernoDocumento24 páginasUnivag - CadernoMário André De Oliveira CruzAinda não há avaliações
- Apresentação Lógica InformalDocumento6 páginasApresentação Lógica InformalDiogo AlvesAinda não há avaliações
- O Racionalismo de Rousseau - Derathe.Documento26 páginasO Racionalismo de Rousseau - Derathe.mateustgAinda não há avaliações
- Medo E Esperança: Symbolon IVDocumento24 páginasMedo E Esperança: Symbolon IVRaissaAinda não há avaliações
- Historia Essencial Da Filosofia VL 3 Paulo Ghiraldelli JuniorDocumento119 páginasHistoria Essencial Da Filosofia VL 3 Paulo Ghiraldelli JuniorEDINILSON SALATESKIAinda não há avaliações
- (Educacao) - Lino de Macedo - Fundamentos para Uma Educacao InclusivaDocumento19 páginas(Educacao) - Lino de Macedo - Fundamentos para Uma Educacao InclusivaMirian LinharesAinda não há avaliações
- Tremor - Jonathan Franzen PDFDocumento460 páginasTremor - Jonathan Franzen PDFCaetano ThieneAinda não há avaliações
- 921 - Soc Etnocentrismo 1emDocumento5 páginas921 - Soc Etnocentrismo 1emmfatimadlopesAinda não há avaliações
- SuperMotivado+volume1-+Prof +Isaac+MartinsDocumento77 páginasSuperMotivado+volume1-+Prof +Isaac+MartinsSimone SelenkoAinda não há avaliações
- Jose FikerDocumento13 páginasJose FikerMaiara Oliveira100% (1)
- A Prática Da Leitura Se Faz Presente em Nossas Vidas Desde o Momento em Que Começamos ADocumento82 páginasA Prática Da Leitura Se Faz Presente em Nossas Vidas Desde o Momento em Que Começamos AJose Claudio da Silva100% (1)