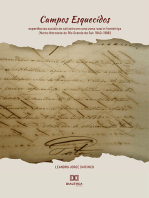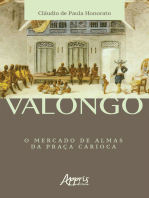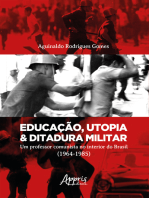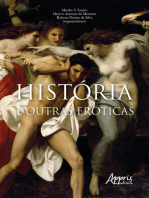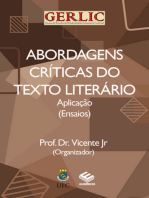Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Rosas Use L Oliveira Da
Enviado por
fososa7168Descrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Rosas Use L Oliveira Da
Enviado por
fososa7168Direitos autorais:
Formatos disponíveis
1
Universidade Estadual de Campinas Instituto de Filosofia e Cincias Humanas Doutorado em Histria
Susel Oliveira da Rosa
ESTADO DE EXCEO E VIDA NUA: VIOLNCIA POLICIAL EM PORTO ALEGRE ENTRE OS ANOS DE 1960 E 1990
Campinas 2007
SUSEL OLIVEIRA DA ROSA
ESTADO DE EXCEO E VIDA NUA: VIOLNCIA POLICIAL EM PORTO ALEGRE ENTRE OS ANOS DE 1960 E 1990.
Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de Histria do Instituto de Filosofia e Cincias Humanas da Universidade Estadual de Campinas sob a orientao do Prof. Df. talo Arnaldo Tronca.
Este exemplar corresponde redao final da Tese defendida e aprovada pela Comisso Julgadora em 14/09 / 2007
BANCA
Df. Edson Passclii
4rn1~
Profa.Dra.RuthMariaChittGauer- (Suplente)
Profa. Dra. Luzia Margareth Rago - (Suplente) SETEMBRO/2007 Profa. Dra. Marilda Aparecida lonta - (Suplente)
ii
FICHA CATALOGRFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DO IFCH - UNICAMP
R71e
Rosa, Susel Oliveira da Estado de exceo e vida nua: violncia policial em Porto Alegre entre os anos de 1960 e 1990 / Susel Oliveira da Rosa. - Campinas, SP : [s. n.], 2007.
Orientador: talo Arnaldo Tronca. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Cincias Humanas.
1. Violncia policial Porto Alegre (RS) 1960-1990. 2. Biopoltica. 3. Estado de exceo. I. Tronca, talo Arnaldo. I. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Cincias Humanas. III.Ttulo. cn/ifch Ttulo em ingls: State of exception and naked life: police violence in Porto Alegre Palavras chaves em ingls (keywords) : Police brutality Porto Alegre (RS) 1960-1990 Biopolitics State of exception
rea de Concentrao: Poltica, Memria e Cidade Titulao: Doutor em Histria Banca examinadora: Edgar Salvadori De Decca (presidente), Cristiane Pereira Dias, Glaydson Jos da Silva, Edson Passetti, Jos Alves de Freitas Neto Data da defesa: 14-09-2007
Programa de Ps-Graduao: Histria
iii
Resumo
Abordo, neste trabalho, histrias de pessoas que entre os anos de 1960 e 1990 foram alvo da violncia policial na cidade de Porto Alegre, no intuito de mostrar que se a violncia e a tortura intensificaram-se durante a ditadura militar brasileira (1964-85), elas acompanham a trajetria das instituies policiais no Brasil at a atualidade. Utilizo os conceitos de biopoltica, de Michel Foucault, vida nua e estado de exceo de Giorgio Agamben, ao refletir e escrever sobre a vida e a morte de Manoel Raimundo Soares, Hugo Kretschoer, Luis Alberto Arbalo, Mirajor Rondon, Antnio Clvis, Jlio Csar, Jefferson Pereira e Guiomar Nunes.
Palavras-chave: violncia policial, Porto Alegre, biopoltica, estado de exceo, vida nua.
Abstract
I approach, in this work, histories of people who had been, between the years of 1960 and 1990, object of police violence in the city of Porto Alegre, in an effort to show that if violence and torture had been intensified during the Brasilian military dictatorship (1964-85), they follow the trajectory of the police institutions in Brazil until nowadays. I use the concepts of biopolitics, from Michel Foucault, naked life and state of exception from Giorgio Agamben, when reflecting and writing about the life and the death of Manoel Raimundo Soares, Hugo Kretschoer, Luis Alberto Arbalo, Mirajor Rondon, Antnio Clvis, Jlio Cesar, Jefferson Pereira and Guiomar Nunes.
Key-words: police violence, Porto Alegre, biopolitics , state of exception, naked life.
Dedico esse trabalho memria de Manoel Raimundo Soares, Luis Alberto Arbalo, Mirajor Rondon, Antnio Clvis, Guiomar Nunes, Jefferson Pereira, Jlio Csar e todos aqueles que fizeram e fazem parte da vida nua no Brasil.
vii
Agradecimentos
Ao Cnpq, pelo financiamento da pesquisa.
Ao professor talo Tronca, pela tranqilidade, pelo apoio e pela liberdade com que permitiu que eu construsse o trabalho.
professora Margareth Rago, pelo entusiasmo com que apresenta Foucault e Deleuze a seus alunos e, principalmente, por me adotar desde a qualificao.
professora Ruth Gauer, por me acolher, ajudar a definir o projeto inicial e o primeiro captulo do trabalho; por me inspirar com sua contagiante dedicao e prazer a buscar leituras sobre o mundo moderno e ps-moderno.
Ao professor Edson Passetti, pela leitura instigante, crtica e sugestes na banca de qualificao.
A Jair Kriskcke por me receber e ajudar a retomar os vestgios dos casos aqui abordados; por ler atentamente os trs ltimos captulos, auxiliando-me com as possveis imprecises e lapsos; pelo seu trabalho cotidiano de burlar o empreendimento de reciclagem do lixo humano na busca de espaos nos quais a vida escapa aos mecanismos de poder;
A Carlos Heitor, pelo depoimento corajoso, pelo incentivo e pelo desejo de tornar pblico um campo de exceo no intuito que esses espaos deixem de existir;
Car, querida amiga e colega, por estar sempre presente, com um sorriso acolhedor que no deixa a gente esmorecer nunca.
Bia, pela amizade, pelas trocas de experincias e por me presentear com um livro que se tornaria o referencial terico do trabalho.
viii
Aline, pelo amor e pela reviso final do texto.
Letcia, pela amizade famlia ao longo dos quatro anos do curso.
Lisandre, amiga e companheira das angstias de elaborar uma tese, pelas leituras e compreenso de saberes outros;
Aos colegas, Raimundo Nonato e Alessandra Bagatim, pela companhia, pelos cafs e por compartilharmos os anseios do curso;
A Maria Lucia Sampaio, Noeli Lisboa, Caroline Bauer, Cludio Gutierres, pelo auxlio e pela possibilidade de trocarmos informaes sobre o perodo da ditadura em Porto Alegre;
A minha me, meu irmo, minha cunhada e minha sobrinha, pelo carinho, amor, fora e apoio incondicional.
Cris e ao Marcos, pelo carinho, amizade e correo inicial do texto;
A Tati, Silvia e Lucia, pela amizade e pacincia nas inmeras vezes que no as vi em funo de estar escrevendo;
ix
Sumrio
Introduo.............................................................................................................1
1. A violncia no contexto biopoltico do estado de exceo...........................7 1.1. Da violncia, da pureza e da ordem ...............................................................8 1.2. Biopoltica e modernidade ..............................................................................13 1.3. Banalizao da violncia: entre fazer viver e deixar morrer.............................19 1.4. Da soberania e da disciplina...........................................................................20 1.5. Do poder soberano ao poder total................................................................23 1.6. A violncia que pe e conserva o direito ....................................................28 1.6. Vida nua: a vida no estado de exceo ..........................................................30 1.7. Estado de exceo: a perda de sentido da poltica? .......................................33
2. Exceo e violncia policial no Brasil............................................................39 2.1. Polcia e Poltica.............................................................................................44 2.2. O modus operandi: violncia e tortura ............................................................54
3. Depois de um ano eu no vindo, ponha a roupa de domingo...................69 3.1. O Caso Savi...................................................................................................70 3.2. Reconhecimento de tempo de servio............................................................71 3.3. Indicao ao Conselho de Polcia...................................................................74 3.4. Movimento de Justia e Direitos Humanos .....................................................77 3.5. Dopinha: campo de ao soberana dos lderes da represso .........................79 3.6. O casaro ......................................................................................................85 3.7. Manoel Raimundo: de sargento do Exrcito Nacional a homo sacer ...............89 3.8. Agora homo sacer: o corpo seqestrado e torturado.......................................90 3.8. Cartas a Betinha: o relato da dor ....................................................................103 3.9. Eplogo: queima de arquivo............................................................................111
4. Luiz Alberto: um adolescente no DOPS/RS...................................................119 4.1. O Caso Arbalo ...........................................................................................122 4.2. Filho de criao..............................................................................................123 4.3. Os mdicos....................................................................................................128 4.4. Do ventilador pneumonia.............................................................................131 4.5. No Hospital Sanatrio Partenon .....................................................................132 4.6. Laudo de autpsia..........................................................................................134
4.7. Os demais envolvidos ....................................................................................137 4.8. Lgia e Milton Arbalo.....................................................................................139 4.9. O Fleury dos pampas...................................................................................143 4.10. Quatro anos depois ......................................................................................154 4.11. Mirajor: suicdio com a prpria cinta no trinco da porta .................................157 4.12. Presos comuns: a rotina dos suplcios..........................................................160
5. O empreendimento de reciclagem ps-ditadura ...........................................165 5.1. Imagens da tortura .........................................................................................168 5.2. Alguns dias antes do julgamento ....................................................................177 5.3. At quando impunes? ....................................................................................181 5.4. A linguagem e a morte ...................................................................................183 5.5. Casa de Guiomar como paradigma da exceo .............................................185 5.6. O homem errado..........................................................................................189 5.7. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava l ..............................195 5.8. A perda da experincia ..................................................................................199
Consideraes Finais .........................................................................................205
Referncias .........................................................................................................209
Anexos.....................................................................................................................219
Introduo
Atualmente, vivemos em meio a uma velocidade temporal em que a urgncia parece suplantar a reflexo em inmeros mbitos. Na era da informao e das novas tecnologias, por vezes, a informao massiva transforma-se em desinformao generalizada. Nesse cenrio, percebemos cotidianamente a banalizao da violncia que, comumente, convertese em apenas mais um espetculo miditico. Cada um de ns sobrevive como pode a uma dose diria de exposio traumtica, na tela da televiso ou no sinal de trnsito1. Violncia que acompanha a comunidade humana desde seus primrdios, na prpria fundao dessa comunidade e, mais tarde, na instituio do direito. Contudo, a partir do momento em que a poltica tomou a seus cuidados a vida humana, vida que no sculo XIX transformou-se no bem supremo da humanidade para Hannah Arendt , metamorfoseando-se em biopoltica para Michel Foucault , poder e violncia tornaram-se indistinguveis, expondo a vida humana violncia anmica e cotidiana.
De acordo com Foucault, quando os investimentos de poder centraram-se no homem-espcie e a vida passou a ser administrada e regrada pelo Estado, em nome da proteo das condies de vida da populao, assistimos preservao da vida de algumas pessoas, enquanto autoriza-se a morte de outras tantas. Ou seja, a assuno da vida pelo poder, que transformou a poltica em biopoltica, expe a vida de populaes e grupos inteiros. Com base nos padres normalizadores e em nome dos que devem viver, estipula-se quem deve morrer a morte do outro, da raa ruim o que vai deixar a vida em geral mais sadia2. No limiar da modernidade biolgica diz Foucault a espcie ingressou no jogo das estratgias polticas3.
Nesse contexto o filsofo italiano Giorgio Agamben afirma que o estado de exceo espao em que a norma convive com a anomia tornou-se o paradigma biopoltico dos governos atuais, j que de medida provisria e excepcional, a partir da Primeira Guerra Mundial, converteu-se em regra. Representando a incluso e a captura de
Marcio Seligmann-Silva. A Histria como Trauma (In: Catstrofe e Representao. SP:Escuta, 2000). Michel Foucault. Em defesa da sociedade (SP: Martins Fontes, 2002), p.305. 3 Michel Foucault. Histria da Sexualidade Vol.1 (RJ: Graal, 2001), p.34.
2
um espao que no est fora nem dentro, o estado de exceo suspende o ordenamento jurdico, mas no desdenha desse ordenamento, ao contrrio, compe com ele a prpria lgica da exceo. Lgica que possibilita a indistino entre exceo e norma, entre lei e anomia no mundo contemporneo. Se antigamente o soberano detinha o poder de deixar morrer e fazer viver, no estado de exceo, fazer viver mais do que nunca , tambm, deixar morrer.
Compondo a estrutura de exceo temos a vida nua de boa parte da populao mundial, cotidianamente exposta banalizao da violncia. Como produo especfica do poder ou biopoder a vida nua a vida que foi colocada para fora da jurisdio humana e seu exemplo supremo a vida no campo de concentrao. A origem da expresso vida nua remonta a Walter Benjamin, para quem a vida nua seria a portadora do nexo entre violncia e direito. Retomando a idia da soberania, Agamben diz que a vida no bando soberano a vida nua ou vida sacra. Na esfera soberana possvel matar sem cometer homicdio e sem celebrar um sacrifcio: a sacralidade da vida hoje significa a sujeio dessa a um poder de morte, a sua irreparvel exposio na relao de abandono4.
Retomando a idia de biopoltica e estado de exceo, Oswaldo Giacia diz que assistimos atualmente a uma disputa pelo direito de decidir acerca do estado de exceo no Brasil. Disputa em torno da deciso soberana sobre a vida e a morte da vida nua. Penso que, nessa disputa, poltica e polcia ocupam papis centrais. Walter Benjamin j dizia que o rosto mais apropriado do poder a polcia. Isso porque a polcia, enquanto detentora do poder de criminalizar, ultrapassa o poder soberano do Estado e antecipa o anonimato do biopoder. Agamben afirma que no podemos compreender boa parte da poltica moderna se no compreendermos a indistino entre polcia e poltica, que marca essa poca. Tomando por exemplo a biopoltica nazista, o filsofo italiano afirma que a polcia tornou-se poltica, e que a tutela da vida coincidiu com a luta contra o inimigo5. Hlne LHeuillet6 tambm associa polcia e poltica, lembrando que o surgimento da
Giorgio Agamben. Estado de Exceo (SP: Boitempo, 2004). Giorgio Agamben. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed.UFMG, 2004), p.154. 6 La gnalogie de la police (Cultures & Conflits, Paris, n. 48, jun. 2003) e Alta polcia, baixa poltica - uma viso sobre a Polcia e a relao com o poder (Portugal: Editorial Notcias, 2004).
5
primeira corresponde ao nascimento da sociedade dos indivduos. A noo de polcia como temos hoje se concretizou na modernidade, no apenas como um simples instrumento da poltica, mas compondo a prpria estrutura desta ltima. Recobrindo o campo real da poltica, a polcia o que se encontra sob a poltica. Perigosa em potncia, ela no tosomente uma instituio do Estado desde que se separou do judicirio, a polcia aproximou-se do executivo. Logo, a violncia policial tornou-se uma das mais perigosas facetas da violncia no mundo contemporneo, principalmente no Brasil: basta lembrarmos que a rotina de violncia da polcia brasileira conhecida interna e externamente, desde que a Anistia Internacional declarou nossa polcia como a mais violenta do hemisfrio ocidental. No ano 2000, um relatrio das Naes Unidas demonstrou que o terror psicolgico e a tortura fsica continuam a ser perpetrados nas principais cidades brasileiras (nas delegacias, nos presdios e at mesmo em orfanatos)7. Terror psicolgico e tortura que foram incrementados durante o regime militar, entre os anos de 1964 e 1984.
Com base nessas idias, abordo casos de violncia ligados s instituies policiais apesar de a maioria deles envolver a Polcia Civil, alguns foram perpetrados por integrantes do Exrcito Nacional e da Polcia Militar na cidade de Porto Alegre. Analiso casos de pessoas que foram torturadas ou assassinadas enquanto vida nua, durante e aps a ditadura militar. Durante a ditadura, porque Porto Alegre esteve entre as cinco capitais onde a represso foi mais intensa, apesar do DOI/CODI (Departamento de Operaes de Informaes/Centro de Operaes de Defesa Interna) gacho ter sido o ltimo criado, em 1974. Fato que exprime os vnculos estreitos entre os militares e a polcia gacha, uma especificidade que pode ter aprofundado a relao entre polcia e poltica, deixando rastros no perodo de redemocratizao. Aps a ditadura, porque a violncia que marca a trajetria da polcia no pas e, durante o regime militar atingiu os setores mdios da sociedade, nunca deixou de ser praticada com aquelas pessoas que compem a sobra ou o lixo humano8 no estado de exceo. Fato perceptvel na histria de vida (e morte) de pessoas que foram assassinadas enquanto vida nua entre as dcadas de 60 e 90 em Porto Alegre.
7
Huggins, Marta K. et all. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.28 e 31.
Ao retomar essas histrias, optei por trabalhar com o que Foucault chama de histrias de vida. Em linhas gerais, os estudos acadmicos constroem a memria sobre a violncia policial de duas formas: atravs da acumulao de dados ou das histrias de vida. A acumulao de dados trabalha com levantamentos estatsticos, nos quais, por vezes, as vtimas se tornam meros casos, ingressando no que Michel Foucault chama de estado de visibilidade consciente e permanente que garante o funcionamento autnomo do poder9. Sem dvida os levantamentos estatsticos so necessrios, afinal permitem uma visibilidade geral em termos numricos dos dados acerca da violncia. Porm, sua objetividade que pode at surpreender ou chocar, coisifica e distancia o olhar sobre a violncia e, por fim, por si s, no se contrape banalizao desta ltima no mundo contemporneo. Optando em trabalhar com histrias de vida, desejo inseri-las em um quadro menos opaco, qui em um quadro vivo, que no distancie ou banalize o olhar do leitor.
Para isso, no primeiro captulo, discuto a violncia no contexto biopoltico do estado de exceo. Retomo algumas caractersticas que marcaram a modernidade, como os ideais de pureza e ordem, segundo as anlises de Mary Douglas; a agressividade e a banalidade do mal, segundo Freud e Hannah Arendt; o mal-estar na ps-modernidade de acordo com Zygmunt Baumam; procuro perceber como os pressupostos normalizadores articularam disciplina e regulamentao no mundo moderno dando forma assuno da vida pelo poder sobre a qual escreveu Michel Foucault assuno da vida que, para Hannah Arendt, ocorreu com a vitria do animal laborans. Articulando o pensamento de Arendt e Foucault e mostrando a indistino contempornea de excluso/incluso, externo/interno, zo/bios, abordo as idias de Giorgio Agamben. A criminalizao do inimigo no estado de exceo, na era do poder total ou do biopoder, tambm explorada no captulo inicial. Conceitos que conduzem a pensarmos a violncia que funda o direito, bem como a vida nua no mundo atual.
Zygmunt Bauman. Vidas Desperdiadas (RJ: Jorge Zahar, 2005). Discipline and punish: the birth of the prision (NY: Vintage, 1979) p.201; apud: Huggins, Marta K. et all. Operrios da violncia, p.68. Uso aqui o apud, pois no encontrei a edio citada por Huggins e, a verso traduzida para o portugus de Vigiar e Punir no foi contemplada com essa parte do texto de Foucault.
9
No segundo captulo, procuro pensar as idias de exceo e violncia policial na trajetria do Estado brasileiro. Acredito que a exceo seja a regra na histria brasileira desde os primrdios da formao do Estado. Exploro os vnculos estreitos entre polcia e poltica observados por Hlne LHeuillet abordando trabalhos contemporneos como Cabea de Porco, Elite da Tropa, Tiras, Gansos e Trutas e Operrios da Violncia para pensar a vida nua da populao brasileira num estado de exceo tornado regra. Cenrio no qual tortura e violncia funcionam como o modus operandi das instituies responsveis pela manuteno da ordem.
No terceiro captulo, abordo a histria de priso, tortura e assassinato de Manoel Raimundo Soares sargento expulso do Exrcito Nacional em 1964, quando ocorreu o golpe militar. No ms de agosto de 1966, o corpo de Manoel Raimundo foi encontrado sem vida e com as mos amarradas no Rio Jacu em Porto Alegre. Foi o primeiro caso de violncia explcita vinculada represso poltica tornado pblico, envolvendo policiais civis e militares no Rio Grande do Sul. As investigaes da Promotoria de Justia na poca revelaram a existncia de um rgo paralelo de represso: a Dopinha, um centro de torturas que, sob o comando de militares, funcionou de 1964 a 1966 em Porto Alegre. Tendo em mente que a atualidade coloca-nos as questes com as quais interrogamos o passado, comeo o terceiro captulo com o Caso Savi. Savi um ex-delegado de Polcia Civil que requereu reconhecimento de tempo de servio aos rgos de informao em 1986, retomando publicamente a existncia da Dopinha e o assassinato de Manoel Raimundo Soares. Encerro essa parte do texto com a histria do assassinato de outro militar: Hugo Kretschoer. Hugo teria participado do assassinato de Manoel Raimundo e, por beber e falar demais, tornou-se inconveniente aos rgos de represso. Discusses sobre tortura, assassinato, corpo torturado e escrita de si na situao de priso e isolamento permeiam o texto.
No quarto captulo, procuro mostrar como a violncia da polcia poltica no se voltou somente aos presos polticos. Se, durante a ditadura militar, a tortura difundiu-se explicitamente contra setores mdios e intelectualizados da sociedade, prtica comum nas delegacias do pas, isso no impediu que a violncia contra as pessoas que, desde seu
nascimento, compem a vida nua seguisse seu curso. Vida nua de Luis Alberto Arbalo, um adolescente de 17 anos de idade, por infelicidade afilhado de Pedro Seelig delegado do DOPS gacho, mais conhecido como o Fleury dos Pampas que levado s dependncias do DOPS/RS, para um pequeno susto, acabou morrendo no ano de 1973. Vida nua do taxista Mirajor Rondon, que em 1968 foi procurar um policial no Palcio da Polcia em Porto Alegre e saiu sem vida do local. Casos como o de Arbalo e Mirajor mostram que, no auge da represso poltica, o aperfeioamento das tcnicas repressivas atingiu, tambm, os presos comuns.
Findo o regime militar, a tortura no deixou de existir nas delegacias do pas. O empreendimento interminvel de reciclagem da vida nua ou do lixo humano torna-se evidente nos casos que analiso no quinto captulo, como o do adolescente conhecido por Doge, fotografado sob tortura na dcada de 80, nas dependncias do Palcio da Polcia de Porto Alegre. O Caso Doge causou alvoroo entre as autoridades policiais e repercutiu na mdia. Contudo, a vida de Doge j possua desde seu nascimento o estatuto de vida nua: adolescente pobre, morador de uma favela gacha. Dois anos depois, s vsperas do julgamento dos policiais acusados de tortura, Doge foi assassinado. Ele no pertencia ao mundo da vida que deve ser preservada, dos corpos que devem ser cuidados, ele fazia parte, no ordenamento biopoltico, daqueles a quem se pode deixar morrer. Alm de Doge, abordo a violncia contra Jorge Eugnio, o assassinato do verdureiro Guiomar Nunes, o Caso do Homem Errado e o trucidamento de Jefferson Pereira episdios envolvendo pessoas que, compondo a vida nua, so alvos constantes do empreendimento de reciclagem contemporneo, da indstria de remoo do refugo humano10 em uma sociedade expropriada da experincia.
10
Jean Baudrillard. O paroxista indiferente (RJ:Pazulin, 1999).
1. A violncia no contexto biopoltico do estado de exceo
Escrevendo sobre a banalizao da violncia no mundo contemporneo, Hannah Arendt afirma que apesar da violncia sempre ter desempenhado um papel importante nos negcios humanos, ela foi desconsiderada, pelo menos no meio acadmico, por muito tempo. Ningum questiona ou examina o que bvio para todos11, diz Arendt. Com base nessa constatao, ela se debruou sobre a natureza e as causas da violncia em suas manifestaes no mbito da poltica. Contrariando a maioria dos pensadores da poltica - de Karl Marx a Max Weber, passando por Georges Sorel e Carl Schmitt a violncia considerada central a toda relao poltica - ela afirmou que poder e violncia se opem, apesar de estarem juntos em muitas circunstncias. Enquanto o poder a essncia dos governos, a violncia um meio que depende de orientao para os fins que almeja e aquilo que necessita de justificao por outra coisa, no pode ser a essncia de nada, diz a filsofa. Mesmo que comumente a violncia se apresente atrelada ao poder e no possa ser pensada fora desse12, ela no pode ser considerada legtima. A essncia do poder no a violncia que aparece quando o primeiro est em risco. Quando a violncia se impe, a poltica se degenera, a exemplo do totalitarismo e das ditaduras. Essa concepo levou Arendt a falar na perda de sentido da poltica no mundo contemporneo, j que a poltica tem sido cotidianamente vivenciada como violncia13.
Apesar da distncia terica, para Michel Foucault e Hannah Arendt, essa exacerbao da violncia no mundo contemporneo corporificou-se na modernidade, mais
especificamente quando a poltica tomou a vida humana a seus cuidados: na assuno da vida pelo poder que deu forma biopoltica, para Foucault e na vitria do animal laborans, para Arendt, quando a vida biolgica transformou-se no bem supremo da humanidade. A partir de ento, o que Giorgio Agamben denomina de estado de exceo tomou conta do
Hannah Arendt. Sobre a Violncia (RJ: Relume-Dumar, 1994). Arendt lembra que essas noes de modo algum correspondem a compartimentos estanques do mundo real, onde a combinao entre poder e violncia uma constante. Encontr-los em sua forma pura raro, o que no significa que possam ser atrelados e a violncia considerada como fundamento do poder. 13 Arendt faz uma distino entre vigor, poder, autoridade, fora e violncia fenmenos distintos e nem sempre abordados em sua especificidade. Enquanto o poder corresponde habilidade humana de agir em conjunto, a violncia tem um carter instrumental e est prxima ao vigor: os implementos da violncia so planejados com o propsito de multiplicar o vigor natural, diz a autora.
12
11
mundo contemporneo. Nesse cenrio que explorarei mais detidamente ao longo do captulo - as organizaes policiais transformaram-se no rosto mais apropriado do biopoder.
A maneira como a violncia, atrelada esfera poltica (ou biopoltica) e emanada das instituies responsveis pela manuteno da ordem, banalizou-se no mundo
contemporneo dando forma ao que Giorgio Agamben chama estado de exceo o que procuro perscrutar nesse captulo. Inicialmente, me pergunto que tcnicas de poder propiciaram a inveno de um mundo onde o outro pode ser descartado ao no se encaixar em determinada concepo de ordem? A partir de ento, aprofundo a noo de biopoltica, estado de exceo e vida nua que caracterizam a atualidade.
1.1. Da violncia, da pureza e da ordem
No texto traduzido do alemo para o portugus como O Mal-Estar na Civilizao, Freud afirma que os homens no so criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no mximo, podem defender-se quando atacadas14. Isso porque possumos o que ele chama de uma poderosa e instintiva quota de agressividade. Possumos um impulso de crueldade, muito bem interpretado por Gauer15 em suas reflexes sobre a violncia, quando ela nos diz que ser cruel uma das maneiras mais legtimas de se tornar humano. Procuramos satisfazer no outro, ou melhor, sobre o outro, essa agressividade. Agressividade que tende a ser controlada pelo que Freud denomina de civilizao o homem civilizado, diz ele, trocou uma parcela de felicidade por uma parcela de segurana. A hostilidade de cada um contra todos e a de todos contra cada um, se ope (ao) programa da civilizao.
Para o autor de O Mal-Estar na Ps-modernidade, Zygmunt Bauman, quando Freud fala em civilizao ou cultura (outra possibilidade de traduo) modernidade que ele se refere, a histria da modernidade que ocupa Freud no texto O Mal-Estar na Civilizao. O mal-estar, sugestivo do ttulo, configura-se no sentimento de culpa,
14 15
S. Freud. O Mal-Estar na Civilizao (In: Obras Completas. Vol. XXI, RJ: Jayme Salomo, 1996), p.33. Ruth Gauer. Alguns aspectos da fenomenologia da violncia (Curitiba: Juru, 2000).
fortemente estimulado na modernidade. Na modernidade, mais do que em qualquer poca, a agressividade foi disciplinada atravs do sentimento de culpa, dos ideais de ordem e beleza, e de toda uma gama de procedimentos coercitivos. A partir do sculo XVIII, espao, tempo e corpo foram esquadrinhados ao mximo, como mostrou Foucault em Vigiar e Punir. No que diz respeito ao corpo, eram estimuladas novas tcnicas de limitaes e coeres, as tcnicas eram a novidade, j que o corpo sempre foi objeto de investimentos nas mais diversas sociedades e pocas16. Com a modernidade o corpo passou a ser trabalhado detalhadamente, exercendo-se sobre ele uma coero sem folga, [mantendo-o] ao nvel mesmo da mecnica movimentos, gestos, atitude, rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo ativo17. Um esquadrinhamento que, alm de utilitrio, servia tambm para conter a agressividade humana, j que as disciplinas controlam e sujeitam as foras do corpo, numa relao de docilidade-utilidade como diz Foucault.
Outro tema caro modernidade, e que causa certo temor quando associamos os vrios acontecimentos ligados a sua busca pelas sociedades, a beleza. O temor de que falo causado pela imediata associao da beleza com a ordem, com a limpeza, e de como isso, por vezes, se torna compulso, e dos objetos se estende s pessoas, s etnias, s sexualidades gerando inmeros episdios de discriminao e genocdios de que a histria est repleta. A civilizao ou a modernidade rejeitou a sujeira,
[estendendo a] exigncia de limpeza ao corpo humano (...) no nos surpreende a idia de estabelecer o emprego do sabo como um padro real de civilizao. Isso igualmente verdadeiro quanto ordem. Assim como a limpeza, ela s se aplica s obras do homem (...) A ordem uma espcie de compulso a ser repetida, compulso que, ao se estabelecer um regulamento de uma vez por todas, decide quando, onde e como uma coisa ser efetuada (...)18.
A disciplina espalhou-se pelo mundo moderno, fazendo com que as pessoas aceitassem e procurassem os ideais de beleza, limpeza e de ordem. Para a antroploga Mary
Ver Richard Sennet, Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilizao ocidental (RJ:Record, 1994); E.H. Gombrich, A Histria da Arte (RJ:Zahar, 1979); Gilles Lipovetsky, Imprio do Efmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas (SP: Cia das Letras, 1989); Nzia Villaa, Em nome do corpo (RJ:Rocco, 1998), entre outros. 17 Michel Foucault. Vigiar e Punir (Petrpolis, Vozes: 2002), p.118. 18 O Mal-estar na civilizao, op.cit., p. 113.
16
10
Douglas em Pureza e Perigo sujeira essencialmente desordem, portanto, ofensiva ordem, e existe aos olhos de quem a v. Elimin-la, para Douglas, no um esforo negativo, mas positivo, uma vez que reorganizamos o ambiente ao faz-lo. O problema que do ambiente, muitas vezes, passamos a reorganizar a sociedade, estendendo os conceitos de puro/impuro a pessoas e grupos sociais.
Analisando sociedades primitivas, Douglas diz que impureza e sujeira devem ser examinadas pela ordem, j que ambas no podem ser includas para se manter um padro. Essa anlise vale tambm para os modernos, j que como diz ela, estamos todos sujeitos s mesmas regras, a diferena que na cultura primitiva as regras de padronizao funcionam com mais fora e com os modernos elas se aplicam a reas de existncia deslocadas e separadas19. A desordem estraga, ento, o padro. Mas, assim como estraga o padro, ela fornece elementos para esse mesmo padro, fornece pressupostos para a ordem. Michel Maffesoli20 segue a mesma linha de pensamento quando se refere violncia enquanto dissidncia social, que para ele estaria vinculada a um duplo elemento de destruio e construo: ao mesmo tempo em que revela uma desestruturao social ela invoca uma nova construo, de modo que a violncia tambm estrutura o fato social. O problema que vejo aqui qual o tipo de ordem ou nova estrutura social a desordem ou a violncia contribuem para inventar, uma vez que a recepo de ambas, na sociedade , na grande maioria das vezes, vista e explorada (pela mdia, por exemplo) em seu carter negativo, e resulta em aes castradoras e proibitivas que s fazem aumentar preconceitos e temores sociais. Cada cultura impe sua prpria noo de sujeira e de contaminao, e assim estabelece sua noo de ordem, a partir dessa ordem a sujeira deve ser eliminada. Identificar o que est fora de lugar e uma ameaa ordem o primeiro estgio, conforme Mary Douglas:
Primeiro esto, reconhecidamente, fora de lugar, uma ameaa boa ordem, e assim, considerados desagradveis e varridos vigorosamente. Neste estgio tm alguma identidade: podem ser vistos como pedaos indesejveis de seja l o que for: cabelo, comida ou embrulho. Este o estgio em que so perigosos; sua semi-identidade ainda adere-se e a claridade da cena na qual se intrometeram
19 20
Mary Douglas. Pureza e Perigo (SP: Perspectiva, 1976), p.56. A Violncia Totalitria (Porto Alegre: Sulina, 2001).
11
prejudicada pela sua presena. Mas, um longo processo de pulverizao, decomposio e putrefao aguarda qualquer coisa fsica que tiver sido reconhecida como suja. No fim, qualquer identidade desapareceu. A origem dos vrios pedacinhos e partes est perdida e entraram na massa do lixo comum. desagradvel remexer no refugo para recuperar algo, pois isso restaura a identidade. Enquanto a identidade est ausente, o lixo no perigoso21.
Lendo o trecho acima impossvel no lembrar do extermnio perpetrado pelos nazistas durante a segunda guerra mundial, quando alguns oficiais acreditavam que no deixariam provas do massacre cometido. O lixo humano fora queimado, incinerado nos fornos nazistas. Assim, no representava mais perigo; a identidade, acreditavam, havia desaparecido, o sonho esttico de pureza fora preservado. O conceito de ordem e pureza deslizou das coisas, como cabelo, comida ou embrulho, para as pessoas.
Pureza, sujeira, higiene, esto associados idia que temos de ordem e que nos faz decidir, por exemplo, por guardar nossos livros no escritrio e no na cozinha. Num universo linear, a ordem pode garantir certa proteo contra o acaso e mantm a f nas probabilidades. Uma idia ordem que sempre existiu nas sociedades em todas as pocas. Contudo, aliada ao universo linear e projetivo da modernidade, passou a ocupar um lugar de destaque nesse mundo disciplinar, adquirindo um carter menos construtivo do que o pensado por Mary Douglas.
Enquanto estamos organizando, limpando a sujeira do nosso ambiente, organizando os livros no escritrio ou na sala e no na cozinha, deixando o lixo na rea de servio e no no hall de entrada, por exemplo, entendemos o carter construtivo ao qual Mary Douglas se refere. No entanto, quando colocamos os loucos em naus e os jogamos na gua, quando incineramos milhares de pessoas, quando jogamos ao mar aqueles que no se encaixam na ordem do regime militar, quando considerados o outro como sujeira e tratamos de organizar o ambiente, a cidade, o pas, eliminando a presena de pessoas ou grupos indesejados, temos um srio problema a sujeira o prprio homem, o outro que no se enquadra na ordem. No momento em que o Estado moderno passou a estimular suas instituies a promover uma higienizao social, a idia de ordem j no era positiva,
21
Pureza e Perigo, op. cit., p. 194.
12
tornou-se uma perigosa e letal compulso. Uma compulso condensada pela modernidade num desejo esmagador e irresistvel de instalar uma ordem segura contra todos os desafios futuros, no entender de Bauman:
As utopias modernas diferiam em muitas de suas pormenorizadas prescries, mas todas elas concordavam em que o mundo perfeito seria um que permanecesse para sempre idntico a si mesmo, um mundo em que a sabedoria hoje apreendida permaneceria sbia amanh e depois de amanh, e em que as habilidades adquiridas pela vida conservariam sua utilidade para sempre. O mundo retratado nas utopias era tambm, pelo que se esperava, um mundo transparente em que nada de obscuro ou impenetrvel se colocava no caminho do olhar; um mundo em que nada estragasse a harmonia; nada fora do lugar; um mundo sem sujeira; um mundo sem estranhos22.
Os sistemas totalitrios modernos de direita ou esquerda so os exemplos mais extremos dessa compulso para a ordem: eliminando estranhos e prescrevendo noes de limpeza e pureza (de raa ou de classe). Dito de outra forma, dentro dessa viso moderna de ordem, progresso, compulses de pureza e limpeza, o totalitarismo (nazista, fascista ou stalinista) surgiu como um fenmeno tipicamente moderno. Atravs da cincia, da tecnologia e da burocracia administrativa assistimos tentativa de homogeneizao e purificao da sociedade, que incluiu, na radicalizao desses preceitos, a eliminao genocida do diferente, do outro, do outsider23 que no se encaixa nesse ordenamento social. Segundo Bauman o Holocausto foi gestado e posto em prtica em nossa sociedade moderna e racional, em uma fase avanada de nossa civilizao e em um momento de pice da nossa cultura, sendo por esta razo um problema desta sociedade, desta civilizao e desta cultura24. De modo que os totalitarismos do sculo passado no podem ser entendidos como eventos acidentais e passageiros, como exceo facilmente contornada pela retomada da democracia liberal. Mas sim como fruto da civilizao, dessa poca moderna e de sua compulso pela ordem.
Zygmunt Bauman. O Mal-Estar da Ps-Modernidade (RJ: Jorge Zahar, 1998), p. 21. Terminologia utilizada por Norbert Elias (em Os Estabelecidos e os outsiders) para designar um grupo estigmatizado em uma pequena comunidade, caracterizados pelos estabelecidos por atributos associados anomia, delinqncia e violncia. 24 Zygmunt Bauman. Modernidad y Holocausto (Toledo: Sequitur, 1997), p.139.
23
22
13
Precisamos lembrar que as manifestaes de compulso pela ordem e pela pureza no se manifestaram apenas nos regimes totalitrios onde so mais visveis mas tambm se fizeram presentes na inveno dos estados nacionais modernos atravs das tendncias de unificao e homogeneizao de uma filiao e identidade nacional, demandando a uniformizao das diferenas e a diluio dos estranhos. Pode-se afirmar que a compulso pela ordem, pela pureza e pela beleza se espalhou pelo mundo moderno, independente do regime poltico democracias liberais ou totalitarismos. Ultrapassando o carter positivo de organizar a desordem do ambiente, se manifestou na administrao da vida e do corpo das populaes, e, nesse sentido, pode ser pensada como tcnica disciplinadora e regulamentadora, de acordo com a idia de biopoltica de Michel Foucault.
1.2. Biopoltica e modernidade
No. Eu gosto de homens que no tm raa. por isso que eu gosto de si,
Kindzu25.
Como? Ento gosta de quem? Dos brancos? Tambm no. J sei: gosta de indianos, gosta da tua raa.
No gosto de pretos, Kindzu.
Segundo Foucault26, o sculo XIX assiste a uma estatizao do biolgico quando uma outra tecnologia de poder que no disciplinar (centrada no corpo), mas que regulamentadora (centrada na vida), se articula com a disciplina (de maneira no excludente) sob a forma do que chama de biopoltica. Quando o dado biolgico passa a ser poltico e vice-versa, instala-se um novo direito, diz Foucault, um direito que perpassa o direito soberano, um novo direito, agora, de fazer viver e deixar morrer. Esse direito de fazer viver e deixar morrer passa a ser exercido como poltica estatal a administrar a vida e o corpo da populao.
Trecho da conversa de um velho comerciante indiano, com um menino africano, em Terra Sonnbula, romance de Mia Couto. 26 Em defesa da sociedade (SP: Martins Fontes, 2002).
25
14
Na perspectiva de uma biopoltica, a vida passa a ser pensada como elemento poltico por excelncia, devendo ser administrada e regrada pelo Estado. Assim, teoricamente, as intervenes polticas devem proteger as condies de vida da populao. Contudo, essa proteo est inserida nos ideais de pureza e ordem, e, enquanto cuida-se da vida de uns, autoriza-se a morte de outros. De maneira que a violncia no diminui, mas dissemina-se pelo corpo social e poltico. uma violncia depuradora, que garante a vida de parte da populao. Exterminando os inimigos da classe operria, o totalitarismo de esquerda protegia a vida da classe operria. Exterminando a raa impura, o nazismo pretendia garantir a vida da raa pura. Perseguindo, torturando e exterminando os opositores, os ditadores latino-americanos mantinham a vida daqueles que se encaixavam na ordem estabelecida.
Nesse sentido, a poltica vivenciada como violncia, onde a vida humana pode ser descartada por atos administrativos sem que se cometa qualquer crime. A diferenciao entre poder e violncia torna-se tnue e a poltica perde o sentido original atribudo por Hannah Arendt27 que seria a garantia da vida em seu sentido mais amplo. Entendo que nessa aproximao da biologia e da poltica apontada por Foucault, que se fundamentam os preceitos de ordem e pureza modernos: a morte do outro, a morte da raa ruim, da raa inferior (ou do degenerado, ou do anormal), o que vai deixar a vida em geral mais sadia; mais sadia e mais pura28.
Quando o Estado passa a se ocupar da sade e da higiene das pessoas (em nome do futuro da espcie, do bem-comum, da sade das populaes e/ou da vitalidade do corpo social), temos um novo corpo, nas palavras de Foucault, mltiplo, com inmeras cabeas, referindo-se noo de populao com a noo de populao que a biopoltica trabalha. a populao, a massa, que deve ser agora, no s disciplinada, mas controlada segundo padres normalizadores. a norma que vai circular entre a tecnologia disciplinar e a tecnologia regulamentadora de poder. Nesse sentido na sociedade de normalizao a norma da disciplina e a norma da regulamentao se cruzam,
27 28
O que poltica (RJ: Bertrand Brasil, 2002). Em defesa da Sociedade (SP: Martins Fontes, 2002), p.305.
15
possibilitando ao poder no sculo XIX tomar posse da vida, cobrindo toda a superfcie que se estende do orgnico ao biolgico, do corpo populao, mediante o jogo duplo das tecnologias de disciplina, de uma parte, e das tecnologias de regulamentao, de outra29. Na articulao dessas duas tecnologias funciona a sociedade de normalizao, e com base nos padres normalizadores e em nome dos que devem viver, estipula-se quem deve morrer a morte do outro, da raa ruim o que vai deixar a vida em geral mais sadia. De maneira que o racismo do sculo XIX no era um mero dio entre as raas, mas uma doutrina poltica estatal a justificar a atuao violenta dos Estados modernos.
Caracterizando a modernidade, Hannah Arendt afirma que at ento a violncia era meramente instrumental um meio que precisava de um fim que o justificasse e limitasse. O que chama de glorificao da violncia em si, vinculada esfera do poltico, para a filsofa um fenmeno moderno:
Somente na era moderna a convico de que o homem s conhece aquilo que ele mesmo faz, de que suas capacidades supostamente superiores dependem da fabricao e de que ele , portanto, basicamente um homo faber e no um animal rationale, trouxe baila as implicaes muito mais antigas da violncia em que se baseiam todas as interpretaes da esfera dos negcios humanos como a esfera da fabricao30.
Das revolues modernas emanava o desejo de fundar um novo corpo poltico, um desejo que encontrou na glorificao da violncia a base para fundar esse novo corpo. Entretanto, a superioridade da fabricao sobre a atividade do pensar, do prprio homo faber acabou sendo substituda pela convico da absoluta superioridade da vida sobre todo o resto. Encerrando o texto A condio humana, Arendt mostra como o animal laborans e, com ele, a vida biolgica passaram a ocupar o centro da poltica moderna. A atividade do labor alcanou rapidamente a mais alta posio na ordem hierrquica da vita activa. Temos aqui a apropriao da vida pela poltica, numa
filosofia da vida em sua forma mais vulgar e menos crtica. Em ltima anlise, a vida o critrio supremo ao qual tudo o mais se subordina; e os interesses do
29 30
Idem, p. 302. Hannah Arendt. A condio humana (RJ:Forense-Universitria, 2004), p.240.
16
indivduo, bem como os interesses da humanidade, so sempre equacionados com a vida individual ou a vida da espcie, como se fosse lgico e natural considerar a vida como o mais alto bem31.
A imagem do relojoeiro que deve ser superior a todos os relgios dos quais a causa, perdeu seu lugar, em um momento crucial da modernidade, para a imagem do desenvolvimento da vida orgnica. Nesse momento, o mtodo da introspeco superou o mtodo da experimentao/fabricao mtodos deduzidos a partir de Galileu , j que a introspeco tem como objeto tangvel o processo biolgico. Com a vitria do animal laborans foram os processos corporais que passaram a ligar o homem ao mundo exterior32.
A filsofa alem nos diz que essa inverso de valores entre homo faber e animal laborans foi possvel graas permanncia da crena na sacrossantidade da vida, tpica de uma sociedade crist, que persistiu mesmo aps o declnio do cristianismo. A crena na imortalidade pregada pelo cristianismo inverteu a antiga relao entre homem e mundo, promovendo aquilo que era mais mortal, a vida humana, posio de imortalidade ocupada at ento pelo cosmo33, isso atingiu diretamente o que Hannah Arendt denomina de dignidade e estima da poltica, j que
a atividade poltica, que at ento se inspirara basicamente no desejo de imortalidade mundana, baixou agora ao nvel de atividade sujeita a vicissitudes, destinada a remediar, de um lado, as conseqncias da natureza pecaminosa do homem, e de outro, a atender s necessidades e interesses legtimos da vida terrena.
Assim, completa Hannah Arendt, a vida individual passou a ocupar a posio antes ocupada pela vida do corpo poltico. A imortalidade, defendida pelo cristianismo, aumentou a importncia da vida na terra, transformando essa vida no bem supremo do homem tanto que abdicar da vida tornou-se num grande pecado: o suicdio, se comparado ao assassinato, converteu-se num crime pior que esse ltimo, j que o suicida perde inclusive o direito ao
Idem, p.324-325. Aqui, Hannah Arendt faz referncia a Nietzsche, Marx e Brgson, definindo-os como os maiores representantes da filosofia moderna da vida. Apesar da diferena entre as teorias, ambos teriam na vida, na fertilidade da vida o ponto de referncia de seus trabalhos. 33 Hannah Arendt. A condio humana (RJ:Forense-Universitria, 2004), p.327.
32
31
17
enterro cristo. Preservar a vida, o bem supremo, tornou-se, portanto, um dever. Os pensadores modernos no questionaram, para a filsofa, a crena na sacrossantidade da vida colocada pelo cristianismo desde a crise do mundo antigo quando o mundo era, ento, o bem supremo.
Entretanto, Arendt lembra que a vitria do animal laborans no teria sido completa sem o processo de secularizao e de perda da f que colocou em dvida a certeza na imortalidade da vida. A dvida cartesiana deixou o mundo mais instvel; a perda ou, melhor, a desestabilizao da crena na imortalidade resultou na descrena do futuro o que rompeu, em certo sentido, com a linearidade do mundo. Podemos dizer, ento, que, se a crena na imortalidade originada no cristianismo transformou a vida no bem supremo do homem, essa s se afirmou completamente, com a perda dessa mesma f:
ao perder a certeza de um mundo futuro, o homem moderno foi arremessado para dentro de si mesmo, e no de encontro ao mundo que o rodeava; longe de crer que este mundo fosse potencialmente imortal, ele no estava sequer seguro de que fosse real (...) Agora a nica coisa que podia ser potencialmente imortal, to imortal quanto fora o corpo poltico na antiguidade ou a vida individual na Idade Mdia, era a prpria vida, isto , o processo vital, possivelmente eterno, da espcie humana34.
A vitria do animal laborans, para Arendt, a marca mais importante da modernidade quando a vida, em seu processo vital e biolgico passou a ocupar o centro da poltica, tornando-se o bem supremo do homem. nesse sentido que Agamben faz confluir o pensamento da filsofa alem com a idia de biopoltica de Michel Foucault. Apesar das distncias tericas entre ambos, Foucault e Arendt, de maneira distinta, assinalam a importncia da assuno da vida (ou vitria do animal laborans) pelo poder que aconteceu no sculo XIX permitindo a exacerbao da violncia Andr Duarte fala, inclusive, de uma biopoltica arendtiana35.
Idem, p.333-334. Andr Duarte. Modernidade, biopoltica e violncia: a crtica arendtiana ao presente. In: A banalizao da violncia: a atualidade do pensamento de Hannah Arendt (RJ:Relume-Dumar, 2004), p.45.
35
34
18
Essa mudana exps a vida humana categoria de vida nua a base da democracia moderna, diz Agamben, no o homem livre, com suas prerrogativas e os seus estatutos, e nem ao menos simplesmente o homo, mas o corpus o novo sujeito da poltica36. A reivindicao e a exposio desse corpo marcam a ascenso da vida nua como o novo corpo poltico moderno so os corpos matveis dos sditos que formam o novo corpo poltico do Ocidente37. O documento base da democracia moderna, para o filosofo italiano, atesta a primeira exposio desse corpo: o hbeas corpus, de 1679 hbeas corpus ad subjiciendum ou seja, devers ter um corpo para mostrar. A lei necessita de um corpo, e a democracia obriga a lei a tomar sob seus cuidados este corpo, ou seja, o corpo do condenado deve ser exibido no processo de acusao. Nesse sentido o corpus um ser bifronte, portador tanto da sujeio ao poder soberano quanto das liberdades individuais38. do corpo, do processo vital e biolgico da populao que a poltica passa a ocupar-se. E, somente porque a vida biolgica se tornou fato poltico decisivo, pode-se entender como, no sculo XX,
as democracias parlamentares puderam virar Estados totalitrios, e os Estados totalitrios converter-se quase sem soluo de continuidade em democracias parlamentares. Em ambos os casos, estas reviravoltas produziam-se num contexto em que a poltica j havia se transformado, fazia tempo, em biopoltica, e no qual a aposta em jogo consistia ento apenas em determinar qual forma de organizao se revelaria mais eficaz para assegurar o cuidado, o controle e o usufruto da vida nua. As distines polticas tradicionais (como aquelas entre direita e esquerda, liberalismo e totalitarismo, privado e pblico) perdem sua clareza e sua inteligibilidade, entrando em uma zona de indeterminao (...)39
Penso que essa zona de indeterminao emerge da vinculao do dado biolgico ao poltico e vice-versa, e atravs da biopoltica podemos entender como os pressupostos de ordem, beleza e pureza se disseminaram pelo mundo moderno, dando forma a um racismo exercido como poltica estatal dos Estados totalitrios ou das democracias liberais num regime poltico que pode tanto garantir o incentivo quanto o massacre da vida40.
Giorgio Agamben. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua (BH: Ed.UFMG, 2004), p.129-130. Idem, p.131. 38 Idem, p.130. 39 Idem, p. 128. 40 Antonio Negri e Michael Hardt. Imprio (RJ: Record, 2004).
37
36
19
1.3. Banalizao da violncia: entre fazer viver e deixar morrer
Quando o direito de soberania, que o direito de fazer morrer e deixar viver, no sculo XIX foi perpassado, penetrado e modificado pelo novo direito, de fazer viver e deixar morrer, o direito passou por uma transformao. Podemos dizer que o direito soberano (na teoria clssica da soberania, explica Foucault, o soberano detinha o poder de vida e de morte, ou melhor, ele poderia fazer morrer e deixar viver) transforma-se em biopoltico. a que o filsofo assinala a assuno da vida pelo poder, tornando possvel ao racismo ter se transformado em racismo de Estado, onde:
o racismo ligado ao funcionamento de um Estado que obrigado a utilizar a raa para exercer seu poder soberano. A justaposio, ou melhor, o funcionamento, atravs do biopoder, do velho poder soberano do direito de morte implica o funcionamento, a introduo e a ativao do racismo41.
Tirar a vida, na engenhosidade do biopoder, no diz mais respeito apenas eliminao dos adversrios polticos, mas eliminao do perigo biolgico. No se trata somente de varrer a sujeira, mas de eliminar o perigo. Ao contrrio do que poderamos pressupor, quando o Estado passa a estabelecer polticas pblicas para cuidar do corpo da populao, protegendo e estimulando, purificando e ordenando a vida, tomando a vida como elemento poltico por excelncia, a violncia no diminui, mas passa a ser uma violncia depuradora: cuidando da vida de alguns e autorizando a morte de outros. Assim, em meio velocidade, fragmentao e perplexidade no mundo contemporneo, a violncia tomou conta do corpo social e poltico. A guerra se generalizou e, talvez mais do que nunca pensando o sculo XX -, tornou-se a continuao da poltica por outros meios42. Poltica ou biopoltica que traa cotidianamente os limites entre a vida protegida (que deve ser preservada, ordenada) e a vida nua (que pode ser descartada). Um limite pouco visvel, que turva nosso olhar e entendimento quando percebemos que no nos
41 42
Michel Foucault. Em defesa da sociedade (SP: Martins Fontes, 2002), p. 309. Michel Foucault. Em defesa da sociedade (SP: Martins Fontes, 2002).
20
incomodamos mais com a criana pedinte no sinal de trnsito ou com aquela que cata diariamente o nosso lixo, que estamos indiferentes ao massacre dos palestinos em Israel, misria da populao ou dos refugiados africanos, enfim, toda populao humana vivendo em condies que j ultrapassaram em muito a situao de precariedade.
A velocidade contempornea de um tempo que, para Virilio, dromolgico, esfrico, aliou-se a uma enxurrada de informaes disponibilizada pelas novas tecnologias, onde a urgncia parece suplantar nossa capacidade de elaborar questes. Ento, talvez seja interessante no nos determos to rapidamente em explicaes normalizadas, capazes de neutralizar a inquietao do pensamento43. Nesse sentido, pensar na vida nua, desprotegida, vivenciada no que pode ser um estado de exceo permanente, como prope Agamben, pode ser uma possibilidade de leitura para a banalizao da violncia no mundo contemporneo.
1.4. Da soberania e da disciplina
Ao falar de poder soberano e biopoder, Foucault alerta para os paradoxos dessa coexistncia, citando o exemplo do poder atmico, que, a princpio, seria uma demonstrao de poder soberano: poder de matar, concedido a todo soberano. Contudo, o poder de matar milhes de pessoas e assim, o poder de decidir sobre a vida. E a encontrase o paradoxo: mesmo nessa demonstrao de poder soberano, o biopoder est presente. Seria o direito soberano sobre o biopoder, instiga Foucault e, para completar, o filsofo indica aquilo que configura um excesso de biopoder, o biopoder sobre o direito soberano:
Esse excesso do biopoder aparece quando a possibilidade tcnica e politicamente dada ao homem, no s de organizar a vida, mas de fazer a vida proliferar, de fabricar algo vivo, de fabricar algo monstruoso, de fabricar no limite vrus incontrolveis e universalmente destruidores. Extenso formidvel
Aqui fao uma referncia implcita a Lyotard (O Inumano, 1997:80-81), que prope que nos voltemos ao pensamento oriental, onde o que conta, na matria que questionam, no , de modo algum, determinar a resposta o mais rapidamente possvel ( ) ser e continuar a ser questionado por ele.
43
21
do biopoder que, em contraste com o que eu dizia agora h pouco sobre o poder atmico, vai ultrapassar toda a soberania humana44.
No excesso, estaria o avano do biopoder, em sua tecnologia disciplinadora ou regulamentadora, sobre o direito soberano do qual o racismo de estado o maior exemplo. A dinmica do poder disciplinar prescinde da existncia fsica de um soberano, coloca Foucault45, e, portanto, no pode ser pensado em termos de soberania. No entanto, mesmo sendo o poder disciplinar alheio teoria da soberania, essa ltima continuou a existir como ideologia do direito elaborando cdigos jurdicos. Ou seja, as teorias de soberania continuaram a existir, mascarando as coeres disciplinares. Nas palavras de Foucault:
(...) uma vez que as coeres disciplinares deviam ao mesmo tempo exercer-se como mecanismos de dominao e ser escondidas como exerccio efetivo de poder, era preciso que fosse apresentada no aparelho jurdico e reativada, concluda, pelos cdigos judicirios, a teoria da soberania46.
Com isso, nas sociedades modernas temos,
(...) a partir do sculo XIX at os nossos dias, de um lado uma legislao, um discurso, uma organizao do direito pblico articulados em torno do princpio da soberania ao Estado; e depois temos, ao mesmo tempo uma trama cerrada de coeres disciplinares que garante, de fato, a coeso desse mesmo corpo social. (...) Um direito da soberania e uma mecnica da disciplina: entre esses dois limites, creio eu, que se pratica o exerccio do poder 47.
Na anlise de Foucault, o direito soberano no desaparece, mas permanece regendo os cdigos judicirios, muito embora as tcnicas e os discursos disciplinares tenham invadido o direito, normalizando os procedimentos da lei e fazendo funcionar a sociedade de normalizao. Julguei interessante buscar a discusso de Foucault sobre soberania e disciplina, porque Giorgio Agamben retomou em seus escritos a teoria da soberania. Para o filsofo italiano, a produo de um corpo biopoltico foi a contribuio original do
Michel Foucault. Em defesa da sociedade (SP: Martins Fontes, 2002), p.303. Idem, p. 42-43. 46 Idem, p.44. 47 Idem, p.44-45.
45
44
22
poder soberano48. A implicao da vida nua na esfera poltica, seria, para ele, um ncleo originrio do poder soberano. Para Agamben, a biopoltica anterior modernidade, figurando desde o incio no pensamento poltico do ocidente, onde a instituio do poder soberano corresponderia j definio do corpo poltico em termos biopolticos. Nesse sentido, Agamben procura integrar a tese foucaultiana, dizendo que
(...)aquilo que caracteriza a poltica moderna no tanto a incluso da zo na plis, em si antigussima, nem simplesmente o fato de que a vida como tal venha a ser um objeto eminente dos clculos e das previses do poder estatal; decisivo , sobretudo, o fato de que, lado a lado com o processo pelo qual a exceo se torna em todos lugares a regra, o espao da vida nua, situado originalmente a margem do ordenamento, vem progressivamente a coincidir com o espao poltico, e excluso e incluso, externo e interno, bios e zo, direito e fato entram em uma zona de irredutvel indistino49.
Agamben busca em Aristteles e, no significado grego de zo vida comum a todos seres vivos, sejam homens, animais ou deuses e bios forma ou maneira de viver prpria de um indivduo ou de um grupo , o embasamento para afirmar que a incluso da zo na plis muito antiga. No entanto, somente na modernidade o espao da vida nua vem a coincidir com o espao poltico, a primeira deixa de estar margem do ordenamento. Se a biopoltica anterior modernidade, como diz Agamben, na modernidade que o biopoder toma conta da vida e essa ltima se transforma no valor supremo. De acordo com Heffes50, enquanto Foucault parte das prticas para chegar a um conceito, Agamben parte de uma estrutura jurdico-poltica, para entender uma prtica. Para Foucault a soberania funciona como um mecanismo jurdico-poltico em conjunto com os dispositivos disciplinares e de segurana que possibilitaram ao poder tomar conta da vida. Para Agamben, do poder soberano emanam a biopoltica e a vida nua, logo, estaria a a diferena de olhares dos filsofos acerca da soberania. No entanto, o mais importante que em ambos encontramos o desejo de romper ou desnudar a lgica que coloca a vida humana no centro dos clculos do poder. Refletindo sobre isso, pensando a vida exposta situao
Giorgio Agamben. Homo Sacer: O poder soberano e a vida nua I (BH: Ed.UFMG, 2004). Idem, p. 16. 50 Omar Daro Heffes. Foucault y Agamben o las diferentes formas de poner en juego la vida. In: Revista Aulas/Dossi Foucault (disponvel em: www.unicamp.br/~aulas).
49
48
23
de abandono e o estado de exceo no contexto biopoltico, Agamben retoma as idias de Walter Benjamin e Carl Schmitt, filsofos que discutiram mais detidamente, pela primeira vez, o conceito de estado de exceo.
1.5. Do poder soberano ao poder total
Carl Schmitt assinalou, j no incio do sculo XX, a crise do conceito de representao sob o qual repousava o poder soberano. Essa crise, para Schmitt, resultou no que ele denominou de emergncia de um poder total. A essncia da soberania, na anlise schimittiana, consiste na existncia de um poder soberano solitrio, ilimitado e desvinculado, onde o soberano (detentor desse poder) aquele que internamente pode decidir sobre o estado de exceo51 e a suspenso da ordem legal. Se, internamente o soberano decide sobre o estado de exceo, externamente ele pode decidir sobre amigos e inimigos polticos. O Estado que marcado pela soberania 52 pode estipular seus inimigos externos e, assim, soberanamente declarar guerra a outros Estados. O Estado absolutista, por exemplo, foi um estado que teve no poder soberano seu suporte. Contudo, o paradoxal apontado por Schmitt que assim como as monarquias absolutas dos sculos XVII e XVIII reclamavam por revoltas democrticas que ocorreram findando com o absolutismo as democracias liberais do sculo XIX trouxeram no seu mago o poder total que [veio] luz do dia no sculo XX53. Ou seja, o poder total foi engendrado no seio das democracias liberais do sculo XIX54.
Carl Schmitt. Politische Theologie Vier Kapitel Zur Lehre Von Der Souvernitt (1a ed.1922; 2 ed., 1934. Reed.: Berlim, Duncker und Humblot, 1985). Idem, Politische Theologie, II Die Legende von der erledigung jeder politschen Theologie ( 1 ed. 1970, 2 ed. 1984). No existe traduo para o portugus ainda, usei aqui uma traduo pessoal a partir da verso francesa feita por Jean Louis Schlegel. 52 Alm do poder de decidir sobre o estado de exceo, a soberania caracterizada pelo jus belli (que abordarei mais adiante) e pela capacidade de representar. 53 Alexandre Franco de S. Metamorfoses do Poder (Coimbra: Ariadne, 2004), p. 32. 54 Percebemos aqui crtica schimittiana preponderncia da democracia liberal na modernidade. Diz ele que a fora poltica de uma democracia mostra-se em ela saber eliminar ou manter distncia o estranho e o desigual que ameace a homogeneidade. Nesse sentido, apesar das controvrsias em torno das posies polticas schimittianas, seu olhar sobre a modernidade se aproxima do olhar dos demais autores citados ao longo do texto.
51
24
Atualizando a anlise de Carl Schimitt s sociedades contemporneas, Alexandre Franco de S lembra que a tolerncia com o outro, a compreenso das diferenas e a aceitao de outros modos de vida surgem como caractersticas das democracias contemporneas. No entanto,
o modo como uma tal comunicao se concretiza, o modo como os cidados das democracias liberais so hoje educados numa escola da comunicao, mostra que a comunicao se exerce entre propostas, opinies, vivncias e princpios que no podem deixar de se considerar como vlidas no plano privado, quer e este o ponto decisivo como invlidas e inaceitveis no plano pblico. Por outras palavras, uma tal comunicao mostra que se pensa implicitamente a discusso como um dilogo de surdos, privando-a da publicidade, da eficcia pblica, que qualquer discusso genuna no pode deixar de requerer. Ela mostra, enfim, que se pensa uma relao sem relao, uma comunidade sem ao recproca. E tal implica confessar o ceticismo e o relativismo na base da prpria tolerncia, camuflados pela imitao de um dilogo que no mais do que a simultaneidade cacofnica de um conjunto de monlogos fechados sobre si mesmos55.
Nesse trecho, Franco de S desenvolve a idia que a sacralizao da vida privada conduz ao desinteresse pelos assuntos pblicos e polticos. Para ele a renncia a pensar publicamente caracteriza o cidado da democracia liberal contempornea56. Nessa simultaneidade cacofnica de monlogos fechados em si mesmos temos a consagrao do que Giorgio Agamben denomina de vida nua. Vida nua no estado de exceo, ou na era do poder total. No ocaso do Estado soberano Schmitt assinala a origem do poder total. No entanto, se o Estado soberano desaparece, com o direito soberano no acontece o mesmo. Como diria Foucault, na modernidade convivem o direito de soberania e a mecnica da disciplina. Essa reconfigurao da soberania nas democracias modernas propicia a indistino entre exceo e normalidade. Se o poder soberano tende a desaparecer, enquanto possibilidade do soberano de decidir sobre o estado de exceo, no s a exceo como exceo que desaparece, mas tambm, a norma como norma, ou seja, exceo e norma tornam-se uma e a mesma coisa, na imanncia de um nico plano57. Essa indistino entre exceo e norma, entre lei e anomia que como veremos na seqncia do
Idem, p.41. Idem, p.43. 57 Idem, p. 47.
56
55
25
captulo trabalhada de forma precisa por Giorgio Agamben uma caracterstica do poder poltico no mundo contemporneo.
Esse novo poder o biopoder um poder sem rosto, porque no mais pessoal e soberano, impessoal, visa massa, populao. Ou ainda, como diria Walter Benjamin, o rosto mais apropriado desse poder a polcia. Isso porque a polcia, enquanto detentora do poder de criminalizar, ultrapassa o poder soberano do Estado. Assim a polcia antecipa o anonimato desse poder, j que pela vida nua, pela vida exposta ao biopoder, que podemos perceb-lo. Nesse contexto, para Benjamin, a violncia policial pode ser entendida como a emergncia acidental e visvel de um poder sem face determinada58, de um poder total. Mas no que consiste a emergncia de um poder total, no contexto de crise da soberania, em termos schimittianos? Um dos elementos clssicos da soberania, hoje inexistente, consistia no direito concedido aos Estados de decidir acerca de seus amigos e seus inimigos. E, com isso, declarar guerra a outros Estados, segundo o princpio do jus belli59 direito guerra. Como diz Schmitt60,
O clssico representado pela possibilidade de estabelecer distines mais claras e inequvocas. O interior e o exterior, a guerra e a paz e, durante a guerra, o militar e o civil, a neutralidade ou a no-neutralidade, tudo isto nitidamente separado e no propositalmente confundido. Tambm na guerra, todos tm, de ambos os lados, seu status definido. Tambm o inimigo, na guerra do direito internacional entre estados... reconhecido como Estado soberano, ao mesmo nvel. Neste direito pblico interestatal o reconhecimento como Estado, enquanto ainda tem algum sentido, j implica o reconhecimento do direito guerra e, portanto, o reconhecimento do inimigo de direito. Tambm o inimigo tem o seu status: ele no um criminoso.
Esse poder de deciso deixa de existir com o ocaso da soberania. Em seu lugar surge o conceito de guerra humanitria, ou seja, as guerras passam a ser justificadas em nome do bem da humanidade, e no da inimizade entre Estados. Isso resulta na
58
Documentos de cultura, documentos de barbrie (SP:Cultrix/Edusp, 1986). Jus belli o direito de um Estado de decretar guerra a outro Estado que considere inimigo. Esse direito prescindia da necessidade de criminalizar o inimigo. com a repblica francesa que o jus belli passa a ser desconsiderado, e assistimos ao primeiro exemplo de guerra conduzida em nome da humanidade e do bem. Diz Schmitt que o jus belli corresponde tambm a uma possibilidade dupla: de exigir dos que pertencem ao prprio povo prontido para morrer e para matar, e de matar homens que estejam do lado do inimigo (O conceito do poltico, p. 72).
59
26
criminalizao do inimigo, que no mais um inimigo do Estado, mas um inimigo da humanidade. Contudo, a humanidade como tal no pode fazer guerras, pois ela no tem nenhum inimigo, pelo menos neste planeta61. Humanidade no um conceito poltico, no corresponde a nenhuma comunidade, logo, empreg-lo manifesta a terrvel pretenso de que se deve denegar o inimigo a qualidade de homem, e com isso levar a guerra extrema desumanidade62.
Criminalizando o inimigo, os Estados se transformam em executores de verdadeiras aes policiais, em nome no s da humanidade63, mas tambm de estender a liberdade e a democracia a outros povos. Retomando o trabalho de Mary Douglas, a idia de estender seus conceitos de ordem, de civilizao, de democracia e de liberdade agora em nome da humanidade s demais populaes do planeta. A idia de criminalizao da guerra encontra-se embasada na crtica schmittiana ao liberalismo moderno. Com base nos textos schimittianos, Franco de S diz que
os Estados liberais no podem deixar de assentar quer na aparncia de eliminao da agressividade, quer na canalizao desta mesma agressividade para a forma extrema da criminalizao. Torna-se ento compreensvel que seja essencial ao liberalismo poltico a produo de uma retrica criminalizante, na qual, num mundo simplificado atravs de uma estrutura tendencialmente maniqueia, o inimigo pertence inevitavelmente aliana criminosa de um eixo do mal. E uma tal retrica essencial porque sempre em nome de uma luta contra o mal, de uma guerra contra o crime, que o Estado liberal no pode deixar de combater64.
Se o jus belli direito jurdico e soberano de um Estado declarar guerra a outro no mais reconhecido, em nome, talvez, dessa necessidade aparente de eliminar a agressividade, iniciar uma guerra ou um conflito torna-se uma atitude condenvel. Sendo assim nenhum Estado se assume como iniciador de um ataque, no entanto, os conflitos no deixam de existir. Se observarmos a retrica de alguns chefes de Estado aps o 11 de
Carl Schmitt. O conceito do poltico (SP: Vozes: 1992), p.33. Carl Schmitt. O conceito do poltico (Vozes: 1992), p. 81-82. 62 Idem. 63 Para Carl Schmitt, a Liga das Naes criada aps a Primeira Guerra Mundial j fez uso poltico da palavra humanidade. 64 Alexandre Franco de S. Metamorfose do Poder (Coimbra: Ariadne, 2004), p. 83.
61
60
27
setembro de 2001, percebemos como inmeras invases e guerras foram perpetradas em nome de um direito de defesa. A guerra perdeu seu estatuto jurdico para se justificar como aes de natureza defensiva. De modo que a defesa agora tanto a resposta defensiva ao ataque de um inimigo como o ataque preventivo contra uma potencial ameaa65. A reduo da guerra defesa tambm a reduo da guerra violncia. Se o inimigo agora um criminoso contra o qual a humanidade precisa ser protegida, retomamos, ento, um maniquesmo grosseiro. Ao ser taxado de criminoso o inimigo, enquanto agressor da humanidade, no tem direito defesa, representa o mal que coloca em perigo o bem, nesse caso representado pela humanidade, pela civilizao. Apesar de grosseira, a retrica forte, tanto que os defensores da humanidade reivindicam o direito de intervir em todo e qualquer espao. Na era do poder total ou do estado de exceo a guerra transformou-se em uma verdadeira ao policial, uma luta contra criminosos como nos diz Giorgio Agamben:
Vimos com os nossos olhos como, seguindo um processo iniciado no fim da Primeira Guerra Mundial, o inimigo , em primeiro lugar, excludo da humanidade civil e cunhado como criminoso; e como, depois, se torna sucessivamente lcito aniquil-lo com uma operao de polcia que no est obrigada ao respeito de nenhuma regra jurdica e pode, nesta medida, confundir, com um retorno s condies mais arcaicas da beligerncia, populaes civis e soldados, o povo e o seu soberano-criminoso66.
Na retrica criminalizante da guerra o terrorismo que deve ser desmantelado. A guerra santa de agora a guerra contra o terror. Mas o terrorismo j no permeia apenas um dos lados da batalha, na medida em que se descaracteriza o inimigo, em que se estabelece uma verdadeira ao policial onde limites espaciais so ignorados, o terror se transforma num verdadeiro mtodo de ao, de combate de ambos os lados. a glorificao contempornea da violncia de que fala Hannah Arendt, que acompanha a perda de sentido da poltica. Ou perda de sentido de certo tipo de poltica?
Para
Franco
de
S,
fenmeno
da
despolitizao,
que
assistimos
contemporaneamente, est ligado ao declnio da soberania. Diz ele que
65 66
Idem, p.95. Giorgio Agamben. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed. UFMG, 2004), p.96.
28
[o] declnio da soberania ento representado como um essencial processo de pacificao do mundo. Se tradicionalmente a idia da soberania se vinculava possibilidade de um Estado decidir autonomamente os seus conflitos, a despolitizao introduz um processo de perda dessa autonomia estadual e, portanto, o desaparecimento da soberania ou, o que o mesmo, uma reconfigurao do seu conceito, de modo a que este se desvincule da idia da autonomia que lhe era essencial67.
A concentrao do homem contemporneo em sua vida privada seria uma das caractersticas desse declnio da soberania, e da despolitizao ou declnio do poltico, que se traduz num aparente desaparecimento do poder. Essa aparente desapario do poder, no nada mais do que a transformao do poder soberano em uma outra forma distinta de poder, o bipoder. importante lembrar que Foucault mostra como entre os sculos XVII e XVIII a soberania cedeu lugar disciplina sem, contudo, deixar de existir, principalmente no mbito do direito. O poder rgio abriu caminho para o estatuto jurdico que, por sua vez, acabou questionando o prprio poder rgio. O pensamento jurdico ocidental, elaborado a partir da Idade Mdia, constituiu-se a pedido do poder rgio, para servir-lhe de instrumento de legitimao e justificao. Um estatuto jurdico ou um direito que para Benjamin foi estabelecido atravs da violncia soberana a violncia soberana funciona como meio para o estabelecimento do direito (enquanto fim almejado), entretanto, ao estabelecer-se, o direito no depe do meio, mas continua intimamente atrelado a ele, atrelado violncia. Nesse sentido a violncia est no mago da elaborao dos estatutos jurdicos das sociedades ocidentais.
1.6. A violncia que pe e conserva o direito Somente uma reflexo que, acolhendo a sugesto de Foucault e Benjamin, interrogue tematicamente a relao entre vida nua e poltica que governa secretamente as ideologias da modernidade aparentemente mais distantes entre si poder fazer sair o poltico de sua ocultao e, ao mesmo tempo, restituir o pensamento sua vocao prtica68.
67 68
Alexandre Franco de S. Metamorfose do Poder (Coimbra: Ariadne, 2004), p. 83. Giorgio Agamben. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed. UFMG, 2004), p. 12.
29
Com a citao da epgrafe, Giorgio Agamben instiga seus leitores a retomarem Foucault e Benjamin, pensando curiosamente qual relao entre ambos pode ser traada. De Foucault sabemos que Agamben se apropria, principalmente, do conceito de biopoltica. J Walter Benjamin, para o filsofo italiano, foi quem abordou com acuidade e de maneira ainda hoje insuperada, o nexo que une violncia e direito, tornando seus escritos fundamentais a toda e qualquer abordagem sobre soberania.
O poder soberano ou poder rgio ao elaborar o estatuto jurdico, como diz Foucault, o fez atravs, agora segundo Benjamin, da violncia soberana que coloca o direito. A partir do nexo entre violncia e direito Benjamin vai caracterizar a vida nua. Para romper com esse nexo entre a violncia que pe o direito e a violncia que o conserva - Benjamin elabora uma terceira figura, que chama de violncia divina ou violncia pura. A violncia pura seria aquela que no pe nem conserva o direito, mas o de-pe, est fora e alm do direito. A idia precisamente que a violncia pura possa quebrar a dialtica entre a violncia que funda e a que conserva o direito. No entanto, diz Agamben, o prprio Benjamin admite a inerente impossibilidade de reconhec-la em casos concretos.
A violncia pura difere da violncia soberana, pois se situa numa zona onde no possvel distinguir entre exceo e regra. Aqui, as idias de Benjamin e Schmitt chocam-se Agamben faz referncia ao debate entre os dois filsofos como um dialogo de gigantes acerca de um vazio , pois para o ltimo no possvel existir uma violncia pura fora do direito, j que no estado de exceo a prpria excluso a inclui. No existe, para Carl Schmitt, uma ao humana inteiramente anmica. violncia pura de Benjamin, Schmitt contrape a violncia soberana. Mas Benjamin responde, reafirmando a possibilidade de existncia de uma violncia pura fora do direito que no se encontre em uma relao de meio ou fim com este ltimo. A violncia pura seria aquela que desmascara a violncia mtico-jurdica, rompendo o vnculo entre direito/violncia/poder e resultando em um outro uso do direito. Esse outro uso do direito pode ser, para Agamben, o novo direito de
30
que fala Foucault, um direito livre de toda disciplina e de toda relao com a soberania69. Um dia, diz Agamben,
a humanidade brincar com o direito, como as crianas brincam com os objetos fora de uso, no para devolv-los a seu uso cannico e, sim, para libert-los definitivamente dele. O que se encontra depois do direito no um valor de uso mais prprio e original e que precederia o direito, mas um novo uso, que s nasce depois dele70.
Na defesa desse novo direito, Agamben se apropria da noo de violncia pura. O filosofo italiano diz isso em uma entrevista ao jornal Folha de So Paulo, defendendo a violncia pura como possibilidade de uma ao humana que se situe fora de toda relao com o direito, ao que no ponha, que no execute ou que no transgrida simplesmente o direito71. Contudo, o prprio Benjamin no se detm muito em definir a violncia pura talvez por saber de sua impossibilidade prtica , ele prefere explorar o nexo que une a violncia e o direito, desmascarar esse nexo, que para ele a vida nua. Benjamin percebe a vida nua atrelada violncia jurdica: a sacralidade da vida e o poder do direito72.
1.6. Vida nua: a vida no estado de exceo ...a essncia do mundo contemporneo em sua profundidade a pura violncia...73
Com base nas leituras de Schmitt e Benjamin, Agamben afirma que vivemos hoje em um estado de exceo permanente. Os cuidados com a segurana, as prevenes ao terrorismo, a desnacionalizao do cidado, a exportao de democracia, diz o filsofo italiano, atestam isso. Nesse estado de exceo, nazismo e fascismo permanecem atuais, j que a vida nua o critrio poltico supremo. Mas o que , mais precisamente, em termos agambenianos, a vida nua? Como uma produo especfica do poder - j que no podemos
Giorgio Agamben. Estado de Exceo (SP: Boitempo, 2004), p.97. Idem, p. 98. 71 A poltica da profanao, in: Jornal Folha de So Paulo (18/09/2005). 72 Giorgio Agamben. Homo Sacer o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed. UFMG, 2004), p. 74. 73 Ricardo Timm de Souza. O tempo e a mquina do tempo (Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998), p.87.
70
69
31
pensar em um homem sem linguagem e sem cultura: nem sequer a criana vida nua, diz Agamben - a vida nua a vida matvel e insacrificvel do homo sacer. a vida que foi colocada fora da jurisdio humana e cujo exemplo supremo a vida no campo de concentrao.
Estando fora da jurisdio, a vida nua, como j afirmamos, a vida que pode ser exterminada sem que se cometa qualquer crime ou sacrilgio. Ser um perseguido poltico em poca de ditadura significava, nesse sentido, ter sido colocado no limiar entre vida e direito, deter o estatuto de vida nua, vida matvel, perigo, sujeira a ser eliminada. Vida nua que atingiu/atinge outros tantos brasileiros no envolvidos em causas polticas, moradores de bairros pobres, de favelas, vtimas dos conhecidos esquadres da morte que se espalharam pelo pas desde a dcada de 7074.
Retomando a idia da soberania, Agamben diz que a vida no bando soberano a vida nua ou vida sacra. De acordo com o filsofo, a relao de exceo uma relao de bando. Isso porque o banido aquele que foi abandonado pela lei e no somente posto para fora da lei. Nesse sentido, no existe um fora-da-lei, o banido exposto e colocado em risco no limiar em que vida e direito, externo e interno, se confundem75. Cotidianamente sob ameaa de morte, o banido est sempre em relao direta com o poder que o baniu, o que torna sua vida mais poltica do que qualquer outra76. Na esfera soberana se pode matar sem cometer homicdio e sem celebrar um sacrifcio nesse sentido insacrifcavel , a sacralidade da vida hoje significa a sujeio da vida a um poder de morte, a sua irreparvel exposio na relao de abandono77. uma excluso originria que funda a vida da comunidade humana, diz Agamben. Comunidade que encontra seu fundamento num fazer, fazer fundado na violncia, pois todo fazer sacrificial, sacrum facere. Separado e atingido por uma excluso, sujeito s prescries e proibies rituais, aquele que est no centro do sacrifcio torna-se sacer. O paradoxal que o excludo da
O livro Rota 66, de Caco Barcelos, evidencia de maneira dura e magistral esse estatuto da vida nua de milhares de brasileiros. 75 Giorgio Agamben. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed.UFMG, 2004), p. 36. 76 Idem, p.189. 77 Idem, p. 91.
74
32
comunidade , na realidade, aquilo sobre o qual se funda a inteira vida da comunidade78. Desse modo, se a sacralizao da vida deriva do sacrifcio, ela nada faz, deste ponto de vista, alm de abandonar a vida natural prpria violncia e prpria indizibilidade, para fundar ento sobre esta toda regulamentao cultural e toda linguagem79. Logo, a sacralidade da vida no , em sua origem, um direito humano inalienvel e fundamental e, ao ser destituda da idia do sacrifcio na modernidade, resultou na exposio da vida a uma violncia sem precedentes, precisamente nas formas mais profanas e banais. O nosso tempo aquele em que um weekend de feriado produz mais vtimas nas auto-estradas da Europa do que uma campanha blica80.
Com base na idia de que a sacralidade da vida na modernidade desprovida da idia do sacrifcio, Agamben critica a utilizao do termo holocausto empregado para se referir ao extermnio dos judeus. Holocausto coloca uma aura sacrificial, diz ele, quando o que se exterminou nos campos foi a vida nua, o hebreu um caso flagrante de homo sacer, no sentido de vida matvel e insacrificvel em que a vida nua a vida exposta banalizao da violncia,
a verdade difcil de ser aceita pelas prprias vtimas, mas que mesmo assim devemos ter a coragem de no cobrir com vus sacrificiais, que os hebreus no foram exterminados no curso de um louco e gigantesco holocausto, mas literalmente, como Hitler havia anunciado, como piolhos, ou seja, como vida nua. A dimenso na qual o extermnio teve lugar no nem a religio nem o direito, mas a biopoltica 81.
Nesse sentido, Dumont82 lembra que o nacional-socialismo um fenmeno moderno, uma doena do nosso mundo, e no apenas a aberrao de alguns fanticos. Combinao hipertensa de individualismo e holismo, o totalitarismo para Dumont, uma doena da sociedade moderna a eliminao genocida do outsider, do diferente, fruto dessa civilizao e dessa cultura, como diz Bauman. Enquanto local privilegiado da
Giorgio Agamben. A linguagem e a morte (BH: Ed. da UNB, 2006), p.142. Idem, p.143. 80 Giorgio Agamben. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed.UFMG, 2004), p.121. 81 Idem, p. 121. 82 Louis Dumont. O individualismo: uma perspectiva antropolgica da ideologia moderna (RJ:Rocco, 1985), p. 143-151.
79
78
33
eliminao genocida do diferente, para Agamben, o campo de concentrao o paradigma biopoltico da modernidade:
A radical transformao da poltica em espao da vida nua (ou seja, em campo) legitimou e tornou necessrio o domnio total. Somente porque em nosso tempo a poltica se tornou integralmente biopoltica, ela pde constituir-se em uma proporo antes desconhecida como poltica totalitria83.
Hannah Arendt e Michel Foucault foram os filsofos que pensaram com mais acuidade o problema poltico contemporneo e, numa tentativa de fazer confluir as idias dos dois, Agamben pensa a vida nua o entrelaamento ntimo entre vida e poltica. Retomando a idia de que poder e violncia no se equivalem, e pensando no que torna difcil diferenci-los contemporaneamente, penso que o problema talvez esteja nessa tomada da vida pelo poder, no mergulhar na zona de indeterminao de que fala Agamben, de onde emerge o poder total de Franco de S, que se configura na prpria lgica do estado de exceo.
1.7. Estado de exceo: a perda de sentido da poltica?
Se perdemos o sentido da poltica, se o mundo contemporneo est mergulhado numa zona de indeterminao, onde as distines tradicionais como esquerda/direita, pblico/privado no fazem mais sentido, o que significa agir politicamente? Agamben retoma a pergunta de Hannah Arendt para pensar a poltica contempornea na sua indistino (ou suposta indistino) entre o jurdico e o poltico, entre o direito e o vivente84. Vivemos, para o filsofo italiano, em um estado de exceo permanente, esse o paradigma dos governos atuais. Com origem na Revoluo Francesa quando pela primeira vez se criminalizou o inimigo em nome da humanidade o estado de exceo
83 84
Giorgio Agamben. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed.UFMG, 2004), p. 126. Giorgio Agamben. Estado de Exceo (SP: Boitempo, 2004), p.12.
34
foi aplicado como poltica de governo na Alemanha85, um pouco antes da ecloso da Primeira Guerra Mundial. De medida provisria e excepcional transformou-se em uma tcnica de governo [que] ameaa transformar radicalmente e, de fato, j transformou de modo muito perceptvel a estrutura e o sentido da distino tradicional entre os diversos tipos de constituio86.
A teoria do estado de exceo foi elaborada por Carl Schmitt, sendo publicada pela primeira vez em 192187. Entre os anos de 1934 e 1948, segundo Agamben, em funo da runa das democracias europias, a teoria foi retomada com sucesso, permanecendo atual e atingindo seu pleno desenvolvimento na nossa poca88. O estado de exceo, mesmo suspendendo o ordenamento jurdico, no desdenha desse ordenamento, ao contrrio, compe com ele a prpria lgica da exceo. Sua origem remonta ao estado soberano, j que o soberano pode decidir sobre o estado de exceo. Entretanto, o soberano faz isso ancorado em uma ordem jurdica, que contm essa possibilidade. A norma pressupe, ento, a possibilidade de sua prpria suspenso. Nesse sentido, o o estado de exceo representa a incluso e a captura de um espao que no est fora nem dentro89, numa relao de dentro/fora, de incluso/excluso, anomia/nomos.
Apesar de ir ao cerne da questo na poltica contempornea, mostrando a relao de indistino entre anomia e nomos, e a prpria criminalizao do inimigo, como discutimos anteriormente, Carl Schmitt, entre outras coisas, no distinguiu claramente entre estado de exceo e ditadura chegando a confundi-los, no entender de Agamben. Schmitt percebeu a ordem jurdica atrelada ao dispositivo da exceo, no entanto, acreditava que no momento em que a exceo se tornasse a regra, a mquina poltica no mais poderia funcionar. Retomando e contrapondo-se a algumas idias de Schmitt, Walter Benjamin, em 1942, afirmou que o estado de exceo tinha se tornado a regra: para alm de uma medida
Agamben diz que um pouco antes de Hitler chegar ao poder a Alemanha j vivia num estado de exceo, a Repblica de Weimar se estendeu no tempo, j que o Parlamento no se reunia h dois anos (entrevista a Revista Carta Capital em 31/03/2004). 86 Estado de Exceo, op.cit., p.13. 87 Politische Theologie Vier Kapitel Zur Lehre Von Der Souvernitt (Berlim, Duncker und Humblot, 1985). 88 Estado de Exceo, p. 53.
85
35
excepcional tornara-se uma tcnica de governo, constitutiva da prpria ordem jurdica. Encontramos essa afirmao de Benjamin, em suas teses sobre a histria, mais precisamente no texto da tese VIII:
A tradio dos oprimidos nos ensina que o estado de exceo no qual vivemos a regra. Precisamos chegar a um conceito de histria que d conta disso. Ento surgir diante de ns nossa tarefa, a de instaurar o real estado de exceo; e graas a isso, nossa posio na luta contra o fascismo tornar-se- melhor. A chance deste consiste, no por ltimo, em que seus adversrios o afrontem em nome do progresso como se este fosse uma norma histrica. O espanto em constatar que os acontecimentos que vivemos ainda sejam possveis no sculo XX no nenhum espanto filosfico. Ele no est no incio de um conhecimento, a menos que seja o de mostrar que a representao da histria donde provm aquele espanto insustentvel90.
Benjamin escreveu as teses a respeito da histria poucos anos antes do final da segunda guerra e, portanto, antes de tomarmos conhecimento da dimenso dos acontecimentos catastrficos de tal conflito. O prprio Benjamin suicidou-se em 1942, na iminncia de ser preso pelos fascistas. Que anlise faria ele, ento, se tivesse sobrevivido segunda guerra, quando tantas vozes se ergueram chocadas com o genocdio perpetrado pelos nazistas, sem, talvez, compreender a dimenso da catstrofe que no foi apenas localizada, mas que j se esboava h mais tempo por um estado de exceo tornado regra?
Retomando a questo, Agamben que traduziu as obras completas de Benjamin lembra-nos que os dispositivos de exceo so hoje amplamente utilizados como medida de segurana pelos estados democrticos segurana que est na ordem do dia. Muitos pensadores contemporneos tm pensado essa caracterstica como uma nova forma de totalitarismo ou de poder total. Maffesoli, por exemplo, fala de um fantasma totalitrio, que no se refere apenas aos fascismos, ou ao stalinismo, mas se tornou uma caracterstica mundial, uma forma de totalitarismo suave, diz ele. Como um fantasma que tende a penetrar e a se ramificar no conjunto do mundo pelo vis do controle, dos cuidados com a segurana da existncia ou da felicidade planificada91. Um fantasma que, por vezes,
Idem, p. 56. Walter Benjamin. Arte, tcnica, linguagem e poltica (Lisboa: Relgio Dgua Editores, 1992), p. 161-162. 91 Michel Maffesoli. A violncia totalitria ensaio de antropologia poltica (POA: Sulina, 2001), p. 32.
90
89
36
parece mais atual que nunca. Os dispositivos de lei, criados aps o 11 de setembro, nos EUA, por exemplo, so dispositivos de exceo que incluem, inclusive, a
desnacionalizao do cidado referncia ao Patriot Act I e ao Patriot Act II e destroem todo o estatuto jurdico do indivduo, produzindo um ser juridicamente inominvel e inclassificvel, diz Agamben, que percebe o significado
imediatamente biopoltico do estado de exceo como estrutura original em que o direito inclui em si o vivente por meio de sua prpria suspenso [que] aparece claramente na military order, promulgada pelo presidente dos Estados Unidos no dia 13 de novembro de 2001, e que autoriza a indefinite detention e o processo perante as military-commissions92.
Forma legal do que no pode ter forma legal, onde a vida nua excluda e, ao mesmo tempo, aprisionada na ordem jurdica, onde no mais possvel distinguir entre estado de direito e estado da natureza, no estado de exceo93 a ordem jurdica abriga a exceo, e a anomia faz parte do jurdico,
o estado de exceo apresenta-se como a abertura de uma lacuna fictcia no ordenamento, com o objetivo de salvaguardar a existncia da norma e sua aplicabilidade situao normal. A lacuna no interna lei, mas diz respeito sua relao com a realidade, possibilidade mesma de sua aplicao. como se o direito contivesse uma fratura essencial entre o estabelecimento da norma e sua aplicao e que, em caso extremo, s pudesse ser preenchida pelo estado de exceo, ou seja, criando-se uma rea onde essa aplicao suspensa, mas onde a lei, enquanto tal, permanece em vigor94.
O espao anmico, ento, caracteriza o estado de exceo onde, conforme Agamben, temos uma fora de lei sem lei. No estado de exceo, direito e anomia mostram sua secreta solidariedade a ordem jurdica contm em si o seu contrrio: a suspenso da lei e seus direitos. Nesse espao anmico encontramos um vazio e uma interrupo do direito. Nesse sentido, o estado de exceo pode ser caracterizado por um vazio de direito, onde as distines jurdicas no funcionam. Com base nesse raciocnio Agamben diz que,
Giorgio Agamben. Estado de Exceo (SP: Boitempo, 2004), p.14. Agamben explica que usa o sintagma estado de exceo como um termo tcnico para um conjunto de fenmenos jurdicos que se prope a definir, acrescenta ainda que concebe a terminologia como um momento potico do pensamento, ento as escolhas terminolgicas nunca podem ser neutras (idem, p.15). 94 Idem, p.49.
93
92
37
atualmente, no faz mais sentido a distino entre democracia e ditadura, j que o estado de exceo tomou conta do mundo contemporneo e no pode ser considerado como ditadura.
Para que possamos entender melhor o estado de exceo, Agamben procede a uma anlise do sistema jurdico do Ocidente, dizendo que esse ltimo comporta uma estrutura dupla, formada por dois elementos heterogneos e, no entanto, coordenados: um elemento normativo e jurdico em sentido estrito (...) e um elemento anmico e metajurdico95, o primeiro denominado de potestas e o segundo de auctoritas. O estado de exceo , ento, o dispositivo que deve manter juntos e coordenados esses dois elementos, instituindo um limiar de indecidibilidade entre anomia e nomos, entre vida e direito, entre auctoritas e potestas. No entanto, quando tendem a coincidir numa s pessoa, quando o estado de exceo em que eles se ligam e se indeterminam torna-se a regra, ento o sistema jurdicopoltico transforma-se em uma mquina letal96. Desse modo, diz o filsofo, que o objetivo de sua pesquisa est,
na urgncia do estado de exceo em que vivemos, [mostrando] a fico que governa o arcanum imperii por excelncia de nosso tempo. O que a arca do poder contm em seu centro o estado de exceo mas este essencialmente um espao vazio, onde uma ao humana sem relao com o direito est diante de uma norma sem relao com a vida. Isso no significa que a mquina, com seu centro vazio, no seja eficaz; ao contrrio, o que procuramos mostrar , justamente, que ela continuou a funcionar quase sem interrupo a partir da Primeira Guerra Mundial...97
Na ciso entre direito e vida, nesse espao vazio, a poltica perdeu seu sentido poder e violncia se (con)fundiram. A poltica sofreu um eclipse ao ser contaminada pelo direito, tornando-se violncia que pe o direito. Eclipse que se instituiu no mbito da mquina biopoltica. Mas, se verdadeiramente poltica apenas aquela ao que corta o nexo entre violncia e direito, precisamos pensar o direito em sua no-relao com a vida e a vida em sua no-relao com o direito [abrindo] entre eles um espao para a ao humana que, h algum tempo, reivindicava para si o nome de poltica98. Pensando dessa
Idem, p.130. Giorgio Agamben. Estado de Exceo (SP: Boitempo, 2004), p.130. 97 Idem, p.131. 98 Idem, p.133.
96
95
38
maneira, Agamben acredita ser possvel deter o processo, abrir uma fenda, talvez, no estado de exceo efetivo em que vivemos. Isso porque para o filsofo no existe, entre a violncia e o direito, a vida e a norma, uma articulao substancial a ligao entre ambos ocorreu de forma violenta e artificial.
Esse o caminho sinalizado por Agamben, onde ele defende, apesar de, paradoxalmente, sinalizar sua impossibilidade, a idia de violncia pura de Benjamin. Um caminho que no pretendo partilhar to entusiasticamente, ou adotar como uma das perspectivas deste trabalho. Adoto sim, do filsofo, a idia de estado de exceo e de vida nua, como um convite reflexo e como possibilidade de pensar a violncia policial no Brasil contemporneo e, especificamente, em Porto Alegre.
39
2. Exceo e violncia policial no Brasil
Ao adotar a idia de estado de exceo e vida nua, considerando o estado de exceo como regra no mundo ocidental, preciso indagar como exceo e violncia policial se entrelaam no Brasil contemporneo. As reflexes deste captulo intentam perscrutar esse entrelaamento. Nesse sentido, ao refletir sobre a tomada da vida pelo poder no contexto brasileiro, Oswaldo Giacia99 diz que assistimos atualmente a uma disputa pelo direito de decidir acerca do estado de exceo no Brasil. Disputa em torno da deciso soberana sobre a vida e a morte da vida nua, envolvendo poltica, polcia e crime. Mas, se chegamos disputa pelo poder de decidir acerca do estado de exceo, penso que isso demonstra que a exceo no novidade na trajetria poltica do pas. Alis, acredito que ela e foi a regra em muitos momentos histricos. O prprio estado-nao foi construdo sob a gide da exceo, na medida em que a emancipao poltica foi coordenada por um monarca portugus que cancelou a Assemblia Constituinte de 1823, outorgando uma constituio a primeira do pas, no ano de 1824 nao, sendo que, nas seis primeiras dcadas de histria do estado, esse panorama poltico no se alterou. A repblica, finalmente instituda no final do sculo XIX, foi instaurada pelos militares que trataram de impor a ordem republicana, usando e abusando da fora (tanto que Floriano Peixoto, o segundo presidente militar da Repblica, ficou conhecido como marechal de ferro por reprimir duramente as manifestaes sociais).
Analisando as sucessivas crises e decretaes de estados de stio durante o perodo republicano, podemos dizer que, institudo o ordenamento jurdico da Repblica, esse passou a ser suspenso quase que regularmente ao longo dos perodos democrticos. Ordenamento que atravs da Constituio de 1891 a segunda do pas cuidou de abrigar cuidadosamente a exceo atravs dos inmeros debates e remodelaes do texto sobre o estado de stio que ficou com a seguinte redao:
Art. 34 Compete privativamente ao Congresso Nacional: Declarar em estado de stio um ou mais pontos do territrio nacional, na emergncia de agresso por
Oswaldo Giacia. Foucault. In: Margareth Rago e Alfredo Veiga-Neto (Org.). Figuras de Foucault (So Paulo:Autntica, 2006), p. 187-203.
99
40
foras estrangeiras ou de comoo interna, e aprovar ou suspender o stio que houver sido declarado pelo poder executivo ou seus agentes responsveis, na ausncia do congresso. Art. 48 Compete privativamente ao presidente da repblica: Declarar, por si ou seus agentes responsveis, o estado de stio em qualquer ponto do territrio nacional, nos casos de agresso estrangeira, ou grave comoo intestina (arts. 6, n. 3; 34, n. 21, e art. 80). Art. 80 Poder-se- declarar em estado de stio qualquer parte do territrio da Unio, suspendendo-se a as garantias constitucionais por tempo determinado, quando a segurana da Repblica o exigir, em caso de agresso estrangeira, ou comoo intestina (art. 34, n. 21)100.
A iminncia de uma ameaa bastaria para que o estado de stio fosse decretado, lembra Pivatto101. Retomando a origem do termo estado de exceo, Agamben diz que ele era utilizado na Alemanha, enquanto que na Inglaterra e na Frana regimes desse tipo eram institudos como decretos de urgncia ou estado de stio. A origem do estado de stio remonta ao decreto napolenico de 1811, que previa a possibilidade de um estado de stio que podia ser decretado pelo imperador, independentemente da situao efetiva de uma cidade sitiada ou diretamente ameaada pelas foras inimigas102 e, mesmo, a um decreto anterior da Assemblia Constituinte francesa de 1791, atrelado concepo de estado de guerra. Contudo, a noo de estado de stio emancipou-se da idia de estado de guerra, para ser usado como medida extraordinria de polcia em caso de desordens ou sedies internas, passando, assim, de efetivo militar a fictcio ou poltico103. Logo, conclui Agamben, o estado de exceo moderno uma criao da tradio democrticorevolucionria e no da tradio absolutista104. A idia da suspenso da Constituio foi introduzida na prpria Constituio, e o estado de stio transformou-se em estado de exceo no mundo ocidental.
Previsto no primeiro ordenamento jurdico republicano, os decretos de stio sucederam-se ao longo da chamada Primeira Repblica (1889-1930) no Brasil:
Priscila Maddalozzo Pivatto. A elaborao da palavra: os trabalhos constituintes sobre o estado de stio e a redao dos arts. 34, n. 21; 48, n. 15 e 80 da Constituio brasileira de 1891. Disponvel em: http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Priscila%20Maddalozzo%20Pivatto.pdf. Acessado: 21/03/2007. Grifo meu. 101 Idem. 102 Giorgio Agamben. Estado de Exceo (SP: Boitempo, 2004), p.15. 103 Idem, p.16. 104 Idem.
100
41
Um pouco antes de a Repblica completar dois anos, o Marechal do Exrcito e presidente do pas, Deodoro da Fonseca, fechou o Congresso Nacional em 3/11/1891 decretando o Estado de Stio. Queria reformar a Constituio sem os congressistas presentes. A medida no durou muito tempo, pois o mesmo renunciou ao cargo. Contudo, seu sucessor o tambm Marechal, Floriano Peixoto ignorou a constituio e no convocou eleies, permanecendo no cargo, a revelia do ordenamento jurdico. Floriano Peixoto tambm decretou ao longo de seu mandato, por mais de uma vez, o Estado de Stio como forma de sufocar oposicionistas e dizimar as Revoltas que eclodiram no pas;
Prudente de Morais foi o primeiro presidente civil da Repblica, governando entre os anos de 1894 e 1898. J em 1987, decretou o regime de exceo, na forma de estado de stio para o Distrito Federal (Rio de Janeiro e Niteri, na poca), no intuito de livrar-se de seus opositores;
No governo de Hermes da Fonseca (entre os anos de 1910 e 1914) o estado de stio foi decretado por duas vezes: na capital federal, para enfrentar as greves e o movimento operrio e tambm no estado do Cear para conter um movimento de oposio ao governo em Juazeiro do Norte;
Epitcio Pessoa, que governou entre os anos de 1919 e 1922, foi mais um a usar do regime de exceo, decretando o estado de stio em 1922; Arthur Bernardes, o prximo presidente, assumiu a presidncia em plena vigncia do estado de stio e assim manteve o pas at 1926, quando deixou o governo. Ou seja, desta vez o regime de exceo se manteve, ininterruptamente, por quatro anos; no mandato seguinte, o governo de Washington Lus suspendeu o estado de stio, entretanto, leis de exceo como censura prvia imprensa atravs da Lei Celerada e cassao de partidos polticos foram colocadas em prtica;
42
Segundo Pivatto, durante o perodo que se inicia com a proclamao da repblica e termina com a revoluo de 30, somente os governos presididos por Campos Sales, Moreira Pena, Nilo Peanha, Delfim Moreira e Washington Lus105 no decretaram o estado de stio. Analisando a histria republicana do pas podemos dizer que os intervalos democrticos, quando no acompanhados de decretos de estado de stio, foram sucedidos por ditaduras: poucos anos separaram o governo de Washington Lus da ditadura do Estado Novo (que vigorou de 1937 at 1945). No curto intervalo democrtico, entre os anos de 1945 a 1964, as investidas militares com intenes golpistas foram constantes: em 1945, Getlio Vargas retirou-se do poder sob ameaa de ser deposto; em 1954, o mesmo Vargas recebeu um comunicado do Exrcito para renunciar sob ameaa de uma interveno militar seu suicdio adiou a interveno. A renncia de Jnio Quadros em 1961 propiciou outra tentativa militar, s dissuadida pela influncia da campanha pela Legalidade e com a concordncia de Joo Goulart em assumir a Presidncia da Repblica sob a forma parlamentarista. Nesse caso, o ordenamento jurdico da Repblica foi alterado para garantir a manuteno desse mesmo ordenamento. Porm, em maro de 1964, o golpe militar, fracassado em tentativas anteriores, concretizou-se instaurando o regime autoritrio que perdurou at 1985. Durante esse perodo, os sucessivos Atos Institucionais, decretados pelos generais presidentes, capturavam a exceo e a anomia inserindo-as ao ordenamento jurdico. O prprio revezamento dos generais na presidncia do pas, tentativa de mascarar o regime autoritrio, desnuda um espao no qual exceo e norma se articulam.
Mas, o estado de exceo no se define, como a ditadura, pela plenitude de poderes, antes, ele caracterizado por um vazio e uma interrupo do direito, no qual as determinaes jurdicas esto desativadas. Paradoxalmente, esse espao vazio de direito essencial ordem jurdica: por um lado o vazio de jurdico parece absolutamente impensvel pelo direito; por outro lado, esse impensvel se reveste, para a ordem jurdica, de uma importncia estratgica e decisiva106. Agamben mostra que Hitler e Mussolini,
Priscila Maddalozzo Pivatto. A elaborao da palavra: os trabalhos constituintes sobre o estado de stio e a redao dos arts. 34, n. 21; 48, n. 15 e 80 da Constituio brasileira de 1891. Disponvel em: http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Priscila%20Maddalozzo%20Pivatto.pdf. Acessado: 21/03/2007. 106 Giorgio Agamben. Estado de Exceo (SP: Boitempo, 2004), p.79.
105
43
embora sejam considerados ditadores, foram investidos legalmente em seus cargos, mantendo em vigncia um aparato constitucional. Logo, numa perspectiva jurdica, caracterizar tais regimes como ditadura inadequado. Pensando no aparato jurdico da ditadura militar no Brasil, tambm no podemos classific-lo como ditadura, j que os militares no prescindiram do ordenamento jurdico: alm dos Atos Institucionais e do prprio revezamento dos generais na presidncia, instituram os Inquritos Policiais Militares (IPMs), criaram o bipartidarismo (mantendo dois partidos polticos: situao, ARENA e oposio consentida, MDB), mantiveram eleies indiretas para governadores estaduais, fizeram o Congresso Nacional homologar a Constituio de 1967, amparando a anomia no prprio ordenamento jurdico. Alm disso, os decretos-lei decretos de urgncia que caracterizam o ordenamento jurdico no estado de exceo foram amplamente utilizados pelo regime legalizando a violncia, a exemplo do AI-14 que autorizava a pena de morte e priso perptua em casos de guerra externa, psicolgica adversa, ou revolucionria ou subversiva nos termos que a lei determinar107 ou ento do Decreto n69534 de 11/11/1971, que permitia ao presidente da Repblica assinar decretos secretos, os quais teriam apenas seus nmeros publicados no Dirio Oficial da Unio. Desde ento, findo o regime militar esses decretos-lei continuaram sendo amplamente utilizados pelos governos brasileiros.
Como podemos perceber, a anomia capturada pelo ordenamento acompanha a trajetria poltica brasileira, marcada pela exceo que expe vida nua milhares de brasileiros. Vida nua que podemos localizar antes mesmo da construo do estado, atravs do genocdio dos nativos e da escravizao dos africanos. Vida nua dos descendentes desses escravos, estigmatizados na irnica democracia racial brasileira; dos nativos caados, evangelizados, escravizados, aculturados, ou ento, capturados pelo ordenamento atravs das instituies de proteo ao ndio. Vida nua dos moradores da periferia, dos moradores de rua, dos sem-teto e sem-terra, sujeitos violncia e arbitrariedade em um pas de povo cordial e pacfico. Vida nua dos perseguidos polticos na poca do Estado Novo e da ditadura militar. Vida nua de todos aqueles que no esto, como comumente
Ato Institucional n14, de 05/09/1969, artigo 1, inciso 11; in: Carlos Chagas. 113 dias de angstia: impedimento e morte de um presidente. POA: LP&M, 1979, p.233-234.
107
44
pensamos, margem do ordenamento social, mas sim fazem parte de uma lgica excludente. Lgica que compem a situao de abandono em relao lei, na qual o banido no simplesmente colocado para fora da lei, mas abandonado por ela, e, paradoxalmente, nessa situao de abandono que esses sujeitos se constituem, no limiar entre vida e direito, representam a vida colocada para fora da jurisdio humana.
So os corpos matveis dos sditos as presas do biopoder no mundo contemporneo. Um poder annimo, que j no se mostra mais, e encontra na polcia o seu rosto mais apropriado108. No Brasil, desde os primrdios da construo do estado, a polcia ocupa um papel importante: na mesma dcada da emancipao poltica do pas, aqueles que compunham a vida matvel e insacrificvel passaram a ser controlados atravs do Regulamento das Posturas Policiais institudo em 1828 voltado vigilncia da populao, tida como portadora de perigo. Nessa condio, ela deveria ser protegida e vigiada (dos loucos, dos vadios, dos obscenos)109. As atuaes interligadas da Intendncia de Polcia e da Provedoria de Sade deram forma a uma polcia sanitria encarregada de cuidar do corpo da populao e de zelar pela ordem e pela limpeza da cidade, localizando e circunscrevendo pessoas s quais podemos atribuir o estatuto de vida nua: arruaceiros, mulheres licenciosas, vadios, loucos, etc. Nesse contexto, em meio construo do estadonao, foram organizadas as primeiras foras policiais modernas no pas. No descompasso entre anomia e nomos, desde seu surgimento, a atuao violenta das polcias, em inmeros casos, tem sido a regra.
2.1. Polcia e Poltica
Agamben afirma que no podemos compreender boa parte da poltica moderna se no compreendermos a indistino entre polcia e poltica, que marca essa poca. Tomando como exemplo a biopoltica nazista, o filsofo italiano afirma que a polcia tornou-se
Walter Benjamim. Documentos de cultura, documentos de barbrie (SP:Cultrix/Edusp, 1986). Roberto Machado et all. Danao da Norma: medicina social e constituio da psiquiatria no Brasil (RJ: Graal, 1978), p.183-184.
109
108
45
poltica, e que a tutela da vida coincidiu com a luta contra o inimigo110. Nesse sentido, Hlne LHeuillet111 busca a origem do termo polcia, lembrando que ele remonta palavra grega politia. Politia, que no deve ser simplesmente traduzida como repblica (lembrando da Politeia de Platon), encontra seu significado mais aproximado em poltica. Significado que no mundo grego tambm se aproxima da noo de civilizao. A autora associa intimamente polcia e poltica, lembrando que o surgimento da polcia corresponde ao nascimento da sociedade dos indivduos com o crescimento e a mobilidade populacional, ainda no mundo medieval, surgiu a necessidade de um sistema judicial para preservar a ordem nas cidades e a propriedade privada. Nesse contexto, pensou-se, pela primeira vez, em uma organizao prxima idia de polcia, que viria a se concretizar na modernidade. A polcia surgiu, ento, para preservar a ordem nas cidades, desejada pelo monarca. No entanto, ela acabou testemunhando a prpria inflexo da monarquia tradicional, como diz Heuillet112, e mais do que preservar a propriedade privada, a polcia tratou de preservar a esfera pblica.
Conforme Hlne LHeuillet, a polcia surgiu no seio da monarquia absoluta e sobreviveu a esta, atravs de uma singular forma de poder, que Michel Foucault chama de poder da norma. Para Foucault, a polcia moderna se organizou como instituio no sculo XVIII,
...sob a forma de um aparelho de Estado, e se foi mesmo diretamente ligada ao centro da soberania poltica, o tipo de poder que exerce, os mecanismos que pe em funcionamento e os elementos aos quais ela os aplica so especficos. um aparelho que deve ser coextensivo ao corpo social inteiro, e no s pelos limites extremos que atinge, mas tambm pela mincia dos detalhes que se encarrega. O poder policial deve-se exercer sobre tudo: no entretanto a totalidade do Estado nem do corpo visvel e invisvel do monarca; a massa dos acontecimentos, das aes, dos comportamentos, das opinies tudo o que acontece113...
Aparelho de governo e/ou aparelho administrativo, a polcia assemelha-se a uma tecnologia de Estado pela definio de Foucault, prpria a uma sociedade de massas ou
110
Giorgio Agamben. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed.UFMG, 2004), p.154. Hlne LHeuillet. La gnalogie de la police (Cultures & Conflits, Paris, n. 48, jun. 2003). 112 Idem, p. 4.
111
46
industrial. A polcia no especfica, e Foucault cuida para que no se confunda com a biopoltica. Se a biopoltica tem como objeto o homem vivo, o objeto da polcia o sujeito como um corpo. Heuillet114 diz que se existe uma finalidade da polcia, essa finalidade a manuteno da ordem. A polcia um saber e uma inteligncia do Estado, que tem a ordem em vista. Visando a manuteno da ordem, o Estado outorga polcia (civil, militar e, em casos especiais, mesmo s Foras Armadas) o direito de vigiar a populao, atravs de um poder de coao amparado no ordenamento jurdico. Poder de coao fsica que faz com que a violncia atribuda s instituies responsveis pela ordem seja uma das mais perigosas. O que no est em desacordo com a idia de manuteno da ordem, que
tanto levar assistncia e socorro como reprimir e prender. A vigilncia e a preveno tm a ordem como mira comum. A ordem tanto aquilo que faz com que as coisas estejam disponveis para a vida como aquilo que, deslocando, censurando, reprimindo, toma toda a vida por desordem115.
A idia de manuteno da ordem pressupe em si a desordem, a ordem no est inscrita na natureza das coisas, como diz Heuillet. essencial aos olhos de quem v, como afirma Mary Douglas116. Portanto, se, para o estado e a poltica, a sociedade necessita da ordem; a polcia, para existir, precisa da desordem (ou melhor, de uma noo de desordem, atrelada noo de ordem). Assim, a adoo da causa da ordem parece ser um elemento determinante de um devir policial117. Heuillet lembra ainda que a especificidade da polcia est num certo tipo de uso da fora, e no na simples capacidade de dispor desta.
No Brasil, as instituies responsveis pela manuteno da ordem s contribuem para o aumento da violncia118, extrapolando constantemente a sua especificidade - o uso da fora. Podemos dizer que o estado brasileiro extremamente conivente com abusos e
Michel Foucault. Vigiar e Punir (Petrpolis: Vozes, 2002), p.176. Hlne LHeuillet. Alta polcia, baixa poltica - uma viso sobre a Polcia e a relao com o poder (Portugal: Editorial Notcias, 2004), p.99. 115 Idem, p.100. 116 Mary Douglas. Pureza e Perigo (SP: Perspectiva, 1976). 117 Hlne LHeuillet. Alta polcia, baixa poltica - uma viso sobre a Polcia e a relao com o poder (Portugal: Editorial Notcias, 2004), p.119. 118 Aqui poderamos abrir um parntese e pensar com Foucault na concubinagem que une polcia e delinqncia, lembrando que, sem delinqncia no h polcia.
114
113
47
violao de direitos perpetrados pelas foras policiais 119. Os mtodos violentos e ilegais utilizados pelas polcias brasileiras so amplamente conhecidos e, mesmo, documentados. J estamos acostumados a ouvir que questo social caso de polcia no Brasil. Os dados referentes violncia s comprovam essa afirmao corrente120. A vida nua parece marcar toda a trajetria do pas, basta pensarmos em como so tratados os setores mais pobres da populao pelas polcias brasileiras.
Encarcerados em favelas, vilas, muitas vezes sobrevivendo nas mais precrias condies falta de acesso sade, educao, trabalho, falta saneamento bsico, moradia, etc enorme o nmero de brasileiros que vivem em uma situao sem sada. Situao sem sada que, na linguagem das favelas cariocas, significa cabea de porco expresso que originalmente remete ao famoso cortio carioca destrudo no final do sculo XIX, depois de interditado pela Inspetoria Geral de Higiene. Cabea de porco nome do livro escrito por Luiz Eduardo Soares, MV Bill e Celso Athayde. MV Bill um dos rappers mais conhecidos no pas morador da favela carioca Cidade de Deus, sua msica marcada pela denncia poltica e social. Celso Athaydde, ex-menino de rua, morador da favela do Sapo no Rio de Janeiro e fundador da Central nica das Favelas hoje um reconhecido empresrio de rap e hip-hop. Oriundo do contato e da pesquisa de Bill e Athayde com crianas e jovens envolvidos com o trfico de drogas nas favelas brasileiras, Cabea de Porco um relato contundente da exposio de milhares de brasileiros a uma violncia cotidiana, de vidas que podem ser descartadas a qualquer momento, sem que crime algum seja cometido. De vidas expostas a todo tipo de violncia, inclusive uma das mais perigosas: a violncia das instituies responsveis pela manuteno da ordem e pela proteo da populao.
Peregrinando pelas capitais do pas, MV Bill e Celso Athayde constataram que a violncia e a corrupo de segmentos significativos da policia so prticas comuns em
Sobre essa posio conivente do Estado brasileiro pode-se consultar uma ampla bibliografia, incluindo autores como: Hlio Bicudo, Srgio Adorno, Paulo Srgio Pinheiros, Tereza Pires Caldeira, Elizabeth Canceli, Marcos Bretas, entre outros. 120 Ver: Tereza Pires do Rio Caldeira. Cidade de muros: crime, segregao e cidadania em So Paulo (SP: Ed.34/Edusp, 2000), p. 135.
119
48
todos os lugares do pas. As variaes so de intensidade, extenso e despudor121. Conversando com garotos em uma boca122 numa favela de Belm, Bill surpreende-se com a chegada dos policiais:
L na minha terra, os canas no entram porque tambm so funcionrios da boca. Quando quebram o arrego, a molecada solta os rojes avisando que a favela tem visitas. Por isso, a minha mente, desde que nasci, associa, mecanicamente, fogos de artifcio presena policial, e associa o silncio ausncia da polcia. S que ali a realidade era outra e, quando vimos os canas, eles j estavam apontando as armas para todos ns. S tive um sinal um pouco antes porque o garoto com quem eu estava gravando viu os canas e correu, mas era tarde demais. Os policiais chegaram em duas viaturas, ambas apagadas. No vieram na nossa direo imediatamente. Foram direto pra boca. Sabiam que ali era o ponto de venda, mas precisavam do flagrante para realizar seu trabalho. Eles no entram nas casas sem mandatos no Rio, os caras entram e ainda levam de presente nossas tevs e videocassetes. Alguns dos rapazes correram para casa quando viram o meu entrevistado correr. Ningum disparou as armas contra a polcia. Aquilo me pareceu um certo sinal de respeito123.
Percebemos que no possvel generalizar a atuao das polcias. Entretanto, os traos comuns a muitos segmentos policiais, de violncia e corrupo so semelhantes em todo territrio nacional. Alguns mais explcitos, como parece ser o caso do Rio de Janeiro; outros mais discretos, como em Belm. Dentre os traos comuns, est a tirania de muitos segmentos policiais. Soares124 nos lembra que, alm de mascarada pelos uniformes, a tirania policial perversa porque imprevisvel. Mesmo os traficantes tm seus cdigos e regras definidas. E, se terrvel viver na periferia das cidades sob o domnio dos chefes do trfico, o sentimento o mesmo ou ainda pior, segundo Soares, em relao ao poder policial que no segue nenhum cdigo. Hoje, olhar nos olhos do policial, na batida montada na entrada da favela, pode ser interpretada como desacato autoridade... amanh, baixar os olhos, evitando encarar o policial, na mesma situao, pode suscitar reaes idnticas pelos mesmos motivos, por incrvel que parea125.
Luis Eduardo Soares, MV Bill e Celso Athayde. Cabea de Porco (RJ:Objetiva, 2005), p.40. Nome dado ao local onde ocorre o comrcio de entorpecentes. 123 Luis Eduardo Soares, MV Bill e Celso Athayde. Cabea de Porco (RJ:Objetiva, 2005), p. 47-48. 124 Idem, p.263. 125 Idem, p. 263.
122
121
49
Na capital sergipana, Bill e Atahayde, ao se dirigirem a uma das favelas da cidade, foram abordados por uma radiopatrulha da polcia. A primeira ordem dos policiais foi para encostarem-se ao carro. Logo, aps uma breve revista no automvel, os policiais voltaram com um pequeno pacote forjado pelos prprios agentes da lei. Estupefato, Celso Athayde descreve sua sensao no momento:
Eu sabia do que eles estavam falando, mas logo com a gente? No, no podia ser. Mas era. Pensei sobre tudo que tinha ouvido dos meninos do trfico: que eles eram seqestrados pelos policiais, que os policiais pegavam seus inimigos e os vendiam vivos s para que eles tivessem o prazer e a moral de mat-los. Muitos episdios macabros desse tipo, escrevem parte da histria do Brasil e que nem mesmo o Brasil conhece. Era o que eles chamavam de forjado. Eu tinha ouvido muitas histrias de jovens e adultos que os policiais, quando queriam prender e no tinham provas, forjavam e os levavam para a delegacia126.
Foi exatamente o que aconteceu com os trs. Logo se seguiu a extorso ou pagavam aos policiais ou iriam para a Delegacia onde a situao poderia complicar-se mais. Era a palavra deles contra a dos agentes da lei. Como os rapazes no tinham muito dinheiro com eles, e tambm estavam sem carto para sacar no banco 24 horas como sugeriram os policiais , a conversa se prolongou:
Sugerimos que eles pegassem o que todos ns consegussemos e anotassem o telefone do hotel para pegar o restante no dia seguinte: no Rio isso chamado de cheque-seqestro: quando os mineiras, polcias seqestradores, prendem os bandidos e eles no tm dinheiro para pagar, negociam um acordo de pagamento mensal. Quando o bandido no paga e preso outra vez, ele morre ou vai preso. Mas eu no, no era bandido127.
Os policiais no aceitaram ir at o hotel, pois isso seria arriscado, j que no conheciam suas vtimas. Aps algum tempo de tenso, aceitaram o dinheiro que os protagonistas tinham a oferecer e despediram-se: apertando a mo e deixando bem claro que era acordo de homem e no de moleque. Ou seja, era melhor que a histria morresse ali. No perodo em que estiveram merc dos policiais, Bill e Athayde sentiram na pele o carter descartvel a que esto expostos os moradores da periferia no Brasil. Imersos momentaneamente em uma situao de abandono legal como a vida no bando soberano
126
Idem, p. 157-158.
50
a sensao de ambos era a de que tudo estava to errado, to confuso, que sobreviver nesse inferno j [era] um puta de um lucro128. Os autores de Cabea de Porco contam-nos histrias de trfico, violncia e arbitrariedades. Mostram o cotidiano de inmeras pessoas nas favelas brasileiras. De vidas expostas violncia cotidiana e banalizadas, num cenrio em que a estrutura de campo recriada.
Paradigma biopoltico da modernidade, no campo de concentrao as pessoas so despojadas de todo estatuto poltico e reduzidos integralmente a vida nua129. Espao supremo da exceo em que um territrio colocado fora do ordenamento jurdico normal, o campo metamorfoseou-se na atualidade, na medida em que o estado de exceo foi tomando conta da poltica ocidental, e no se restringe mais a um territrio especfico: pode ocupar diferentes espaos no mundo contemporneo. Se a essncia do campo consiste na materializao do estado de exceo e na conseqente criao de um espao em que a vida nua e a norma entram em um limiar de indistino130, cada vez que essa estrutura criada, indiferente aos crimes ali cometidos, temos virtualmente uma estrutura de campo, diz Agamben. Ou seja, o espao de uma delegacia, as ruas e casas de uma favela ou quaisquer outros espaos que se tornem palco da execuo soberana do direito sobre a vida e a morte da vida nua tornam-se campos de exceo. Logo, os cenrios que MV Bill e Celso Athayde descrevem, assemelham-se a campos de exceo nos quais a misria, a violncia dos traficantes e a violncia policial consomem a vida de milhares de crianas e adolescentes.
Se o relato de MV Bill e Celso Athayde desnuda a violncia policial atravs do olhar de suas vtimas, em cenrios que podemos denominar de campos de exceo, seguindo um trajeto inverso o antroplogo Guaracy Mingard decidiu mostrar as arbitrariedades policiais a partir do olhar e da rotina dos agentes da lei. Para tanto, prestou concurso pblico para policial civil, passando a trabalhar durante um ano em uma delegacia de polcia paulista. Durante esse tempo, conversou, observou e entrevistou alguns policiais. Desse trabalho resultou sua dissertao de mestrado, publicada com o ttulo Tiras, Gansos
Idem, p.160. Idem, p.160. 129 Giorgio Agamben. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed.UFMG, 2004), p.178. 130 Op cit., p.177.
128
127
51
e Trutas: Segurana Pblica e Polcia Civil em So Paulo (1983-1990). Mingard esmiuou o cotidiano de uma Delegacia de Polcia (DP): quem so os informantes, como agem os advogados de porta de cadeia (que intermediam os acertos entre policiais e detidos), onde a sala do pau, quem age nessa sala, etc. A violncia e corrupo que MV Bill e Celso Atahyde sentiram nas ruas das favelas brasileiras, Mingard, enquanto policial e antroplogo, testemunhou dentro de uma DP, onde o campo de exceo conhecido como a sala do pau.
Mingard diz que uma relao de simbiose marca a interao entre os principais personagens de uma DP de capital. Nessa simbiose, os principais atores so: o truta, denominao do ladro que possui antecedentes criminais e atua em roubos, furtos, receptao e trfico de drogas; o devo que o advogado criminalista que ronda distritos policiais em busca de clientes e geralmente mantm vnculos empregatcios com criminosos; o ganso que vende informaes aos policiais e, em alguns casos, tem inclusive carteirinha fornecida pela polcia, que os identifica como inspetores de quarteiro, auxiliares leigos da polcia131; e, finalmente, o policial corrupto que recebe dinheiro ou favores dos criminosos. Dentre os exemplos que Mingard cita dessa relao de simbiose que ocorrem numa DP, selecionei um para que possamos entender os vnculos entre os quatro personagens citados pelo autor:
Uma advogada telefonou a um investigador informando onde ele poderia encontrar um cliente seu, suspeito de vrios roubos e mortes. Alegou que recebera muito pouco pelos trabalhos anteriores, e precisava dele preso para ganhar mais. Para disfarar que o ladro havia sido dedurado, trs investigadores pararam no local onde ele se encontrava (em frente a um estdio de futebol) e revistaram vrias pessoas. Mesmo no encontrando nada de incriminador, ele foi preso sob a alegao de que era cambista. Conduzido ao DP, foi reconhecido por um ganso, j inteirado da situao. Aps o rotineiro pau noturno, ele confessou um homicdio e trs ou quatro roubos. S ento sua advogada foi chamada para mediar o acerto. Do dinheiro recebido, ela ficou com a metade, os investigadores, o ganso e um escrivo ficaram com o resto. A participao do escrivo foi de fazer um inqurito com falhas para que o ladro tivesse possibilidade de absolvio na justia 132.
131 132
Guaracy Mingardi. Tiras, Gansos e Trutas (POA: Corag, s/data), p. 31. Idem, p.33.
52
Como podemos perceber, a organizao e o entrosamento entre os personagens so sincronizados. Segundo Mingard, esse tipo de acerto pode prescindir do advogado ou do ganso, mas no do policial e do acusado. Dos quatro personagens, as relaes mais prximas so entre policiais/gansos e truta/devo. Dentre eles, a figura do ganso desperta nossa ateno. Alm de informante, o ganso pode ajudar no trabalho de rua, nas prises, elaborar os BOs (Boletins de Ocorrncia), ouvir testemunhas e at atuar na sala do pau. Dentre os oito gansos que prestavam servios remunerados na DP onde Mingard realizou seu trabalho de campo, dois eram ex-policiais militares (ambos expulsos por homicdio), um ex-policial civil (expulso por queimar o brao de um preso), uma advogada e um ex-jogador de vlei (ligados mais diretamente a determinados investigadores) comum a expresso ganso de um investigador , os outros dois no tinham profisses definidas e eram ligados, tambm, a este ou aquele policial. Os investigadores entrevistados justificaram a necessidade dos gansos pelo nmero insuficiente de policiais na DP. O elo que une polcia e delinqncia, apontado por Foucault, perpassa a relao de policiais e gansos, e fica visvel na forma como uma pessoa se torna ganso:
O processo pelo qual algum se torna ganso varia. Muitos so presos por coisas sem importncia, sendo soltos logo depois. Durante o perodo em que estiveram presos criam algum tipo de obrigao com um policial, que lhes leva cigarros, notcias de fora e consegue captar sua confiana. Depois de soltos, passam a freqentar o DP, fazer pequenos favores, fornecer algumas informaes, at comearem a ser pagos. A partir de ento, tendo percebido o lucro que essa situao proporciona, viram profissionais da cagetagem133.
Para exemplificar, Mingardi relata o caso de duas meninas, com idades em torno de dezesseis anos, que foram acusadas de um pequeno furto:
Ficaram poucas horas no DP, no sendo muito maltratadas, apenas uns gritos e ameaas de choque eltrico. Saram um pouco assustadas, mas sem confessar. O chefe dos investigadores conseguiu obter de uma delas o endereo de um elemento procurado. Dias depois, no tendo encontrado o elemento, chamou-as ao DP. Desta vez foram a um salo de baile para identificar o procurado. Feita a priso, elas foram elogiadas e convidadas para um churrasco num campo de futebol. A partir de ento passaram a fornecer informaes aos membros da equipe de investigadores da chefia, ganhando algum dinheiro com isso. Com o
133
Idem, p. 37-38.
53
correr do tempo mantiveram relaes sexuais com alguns deles, o que criou novo vnculo134.
Mas existe ainda um outro tipo de ganso que no tem registro na polcia, entra para a profisso porque conhece algum policial e passa a ajud-lo, ou ainda, vai at a delegacia para prestar queixa e acaba se aproximando dos policiais. Em qualquer dos casos, comea fazendo pequenos favores, como levar a viatura para lavar, e vai aos poucos se tornando da casa135.
Como podemos perceber, a violncia comum dentro e fora das DPs. Se Cabea de Porco nos mostra a violncia e arbitrariedade nas ruas das favelas do pas, Mingardi relata as arbitrariedades e violncias no espao fsico das delegacias de polcia. Tratamento j banalizado, que no causa espanto nem ao pesquisador no foram muito maltratadas, apenas alguns gritos e ameaas de choque eltrico136.
Quanto ao espao fsico de uma DP, Mingardi diz que o palco onde convivem os quatro personagens dotado de dois cenrios, que parecem duas polcias distintas: o trreo e o primeiro andar, ou o planto e a chefia. O trreo onde se registram as ocorrncias e geralmente onde fica a carceragem que abriga os detidos. No primeiro andar, encontramos a sala dos delegados (titular e assistente), dos investigadores da chefia, escrives da chefia e do chefe de cartrio. Fora as diferenas entre os trabalhos de um espao e de outro, Mingardi acentua que na chefia (primeiro andar) que fica a chamada sala do pau:
No planto, um preso pode at ser espancado, mas no receber choques nem ser pendurado. A sala do pau controlada pelo chefe dos tiras, e fica localizada perto da sala dos investigadores. Um investigador do planto que queira trabalhar um preso, tem de se entender com o chefe. Na prtica o policial do planto o menos adepto da tortura137.
A linguagem cotidiana dos agentes da lei, a violncia, atenuada no trreo onde o detido pode se considerar feliz, pois est sujeito somente a espancamentos e encontra
Idem, p.38. Idem, p.38. 136 Guaracy Mingardi. Tiras, Gansos e Trutas (POA: Corag, s/data), p.39.
135 134
54
sua plenitude no primeiro andar, onde o pau e o choque eltrico so liberados. Alm de ser o andar do pau, o primeiro andar tambm o lugar do acerto. Diz Mingardi que a chefia o lugar preferido pelos gananciosos e para aqueles policiais mais adeptos ao trabalho policial violento138. Nas ruas ou dentro das instituies policiais, a linguagem, apesar de apresentar diferentes nuances ou especificidade de uso da fora em cada estado ou regio do pas, parece ser a mesma: violncia e tortura.
2.2. O modus operandi: violncia e tortura
Dois trabalhos atuais, Cabea de porco e Tiras, gansos e trutas mostram como hoje a linguagem policial dentro e fora das delegacias: a atualidade coloca-nos ento a questo da violncia policial cotidiana e banalizada. Para entendermos esse quadro catico, precisamos pensar a trajetria da polcia no Brasil.
Tereza Caldeira lembra que no Imprio a persistncia de uma ordem social escravista legitimava as punies corpreas. Punies que sobreviveram ao trmino da escravido, sob a forma de prticas policiais recorrentes. Essa violncia teve apoio legal em alguns contextos e foi ilegal em outros, mas na maior parte das vezes tem sido praticada com impunidade e com significativa legitimidade139. O relato de Mingardi s vem avalizar a afirmao de Caldeira, de que as punies ao corpo persistem no estado brasileiro. O paradoxal dessa violncia intrnseca s instituies responsveis pela ordem no Brasil, para a autora, o relativo apoio popular aos atos de violncia policial, justamente pela populao mais atingida. Diz ela que, o apoio popular aos abusos da polcia sugere a existncia no de uma simples disfuno institucional, mas de um padro cultural muito difundido e incontestado que identifica a ordem e a autoridade ao uso da violncia140. Uma violncia que complementa a deslegitimao do sistema judicirio no pas, diz Caldeira.
Idem, p.45. Idem, p.46. 139 Tereza Pires do Rio Caldeira. Cidade de muros: crime, segregao e cidadania em So Paulo (SP: Ed.34/Edusp, 2000), p.136. 140 Idem, p.136.
138
137
55
Assim, as arbitrariedades e a violncia fazem parte do cotidiano policial no Brasil, desde as origens da polcia, constituindo-se no prprio modus operandi desta:
As prticas de violncia e arbitrariedade, o tratamento desigual para pessoas de grupos sociais diferentes, o desrespeito aos direitos e a impunidade daqueles responsveis por essas prticas so constitutivos da polcia brasileira, em graus variados, desde sua criao no comeo do sculo XIX at os dias atuais. Os abusos de poder, a usurpao de funes do sistema judicirio, a tortura e o espancamento de suspeitos, presos e trabalhadores em geral so prticas policiais profundamente enraizadas na histria brasileira. Essas prticas nem sempre foram ilegais, e freqentemente foram exercidas com o apoio dos cidados. Em vrias ocasies, o arbtrio autorizado da polcia foi bem amplo. Em outras, mudou-se a legislao para acomodar prticas delinqentes existentes ou encobri-las. Comumente as leis de exceo foram aprovadas durante ditaduras, mas muitas vezes sobreviveram durante regimes democrticos, tornando-se parte de seu arcabouo institucional. Os parmetros legais do trabalho policial mudaram freqentemente, tornando instveis os limites entre o legal e o ilegal, e criando condies para o prosseguimento de uma rotina de abusos que pode ser descrita nos dias atuais como o modus operandi da polcia141.
Conforme abordei anteriormente, a primeira organizao efetiva de uma instituio policial no Brasil aconteceu no incio do sculo XIX, com a vinda da Corte portuguesa para o pas poca em que foi criada a Intendncia Geral de Polcia, com atribuies relativas organizao da cidade, como a preocupao com o conhecimento, aumento e melhoria da populao urbana142. Os cuidados com a populao incluam o zelo pela sade e o combate ociosidade. Considerando os aspectos incipientes de uma medicalizao da sociedade, a Intendncia Geral de Polcia e a Provedoria de Sade acabaram complementando suas funes, na criao da polcia mdica ou polcia sanitria. Os escravos e a populao mais pobre, desde ento, eram os alvos prioritrios da polcia143.
Analisando a histria das polcias ao longo do sculo XIX poca do imprio e da construo do estado-nao no Brasil Holloway144 lembra que o poder da polcia era
Idem, p.143. Roberto Machado et all. Danao da Norma: medicina social e constituio da psiquiatria no Brasil (RJ: Graal, 1978), p. 168. 143 A ttulo de curiosidade, lembro que as chamadas Casas de Correo surgiram no Brasil ainda no sculo XVIII em 1769 , com o objetivo de abrigar mulheres licenciosas e vadios. 144 Thomas Holloway. Policing Rio de Janeiro: Repression and Resistance in a 19th-Century City (Stanford: Stanford University Press, 1993), p.168.
142
141
56
grande. Alm das decises sobre detenes e das punies a escravos, podiam determinar castigos correcionais (entre eles espancamentos), dispensando o arbtrio do judicirio, sendo que, por vezes, os policiais detinham, inclusive, poderes judiciais em instncias locais. Em 1871, o poder judicirio local saiu das mos da polcia, no entanto, os castigos e detenes correcionais j faziam parte da normalidade das prticas policiais. A atividade policial era a deteno e a punio sumria de pessoas que violavam as normas do comportamento pblico, e mesmo a ordem e a hierarquia145. Violaes dos padres de decncia eram imediatamente punidas pela polcia. Na vigilncia pela preservao desses padres, escravos, pobres, indigentes e estrangeiros eram suspeitos a priori.
J no final do sculo XIX, os alvos da polcia se ampliaram para as parcelas populares, em geral, tidas como obstculo ao progresso e perigosas. o controle sobre a populao que vigorava, ento, na ordem do dia. Como diz Claudia Mauch146, havia
consenso entre as elites sobre a necessidade imperiosa de controlar, guiar e vigiar os pobres e trabalhadores do campo e das cidades, mas no [havia] consenso sobre como fazer isso. Da a diversidade de propostas e projetos pblicos e privados de normatizao que aparecem com o trmino da escradivo e na primeira dcada republicana.
Pode-se perceber, pela anlise de Mauch, a importncia da polcia no projeto de disciplinarizao da sociedade brasileira no final do sculo XIX e incio do sculo XX, que, nesse momento, j se configura como controle sobre a populao por parte de uma instituio que como define Foucault, a um s tempo um aparelho de disciplina e um aparelho de estado147. Atrelada ao discurso mdico, a polcia contribuiu para vigiar e controlar as categorias sociais potencialmente perigosas: desempregados, mendigos, prostitutas, enfim, os ocupantes indesejados de um espao pblico que deveria ser limpo, higienizado e regrado.
Idem, p.271. Claudia Mauch. Ordem Pblica e Moralidade: imprensa e policiamento urbano em Porto Alegre na dcada de 1890 (Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004), p.29-30. 147 Michel Foucault. Em Defesa da Sociedade (SP: Martins Fontes, 2002), p. 298-9.
146
145
57
Os trabalhos de Marcos Bretas148 e de Bris Fausto149, que versam sobre a atuao policial nas cidades do Rio de Janeiro e So Paulo, respectivamente, entre as ltimas dcadas do sculo XIX e as primeiras do sculo XX, demonstram como a polcia continuava envolvida com o controle da populao, punindo os delitos contra a ordem pblica. No Rio de Janeiro, Bretas diz que as prises por vadiagem chegaram ao pice na primeira dcada do sculo XX. Situao semelhante acontecia em So Paulo em torno de 80% das prises, entre os anos de 1892 a 1916, puniam casos de vadiagem, desordem e embriaguez. Em Porto Alegre, a criao da Guarda Civil, em 1929, esteve de acordo com os propsitos de ordem e higienizao do espao urbano, numa tentativa do Estado e de empresrios de circunscrever e controlar parte da populao urbana150.
Contudo, conforme Canceli, nos anos 30 que a organizao policial passou a ter um peso decisivo para o Estado, situando-se como elemento fundante da manuteno de poder e da ao do estado totalitrio e da legitimao que ele pretendia dar violncia e aos seus vrios instrumentos de violncia151. A polcia, nesse perodo, percebida pela historiadora como o grande elemento de instabilidade social que fundamentava o poder de Vargas, ao manter o terror nas ruas, fazia com que a sociedade como um todo se sentisse impotente. As aes policiais, nesse perodo, ultrapassaram a vigilncia dos espaos pblicos e no se referiam somente disciplinarizao urbana e social, as prises estavam sujeitas ao arbtrio do poder sem precisar de justificativas, com carter secreto, impulsionavam o terror. Em sintonia com a sociedade de massas,
os agentes repressivos adequaram a teoria Positiva a seu modelo racista. Prenderam-se na tica da reabilitao: apenas uma nova realidade biolgica e psquica intrnseca ao prprio indivduo poderia reabilit-lo (...) no eram mais as manifestaes criminosas de um sujeito que incomodavam a sociedade, e sim o prprio sujeito. Em sua direo, a ao deveria insurgir-se152;
A guerra das ruas: povo e polcia na cidade do Rio de Janeiro (RJ: Arquivo Nacional, 1997). Ordem na cidade: o exerccio cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro: 1907-1930 (RJ: Rocco, 1997). 149 Crime e cotidiano: a criminalidade em So Paulo: 1880-1924 (SP: Brasiliense, 1984). 150 Rejane Pena Monteiro. A nova polcia: a Guarda Civil em Porto Alegre:1929-1938 (Porto Alegre. Programa de Ps-Graduao em Histria Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul dissertao de Mestrado, 1991). 151 Elizabeth Canceli. O mundo da violncia: a polcia na Era Vargas (Braslia: Ed.UnB, 1993), p. 4 e 215.
148
58
Quando o objeto de punio deixa de ser a ao do sujeito, e passa a ser o prprio sujeito, quando a ordem biolgica e psquica passa a contar para determinar o grau de reabilitao do indivduo, estamos falando da biopoltica. Trata-se da assuno da vida pelo poder, visvel na ao do estado no momento em que os agentes repressivos adequaram a teoria positiva ao modelo racista temos ento um racismo de estado, para usar da anlise foucaultiana. Tecnologia disciplinar e tecnologia regulamentadora se imbricaram, disciplinando e controlando a populao, a massa. O outro que no faz parte da ordem do estado totalitrio pode ser descartado, pode-se simplesmente deix-lo morrer violncia e poder, ento, parecem indistinguveis. Canceli lembra que a ao repressiva da polcia durante o Estado Novo tinha por alvos principalmente os estrangeiros e os supostos comunistas indesejados ao tipo de ordem proposta pelo governo.
Dada a importncia da polcia nas dcadas de Vargas, est foi totalmente reestruturada. Um tipo de reestruturao que s ocorreu novamente em 1969 durante o regime militar. No intervalo democrtico entre 1945 e 1964, a estrutura das polcias, pelo menos em nvel federal, permaneceu a mesma153. Durante a ditadura militar, principalmente depois de 1968, as polcias civil e militar estiveram subordinadas ao Exrcito. Em maro de 1967, surgiu a primeira lei nesse sentido a Lei nmero 317 que subordinou as foras policiais regionais e municipais s Secretarias de Segurana Pblica dos estados. O secretrio de segurana passou a ser nomeado diretamente pelos militares. Um dos perpetradores de atrocidades entrevistado por Marta Huggins154, um policial militar, que presenciou a transformao na rotina da polcia depois do golpe militar, lembrou que inclusive o treinamento dos policiais tornou-se muito militarizado. Os policiais passaram a ser treinados para guerra, obedecendo a uma autoridade que promovia e legitimava a violncia.
Idem, p.29. No Rio Grande do Sul, a Polcia Civil sofreu uma reestruturao em 1953, de acordo com a Lei n. 2027, de 03/01/1953. 154 Huggins, Marta K. et all. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006).
153
152
59
Depois da promulgao do AI-5, as prises, seqestros e detenes de suspeitos em nome da doutrina de segurana nacional, ocorriam sem justificativa ou mandato formal. Violncia e ilegalidades compunham a ditadura militar, amparados na doutrina de segurana nacional que justificava, instigava e facilitava a violncia. A inscrio em uma placa dentro de uma delegacia de polcia paulista emblemtica para pensarmos a atuao das polcias na poca: contra a ptria no h direitos155. O clima era de guerra total contra a subverso. O incremento do aparato de represso incluindo a criao de rgos como a OBAN (Operao Bandeirantes) e os DOI/CODI (Departamento de Operaes de Informaes/Centro de Operaes de Defesa Interna), financiados tambm por empresrios nacionais e multinacionais e a destinao de verbas privilegiadas a essa estrutura propiciou e/ou acirrou a competio entre as foras de segurana. De acordo com Huggins,
os riscos eram altos, o tempo era precioso e as recompensas do sistema iam para as unidades que com mais xito e mais rapidamente descobriam e capturavam subversivos polticos, extraam informaes deles e os eliminavam156.
O incremento dessa estrutura repressiva, a destinao privilegiada de verbas, o reconhecimento financeiro e formal para as mais bem sucedidas no combate represso propiciou a criao e disseminao de inmeros esquadres da morte pelo pas, como estruturas paralelas de represso e assassinatos. Seus integrantes: policiais civis e militares, eventualmente pessoas de fora da polcia. Isso contribuiu para a descentralizao do controle social no entrelaamento entre os rgos de represso (formais e informais).
A violncia rendia monetariamente a seus executores. Capturar, torturar e matar era recompensado pelo Estado ou mesmo por empresrios. Paralelamente a execuo de aes violentas, os policiais, principalmente os integrantes de grupos de extermnio, mergulharam em atividades ilegais como, por exemplo, o envolvimento com trfico (de armas ou drogas) e a extorso. Para Huggins, um elo comum entre os perpetradores de atrocidades, pertencentes tanto polcia civil quanto polcia militar, era o fato de pertencerem a um
155
Percival de Souza. Autpsia do medo: vida e morte do delegado Srgio Paranhos Fleury (SP:Globo, 2000), p.29.
60
dos inmeros esquadres da morte, que a autora categoriza como esquadres especializados em controle social 157. A dinmica de institucionalizao desses grupos foi relatada anteriormente nos trabalhos de Hlio Bicudo Meu Depoimento sobre o esquadro da morte e Do esquadro da morte aos justiceiros , e mais tarde por Caco Barcellos158, Percival de Souza159 e lio Gaspari160, entre outros.
Os esquadres da morte compunham-se inicialmente por policiais civis, que atuavam nos estados de So Paulo e Rio de Janeiro161. Entretanto, logo as atuaes semelhantes espalharam-se pelo resto do Brasil162, com o incremento da participao de policiais militares. Caracterizados por Hlio Bicudo como uma mfia policial e gestapo brasileira alguns integrantes desses grupos, como o delegado Srgio Paranhos Fleury do DOPS paulista, eram tidos e/ou condecorados como heris nacionais. Para Souza, no caso do doutor Fleury como era chamado - e de sua equipe havia uma licena especial para matar, sem nenhum constrangimento163. Com o processo de democratizao na dcada de oitenta, esses grupos no deixaram de atuar. Muitos deles passaram a trabalhar na rea da segurana privada para empresas e residncias. Alguns nomes conhecidos, processados pelo ento procurador Hlio Bicudo na dcada de 70, tornaram-se donos dessas empresas. De acordo com Huggins, nessa poca surgiu um livre mercado de agentes assassinos de aluguel para combater o problema do crime na sociedade que se democratizava164.
Huggins, Marta K. et all. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p. 160. 157 Idem, p.316. 158 Rota 66 (SP:Globo, 2004), e tambm Dedo na ferida, matria publicada pela revista Caros Amigos (n.2/fevereiro de 2001). 159 Autpsia do medo: vida e morte do delegado Srgio Paranhos Fleury (SP:Globo, 2000). 160 A Ditadura escancarada (SP:Cia das Letras, 2002). 161 Segundo Percival de Souza, policiais de So Paulo foram especialmente ao Rio de Janeiro para aprenderem com os colegas cariocas as tcnicas usadas para eliminar os indesejveis do convvio social com base em critrios estritamente particulares. Antes de So Paulo, j funcionava no Rio um esquadro, com o nome do detetive Le Cocq. 162 Retomo a histria dos Esquadres da Morte no quinto captulo quando abordo o assassinato de Jefferson Pereira da Silva, conhecido como Choro. 163 Autpsia do medo: vida e morte do delegado Srgio Paranhos Fleury (SP:Globo, 2000), p.17. 164 Huggins, Marta K. et all. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.238.
156
61
As fronteiras entre legalidade e ilegalidade, nomos e anomia, j haviam sido transpostas h muito tempo. Assim, esses grupos continuaram a agir, o que significa, continuaram a torturar e matar com apoio e sob as ordens de muitos polticos e empresrios. Apoio que, desde a democratizao, tornou-se extra-oficial, claro. Carandiru e Candelria so exemplos extremos desse tipo de atuao no Brasil contemporneo e democrtico. Juridicamente, foi somente na constituio de 1988 que apareceu pela primeira vez uma condenao a essas prticas. Em tese, a tortura passou a ser uma prtica ilegal, bem como as prises arbitrrias. No ano de 1992, o estado brasileiro ratificou essa postura assinando a Conveno das Naes Unidas Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Castigos Cruis, Desumanos ou Degradantes. Apesar disso, as prticas policiais no sofreram grandes alteraes: violncia, arbitrariedade e tortura continuam fazendo parte do trabalho policial. Se durante a ditadura a violncia da represso poltica voltou-se para os setores mdios e intelectualizados, findo o regime militar, essa violncia se concentrou na vida nua da maioria da populao do pas.
Recentemente, Luiz Eduardo Soares lanou mais um livro que se ocupa de mostrar, entre outras coisas, o tipo de prtica policial a que fao referncia. Elite da Tropa tem como narradores dois policiais Andr Batista, capito da Policia Militar do estado do Rio de Janeiro (PM/RJ) e Rodrigo Pimentel, ex-capito da PM/RJ. Ambos foram membros do Batalho de Operaes Especiais (BOPE) da Polcia Militar. A violenta rotina policial narrada pelos seus protagonistas; e no protagonistas como Mingardi um observador participante que no se envolveu com as prticas mais esprias , mas sim protagonistas de ao que praticavam nas ruas e nas favelas a linguagem da violncia. Em seus relatos ditos ficcionais, com nomes e lugares alterados podemos, mais uma vez, perceber que, no estado de exceo vivido cotidianamente no pas, a vida nua tornou-se regra, e que as relaes entre polcia, poltica e crime so densas e os limites so tnues.
Agindo em situaes crticas e fazendo incurses nas favelas, para os policiais do BOPE, com os marginais no tem apelao; noite, por exemplo, no fazemos
62
prisioneiros; nas incurses noturnas, se toparmos com vagabundo, ele vai pra vala165. A ao em tempo real e os alvos (vagabundos na linguagem dos policiais) no tm chance de defesa quando pegos. Diz ainda o capito da BOPE que
a violncia a gente comete. Alguns chamam tortura(...)no me envergonho de no me envergonhar de ter dado muita porrada em vagabundo. Primeiro, porque s bati em vagabundo, s matei vagabundo. Isso eu posso afirmar com toda certeza. Sinto minha alma limpa e tenho a conscincia leve, porque s executei bandido. E, para mim, bandido bandido, seja ele moleque ou homem feito. Vagabundo vagabundo166.
Treinados para a guerra, poucos passam nos testes para entrar na tropa de elite. O treinamento arrasador, e l os soldados aprendem qual deve ser sua misso: homens de preto/qual a sua misso?/ invadir favela/e deixar corpo no cho167. Para isso os soldados aprendem a tcnica de bater, de torturar e de matar. Como diz o capito do relato acima so pura tcnica, ou ento, como logo a seguir complementa, so tcnica, diverso e arte168 - parafraseando Arnaldo Antunes para confessar que tambm se divertem em servio.
A atuao das polcias que narramos aqui, apenas tornou-se possvel pela natureza do vnculo com a poltica. Estabeleceu-se uma promiscuidade muito grande entre polcia, poltica e crime. Um acontecimento bastante comum no pas atualmente narrado pelos autores de Elite da Tropa: certos policiais vendem armas para os traficantes; quando a mdia passa a cobrar do poder executivo aes contra o crime organizado, os polticos cobram das polcias uma apreenso de armas para mais um espetculo miditico; os mesmos policiais que venderam as armas aos traficantes acertam com eles e pegam as mesmas armas a ttulo de emprstimo; montado o circo, a mdia cumpre seu papel e, depois, as armas so devolvidas ao trfico. Algumas vezes, o desfecho pode no ser bem esse. Segundo um dos autores de Elite da Tropa, em alguns casos, os policiais cobram dos traficantes novamente pela devoluo das armas. Armas que, em muitos casos, sero
Luiz Eduardo Soares, Andr Batista e Rodrigo Pimentel. Elite da Tropa (RJ:Objetiva, 2006), p.26. Idem, p.35-36. 167 Idem, p.08. 168 Idem, p.36.
166
165
63
usadas contra a prpria polcia. Caso tpico da promiscuidade que marca as relaes entre crime, polcia e poltica no pas atualmente.
Nesse sentido, refletindo sobre o papel da polcia na contemporaneidade, Hlne LHeuillet diz que a polcia no mais a simples aplicao da poltica do Estado moderno. Atualmente, a polcia participa de uma tenso interna em direo racionalizao da poltica. Racionalizao, esta, regida pela cincia e pela tcnica no mundo contemporneo. Acompanhando a velocidade do tempo real, onde o que conta menos a deliberao, a deciso, interior e exterior trocam de papel o crime mundial e a guerra, local. Nessa linha de anlise, Agamben169 diz que as polticas de segurana, atualmente, no so destinadas a prevenir os eventos, mas sim tomar proveito quando eles ocorrem. O filsofo cita o trecho de uma entrevista dada por um policial italiano acerca das investigaes sobre o comportamento da polcia no caso da morte de um jovem em Gnova, no encontro do G8, em 2001; o policial estranhava a investigao dizendo que o governo no espera ordem, mas que organizemos a desordem. Os policiais do BOPE tambm atestam atribuio da polcia de gerir a desordem: a polcia vive do que ilegal; quanto mais desordem houver, maior o lucro dos convencionais170. Se manter a ordem, atribuio original da polcia, uma idia da poltica, organizar a desordem tambm o . Para organizar a desordem preciso que ela ocorra. Trata-se, ento, de acompanhar a velocidade dos acontecimentos, do tempo real. A polcia, tal como a conhecemos, nasceu sob o imperativo da rapidez; sua especificidade reside na urgncia, no imprevisto, no acidente, na deciso. Ter de agir na urgncia concede-lhe, como na medicina, uma autonomia muito prpria. Para Heulliet, essa autonomia que chama de cheque cinzento uma conseqncia de uma inverso hierrquica que se produz em todos os ofcios que devem agir na urgncia do tempo atual.
A polcia acompanha, ento, a velocidade que suplantou o tempo linear e projetivo da modernidade. A idia de projeto, de passado/presente/futuro, cedeu lugar urgncia171 e exacerbao do presente. Em meio urgncia, a polcia no intervm l onde o Estado
Giorgio Agamben, entrevista a Revista Carta Capital em 31/03/2004. Luiz Eduardo Soares, Andr Batista e Rodrigo Pimentel. Elite da Tropa (RJ:Objetiva, 2006), p.117. 171 Idia desenvolvida por Zaki Laidi, em La tyrannie de lurgence (Les grandes confrences, Montreal: ditions Fides, 1999).
170
169
64
governa, mas justamente onde ele no tem papel algum. A polcia deixa de ser apenas uma instituio do Estado, chegando mesmo a assumir o papel do Estado, reinventando os mtodos de governo. E, nesse sentido, muitas vezes, executa a deciso soberana da vida e morte sobre a vida nua. A guerra urbana um exemplo dessa atuao, em que a polcia inaugurou uma tradio poltica de um novo gnero, no interior do estado de territrio, mas a servio do estado de populao. Segundo os narradores protagonistas de Elite da Tropa, o BOPE/RJ considerado
a melhor tropa de guerra urbana do mundo, a mais tcnica, a mais bem preparada, a mais forte (...) os israelenses vm aqui, aprender com a gente; os americanos, tambm. Essa qualidade se deve a muitos fatores, um dos quais o seguinte: em nenhum lugar do mundo se pode praticar todos os dias172.
Num cenrio de guerra urbana, a polcia deixou de ser um simples meio da poltica, sendo um elemento constitutivo da sua estrutura que participa na definio dos seus fins e no desprovida de sentido173. Abstendo-se questionar a legitimidade ou ilegitimidade da atuao da polcia, a autora trata de analisar aquilo que a polcia . Para ela, a polcia recobre o campo real da poltica. A polcia aquilo que se encontra sob a poltica. Portanto, abordar a poltica pela polcia comporta um duplo significado: tentar uma aproximao filosfica da polcia no que contm de poltica e perceber o lugar da polcia na poltica174.
Perceber o lugar da polcia na poltica o que Soares e seus narradores no deixam de fazer. As relaes so surpreendentes. O entrelaamento grande. de um lugar privilegiado de anlise que todos escrevem: os policiais participaram diretamente dessa relao, e Luiz Eduardo Soares enquanto Secretrio de Segurana Pblica de muitos governos, inclusive no Rio de Janeiro, local de atuao do BOPE testemunhou esses vnculos estreitos. Eis como um dos autores do livro percebe e sente esse entrelaamento entre polcia e poltica:
Luiz Eduardo Soares, Andr Batista e Rodrigo Pimentel. Elite da Tropa (RJ:Objetiva, 2006), p.26. Hlne LHeuillet. Alta Polcia Baixa Poltica uma viso sobre a Polcia e a relao com o poder (Portugal: Editorial Notcias, 2004), p.11.
173
172
65
Da mesma forma que o governador autoriza o secretrio de segurana a autorizar o comandante da PM, a autorizar o policial, quando lhe diz: Faa o que for necessrio para resolver o problema. O governador dorme o sono dos justos; o secretrio descansa em bero esplndido; o comandante repousa como um cristo; e o soldado, l na ponta, suja as mos de sangue. Se der merda, o bagulho estoura no elo mais fraco, claro. Quem paga o pato o soldado. Quem vai a juzo o soldado. Quem freqenta as listas de entidades de direitos humanos o soldado. O governador ambguo para descansar em paz; o secretrio sutil para preservar a conscincia; o comandante cultiva os eufemismos e opta pelo vocabulrio enviesado para proteger a honra e o emprego. Sobra para o soldado, que bota pra foder por dever de ofcio. curioso: a ambigidade s pode ser cultivada nos ambientes solenes do Palcio do Governo, onde a impostura e a violncia so adocicadas pela coreografia elegante da poltica175.
Coreografia elegante da baixa poltica, diria LHeuillet. Baixa poltica porque deve realizar as condies efetivas da poltica, ocupando-se do imprevisvel e do imprevisto a polcia um saber e uma inteligncia do Estado176. Saber e inteligncia do Estado que atualmente atesta a precariedade da poltica ou ainda a perda de sentido desta ltima, para retomarmos as reflexes de Hannah Arendt. Mas a polcia no simplesmente o que um regime poltico faz dela, independente do regime ela perigosa em potncia, mesmo no o sendo em atos. Se o ostensivamente em um regime autoritrio, no deixa de ser em um regime liberal. Desde que se separou do judicirio, a polcia aproximou-se do executivo, da poltica. Passou a exercer uma funo de mediao entre o executivo e a populao, um controle no de simples vigilncia; com o aperfeioamento das tcnicas passou a exercer um controle mediado pelo saber.
Fruto de uma exigncia soberana, e de uma sociedade disciplinar, a polcia no se confundiu com a disciplina, apesar de trabalhar para esta. Tanto que Foucault no a elegeu como mote privilegiado de estudo das disciplinas como o fez com as fbricas, as prises, os hospitais, etc. Assim podemos entender quando LHeuillet diz que a polcia testemunha, na verdade, o fracasso da empresa disciplinar: se os sujeitos esto bem amestrados, no de forma alguma necessrio reprimir as suas manifestaes intempestivas177. Testemunha o
174 175
Idem. Luiz Eduardo Soares, Andr Batista e Rodrigo Pimentel. Elite da Tropa (RJ:Objetiva, 2006), p.37. 176 Hlne LHeuillet. Alta Polcia Baixa Poltica uma viso sobre a Polcia e a relao com o poder (Portugal: Editorial Notcias, 2004), p.325. 177 Idem, p.232.
66
surgimento da biopoltica, e o cruzamento da sociedade disciplinar com a sociedade de controle. Gilles Deleuze, dando continuidade ao pensamento de Michel Foucault, escreveu, entre as dcadas de sessenta e setenta do sculo passado, que a sociedade disciplinar estava sendo permeada por uma sociedade de controle. A crise dos meios de confinamento das disciplinas atesta essa mudana o hospital, a escola, a famlia, a priso, etc. Na era da ciberntica, as formas de controle ao ar livre substituem o confinamento das disciplinas. A empresa substituiu a fbrica, a formao permanente tende a ocupar o espao da escola, o controle contnuo substituiu o exame. Nas sociedades178 de disciplina
no se parava de recomear (da escola caserna, da caserna fbrica), enquanto nas sociedades de controle nunca se termina nada, a empresa, a formao, o servio sendo os estados metaestveis e coexistentes de uma mesma modulao, como que de um deformador universal (...)As sociedades disciplinares tm dois plos: a assinatura que indica o indivduo, e o nmero de matrcula que indica sua posio numa massa. (...)Nas sociedades de controle, ao contrrio, o essencial no mais uma assinatura e nem um nmero, mas uma cifra: a cifra uma senha, ao passo que as sociedades disciplinares so reguladas por palavras de ordem (tanto do ponto de vista da integrao quanto da resistncia). A linguagem numrica do controle feita de cifras, que marcam o acesso informao, ou a rejeio. No se est mais diante do par massa-indivduo. Os indivduos tornaram-se dividuais, divisveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou bancos179.
Deleuze toma o dinheiro como melhor exemplo para pensarmos as diferenas entre a disciplina e o controle. Para a primeira, as moedas cunhadas em ouro foram adotadas como medida padro, e a figura metafrica de uma velha toupeira monetria. Nas sociedades de controle, temos as trocas flutuantes e as modulaes semelhana de uma serpente. A evoluo da tcnica marca uma mutao no capitalismo: se no sculo XIX o que contava era a concentrao, a produo e a propriedade, atualmente a produo foi relegada periferia do mundo, o que conta a venda de servios e a compra de aes. Os espaos fechados cederam lugar aos circuitos abertos, as conquistas de mercado se fazem por tomada de controle, onde o marketing o novo instrumento de controle social. Nesse cenrio, se o homem da disciplina era um produtor descontnuo de energia, o homem do
Deleuze lembra que a cada sociedade corresponderam certos tipos de mquinas. Nas sociedades soberanas, os homens manejavam mquinas simples: roldanas, relgios, alavancas, etc. Nas sociedades disciplinares, as mquinas energticas. Na sociedade de controle, as mquinas de informtica e os computadores. 179 Gilles Deleuze. Post-Scritum sobre as sociedades de controle, in: Conversaes (RJ: Editora 34, 2000).
178
67
controle antes ondulatrio, funcionando em rbita, num feixe contnuo180. Se o homem da disciplina era um homem confinado, o homem do controle , agora, o homem endividado. O que se manteve como constante no capitalismo foi a extrema misria de trs quartos da humanidade, pobres demais para a dvida, numerosos demais para o confinamento: o controle no s ter que enfrentar a dissipao das fronteiras, mas tambm a exploso dos guetos e favelas181.
Na exploso de guetos e favelas, o cenrio ideal da guerra urbana que assola o mundo contemporneo, notadamente nos pases que concentram a maior parte da misria de que fala Deleuze. Nesse contexto, o bipoder contemporneo j no faz viver ou morrer, mas faz sobreviver: cria e produz sobreviventes buscando realizar a total separao entre zo e bios, entre vida nua e vida protegida. Sobreviventes como o muulmano: o habitante do campo de concentrao que, submetido dor, ao horror e humilhao, tornara-se aptico, aparentemente desprovido de conscincia ou personalidade. Para Agamben, o muulmano deixara de fazer parte do mundo dos homens e mesmo daquele ameaado e precrio, dos habitantes do campo, que o esqueceram desde o incio. Mudo e absolutamente s, ele passou para um outro mundo, sem memria e sem comiserao182. No distinguindo entre a ordem de um oficial nazista e o frio, o muulmano se move em uma absoluta indistino de fato e direito, de vida e norma, de natureza e poltica183, deixando os prprios nazistas impotentes, j que aquela poderia ser uma forma inaudita de resistncia, diz Agamben. Forma inaudita de resistncia de uma vida anteriormente reduzida a zo, a vida nua. So casos de vida nua que abordaremos nos prximos captulos, em que a atuao da polcia, independente do regime poltico, no raro resulta em tortura e assassinatos.
Idem. Gilles Deleuze. Post-Scritum sobre as sociedades de controle, in: Conversaes (RJ: Editora 34, 2000). 182 Giorgio Agamben. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed.UFMG, 2004), p.191. 183 Op. cit., p.191.
181
180
68
69
3. Depois de um ano eu no vindo, ponha a roupa de domingo184
Ao interrogar a histria recente da violncia policial que atinge a vida nua de muitos brasileiros, estabeleo uma proximidade temporal com os acontecimentos que me faz pensar sobre a concepo de passado/presente e atualidade em histria. Acredito que a atualidade coloca as questes a partir das quais voltamos nosso olhar ao passado. J distante de uma concepo linear de histria, ou mesmo dialtica, sem a ambio de perseguir respostas ou de produzir um trabalho historiogrfico que nos situe no presente ou possibilite a reflexo acerca do futuro, tenho em mente problematizar a atualidade, como prope Foucault. Ou seja, estou pensando em uma histria do presente que seja capaz de distinguir as tnues linhas que separam o passado do presente e o presente da atualidade185. Sem a inteno de fazer uma genealogia de fantasmas, como diz Rago186, revelando o que de fato aconteceu, pretendo explorar a materialidade dos discursos, dos vestgios que possibilitam, atravs da singularidade da anlise, narrar a histria de vidas percebidas como homo sacer.
Este captulo se ocupa, prioritariamente, da vida nua de Manoel Raimundo Soares, sargento expulso do Exrcito Nacional com o golpe militar. Desde ento, Manoel Raimundo passou a viver clandestinamente, sendo preso e assassinado em Porto Alegre no ano de 1966. Transformado em homo sacer, foi assassinado pelos membros da represso poltica: seu corpo foi encontrado boiando com as mos amarradas no Rio Jacu.
Se o presente coloca as questes atravs das quais voltamos nosso olhar ao passado, esse presente manifestou-se na repercusso do Caso Savi. O caso Savi retomou publicamente a existncia de um rgo de represso chamado Dopinha e,
conseqentemente, o assassinato de Manoel Raimundo Soares. Assim, as primeiras pginas
Trecho da cano Acorda amor (Leonel Paiva e Julhinho da Adelaide heternimos de Chico Buarque). Gravao de Chico Buarque no LP Sinal Fechado (Philips/1974). 185 Margareth Rago. Libertar a Histria. In: Imagens de Foucault e Deleuze (RJ: DP&A, 2002), p.263. 186 Margareth Rago. Libertar a Histria. In: Imagens de Foucault e Deleuze (RJ: DP&A, 2002).
184
70
deste texto avanam no tempo, comeando com a repercusso do caso Savi para depois retomar a histria de Manoel, na poca de sua priso, em Porto Alegre.
3.1. O Caso Savi
Para Jean Baudrillard vivemos num momento anterior ao fim, que ele chama de momento paroxtono ou paroxismo. O significado em latim de paroxtono , literalmente, penltimo. Vivemos no penltimo momento. Ainda no o fim, mas um pouco antes do fim. Ou seja, antes que no exista mais nada a dizer. O homem desse tempo o paroxista indiferente. Como paroxistas, habitamos o reinado da simulao, j que o verdadeiro se dilui frente ao demasiado verdadeiro para ser verdadeiro... o falso absorvido pelo demasiado falso para ser falso187. Nessa indiferenciao de verdadeiro e falso, bem e mal, o que tem e o que no tem valor, armazenamos tudo. E depois, descartamos tudo. Catastrfico, Baudrillard chega a afirmar que no existe mais histria anterior informao e mdia. Com os meios de comunicao, com a comunicao em tempo real temos um excesso de histria, um excesso de acontecimentalidade. Excesso que se traduz na prpria morte da histria. Dissoluo da histria enquanto acontecimento em funo do excesso de visibilidade no cenrio miditico. Com a instantaneidade da informao no existe mais tempo para a prpria histria188. O excesso de visibilidade institudo pela mdia curto-circuitou a histria. Trata-se, para Baudrillard, de um recuo da histria que precisa ser encarado, at como forma de escaparmos dos seus efeitos.
Nesse excesso de visibilidade miditica dos acontecimentos, quando tudo passa a ser histria, temos a contrapartida da banalizao e do esquecimento. O que notcia hoje, amanh deixa de ser e, se os meios de comunicao no voltam a noticiar, cai no esquecimento. A prpria velocidade atual suplanta o acontecimento com inmeros outros que o seguem. Como paroxistas indiferentes, acompanhamos essa sucesso de acontecimentos.
187 188
Jean Baudrillard. O paroxista indiferente (RJ:Pazulin, 1999), p.10. Jean Baudrillard. O paroxista indiferente (RJ:Pazulin, 1999), p.18.
71
O Caso Savi provavelmente foi mais um acontecimento suplantado pela velocidade e por inmeros outros que se seguiram a ele, ocupando as pginas dos jornais e os noticirios televisivos. Como contrapartida a essa banalizao, Baudrillard acredita que a escrita entre outras coisas pode ter uma ao mais ofensiva, criando ou recriando o acontecimento num mundo em que o excesso de acontecimentalidade, paradoxalmente, destri o acontecimento. Nesse sentido, a escrita seria um ato irredutvel ao funcionamento geral189. E, se como diz Foucault, o saber no feito para compreender, feito para cortar190, enquanto saber, a retomada do Caso Savi teria aqui um efeito cortante, de encontro indiferena paroxstica. Para reagir ao curto-circuito da histria alertado por Baudrillard, buscarei me aproximar de uma histria efetiva, uma histria que lana seus olhares ao que est prximo: o corpo, o sistema nervoso, os alimentos e a digesto, as energias; ela perscruta as decadncias191, uma histria que, ao pesquisar outras pocas, no teme olhar embaixo e no nega que seu saber perspectivo.
3.2. Reconhecimento de tempo de servio
Em julho de 1980, o ento Delegado da Polcia Civil de Porto Alegre, Jos Luiz Carvalho Savi, encaminhou uma solicitao ao Conselho Superior de Polcia requerendo o reconhecimento do tempo de servio prestado Secretria de Segurana Pblica do Rio Grande do Sul (SSP/RS), entre os meses de novembro de 1964 e setembro de 1966. Sua funo nesse perodo: agente especial na busca e coleta de informaes, com salrio mensal advindo de verba secreta paga pela chefia do SCI (Servio Central de Informaes, vinculado a SSP/RS). Dada a natureza do trabalho secreto - nenhum comprovante de vnculo ficava com o delegado. Precisou ento recorrer aos seus colegas da poca para
Jean Baudrillard. O paroxista indiferente (RJ:Pazulin, 1999), p.44. Michel Foucault. Microfsica do Poder. (RJ:Graal, 2002), p. 28. 191 Michel Foucault. Microfsica do Poder. (RJ:Graal, 2002), p.29.
190
189
72
comprovar seu tempo de servio junto aos rgos de segurana. Assim, Savi anexou ao processo algumas declaraes com firmas reconhecidas em cartrio192. So elas:
Do supervisor da SCI/SSP/RS no ano de 1980, coronel tila Rohrsetzer; Do coronel R/1 do Exrcito, Luiz Carlos Menna Barreto, chefe do SCI/SSP/RS na poca em que Savi prestou servios ao rgo;
Do Tenente Coronel R/1 do Exrcito Alberto Azevedo Gusmo, na poca assessor do Secretrio de Segurana Pblica e chefe tambm do SCI/SSP. Gusmo, em sua declarao, especificou ainda o valor da remunerao mensal de Savi: CR$ 200,00 aproximadamente. Valor superior ao que recebia um delegado de polcia que estivesse comeando sua carreira;
Do delegado de polcia Moacir Menna Barreto Monclaro, chefe de Savi na poca, que confirmou tambm a remunerao;
Do delegado de polcia Lenidas da Silva Reis, que afirmou ter pessoalmente se incumbido do pagamento de Jos Luiz Carvalho Savi;
Tanto o coronel tila Rohrsetzer quanto o coronel Luiz Carlos Menna Barreto foram nomes conhecidos no comando da represso poltica nas dcadas de sessenta e setenta, no Rio Grande do Sul. tila Rohrsetzer foi citado publicamente como um dos coordenadores do chamado seqestro dos uruguaios (numa operao conjunta entre polcia e exrcito brasileiro e uruguaio, os cidados uruguaios Llian Celiberti e Universindo Dias foram seqestrados juntamente com seus filhos em Porto Alegre e conduzidos aos crceres do pas vizinho, l permanecendo por vrios anos), entre outras acusaes. Luiz Carlos Menna Barreto, entre outras denuncias que sofreu, foi responsabilizado publicamente pela morte do sargento Manoel Raimundo Soares, no caso mos amarradas. Tendo sido chefe da polcia, Lenidas da Silva Reis foi acusado publicamente por seu irmo e ex-colega, Altamiro da Silva Reis, por inmeros envolvimentos com a represso e corrupo policial. Todos eles so testemunhas dos bons servios prestados pelo Delegado de Polcia Savi, na poca da represso, quando o mesmo
Documentos disponveis no acervo do Movimento de Justia e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul (MJDH/RS).
192
73
no possua ainda vnculo com o servio pblico. O caso tornou-se pblico em 1987, com a divulgao de uma matria intitulada Delegado queria ver reconhecido todo o seu tempo como informante, pelo jornal Zero-Hora193, de Porto Alegre.
Analisando a cpia do processo movido pelo Delegado, so perceptveis as contradies nos documentos apresentados e firmados pelas testemunhas. Jos Luiz Carvalho Savi diz explicitamente no encaminhamento de 1980, que no possua outros documentos, alm das declaraes j citadas, de seu vnculo com a SCI/SSP/RS, j que por se tratar de documentos de natureza reservada, no ficava com cpias em seu poder, tendo sido, possivelmente, incinerados os registros quando da extino daquele rgo194. Neste trecho, temos, no mnimo, duas contradies. Primeiro, Savi fala em incinerao dos arquivos secretos, em 1980. Aparentemente estaria se referindo aos arquivos da SCI ou do DOPS. Entretanto, os arquivos do DOPS/RS foram incinerados em 27 de maio de 1982, e o prprio DOPS extinto em 1987. Portanto, Savi faz referncia a outro rgo de represso. Segundo, Savi e suas testemunhas - tila Rohrsetzer, Menna Barreto, Lenidas da Silva Reis - fazem referncia ao trabalho de informante junto a SCI, entre os anos de 1964 a 1966. Aqui temos a segunda contradio: a SCI (Servio Central de Informaes) s foi institucionalizada no ano de 1967, no existindo no perodo aludido pelo delegado e suas testemunhas. Nesse sentido, no sendo o DOPS o rgo a que Savi se referia e no existindo ainda a SCI, tudo leva a crer que o delegado foi informante da Dopinha.
A Dopinha foi um rgo clandestino de contra-informao, precursora da SCI e do DOI/CODI. Funcionou em um casaro da Rua Santo Antnio, no Bairro Bom Fim, em Porto Alegre, como um verdadeiro campo de exceo no qual a ao soberana de seus coordenadores decidia a vida e a morte dos prisioneiros que por l passaram. A existncia dessa estrutura paralela aos prprios rgos de represso tornou-se pblica em 1966 quando do assassinato do sargento do Exrcito Manuel Raimundo Soares. No assassinato de Manoel Raimundo estiveram envolvidos agentes da Dopinha, segundo a CPI da
Jornal Zero-Hora, 28/05/1987, p.52. Requerimento n.31.391/80 encaminhado ao Conselho Superior de Polcia, pelo delegado Jos Luiz Carvalho Savi requerendo reconhecimento de tempo de servio. Acervo do MJDH/RS.
194
193
74
Assemblia Legislativa do Estado que investigou o caso. A Dopinha era dirigida pelo ento Major do Exrcito Luis Carlos Menna Barreto. Alm de Menna Barreto, a Dopinha contava com os servios dos coronis tila Rohrsetzer e Alberto Azevedo Gusmo, e dos delegados da polcia civil Moacir Menna Barreto Monclavo e Lenidas da Silva Reis. Sob o comando de Menna Barreto estavam militares, funcionrios do DOPS e alguns civis. As datas do tempo de servio de Savi se encaixam perfeitamente ao tempo de existncia da Dopinha o rgo foi extinto em 1966 devido ao envolvimento do coronel Luiz Carlos Menna Barreto no assassinato de Manoel Raimundo Soares. A ligao da maior parte das testemunhas de Savi Dopinha, um indcio importante de confirmao da hiptese.
3.3. Indicao ao Conselho de Polcia
O Caso Savi voltou a ter repercusso na imprensa no ano de 2000, quando Jos Luiz Carvalho Savi recebeu indicao para exercer a funo de Vice-Presidente do Conselho Superior de Polcia Civil, rgo de controle tico-disciplinar da Polcia Civil gacha. Entidades como o Movimento de Justia e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul (MJDH/RS) e o Movimento dos Ex-Presos e Perseguidos Polticos do Estado do Rio Grande do Sul (MEPPP/RS) protestaram publicamente contra a indicao de um delegado notoriamente ligado ao aparato de represso por um governo de esquerda o governador na poca era Olvio Dutra, representante do Partido dos Trabalhadores (PT). O governo do Estado, atravs do ento Secretrio de Segurana, Jos Paulo Bisol, optou por manter Savi no cargo. Travou-se um duelo de acusaes e justificativas. Jos Lus Carvalho Savi chegou a processar o presidente do MJDH/RS, Jair Krischke, bem como as empresas de comunicaes que divulgaram matrias envolvendo o caso na poca (Jornal do Brasil, Zero-Hora e Revista Isto ).
O ento Secretrio de Segurana do Estado, Jos Paulo Bisol, justificou publicamente a manuteno de Savi no cargo, utilizando-se de argumentos da psicologia, da sociologia e mesmo da filosofia, no intuito de driblar a crise estabelecida e explorada pela imprensa, que acusava o governo do estado de contra-senso ideolgico, j que alm de
75
todo o histrico partidrio de compromisso com os movimentos de direitos humanos, o governo divulgava amplamente a abertura dos arquivos da Brigada Militar. Em documento veiculado na poca, Bisol afirmava que:
(...) no se trata(va) de confiana no sentido ideolgico, nem de confiana no sentido psicolgico. (...) Assim, a confiana depositada pelo Governo em Jos Luis Carvalho Savi decorre exclusivamente de sua estabilidade comportamental e profissional como Delegado de Polcia e da qualidade de sua exigente postura como membro do Conselho Superior de Polcia Civil. No h aqui compromisso de natureza ideolgica, filosfica ou afetiva; h, isto sim, compromisso de rigor, iseno e transcendncia no exerccio da funo. Aqui s se trata de confiana poltica no sentido de que a nomeao reconhece no nomeado as qualidades e habilidades necessrias ao bom desempenho da funo de conselheiro. Entendemos que no seria moralmente justo reificar um profissional tanto quanto se sabe irrepreensvel e competente em um equvoco atitudinal do passado. Supondo que Savi, aos 21 anos de idade, durante menos de dois anos manteve a predisposio para cooperar com os desgnios de uma ditadura ento incipiente, isso no significa que tal predisposio seja constitutiva de sua identidade pessoal (...) a liberdade deve ser concebida como uma faculdade de no ser encerrado a priori no sentido do que se fez, pensou ou viveu no passado, o que no afasta a idia do direito social de punir, mas consagra o direito humano de se redimir195 (...)
A declarao do secretrio, eloqente em argumentos verbais, chocou-se frontalmente com as concepes que norteiam aqueles que lutam pela abertura dos arquivos da represso e pela punio dos torturadores. Sem entrar no mrito da questo de contradio ideolgica do governo e seus representantes com a deciso de manter Savi no Conselho Superior de Polcia Civil, vou me deter um pouco no discurso do secretrio. Do trecho que recortei, num primeiro momento, Bisol compartimenta os sentidos de confiana, dando a idia de que os sentidos podem ser estanques: confiana ideolgica, confiana psicolgica, confiana poltica. Num segundo momento, justifica sua deciso pragmaticamente: apenas considerando a estabilidade comportamental e profissional do Delegado Savi. Ora, mas o que necessariamente quer dizer estabilidade comportamental e profissional? Num terceiro momento, Bisol diz que no se pode punir o delegado por um equvoco atitudinal do passado. Aqui o secretrio redime Savi das acusaes que pesam sobre ele, afinal tinha ento apenas 21 anos de idade e se predisps a cooperar com a
Declarao do Secretrio de Segurana divulgada em 18/02/2000, decidindo pela manuteno do delegado Savi no cargo. Acervo do MJDH/RS.
195
76
ditadura por menos de dois anos, tempo que, segundo o secretrio, no se pode afirmar que tenha contribudo para afirmar sua identidade.
Levando em considerao os documentos produzidos na poca e o julgamento do caso, fica claro que no estamos falando necessariamente de um torturador, mas sim de uma pessoa que colaborou com os rgos de represso. Colaborao que, segundo o delegado Savi, se deu apenas na qualidade de informante, estando entre suas atribuies rdio-escuta de noticirios das emissoras locais e recorte de jornais para o Secretrio de Segurana196.
Essa ltima informao do delegado esbarrou publicamente em declaraes de um ex-colega seu da Polcia Civil, que atuou no DOPS/RS e ficou conhecido por suas atividades na represso poltica: Jos Rillo. Atualmente delegado federal e Coordenador Regional Policial do DPF (Departamento de Polcia Federal), Jos Rillo no nega seu passado de agente da represso, dizendo-se, em matria publicada pelo Jornal do Brasil (14/01/2000), um anticomunista convicto. Considerando estranhas as atividades que Savi diz ter exercido, Rillo afirmou ao jornalista Jos Mitchell que:
O trabalho de rdio-escuta e recorte de jornais era sempre feito pelos prprios policiais no SCI. No havia necessidade de contratar gente de fora para fazer isso, j que, como se divulgou, o Savi no era policial ainda, mas apenas agente especial. No nosso setor s havia policiais e informantes. Acho que o Savi foi informante e provavelmente recebia por essas informaes197.
Como podemos perceber, os argumentos de Savi no puderam se manter. As contradies explcitas nos documentos apresentados pelo delegado, e at mesmo o depoimento de seu ex-colega Jos Rillo, colocaram em dvida suas declaraes.
O caso Savi teve seu eplogo com a manuteno do delegado no cargo de VicePresidente do Conselho Superior de Polcia Civil, e o conseqente esquecimento de seu equvoco atitudinal do passado como disse o secretrio de segurana na poca. O
196 197
Idem. Jornal do Brasil, 14/01/2000.
77
reconhecimento do tempo de servio prestado pelo policial aos rgos de represso entre os anos de 1964 a 1966 - ou melhor, tempo de servio prestado a Dopinha, como levam a crer as declaraes do delegado e de suas testemunhas no foi aceito.
3.4. Movimento de Justia e Direitos Humanos
Para Tereza Caldeira,198 aps a ditadura militar, e mesmo um pouco antes, j no incio dos anos 80, a violncia policial no Brasil se fez acompanhar de uma ampla oposio aos defensores dos direitos humanos. Aliada a essa oposio, a autora fala tambm da campanha pela incluso da pena de morte na constituio federal. Como pano de fundo, essas questes trariam os novos modos de segregao, o aumento das tendncias de fortificao e segurana privada urbana e, principalmente, a falta de limites para a interveno no corpo do criminoso. Explorarei este ltimo e importante aspecto levantado pela antroploga no captulo dedicado ao caso de Doge adolescente fotografado sob tortura na dcada de 80, nas dependncias do Palcio da Polcia de Porto Alegre. Por ora, vou me deter na ampla oposio aos defensores dos direitos humanos, a partir da democratizao do Estado.
O Caso Savi nos remete diretamente a esse desrespeito ou no-reconhecimento da legitimidade dos movimentos de direitos humanos no Brasil. A violao dos chamados direitos humanos no novidade em nenhum pas, entretanto, o que chama ateno aqui, a especificidade de uma viso que conceitua esses direitos como privilgios de bandidos. A oposio a uma poltica de direitos humanos, a concepo desta como negativa, apontado por Caldeira como algo nico. Algo nico que revela o autoritarismo da sociedade brasileira.
Os movimentos de direitos humanos, atuantes na dcada de setenta, estiveram empenhados na luta pela anistia dos perseguidos polticos pelo regime militar. Parcelas da
198
Cidade de muros: crime, segregao e cidadania em So Paulo (SP: Ed.34/Edusp, 2000), p.343.
78
sociedade se organizaram para apoiar esses movimentos atravs da Ordem dos Advogados do Brasil, do Movimento Feminino pela Anistia, do Comit Brasileiro pela Anistia, entre outros lutando pelo reconhecimento dos direitos civis e polticos daqueles que foram vtimas da ditadura. Esses movimentos teoricamente fortaleceram a concepo de direitos humanos. Entretanto, a luta era em prol das vtimas perseguidas, torturadas e assassinadas que pertenciam aos setores mdios da sociedade, ou ainda, aqueles que mesmo no pertencendo a esses setores lutaram em conjunto com eles contra a ditadura civilmilitar. Esse importante fator contribui para entendermos o porqu, quando na dcada de oitenta os movimentos de direitos humanos se voltam para defesa de presos comuns, na luta contra a violncia e a tortura perpetradas contra os setores mais pobres da populao a vida nua estigmatizada desde o nascimento , eles passam a ser duramente criticados. Criticados, inclusive, pelos setores mais pobres da populao, acostumados com a linguagem violenta do Estado e da polcia.
O processo movido pelo delegado Savi retoma essa postura. Julgando-se vtima de dano moral, Savi processou o presidente do Movimento de Justia e Direitos Humanos do RS (MJDH/RS), Jair Krischke, pela divulgao do processo que o prprio delegado moveu pela averbao de seu tempo de servio como informante da represso. Em meio efervescncia do caso, e enquanto o Secretrio de Segurana redimia o Delegado Savi por seu equvoco atitudinal, o presidente do MJDH/RS foi acusado, tendo que defender-se judicialmente. Segue trecho da defesa de Jair Krischke:
A causa uma ordinria de dano moral em que o Apelante, como policial - aps ter requerido em 22 Jul 1980 ao egrgio Conselho Superior de Polcia gacho a averbao do tempo de servio, como se pblico fosse, que prestara a um rgo informal da represso poltica da ditadura militar, entre 1964 e 1966, a chamada Dopinha, valendo-se de declaraes de notrios torturadores, em que alegou ter sido agente especial (sic), na atividade de busca e coleta de informaes (id.), afirmando se tratar de servios de natureza reservada - se d agora por ofendido ao ter tal antecedente lembrado, quando nomeado para alta funo de confiana naquele mesmo Conselho Superior, mas pelo governo democrtico e popular liderado pelo Sr. Olvio Dutra, que alegadamente repudia aquele perodo, seus atos e integrantes, motivo de ser exigida a sua exonerao pelo Apelado, fato divulgado pelos co-apelados. A inicial registra essa crtica do Recorrido, na qualidade de presidente do Movimento de Justia e Direitos Humanos MJDH - organizao no governamental trintenria, que se notabilizou no combate s violaes das
79
ditaduras, no Brasil e fora dele - reproduzindo declarao sua, segundo a qual, a permanncia do delegado Savi na presidncia do Conselho Superior de Polcia um deboche contra todas as vtimas da represso poltica, pois, espio no profisso e ele trabalhou naquele sistema pobre de espionagem e perseguio poltica das pessoas (fls. 4/5), assinalando que insuportvel que um governo como o do PT, autoproclamado democrtico, tenha como chefe de qualquer coisa um ex-espio e ex-agente da represso poltica, como o delegado Savi (fl. 6), divulgada pelo Jornal do Brasil, em sua edio de 11 Jan 2001. Contraditoriamente, o Recorrente admite, j desde a inicial, que para caracterizar a sua informalidade (do servio que prestava Dopinha), os que l trabalhavam se denominavam de agentes secretos (sic fl. 14)199.
Alm da crtica ao governo estadual, em sua defesa, o presidente do MJDH/RS lembra que se tratava de um caso no qual o prprio requerente o delegado Savi apresentou provas de ter trabalhado para um rgo de represso, requerendo a comprovao desse tempo de servio, que em funo de sua ilegalidade deixou poucos vestgios da sua existncia. Ou seja, sequer foram os movimentos de direitos humanos que buscaram essas informaes para contestarem a indicao. O prprio delegado as forneceu. E, ainda assim, constrangeu-se com o simples desempenhar do papel poltico e social do MJDH/RS. Obviamente, considerando o meio de trabalho de Savi, entendemos sua postura. Entretanto, numa sociedade em que os movimentos de direitos humanos so reconhecidos, tal fato dificilmente ocorreria. O contrrio pode ser comum numa sociedade que convive e respalda a vida nua da maioria de seus integrantes. No podemos esquecer, tambm, que para alm de reconhecimento ou legitimidade de uma poltica de direitos humanos, temos na origem das declaraes de direito e do hbeas corpus a concepo de humanidade, corpo e populao atrelada biopoltica.
3.5. Dopinha: campo de ao soberana dos lderes da represso
Um casaro grande e bonito, com uma baita garagem que ficava na Rua Santo Antnio, do Bairro Bom Fim em Porto Alegre: assim que Cludio Gutierres200 descreve o lugar onde funcionou a Dopinha. Depois de abrigar o rgo clandestino, o casaro abrigou
199
Ao Ordinria Moral n. 103.794.955, Oitava Vara Cvel Central, Primeiro Juizado de Porto Alegre. Acervo do MJDH/RS.
80
ainda uma delegacia do MEC (Ministrio da Educao e Cultura) e, atualmente, abriga um centro de Rastreagem Neonatal. Num livro recentemente lanado, o jornalista Jos Mitchel, correspondente do Jornal do Brasil em Porto Alegre durante a ditadura, situa a Dopinha como o primeiro rgo secreto da represso poltica surgido no pas. Segundo Mitchel, era l que militares revolucionrios se reuniam nos fins das tardes, para saber, via rdio, das principais informaes de Braslia201.
Apesar de ser conhecida pelos militantes que por l passaram na poca, a existncia da Dopinha somente tornou-se pblica quando seus integrantes foram citados no assassinato de Manoel Raimundo Soares. Com a repercusso do crime, a Dopinha foi citada no Relatrio do Promotor indicado pra investigar o caso, no discurso de um deputado no Congresso Nacional e na CPI da Assemblia Legislativa que investigou crimes e abusos envolvendo policiais e militares, em Porto Alegre. Isso fez com que seus dirigentes fechassem o rgo de represso clandestino, afinal, na poca, teoricamente, os agentes da represso no tinham carta branca para agir. Os dois primeiros anos da ditadura foram anos de represso e de cassaes, contudo, ainda existia, mesmo que restrito um espao de crtica os anos tidos como mais difceis, em termos de fechamento do regime, perda total de respaldo legal com Atos Institucionais como o AI-5 e o AI-14, ainda estavam por vir. Assim, foi possvel a designao de um promotor de justia para investigar o caso mos amarradas, e a abertura de uma CPI para investigar as denncias de tortura no DOPS.
O relatrio do Promotor de Justia Paulo Cludio Tovo, elaborado no mesmo ano do assassinato de Manoel Raimundo, ligou o crime ao chefe da Dopinha:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 34 (...) Quem seriam os executores de um crime to hediondo?
Entrevista realizada pela autora em 30/08/2004. Jos Mitchell. Segredos direita e esquerda na ditadura militar (Porto Alegre: RBS Publicaes, 2007), p.21.
201
200
81
A Delegacia de Segurana Pessoal, no obstante ingentes esforos, no conseguiu apurar. Todavia, indcios de co-autoria, j examinados, apontam como suspeitos o Major LUIZ CARLOS MENNA BARRETO (chefe do todo-poderoso DOPS e DOPINHA) e JOS MORSCH. Eis que, no caso em foco, o simples assentimento nas torturas, por parte da autoridade superior, j constituiu uma forma de concorrer para o homicdio eventualmente doloso. A modalidade de tortura j referida banho ou caldo contm em si o risco de matar. E no se pode imaginar sequer que agentes do DOPS ou DOPINHA torturassem o sargento MANOEL revelia de seu chefe todo-poderoso, Maj. LUIZ CARLOS MENNA BARRETO. No pelo fato em si de ser o chefe, mas de ser o chefe que realmente . Com efeito, quando o Maj. LUIZ CARLOS MENNA BARRETO pisa no portal do edifcio do DCP h um dessossgo que se propaga num vai-vem de corisco, expresso na frase: o MENNA BARRETO est a... Ele chegou... Sua liderana terrfica um fato inconteste.(...)202
O que chama a ateno, nesse trecho do relatrio o fato de um militar ter tanto poder sobre o DOPS e conseqentemente sobre a prpria polcia civil, a ponto de coordenar um rgo paralelo de represso como a DOPINHA. Fato curioso na histria dos organismos de represso no Rio Grande do Sul, que explicado por outro membro do exrcito: o Coronel Brilhante Ustra. No livro Rompendo o silncio, Ustra, que foi comandante do DOI/CODI/II Exrcito, escreve sua verso do rduo combate ao terrorismo empreendido por ele e outros valorosos companheiros. Acusado de participar diretamente das sesses de tortura, pela ento deputada federal Bete Mendes, que em 1985 o reconheceu em uma recepo oficial no Uruguai (pas onde Ustra exercia a funo de Adido do Exrcito junto Embaixada Brasileira), o coronel resolveu defender-se publicando sua verso do que chamou de guerra suja ao terrorismo.
O relato de Brilhante Ustra muito interessante: j de incio confirma a existncia da pena de morte no perodo, defendendo-a veementemente (oficializada, como sabemos, pelo Ato Institucional de nmero 14). Quanto ao Rio Grande do Sul, acentua a colaborao e mesmo subordinao dos rgos de represso ao Exrcito. A prova maior que o DOI/CODI s foi criado no Estado, em 1974. Em Porto Alegre, foi criada em 1969 a DCI (Diviso Central de Informaes), que correspondeu criao da OBAN (Operao
202
Relatrio Tovo, apresentado pelo promotor em 31/01/1967. Acervo da luta contra a ditadura do RS.
82
Bandeirante) em outros estados. A DCI foi depois chamada de SCI (Servio Central de Informaes). Ao lembrar que o primeiro diretor da DCI fora o Major Atila Rohrsetzer, seu amigo e companheiro de turma, Ustra afirma que:
O trabalho no Rio Grande do Sul foi facilitado por uma grande harmonia entre o III Exrcito, os Secretrios de Segurana, o Diretor da DCI e o Diretor do DOPS. Tudo o que se passava chegava, imediatamente, ao conhecimento do III Exrcito. No setor de Operaes, o Delegado Pedro Carlos Seelig, responsvel pelas prises e pelos interrogatrios, chefiava uma equipe que trabalhava com grande eficincia, sempre em consonncia com as Diretrizes do III Exrcito. Portanto, embora a DCI e o DOPS fossem, oficialmente, subordinados ao Secretrio de Segurana, na prtica eles o eram ao Comandante Militar da rea. Foi assim, baseado nesta estrutura da Secretaria de Segurana Pblica, uma estrutura alicerada no trabalho eficiente da equipe da DCI, tendo testa o ento major Atila, e da atuao do Delegado Seelig e de sua equipe, que o III Exrcito combateu, com pleno xito, o terrorismo no Rio Grande do Sul203.
O coronel Brilhante Ustra ajuda-nos a compreender o funcionamento inicial dos aparelhos de represso e sua subordinao ao Exrcito no Rio Grande do Sul. Exrcito que, no tocante represso poltica, era representado prioritariamente pelos coronis tila Rohrsetzer e Menna Barreto.
No depoimento do delegado Domingos (funcionrio do DOPS/RS) CPI que investigou o assassinato de Manoel Raimundo no ano de 1966, encontramos mais uma referncia submisso do DOPS ao Exrcito:
O DOPS estava diretamente subordinado a um militar, que fazia a ligao DOPS - III Exrcito. Desse fato do conhecimento vrias testemunhas: a fls. 18, o delegado Domingos, quando da visita dos deputados componentes da CPI, justificou o fato de no permitir a visita pretendida sob a alegao de que o DOPS estava ligado diretamente ao Exrcito. 'Tda a atuao aqui executada em consonncia com o mesmo (o Exrcito) portanto as execues aqui tomadas so imediatamente comunicadas. Isto feito atravs da pessoa do major Mena Barreto. Realmente, tenho instrues, para enfrentar as portas do DOPS, mas mediante um prvio entendimento com o major Mena Barreto'204.
203 204
Carlos Alberto Brilhante Ustra. Rompendo o silncio (Braslia: Editerra, 1987), p. 128-129. Apelao Cvel n 2001.04.01.085202-9/RS. Acervo da luta contra a ditadura do RS.
83
A subordinao da polcia civil gacha ao Exrcito tambm foi confirmada por militantes da poca e membros do MJDH/RS. Segundo Krischke205, a polcia atravs do DOPS servia aos militares de uma forma magnfica, era como que um prolongamento do Exrcito (...) um co fiel da ditadura. Nesse sentido, Cludio Gtierres206, ao lembrar o papel preponderante que a polcia civil teve na represso, tambm afirma que em Porto Alegre ela esteve coordenada e subordinada aos comandos do Exrcito. Com base nessa relao podemos entender o funcionamento de um rgo como a Dopinha, que reuniu militares, policiais civis e informantes desvinculados do servio pblico. Todos sob o comando de um militar.
Podemos agora retomar ao Relatrio Tovo compreendendo a afirmao do promotor de que todos na poca conheciam a liderana do ento Major Luiz Carlos Menna Barreto. Tanto que o delegado do DOPS, Jos Morsch, citado anteriormente, aparece depois no prprio relatrio como um dos funcionrios que, naquele caso, poderiam, inclusive, desconhecer os propsitos de Menna Barreto:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO -35(...) No que concerne a JOS MORSCH corre por detrs dos bastidores que nem le nem outro qualquer funcionrio do DOPS tenha concorrido de qualquer forma para o homicdio, que seria obra exclusiva da DOPINHA do Major MENNA BARRETO e que le, MORSCH, apenas soube de tudo que aconteceu com a vtima, logo aps sua morte. Mas, se assim , o sr. JOS MORSCH est ocultando e protegendo os verdadeiros criminosos, com suas falsas declaraes207.
Citado numa lista de torturadores gachos, publicada pelo Jornal Adiante (publicao do setor jovem do MDB), e pelo jornal Em Tempo (nmero 54), Jos Morsch, delegado do DOPS/RS em 1966, no parece ser exatamente alheio s prticas de interrogatrio empregadas pelo DOPS. Testemunhas afirmaram que, enquanto Manoel
Entrevista concedida autora em 07/12/2004. Entrevista concedida autora em 30/08/2004. 207 Relatrio Tovo, 31/01/1967. Acervo da luta contra a ditadura do RS.
206
205
84
Raimundo esteve preso no DOPS, Jos Morsch foi um de seus carrascos. Entretanto, aps a transferncia do sargento para o presdio, Morsch, ao que tudo indica, perdeu o contato com o preso. A possibilidade de o delegado do DOPS desconhecer o destino exato de Manoel Raimundo, denota a grande influncia e poder de um militar sobre os rgos de represso, em Porto Alegre. Alm de referendar a tese do promotor Cludio Tovo de que o crime teria sido levado a termo pelos agentes da Dopinha, rgo que dispensava apresentaes:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO -35No necessrio que eu diga a V. Exa., Senhor Procurador, o que Dopinha...208
Segundo o deputado Jacques dOrnellas, em discurso pronunciado na Cmara dos Deputados,
a Dopinha era um peloto especial empregado pelo Major Menna Barreto em tarefas em que ele tinha interesse pessoal. Compunham-na celerados que prendiam, torturavam e at matavam [...] sem dar satisfao a qualquer autoridade, a no ser o prprio Menna Barreto209.
Aqueles que prestavam servios Dopinha atuavam em tarefas que o Major Menna Barreto tinha interesse particular ou pessoal, continua o deputado Jacques dOrnellas.
Apesar de os responsveis pelo DOPS, na poca, e o prprio Menna Barreto negarem qualquer envolvimento e negarem mesmo a priso de Manoel Raimundo, os ofcios de ordem de priso e transferncia do sargento para a Ilha Presdio, assinados por Menna Barreto e encontrados pelo promotor Cludio Tovo, desmentem os protagonistas:
O major Mena Barreto era o homem ligao III Exrcito - DOPS e foi o major que determinou a transferncia do sargento para a ilha. crvel que o referido
Relatrio Tovo, 31/01/1967. BRASIL. Cmara dos Deputados. Centro de Documentao e Informao. Tortura e morte do Sargento Manoel Raimundo Soares: discurso pronunciado na sesso de 28 de maio de 1984, pelo deputado Jacques DOrnellas. Braslia: Coordenao de publicaes, 1984. Acervo da Luta contra a Ditadura. p.39
209
208
85
oficial do Exrcito desconhecesse o que se passava no DOPS e que no soubesse do estado fsico do inditoso sargento, quando o transferiu para o presdio da ilha? Entender-se afirmativamente investir contra a razo e o bom senso. Foi o major Luiz Carlos Mena Barreto que determinou que o sargento fosse mantido preso no DOPS, atravs do ofcio n 0/1108 (fls. 20) de 26.9.1966, determinando sua manuteno at posteriores decises e foi ainda o mesmo major que determinou, atravs de ofcio 'fosse libertado o ex-sargento Manoel Raymundo Soares', Of. 01105, de 23.9.1966210.
A despeito das presses sofridas, o promotor concluiu seu relatrio apontando como principal responsvel pelo assassinato de Manoel Raimundo, o chefe da Dopinha, ento Major Menna Barreto. Um dado que chama a ateno o fato de que, apesar de negarem envolvimento na morte de Manoel Raimundo, em nenhum momento os policiais e os militares envolvidos negaram a existncia da Dopinha. O que consta que, aps a publicidade acerca do assassinato de Manoel Raimundo, o casaro da Santo Antnio deixou de abrigar a estrutura paralela de represso.
3.6. O casaro
Uma preocupao que me acompanhou desde que tomei conhecimento da existncia de uma estrutura como a Dopinha, foi a de conversar com algum que houvesse conhecido ou ficado detido no local e tambm a de localizar na Rua Santo Antnio, o casaro. Ou seja, alm da materialidade discursiva, explorar a materialidade do edifcio de acordo com a idia de dispositivo de Foucault211.
Jair Krischke coordenador do MJDH/RS conhecia duas pessoas que haviam sido presas na famigerada Dopinha. Contatei a primeira pessoa que j me havia sido citada por um outro entrevistado mas ele no quis contar o que viveu. A segunda pessoa que havia
Apelao Cvel n 2001.04.01.085202-9/RS. Acervo do MJDH/RS. Michel Foucault, em Microfisca do poder (RJ:Graal, 2002, p.244) diz que o dispositivo um discurso heterogneo que engloba discursos, instituies, organizaes arquitetnicas, decises regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados cientficos, proposies filosficas, morais, filantrpicas. Sendo que analisar a natureza e a relao entre esses elementos tambm faz parte do dispositivo. Pode-se conceber ainda o dispositivo como um tipo de formao que, em determinado momento histrico, teve como funo principal responder a uma urgncia, assumindo uma funo estratgica dominante.
211
210
86
passado pela Dopinha no residia mais em Porto Alegre. Mesmo assim, Carlos Heitor prontamente se disps a conversar. Aproveitando uma de suas vindas cidade, marcamos a primeira entrevista, realizada numa tarde fria e chuvosa de agosto. Encontramos-nos na Rua Santo Antnio e, antes de nos acomodarmos para a entrevista, fomos conhecer o local onde funcionou a Dopinha. O casaro continua l: grande e imponente, pintado de amarelo, abriga hoje um Centro de Rastreamento Neonatal. Localiza-se na Rua Santo Antnio, nmero 600, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre:
Acomodamos-nos para conversar numa padaria prxima ao casaro. Nessa primeira entrevista, estiveram presentes Jair Krischke e Srgio Luiz Bittencourt, ambos coordenadores do MJDH/RS e conhecidos de Carlos Heitor. Pedi, ento, a Carlos Heitor que me contasse como foi parar no casaro. Ele conta que, revoltado com a situao poltica e o golpe militar, resolveu confeccionar um chamamento aos jovens oficiais do Exrcito, que distribuiu em todos os quartis de Porto Alegre. Passou uma noite jogando o texto nas portas dos quartis. Utilizou, nessa empreitada, um automvel de seu pai,
87
entretanto, no pensou em esconder a placa. Assim, logo foi identificado. Dois dias depois foi preso em sua casa e conduzido Dopinha. No reconheceu os policiais que o prenderam: eram jovens e pareciam pertencer Polcia Federal, diz Carlos Heitor.
Um porto grande no lado esquerdo do casaro, entrada de carros: por ali Carlos foi conduzido aos fundos do local, onde permaneceu enquanto esteve detido:
No conheceu o resto da casa, permaneceu apenas na parte de baixo. Diz que as paredes eram pintadas de sangue. Que ouvia gritos desesperados de dor e sofrimento. Acredita que esses gritos provinham de gravaes de pessoas que tinham sido torturadas. Um ambiente aterrorizante, recorda Carlos Heitor. No foi torturado. Depois de dois dias, foi descoberto no local. Acredita que uma amiga, casada com um delegado de polcia, intercedeu por ele, e assim foi liberado. Entretanto, antes de sua liberao foi conduzido ao DOPS.
Carlos Heitor era muito conhecido na cidade. At hoje lembrado como o criador da noite porto-alegrense. Inaugurou inmeras boates Bayuca, Crazy, entre outras freqentadas pela alta sociedade de Porto Alegre. Na poca, enquanto jornalista, era
88
tambm assessor do ento governador do Estado. Mesmo sendo uma figura de destaque foi preso e conduzido Dopinha. Em seu relato, Carlos preferiu omitir os nomes dos comandantes da Dopinha. Diz, porm, que depois do episdio de sua priso, em outra oportunidade, quando criou um pequeno jornal de protesto e contracultura, voltou a ser ameaado. Dessa vez foi ameaado pessoalmente por um dos lderes da Dopinha. Fala em trs coronis do Exrcito: trs terrveis...eles pintaram e bordaram... diz que eles eram fanticos, bandidos, raivosos, costumavam dizer que tinham que matar todos212.
Lembra do que diziam os vizinhos do casaro na poca: falavam de muita gente morta saindo dali... descreviam horrores213. Infelizmente, a maioria dessas pessoas no mora mais na rua. Muitas morreram e outras mudaram. Atualmente, o casaro encontra-se cercado por inmeros prdios. interessante explicar que Porto Alegre, apesar de ser a capital e a maior cidade do estado, tem uma caracterstica que muitos denominam de provincianismo. Um dos motivos para essa classificao o de que a maioria das pessoas do meio cultural, poltico e universitrio, se conhece. E no bairro Bom Fim, um bairro relativamente pequeno, prximo ao Parque da Redeno, residiam muitas dessas pessoas.
O relato de Carlos Heitor, alm de ter-nos fornecido a visibilidade material do antigo centro de torturas, corrobora com os relatos que sinalizam para a ampla liberdade de ao e represso que tinham os militares do Rio Grande do Sul. Se a represso no pas era mais tmida ou envergonhada nos primeiros anos da ditadura, anteriores ao AI-5, no Rio Grande do Sul ela foi intensa. As fronteiras, a localizao privilegiada entre os pases do cone-sul, a histria de resistncia na poca da campanha pela legalidade, o brizolismo, tudo levou os militares a intensificarem a represso no estado. Se os responsveis pela morte do sargento foram processados, foi porque os poderes judicirio e legislativo ainda tinham certa liberdade de ao. Contudo, apesar de acusados formalmente, os responsveis pela morte do sargento e por outros processos de tortura, nunca foram punidos por seus atos. Inversamente, como se tornou comum, receberam promoes e ttulos pelos bons servios prestados ditadura.
212 213
Entrevista com Carlos Heitor, realizada em 16/08/2006. Entrevista com Carlos Heitor, realizada em 16/08/2006.
89
3.7. Manoel Raimundo: de sargento do Exrcito Nacional a homo sacer
Numa figura enigmtica do direito romano arcaico, Giorgio Agamben214 buscou o conceito de homo sacer - pessoa que foi posta para fora da jurisdio humana sem, entretanto, passar para a esfera divina. Algum que foi privado dos direitos mais bsicos, compondo uma sobra. Sobra humana ou, ainda, um alimento simblico para a manuteno de uma estrutura de poder. A vida nua do homo sacer sacrificada na estrutura biopoltica contempornea. O homo sacer a pessoa que no faz parte da vida a ser preservada, mas sim da vida descartvel, da vida nua. Compe a estrutura de exceo contempornea. Sacer remete a vida sacra. Sacra a vida capturada no bando soberano, a vida sujeita, originalmente, ao poder de morte do soberano. Portanto, quando usamos uma retrica que defende a sacralidade da vida, falamos de uma vida submetida a um poder de morte. Vida matvel e insacrificvel. Agamben retoma essa idia, mostrando, na atualidade, a vida nua do homo sacer submetida ao biopoder.
Ao ser expulso do Exrcito brasileiro, Manoel Raimundo Soares deixou de fazer parte da vida protegida. Numa situao de a-bandono legal, retomou o estatuto de homo sacer, compondo a vida nua, vida matvel, sem que, para isso, se cometa qualquer sacrifcio. Digo que retomou o estatuto de homo sacer, porque Manoel Raimundo nasceu em uma famlia pobre de Belm do Par. Nasceu mais prximo da vida desprotegida do que da vida a ser protegida. No sabia nada a respeito do pai, s conhecia a me, e convivia com mais dois irmos. Nos anos em que morou em Belm, estudou e trabalhou numa oficina mecnica. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1953. Tinha dezessete anos de idade e foi morar com uma famlia de amigos.
Ingressando no Exrcito, Manoel Raimundo alterou, ainda que provisoriamente, seu estatuto de homo sacer. Logo nos primeiros meses, foi promovido a cabo, e antes de
214
Giorgio Agamben. Homo Sacer o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed. UFMG, 2004), p.91.
90
completar um ano na corporao j ocupava o posto de terceiro sargento. De acordo com os relatos dos processos que investigaram sua morte, ele era autodidata, desde cedo lia tudo que podia, gostava de ouvir msica clssica e se identificava com as causas populares.
No ano de 1963, Manoel Raimundo respondeu a um inqurito militar acusado de desvio de armas e cooptao de sargentos. Taxado de defensor das Reformas de Base, foi transferido do Rio de Janeiro para Mato Grosso. Teve sua priso decretada logo que foi deflagrado o golpe. Conseguiu fugir antes de ser preso. O decreto de 30 de julho de 1964 oficializou sua expulso do Exrcito.
Entre abril de 1964 e maro de 1966, Manoel Raimundo viveu na clandestinidade, envolvido com a militncia poltica e a luta pela redemocratizao do pas. Fugiu de Mato Grosso para o Rio de Janeiro e de l para Porto Alegre. Seus passos eram rastreados pelos servios secretos do Exrcito. Em Porto Alegre, ele confeccionava panfletos com slogans contrrios ao regime poltico instaurado no pas.
O ex-sargento foi preso pela Polcia do Exrcito (PE) no dia 11 de maro de 1966 em frente ao auditrio Arajo Viana. Neste dia deveria encontrar um amigo. O amigo Edu Rodrigues era colaborador dos rgos de represso. Na maleta carregada por Manoel Raimundo estavam os panfletos que confeccionava. Comeava ali o suplcio do exsargento. Estava nas mos dos agentes da represso, disposio do III Exrcito.
3.8. Agora homo sacer: o corpo seqestrado e torturado
Preso, ou melhor, seqestrado - j que a priso de Manoel Raimundo foi negada pelos responsveis at sua morte - foi conduzido Polcia do Exrcito e depois ao DOPS/RS. Na 6a Cia. de Polcia do Exrcito, teve incio o suplcio fsico: foi duramente espancado por um tenente e um sargento, chegando ao DOPS, horas mais tarde, com a viso do olho esquerdo comprometida em funo do tratamento recebido. Permaneceu nas dependncias do DOPS por mais de uma semana. Em 19 de maro foi levado Ilha
91
Presdio 215 - como conhecido o presdio, hoje desativado, da Ilha das Pedras Brancas. Retornou ao DOPS no dia 13 de agosto. Neste mesmo dia, noite, foi conduzido do DOPS ao Rio Guaba num jipe do Exrcito. S foi encontrado novamente no dia 24 de agosto. No seu corpo, j sem vida, as marcas da tortura. Suas mos estavam amarradas216 - a morte de Manoel ficou conhecida como o caso mos amarradas -, o corpo no lhe pertencia mais, havia se transformado em objeto nas mos de seus carrascos. Vejamos como isso aconteceu, segundo relato de pessoas que dividiram o espao do DOPS/RS e da Ilha Presdio com o sargento.
Nos dias em que esteve detido no DOPS, antes de ser conduzido Ilha Presdio, Manoel Raimundo teve contato com algumas pessoas. Posteriormente, algumas delas prestaram depoimento CPI da Assemblia Legislativa. Um deles era funcionrio da Cia Carris (transporte coletivo de Porto Alegre), que havia sido detido juntamente com outros colegas da empresa no dia 10 de maro. Aldo Alves de Oliveira, o funcionrio da Cia Carris relatou que
na ocasio em que o sargento estava sentado no corredor que d acesso cela, verificou que o mesmo estava sem camisa, deixando ver as marcas de queimaduras e sinais de violento espancamento a tal ponto que no podia engolir alimentos slidos, razo pela qual tanto o depoente como os outros presos forneciam do leite que lhes era enviado por familiares alguma poro para alimentar o sargento Manoel Raymundo Soares. Declara o depoente que o quadro acima descrito foi presenciado no somente por ele mas tambm por outros prisioneiros cujos nomes passa a declinar: Nilo de Almeida Fernandes, Alcebades Antnio de Oliveira, Edgar da Silva, Rui Alves Lisboa, Roque Pifero Marques, Srgio Coimbra Duarte, Ubirajara vila Fontoura, Nicanor Rodrigues, Olvio Aristides Quetzer... declara o depoente que durante o perodo que esteve recolhido ao DOPS percebia que quase todas as noites pela madrugada, o sargento Manoel Raymundo Soares era torturado o que podia ser comprovado pelos gritos da vtima e que tambm pelo aspecto fsico que apresentava quando era trazido de volta a sua cela e passava defronte a porta em que se encontrava o
215
Localizada na zona sul de Porto Alegre, a ilha um acidente geogrfico de 100 metros de extenso por 60 de largura. Entre os anos de 1857 e 1869 serviu de depsito de armamentos do governo, monitorando tambm as embarcaes que por ali passavam. Caiu no abandono quando o arsenal foi transferido de lugar. Nos anos 60 do sculo passado foi transformada num presdio para abrigar, prioritariamente, presos polticos. Localizada no meio do Lago Guaba, as fugas da ilha eram praticamente impossveis. O presdio foi desativado em 1983. Antes disso, entrou para a histria do lugar a fuga indita de um preso poltico: aproveitando a distrao dos guardas, embarcou dentro de uma panela usada na alimentao dos presos e utilizando como remo uma colher de pau, atravessou o Guaba chegando praia de Ipanema. 216 Apelao Cvel n 2001.04.01.085202-9/RS. Acervo do MJDH/RS.
92
depoente e os outros presos cujos nomes j foram citados; o depoente declara que no sabe quem espancava o sargento Manoel Raymundo Soares, mas quem abria a cela para o sargento sair e quem o mandava trazer de volta era o delegado Jos Morsch217.
Luis Renato Pires de Almeida, estudante de agronomia da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), que estava preso no DOPS j h bastante tempo, ouviu dos funcionrios da Cia. Carris que havia um ex-sargento do exrcito sofrendo torturas e resistindo bravamente a elas. No dia 14 de maro, por volta das 22h, Lus Renato teve seu primeiro contato com Manoel quando os policiais colocaram um colcho no corredor do DOPS que ocupava o segundo andar do Palcio da Polcia para ser dividido entre o estudante e outro preso.
Luis Renato dividiu o colcho com um homem moreno, cabelos castanhos meio crespos, rosto de nortista, bigode preto cortado rentinho e aparncia de uns 25 anos, embora tivesse 30218. Manoel estava cansado e as marcas de sevcias eram abundantes em seu corpo. Os policiais os deixaram cochilar somente at s 2h da manh. Foi apenas um intervalo entre as sesses de tortura. Viar lembra que esses intervalos so premeditados pelos algozes no intuito de deixar ao supliciado um tempo aparentemente vazio que deve lhe permitir recuperar-se fisicamente e refletir sobre as vantagens da capitulao219. As marcas e dores fsicas das sesses anteriores que, no caso de Manoel, j eram abundantes no o deixariam esquecer o horror que logo reiniciaria. s 2h da manh, Manoel Raimundo foi conduzido a uma nova sesso de torturas:
s 8h da manh, Manoel Raimundo Soares ainda sofria violncia. Era queimado a ponta de cigarro, que os policiais apagavam lentamente sobre as suas carnes. Recebia pontaps e pauladas desferidas pelo Delegado Itamar Fernandes de Sousa. Depois foi posto no pau-de-arara. Recomearam as torturas do cigarro aceso. O Delegado Itamar passa a bater com os fios. Findo o tratamento, Soares parece um trapo. Ele ainda est s de cuecas, as costas a sangrar e uma das vistas fechada...Levam-no ento para a sala do fiscal Olinto, chefe da guarda do DOPS. Est semi-inconsciente. O fiscal Olinto passa
217
Ao de Indenizao. Justia Federal. Processo n. 88.0009436-8, p.33. Acervo da Luta Contra a Ditadura/RS. Arquivo Histrico do RS. 218 Discurso do deputado Jacques dOrnellas, 1984, p.10. Acervo da Luta contra a Ditadura do RS. Arquivo Histrico do RS. 219 Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.77.
93
a chut-lo com violncia e exibe ameaadoramente um faco. Faz uma advertncia: - Como ? J melhorou? Ests pronto para outra? Luis Renato o preso mais antigo. Por isso incumbido pelo delegado Jos Morsch de servir um cafezinho a Soares. Lus Renato estocado ao rever Soares aps a sesso de torturas. Morsch explica por que deseja dar caf ao preso: - Quero que esse homem recuperado logo. Hoje noite ele vai contar o que sabe. Ao chegar sala para servir o caf, Lus Renato depara com Soares deitado no cho e com uma poa de gua em volta. Ao lado ainda est o balde. Os policiais jogaram gua para reanim-lo. (...) As torturas prosseguem nos dias seguintes. Os policiais insistem em saber o endereo do tal sargento Leony. A cada negativa a violncia intensificada. Pedaos de tijolos e pedras so amarrados a tiras de pano, para golpes mais fortes. No reencontro com Lus Renato, Soares desabafa: - Esses caras querem a... de um endereo que eu no sei. Se eu for torturado novamente vou morrer. No agento mais220.
Conforme os relatos do funcionrio da Cia. Carris e do estudante da Ufrgs, Manoel Raimundo era torturado excessivamente para que fornecesse uma informao. Esse parecia ser o principal objetivo da tortura. Tortura que est ligada diretamente confisso, como instrumento para obteno desta ltima. De acordo com Foucault, a confisso constitui uma prova to forte que praticamente desobriga o acusador do cuidado de fornecer outras provas221. , portanto, elemento de prova e contrapartida da informao, efeito de coao e transao semivoluntria222.
Prtica de interrogatrio, visando obter informaes ou a confisso do acusado, a tortura suplicia o corpo e a mente da vtima. Historicamente remonta ao suplcio dos escravos (na Antiguidade), e Inquisio. Entretanto, da tortura da poca moderna que estamos falando. Sobre a diferena entre a tortura medieval e a tortura moderna, Foucault diz que apesar da primeira ser mais cruel, a segunda selvagem o filsofo francs chega a utilizar a expresso louca tortura dos interrogatrios modernos. Na idade mdia, apesar de mais cruel, a tortura era uma prtica regulamentada, obedecendo a um procedimento bem definido, como momentos, durao, instrumentos utilizados, comprimentos das cordas, peso dos chumbos, nmeros de cunhas, intervenes do magistrado que interroga,
Relatrio da CPI que investigou a morte de Manoel Raimundo Soares e o tratamento dispensado aos presos polticos. In: Anais da Assemblia Legislativa do Rio Grande do Sul, de 27/06/1966. 221 Michel Foucault. Vigiar e Punir (Petrpolis, Vozes: 2002), p.34. 222 Idem, p. 35.
220
94
segundo diferentes hbitos, cuidadosamente codificado223. Estava ligada, portanto, a um procedimento judicirio, em que
sofrimento, confronto e verdade esto ligados uns aos outros (...)trabalham em comum o corpo do paciente. A investigao da verdade pelo suplcio do interrogatrio realmente uma maneira de fazer aparecer um indcio, o mais grave de todos a confisso do culpado; mas tambm uma batalha, a vitria de um adversrio sobre o outro que produz ritualmente a verdade. A tortura para fazer confessar tem alguma coisa de inqurito, mas tambm de duelo224.
No relato de Lus Renato, possvel vislumbrar o duelo de que fala Foucault. Duelo estabelecido pelos policiais do DOPS oferecer um caf para Manoel no era uma atitude complacente, mas uma forma de restabelecer um pouco das foras do sargento para continuar o interrogatrio mais tarde. A tortura j havia se transformado tambm num duelo de foras para Jos Morsch e seus colegas. A cada negativa de Manoel, seus carrascos se irritavam e intensificavam a tortura. vlido lembrarmos que nesse duelo, o torturador quer arrancar de sua vtima a palavra que ele quer ouvir, e no a que o outro teria a dizer.
Apesar do trecho de Foucault ser pertinente para essa anlise, o filsofo francs se referia tortura judiciria, procedimento de inqurito que se exercia sobre o corpo, lugar do suplcio do acusado, em que se produzia e reproduzia a verdade do crime. Suplcio que tambm era um ritual poltico, onde se manifestava o poder do soberano. Nos rituais dos suplcios, sobre o corpo supliciado estava a presena do soberano, dando forma poltica do medo. As execues pblicas eram exemplos do pice dessa poltica do medo, j que compreendiam mais uma manifestao de fora do que uma obra da justia.
No final do sculo XVIII, esse procedimento passou a ser criticado, e no sculo XIX, tomou forma uma nova economia do poder de punir. Atrelada transformao da poltica em biopoltica, o poder que inflige a pena se distancia desta, afinal no se exerce mais como poder de morte, mas sim, poder de gerir a vida. Logo, no pode ser identificado
223 224
Michel Foucault. Vigiar e Punir (Petrpolis, Vozes: 2002), p.36. Michel Foucault. Vigiar e Punir (Petrpolis, Vozes: 2002), p 37.
95
com o suplcio. o que Foucault chamou de nova economia do poder de castigar, que tornou o suplcio teoricamente intolervel. Essa nova economia no poder de castigar visava:
fazer da punio e da represso das ilegalidades uma funo regular, coextensiva sociedade; no punir menos, mas punir melhor, punir talvez com uma severidade atenuada, mas para punir com mais universalidade e necessidade; inserir mais profundamente no corpo social o poder de punir 225.
Ou seja, no novo direito de punir no restou espao para a vingana do soberano. O direito de punir passou a ser concebido como defesa da sociedade. O discurso desse poder tomou o conceito de homem e humanidade para a nova economia da punio. Entretanto, essa nova economia da punio no abandonou a prtica da tortura, apesar de conden-la em nome da humanidade do criminoso. Apesar de no estar mais atrelada a um procedimento judicirio, no tendo a visibilidade do suplcio, no deixou de ser praticada apenas a arte de fazer sofrer tornou-se mais discreta, tpica forma sbria de uma sociedade punitiva. Logo, se tornou mais selvagem, como disse Foucault. Oficialmente, deixou de pertencer ao ordenamento jurdico. Entretanto, continuou a ser prtica corrente do trabalho policial - no pede-se que o sujeito preste juramento, mas coloca-se este beira da sua morte para dele obter informaes226. Anomia inserida no ordenamento. No caso do Brasil, uma anomia que funciona como modus operandi da polcia e que faz parte de um poder que j no se mostra mais, como na soberania, um poder sem rosto que se exerce em todo corpo social. Poder que se embasa num saber cientfico, tpico da sociedade moderna. Docilidade, utilidade e submisso, so as chaves mestras desse poder.
Como poderamos conceituar, ento, o tipo de tortura sofrida por Manuel Raimundo, pensada como parte, mesmo que oficialmente anmica, desse novo direito de punir?
Tradicionalmente, rgos como a Anistia Internacional e a ONU consideram como tortura os maus tratos e a violncia fsica e psquica, atrelada esfera da poltico e do
Idem, p.70. Hlene LHeulliet. Alta Polcia, Baixa Poltica: uma viso sobre a polcia e a relao com o poder (Portugal: Editorial Notcias, 2004), p.242.
226
225
96
poder. Precisamos ir um pouco alm desse conceito, principalmente se considerarmos as conexes entre polcia e poltica, desde Foucault a Hlne LHeuillet227. Temendo que o conceito tradicional de maus tratos e violncia fsica e psquica reduza a experincia do trauma a uma satisfao voyeurista, a uma seduo visual pelo horror, Viar explora mais detidamente o conceito em si de tortura. Diz ele que mais do que formas e tcnicas da violncia, o que conta o tempo infinito, o horror sem limite, as condies de isolamento, a estranheza, a solido, assim como a sucesso de imagens fragmentrias e contraditrias que conduzem loucura descrita na sndrome de privao sensorial228. Sendo assim, tortura seria
todo dispositivo intencional, quaisquer que sejam os meios utilizados, engendrada com a finalidade de destruir as crenas e convices da vtima para priv-la da constelao identificatria que a constitui como sujeito. Este dispositivo aplicado pelos agentes de um sistema de poder totalitrio e destinado imobilizao pelo medo da sociedade governada 229.
Para alm de maus tratos fsicos e psquicos, a destruio do universo de referncia do sujeito fundamental, principalmente na tortura com fins polticos. Tanto que, se a tortura sempre fez parte do tratamento policial, durante a ditadura militar, os mtodos de interrogatrios e as tcnicas foram aperfeioadas. Com o fim do regime militar, essas tcnicas continuaram a ser utilizadas contra presos comuns.
Manoel Raimundo sofria torturas vrias vezes ao dia, sendo reduzido a um farrapo humano, testemunhou a advogada lida Costa, que esteve detida no DOPS na mesma poca que Manoel Raimundo. lida prestou depoimento CPI e imprensa, relatando o contato que teve com o sargento:
Em certa ocasio, indo ao banheiro, encontrei o sargento transformado num farrapo humano. Foi quando ele me pediu que, se eu fosse libertada, avisasse o advogado Luis Augusto Crespo de que ele estava preso e sendo torturado diariamente.
Alta Polcia, Baixa Poltica: uma viso sobre a polcia e a relao com o poder (Portugal: Editorial Notcias, 2004). 228 Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.59. 229 Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.60.
227
97
Durante as torturas a que foi submetido, Manoel Raimundo no delatou ningum. Apenas gritava. Eu estava numa sala ao lado da cmara de torturas do DOPS, o que j se constitua num tormento psicolgico: eu acreditava que seria a prxima vtima daquelas feras230.
Poder habitar seu corpo e seu esprito num mundo onde no se mais uma pessoa, mas um embrulho que rola em direo a um destino desconhecido231, foi uma das primeiras dificuldades e necessidade de um torturado transformado, como Manoel Raimundo, num farrapo humano. merc dos seus carrascos, o rapaz da citao anterior sentiu-se entrar no mundo da obscuridade, do silncio e dos barulhos insensatos, onde o tempo outro, onde o corpo outro, onde tudo muda para uma lgica na qual no somos mais nada232. No ser mais nada, nem mesmo um corpo? Ser que um corpo torturado, roubado a seu prprio controle, ainda um corpo? Khel nos diz que sim:
um corpo ferido, torturado, esquartejado, virado do avesso, rompida a superfcie lisa e sensvel da pele, expostos os rgos que deveriam estar bem abrigados ainda assim isso que nos aproxima do horror e nos remete ao limite do real continua sendo um corpo (...) corpo roubado a seu prprio controle corpo que no pertence mais a si mesmo e transformou-se em objeto nas mos poderosas de um outro, seja o Estado ou o crime; um corpo objeto do gozo maligno de outro corpo; mesmo um corpo torturado continua sendo corpo233.
A autora continua lembrando que o corpo/experincia indissocivel da linguagem. Ela se refere ao que disse Walter Benjamim, que no se pode pensar a experincia fora do campo da narrao. A narrao fundamental na constituio do sujeito. E quando se refere a eventos traumticos, est marcada pela necessidade e ao mesmo tempo pela impossibilidade de narrar. No evento traumtico, a experincia do choque desnuda a impossibilidade da linguagem e da narrao tradicional de assimilar o trauma. Gagnebin234 relembra o sonho de Primo Lvi235 quando preso em Auschwitz: sonhava constantemente com a volta pra casa, com a felicidade de rever os seus e poder contar do horror que viveu.
Jornal Zero-Hora, agosto de 1966. Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.22. 232 Idem, p.23. 233 Maria Rita Khel. Trs perguntas sobre o corpo torturado. In: O corpo torturado (Poa: Escritos, 2004), p. 910. 234 Jeanne Marie Gagnebin. Memria, Histria e Testemunho. In: Memria (res)sentimento (Campinas: Ed.Unicamp, 2001). 235 Autor de Os afogados e os sobreviventes, e isso um homem?, entre outros.
231
230
98
Esse sonho no era s de Primo Lvi, era comum a quase todos os prisioneiros do campo de concentrao. E tinha o mesmo desfecho: a sensao terrvel de que ningum os escutava e, quando comeavam a contar, as pessoas levantavam e iam embora, indiferentes. a sensao do inenarrvel. Por mais que Primo Lvi e outros sobreviventes narrassem, sentiam que essa narrao no conseguia realmente dizer a experincia do horror. Vocs, vocs no podem saber, escreve Robert Antelme236, outro sobrevivente de Auschwitz. A articulao primria entre corpo e linguagem (at ento indissociveis) fora destruda. Destruio que, segundo Viar237, provoca a exploso das estruturas arcaicas que constituem o sujeito. Se a narrao tradicional no d conta da situao traumtica, ela d lugar descrio. Descrio da dor238.
Elida Costa descreve a dor de Manoel Raimundo. Disse a advogada que Manoel Raimundo no falava, no delatou ningum, apenas gritava. Silncio de uma confisso no proferida. Grito, urro de dor ante o destroamento de si. Se Manoel Raimundo aceitou o duelo ou se no possua a informao que os torturadores queriam ouvir, no sabemos. Sabemos que o duelo foi levado s ltimas conseqncias por seus algozes:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 33 (...) a vtima teria sido passvel de um banho ou caldo, por parte dos agentes do DOPS ou da DOPINHA, processo desptico que consiste em mergulhar o paciente nas guas do rio, quase at a asfixia, para dele extorquir a confisso que se pretende e que, lamentavelmente, ainda utilizado por alguns desalmados239.
Mas antes do caldo fatal, o sargento foi conduzido Ilha Presdio. Felizmente no foi sozinho. O estudante Luis Renato foi levado juntamente com Manoel pela manh do dia 19 de maro at o Presdio. Atravs do relato de Luis Renato os parlamentares que compunham a CPI que investigou o caso, reconstituram parte do cotidiano de ambos nos dias em que estiveram presos:
Lespce humaine (Paris: Gallimard, 1947). Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.73. 238 Retomo no ltimo captulo a relao entre experincia, narrao e linguagem. 239 Relatrio Tovo, 31/01/1967. Acervo da Luta contra a Ditadura do RS. Arquivo Histrico do RS.
237
236
99
Separados dos presos comuns, os dois so colocados juntos na mesma cela(...) o frio, e a falta de agasalhos, obriga-os a dividirem a mesma cama. Dormiam em sentido oposto, os ps de um tocando a cabea do outro, para diminuir o frio. - Quando um de ns queria se virar na cama contou Lus Renato -, tinha de avisar o outro. Durante uma semana Lus Renato conviveu com Soares na Ilha-Presdio240.
A solidariedade e cumplicidade entre os dois, relatada por Lus Renato, duraram at o dia 30 de maro de 1966, quando o estudante foi liberado. Manoel ficou na Ilha. S sairia de l no dia 13 de agosto para ser conduzido novamente ao DOPS. E do DOPS ao Lago Guaba para mais uma sesso de torturas. Para o Promotor Cludio Tovo, Manoel foi vtima de um acidente de trabalho:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 33 Nesse trabalho (para usar a linguagem deles), realizado dentro de uma lancha pois na poca fazia frio com a vtima segura pelos ps e o restante do corpo mergulhado ngua, seus torturadores teriam-na deixado escapar, por acidente, acidente do trabalho, no conseguindo mais encontr-la, por haver desaparecido nas profundezas do rio, que se apresentava cheio. No teriam, pois, a inteno direta de matar, assumindo, todavia, o risco de fazlo, dolo eventual. Vestgios que, entre outros, corroboram essa verso: o cadver da vtima foi encontrado com as mos ainda amarradas s costas e com um p calado e outro descalo241.
Morrer era muito menos solene do que havia imaginado242, constatou o rapaz do relato de Marcelo Viar, logo que conseguiu dialogar consigo mesmo, entre as sesses de tortura. O rapaz constatava assim a banalidade da vida exposta situao de a-bandono. Situao que Manoel Raimundo sentiu em plenitude. Em suas reflexes sobre a tortura, Viar fala em trs momentos sucessivos pelos quais passa o supliciado:
Relatrio da CPI que investigou a morte de Manoel Raimundo Soares e o tratamento dispensado aos presos polticos. In: Anais da Assemblia Legislativa do Rio Grande do Sul, de 27/06/1966. 241 Relatrio Tovo, 31/01/1967. Acervo da Luta contra a Ditadura do RS. Arquivo Histrico do RS. 242 Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.30.
240
100
o primeiro momento, o mais conhecido, visa a aniquilao do indivduo e a destruio de seus valores e de suas convices; o segundo momento desemboca numa experincia de desorganizao da relao do sujeito consigo mesmo e com o mundo, o que chamei (...)a demolio; o terceiro momento a resoluo desta experincia limite243.
Pelo tempo que esteve preso e pelas descries das pessoas que tiveram contato com ele, Manoel passou pelos trs momentos. Sentiu o sofrimento do corpo que leva o torturado a uma sensao de destruio e abandono. Segundo Viar, esse momento varia de acordo com cada pessoa depende da estrutura individual e do contexto, podendo acontecer em algumas horas, dias ou meses de tortura. Rompidos os laos afetivos e efetivos com seu mundo pessoal, submetidos escurido, ao frio, dor fsica, resta-lhes um corpo desfeito e dolorido merc do torturador, que faz desaparecer do mundo toda presena que no esteja no centro da experincia atual244. o momento da demolio. Desmoronamento e loucura, metdica e cientificamente induzida. Mtodo e cincia empregados nas torturas modernas, particularmente, na tortura poltica que conta com os cuidados profissionais de alguns mdicos e psiclogos, para estabelecer os limites e as formas de tirar maior proveito da punio. Assim, chegam demolio que suprime a pessoa de seu mundo amado e investido para o colocar diante de um buraco sinistro, repleto de vergonha, de humilhao, de urina, de horror, de dor, de excrementos, de corpos e rgos mutilados245.
Destrudo o universo do sujeito, resta-lhe duas posies que Viar chama de ticas e antagnicas: a do torturador e a do torturado. A primeira revela a sujeio como chance de recuperar a integridade fsica e o mundo psquico. Corresponde a uma realidade presente, ligada ao torturador. A do torturado o reinvestimento, a manuteno da posio tica anterior. Porm,
distante e ausente, representa a possibilidade de uma coerncia com o que o torturado foi e amou, mas sua no-presena conota a morte. a este nvel que se opera a escolha. Na situao de abandono, a ausncia equivale angstia por falta de uma perspectiva de vida assegurada desde o exterior. E a presena se converte em possibilidade de sada, em promessa de restituio. assim que tem lugar a desordem profunda dos valores ticos do mundo anterior do torturado: o
Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.45. Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.47. 245 Idem.
244 243
101
objeto ausente, amado e perdido, se transforma em objeto morto, perseguidor, a rejeitar, e o presente odiado aparece como desejvel. A fascinao recobre o horror, e o mundo moral muda de signo246.
Neste caso, o torturado sucumbe, submisso ao universo de seu torturador. Estabelece-se uma relao de cumplicidade, entre ambos, marcada pela confisso e pela delao. O espao destrudo preenchido com o demnio que se queria exorcizar247, e o abandono da demolio substitudo pela submisso. Isso acontece quando o torturado no perde o medo da morte, sente sua banalizao e, para fazer frente a ela, para sobreviver, sucumbe lgica de seu algoz porque, quando te destroem, voc no pensa mais, h somente o medo... o pavor toma o lugar de tudo248.
Mas Manoel resistiu, no cedeu ao universo do torturador. Estava seqestrado, j que os pedidos de hbeas corpus eram sucessivamente negados, pois as autoridades no reconheciam a sua priso. Nessa condio de seqestrado, foi assassinado. O terceiro pedido de hbeas corpus j o encontrou sem vida. Na indignao de um dos juzes militares que votou o pedido do terceiro hbeas corpus, a certeza do crime:
Indo a julgamento o presente pedido, estranha, desde logo, este Egrgio Tribunal, a chocante discordncia entre o transcrito telegrama do Sr. Secretrio de Segurana e os dizeres do telegrama de fls. 12 do Sr. Tentente-coronel Lauro Melchiades, Superintendente da Polcia Federal do Rio Grande do Sul. Diz o Superintendente, textualmente: 'Informo pessoa Manoel Raimundo Soares no se encontra preso ou detido'. Verificou-se, assim, que as autoridades policiais do Rio Grande do Sul prestaram, a este Tribunal, informaes que no correspondiam verdade, evidenciando-se, por igual, que ditas autoridades conheciam perfeitamente o que se passava com o paciente, desde a priso at o trucidamento, nada revelando at que o cadver apareceu e foi identificado249.
Para Ricardo Timm250, o instante do assassinato sempre tico. O estatuto tico existe na pluralidade, na assimetria. O assassinato desnuda uma relao desigual, ou ainda uma incapacidade de agir de igual para igual. As resistncias ontolgicas foram vencidas
Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.48. Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.49. 248 Idem, p.57. 249 Apelao Cvel n 2001.04.01.085202-9/RS. Acervo do MJDH/RS. 250 Ricardo Timm de Souza. Sentido e Alteridade (Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000).
247
246
102
o adversrio (j) est desarmado, derribado, humilhado, desigual251. Pela sua condio de excepcionalidade, enquanto acontecimento, o assassinato marca a deteno da roda do tempo. Aniquilando a alteridade, a violncia elevada a sua potncia mxima, revertendose em impotncia.
Publicamente os policiais negavam o conhecimento do paradeiro de Manoel Raimundo, enquanto tentavam em vo encontrar os vestgios do corpo do sargento. Nessas buscas uma ida ao IML foi registrada:
20 de agosto, por volta das 10:30h, dois auxiliares de necropsia do Instituto Mdico Legal de Porto Alegre, Delmar Santos e Felipe Demstenes Morais Bittencourt, estavam de planto no necrotrio quando foram chamados para atender a um policial. Era o delegado Jos Morsch, Diretor da Diviso de Segurana Poltica e Social do DOPS e que vinha em companhia de dois homens. Dirigindo-se a Delmar, que procurou atend-lo, o delegado indagou-lhe se havia no IML algum cadver de identidade ignorada. O funcionrio apontou para os cadveres, enunciando as caractersticas de cada um. Foi interrompido pelos visitantes quando deu estas informaes sobre um dos corpos: - Este aqui de um desconhecido. um caso de morte por afogamento. A revelao interessou o delegado e seus dois companheiros. Olharam detidamente o corpo, mais tarde identificado como de Antnio Alexandre Gomes. O delegado indagou aos outros dois: - este? - No, no esse, no. Aps breve agradecimento, o Delegado Jos Morsch e seus acompanhantes se retiraram, sem fazer qualquer comentrio252.
Mais que extinguir a vida de um corpo, assassinar romper com um mundo de sentido a sua sustentao, como se essa, imanentemente, ali fosse alcanvel253. O algoz deseja retirar da sua vtima o que ele no pode conquistar: sua condio de Alteridade viva254. No desejo de conquistar a vida do outro, s conquista a sua morte no caso de Manoel, o corpo seqestrado, torturado, e, ento, j sem vida.
Idem, p.28. Centro de Documentao e Informao da Cmara Federal. Tortura e morte do Sargento Manoel Raimundo Soares: discurso pronunciado na sesso de 28 de maio de 1984, pelo deputado Jacques DOrnellas. Braslia: Coordenao de publicaes, 1984. Acervo da Luta contra a Ditadura do RS. Arquivo Histrico do RS. 253 Ricardo Timm de Souza. Sentido e Alteridade (Porto Alegre: Edipucrs, 2000), p.40. 254 Idem, p.41.
252
251
103
3.8. Cartas a Betinha: o relato da dor
Nos dias em que esteve preso com Luis Renato, nos momentos de cumplicidade em meio situao traumtica, Manoel falava de um desejo constante: rever sua esposa. Sonhava em viajar com Betinha, logo que sasse da priso. Queria passar uns dias em Caxambu com ela. Um pedido era repetido seguidamente ao amigo: se voc sair primeiro que eu, manda um bilhete para ela dizendo que eu vou encontr-la assim que sair255.
Betinha Elizabeth Chalupp Soares era esposa de Manoel Raimundo. Conheceram-se no Rio de Janeiro. Betinha morava num orfanato Instituto Sabia Lima e de l saiu para casar com Manelito. Com o golpe militar, a expulso do exrcito e o decreto de priso, seu marido passou a viver na clandestinidade, at vir para Porto Alegre. Betinha sabia notcias dele atravs das cartas na posta restante256. Depois de transferido para a Ilha Presdio, Manoel voltou a escrever esposa. Algumas cartas chegaram at ela com a ajuda de outros presos polticos. Dessa forma ela ficou sabendo que seu marido havia sido preso e estava disposio dos militares. Eis a primeira carta que Betinha recebeu:
Ilha Presdio, P. Alegre, 15 de abr. 66 Querida Betinha. Finalmente acabei sendo prso. Ca em uma cilada de um 'dedoduro' chamado ED e vim parar nessa ilha-presdio. Fui prso s 16.50hs do dia 11 de maro, sexta-feira, em frente ao Auditrio Arajo Viana. Fui levado para o quartel da P.E. onde fui 'interrogado' durante duas horas e depois fui levado para o DOPS. Estou bem. Nesta ilha me recuperei do 'tratamento' policial. At o dia em que fui preso estava dormindo em Hotis e penses variadas. No sei como vou me arranjar no dia em que eu for solto pois o LEO nico amigo que eu tinha em Recife, perdi o contato com le e eu no sei o endereo. Espero que voc esteja bem e que se mantenha em calma. Isto passa. Nos dias seguintes ao que eu for solto teremos uma nova lua de mel em uma cidade bonita qualquer. Agora eis algumas instrues:
Relatrio da CPI que investigou a morte de Manoel Raimundo Soares e o tratamento dispensado aos presos polticos. In: Anais da Assemblia Legislativa do Rio Grande do Sul, de 27/06/1966. 256 A posta restante possibilita o recebimento, na Agncia dos Correios que os usurios escolherem, de todas as correspondncias para ali enviadas em seu nome, com as vantagens de segurana e sigilo.
255
104
a) Procure o advogado Dr. Bento no Escritrio do Dr. Sobral Pinto, rua Debret n 39 na cidade. b)Pea a le Bento para entrar com um Pedido de 'Habeas-Corpus' no Superior Tribunal Militar em meu favor. Eu estou prso disposio do III Exrcito. c) Pede Dona Mira para te acompanhar, ela j tem alguma experincia disso. d) Voc NO deve vir aqui. Isso no ajudar NADA e voc NO conseguir visitar-me. Se houver dificuldades em materia de dinheiro, fale com a com o vizinho, ou com a Dona gilene em Realengo, ou ainda venda as coisas. Depois arranjaremos tudo de novo. Esta a quarta tentativa de te mandar notcias minhas. Esta carta s foi possvel graas aos amigos da priso. Se for possvel, manda SE PUDERES, depositar algum dinheiro no Banco Nacional de Minas Gerais, aqui em P. Alegre. Eu tenho uma conta l. Na verdade estou precisando de algumas coisas como tais como: aparelho de barba, um sapato 38, escova de dentes, roupa de frio e coisas de comer. Eu deixei na gaveta da msa de cabeceira do Hotel onde dormi a ltima noite antes da priso, todo o dinheiro que eu tinha. T no deves escrever mais para a "Posta-Restante". Eu no poderei mais ir ao correio receber as cartas, o que bvio. Estou absolutamente calmo e tranquilo at hoje 15 Abr. no sei como vo coisas a pelo mundo. Mantm a calma, pois nestas horas s a calma ajuda. Se quizeres e puderes vai passar uns mses em Minas com os parentes. Recebe um carinhoso e bem apertado abrao e um monto de beijos deste que teu at morrer, o teu Manoel" (fls. 1714-1715, grifou-se).
A partir dessa carta quarta tentativa de Manoel se comunicar com a esposa Betinha comeou sua luta pela liberdade do marido. Contratou um advogado para entrar com o primeiro pedido de hbeas corpus, seguindo as orientaes de Manoel. Mesmo com as cartas como prova, os militares negavam a sua deteno.
Segundo Foucault, a escrita de si atenua os perigos da solido: d ao que se viu ou pensou um olhar possvel; o fato de se obrigar a escrever desempenha o papel de um companheiro257. Escrever a Betinha era tambm uma forma de compartilhar sua solido, seja na prpria escrita ou pela possibilidade de ser lido pela esposa. O amigo que houvera feito na priso, Luis Renato, j no dividia mais a cela com Manoel, ele estava mais sozinho ainda. Quando falamos com algum, vamos ouvindo o que estamos dizendo, quando escrevemos vamos lendo o que est sendo escrito. Dessa maneira, tanto a escrita de
105
si, como o falar de si, possibilita um exerccio pessoal. As conversas com Luis Renato bem como as cartas esposa, representavam esse exerccio pessoal. Exerccio que tambm atenua a solido. Diz Foucault que a carta enviada actua, em virtude do prprio gesto da escrita, sobre aquele que a envia, assim como actua, pela leitura e releitura, sobre aquele que a recebe258.
Arajo lembra que a carta enquanto representao da vida gera uma pluralidade de significados e formas de apropriaes, de certezas e dvidas. Mesmo que Manuel Raimundo tentasse tranqilizar a esposa estou absolutamente calmo e tranqilo - quem l, mesmo acreditando no contedo, por se tratar de um presente que no mais presente, atualiza aquele passado259. Ou seja, possivelmente a receptividade de Elisabeth Chalupp, levando em conta a incerteza do momento presente, no qual seu marido estava distante e preso, no tenha sido a desejada por Manoel. Por mais que eu lesse o contedo da carta eu achava que ela estava passando dificuldades e no queria me falar, pois sabia o quanto eu me preocupava com aquela situao que ela vivia260, disse a irm de uma militante que esteve exilada no Chile.
Se Manoel tentou passar calma a sua esposa na primeira carta, apesar da sua situao de abandono, j na segunda percebemos mais claramente a inquietao do sargento. Os dias se sucediam e ele permanecia preso e incomunicvel, sem saber o que se passava na civilizao. Insiste para que a esposa viaje, pede para que ela como na msica de Chico Buarque: se eu demorar uns meses, convm s vezes voc sofrer, mas depois de um ano eu no vindo, ponha a roupa de domingo, e pode me esquecer - raciocine como se ele houvesse morrido. Fala mais detidamente das privaes pelas quais est passando sem sapatos, sem roupas, sem cobertas no frio do inverno gacho e novamente, das marcas fsicas deixadas pelas sesses de tortura (as medalhas com as quais
Michel Foucault. A escrita de si. In: O que um autor (Portugal: Passagens, 1992), p.131. Michel Foucault. A escrita de si. In: O que um autor (Portugal: Passagens, 1992), p.145. 259 Maria do Socorro de Sousa Arajo. Paixes Polticas em Tempos Revolucionrios: nos caminhos da militncia, o percurso de Jane Vanini (Dissertao de Mestrado. UFMT, 2002), p.22. 260 Maria do Socorro de Sousa Arajo. Paixes Polticas em Tempos Revolucionrios: nos caminhos da militncia, o percurso de Jane Vanini (Dissertao de Mestrado. UFMT, 2002), p.22.
258
257
106
o agraciaram). Preocupado, insiste para que a esposa procure Dona Mira, mais experiente em casos como o dele:
Ilha Presdo P. Alegre, 2 de maio de 1966. Querida Betinha. Eis aqui mais uma tentativa de te mandar notcias minhas. Esta a 5 carta. No sei se as outras chegaram at ai. Fui prso s 16hs mais ou menos *(do dia 11 de maro), em frente ao Auditrio Arajo Viana. Eu fui 'entregue' DOPS por um patife chamado ED. No instante da priso eu portava uma bolsa preta, na qual estavam recortes de jornais com inscries de carater poltico. Fui conduzido ao Quartel da P.E e l, debaixo de um 'tratamento' fui interrogado durante duas horas. A seguir fui levado para a DOPS na Avenida Joo Pessoa 'tratado' durante uma semana. No dia seguinte 19 de maro fui conduzido para esta ilha, onde estou at hoje. Eu estava dormindo em penses e Hoteis de 3 classe. O nico amigo que eu tenho em P. Alegre, o ex-Sgt LEO, eu no sei o endereo dle. Por isto, estando em dificuldades em matria de dinheiro no sei como vou me arranjar. At a presente data estou sob o regime da incomunicabilidade e, infelizmente, no sei o que est acontecendo a pela 'civilizao'. Em meu corpo ficaram gravadas algumas das medalhas com o que me agraciaram. Aqui estou sem sapatos, sem roupas de frio, sem cobertas, usando nicamente uma camisa de Nylon e uma cala de l preta. No h dvidas que o meu passadio por aqui no nada comparvel ao de 'Mar Del Plata'. Felizmente j me retiraram a barba; ela estava bonita. No sei bem, mas creio que estou prso disposio do III Exercito. Por isto, s um 'Habeas-Corpus' do Superior Tribunal Militar poder libertar-me. Agora eis aqui algumas sugestes: a) Voc no precisa vir aqui. Isto no ajudar NADA e voc no conseguir ver-me. No permitiro. b) Mantenha a calma. Afinal eu estou vivo e estou calmo. Nestas horas s a calma ajuda. c) Procure o Dr. Sobral Pinto, rua Debert n 39 ( no centro) e providencie com ele um pedido de 'habeas' junto ao STM. Depois disso, e se houver dinheiro, v dar um passeio de mses l em Minas. A Dona Mira pode te auxiliar nisto, de advogado, Tribunais, etc. Ela j no nefita. Se tiver dificuldade em materia de dinheiro vende as coisas. Raciocina como se eu tivesse morrido. E a como vo as coisas? voc est bem? Houve alguma novidade? To logo eu seja posto em liberdade, e isto ainda vai demorar, iremos ter uma nova lua de mel em uma cidade que tu ainda no conheces apesar de ser prxima a tua terra natal. Como vs o papel est acabando, por isto aproveito para lembrarte que meu pensamento s para ti; durante todas as horas destes ltimos dias no saes do meu pensamento. O banquinho da cosinha, os beijos nos olhos, tudo aquilo que liga meu corpo a tua alma (ou esprito que mais certo). Recebe mil beijos e um caminho de abraos do teu Manoel" (fls. 1716-1717, grifou-se).
107
O rapaz do relato de Viar conta que para resistir aos dias em que esteve preso, para resistir dor fsica e psicolgica da tortura, buscou a memria. A memria mostrava que ele havia tido um antes daquela situao de abandono. Um antes povoado de amores e de valores. Sentiu que precisava conservar esse antes, caso viesse a ter um depois. Alis, a possibilidade de existir um depois tinha como condio a manuteno viva da memria do antes. Deu-se conta que no se devia deixar consumir pelo presente, vazio de amor, habitado de dio, como se fosse a nica vida possvel261. A partir de ento, conta que o antes, o vivido de outrora, passou a desfilar pela sua memria com uma intensidade surpreendente. Assim conseguiu aplacar um pouco da dor de seu corpo e de sua sede, sentindo alguma sensao de relaxamento. medida que os dias e meses na priso sucediam-se, o antes de Manoel Raimundo - o amor de Betinha -, tornava-se mais presente:
Ilha das Pedras-Brancas (Ilha Presdio), Porto Alegre, 10 de julho de 1966. Minha querida Betinha: Ainda estou vivo. Espero de todo o corao que voc tenha recebido as cartas que remeti anteriormente. Esta a oitava. Nunca pensei que o sentimento que me une a voc chegasse aos limites de uma necessidade. Nestes ltimos dias, tenho sido torturado pela idia de que estou impedido de ver teu rosto ou de beijar teus labios. Todas as torturas fsicas a que foi submetido na P.E e na D.O.P.S. no me abateram. No entanto, como verdadeiras punhaladas, tortura-me, machuca, amarga, este impedimento ilegal de receber uma carta, da mulher, que hoje, mais do que nunca, a nica razo de minha vida. Dentro de um plano de coleta de informaes, algumas coisas j me foram proporcionadas pelos carcereiros. Com efeito, j tenho escova de dentes, sabonete e at roupas e sapatos, fizeram chegar at aqui. Mas, nada disso pde aliviar a dor que me causa, o fato de no poder receber cartas de minha Beta. Acredito que minha situao ainda no mudou muito. At hoje (amanh completam-se quatro mses), no fui ouvido em I.P.Ms. e desde que mandaram-me para esta ilha no mais sa. Qual a maneira de libertar-me? -um pedido de 'Habeas Corpus' ao Superior Tribunal Militar. A Dona Mira poderia te ajudar neste sentido. Apesar do sofrimento espiritual a que estou submetido, ainda assim recomendo que voc mantenha a calma. Nestas horas s a calma pode trazer
261
Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.29.
108
alguma ajuda. Acredito que agora, voc j poderia tentar visitar-me aqui em Porto Alegre.O que voc acha disto? Espero que voc no tenha estado em dificuldades em materia de dinheiro. Isto seria para mim pior do que a pior coisa que pudesse me acontecer. No podendo abraa-la com a fora do bem que te deseja, deixa que em forma espiritual, te beije ardentemente, este que , at morrer, o teu Manoel" (fls. 1719-1720, grifou-se).
Ainda sentia-se vivo, agora no mais pelo seu passado poltico, ou qualquer outro motivo que causasse dor, alm daquela a que estava submetido. Sua memria buscava no melhor do vivido de outrora foras para resistir. Deleuze diz que a memria voluntria vai de um presente atual a um presente que foi, isto , alguma coisa que foi presente mas no o mais262, o que torna o passado da memria voluntria duplamente relativo: ao presente que foi e ao presente que agora. Ou seja, a memria de Manoel Raimundo no acessava diretamente do passado: ela o recompunha com os presentes263. Presente, que para ele significava estar h mais de trs meses preso, sem contato com o exterior. O rapaz que relata sua experincia traumtica a Viar disse que finalmente tinha compreendido a unanimidade entre os prisioneiros: que era mais terrvel esperar que sofrer. durante esse tempo que se trama a fraqueza ou a coerncia264. Coerncia que para Manoel advinha da lembrana do convvio com a esposa. E da saudade articulada lembrana. Tanto que, pela primeira vez, ele pediu a ela que viesse visit-lo em Porto Alegre. Manoel Raimundo buscava nas reminiscncias metforas da vida, para Deleuze - o ser amado que aparecia como um signo, uma alma: exprimindo um mundo possvel 265.
H cartas que no guardam apenas recados, doenas do fgado, frases bem feitas, h cartas que captam instantes fugidios, fases especficas, mudanas de rota, pontos de desconverso da alma, seu gnero narrativo possibilita fixar as foras do devir de uma existncia, diz-nos Marilda Ionta266. Nesse sentido, segundo Foucault, a escrita de si incita-nos inveno de outras formas ao conjugarmos os verbos da nossa vida. A pergunta
Gilles Deleuze. Proust e os Signos (RJ: Forense-Universitria, 2006), p.54. Idem. 264 Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.32. 265 Gilles Deleuze. Proust e os Signos (RJ: Forense-Universitria, 2006), p.07. 266 Marilda Ionta. A potica do sigilo: cartas de Henriqueta Lisboa a Mrio de Andrade (disponvel em: http://www.anpuh.uepg.br/xxiiisimposio/anais/textos/MARILDA%20IONTA.pdf, acessado em 20/02/2007).
263
262
109
o que tenho escolhido fazer de mim? acompanha essa escrita. De certa forma tambm um desmanchar-se de si mesmo. Ao narrar-se para Betinha, Manoel experimenta essa dimenso da escrita que est associada ao exerccio do pensamento sobre si, ele vai tecendo assim uma memria de si. No caso dele, uma memria recente marcada pela dor fsica e pelas privaes. Nessa tessitura de si ele parece reavaliar sua opo pela luta poltica. Escrevendo para si e para outrem (a esposa), dialoga consigo e com ela. O desmanchar de si marca alguns momentos da ltima carta que Betinha recebeu: sei hoje, que voc tinha razo, em muitas de nossas discusses sobre nosso tipo de vida. Voc ganhou, diz Manoel, produzindo a um outro, ou um novo, efeito de verdade na produo de si mesmo. Passageiro ou no, claro, marcado pela dor, pela solido e pelo isolamento. Mas para o sargento, mesmo que momentaneamente, era uma espcie de outra ou nova identidade de si:
Ilha das Pedras Brancas (Ilha do Presdio), Porto Alegre, 10 de julho de 1966. Minha Querida Betinha: Ainda estou vivo. A sade que havia chegado ao meu corpo, partiu, deixando a normalidade que voc to bem conhece. Fgado, intestinos e estmago. Espero de todo o corao que voc tenha recebido as cartas anteriores. Esta a de nmero nove. Penso que a estas horas voc deve estar chorando. No quero isso. A jovem senhora, valente, das respostas desconcertantes, deve agora, substituir a moa ingnua e humilde com quem tive a felicidade de casar. Nunca pensei que o amor que tenho pelo "meu reboque" pudesse chegar aos limites de uma necessidade. Nestes ltimos dias tenho sido torturado pela realidade de estar impedido de ver o rosto da mulher que amo. Eu trocaria se possvel fsse, a comida de oito dias, por oito minutos junto ao meu amor, ainda que fosse s para ver. Tenho uma f inabalvel de que, os adversrios no conseguiro destruir nosso amor. Sei hoje, que voc tinha razo, em muitas de nossas discusses sobre nosso tipo de vida. Voc ganhou. Espero que, no dia em que me ver livre deste crcere em que me encontro, uma pessoa pelo menos me esperar l fora. Que o mundo inteiro me volte as costas, mas um rosto e um sorriso amigo eu tenha: o de minha querida e idolatrada Betinha. Tenho procurado cumprir o meu dever (apesar de prso), e tenho tanto quanto possvel correspondido confiana com que me honraram. Mas, aprendi na priso, que o homem demasiadamente ingrato para compreender sentimentos nobres. Tudo passar. A poltica, a cadeia, os amigos; s uma coisa ir durar at a morte: o amor que tenho por essa mulherzinha que hoje, a nica razo de querer viver, deste presidirio.
110
Foi bom que isto acontecesse. Eu precisava afeioar-me a um outro tipo de necessidade. S agora avalio, o que estar junto da mulher amada. Com a tranquilidade da certeza de que apesar de tudo ainda mereo o teu amor remeto um caminho de beijos, com o calor dos dias mais felizes de nossa vida. Do sempre teu Manoel" (fls. 1721-1722, grifou-se).
Philippe Artires lembra que a importncia crescente da escrita pessoal para o mundo ocidental, desde o final do sculo XVIII, demandou uma exigncia de arquivamento: a escrita est em toda parte: para existir, preciso inscrever-se: inscreverse nos registros civis, nas fichas mdicas, escolares, bancrias267. Esse contexto requereu, para Artires, uma nova forma de administrarmos os nossos papis, atravs da qual fazemos um acordo com a realidade, manipulamos a existncia: omitimos, rasuramos, riscamos, sublinhamos, colocamos em enxergo certas passagens268. Assim, ao escolhermos os acontecimentos que vamos registrar, moldamos o sentido com o qual desejamos perpetuar nossa vida. Arquivar a prpria vida se pr no espelho, contrapor imagem social a imagem ntima de si prprio, e nesse sentido o arquivamento do eu uma prtica de construo de si mesmo e de resistncia269. Podemos pensar as cartas de Manoel Raimundo tambm como uma prtica de arquivamento do eu, j que na tessitura de si ele se construa e buscava foras para resistir situao traumtica. Arquivar a prpria vida desafiar a ordem das coisas: a justia dos homens assim como o trabalho do tempo270.
Ainda estou vivo, apesar de ter a sade abalada sade que havia chegado ao meu corpo, partiu Manoel Raimundo resistia e, sem saber, preparava o prprio processo: reunir as peas necessrias para a prpria defesa, organiz-las para refutar a representao que os outros tm de ns271. Foram as cartas a Betinha que possibilitaram reconstruir a trajetria do suplcio de Manoel Raimundo, a partir delas outros documentos juntaram-se ao processo judicial que tratou do assassinato do sargento. De prtica ntima o arquivamento de si adquire, muitas vezes, uma funo pblica que sobrevive ao tempo e
Philippe Artires. Arquivar a prpria vida (disponvel em: www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/234.pdf), p.5. Idem. 269 Idem, p.3. 270 Philippe Artires. Arquivar a prpria vida (disponvel em: www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/234.pdf),p.29. 271 Idem.
268
267
111
morte, no como um processo de sujeio, mas como uma forma de subjetivao, como um dispositivo de resistncia272.
Ao escrever a Betinha, subjetivando-se e resistindo, Manoel Raimundo mostravase, permitindo esposa v-lo. A carta torna o escritor presente a quem se dirige, diz Foucault, tratando-se, mesmo, de uma presena imediata e quase fsica. Atravs das cartas, Betinha273 sentiu pela ltima vez a presena quase fsica de Manoel. Se existiram outras cartas, alm das que foram reproduzidas aqui, no chegaram a ela. Em Porto Alegre, restoulhe reconhecer o corpo assassinado do marido. Assassinato que representa o aborto da linguagem e do pensamento, da liberdade e da necessidade, do prprio mundo e do tempo que transcende sua medio, da convivncia e da relao de qualquer tipo274.
3.9. Eplogo: queima de arquivo
A histria de tortura e assassinato que envolveu Manoel Raimundo em Porto Alegre no terminava a. Um tenente reformado da Aeronutica, Mario Ranciaro, elaborou em 1972 um dossi sobre o assassinato de Manoel, bem como do assassinato, em 1971, do sargento Hugo Kretschoer. Kretschoer teria participado do assassinato de Manoel Raimundo. Ranciaro entregou o dossi ao advogado da esposa de Manoel. No dossi vrios nomes de policiais e militares envolvidos nos assassinatos, com datas, locais, nomes de testemunhas, horrios e descries minuciosas de ambos os casos. Com base nos documentos apresentados por Ranciaro e nos levantados pelo promotor Cludio Tovo, o advogado de Elizabeth Challup Soares, Cludio Schuch entrou com vrios processos, inclusive um IPM (Inqurito Policial Militar) contra vrios civis e militares. Todos os rus foram absolvidos por falta de provas. Na contrapartida, moveram processos contra Ranciaro e Schuch, que tambm foram absolvidos. Dentre os acusados pelo tenente
Idem, p.30. Aps sucessivas aes de indenizao e responsabilizao dos culpados pela morte de seu marido, somente em setembro do ano de 2005 Elizabeth Challup Soares conseguiu a responsabilizao oficial da Unio pela morte de Manoel Raimundo, na forma de indenizao e pagamento de penso. 274 Ricardo Timm de Souza. Sentido e Alteridade (Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000), p.43.
273
272
112
reformado da Aeronutica, alguns nomes conhecidos e poderosos no comando da represso no Rio Grande do Sul. O mais importante deles, provavelmente tenha sido o nome de tila Rohrsetzer, ento diretor da DCI/SCI.
Na verso de Mario Ranciaro, o assassinato de Manoel Raimundo e os envolvidos no caso:
Na noite de 13 de agosto de 1966, cerca das 23h30min, o ex-sargento Manoel Raimundo Soares, quando descia as escadas do DOPS, por ocasio de sua pseudoliberao do rgo policial, foi agarrado e colocado dentro de um caminho do Exrcito, por militares do III Exrcito, cuja viatura militar era dirigida pelo sargento Hugo Kretschoer (...) Segundo informaes colhidas, o ento capito tila Rohrsetzer (...), junto com diversos sargentos, entre os quais Nilo Vaz de Oliveira, Francisco Behs, Celso Jurandir da Silva, Volnir Pereira Alves, Joo Eloir de Brito, Itamar de Mattos Bones, Hugo Kretschoer, cabo Iter Vaz de Oliveira, entre outros, conduziram o ex-sargento Manoel Raimundo Soares para o Rio Jacu, em cujo local, a vtima foi trucidada pelos referidos militares275.
Na seqncia de seu relato Ranciaro diz que a morte de Hugo Kretschoer foi conseqncia direta do assassinato de Manoel Raimundo. O sargento Kretschoer foi o motorista que conduziu o caminho do III Exrcito at o Rio Jacu, tendo sido um dos carrascos de Manoel. Segundo relato de um ex-integrante da Dopinha, que disse ter participado do assassinato de Manoel Raimundo, Hugo Kretschoer teria inclusive colocado uma pedra nas costas de Manoel enquanto ele era submetido ao caldo fatal276. Assombrado pela lembrana do assassinato, Kretschoer passou a beber demais e nessas ocasies relatava o ocorrido, citando o nome dos envolvidos em alguns bares da cidade. Marta Huggins277, referindo-se a policiais de unidades especiais, diz que estes no toleram os drogados, os bbados e aqueles que podem perder o controle facilmente. Esse parece ter sido o caso de Hugo Kretschoer, que no agentou a presso psicolgica por ter participado da morte de um colega do exrcito. Se, como diz a sociloga, os torturadores e assassinos oficiais so fabricados, e no simplesmente personalidades sdicas como
275
Jornal O Rio Grande, 11 a 15 de outubro de 1979, p.16. Declarao de um ex-integrante da Dopinha. Acervo do MJDH/RS. 277 Operrios da violncia (Braslia: Ed. da UNB, 2006).
276
113
comum pensarmos nos prximo captulo analiso mais detidamente a tipologia dos torturadores e assassinos elaborada por Huggins -, em condies especficas muitas pessoas comuns ou normais podem tornar-se torturadores. Nesse caso, o que a sociloga denomina de job bournout ou bournout quando torturar e matar regularmente passa a assombrar o perpetrador pode ser um acontecimento comum na vida desses perpetradores. Alcoolismo, dores fsicas, insnia, dificuldade em manter laos conjugais, familiares e de amizade so alguns efeitos do bournout.
Provavelmente, assombrado pelos crimes cometidos, Kretschoer passou a beber e a falar demais contar do assassinato de Manoel Raimundo, citando os nomes dos envolvidos tornando-se um problema para o grupo liderado por Menna Barreto e tila Rohrsetzer. Caracterizando as organizaes policiais como democracias defensivas, Huggins diz que as organizaes policiais protegem seus segredos dos estranhos mediante uma srie de estratgias desde votos de sigilo at punio fsica278. Os integrantes dessas instituies e mesmo dos grupos informais de extermnio aprendem o valor de no dar com a lngua nos dentes. Um dos policiais civis de Porto Alegre pseudnimo de Jacob -, entrevistado por Huggins, disse que logo em seus primeiros dias na corporao, teve de aprender a ver as coisas e ficar calado, porque a maioria dos policiais de sua equipe era capaz de matar qualquer um to fcil quanto clic, clic279. A regra no falar sobre o que se v ou participa. Existe algo como um acordo de segredo, perceptvel inclusive nos raros casos em que algum policial acusado e preso mesmo esses no contam nada. Hugo rompeu esse acordo, portanto, no era confivel. Persona non grata, indesejado e perigoso para a represso, rapidamente sua vida passou ao estatuto de vida nua, como era a de Manoel Raimundo aps sua expulso do Exrcito. Como homo sacer, foi assassinado. No dossi elaborado por Mario Ranciaro, os detalhes:
Na noite de 11 para 12 de junho de 1971, no Cassino dos Sargentos, da 1a. Cia de Guardas, foi engendrada uma cilada preparada pelos sargentos do Exrcito Nilo Vaz de Oliveira, Francisco Behs, Joo Eloir de Brito, Volnir Pereira Alves e outros, com a participao das mulheres da boate: Maria Soares (Saionara), Tatiana Vila Lobos, Zoraide Renata Rathke, Eliane, Elaine, Maria Helena, Eni
278 279
Idem, p.116. Idem, p.116.
114
Talu, Tosca de Freitas, Betti Geni Gomes (Suzana), Marlene e outras, para assassinarem o sargento Hugo Kretschoer 280.
Consta no dossi que por volta das 23h do dia 11, os militares saram do cassino e se dirigiram Boate Mnica. Na boate, o evento do dia era uma festa de despedida para Maria Helena Erraez, argentina que dirigia a boate. Embriagado e dopado, o sargento Hugo falou do assassinato de Manoel Raimundo, citando os nomes dos envolvidos. E na boate mesmo Hugo apanhou e foi baleado pelos seus colegas militares. A lista de pessoas que teriam presenciado o acontecimento, citadas por Ranciaro, foi grande, entre elas o ento Cnsul de Portugal, e outras autoridades civis e militares presentes no local. Segundo o relatrio,
o sargento Kretschoer saiu da boate quase morto e depois foi assassinado dentro de um caminho militar com um tiro na nuca desferido pelo segundo tenente Luiz Otvio Lopes Cabral, atrs da Igreja da Catedral (...) Logo em seguida compareceu ao crime o padre da Catedral Olavo Moesch que viu o corpo ser tirado do caminho e colocado atrs da Igreja. O referido padre quando viu o estampido da bala teria telefonado para a Polcia Civil e comunicado o crime. Compareceram ao local os policiais do Planto Central e do Centro de Operaes e o pessoal da Polcia do Exrcito. Houve gritos entre os participantes do crime. O cabo Bruno Hackman, que dirigia o veculo onde Kretschoer foi assassinado, simulou um acidente de trnsito na avenida Borges de Medeiros defronte ao cinema Capitlio. Os participantes arranjaram outro caminho militar, no deixando que os policiais civis levassem o corpo para o IML. O corpo foi levado ao prdio da rua Bento Martins, 475/2, onde residia Eurico Rillo Campos, funcionrio pblico aposentado. Em seguida o corpo desceu enrolado num cobertor de l e num lenol, sendo colocado num txi da empresa do sargento Francisco Behs, e foi jogado num banhado prximo Rdio Gacha281.
O relatrio elaborado por Ranciaro foi entregue ao Superior Tribunal Militar (STM) e acabou sendo arquivado. Nenhuma das testemunhas citadas no relatrio foi procurada para esclarecimento, e a esposa de Hugo, Angela Pantoniolli Kretschoer, que residia na cidade de Caxias do Sul, desapareceu.
No dossi elaborado pelo MJDH/RS, o local mais exato onde foi jogado o corpo de Hugo foi num banhado perto da ponte do Rio Jacu, BR-116, Km 8, ao lado de uns painis
280
Jornal O Rio Grande, 11 a 15 de outubro de 1979, p.16.
115
de propaganda da firma Hlio Lux, quase defronte estao da rdio gacha282. Apesar das denncias, a verso oficial dos militares era a de fabulao: Hugo Kretschoer sequer existiu, Mario Ranciaro era um louco. Para sustentar essa verso, o nome de Hugo e seu irmo, tambm sargento do exrcito, Egon Kretschoer, foram suprimidos do Almanaque do Exrcito. Somente uma certido solicitada em um cartrio da cidade confirmava e existncia do sargento.
At agosto de 1974 no havia vestgios do corpo de Hugo Kretschoer. No dia 14 de agosto de 1974, foi encontrada por funcionrios da empresa Helio Lux a ossada de um homem alto, como era o sargento desaparecido. Prximo ao cadver estaria a carteira de identidade de Kretschoer. O levantamento tcnico do esqueleto humano encontrado foi feito pelos patrulheiros do DNER do posto de Guaba283. Inquiridos oficialmente, os policiais negaram o fato. Contudo, dois documentos internos, um ofcio da Delegacia de Polcia de Guaba e outro do 10o Distrito Rodovirio Federal, contradizem a negativa oficial. Sendo que no ofcio da polcia rodoviria assinado pelo chefe do 10o DRF temos, alm da confirmao de que um esqueleto humano fora encontrado, a confirmao de que este havia sido identificado como pertencendo a Hugo Kretschoer284. O ofcio data de 15 de junho de 1976, e nele encontramos explicaes acerca da ao da polcia rodoviria no caso:
(...) informamos que a atuao da Polcia Rodoviria Federal no episdio relacionado com o achado de um esqueleto humano nas proximidades da ponte sobre o Rio Jacu, no ms de agosto de 1974, mais tarde identificado como sendo restos mortais do Sr. Hugo Kretschoer, restringiu-se a fazer a comunicao do fato ao Departamento de Polcia Metropolitana, uma vez que em tais circunstncias outras providncias estavam fora de suas competncias (...)285
Jornal O Rio Grande, 11 a 15 de outubro de 1979, p.17. Dossi da existncia e do desaparecimento do sargento Hugo Kretschoer. Acervo do MJDH/RS. 283 Dossi da existncia e do desaparecimento do sargento Hugo Kretschoer. Acervo do MJDH/RS. 284 Ofcio 1440, do 10o Distrito do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Acervo do MJDH/RS. 285 Idem.
282
281
116
No documento fica claro que o reconhecimento da ossada foi efetuado pelos policiais rodovirios. No auge da represso, abafar um caso assim no era difcil para os militares e policiais.
Em 1979, inconformado, Mario Ranciaro entrou com nova denncia solicitando aos poderes pblicos investigaes sobre o desaparecimento e morte de Hugo Kretschoer. Sua denncia foi encaminhada Procuradoria Geral do Estado. tila Rohrsetzer, novamente citado, desta vez tambm pelo caso do seqestro dos uruguaios, entrou com um inqurito policial militar contra Ranciaro alegando perseguio, insanidade mental e solicitando sua priso. A imprensa da poca noticiou o caso286, enquanto o advogado de Ranciaro tentava impedir a priso de seu cliente e sua conduo a um hospital psiquitrico no Rio de Janeiro para ser submetido a uma junta mdica. Este foi o terceiro processo que tila moveu contra Ranciaro, e o nico que resultou na deteno temporria do tenente reformado da Aeronutica.
A nova denncia de Ranciaro trouxe a viva de Manoel Raimundo de volta a Porto Alegre, no ano de 1981. As denncias reabriram o caso mos amarradas, e Betinha viajou por vinte e sete horas num nibus para prestar depoimento e relembrar os nomes dos assassinos de seu esposo de acordo com o relatrio da CPI da Assemblia Legislativa gacha. Na poca, dona Elizabeth Challup Soares trabalhava como copeira em uma firma de automveis no Rio de Janeiro, no tendo direito sequer penso devida pela morte de seu marido287.
O caso do desaparecimento de Hugo Kretschoer jamais foi esclarecido. Na poca de sua morte, mais dois assassinatos foram cometidos tambm sem esclarecimento: o do cabo do exrcito Bruno Hackaman (segundo consta ele dirigia o caminho onde Hugo foi conduzido no dia de sua morte), e o do guarda civil, Luiz Burle de Cardoso (dono da lancha que conduziu Manuel Raimundo ao rio Jacu).
286
Jornal Zero-Hora, 08/10/1979, p.16.
117
Em Elite da Tropa, um dos policiais narra o assassinato de um companheiro. Segundo esse policial, Lisboa o policial assassinado rompera com uma regra do BOPE, a regra de jamais se corromper, no aceitar suborno, no traficar, etc. O comandante Camargo reuniu os oficiais e tivemos de tomar a penosa deciso. Na manh seguinte, quando chegava do planto, Lisboa foi morto, na porta de casa, por dois homens, numa motocicleta288. O assassinato nunca foi esclarecido. O policial que relata o caso de Lisboa, na continuao do texto acaba concluindo que ele e seus companheiros de atrocidades so manipulados e que [suas] vidas no valem porra nenhuma289. O sistema organizado da violncia durante a ditadura, para Martha Huggins, compunha-se por facilitadores respeitveis e poderosos290 que por sua presena, atuao e apoio, legitimavam esse sistema. Ligados a eles estavam os perpetradores diretos da violncia, menos poderosos e menos respeitveis. Estes ltimos eram importantes enquanto serviam aos primeiros, como foi o caso de Kretschoer. Quando passavam a ser indesejveis ao sistema, sua vida deixava de valer, e com um clic podiam ser executados. Certamente no havia inocncia por parte desses torturadores ou assassinos, conheciam as regras, ou o acordo de silncio.
Nenhum vestgio de sacralidade na vida desses personagens. Vidas descartveis na contrapartida das vidas protegidas. Em Rompendo o silncio, o coronel citado em inmeras listas de torturadores, Brilhante Ustra, elogia os envolvidos no assassinato de Manoel Raimundo, e envolvidos, posteriormente, na morte de alguns de seus subordinados na represso. Agradece pelos servios prestados e pela eficincia no combate subverso, especialmente a tila Rohrsetzer, seu amigo e companheiro de turma291. O caso de Hugo Kretschoer demonstra que mesmo oficialmente extinta a Dopinha, seus integrantes continuavam a agir, agir com ampla liberdade e licena para matar.
Informaes retiradas de depoimentos que Elizabeth Challup Soares concedeu ao Jornal do Brasil de 01/04/1981. Disponvel no acervo do MJDH/RS. 288 Luiz Eduardo Soares, Andr Batista e Rodrigo Pimentel. Elite da Tropa (RJ:Objetiva, 2006), p.52. 289 Idem, p.137-138. 290 Operrios da violncia (Braslia: Ed. da UNB, 2006), 311. 291 Carlos Alberto Brilhante Ustra. Rompendo o silncio (Braslia: Editerra, 1987), p.128.
287
118
119
4. Luiz Alberto: um adolescente no DOPS/RS
Eles no esto satisfeitos, o que basta para tornar vos o distanciamento e o esquecimento. (Maurice Blanchot)
H mais de vinte anos teve fim a ditadura militar no Brasil. Desde ento poucos arquivos foram abertos aos pesquisadores. Ningum recebeu punio pelos crimes perpetrados a anistia foi complacente com todos. J no discurso de Tancredo Neves, presidente eleito indiretamente em 1984 que condenava o revanchismo, salientando como a Nova Repblica representava mais uma passagem e menos uma ruptura , percebemos que a poltica de conciliao e esquecimento continuou sendo prtica dominante no pas. Entretanto, a insatisfao inspira algumas pessoas a manterem prximas um passado muito atual. Graas a elas, ns pesquisadores conseguimos acessar informaes, depoimentos, documentos de uma poca que apesar de prxima, tem seus vestgios mergulhados numa poltica de esquecimento.
Essa poltica de esquecimento foi visvel no Rio Grande do Sul, quando a queima dos acervos do DOPS foi ordenada pelo ento governador Amaral de Souza e efetuada em 27 de maio de 1982 dois dias depois da extino do prprio DOPS. Entretanto, alguns vestgios levam a crer que os documentos foram microfilmados e encontram-se at hoje sob a proteo do Exrcito e da Polcia no estado. Alm de uma declarao de um exfuncionrio292 do DOPS gacho, documentos disponveis no Movimento de Justia e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul (MJDH/RS) comprovam que os arquivos da polcia poltica continuam sob a guarda dos rgos de informao.
Entre 28 de fevereiro e primeiro de maro de 1983, reuniram-se em Porto Alegre algumas pessoas que lutavam pela redemocratizao do Uruguai, num encontro organizado pelo MJDH/RS com o apoio da Assemblia Legislativa do Rio Grande do Sul. De Londres
120
veio Wilson Ferreira Aldunate e, de Washington, seu filho Juan Raul Ferreira. Wilson Ferreira tinha sido senador pelo Partido Nacional do Uruguai (Partido Blanco) e sua insero poltica lembrava muito a figura de Joo Goulart. Em 1971, Wilson Ferreira concorreu s eleies presidenciais no Uruguai, mas sua vitria no foi reconhecida. Com a ascenso dos militares uruguaios, dois anos mais tarde Wilson Ferreira foi para o exlio.
A vinda dos Ferreira a Porto Alegre, bem como das pessoas que vieram do Uruguai para encontr-los, movimentou os rgos de informao uruguaios e brasileiros. A lista de passageiros e os horrios de sada e chegada do nibus vindo de Montevidu, bem como o local e os dados minuciosos das hospedagens em Porto Alegre (cpia das fichas dos hotis com nmero dos quartos, movimentao dos hspedes, etc), as escutas telefnicas, entre outros, compunham um relatrio encaminhado pelo Cnsul Geral do Uruguai em Porto Alegre, senhor Raul Liard, ao Embaixador do Uruguai no Brasil Alfredo Platas -, em Braslia.
As vrias pginas do relatrio com timbre de confidencial compunham um relato dos passos de Wilson Ferreira e seus simpatizantes em Porto Alegre. Em meio s informaes e cpias das fichas de hospedagem e relao de passageiros, anexadas por Raul Liard, encontravam-se, tambm, fichas do DOPS/RS do advogado Rgis Armando Ferreti. Isso porque, enquanto estiveram na cidade, Wilson Ferreira e seu filho foram Assemblia Legislativa no carro que pertencia a Rgis Ferreti, fichado no DOPS/RS como membro do Partido Comunista Brasileiro:
Como ltima consideracin, informo al Seor Embajador que la visita realizada al Congresso subi a un vehculo Alfa Romeo, chapas: WZ-5490, perteneciente al Dr. Armando Ferreti, miembro del Partido Comunista Brasileo, llamando la atencin la actitud que a mitad del camino cambiara de auto (quizs por medida de seguridad o quizs para no aparecer en el auto de un conocido membro del Partido Comunista). Se anexa ficha confidencial del Dr. Ferreti293.
Carta de Arquimedes Luchtemberg Ribeiro enviada ao Deputado Estadual Marcos Rolim, presidente da CPI da Espionagem, datada de 29 out. 1991. Acervo Particular CPI da Espionagem. Acervo da Luta contra a Ditadura.
292
121
Ficha que teoricamente havia sido incinerada, juntamente com os demais arquivos do DOPS/RS no ano anterior. Todavia, as fichas do DOPS - confidenciais -, relatos de vigilncia, no caso, vigilncia dos passos do senhor Rgis Armando Ferreti, continuavam intactas: de maio de 1961 a maro de 1983, suas aes foram registradas pelos agentes de informao, como mostram os documentos disponveis no Acervo do MJDH/RS.
Em 31 de julho de 1985, a Revista Veja publicou uma ampla matria intitulada O olho do Uruguai294 com base nos documentos que faziam parte do relatrio de Raul Liard, relatrio que chegou s mos de Wilson Ferreira, que por sua vez entregou cpia do mesmo aos coordenadores do Movimento de Justia e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Procurado pelos jornalistas da Veja, Amaral de Souza, na condio de governador do estado que em 1982 ordenou a queima dos arquivos do DOPS, declarou que no sabia como esses documentos foram preservados e disse considerar um absurdo terem sido entregues a estrangeiros, no entanto, no se julgava responsvel, pois apesar de ordenar a queima, o cargo que exercia o mantinha distante dos detalhes prticos. As declaraes dos demais responsveis foram semelhantes. Nenhuma autoridade manifestou interesse em investigar o caso. No entanto, esses documentos indicam que os arquivos do DOPS/RS, provavelmente em cpias microfilmadas, permanecem em poder dos rgos de informao.
Mesmo sem esse material, buscando outras fontes tanto em Porto Alegre como em outras capitais que recebiam comunicados da polcia poltica gacha -, o funcionamento, a violncia e as estratgias do DOPS/RS durante a ditadura militar foram esmiuados no excelente trabalho de dissertao de Caroline Silveira Bauer295. Prticas de terrorismo de estado, afirma Bauer, referindo-se atuao do DOPS/RS entre os anos de 1964 e 1982. Mas a violncia da polcia poltica no se voltou somente aos militantes polticos, eis o que pretendo mostrar nesse captulo. Durante a ditadura militar, difundiu-se explicitamente contra setores mdios e intelectualizados da sociedade uma prtica comum nas delegacias
293
Correspondncia do Cnsul Geral do Uruguai em Porto Alegre ao Embaixador do Uruguai, datada de 04/03/1983. Acervo do MJDH/RS. 294 Acervo do MJDH/RS. 295 Avenida Joo Pessoa, 2050 - 3o andar: terrorismo de estado e ao de polcia poltica no Departamento de Ordem Poltica e Social do Rio Grande do Sul (1964-1982). Dissertao de Mestrado. Porto Alegre: UFRGS/PPG em Histria, 2006.
122
do pas: a tortura. O que no impediu que a violncia contra as pessoas que desde seu nascimento compem a vida nua seguisse seu curso. Segundo Huggins,
o que talvez se sobressaia ao reinado dos militares, de 1964 a 1985, em comparao com a violncia patrocinada pelo Estado contra seus cidados, anterior e posteriormente a ele, foi sua amplitude e intensidade especialmente contra classes sociais antes poupadas desse tipo de violncia e sua justificao pela ideologia da segurana nacional, bem como o desenvolvimento de complexas estruturas organizacionais de apoio para a execuo mais eficiente da represso patrocinada pelo Estado296.
A represso nesse perodo foi incrementada tendo como alvo principal os presos polticos, contudo, esse incremento repressivo atingiu tambm os presos comuns - j de longa data vtimas da violncia policial. O Caso Arbalo, que envolveu a polcia poltica, mais um dos inmeros casos de violncia social, rotineira nas delegacias do pas. Sua especificidade, entretanto, desperta nossa ateno: um adolescente, afilhado de um delegado, foi confinado e torturado (de acordo com o relatrio da CPI que investigou o caso) no DOPS/RS.
4.1. O Caso Arbalo
Na tarde do dia 30 de janeiro de 1973, Luiz Alberto Pinto Arbalo, um adolescente de 17 anos de idade, foi recolhido s dependncias do DOPS/RS em Porto Alegre. Subverso? Envolvimento na luta poltica? Terrorismo? No. Luiz Alberto foi levado ao DOPS por ser filho da empregada de Pedro Seelig delegado lotado no DOPS e coordenador do rgo na poca. Por qu? Para levar um susto. Seu crime: teria desviado alguma quantia em dinheiro da Sociedade Amigos da Vila Cristal do qual Pedro Seelig era presidente. Eplogo? Luiz Alberto do DOPS foi conduzido ao Hospital Sanatrio Partenon alguns dias depois, devido ao estado precrio de sua sade. Morreu poucas horas aps ser atendido pelos mdicos. Causa da morte: complicaes pulmonares oriundas de afogamento. Tortura, concluiu o relatrio final da CPI que investigou o caso.
123
Um adolescente recolhido ao DOPS/RS para um susto. Era afilhado de um delegado conhecido por sua atuao no combate subverso. Luiz Alberto Arbalo foi mais um caso flagrante de vida nua, lixo humano, morte destituda da aura sacrificial que desnuda o tratamento policial e o estado de exceo para alm da ditadura poltica vivenciada na poca. Anomia capturada pelo ordenamento.
4.2. Filho de criao As poucos, as fronteiras foram sendo apagadas pela seqncia das loucuras mais extravagantes. A realidade foi se tornando mais grave, mais absurda e menos verossmil. A tal ponto que, poucos anos depois, o testemunho verdadeiro no se distinguia do delrio. (Elite da Tropa, p.148)
Ao depor na CPI criada para investigar o Caso Arbalo, entre os anos de 1973 e 1974, o delegado Pedro Carlos Seelig mostrou-se profundamente abatido. Segundo ele estava traumatizado com a morte do menor, que considerava seu filho de criao297. Beto como Seelig chamava Luiz Alberto era filho de sua empregada. H anos acompanhava a educao do menino. Teria inclusive internado Beto no Colgio Dom Bosco298 para aprimorar sua educao. Mais tarde soube-se que Seelig conseguiu uma bolsa para o menino, que permaneceu na escola por um ano. Luiz Alberto foi tirado do colgio com dez ou onze anos de idade para morar com o delegado e sua famlia. Motivo: Beto deveria tomar conta do filho pequeno de Seelig. Segundo os relatores da CPI: Beto passa a acumular duplas funes: de mucamo e de biscateiro. Porque Seelig passa a dar-lhe outros biscates. O menino quem lhe corta a grama; quem lhe lava o carro; quem faz as pequenas pinturas da casa299.
Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.438. 297 Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.10. 298 Colgio Catlico de Ensino Fundamental e Mdio atualmente atua tambm na Educao Superior situado no bairro Passo da Areia em Porto Alegre. 299 Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.10.
296
124
Quando Pedro Seelig foi eleito presidente da Associao do Bairro Cristal em Porto Alegre, fez de Beto o cobrador da Sociedade. Suas boas intenes com o trabalho que rendia muito pouco a Luiz Alberto, conforme os dados colhidos pelos deputados que elaboraram a CPI para o filho de criao era de ir dando um rumo vida de Luiz Alberto300. Nos primeiros meses o adolescente prestou contas diretamente ao delegado das cobranas, depois Seelig ordenou a ele que prestasse contas ao tesoureiro da associao.
Luiz Alberto tinha, ento, dezessete anos de idade. Nessa poca, declarou Seelig, comearam a surgir os primeiros sinais da crise. Crise? Sim, crise. Afinal, Pedro Seelig estava justificando a necessidade do susto a que submeteu o menino. Em seu depoimento o delegado afirmou que Beto passara a dormir fora de casa e s vezes mostrava-se nervoso301. Para o policial esse estado devia-se ao fato de Luiz Alberto ter arranjado uma namorada, e provavelmente fosse na casa dela que passava as noites. Era um caso de seduo, afirmou Seelig. Seduo? Sim, Beto provavelmente seduzira, alm da namorada, mais alguma menina.
Entretanto, o delegado reconheceu que havia se enganado com os sintomas da crise de Beto. Exagerou? No, o caso era muito mais grave302. Mais grave? No, muito mais grave. O delegado descobriu isso no dia 29 de janeiro de 1973 quando Luiz Alberto o procurou nas reparties do DOPS, dizendo que tinha algo importante para falar-lhe. Havia gasto algum dinheiro da Sociedade, do qual no prestara contas. Diz o relatrio que a notcia surpreendeu Seelig, mas Beto procurou justificar-se, alegando que tinha andado em ms companhias. Esse detalhe das ms companhias importante pois, mais tarde, em novo depoimento, as ms companhias se transformam em uns caras que faziam Beto ficar nervoso s de lembrar. Beto teria, provavelmente, apanhado desses caras - assim o delegado justificou no segundo depoimento a presena de hematomas no corpo do adolescente. Contudo, Seelig no lembrou desses detalhes no primeiro depoimento. S depois. No segundo depoimento CPI lembrou inclusive que Luiz Alberto chorava
Idem, p.10. Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.11. 302 Idem, p.11.
301
300
125
temendo os caras e respondendo ao ser perguntado sobre quem eram eles, que a histria ia longe, tio Pedro303. Ao ouvir a confisso espontnea de Luiz Alberto, Pedro Seelig
ficou praticamente sem ao. Afora o prejuzo que ia ter, Luiz Alberto dava, com seu procedimento, uma prova de ingratido. Seelig no tem, na hora, condies de serenidade para tomar uma atitude. Manda o menor de volta para casa304.
Como no encontrou o adolescente noite quando chegou em casa, o delegado resolveu procurar a me de Beto. Aps contar tudo a dona Ligia Arbalo, esta pediu-lhe que levasse seu filho ao DOPS. Seelig disse no ter gostado da idia, afinal no podia envolver assuntos pessoais com as funes que exercia no Departamento305. Mas acabou concordando, no sem antes pensar em pedir o recolhimento do menor a um rgo especializado, no caso, a Delegacia de Menores306. Verso do delegado que mais tarde chocou-se com a verso da me da namorada de Luiz Alberto. Mas continuemos com as declaraes do principal acusado. A idia de levar Beto ao DOPS para um susto foi da prpria me do adolescente! Idia inicialmente afastada pelo delegado. No achava bom misturar assuntos pessoais com assuntos profissionais. Mas bem, acabou cedendo:
Seu grau de amizade com Beto era tal que ele resolveu assumir a responsabilidade pessoal de traz-lo para o DOPS. Ali poderia t-lo sob suas vistas, observar sua conduta (entre as quatro paredes de uma Delegacia) e poderia ainda colher informaes sobre as ms companhias com quem Beto andava 307.
Pedro Seelig designou dois policiais para buscarem o adolescente na casa da namorada e traz-lo para o Palcio da Polcia - queria colher informaes. Beto chegou ao DOPS em torno de 15h e foi conduzido para um alojamento ocupado por funcionrios. Ou seja, oficialmente Luiz Alberto no ficou em uma cela. Mais tarde um dos mdicos da polcia contradisse essa informao ao responder que atendeu Arbalo em uma cela. Acrescentando no segundo depoimento declaraes sobre a deteno de Luiz Alberto, o
Idem, p.19. Idem, p.11. 305 Idem, p.11. 306 Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.11. 307 Idem, p.12.
304
303
126
delegado Pedro Seelig disse que, refletindo sobre o caso, teria ficado muito preocupado imaginando quem seriam os tais caras que teriam envolvido Beto. Concluiu, ento, que o menino poderia ter sido envolvido por agentes da subverso, afinal sendo ele autoridade do DOPS, h muito empenhada no combate a subverso e j ameaado por elementos subversivos, no se trataria de um esquema montado visando atingir sua pessoa, aproveitando a ingenuidade do menino?308. Da seduo subverso, sups o delegado.
Na mesma tarde em que Luiz Alberto foi conduzido ao DOPS, a me da namorada dele procurou Seelig. Com a senhora estava a irm de Beto. Segundo o delegado, ele acusou a me e o pai de Dudi a namorada de Luiz Alberto pelo comportamento do adolescente nos ltimos tempos. Sua principal reclamao era de que depois do seu namoro com Dudi, Beto j no realizava corretamente as tarefas caseiras de que era incumbido309. E no entendia como ela e seu esposo permitiam que um menor lhes freqentasse a casa. Pedro Seelig disse que a me de Dudi concordou com tudo que o delegado colocou e ainda acrescentou mais coisas estranhas ao comportamento de Luiz Alberto. A essas alturas, o relato do delegado vai ficando cada vez menos verossmil. Diz ele que a me de Dudi contou que Beto s andava de txi, que levava gneros (alimentcios) para sua casa, e ainda que Beto tinha uma amante que ficara grvida e fora submetida a um aborto.
O depoimento de dona Maria Snia de Oliveira Fonseca, me da namorada de Luis Alberto, CPI, foi de encontro s declaraes de Pedro Seelig. Contou dona Maria Snia que numa segunda-feira o adolescente passou em sua casa bastante nervoso, dizendo que tinha de acertar umas contas com o tio Pedro310. No dia seguinte quem apareceu na casa de dona Snia foi Luzia irm de Luis Alberto a mando da me do menino. Luzia fora mensageira de um pedido da me de Luis Alberto: que dona Snia fosse ao DOPS interceder por Beto junto ao delegado Pedro Seelig, j que este estava muito brabo com o rapaz. A mesma pessoa que pediu ao delegado para dar um susto no filho!
308 309
Idem, p.19. Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.20-21.
127
Dona Maria relatou que j sabia pelo prprio Luiz Alberto do problema referente s cobranas da sociedade. Atendeu ento o pedido da me de Beto dirigindo-se ao DOPS. Chegando l pediu para falar com Seelig solicitando uma nova chance a Luiz Alberto. Eis a resposta do delegado:
...que no daria a oportunidade pedida pela depoente...que Beto o teria deixado em m situao perante a Associao... e que o que dele est guardado, tendo a depoente entendido...que tal expresso significava que Beto iria ser castigado311.
Dona Maria retornou sua casa e logo em seguida l chegou um policial do DOPS para levar Luiz Alberto, com ordens do delegado Pedro Seelig. O adolescente manifestouse dizendo que iria mais tarde e no naquele momento, entretanto, o policial foi enftico: Luiz Alberto deveria seguir com ele imediatamente. Foi a ltima vez que dona Maria Sonia viu Luiz Alberto com vida. A senhora foi ainda mais categrica em seu depoimento ao afirmar no ter dito a Pedro Seelig que Beto tinha uma amante. Tambm no disse que Luiz Alberto andava s de txi. Quando andavam de txi ela ou a madrinha de Dudi pagavam. Acerca dos gneros que Beto comprava, a senhora relatou que o adolescente chegou a levar po e leite algumas vezes, nas quais fez as refeies em sua casa312.
Pedro Seelig declarou que Beto comeou a passar mal logo ao chegar ao DOPS. Vomitou, pois havia comido carne de porco no almoo, segundo contou aos policiais. Dona Maria Snia garantiu que o adolescente estava bem ao sair de sua casa. No comera carne de porco. Ainda segundo Seelig, Beto tambm estava nervoso. Juntando as duas coisas, temos a explicao da indisposio do adolescente. A partir de ento, Luiz Alberto foi atendido pelos mdicos da polcia, e da indisposio digestiva o caso agravou-se para uma suspeita de pneumonia. Para conseguir hospitalizar o adolescente, j s vsperas de sua morte, o delegado instruiu seus subordinados a dizerem que o adolescente tivera problemas com assaltantes. O eplogo j conhecemos. Vejamos agora o que diziam os mdicos.
310 311
Idem, p.120. Idem, p.120.
128
4.3. Os mdicos ...por isso, resolveu deix-lo no Departamento, onde poderia ser permanentemente assistido pelos mdicos que prestam assistncia aos presos polticos... (Pedro Seelig)
No elenco dos facilitadores da violncia durante a ditadura militar estiveram mdicos, advogados, enfermeiros, polticos, etc. O papel dos mdicos e enfermeiros era fundamental para que o aparato da tortura, enquanto mtodo de interrogatrio, extrasse o mximo de informaes de suas vtimas. Cabia-lhes precisar o quanto o torturado poderia agentar no suplcio. Auxiliavam os torturadores em seu mtier. A tarefa desses profissionais nesse caso restringia-se em prolongar a vida, para que a vtima resistisse por mais tempo ao sofrimento e tortura. Um corpo morto no fornecia informaes. E quando isso acontecia morte sob tortura os mesmos mdicos forneciam os atestados de bito: morte em tiroteios, atropelamento ou suicdio eram os mais comuns. Encobrindo e negando as torturas praticadas pelos agentes da represso, esses profissionais produziam uma outra histria, assassinavam pela segunda vez os militantes313. Referindo-se atuao dos mdicos e cientistas na perspectiva da ordem biopoltica moderna, Agamben diz que ambos movem-se naquela terra de ningum onde, outrora, somente o soberano podia penetrar314. Ou seja, decidindo a vida outorgam tambm a morte do homo sacer. Agem num espao de exceo no qual a vida nua est sujeita ao homem e suas tecnologias, nesse caso, ao homem e suas tcnicas de tortura.
Dois mdicos que prestavam servio ao DOPS/RS na poca, atenderam Luiz Alberto no DOPS: Luiz Ingleto e Manoel Luiz Vilella. Tambm o enfermeiro e escrivo de polcia Nelson Paganotto. Segundo Pedro Seelig, eram sete os mdicos que atendiam ao DOPS. Contudo, questionado sobre o nome dos referidos profissionais, disse no lembrar. Ingleto, Vilella e Paganotto confirmaram as verses de Seelig e dos demais policiais.
Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3. Ceclia Coimbra. Tortura e Histria. In: Revista Psicologia em Estudo, Maring, v. 6, n. 2, p. 11-19, jul./dez. 2001 314 Giorgio Agamben. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua (BH: Ed.UFMG, 2004), p.166.
313
312
129
Apesar das inmeras contradies, foram unnimes em afirmar que trataram Luiz Alberto para sintomas de complicaes alimentares leves315.
Luiz Ingleto, em seu primeiro depoimento, disse ter encontrado Luiz Alberto numa cela com grades. Num segundo depoimento, remendou sua afirmao dizendo que havia grades no local onde atendeu o adolescente, mas que no parecia, de fato, ser uma cela. Seelig tratou de explicar o mal-entendido lembrando que todas as janelas do DOPS tinham grades.
Escrivo de polcia e mdico, Luiz Ingleto declarou que cuidava dos detidos no DOPS nos finais de semana e feriados. Entretanto, por ser encontrado facilmente acabava prestando atendimento nos demais dias da semana. Pelo nmero de dias e exigncias de trabalho, podemos deduzir que os mdicos eram muito requisitados ao DOPS/RS.
Ingleto disse que, somente depois de ter melhorado do problema alimentar que se transformou em desidratao -, Beto reclamou de dores no trax. Da m digesto desidratao e, por fim, problema pulmonar. Tudo isso nos poucos dias em que esteve detido no DOPS. Quando passou a escarrar sangue, o mdico perguntou o que teria acontecido com Luiz Alberto: me bateram316 foi a resposta. Quem? O mdico no perguntou. Uma pena, poderia ser mais um a confirmar a declarao de Seelig de que uns caras estavam atrs de Beto.
Ao que tudo indica, Manuel Luiz Vilella foi o segundo mdico a atender Luiz Alberto. Todos se perderam na ordem do atendimento, portanto teramos de reproduzir aqui vrias verses para a ordem dos atendimentos, fora os outros mdicos que tambm teriam atendido Beto e ningum lembrava-lhes os nomes. Villela, especialista em problemas pulmonares, disse ter atendido Beto apenas uma vez, depois de surgirem as dores no peito. Teria aconselhado o delegado Seelig a hospitalizar o adolescente. Menos de quarenta e oito horas aps o atendimento, Vilella recebeu uma ligao de Pedro Seelig e Luiz Ingleto.
315 316
Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3. Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.83.
130
Vilella deveria comparecer ao DOPS imediatamente: Beto morrera, e Seelig pedia um atestado de bito. Manuel Vilella era inspetor de polcia e mdico da UGAPOCI (Unio Gacha dos Policiais Civis) segundo ele, recebia salrio correspondente ao seu cargo de inspetor, mas atuava exclusivamente como mdico. Nessa condio declarou atender habitualmente as pessoas recolhidas no DOPS317.
Nelson Paganotto, escrivo que exercia a enfermagem quando solicitado para atender algum funcionrio ou detido no DOPS, afirmou fazer isso sempre que os mdicos receitavam a aplicao de algum medicamento. O que parecia ser bem freqente, pois Paganotto no lembrava do dia em que atendeu Luiz Alberto, em razo de atender muitas pessoas pela parte da manh ou tarde318. Tudo indica que o trabalho de investigao era intenso no DOPS/RS, julgando pela quantidade de pessoas atendidas pelo enfermeiro319. Nelson Paganotto no lembrava quais mdicos teriam atendido Beto, no sabia onde estavam as receitas dos medicamentos que aplicou soro e plasil -, e afirmou ter atendido o adolescente numa sala com grades, mas com a porta sempre aberta320.
A tortura e a medicina tm em comum a relao com o corpo e a familiaridade com a dor, que uma inflige e a outra alivia321. Aliviavam ou perpetuavam a dor dos torturados, os mdicos que acompanhavam as sesses de tortura?
Conforme o relatrio Brasil Nunca Mais, a tortura era planejada e includa no oramento das instituies policiais e militares responsveis pela deteno de presos polticos. Alm dos locais e equipamentos, as verbas cuidavam de prover a participao de mdicos e enfermeiros que assessoravam ou facilitavam o trabalho dos torturadores. Provavelmente havia uma preferncia pelos profissionais da medicina ligados s polcias:
Idem, p.93. Idem, p.72. 319 Alertado pelo ento deputado Amrico Leal deputado da situao, que mais tarde tornou-se chefe da Segurana Pblica ainda na ditadura -, Paganotto tenta retomar sua afirmao, dizendo que tinha atendido pouqussimas pessoas. Entretanto, era tarde, ele j tinha afirmado por duas vezes que o fluxo de atendimentos era intenso. 320 Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.75. 321 Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.142.
318
317
131
mdicos e enfermeiros policiais ou militares que j conheciam as regras internas e o acordo de silncio sobre as atrocidades.
Martha Huggins lembra que a tortura um sistema, no qual participam torturadores e facilitadores. Diz ela que os facilitadores nacionais
eram os generais, o ministro da Justia, que permitia que existissem leis de exceo, eram tambm as pessoas que construram os pores, os mdicos que atestavam que nada de errado estava acontecendo ou que ensinavam aos torturadores quanto de eletricidade uma pessoa pode agentar sem morrer322.
Huggins conclui que os torturadores em si no so a maioria, afinal, um sistema de atrocidades no funcionaria sem uma ampla rede de facilitadores em todos os nveis. De mdicos, tabelies, engenheiros e guardas a polticos, chefes e superintendentes de polcia estes ltimos com muito mais poder poltico que os torturadores.
4.4. Do ventilador pneumonia
Lenidas da Silva Reis, na poca Superintendente da Polcia, concedeu entrevista imprensa explicando o acontecimento. Para Lenidas o adolescente era acusado de crime contra o patrimnio, pois havia se apoderado de dinheiro para custear as despesas da namorada que estava grvida. Pequeno parntese para lembrar que no havia nenhuma namorada grvida, a no ser no relato do Superintendente. Afirmou ainda que a me de Luiz Alberto teria dito que o mesmo estava desidratado, com vmitos e disenteria. E a declarao mais surpreendente do chefe de polcia: um ventilador [do DOPS] provocou a pneumonia em Beto: pneumonia que at o meu ar condicionado pode causar323.
Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.70. 323 Jornal Correio do Povo, 13.02.73. Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3, p.8.
322
132
Segundo depoimento de Pedro Seelig, o autor de crime contra o patrimnio o procurou espontaneamente no DOPS para contar que tinha ficado com dinheiro da Sociedade Amigos da Vila Cristal. Nenhum dos responsveis pela Sociedade sabia ainda. No chegou desidratado no DOPS, gozava de boa sade quando foi recolhido pelos policiais na casa dos pais da namorada. As doenas citadas pelos policiais surgiram aps sua deteno. E a pneumonia, claro, oriunda do ventilador solicitado e usado pelo prprio Arbalo nas dependncias do DOPS:
...Beto pediu para dormir na sala do Chefe do Servio de planto, mais ventilada do que aquela em que estava antes, no alojamento dos funcionrios em servio. E pediu que Seelig lhe mandasse fornecer um ventilador. Seelig determinou...que assim fosse feito. Alis, no dia seguinte, ao chegar, tarde verificou que estava ele em um sof-cama, na sala do comissrio, s de bermudas, sem camisa, com o ventilador dirigido diretamente para ele... 324
Teria sido o cruel ventilador responsvel tambm pelas equimoses e hematomas, ou ainda pelo afogamento?
4.5. No Hospital Sanatrio Partenon
Antes de ser conduzido ao Hospital Sanatrio Partenon, Luiz Alberto foi levado pelos policiais ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Nesse ltimo foi atendido pelo mdico Constantino Barbar Sthephanou. Foi Constantino quem recomendou a internao no Partenon depois de realizar uma radiografia de trax no adolescente. Segundo o mdico, Luiz Alberto chegou l com dor torxica, escarrando sangue, com aparncia de estar doente h vrios dias325 - para o mdico, o caso era de espancamento.
No Hospital Partenon quem recebeu Luiz Alberto foi a enfermeira Irm Celsa Toniasso. Atendeu o adolescente que chegou acompanhado por dois senhores em uma
324 325
Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.23-24. Idem, p.119.
133
camioneta da polcia326. Como o hospital s atendia pacientes com tuberculose, a irm Celsa imaginou que Arbalo no ficaria hospitalizado, j que no parecia tratar-se de tal molstia. Enquanto o encaminhava sala de radiografias, perguntou ao adolescente o que lhe acontecera, ao que ele respondeu: aqueles caras, que me bateram...aqueles caras, l, n...327. O adolescente no conseguia mais articular respostas, tendo repetido algumas vezes essa frase, segundo a enfermeira. Ainda segundo o relato de irm Celsa, Luiz Alberto estava bastante angustiado, deprimido, apresentando grande sofrimento, sinais de desidratao, os lbios secos, sangue seco grudado nos lbios328.
Depois de chegar ao hospital, a demora de duas horas no atendimento mdico comprometeu ainda mais a vida de Luiz Alberto. No era mais possvel uma traqueostomia329, o adolescente afogava-se em secrees pulmonares, sem poder respirar. Enquanto atendiam Luiz Alberto, um delegado telefonou ao hospital para explicar que se tratava de um caso atendido pelo DOPS, e que o adolescente fora vtima de uma quadrilha. Quem atendeu o telefonema foi o diretor do hospital, Wolney Galvo Rodrigues. Segundo Wolney, alm de deixar um nmero de telefone para ser informado em caso de emergncia, o autor do telefonema solicitou que o adolescente no recebesse a visita de ningum enquanto estivesse no hospital.
Carlos Alberto Cozzi Mesquita, mdico que atendeu Luiz Alberto no hospital, declarou que os hematomas encontrados no corpo do adolescente eram recentes, de trs ou quatro dias aproximadamente. Para ele os hematomas eram de origem traumtica. Julio Jos Lopes da Silva, outro mdico que deps na CPI e tambm atendeu Luiz Alberto no hospital disse que o caso no era de pneumonia, pois o menino no tinha febre e a secreo que expelia era diferente da apresentada em casos de pneumonia.
Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.101. Idem. 328 Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.103. 329 Traqueostomia um procedimento utilizado para facilitar a chegada de ar aos pulmes: feita uma pequena abertura na traquia na qual os mdicos inserem um tubo de metal.
327
326
134
Aps a morte do menino, a irm Celsa ligou para o nmero de telefone deixado pelo delegado que no se identificou, informando o ocorrido, e ainda, que o hospital no forneceria o atestado de bito. Segundo a enfermeira, os responsveis pela vtima permaneceram das quinze s dezenove horas, insistindo para que o hospital fornecesse o atestado330. O diretor do hospital relata que recebeu a visita de policiais e de um mdico do UGAPOCI, que insistiram na obteno do atestado de bito. Preferiu no citar o nome dos policiais nem do mdico, dizendo no lembrar desses detalhes. Wolney Rodrigues contou tambm que, a pedido do delegado Lenidas da Silva Reis, toda a documentao referente ao adolescente foi entregue polcia.
4.6. Laudo de autpsia
A tortura saiu das leis para entrar nos costumes, observou Michel Foucault. O controle e o poder se exercem e comeam pelo corpo, que para o filosofo francs uma uma realidade biopoltica, assim como a medicina uma estratgia biopolitica331. Corpo que, se era familiar antes da tortura, se deforma e se mostra para o torturado como profundamente estrangeiro332 aps o suplcio. No caso de Luis Alberto, nem mais a sensao de estrangeiro o animava, seu corpo vtima da violncia j havia sido destitudo de vida.
Com a morte de Luiz Alberto, Pedro Seelig deparou-se com um problema imediato que tentou de todas as formas resolver: o Hospital Partenon se recusou a fornecer o atestado de bito. Considerando o estado do adolescente ao chegar l, os mdicos no se responsabilizavam pelo bito, j que no tinham como precisar as causas de sua morte sem o acompanhamento anterior. As tentativas do delegado foram vs, o diretor do Hospital manteve sua postura. Restavam ento, os mdicos que teriam atendido o adolescente nas dependncias do DOPS. Eis o segundo problema tanto Igleto quanto Vilela se recusaram
Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.104. Michel Foucault. Microfsca do poder (RJ: Grall, 2002), p.47. 332 Marcia Tiburi e Ivete Keil. Dilogos sobre o corpo (Poa: Escritos, 2004), p.20.
331
330
135
a fornecer o atestado. A justificativa dos ltimos: no tinham prestado os ltimos cuidados a Luiz Alberto. O prestgio do delegado felizmente no foi suficiente para conseguir o atestado. Um atestado de bito encerraria o caso ali mesmo.
O delegado afirmou no depoimento CPI que, muito embora as irregularidades cometidas por Beto, este no fora espancado. Apesar de merecer, claro. Mas pela estima que ele, o pai de criao, tinha pelo adolescente sua integridade fsica foi preservada. A deciso de mant-lo nas dependncias do DOPS, apesar de seu estado de sade, foi para prestar uma melhor assistncia mdica ao menino: nas dependncias do DOPS, a assistncia mdica era gratuita e rpida, embora tivesse de pagar os remdios de meu bolso333.
No Instituto Mdico Legal (IML) o mdico legista perguntou ao delegado o que tinham feito com Luiz Alberto no DOPS. No teriam dado um caldo no rapaz? O delegado relata sua surpresa, afinal no sabia o que queria ele significar com tal expresso, que no conhecia334. Tendo o mdico legista explicado ao delegado do DOPS que a expresso caldo significa afogamento, este refutou imediatamente tal idia, afinal o menino era seu filho de criao e por ele nutria muita amizade335. A pergunta descabida do legista, segundo o delegado, seguiu a afirmao do mesmo mdico que iria realizar uma autpsia altura, doa a quem doer336. Eis o resultado da autpsia:
o laudo de autpsia constatou no cadver do menino a presena de equimoses lombares, que revelam a ocorrncia de traumas, hematoma retroperitonial e edema renal bilateral. A presena de equimose no hilo do pulmo direito tambm sinal de trauma por instrumento contundente. Diz mais o laudo de autpsia: a presena de plncton mineral nos alvolos com elementos encravados nos alvolos pulmonares, mostra que o paciente foi submetido a afogamento, por tempo insuficiente para causar a morte imediata, mas suficiente para causar insuficincia respiratria irreversvel, CAUSA DO XITO LETAL337.
Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.16. Idem, p.29. 335 Idem. 336 Idem, p.30. 337 Idem, p.7.
334
333
136
Questionado sobre a origem das leses no corpo de Luiz Alberto constatadas na autpsia, Pedro Seelig disse que no encontrava outra explicao: s pode deduzir que tenham sido causadas em algum incidente eventualmente ocorrido entre ele o os caras, isto , as ms companhias com que ele dizia andar338. Afinal Beto teria dito ao tio Pedro que at se desentendera com os caras.
O mdico legista que conversou com Pedro Seelig foi Ernesto de Freitas Xavier Filho. Ele esclareceu que um auto de necrpsia elaborado em casos de morte violenta. Ou como no caso de Beto, em que a aparente morte natural foi na realidade causada por violncia339. Segundo Xavier, Seelig o procurou instantes antes do incio da necrpsia, pedindo que a percia fosse realizada o mais rapidamente possvel. O laudo afastou definitivamente a hiptese de pneumonia, pois encontrou lquido em abundncia nos pulmes de Beto. Passando por cima do resultado da necrpsia e dirigindo-se diretamente ao laboratrio responsvel pela divulgao dos resultados, a polcia solicitou um reexame. Ao depor, Xavier Filho confirmou que ficou sabendo do pedido de reexame, reafirmando em seu relato que os dados que apurou caracterizavam um processo de semi-afogamento responsvel pela morte... que as manchas [no corpo de Beto] so atribudas a ao de objetos contundentes340.
Semi-afogamento e ao de objetos contundentes: a tortura desenha-se no corpo como nova entranha (...) a tortura, assim como outras linguagens (...) marca-se, grava-se, escreve-se, tatua-se para sempre no sujeito341. A tortura por afogamento consiste num mtodo que varia de acordo com o local onde aplicada (delegacia ou instituio de represso), sendo que
uma das formas mais comuns consiste em derramar-se gua, ou uma mistura de gua com querosene, ou amonaco, ou outro lquido qualquer pelo nariz da vtima j pendurada de cabea para baixo (como por exemplo, no pau-de-arara). Outra forma consiste em vedar as narinas e introduzir uma mangueira na boca, por onde despejada a gua. Outras formas, ainda, so: mergulhar a cabea do
Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3, p.30. Idem, p.111. 340 Idem, p.113-114. 341 Marcia Tiburi e Ivete Keil. Dilogos sobre o corpo (Poa: Escritos, 2004), p.24.
339 338
137
preso em um tanque, tambor ou balde de gua, forando-lhe a nuca para baixo; pescaria, quando amarrada uma longa corda por sob os braos do preso e este lanado em um poo ou mesmo em rios ou lagoas, afrouxando-se e puxando-se a corda de tempo em tempo342.
A ltima forma pescaria parece ter sido usada com Manoel Raimundo. Luiz Alberto Arbalo, ao que tudo indica, foi vtima de uma das outras formas de afogamento. Foi solicitado o reexame do laudo de necrpsia ao ento diretor do IML, Francisco de Assis Arajo Pires. Diretor do IML h seis anos, Arajo Pires encontrava-se de frias quando foi elaborado o auto de necrpsia. Arajo Pires, tambm mdico legista, voltou de frias e confirmou o laudo anterior. Logo a seguir foi afastado da direo do IML por uma comunicao verbal do Superintendente da Polcia, Lenidas da Silva Reis. Sim, o superintendente que havia atribudo ao ventilador a suposta pneumonia e a posterior morte de Luiz Alberto. Alm do afastamento, Arajo Pires teve seu consultrio mdico assaltado um caso estranho, j que num prdio com aproximadamente setenta consultrios o nico assaltado foi o seu.
Segundo os relatores da CPI,
No de espantar que, mantendo uma posio assim firme na defesa das concluses cientficas do laudo, o Dr. Arajo Pires tenha sido afastado da direo do IML. Sua presena era evidentemente incmoda. Houve a tentativa frustrada do reexame das lminas. O resultado apenas confirmou o trabalho inicial de Xavier Filho343.
No auge da represso, Ernesto Xavier Filho e Arajo Pires no fizeram parte do pacto de silncio que envolvia e envolve os perpetradores da violncia.
4.7. Os demais envolvidos
Relatrio Azul. 1997. Comisso de Cidadania e Direitos Humanos da Assemblia Legislativa do Rio Grande do Sul. 343 Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.118.
342
138
Todos os policiais do DOPS chamados a depor e envolvidos no caso foram unnimes em atestar o carinho que Beto recebia no local, especialmente de seu tio, o delegado Pedro Seelig. Todos foram unnimes em declarar que Beto estava com complicaes alimentares, e muitos citaram o episdio do ventilador. Entretanto, praticamente todos se perderam nos detalhes, contradizendo-se constantemente. Alguns trechos, como o de Enerino Daitx, so diligentes em ressaltar a emoo de Pedro Seelig com a morte de Luis Alberto.
Carcereiro responsvel pelos detidos e presos no DOPS na poca, Enerino Daitx tinha o controle dos que entravam e saiam do lugar. Foi Daitx que levou Luiz Alberto para o hospital. Primeiro, ao Hospital de Pronto Socorro, onde recomendaram a internao de Beto no Sanatrio Partenon especializado em doenas pulmonares. Foi Daixt que recebeu o comunicado da morte do adolescente:
Chocado com a notcia, Daitx, que tinha estima pelo menor, at teve que tomar um comprimido, eis que sofre do corao, antes de comunicar o fato ao delegado Pedro...este ficou muito chocado tambm, tendo inclusive chorado...344
Admitindo que at se possa afogar algum por brincadeira, Daitx que disse ter permanecido sempre no DOPS nos dias em que o adolescente esteve preso (dia e noite), no sabia de nenhuma prtica do tipo vinculada a Luiz Alberto. Entretanto fez uma ressalva: quando est em casa, na sua residncia, estando numa pea, no sabe o que sua esposa est fazendo noutra345. Huggins, Fatouros e Zimbardo lembram que policiais facilitadores eram (e so) participantes tcitos das atrocidades: entregando vtimas aos torturadores, assistindo a torturas ou assassinatos, tomando conta de prisioneiros e ficando quietos enquanto as atrocidades ocorriam346. No relatrio final da CPI Enerino Daitx, que no sabia o que fazia sua esposa quando no estavam na mesma dependncia da casa, foi acusado de co-autoria da morte de Luiz Alberto.
Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.50. Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.56. 346 Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p. 260.
345
344
139
Itacy Vicente Murliki de Oliveira e o inspetor Christopholi so os policiais que foram atrs de Luiz Alberto e o trouxeram ao DOPS. O primeiro declarou terem percebido, logo ao recolher Beto, que seu estado de sade no era o mesmo Luiz Alberto sempre fora um menino forte, praticava esportes, era vigoroso e bonito segundo declaraes dos prprios policiais , estava abatido e fragilizado. No caminho Beto j teria falado de sua indisposio alimentar.
O depoimento do inspetor Henio Melich Coelho contradiz o de Itacy. Chefe da Seco de Expedientes do DOPS, Henio tinha contato com toda a diviso, sendo um dos servidores mais bem informados do local. Henio Coelho declarou que vivia brincando com o adolescente logo que o mesmo chegou, dizendo-lhe: est at engordando, est ficando mais bonito347. Com o passar dos dias, ou das horas, que Henio tomou conhecimento que Beto estava adoentado. Provavelmente por descuido, Henio Melich Coelho contradisse seus colegas que afirmaram que Luiz Alberto tinha chegado indisposto ao DOPS.
Muitos outros depoimentos e contradies constam no relatrio da CPI, que indiciou os policiais Itacy Vicente, Henio Melich, Nilo Hervelha (cujo nome consta em inmeras listas de torturadores), Joo Cezar Vargas e Omar Gilberto Buede Fernandes como cmplices do crime que classificaram de homicdio qualificado348.
4.8. Lgia e Milton Arbalo
Empregada de Pedro Seelig desde o ano de 1957, Lgia Arbalo conhecia bem o delegado e sua famlia. Disse ela que Beto estava sem trabalhar h algum tempo, at conseguir o emprego na Sociedade. Isso por vezes irritava a me que, ao v-lo nessa situao, fazendo apenas pequenos servios em casa, o censurava. Quando essa censura
347 348
Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.60. Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.227.
140
acontecia na presena de Seelig, o mesmo intervinha dizendo a Ligia que deixasse o rapaz: ele meu, e quando eu achar que no est direito, eu tomo providncias349.
Essa frase de Seelig - ele meu remete-nos ao relato do pai de Luiz Alberto. Milton de Oliveira Arbalo, pai de Beto, morava na cidade de Alegrete (interior do RS, distante 464Km de Porto Alegre) e j estava separado da me do adolescente h alguns anos. Quando o deputado Rospide Neto, relator da CPI, visitou-o para registrar seu depoimento, encontrou Milton Arbalo assustado: por duas vezes fora abordado por homens que pareciam pertencer polcia e insistiam numa conversa particular, constrangendo-o a entrar em um carro sem placas. Perguntaram se ele era o pai de Luiz Alberto e se disseram amigos de seu filho. Seu Milton conseguiu safar-se por duas vezes, mas estava atemorizado. Contou ainda que quando veio a Porto Alegre para o sepultamento de Luiz Alberto, foi seguido e tambm abordado por homens desconhecidos. Em Porto Alegre conseguiu anotar as placas dos carros que o seguiram. Rospide Neto, na poca, solicitou proteo ao pai do adolescente. O delegado designado para tal proteo registrou o depoimento oficial de seu Milton: nada sabia quanto aos fatos que desencadearam a morte de seu filho 350.
Assustado, o pai de Luiz Alberto no contou tudo que sabia na CPI que investigou o caso. Quatro anos depois, procurado por jornalistas do Coojornal, narrou fatos que, segundo ele, na poca, dividiu apenas com o deputado Rospide Neto, extra-oficialmente. Lembrava do ltimo encontro com Beto nas comemoraes de ano novo entre dezembro de 1971 e janeiro de 1972. Luiz Alberto contou ao pai que sem querer havia presenciado a atuao dos policiais do DOPS:
ele contou algo que o preocupava. Disse que tinha ido ao cinema, mas como no pde entrar deu volta. No caminho de casa encontrou a Kombi de batida parada na frente de um bar. Perguntou pelo seu Pedro, disseram que ele j vinha. Perguntou se eles iriam para casa. O cara disse que iam dar uma batida, mas no sabiam onde. Ento, ele entrou na parte de trs. Nisso chega o motorista e os outros, apressados, se arrancam, sem ver que ele estava l atrs. Andaram 20 minutos e pararam numa vila. O do volante mandou algum ver se ele estava
349 350
Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.96. Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.151-152.
141
em casa. Ele voltou confirmando, e disse que o cara tava ouvindo rdio mas que havia crianas na casa. Desceram, foram l e deram uns tiros. Depois saram chispando do local. Quando desceram que os da frente viram ele. A seu Pedro perguntou aonde que ele tinha entrado na Kombi. Depois comearam a discutir entre eles (Coojornal, n.40, p.32).
O pai do menino no sabia se esse fato estava relacionado com a morte de seu filho, mas enquanto Beto estava com o pai em Alegrete, chegaram muitos recados de Seelig para Luiz Alberto voltar, caso contrrio ele mandaria buscar o menino. Ele meu, e quando eu achar que no est direito, eu tomo providncias disse Seelig a dona Lgia Arbalo. Tambm avisou que, se Beto no voltasse, mandaria buscar o menino em Alegrete. Aqui os relatos dos pais de Luis Alberto se cruzam mostrando o quanto o delegado queria o adolescente por perto. To perto que o levou para o DOPS.
Antes de ir contar ao delegado o que teria aprontado, Luiz Alberto disse a me que fizera uma bobagem. Bobagem que no contou a ela por medo que o surrasse, segundo dona Ligia. Luiz Alberto no era de brigas, tinha um bom comportamento e nunca lhe causou problemas, foi o que declarou a me. De resto ela confirmou as declaraes de Seelig: disse que teria pedido para o delegado mant-lo no DOPS por alguns dias para levar um susto. Afirmou no acreditar que o delegado pudesse ter surrado ou torturado seu filho. Ela tambm no sabia do resultado da autpsia: nem dos vestgios de afogamento, tampouco dos ferimentos nas costas e regio gltea.
O relato da me de Dudi, dona Maria Snia, vai de encontro ao de dona Lgia. Diz dona Maria Snia que no dia seguinte priso de Beto procurou dona Lgia. Sabia que o adolescente no tinha voltado para casa depois de ter sido levado pela polcia. Perguntou senhora Lgia Arbalo o que ela pretendia fazer a respeito, ao que esta disse que temia tomar alguma providncia para liberar o menino, pois o delegado poderia no gostar351.
Lourdes do Carmo Fonseca Dudi tinha na poca dezesseis anos. Era namorada de Luis Alberto. Relatou CPI que logo que seu namorado foi conduzido ao DOPS, ela e sua me foram procurar dona Ligia Arbalo. Contou terem encontrado-na chorando, pois
142
Pedro Seelig teria lhe dito que tinham levado seu filho para a Ilha do Presdio. Na semana seguinte Dudi foi novamente procurar a me de Beto, levando-lhe um papel com o nome do delegado Lenidas sugesto do pai da menina para que dona Lgia o procurasse no intuito de ajud-la a tirar o adolescente do DOPS. Lgia Arbalo recusou alegando temer que seu filho fosse judiado em conseqncia de tal providncia352.
Dona Lgia encontrou seu filho j sem vida dias depois. Zilda Azevedo Cardoso, um ano antes, teve sua filha torturada no DOPS/RS, no entanto, diferentemente de Lgia Arbalo, reencontrou a filha com vida. Nilce Cardoso, filha de Zilda Cardoso, passou alguns meses detida no DOPS/RS e recebeu o tratamento dispensado aos detidos no local. Dona Zilda diz que quase no reconheceu a filha:
Primeiro o choque: minha filha est presa. Fui com Nelson para Porto Alegre para v-la, dar-lhe nossa fora e dizer-lhe que estamos juntos. Segundo choque: depois de muita demora me deixaram v-la. Fiquei aniquilada, estarrecida, quase no a reconheci. Entrou na sala arrastando os ps, roxa, estranha, to maltratada, martirizada mesmo353.
Maren e Marcelo Viar lembram que os efeitos da tortura no se limitam vtima, mas transbordam sobre o grupo familiar e a descendncia, e sobre outros conjuntos transubjetivos354. Como reagiria dona Ligia Arbalo se tivesse visto o filho depois dos dias que passou no DOPS?
Nilce Azevedo Cardoso, psicopedagoga e militante poltica paulista, foi presa em abril de 1972 por policiais do DOPS/RS em Porto Alegre, entre eles, Pedro Seelig. Permaneceu nas dependncias do Palcio da Polcia por dois meses, depois foi levada para So Paulo ficou um ms no DOI-CODI e retornou a Porto Alegre permanecendo no DOPS at julho do mesmo ano. Nilce foi brutalmente torturada, e permanece com seqelas at hoje. Como percebemos na surpresa de sua me ao reencontr-la quase no a
351
Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.121. Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.125. 353 Depoimento de Zilda Azevedo Cardoso. Relatrio Azul. 1997. Comisso de Cidadania e Direitos Humanos da Assemblia Legislativa do Rio Grande do Sul.
352
143
reconheci na sada do DOPS/RS, seu corpo j no era mais familiar como antes da experincia limite, era um corpo estrangeiro355. No relato de seu suplcio, Nilce cita dois dos envolvidos na morte de Luis Alberto. Conta ela que,
Em 11 de abril de 1972, fui seqestrada numa parada de nibus, jogada no banco traseiro de um carro e, aos bofetes, levaram-me para a escurido das dependncias do DOPS (...) ainda encapuzada conduziram-me para uma sala, onde as primeiras palavras que ouvi foram: tira a roupa. O delegado Pedro Seelig, chamado por Cacique, junto com Nilo Hervelha e outros, de que ainda no me lembro os nomes, arrancaram minhas roupas, com palavras de depreciao (...)Com o trax soqueado, sentindo o sangue na boca, percebi que se movimentavam. Fui colocada no pau-de-arara (...) eram pontaps na cabea e choques por todo o corpo. Minha indignao cresceu violentamente quando resolveram queimar minha vagina e meu tero (...)pendurada de cabea para baixo no pau-de-arara, a lucidez continuava total (...) o sangue jorrava e eles enfiavam a mo pela minha vagina com jornais. Colocaram uma bacia no cho e o sangue continuava a cair (...)Ameaaram levar-me para o Guaba (eu conhecia o caso das mos amarradas...)356
Nilce Cardoso teve tambm o osso do trax quebrado durante as torturas como descobriu mais tarde, e at hoje tem srias seqelas fsicas e psicolgicas da poca. Afirma que Pedro Seelig, entre outros, foi um de seus carrascos. Dona Lgia Arbalo soube pelo mesmo delegado que seu filho fora bem tratado no DOPS e morreu em conseqncia de desidratao e de um ataque de fgado.
4.9. O Fleury dos pampas
Assombrava-me ao perceber que, nos intervalos, eles comiam, conversavam, como se h instantes no estivessem cometendo aquelas atrocidades disse Nilce Cardoso referindo-se aos seus torturadores do DOPS/RS. Talvez seja ainda comum pensarmos nos torturadores e assassinos como homens desumanos ou ainda, monstros inominveis. Dessa maneira, sem querer, deixamos de perceber a banalidade e a normalidade de
Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.148. Idia desenvolvida por Ivete Keil e Mrcia Tiburi. Dilogos sobre o corpo (Poa: Escritos, 2004). 356 Relatrio Azul. 1997. Comisso de Cidadania e Direitos Humanos da Assemblia Legislativa do Rio Grande do Sul. Grifos meus.
355
354
144
seus atos, fomentados e respaldados pelo estado de exceo vivido cotidianamente. claro que reconhecer o papel dessas pessoas dentro de uma tica maior no significa esquecer a responsabilidade pessoal de cada torturador e facilitador. Nesse sentido, permanece extremamente atual o relato sobre a banalidade do mal de Hannah Arendt357 que mostrou como um alto funcionrio nazista, responsvel pelo extermnio de milhares de pessoas, no era como podemos pensar um monstro, mas sim algum comum, um burocrata que se limitava a cumprir ordens, sem preocupaes ticas, condescendente com a tortura e o sofrimento humano. Eichmann era um funcionrio da burocracia totalitria que cumpria as ordens sem questionar, algum terrivelmente normal.
Pedro Seelig brincava com os presos polticos dizendo que apenas fazia seu trabalho, j que era bom nisso, e no caso de uma inverso da situao poltica, no deixaria de oferecer seus prstimos aos mesmos. Ou seja, deixava claro que no tinha convices polticas, cumpria as ordens num estado de exceo em que a tortura era a lei dentro das delegacias. O delegado um dos nomes mais conhecidos da represso no Rio Grande do Sul. No como um dos comandantes do sistema repressivo, mas como o delegado do DOPS envolvido em inmeros casos de violncia, que no hesitava em torturar barbaramente os presos polticos, ou ento em tentar cativ-los quando lhe convinha. O relato do jornalista Rafael Guimares, de seu breve contato com Seelig no ano de 1977, ao ser preso por portar material subversivo (livros e panfletos), demonstra o temor que a simples presena do delegado causava:
At que ele entrou na sala. Quer dizer, primeiro, entrou o perfume, depois o homem magro, mais baixo que eu pensava, cabelo grisalho repartido no meio, moderno na poca, mas hoje absolutamente ridculo. Pedro Carlos Seelig, o smbolo da represso no Rio Grande do Sul, o mais frio, eficiente e covarde torturador de que se tem notcia nestes pagos. Na poca, ainda era um mito. S aparecia em fotos distantes e desfocadas e nos relatos dolorosos de dezenas de homens e mulheres por ele torturadas. Quando entrou, eu soube imediatamente de quem se tratava. Literalmente, tremi nas bases (...) Sobrevivi sem seqelas fsicas ao encontro com o temvel Pedro Seelig, o Pedro, ao contrrio de tantos apanharam, sofreram castigos hediondos e desapareceram em suas mos358.
Hannah Arendt. Eichmann em Jerusalm um relato sobre a Banalidade do Mal (So Paulo: Cia das Letras, 1994). 358 Meu encontro com Pedro Seelig, por Rafael Guimares, disponvel em: http://www.nao-til.com.br/nao73/meu.htm. Data de acesso: 29/04/2004.
357
145
Seelig foi se destacando na medida em que a represso foi intensificando no sul e as prticas de tortura foram sendo aperfeioadas. A troca de informaes e contato entre os rgos estaduais de represso propiciou ao delegado tornar-se amigo de Srgio Paranhos Fleury e Brilhante Ustra eles so meus amigos, gosto muito deles(Coojornal, n.40, p.31). Figurando como quadragsimo segundo na lista de torturadores brasileiros359, o delegado do DOPS gacho chegou a ser definido como o Fleury dos Pampas. Mesmo quando os casos de represso nos quais estava envolvido tornavam-se pblicos, ele declarava tranqilamente que no tinha medo de nada. Coordenou o DOPS/RS entre os anos de maior represso 1969/1973 colocando em prtica, junto com seus colegas, o planejamento dos rgos superiores:
A simples pronncia de seu nome causa medo s pessoas, pois ele est intimamente ligado a toda a histria da represso, das torturas, das violncias ocorridas nas prises polticas gachas nos ltimos 10 anos. Elemento essencial de operao, Pedro Seelig deve ser entendido como o homem que executa, no DOPS, o planejamento feito pelos outros organismos (Coojornal, n. 40, p.29).
Seelig parece ser o exemplo de um policial que absorveu as regras do sistema, prova disso que no ano da morte de Luiz Alberto recebeu a Medalha do Pacificador em nome dos bons servios prestados ditadura militar. Brilhante Ustra ao lembrar, agradecido, da colaborao da Policia Civil gacha com a ditadura, no esqueceu de citar e destacar a atuao de Pedro Seelig: o Delegado Pedro Carlos Seelig, responsvel pelas prises e pelos interrogatrios, chefiava uma equipe que trabalhava com grande eficincia360. Eloar Guazzeli, advogado dos presos polticos durante a ditadura, descreveu a atuao de Seelig durante os interrogatrios elogiados por Ustra:
vaidoso. (...) Na sala de torturas, sua presena era denunciada pelo perfume, quando os presos estavam encapuzados, e os demais interrogadores o chamavam de major. Para os ex-presos polticos um torturador racional, sem ser sdico, daqueles que batem at conseguir a informao. (...) Depois que ele obtinha as informaes fazia camaradagens para os presos (Coojornal, n.40, p.29).
Jornal Em Tempo, nmero 54 e Jornal Adiante, nmero 01. Disponveis no Acervo de Luta contra a Ditadura do RS. 360 Carlos Alberto Brilhante Ustra. Rompendo o silncio (Braslia: Editerra, 1987), p. 128-129.
359
146
Segundo Martha Huggins, so os torturadores racionais que trabalham melhor para um sistema de atrocidades e violncia disposio do Estado. Eles sabem os limites e as melhores formas de aplicar a violncia. Os que obtinham os melhores resultados eram os que no tinham dio, nem piedade de suas vtimas361, afirmou um torturador francs comentando a atuao de seus colegas durante a Guerra da Arglia. Em Elite da Tropa aps o relato de uma verdadeira chacina protagonizada por dois policiais de pseudnimos Nestor e Amparo, o narrador descreve a banalizao da violncia no olhar do policial: no pense que Nestor e Amparo eram monstros insensveis. Tenho certeza de que eles tambm sofreram com a carnificina. Que tiveram pesadelos. Tomaram tarja preta para dormir. Mas a gente acaba se acostumando362. Nestor e Amparo perderam o controle de uma situao: enquanto interrogavam dois meninos do trfico, um tiro disparado para assustar ricocheteou e acertou um deles. Com as coisas fora de controle, assassinaram o outro para no deixar testemunhas. A me dos meninos, doente e no andar de cima da casa, ouviu tudo, mas como no viu os assassinos, foi poupada. Nesse caso tortura e assassinato mesclaram-se rapidamente. De acordo com Huggins, Fatouros e Zimbardo363 isso no ocorre comumente j que existe uma diferena entre torturadores e assassinos.
Os torturadores estabelecem conscientemente uma relao emocional com suas vtimas, sem necessariamente sentir empatia por elas, para facilitar a manipulao. Eles precisam dominar tcnicas para obter informaes rpida e habilmente sem matar as vtimas364. A atuao do torturador, por ser lenta e metdica, difere da atuao do assassino geralmente rpida e espontnea: o trabalho do torturador nunca se completa, enquanto o do assassino est temporariamente cumprido cada vez que algum assassinado365. A partir de entrevistas com torturadores e assassinos brasileiros os autores puderam constatar que os policiais civis se envolvem com mais facilidade nas torturas e os
361
Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.325. 362 Luiz Eduardo Soares, Andr Batista e Rodrigo Pimentel. Elite da Tropa (RJ:Objetiva, 2006), p.68. 363 Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006). 364 Idem, p.270.
147
policiais militares nos assassinatos: a maioria dos torturadores havia sido de policiais civis e a dos assassinos, de policiais militares366. Penso, contudo, que essas diferenas no impedem que determinados policiais transitem da tortura ao assassinato e vice-versa. Muitos relatos e denncias de vtimas ou testemunhas de atrocidades mostram que isso comum. Apesar das diferenas as fronteiras no so rgidas.
Huggins, Fatouros e Zimbardo entrevistaram vinte e trs policiais que torturaram e mataram durante e aps a ditadura militar no Brasil, tentando compreender como homens comuns foram transformados em assassinos e torturadores a servio do Estado, e como eles prprios justificam seu ofcio. Com base em longas entrevistas com esses operrios da violncia, os autores elaboraram trs modalidades de masculinidade visveis nesses policiais: a masculinidade personalista, a burocratizante e a mista. H por parte dos autores uma referncia explcita masculinidade patriarcal ocidental367, e concepo de que, embora isso no seja rgido, existem presses sociais em torno da masculinidade que favorecem o uso da violncia nas sociedades ocidentais de herana patriarcal, como o Brasil.
A masculinidade personalista est atrelada ao que os autores denominaram como tradicional machismo personalista brasileiro. A violncia dos policiais personalistas visvel retoricamente e seus atos so descritos como se fossem independentes da instituio policial. So os policiais que dizem acreditar na possibilidade de melhorar a sociedade, protegendo-a dos criminosos. Policiais com esse atributo afirmam no torturar, dizem bater apenas para exigir um tratamento respeitoso dos suspeitos, e classificam o emprego da fora como uma luta fsica justa. Alguns, inclusive, se identificam positivamente com as comunidades que policiam. Incio - pseudnimo de um dos policiais entrevistado por Huggins disse que trabalha(va) na polcia por vocao, realizando suas tarefas com paixo e compromisso. Contou de uma priso que efetuou sozinho na favela, tendo de
365
Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.270. 366 Idem, p.271. 367 Nas sociedades industrializadas ocidentais, espera-se que os desempenhos bem-sucedidos da masculinidade tenham caractersticas patriarcais (...) os homens de verdade devem ser capazes de dominar alguns homens e todas as mulheres (Huggins, Fatouros e Zimbardo, p.172-173).
148
bater muito para dominar o criminoso. Contudo, chegando delegacia tratou de proteger o mesmo, para que seus colegas no o torturassem. Grato, o detido convidou Incio para ser padrinho de seu filho, pedido aceito pelo policial, em nome do sentimento de respeito que soubera impor ao preso368. Populismo e clientelismo marcam a descrio de Incio de sua atuao na polcia. Jacob, pseudnimo de outro operrio da violncia ligado polcia de civil de Porto Alegre orgulha-se de ser fisicamente duro e controlado369, excitando-se com tiroteios e divertindo-se com lutas. Srgio, pseudnimo de um delegado do DOPS/SP, diz que no mximo ordenou a tortura, mas no a executou. Esse curioso policial que no torturou confirmou a liderana de um esquadro da morte dizendo que no ficava triste com os assassinatos, considerando melhor matar que manter o criminoso na cadeia370. Explicando racionalmente esse tipo de atuao policial, Srgio, segundo a categorizao de Huggins, Fatouros e Zimbardo, transita entre a masculinidade personalista e a burocratizante.
A masculinidade burocratizante est ligada figura do torturador racional, o policial que encara suas atribuies como funes de seu cargo no mecanismo das instituies. Embutindo a violncia perpetrada nos meandros da burocracia funcional, seus atos se recobrem de relativa invisibilidade. Mrcio - pseudnimo de um policial civil justifica a tortura no mbito da proporcionalidade (se o suspeito no colabora, ou seja, confessa o que o policial quer ouvir, deve ser torturado); defendendo sua aplicao racional, tece crticas aos torturadores irracionais que extrapolam chegando, inclusive, extorso. Mrcio acredita que
os policiais morais e racionais, s empregam a tortura para descobrir provas, so aparentemente normais e controlados na tortura que empregam porque tm limites. Esses policiais normais respeitam a filosofia que h por trs da tortura que deve causar sofrimento, mas no deve causar danos371.
Idem, p.182-183. Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.191. 370 Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.194-195. 371 Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.203.
369
368
149
Para tanto, continua Mrcio, a tortura deve causar a quantidade certa de sofrimento. O torturador racional interroga enquanto a gua est pingando na cabea da vtima, no deixando marcas visveis, mas levando-a a loucura372. Para Huggins, Fatouros e Zimbardo esta pode ser considerada a mais fria das trs apresentaes de masculinidade. Marcio acredita que um bom policial deve ser profissional e manter sua identidade, seu ego, sua personalidade e suas necessidades nos bastidores373.
Jorge pseudnimo de outro policial entrevistado tambm foi caracterizado pelos autores como possuidor de masculinidade burocrtica. Acompanhando o relato desses policiais perpetradores de violncia, a histria de Jorge sobressai: ele confessou abertamente seus crimes revelando-se um assassino e no um torturador. Jorge, que passou oito anos de sua adolescncia na Febem, logo que entrou para a polcia foi selecionado para fazer parte um esquadro de execuo do DOI-CODI, onde aprendeu a torturar e matar o DOI-CODI s queria ter pessoas objetivas, frias, com capacidade de obedecer ordens374. Jorge relatou sua participao em um dos vos da morte nos quais os prisioneiros eram jogados na gua. Conta que antes de serem jogados vivos para fora do helicptero os prisioneiros eram barbaramente torturados e as mulheres violentadas. Condenava esse procedimento, considerando a sua conduta como moralmente mais adequada: enquanto seus colegas haviam impiedosamente lanado suas vtimas vivas para fora do helicptero, Jorge havia pelo menos matado sua vtima antes que seu corpo inerte fosse lanado na selva tropical l em baixo375. Huggins, Fatouros e Zimbardo no nos deixam esquecer que Jorge foi apenas um funcionrio secundrio no que chamam de hierarquia da atrocidade funcionalmente organizada376. Policiais como Jorge e Mrcio, para os autores, tornaram-se o padro oficial do comportamento policial durante a ditadura. Contudo, o sistema repressivo no deixou de contar com policiais personalistas ou de masculinidade mista que eram a garantia que uma tarefa violenta seria executada rapidamente377.
Idem, p.204. Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.207. 374 Idem, p.219. 375 Idem, p.222. 376 Idem, p.223. 377 Idem, p.249.
373
372
150
Deslocando-se facilmente entre os sistemas formais e informais de represso, os policiais de masculinidade mista possuem traos personalistas concomitantes com traos da burocracia funcional. Alm da violncia institucional so policiais que geralmente trabalham nas horas de folga nos esquadres informais e nas empresas de segurana contratadas por particulares. No se identificam positivamente com as comunidades que policiam e tampouco so to ligados burocracia policial formal embora no deixem de usar desta para justificar seus atos quando lhes conveniente. Roberto pseudnimo de um policial que comeou a trabalhar aps a ditadura participou de esquadres da morte desde que entrou para a polcia militar. Ele e outros policiais afirmaram que cada corporao tem seu esquadro. Depois de alguns anos, passou a liderar um deles, cumprindo 24 por 7: executando pessoas 24 horas por dia, sete dias por semana378. Seu esquadro da morte selecionava as vtimas esperando as estatsticas que indicavam inocentes e culpados: voc v quem pessoa de bem, quem bandido. Voc mira na pessoa certa379. A sensibilidade personalista o ajudava a separar o joio do trigo quando se tratava de criminosos, j para identificar os assassinos irracionais de sua corporao, buscava argumentos na sua percepo racional burocrtica.
Vinnie, outro policial de masculinidade mista chegou a ser designado para investigar irregularidades e crimes de seus colegas da polcia, enquanto ele fazia bicos dirigindo um esquadro da morte e como cobrador de companhias de gs de cozinha380. Como cobrador, Vinnie ganhava bonificao para matar os devedores de gs. Esse policial chegou a ser denunciado por 300 assassinatos ligados ao esquadro Mo Branca: No fim acusado de apenas onze dos trezentos ou mais homicdios praticados... Vinnie foi absolvido de dez e condenado por apenas um, pelo qual estava na priso por ocasio de sua entrevista381.
Idem, p.234. Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.235. 380 Idem, p.240. 381 Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.240.
379
378
151
Apesar da categorizao utilizada, Huggins, Fatouros e Zimbardo lembram que as designaes das masculinidades so maleveis, e que os operrios da violncia so multidimensionais. A complexidade do sistema de atrocidades brasileiro tambm deve ser considerada nas anlises a atrocidade incitada de maneiras diversas por pessoas de status sociais diferenciados382. No contexto de atrocidades, o que move um perpetrador direto geralmente no explica a atuao dos facilitadores de todos os mbitos. Esses ltimos geralmente se beneficiam (social, poltica, econmica ou profissionalmente) pela violncia perpetrada. Por isso, a importncia de analisarmos o estado de exceo que legitima h um longo tempo esse sistema de atrocidades. E, mais ainda, de analisarmos o que Oswaldo Giacia chama de disputa pelo direito de decidir acerca do estado de exceo no Brasil. Disputa em torno da deciso soberana sobre a vida e a morte da vida nua. No caso, da vida nua exposta nos presdios brasileiros ou macabros depsitos de corpos humanos confinados383, inmeras vezes so os integrantes de faces e grupos rivais que decidem pela vida e morte do homo sacer. Creio que essa disputa pelo poder de deciso acerca do estado de exceo desnuda-se tambm na atuao de policiais como Incio, Mrcio, Vinnie, Jacob, Jorge e Roberto, entre outros, que diariamente executam o poder de vida e morte sobre a vida nua de milhares de pessoas, estejam eles sob as ordens de superiores ou seguindo caminhos prprios no mbito da violncia informal.
Dois desses policiais civis entrevistados por Huggins, Fatouros e Zimbardos Jacob e Bruno - atuaram em Porto Alegre e estiveram ligados ao delegado Pedro Seelig, assim como Srgio e Mrcio foram vinculados ao delegado Fleury em So Paulo. Os prprios entrevistados citaram tanto Fleury como Seelig como perpetradores de atrocidades com os quais tiveram contato384.
Pedro Seelig em 1978 participou de mais um episdio violento que se tornou pblico e ficou conhecido como seqestro dos uruguaios, envolvendo no s os policiais
Idem, p.263. Oswaldo Giacia. Foucault. In: Margareth Rago e Alfredo Veiga-Neto (Org.). Figuras de Foucault (So Paulo:Autntica, 2006), p. 187-203. 384 Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.102.
383
382
152
do DOPS/RS, mas tambm, militares uruguaios385. Em funo da publicidade em torno do caso, o jornal alternativo Coojornal, em abril de 1979, publicou uma ampla matria com a seguinte manchete: Pedro Seelig, um delegado acima da lei?. Esse foi um dos poucos casos em que Seelig concedeu entrevista e posou para as fotos dos jornalistas. No apenas Seelig foi entrevistado, como tambm inmeros presos polticos que descreveram a atuao do delegado em servio:
Comanda o interrogatrio sentado numa mesa ao fundo da sala de tortura. s vezes, levanta, agride o preso ou gira a maricota mquina de choques eltricos (...) Seelig tambm perde a racionalidade [quando tem pouco tempo para arrancar uma informao] (...) quando ele sai do srio ningum o agenta. Eu tomei pau de cinco horas e no abria. At que o Pedro e o Nilo Nilo Hervelha, um dos inquisidores preferidos de Seelig pisaram na minha perna e comearam a pisote-la386 (...)
A posio da mesa onde estava Seelig, distante o suficiente do preso uma orientao que consta no Manual de Interrogatrio elaborado pelo Exrcito. Diz o documento que
as fases preliminares de um interrogatrio devem ser levadas a efeito numa sala quase sem mveis, preferivelmente com apenas uma porta e sem nenhuma janela. Se existirem janelas, devem ser cobertas. A sala deve estar parcamente mobiliada, com uma simples mesa e cadeiras para os interrogadores, as quais devem ser localizadas mais ou menos no meio da sala, de modo a aumentar o senso de isolamento do indivduo e permitir, ao interrogador, movimentos livres para os lados. O paciente deve ficar sentado de tal forma que fique olhando o interrogador de baixo para cima. A iluminao deve ser muito simples e nua, preparada para molestar o paciente e de forma a no revelar a hora do dia (...)387
O mesmo Manual recrimina o uso da violncia indiscriminada contra os presos, considerando-a contraproducente para extrair as confisses desejadas. Orientava os interrogadores a produzirem uma destruio psicolgica dos presos, usando da violncia fsica como forma de quebrar-lhes as resistncias. Ou seja, violncia racional, exceto
385
Para saber mais sobre o episdio pode-se consultar Seqestro no Cone Sul (Poa: Editora Mercado Aberto), livro de Omar Ferri, advogado que acompanhou o caso. Em As Garras do Condor (SP: Vozes, 2003), Nilson Mariano tambm aborda o seqestro do casal de uruguaios residentes em Porto Alegre, resultado de uma operao conjunta entre DOPS/RS, Exrcito Brasileiro e Exrcito Uruguaio. 386 Coojornal, n.40, p.29.
153
quando havia pouco tempo para extrair a confisso. Pode-se perceber que a atuao dos policiais do DOPS/RS estava de acordo com as normas de interrogatrio, salvo quando saiam do srio. Quando isso acontecia, pisotear os presos tornava-se comum. Outro preso poltico entrevistado pelo Coojornal contou que quando caiu, em meio a socos e pontaps, os policiais pisotearam sua perna, que mais tarde sofreu um estiramento, atrofiou e o p virou para dentro388. Hilrio Pinha, ex-lavrador paulista e integrante do Partido Comunista Brasileiro na poca, perdeu quase 70% do intestino em funo das torturas sofridas. Conta ele que:
Estava numa cela e um deles tinha me dado uma folha de papel para escrever como tinha sido tratado no DOPS. Ai eu contei tudo o que tinham me feito. Passou um tempo chegou o Pedro Seelig perguntando se a letra era minha. Ele falou: tem certeza de que foi isso que aconteceu?. Tenho, falei. E ele retrucou calmamente: isto vai te prejudicar rapaz389.
Hilrio Pinha foi pisoteado durante toda a noite, tendo que passar por nove cirurgias para continuar vivo. Foram trs anos e meio de agonia, ficando hospitalizado, numa cadeira de rodas, por 14 meses. Sobreviveu e hoje convive com seqelas muito srias: tem uma diarria permanente e o seu organismo assimila muito pouco de sais minerais, vitaminas, etc, o que o obriga a tomar medicamentos pelo resto da vida390. Vinr lembra que o aniquilamento do corpo visa estabelecer um mundo binrio de horror paranico onde no existe seno a vtima e o torturador391. Nesse mundo binrio, o corpo do torturado j no lhe pertence mais, um corpo estrangeiro.
Aproveitando os relatos de Hilrio Pinha e outros presos que sobreviveram as torturas no DOPS/RS, os jornalistas retomaram o Caso Arbalo acrescentando informaes importantes sobre a morte do adolescente.
Relatrio Azul. 1997. Comisso de Cidadania e Direitos Humanos da Assemblia Legislativa do Rio Grande do Sul. 388 Coojornal, n.40, p.30. 389 Coojornal, n.40, p.30. 390 Depoimento gravado e a disposio no Acervo de Luta Contra a Ditadura/RS. 391 Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.75.
387
154
4.10. Quatro anos depois
Conhecido pelas grandes reportagens investigativas, a equipe do alternativo Coojornal investigou intensamente a trajetria de Pedro Seelig. Dessa forma chegaram a uma nova verso para a morte de Luis Alberto, atravs dos depoimentos de pessoas que estiveram presas no DOPS nos dias em que o adolescente esteve l, e descreveram o suplcio de Luis Alberto em duas cenas datadas de 06 de fevereiro de 1973:
10h30min. Nilo Hervelha de um lado, Itaci, o Mo-de-Ferro, do outro. Pires mais atrs. Seguro pelos braos, dessa maneira Beto conduzido fossa, como chamada a sala de torturas do DOPS. Gritos. Meia hora depois, os policiais o colocam numa cela onde havia trs presos. Seu estado ruim. A barriga est toda roxa. Ele diz: Me bateram! Esses caras me bateram. O Itacy, o Nilo e o Pires. 15h30min. Novamente Beto levado fossa, aps uma discusso com o inspetor Pires. L permanece por 20 minutos. Volta cela, queixando-se de dores, corpo molhado e diz aos presos: Amarraram minhas mos pra trs e enfiaram uma mangueira na minha boca392.
Os caras que bateram em Luis Alberto so, ento, identificados no relato das pessoas que estavam presas no DOPS. Coincidentemente tinham sido presas dezessete pessoas ligadas ao movimento estudantil, nos dias em que Luiz Alberto esteve no DOPS. Das dezessete, os jornalistas do Coojornal contataram com seis que narraram a histria acima. Ainda segundo esse novo relato,
Beto entrou pela primeira vez no complexo de celas (...) somente na manh do dia seis, quando tomou o primeiro pau. Seelig no estava no DOPS. Ele chegou pelas 15 horas. Beto escuta sua voz e lhe chama. Seelig vai at a cela, abre a porta e pergunta: Que fizeram contigo?. Fala mostrando surpresa: No era pra fazer isso com o guri, dirigindo-se aos seus subordinados, inspetores Itacy, Pires e Nilo Hervelha. Retira Arbalo da cela e coloca-o num sof prximo mesa da carceragem.
Depois de extenuado numa sesso de torturas e jogado ao cho, Pepe conta que o bondoso da equipe de tortura lhe trar um copo de gua ou uma tigela de sopa, dizendo-lhe
392
Coojornal, n.40, p.32.
155
que seria aconselhvel aceitar as exigncias dos outros torturadores393. Pepe, que descreveu seu suplcio a Marcelo Viar, nesse trecho ressalta o papel dos policiais bondosos que, integrando as equipes de interrogatrio, geralmente levavam gua para os presos entre uma e outra sesso de tortura, aconselhando-os a confessarem. A aparente surpresa de Seelig ao ver Beto - no era para fazer isso com o guri lembra o papel verstil desses policiais bondosos. Mesmo vendo Luiz Alberto com as marcas do suplcio, Seelig no toma outra atitude para proteger o filho de criao,
Minutos depois diz que vai sair. Seelig sai. Voltam os inspetores e levam o menor pela segunda vez. Depois do segundo pau, quando lhe enfiaram a mangueira na boca, Beto passa a noite agonizando. Treme, sente frio, respira com dificuldade e reclama das dores no trax. Os presos fazem um ch de losna. Durante essas horas, Pires e Hervelha, vez por outra iam at a cela e lhe faziam ameaas: Como , vai contar onde est o dinheiro? Vai contar ou vamos te levar de novo! No dia seguinte, o inspetor Cardoso retira Arbalo da cela. Levam-no para uma cela menor e, mais tarde, colocam um grande ventilador. Beto tossia e estava enrolado num cobertor. Quando a gente ia no banheiro via o garoto suando. A gente escutava os policiais dizerem: pra de fingir!. Nessa ocasio, Seelig falou: Se tu morrer aqui, vais me arrumar o maior rabo!394
Diferente da frase que os presos ouviram de Seelig se tu morrer aqui, vais me arrumar o maior rabo o delegado disse aos jornalistas que na poca podia at ter dado um jeito de no envolver o DOPS na morte do Arbalo. Tinha como fazer isso, vocs sabem, mas no quis (Coojornal, nmero 40, p.31). No quis? E as tentativas desesperadas de conseguir o atestado de bito? E o pedido de reexame do laudo de necrpsia, bem como as presses sobre os mdicos legistas? Seelig no conseguiu impedir o caso de vir a pblico, no entanto, sua inocncia estava garantida pelo regime. Bem, mas isto maldade... a me do garoto at hoje continua comigo395. Afinal, como Seelig mesmo lembrou, havia sido agraciado com a medalha do pacificador por servios prestados no campo da segurana nacional396.
Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.54. Coojornal, n.40, p.32. 395 Coojornal, n.40, p.31. 396 Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p.40.
394
393
156
Uma outra revelao veio tona com a reportagem, esclarecendo onde estava o dinheiro, confisso que os torturadores de Beto queriam ouvir enquanto supliciavam o adolescente. Procurada pelos jornalistas do Coojornal, Dudi, a namorada de Luiz Alberto, revelou que na poca alguns scios da Sociedade Amigos da Vila Cristal que eram amigos de Luiz Alberto, o procuraram porque estavam com as mensalidades atrasadas e queriam ir a um baile. Pediram para Beto carimbar uns recibos de quitao de mensalidades afirmando que pagariam logo que tivessem dinheiro. O total no passava de Cr$ 800,00 (oitocentos cruzeiros). Na poca, provavelmente, nem Dudi, nem Luiz Alberto contaram o fato por temerem que a represlia se estendesse aos amigos de Beto.
Queria avisar aos acompanhantes do delegado Pedro Carlos Seelig que ou deixem suas armas na Segurana ou se retirem da sala disse o deputado Rospide Neto ao abrir os trabalhos da CPI no dia 29 de maio de 1973. Pedro Seelig entrara na Assemblia Legislativa do RS acompanhado de cinco policiais que portavam suas armas ostensivamente. No velrio de Luiz Alberto compareceram nove policiais que coibiram diretamente qualquer comentrio, conversa ou manifestao dos familiares do adolescente. Apesar de todas as presses, o relatrio final da CPI concluiu por homicdio, no entanto, em outubro de 1975 o juiz Luiz Carlos Castello Branco do Tribunal do Jri declarou que Luiz Alberto morreu de broncopneumonia provocada pelo ventilador! Pedro Seelig foi impronunciado, comemorando com seu advogado, Oswaldo Lia Pires, a vitria da defesa.
Com a reportagem de 1979 os jornalistas do Coojornal julgaram que em virtude dos novos fatos depoimentos dos detidos no DOPS que viram Luis Alberto a promotoria poderia reabrir o caso, j que impronncia no significa absolvio, mas falta de provas acerca da materialidade do delito. Mas isso no aconteceu. E j que o crime de homicdio prescreve em vinte anos, o caso foi definitivamente encerrado. Resta-nos, como diz Baudrillard397, a ao mais ofensiva da escrita que cria o acontecimento onde no h mais acontecimento.
157
4.11. Mirajor: suicdio com a prpria cinta no trinco da porta
Suspenderam-no pelos punhos amarrados s costas at que sentiu que se esquartejava. Foi afogado mil vezes na gua com excrementos; torturaram-no com eletricidade. Pedro resistiu bem 398. Pedro o personagem real de um dos casos abordados por Maren e Marcelo Viar. Era militante poltico na Argentina e foi massacrado e destrudo como homo sacer pela polcia daquele pas. Passado alguns anos no havia conseguido ainda superar o trauma, seus torturadores mais que seu corpo destruram seu universo de referncia e ele sucumbiu ao universo que lhe era oferecido em troca. Enquanto militante, Pedro possua todo um universo no qual acreditava e arriscava sua vida por ele. No momento em que foi preso j podia imaginar pelo relato de outros companheiros as atrocidades que o esperavam. Adentrar numa delegacia de polcia no Brasil, no fazendo parte da vida protegida que se deve fazer viver pode causar um temor parecido com o temor dos militantes polticos. Exceto se voc desconhecer a rotina policial e for at l na qualidade de afilhado de um delegado ou ainda a procura de um Superintendente de Polcia que voc conhece, para solicitar ajuda com alguma coisa. Esse ltimo caso aconteceu com Mirajor Moraes Rondon, motorista de txi que em 1968 foi procurar o ento Superintendente de Polcia, Tenente Coronel Pedro Amrico Leal, para solicitar ajuda. Mirajor saiu do DOPS/RS morto. Motivo: suicdio, a verso oficial foi de que aps algumas horas no local, Mirajor enforcou-se com seu cinto no trinco (maaneta) da porta de uma sala especial do DOPS. Trinco da porta? Sim, trinco da porta de uma sala especial do DOPS!
No ano em que Luiz Alberto morreu, tramitava na justia gacha uma ao de indenizao contra o Estado do Rio Grande do Sul e contra o inspetor de polcia Maral Rodrigues. A esposa de Mirajor, Marlene de Almeida Rondon, solicitava a responsabilizao da Polcia pela morte de seu marido. Mirajor foi ao Palcio da Polcia de Porto Alegre (sede do DOPS) procurar por Pedro Amrico Leal. Segundo os policiais, Mirajor chegou embriagado e agressivo, exigindo falar com o Coronel Pedro Amrico,
397 398
Jean Baudrillard. O paroxista indiferente (RJ:Pazulin, 1999), p.44. Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.39.
158
nesse estado foi detido e conduzido a uma sala especial do DOPS/RS. Algumas horas depois Mirajor foi encontrado morto. Sabendo da morte do marido apenas quando o agente funerrio a procurou, a esposa de Mirajor imediatamente declarou que no acreditava em suicdio: Mulher no acredita que morte do motorista no DOPS fsse suicdio, foi manchete da pgina de Crnica Policial no Jornal Correio do Povo (03/07/1968). Marlene acusou o policial Maral Rodrigues, com base nas informaes do Guarda Civil do DOPS, Dionisio Torres Regis de Medeiros que disse que a vtima (Mirajor)
depois de ser identificada no DOPS, foi recolhida numa cela, e na qual, foi torturada, massacrada, espancada, pelos policiais dessa especializada, devido aos mtodos nazistas adotados pelo Chefe do DCI, e sendo que, posteriormente, entre as 19,20 e 20,40 hs, do dia 27 de junho de 1968, a vtima apareceu enforcada no DOPS, pelo policial Maral Rodrigues...399
Segundo o relato dos policiais Maral Rodrigues e Paulo Jair Mor Chaves, Mirajor chegou ao Palcio da Polcia entre 18:30h e 19h do dia 27/06/1968. Como a sala do Superintendente ficava no mesmo andar do DOPS, foram os policias deste rgo que o receberam e constataram sua embriaguez apresentando-o ao Diretor do DOPS, Lenidas da Silva Reis. Isso feito, o taxista foi conduzido tal sala especial. Nessa sala, aproximadamente meia hora depois (em torno de 19:30h e 19:40h), foi encontrado morto400. Desta vez, o Auto de Necropsia, assinado pelos mdicos legistas Izaias Ortiz Pinto e Dcio Damin, confirmou a verso oficial. Entretanto, o que chama ateno no referido auto a substncia encontrada nos pulmes de Mirajor: Em ambos os pulmes identificam-se algumas reas de colorao violcea, de hemorragia subpleural. Ao corte, apresentam marcada congesto dos lobos inferiores com reas de hemorragia401. De onde teria vindo o sangue e a hemorragia encontrada nos pulmes de Mirajor? Do cinto que, pendurado no trinco da porta, o enforcou?
O ento Superintendente da Polcia, Pedro Amrico Leal, a quem Mirajor foi procurar, mais tarde tornou-se deputado pela Arena e acompanhou a CPI do Caso Arbalo, defendendo seus ex-colegas policiais. Quando a esposa de Mirajor entrou com o
399 400
Ao Ordinria de Indenizao. Acervo do MJDH/RS. Termo de Declaraes. Delegacia de Polcia do 2o Distrito. Acervo do MJDH/RS.
159
pedido de indenizao na justia, Pedro Amrico Leal atribuiu a denncia existncia de uma quadrilha de vagabundos, nesta capital, que procura desprestigiar a Polcia do Estado402. O mesmo deputado na reportagem de 1979 para o Coojornal contou ter acompanhado e participado da formao de policial do delegado Pedro Seelig: fui professor de jiu-jitsu na escola. Ele era um dos mais destacados alunos. Fui eu quem o trouxe para delegado em Niteri subrbio de Porto Alegre no final do ano de 68 quando eu era Chefe de Polcia403. Depois da morte de Mirajor, portanto. Dizendo admirar o trabalho e a pessoa de Pedro Seelig, Pedro Amrico Leal foi mais um a respaldar as atrocidades cometidas por parte dos policiais civis gachos. Lenidas da Silva Reis - que atribuiu ao ventilador a morte de Luiz Alberto era Diretor do DOPS/RS na poca da morte de Mirajor e assinou a Certido expedida pelo departamento datada de 18/06/1968, confirmando a verso de suicdio. Dessa vez Lenidas da Silva Reis atribuiu a morte a UMA CINTA, TIPO COMUM, VELHA, SOLA CR PRETA404. Cinta que, segundo os policiais Paulo Jair Mor Chaves e Iron Silveira dos Santos, foi enlaada no trinco da porta405. A realidade foi se tornando mais grave, mais absurda e menos verossmil406. Imaginemos a distncia do trinco (maaneta) da porta ao cho. Imaginemos Mirajor enforcando-se nessa posio.
Algum tempo depois, Jair Krischke ento coordenador do MJDH/RS e o coronel Pedro Amrico Leal participaram de um programa na Rdio Gacha de Porto Alegre. Retomando a morte de Mirajor para a qual o Coronel mantinha a verso do suicdio com a prpria cinta no trinco da porta Jair Krischke lembrava a Pedro Amrico que Mirajor no era um ano de jardim, mostrando o quo esdrxula e inverossmil era a explicao para a morte do taxista. To esdrxula quanto a justificativa do ventilador para a morte de Arbalo.
Auto de Necropsia. Instituto Mdico Legal. Secretria de Segurana Pblica/RS. Acervo do MJDH/RS. Leal intimado a prestar esclarecimentos na Justia. Jornal Folha da Tarde, 18/06/1973. Acervo do MJDH/RS. 403 Coojornal, n.40, p.29. Niteri , na verdade, um bairro pertencente cidade de Canoas que por sua vez faz parte da rea que poderamos chamar de grande Porto Alegre. 404 Auto de Apreenso. Departamento de Polcia Judiciria do RS. Acervo do MJDH/RS. 405 Termo de Declaraes. Delegacia de Polcia do 2o Distrito. Acervo do MJDH/RS.
402
401
160
Cada corporao tem seu grupo de assassinos, disse um dos policiais entrevistados por Huggins, Fatoutos e Zimbardo. Entretanto, sem o respaldo dos facilitadores, os perpetradores diretos de atrocidades no agiriam to livremente. Apoiar a violncia, envolver-se com ela ou justific-la so decises pessoais e morais407.
Giorgio Agamben no cessa de lembrar que na modernidade, com a apropriao da vida pela poltica, a sacralidade da vida foi emancipada da idia de sacrifcio, transformando a todos virtualmente em homines sacri. Destituda da idia de sacrifcio, a vida do homo sacer ficou exposta impunidade da matana. A apropriao da vida pela poltica, como j foi discutido nos captulos anteriores, implica na deciso sobre o limiar alm do qual a vida cessa de ser politicamente relevante, podendo ser impunemente eliminada. Isso significa que a vida nua no est mais confinada a um lugar particular ou em uma categoria definida, mas habita o corpo biolgico de cada ser vivente408. Mirajor e Luiz Alberto no haviam praticado nenhum delito, no eram acusados de crime algum. Chegaram ao DOPS sem supor que seriam submetidos violncia, e muito menos que estando ali, a virtualidade inerente de homens sacros seria traduzida na amplitude da vida nua exposta impunidade da tortura e do assassinato. Impunidade da tortura testemunhada, tambm, por outros presos comuns que prestaram depoimento na CPI do Caso Arbalo.
4.12. Presos comuns: a rotina dos suplcios
No relatrio final da CPI que investigou a morte de Luiz Alberto, encontramos mais quatro relatos de vtimas de tortura que no estavam ligadas luta poltica. Quatro presos comuns relataram as torturas sofridas no DOPS e em outras delegacias de Porto Alegre. Os mtodos utilizados contra essas pessoas eram os mesmos utilizados contra os presos polticos.
Luiz Eduardo Soares, Andr Batista e Rodrigo Pimentel. Elite da Tropa (RJ:Objetiva, 2006), p.148. Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.479.
407
406
161
Fernando Urrutia Andreoli que esteve preso na Delegacia de Furtos e Roubos, onde Seelig trabalhava na poca conta que quem comandava os maus tratos era o prprio delegado. Fernando sofreu diversas sevcias, incluindo trs afogamentos: estenderam-no no cho, trs agentes o seguravam, impossibilitando seus movimentos e um outro lhe introduzia uma mangueira pelas narinas409. A mesma mangueira tambm era introduzida no nus dos presos. Alm de Seelig, Fernando lembrava dos nomes de dois policiais: Nelson Pires e Hervelha. Disse que aps essas torturas ele confessava o que quisessem, desde que o suplcio terminasse.
A tortura tenta fazer de um humano a sombra de um humano. H sempre um ponto onde ela tem xito no esprito, no corpo ou no destino. o preo a pagar, marca de uma dor definitiva (...) como toda experincia humana trgica410.
Agostinho Monitor passou pelo DOPS e pela Delegacia de Furtos, ficando sob a responsabilidade de Pedro Seelig. Permaneceu vinte e cinco dias preso, sendo espancado diariamente. As marcas da dor fsica eram visveis e foram mostradas aos deputados da CPI. Alm do afogamento, Agostinho passou pelo pau-de-arara e foi surrado com pedaos de borracha de pneus com taxas (percevejos). Foi espancado por um grupo de seis policiais, alm de Seelig lembrava o nome de outros dois: Hervelha e Pires. Mas se lhe mostrassem fotos ele reconheceria os demais com facilidade. As fotos no foram providenciadas, apesar de solicitadas.
Se a tortura, tradio de longa durao no trabalho de boa parte dos policiais brasileiros, foi aperfeioada durante a ditadura militar, alm do suporte terico, o ensino das novas tcnicas no mbito prtico foi realizado de modo realisticamente rotineiro, no com presos polticos, j que um torturador novato poderia por a perder informaes valiosas. Huggins, Fatouros e Zimbardo lembram que no Brasil, o ensino prtico foi feito utilizando pobres como cobaias:
408 409
Giorgio Agamben. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua (BH: Ed.UFMG, 2004), p.146. Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3 p. 172.
162
Um dos primeiros a introduzir essa prtica no Brasil foi Daniel Mitrione, oficial de polcia norte-americano que pegou mendigos nas ruas e os torturou em sala de aula. A tortura tornou-se um mtodo cientfico durante o regime militar no Brasil e passou a fazer parte dos currculos de treinamento para determinados postos do pessoal militar411.
Contra todas as denncias, testemunhas, vtimas e evidncias, no ano de 2000, Pedro Seelig, j aposentado, um dentre os muitos policiais envolvidos nas sesses de tortura no Rio Grande do Sul afirmou ao Jornal Zero Hora que jamais houve tortura no DOPS/RS. Mais ainda, disse que os presos polticos que passaram pelas mos da polcia entre os anos de 1960 e 1970, faziam falsas denncias de tortura para obter indenizaes412. Seelig esqueceu que os presos comuns tambm denunciaram a tortura, mas provavelmente o delegado acharia outra explicao para o que denominaria tambm de falsas denuncias, j que jamais houve tortura no DOPS/RS!
Gabriel Silveira Vilella, outra testemunha a depor na CPI do Caso Arbalo, na poca j aposentado, ficou detido na Delegacia de Furtos, e sua priso inicialmente foi negada pelos policiais, mesmo aps seu advogado entrar com o pedido de habeas-corpus. Seelig, chamando o inspetor Pires, recomendou que no lhe dessem choques porque era um homem doente, mas que podiam bater-lhe, que lhe passassem o lao413, contou Gabriel. Gabriel descreveu ainda a sala de torturas, dizendo que as sevcias ocorriam sempre noite. Apesar de no ter sido torturado foi levado para a referida sala, na qual presenciou inmeras torturas, descrevendo-as aos relatores da CPI, citando inclusive o nome de algumas vtimas. Viu ainda pelas dependncias da delegacia um menino de mais ou menos doze anos, que estava l h quatro dias sem comer414. No final do seu depoimento solicitou proteo, pois temia represlias.
Dorlin Duarte tambm relatou as torturas que sofreu, bem como as que presenciou. Contou que saiu da Delegacia de Furtos sem dois dentes, arrancados durante uma surra dos
410
Maren e Marcelo Viar. Exlio e Tortura (SP: Escuta, 1992), p.149. Huggins, M., Fatouros, M. e Zimbardo, P. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.431. 412 Jornal Zero Hora, 10/11/2000. 413 Relatrio Final da CPI do Caso Arbalo. Assemblia Legislativa do RS, volume 3, p.178. 414 Idem, p.178.
411
163
policiais. Disse que eram cinco os torturadores daquela Delegacia, entre eles um de nome Hervelha e outro de nome Pires415. Alm da tortura por afogamento a que eram submetidos outros presos, viu Pedro Seelig surrar um homem doente e idoso, que dormia no xadrez.
Esses so relatos de vida nua exposta violncia anmica da polcia gacha. No espao da sala de torturas, os policiais assumem, temporariamente, o papel soberano da deciso sobre a vida e a morte do homo sacer.
415
Idem, p.176.
165
5. O empreendimento de reciclagem ps-ditadura
Finda a ditadura militar, inaugurado mais um perodo democrtico da poltica brasileira a Nova Repblica -, o papel soberano de deciso da vida e morte da vida nua continuou sendo exercido por alguns policiais dentro e fora das delegacias de Porto Alegre. Extinta a polcia poltica, os mtodos de tortura aperfeioados durante a ditadura continuaram sendo aplicados aos presos comuns. Em janeiro de 1987, uma mulher que fora detida inmeras vezes no Palcio da Polcia Maria Edi de Matos , denunciava publicamente muitos policiais civis afirmando que os presos continuavam sendo torturados: inclusive na gozao, policiais escreveram num cavalete que est na famigerada sala de torturas a expresso pau-de-arara da Nova Repblica416. Maria Edi relatou ainda que a nica mudana visvel, com o trmino do regime militar, foi que os presos passaram a ser encapuzados para no reconhecerem seus algozes. Para Huggins, no pas como um todo, em lugar do autoritarismo militar centralizado, um livre mercado de agentes assassinos de aluguel havia surgido no interior de um sistema policial fortemente militarizado, ou paralelamente a ele417. Os assassinos de aluguel eram policiais que pertenciam a grupos conhecidos como esquadres da morte, como era o caso da maioria dos perpetradores de atrocidades entrevistados por Huggins, Fatouros e Zimbardo.
Em 1985 o policial civil Arquimedes Ribeiro o Jacob entrevistado por Huggins, e citado no captulo anterior418 tornou pblicas fotos de um rapaz sendo torturado no Palcio da Polcia. Antnio Clvis Lima dos Santos, conhecido como Doge, aparece nas fotos pendurado no pau-de-arara da Nova Repblica:
Jornal Zero-Hora, 23/01/1987. Huggins, Marta K. et all. Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras (Braslia: Ed.UnB, 2006), p.238. 418 Huggins fala no texto que Jacob foi o policial gacho que fotografou e apresentou as fotos de
417
416
Doge (Operrios da Violncia, p. 190).
166
Doge havia sido preso em setembro de 1984 como suspeito de roubo. Mais tarde os policiais encontraram os ladres, entretanto quando isso aconteceu Doge j havia passado pela sesso de torturas:
Do xadrez da diviso de investigaes, fui levado direto para a sala do pau, onde fui pendurado durante mais de meia hora. Quem mais me batia era um tal de inspetor nio. Tambm me batiam nas costas com um pau, oito por oito centmetros, direto nas costas, e quem mais me batia era um baixinho, barbudo e de olhos verdes. O carcereiro tambm me deu uns pontaps. O que mais o apavorou, contudo, foi a sesso de afogamento: eles enfiaram uma mangueira com um jato forte no meu nariz (Jornal Zero-Hora, 10/08/1985).
Pau-de-arara, sesso de afogamento, porrada: violncia no estilo dos anos anteriores; violncia banalizada, linguagem de exceo tornada regra ao longo da trajetria poltica do pas. Morador da periferia de Porto Alegre, Doge - que em 1985 tinha dezenove anos de idade - assim como milhares de outras pessoas, no tinha existncia poltica reconhecida oficialmente, exceto enquanto homo sacer, vida nua, compondo a lgica de excluso. Como produo especfica do poder alis, biopoder que tomou de assalto a vida, penetrou todas as esferas da existncia, e as mobilizou inteiramente, pondoas para trabalhar: os gens, o corpo, a afetividade, o psiquismo, at a inteligncia, a imaginao, a criatividade, tudo isso foi violado, invadido, colonizado, quando no
167
diretamente expropriado pelos poderes419 - a vida nua capturada pela lgica de excluso, e a que sua existncia/inexistncia poltica se concretiza. Como Manuel Raimundo, Hugo Kretschoer, Luiz Alberto Arbalo, Mirajor Rondon, entre muitos outros, a vida de Doge no era a vida a ser protegida.
Aquele que violou a lei, em particular o homicida, excludo da comunidade, , pois, repelido, abandonado a si mesmo e, como tal, pode ser morto sem delito: homo sacer is est quem populus iudicavit ob maleficium; neque faz est eum immolari, sed qui occidit parricidi non damnatur (um homem maldito aquele que o povo julgou por ter praticado malefcio; no permitido imol-lo, mas quem o mata no condenado por parricdio)420.
Doge no era homicida, no cometera delito, entretanto, pertencia ao enorme grupo de despossudos sociais. No havia praticado malefcio, mas pertencia vida que se pode deixar morrer, no violou a lei, mas, em sua origem humilde, j fora abandonado por ela. Portanto, detinha tambm o estatuto de homo sacer, vida indigna. Para Zygmunt Baumam o homo sacer a principal categoria de refugo humano produzida na modernidade. Efeito colateral da construo da ordem e do progresso econmico, os deslocados, inaptos ou indesejveis, que na maior parte da modernidade foram mantidos nas partes atrasadas e subdesenvolvidas do planeta ou circunscritos a instituies disciplinares como o manicmio e a priso, passaram a compor o principal problema que a globalizao deve enfrentar. Diz Baumam que quando a modernizao perptua, obsessiva e viciosa atingiu todos os recantos do planeta a indstria de remoo do lixo humano passou a enfrentar uma crise aguda na medida em que a produo de refugo prossegue inquebrantvel e atinge novos pices, o planeta passa rapidamente a precisar de locais de despejo e de ferramentas para a reciclagem do lixo421. Para isso, os estados-naes contemporneos mantm ainda a prerrogativa essencial da soberania, o direito de excluir. Nesse sentido, para Baudrillard nos encontramos no post-scriptum de uma histria e de uma economia poltica, onde temos que lidar com os dejetos de dois sculos de capital e de produo,
Peter Pl Pelbart. Vida nua, vida besta, uma vida. http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2792,1.shl. Acessado em 05/03/2007. 420 Giorgio Agamben. A linguagem e a morte (BH: Ed. da UNB, 2006), p.142. 421 Zigmunt Bauman. Vidas Desperdiadas (RJ: Jorge Zahar, 2005), p.13.
419
Disponvel
em:
168
incluindo os dejetos humanos422. Nas cidas reflexes do socilogo francs, h mais de trinta anos adentramos nessa gesto dos dejetos, na qual o material humano continua sendo alvo de purificao e branqueamento, agora, no que Baudrillard denomina de empreendimento interminvel de reciclagem. O Caso Doge, a violncia contra Jorge Eugnio, o assassinato do verdureiro Guiomar Nunes, o Caso do Homem Errado e o trucidamento de Choro - casos que sero abordados nesse captulo - tratam de pessoas que, compondo a vida nua, so alvos constantes desse empreendimento de reciclagem contemporneo, dessa indstria da remoo do refugo humano.
5.1. Imagens da tortura
Na madrugada de 18 de setembro de 1984, dezesseis policiais civis invadiram o barraco no qual Antnio Clvis Lima dos Santos morava com o pai, a madrasta e mais um dos seus trs irmos. Os policiais insistiam para que Doge assumisse a responsabilidade do assalto a um caminho de bebidas. Alm da casa de Doge, os policiais invadiram tambm o barraco de outro vizinho levando-o preso juntamente com a namorada. Do Morro da Cruz, vila da periferia de Porto Alegre, onde moravam, foram conduzidos para o Palcio da Polcia, l era uma loucura, todo mundo berrando, na sala do pau muitos presos eram torturados:
Tiraram a roupa da namorada do meu vizinho e botaram ela no pau-de-arara. Jogavam gua e davam choques. Foi um pavor. A agonia dentro da sala era insuportvel, porque a gente nunca sabia quem seria o prximo. Me lembro que vi uma mulher da polcia, era chinesa ou japonesa, parece que da Delegacia de Txicos, torturando com choque um cara que tinha entrado por txicos. Era uma loucura. Todo mundo berrando423 (Jornal do Brasil, 10/08/1985).
Amedrontado, Doge viu muitas pessoas passarem pelo choque eltrico. Nas fotos da tortura os pneus que aparecem eram utilizados com esse fim: eles enchem os pneus de
422 423
Jean Baudrillard. O paroxista indiferente (RJ:Pazulin, 1999), p.76. Jornal do Brasil, 10/08/1985. Acervo do MJDH/RS.
169
gua, colocam a gente nu, sentado no pneu, e ligam o fio da maricota em qualquer parte da pessoa: na boca, na lngua, nos rgos genitais424.
Num intervalo durante a sesso de tortura, quando os policiais que o torturavam saram da sala, provavelmente para um caf ou algo assim, entrou outro policial com uma mquina fotogrfica. Era o policial Arquimedes Ribeiro dizendo que faria fotos para ferrar os caras que os torturavam. Na sala estavam mais dois supliciados, dos quais Arquimedes fotografou as costas para mostrar as marcas do suplcio. Um pedao de madeira de oito por oito centmetros usado para surrar os detidos tambm foi fotografado.
O policial Arquimedes Ribeiro procurou a imprensa e divulgou as fotos que fez de Doge sob tortura. Encrencado com seus superiores e respondendo a vrios processos, Arquimedes resolveu fazer as fotos para negociar sua situao. Os jornais publicaram o material, entretanto, como o paradeiro de Doge era desconhecido, oficialmente a polcia aproveitou para dizer que ele no existia como Hugo Kretschoer -, atribuindo as fotos a uma montagem, uma armao para desmoralizar a instituio policial. Arquimedes Ribeiro afirmou tambm que a tortura era um mtodo normal de investigao, e seus comandantes no momento eram o Chefe de Investigaes da Delegacia de Furtos, Jos Carrazoni, e o ex-diretor da Diviso de Investigaes, o delegado Arno Appolo do Amaral. Na mesma poca das denncias de Arquimedes, o delegado Pedro Carlos Seelig nosso conhecido do Caso Arbalo - assumiu a Diviso de Polcia Distrital, promovendo o acusado de torturas, Arno Appolo do Amaral, a delegado titular da 8a DP de Porto Alegre, dizendo que o mesmo era um delegado do mais alto quilate425.
Mesmo contando com delegados do mais alto quilate, a polcia gacha no conseguiu encontrar Antonio Clvis Lima dos Santos. No entanto, o fotgrafo do Jornal do Brasil, que trabalhava na sucursal de Porto Alegre, Jurandir Silveira, subiu o Morro da Cruz e localizou Doge. Do Morro da Cruz, Jurandir levou Doge sede do Movimento de Justia e Direitos Humanos (MJDH/RS) e, de l, Antonio Clvis foi apresentado ao Chefe
424 425
Jornal do Brasil, 10/08/1985. Acervo do MJDH/RS. Entrevista ao Jornal do Brasil (14/08/1985).
170
de Polcia delegado Jos Antnio Leo de Medeiros - onde confirmou a veracidade das fotos.
426
Jair Krischke, que acompanhou o caso e apresentou Doge polcia, conta que perguntou a ele porque no tinha se apresentado antes, j que todos estavam sua procura. Doge disse que no entendia porque o procuravam, e ficou muito surpreso quando soube que as torturas eram ilegais: mas eles no podiam bater em mim? 427, perguntou.
A surpresa de Doge eles no podiam bater em mim? denota o quanto o cotidiano de violncia policial foi introjetado pelas pessoas que integram a vida nua, especialmente os moradores da periferia das grandes cidades brasileiras. Neles, o corpo superfcie de inscrio dos acontecimentos - permanece como alvo do suplcio, sendo, ainda, o ponto de aplicao do castigo e o lugar de extorso da verdade428.
Revista Isto , 12/03/1986. Depoimento de Jair Krischke para a autora em 06/03/2007. 428 Michel Foucault. Vigiar e Punir (Petrpolis, Vozes: 2002), p.38.
427
426
171
Trabalhando com a noo de corpo incircunscrito, Teresa Caldeira lembra-nos que desde o incio dos anos oitenta no Brasil, os defensores dos direitos humanos passaram a sofrer oposio sistemtica a partir do momento em que j no eram apenas os perseguidos polticos que eles defendiam, mas as pessoas que compem a vida nua em geral , surgindo paralelamente uma ampla campanha pela introduo da pena de morte na constituio429. A partir da difundiu-se a idia de que direitos humanos so privilgios de bandidos. Se a violao dos direitos comum no mundo contemporneo, opor-se aos direitos humanos algo nico, de acordo com Caldeira. Com o alarde sobre o aumento da criminalidade, parcelas da populao passaram a defender uma polcia mais violenta e punies mais pesadas. Esse contexto ps-ditadura favoreceu a continuidade da violncia e das intervenes no corpo. Analisando declaraes publicadas na imprensa Jornal Folha de So Paulo do ano de 1991 -, de pessoas que se candidatavam a executar a funo de carrasco, caso a pena de morte fosse aprovada no pas, Caldeira demonstra a importncia do corpo na cultura brasileira como lugar de aplicao da punio:
o corpo incircunscrito no tem barreiras claras de separao ou evitao; um corpo permevel, aberto interveno, no qual as manipulaes de outros no so consideradas problemticas (...) desprotegido por direitos individuais e, na verdade, resulta historicamente de sua ausncia 430.
Se a modernidade europia docilizou e circunscreveu os corpos, no Brasil esse processo foi diferente, defende Caldeira. Aqui, o corpo continua incircunscrito, sujeito violncia desde o passado colonial. Os direitos civis, na prtica, no se desenvolveram no pas e o corpo no respeitado em sua individualidade e privacidade. sobre os corpos incircunscritos dos dominados que as relaes de poder se estruturam431, afirma a antroploga ao lembrar que o sistema judicirio no pas ineficaz, garantindo apenas os direitos de grupos sociais mais favorecidos.
Discusso j esboada no terceiro captulo, quando abordei o Caso Savi. Tereza Pires do Rio Caldeira. Cidade de muros: crime, segregao e cidadania em So Paulo (SP: Ed.34/Edusp, 2000), p.370. 431 Tereza Pires do Rio Caldeira. Cidade de muros: crime, segregao e cidadania em So Paulo (SP: Ed.34/Edusp, 2000), p.374.
430
429
172
Se pensarmos que a democracia moderna reivindica o corpo como sujeito poltico e no o homem livre e consciente, de modo que so os corpos matveis dos sditos a vida nua que formam a poltica ocidental como diz Agamben432, veremos nas declaraes de direitos uma fico. Na passagem do sdito ao cidado, marca-se o confisco positivado da vida pelos mecanismos de poder. Num pas com a trajetria poltica do Brasil, marcada pela exceo, desde os tempos coloniais, essa fico mais visvel e acentuada, da a noo pertinente, mas que no rompe com a lgica da biopoltica, de corpo incircunscrito. Se as declaraes de direitos so fundamentos do biopoder, e a anomia compe o nomos do sistema jurdico ocidental, defender a noo de corpo circunscrito alteraria superficialmente o processo, pois que esse corpo continuaria presa do biopoder. A lei necessita de um corpo, e a democracia faz com que a lei tome o corpo a seus cuidados, como fica evidente no texto original do Hbeas Corpus (abordado no primeiro captulo): corpus um ser bifronte, portador tanto da sujeio ao poder soberano quanto das liberdades individuais433. Obviamente no podemos abdicar das declaraes de direitos, mas precisamos compreender sua origem e funcionamento. No Brasil, a fico torna-se mais visvel, j que os corpos matveis dos sditos desfilam na in/visibilidade cotidiana, como o de Doge.
Na dialtica da in/visibilidade, os policiais, dentro das delegacias, adotaram certos cuidados para apagar os vestgios do suplcio:
um cara que diziam que era o mdico da polcia, baixo, gordo, com cabelo claro, passava pelas celas dando pomada para o pessoal passar nas costas. Ele mandava a gente passar Gelol porque s sairamos depois que as marcas das torturas tivessem desaparecido. Tambm nos dava sabo e dizia para esfregar nas costas e nos braos, dizendo que era bom. Bom nada. Ardia muito mais. Mas era para que as marcas desaparecessem434.
As pesquisas de Guaracy Mingardi o antroplogo que trabalhou como policial civil em uma delegacia paulista na dcada de oitenta - descortinam, de dentro do sistema policial, como o suplcio ao corpo compe contemporaneamente um processo que se inicia
Giorgio Agamben. Homo Sacer o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed. UFMG, 2004), p.131. Giorgio Agamben. Homo Sacer o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed. UFMG, 2004), p.187. 434 Antonio Clvis Lima dos Santos, entrevista ao Jornal do Brasil (10/08/1985).
433
432
173
com a seleo do suspeito e termina com a entrega dele justia, ou ento no acerto que o liberta435. Um Chefe de Investigadores esclareceu que quando um policial
vai para um distrito, no precisa conhecer os vagabundos (ladres) de l. Pode comear com os que a PM traz todos os dias. Quando tem um truta (ladro) com passagem (antecedentes criminais) voc d um pau at ele soltar umas broncas (confessar crimes). Ele deda outros, voc grampeia (prende, algema), d um pau e comea tudo de novo436.
J no restam dvidas de que dar um pau torturar um tratamento banalizado. A tortura marca-se, grava-se, escreve-se, tatua-se para sempre no sujeito437. Contudo, nas delegacias de bairros nobres, preciso tomar certos cuidados para no bater na vida que deve ser protegida. Nesses casos, como descreve um chefe de investigaes a delao funciona melhor, j que a PM no costuma deter muito baseada em atitudes suspeitas, s quando existe um chamado, logo essas delegacias vivem praticamente de informaes dos gansos438.
A diferena de tratamento constatada por Mingardi, e relatada pelos seus colegas policiais, entre a vida protegida e a vida nua, narrada pelos ex-capites da BOPE no episdio em que so enviados para conter uma manifestao de estudantes de uma universidade particular no Rio de Janeiro:
Se os pobres desdentados e negros descem o morro e fecham a avenida, a ordem botar pra foder, baixar o cacete e, se o tempo fechar, atirar antes e perguntar depois. Agora, se so os filhinhos de papai da zona sul, lourinhos, com sobrenome de rua, o tratamento tem de ser cinco estrelas, policiamento vip, at porqu, se o tempo fechar, a corda arrebenta do nosso lado... Naquele caso, do meu lado... (...) Se um de meus policiais erguesse o brao, era certo que um fotgrafo pularia da primeira rvore, bem no meio da cena, e o flagrante da vi-oln-cia po-li-ci-al estaria nas manchetes do dia seguinte e eu que ia acabar me fodendo439.
Guaracy Mingardi. Tiras, Gansos e Trutas (POA: Corag, s/data), p.58. Idem, p.58. 437 Marcia Tiburi e Ivete Keil. Dilogos sobre o corpo (Poa: Escritos, 2004), p.24. 438 Guaracy Mingardi. Tiras, Gansos e Trutas (POA: Corag, s/data), p.59. 439 Luiz Eduardo Soares, Andr Batista e Rodrigo Pimentel. Elite da Tropa (RJ:Objetiva, 2006), p.92.
436
435
174
Deter baseado em atitudes suspeitas ou invadir a casa (ou o barraco) e levar seus moradores para a delegacia sem provas ou mandados de priso uma prtica que, embora no acontea em bairros nobres, comum na periferia, como aconteceu com Doge e seus vizinhos. Seguindo a caracterizao de Mingardi, isso seria o que os policiais chamam de priso para averiguao, nas quais os detidos so denominados de corrs ou presos correcionais. Apesar de ilegal, ela j foi capturada pelo ordenamento:
Esse tipo de priso proibido por lei, mas tem o apoio de algumas autoridades que deveriam coibi-lo, caso contrrio no poderia subsistir. Prova disso que na grade, formulrio que indica o nome e razo da deteno de cada preso no distrito, est inclusa a relao dos presos correcionais. Vo cpias desse documento para vrias autoridades policiais, Secretria de Segurana e Secretaria da Justia. Alm disso alocada verba para a refeio dos corrs, o que implica em reconhecimento de sua existncia pela Secretria de Segurana Pblica. Mesmo assim, quando um corr morre ou ferido no DP, tais autoridades negam conhecimento das prises para averiguao440.
As autoridades que destinam verbas especficas para a alimentao dos detidos ilegalmente, possivelmente, so as mesmas que se surpreendem quando casos como o de Doge tornam-se pblicos.
Aps a priso ilegal, comea o procedimento de interrogatrio: a averiguao, ou seja, o pau. No caso de Doge, durou trs dias esse procedimento de interrogatrio to banalizado a ponto de ele ter ficado surpreso ao descobrir que os policiais no poderiam bater nele. Mingardi esclarece-nos acerca das regras, dentro de uma Delegacia de Polcia, que definem quem vai para o pau e como ser aplicado o tratamento:
Maneira correta de se tirar servios de um preso o pau-de-arara. As outras deixam marcas. Na Academia de Polcia um delegado, titular de seu distrito, explicou que a maneira mais segura era enrolar pedaos de cobertor nos pulsos do preso antes de pendur-lo, assim no ficariam marcas. O desenrolar da pesquisa mostrou que essa era realmente a tcnica empregada. Um preso tratado dessa forma no apresenta marcas num exame mdico legal. O uso ou no da mquina de choques fica por conta de quem conduz o interrogatrio. No interior do estado o sistema praticamente o mesmo, segundo um dos policiais entrevistados: O ladro vai para o pau. Ele tem sempre alguma coisa que confessar. Presume-se que ele mais culpado do que na verdade. Isso
440
Guaracy Mingardi. Tiras, Gansos e Trutas (POA: Corag, s/data), p.59-60.
175
presuno absoluta...Ento, pegou ladro, para o pau. ...Uma bela maquininha de choque, a Catarina, funcionava bastante.
As formas de pendurar, os instrumentos de tortura, bem como as tcnicas para no deixar marcas devem variar de acordo com as cidades e regies do pas. Contudo, o pau-de-arara parece ser o instrumento preferido nas delegacias em geral:
Tambm conhecido por cambo, um dos mais antigos mtodos de tortura. Aplicado j nos tempos da escravido para castigar escravos rebeldes, consiste em amarrar punhos e ps do torturado j despido, e sentado no cho, forando-o a dobrar os joelhos e a envolv-los com os braos; em seguida, passar uma barra de ferro de lado a lado - perpendicularmente ao eixo longitudinal do corpo - por um estreito vo formado entre os joelhos fletidos e as dobras do cotovelo. A barra suspensa e apoiada em dois cavaletes, ficando o preso dependurado. A posio provoca fortes e crescentes dores em todo o corpo, especialmente nos braos, pernas, costas e pescoo, ao que se soma o estrangulamento da circulao sangnea nos membros superiores e inferiores. A aplicao do pau-de-arara acompanhada sistematicamente de choques eltricos, afogamentos, queimadura com cigarro ou charutos e pancadas generalizadas, principalmente nas partes do corpo mais sensveis, como rgos genitais, etc. Esse tipo de tortura responsvel por deformaes na espinha, nos joelhos, nas pernas, nas mos e nos ps, alm de outros problemas sseos, musculares, neurolgicos, etc. Durante o perodo em que se vtima dessa tortura, fica-se impedido de andar e com as mos e ps inchados, sintomas que permanecem geralment e por longo tempo (sendo isso, s vezes, o fator deter minante no prolongamento da incomunicabilidade do preso, para que desapaream os mais perceptveis vestgios da violncia de que foi vtima) 441.
Na poca em que os jornais divulgavam as fotos e denncias de tortura de Doge, outro rapaz que sofreu semelhante tratamento procurou a polcia para denunciar seus algozes. Jorge Eugnio Nunez fora torturado na mesma sala do pau da Diviso de Investigaes no Palcio da Polcia em maro de 1984. Preso no centro da cidade sob suspeita de roubo quando entrava num bar no momento em que a polcia militar chegava para averiguar um assalto na hora de mandar descer do nibus, voc acha que escolho o mauricinho louro de olhos azuis, vestidinho para a aula de ingls, ou o negrinho de
Relatrio Azul. 1997. Comisso de Cidadania e Direitos Humanos da Assemblia Legislativa do Rio Grande do Sul.
441
176
bermuda e sandlia?442 , Jorge comeou a apanhar ali mesmo, sendo levado para o Palcio da Polcia, onde foi direto para a sala do pau:
O policial Torres ficou no aparelho de choque, colocaram trs fios em mim: um no pnis, outro no nus e um na boca. O policial Vitor Hugo ficou na mangueira, enquanto o sarar e o chins me batiam com um pau. O policial Dinarte s gritava. Eu no conseguia ver nada, pois o sangue corria muito forte do meu olho. Com o aparelho de televiso a todo volume para abafar os gritos de torturas, Jorge diz que os policiais jogaram um lquido branco em seus olhos, que ele acredita ser cido muritico pelo cheiro. A partir da, ele no se lembra de mais nada. Diz que acordou, no sabe quantos dias depois, no Hospital Banco de Olhos, onde um mdico, de nome Carlos, tratou do olho que acabou perdendo443.
Jorge Eugnio perdeu a viso do olho direito e ficou com graves leses nos dois pulmes em conseqncia das torturas sofridas.
444
442 443
Luiz Eduardo Soares, Andr Batista e Rodrigo Pimentel. Elite da Tropa (RJ:Objetiva, 2006), p.133-134. Jornal do Brasil, 14/04/1985.
177
Jorge, assim como Doge, tambm pertencia ao grupo das pessoas que devem ser penduradas. Na contrapartida, um cuidado especial destinado s pessoas que no devem ser penduradas:
Pessoas de posio social e no-fichadas no devem ser penduradas. Nesse caso no interessa a culpabilidade ou no do indivduo. Desde que ele se enquadre nas duas categorias, ele pode se considerar relativamente seguro. Uma s s vezes insuficiente. O motivo da primeira excluso evidente, perigoso agir assim com pessoas que tm acesso a polticos, autoridades judicirias, etc. Sobre os no-possuidores de ficha criminal, o delegado j citado recomendou em outra aula na Academia de Polcia: S pendurar vagabundo, no primrio. Nesse caso dar uns choquinhos no tornozelo445.
Como a promiscuidade entre polcia, poltica e crime organizado foi tambm banalizada e a corrupo policial tornou-se visvel nos ltimos anos, existe mais um grupo de pessoas que no devem apanhar, contanto que paguem por isso:
Criminoso com dinheiro no apanha. O meio de no apanhar fazer um acerto antes. Na gria policial, pagar o pau. Alguns pagam logo de cara, outros relutam um pouco, so pendurados, e depois fazem o acerto. Os que dificilmente apanham so os estelionatrios, os autores de crimes de colarinho branco: Quem apanha pobre, colarinho branco no apanha, faz acerto446.
Os que apanham so os mesmos que podem morrer em situao de tortura ou, ento, como queima de arquivo.
5.2. Alguns dias antes do julgamento
Depois do longo depoimento prestado por Doge na polcia, no qual ele confirmou as denncias de tortura, identificando, inclusive, seus torturadores, e com a imprensa cobrindo o caso, o governador do estado, Jair Soares, declarou publicamente que providenciaria, atravs de seu Secretrio de Segurana, garantias de vida para Doge, que foi ento
Idem. Guaracy Mingardi. Tiras, Gansos e Trutas (POA: Corag, s/data), p.60. 446 Guaracy Mingardi. Tiras, Gansos e Trutas (POA: Corag, s/data), p.60.
445
444
178
conduzido ao quartel do Primeiro Batalho de Polcia Militar do RS. Do quartel Doge escreveu namorada, contando que tinha at virado artista de televiso447, em funo da publicidade em torno do caso. Inicialmente, parecia estar gostando da proteo que o local oferecia, estava sendo bem tratado e no precisava se preocupar com a polcia atrs dele na vila onde morava, dizia.
Contudo, ele no agentou muito tempo isolado no quartel da Brigada esperando o lento desenrolar do processo, e voltou pra casa. Sete meses depois sofria um atentado: o barraco onde dormia foi invadido. Doge levou um tiro na barriga e seu irmo mais velho morreu na hora, vitimado por outros disparos. Doge foi polcia e contou que um dos assassinos foi encontrado morto logo depois, perto do local do crime. Em 03 de maro de 1986, quando faltava pouco mais de um ms para o julgamento, no qual Doge confirmaria as acusaes de tortura contra os policiais Jos Antnio Carrazoni dos Reis, Enio Gilberto Dorneles, Luiz Srgio Santos de Souza e Heraldo Souza Nunez, ele foi assassinado com seis tiros no peito por um menino conhecido por Fia. Fia surgiu na frente da casa onde Doge morava com uma pistola e descarregou a arma nele.
447
Jornal do Brasil, 12/08/1985.
179
448
Menor de idade, alguns dias depois, Fia procurou o MJDH/RS para ser levado ao Juizado de Menores, pois estava com medo da polcia e contou que matou Doge porque ele havia roubado algumas roupas suas (um par de tnis, uma jaqueta e uma cala) h mais de um ano449. O adolescente tambm declarou que j havia sido espancado pela polcia para que assumisse dois crimes sem soluo. Enquanto isso, os policiais acusados de tortura continuavam trabalhando em seus postos normalmente, sem sequer serem chamados para depor450. Cleber Leal Goulart, outro rapaz de aparecia sendo torturado nas fotos tiradas por Arquimedes, foi identificado pelos membros do MJDH/RS, mas no se apresentou para depor.
um velho costume da humanidade, esse de passar ao lado dos mortos e no os ver451, comenta a personagem do romance de Saramago quando a populao de uma cidade se v tomada por uma cegueira branca e passa a ser confinada em abrigos
Jornal Zero Hora, 20/04/1986. Jornal Zero Hora, 20/04/1986. 450 Revista Isto , 12/03/1986. 451 Jos Saramago. Ensaio sobre a cegueira (SP: Cia das Letras, 1995), p.284.
449
448
180
destinados a isolar os portadores da peste. Repentinamente, os que foram afetados pelo que as autoridades denominaram de peste branca tiveram suas vidas reduzidas zo, a vida nua. A morte e o total abandono da vida tomaram conta das pessoas afetadas pela cegueira. Os mortos no eram mais contabilizados pelo governo, que amontoava os doentes descartando-os do convvio com as demais pessoas. Passar ao lado dos mortos e no os ver no deixa de ser um empreendimento do biopoder que ao investir na vida j no se preocupa com a morte, de maneira que est ltima a morte do homo sacer - passou a ser anmica e insignificante (vide Carandiru, Candelria e muitos outros).
Assim foi com Doge: dias depois da sua morte o juiz responsvel pelo caso encerrou o processo. No havia testemunhas. Doge fora assassinado e Cleber havia desaparecido. O promotor responsvel, Arnaldo Sleiman, ex-delegado de polcia, tratou de desconsiderar as fotos os originais desapareceram -, e o policial Arquimedes Ribeiro negou tudo.
No decorrer da pesquisa localizei o nmero do processo envolvendo o caso de Doge nos Arquivos do Judicirio e solicitei uma cpia. Alguns dias depois fui informada que o processo havia sido incinerado no ano de 1995. Crime de tortura no prescreve, portanto, os rastros foram apagados, os vestgios ocultados. Gagnebin lembra que rastros so fruto do acaso, da negligncia ou da violncia, deixados por um animal que corre ou um ladro em fuga, sendo que quem deixa rastros no o faz com inteno de transmisso ou de significao452. Os nazistas trataram de apagar os rastros do genocdio: nos corpos incinerados, a ausncia de tmulos, nos documentos destrudos, a ausncia de arquivos. Tortura-se e mata-se os adversrios, mas, depois, nega-se a existncia mesma do assassnio. No se pode nem afirmar que as pessoas morreram, j que elas desapareceram sem deixar rastros, sem deixar tambm a possibilidade de um trabalho de homenagem e luto por parte dos seus prximos453. Assim foi com Hugo Kretschoer, o militar que rompeu o acordo de silncio. Quanto a Doge, no se podia negar sua existncia, tornada pblica atravs de um outro policial que tambm rompeu o acordo de silncio; foram,
452 453
Jeanne Marie Gagnebin. Lembrar, escrever, esquecer (SP: Editora 34, 2006), p.113. Jeanne Marie Gagnebin. Lembrar, escrever, esquecer (SP: Editora 34, 2006), p.116.
181
ento, apagados os documentos que provavam o crime - as originais das fotos desapareceram, e por fim, o processo foi incinerado -, depois de o prprio Doge ter sido assassinado. No entanto, citando Benjamin, Gagnebin diz que precisamos continuar a decifrar os rastros e a recolher os restos do que jogado fora, rejeitado e esquecido. Em busca desses vestgios contei com a cobertura feita pela imprensa na poca e com o relato de Jair Krischke, que acompanhou o caso de perto e foi condenado, anos depois, por lembrar publicamente do crime atravs do episdio dos outdoors.
5.3. At quando impunes?
At quando impunes? foi o ttulo de trs grandes outdoors confeccionados para o MJDH/RS, colocados em pontos estratgicos e movimentados da cidade, logo aps o julgamento que encerrou o Caso Doge. Neles a foto dos quatro policiais acusados, com um desenho de Doge numa das extremidades inferiores apontando para os policiais e em uma extremidade superior, a foto do rapaz no pau-de-arara. O presidente do MJDH/RS na poca, Augustino Veit, contou imprensa que o proprietrio da empresa que confeccionou os outdoors fora muito pressionado pelos policiais nos dias anteriores instalao dos mesmos, alm de ter sua empresa parcialmente arrombada454.
454
Jornal do Brasil, 16/05/1986.
182
455
Os acusados de tortura que apareciam nos outdoors registraram imediatamente ocorrncias policiais contra os integrantes do MJDH/RS, requerendo a retirada dos mesmos. Prontamente, a solicitao foi atendida e a polcia retirou-os. Entretanto, o material fora estampado nas pginas de alguns jornais (Jornal do Brasil, Jornal do Comrcio, Jornal Zero-Hora, entre outros). Alm dessa matria, outra ainda com fotos dos dirigentes da polcia gacha, designados aps o Caso Doge - todos envolvidos com a represso durante a ditadura, incluindo Pedro Seelig - afrontou os integrantes da cpula policial gacha456.
Jornal do Brasil, 16/05/1986. Na foto mostrando o outddor est Jair Krischke, um dos coordenadores do MJDH/RS. 456 Jornal do Brasil, 18/08/1986 e Jornal do Comrcio, 23/05/1986.
455
183
457
Ironicamente, os integrantes do MJDH/RS foram processados pela colocao dos outdoors e acabaram julgados e condenados em todas as instncias. Enquanto isso os policiais torturadores continuavam em seus postos, executando seu trabalho rotineiro, do qual Doge fora testemunha:
No quero voltar nunca mais pra l na priso. Nunca fiz nada. O costume da polcia de suspeitar de qualquer um nas vilas. Pegar, torturar e, se no tiver nada, como era meu caso, largar. Mas s depois de passar as pomadas para tirar as marcas458.
Doge, antes de ser assassinado, deixou-nos declaraes como essa. Ao exercer a faculdade da linguagem, ele explicitou a vida nua, aproximando-se da morte.
5.4. A linguagem e a morte
O homem, atravs da linguagem, ao mesmo tempo em que separa e ope a si prprio vida nua, mantm com ela uma relao de excluso inclusiva. A poltica, na execuo da tarefa metafsica que a levou a assumir sempre mais a forma de uma
457 458
Jornal do Comrcio, 23/05/1986. Jornal do Brasil, 10/08/1985.
184
biopoltica, no conseguiu construir a articulao entre zo e bios, entre voz e linguagem459. Assim como vida nua e vida protegida, amigo e inimigo, voz e linguagem esto cindidas. Retomando Heidegger e Hegel, Agamben diz que ao tentar colher o evento da linguagem a negatividade entra no homem e a voz humana, transformada em linguagem, pura negatividade. O homem para a filosofia ocidental o animal que possui a faculdade da morte e a faculdade da linguagem o mortal e o falante. Se voz e linguagem, assim como vida nua e vida protegida, esto cindidas, porque a linguagem e no a voz do homem. Ter lugar na linguagem suprimir a voz:
A relao essencial entre linguagem e morte tem para a metafsica o seu lugar na Voz. Morte e Voz tm a mesma estrutura negativa e so metafisicamente inseparveis. Ter experincia da morte como morte significa, efetivamente, fazer experincia da supresso da voz e do surgimento, em seu lugar, de outra Voz (...) que constitui o originrio fundamento negativo da palavra humana. Ter experincia da Voz significa, por outro lado, tornarmo-nos capazes de uma outra morte (...) A Voz, ns o sabemos, no diz nada, no quer dizer-dizer nenhuma proposio significante: ela indica e quer-dizer o puro ter lugar da linguagem (...) consentir com o ter-lugar da linguagem, escutar a Voz, significa, por isso, consentir tambm com a morte, ser capaz de morrer ao invs de simplesmente deceder 460.
Escutar a Voz Agamben usa Voz com inicial maiscula para distingui-la da voz em minscula que meramente som -, consentir com o ter lugar da linguagem , tambm, consentir com a morte. Entre os animais somente o homem possui a linguagem e, assim, consegue expressar atravs da voz as sensaes de dor e de prazer. Doge expressou a dor da tortura e, no ter lugar da linguagem, consentiu com a morte, como fazemos cotidianamente. Agamben cita um texto em que Nietzsche retoma um monlogo de dipo, para mostrar como a experincia da Voz e a experincia da morte so muito prximas: Ningum fala comigo, exceto eu mesmo, e minha voz chega at mim como a de um moribundo. Contigo, dileta voz, contigo, ltimo sopro de lembrana de toda felicidade humana461. S e esperando pela morte, dipo permanece apenas com a linguagem, e reencontra na Voz um ltimo sopro de lembrana, que lhe restitui o passado e intervm salvando-o da solido,
460
Giorgio Agamben. Homo Sacer o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed. UFMG, 2004), p.18. Giorgio Agamben. A linguagem e a morte (BH: Ed. UFMG, 2006), p.118-119. 461 Giorgio Agamben. A linguagem e a morte (BH: Ed. UFMG, 2006), p.129.
459
185
forando-o a falar462. O dilogo com a sua Voz assegura um lugar linguagem e, tambm, memria. Se a tortura destri a ordem da significao instituda pela linguagem, reencontrar a Voz narrando a situao traumtica reinstitui o ter-lugar da linguagem. Linguagem que capturou em si o poder do silncio, e mantm o indizvel dizendo-o, ou seja, colhendo-o na sua negatividade463.
Se, atravs do ter lugar na linguagem, Doge pde expressar a dor da tortura, o mesmo no aconteceu com o verdureiro Guiomar Nunes que, no mximo, articulou um som de dor, conforme contou sua esposa, antes de ser morto pela polcia.
5.5. Casa de Guiomar como paradigma da exceo
Se o campo de concentrao o exemplo supremo do estado de exceo, a prpria materializao deste ltimo por ser o espao no qual a vida nua e a norma entram num limiar de indistino, ento, a estrutura de campo recriada toda vez que essa indistino se forma, independentemente de a sua localizao e do tipo de crimes ali cometidos. As zone dattente dos aeroportos, onde os estrangeiros podem ser retidos enquanto esperam interveno de alguma autoridade judiciria, so exemplos contemporneos de campos para Agamben464. Lugares que se transformam em um espao anmico, no qual a polcia age como soberana. Poderamos citar inmeros exemplos desse agir soberano que transforma vilas, favelas, ruas, presdios, delegacias em espaos anmicos nos quais alguns policiais brasileiros agem soberanamente no empreendimento de reciclagem do refugo humano. Espaos como o da sala-do-pau no Palcio da Polcia, na qual inmeros presos foram torturados, como o casaro da Santo Antnio, na poca em que abrigou a Dopinha, ou ainda, a casa do verdureiro Guiomar Nunes de Lima, ao ser invadida por policiais.
Giorgio Agamben. A linguagem e a morte (BH: Ed. UFMG, 2006), p.130. Giorgio Agamben. A linguagem e a morte (BH: Ed. UFMG, 2006), p.28. 464 Giorgio Agamben. Homo Sacer o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed. UFMG, 2004), p.181.
463
462
186
Na manh do dia cinco de fevereiro de 1985, alguns assaltantes roubaram o Banco Nacional localizado no bairro Navegantes, em Porto Alegre, levando uma quantia considervel de dinheiro (100 milhes de cruzeiros). Na manh desse mesmo dia, o verdureiro Guiomar Nunes de Lima, conhecido como Barbudo, vendia suas mercadorias na Vila Esperana, localizada na cidade de Esteio, prxima de Porto Alegre. Muitos clientes de Guiomar, que compraram verduras dele nesse dia, pela manh, narraram a atividade do verdureiro. Menos de uma semana depois, at ento sem pistas do assalto, a polcia recebeu a informao que o grupo de assaltantes estaria escondido em uma vila na cidade de Esteio. Guiomar aparecia em uma foto que chegou s mos da polcia, ao lado de um dos suspeitos do assalto. Ele conhecia um dos acusados do assalto, o que bastou para que fosse assassinado. O delegado responsvel era Jorge Mafra, que esperou a madrugada para reunir seus policiais com objetivo de irem at a vila onde Guiomar morava com sua esposa e seus filhos.
A cena bastante freqente. Sempre de madrugada, policiais descem de suas viaturas e cercam a casa de algum suspeito, invariavelmente um miservel barraco de madeira de alguma vila. Em seguida, um ou dois rebentam a casa a pontaps e, juntamente com os demais, entram armados no barraco. isso que na gria policial, se chama pedalar uma baia. Apesar dos desmentidos oficiais, inegvel que a polcia gacha, como de resto a de todo pas, cultiva esse procedimento. (Ded Ferlauto e Mario Mota, Zero Hora, 24/02/85, p.54)
Marlete Costa, esposa de Guiomar, foi despertada por um barulho forte e sacudiu o marido. Os policiais haviam metido o p na porta da casa, na qual estavam encostadas, por dentro, inmeras caixas utilizadas para armazenar frutas e verduras. Guiomar saltou da cama e pegou a arma que tinha em casa para se defender do que imaginavam ser um assalto. Mas, era uma invaso. Os policiais pedalaram com mais fora a porta e entraram, s a avisaram que era a polcia. Guiomar ento levantou as mos, conforme contou sua esposa e seu filho. J era tarde, aproximadamente doze policiais disparavam suas armas. Guiomar foi alvejado e recebeu alguns tiros, no entanto, sua esposa o viu sair com vida da casa. O tiro que o matou foi dado fora da residncia: a ele levou dois tiros. Um no brao e outro na barriga. Ele disse ai e se encolheu ali no cho, sangrando. Eu s vi que tinha um
187
tiro na cabea, agora no velrio465. O delegado Mafra foi ferido na confuso, sendo encaminhado ao hospital. A esposa de Guiomar foi detida, os policiais queriam que ela confessasse onde estava o dinheiro do assalto. Marlete estava grvida de quatro meses e meio e foi levada para um local distante, uns matos, como relatou, para onde os policiais levaram tambm uma p e exigiram que ela desenterrasse o dinheiro. Mas Marlete no sabia de dinheiro algum, no podia confessar o que os policiais queriam ouvir. Bateram em Marlete at a p quebrar, o que no impediu que a surra continuasse com o cabo:
Chegando na Delegacia de Roubos, eles queriam que eu dissesse o nome do resto da quadrilha, qual o carro, que eu deveria saber de tudo. Eu disse que no sabia. Comearam a me bater. Estou toda dolorida. Me di a cabea. A me trouxeram pra Sapucaia, ali no mato, e me quebraram a p nas costas (...) Depois do mato me levaram de volta pra Roubos e voltei a apanhar. Se eu sei quem me bateu? Olha, eu tenho medo, pois eles me ameaaram muito. No digo quem foi porque no tenho coragem. Estou grvida e no quero apanhar mais. Eles pararam de me bater porque o advogado apareceu466.
Dois dias depois, Marlete foi liberada. Quando voltou para casa foi procurada pela imprensa e contou tudo o que passou, permitindo que os reprteres fotografassem suas costas, marcadas pelo suplcio.
467
Jornal Zero-Hora (14/02/85), p.50. Declaraes de Marlete Costa ao Jornal Zero-Hora (14/02/85), p.50. 467 Jornal Zero-Hora, 14/02/85.
466
465
188
468
Logo que os reprteres saram, quatro carros da Delegacia de Roubos estacionaram na frente da casa de Marlete. Os policiais desceram e descarregaram suas armas, atirando para o ar, em meio a mulheres e crianas que se solidarizavam com a esposa de Guiomar. Segundo o relato dos vizinhos, os policiais saram levando algumas ferramentas do verdureiro assassinado, como uma furadeira eltrica, um jogo de chaves e outras peas, alm de comerem frutas que estavam estocadas469. A casa de Marlete e Guiomar voltou a se transformar em campo de ao soberana da polcia. Todos ficaram amedrontados, mesmo assim os vizinhos no deixaram de fazer um abaixo-assinado com os nomes daqueles que viram Guiomar trabalhando na manh do assalto ao banco, relatando tambm essa visita intimidatria da polcia trs placas dos carros utilizados nessa ao foram anotadas. O episdio, com as fotografias das marcas das sevcias em Marlete acrescido do depoimento
Jornal Zero-Hora, 14/02/85. Cpia do Inqurito Policial Militar. Caixa 23: Irregularidades e Inoperncia Policial. Acervo de Luta Contra a Ditadura/Memorial Histrico do Rio Grande do Sul.
469
468
189
dela e dos vizinhos foi divulgado pela imprensa local, favorecida pelo fato de que a esposa de um jornalista Rosangela Rosa - havia comprado frutas e verduras de Guiomar na manh do assalto ao banco, testemunhando tambm a inocncia do verdureiro.
Giorgio Agamben diz que ao tornar-se regra o estado de exceo tomou uma nova e instvel disposio espacial um ordenamento sem localizao -, no qual habita a crescente vida nua que j no est circunscrita a locais determinados ao campo corresponde, agora, uma localizao sem ordenamento. O sistema poltico no ordena mais formas de vida e normas jurdicas em um espao determinado, mas contm em seu interior uma localizao deslocante que o excede, na qual toda forma de vida e toda norma podem virtualmente ser capturadas470. Assim como todos somos ou podemos nos transformar, contemporaneamente, em homo sacer, o campo agora pode estar em qualquer lugar, a captura e o assassinato da vida nua pode acontecer na casa de Guiomar, ou ainda, na frente de um supermercado qualquer como no caso do homem errado.
5.6. O homem errado
O tiro que matou Guiomar Nunes foi dado fora de casa, relatou sua esposa, Marlete. Ou seja, depois de ser retirado de sua casa pelos policiais que Guiomar foi assassinado. De certa forma, algo semelhante aconteceu com o operrio Julio Csar de Melo Pinto no dia 14 de maio de 1987. Os policiais tambm o confundiram com um assaltante, e ele foi morto depois de ter sido jogado dentro de uma viatura da polcia militar de Porto Alegre.
No final da tarde do dia 14 de maio, Julio Csar havia acabado de chegar em casa, vindo do trabalho, e preparava-se para entrar no banho, quando ouviu alguns tiros. Um supermercado perto de sua casa estava sendo assaltado e a polcia militar havia chegado ao local. Ele saiu rapidamente para ver o que estava acontecendo, esquecendo de levar seus documentos. Julio Csar no voltou mais para casa, confundido com os assaltantes ele foi
470
Giorgio Agamben. Homo Sacer o poder soberano e a vida nua I (BH: Ed. UFMG, 2004), p.182.
190
executado pelos policiais dentro de uma viatura da polcia militar, no trajeto entre o local do assalto e o hospital. Sua esposa, Jussara de Melo, passou dois dias em vo procurando pelo marido em vrios lugares. Ela no estava em casa quando ele saiu para ver o que acontecia, e no imaginava o desfecho trgico do sumio do esposo. Com a ajuda de um amigo da famlia que era jornalista, Jussara encontrou o corpo de Julio Csar no Instituto Mdico Legal (IML). Para explicar a morte do operrio, os policiais militares disseram que ele tinha sido morto durante o tiroteio com os assaltantes.
Voc sabe que a polcia confunde, ou muitas vezes, pra se nomear, se engrandecer, ela mata, inconscientemente, um inocente, acusando como bandido. Ela bota o revlver ali na mo do coitado (...) teu filho morre como bandido, sem ele ser bandido, porque a polcia matou por engano (...)471.
Entretanto, o fotgrafo do Jornal Zero-Hora, Ronaldo Bernardi, que estava no local, fez uma foto de Julio Csar detido aps o tiroteio, com apenas um ferimento leve na boca e dentro de uma viatura da polcia militar:
472
Depoimento de uma dona de casa. In: Tereza Pires do Rio Caldeira. Cidade de muros: crime, segregao e cidadania em So Paulo (SP: Ed.34/Edusp, 2000), p.154. 472 Arquivo do MJDH/RS.
471
191
Quando os policiais chegaram ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, algum tempo depois, novas fotografias foram tiradas, mostrando que Julio Csar chegou morto, com um tiro no abdmen e outro no trax.
473
Assaltantes mortos ou bandidos morreram antes de ser medicados, foram as chamadas que acompanharam a foto do corpo de Jlio Csar chegando ao hospital, no dia seguinte ao assalto, em um jornal da grande imprensa de Porto Alegre. Imprensa que com o fim da censura passou a cobrir os casos abordados nesse captulo, semelhana do que a imprensa alternativa, na medida de suas possibilidades, fez durante a ditadura militar474. Contudo, diferentemente das reportagens da imprensa alternativa, podemos perceber na
Jornal Correio do Povo, 15/05/1987. Acervo de Luta Contra a Ditadura/Memorial Histrico do Rio Grande do Sul. 474 Susel Oliveira da Rosa. Exemplar, Pato Macho e Coojornal: trajetrias alternativas. Dissertao de Mestrado: PUC/RS, 2002.
473
192
abordagem da imprensa convencional o que Elizabeth Canceli denomina de teatralidade na linguagem empregada nas notcias e na maneira como costumavam ser retratados os crimes475, num cenrio em que o espao jornalstico se torna palco para a dramatizao da vida de personagens envolvidos nos episdios violentos. Dramatizao precedida pela seleo prvia do que se tornar notcia, do que se transformar em acontecimento. Podemos dizer que os meios de comunicao, ou a mdia em geral, criam momentaneamente o acontecimento fazendo com que o(s) sentido(s) que no existem em si, mas so determinados pelas posies ideolgicas colocadas em jogo no processo sciohistrico em que as palavras so produzidas476 instaurados pelo texto deslizem, produzindo outros significados mediados pelos procedimentos de excluso que controlam, selecionam, organizam e redistribuem o discurso477. Com base nos procedimentos de excluso, os meios de comunicao, na maioria das vezes, apresentamnos os fatos desprovidos de sua possibilidade, em relao aos quais somos impotentes478. Se a foto de Jlio Csar vivo dentro de uma viatura da polcia no tivesse se tornado pblica, a verso de que assaltantes ou bandidos morreram em troca de tiros com a polcia teria prevalecido.
Alm de Jlio Csar, um dos envolvidos no assalto tambm foi morto na ao dos policiais militares: Clber Leal Goulart, o outro rapaz fotografado sob tortura pelo policial Arquimedes e desaparecido desde ento. A ltima testemunha do Caso Doge foi morta na mesma ao policial que vitimou Julio Csar.
Alguns policiais militares foram indiciados e condenados pelo crime Srgio Luis Borges, Paulo Melin, Carlos Ribeiro, Dair Freitas, Volmir Gambarra, Joo Carlos Rocha e Jorge Jesus Gomes , entretanto, aps cumprirem uma pequena parte da sentena foram postos em liberdade. Dez anos depois, o ex-tenente Srgio Lus Borges tornou pblica uma nova verso sobre o assassinato, acusando o capito Joo Luiz Clavgio de ter ordenado o
475
Elizabeth Canceli. A cultura do crime e da lei (Braslia: Ed. UnB, 2001), p.101. Eni Puccinelli Orlandi. Anlise de discurso: princpios e procedimentos. (Campinas/SP: Editora Pontes, 1999), p.42. 477 Michel Foucault. A ordem do discurso (SP: Edies Loyola, 1996), p.8-9. 478 Peter Pl Pelbart. A potncia do no: linguagem e poltica em Agamben. In: http://www.rizoma.net/interna.php?id=326&secao=artefato. Acessado em: 20/02/2006.
476
193
crime. Clavgio foi o nico absolvido no inqurito que condenou os demais policiais militares479.
O episdio ficou conhecido na imprensa e nos relatrios policiais como o caso do homem errado480. Se pensarmos em Jlio Csar como o homem errado para ser assassinado, logo, Cleber, o assaltante que foi morto, poderia ser chamado de o homem certo. Chamo ateno para este aspecto porque temos a a idia de que matar ou torturar bandido, criminoso, assaltante no crime. Essa uma idia recorrente na sociedade brasileira, nos setores mais pobres e, mesmo, entre os grupos intelectualizados. O padro de abusos da polcia ainda constitui o parmetro do bom trabalho policial para uma parte considervel da populao481, mostra Teresa Caldeira ao entrevistar pessoas de diversos grupos sociais em So Paulo: o esquadro da morte foi jia...era bom e ...o cara que no presta tem que morrer mesmo...some logo com ele e d lugar pra outro482, disse um exmotorista de txi, que trabalhava em uma instituio pblica. Eu queria que existisse ainda o Esquadro da Morte, sabe? O Esquadro da Morte a polcia que s mata... a justia com as prprias mos483, sentenciou um auxiliar de escritrio. A afirmao de Michel Foucault sobre a transformao da sociedade punitiva em sociedade da vigilncia parece ecoar na fala das pessoas entrevistas por Teresa Caldeira. Foucault lembra que foi
absolutamente necessrio constituir o povo como sujeito moral, portanto separando-o da delinqncia, separando nitidamente o grupo de delinqentes, mostrando-os como perigosos no apenas para os ricos, mas tambm para os pobres, mostrando-os carregados de todos os vcios e responsveis pelos maiores perigos484.
No artigo A justia de Cingapura na Casa de Tobias, Luciano Oliveira mostra como o apoio a punies severas e ao suplcio fsico para criminosos permeia tambm o universo dos setores intelectualizados da sociedade. No ano de 1994, um grupo de
479
Arquivo do MJDH/RS. Cpia do Inqurito Policial Militar. Caixa 23: Irregularidades e Inoperncia Policial. Acervo de Luta Contra a Ditadura/Memorial Histrico do Rio Grande do Sul. 481 Tereza Pires do Rio Caldeira. Cidade de muros: crime, segregao e cidadania em So Paulo (SP: Ed.34/Edusp, 2000), p.154. 482 Idem, p.190. 483 Idem, p.190.
480
194
adolescentes depredou e pichou o prdio da Faculdade de Direito de Recife, fazendo com que alguns alunos e professores ficassem indignados ao verem as paredes riscadas e os retratos de ilustres juristas estragados. Clamavam em voz alta pela aplicao, nos pichadores, da justia de Cingapura, referncia srie de aoites a que tinha sido recentemente condenado o jovem americano Michael Fay, autor de crime anlogo naquele longnquo pas da sia485. Professor da Faculdade na poca, Luciano Oliveira fez algumas pesquisas de opinio, depois de perceber a reao de seus alunos e colegas. O resultado foi que uma parcela significativa dos alunos apoiava o suplcio ao corpo:
Estamos um tanto irrefletidamente acostumados a pensar que, no sendo nativos de um desses remotos pases conflagrados onde massacres so coisas corriqueiras, nem pertencendo aos nossos estratos populares diariamente envenenados pela mdia atravs dos chamados "programas policiais", somos todos defensores dos direitos humanos. Noutros termos, que a adeso a formas cruis de punio algo estranho aos estratos populacionais mais "civilizados", aqueles situados acima da mdia em termos de cultura e educao, dos quais o corpo discente de uma faculdade de Direito constituiria um exemplo perfeito. Mas, como vimos, tambm ele capaz de aderir a uma punio cruel como o aoite486.
Trabalhos como o de Teresa Caldeira e Luciano Oliveira mostram como o medo e a vulnerabilidade associados trajetria de exceo do pas, na qual o suplcio ao corpo e a violncia so corriqueiros, levam pessoas de segmentos sociais diversos a apoiar aes violentas da polcia, legitimando o empreendimento de reciclagem. Nesse universo, matar bandido ou criminoso, e mesmo torturar, so fatos corriqueiros num pas em que os esquadres da morte ou grupos de justiceiros atuam luz do dia, como aconteceu no episdio do assassinato de Choro.
Michel Foucault. Microfsica do poder (RJ: Edies Graal, 1996). Luciano Oliveira. A justia de Cingapura na casa de Tobias: opinio dos alunos de direito do Recife sobre a pena de aoite para pichadores (SP: Revista Brasileira de Cincias Sociais, vol.14, n.40, 1999). 486 Luciano Oliveira. A justia de Cingapura na casa de Tobias: opinio dos alunos de direito do Recife sobre a pena de aoite para pichadores (SP: Revista Brasileira de Cincias Sociais, vol.14, n.40, 1999).
485
484
195
5.7. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava l487
Em agosto de 1990, o adolescente Jefferson Pereira da Silva, de quatorze anos, conhecido como Choro, foi assassinado por um grupo de justiceiros em uma vila de Porto Alegre. Acusado de liderar uma quadrilha que aterrorizava os moradores da Vila Pinto, Jefferson foi pego em sua casa, espancado na frente dos moradores da vila, arrastado pelo grupo de assassinos e fuzilado pelos mesmos. Entre os assassinos, alguns policiais militares. Trata-se do livre mercado de agentes assassinos de aluguel, oriundos do sistema policial militarizado ou paralelo a ele como denominam Huggins, Fatouros e Zimbardo. No imenso investimento de reciclagem do refugo humano, os militares legalizaram em 1969 uma indstria da segurana privada no Brasil488, que abriu caminhos aos famosos Esquadres da Morte e aos grupos de justiceiros que se espalharam durante a ditadura militar e continuam agindo at hoje. Se os esquadres da morte contavam, inicialmente, com policiais civis, logo os policiais militares tambm aderiram a esses grupos. Em Porto Alegre, o trucidamento de Choro reflete esse contexto de disseminao dos grupos de extermnio, comuns em todo pas489. Percival de Souza, que escreveu a biografia do delegado Fleury policial conhecido nacionalmente por sua atuao na represso poltica e no comando de um dos primeiros esquadres da morte em So Paulo - narra vrias aes desses policiais, para os quais suas vtimas no passavam de lixo humano:
Os homens (policiais) desceram depressa dos carros, abriram os bagageiros e, de seus interiores, puxados, arrastados, feridos e mortos foram jogados com raiva no terreno acimentado (da delegacia). Ningum ali parecia humano: nem feridos ou mortos, nem os que se arrastavam e os arremessavam, enfurecidos490.
Trecho de O meu guri (Chico Buarque), gravao de Chico Buarque no LP Almanaque (Ariola/1982). O Decreto Federal 1.034 de 21/10/1969 tornou obrigatrios os servios de segurana privada em instituies financeiras. 489 No artigo Violncia (para)policial em Porto Alegre nas dcadas de 70,80 e 90 (Revista Histria Unicruz, nmero 5) analiso vestgios da atuao desses grupos envolvendo policiais civis e agentes carcerrios no episdio do assassinato e suicdio de alguns traficantes em Porto Alegre, entre as dcadas de 80 e 90. 490 Percival de Souza. Autpsia do medo: vida e morte do delegado Srgio Paranhos Fleury (SP.: Globo, 2000), p.09.
488
487
196
Como diz Bauman, a indstria da segurana transformou-se num dos principais ramos da produo de refugo e fator fundamental no problema de sua remoo491. Contratados por um comerciante da Vila Pinto - irmo do presidirio fugitivo Jeovanir Sidnei Incio Siqueira, em quem Choro teria desferido alguns tiros no dia anterior onde Jefferson promovia assaltos liderando um grupo de adolescentes, uma gangue como aparece na imprensa e no inqurito policial, trs policiais militares e mais alguns homens foram atrs de Choro no barraco onde ele estava escondido. Assustado, Jefferson tentou se esconder embaixo da cama ao ver o grupo de assassinos. Trs disparos em sua direo o fizeram levantar: retirado de casa a fora, ele foi amarrado pelos braos com arame e cinto, para logo a seguir ser arrastado pela vila para que todos os moradores o vissem. Quando chegaram no centro da vila, passaram a espanc-lo492. Como nos suplcios medievais, Jefferson deveria servir como exemplo ao resto da populao. Depois do suplcio pblico, o menino foi jogado dentro de uma braslia verde que pertencia ao policial militar Fernandes - e desapareceu, contou uma moradora do local que assistiu a toda a cena493. Da Vila Pinto, Jefferson foi conduzido Vila Restinga antes permaneceu algumas horas em crcere privado na casa de um de seus algozes onde foi jogado num barranco e fuzilado pelo grupo de justiceiros. Ainda segundo os moradores do local e a posterior confisso de alguns dos acusados: quando retornaram no incio da madrugada, no pareciam esconder nada. Gritavam, para que todos da favela ouvissem, que Choro havia sido executado com dez tiros e seu corpo jamais seria localizado494.
Joo Carlos Balbueno Nascimento, Joo Batista Rodrigues e Jorge Carlos Rodrigues Fernandes foram os policiais militares que participaram do assassinato495. O grupo era composto ainda por Pedro Reginato da Silva, Jeovanir Sidnei Incio Siqueira, Paulo Wilson Incio Siqueira, Leandro Siqueira Fernades e Natalcio Valcir Lima Moraes496. Todos contratados para acabar com o perigoso assaltante Jefferson Pereira da Silva um menino
491
Zigmunt Bauman. Vidas Desperdiadas (RJ: Jorge Zahar, 2005), p.14. Relato de uma vizinha de Jefferson que acompanhou o suplcio pblico ao Jornal Zero Hora, 24/08/1990. 493 Jornal Zero-Hora, 11/08/1990. Relatrio da SSI/SSP/RS. Acervo de Luta Contra a Ditadura/Memorial Histrico do Rio Grande do Sul. 494 Idem. 495 Informe n. 10-477/90 SCI/SSP/RS. Acervo de Luta Contra a Ditadura/Memorial Histrico do Rio Grande do Sul.
492
197
de quatorze anos que, justificaram os assassinos, andava armado e aterrorizava os moradores da vila. Na verdade, vingavam os tiros que Jefferson tinha desferido em Jeovanir Sidnei.
A me de Jefferson, desesperada com o destino do filho, procurou a polcia aps o grupo de assassinos ter sumido com o adolescente497. Ela rompeu com a lei de silncio comum aos moradores de regies facilmente transformadas em campo nas quais a vida nua assassinada, sem que se cometa homicdio. Teresa Caldeira lembra que
em situaes de crime e violncia, os trabalhadores sentem-se impotentes. Ficam paralisados entre o medo da polcia, o medo da vingana do criminoso e, como veremos, a crena de que o sistema judicirio incapaz de oferecer justia. Sem proteo adotam o silncio como uma maneira de manter boas relaes com criminosos que podem at conhecer pessoalmente498.
Acostumado violncia cotidiana, num universo marcado pela exceo tornada regra, o homo sacer sabe que no pode contar com o sistema jurdico para proteg-lo, sente a anomia no prprio corpo. Mesmo assim, dona Rosa Maria Pereira da Silva, a me de Jefferson, procurou a Delegacia de Homicdios. Ela queria enterrar o corpo do filho: se foi assassinado quero enterrar seu corpo499, declarou imprensa e polcia. O corpo morto marca a presena da morte, e sem ele a morte deixa de existir500. Dona Rosa Maria queria encontrar seu filho, mesmo sem vida, para ter a certeza do destino do menino.
Idem. Jornal Zero Hora, 13/08/1990. 498 Tereza Pires do Rio Caldeira. Cidade de muros: crime, segregao e cidadania em So Paulo (SP: Ed.34/Edusp, 2000), p.185. 499 Jornal Zero-Hora, 11/08/1990. Relatrio da SSI/SSP/RS. Acervo de Luta Contra a Ditadura/Memorial Histrico do Rio Grande do Sul. 500 Ivete Keil e Marcia Tiburi. Dilogo sobre o corpo (Poa: Escritos, 2004), p.121.
497
496
198
501
No havia policiais civis envolvidos, logo, a equipe do delegado Clber Ferreira responsvel pela investigao - conseguiu identificar os justiceiros. Como sabemos, essa no a regra, afinal, o assassinato de Jefferson uma cena tpica da violncia urbana e policial no Brasil contemporneo, cena em que raramente os assassinos so identificados e, quando acontece, poucos so julgados ou punidos. Nesse cenrio, o corpo permanece alvo do suplcio, da tortura e, por fim, do assassinato. Peter Pl Pelbart diz que cada vez mais a biopoltica passa pelo corpo502. Corpo que no cessa de ser afetado pela alteridade que o atinge, pelos encontros sucessivos com outros corpos, temperaturas, intensidades. Corpo que para Merleau-Ponty o meio geral de ter um mundo, [ o] veculo do ser no mundo503. atravs do corpo que temos conscincia do mundo, o corpo prprio est no mundo assim como o corao no organismo; ele mantm o espetculo visvel continuamente em vida, anima-o e alimenta-o interiormente, forma com
Foto Jornal Zero-Hora, 11/08/1990. Relatrio da SSI/SSP/RS. Acervo de Luta Contra a Ditadura/Memorial Histrico do Rio Grande do Sul. 502 Peter Pl Pelbart. Vida nua, vida besta, uma vida. http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2792,1.shl acessado em 05/03/2007. 503 Maurice Merleau-Ponty. Fenomenologia da Percepo (SP: Martins Fontes, 2006), p.210.
501
199
ele um sistema504. Assim, martiriz-lo e destru-lo romper com o mundo do sujeito e, mesmo, com o mundo dos que lhe so prximos. A violncia que afetou e atingiu o corpo de Jefferson, rompeu com seu mundo, rompendo tambm, em uma intensidade outra, com o mundo da me do menino. Rompimento imerso na banalidade do cotidiano inexperencivel do homem contemporneo.
5.8. A perda da experincia
No ano de 1943, Walter Benjamin, observando que as pessoas voltavam emudecidas dos campos de batalha da segunda guerra, alertava para a pobreza da experincia da poca moderna. Transformando a experincia no caminho para o conhecimento, a cincia moderna expropriou-nos desta. Atualmente, Agamben afirma que a incapacidade de fazer e transmitir experincias talvez seja um dos poucos dados certos que disponha sobre si mesmo505 o homem contemporneo. No mais a catstrofe de uma guerra mundial, mas o cotidiano banal da existncia numa grande cidade por si s suficiente para a destruio da experincia: o homem moderno volta pra casa noitinha extenuado por uma mixrdia de eventos divertidos ou maantes, banais ou inslitos, agradveis ou atrozes -, entretanto nenhum deles se tornou experincia506. Essa incapacidade de traduzir-se em experincia torna a existncia cotidiana insuportvel. Nesse cenrio, os sucessivos eventos significativos que pululam na contemporaneidade sufocam o homem contemporneo. Se a experincia tem por correlato a autoridade vislumbrada anteriormente atravs da palavra e do conto, hoje, a autoridade se apia no inexperencivel. A mxima e o provrbio, exemplo de formas pelas quais a experincia se colocava como autoridade, foram substitudas pelos slogans provrbios de uma humanidade que perdeu a experincia507. Se aqueles que descobriram as drogas no sculo XIX acreditavam realizar uma nova experincia (para citar um dentre os muitos exemplos dessa expropriao), hoje a toxicomania de massa cuida de desvencilhar-se de toda experincia, diz Agamben. Est ltima se efetua agora, fora
504
Maurice Merleau-Ponty. Fenomenologia da Percepo (SP: Martins Fontes, 2006), p.273. Giorgio Agamben. Infncia e Histria (BH: Editora da UFMG, 2005), p.21. 506 Idem, p.22.
505
200
do homem, e, curiosamente, o homem olha para elas com alvio. Uma visita a um museu ou a um lugar de peregrinao turstica , desse ponto de vista, particularmente instrutiva508.
A destruio e a banalidade surgem, assim, como as novas moradas do homem. O fim da experincia pode ser comparado antecipao da morte. Nesse contexto, a banalizao da vida humana e o eterno reciclar do refugo humano se exasperam num mundo em que esses fatos se sobrepem uns aos outros. Mortes e assassinatos como o de Doge, Choro, Guiomar, Jlio Csar e tantos outros no se transformam em experincias, no nos afetam, permanecemos alheios a eles. No mximo esses casos ocupam momentaneamente as pginas dos noticirios televisivos, da mdia em geral, para logo serem substitudos por outros mais recentes no crculo vicioso de consumo miditico da violncia que alimenta espectadores indignados e impotentes: homens do ressentimento, diz Agamben, parafraseando Nietzsche. A velocidade na atualidade suplanta o tempo da experincia, em nossa inrcia comportamental
os cones de violncia massificada (...) trazem como resultado um estado geral de indiferena, no qual o bem e o mal expostos ao olhar, sem intermediao, tornam-se um simples dado do cotidiano, entre tantos outros, e talvez no o menos incmodo. Estabelece-se um estado geral de apatia, de tranqila aceitao, tanto nos que aplicam a violncia, direta ou indiretamente, como naqueles que a sofrem diuturnamente509.
Expropriados da experincia, cada um de ns sobrevive como pode a uma dose diria de exposio traumtica, na tela da televiso ou no sinal de trnsito510. Para Gagnebain, uma outra conseqncia da perda da experincia pode ser observada no desaparecimento das formas tradicionais de narrativa. Entre os cacos e runas do desaparecimento da narrativa tradicional, pica, linear e herica, Walter Benjamin esboou a idia de uma outra narrao, diz Gagnebain. Numa injuno tica e poltica, o narrador, para que no se percam os rastros, alm de menos triunfante que outrora, deve assumir
Idem, p.23. Giorgio Agamben. Infncia e Histria (BH: Editora da UFMG, 2005), p.23. 509 Ruth M. Chitt Gauer. Alguns aspectos da fenomenologia da violncia (Curitiba: Juru, 2000), p.14-15. 510 Mrcio Seligmann Silva. A histria como trauma, in: Catstrofe e Representao (SP: Escuta, 2000), p.11.
508
507
201
tambm a figura do trapeiro... do catador de sucata e de lixo, esse personagem das grandes cidades modernas que recolhe os cacos, os restos, os detritos511. Essa uma narrao que abre-se aos brancos, aos buracos, ao esquecido e ao recalcado, para dizer, com hesitaes, solavancos, incompletude, aquilo que ainda no teve direito nem lembrana nem s palavras512.
Creio que podemos pensar essa narrao a partir do conceito de infncia de Agamben. Para ele o lugar da experincia pode ser pensado enquanto infncia do homem. Infncia que coexiste originalmente com a linguagem, constituindo-se na expropriao que a linguagem dela efetua, produzindo a cada vez o homem como sujeito513. Precisamos lembrar que o homem no desde sempre o falante, atravs da linguagem que ele se constitui enquanto sujeito. A experincia enquanto infncia estaria, portanto, na diferena entre o humano e o lingstico514, na medida em que a infncia age, primeiramente sobre a linguagem, constituindo-a e condicionando-a de modo essencial515:
Somente por que existe uma infncia do homem, somente por que a linguagem no se identifica com o humano e h uma diferena entre lngua e discurso, entre semitico e semntico, somente por isto existe histria, somente por isto o homem um ser histrico516.
Ou seja, na infncia nos constitumos como sujeitos atravs da linguagem, a que se esboa a ciso entre natureza e cultura, entre lngua e discurso. Nesse sentido, a infncia no meramente uma etapa cronolgica da vida: por possuir uma infncia, o homem no desde sempre o falante, ao entrar na lngua ele a transforma, constituindo-a em discurso e, assim, abrindo espao para a histria517. A noo de infncia est atrelada aos limites da linguagem, j que expe a relao entre experincia e linguagem.
Jeanne Marie Gagnebin. Memria, histria, testemunho, in: Memria (Campinas:Ed.Unicamp, 2001), p.90. 512 Idem, p.91. 513 Giorgio Agamben. Infncia e Histria (BH: Editora da UFMG, 2005), p.p.59. 514 Idem, p.62. 515 Idem, p.62. 516 Idem, p.64. 517 Idem, p.68.
511
(res)sentimento
202
Pensando a relao entre experincia e linguagem na contemporaneidade, a partir das narrativas (im)possveis de situaes traumticas impossibilidade de dizer ou de falar a partir de uma lngua, de uma experincia518 -, como a dos sobreviventes dos campos de concentrao e, mesmo, dos familiares de desaparecidos em massacres semelhantes, Gagnebin prope que tentemos escapar de uma fixao doentia no passado um dos sintomas do ressentimento sobre o qual escreveu Nietzsche , buscando a experincia fora do crculo infernal do torturador e do torturado, do assassino e do assassinado519, no intuito de buscar um sentido humano possvel ao mundo. Para isso, seria preciso romper com a tranqilidade da linguagem daqueles que no querem ouvir os relatos do trauma. Ou seja, Gagnebin diz que necessrio ampliarmos o conceito de testemunha. Testemunha deveria ser no somente aquele que viu, a testemunha direta, mas, tambm, aquele que no vai embora,
que consegue ouvir a narrao insuportvel do outro e que aceita que suas palavras revezem a histria do outro: no por culpabilidade ou por compaixo, mas porque somente a transmisso simblica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizvel, somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a no repeti-lo infinitamente, mas a ousar esboar uma outra histria, a inventar o presente520.
Talvez essa seja uma das formas de reencontrar a Voz que reinstitui o ter-lugar da linguagem, agora no somente atravs daquele que narra a situao traumtica, que viu ou vivenciou o suplcio, mas da testemunha que ouve a narrao do outro e, ao fazer isso, aproxima-se novamente da experincia. Os limites da linguagem so ento buscados na prpria experincia da linguagem, no que Agamben chama de aposta na infncia, no mais onde os nomes nos faltam e a palavra se parte em nossos lbios, mas onde seja possvel, at certo ponto, indicar a lgica e exibir o lugar da forma521. Essa seria uma experincia da linguagem que toma o hiato entre voz e linguagem como possibilidade de construo de uma tica que rompe com o comum, burlando o investimento biopoltico de realizar no corpo humano a separao absoluta do vivente e do falante, de zo e bis, do
518
Idem, p.14-15. Jeanne Marie Gagnebin. Memria, (Campinas:Ed.Unicamp, 2001), p.93. 520 Idem, p.93.
519
histria,
testemunho,
in:
Memria
(res)sentimento
203
no-homem e do homem: a sobrevida522. Seno burlar, encarar a imensa reciclagem do refugo humano na condio da testemunha de Gagnebin, para que casos como os de Antonio Clvis, Jlio Csar, Jefferson e Guiomar no permaneam mergulhados nessa incapacidade de fazer e transmitir experincias.
Giorgio Agamben. Infncia e Histria (BH: Editora da UFMG, 2005), p.13. Peter Pl Pelbart. Vida nua, vida besta, uma vida. http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2792,1.shl acessado em 05/03/2007.
522
521
205
Consideraes Finais
Ao iniciar este trabalho, tinha em mente perscrutar a banalizao da violncia policial no Brasil contemporneo, especificamente na cidade de Porto Alegre, retomando casos de pessoas que foram vtimas dessa violncia durante e aps a ditadura militar. Ainda no mestrado, ao analisar a censura entre as dcadas de 60 e 80 do sculo passado na cidade, debruando-me sobre os jornais da poca, percebi que eram freqentes os casos de violncia envolvendo a polcia gacha. No s durante o regime militar, mas tambm aps, nas dcadas de oitenta e noventa. Pensei ento, em tentar compreender essa continuidade, sabendo de antemo que poderia encontrar dificuldades para acessar documentos e vestgios, principalmente do perodo militar. Felizmente, contei com o acesso pesquisa em dois locais privilegiados: o Acervo do Movimento de Justia e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul e o Acervo de Luta Contra a Ditadura. Com base nos vestgios encontrados nesses locais, retomei as histrias de vida nua e violncia que foram abordadas. Analisando-os percebi que os vnculos entre polcia e poltica eram estreitos e seus efeitos contribuam para a banalizao da violncia na atualidade.
Julguei ser importante retomar algumas caractersticas da sociedade moderna que nos permitem compreender a assuno da vida pelo poder e o conseqente entrelaamento entre polcia e poltica. Assim, comecei o primeiro captulo. A noo de que poder e violncia no so equacionveis, embora estejam cada vez mais indistinguveis na atualidade, desacomodou os conceitos tradicionais de violncia e poder que eu ento possua. Como pensar essa afirmao de Hannah Arendt? Paradoxalmente, apesar das diferenas tericas, a noo de biopoltica de Michel Foucault permitiu-me entender no s essa afirmao, mas ampliar o olhar sobre o contexto no qual me debruava. A partir da, a idia de estado de exceo e vida nua tornaram-se perfeitamente palpveis para entender a tortura e/ou o assassinato de Manuel Raimundo, Hugo Krestchoer, Luis Alberto, Mirajor Rondon, Antnio Clvis, Guiomar Nunes, Jorge Eugnio, Jlio Csar e Jefferson Pereira. Vidas descartveis no ordenamento biopoltico do estado de exceo em que a polcia, entrelaada poltica, atualmente o rosto mais apropriado do biopoder. Vidas que se pode deixar morrer num pas onde a polcia exerce cotidianamente o direito soberano de
206
decidir a vida e a morte da vida nua, em locais facilmente transformados em campos de exceo: a sala do pau de uma Delegacia, o espao fsico de uma vila ou favela, os locais de represso extra-oficiais como a Dopinha e, mesmo, dentro de uma viatura policial no trajeto entre o local de um assalto e o hospital j que a estrutura de campo, atualmente, prescinde de uma localizao espacial definida. Num cenrio em que a destruio e a banalidade so as novas moradas do homem, diria Agamben, e o eterno reciclar do refugo humano segue seu curso.
Se, no primeiro captulo procurei explorar a assuno da vida pelo poder dando forma ao poder total ou ao estado de exceo que expe a vida nua do homo sacer, no segundo, abordando rapidamente a trajetria de exceo do estado brasileiro no qual a anomia capturada pelo ordenamento , analisei o entrelaamento entre polcia e poltica, mostrando que os limites entre ambas, por vezes, so tnues. A partir da, tratei no terceiro captulo da histria de Manoel Raimundo Soares, sargento do exrcito e militante assassinado pela represso poltica. Como inmeros militantes durante a ditadura militar, Manuel foi seqestrado, preso e morto como homo sacer. Mas no foram apenas as pessoas envolvidas na luta poltica as vtimas da violncia na poca: a rotina de suplcios no mudou para aqueles que, desde o nascimento, compunham a vida matvel e insacrificvel. Busquei demonstrar isso no quarto captulo, atravs do episdio de deteno e posterior morte de Luis Alberto Arbalo e de Mirajor Rondon. Atravs do trgico destino de Mirajor e Luis Alberto podemos perceber que, em meio represso poltica, a tortura e a violncia contra o homo sacer prosseguiam, incrementada com os mtodos ensinados aos policiais para arrancar a confisso o que o torturador quer ouvir e no o que o torturado tem a dizer dos presos polticos. J no quinto captulo, mostrei que o empreendimento de reciclagem da vida indigna ou do refugo humano permanece extremamente atual, envolvendo grupos de extermnio, policiais civis e militares. No estado de exceo, so as vidas matveis dos sditos os alvos da violncia policial.
Qui a vida matvel de todos os sditos, j que, atualmente, assim como o campo configura-se numa localizao sem ordenamento, todos somos ou podemos nos transformar em homo sacer, na medida em que vida e norma (jurdica) no ocupam lugares
207
determinados e a vida nua no est mais confinada a um lugar particular ou a uma categoria definida, mas habita o corpo biolgico de cada ser vivente523. Nem vida, nem morte: a produo de uma sobrevida atualmente o obsquio do biopoder, fortalecido pela nossa incapacidade de traduzir em experincia a maioria dos eventos, incluindo a casos como os de Doge, Jefferson, Luis Alberto, Mirajor, Guiomar, Jlio Csar, entre outros. Ao afirmar que as experincias, hoje, se efetuam fora do homem, Agamben diz que sua idia no simplesmente a de deplorar essa realidade, mas constat-la, pois que dela mesma pode surgir o germe da experincia futura. Nesse sentido, Foucault, ao afirmar que a vida tornou-se alvo dos investimentos biopolticos, no deixou de lembrar tambm que essa mesma vida, sem cessar escapa aos clculos do poder. Retomando essa idia, Plbart524 sugere que, por vezes, no extremo da vida nua, quando parecemos ter atingido um ponto intolervel, somos impelidos em uma outra direo, na qual pode-se descobrir uma vida. No limiar entre a vida e a morte ou, para Deleuze, entre o humano e o inumano, na qual a desfigurao do corpo inventa novas conexes, foras, potncias que o liberam e atravessam, podemos encontrar uma vida. Uma vida a vida que se despojou de tudo que a continha ou representava, libertou-se da reduo a vida nua, a refugo ou lixo humano. a potncia de uma vida no orgnica, que pode existir nos mais inusitados lugares e escapa aos clculos do poder, como o muulmano que deixava perplexos os oficiais nazistas nos campos de concentrao. No mesmo ponto no qual o poder investe suas foras, a resistncia potencializa-se, diz Foucault. Assim, em meio vida nua, ao lixo humano, que podemos encontrar uma vida: vida de pura imanncia, neutra, alm do bem e do mal (...) vida singular imanente a um homem que no tem mais nome, embora no se confunda com nenhum outro. Essncia singular, uma vida525. Vida como potencialidade, situada nos contornos, nas dobras, nas fronteiras. No lugar da guerra, ofereamos o combate, diz Deleuze. Mas o combate-entre, a vitalidade no-orgnica que trata de apossar-se de uma fora para faz-la sua, enriquecendo aquilo de que se apossa526.
Giorgio Agamben. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua (BH: Ed.UFMG, 2004), p.146. Peter Pl Pelbart. Vida nua, vida besta, uma vida. Disponvel em: http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2792,1.shl. Acessado: 20/05/2007. 525 Gilles Deleuze. A imanncia: uma vida. In: Gilles Deleuze: imagens de um filsofo da imanncia (Londrina: Ed. da UEL, 1997), p. 18. 526 Gilles Deleuze. Crtica e clnica (SP: Editora 34, 1997), p.151.
524
523
208
Vida, quem sabe, prxima a do ser qualquer, o ser que, seja como for, no indiferente; ele contm, desde logo, algo que remete para vontade, o ser qual-quer estabelece uma relao original com o desejo527. O ser qualquer aquele que no se filia a nenhuma identidade, vive como um habitante do limbo que morreu sem ser batizado e, portanto, desconhece a viso de Deus e a conscincia sobrenatural est para alm da perdio e da salvao. Se a pena do habitante do limbo a ausncia da viso de Deus, essa tambm sua natural alegria: irremediavelmente perdidos, permanecem sem dor no abandono divino528. A recusa ao pertencimento no ser brasileiro, italiano, comunista, etc , da singularidade qualquer rompe com a lgica poltica ou biopoltica do Estado, desmascara a fico das declaraes de direitos e da sacralidade da vida gosto dos homens que no tm raa. por isso que eu gosto de si Kindzu529 j que no carrega o fardo da identidade. Ou seja, se ao longo do trabalho procurei mostrar a vida nua exposta no ordenamento biopoltico violncia policial, resta ainda perceber os espaos onde essa mesma vida escapa aos mecanismos de poder, potencializando-se em uma vida.
Giorgio Agamben. A comunidade que vem (Lisboa: Editorial Presena, 1993), p.11. Idem, p.14. 529 Mia Couto. Terra Sonmbula (RJ:Record/sd).
528
527
209
Referncias
Arquivos consultados
Acervo do Movimento de Justia e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul Acervo de Luta Contra a Ditadura /Arquivo Histrico do Rio Grande do Sul Arquivo da Assemblia Legislativa do Rio Grande do Sul Acervo da Biblioteca Borges de Medeiros (Solar dos Cmara) Porto Alegre/RS Museu da Academia de Polcia Porto Alegre/RS Museu de Comunicao Social Hiplito Jos da Costa Porto Alegre/RS
Jornais e Revistas
Coojornal, Porto Alegre/RS Correio do Povo, Porto Alegre/RS Jornal do Brasil, Rio de Janeiro/RJ Zero Hora, Porto Alegre/RS Revista ISTO, So Paulo/SP Jornal do Comrcio, Porto Alegre/RS Jornal O Rio Grande, Porto Alegre/RS
Depoimentos
Cludio Gutierres, 30/08/2004 Jair Kriskcke, 07/12/2004 Carlos Heitor, 16/08/2006
210
Bibliografia
AGAMBEN, Giorgio ___ Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte:Editora da UFMG, 2004. ___ Estado de Exceo. So Paulo: Boitempo, 2004a. ___ A poltica da profanao. In: Jornal Folha de So Paulo, 18/09/2005. ___ A linguagem e a morte. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2006. ___ O Estado de Exceo. Revista Carta Capital, 31/03/2004. ___ Infncia e Histria. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2005. ___ A comunidade que vem. Lisboa: Editorial Presena, 1993.
ARAJO, Maria do Socorro de Sousa ___ Paixes Polticas em Tempos Revolucionrios: nos caminhos da militncia, o percurso de Jane Vanini. Dissertao de Mestrado. Cuiab: UFMT, 2002.
ARENDT, Hannah ___ Sobre a violncia. Rio de Janeiro: Relume-Dumar, 1994. ___ O que poltica. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. ___ A condio humana. Rio de Janeiro: Forense-Universitria, 2004. ___ Eichmann em Jerusalm um relato sobre a banalidade do mal. So Paulo: Cia das Letras, 1994.
ARTIRES, Philippe ___ Arquivar a prpria vida. In: www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/234.pdf.
BARCELLOS, Caco ___ Rota 66. So Paulo: Editora Globo, 2004. ___ Dedo na ferida. Revista Caros Amigos (n.2), 2001.
211
BAUDRILLARD, Jean ___ O paroxista indiferente. Rio de Janeiro: Pazulin, 1999.
BAUER, Caroline Silveira ___ Avenida Joo Pessoa, 2050 - 3o andar: terrorismo de estado e ao de polcia poltica no Departamento de Ordem Poltica e Social do Rio Grande do Sul (19641982). Dissertao de Mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 2006.
BAUMAN, Zygmunt ___ Vidas Desperdiadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. ___ O Mal-Estar da Ps-Modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. ___ Modernidad y Holocausto. Toledo: Sequitur, 1997.
BENJAMIM, Walter ___ Documentos de cultura, documentos de barbrie. So Paulo: Cultrix/Edusp, 1986. ___ Arte, tcnica, linguagem e poltica. Lisboa: Relgio Dgua Editores, 1992.
BRETAS, Marcos ___ A guerra das ruas: povo e polcia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997. ___ Ordem na cidade: o exerccio cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro: 1907-1930. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
CALDEIRA, Teresa Pires do Rio ___ Cidade de muros: crime, segregao e cidadania em So Paulo. So Paulo: Ed.34/Edusp, 2000.
212
CANCELI, Elizabeth ___ O mundo da violncia: a polcia na Era Vargas. Braslia: Ed.UnB, 1993. ___ A cultura do crime e da lei. Braslia: Ed. UnB, 2001.
CHAGAS, Carlos ___ 113 dias de angstia: impedimento e morte de um presidente. POA: LP&M, 1979.
COIMBRA, Ceclia ___ Tortura e Histria. Revista Psicologia em Estudo (v.6, n.2). Maring: 2001.
COMISSO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS ___ Relatrio Azul: garantias e violaes dos direitos humanos no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Assemblia Legislativa do Rio Grande do Sul, 1997.
COUTO, Mia ___ Terra Sonmbula. Rio de Janeiro: Record, s/data.
DELEUZE, Gilles ___ Post-Scritum sobre as sociedades de controle. In: Conversaes. Rio de Janeiro: Editora 34, 2000. ___ Proust e os signos. Rio de Janeiro: Forense-Universitria, 2006. ___ Crtica e clnica. So Paulo: Editora 34, 1997. ___ A imanncia: uma vida. In: Gilles Deleuze: imagens de um filsofo da imanncia. Organizao de Jorge Vasconcellos e Emanuel ngelo da Rocha Fragoso. Londrina: Ed. da UEL, 1997.
DOUGLAS, Mary ___ Pureza e Perigo. So Paulo: Perspectiva, 1976.
213
DUARTE, Andr ___ Modernidade, biopoltica e violncia: a crtica arendtiana ao presente. In: A banalizao da violncia: a atualidade do pensamento de Hannah Arendt. Orgs: Andr Duarte, Christina Lopreato, Marion Brepohl de Magalhes. Rio de Janeiro: Relume-Dumar, 2004.
DUMONT, Louis ___ O individualismo: uma perspectiva antropolgica da ideologia moderna. Rio de Janeiro: Rocco, 1985.
FAUSTO, Bris ___ Crime e cotidiano: a criminalidade em So Paulo: 1880-1924. So Paulo: Brasiliense, 1984.
FOUCAULT, Michel ___ Em defesa da sociedade. So Paulo: Martins Fontes, 2002. ___ Histria da Sexualidade vol.1. Rio de Janeiro: Graal, 2001. ____ Vigiar e Punir. Petrpolis, Vozes: 2002. ___ Microfsica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 2002. ___ A escrita de si. In: O que um autor. Portugal: Passagens, 1992. ___ A ordem do discurso. So Paulo: Edies Loyola, 1996.
FREUD, Sigmund ___ O Mal-Estar na Civilizao. In: Obras Completas. Vol. XXI. Rio de Janeiro: Jayme Salomo, 1996.
GAGNEBIN, Jeanne Marie ___ Memria, Histria e Testemunho. In: Memria (res)sentimento. Organizao
214
de Stella Bresciani e Mrcia Naxara. Campinas: Ed.Unicamp, 2001. ___ Lembrar, escrever, esquecer. So Paulo: Editora 34, 2006.
GASPARI, Elio ___ A Ditadura escancarada. So Paulo: Cia das Letras, 2002.
GAUER, Ruth M. Chitt ___ Alguns aspectos da fenomenologia da violncia. Curitiba: Juru, 2000.
GIACIA, Oswaldo ___ Foucault. In: Figuras de Foucault. Org: Margareth Rago e Alfredo VeigaNeto. So Paulo: Autntica, 2006.
GUIMARES, Rafael ___ Meu encontro com Pedro Seelig. In: www.nao-til.com.br/nao-73/meu.htm
HEFFES, Omar Daro ___ Foucault y Agamben o las diferentes formas de poner en juego la vida. In: Revista Aulas Online/Dossi Foucault (www.unicamp.br/~aulas).
HOLLOWAY, Thomas ___ Policing Rio de Janeiro: Repression and Resistance in a 19th-Century City. Stanford: Stanford University Press, 1993.
HUGGINS, Marta, FATOUROS, Mika e ZIMBARDO, Philip ___ Operrios da violncia: policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras. Braslia: Editora da UNB, 2006.
215
IONTA, Marilda ___ A potica do sigilo: cartas de Henriqueta Lisboa a Mrio de Andrade. In: http://www.anpuh.uepg.br/xxiiisimposio/anais/textos/MARILDA%20IONTA.pdf
KHEL, Maria Rita. ___ Trs perguntas sobre o corpo torturado. In: O corpo torturado. Organizao de Maria Rita Khel e Mrcia Tiburi. Porto Alegre: Escritos, 2004.
LHEUILLET Hlne ___ La gnalogie de la police. In: Cultures & Conflits, Paris, n. 48, jun. 2003. ___ Alta polcia, baixa poltica - uma viso sobre a Polcia e a relao com o poder. Lisboa: Editorial Notcias, 2004.
MACHADO, Roberto et all ___ Danao da Norma: medicina social e constituio da psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1978.
MAFFESOLI, Michel ___ Michel Maffesoli. A Violncia Totalitria. Porto Alegre: Sulina, 2001.
MAUCH, Claudia ___ Ordem Pblica e Moralidade: imprensa e policiamento urbano em Porto Alegre na dcada de 1890. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004.
MERLEAU-PONTY, Maurice ___ Fenomenologia da Percepo. So Paulo: Martins Fontes, 2006.
216
MINGARDI, Guaracy ___ Tiras, Gansos e Trutas. Porto Alegre: Corag, s/data.
MITCHELL, Jos ___ Segredos direita e esquerda na ditadura militar. Porto Alegre: RBS Publicaes, 2007.
MONTEIRO, Rejane Pena ___ A nova polcia: a Guarda Civil em Porto Alegre:1929-1938 (Dissertao de Mestrado). Porto Alegre: PUC/RS, 1991.
NEGRI, Antonio e HARDT, Michael ___ Imprio. Rio de Janeiro: Record, 2004.
OLIVEIRA, Luciano ___ A justia de Cingapura na casa de Tobias: opinio dos alunos de direito do Recife sobre a pena de aoite para pichadores. Revista Brasileira de Cincias Sociais (v.14, n.40). So Paulo, 1999.
ORLANDI, Eni Puccinelli ___ Anlise de discurso: princpios e procedimentos. Campinas: Editora Pontes, 1999.
PELBART, Peter Pl ___ Vida nua, vida besta, uma vida. In: http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2792,1.shl. ___ A potncia do no: linguagem e poltica em Agamben. In: http://www.rizoma.net/interna.php?id=326&secao=artefato.
217
PIVATTO, Priscila Maddalozzo ___ A elaborao da palavra: os trabalhos constituintes sobre o estado de stio e a redao dos arts. 34, n. 21; 48, n. 15 e 80 da Constituio brasileira de 1891. In: http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Priscila%20Maddalozzo%20Pivatto. pdf.
RAGO, Margareth ___ Libertar a Histria. In: Imagens de Foucault e Deleuze - ressonncias nietzschianas. Organizao de Margareth Rago, Luiz B. Lacerda Orlandi e Alfredo Veiga-Neto. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
ROSA, Susel Oliveira ___ Violncia (para)policial em Porto Alegre nas dcadas de 70, 80 e 90. Revista Histria (Unicruz/n.5). Santa Cruz, 2005.
SA, Alexandre Franco de ___ Metamorfose do Poder. Coimbra: Ariadne, 2004.
SARAMAGO, Jos ___ Ensaio sobre a cegueira. So Paulo: Cia das Letras, 1995.
SCHIMITT, Carl ___ O conceito do poltico. So Paulo: Vozes: 1992. ___ Politische Theologie Vier Kapitel Zur Lehre Von Der Souvernitt. Berlim: Duncker und Humblot, 1985. ___ Politische Theologie, II Die Legende von der erledigung jeder politschen Theologie. Berlim: Duncker und Humblot, 1984.
218
SELIGMANN-SILVA, Marcio ___ A Histria como Trauma. In: Catstrofe e Representao. Organizao: Marcio Seligmann-Silva e Arthur Nestrovski. So Paulo: Escuta, 2000.
SOARES, Luis Eduardo, BILL, MV e ATHAYDE, Celso ___ Cabea de Porco. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.
SOARES, Luis Eduardo, BATISTA, Andr e PIMENTEL, Rodrigo ___ Elite da Tropa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.
SOUZA, Ricardo Timm de ___ O tempo e a mquina do tempo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998. ___ Sentido e Alteridade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000.
SOUZA, Percival de ___ Autpsia do medo: vida e morte do delegado Srgio Paranhos Fleury. So Paulo: Editora Globo, 2000.
TIBURI, Mrcia e KEIL, Ivete. ___ Dilogos sobre o corpo. Porto Alegre: Escritos, 2004.
USTRA, Carlos Alberto Brilhante. ___ Rompendo o silncio. Braslia: Editerra, 1987.
VIAR, Maren e Marcelo. ___ Exlio e Tortura. So Paulo: Escuta, 1992.
219
Anexos
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Você também pode gostar
- Histórias no Singular: Textos, Práticas & SujeitosNo EverandHistórias no Singular: Textos, Práticas & SujeitosAinda não há avaliações
- Nostalgia da luz: As inquietações da história, da memória e do tempo presenteNo EverandNostalgia da luz: As inquietações da história, da memória e do tempo presenteAinda não há avaliações
- Genocídio no Direito Internacional: procedimentos retóricosNo EverandGenocídio no Direito Internacional: procedimentos retóricosAinda não há avaliações
- Direito Fundamental à Vida e ao Aborto a Partir de uma Perspectiva Constitucional, de Gênero e da CriminologiaNo EverandDireito Fundamental à Vida e ao Aborto a Partir de uma Perspectiva Constitucional, de Gênero e da CriminologiaAinda não há avaliações
- Revolução Conservadora: genealogia do constitucionalismo autoritário brasileiro (1930-1945)No EverandRevolução Conservadora: genealogia do constitucionalismo autoritário brasileiro (1930-1945)Ainda não há avaliações
- Técnicas e políticas de si nas margens, seus monstros e heróis, seus corpos e declarações de amorNo EverandTécnicas e políticas de si nas margens, seus monstros e heróis, seus corpos e declarações de amorAinda não há avaliações
- Trabalhadores no tribunal: conflitos e justiça do trabalho em São Paulo no contexto do golpe de 1964No EverandTrabalhadores no tribunal: conflitos e justiça do trabalho em São Paulo no contexto do golpe de 1964Ainda não há avaliações
- Foucault e o Abolicionismo Penal: costurando encontros entre a Vontade de Potência e o Abolicionismo PenalNo EverandFoucault e o Abolicionismo Penal: costurando encontros entre a Vontade de Potência e o Abolicionismo PenalAinda não há avaliações
- Sábados Literários – 2019No EverandSábados Literários – 2019Ainda não há avaliações
- Os Expurgos na UFRGS: Afastamentos Sumários de Professores Durante a Ditadura MilitarNo EverandOs Expurgos na UFRGS: Afastamentos Sumários de Professores Durante a Ditadura MilitarAinda não há avaliações
- Negando a Negação: Arquivos e Memórias sobre a Presença Negra em Uberaba-MGNo EverandNegando a Negação: Arquivos e Memórias sobre a Presença Negra em Uberaba-MGAinda não há avaliações
- Jovens em Situação de Rua e Seus Rolés pela Cidade: Registros de Subversão e (R)existênciaNo EverandJovens em Situação de Rua e Seus Rolés pela Cidade: Registros de Subversão e (R)existênciaAinda não há avaliações
- A Revista Vida Policial (1925-1927)Documento251 páginasA Revista Vida Policial (1925-1927)Rafael GuimarãesAinda não há avaliações
- Revolta do Queimado: Negritude, Política e Liberdade no Espírito SantoNo EverandRevolta do Queimado: Negritude, Política e Liberdade no Espírito SantoAinda não há avaliações
- Eis o Mundo Encantado que Monteiro Lobato Criou: Raça, Eugenia e NaçãoNo EverandEis o Mundo Encantado que Monteiro Lobato Criou: Raça, Eugenia e NaçãoAinda não há avaliações
- História Do Cárcere e Histórias de CárcereDocumento77 páginasHistória Do Cárcere e Histórias de CárcereMiguel Tadeu VicentimAinda não há avaliações
- O combatente da fome: Josué de Castro: 1930-1973No EverandO combatente da fome: Josué de Castro: 1930-1973Ainda não há avaliações
- Campos Esquecidos: experiências sociais de cativeiro em uma zona rural e fronteiriça (Norte-Noroeste do Rio Grande do Sul: 1840–1888)No EverandCampos Esquecidos: experiências sociais de cativeiro em uma zona rural e fronteiriça (Norte-Noroeste do Rio Grande do Sul: 1840–1888)Ainda não há avaliações
- Filosofia para quê?: a importância do pensamento filosófico para reflexões atuaisNo EverandFilosofia para quê?: a importância do pensamento filosófico para reflexões atuaisAinda não há avaliações
- Organizações Totalitárias: Esquadrões da Morte, Tribunais do Crime e o Hospital Colônia de BarbacenaNo EverandOrganizações Totalitárias: Esquadrões da Morte, Tribunais do Crime e o Hospital Colônia de BarbacenaAinda não há avaliações
- Valongo: O Mercado de Almas da Praça CariocaNo EverandValongo: O Mercado de Almas da Praça CariocaAinda não há avaliações
- A Colonização como Guerra: Conquista e Razão de Estado na América Portuguesa (1640-1808)No EverandA Colonização como Guerra: Conquista e Razão de Estado na América Portuguesa (1640-1808)Ainda não há avaliações
- TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO EM DISPUTA: DIREITOS HUMANOS, VIDA NUA E BIOPOLÍTICANo EverandTRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO EM DISPUTA: DIREITOS HUMANOS, VIDA NUA E BIOPOLÍTICAAinda não há avaliações
- Mulheres e Justiça: Teorias da Justiça da Antiguidade ao Século XX Sob a Perspectiva Crítica de GêneroNo EverandMulheres e Justiça: Teorias da Justiça da Antiguidade ao Século XX Sob a Perspectiva Crítica de GêneroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Imagens Veladas: Relações de Gênero, Imprensa e Visualidade no Rio de Janeiro dos Anos 1950No EverandImagens Veladas: Relações de Gênero, Imprensa e Visualidade no Rio de Janeiro dos Anos 1950Ainda não há avaliações
- (Des) Informar e Punir: a construção do medo na sociedade como forma de controleNo Everand(Des) Informar e Punir: a construção do medo na sociedade como forma de controleAinda não há avaliações
- Remoções de Favelas no Rio de Janeiro: Entre Formas de Controle e ResistênciasNo EverandRemoções de Favelas no Rio de Janeiro: Entre Formas de Controle e ResistênciasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Gritam os Muros: Pichações e Ditadura Civil-Militar no BrasilNo EverandGritam os Muros: Pichações e Ditadura Civil-Militar no BrasilAinda não há avaliações
- As prisões e os arquivos prisionais:: a vida e o destino dos detentos do Presídio do Serrotão em Campina Grande, PB (1991-2012)No EverandAs prisões e os arquivos prisionais:: a vida e o destino dos detentos do Presídio do Serrotão em Campina Grande, PB (1991-2012)Ainda não há avaliações
- Cartografar Derivas: Método para a Investigação de Espaços HeterotópicosNo EverandCartografar Derivas: Método para a Investigação de Espaços HeterotópicosAinda não há avaliações
- A "Arte de Sujar os Sapatos" com a Grande Reportagem SocialNo EverandA "Arte de Sujar os Sapatos" com a Grande Reportagem SocialAinda não há avaliações
- A vida como fardo e desejo em Humberto de Campos: literatura, doença e as mil mortes de um imortal (1928-1934)No EverandA vida como fardo e desejo em Humberto de Campos: literatura, doença e as mil mortes de um imortal (1928-1934)Ainda não há avaliações
- Educação, Utopia & Ditadura Militar: Um Professor Comunista no Interior do Brasil (1964-1985)No EverandEducação, Utopia & Ditadura Militar: Um Professor Comunista no Interior do Brasil (1964-1985)Ainda não há avaliações
- Oficina de Filosofia III: PARA ENTENDER A POLÍTICA: Democracia, Liberdade, Igualdade e o maior movimento identitário de todos os temposNo EverandOficina de Filosofia III: PARA ENTENDER A POLÍTICA: Democracia, Liberdade, Igualdade e o maior movimento identitário de todos os temposAinda não há avaliações
- Vidas em Trânsito: Sujeitos e Experiências nos Deslocamentos UrbanosNo EverandVidas em Trânsito: Sujeitos e Experiências nos Deslocamentos UrbanosAinda não há avaliações
- Um Acerto de Contas com o Passado: Crimes da Ditadura, "Leis de Impunidade" e Decisões das Supremas Cortes no Brasil e na ArgentinaNo EverandUm Acerto de Contas com o Passado: Crimes da Ditadura, "Leis de Impunidade" e Decisões das Supremas Cortes no Brasil e na ArgentinaAinda não há avaliações
- Reflexoes Completo V Ago2023Documento231 páginasReflexoes Completo V Ago2023Douglas EduardoAinda não há avaliações
- Mauro Teixeira DissertacaoDocumento262 páginasMauro Teixeira DissertacaoMauro TeixeiraAinda não há avaliações
- Vala de Perus, uma biografia: como um ossário clandestino foi utilizado para esconder mais de mil vítimas da ditaduraNo EverandVala de Perus, uma biografia: como um ossário clandestino foi utilizado para esconder mais de mil vítimas da ditaduraNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Paulo Francis Crítico de Teatro e PolemistaDocumento136 páginasPaulo Francis Crítico de Teatro e PolemistaLucas Victor SilvaAinda não há avaliações
- Insurgência e Descolonialização Analética da América LatinaNo EverandInsurgência e Descolonialização Analética da América LatinaAinda não há avaliações
- Poder & Saber: Campo Jurídico e ideologiaNo EverandPoder & Saber: Campo Jurídico e ideologiaAinda não há avaliações
- Uma Reflexão Acerca da Inviabilidade da Nova Era EugênicaNo EverandUma Reflexão Acerca da Inviabilidade da Nova Era EugênicaAinda não há avaliações
- Entre tipos e recortes: histórias da imprensa integralista: Volume 1No EverandEntre tipos e recortes: histórias da imprensa integralista: Volume 1Ainda não há avaliações
- Cursinhos Alternativos e Populares: Geografia das LutasNo EverandCursinhos Alternativos e Populares: Geografia das LutasAinda não há avaliações
- Selvagens & Baderneiros: Representações e Subjetivação do Punk no Correio Braziliense (1990-2014)No EverandSelvagens & Baderneiros: Representações e Subjetivação do Punk no Correio Braziliense (1990-2014)Ainda não há avaliações
- A crise democrática brasileira do século XXI sob a ótica de uma justiça de transiçãoNo EverandA crise democrática brasileira do século XXI sob a ótica de uma justiça de transiçãoAinda não há avaliações
- O Ethos e o Poder Simbólico do Jornalismo Policial: Perspectivas críticas em um jornal impresso do Estado de PernambucoNo EverandO Ethos e o Poder Simbólico do Jornalismo Policial: Perspectivas críticas em um jornal impresso do Estado de PernambucoAinda não há avaliações
- 2753-Texto Do Artigo-8119-1-10-20170929Documento12 páginas2753-Texto Do Artigo-8119-1-10-20170929fososa7168Ainda não há avaliações
- Novo Inventário 2019 Planiha PadrãoDocumento14 páginasNovo Inventário 2019 Planiha Padrãofososa7168Ainda não há avaliações
- Secretaria Da Agricultura e Emater Divulgam Dados Preliminares de Pesquisa Sobre Comunidades QuilombolasDocumento5 páginasSecretaria Da Agricultura e Emater Divulgam Dados Preliminares de Pesquisa Sobre Comunidades Quilombolasfososa7168Ainda não há avaliações
- Inquietações Existenciais - A Guerra Financeira Contra o Ocidente Começa A MorderDocumento9 páginasInquietações Existenciais - A Guerra Financeira Contra o Ocidente Começa A Morderfososa7168Ainda não há avaliações
- Saeculum Revista de Historia V 27 N 46 2Documento382 páginasSaeculum Revista de Historia V 27 N 46 2fososa7168Ainda não há avaliações
- Uma Aula Sobre Baterias - MaCamp - Guia Camping e CampismoDocumento16 páginasUma Aula Sobre Baterias - MaCamp - Guia Camping e Campismofososa7168100% (1)
- A Bolsa-Formação Do PronatecDocumento20 páginasA Bolsa-Formação Do Pronatecfososa7168Ainda não há avaliações
- Curso Tecnico em Mecatronica-Ead-GradeDocumento2 páginasCurso Tecnico em Mecatronica-Ead-Gradefososa7168Ainda não há avaliações
- Como A CIA Montou Uma Maidan No Brasil - Pepe Escobar - Brasil 247Documento13 páginasComo A CIA Montou Uma Maidan No Brasil - Pepe Escobar - Brasil 247fososa7168Ainda não há avaliações
- Manual Do Investidor Mestre Ofc Final+v2 PDFDocumento153 páginasManual Do Investidor Mestre Ofc Final+v2 PDFfososa7168100% (4)
- História Do FeminismoDocumento6 páginasHistória Do Feminismofososa7168Ainda não há avaliações
- ApostilaDocumento29 páginasApostilafososa7168Ainda não há avaliações
- DENSO Iridium 2008Documento32 páginasDENSO Iridium 2008fososa7168Ainda não há avaliações
- Ceres Karam Brum - O Mito Do SepéDocumento16 páginasCeres Karam Brum - O Mito Do Sepéfososa7168Ainda não há avaliações
- O Planejamento em Educacao Marcelo SoaresDocumento15 páginasO Planejamento em Educacao Marcelo Soaresfososa7168Ainda não há avaliações
- Manual de Serviço XT 600EDocumento346 páginasManual de Serviço XT 600EAngelino Joli70% (20)
- HOBSBAWM Eric J. Ecos Da Marselhesa. Cap. 1Documento17 páginasHOBSBAWM Eric J. Ecos Da Marselhesa. Cap. 1fososa7168Ainda não há avaliações
- Etcheverry Daniel Identidade Nao e DocumentoDocumento183 páginasEtcheverry Daniel Identidade Nao e Documentofososa7168Ainda não há avaliações
- Acidentes Com Multiplas Vitimas e Sistema de ComandoDocumento123 páginasAcidentes Com Multiplas Vitimas e Sistema de ComandoHerryson FelipeAinda não há avaliações
- ABNT NBR 12225 - Títulos de LombadaDocumento2 páginasABNT NBR 12225 - Títulos de LombadaEvandro DiegoAinda não há avaliações
- Terminologia em SaúdeDocumento6 páginasTerminologia em SaúdeAlmir JuniorAinda não há avaliações
- Boleto PDFDocumento1 páginaBoleto PDFGisele MercatelliAinda não há avaliações
- Catalogo LIBUSDocumento36 páginasCatalogo LIBUSadrianomoraesAinda não há avaliações
- Inventário de Auto-Estima Coopersmith - Isabel JaneiroDocumento11 páginasInventário de Auto-Estima Coopersmith - Isabel Janeiropf36Ainda não há avaliações
- Prova Nível P 2017Documento6 páginasProva Nível P 2017Luciano MarianoAinda não há avaliações
- Parecer Da SBB Sobre Licenciatura Da ComputaçãoDocumento20 páginasParecer Da SBB Sobre Licenciatura Da ComputaçãoMarcus Barros Braga100% (1)
- Brincadeiras Das Crianças IndígenasDocumento9 páginasBrincadeiras Das Crianças Indígenasb_leonardoAinda não há avaliações
- CIAMPA, Antonio Da Costa - Políticas de Identidade e Identidades PolíticasDocumento9 páginasCIAMPA, Antonio Da Costa - Políticas de Identidade e Identidades PolíticasCláudio YH100% (3)
- Estudo de Caso - PetrobrásDocumento11 páginasEstudo de Caso - PetrobrásLeandro PereiraAinda não há avaliações
- Livro de Gravuras Do Evangelho - PorDocumento116 páginasLivro de Gravuras Do Evangelho - PorAntoniel Santos Cruz100% (1)
- CLC6 - RA3 - Códigoestrada Carla 2Documento4 páginasCLC6 - RA3 - Códigoestrada Carla 2Karoll SoaresAinda não há avaliações
- Apostila Matrizes-Determinantes-Sistemas Lineares PDFDocumento47 páginasApostila Matrizes-Determinantes-Sistemas Lineares PDFGabriel Castro0% (1)
- Bloco de RegistoDocumento34 páginasBloco de RegistoCarla Sofia FernandesAinda não há avaliações
- Tabela Periodica AtualizadaDocumento25 páginasTabela Periodica Atualizadasimao.m.cAinda não há avaliações
- Vem Pra Cruzinha Apostila Modulo 3 PDFDocumento13 páginasVem Pra Cruzinha Apostila Modulo 3 PDFDinorahAinda não há avaliações
- Exercícios de Deslocamento e Caminho Percorrido (Guardado Automaticamente)Documento21 páginasExercícios de Deslocamento e Caminho Percorrido (Guardado Automaticamente)jovaniAinda não há avaliações
- Curso de Benzimento - Material ApostiladoDocumento20 páginasCurso de Benzimento - Material ApostiladoLucas RodriguesAinda não há avaliações
- APX3Documento3 páginasAPX3Diego Vasquinho SiqueiraAinda não há avaliações
- Cartilha Respiratória 3M PDFDocumento23 páginasCartilha Respiratória 3M PDFRosi RodriguesAinda não há avaliações
- Siglas SoldaDocumento4 páginasSiglas SoldaMarciel UnepróAinda não há avaliações
- Apostila para Iniciantes - FOREXDocumento28 páginasApostila para Iniciantes - FOREXJana CamposAinda não há avaliações
- Gustavo Grand in I Bastos Gays A Plica TivoDocumento329 páginasGustavo Grand in I Bastos Gays A Plica TivoLuiz Carlos Martins de SouzaAinda não há avaliações
- Rede de Precedencia ComissionamentoDocumento6 páginasRede de Precedencia ComissionamentoIgor AraújoAinda não há avaliações
- O Treinamento Da Velocidade e Suas Adaptações Fisiológicas Nas Fibras MuscularesDocumento11 páginasO Treinamento Da Velocidade e Suas Adaptações Fisiológicas Nas Fibras MuscularesRafael Mendes100% (1)
- Controle Total Humanidade Sem DeusDocumento22 páginasControle Total Humanidade Sem DeusClávio JacintoAinda não há avaliações
- Contabilidade - Como Determinar Investimento InicialDocumento2 páginasContabilidade - Como Determinar Investimento InicialcreditoAinda não há avaliações
- Transtextualidades: Das Complementações Do Modelo Semiótico-TextualDocumento13 páginasTranstextualidades: Das Complementações Do Modelo Semiótico-TextualEspaço ExperiênciaAinda não há avaliações
- CIRURGIA 3) Síndrome Da Hemorragia DigestivaDocumento15 páginasCIRURGIA 3) Síndrome Da Hemorragia Digestiva8f8b8f686jAinda não há avaliações