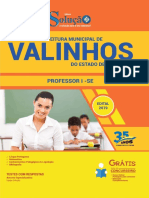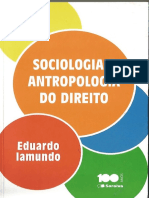Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1264 20577 1 PB
1264 20577 1 PB
Enviado por
anacla22Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1264 20577 1 PB
1264 20577 1 PB
Enviado por
anacla22Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Educao Unisinos 17(3):271-280, setembro/dezembro 2013 2013 by Unisinos - doi: 10.4013/edu.2013.173.
11
Etnografia e pesquisa educacional: por uma descrio densa da educao
Ethnography and educational research: For a thick description of education
Amurabi Oliveira
amurabi_cs@hotmail.com
Resumo: O presente trabalho visa contribuir para a discusso em torno da antropologia educacional, campo de estudos ainda pouco explorado no Brasil, discutindo as possibilidades abertas pela pesquisa etnogrfica na educao. Muitas pesquisas educacionais tm se utilizado do mtodo etnogrfico, bem como das teorias antropolgicas, sem a devida reflexo epistemolgica em torno desse mtodo. A discusso perpassa tanto uma anlise mais ampla do mtodo etnogrfico, quanto uma reflexo especfica, em torno da proposta da antropologia interpretativa problematizada por Geertz. Com isso, o artigo busca avanar na discusso metodolgica da pesquisa educacional, estreitando a discusso entre a antropologia e a educao no debate cientfico. Palavras-chave: antropologia da educao, etnograa, pesquisa educacional. Abstract: This paper aims to contribute to the discussion of educational anthropology, eld of studies still little explored in Brazil, exploring the possibilities opened up by ethnographic research in education. Much educational research has used the ethnographic method, as well as anthropological theories, without proper epistemological reection around this method. The discussion involves both a broader analysis of the ethnographic method, as and specic reection on the interpretive anthropology proposed by Geertz. It seeks, thereby, to advance the methodological discussion of educational research, by narrowing the discussion between anthropology and education in the scientic debate. Key words: anthropology of education, ethnography, educational research.
Escolas e culturas escolares: palavras introdutrias
Um dos fenmenos mais presentes na realidade humana se d em torno dos processos de criao, re-
produo e transformao do conhecimento, que em algumas sociedades ocorrer de forma institucionalizada, dentro do que conhecemos como escola. Esta instituio ter um papel primordial para as sociedades, em especial as modernas, como
para o processo de socializao das crianas, que vem a ser o primeiro a ocorrer fora do mbito familiar1 (Durkheim, 1978). Em meio a este debate, deve-se destacar o papel fundamental que a antropologia possuir ao nos trazer
1 Aris (1981) indica que, com o advento da escola, houve a criao do primeiro espao de socializao prprio para as crianas, o que aponta para a relevncia de se compreender este ambiente para se entender no apenas a criana, como a nossa sociedade como um todo.
Amurabi Oliveira
uma concepo alargada de educao, indo para alm do processo de escolarizao. Neste sentido, a obra de Mead mostra-se especialmente emblemtica. Em Sexo e temperamento (2002), a antroploga americana nos aponta para os processos educacionais que ocorrem entre os Arapesh, por exemplo, demonstrando como estes se do de forma dissipada entre as prticas sociais; nesta cultura, em outras palavras, mesmo nesta obra que no lida primordialmente como um trabalho no campo da educao, temos uma contribuio significativa para pensarmos os processos educativos no escolares2. Se compreendermos a premissa culturalista em torno da constituio dos chamados padres de cultura (Benedict, 1983), que remetem ao processo de modelamento social, por meio de normas e valores principalmente, que constitui os prprios sujeitos, perceberemos que cultura e educao no se encontram em polos opostos, muito pelo contrrio, uma vez que a educao tambm constituda por determinado padro de cultura, ao mesmo tempo em que o constitui, ou seja, a educao uma forma de cultura, e a cultura s pode ser compreendida enquanto processo educativo, pois, afinal, como nos aponta Candau (2011, p. 13), [...] no h educao que no esteja imersa nos processos culturais do contexto em que se situa. No terreno da sociologia, possumos um vasto repertrio de autores que buscam compreender os processos sociais envolvidos na realidade educacional, destacandose neste conjunto as perspectivas reprodutivistas3, como Baudelot e Establet (1971), Bowles e Gintns (1976) Althusser (1998), Bourdieu e Passeron (2006, 2008), que apontam
para a forma como a educao reproduz as relaes sociais e de poder de uma dada sociedade, aprofundando as desigualdades existentes, como tambm outros que tm questionado algumas das premissas adotadas por esse conjunto de autores e de teorias (Apple, 2002, 2006; Lahire, 1997), ainda que no refutem completamente os argumentos desenvolvidos. No entanto, para alm da reproduo social, a escola tambm o espao da inventividade, da criao e da produo de novas prticas. Constitui-se neste universo a criao de uma cultura escolar, que possui uma dinmica singular, a qual se entrecruza com outras culturas presentes na sociedade envolvente.
No mesmo tempo e espao da cultura da escola, outras tantas cores podem ser vistas e apreciadas: processos mais particulares e contingentes das diversas culturas presentes no cotidiano da escola, nas interaes e nas redes de sociabilidade que ali so tranadas. E que, multicoloridas, carregam tons e variaes de outros tempos e lugares ou de bricolagem desses outros tempos e lugares, oferecendo outras tessituras que traduzem as experincias dos diferentes sujeitos e participantes das dinmicas educacionais na escola (Rocha e Tosta, 2008, p. 131).
etnografia para a investigao educacional, destacando a perspectiva de uma descrio densa da cultura, tal qual proposta por Geertz (1989), para apreender esta realidade.
O guru, o educador e outras variaes antropolgicas
O processo metodolgico no qual se assenta a pesquisa de carter antropolgico apresentou uma guinada em termos epistemolgicos a partir dos anos 20 do sculo XX, quando, em 1922, Bronislow Malinowski publicou Os argonautas do Pacfico Ocidental, no qual houve a primeira sistematizao do mtodo etnogrfico, articulada a um trabalho de campo sistemtico. Alguns de seus preceitos soam estranhos aos ouvidos de um pesquisador do sculo XXI, como a necessidade de se afastar da companhia de outros homens brancos. Uma antropologia baseada unicamente no estudo de sociedades tribais, afastadas, selvagens, no se faz mais possvel, em um mundo em pedaos (Geertz, 2001), no qual a modernidade chega aos mais diversos lugares, alterando o prprio status do objeto antropolgico (Giddens, 2001). Cada vez mais a antropologia se volta para a sociedade dos prprios antroplogos, as sociedades ditas complexas, criando-se a necessidade de no apenas familiarizar o distante, como tambm de estranhar o prximo (Velho, 2003). No entanto, algumas de suas premissas ainda so basilares na pesquisa antropolgica. Na proposta metodolgica presente na obra de Malinowski, o pesquisador convidado a articular tanto os conhecimentos tericos que possui, que
Desse modo, encontra-se no universo escolar uma mirade de discursos, identidades, representaes que se entremeiam na constituio de uma realidade idiossincrtica. Devemos compreender que a escola, mais que um espao de socializao, um espao de sociabilidades; ela seria por excelncia um espao sociocultural (Gusmo, 2003). Propomo-nos, neste trabalho, apontar para as possibilidades trazidas pela
272
Devem-se destacar outras obras da autora, que dialogam mais diretamente com o campo educacional, como Coming of Age in Samoa (Mead, 2001a [1928]), e Growing up in New Guinea (Mead, 2001b [1930]). 3 Para um melhor exame sobre a emergncia das teorias da reproduo no campo da educao vide Nogueira (1990).
2
Educao Unisinos
Etnografia e pesquisa educacional: por uma descrio densa da educao
devem ser adquiridos antes da ida a campo, quanto os dados empricos obtidos por meio de um conhecimento meticuloso do cotidiano da realidade a ser estudada, o que pressupe o estar com o outro, o processo de convivncia com o chamado nativo, rompendo, assim, com a prtica predominante existente na antropologia at ento, tambm conhecida como antropologia de gabinete, na qual o pesquisador conhece a cultura a ser analisada por meio de dados secundrios, fornecidos nesse momento principalmente por cronistas e viajantes4 (Laplantine, 1988). Malinowski (1976) busca sintetizar suas premissas da seguinte forma:
Nossas consideraes indicam que os objetivos da pesquisa de campo etnogrfica podem, pois, ser alcanadas atravs de trs diferentes caminhos: (i) A organizao da tribo e a anatomia de sua cultura devem ser delineadas de modo claro e preciso. O mtodo de documentao concreta e estatstica fornece os meios com que podemos obt-las. (ii) Este quadro precisa ser completado pelos fatos imponderveis da vida real, bem como pelos tipos de comportamento, coletados atravs de observaes detalhadas e minuciosas que s so possveis atravs do contato ntimo com a vida nativa e que devem ser registradas nalgum tipo de dirio etnogrfico. (iii) O corpus inscriptionum uma coleo de asseres, narrativas tpicas, palavras caractersticas, elementos folclricos e frmulas mgicas deve ser apresentado como documento da mentalidade nativa.
Essas trs abordagens conduzem ao objetivo final da pesquisa, que o etngrafo jamais deve perder de vista. Em breves palavras, esse objetivo o de apreender o ponto de vista dos nativos, seu relacionamento com a vida, sua viso de seu mundo (Malinowski, 1976, p. 37-38).
Sendo assim, a pesquisa antropolgica nos leva a imergir num universo diverso do nosso, ao mesmo tempo em que esta experincia nos possibilita apreender a construo subjetiva de uma determinada realidade. A utilizao de tal mtodo na pesquisa educacional leva a uma guinada epistemolgica, e mesmo ontolgica, na medida em que traz outra concepo de fazer cincia. Para compreendermos melhor as questes epistemolgicas ao fundo, devemos nos remeter a Dilthey (2011), que, ao debater a distino entre as Geisteswissenchaften e as Naturwissenschaften [cincias do esprito e cincias da natureza], posiciona-se de forma distinta de Windelband e de Rickert5, considerando que as cincias do esprito, por possurem uma ontologia distinta, demandariam uma episteme prpria, de modo que tanto o mtodo como a natureza da pesquisa cientfica se encontram atrelados de forma visceral. O mtodo etnogrfico, na pesquisa educacional, nos possibilita analisar o fenmeno a partir de uma apreenso subjetiva, inclusive de suas estruturas objetivas, considerando-se a construo intersubjetiva da pesquisa. Ao contrrio de outras abordagens,
o mtodo etnogrfico se constituiu no s com o outro, mas a partir do outro, apresentando, como uma problemtica profunda, a questo de que o objeto e investigador se confundem na cincia antropolgica (Lvi-Strauss, 1976). A este respeito, Peirano (1995) nos coloca que a pesquisa de campo na antropologia caracterizada, justamente, pela busca incessante do dilogo com o outro, ampliando e deixando mais explcitos os pressupostos existentes no fazer cientfico nos quais teoria e dados empricos devem estar em constante e profundo dilogo. Neste sentido, a etnografia herdeira da tradio do Verstehen enquanto mtodo compreensivo da realidade social. Em todo caso, deve-se destacar que, mesmo sendo um mtodo que se assenta numa construo intersubjetiva, no significa que a compreenso do sentido que o outro atribui a suas prprias aes possa ser resumida Einfhlen6, pois estamos nos referindo aqui a um ato de interpretao (Geertz, 1997), e, como em toda interpretao, h uma ntima relao entre os atos individuais e os contextos, ou seja, por meio da etnografia podemos relacionar a ao de um determinado sujeito a uma totalidade simblica, social e cultural. Mas qual o ganho substancial de uma pesquisa etnogrfica? Silva (2006, p. 24) destaca justamente esta dimenso; para o autor:
Reflexes sobre o trabalho de campo feitas apenas em termos do que ele em si mesmo ou de como aparece nas
4 Este modo de se realizar a pesquisa antropolgica foi emblemtica na passagem do sculo XIX para o XX, na chamada escola evolucionista, formada principalmente por antroplogos de origem britnica, destacando-se os nomes de Edward Burnett Tylor, Lewis Henry Morgan e James Frazer. 5 Para Windelband (1949 [1894]), a distino realizada por Dilthey mostra-se infundada ao opor natureza e esprito; em seu lugar, Windelband contrape a distino ontolgica de Dilthey a uma metodolgica, classicando as cincias em nomotticas, aquelas que procurariam determinar leis gerais que expressem as regularidades dos fenmenos, e em idiogrcas, que voltam sua ateno para o fenmeno singular, para suas idiossincrasias. Rickert (1987 [1896]) nos chama a ateno para o fato de que qualquer cincia e o estudo de qualquer fenmeno so em algum grau nomotticos, e em algum grau idiogrcos, de modo que estes autores opem-se fortemente distino objetual proposta por Dilthey, centrando suas questes no mtodo. Podemos resumir a oposio entre as abordagens de Dilthey e de Windelband da seguinte forma: para o primeiro, as diferenas metodolgicas entre as cincias derivam de uma distino ontolgica, ao passo que, para o segundo, so as diferenas metodolgicas que nos levam a concepes de cincias distintas. 6 Remete ao conceito de empatia, que movimenta um grande debate dentro da hermenutica, uma vez que no chega a ser um consenso a necessidade ou no da empatia no processo de compreenso das aes humanas.
273
volume 17, nmero 3, setembro dezembro 2013
Amurabi Oliveira
introdues metodolgicas ou nos outros captulos do texto etnogrfico podem ocultar, entretanto, outras questes mais pertinentes, a meu ver, sobre a natureza do prprio trabalho de campo. Se um dos principais objetivos da antropologia promover um alargamento da razo possibilitado pelo conhecimento das vrias concepes de mundo presentes nas culturas diversas (considerando-se que as culturas s se encontram atravs dos encontros dos homens), o trabalho de campo um momento privilegiado para o exerccio desse objetivo, pois nele que a alteridade, premissa do conhecimento antropolgico, se realiza.
A reflexo em torno da pesquisa educacional, em nosso entender, pressupe tambm chegar alteridade, chegar ao outro de forma descentrada, percebendo como este universo simblico se constitui, se constri e se dinamiza. Em verdade, muitas das teorias antropolgicas, bem como do mtodo etnogrfico, tm sido utilizadas nas pesquisas educacionais sem a devida reflexo epistemolgica acerca desta utilizao. Valente (1996, p. 55) nos aponta que
[...] na problematizao do emprego de tcnicas da Antropologia pela Educao, esto ausentes as referncias produo matricial. Essa omisso que alcana inclusive conceitos de autores bastante conhecidos parece difcil de justificar-se apenas com a explicao de que no processo de transplante de um campo para outro, houve adaptaes que provocaram mudanas em seu sentido original. [...] Negligencia-se, ainda, que, apesar da variedade, tais conceitos mantm compromissos com perspectivas tericas diferenciadas que indicam os limites, alcance e desdobramentos de uma anlise.
274
Sendo elaboradas dessa forma, muitas pesquisas tm se desenvolvido em torno das relaes tnicas no
universo escolar, das relaes de gnero, do universo das representaes sociais, do debate do multiculturalismo, dentre tantos outros temas que remetem a uma tradio da cincia antropolgica, bem como muitas destas pesquisas tm se baseado na investigao etnogrfica, sem que com isso haja uma referncia mais enftica matriz terica prpria da antropologia. O aspecto para o qual queremos chamar a ateno aqui a impossibilidade de se construir conhecimento a partir da etnografia de forma apartada do debate terico da antropologia, ou seja, no podemos compreender a etnografia como uma simples ferramenta de pesquisa til. Com a disseminao das pesquisas denominadas etnogrficas junto aos Programas de Ps-Graduao em Educao no Brasil, em especial a partir dos anos de 1980 (Caldas et al., 2012), este tipo de reflexo se faz mais que necessrio. -nos emblemtico o fato de que algumas perspectivas, como a do trabalho de Andr (1995), sejam amplamente difundidas no campo da educao quando se busca debater a utilizao da etnografia neste universo de pesquisa, em que se afirma contundentemente que no h pesquisa etnogrfica no campo da educao, mas sim pesquisas de cunho, carter, inspirao etnogrficos, sendo eu principal argumento que tem sido utilizado refere-se ao tempo de estadia em campo, o que deve ser revisto considerando as prprias transformaes existentes no prprio campo da antropologia. Peirano (1992, p. 6), por exemplo, aponta para o fato de que [n]s, brasileiros, menos ortodoxos e mais inclinados improvisao, enquanto isso fizemos pesquisasrelmpago, nas frias ou nos fins de semana, sem culpa e acreditando que a criatividade poderia superar a falta de disciplina e a carncia de ethos cientfico.
Esta perspectiva mais flexvel presente na utilizao da etnografia, contudo, no uma exclusividade do fazer antropolgico no Brasil. Zanten et al. (1995, p. 235), ao discutirem acerca do processo de utilizao da etnografia no campo da sociologia da educao, apontam para a chamada Blitzkrieg ethnography, que, [...] para um pesquisador armado de uma certa cultura sociolgica e antropolgica, consiste em passar alguns dias em determinado estabelecimento escolar e, a partir de algumas entrevistas e observaes, construir uma imagem do estabelecimento considerado. Isso no quer dizer que compreendamos aqui o tempo em campo como irrelevante, mas certamente essa no uma questo determinante e tampouco se apresenta de forma linear no fazer etnogrfico; lembremos o famoso exemplo de Geertz (1989) em sua pesquisa sobre as brigas de galo em Bali, na qual, aps dias sendo percebido como invisvel pelos nativos, ao fugir intuitivamente da chegada da polcia em uma rinha de galos que observara junto com sua esposa, teve seu status alterado, de modo que o campo apenas se abriu para este antroplogo aps esse momento. Esta breve referncia importante para nos recordarmos que no simplesmente uma longa estadia em campo que nos garantir uma etnografia de qualidade, pois h imponderveis com os quais teremos que saber lidar em campo. Chamamos ateno, aqui, para a necessidade de um processo reflexivo em torno da prpria estadia em campo, pois a utilizao de um mtodo investigativo, que se assenta na intersubjetividade, pressupe uma vigilncia epistemolgica (Bourdieu et al., 2004), de modo que a observao participante no se torne uma participao observante (Cardoso, 1986). Isto, no caso da pesquisa educacional, toma contor-
Educao Unisinos
Etnografia e pesquisa educacional: por uma descrio densa da educao
nos ainda mais fortes, uma vez que, em qualquer realidade educacional, estaremos lidando com polticas pblicas, agentes sociais dotados de interesses prprios, estratgias polticas, sociais e culturais, e estaremos lidando com uma realidade perpassada de relaes de poder que condicionam a ao dos agentes e suas possibilidades de ao, reverberadas tanto nas prticas pedaggicas quanto na realidade curricular. A etnografia se apresenta, desse modo, como uma possibilidade de apreenso da realidade escolar, que necessita de uma melhor reflexo em torno de seus usos e de suas possibilidades, ainda que devamos destacar a necessidade desta imerso no universo escolar para a construo de um conhecimento profundo em torno do que ocorre naquela dimenso cultural. No toa, um dos marcos da revoluo produzida pela chamada Nova Sociologia da Educao, nos anos de 1970, foi justamente a utilizao da etnometodologia, do interacionismo simblico, da fenomenologia e da etnografia, para se compreender, justamente, os processos que ocorriam no interior do espao escolar (Forquin, 1993). Uma das vantagens que vem sendo apontada para a utilizao da etnografia em outros campos a sua suposta flexibilidade metodolgica, e certamente parte do que se espera verdade, ainda que expandir o escopo das etnografias no seja uma tarefa fcil. Entretanto, deve-se reconhecer a necessidade de se articular prtica etnogrfica o prprio escopo terico ao qual ela se encontra atrelada, uma vez que a mesma no pode ser compreendida como simples tcnica de coleta de dados, j que a tal coleta no existe; os dados so construdos no processo interativo com os sujeitos, com os lugares, com as experincias vividas por parte do nativo e do pesquisador.
Considerando o fato de que as escolas se situam nas sociedades ditas complexas, devemos encarar alguns fatores que se implicam na pesquisa antropolgica nestas sociedades. No que tange cultura e tais sociedades, Barth (2000) nos chama a ateno para o fato de que o significado uma relao entre um signo e um observador; desvendar os significados construdos em determinada realidade cultural (escolar) pressupe [...] ligar um fragmento de cultura e um determinado ator(a) constelao particular de experincias, conhecimentos e orientaes desse/dessa ator(a) (Barth, 2000, p. 128). Esta ligao viabilizada, justamente, pela apreenso da conjuntura cultural de determinado grupo, tal como proposto por Malinowski; afinal, a dimenso da totalidade, e a relao que o pesquisador estabelece com as aes dos sujeitos investigados, o que possibilita que a etnografia no seja uma mera descrio da realidade (Laplantine, 2011). Como compreender os significados das prticas constitudas entre os sujeitos que esto envolvidos na cultura escolar sem inseri-los em contextos prprios? A etnografia nos possibilita responder a pergunta: quem so estes sujeitos? Estes alunos? Estes professores? Estes gestores? Barth ainda nos chama a ateno para o fato de que os atores sociais esto sempre posicionados e a partir destas posies que eles produzem seus discursos e suas prticas. Compreender o que os sujeitos produzem e fazem pressupe uma apreenso de onde eles falam. Mais que isso, leva-nos a reconhecer que todos os pontos de vista colhidos, no trabalho etnogrfico, so sempre parciais, incompletos, de modo que a etnografia no se limita a uma descrio da realidade, mas tambm uma interpretao da mesma. Ainda segundo o autor:
[...] o fato de que h posicionamentos e de que todas as vises so parciais no tem tais implicaes para a epistemologia da antropologia como cincia emprica. Isso de forma alguma diminui a primazia a ser dada s realidades que as pessoas constroem, aos eventos que elas ocasionam, e s experincias que elas obtm. Essas constataes, porm, foram-nos a reconhecer que vivemos nossas vidas com uma conscincia e um horizonte que no abrigam a totalidade da sociedade, das instituies e das foras que nos atingem. De alguma maneira, os vrios horizontes limitados das pessoas se ligam e se sobrepem, produzindo um mundo maior que o agregado de suas respectivas prxis gera, mas que ningum consegue visualizar. A tarefa do antroplogo ainda mostrar como isso se d, e mapear esse mundo maior que surge (Barth, 2000, p. 137).
A escola este mundo maior que surge, que vai para alm dos horizontes traados pelos agentes individuais. Suas posies no arranjo cultural mais amplo mas tambm no mais restrito, em determinada cultura escolar so o lugar a partir do qual os sujeitos constroem uma determinada realidade social; o universo escolar composto, justamente, a partir desta multiplicidade de construes e de horizontes que confluem. No mtodo investigativo, aproximamo-nos posio defendida por Gadamer (1997), que traz uma nova interpretao hermenutica, para quem o intrprete traz tambm um horizonte, de modo que o exerccio interpretativo se baseia na fuso de horizontes; o horizonte do intrprete mostra-se fundamental neste processo, que , ao mesmo tempo, um ato de compreenso, interpretao e aplicao. por isso que Oliveira (2006) nos aponta que estes mltiplos horizontes devem ser captados e contextualizados, para que se possa compreender a dinmica da realidade educacional.
275
volume 17, nmero 3, setembro dezembro 2013
Amurabi Oliveira
Por uma descrio densa da educao
A etnografia, em todo caso, longe de se constituir como um bloco homogneo de tcnicas e de perspectivas epistemolgicas, apresenta-se como um conjunto heterogneo e heterodoxo de possibilidades, ainda que alguns sustentculos se mantenham. Oliveira (2006) nos chama a ateno para o trip sobre o qual se assenta a pesquisa etnogrfica, colocando que esta implica uma educao dos sentidos, pressupondo o ato de olhar, ouvir e escrever. Estas trs instncias se complementam, pois, se o ato de olhar nos possibilita captar as relaes sociais de um determinado grupo, a apreenso do significado das mesmas necessita a escuta. Ainda que as possibilidades de um dilogo efetivo se deem em condies desiguais, a entrevista realizada no processo etnogrfico [f]az com que os horizontes semnticos em confronto o do pesquisador e o do nativo abram-se um ao outro, de maneira que transformem um tal confronto em um verdadeiro encontro etnogrfico (Oliveira, 2006, p. 24). Entrevistar professores, alunos, gestores no uma tarefa fcil; os sujeitos possuem perspectivas diferenciadas sobre o que est em questo e, por vezes, conflitantes, tanto entre os agentes envolvidos no universo escolar como com o prprio pesquisador. A pesquisa educacional lida com uma realidade delicada, sutil, que envolve no s um espao institucional de formao intelectual e profissional, como tambm um
espao de sociabilidade e de construo de subjetividades. Investigar a realidade escolar , tambm, realizar uma incurso sobre as identidades que se constituem naquele espao. Trazemos aqui, por fim, as possibilidades postas por uma perspectiva particular da antropologia, inaugurada por Clifford Geertz, que se convencionou denominar de antropologia interpretativa ou antropologia hermenutica. Geertz (1989), para formular sua proposta metodolgica, parte de Weber para compreender a cultura como uma teia de significados, e, sendo ela definida deste modo, implica que a etnografia se constitui num esforo em torno da apreenso subjetiva do significado que os sujeitos do a suas aes, o que o autor denomina de descrio densa da cultura7. Mas novamente lidamos com uma limitao de carter mais ontolgico que epistemolgico, considerando que a etnografia constitui um processo interpretativo. Para o autor:
Resumindo, os textos antropolgicos so eles mesmos interpretaes e, na verdade, de segunda e terceira mo. (Por definio, somente um nativo faz a interpretao de primeira mo: a sua cultura) Trata-se, portanto, de fices; fices no sentido de que so algo construdo, algo modelado o sentido original de fictio no que sejam falsas, no fatuais ou apenas experimentos do pensamento (Geertz, 1989, p. 11).
Estas interpretaes se fazem necessrias, na medida em que, na superfcie, as aes dos sujeitos se assemelham, como um conjun-
to de piscadelas; no entanto, os sentidos atribudos pelos mesmos modificam-se. Estar na escola, em princpio, apresenta-se como um ato homogneo, em que os alunos, por exemplo, podem se apresentar como sujeitos movidos pelas mesmas motivaes e condies objetivas; no entanto, ao imergirmos em seus universos simblicos, chegaremos a significados mais profundos, que variam de acordo com as experincias, trajetrias e posies que ocupam no universo da cultura de forma mais ampla. O processo interpretativo, na investigao educacional, apresenta-se como um desafio no s metodolgico, mas tambm institucional, considerando o que est em jogo. As posies que os sujeitos ocupam, neste campo, remetem a estruturas demarcadas, hierarquizadas e verticalizadas. A dificuldade de estabelecer um dilogo, assentado na assimetria que se constitui entre pesquisador e pesquisado, explicita-se exponencialmente quando tratamos de uma pesquisa que se desenvolve num ambiente institucional, no caso, a escola. Outro desafio que se estabelece na pesquisa antropolgica aplicada ao universo educacional tange questo da perspectiva microscpica dessa anlise, de modo que o locus do estudo antropolgico no o seu objeto. Parafraseando o prprio Geertz, podemos afirmar que os antroplogos estudam nas escolas, e no as escolas. Este limite no implica afirmar que suas margens sejam fixas, e, por consequncia, intransponveis; muito pelo contrrio,
276
7 Deve-se destacar que Geertz parte aqui da tradio hermenutica para elaborar seu conceito de descrio densa da cultura. Na esteira desta tradio, Dilthey aponta que a realidade social constitui um conjunto de signicados, Lebenszusammenhang, e a vida, como uma totalidade, teria sua essncia no signicado ou sentido, Sinn, e sua expresso na experincia vivida, Erlebnis. Reapropriando-se destes elementos, Weber prope uma cincia compreensiva, cujo intento maior seria a captao do sentido da ao social. Geertz, ao trazer esta elaborao para o campo da antropologia, preocupa-se em armar a etnograa no como mera descrio da realidade, mas sim uma descrio densa, preocupada com a captao dos sentidos construdos socialmente, ou seja, trata-se da elaborao de uma descrio de uma dada realidade cultural realizada de forma interpretativa, ainda que o autor reconhea que apenas o nativo pode realizar a interpretao em primeira mo, pois apenas esse tem acesso direto aos signicados presentes na cultura nativa, cabendo assim ao antroplogo realizar uma outra de segunda e terceira mo, uma vez que se trata da interpretao sobre a interpretao do prprio nativo sobre sua cultura.
Educao Unisinos
Etnografia e pesquisa educacional: por uma descrio densa da educao
a anlise microscpica da antropologia nos permite realizar articulaes mais amplas e abrangentes. Voltemos s palavras do autor:
O problema metodolgico que a natureza microscpica da etnografia apresenta tanto real como crtico. Mas ele no ser resolvido observando uma localidade remota como o mundo numa chvena ou como o equivalente sociolgico de uma cmara de nuvens. Dever ser solucionado ou tentar s-lo de qualquer maneira atravs da compreenso de que as aes sociais so comentrios a respeito de mais do que elas mesmas; de que, de onde vem uma interpretao no determina para onde ela poder ser impelida a ir. Fatos pequenos podem relacionar-se a grandes temas, as piscadelas epistemologia, ou incurses aos carneiros revoluo, por que eles so levados a isso (Geertz, 1989, p. 17).
O que se encontra nas prticas cotidianas dos sujeitos envoltos no universo educacional est para alm do que se pode apreender numa instncia mais imediata, pois os significados que estes constroem se constituem em espaos simblicos mais amplos. O desafio para a apreenso dos significados construdos demonstrase no s complexo, como tambm leva o pesquisador a outro nvel de abstrao, ao reconhecer o seu trabalho cientfico como menos objetivo que o esperado, uma vez que a prpria etnografia se constitui como construo do antroplogo (Geertz, 2004). Aquele que se arrisca a realizar uma pesquisa educacional a partir de um olhar antropolgico, utilizandose do mtodo etnogrfico, deve estar ciente de que a sua subjetividade est presente na construo do objeto e dos prprios resultados da pesquisa. A escola, com todas as suas contradies e tenses, se apresenta como um universo a ser explorado, mas
tambm como uma realidade a se constituir, a partir deste entrecruzamento das apresentaes dos agentes sobre seu cotidiano escolar com a interpretao do pesquisador sobre tais interpretaes. O ato investigativo na antropologia nos convida a uma disperso epistemolgica, pois no nos basta focar e centrar no que estamos procurando, mas tambm devemos nos centrar no que no procuramos. Pouco adianta pesquisar sobre as relaes tnicas numa escola assentando a pesquisa unicamente em relatos, entrevistas e observaes pontuais. No podemos olvidar que a cultura fluxo denso, um mar aberto de significados, e, como tal, arrisca sempre nos afogar. Barth (2000) nos chama a ateno para o fato de que os antroplogos do uma demasiada importncia s conversas que os nativos tm com o pesquisador, relegando a um segundo plano as conversas estabelecidas entre os prprios nativos. nos dilogos no direcionados ao pesquisador, nas produes simblicas dispersas pelo ptio da escola, pelos corredores, que as representaes sociais so construdas, que as imagens em torno da diferena, da alteridade, se constroem e se animam. Ao adentrar no universo simblico do outro, ns nos lanamos numa atividade perigosa, em que nos arriscamos. A subjetividade um risco, inegavelmente, mas tambm um meio. por meio dela que abrimos novas possibilidades e nos abrimos para elas. Subjetividades no s nossas, mas tambm as do outro, daquele que o nosso objeto de investigao, e tal feito demanda um esforo metodolgico que no pode ser confundido com uma sada da objetividade cientfica por completo; adentrar na subjetividade no implica uma reproduo da fala nativa como uma verdade
incontestvel, pois, como j exposto, h uma necessidade de interpretar estas interpretaes. O processo interpretativo pressupe a capacidade de adentrar em outras subjetividades, o que no implica, necessariamente a existncia de capacidades extraordinrias por parte do pesquisador. Para Geertz (1997, p. 107):
Mas seja qual for nossa compreenso correta ou semicorreta daquilo que nossos informantes, por assim dizer, realmente so, esta no depende de que tenhamos, ns mesmos, a experincia ou sensao de estarmos sendo aceitos, pois esta sensao tem que ver com nossa prpria biografia, no com a deles. Porm, a compreenso depende de uma habilidade para analisar seus modos de expresso, aquilo que chamo de sistemas simblicos, e o sermos aceitos contribui para o desenvolvimento desta habilidade. Entender a forma e a fora da vida interior de nativos para usar, uma vez mais, esta palavra perigosa parece-se mais com compreender o sentido de um provrbio, captar uma aluso, entender uma piada ou, como sugeri acima interpretar um poema, do que com conseguir uma comunho de espritos.
Este desafio interpretativo se coloca o tempo todo em qualquer campo de pesquisa; no caso da educacional, nossa preocupao tambm vai no sentido de reconhecer a episteme prpria desta. Gatti (2001) aponta justamente tal preocupao, em no haver uma simples transposio ingnua de categorias de outras reas de estudo, mas sim a elaborao de categorias prprias a este universo, que abarquem a complexidade das questes educacionais em seu contexto social. A abordagem etnogrfica nos possibilita, em especial na sua proposta de uma descrio densa, a possibilidade de elaborar no campo as categorias de anlise, a partir dos
277
volume 17, nmero 3, setembro dezembro 2013
Amurabi Oliveira
prprios significados que os sujeitos constroem no cotidiano escolar, ao mesmo tempo em que permite ao pesquisado situar, a partir de que tais significados esto sendo construdos, que posies so tomadas em determinada dinmica social. O universo escolar, enquanto uma instncia significativa da realidade cultural dos sujeitos envolvidos na ao social, apresenta-se ao pesquisador como uma multiplicidade de estruturas conceituais complexas, muitas delas amarradas umas s outras, de formas irregulares e inexplcitas. O que pode parecer bvio, numa primeira coleta de dados, mostra-se complexo e contraditrio. As trajetrias escolares, o habitus professoral, dentre outras questes que compem esta realidade, so bem mais homogneas e mais facilmente apreendidas pelo pesquisador quando se encontram na superfcie. o mergulho nos significados criados que nos permite perceber a mxima da dialtica hegeliana de que a essncia e a aparncia das coisas no se sobrepem, mas se encontram, em verdade, em contradio.
Estar l, estar aqui: etnografando a escola
Geertz (2004) nos traz uma importante lio acerca do trabalho antropolgico, situando a questo da etnografia entre dois exerccios, ou melhor, entre dois feitos. O primeiro diz respeito ao estar l. A etnografia se constitui num exerccio de pesquisa que pressupe o estar l, conviver com os nativos, dialogar com eles, acompanhar seu cotidiano. Toda etnografia, assim sendo, se configura num exerccio de demonstrar esta estadia, levar o leitor que realizar uma interpretao da nossa interpretao da interpretao do nativo a este mesmo universo, de um modo tal que, se no encontramos o que Malinowski encontrou
entre os trobiandeses, somos levados a pensar os trobiandeses no so mais os mesmos. Mas o que significa estar l na pesquisa educacional? Ao contrrio das etnografias clssicas, no falamos de culturas distantes, de costumes exticos e, por vezes, pouco racionais do nosso ponto de vista etnocntrico, mas sim de uma experincia cultural pela qual, muito provavelmente, nossos leitores j passaram e reconhecem como significativa, e mesmo como prxima. Logo, por ser familiar, o fazer antropolgico leva ao seu estranhamento. Fonseca (1999) nos aponta, ao problematizar o mtodo etnogrfico, que a primeira etapa dentro da utilizao deste o prprio estranhamento, quando o pesquisador comea a perceber que a realidade mais complexa do que ela poderia parecer a princpio. Quando o pesquisar se depara com uma realidade prxima em termos sociais e culturais a ser investigada, ele precisa ter em mente que nem tudo que familiar conhecido (Velho, 2003) e que, portanto, necessitamos de um primeiro exerccio de estranhamento da realidade sobre a qual estamos nos debruando, desnaturalizando sua dinmica, interpretando-a como construda social e culturalmente. Segundo Peirano (1995), no campo da antropologia, o estranhamento passa a ser no s a via pela qual se d o confronto entre diferentes teorias, mas tambm o meio de autorreflexo. Nesta mesma esteira, Damatta (1978, p. 28) afirma que
[...] vestir a capa de etnlogo aprender a realizar uma dupla tarefa que pode ser grosseiramente contida nas seguintes frmulas: (a) transformar o extico no familiar e/ou (b) transformar o familiar em extico. E, em ambos os casos, necessria a presena dos dois termos (que representam dois universos de significao) e,
mais basicamente, uma vivncia dos dois domnios por um mesmo sujeito disposto a situ-los e apanh-los.
278
Ainda segundo o autor, esses dois exerccios esto intimamente relacionados e sempre sujeitos a uma srie de resduos, nunca sendo plenamente perfeitos, pois o extico nunca passa a ser completamente familiar, e tampouco o inverso. O primeiro apreendido por uma via intelectual, ao passo que o segundo por meio do desligamento emocional. O exerccio etnogrfico na realidade educacional, e escolar mais especificamente, implica uma apreenso de uma esfera que se mostra universal, considerando a estrutura dos sistemas de ensino nas sociedades ocidentais, mas singular. Pois, na proposta de uma descrio densa da educao, os significados dos sujeitos ganham espao, e a experincia universalizante de um sistema de ensino ganha em singularidade e humanidade. O substrato sobre o qual est assentado o mtodo etnogrfico demanda tempo, pois, se nos interessa saber o que o outro pensa que , o que ele pensa que est fazendo, e com que finalidade pensa que est fazendo, necessria uma familiaridade com os conjuntos de significados em meio aos quais ele leva sua vida. Isto requer do pesquisador aprender como viver com o outro, ainda que o pesquisador seja de outro lugar e tenha um mundo prprio diferente (Geertz, 2001). Ao passo que o estar aqui implica transformar nossa experincia com o outro em algo acessvel, escrever e apreender a dinmica do fluxo cultural que vivenciamos no decorrer de nossas pesquisas. Fazer etnografia como tentar ler (no sentido de construir uma leitura de) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerncias,
Educao Unisinos
Etnografia e pesquisa educacional: por uma descrio densa da educao
emendas suspeitas e comentrios tendenciosos, escritos no com os sinais convencionais do som, mas com exemplos transitrios de comportamento modelado (Geertz, 1989, p. 7). Apreender, na escrita, a realidade educacional mostra-se como um desafio de difcil transposio, considerando-se a complexidade do fenmeno, ao mesmo tempo em que se deve ter em vista que h a necessidade de se desenvolver, pela escrita etnogrfica, uma articulao entre os sentidos construdos e a macroestrutura social. claro que uma pesquisa sobre uma escola X, na periferia da cidade Y, diz sobre a escola X, na periferia da cidade Y, e a etnografia trar a tona todas as idiossincrasias da escola X, mas ela tambm diz algo sobre outras escolas na cidade Y, e em outras cidades. O estar aqui mostra-se conflituoso justamente por isso, por ter como desafio ao etngrafo, seja ele antroplogo ou no, realizar esta interligao da anlise microscpica da antropologia com um universo cultural mais amplo, entre os significados construdos dentro de uma cultura pblica, de significados, portanto, pblicos. Este trabalho buscou colocar-se afirmativamente na discusso sobre a utilizao do mtodo etnogrfico na pesquisa educacional, discordando diametralmente de posies que defendem que [o] que se tem feito, pois, uma adaptao da etnografia educao, o que me leva a concluir que fazemos estudos do tipo etnogrfico e no etnografia no sentido estrito (Andr, 1995, p. 28), uma vez que entendemos que podemos sim desenvolver pesquisas etnogrficas no campo da educao, ainda que isso nos exija um esforo na direo de articular o debate metodolgico com as questes tericas no campo da antropologia; neste sentido que Valente (1996) aponta para a fragili-
dade de trabalhos desenvolvidos no campo da educao que se utilizam do arsenal da antropologia. Ainda que a apropriao de um campo por outro seja sempre marcada por tenses, que remetem no apenas aos debates epistemolgicos como tambm s divises acadmicas em um dado momento histrico, acreditamos que os problemas decorrentes de uma m apropriao da etnografia no campo educacional, como em outros, se devem antes de mais nada ao processo de fragmentao, a como a antropologia incorporada, tendencialmente lida de forma reducionista e instrumental, acionando a etnografia como uma simples descrio da realidade, sem se perceber que descrever implica necessariamente interpretar, o que se d, dentre outros fatores, a partir do arsenal terico mobilizado. A ideia de uma descrio densa da educao apenas um caminho possvel, mas que, em todo caso, indica a necessidade de no apenas nos utilizarmos de forma pontual de determinado autor, demonstrando a necessidade de imergirmos no debate que origina sua discusso epistemolgica, para ento nos utilizarmos plenamente de sua metodologia nos diversos campos do saber. A etnografia no campo educacional nos traz grandes possibilidades, pois nos aproxima do cotidiano escolar, levanos a um encontro profundo com sua dinmica e com os sujeitos que a compem; contudo, ela tambm nos exige uma ampliao de nosso escopo terico, que deve ser articulado com a pluralidade de dados que emergiro do campo, com aquele momento em que o pesquisador sentir o Anthropological Blues, no dizer de Damatta (1978), dando sentido famosa frase de Geeertz que diz que a antropologia tudo aquilo que os antroplogos fazem, o que inclui a, inegavelmente, os educadores.
Referncias
ANDR, M.E.D.A. 1995. Etnografia da prtica escolar. Campinas, Papirus, 130 p. APPLE, M.W. 2002. Educao e poder. Porto Alegre, Artes Mdicas, 201 p. APPLE, M.W. 2006. Ideologia e currculo. Porto Alegre, Artmed, 246 p. ARIS, P. 1981. Histria social da criana e da famlia. Rio de Janeiro, Guanabara, 279 p. ALTHUSSER, L. 1998. Aparelhos ideolgicos do Estado. Rio de Janeiro, Graal, 127 p. BARTH, F. 2000. O guru, o iniciador e outras variaes antropolgicas. Rio de Janeiro, Contra Capa Livraria, 243 p. BAUDELOT, C.; ESTABLET, R. 1971. Lcole capitaliste en France. Paris, Franois Maspero, 340 p. BENEDICT, R. 1983. Padres de cultura. Lisboa, Livros do Brasil, 331 p. BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J.C.; PASSERON, J.-C. 2004. Ofcio do socilogo: metodologia da pesquisa na sociologia. Petrpolis, Vozes, 328 p. BOURDIEU, P.; PASSERON, J.-C. 2008. A reproduo: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Petrpolis, Vozes, 275 p. BOURDIEU, P.; PASSERON, J.-C. 2006. Les heritiers: les tudiants et la culture. Paris, Les ditions de Minuit, 189 p. BOWLES, S.; GINTIS, H. 1976. Scholling in Capitalist America. New York, Routledge & Kegan Paul, 340 p. CALDAS, A.C.; MALTZ, C.R.; SILVA, S.C. dos R.; MARTINS, S. de O. 2012. O sentido da etnograa nas pesquisas em educao no Brasil (1987-2008). In: G. ROCHA; S. TOSTA (orgs.), Caminhos da pesquisa: estudos em linguagem, antropologia e educao. Curitiba, CRV, p. 13-32. CANDAU, V.M. 2011. Multiculturalismo e educao: desafios para a prtica pedaggica. In: A.F. MOREIRA; V.M. CANDAU (orgs.), Multiculturalismo: diferenas culturais e prticas pedaggicas. Petrpolis, Vozes, p. 13-37. CARDOSO, R.. 1986. Aventuras de antroplogos em campo ou como escapar das armadilhas do mtodo. In: R. CARDOSO (org.), A aventura antropolgica. Rio de Janeiro, Paz e Terra, p. 95-106. DAMATTA, R. 1978. O ofcio de etnlogo, ou como ter Anthropological Blues. In: E. de O. NUNES, A aventura sociolgica. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, p. 23-35. DILTHEY, W. 2011. Introduo s cincias humanas. Rio de Janeiro, Editora Forense, 486 p.
279
volume 17, nmero 3, setembro dezembro 2013
Amurabi Oliveira
DURKHEIM, . 1978. Educao e sociologia. So Paulo, Melhoramentos, 91 p. FONSECA, C. 1999. Quando cada caso NO um caso: pesquisa etnogrca e educao. Revista Brasileira de Educao, 10:58-78. FORQUIN, J.-C. 1993. Escola e cultura. Porto Alegre, Artes Mdicas, 205 p. GADAMER, H.-G. 1997. Verdade e mtodo I. Petrpolis, Vozes, 631 p. GATTI, B.A. 2001. Implicaes e perspectivas da pesquisa educacional no Brasil contemporneo. Cadernos de Pesquisa, 113:65-81. GEERTZ, C. 1989. A interpretao das culturas. Rio de Janeiro, LTC, 213 p. GEERTZ, C. 2001. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 247 p. GEERTZ, C. 1997. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Petrpolis, Vozes, 366 p. GEERTZ, C. 2004. Obras e vidas: o antroplogo como autor. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ, 204 p. GIDDENS, A. 2001. Em defesa da sociologia. So Paulo, Editora UNESP, 393 p. GUSMO, N.M.M. de. 2003. Os desaos da diversidade na escola. In: A. GIDDENS. (org.), Diversidade, cultura e educao: olhares cruzados. So Paulo, Biruta, p. 83-105.
LAHIRE, B. 1997. Sucesso escolar nos meios populares: as razes do improvvel. So Paulo, tica, 367 p. LAPLANTINE, F. 1988. Aprender antropologia. So Paulo, Brasiliense, 207 p. LAPLANTINE, F. 2011. La description ethnographique. Paris, Armand Colin, 128 p. LEVI-STRAUSS, C. 1976. Antropologia estrutural. Rio de Janeiro, Graal, 456 p. MALINOWSKI, B. 1976. Os argonautas do Pacco Ocidental. So Paulo, Abril Cultural, 436 p. MEAD, M. 2001a. Coming of Age in Samoa. New York, Harper Perennial, 256 p. MEAD, M. 2001b. Growing Up in New Guinea. New York, Perennial Classics, 280 p. MEAD, M. 2002. Sexo e temperamento. So Paulo, Perspectiva, 316 p. NOGUEIRA, M.A. 1990. A sociologia da educao do nal dos anos 60/incio dos anos 70: o nascimento do paradigma da reproduo. Em Aberto, 46(46):49-58. OLIVEIRA, R.C. de. 2006. O trabalho do antroplogo. So Paulo, Editora UNESP, 220 p. PEIRANO, M. 1992. A favor da etnograa. Anurio Antropolgico, 130:179-223. PEIRANO, M. 1995. A favor da etnograa. Rio de Janeiro, Relume Dumara, 180 p. RICKERT, H. 1987 [1896]. The Limits of Concept Formation in Natural Science: A
Logical Introduction to the Historical Sciences. Cambridge, Cambridge University Press, 240 p. ROCHA, G.; TOSTA, S.P. 2008. Antropologia & Educao. Belo Horizonte, Autntica, 159 p. SILVA, T.T. da. 1999. Documento de identidade: uma introduo s teorias do currculo. Belo Horizonte, Autntica, 154 p. SILVA, V.G. 2006. O antroplogo e sua magia. So Paulo, Edusp, 194 p. VALENTE, A.L. 1996. Usos e abusos da antropologia na pesquisa educacional. Pro-Posies, 7(20):54-64. VELHO, G. 2003. O desao da proximidade. In: G. VELHO; K. KUSCHNIR (orgs.), Pesquisas urbanas: desaos do trabalho antropolgico. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., p. 11-19. WINDELBAND, W. 1949 [1894]. Preludios losocos. Buenos Aires, Editorial Santiago Rueda, 459 p. ZANTEN, A.H.-V.; DEROUET, J.-L.; SIROTA, R. 1995. Abordagens etnogrcas em sociologia da educao. In: J.-C. FORQUIN (org.), Sociologia da educao: dez anos de pesquisa. Petrpolis, Vozes, p. 205-295. Submetido: 29/06/2011 Aceito: 22/04/2013
280
Amurabi Oliveira Universidade Federal de Alagoas Centro de Educao (CEDU) Campus A.C. Simes Cidade Universitria Av. Lourival Melo Mota, s/n 57072-970, Macei, AL, Brasil
Educao Unisinos
Você também pode gostar
- Apostila EAGS SADDocumento504 páginasApostila EAGS SADDouglas Silva100% (3)
- As Quatro Páginas Do SermãoDocumento23 páginasAs Quatro Páginas Do SermãoJulio Cezar de Pinho Jr.100% (4)
- Assim Diz o Senhor - Lourenço GonzalezDocumento585 páginasAssim Diz o Senhor - Lourenço GonzalezJeff Ricardo92% (24)
- Cops RDocumento22 páginasCops RIsabel Pinto Ferreira100% (2)
- TJ SP Apostila Completa 2023Documento601 páginasTJ SP Apostila Completa 2023Dra. Quelen Santos100% (1)
- A IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO BÍBLICO PARA O PREGADOR EXPOSTIVO VFF - Marcus Vinicius Matos UchoaDocumento12 páginasA IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO BÍBLICO PARA O PREGADOR EXPOSTIVO VFF - Marcus Vinicius Matos UchoaMarcus UchôaAinda não há avaliações
- Interpretação de Textos (Como Ler e Entender o Texto)Documento2 páginasInterpretação de Textos (Como Ler e Entender o Texto)MARGON100% (7)
- Concepcoes de Lingua, Sujeito, Texto e Sentido K OCHDocumento4 páginasConcepcoes de Lingua, Sujeito, Texto e Sentido K OCHVilma Tânia F de Souza100% (1)
- Fichamento Do Livro Entendes o Que LêsDocumento8 páginasFichamento Do Livro Entendes o Que Lêsavilajoe100% (1)
- Notas Sobre Intercessores Importante PDFDocumento14 páginasNotas Sobre Intercessores Importante PDFLeandro Gorsdorf100% (1)
- Fichamento TodorovDocumento4 páginasFichamento TodorovCesar Faustino Jr.Ainda não há avaliações
- Por Uma Antropologia Do DireitoDocumento30 páginasPor Uma Antropologia Do Direitoanacla22Ainda não há avaliações
- Apostila - Pmba CbmbaDocumento423 páginasApostila - Pmba Cbmbafrancorbarreto39100% (1)
- Apostila Valinhos PDFDocumento465 páginasApostila Valinhos PDFJacqueline Lima100% (1)
- Arte AutoetnográficaDocumento2 páginasArte Autoetnográficaanacla22Ainda não há avaliações
- Sociologia e Antropologia Do Direito Eduardo Iamundo PDFDocumento119 páginasSociologia e Antropologia Do Direito Eduardo Iamundo PDFanacla220% (1)
- Zygmunt BaumanDocumento10 páginasZygmunt Baumananacla22Ainda não há avaliações
- Florestan Fernandes e A Universidade Brasileira PDFDocumento9 páginasFlorestan Fernandes e A Universidade Brasileira PDFanacla22Ainda não há avaliações
- Sociologia - A Ralé BrasileiraDocumento13 páginasSociologia - A Ralé BrasileiraMatheuzRodriguezAinda não há avaliações
- Comentários Sobre Charles Morris, Fundamento Da Teoria Dos SignosDocumento12 páginasComentários Sobre Charles Morris, Fundamento Da Teoria Dos SignosSylvio Allan Rocha MoreiraAinda não há avaliações
- Exegese SimplesDocumento2 páginasExegese SimplesAbimael NevesAinda não há avaliações
- PALHARES, Marjory Cristiane. História em Quadrinhos Uma Ferramenta Pedagogica...Documento20 páginasPALHARES, Marjory Cristiane. História em Quadrinhos Uma Ferramenta Pedagogica...GGF22Ainda não há avaliações
- Artigo CatarseDocumento35 páginasArtigo CatarsePriscila ChistéAinda não há avaliações
- Prova para EstudosDocumento142 páginasProva para EstudosAL KsAinda não há avaliações
- Aula I - Hermenêutica JurídicaDocumento12 páginasAula I - Hermenêutica JurídicaRaquel Santos AmorimAinda não há avaliações
- Apostila Opção PMPEDocumento164 páginasApostila Opção PMPEJulio Cesar Almeida da Silva100% (1)
- Lendo A Ilustração Ou Ilustrando A LeituraDocumento11 páginasLendo A Ilustração Ou Ilustrando A LeituraKatianne AlmeidaAinda não há avaliações
- Parábolas e o Reino de DeusDocumento11 páginasParábolas e o Reino de DeusAdriano Da Silva Carvalho100% (1)
- Anais Ii SempgeoDocumento288 páginasAnais Ii SempgeoFlorinAinda não há avaliações
- Design e Semiótica Da Cultura: A Análise de Estruturas Modelizantes e A Brasilidade em Marcas GráficasDocumento11 páginasDesign e Semiótica Da Cultura: A Análise de Estruturas Modelizantes e A Brasilidade em Marcas GráficasEduardo FerreiraAinda não há avaliações
- Argumentação Jurídica e Imunidade Livro Eletronico - HUMBERTO AVILADocumento34 páginasArgumentação Jurídica e Imunidade Livro Eletronico - HUMBERTO AVILAFabiana Wanesca PiresAinda não há avaliações
- Dilthey - Origens Da HermenêuticaDocumento3 páginasDilthey - Origens Da HermenêuticaIgorRRSSAinda não há avaliações
- A Bíblia e Seus Intérpretes - Uma Breve História Da Interpretação (Augustus Nicodemus Lopes) (FranDocumento4 páginasA Bíblia e Seus Intérpretes - Uma Breve História Da Interpretação (Augustus Nicodemus Lopes) (FranDeográcioHora0% (1)
- A Diferença de Interpretar e Compreender Um TextoDocumento4 páginasA Diferença de Interpretar e Compreender Um TextoNiedja SantosAinda não há avaliações
- A REPÚBLICA QUE AINDA NÃO FOI - Ed - 1Documento16 páginasA REPÚBLICA QUE AINDA NÃO FOI - Ed - 1Glaucio Guimarães MedeirosAinda não há avaliações