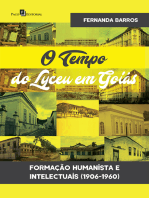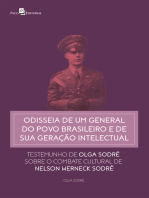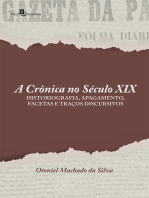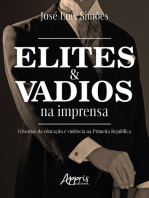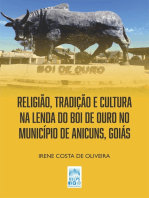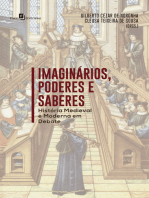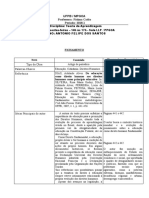Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Em Busca Da Idade de Ouro
Enviado por
AdrianoDosSantosMoraesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Em Busca Da Idade de Ouro
Enviado por
AdrianoDosSantosMoraesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Em busca da Idade de Ouro:
as elites polticas fluminenses na
Primeira Repblica (1889-1930)
Marieta de Moraes Ferreira
Editora UFRJ/Edies Tempo Brasileiro
Rio de Janeiro - 1994
Copyright C 1994 by Mariera de Moraes Ferreira
Ficha Caralogrfica elaborada pela Diviso de Processamento Tcnico
SIBVUFRj
F 383c Ferreira, Marieta de Moraes
Em busca da Idade de Ouro: as elites polticas fluminenses na
Primeira Repblica 0889-1930) / Marieta de Moraes Ferreira.
Rio de janeiro: Editora UFRJ, 1994.
Bibliografia
1. Rio de Janeiro Histria (Primeira) Repblica (1889-1930).
I. Ttulo
ISBN 85-7108-111-5
Universidade Federal do Rio de
Forum de Cincia e Cultura
Editora UFRJ
COllSelbo Editorial
COO 981.05351
Darcy Fontoura de Almeida, Gerd Bornheim, Gilberto Velho, Giulio
Massarani,jos MUTilo de Carvalho, Margarida de Souza Neves. Silviano
Santiago, Wanderley Guilherme dos Santos
Editora UFHJ
Forum de Cincia e Cultura
Av. Pasteur, 250/sala 106 - Rio de Janeiro
CEP, 22295-900
Te!., (021) 295 1397 (021) 295 1595 r. 35/36/37
Fax, (021) 295 2346
Edies Tempo Brasileiro
Rua Gago Coutinho, 61 - Rio de Janeiro
CE?, 22221-070
Caixa Postal 16099
Te!., (021) 205 5949
Fa" (021) 225 9382
Apoio:
Fundao Universitria Jos B('Inifcio
f
Sumrio
Introduo 7
Captulo 1 A elite poltica fluminense: projeto e uajetrla 15
Captulo 2 A eco.riomla fluminense na Primeira Repblica 35
Captulo 3 Projetos de reforma 57
Captulo 4 A fora da uadlo 79
Captulo 5 A nadonallzao da poltica fluminense 97
Captulo 6 Fragmentao poltica e questo partidria 117
Concluso 141
Fontes e b1liografla . 147
Anexas 169
Agradecimentos 209
Introduo
Umbalanodaproduohistoriogrficasobreanaturezadosconflitos
polticos e o papel do Estado na Primeira Repblica nos permite detectar duas
tendncias bsicas I A primeira sustenta que o Estado no se define como
representantedec1assesoudegruposdeinteressedominantesnasociedade,
mas como um ator poltico que representa a "si mesmo" , ao mesmo tempo
em que articula grupos e/ou classes sociais, possuindo assim um contedo
marcadamente patrimonialista. No plano das disputas polticas, a cooptao
com base no clientelismo tenderia a predominar sobre formas clssicas de
representao de interesses.
Uma segunda linha de interpretao a que sustenta uma estreita
associao entre os interesses econmicos dominantes e o controle do
Estado, O que significa afirmar que OS interesses cafeeiros de So Paulo
e Minas eram determinantes na orientao da poltica republicana. Como
conseqncia deSsa interpretao h uma supervalorizao do papel
desses dois estados no jogo poltico oligrquico e um silncio sobre o
papel e a trajetria dos estados considerados de segunda grandeza, como
Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Um fato que nos parece bsico que desde o ircio o esquema de
dominao So Paulo-Minas abriu espao para O surgimento de conflitos
no seio da classe dominante. A insatisfao dos estados de segunda
grandeza diante das deformaes do federalismo, que limitavam
grandemente sua autonomia no campo poltico e subordinavam seus
interesses econmico-finallceiros aos interesses mineiros e paulistas, deu
origem a iniciativas de contestao que no podem ser ignoradas. Embora
essas iniciativas nem sempre fossem claramente delineadas ou explicitadas,
e se caracterizassem por uma instabilidade dos atores-estados nelas
engajados, possvel identific-Ias ao longo de toda a Repblica Velha.
Nosso interesse reside em destacar a complexidade do pacto
oligrquico na Primeira Repblica e buscar um melhor deseriho do sistema
federalista brasileiro, atravs do estudo da atuao de grupos regionais de
segunda grandeza e de suas tentativas de construo de um eixo
alternativo de poder 2 .Alguns estudos tm sido produzidos nessa direo,
propondo uma reviso do papel do eixo dominante Minas-So Paulo.
8 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
Aore1ativizaropapelhegemnico de So Paulo, aobuscarnovas explicae5
paraaascensodeMinasGeraisnojogopolticonacionaleaoredisutiras
teses que vem no Rio Grande do Sul um foco desestabilizador, essas
contribwe5 petmitemrepensarosesquemas de funcionamento da poltica
oligrquica brasileira no incio da era republiama.
Elegemos como objeto de anlise neste trabalho a elite poltica do
estado do Rio de Janeiro, cujo papel no pacto federalista e cujas caracteristicas
e conflitosintemosprocuraremosapreender. O Rio deJaneironos parece ser
um caso especialmnte.interessante porque, de principal plo econmico do
pas e mais forte base de apoio poltico da monarquia, o estado perdeu o
statusde"grandeprovinciaimperial"comaimplantaodoregimerepublicano,
inaugurandoumlongoperlododedificuldadeseconmicasepolticasquese
estendem at a atualidade.
Um segundo objetivo deste estudo exatamente contnbuir para uma
melhor compreenso dos problemas atuais das elites fluminenses e da
economia do estado do Rio deJaneiro. Nos ltimos tempos, um dos temas
recorrentemente tratados pela ndia tem sido a chamada 'crise' ou
'esvaziamento' do estado doRiO. Especialmente no ano de 1990, por ocasio
daseleiespara ogovemo estadual e emfuno do crescimento desmesurado
da onda deviolncia na cidade doRio deJaneiro, este tema passou a ser uma
constante, tomando-se objeto de debates polticos na televiso, de incontveis
artigos em jornais revistas e ainda de seminrios e mesa.rredondas 3
Algunspontos comuns parecem unir OS diagnsticos sobre as causas
dos problemas do estado do Rio em geral, e da cidade do Rio em particular,
emitidos por polticos, empresrios, tcnicos e intelectuais, mesmo com
diferentes compromissos poltico-partidrios. O primeiro deles a avaliao
de que a cidade do Rio, e aps a fuso, o estado do Rio, por sua postura
oposicionista tanto durante os governos militares quanto aps a Nova
Repblica, tem sido alvo da discriminao do govemo federal. Essa
discriminao se tniduziria no s nas negativas de concesso de incentivos
fiscais e recursos financeiros, como tambm numa poltica de expoliao
responsvel poruma permanente drenagem de rendas.
Um segundo ponto, que se relaciona com o primeiro, seria a dita
incompetncia das elites polticas cariocas e fluminenses para resistir a essa
discriminao e expoliao do governo federal, traduzida na incapacidade de
elaborar estratgias e projetos e de organizar /obbies para a defesa dos
interesses do estado .. As razes desse tipo de comportamento estariam no fato
INTRODUO 9
de a cidade do Rio ter sido capital do pas. o que teria levado seus polticos,
e tambm os do antigo estado do Rio, a se preocupar mais com os grandes
debates nacionais do que com a defesa dos interesses regionais. A essas
contingncias de ordem poltica so acrescentados outros problemas, como
a fuso entre a Guanabara e o estado do Rio, a forte presena do governo
federal, o grande nmero de funcionrios pblicos aqui residentes, a
predominncia daS atividades tercirias na economia e o envelhecimento do
parque industrial, com sua estrutura produtiva caracterstica da primeira
revoluo industrial
Esses problemas espedficosnaturaImente teriam sido agravados pela
crise nacional da economia, mas o componente regional seria um fator
explicativo fundamental para o esvaziamento econmico do Rio deJaneiro.
Assim, a sada seria recuperar o regionalismo, o bairrismo, e fazer aquilo que
tpico de uma federao, ou seja, participar de uma disputa de interesses
concretos, regionis. Esta interpretao, embora dominante, tem sofrido
algumas aiticas e questionamentos. '
Um argumento alternativo, ainda que apresentado de maneira difusa
e pouco organizad, e embora ausente dos debates mais amplos nos meios
de comunicao, sustenta que o estado do Rio deJaneirono estaria vivendo
uma crisepartlcular, mas que seus problemas seriam fruto da prpria crise que
opas atravessa, maximizados pela extenso da cidade doRio deJaneiro. De
acordo com os indlcadores econmicos, no existiria de fato uma crise da
economiatluminense.A produo do estado, seja medida pelo PIB regional,
ou pelo produto do setOr industrial, terla crescido nos ltimos anos acima da
mdianadonal
Um desdobramento desse argumento que as elites fluminenses
Ce mais recentemente as cariocas) teriam desenvolvido uma tradio de
falar na decadncia do estado como forma de angariar atenes e recurSos
especiais. Similannente s elites nordestinas, que teriam elaborado um
discurso de pobreza ao longo de dcadas, visando a extrair recursos dos
poderes pblicos federais 5, as elites fluminenses teriam produzido no fmal
do sculo XIX, por ocasio da crise da economia cafeeira, um discurso
centrado na decadncia do estado ena necessidade de sua recuperao.
Mais recentemente, essa antiga postura tluminense teria sido incorporada
pelas elites cariocas denncia do "esvaziamento" do Rio de Janeiro.
Para os que fazem este diagnstico, sustentar a necessidade de defender
interesses regionais implicaria favorecer um processo de provinciani.zao da
cidade do Rio, o que seria um equvoco.
10 BM BUSCA DA IDADB DB OURO
Todos esses argumentos, em grande parre debatidos nos principais
meios de comunicao, carecem, entretanto, de uma base de sustentao
mais consistente. A1l discusses, marcadas por um forte clima emocional
e ideolgico, pouco contribuem para que se possa avaliar com mais
preciso a problemtica realidade do estado do Rio de Janeiro. So poucos
os estudos disporveis baseados em pesquisas slidas, capazes de
fornecer informaes e anlises acerca da trajetria do estado do Rio.
Diante desse quadro, toma-se fundamental e premente a
multiplicao de trabalhos que testem essas questes e proporcionem
anlises de conjunto pautadas em pesquisas empiricamente fundanlentadas,
ampliando assim o alcance das interpretaes. Emergem como temas
importantes para a investigao, entre outros, a fragmentao das elites do
Rio deJaneiro, a nacionalizao da poltica fluminense, as relaes estado-
cidade, as relaes agricultura-indstria, a presena do governo federal.
Neste amplo leque aberto aos estudiosos, a abordagem histrica merece
destaque pela possibilidade que encerra de resgatar as razes de muitos
dos problemas do' estado.
Nossa proposta exatamente discutir a fragmentao das elites
polticas fluminenses e detectar os fatores responsveis pelas dificuldades
para a construo de acordos polticos internos que pellllitiriam a articulao
e a defesa dos interesses do estado do Rio no contexto do federalismo
brasileiro. O ponto de partida que orientou esta reflexo foi a constatao de
que as elites fluminenses, desde o ircio da Repblica, eram portadoras de
uma permanente sensao de perda em relao a uma posio anterior e,
em funo disso, se dedicavam a construir projetos de recuperao de
uma Idade de Ouro localizada no passado cafeeiro e imperial'.
Finalmente, o terceiro objetivo deste trabalho de carter
metodolgico. Pretendo realizar um estudo de histria poltica que
incorpore as novas tendncias deste campo historiogrfico. Depois de ter
desfrutado de um amplo prestgio durante todo o sculo XIX, a histria
poltica entrou em processo de declnio. A fundao da revista
Annales em 1929 na Frana e a criao da VI Seo da cole Pratique
des Hautes tudes, tendo como presidente Lucien Febvre, em 1948,
dariam impulso a um profundo movimento de transformao no
campo do conhecimento histrico. Em nome de uma histria total,
uma gerao de historiadores passou a questionar a hegemonia do
poltico e a defender uma nova concepo de histria onde o
econmico e o social deveriam ocupar lugar fundanlental.
INTRODUO 11
De acordo com essanova proposta, as caractet.sticas que paredamser
constitutivas do estudo do poltico foram apontadas como um resumo dos
defeitos que deveriam ser evitados. Desejosa de ir ao fundo das coisas, de
apreender o mais profundo da realidade, a nova histria sustentava que as
estruturas durveis so mais reais e detenninantes do que os acidentes de
conjuntura. Seus pressupostos eram que os comportamentos coletivos tm
mais importncia sobre O curso da histria do que as iniciativas individuais, e
que os fenlnenosjnscritos em urna longa durao so mais significativos do
queosmovimentosdefracaamplitude.Almdisso,asrealidadesdotrnbalho
eda produo deveriamserobjeto da ateno prioritria dos historiadores, ao
invs daanlise dosregirnespolticos. Enfim, o fundamental era o estudo das
estruturas; O importante no aquilo que manifesto, aquilo que sev, mas
o que est por trs; tudo o que manifesto ao mesmo tempo mais
superficial.
A histria poltica era a anttese dessa concepl'o, pois estava
voltada para OS acidentes e as circunstncias su pernciais e negligenciava
as articulaes dos eventos com as causas mais profundas; era o exemplo
tpico da histria dita vnementielle.Ao privilegiar o nacional, o particu-
lar, O episdico, a histria poltica privava-se da possibilidade de comparao
no espao e no tempo e mostrnva-se incapaz de elaborar hipteses
explicativas ou produzir generalizaes e sinteses que do s discusses
do historiador sua dimenso cientfica. Era uma histria que permanecia
narrativa, restrita a uma descrio linear e sem relevo, concentrnndo sua
ateno nos grandes personagens e desprezando as multides
trnba1hadoras.
A histria poltica reunia portanto um nmero infindvel de
defeitos - era elitista, anedtica, individualista, factual, subjetiva,
psicologizante - que uma nova gerao de historiadores desejava liquidar.
Era chegada a hora de passar de uma 'histria dos tronos e das dominaes
para aquela dos povos e das sociedades'. Segundo Ren Remond, em seu
livro Pour une bsto/re polilique, no se tratava apenas de criticar uma
dada maneira, equivocada, de se fazer histria poltica. O que estava em
questo era um conjunto de postulados sobre a natureza do poltico e O
sentido de suas relaes com os outros Iveis da realidade socia1- "a poltica
era urna pequena coisa na superficie do real".
Contudo, lentamente, este quadro comeou a ser alterado, e a
dimenso poltica dos fatos sociais passou a ganhar novos espaos, o que,
nas palavras de Remond, representou um 'renascimento da histria poltica'.
12 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
A idia de que o poltico tinha consistncia prpria e dispunha de wna certa
autonomia em relao a outras instncias da realidade social ganhava
credibilidade.
Dentro desse quadro de renovao, nossa proposta trabalhar com
O poltico como um campo que tem existncia prpria, e no numa
simples expresso reflexa da ao estrutural das foras econmicas.
Adotando a perspectiva de Pierre RosanvaUon 8, pretendemos trabalhar O
poltico no como uma instncia ou domro entre outros da realidade,
mas como O focus privilegiado onde se articula o social e sua
representao. Essa perspectiva no pretende descartar a importncia do
econmico, mas exatamente buscar uma articulao entre os diferentes
aspectos do todo social.
A partir da definio dessas propostas gerais, construmos quatro
hipteses sobre a trajetria das elites fluminenses:
1. A fragmentao das elites polticas fluminenses funcio-
nou como um obstculo tentativa de construo de um eixo alter-
nativo de poder dominao Minas-So Paulo que possbilitasse
um melhor posicionamento do estado do Rio no contexto do
federalismo brasileiro.
2. A ausncia de uma efetiva integrao entre os setores produtivos
e a elite poltica em tomo de programas de reforma para a agricultura criou
entraves para a obteno de um consenso na poltica fluminense.
3.A proximidade entre o estado do Rio e a capital do pas fez com
que os polticos fluminenses fossem em boa parte absorvidos pela poltica
nacional e tendessem a formular suas propostas com preocupaes mais
amplas em detrimento da defesa dos interesses regionais.
4. As dificuldades de organizao partidria do estado, provocadas
pelo personalismo, constituram outro fator importante da fragmentao
poltica do estado do Rio.
Para discutir e teStar essas hipteses, organizamos o trabalho em
seis captulos. No primeiro, 'As elites polticas fluminenses: projeto e
trajetria', apresento a atuao da elite poltica fluminense e a de seus
principais atores, de maneira a apreender seus problemas, surgidos a partir
da implantao da ordemrepublicana.Aidia bsica recuperar as vrias
tentativas feitas pela elite poltica fluminense na busca de um consenso
poltico que lhe posSibilitasse resgatar, no novo regime republicano, seu
antigo status econmico e poltico.
INTRODUO 13
Osegundo captulo, "A economia fluminense na Primeira Repblica",
apresenta um quadro geral da evoluo da agricultura fluminense, de
modo a fornecer urna base para o entendimento daatuao das elites
polticas do estado. O terceiro captulo, "Projetos de reforma', parte da idia
de que na dcada de 1880 a agricultura fluminense passou a viver crescentes
dificuldades que se prolongaram ao longo de vrios anos. Para enfrentar tais
problemas, setores da elite poltica formularam projetos de reforma que foram
implementados fundamentalmente entre 1898 e 1906, e tinham como
pontosprincipaisa diversificao da agricultura e a mudana da base tributria
do estado atravs .da qiao do imposto territorial rural e da gradativa
eliminao do imposto de exportao. A responsabilidade pela elaborao
dessas propostas coube a umreduzido grupo de indivduos porns definidos
como "ncleo refonnista". Esse ncleo encontrou fortes resistncias por parte
dos demais segmentos da elite poltica em particular e da classe dos
proprietrios de terra em geral, que dificultaram a implementao das
medidas propostas.
O quarto captulo, 'A fora da tradio", pretende recuperar as formas
e os mecanismos de resistncia ao programa de diversificao agricola como
urna alternativa defmitiva e introduo do imposto territorial rural.A preocu-
pao central do captulo explicar as causas dessas resistncias.
O quinto captulo, 'A nacionalizao da poltica fluminense', se dedica
a discutir a tendncia nacionalizao como um fator explicativo para a
fragmentao da elite poltica do estado do Rio.A proximidade do Distrito
Federal e as ingerncias do governo federal foram elementos constantes e
significativos na poltica fluminense. Nossa proposta analisar essa relao
enfocando-a como uma via de mo dupla, ou seja, examinando quais
vantagens e desvantagens que a nacionalizao trazia para a elite fluminense.
O sexto e ltimo captulo, "Fragmentao poltica e questo partidria",
pretende mapeara trajetria dos partidos fluminenses visando a explicar as
dificuldades de instituciona1izao da vida partidria e as conseqncias desse
futo para ainstabilidade poltica. A questo central demonstrar as dificuldades
da elite poltica flwriinen.se em precisar as atnbuies do governo e do partido
oficial, fato que impossibilitou a criao de instncias partidrias capazes de
absorver conflitos.
14 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
Notas
1. Ver FAUSTO, Boris. Estado e burguesiaagroexportadora na Primeira Repblica:
urna reviso historiogrflca. Novos EstudO$ ClIBRAP, n.27, p.126, 127, ju1.1990.
2. PRITSCH, Winston. Sobre as interpreta6es tradicionais da 16gica da poltica
econ6mica da Primeira Repblica. Estudos Histricos, So Paulo, v.1S, n.2.MARTINS
FILHO, .Amcar. CUenteI.ismoe representaciJ polftica em Minas Gerais durante a Primeira
Republica: uma critica a Paul Cmmack, Dados, Rio de Janeiro, n.27, 1984 e Tbt/ wbilt/
collor republ: : patronage and .in Minas Gerais, 1889-1930.
MENDONA, Sma .Regina. Ruralismo, agr;uItut'J2J poder ti Estado na Primeira Repblica
, ENDERS, Armelle. Pouvoir et fdralisme tlU Brsil: (1889-1930).
3. Dos numerosos artigos publicados em 1990 .e 1991, merecem destaque: "0
pesadelo carioca", Veja; 18 jul. 1990j a srie de artigos publicados no Caderno Cidade
do Jornal do nos meses de agosto-setembro de 1990 sob o ttulo "O Rio vai s umas-;
o artigo de Leom:il Brlzola, '"As causas do esvaziamentO,;. Jornal doBrtlSil, 20 jan. 1991.
Pode ser citado tatnbm o seminrio "O Rio de todas as crises-, promovido pelo IUPERJ
em agosto de 1990, cujas palestras foram publicadas na Srie Estudos, IUPERJ, n.80, dez.
1990 e n.81, jan. 1991.
4. LESSA, Carlos. Jornal do Brasil, 18 ago. 1991. Caderno Cidade. DAIN, Sulamis.
Crise econmica. Srie Estudos,n.80, p.1-9.
5. CASTRO, In Elias de. O mito da fleCessidade: discurso e prtica do regionalismo
nordestino. .
6. LE GOFF, Idades mtias. Enciclopdia Einaudl. p. 311. GIRARDET.
Raoul. Mitos fi mitologias polUicas. p.97.
7. lmMOND, Ren (org.). Pour une bistm" politique.
B. ROSANVAllON, Pierre. Paur une hstore conceptuelIe du politique. 'Revue de
Syntese rv;n.1/2, p.93-104, jan./juin. 1986.
1
A elite poltica fluminense:
projeto e trajetria
A ao da elite poltica fluminense
1
ao longo da Primeira Repblica
desdobrou-se em duas direes: na tentativa de administrao doS corlitos
internos e na busca de alianas com outros grupos oligrquicos regionais, de
modo a garantir a estadual e fazer valer o federalismo recm-
implantado frente s incurses intervencionistas do govemo central, afinado
com os interesses do eixo Minas-So Paulo.
Embora se tenha fragmentado em funo de disputas sucessivas, a
elite fluminense tinha inicia1mente um projetocomum:recuperarnaRepblica
um passado de grandeza vivido no Imprio.
O do Vale do Paraba era uma das colunas mestras da
economia do ImprlOj as outras esteiavam.-se nos canaviais
de Campos, da BahJ.a e de Pernambuco. A riqueza das trs
provncias no era s6 o dinheiro com que elas abasteciam. o
tesouro Imperial, mas tambm as elites formadas na sua
opulncia para as artes, a cincia, a poltica, e que deram
nas ltimas dcadas do Brasil monrquico o maior contin-
gente para o verniz da civilizao com que elas brilham. na
histria nacional.
Esta citao de Raul Fernandes, destacado poltico republicano,
mostra com clareza o tipo de imagem que a elite poltica fluminense tinha
de seu passado. 'Prosseguindo na leitura do mesmo documento,
encontramos, a propsito da instaurao da Repblica, a seguinte
afinnao: Velha Provncia cedeu a outras o predomnio na poltica do
pas"
2
Completa-se portanto a representao: em oposio a um tempo de
gl6rlasvivido durante a apresentava-se um tempo de declnio
trazido pelo novo,regime republicano.
Paulino Soares de Souza Neto, ex-monarquista pertencente a uma
faco oposta de, Raul Fernandes, part:illiava o mesmo tipo de viso:
Estvamos aqui no estado acostumados a contemplar, com
a nostalgia imponente da saudade das cousas que no
16 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
voltam, a idade de ouro de nosso passado poltico e
econmico transcorrido no Segundo Reinado. O imprio era
como um parafso perdido de riquezas materiais e morais(. .. )
que deveria ser recuperado ' .
Essa construo do imaginrio poltico da elite fluminense nos remete
a Raoul Girardet, que se estendeu longamente sobre a categoria da 'Idade de
Ouro". Para este autor, a construo da imagem de um passado
excepcionalmente feliz ou catastrfico fundamental para dominar o tempo
e a Histria esatisfazer as aspiraes e inquietaes das sociedades acerca dos
acontecimentos. As vises de um presente e de um futuro definidos em
funo do que foi ou do que se supe ter sido um passado marcam
profundamente a trajetria dos grupos sociais, e por isso mesmo a presena
dessas 4nagens e representaes no deve sernegligenciada. Na nebulosa
complexa, movedia, que a do imaginrio poltico, no h constelao mais
constante e presente do que a da Idade de Ouro, que num Ivel mais
elementar pode ser definida como 'os bons velhos tempos" ou as 'belas
pocas'. Convm observar contudo que essa poca privilegiada gue a dos
fundadores, a da juventude dasinstituies e dos regimes, peffilaOece datada,
localizada na histria, associada a acontecimentos relativamente precisos e
identificveis. Por isso mesmo, a viso da Idade de Ouro no rrtica e no
se confunde com um m p ~ no-datado ou no-histrico '.
Com a1gumasnuances, toda evocao de uma poca privilegiada pela
memria repousa sobre uma oposio fundamental: outrora e hoje, um certo
passado e um certo presente. Em oposio ao 'tempo de antes", um tempo
de grandeza e nobreza, ergue-se um presente descrito como um momento
de tristeza e decadncia, marcado pela degradao e pela desordem, das
quais preciso escapar.
II esta exatmente a representao produzida pelos fluminenses
para resgatar seu passado e traar as linhas de seu presente e futuro.
Como deixam claro as citaes apresentadas, as elites do estado do Rio se
viam como pOSSUidoras de um passado de grandeza, de opulncia, de
uma Idade de Ouro da qual haviam sido despojadas pela crise do trabalho
escravo e pela mudana do regime poltico. Era com base nesse diagnstico
de "perdas' que repensavam os carrnhos a trilhar e delineavam seus
novos projetos. Foi dentro deste quadro e com este tipo de percepo que
passaram a atuar, procurando superar os desafios que se apresentavam com
a nova ordem republicana.
Desenhar uma estratgia para promover a recuperao econrrca e
poltica do estado do ' Rio significava estabelecer uma agenda
A ELitE poLfTici PROJETO E. TRAjETRIA. 17
de prioridades a perseguir. Um primeiro ponto fundamental para as eli
tes fluminenses seria organizar uma fora poltica estvel e coesa, capaz
de arcar com desafios de uma reconstroo econmica interna e
de defender os interesses fluminenses no contexto federal. Incapaz de
lidar com o conflito, a Primeira Repblica levava suas elites polticas regio
nais a buscar o consenso intemo atravs dos partidos nicos estaduais,
J)ica forma de obter estabilidade interna e sucesso na ampliao de seu
ePaonafederao.
1. 'procura cOnSemo
Jos Toms daPorcincula,lder dos republicanoshlstricos, j em
1892 expressava sua preocupao com a "regenerao do EstadO" e a Itfiel
observncia do sistema federativo, falseado no estado do Rio de Janeiro".
Defendendo a necessidade de coeso interna para alcanar esses opjetivos,
afirmava:
assegurar-vos que jamais deixarei de esforar-me para
, que o Estado se convena de que esta poltica de conciliao
a que mais convm aos altos destinos do 7
O primeiro grande ,obstculo que se colocou coeso das elites
fiuminensesfoi exatamente afragllidade da penetrao dasidiasrepubllcanas
no Rio de]aneiro ea ausncia de um grupo poltico republicano capaz de
defend-las e enraiz-las. Na verdade, o primeiro governo republicano
fluminense, chefiado porFrariciscoPortela, nada mais fez do que subordinar-
se ao governo federal e solaparas frgeis bases dos republicanos histricos.
O interesse dePortela em crlaruma base de poder prpria, respaldada pelo
poder federal eindepe:.dente das demais foras polticas estaduais, provocou
uma dosrepublicanoshistricos com os antigos monarquistas,
lideradospelo conseJ.Vador onselheiro Paulino Soares de Souza. Essa aliana,
que tinha todo interesse em lutar pela vigncia do federalismo- vale dizer,
pelo respeitoautonomiaestadual-visava, na prtica, conquista dopoderB.
A queda de Deodoro, e conseqentemente de seus representantes
nos diversos estados, afastou Porte1a e possibilitou a ascenso desse grupo,
em. principio heterogneo, 'que a partir de abril de 1892 se reuniu no Partido
Republicano Flumineose, oPRF. Instalados no poder,
liderados pelo ConselheiroPaulino, e os republicanos histricos,
18 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
Pordncula,procur.uamconsolidaraunidadeconslrudaduranteascarnpanhas
oposicionistas. Tratava-se, inicialmente, de estabelecer regras de
relacionamento de maneira que as inevitveis divergncias de interesse no
ameaassem a ordempoh1ica. Erafundamental que a disputaintra-oIigrquica
pen;nanecesse subordinada ao interesse de manter estvel a coalizo,
condio necessria ao usufruto da autonomia estadual-.
Se o penodo que se seguiu foi marcado por um padro de relativa
estabilidade, garantida por uma sintonia entre a situao fluminense e o
governo federal, isso no significou, porm, que os problemas estruturais que
ameaavam a economia do estado tivessem sido enfrentados ou que as
dificuldades para se, obter a unificao da poltica fluminense tivessem sido
vencidas. O quadro de estabilidade comeou a sofrer alteraes a partir de
1896, quando a economia fluminense passou a apresentar sinais de uma
verdadeira crise.
Paralelamente ao agravamento da situao econmica, comearam a
surgir os primeiros sintomas de eroso da aliana poltica que controlava o
governo. Os principais focos de conflito resultaram de disputas regionais,
especialmente das reivindicaes de lideranas campistas mais expressivas,
como o Baro de Miracema, que desejavam um espao poltico mais amplo
na estrutura de dominao do estado. A resistncia a essa demanda por
parte da cpula do PRF, constituda porPorcincula, ConselheiroPaulino e
Alberto Torres, provocou um acirramento das divergncias. Mas o equilibrio
mantido pelo governo fluminense s foi realmente ameaado quando os
grupos dissidentes passaram a se articular entre si ou cor.l faces atuantes
na poltica nacional- ou seja, quando o grupo campista se aliou a elementos
dissidentes de Nitefi, aPortela, e aos opositores do presidente da Repblica,
Prudente de Moraes 10.
O quadro de instabilidade que comeou ento a ser desenhado
agravou-se seriamente em 1898, quando o recm-eleito presidente do
estado,Alberto Torres, decidiu afrontar as principais lideranas fluminenses,
Porcincula e Conselheiro Paulino, negando-se a intervir no conflito do
municpio de Campos, em que se": 'frontavam aliados destes e partidrios do
BarodeMiracema, principal liderana local. Embora esses desentendimentos
sejam atnbudos a disputas de ordem pessoal e as divergncias em tomo de
questes econmicas no sejam claras e visveis primeira vista, deve-se
buscar suas razes mais profundas.
A questo central a ser pensada que as divergncias de carter
pessoal-clientelstico que marcaram a crise poltica de 1898 no excluem por
A ELITE POLtTICA FLUMINBNSE: PROJETO E TRAJETRIA 19
sis6osfatoresde natureza econmica. Se verdade que no primeiro ano do
governo de Alberto Torres, antes que fosse consumada a ciso poltica, seu
programa de recuperao econmicafoiaprovado pela totalidade das foras
polticas estaduais representadas na Assemblia Legislativa, no devem ser
esquecidas as resistndas enfrentadas . .As medidas inovadoras propostas,
como a difuso da pequena propriedade, o aproveitamento do trabalhador
nacional, a diversificao agrcola e a transformao da base tributria do
estado, com a criao do imposto territorial e a reduo do impOsto de
exportao, provocaram forte reao por parte dos proprietrios rurais.
possvel supor que a faco paulinista do PRF, mais ligada aos grandes
proprietrios, embora consciente danecessidade das medidas que ajudou a
aprovar, temesse seus efeitos.
Por outro lado, do ponto de vista poltico-ideolgico, enquanto
a cpula do partido era marcada por um maior compromisso com o passado
imperial, traduzido na continuidade da liderana do Conselheiro Paulino,
atuante desde a dcada de 1870, o grupo de Alberto Torres abrigava polticos
mais jovens,influendados pelas lutas abolicionistas e republicanas
11
.As declaraes do deputado estadualAndrWemeck, ainda que uma
voz isolada
J
podem ser pensadas como um indicativo nessa direo. Ao
explicar os motivos de suas divergncias com Alberto Torres, o deputado
declarou que estasno estavam ligadas aos conflitos municipais de Campos;
mas competncia do presidente do estado para solucionar a crise da
cafeicultura fluminense. A Seuver, Alberto Torres,
em absoluto a situao econOmlca do
estado que finge administrar, no tendo bebido nas tradies
a grandeza do seu passado, no o havendo percorrido, e
bem assioi jamais tendo viajado e penetrado nos outros
estados cafeeiros da Unio, no pode avaliar das verdadeiras
causas que fazem as finanas do nosso estado cair em
profunda decadncia e, de envolta com esse desc1abro, a
fortuna: particular; tambm no pode ajuizar dos verdadeiros
motivos que agem para fazer a decadncia dos outrora.
prsperos municpios e a tendncia constante e progressiva
da emigrao dos seus habitantes. C .. ) H bem pOucos anos
era o estado do Rio de janeiro o primeiro da Unio,
representava nas flnanas internacionais a riqueza do Brasil;
- hoje, proporo que outros estados da Repblica aumentam
20 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
as suas rendas, crescem de populao recebendo em massa
imigrantes espontneos, o nosso estado, ao inverso desse
apresenta amais triste cenrio: territrios
enormes abandonados em virtude do esgotamento de suas
terras, cidades em runas, populao emigrando, movida
pelas dificuldades naturais e pelas que foram criadas pelo
atual governo i dar, como conseqncia, o decrscimo
asSustdor da renda pblica.
Em vista disso, explica que
no podia, por conseqncia, eu fluminense, acompanhar
a Um. homem que apresentava, como soluo ao j contristador
espectculo da aflio dos habitantes do estado, novos nus
lanados pelo fisco sobre os produtos cuja exportao o
sinI entristecedor de uma populao cheia de necessidades,
de privaes e de abatimento. I Z
As declarae5 deAndrWemecksodaras quantossuas divergncias
com a poltica econmica do governo. Mas esta constatao no nos pareoe
suficiente para que possamos atribuir a crise poltica a divergncias
programticas entre dois grupos. Qual nosso ponto ento? fi exatamente
articular esses dois tipos de argumento. De um lado, a crise tinha um
componente de curto prazo marcado por disputas p=nalistas pelo poder,
mas,deoutro, devemigualmenteserrecuperadas as divergncias e dificuldades
defundo,quese no foram o estopim imediato da ciso,fomecerammunio
para que conflitos e divergncias antigas e substantivasse acirrassem, fa2endo
explodir a aise.
O conflito entre o grupo do Conselheiro Paulino e Porcincula e o
grupo dominante campista sem dvida abriu um espao que pennitiu a
Alberto Torres atuar com maior margem de autonomia. Em lugar de alijar as
foras do norte fluminense at ento margina1i2adas pelas lideranas
situacionistas,Alberto Torres preferiu aliar-se a elas, pretendendo comissover
implementado seu programa de govemo. Rompeu assimcom o Conselheiro
Paulino e com Porcincula, que passaram oposio, e fundou o Partido
Republicano do Rio deJarieiro, o novo partido da situao. No entanto, a
diviso poltica do estado apenas aumentou a instabilidade e impediu que as
medidaseconmioo-financeiras preconizadasfoosem aplicadas e produzissem
resultados concretos 1 J.
FUNDAO GETLIO VARGAS
Biblioteca Mrio Henrique Simonsen
A ELITE l'OL1TICA FLUMINENSE: PROJETO E TRAJETRIA 21
Foi nesse quadro problemtico, tanto do ponto de vista econmico
quanto do poltico, que comeou a despontar a liderana de Nilo Peanha,
jovem deputado federal campista Ugado ao Baro de Miracema, com forte
militncia no movimento jacobino do lUo de Janeiro na primeira dcada
republica.na.Aproveitando-se da fragmentao das foras polticas do estado
e de suas boas relaes com o presidente da RepbUca Campos Sales, que
ento implantava no pas a chamada "poltica dos govemadores"
l
4, Nuo
Pean..1uiria reunir condies para iniciar uma escalada em direo ao poder,
nwnprocessoque se desenrolou em diversaS etapas e deuorigemfonnao
de umnovo e poderoso grupo na poltica fluminense.
Em um primeiro momento, Nilo Peanha associou-se ao ento
presidente do esta 40 Alberto Torres e a seus seguidores, em especial um
expressivo grupo de pob:tlcos de Petr6polis liderados por Hennogneo Silva,
e a antigos elementos oposicionistas de Niteri ligados ao ex-govem.ador
Ftanc:iscoPorte1a. ontando com essa heterognea base de apoio, as foras
do norte fluminense lideradas por Nilo ganharam cada vez mais espao na
poltica estadual. As eleies realizadas ao longo do ano de 1900, primeiro
teste do funcionamento da poltica dos governadores, foram fundamentais
para concretizara derrota da faco de Porncula e do Conselheiro Paulino
e, o que mais import.nte, para garantir o controle do PRRJ pelo gruporillista,
em detrimento da faco ligada a Alberto Torres, que tinha como candidato
natural ao governo do est;a:do o poltico de Petrpolis Hennogneo Silva'l.
'Tendofonnado seu pr6priogrupo e aumentado SUa fora durante os
governos de Alberto Torres e Quintino Bocaiva, em 1903 Nilo assumiu
diretamente o podere dedicou-se montagem de uma mquina pol'tica que
lhe garantisse um longo perodo de dominao. O alargamento das bases
nilistasimplicava, de um lado, a unificao da poltica fluminense sob sua
liderana e, de outro, o desenvolvimento de programas de recuperao
econffico-fi1'lanceira para o estado. Essas preocupaesflZeram com que
Nilo deixasse cada vez mais de ser uma liderana representativa do norte
cmpista aucareiro e ampliasse o escopo de sua sustentao poltica,
incotpOratl.oo elementosligdosa diferentes atividades econmicas e oriundos
de diferentes regies, em especial do Vale do Paraloa.'
Mais uma vez as elites campistas viam frustrar-se suas pretenses de
controlar a poltica do estado. verdade que a ascenso de Nilo Peanha
ampliou seu espao na poltica estadual, mas isto estava longe de expressar
uma predominncia campista nas alianas que sustentavam o grupo nilista.
22 HM BUSCA DA lDAOH OH OURO
Ao contrrio, as diretrizes e decises da poltica econmica voltavam-se
essencialmente para a cafeicultura, no merecendo oacatmaiordestaque'.
Estas dificuldades da elite campista podemser pensadas nos como
conseqncia da posio secundria que o acar ocupava na pauta das
exportaesfluminenses, mas tambm como resultado das transfonnaes
oconidas no seio da elite agrria aucareira campista no final do sculoXlX.
Com a crise do trabalho escravo e as dificuldades de modernizao do setor
aucareiro, ocorreu uma renovao da elite local. Os antigos senhores de
engenho perderam p05ies para elementos at ento estranhos atividade,
que passaram a controlar o setor com a fundao de grandes usinas. Esses
novos usineiros - dos quais Lus Guaran o melhor exemplo -, recm-
ingressados na vida poltica do estado, no tinham uma articulao mais
estreita com a tradicional elite fluminense.Assim, os polticos de Campos que
tinhamumaparticipao poltica maisativa frente a outros grupos dominantes
no estado eram oriundos dos setores econmicos menos poderosos, os
plantadores de cana, proprietrios rurais que no tinham conseguido se
engajarnum processo de renovao para tornar-se usineiros. As familias dos
chefes polticos CesarTinoco e Ramiro Braga exemplificam essa situao".
Ano predominncia de umsetor espefico como base de apoio sem
dvida daria a Nilo Peanha uma maior autonomia na tomada de decises.
Respaldado numa refonna constitucional realizada em 1903, que fortalecia o
Poder Executivo estadual", Nilo iniciou seu governo buscando adeses
atravs da cooptao ou, quando necessrio, da coero.
Apresentou iguahnente um plano para enfrentar os problemas mais
agudos da economia fluminense, que, apesardebem-estruturado,no tinha
maior originalidade: em linhas gerais, reeditava as propostas de Alberto
Torres, apenas procurando amenizar as medidas mais polmicas de modo a
facilitar sua aceitao pela classe dos proprietrios rurais. A administrao
rlista seria marcada porumsevero programa de saneamento das frnanas
pblicas que visava a reduzir os gastos do estado e a ampliar a receita atravs
de modificaes no sistema tributrio, e ainda pela implementao de um
conjunto de medidas destinadas a incentivar a produo. Mesmo sem
abandonara cafeicultura e a lavoura aucareira, Nilovia na diversificao da
agricultura a principal sada para a crise da economia fluminense. Tal
convico vinha reforar a viso agrarista, ento em voga, que exaltava
a agricultura como. a atividade bsica da nao, apontando como
evidncia lgica dessa afirmao a dependncia das cidades em relao ao
campo. Com isso foi tambm descartada qualquer inteno oficial de criar
incentivos para atividades industriais.
A ELITE POLfTICA PLUMINENSE:PROJETO E TRAJETRIA 23
2. Blite reglonal, elite nacional: uma voz dissonante no
coro das
Os esforos realizados por Nilo Peanha nointerlor do estado foram
acompanhados de articulaes destinadas a ampliar seu prestgio na poltica
federal. O objetivo desse projetonaciona! era alcanar uma maior margem de
manobra para 05 grupos dominantes fluminenses, comvistas a alterar o status
poltico do estado do,Rio no contexto da federao.
Assim. como'Pernambuco e Babia, o estado do Rio havia ocupado uma
posio-chave na sustentao do Estado imperial, mas, com a proclamao da
Repblica e o agravamento da crise econmica, fora relegado a U1l'l papel
secundrio. No federalismo implantado com a Constiijlio de 1891, os trs
estados ocupavam, portanto, posies equivalentes, tendo sua autonomia no
campo poltico grandemente limitada e seusinteresseseconmico-financeiros
subordinadosaosestad.c:6dominantes,Minas Gerais e So Paulo. O Rio Grande
do Sul, por seu lado, embora desfrutasse de uma posio privilegiada,
ressentia-se igualmente da dominao mineiro-paulista, tendo inmeras
vezes seus interesses prejudicados 19.
A insatisfao dos estados de segunda grandeza diante de taldeSquilibrlo
aiou condies para0 surgimento de iniciativas de resistncia domino
oficial. A meta das faces dominantes desses estados era um. maior
participao no sistema federalista, o que implicava uma melhortepartio
do poder entre os grupos regionais .
.Amilcar Martins, em seus trabalhos sobre as elites poltlcasmineiras na
Primeira Rpblica, lana a hiptese da formao de um eixo alternativo de
poder aglutinando interess,es de grupos oligrquicos secundrios. Snia
Regina Mendona refora esse tipo de perspectiva ao analisar o ruralismo
bn1SileironaPrlmeira Repblica comourntnovimentopoltcode organizao
dasfrnOesagrrlasnohegemnicas.Aautora demonstra como aSodedade
Nacional de Agric:u1tura, fundada em 1897 com o objetivo de discutir a
modernizao da agrlcultura do funcionou como umlocuspriVilegado
para canalizar as oo1'la1}das 1e segmentos rurais no contemplados pela ao
pblica e exerccopapel de grupo de presso junto ao govemofederal. Sem
contarcomproprietrios paulistas em seus quadros, a SNAseria controlada por
porta-vozes da agricultura fluminense, gacha e nordestina 20.
O perodo <;le dominao nilista no estado do Rio, que seiniciou em
1903, pode tambm ser interpretado como uma luta pela crlao de um eixo
alternativo de poder. Se em diversas oportunidades Nilo Peanha finnou
24 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
acordos, artirulou-se e mesmo submeteu-se s oligarquias mineiras e paulistas,
isto no impediu. que sua posio ea de seu grupo divergissem das
orientaes traadaspe10s 00s grandes estados,Minas e So Paulo, evidenando
tentativas deapraximaocom Bahia ePemarribuco, e emalgun.smomentos
com Rio Grande do Sul, na busca de apoio para seu projeto polticonadonal.
O acompanhamento da atuao do grupo de Nilo Peanha aoloQgo
de seu perodo de dominao e m o n s ~ a convivncia permanente com a
ameaa de instabilidade e fragmentao. A despeito da construo de uma
mquina poltica que lhe garantiu quase vinte anos de permannanopoder,
a to almejada unificao da poltica fluminense nunca chegou a ser alcanada
em termos duradouros e estveis. Na vercl.;\de, os curtos momentos de
estabilidade coincidiram om perodos de consonncia entre o governo
fluminense e o govemofederal,o queomprovaafora e a eficcia da poltica
dos governadores e os riscos que corriam o desafi-la os estados de segunda
grandeza. A postura rebelde de Nilo Peanha diante de detenninadas
orientaes da poltica dominante acarretaria constantes interferncias do
governo federal nas questes internas fluminenses, visando"sempre a
estimular dissidncias e fortalecer grupos de oposio, ou seja, a erodir as
basesnllistas. '
J por ocasio da aise do governo Prudente, quando ocorreu o racha
do Partido Republicano Federal (PRF), ficaram evidenciadasamculesde
elementos oligrquicos regionais, como Pinheiro Machado, Nilo Peanha,
Quntino Bocaiva.e mi1itares jacobinos do Distrito Federal sob a liderana de
Francisco Glicrio. Podia-se perceber uma aproximao de interesses entre
castelistas, jacobinos e elementos dissidentes da poltica fluminense em
oposio consolidao da alianaMinas-SoPaulo,lideradaporPrudentede
Morais. O fortalecimento dopresidente paulista aps uma fracassada tentativa
de assass.inato, eposterionnente aafinnao da candidatura Campos Sales,
levaram contudo dissoluo dessa composio p oltica que representava os
primeiros passos ria montagem de um projeto alternativo de Repblica 21
A vitria de Campos Sales significou o fim da crise de instabilidade que
marcou a primeira dcada do novo regime J e a poltica dos governadores
ento inaugurada" pode ser interpretada como um evento matriz que garantiu
a implantao de um novopacto poltico. Esse pacto imprimiu um tipo de
cultura poltica 22 pautada no confmaIllento dos conflitos polticos no lVel
estadual, na eliminao cios partidos naionais, e na eternizao dassituaes
no poder, inviabilizando as iniciativas oposicionistas de atingir o poder.
A ELITE POLfTICA FLUMINENSE: PROJETO E TRAJETRIA 25
A alternativa para as foras at ento dissidentes era a retirada do
cenrio poltico, tal como aconteceu com os jacobinos, ou a incorporao
nova ordem, como fizeram Pinheiro Machado, Nilo Peanha e Quintino
Bocaiva. Nilo Peanha passou de oposicionista, a articulador de Campos
Sales, visando aprovao das medidas necessrias ao funcionamento da
poltica dos governadores. O resultado dessa nova aliana foia possibilidade
do controle do estado do Rio, como j foi dito. mas ao preo da obedincia
regra bsica da poltica dos governadores: as situaes estaduais deviam
funcionar sempre em consonncia como governo federal e emtroca teriam
a garantia da no interferncia federal em seus assuntos internos.
Essa postura adesista de Nilo Peanha ao oficialismo federal teve,
entretanto, vida curta.J durante a presidncia de Rodrigues Alves (1902-
1906), Nilo, COlllO pre$idente do estado do Rio deJaneiro, entrou em rota de
coliso com o Executivo federal na defesa de alguns pontos relevantes para
osinteressesflumine:nses, como aexplocao de areiasmonazticasencontradas
no estado do Rio e a criao do imposto de importao sobre produtos
similares aos produzidos no estado.' .
o aprofundamento dessa postura dissidente ganharia impulso com o
surgimento de novas possfbilidades de articulao com setores oligrquicos
divergentes da poltica oficial, materializadas a partir da sucesso de Rodrigues
Alves. O lanamento da candidatura do paulista Bernardino de Campos,
patrocinada pelo presidente da Repblica, foi a pedra de toque que
Pinheiro
Machado, Gllcrio, Quintino Bocaiva e Nilo Peanha, contra o candidato
oficial. o passo seguinte foi o apoio ao mineiro Afonso Pena e a indicao do
nome de Nuoparaa Vice-Presidncia. Goma vitria da chapaPerui:Peanha,
a estratgia adotada e a organizao do chamado O Bloco, coligao poltica
que visava a sedimentar a aliana daqueles que tinham rejeitado <> esquema
inicial paulista e sustentado a candidatura Pena, e agora pretendiam
tutelar seu governo 23.
Esse foi mais um episdio do longo processo de tentativa de
articulao dos estados secundrios no sentido de fazer frente hegemonia
deMinas e So Paulo. Essas iniciativas, no enta1to, eram sempre onerosas, e
abtiaDl a possibilidade de intervenes do governo federal nos assuntos
internos dos estados. A eleio de Nilo Peanha para a Vice-Presidncia da
Repblica na chapa de Afonso Pena em 1906 e seu engajamento no Bloco,
um passo importante emsua trajetria poltica
26 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
nacional, inaugurou no estado do Rio um perodo de aguda instabilidade
que se prolongaria at 1915.
Com o afastamento de Nilo do governo do estado, a neutralizao das
oposies ao nilisnio e das resistncias ao seu programa de reformas foi
imediatamente comprometida. O movimento anti-refornsta que ento se
delineou procurou atingir aqueles que tinham sido os pontas-de-lana dos
projetos mais polmicos da gesto nilista, Oliveira Botelho e Leo Teixeira.
O primeiro,vice-presidente do estado e sucessornatural de Nilo, teve seu
nomevetadoparacompletaromandato". Obeneficiriodessasresistncias
folAlfredoBacker, que acabou sendo eleito presidente do estado doRio, num
pleito no planejado inicialmente, como candidato de conciliao.
Se as divergncias surgidas em 1906, logo aps a renncia de Nilo, e
que resultaram na marginalizao de Botelho e Leo Teixeira, foram num
primeiro momento aparentemente contornadas, um poucomaistarde, com
Backerj empossado no governo, a cisose consumou. Aglutinando oantigo
ncleo oposidonista dos herdeiros do Conselheiro Paulino" (que reunia
Miguel de Carvalho, Belizrio Soares de Souza, PaulinojosSoares de Souza
jr., Luiz Paulino Soares de Souza ejlioVerssimo dos Santos),setores da elite
politica que, embora integrados situao, mostravam-se insatisfeitos com o
programa de reformas de Nilo Peanha, e at mesmo estreitos colaboradores
do nilismo como Henrique Borges e Teixeira Brando, Backer abriu espao
para que insatisfaes latentes ou antigos ressentimentos viessem tona e
provocassem uma ciso mais profunda 26 em tomo da questo da cobrana
da sobretaxa do caf, que de fato estava longe de ser a raiz do problema,
sendo apenas a forma como ele se manifestou. .
No decorrerdesuaadministrao,Backerviria confirmaras divergncias
entre o novo grupo que se constitua e os nilistas em tomo da-poltica
administrativa e de obras pblicas, bem como em relao ao tratamento do
fundonalismo pblico. O prprio programa econmico sofreu alteraes,
tendosido proposta uma alternativa de diversificao agrcola que novisava
policultura, mas ao desenvolvimento de um outro gnero que pudesse
substituir o caf e fosse voltado para a exportao 27.
Essas divergncias internas seriam ainda mais agravadas pela posio
do presidente da Repblica,Afonso Pena, que, visando a neutra1izar a ao
de Nilo em nvel nacional, lanou mo de todos os recursos para ver
concretizada a ciso Nilo-Backer, provocando assim a perda parcial do
controle da poltica fluminense pelos nilistas".
A BLITE,POLfTlCA.PLUMlNENSE: PROJETO B TRAJETRIA 27
Areverso desta situao ea retomada do controle poltico do estado
do Rio pelas nilistas deveu-se morte de Afonso Pena e ascenso de Nilo
Peanha, entovice-presidente
J
chefia do pas. Neste novo contexto, o
grupo nilista. passou a dispor de todos os instrumentos para neutralizar seus
opositores e estabilizar a poltica fluminense a seu favor,A ascenso de Nilo
Presidncia da Repdblica daria tambm novo alento s foras oligtquicas
que preconizaram a consolidao de um eixo altemativode poderao domnio
de Minas e So Paulo. Foi nessa curta conjuntura que finalmente se
concretizou a criao do Ministrio da Agricultura, proposta. elaborada e
longamente defendida pela Sociedade NacionalclaAgricultura. Essa iniciativa
certamente pode servista como a vitria, pelo menos parcial, dos interesses
gachos, e nordestinos 29.
Do ponto devista eleitoral, a presidncia nilista abriu novOs espaos
para o fortalecimento dtO Bloco e das oligarquias regionais, decididas a
criar obstculos dominao dos dois grandes estados. Foi nesse sentido que
Nilo Peanha propiciou a ttansfonnao da candidatura de, Hermes da
Fonseca de oposiciolStaemsituacionista, gan:mtindo finahnentesua vitria
contra Rui Barbosa. ' ,
Com o goverlo Hermes da Fonseca, pareda que finalmente uma nova
configurao poltica. se consolidaria, reunindo os antigos aliados do Partido
Republicano Federal. Essa continuidade parecia se manifestar no s6 nas
e NoPeanha, alm de segmentos militares envolvidos no passado com o
jacobinismo -, mas na prpria criao de um novo partido, 0_ Partido
RepubJicanoConsetvado.r(}lRC),lideradoporPinheiroMachado,que guardava
traos bastante semelhantes aos de seu congnere dos anos 90
30
,
No entanto, as pOSSlbdades de consolidao dessa articulao logo se
mostraram precrias pelas prprias dissidncias internas das foras que
apoavamHermes: Logo de inicio ocorreu a ruptura Nilo Peanha-Pinheiro
Machado, e a seguira prpria polticasalvaclonista, ao desalojaras oligarquias
domnantesdospequenos estados, aiou'profundos atritos.
Aruptum Nilo peanha-PinheirO Machado traria srias conseqncias
para a poltica fluminense. Em 1913 novamente conflitos internos se
manifestavam e a fragmentao batia s portas da elite fluminense . .As
posies de Nilo Peanha na poltica nacional, oferecendo resistncias
administmo Herines da Fonseat e posterlonnente tentando artic:ularsua
candidatura Presidncia da Repblica como apoio de Dantas Barreto, de
28 EM BUSCA DA IOADE OE OURO
Pernambuco, destoavam das regras bsicas da poltica dos governadores,
segundo as quais as situaes estadllais deveriam atuar em consonndacom
as diretrizes da federal. Com isso abria-se espao para que o
presidente Hermes
neg6dos polticos fluroinCWSes, visando a.minar as bases nilistas no estado. O
resultado deS$3$iniciatiyas federais foi provocar uma nova ciso poltica,
colocando em camPQSopostos Oliveira Botelho, presidented.o estado, e Nilo
Peanha. Frustravam-se assimnova,m,ente as intenes de consolidao de
um consenso da a 1iderana. de Nilo, com a reativao dos
grupos oposicioniStas formados pelos her.deiros do Conselheiro Paulino
llderadosporMiguel de Calvalho, elementoorecm-ingressadosna poltica do
estado, comoFelianoSodr, e dissidentesnilistas
31
Ainda assim, mais uma vez Nilo conseguiu se recuperar, elegendo-se
pelasegunda do estado em 1914 emantendo o controle sObre
a poltica fluminense nos anos seguintes. Essa fase de maior estabilidade
deveu-se a umamaioraproxilriao da situao fluminense com o gOverno
federal. O afastamento de Nilo Peanha do governo do estado do Rio em
1916, para ocupar o cargo de ministro das Relaes Exteriores do governo ,
Wenceslau Braz, e$teVe longe de provocaras tumultos que
primeiro afastamento da doExecutivo flurnineI)$e em 1906
32
A diferena ruil<:iamental entre as duas conjunturas que, em 1906, a
participao de Nilo Peanha. na poltica nacional ocorria como resultado das
investidas iniciais dos estados de segunda gran.deza, sob a liderana do
representante do Rio Grande do Sul, Pinheiro Macha do , para constituir um
eixo alternativo de poder que se antepusesse dominao do eixo Mflas-So
Paulo. Isto significa dizer que tal comportamento se caracterizava por um
padro daOrciem oligrquica estabelecida pela poIrtica dos
governadores, que implicava em um federalismo desiguaL A conseqncia
dessa postura de rebeldia, no caso fluminense, foi a futerveno'federal
estimulando os conflitos e.as dissenses intemas latentes, fruto das iesistncias
de da elite ao prograll)a de refonnas idealizado por Nilo
\.
J a participao de Nilo na cena nacional em 1918 inseria-se numa
conjuntura poltica com outras caractersticas. Ao invs de conter traos
desestabilizadores para o sistema, represen.tava 1.Ullmomento de refluxo das
investidas dos estados de segunda grandeza para ampliar seu espao de
atuao. Pinheiro Machado, j antes de sUa morte, tinha perdido eSpao com
a eleio de Wenceslau Braz, e oeixo.M.inas-So Pulo atuava para incorporar
, A ELiTE POi.f'tICA FLUMINENSE':' E TRAJETRIA' 29'
a postura do governo federal nesse caso era a de fortalecer sua liderana na
poltica fluminense, dando-lhe os instrumentos para sufocar seus opositores.
Internamente, a conjuntura de 1916 era tambm extremamente diversa. O
fantasma da crise econnca do comeo do sculo estava afastado, e ainda
que o programa do segundo governo de Nilo contivesse as mesmas teses do
primeiro, suas inidativas para implement-las foram certamente muito mais
tnidas, resultando, em conseqncia, em poucas resistncias internas.
Este quadro se alterou profundamente nos ltimos dois anos da fase
da dominao nilista, quando novas divergncias entre o governo federal e
o lder fluminense comearam a eclodir em decorrncia das pretenses de
NiloPeanhaPresidnda da Repblica e de seu engajamento no movimento
oposicionista da Re,ao Republicana 33 na sucesso presidencial de 1922.
Finahnente,as inmeras tentativas de articulao dos grupos oligrquicos de
segundagrandeza
J
cqm vistas viabilizao de um eixo alternativo de poder,
ganharam consist'nda.Areunio dos estados de, Rio Grande do SUl, Bahia,
Pernambuco e Rio de]aneiro em tomo da candidatura de Nilo Peanha para
a Presidncia da Repblica, em oposio ao nome de Artur Bemardes,
apoiado pela aliana Minas-So Paulo, revelava plenamente aS tenses
regionais inter-oligrquicas e as distores do federalismo brasileiro, ao
levantar como bandeira o combate ao !liniperialismo dos ..
No plano econnco, a Reao Republicana relanava asvelhas teses
defendidas pela Sociedade Nacional de Agricultura e pelo prprio Nilo
Peanha, enquanto presidente do estado do Rio. Os pontos centrais eram a
diversificao da agricultura e a necessidade de auto-sficincia n produo
de alimentos. No que se refere agricultura de exportao, embora fosse
reconhecida a importnda do caf, defendia-se a necessidade de ampararas
demais'culturas, como o acar, a borracha, o cacau. As propostas apresentadas
visavam a questionar a hegemonia dos programas voltados para a defesa d
cafeicultura e precOnizavam o apoio governamental para as atividades
fundamentais de interesse dos grupos regionais secundrios. A candida.tuta
de Nilo Peanha Presidncia da Repblica foi derrotada, e o preo dessa
derrota foi a desarticulao da aliana entre os estados de segunda
deza que visavam a fazer frente aMinase So Paulo, eo fim do dollnio nilista
no estado do Rio 34. '
Aintetvenofederalno estado do Rio, decretada por Artur Bemardes,
significou o desalojamento donillsmo de todas as posies de que desfrutava
30 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
no quadro poltico estadual e, simultaneamente, a ascenso de um novo
grupo, liderado por Feliciano Sodr, que articulava diferentes faces
oposicionistas fluminenses, tais como os herdeiros do Conselheiro Paulino,
liderados por Miguel de Carvallio, opositor(;;s mais jovens como Manoel
Duarte, ou ainda eX-nilistas dissidentes comoOllvei11l Botelho, Teixeira
Brando e Henrlque Borges 36 Como dosniljsta$, a nova situao
conseguiu diminuir o nlvel dos conflitos A possibilidade de uma
do estado do Rio com o governo federal. Empouco tempo, porm, essa
assodaose revelaria fatal: deposto pela Revoluo de 30, Washington Lus
arrastaria emsua queda seus aliados t1wt.inenSes.
A nova conj1lritura aprofundaria a fragmentao poltica das elites
polticas do estado do Rio de tal maneira que mesmo as faces
identificadas com a revoluo no tiveram de impor um
elemento fluminense para a direo estadual ao longo dos anos 30. Assim,
a interferncia de lideranas polticas de outros estados seria uma
constante. Lutando com dificuldades econmicas agravadas pela crise de
1929, o estado do Rio deixou a Primeira Repblica sem que as metas
bsicas traadas no incio da era republicana tivessem sido atingidas. A
busca da Idade de puro mantinha-se como uma utopia.
Um balano da trajetria das elites fluminenses pennite a constatao
de uma caracteristica bsica - sua permanente fragmentao, impedindo
ummellior desempenho no plano federal de maneira afazervaler, de fato,
um federalismo menos desigual 36 '
Notas
1. A utilizaio do conceito de eHte deveu-se necessidade de contar com um
instrumento de anlise que possibilitasse uma delimitao mab espec!fica dos grupos e
subgrupos que atuavam na poltica fluminense. Assim
l
por elite poltica clesignaremos os
grupos que, no perodo estudado, monopoUzavam OS mecanismos de poder mantendo
vInculos com a classe econmica e socialmente dominante. Ao destacarmos esses grupos,
estamos querendo evitar o rgido determinismo dos fatores mo polticos, particlarmente
econamicos, sobre as decis5es polticas. Sem pretender negar a base classista da elite
politica fluminense} chamar a ateniopara o fato de ela no el'lgotar sua ao
como a representante. dos propde,trios de terra, ou como uma simples executora dos
desta classe dentro do aparelho de Estado. Ver CARVALHO, Jos Mutilo de. A
construo da ordem .. p.19-22.
Contudo, a pertinncia do uso do conceito de elite poltica no resolve os
problemas de sua delimitao. Seguindo a: orientao proposta por Christophe Charle em
les lites de la Republique (1880-1900), p.3, no ,recortaremos as elites fluminenses a partir
A ELITE POLITICA FLUMINBNSE: PROJETO E TRAJETRIA 31
de defmies apoiadas em citaOes de grandes autores, mas a partir do nosso prprio
objeto de estudo - os indiv[duos que ocupavam cargos no Executivo e no Legislativo
flumineruse. Tomando esse ponto de partida, definimos como elite poltica fluminense
08 senadores, deputados federais e estaduais, presidentes de estado, vice-presidentes.
secret:lrios de estado e membros dascomiS8es executivas dos principais partidos.
1. FERNANDBS, Raul. A redeno. In: O caf no segundo centenrio d, SU4
Inh'OUflio no Brasil. v.l, pA6-47.
3. SOUZA NETO, Paulino Soares de. O esplrito ideol6gico de Feliciano Sodr.
~ !n:LE1:m. Manoel Bastos. O lIStadO do RIo ,8tfUS homem. A despeito das dificuldades que
as elites polfticas fluminenses enfrentavam. elas acreditavam r u n ~ r algumas condlOes
para reverter esse quadro. Uma delas era o tamanho de sua representa10 na Cimara
Federal, ocupando o terceiro lugar, empatada com Pemambuco. com 17 representantes.
sua frente estavam Minas, com 37 deputados, e .em segundo lugar So Paulo e Bahia
com 22j em quarto lugar estava situado 'o Rio Grande do Sul, com 16 'representantes.
4. GlRAROBT. 'Raoul. Mitos ti miJologlllS poli'tictl3. p.97-98. 101. LE GOFF, ]acques.
Idades mrtlcas. Bncklopidla Binaudl. p. 311.
S. GlRARDET,' Raoul. 0.1'. clt., p.98, 105.
6. Idem.
7. Discurso de Jos Tom da Porcincula. Anais da Assemblia Conslitutnttl elo
atado do Rio de ja'nlllro. 1892. p.33.
8. O Conselheiro' Paulino Soares de Souza, filho do lder conservador Visconde
do Uruguai, foi a prlr1cipal liderana poltica fluminense nas ltimas duas dcadas da
monarquia. Poi chefe do Partido Conservador da provncia, que sempre controlou a
maioria na Assemblia' Provincial; a partir desta base. tomou-se o principal sustentculo
do Estado Imperial centralizado. O Conselheiro Paullno era proprietrio rural em
Cantagalo, e com a Proclamao da Repblica afastou-se fonnalmente da vida poltica. No
entanto. continuou exercendo grande influncia atravs de Miguel de Carvalho, de seus
ftIhos e sobrinhos Belizro Soares de Souza, Paulino Jr., Paulino Neto e Luis Paulino de
Souza. Paleceu em 1901. Ver CARVALHO, Jos Murilo de . .A conshuo da ordem. 1'.169-
170. MATOS, limar. Tempo Saquai'ema. LEMOS, Renato. A implantaflio da ordem
republicana no estado elo Rio de Janeiro. p.72-78. Ver tambm O Fluminense l 11 abro
1899 e 28 jul.1899.
9. CARVALHO, Miguel de. Organizaiio republicana do estado elo Rio dfl ]aneiro
l
188!J..IB94. p.75..s3.
10. LEMOS, Renato. A oligarquia no poder. In: FERREIRA, Marieta de Moraes
(coord.). Repblica na Velha Provinda. p.79-89. .
11. FERREIRA,' Marieta de Moraes (coord.). A Repblica na Velba ProtJfn-
da. p.16.18.
12. Manifesto da deputada estadual Andr Werneck em 2 de maio de 1899, citado
por Eduardo Silva em Bares e escravido, p.127128.
13. UMA SOBRINHO, Barbosa. Presena de Alberto Torres. p.183-190.
32 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
14. 1.ESSA,Renato. invrl'nfo republicana. p.99-112.
15. FERREIRA, Maneta de Moraes. op. cit., p.16-17. Ver tambm carta de Nilo
Peanha a Quintlno Bocaiva em 11 Jul. 1902. Arquivo Quintlno Bocaiva.
16. A consulta das mensagens dos presidentes do estado do ruo de 1890 a 193{1
nos permitiu perceber o papel secundrio que o acar ocupou nas polticas pblicas e
sua nas rendas do estado.
17. PARIA, Sheila de Castro. Terra e trabalho em Campos dos GoUacaztlS (1850-
1920). p.461-484. STA.NLEY, Mirjam. usina de Sanla Maria. p.59-60. I.A:MEGO, Alberto.
Te1Ta GoiIac: e O bomem e o brr1jo Poram vriaS as tentatlvas de Campos para ampliar
sua participao na poUtica estadual. Em 1896 o Baro de Miracema tentou ganhar espao
na Comisso Executiva do PRP; em 190;, com a chegada de Nilo Peanha ao poder, os
polticos campistas no conseguiram uma posio dominante na coall.z.o poltica; em 1911
Joo Guimades. importante chefepolftico campista, tentou se candidatar ao governo do
estado; em 1923, Luis Guaran tentou ser o candidato ao governo estadual ps-
interveno federal. Em todas essas conjunturasaspreteuses campistas foram rechaadas.
Do ponto de vista fIScal, houve um aumento crescente do imposto de exportao sobre
o acar. At fins de 1870'0 acar campista pagava um imposto de exportao (JId vaiarem
por quilo de 4%. quando foi suspenso em virtude das dificuldades que a,travessava o setor.
Em 1893, mediante presso dos cafeicultores, foi restabelecidaa taxa sobre a exportao
do acar, fixada porm em ;% .. Em 1901 chegou novamente a ser suspens .a cobrana
da tax:a., mas a suspenso no foi implementada na prtica, Bm 1903 o imposto foi
diminudo de 3% para 2,5%, mas em 1911 foi elevado em mais 2,5%, sob a alegao de
que este aumento seria para custear obras em Campos. Bm 1915 esta taxa de 5% foi
mantida de (orma permanente a despeito das presses dos .setores aucareiros. Ver
FERREIRA, Marieta de Moraes .. A poltica econmica de Raul Veiga. (documento de
trabalho, mimeo).
18.Elisa Reis, em "Interesses agroexportadores e construo do Estado: Brasil
1890-1930" On: SORJ,. Bemardo,CARDOSO, Fernando Heorique, PONT, Maurcio
(orgs.). Economia e movimentos soCll na Amrica Latina. p. chama a atenlo
. para a expanslo do poder pblico e o fortalecimento do Estado no pas. No caso
fluminense, a Refonna Constitucional de 1903 foi uma conjuntura onde ocorreu tal
situao, que veio a beneficiar a expanso do poder de Nilo Peanha.
19. FERREIRA, Maneta de Moraes. Conflito regional e crise polftica: a Reao
Republicana no Rio de Janeiro.
20. MARTINS, Amilcar. Oientelismo e representao em Minas Gerais durante a
Primeira Repblica: lima crtica a Paul Cammack. Dados, n.2? t p.115-191,1984. MENDONA,
Snia Regina. O ruralismo brasileiro na Primeira Repblica: um debate de idias.
Margem ,Niteri, v.l, n.l, p.25-39. jan.1993. Eduardo Kugelmas, em A dijici1 hegemonia,
chama a ateno para os problemas de So Paulo como ator central do pacto oligrquiCO
e as resistncias d1i! outros setores sua dominao.
21. BNDBRS, Annelle. Pouvoir et fdralisme au BnsiJ (1889-193). p.364.
22. Cultura pq1tiea um conjunto complexo de comportamentos coletivos, de
sistemas de representao, de valores de uma dada sociedade. A histria procura na cultura
poltica uma reserva ilimitada de datas-chave e de grandes homens, de textos .
A ELITE POLfTICA FLUMINENSE: PROJETO E TRAJETRIA 33
fundadores e de simblicos, que cem o recuo do tempo e a deformao
instrumental do passado tomam-se valores normativos.BERSTBIN, Serge.Vhistorien et la
culture politique. VingttiJme Siicle - Revue d' Hislolre, n.35
1
p.69, juU./sept.1992.
23. PANTOJA" Silvia. A elesestabillzafJo do nUlsmo (190.5-1909).
24. Para acompanhar esse episdio, ver a coleo de cartas do ano de 1906 do
Arquivo de Leo Teixeira, depositado no Instituto Hist6rico Geogrfico do Rio de Janeiro.
25. Idem.
26. Idem.
27. SANTOS, Ma 'Mana. Agricultural rejorm and tbe idea of Rdecadence
h
in tbe stafe
01 Rio tis Jarutro. p.291. Mensagtlm presidendal de Alfredo Backer de 1907. p.50,54 ,55.
28. VENNCIQ PII4iO, Alberto. Carlos Peixoto e o Jardim de InfncJa. CARONE,
Edgar. A Repblica Velha (6fJOIu/io poltica). p.228 e seg.PRANCO, Afonso Arinos de Melo.
Um estadista da RepbliCa: Afrnio de Melo Franco e,seu tempo. pA69 e sego PANTOJA"
Slvia. A desestabilizao do nilsmo. In: FERREIRA, Marieta de Moraes (coerd.). .ti
,Repblica na Velha Provncia. p.15S-165.
29. MENDONA. Snia Regina. Ruralismo, agricultura, poder ti e;stado na Primeira
RllpbHca. v.2, P,42B-463.
30. ENDERS, Armelle. Pouvoir et jedrallsme au Bma. p.390.
31. KORNIS
1
Mnica. Os Impasses para a consolidao do nlllsmo:, retomada,
enfrentamento e acordo. p.52..64.' documento de trabalho.
32. FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Um estadista da Repblic: Afrnio de Melo
FtanCo e seu tempo. p.634, 697-702; PAUSTO, Boris.Acrise dos anos 20. In:_._'' _ .. 'Pequenos
ensaios da bistria da Repblica:, 1889-1945. p.22-28. BRANDI, Paulo. EstabUidade e
compromisso. In: FERREIRA, Marieta de Moraes (coord.) . .A Repblica na Velba Provnda.
p.207-222. VINHOSA, Francisco. O Brasil" a Primeira Gtuirra Mundial. p.8S-89.
33. FERREIRA: Marieta Moraes. onflito regional ti crise poltico.. op. dt.
34. FAUSTO, Boris. A crise dos anos 20 e Estrutura de poder e economia. In: O
Bra.ffl twpubllcano .v.9,
35. KORNIS, M6nica. A ascens10 das oposies. In: FERREIRA, Marieta de Moraes
(coord.). A Repblica na Vlba Pro"'ncia. p.275. '
,,' 36. Para um detalhamento :maior acerca das diferentes faces da elite poltica
e suas cises ver FERREIRA, Marieta de Moraes (ceord.). op. dt;
2
A economia flum,inense
1!a Primeira Repblica
Mesmo que se coloque em questo a tese da chamada decadncia
cio Rio de Janeiro, como o tm feito alguns autores, no se pode
desconhecer que \l1lla grave crise afetou o conjunto daagricultuta
f1wninensenos anos 1890, tendo desdobramentos nas dcadas posteriores.
Ainda que a diversidade das regies, e concordando que
o foco central da, crise estivesse locali2ado no Vale do Parafba, seus
desdobramentos afetaram diversas atividades e setores econmicos,
perdendo assim o carter setorial
1
A ampliao da crise fluminense especialmente grave porque ela
associa fatores conjunturais e estrut\lfais, no se tratando apenas da crise
de uma atividade exportadora - o caf do Vale do Paraba e da regio
serrana, mas tambQ1 da crise do escravismo. Assim, o esgotamento da
produo cafeeira estava Ugado ao processo de transio das relaes do
trabalho escravo para o trabalho livre, e ainda a um agravante adicional,
que era a tendncia ao declnio de preos no mercado externo.
No poderemos descartar neste trabalho, voltado para a atuao
da elite poltica fluminense, os efeitos da crise do caf no conjunto do
estado e principalmente nas finanas pblicas. So fatores indicativos da
crise os dados oficiais relativos a exportao, importao e arrecadao
dos impostos. '
De fato, o estado do Rio enfrentou graves problemas quando o setor
agroexportador cafeeiro, amculador do conjunto da' produo, deixou de
ser o eixo dinmico no final do sculo passado, abrlndo caminho para um
longo e dificil processo de reconverso da economia e de implementao
de um novo padro de crescimento. o ponto central de nosso argumento
que o estado do Rio, a partir do fmal do sculo passado, eI1frentou uma
, crise sria e duradoura, que no tem a ver com a noo de decadncia,
mas que se refere a um conjunto de dificuldades para superar os entraves
colocados pela crise do escravismo e tentativa de encontrar alternativas
de reconverso da economia.
36 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
1. A crise da economia escravista fluminense
Ao longo do sculo XIX, a provncia do Rio de Janeiro, com sua
economia baseada prindpalmentenas atividades ligadas ao caf e ao acar,
destacou-se como o principal centro econmico do pas, apesar de contar
com uma rea de apenas 42.912 quilmetros quadrados. A expanso do
caf a partir das primeiras dcadas do sculo XIX veio dinamizar todo o
setor agrrio exportador nacional. Contando com condies favorveis
externas - expanso do mercado mundial graas difuso do consumo do
caf na Europa e nos EUA - e nternas - ampla oferta de terras e de mo-de-
obra - a cafeicultura fluminense fortaleceu-se e tomou-se a prndpal ativi-
dade econmica da provnda.
Se em 1835 a produo cafeeirafluminense j chegava a cerca de um
milho de sacas, cinco anos depois ela cresda em 50%. Nessa primeira fase
os grandes centrosprodutores estavamlocalizadosna regio ocidental doVale
do Paraba, destacando-se Resende, BarraMansa, Vassouras, SoJooMaroos
e Passa Trs. Apartir d 1860 o caf caminhou para a parte ocidental do Vale
do Paraba, estendendo-se a Cantagalo e Paraba do Sul '. A expanso da
cafeicultura, iniciada nas dcadas de 1810 e 1820 sob a gide do capital
comercial nacional, cresceu progressivamente at O final do sculo,
transformando o Vale do Paraba em rea econmica dominante. O Rio de
Janeiro tomou-se o prncipal centro de exportao do produto, gerando
enormes lucros e promovendo ntensa atividade econmica.
Entretanto, <> desenvolvimento da economia cafeeira escravista
encerrava uma contradi.o. Seu bom funcionamento e sua dinamizao
estavam condidonados a trs elementos bsicos: o abastedmento regular do
mercado de escravos, a abundnda de terras, e boas condies para a
produo do caf. Com a extino do trfico africano em 1850, provocando
O dec1nio da oferta'e a elevao do preo da mo-de-obra, alternativas foram
tentadas, como a implementao do trfico interprovindal, a introduo de
tcnicas no setordebenefidamento do caf, a abertura de estradas de ferro.
Mas o emprego conjugado dessasmedidasno conseguiu impedira e1evao
dos custos da produo, o que dificultava o processo de acumulao de
capital. Simultaneamente, a cultura extensiva provocava o esgotamento
progressivOdo50lo, o.queexigia oabandonodasvelhasplantae5embusca
denovasterras.Porfim, oesquema defundonamento da economia cafeeira,
baseadona dominao e exploraodooomrdo50bre os fazendeiros atravs
A ECONOMIA FLUMINENSE NA PRIMEIRA REPBLICA 37
doo comissri06, p<JSlibilitou uma transferncia das rendas geradas na agricul-
tura,acarretando uma descapitalizao doo produtores. Esse fato foi profun-
damente sentido e somou-se s demais dificuldades que j enfrentava a
lavoura cafeeira.
Resumindo,podem06dizerque 06 cafeicultoresdeparavam-se com 06
seguintespreblemas: dificuldades para obtermo-de-OOra a pre06vantaj=,
crescenteslimitae5 inCOlporao de terrasvirgens, elevao dos custos de
produo e descapitaliza em virtude da sistemtica de financiamento.
Acrescente-se a isto a dificuldade da elevao do preo do caf no mercado
externo a nveis que compensassem tais problemas.
Para complicar ainda mais esse quadro deve-se lembrar que na dcada
de 1B80 o movimento abolicionista atuou como umfatoradicionalno sentido
de antecipar o fim do regime escravista, o que finahnente ocorreu em 1888'.
O clculo efetuado pel06 proprietrios fluminenses e pela elite poltica acerca
da estabilidade e durao da escravido foi equivocado, e isso dificultou a
implementao de medidas preparatrias para um melhor enfrentamento da
Abolio'. O 13 de Maio veio aprofundar uma violenta e duradoura crise na
cafeicultura fluminense: a monarquia ainda tentou'atenuar os efeitos da
extino do trabalho escravo distnbuindo crdito subsidiado a06 produtores
porintermdiodosetorbancrio, mas ainiciativa no alcanou xito, umavez
quegrande parte dessesrecursos acabou sendo utilizada para pagainento das
antigas dvidas dos fazendeiros'.
Nesse quadro, a recuperao da cafeicultura viu-se comprometida,
uma vez que os recursos a ela destinados no chegaram a atingir seus
objetivos. Os cafeicultores foram entregues sua prpria sorte na busca de
alternativas para a crise ento em CUISO.
A segunda atividade econmica fundamental da provincia do Rio de
Janeiro, o acar, tambm enfrentava graves dificuldades no fim do sculo
XIX. Tratava-se de uma atividade muito antiga, datando do sculo XVII,
quando se expandiu de forma significativa o cultivo da cana na regio dos
Campos doo Goita<;aZes. Voltado desde sua expanso inicial para o mercado
interno, mais precisamente para a cidade do Rio de Janeiro, o acar
fluminense no enfrentou a ameaa de grandes competidores e dominou Q
mercado carioca deforma tranqila. Esse fato, aliado disponibilidade de tetra,
permitiu uma grande expanso de investimentos agroindustriais em Camp06
ao longo do sculo XIX, dando origem montagem de um complexo
aucareiro e formao de uma aristocracia campista.
38 EM BUSCA:DA IDADE DE OURO
Este quadro, entretanto, passaria a sofrer reverso a partir da dcada
de 1870, em virtude do agravamento da crise do traballio escravo, aliada
a alteraes no mercado consumidor. Embora nessa dcada no tenha
havido um declnio da produo e os preos tenham se mantido estveis,
o encarecimento contnuo do preo do escravo colocou em pauta a
premncia da soluo para a questo da mo-de-obra /; .A mesmo tempo
em que encontrava dificuldades para promover transfonnaes na
tecnologia empregada em seus engenhos, o Brasil defrontava-se com
problemas crescentes para enfrentar seus competidores internacionais.
Assim, a exportao de acar comeou a declinar, e os principais centros
aucareiros do pas, Pernambuco e Bahia, passaram a destinar grandes
parcelas de sua produo para o mercado interno, competindo com o ruo
deJaneiro
7
Visando a enfrentar esse conjunto de problemas, o setor aucareiro
tentava adotar inovaes tcnicas que viabilizassem o seu desenvolvimento
econmico. Objeto de discusso desde meados do sculo XIX, foi na
dcada de 1870 que ocorreu um recrudescimento dos debates acerca da
questo tecnolgica, percebida por alguns senhores de engenho como a
alternativa para a falta de braos e como a soluo para adqUirir maior
competitividade no mercado. s presses do setor aucareiro, o governo
imperial respondeu com o desenvolvimento da poltica de engenhos
centrais. O pressuposto bsico desse programa era a separao das
atividades de plantio da cana e de fabricao do acar. Ao engenho
central caberia apenas o beneficiamento da cana, que deveria ser
adquirida dos plantadores independentes. ,
Esse movimento de modernizao do setor aucareiro na provIncia
do ruo de Janeiro resultou em 32 concesses por parte do governo
imperial, mas apenas 12 se estabeleceram efetivamente, espalhadas por
diferentes regies. Oprinclpio que norteou esse movimento foi em grande
medida a perspectiva de criar alterntivas crise da cafeicultura do Vale do
Paratba. A implantao de um maior nmero de engenhos centrais, em
tomo de 10, em regies cafeeiras
j
fora das tradicionais reas aucareiras
de Campos, So Joo da Barra e So Fidlis, ilustra bem essa orientao.
O plantio da cana-de-acar e a criao de modernas fbricas de
beneficiamento eram um caminho vivel para o aproveitamento das
desgastadas terras do Vale do Panuba cafeeiro 8.
Ao lado dessa tentativa de modernizao e expanso da atividade
aucareira para novas reas, as tradicionais zonas de acar do norte do
A ECONOMIA FLUMINBNSB NA PRIMBIRA REPBLICA 39
estado, especialmente Campos, levaram adiante seu processo de
refonnula'o tcnica. Mesmo que a poltica de engenhos centrais, tal
como foi fonnulada pelo governo imperial, tenha encontrado resistncias
por parte dos senhores de engenho e no tenha obtido maior expanso
naquela rea, inmeras foram as transformaes ocorridas ao longo dos
anos 1870 e 1880. Mesmo desvinculada da poltica de engenhos centrais,
aarlstocracia aucareira campista recebeu auxlio oficial atravs da iseno
de taxas de importao de maquinrio. Nos anos 1880 vrias usinas foram
estabelecidas em Campos, muitas das quais atravs da mellioria paulatina
, dos antigosengenhs coloniais
9
'
Entretanto, as iniciativas de renovao tecnolgica com o estab-
lecimento de engenhos centrais e usinas no conseguitamreverter a crise que
o setor aucareiro enfrentava com a extino do traba1ho escravo. A crise
da escravido corroeu paulatinamente as bases do enriquecimento dos
grandes senhores de acar. Quase todos os engenhos centrais e usinas
aiadosnasdcadas de 1870 e 1880, normalmente tendocomoproprletrlos
a antiga elite ou ~ u descendentes, haviam mudado de mos ou falido
no incio do sculo XX lO,
De acordo' com o quadro apresentado pode-se perceber que
a provncia do Rio de]aneiro, ao ingressar na era republicana, enfrenta-
va graves problemas econmicos em suas atividades principais, o
acar e o caf.
2. A Repblica e o agravamento da crise
O peso do Ri<;>deJaneiro no conjunto da produo brasileira de caf
decresceu seguidamente nos ltimos 20 anos do sc. XIX, passando de
62% em 1880 a 56% em 1881, 55% em 1882 e 1883, e continuando mais
ou menos nessa proporo at 1894, quando desceu de sbito a 20%.
Em contrapartida, a produo paulista, que representava 25% do total
nacional em 1880, passou para 40% em 1889 e para 60% em 1902
11
Apesar do declnio continuado da produo do caf fluminense, e
da queda da produtividade, a conjuntura que se abriu com os anos 1890
atenuou em certo sentido a gravidade da crise. Em primeiro lugar, a partir
de 1885 comeou um processo de recuperao dos preos do caf no
mercado internacional que se manteve at 1895. Alm disso, com a
implantao do regime republicano e as mudanas na poltica econmica
e financeira que resultaram no EncUhamento, ocorreu uma considervel
'40, EM BUSCA DA IDADE DE OURO
expanso bancria e dos meios de pagamento. Esse' acrscimo teVe
efeito imediato sobre o custo do crdito, expresso pela taxa de juros,
tomando-o mais barato e abrindo maiores possibilidades para a obteno
de recursos. .
Do ponto de vista das f1l1anas pblicas do agora estado do Rio de
Janeiro, as alteraes trazidas com a descentralizao federaUsta..tal:l1bm
representaram um fator importante. A partir de 1891 os goverribsestadu.ais
passaram a receberintegtalmente o imposto de 11% cobrado sobre o caf
exportado, o que aumentava consideravehnente seus recursos. A articulao '
dessesfatoresfuncionou como um elemento temporariamente neutralizador
dos efeitos da crise.
Contudo, esse quadro seda alterado profundamente a partir de
1895.A crise de 1894 na economia dos Estados Unidos, maior consumidor
mundial de caf, e o excesso de capacidade produtiva provocado pela
expanso da lavoura cafeeira em So Paulo acarretaram uma baixa
acentuada dos preos iritemacionais do produto. Os preos do Caf
comearam a declinar 'acentuadament'ee os estoques a se acumular,
Chegando a uma situao, extremamente crtica em 1896. Acre$cia-se
superproduo a especu1a.o realizada pelos grandes grupos estrangeiros
que foravam' ainda mais a baixa dos preos irternos. Esse quadro
enfrentaria um novo eleinento complicador com a implantao do
programa de saneamento fmanceiro de Campos Sales 12.
A' manuteno da tendncia de desvalorizao' cambiahU> longo
dos primeiros cinco anos da Repblica havia funcionado como.um fator
que limitava as perdas do setor cafeeiro, pois pennitia que os produtores
recebessem um rruuor mOntante de dinheiro nacional, embora em moeda
desvalorizada. Contudo,' essa ltima vantagem se extinguiu. Com a
deteriorao crescente daS finanas do pas, tomou-se insuStentvel
manter a antiga poltica 'que facilitava a baixa da taxa de cmbio. Quando',
em 1898, foi restaurada a vida financeira do pas e implantada wna poltica
de saneamento que restringiu o crdito, equilibrou a taxa cambial e
valorizou a moeda estabelecendo o padro-ouro, foram eliminados os
ltimos paliativos que at ento haviam atenuado a crise crnica do setor
cafeerroflunrinense ..
Os efeitos e a extenSo da crise da cafeicultura no estado 'do Rio em
1898 podem s.er analisados a partir dos questionrios enviados pelo
governo estadual a todas aS cmaras municipais do estado. As respostas
pelos 48 muncpios' flUIl1iJ::lenses proporcionam um diagnstico
A ECONOMIA PLUMINENSE NA PRIMBIRA REPBLICA 41
interessante sobre sua situao produtiva 13. Segundo e$Sa fonte, mais de
90% dos municpios tinham.o caf como principal atividade econmica
t
produzindo secundariamente alguns gneros alimentcios para consumo
local. Mesmo aquela tradicional produo de alimentos realizada por
pequenos doscu1oXIX enfrentava dificuldades para
se manter como no passado. Apenas oito municpios declararam que
estavam experimentando novas atividades econmicas como alternativa
crise da cafeicultura. A pecuria, uma dessas possibilidades, no possua
maior expresso econmica, sendo citada apenas como atividade exercida
em pequena escala.
As principais dificuldades apontadas pela maioria das cmaras para
a maior dinamizao da economia eram as limitaQes ao escoamento da
produo, provocadas pelos altos fretes e pela falta de braos t.esultante
da "vadiagem dos trabalhadores ruraisll. O declnio dos preos do caf
aumentaria ainda mais as difiCuldades de reter ou atrair mo-de-obra, seja
atravs de pagamento de ou de diferentes formas de , .. :.
O declnio dos preos do caf e o aprofundamento da 'Crise da
economia fluminense penalizavam no s6 os produtores como tambm
a administrao estadual, na medida em que sua principal renda
era o imposto de exportao sobre aquele produtor Em 1895, o montante
arrecadado atravs da cobrana do imposto de exportao sobre o caf
foide 12.218:449$316j no ano seguinte, esse total caiu para 9.741:805$144.
O impacto .dessa reduo de 20,3% foi significativo. Se em 1895 a
arrecadao estadual total chegou a 15.343:381$707, em 1896biXou para
13.035:705$849, e em 1900 caiu para 7.969.327$249, o que representou wn
declnio' de 48%. Paralelamente, participao do caf no drameilt
global caiu de 12.218.449$316 ein 1895 para 4.838.878$539 em:.l900, ou
seja, sofreu UtIl deln.io de A tendncia observada a partir de 1896
tanto (la arrecadao do imposto de exportao sobre o caf quanto ri
reCclta:estdual como wlOdo, 'apesar de ligeiraS e episdicaS reCuperaeS,
fOI de declriio '. ... :. ..'," .. 'o- , .,'. .,' '
" -,-
42 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
Receita do imposto de exportao sobre o caf e receita
total do estado do Rio de Janeiro (18%-1903).
RI:XETAOO
NO)
lMIOITOIlE RRHfAlOTAI. IlADC6
EXlUITAO
SOBREOCAFll
mlNI1WS
1896 9.741:005$144 13.035:705$849 74,8%
1897 10.354:629$008 13.944:871$635 74,3%
1898 7.355:424$397 10.495:703$498 70,1%
1899 6.371:068$912 9.705:760$323 65,7%
1900 4.838:878$559 7.969:327$249 70,7%
1901 4.896:204$470 9.224:166$487 53,1%
1902 3.506:205$763 6.728:199$812 52,2%
1903 3.518:482$344 6.798:716$945 51,8%
FONTE:AnalsdaALElif1903.p.17.
Aosprejuzos causados receita estadual pelabaixa dospreosdo caf
deve-se acrescentaro fato de que a produo fluminense estava eni. declnio.
Assim, a administrao no pde contar com uma produo abundante que
compensasse, alravs de ummaiorvolume fisico exportado de caf, a queda
na cotao do produto.
Os efeitos da crise da cafeicultura espalhavam-se portanto pelos
demais setores do estado, provocando um permanente dficit pblico e urna
crise financeira. Como forma de contornar essas dificuldades, o Executivo
estadual lanava mo de prticas recorrentes de endividamento sob a forma
de contrao de .emprstimos externos. Em paralelo a um crescente
endividamento com banqueiros e capitalistas, O governo estadual no
conseguia saldaI;seus compromissos com o funcionalismo pblico, sendo
obrigado a reforar o rculovicioso de buscar novos emprstimos ".
A perfonnance do setor aucareiro ta1nbm no era mais animadora
e estava longe de reunir condies que lhe pennitissem servir de alternativa
ao caf para retirar o estado do Rio da crise que atravessava.
O ltimo quartel dosculoXIXregistrou profundas lransformaes no
sistema produtivo aucareiro, que provocaram a perda de prestgio social e
econmico dos antigos grandes proprietrios enriquecidos. Os grandes
A ECONOMIA FLUMINENSE NA PRIMEIRA REPBLICA 43
fazendeiros doperodoesaavistacederamlugaraosbanqueirose comerciantes,
pe:rde:ndo em muitos casos oconlrole de suas usinas. Contudo, as dificuldades
no atingiram a todos de maneira homognea. Vrios descendentes dos
antigos usneiros conseguiram manter suas terras transfonnando-se apenas
em produtores de cana, outrosflZeram associaes com os novos capitais
orlundos das atividades comerc:iais, e finalmente alguns conseguiram conservar
intactassuas usinas 16;
O processo de mudanas ocasionadas' pelo fun do escravismo
acarretou uma diminuio expressiva da produo fluminense ao mesmo
tempo em que ocorria um crescimento da participao do acar do
Nordeste no mercado interno. A expanso do acar de beterraba em
diversos pases europeus excluiu o Brasil dos mercados da Europa,
principahnente o da Inglaterra, nosso maior consumidor at 1870. Os
Estados Unidos ento o mercado mais importante para o
acar brasileiro. Na dcada de 1890, porm, com a anexao de Porto
Rico e Hava, os EUA puderam passar a contar com reas produtoras de
a\car de cana capazes de suprir sua demanda. Afastado do mercado
norte-americano, o acar brsileiro voltou-se quase que totalmente para
o mercado interno, sobretudo para a regio Sudeste 17.
A gravidade da crise aucareira fluminense ao longo dos anos 1890
pode ser dimensionada pela sensvel queda no volume enviado para o
Distrito Federal, principal mercado consumidor do acar do Estado do
Rio. Em 1887 as vindas de acar de Campos para o Distrito Federal foram
de 431.797 sacas,masem 1898 caram para 139.578 sacas, o que significa
uma queda de 67,7%. O j pequeno percentual da produo destinado ao
exterior tambm sofreu notvel reduo nesse perodo, caindo de pouco
mais de 2,3 milhes de quilos em 1901 para 323.420 em 1902 e somente
13.085 entre janeiro e maio de 1903 18. .
Outro fator importante aserconsiderado que, mesmo que o setor
aucareiro tivesse conseguido uma recuperao significativa aps 1901,
seu peso no conjuntO das rendas do estado era bastante limitado e
portanto insuficiente parafunclonar como elemento dinamizador do conjunto
da economia fluminense. A partir de 1887 a situao do setor aucareiro era
to grave que o acar deixou de pagar o imposto de exportao, que era de
4% sobre o valor da saca. Em 1894, graas s presses dos cafeicultores no
Legislativo, alegando que era necessrio estabelecer-se o equilirio entre as
participaes de cada do estado na fonnao da renda pblica, foi
restabelecidaa taxa.de exportao do acar, fixada porlll em 3% 19.
44 . EM BUSCA. DAIDADB DB OURO
Mesmo com essa alterao, o percentual de participao do acar
era muito limitado. De 1889 at 1903 o caf nunca participou com menos de
50% do valor total da arrecadao do estado, enquanto todos os outros
produtos, incluindo o acar, no ultrapassaram 10,3%. Mesmo com a
recuperao de vendas do acar a partir do comeo deste sculo, sua
participao do estado no foi significativa, chegando a atingir o
mximo em 1920 com 9,6% 20.
Assim, o estado do Rio ingressou no sculo XX viVendo uma situao .
eco.r).mica eftnanceiraextremamente grave. Foidefinidoporseus governantes
como uma "massa falida", e chegou a ser levantaclaa possibilidade de vir a
sofrerwnainterveno federal devido sua insolvncia. A situao era to
dramtica que a pr6pri. autonomia poItico-adrninistratlva do estado esteve
ameaada
21
. .
3. As tentativas de 4iversificao da agricultUrra: 18,:
.. . . Enfrentando gravesdiftcu1dades com seus dis produtos tradicionais,
tOriaw-se fundamental para a econorniafluminense encontrar alternativas
que possibilitassem a superao da crise que a envolvia havia vrios anos.
. partir da dcada de 189, a c1tVei-Smcao
da agricultura. comeou a ganhar impulso. No ainda por iniciativa oficial,
mas como resultado da prpria crise do caf, que ampliou as j tradicionais
prticas decu1tivq gneros alimentcios entre as fueiras de ps, ou
mesmo em reaS no Nos o aprofundamento da
crise cafeeira. e as poIticaspblicas voltadas para a poUcultura, com os
presidentes Alberto Torres e NiloPeanha
j
'passaram a ftp:ecer noVos
estmulosrissadire: ' . , . ,
O processo'de diveisificao eonmica no estado do Rio
circunscreveu-se aos limites da agricultura, concretizando-seatravs da
adoo da policultura. O sesso da diversificao da agricultura tinha a
seu favor a possibilidade de reaproveitamento de fatr:es da produo sub-
utilizados e de mi.lirnizao de custos ,numa econom.taagrria em:grande
parte espealizada e por isso sobrecarregada pela.importao de.gneros
alimentos. Partindo deSsas bases, a diversificao desenvolvia-se de
. forma ouseja
t
Usustentava-se o Inodeloagrrlo
exportador em crise e reiterava-se a vocao agrcola do estado"
22
AlmdissO,haviaesmUIoo de mercadoparaimpulsionar a diver5ificao.
Acidade do Rio deJaneiro, que navira.da do sculo apresentava um enorme
, " -,:-
, ,
crescimento populacional, funcionando como um foco de atrao para
imigrantes de todoo'pas, representava um amplo mercado para a produo
fluminense 23 '
Em virtude dessas pr-condies e graas S polticas efetivadas, a
diversificao da agricultura. avanou com alguns altos e baixos at o incio da
dcadade 1920. Uma prhneira constatao dessa tendncia pode ser obtida
a paititda anlise do questionrio sobre as condies da agricultura no estado
do Rio cleJaneiro, c.tistnbudo a 48 mUtlidpios fluminenses peloMinistrio da
Agricultura em 1913
24
Em resposta pergunta sobre os principais produtos cultivados em
cadamunidpio, numa relao de 78 produtos, o caf ainclaera o mais citado
r
com 33% das respostas. A seguir era colocada 'a cana, com 21,8% de
ptefernda.Ainda assim bastante significativo o crescimento do cultivo de
cereais, prindpalm.erite o milho, o feijo e o arroz, que totalizaram 34,5% das
respostas.
Ainda que 'seja tremamente, difcil efetuar" uma
qUantitativa entre os dois relatrios, pode-se perceber que de 1898 a 1913
a agricultura fluminense diminuiu sua dependncia da cafeicultura,
tendo havido uma ampliao considervel das culturas alimentares desti-
nadas venda no mercado. Isto demonstra uma melhoria nas possibilida-
des de escoamento e comercializao da produo. A pecuria igual:"
mente uma atividade que prece ganhar mais espao, embora seja difcil
analisar essa extenso.' "
Esse tipo de tendnda da economia fluminense confirmado pelas
anlises de Snia Mendona, que utiliza' outras fontes e fornece dados
quantitativos mais consistentes. A tese central desta autora que a p3.rtir de
1903 pode ser percebida ' uma tendncia ascendente das exportaes
fluminenses de gneros de primeira necessiclade
2s
'
, Ao mesmo tempo em que apresenta dds com base na cobrana dos
impostos de exportao,Mendona analisa as importaes efetuadas pelo
Distrito Federal para seu abastecimnto, revelando que a partir de 1906
houve uma tendncia crescente da participao percentual das exportaes
fluminenses. Ao lado das infonnaes quantitativas, h ainda um amplo
cOtljunto de depoimentos de poca, de parlamentares e administradores
pblicos, que reafinnama orientao diversificadora da produo do estado
doRib. ' ','
-, : ' .' ' -: '. , . ' -' .
Esse tipo de perspectiva adotado igualmente por An Maria
Santos ,26 autora, que traballia com dados que cobrem o
46 BM BUSCA DA IDADB DB OURO
periodo de 1898 at 1914, ocorreu um declnio da produo e exportao do
caf fluminense, tanto em termos absolutos quanto em relao a So Paulo.
Enquanto a produo paulista crescia respaldada pela poltica devalorizao
do caf de 1906, a produo fluminense em 1911 representava menos de
50% do total de 1889.
Um dado adiCional que pode reforar a tese do sucesso inicial da
diversificao da agricultura fluminense que, depois de 1903, praticamente
desapareceram do discurso dos administradores as reclamaes de
escassez de gneros alimentcios para abastecer o estado.
Ao longo das duas primeiras dcadas do sculo XX, portanto, a
economia fluminense sofreu uma alterao gradativa, ganhando peso a
diversificao agrcola. Enquanto a participao do caf na economia
fluminense diminua - em 1918 os impostos de exportao do caf
contnburam com apenas 10,7% do valor da receita estadual- a participao
dos outros produtos aumentou, reforando a tendncia geral desenhada
desde o comeo do sculo. O acar liderou esse movimento, constituindo-
se num dos produtos que mais cresceram. Enquanto em 1902 foram
exportados 15 milhes de quilos de acar, em 1917 atingiu-se a soma de
65.463.823 milhes de quilos 27.
Nesta fase aprofundou-se tambm, ainda que de forma mais lenta,
o processo de aparecimento de novos agentes de produo, ficando cada
vez mais reduzida a importncia dos antigos proprietrios. Assim, a
despeito de uma tendncia de declnio dos preos dos produtos derivados
da cana, a produo campista iniciou um movimento de recuperao. Mas
foi realmente nos anos 1910 que a atividade aucareira passou a desfrutar
de uma prosperidade maior. Essa dcada apresentou um significativo
volume de investimntos no setor agrcola campista, graas a uma nova
tendncia de recuperao dos preos, especialmente depois de 1914, e de
ampliao do mercado de consumo ". A Primeira Guerra Mundial foi
responsvel pelo declnio da plantao de beterraba na Alemanha e pela
diminuio das produes coloniais, o que teve como conseqncia o
aumento da demanda internacional do acar brasileiro. Diante desse
quadro favorvel, a produo brasileira se expandiu, e o acar do
Nordeste voltou a destinar-se essencialmente ao mercado externo,
reduzindo-se a competio n ~ e m com O acar fluminense 29 .
Um outro elemento fundamental nesse processo de recuperao do
setoraucareiro nosculoXX foi a concentrao da produo ocorrida com
A ECONOMIA FLUMINBNSE NA PRIMEIRA REPBLICA' ,,47,
o estabelecimentQ e a ,expanso das grandes usinas, que gradativamente
foram incorporando pequenos engenhos e usinas. Em 1852 existiam em
tomo de 307 engenhocas e 56 engenhos a vapor. O recenseamento de
1920 enumerou 97 estabelecimentos e 27 usinas de beneficiamento de cana.
Estes dados mostram com clareza comose ampliou o processo de concen-
trao da produo de acar, dando\origem a dois segmentos do setor
aucareiro: os plantadores de cana e os fabricantes de acar. tiO mono-
plio do beneficiamento resuIta-se cada vez mais a um pequenon\lmero
de empresas
lt30
Os dados at aqui apresentados parecem indicar que o estado do Rio
havia conseguido superar os entraves reconverso de uma economia
esaavista essencialmente baseada no caf para wnaeconoIta policultora e
voltada para o mercado interno. A prpria composio das rendas
do estado refletia essa alterao. Em 1918 a participao do caf no
oramento do estado foi de 1.731:787$595, enquanto outros gneros de
exportao ampliaram sua participao para 4.202:573$783. Em tennos
percentuais, o caf respondeu com apenas enquanto outros produtos
fomeceram29,3%31.
A anlise isolada desses dados pode sugerir que a economia do estado
do Rio teria sofrido alteraes profundas nas duas prlmeirasdcadas do sculo,
tendo sido atingid:as" as metas bsicas dos projetos reformistas das elites
fluminenses dosculoXIX.No entanto, o desenro1r dos anos
1920 mostraria o equvpco dessa avaliao. '
4. Os anos 20: o fascnio pelo ouro negro
Ao encerrar-se a dcada de 1910, a cafeicultura fluminense, que
durante vrios anos apresentou um desempenho dedinante, ganhou um
novo alento. Desde 1910 j estava em curso uma retomada gradativa do
plantio de novos cafezais, tanto em reas novas no norte do estado quanto
em antigas regies cafeeiras, graas a uma relativa recuperao de preos.
Contudo, foi a conjuntura que se delineou com o ps-guerra que
realmente p'roporcionou um novo boom da cafeicultura fh;uninense .
.As fortes gdadas de junho de 1918, o restabelecimento do comrcio
internacional e o aumento da importao americana, com o fim da guerra,
concorreram para um maior equilirio entre oferta e procura e con-
seqentemente praa elevao dos preos do caf no mercado externo.
Ainda que essa conjuntura favorvel sofresse alteraes nos anos
seguintes, ao longo da dcada de 1920 a interveno dos rgos pblicos
48 EM BUSCADA.IDADE DE OURO
conseguiu garantir uma significativa expanso para o setor cafeeiro. A
oScilao da demanda e de preos do mercado d caf provocou uma
presso crescente da parte dos cafeicultores paulistas, que reivindicavam
o auxlio do governo federal para a montagem de um esquema
pennanente de sustentao de preos. Essa presso resultou na criao
pelo governo federal, em 1922, do Instituto de Defesa Pennanente do
Caf, e em 1924, do"Instituto de Defesa Permanente do Caf de So Paulo,
que se tomou responsvel por toda a poltica cafeeira 32. Embora essas
medidas se destinassem basicamente cafeicu1tura paulista, e seus
efeitos diretos sbre a cafeicultura fluminense sejam passveis de
discusso, os anos 1920 realmente representaram uma expanso
continuada dos cafezais fluminenses.
A retomada da cafeicultura no estado do Rio representou tambm
um deslocamento.dO eixo econmico do estado da parte meridional para
a setentrional, os municpios de ltaperuna, Cambuci e
Santo Antnio de Pdua em'grandes produtores. Essa nova tendncia da
ec'onoffiia fluminense foi detectada por] oaquim de Mello em seu trabalho
A evoluo da cultura cafeera no Rio deJaneiro, de 1926, onde declarava
que o reerguimento da cultUra cafeeira do estado estava relacionado sua
transplantao para oS muriicpiOs do norte.' ' . ,
.-. , ,
Os dados das publicaes da Diretoria Geral de Esttstica do
Ministrio da Agricultura e do Relatrio do Instituto do Fomento Agricola
do estado ,confirmam iguhnente a expanso da cafeicultura. Em 1920
existiam no estado do Rio 10.766 estabelecimentos produtores de caf,
contra 8.688 no ano de 1928. Mas o nmero de ps, que em 1920 era de .
150.578.704, aumentou para 193.631.746 em1928
33
.Aproduo,'quefoi
de 81.-640 toneladas em 1920, passou a 91.586 toneladas em 1928.A esse
aumento da produo correspondeu um aumento da rea cultivada; que
passou de 194.490 em 1920 para 21,1 .112 elll: 1928.
Essatendnda 'pode. ser .confUmacb ainda atravs doS" dados
relativos ao percentual de participao dos produtos na cobrana do
imposto de exportao. Se .em 1918 o caf teve uma participao nni-
ma na 'receita, do estado, com uma contribuio de 1.732.192$030,
o que representava 10,7% do total de arrecadao, em 1924 a parti-
cipao do caf se elevou a 40,1%, com uma contribuio de
15.797.128$228. Os dados apresentados no trabalho deJoaqUimMello, ainda
que diversos, indicam tendncia semelhante. S'gundo este autor a parti-
cipao do caf chegou a 70% em 1898, tendo cado em 1920 pata 20%.
A ECONOMIA FLUMINENSE -NA PRIMIUR REP(Jl3LlCA . 49
Nos exercicios seguintes esse percentual tornou a subir, at que no ano de
1926, para uma arrecadao de 32.020.272$667, entrou com 11.050.612$227,
correspondentes a cerca de 30% 34.
Percebe-se assim que a cafeicultura voltou a assumir um papel
fundamental na economia do estado, o que indica que de fato n:.o ocorreu
umareconverso da economia para apolicultura.A expanso da produo
de alimentos a partir do comeo do sculo foi uma alternativa conjuntural,
e no uma opo definitiva para contornar a crise de preos e de mo-de-
obra que ameaava a lavoura cafeeira.
importante ressaltar, entretanto, que a recuperao da cafeicultura
no atingiu as dimenses do passado, sendo mantida ainda uma participao
significativa de outros produtos na pauta dos impostos de exportao.
Ainda que o processo de diversificao tenha declinado em termos
proporcionais na receita geral do estado ao longo dos anos 20, alguns
produtos e atividades, como a pecuria, apresentaram um padro de
crescimento no s6 no volume exportado, como no percentual de
contribuio para a receita geral. Em contrapartida, o milho, o feijo, o
arroz e o atcar declinaram 35. Embora estivesse numa posio diferente
dos demais gneros citados, por ser o segundo produto mais importante
do estado, o atcarviveu um processo de dificuldades crescentes ..
A dcada de 1920 foi um momento decisivo para os rUnos da
agroindstria aueareira do pas. O fechamento praticamente defmitivo do
mercado internacional para o acar brasileiro promoveu mais uma vez
um acirramento da competio pelo mercado interno e da luta dos
produtores pela obteno de subsdios do governo federal, bem como a
defesa da interveno estatal na agroindstria aucareira. A produo
fluminense, que sempre estivera associada ao mercado interno, mais
especificamente ao abasteciInento do Rio de Janeiro, perdeu no decorrer
dos anos 20 sua antiga posio
j
tomando-se mais vulnervel ao dos
intennedirios e do capital comercia1.
O setor aucareiro fluminense, ainda localizado no norte d estado
e tendo como principal produtor o municpio de Campos, teve um
desempenho oscilante com tendncia decrescente ao longo dos anos
1920, em tennos do volume de acar exportado. De acordo cornos dados
do Retrospecto Comercial doJomal do Commercio, houve uma eXpanso
at 1921, quando chegaram a entrar no Rio deJaneiro, provenientes de
CampoS, 1.164.495 sacas de acar. Mas nos anos seguintes, com exceo de
1926, oCQrreu um declfn.io desse montante, que chegou em 1927 a 693.215
50 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
sacas
36
.Asinforma6esapresentadasnoRelatriodaSecretariadeAgriadtura
e Obras Pblicas do Estado do Rio de 1926 tambm indicam tendncia
semelhante. At 1920 houve um crescimento do montante exportado de
acar, que chegou a atingir75.706.080 quilos, mas depois houve uma queda
que chegou a 23.633.879 quilos em 1925. Para a segunda metade da dcada,
os dados fornecidos pelo Anurio aucareiro para o conjunto de produo
fluminense tambm mostram a oscilao com tendncia ao decrscimo. Em
1926 foram produzidas 1.467.800 sacas de 60 quilos, em 1928 houve uma
queda para 807.434 sacas, e um novo aumento, em 1930, para 1.345.297 37.
A instabilidade que marcou a produo e a exportao tambm se
expressou na participao do acar na receita do estado. Se em 1920 o
percentual de contribuio das rendas do acar chegou a representar
9,6% da receita geral arrecadada, com a exportao de 75.706.080 quilos,
em 1925 a participao ficou reduzida a 2,5%, e a exportao, a 23.633.879
quilos. A aguardente, oriunda da cana-de-acar, tambm apresentou um
desempenho declinante. Em 1920 chegaram a ser exportados 10.940.440
litros do produto, o que representava 1,6% da receita geral arrecadada no
estado. Essas cifras desceram em 1925 para 1.566.789 litros e apenas 0,4%
da receita geral".
Essa oscilao com tendncia declinante da produo do acar
estava associada no s6 aos problemas de comercializao e de mercado
consumidor, mas igualmente baixa produtividade das plantaes de
cana, segundo depoimento de poca. Em 1927 a situao da lavoura
canavieira era a mais precria possvel, sendo O rendimento estimado em
25 toneladas de cana por hectare. Asvariedades cultivadas encontravam-
se em plena degenerescncia, e o aparecimento da enfennidade do
mosaico naquele ano foi o corolrio da situao crtica por que passou a
lavoura durante os anos de 1927, 1928 e 1929
39
Portanto, somavam-se o aumento da competio pelo mercado
interno, o declnio dos preos do acar e a reduzida produtividade
das plantaes para dificultar a atuao dos usineiros e plantadores
de cana. Um dos resultados desse conjunto de problemas foi o surgimento
de um processo de concentrao fundiria. Num primeiro momento
esse processo compreendeu a absoro das terras das engenhocas que,
geralmente por questes de endividamento, iam sendo fechadas.Ao lado
desse processo de concentrao territorial ocorreu um processo de
concentrao industrial. As usinas foram absorvendo as menores, aumen-
tando gradativamente sua capacidade".
A ECONOMIA FLUMINENSE NA PRIMEIRA REPBLICA - 51
Aoiniciat-se o ano de 1930, aagroinds1ria aucareira teve suasituao
fLinda mais agravada, em conseqncia da impossibilidade de o acar
ser exportado para o exterior e do encolhimento do mercado
mtemo.:Acrlse da economiacafeeira tambm afetou a agroindstria aucareira
tanto na demanda. quanto na oferta. Os cafeicultores paulistas que j
c:ultivavama cana como uma alternativa para reduzir seus prejuzos
intensificaram essas atividades e assim tomaram-se auto-suficientes em
relao ao acar, o que agravaria ainda mais Q') problemas
produtoras. A anlise comparativa dos ndices relativos ao clculo de custo de
produo da cana-de-acare dos preos pagos pela tonelagem na praa de
Campos indica que os prejuzos que atingiram os lavradores no fmal da
Repblica Vellia eram de grande monta. Entre 1928 e 1930, o preo pago
pela tonelada de cana caiu de 40$000 para 15$000, enquanto os custos de
produo da mesma guantidade doproduto giravam em tomo de 16$000
41
Por sua vez, o boom cafeeiro do norte do estado estava esgotado, sem
que tivesse ocorrido, um prOcesso de capitalizo dO setor. Grande parte ck?s
lucros gerados nesta tividade havia sido drenada para fora da regio e
inclusive para fora do estado. Ao que tudoindic3, embora no haja estudos
realizados sobre o a.ssu1to, os recursos gerados na atividade cafeeira foram
transferidos para grandes firmas de comercializao de caf no Rio deJaneiro.
Por outro lado, no existem in;dicaes disponveis que demonstrem que a
regio cafeeira do r:t0rte fluminense, capitaneada por Itapeiuni, tenha
promQVidoalgum tipo de investimento ou propiciadO bases para ma
niaior Cnaniiziq do estado: A pr6pna ativiqade cafeeira enfrentou wP
pemtnente declnio partir de 1929. - - " . . ':"
. , ..',: , , , . ,
'A, indstria fluminense'
. .A despdt diliculdades que marcaram a evoluo da
agricultura, e da opo das elites fluminenses pela vocao agrcola do estado,
vrias indstrias foram hnplantadas no estado do Rio, especialmente nas
dcadas de 1880 e 1890 e no ramo txtil. Na verdade" a crise da cafeicultura
fluminense no -entravou completamente o estabelecimento de
empreendimentos industriais, e em 1907 o estado do Rio era o quarto
colocado em relao ao valor percentual bruto da produoindustrlal do pas.
o Distrito Federal ocupava o primeiro lugarcom30,2%j So Paulo,
com 15,9%; o Rio Grande do Sul tinha 13,5%; o estado do Rio, 7,6% eMirtas
Gerais, 4,4% 42.
52 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
l! importante explicitar, entretanto, que essa expanso industrial
fluminense se fez graas no acumulao do capital local, mas com
investimentos de empresrios das indstrias cariocas. As caracteristicas que
assumiram as produes cafeeira e aucareira, agravadas pela crise do
trabalho escravo, provocaram uma descapitalizao desses setores e uma
drenagem de seus capitais para os setores comerciais financeiros localizados
na cidade do Rio de Janeiro, o que dificultava arealizao de investimentos
locais de maior porte: Assim, as principais empresas implantadas no estado
do RiodeJaneiro surgiram articuladas com as atividades comerciais daquela
cidade. Nesse contexto foram implantadas inmeras fbricas e tiveram
origem alguns ncleos industriais, tais como Niteri, Petrpolis, Mag e
Campos.
Esta caracterstica fundamental da industrializao fluminense, que
teve sua expanso.articu1ada com interesses e capitais externos ao estado do
Rio evinculados a firmas comerciais do Distrito Federal, nose limitou aos
anos de 1880e 1890, maspersistiunas dcadas de 1910 e 1920.Alocalizao
dessas empresas emmunipios do estado do Rio deveu-se presena de um
contingente de mo-de-obra disponvel e possibilidade de pagamento de
salrios mais baixos, alm da existncia de ferrovias que facilitavam o
recebimento da matria-prima e o escoamento da produo.
Contudo, esse movimento de expanso industrial no manteve uma
linha ascendente em relao a si prprio e aos demais estados. Em 1919,
embora ainda se conservasse no quarto lugar em termos percentuais com
relao aovalordaproduo industrial bruta, o estado do Rio desceu para7,4%
dovalor total, seguindo a mesma tendncia do Distrito Federal, que perdeu
o primeiro lugar para So Paulo e teve ovalor percentual de sua produo
bruta reduzido para 20,8%. Essa tendncia se agravaria ainda mais, e em 1939
o estado doRio cairia para 5%eo Distrito Federal para 17%. Em contrapartida,
So Paulo eMinas Gerais seguiram uma linha ascendente. Em 1919, ovalor
bruto da produo industrial de So Paulo havia crescido para 31,5% e em
1945 atingiu 45,4%; emMinas Gerais igualmente ocorreu uma elevao: de
4,4% em 1917 para 5,6% em 1919 e 6,5% em 1939
43
ndeteMelo e Cludio Considera, trabalhando com dados conjuntos
para o estado do Rio e o Distrito Federal, tambm constatam essa tendncia
dec1inante, na medida em que houve urna diminuio da participao dessas
regies no produto industrial da dcada de 1930
44
Essas dificuldades para uma expanso industrial mais consistente no
estado do Rio pode serpensada como conseqncia da prpria caracterstica
ECONOMIA FLUMINENSE NA PRIMEIRA REPBLICA 53
que O processo assumiu, de constituir-se em um desdobramento da
industrializao carioca. Alm disso, a implementao de incentivos
industrializao nunca foi objeto das elites fluminenses. Os diversos projetos
refbnnistasimplementados ao longo da Primeira Repblicano
medidas industrializadoras e tinham uma marca essenciahnente agrarista.A
opo industrlalista para a crise fluminense nunca fez parte das cogitaes das
elites do Rio de Janeiro, e a expanso industrial que teve lugar no estado no
foi resultado nem de incentivos oficiais nem da iniciativa das elites agrrias
locais ou polticas.
Assim, estado do Rio ingressou na dcada de 1930 sem ter
encontradoaltemativas econmicas queviabilizassem um maior dinamismo.
A recuperao da cafeiCultura nos anos 1920 manifestou-se como um
fenmeno efmero e sem capacidade de provocar desdobramentos
rnultiplicadoresna eonomia. Seu padro de funcionamento reproduziu as
prticas passadas, tanto do ponto de vista do cultivo extensivo e com baixa
produtividade, qunto dO ponto de vista da transfernaa de capitais para o
setor de cOmercializao e financiamentO. Dessa fonna, com 'a crise de 1929',
a cafeicultura fluminense passou a viver um processo' rpido de
desaptedmento. " ' "
,Anova poltica desenvolvida pelo Departamento Nacional do Caf
(DeN) de favorecer o escoamento de cafs finos atingiu frontalmente a
ceiculturafiuminense, que prOduzia cafsinferiores
de exportao. A p'artir de 1933, o caf deixou de ser o principal produto da
economia estadual e o maior contribuinte na arrecadao da renda, com 28%,
seguido pela laranja com '17 ,80% e pelo acar com 13,89%. Em'1934, o
principal item da. pauta de arrecadao estadual era a laranja, ficando o caf
eIllsegundolugar.Em1935,oimpostosobreoacartambmgerilvamais
rencta do que o cobrado sobre o caf. Paralelamente queda de' arrecadao
obiervava-se uma reduo do volume fisico da produo e da rea ciJltivada,
tendo havido um declnio de cerca de 70% entre 1930 e 1937
45
Enquanto
, o caf' desaparecia do cenrio econmico fluminense, novas atividdes
lentamente ganhavam espao. A agroindstria aucareira passava por um
processo de recuperao, e a fruticultura, a explorao do sal e a pecuria
despontavam como as novas atividades passveis de ocupar o espao da
cafeicultura como geradora de rendas para o estado.
Finalizando, podemos dizer que se de um lado a trajet6riadaeconomia
fluminense na Primeira Repblica esteve longe de poder ser caracterizada
como. decadente e estagnada, no devem ser m.inim.izadas as inmeras
52 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
importante explicitar, entretanto, que essa expanso industrial
fluminense se fez graas no acumulao do capital local, mas com
investimentos de empresrios das indstrias cariocas. As caractersticas que
assumiram as produes cafeeira e aucareira, agravadas pela crise do
trabalho escravo, provocaram uma descapitalizao desses setores e uma
drenagem de seus capitais para ossetores comerciais financeiros localizados
na cidade do Rio deJaneiro, o que dificultava a realizao de investimentos
locais de maior porte: Assim, as principais empresas implantadas no estado
do Rio de Janeiro surgiram articuladas com as atividades comerciais daquela
cidade. Nesse contexto foram implantadas inmeras fbricas e tiveram
origem alguns ncleos industriais, tais como Niteri, Petrpolis, Mag e
Campos.
Esta caracterstica fundamental da industrializao fluminense, que
teve sua expanso .articulada com interesses e capitais externos ao estado do
Rio e vinculados a finnas comerciais do Distrito Federal, no se limitou aos
anos de 1880 e 1890, mas persistiu nas dcadas de 1910 e 1920.Alocalizao
dessas empresas emmunipios do estado do Rio deveu-se presena de um
contingente de mo-de-obra dispOIVel e possibilidade de pagamento de
salrios mais baixos, alm da existncia de ferrovias que facilitavam o
recebimento da matria-prima e o escoamento da produo.
Contudo, esse movimento de expanso industrial no manteve urna
linha ascendente em relao a si prprio e aos demais estados. Em 1919,
embora ainda se conservasse no quarto lugar em termos percentuais com
relao ao valor da produoindustrialbruta, o estado do Riodesceu para 7,4%
do valor total, seguindo a mesma tendncia do Distrito Federal, que perdeu
o primeiro lugar para So Paulo e teve ovalorpercentual de sua produo
bruta reduzido para 20,8%. Essa tendncia se agravaria ainda mais, e em 1939
o estado do Rio cairia para 5% e oDistrito Federa1para 17%. Em contrapartida,
So Paulo eMinas Ge.raisseguiram uma linha ascendente. Em 1919, o valor
bruto da produo industrial de So Paulo havia crescido para 31 ,5% e em
1945 atingiu 45 ,4%; emMinas Gerais igualmente ocorreu urna elevao: de
4,4% em 1917 para 5,6% em 1919 e 6,5% em 1939 43.
Odete Melo e Cludio Considera, trabalhando com dados conjuntos
para o estado do Rio e o Distrito Federal, tambm constatam essa tendncia
decllnante, na medida em que houve urna diminuio da participao dessas
regies no produto industrial da dcada de 1930
44
Essas dificuldades para uma expanso industrial mais consistente no
estado do Rio pode serpensada como conseqncia da prpria caracterstica
A ECONOMIA FLUMINENSB NA PRIMEIRA REPBLICA S3
que o processo assUmiu, de constituir-se em um desdobramento da
industrializao carioca. Alm disso, a implementao de incentivos
industrializao nunca foi objeto das elites fluminenses. Os diversos projetos
refonnistasimplementadosaolongo da Primeira Repblica no contemplavam
medidas industrializadoras e tinham uma marca essencialmente agrarista. A
opo industriaJi.sta para a crise fluminense nunca fez parte das cogitaes das
elites do Rio de Janeiro, e a expanso industrial que teve lugar no estado no
foi resultado nem de incentivos oficiais nem da iniciativa das elites agrrias
locais ou polticas.
Assim, o estado do Rio ingressou na dcada de 1930 sem ter
encontradoa1temativas econmicas que viabilizassemum maior dinamismo.
A recuperao da cafeicultura nos anos 1920 manifestou-se como um
fenmeno efmero e sem capacidade de provocar desdobramentos
multiplicadores na economia. Seu padro de funcionamento reproduziu as
prticas passadas, tanto do ponto devista do cultivo extensivo e com baixa
prOdutividade, 'qu'anto do ponto de vista da transferncia de capitais pira o
setor de comercializao e financimento. Dessa forma, com 'a crise de 1929',
a cafeicultura fluminense passou a viver um processo' rpido de
deSaprecimento.' " ,
-Anova poltica desenvolvida pelo Departamento Nacional do Caf
(DCN) de favorecer o escoamento de cafs finos atingiu frontalmente a
cafeicultwafluminense, queprCxluziacafsinferiores comrest:.ritaspossibilidades
de exportao. A partir de 1933, o caf deixou de ser o principal produto da
economia estadual e o maior contribuinte na arrecadao da renda , com 28%,
seguido pela laranja com 17,80% e pelo acar com 13,89%. Em'l934, o
principal item da pauta de arrecadao estadual era a laranja, ficando o caf
em segundo lugar. Em 1935, o imposto sobre o acar tambmgerilva mais
rend3.doque o cobrado sobre o caf. ParaleImente queda d arrecadao .
observava--se uma reduo do volume fisco da produo e da rea cultivada,
tendo havido um declnio de cerca de 70% entre 1930 e 1937
45
Enquanto
, o caf desaparecia do cenrio econmico'flull'linense, novas atividades
lentamente ganhavam espao. A agroindstria aucareira passava por um
processo de recuperao, e a fruticultura, a explorao do sal e a pecuria
despontavam como as novas atividades passveis de ocupar o espao da
cafeicultura como geradora de rendas para o estado.
Finalizando) podemos dizer que se deumIdoa trajetria da economia
fluminense na Primeira Repblica esteve longe de poder ser caracterizada
como, decadente e estagnada, no devem ser minimizadas as inmeras
54 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
dificuldades econmicas que o estado do Rio enfrentou em seu processo de
transio do modelo de economia baseado na escravido para o
estabelecimento do trabalho livre. No deve ser esquecido iguahnente que,
mesmo aps terem sido ultrapassados os problemas mais crticos da dcada
de 1890, a retomada do crescimento da cafeicultura e a tentativa de
estabelecimento de uma nova base produtiva centrada na produo
diversificada de alimentos enfrentaram inmeros entraves, o que indica que
aJguns componentes da crise de reconverso da economia mantiveram-se de
maneira mais duradoura.
Uma avaliao das rendas pblicas fluminenses, comparadas com
outros estados da federao de 1897 a 1936, indica um declnio constante.
O percentual da receita fluminense sobre o total da receita dos demais
estados declinou de 56,4% entre 1897 e 1906 para 39,6% entre 1927 e 1937.
Por sua vez, o percentual da despesa sobre o total de despesa dos
demais estados confirmou essa tendncia, caindo de 65,9% entre 1897 e 1906
para 47,8% entre 1927 e 1936 (anexos I e 11). Iguahnente, o percentual
de crescimento populacional do estado do Rio comparado ao dos demais
estados foi um dos menores. De 1872 a 1890 cresceu 0,0038, o menor
ndice de crescimento anual do pas, e de 1890 a 1900 cresceu 0,0055,
ficando actma apenas do Cear.
Notas
1. Para o acompanhamento da discusso da chamada decadncia do Rio de1aneiro
ver FERREIRA, Marieta de Moraes. Em busca da Idad, dfl Ouro: as eHles poUticas
fluminenses. 1991. pA0-46. tese.
2. FERREIRA, Marieta de Moraes . .A. cris, dos comissrios d, cali do
Rio d. jarwlro. p,46-53.
Do ponto de vista geogrfico, o Rio de Janeiro divide-se em duas regies b:lsica.s
demarcadas pela Serra do Mar, que atravessa todo o seu territ6rio. A primelra dela.s a
Baixada Fluminense, plancie que se expande paralelamente costa em corredor enlre
a Serra do Mar e o oceano, tendo como limites ltagua{, do lado ocidental, e a divisa com
o Esplrito Santo, do lado oriental. Em funlo de peculiaridades locais pode-.ae subdividir
esse extenso territrio ' em unidades fisiogrficas menores: Baixada dos Goltacaz.es ou de
Campos, Baixada de Araruama, Baixada da Guanaban e Baixada de ltaguaf.
A segunda regilo localiza-se no interior, constituindo o Planalto Fluminense,
demarcado pela Serra do Mar a leste e a fronteira dos estados de Minas e Slo Paulo a oeste.
O Planalto Flumlnense percorrido em quase toda a sua exten.sio pelo principal rio do
estado, o rio Paraiba do Sul, que nasce no estado de 510 Paulo e vai desembocar no oceano
AtIintico, na altura de' Campos.
3. LIMA, Lana Lage da Gama. Rebeldia rwgra , abolicionismo. op. cit., p.29-40.
4. MEllO, Pedro, SLENES, Robert. Anlise econmica da escravidilo no Brasil. In:
NEUHAUS, Paulo (org.) . .A. economia brasileira: uma vislo hist6rica. p. 89. SLENES,
Robert. Gra1UlZa ou decadnciar. o mercado de escravos e a economia cafeeira da
A ECONOMIA FLUMINENSE NA PRIMEIRA REPBLICA 55
provinda do Rio de Janeiro: 1850-1888. EISEMBBRG, Peter. NA mentalidade dos
fazendeir03 vista no Congresso Agrcola de 1878-, In: LAPA, J. R. Amaral (erg.). Modos
d# pmdUfilo e realidade brasllelra.op. cit., p.167-194.
5. LI!VY, Maria Btrbara. A Repblica S.A. cw..da Hoj., n.59, p.36, 1989.
6. CAlUJ, GUerio de. rvoluiio do problmla canavleiro fluminens,. p.18-43.
7. GNACARJNB, O acar e o pacto colonial. In: fAUSTO, Borls (erg.). O
Brasil ropubllcano. v.8, p.311-319.
8. MARClllORI, Maria EmOia . .A. iluso do progrcso: a pantomima dos engenhos
centrais (1875-90). p.5I.
9. CARLI, GllcJ.1o de. op. clt., p.53. LAMEGO, Alberto. Alnragoitacz. v,6. Nesta
obra alo apresentada" biografias da elite campista e a genealogia das principais famOlas.
10. PARIA, Sheila de Castro. TnT'a e trabalbo em Campos dos GoilacaztlS: (1850-
1920). op. clt., p.241-242, 250.
11. MULLER, Charles. Das oligarquias agrrias ao prwJom(nio urbano-'ndwtrlaJ:
um estudo da formalo de polticas agrcolas no Brasil . p.37. Lima Sobrinho, Barbosa.
d# Albmo 7brra. p.20-2I.
12. FRITSCH, Winston. Aspectos da poltica econmica do Brasil: 1906-1914. In:
NEUHAUS, Paulo (org). op. ciL, e Apogeu e crise na Primelra Repblica: 1900-1930. In:
ABREU, Marcelo de Palva (org.). A ordem do progresso: cem anos de poltica econmica
republicana (1889-1989). p.31-37. Ver tambm FRANCO, Gustavo Barroso. A primeira
republicana. In': ABREU, Marcelo de Paiva (org.) . op. cit., p.11-30. FAUSTO, Boris.
Rxpansio do e poltica cafeelra. ln: __ . O BrtIS" republicano. v.8. p.196-248.
13. R,latrio da S#CrYIaria de Obras Pblicas fi Indstrias do Eslado do
R.ro Janeiro. Apresentado pelo dr. Hennogneo Sva ao dr. Alberto Torres em
1898 (anexo). p.61-249.
14. Mensagem presidencial de 1903 em Anais da AlEIif de 1903. p.17.
15.LAM.A.RA.o, A crise da economia fluminensfl. p,45, 46. docu-
mento de tn.balho.
16. FARIA, Shella de Castro. op. cit., p.343, 349.
17. GNACARINE, Jos(!. op. cit., p.312-313.
18. Mensagem presidencial de 1903 em Anais da ALEIU de 1903. 'p.24-25.
19. LEMOS, Renato. A oligarquia no poder. In: FERREIRA, Marteta de Moraes
(coord.). A R.pblka na Vfllba Provncia. p.81-82. Anais da ALEJU 1894, .sesses de 27
de janeiro, p.270, e d,e' 28 de agosto, p,45. '
20. PADIUlA, SOvia. Da monocuJtura diver.rificao econmica. p.83. PANTOJA.
Silvia. As ,,,,taUvas d. rflcuperao econ8mica do .slado do Rio. pAO.
documento de trabalho.
21. Anau da AIEif 1903. p.216.
22. SANTOS, Ana Maria, MENDONA, Snia, Intervenio estatal e diversificaio
agrcola no estado do Rio de Janeiro (1884-1914). Revista do Rio dflJa11lliro, n.2, p.8-17,
1986. MENDONA, sania A primflira poltica de ualorizao do caf fi sua vinculao com
li economia agricola 40 imado do Rio. p.171.
56 EM BUSCA DA iDADE DE OURO
23. SHVCENKO, Nlcolau. literatura como misstio. p.S2. CARVALHO, Murilo
de. Os ""'ia/lrados. p.16-17.
24. Quest.ion:lrio sobre a5 condies da agricultura no e.s12do do Rio de Janeiro
em 1913. Diretoria de Servio de lnspelo e Defesa Agrcola.
25. MENOONA, Snia. op. cit., p.178.
26. SANTOS, Ana Maria. Agricullura/ rejo,," anil Ib.ldM oj"daekna" in Ibll S/al.
01 Rio d. J4"';1O. p.2S5-256.
27. do H(,ntrlo d. Finanas do fISIado do Rio t Jarwlro aprwnlado
a Foliciano S<>dri ... 1926. p,44, 45.
28. PARIA, Shella de Castro. op. cit, p.249, 351, 344, 354.
29. GNACARIJ:ffi,' op. cit., p.310.
30. PARIA, Sheila de Castro. op. cit., p.16S-167.
31. Rvlat6rlo do sf1C1'f1drio d. Finanas do estado do Rio aprnmJado Q F"iciano
Sodri mI 1926. p.44, 45. ExposIo do inlerlJenJor do estado do Rio ao cbefll do Governo
Provisrio. 1933. p.51-53.
32. PRITSCH, Wlnston. 1924. In: PfISlJUisa ti planejamenlo :onmico, p.713-774.
FAUSTO, Borla. I!xpansl0 do car e polflica careeira. In: ___ . O Brasil
ropubIlcano. p.237, .238.
33. R,Iat6rlo do Institu.to de Fomento Agrfcola do ,slado do Rio de
laMro. 1928. p.;IO.
'4. Rftalrlo S:rrttaria th A.gricullu.ra , Obnu Pblicas do fIado do Rio di
Jarwtro.1928. p,44, 45. MELLO, Joaquim de. op. cit., p.1I.
35. R.unrlo d4 S:n!taria de A.gricu.lIura , Obras Pblicas do lIStado do Rio th
laMro.1928. p,42-50.
36. Retrospecto comercial. Jornal do Commerrio , 1926, p.35I. 1929, p.766.
37. Relatr'W da. StJcnitaria de A.gricuIIura , Obras Pblicas do fIado do Rio. 1926.
p.45. Armrio AucamlO, ruo de Janeiro, v.10, n.l, p.22, set. 1937.
38. Relatrio da Setcntaria th Agricu.lIura , Obras Pblica.t. 1926. p,45-49.
39. CAMINHA. PIlJ-IO, Adrilo. op. cit., p.28, 29.
40. MARcmORI, Maria EmOia. O amargo do acar. RfNi.rla do Rio thJaMiro, n.',
p.89, 1986. CARIJ, GUeno de. A eooIuo do problmlQ ca'UJLllro flumlnnau. p.76.
41. Preo da cana em Campos por tonelada e por carro no perodo de 1928 a
1935. Brt:uil AUC4J1Wiro, v.7. n.3, maio 1936.
42. CANO, Wilson. Raiza da concnllrafiio industrial th SIlo Paulo. p.253.
4' . LEOPOlDi, Maria Antonieta. Crescimento industrial, polticas
e organizaJ.o da burguesia: o Rio de Janeiro. Revisla do Rio Ih Janeiro, n.3, p.63, 1986.
44. MELO, I1dcte, CoNSIDERA, Claudio. Industrializa10 fluminense: 1930/1980.
Rflflista do /00 Ih JaMro, n.3, p.ll3, 1986.
45. LAMARo, A crise econmica jlumirumu , as Imlativt.u para sua
nlCUpn-afo (l93()"1937) . documento de trabalho . Relatrio do inlf/rotlnJor Ari Parreiras
ao cb</. ri<> Gowmo Provisrio ... 1933. p.129-132.
3
Projetos de reforma
Entre os fatores que dificultaram a construo da unidade poltica
do estado do Rio, gerando uma fragrnentao de to graves conseqncias,
figura a ausncia de uma efetiva integrao entre a elite poltica e os setores
produtivos fluminenses.
Entretanto, importante ressaltar que essa falta de consonncia no
resultou de contradies mais profundas, ou seja, do choque entre
projetos econmicos antagnicos. A necessidade de recuperar a economia
fluminense, reconhecida e debatida desde a dcada de 1870, baseava-se
num pressuposto comumente aceito: a defesa da vocao agrcola do
estado. Se verdadeiro que esse ponto constitua um elemento comum
a todos .. classe de proprietrios de terras e elite potica -, importante ter
em mente que ele no resolvia todos os problemas e no era suficiente
para a criao de um consenso.
Com o agravamento da crise da cafeicullura fluminense ap6s 1896,
as finanas pblicas entraram praticamente etn colapso, inviabilizando a
administrao do estado. Nesse momento tomou-se fundamental e
premente intervir, para equacionar os problemas que se apresentavam.
H longos anos 'debates acerca da chamada "decadncia
fluminense") tanto no Legislativo provincial quanto em comisses fonnadas
pelo Executivo estadual. Esses debates resultaram em diferentes diagnsticos
e 'prognsticos, mas na prtica muito pouco foi concretizado. No final dos
anos 1890 tomou-se impossvel adiar a implementao de medidas, e foi
necessrio prtica um programa
a administrao e saneasse as finanas pblicas.
Poineste quadro que ganhararn expresso as divergncias e dificuldades
encontradas para' solucionar a crise. Se a opo pela agricultura e o
reconhecimento da necessidade do desenvolvimento da base produtiva
do estado eram consensuais. o mesmo no acontecia em relao a
como, quando e em que medida deveriam ser implementadas propostas
refonnistas. Procuraremos demarcara seguir, dentro da elite poltica, ondeo
de polticos que, sobretudo no perodo de 1898 a 1906, lutou pela imple-
mentao de refoIlllaS na agricultura e procurou sanear a crise financeira.
58 EM BUSCA DA lOADE DE OURO
Examinaremos por"fim o contedo dessas propostas e as resistncias que
contra elas se levantaram.
Nossa idia central que este ncleo reformista no atuava em
perfeita consonncia com a elite poltica no seu todo nem com a dasse dos
proprietrios de terras. Sem negar a posio hegemnica desses
proprietrios, em especial os cafeicultores, nosso objetivo questionar as
afirmaes de que o governo estadual sempre se curvou s presses da
cafeicultura nosentido de apoiar seus interesses. Ao contrrio, os projetos de
reforma da agricultura e das fmanas pblicas, elaborados especialmente
entre 1898 e 1906, mas que se prolongaram ao longo da Primeira
Repblica, no estavam estreitamente conectados com as demandas dos
proprietrios de terra em geral, e com os cafeicultores em particular, e por
isso foram objeto de resistncia no momento de sua implementao.
1. O ncleo reformista
O acompanhamento da atuao da elite poltica fluminense tanto
no Executivo quanto no Legislativo federal ou estadual permitiu-nos
perceber uma ntida diferenciao em seu interior.Afim de instrumentalizar
nossa anlise, selecionamos um conjunto de 35 atores que nas duas esferas
de poderse pronunciaram e lutaram de forma clara por um corpo minimo
de idias que embasavam projetos de reforma da economia. O critrio
utilizado para essa seleo pautou-se fundamentalmente no compro-
metimento explcito com idias, no sendo obrigatria a existncia
de redes de articulao ou de alianas polticas como fator de ligao entre
os elementos 1. Se em algumas ocasies todos podiam estar unidos
politicamente, em conjunturas posteriores poderiam ocorrer cises polticas
que colocavam antigos aliados em campos opostos.
Os atores polticos atuantes no Executivo estadual selecionados
para nossa anlise foram: Alberto Torres (pres. do estado, 1898-1900);
Herrnogneo Pereira da Silva (sec. de Obras Pblicas e Indstrias, 1898-
1900); Joo Rodrigues Costa (sec. de Finanas, 1889-1903); Martinho
Alvares da Silva Campos (sec. do Interior e justia, 1898-1900); Nilo
Peanha (dep. fed., 1891-1903 e preso do estado, 1903-1906); Henrique
Carneiro Leo Teixeira (dep. est., 1900, figura-chave no Legislativo e seCo
geral do governo, 1904-1906); Manoel Alvares de Azevedo Sobrinho
(diretor do Interior e justia, 1904-1906), e Mateus Brando (diretor de
Finanas,1904-1906).
PROJETOS DE REfORMA 59
Em tomo desse ncleo central que atuava no Executivo articulavam-
se os deputados es.taduais, federais e senadores Francisco Soares Gouveia
(lder do gov. Alberto Torres no Legislativo estadual); Fidlis Alves;
Joo Carlos Teixeira Brando; Amrico Werneck;JooMartins Teixeira;
Antonio Fialho; Oliveira Figueiredo; Rangel Pestana; Antonio Augusto
Pereira Urna (lder da bancada fluminense na Cmara Federa!); Mateus
Brando; ldelfonso Brant Bulhes de Carvalho; Eduardo Cotrim;Henrique
BorgesMonteiro; Oliveira Botelho;J oo Curvelo Cavalcanti; ElsioArajo;
Baltazar Bernardino; Luis Alves Leite de Oliveira Belo; Raul Fernandes;
Pedro Cunha; Raimundo da Cmara Barreto Duro; ~ r i o Coelho; Jos
Pereira Rodrigues Porto Sobrinho; Raul de Moraes Veiga; Sebastio
Barroso; Antnio Augusto Pereira Urna; Manuel Martins Torres; Arajo
Pinheiro; Fernando Ferraz.
O elo aglutinador desses atores era O reconhecimento da necessidade
de transformaes urgentes na economia, de maneira a garantir um
desempenho adequado das atividades produtivas do estado e sustentar
o funcionamento de sua mquina administrativa. As inmeras ameaas
que colocavam em risco at mesmo a autonomia do estado do Rio exigiam
um rompimento com OS padres correntes de enfrentamento das j antigas
dificuldades que marcavam a vida fluminense, e suscitavam a adoo de
medidas duras para o combate crise.
Na tentativa de equacionar esse desafio, esse grupo de atores
lanou mo de um conjunto de idias que na virada do sculo comeavam
a circular mais amplamente, difundidas pela Sociedade Nacional da
Agricultura (SNA) 2. Fundada em 1897, a SNA era uma entidade que
articulava interesses de proprietrios rurais empenhados em formular
propostas reformistas para promover uma regenerao da agricultura
atravs da diversificao da produo. O ponto de partida para atingir tal
objetivo era a crena na cincia como instrumento de "modernizao".
Tencionava-se difundir noes de agronomia para melhorar o nivel
tcnico, racionalizar os custos de produo atravs da mecanizao e da
reduo de impostos e fretes, incentivara criao de associaes congneres
em Ivelloca1 e regional como forma de articular os proprietrios rurais,
para citar apenas as iniciativas mais importantes.
Ao formular esse conjunto de idias, a SNA voltava-se c1aramnte para
o fortalecimento de atividades que pudessem constituir-se em alternativas
para regies menos dinmicas no espao agrrio brasileiro. Do ponto devista
poltico, essa orientao visava articular osinteresses dos grandes proprietrios
60 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
situadoo margem do eixo dominante de poder, mais particularmente dos
setores oligrquicOs menoo dinmicos na correlao de foras estabeledda
com o pacto poltico republicano.
Vrioo elementos do ncleo reformista por nsseledonado (anexo D
possuam estreitas conexes coma SNA, como Oliveira Belo, FidlisAlves,
Abelardo Satumino e especialmente Antonio Fialho, vice-presidente de
Alberto Torres e presidente da SNA (1902-1908). Constatao semelhante
feita por Snia Mendona ao analisar a composio das diversas diretorias da
SNA, onde havia uma Itida predominncia de fluminenses, o que sugere a
existncia de pontOs de contato e a possibilidade de circulao de idias.
ldentificadoo corpo deidiasque 00 unia,resta saber quem eram esses
homens dedicados reforma da agricultura fluminense. Representariam
algum setor econmico especfico ou alguma regio do estado? Ou eram
apenas intelectuais sem nenhuma articulao com a esfera produtiva,
comprometidos com umprogramamodemizador?
As dificuldades enfrentadas na coleta de dados para reconstituir as
biografias individuais e a limitao das informaes disponveis exigem que
a anlise seja extremamente cuidadosa para que as perguntas acima possam
ser respondidas.
Do universo demarcado de 35 indivduos, podemos afmnar com
segurana que todos sobre os quais obtivemos dados escolares tinham
formaosupericr, havendo uma predominncia de advogadossobre mdioos
e engenheiroo. Este fatoporsi s criava uma base de entendimento e indicava
um elevado nvel de formao intelectual. Um segundo ponto relevante, mas
que apresenta uma base informativa problemtica, diz respeito a gerao e
datas de nascimento. A despeito dos dados incompletos, pode-se perceber
que no h uma concentrao geracional. Os atores nasceram entre 1840 e
1870,0 que pode configurara presena de mais de uma gerao. Oequa1quer
forma, um dado a ser retido que um nmero significativo teve ffiilitncia
poltica desde o Imprio, especialmente nas hostes lIberais. Esse dado
especialmente evidente para os atores que estavam em cena no governo de
AlbertoTorresereforaahipteselevantadaporBarbooaLima,edivulgada
no editorial do jornal Gazeta de Petrpolis em 1899, de que Alberto Torres
aliara-se aoo liberais para afastar 00 conservadores liderados pelo Conselheiro
Pau\ino e pelo republicano histrico ]oo Toms da Porcincula '.
Um terceiro ponto relevante para a anlise est ligado s bases
econmicas dos atores em questo.A obteno de informaes sobre esse
PROJBTOS DB RBFORMA 61
item foi ainclamais problemtica, mas ainda assim pode-se dizer que existiam .
relacionamentos familiares desses elementos com tradicionais proprietrios
ruraisfluminenses.l!1espr6priosnoeram em sua maiorla proprietrlosrurais,
e mesmo quandopossuiam atividade prlncipal era a cleprofissionais
liberais. O fato de no estirem eles pr6prios frente da administrao de um
estabelecimento rilrallhes dava umamargemsufidente de distncia para,
mesnioestando Jigadosaosinteresses da classe dominante, poderem propor
programas que contrarlavamesses mesmos interesses a prazo.
Uma outra indagao a ser respondida a base regional desses
elementos. Em.bora haja uma certa disperso na origem regional, visvel a
insignificncia numrica de representantes do norte do estado, mesmo
considerando Campos. concentrao maior se d em tomo de Petr6polis,
de Niteri e dos tradicionais municpios cafeeiros do Vale do Paraba, como'
Valena, Vassouras, Barra Mansa , Resende e Pira, o que indica que as antigas
reas cafeeirasainda mantnham uma expressiva representao. Em contraste,
a representao de Cainpos se reSumia aNUo Peanha eAbelardo Satumino,
aptentemente pouCo identificados com os ulteresseS locais. '
. "; Uma giobal do perfil do
nos pennite pensar que se tratava de elementos com alto Ivel de formao
. intelectual, que ocuparam inmeros cargosnos na administrao fluminense
mas tambm na administrao federal. Residiam ou passavam boa parte do
ano na cidade do Rio deJaneroe tinham uma mentalidade cosmopolita na
maneira de encarar os problemas. Muitos tinham experincia poltica anterior.
Alguns nomes de destaque, como Martns Torres, Rangel Pestana, Antnio
Augusto PereraIJmae LuisAlves Oliveira Belo, tinham uma tradio delonga
militncia no quadro c:to Partido Ltberal durante o Imprio.
2. Os projetos de reforma
Estabelecida a linha geral de anlise, cumpre agora exarriinar o
contedo das poltic.aS reformistas apresentadas atravs das mensagens
presidenciais e dosdebates daALERJ. Nosso objetivo ser demonstrar que o
ncleo refonnista tluminense tinha como meta desenvolverumaagricu1tura
intensiva racional e cientfica. O cerne dessa poltica estava concentrado em
dois pontos: a criao do imposto territorial e o da
diversificao da agricultura.,. . ,
'Nossaship6teses de trabalho para a anlise e a intrpretao destas
iniciativas so as seguintes: .: .
62 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
1) a mudaoa da base tributria do estado, atravs da introduo
do imposto territorial, visava no s6 garantir nova fonte de recursos para a
admini.strao,mastarilbm promover uma modificao dosistemafundirio,
o que suscitou forte resistncia por parte dos proprietrios rurais;
2) o desenvolvimento da diversillcao da agricultura pretendia
implantar urna nova base produtiva voltada para o mercado interno como
uma altemativa definitiva e permanente, e no como urna linha provisria
e auxiliar da cafeicultura at que esta superasse suas diflculdades 4.
O desdobramento 1llIturaI deste argumento que o caf, embora continuasse
a ser um produto importante, deixava de ser tratado como a opo
preferencial das polticas econmicas implementadas.
importante ressaltar que o objeto de nossa anlise so as intenes
e propostas do ncleo reformista, e no os resultados das medidas adotadas.
possvel tomarrnais clara a orientao de nosso trabalho recorrendo s
palavras de Sidney MinlZ:
Ao tratar das intenes dos atores num sistema social, atores
que empregam uma variante cultural ao inv3 de outra em
ririas momentos de suas vidas, parece necessrio enfatizar
que a relao entre inteno, ato e conseqncia no
sempre a mesma. Pessoas diferentemente situadas numa
sociedade podem fazer a mesma coisa, pensar em significados
muito diferentes para aquilo que esto fazendo, e acarretar
diferentes ao praticarem atos similares.'
Poderamos.ac'rescentar ainda que pessoas iguahnente situadas numa
sociedade podem fa2er coisas diferentes e pensar em significads muito
diferentes para aquilo. que esto fa2endo. Comisso, estamos afirmando a
existncia de uma defasagem entre as propostas e intenes do ncleo
refonnista fluminense e os resultados alcanados, seja por conta das prprias
incoernciaselimitaesintemasdosprogramas,sejaporoontadasresistncias
provenientes dos proprietrios rurais.
O procediffiento adotado para examinar os dois pontos-chave das
propostas reformistas foi o acompanhamento das iniciativas e dos debates
que ambos suscitaram ao longo dos diferentes governos fluminenses, com
nfase especial no perodo 1888-1906. importante esclarecer que esses
temas reoeberam tratamento diferenciado e desigual ao longo do tempo. Se
duranteoperodo de 1898a 1903 o imposto territorial foi o terna que suscitou
maiores discusses e iniciativas, a partir de 1904 o carro-chefe das reformas
passou a sera diversillcao da agricultura, embora a questo do imposto
PROJETOS DE REFORMA' 63
continuasse a ser alvo de ateno. Essa alterao de nfase deveu-se em
parte a um abrandamento das medidas propostas, v'isando a neutralizar
asresistndas enfrentadas.
A mudana da base tributria: o imposto territorial
As iniciativas do Executivo fluminense para a introduo do
,imposto territorial tiveram incio no govemoAlberto Torres (1898-1900),
e estavam integradas em um programa mais amplo. Albert Torres e seus
auxiliares formularam um plano de reformas inovador e de carter
estrutural. Partindo do diagnstico de que a raiZ da crise fluminense
localizava-se na grande propriedade e na escassez de mo-de-obra,
propunham a difuso da pequena propriedade, a valorizao do traballiador
nacional e a diversificao da agricultura 6.
A implementao deste programa -estava ligada a refonnas de
carter financeiro e econmico, nas quais o imposto territorial assumia um
papel-chave. Na esfera financeira, a estratgia era conter os gastos pblicos
e ampliar a receita atravs de uma profunda alterao da base tributria
do estado, com a substituio gradativa do imposto de exportao pelo
imposto territoriai 7. Na esfera econmica, o imposto territorial visava a
alterar O regime ele propriedade da terra, o que por sua vez seria um
elemento de incentivo para atrair trabalhadores.
No entender de Alberto Torres, a mobilizao da propriedade rural
e o parcelamento da terra seriam alcanados no atravs de medidas que
visassem diretamente a esses objetivos, mas atravs da instituio do
imposto tenitorlal e de alteraes do imposto de transmisso da propriedade
rural, Ao fazer recair sobre as propriedades o peso do imposto territorial,
o governo fluminense acreditava estar induzindo o,proprietrio tomar
sua propriedade produtiva e portanto capaz de pagar o imposto, ou a
alien-la, total ou parcialmente.
A proposta do governo estabelecia que O imposto territorial incidiria
sobre o valor do-solo das propriedades e seria cobrado, enquanto no se
criasse um cadastro de terras, "em percentagem sobre o valor daS terras
indicado nas ltimaS mdias, das ltirnasvendasefetuadasna localidade onde
estivessemsituadas"s.NoprimeiroanoseriacobradoO,5%sobreovalordas
terras, "aumentado anualmente at atingir a renda produzida pelos impostos
de exportao sobre o caf e o acar",Propunha-se tambm que as terras
de dornfuio e d e r l ~ estadual e municipal, as reas urbanas e os terrenos
pantanosos ficassem isentos do imposto. Finalmente, detenninava-se
64 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
a reduo imediatadoimposto de exportao sobre o caf eoacar, de 11%
para 10% e de 3% para 2%, respectivamente . Esta proposta foi aprovada
pela.ALER], transformando-se na Lei 395.
Amobilizao da propriedade seria estimulada atravs da reduo ou
mesmo supresso do imposto sobre a venda dos imveis rurais. Assim foi
promulgada aLei 396, que reduzia de 6% para 1 % sobre ovalor dos imveis
rurais a taxa do imposto de transmisso de propriedades nJerv/vose elevava
de 1% para 2% a taxa do imposto de transmisso de propriedade causa mortis
aos herdeiros necessrios. Areduo do imposto ntervtlOSVisava a agilizar
as operaes de compra e venda de terras, estimulando desse modo a
movimentao das propriedadesrurais.A elevao do imposto causa mortis
seria, a nosso ver, Uma forma encontrada pelo governo para compensar o
decrscimo inicialna arrecadao do imposto ntervvos. Com a reduo
deste imposto, o secretrio de Finanas, Rodrigues Costa, pretendia imprimir
uma tal rotao na propriedade rural do estado que o imvel passaria cinco,
seis ou mais vezes de mo em mo 10.
Ainda no que diz respeito questo fundiria, o governo aprovou a
Lei 410, que preVia a "venda de terras devolutas e fazendas adqUiridas
pelo governo estadual em lotes ou em glebasC ... ) a quem se obrigar a
cultiv-las', e a compra,
com OS recursos assim obtidos (. .. ) de terras que fertilidade
renam condies de salubridade de clima e facilidade de
comunicao com os mercados consumidores de gneros
de lavoura, a ftm de parcel-las e vend-las a imigrantes ou
a ,qUem quiser dedicar-se lavoura. 11
19ualmente,o Decreto 522 tinha a inteno de expandir a pequena
propriedade. Autorizava a concesso de lotes dos ncleos coloniais do
estado a funcionrios pblicos, empregados ou operrios de
estabelecimentos industriais ou comerciais, e tambm aos operrios dos
arsenais do Distrito Federal que, por motivo de economia,foramdispensados
de seus empregos 12.
No que diz respeito mo-de-obra, a posio do governo era de que
ainstabilidade da oferta de trabalhadores no deveria ser resolvida atravs da
imigrao oficial.Achegada macia e sem uma seleo prvia de ingrantes
contribuiria para a no fIXao desses trabalhadores no campo. O estado
deveria limitar seu auxilio ao pagamento de passagens para colonos,
solicitado pelos lavradores, oque evidenciava nos a opo do governo pelo
PROJETOS DE REFORMA 65
trabalhador nacional como seu intuito de reservar-se um papel acess6rio
no processo' de imigrao, restrito ao apoio das iniciativaS dos proprietrios
privados. importante ressaltar igualmente que a imigrao como fonte
de mo-de-obra referia-se no apenas aos traballiadores estrangeiros,
mas tambm a nacionais que, enfrentando nas cidades
grandes dificuldades ocasionadas pela crise de 1898, poderiam transferir-se
para o campo 13. .
Esseconjun:todepropostasapresentadope1ogovemoAlbertoTorres
foi pensado e parcialmente implementado por um conjunto de atores que
integravam umncleo reformista. Um primeiro momento de constituio
desse ncleo foi a dos secretrios de estadoindependentemente da
indicao do Partido Republicano FlUminense, segundo o critrio de
competncia taca e administrativa. Foram escolhidos MartinhoAlvares da
Silva (secretrio do Interior e Justia, de Campos), Hennogneo Pereira da
Silva (secretrio de Obras Pblicas e Indstrias) eJoo Rodrigues Costa
(secretrio de Finanas).
Ao lado do Exeeutivo reunia-se um conjunto de dava
sustentao poltica ao governo, atuando seja no Legislativo
estadual, apresentaildo projetos de lei e articulando sua aprovao, seja na
esfera federal, promovendo negociaesno Congresso ou comaPresidnda
da Repblica. No pruneiro caso pode ser dtado Soares Gouveia, de Petrpolis,
que apresentou o projeto que introduzia o imposto territorial no estado 14
. ..
. As discusses sobre o projeto do imposto territorial dominaram
amplamente os trabalhos daALERJ em 1898, contando como apoio de Fidlis.
Alves,]oo Carlos Teixeira Brando, Amrico Wemeck, Baltazar Berriarctino,
Barreto Duro, Pe.dro Cunha e Sebastio Barroso. Na esfera federal Nilo
Peanha colocava-se como figura-chave, atuando como articu1adorjunto ao
Executivo
t
auxiliado por Rangel Pestana.
A despeito da gravidade da crise fmanceira e dos esforos do governo,
algumas medidasrefonnistas apresentadas, e at aprovadas, no foram postas
emprUca.ALei395, de dezembro de 1898, que institua o imposto tenitorial,
virou IelIamorta, para o controle dos gastos pblicos no
tiveram maior eficcia e, em relao diversificao agrlcola, nenhuma
medida concreta chegou a ser executada 15. . .
Porm, o fracasso desse conjunto de propostas no dobrou as
pretenses do ncleo reformista fluminense. onm dogovemo de Alberto
Torres e seu afastamento da vida pblica tirou de cena um importante aliado,
6 6 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
mas no impediu a retomada dos debatesaose iniciar O governo de Quintino
Bocaiva em 1901, nem levou desarticulao dos elementos afinados com
aquelas idias.
Ainda que Quintino Bocaiva divergisse em muitos aspectos do
programa anterior, alguns pontos bsicos levantados por Alberto Torres
tiveram continuictade. No entanto, a iniciativa da elaborao e implemen-
tao de medidas reformistas deslocou-se para O Legislativo. Diferente-
mente de Alberto Torres, Quintino fazia srias restries instituio do
imposto territorial, tinha preferncia pelo imigrante estrangeiro em
detrimento do trabalhador nacional, e atribua importncia apenas relativa
diversificao agrcola, defendendo sua expanso, mas em consonncia
com a cafeicultura, ou seja, como uma atividade alternativa temporria e
secundria I As propostas relativas ao controle dos gastos pblicos eram
ainda maisUmitadas, nose delineando iniciativas consistentes para promover
um saneamento financeiro.
Ainda que no encontrassem base de apoio no presidente' do estado,
os pontos bsicos das propostas anteriores tinham respaldo em elementos do
Legislativo e mesmo do Executivo.Joo Rodrigues Costa continuava como
titular da Secretaria de Finanas e era um forte defensor da cobrana do
imposto territorial. No Legislativo destacavam-se os deputados Fernando
Ferraz, Soares Gouveia, Arajo Pinheiro,Mateus Brando, Oliveira Botelho,
Bulhes de Carvalho, Herrnogneo Silva (agora presidente da ALER]) e
especialmente o eStreante Henrique Carneiro Leo Teixeira, que com suas
posies sintetizava a resposta dos reformistas para a crise econlIca e
financeira 17. Esse grupo de deputados, embora fosse numericamente pouco
expressivo, era o responsvel pelos principais debates daALER]. Ospontos
principais colocados em pauta foram mais uma vez o imposto territorial e a
diversificao agricola.
As discusses sobre a cobrana do imposto territorial foram levantadas
atravs de dois projetos. Em 19m, o deputado Femando Ferraz apresentou
umprojetoque defendia a extino quase imediata doimpostode exportao
e a introduo doimposto territorial sobre a totalidade das propriedades rurais
do estado. O imposto seria pago razo de 400$ por48000 m' , quanto rea,
e razo de 1% quanto aovalorvenal da propriedade". Confrontando esse
projeto com a Lei 395, pode-se perceber que suas pretenses eram mais
amplas. Enquanto a lei previa a extino progressiva do imposto de
exportao, Ferraz preconizava o fim desse imposto em apenas seis meses.
A lei isentava os terrenos de domnio pblico e os de propriedade da Unio,
PROJETOS DH REFORMA 67
do, governo estadual, dos municpios e das instituies de caridade do
pagamento do imposto territorial, mas pelo novo projeto nenhuma propri-
edade rural fi:caria isenta. Alm disso, o percentual relativo ao valor venal
da propriedade era de 1%, contra 1/6% da Lei 395. O projeto Ferraz foi
vetado naALERj 19.
O segundo projeto apresentado foi o de Leo Teixeira. Ainda que
propostas substancialmente
diferentes. Reiterando uma posio praticamente comum a todas as propostas
de implantao do imposto territorial, este projeto previa a cobrana do
imposto com base .na rea, razo de 500 ris por 48000m
2
, e razo de 1/
4% quanto ao valor venal do imvel. No mais, era bastante semelhante lei
anterior, garantindo as mesmas isenes e prevendo a extino gradual do
imposto de exportao. A novidade do projeto era a previs de multas para
quem se recUsasse a fornecer infonnaes para o clculo do imposto e a
especificao de que o montante a ser pago seria retificado sempre que se
verifiassem alteres no valorvenl dos im.6veis ou seu parceImento.
Finalmente, Leo propunha que a taxa de exportao sobre o caf
Casse para 94& logo 'que fosse iniciada a cobrana do imposto territorial.
.Associado disusso do imposto territorial, LeoTeixeira apresentou
tambm um projeto visando a instituio da cdula residencial, que tinha
por objefuro estabelcer uma, taxao sobre a populao urbana de
maneira a distrlbtifr o nus da tributao no apenas pelo cohjunto dOs
proprietrios rurais 20
, O projeto de Leo Teixeira referente ao imposto territorial no sofreu
:inaiores percalos. Depois de receber algumas emendas, entre as, quais a de
Soares Gouveia, que amenizava ainda mais seu contedo, foi aprovado e
, transformado na Lei 507, de 1901.Mas ainda uma vez alegislaon entrou
em vigor, e em 1902 foi aprovada a Lei 557 J pela qual o imposto' incic;U
unicamente sobre ovalorvenal dos imveis rurais e era reduzido para 3/10
de 70% desse valor. Alm disso, a nova lei adiava a reduo do imposto de
ex:portaosobre o caf para seis meses depois de iniciada a arrecadao do
imposto territorial e determinava que o montante dessa reduo teri. relao
direta com esse ltimo imposto 21.
Um balano <o encaminhamento das propostas reformistas no estado
indica que essas idias tiveram continuidade, embora asposie5 de Qu:.intino
Bocaiva no estivessem plenamente afinadas com as idias mestras que
comearam a ser desenhadas mais claramente durante a gesto deAlberto
Torres. A figura dissonante de Quintino no irubiu a evoluo e o
68 BM BUSCA DA IDADE DE OURO
amadurecimento das propostas levantadas pelo ncleo refonnista referentes
questo doimpo6totenitorial.lvIas tambmverdade que os deputadc6 estaduais
e
que aprovao da Lei 557 no significou sua aplicao.
Com a eleio de Nilo Peanha e sua posse em 1903, as iniciativas
refonnistas ganharam novo impulso. Os pontos centrais da nova investida
guardavam estreita conexo com as medidas propostas durante o governo
de Alberto Torres. O saneamento fUlanceiro deveria ser alcanado com
recursos prprios, sem se recorrer a emprstimos estrangeros, visando-
se a reduzir as despesas e ampliar a receita. Para atingir tais objetivos
procedeu-se a UIna; refmna administrativa, reduziram-se os gastos pblicos
e foi retomada a tese da mudana da base tributria do estado atravs da
cobrana do imposto territorial em substituio ao imposto de exportao
do caf. Novamente a implementao do imposto territorial deveria
cumprir wn papel duplo: auxiliar na resoluo dos problemas financeiros
de maneira a ampliar a receita, e estimular desenvolvimento da
agricultura nas grandes propriedades improdutivas atravs de . seu
esfacelamento em pequenas uIdades produtivas. NesSe quadro, mais
uma vez oimposto territorial ocupou um espao importante, e concentraram-
se esforos para implement-lo. Para viabilizar sua cobrana, Nilo l?eanha
baixou um decreto alterando o projeto de 1901 de Leo -Teixeira. A
mudana consistia em determinar que o imposto incidiria unicamente
sobre o valor venal das terras e benfeitorias e seria devido anualmente na
porcentagem de 0,3 % sobre 70% do valor venal 22 Essa iniciativa, ainda
que tenha dado partida efetiva cobrana do imposto, teve resultados
bastante limitados tanto do ponto de vista dos recursos gerados quanto
da inteno de provocar uma fragmentao da propriedade.
Durante a presidncia de Oliveira Botelho (1910-1914),maisuma vez
a cobrana do imposto territorial voltou cena, o que indicava as graves
limitaes enfrentadas em sua arrecadao. O exame da renda por ele gerada,
em comparao com o imposto de exportao e com a receita total, revela
claramente o baixo recolhimento deste tributo 23. Na tentativa de
contornar esses problemas, foi proposta a criao de um servio de
fiscalizao da cobrana do imposto territorial, e em 1913 Botelho
promoveu um aumento imposto, que passou de 0,3% para OA%
sobre 70% do valor do imvel
24
Essas no atingiram os objetivos desejados em virtude da
precariedade dos instrumentos de arrecadao e das resistncias dos
PROJETOS DE REFORMA 69
proprietrios rurais. Para enfrentar esse desafio, mais uma vez, em 1920, o
governo Raul Veiga apresentou uma nova lei de regulamentao do
imposto territorial ql:le estabelecia novos ndices de cobrana: o imposto
seria calculado propordonahnente ao valor venal da propriedade razo
de 0,5% sobre 80% deste valor, no excedendo a rea de 500 haj
acrescentava-se ainda que as propriedades de maior extenso ficavam
sujeitas a mais O t 1 % quando no cultivadas 25.
Uma avaliao dessas diversas tentativas demonstra as imensas
dificuldades encontradas para se alterar a base tributria do estado. De
fato, chegou-se ao fim da Primeira Repblica sem que a cobrana do
imposto territorial se tivesse tomado uma realidade significativa no
oramento fluminense ou provocado qualquer alterao na estrutura
fundiria do estado.
Diversificao da agricultura: e o caf no era mais a
opo preferencial
, O segundo ponto central dos programas de refonna da agricultura
flulninense foi a diversificao da agricultura, encarada como uma
alternativa pennanente e preferencial, em contraposio a uma outra
orientao que, mesmo no discordando da diversificao, a via como
uma opo provisria e complementar cafeicultura. '
Embora a diversificao agrcola fosse objeto de discusso desde
os anos 1880 e tivesse voltado cena no governo Alberto Torres; no foi
alvo ento de medidas concretas. Os pronunciamentos de Alberto Torres
diagnosticando o fjm da cafeicultura e defendendo a criao de ma nova
base produtiva, bem como as iniciativas de seu secretrio de Obras
Pblicas e Indstrias, Hennogneo Silva, em prol da diversificao, no foram
suficientes para concretizar medids nesse sentido 26. Na prtica, o que a
maioria dosproprietrios desejava - e Quintino Bocaiva era um porta-voz
dessa posio - era que a lavoura cafeeira no fosse colocada em segundo
plano, mas que incorporasse mtodos cientficos de cultivo.
, O governo de Quintino Bocaiva no deu portanto'maiorunpulso
diversificao, voltando-se fundamentalmente para a elaborao de'timPlano
de Valorizao do af consistindo na fonnao de uma associao d!=
produtores que centralizaria a distribuio e a venda desse produto. Essa
medida teria por base a emisso dewarrantssobre o caf armazenado. Com
base neste plano, o Executivo fluminense apresentou ALERJ um projeto de
lei, Segundo o qal o governo do estado era autorizado a celebrar j u s ~ s e
7 O BM BUSCA DA IDADE DE OURO
convenescoma Unio e outros estados, visando valorizao do caf. Essa
iniciativa, mesmo no tendo ido adiante por falta de respaldo em nvel
nacional, indica o interesse de Quintino e de setores produtivos do estado em
sustentar prioritariamente a cafeicultura 27
Foi com a eleio e o incio da gesto de Nilo Peanha 1906)
que a tese da diversificaio ganhou novo alento. tornando-se o carro-chefe
do plano de governo. Recuperando as idias mestras j em pauta e
rearticu1ando umgrupo de polticos que j vinha atuando em defesa dessas
propO!tas(emborase encontrasse isolado e no contasse como apoio de wna
liderana expressiva desde o afastamento de Alberto Torres), Nilo Peanha
deu partida de refonnas. '
O programa de diversificao agrcola levado a efeito consistia em
fomentar novas culturas de maneira a atender s necessidades internas do
estado, que h tempos vinha sendo obrigado a importar gneros de primeira
, necessidade. A longo prazo, visava-se substituir a atividade monocultora
baseada no caf. O objetivo fundamental era transfonnaro estado do Rio no
pomar, horta e celeiro do Distrito Federal
2B
Para estimulara diverSificao, um dos primcitos atos do govemo foi
colocar em prtica' uma poltica tarifria que por um lado propunha fretes
mnimos para os produtos exportados e instrumentos agticolas, e, por outro
lado estipulava fretes triximos para os produtos importados. Paralelamente,
promoveu-se uma diminuio dos impostos de exportao e uma tributao
dos produtos importados 29.
Alm dessas medidas de carter tnbutrio, o governo Nilo Peanha
adotou outros instrumentos de estmulo, como a distribuio regular e
pennanente de sementes e mudas e a criao de estaes elijleflll:entais e
agronmicos. Criou estabelecimentos de ensino agrcola, utilizou
instrutores itinerntes para auxiliar na divulgao de' tcnicas
de cultivo agrcola e concedeu prmios a agricultores que apresentas-
sem bom desempenho 3D, As principais culturas estimuladas emm arroz,
milho, algodo e frutas. A pecuria, que em alguns momentos foi apresentada
oomo atividade foi alvo de insignificantes medidas concretas.
A sustentao dessa poltica continuou a ser feita por aquele ncleo
de polticos que se constituiu a partir do govemoAlberto Torres egradati-
vamente incorporou novos elementos. Ao lado dos antigos nomes da
confiana de Alberto Torres, como FidlisAlves de Souza, Antrrlo Pereira
Lima, Carlos Augusto Oliveira Figucitedo,Antnio Fialho. Abelardo Satur-
PROJETOS DE REFORMA '71'
nino Teixeira, Amrico Peixoto e at mesmo Hermogneo Silva, desponta-
,vamnovos deputados tais como Leo Teixeira, Oliveira Botelho, Henrique
Borges,ManoelAlvaresA. Sobrinho, Raul Femandes e ElisioAraujo 31.
Mesmo tendo rompido comN1loPeanha em virtude da disputa pelo
controle do estado em 1903, Hennogneo Silva ainda apoiava o programa
econmico do governo. Em carta a'NUo em 1901, alm de fazer comentrios
especftcossobre o desenvolvimento de novas culturas, declarava: "Pode ficar
certo de que sempre em mim um auxiliar sincero e leal para a
execuo de quaisquer medidas' que visem reabilitao financeira e
econmica do nosso estado
1l32
A par das medidas em favor da diversificao agrcola, a poltica em
relao cafeicultura tambm um indicador importante para demonstrar
que no se procurava apenas incentivar uma atividade complementar e
secundria lavoura de exportao. As medidas voltadas para o caf estavam
longe de expressr um comprometimento maior por parte do ncleo
reformista com aquele produto. Se verdade que o programa de governo de
Nilo Peanha apresentava a revitalizao da produo j existente como um
item importante, e que medidas foram tomadas para dar algum tipo de
proteo ao caf, tais como a diminuio da taxa de exportao (de i 1% para
8%) e dos fretes (esta ltima medida no estava voltada exclusivamente para
o caf, mas para o conjunto da, produo agrcola) 33 t essas' medidas
concentravam-se na,esfera da circulao e da comercializao. De fato, nada
foi feito para enfrentar os problems na esfera produtiva - ou seja, melhorar
a qualidade do produto e diminuir os custos de produo. '
Um outro argumento a ser considerado que as iniciativas
governamentais, a41da que no tivessem no caf sua opo preferencial,
refletiam a necessidade de sustentar ao menos temporariamente essa cultura,
uma vez que a receita do estado eStava fundamentahnente condicionada a
seu desem:penho.Ep.quanto a base tributria no fO$e alterada e adiveISHicao
no deslanchasse, o caf ainda ocuparia um lugar importante na economia
flU1.11inen.se, ecamo tal no podia ser abandonado. Contudo, ele no foi alvo
de uma ofensiva por parte do governo. Enquanto no Legislativo estadual os
deputados travavam intensos debates e apresentavam propostas
concretas de interveno no setor, o governo limitava-se a rechaar as
denncias de negligncia frente ,ao prpblema cafeeiro, sem no entanto
apresentaraltemativas 34 Ainda que no fosse claramente explicitado que o
caf no era mais a opo preferencial, a articulao entre a mudana da base
72 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
tributria e a diversificao da agricultura continha em si a inteno
de superao daquela cultura.
Esse comportamento do ncleo refoIlllista pode ser entendido no s
pela falta de perspectiva com que encarava o futuro do caf, mas tambm
por sua resistncia a polticas intervencionistas em favor desse produto. As
propostas de interveno no setor cafeeiro em discusso no penado traziam
na base a idia de participao do Estado no mercado cafeeiro 'como
elemento garantidor de recursos fmanceirosll, isto , como avalista na
obteno de emprstimos externos. A orientao fmanceira ortodoxa do
ncleo refoIlllista via com restries esse tipo de proposta.
No entanto, pode-se perguntar; se havia tantas restries por parte do
ncleo refoIlllista em geral, e de Nilo Peanha em particular, em promover
medidas mais efetiVas que implicassem uma maior interveno do Estado na
defesa da cafeicultura, o que teria levado participao do governo
fluminense no Convnio de Taubat? O acompanhamento das negociaes
para este acordo mostra que a posio fluminense foi ambgua e contraditria.
A despeito da presso interna dos setores cafeeiros fluminenses e do estado
de So Paulo para que se organi2asse uma ao conjunta que exigisse do
governo federal medidas concretas para proteger o caf, um maior
comprometimento de Nilo Peanha s ocorreu por ocasio de sua indicao
para o cargo de vice-presidente na chapa de Afonso Pena na sucesso
presidencial de 1906 " .
Durante o governo Rodrigues Alves, as investidas dos setores
cafeeiros a fim de garantir o apoio federal foram constantes mas no
obtiveram maior ressonncia. No entanto, com a abertura do processo
sucessrio, aqueles setores conseguiram obter um comprometimento da
nova chapa em troca de algumas alteraes no plano de defesa do caf, que
acabou sendo assinado pelos trs presidentes de estado,Jorge Tbiri (SP),
Francisco Sales (MG) e Nilo Peanha (RJ), em 26 defevereiro de 1906 ' .
Mesmocomprometendcrse formalmente com a poltica deval0ri2ao
do caf, Nilo peanha continuaria criando dificuldades para seu efetivo
funcionamento. Segundo Wolloway, as posies de Nilo em tomo da criao
e do funcionamento da caixa de converso tinham como objetivo inviabili.2ar
a aprovao do Convnio no Congresso. Ao defender a incluso da taxa de
cmbio, que deveria vigorar na caixa de converso prevista no Convnio, em
patamar mais baixo do que o vigente, Nilo contava reacender fortes
resistncias ao prog'ama J7. ..
. PROJETOS DE REFORMA 73
Essa interpretao do comportamento do lder fluminense pode ser
reforada pelas prprias declaraes pblicas de Nilo Peanha, em
Taubat, acerca d. inipropriedade da obteno de emprstimos para a
valorizao antes de ser alcap.ada a estabilidade da taxa de cmbio.
Iguahnente, declaraes de Nilo publicadas no Correio daManh, de que
as vantagens que o estado do Rio tiraria da valorizao no justificavam
os riscos de se levantar grandes emprstimos externos, s reafinnam
aquele ponto de vista as I
No plano estadual, o depoimento do deputado Alexandre Moura
tambm caminha nessa direo:
Introduzindo no Convnio de Taubat a clusula que devia
prender a medida valorizadora com a ftxao cambial, Nilo
obstou que ele entrasse em execuo imediata c. .. )e
independente da sano dos outros poderes iguais do Estado
e dos poderes superiores da Repblica.
l9
Essa estratgia foi em grande parte bem-sucedida, pois provocou
um retardamento da aprovao do Convnio no Congresso. Isto 56
ocorreu em maio de 1906, e assim mesmo parcialmente, com a excluso
dos itens relativos estabilidade cambial. Esta ltima questo s seria
aprovada em dezembro de 1906, quando Nilo Pcanha j estava fora do
govemo fluminense. e empOssado na Vice-Presidncia da Repblica. O
comportamento de Nilo diante de inmeras outras questes menores no
encaminhamento do Convnio em nvel estadual caracterizou-se pela
mesma perspectiva - itiviabilizar e adiar ao mximo sua implementao
4o
A maneira como se deu o engajamento do estado do Rio no Convnio
detaubatm05trou com bastante clareza como ondeoreformista flwninense,
do qual Nilo Peanha era a principal liderana, encarava a atividade cafeeira.
De fato, seu comprometimento foi em grande parte resultado de presses
dos cafeicu1toresfluminenses, que num primeiro momento acreditaram que
essa poltica seria lucrativa, e dos cafeicultores de So Paulo. Para o governo
fluminense, o caf eStava longe de representar uma opo prefe rencial. "Nas
palavras de Oliveira Botelho, o caf era um ditador que limitava espirito
empresarial e impedia o desenvolvimento das fazendas mistas 41
A despeito das divergncias e cises polticas que ocorreram a partir
do afastamento de Nilo do governo fluminense em 1906, o discurso
diversificador, com altos e baixos, foi levado adiante. Ainda que possa ser
percebida uma atenuao ou modificao de nfase nas medidas de
74 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
diversificao ao longo dos anos 19io, e at o comeo da dcada de 1920,
as polticas oficiais levadas a efeito sustentaram a policultura como opo
preferencial. OgovemodeOliveira BotelhoCI911-1913),mesmoapresentando
dificuldadesnamanutenode sua aliana com Nilo Peanha, manteve como
ponto central de sua poltica econmica a diversificao, atravs do
desenvolvimento da pecuria. O caf, ainda que naquele momento passasse
porumamelhoria CX>Iljuntural de preos, no foi objeto de nenhuma inidativa
concreta por parte do governo 42. Igualmente, o segundo governo de Nilo
Peanha CI914-1919) promoveu uma nova investida em direo
diversificao da agricultura, reeditandovrias de suas antigas iniciativas de
incentivo produo de alimentos. Nos anos 1920, ainda que a bandeira da
diversificao fosse perdendo espao diante da recuperao da cafeicultura,
localizada no norte doestado,NiloPeanha e Raul Femandes continuaram a
sustentar essa proposta.
No programa de campanha da Reao Republicana, Nilo Peanha
reeditou inmeros pontos defendidos em seu primeiro governo fluminense.
Um dos temas centra4l era a defesa da agricultura, que deveria caminhar
fundamentalmente para a diversificao, de maneira a garantir a auto-
suficincia na produo de alimentos. Os meios de atingir esses objetivos
seriam a reduo dos fretes, a tributao dos produtos estrangeiros
sirnilares ao da produo nacional, e a diminuio progressiva dos
impostos sobre a produo nacional em troca da implantao do imposto
tenitorial. No tocante agricultura de exportao, embora reconhecesse que
o caf era a espinha dorsal da economia, Nilo chamava a ateno para a
necessidade de ampararas demais culturas, como O cacau, a bomicha e o
acar. Na verdade, Nilo Peanha sempre viu com restries as polticas
valorizadoras, pois no seu entender
no criaram no estrangeiro seno concorrentes ameaadores,
e nos mercados internos. com o cmbio que temos, a iluso
de preos que realmente menos tm aproveitado ao produtor
que ao exportador, ao torrador, ao retalhista, ao consumidor.""
Da mesma forma, Raul Femandes, em sua plataforma eleitoral para
disputar as eleies para o Executivo fluminense em 1922, reafirmava uma
opo clara pelo mundo rural, colocando mais uma vez a diversificao da
agricultura como a alternativa preferencial".
Pode-se portnto perceber que a atuao do grupo reformista
fluminense, que tem em Nilo Peanha sua liderana mais expressiva,
PROJETOS 75
representou "mais que um conjunto de medidas empreendidas como
paliativos conjunturais a momentos de agudizao da crise em complexos
agroexportadoresregionais". De fato, essas iniciativas "expressavam o eSboo
de um projeto de aesdmentoeconmicoaltemat.ivomonocu1tura tradicional,
ainda que centrad nos limites da prpria economia agrcola"
45
O reconhecimento de que o caf no foi encarado como o alvo
prioritrio nas propostas de reforma da agricultura fluminense, e que
asinidativasdiversificadorasnoconstiturarnapenasmedidas complementares
ao funcionamento da plantaton
J
no significa dizer que os objetivos do
ncleo refonnista tenhamsdo alcanados. Ainda que no seja nosso propsito
fazenuna avaliao da coerncia intema dos programas implementados ou
de seus resultados concretos como instrumentos de modernizao da
agricultura, pode-se perceber que inmeras foram as limitaes desses
programas e que, de fato, a diversificao no conseguiu se tomar um
substituto pleno do caf.
A concluso principal que emerge da argumentao apresentada
que os programas de reforma propostos pelo ncleo refonnistafluminense,
centrados na diversificao da agricultura e na criao do imposto
territorial, no estavam em sintonia com as demandas dos cafeicultores e
dos proprietrios rurais em geral. Ainda que no tenham sido detectados
projetos econmicos antagnicos, pode-se perceber com nitidez a
elaborao de um projeto de reforma para a agricultura e as resistncias
levantadas contra ele. Esta falta de consonncia funcionaria como um
elemento que dificultaria a construo de um consenso poltico.
Notas
1. Howard Beckerj em entrevista publicada na revista Estudos Histricos, n. 5,
p.1l9-126, chama a ateno para a possibUidade de se identificar grupos (ou tlescolas de
pensamentd') a partir ae idias e pensamentos comuns, ainda que os componentes desses
grupos nlo tenham ligaes diretas.
2.Todas as anAlises relativas SNAforam extradas do trabalho de Snia Mendona,
Ruralismo: agricultura, Poder e Estado na Primeira Repblica:
3. Ver UMA SOBRINHO, Barbosa. Presena de Alberto TomlS. p. 155. Gazeta de
Petr6polis, 30 mar . 1899. p.1. Marieta de Moraes (coorei.) . .A Repblica na
Ve1ba ProtJinci4. p.15-16.
76 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
4. Ana Maria Sant03, em seu tr2balho Agricullural "'foma anJ Ih, Ua 01
in Ih. slaI, 01 Rio Ih Jarwiro, p.275, sustenta que o programa de diversillcaio
foi concebido pela elite poUtlca como uma altemativa provisria e uma linha auxiliar ls
lavouru de exportalo', Na sua perspectiva, as polticas oficiais estavam plenamente
conectadas com a classe dos proprietrios e por isso mesmo eram limitadas e alcanaram
resultados exguos, Lamado, em seu documento de trabalho O govwno .A.llwrto
7'brns: renovalo da elite polttica e tentativa de recuperalo econmica, p.23,
considera "que n10 existe divergncia de fundo entre oposilo e govemo em relaio
l maneira de solucionar a crise econmicofmanceira, o que leva ao raciocnio de que
o govemo, a oposlio e os proprietrios em genl parthavarn de pontos comuns para
a solulo da crise em 1898.
5. M1NTZ, Sldney. Culture: an anlhropologica1 view. Tb, RftJ6W, Yale
University Press, p.509, 1982.
6. LAMARo, O projeto econrnJc0 fmancelro de Alberto Torres. In:
FERREIRA, Marieu de Moraes ecoord.). op. cit, p.l03. UMA SOBRlNHO,Barbosa. op. cit.,
p.193-202 .
7. Mensagem .presidencial 1899. pAS.
8. LAMA.Ro, O governo Alberto TotTft renovalo da elite poltica. e
tentativa de t:.conmlca. p.20. documento de tr.lblllho.
9. Ana" da MEl(f 1898. p.81.
10. Idem.
11. Colelo de leis e decretos 1898. p.85.
12. Decreto 22 fev. 1899, publicado em O .F7umirwns. de 20 mar. 1900, p.1,
cito por Srgio Lamario, op. cit'
f
p.20.
H.Mensagem presidencial 1898. p.14.
14. Ana" da MEl(f 1898. p.81
15. LAMARo
f
Srgio. op. cit., p.27.
16. Para Quintino o imposto territorial era um verdadeiro seqUestro da
propriedade. Ver Mensagem presidencial 1903 em Anais da ALEIU 1903. p.l0.
17 .Anais da ALERJ 1901. p.230-232. leIo Teixeira era bisneto do Marqus de
Parani
f
Hon6rio Henneto Cameiro Leio, um dos artfices da unidade monrquiOl
f
e neto
do Visconde de Cruzeiro.
18. Anais da MEl(f 1901. p.113. 117.
19. LAMARo, O governo Quintino Bocaiua .. a ncalada do nismo. p.2.
documento de trabalho.
20 . .Anaif da.AlliRJ 1901. p.lS. presidencial 1902 em AnaIS da.All!RJ
1902. p.54. Coleio de leis e decretos 1902. p.76. l.AMA.Ro, Srgio. op. cit., p.5. 6.
21. .Ana" da .ALEIU 1901. p.600. Colelo de leis do Rio de Janeiro 1903.
p .95-100.
22. Ana" da MEl(f 1904- pA13. 415.
PROJETOS DE REFORMA 77
23. Manica Kornis. no dOOlmento de trabalho Os impasses para a consolidao
do nilism0
J
p.101, fornece os seguintes dados:
ANO IMPOSTO IMPOSTO DE RECEITA TOTAL
TERRITORIAl EXPORTAO
SOBRE O CAF
(1) (2) (3)
1904 533:699$778 2.959:696$598 8.231:276$637
1905 484:953$764 2.231:301$849 7.799:245$293
1906 ,444:672$223 2.498:873$098 8.680:574$762
1907 368:370$696 2.308:497$944 7.577:854$470
1908 361:008$225 1. 757:120$942 7.279:366$686
1909 366:808$181 1.932: 17 5$959 6.824:112$795
1910 333:632$540 2.094:721$202 9.281 :570$780
1911 304:985$611 2.561:994$164 9.066:692$385
1912 373:585$416 3.354:966$426 11.563:.291$588
..
1913 400:099$301 2.505:900$946 12.093:861$321
(1) Relm6rio do secretrio.geral do estado do Rio ao jmlsdenle do estado Oliveira
Botelho. 1914. p.681. .
Por disposio da Lei 1131 (26 nov.1912), houve um ument da renda do 'imposto
a partir de 1913: passou de 0.3% a 0,4% sobre o valor geral dos imveis.
(2) 1903 a 1909 - Relatrio do secnnrlo-gera1 do estado do Rio ao presidenJe do estado
OlivelraBotelbo. 1911. p.759. 1910 a 1913 - idem. 1914. p.167.
(3) MENDONA, Sania. op. ciL} p.188.
24. Relatrio do seai1trlo.geral do estado do Rio ao presidente do estado Oliveira
Botelho. 1914. p.681.
25. FERREIRA,' Marleta de Moraes. A poltica' econ8mica do governo de Raul Velga.
documento de trabalho.
26. Alberto Torres declarou a esse respeito: liA diversificao da agricultura era a
alternativa adequada para substituir a inexorvel decadncia da lavoura cafeeira". por
LAMARO. Srgio. O projeto econmico fma.ncelro de Alberto Torres. In:
de Moraes (coarei.). op. cit., p.103.
Em janeiro de 1898} Hermogneo Silva organizou um questionrio para avaliar a crise
da agricultura fluminense, e que foi enviado a todas as clmaras municipais do O
questionrio foi organizado de modo a influenciar as respostas, no sentido de justificar a
poltica de defesa da diversificao da agricultura. Ver Relatrio da Secretaria de Obras
Pblicas e Indstrias apresmado pelo dr. Hermogneo Silva ao presidente do 'estado dr .
.Alberto TOf'I'fIS em 1898-
27. Ver HOIJ..)WAY,Thomas. Vida e morte do Convnio de Taubat. pA8.
28. PANTOJA,Snvia. O projeto poltico de Nilo Peanha. In: FERREIRA, Marieta
de Moraes (coorei.). op. cit.} p.138. SANTOS, Ana Maria, MENDONA,Snia. Interveno
78 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
estatal e diversificaio agncola do' estado do Rio de Janeiro (1888/1914). Revista do Rio
Ja'Nllro, n.2, p.10J3.'
29. Anais da ALBIU 1904. p.413-415.
30. Relatrio do secretrio geral do estado 1906. p.178.
31. O arquivo de NUo Peanha. possui vrias cartas que demonstram o apoio de
chefes polticos ao programa de Ver carta de Raul Fernandes aNUo Peanha
em 28 abro 1904 e carta de Oliveira Botelho a Nilo Peanha em 27 novo 1904.
32. Carta'de Hermogneo Silva a Nilo Peanha em 4: novo 1904 e 7 dez. 1904.
Arquivo NUo Peanha.
33. PAN'l'OJA.SflvJa. op. clt., p.138-142.
34. Anais daA1JJR,J 1905. p.358. 19Q6, p.33.
35. P .AN1OJA, Silvia .As tentatitJQS de rtlCUperao econmica do estado do Rio (1904-
19(6). p.34-41. documento de trabalho.
36. PRITSCH.Wll18ton. Spectos da poltica econmica no Brasil: 1906-1914. In:
NEUBAUS, Paulo Corg.). A 1IC01IOmia braseira: uma viso histrica. p.269.
37. HOLL)WAY.'Thomas. op. cit., p.63-64:.
38. Idem. p.63,.
39. Anais da ALEBJ 1906. p.33.
40. PANTOJA',Sflvia. op. clt., p.34-35.
41. Citado em SANTOS, Ana Maria . .AgriculturaJ rejo"" and'tbe idea of decatletral in
tbe atale of Rio. Janeiro. p.194.
42. KORNIS, Mnica. op. cito
43. FERREIRA. Marreta de Moraes. Conflito regional e crise pol(tica: a . Reaio
Republicana no Rio de Janeiro. p.56-57.
44. Idem. p.80-83.
45. MENDONA, op. cit., p;63.
4
A fora da 'tradio
Constatadas as dificuldades na implementao das propostas
reformistas, procuraJ;'emos agora recuperat as formas e os mecanismos de
resistncia de setores da elite poltica e da classe dos proprietrios rurais.
Examinaremos as causas dessas resistncias ao programa de diversificao
agrcola como uma alternativa definitiva, bem como introduo do
imposto territorial, direcionando nossa argumentao para a discusso de
dois aspectos:
1) a cultura e a mentalidade 1 dos proprietrios rurais fluminenses
estavam. estreitamente ligadas a uma tradio plantacionista cafeeira e
aucareira, sendo a produo de aUmentos para o mercado interno
encarada como uma atividade menor e pouco lucrativa, que no conferia
prestgio, e era apenas temporria e auxiliar grande lavoura. Igualmente,
a taxao da propriedade rural era vista como um atentado propriedade
privada e, conseqentemente, como intolervel.
2) os condicionamentos da conjuntura nacional tambm
desempenharam um papelimpoitante na obstaculizao do programa de
reformas. O caf, a, despeito' de todas as crises, era tratado como ti principal
produto do pas e ao longo de toda a Primeira Repblica foi alvo prioritrio
de ateno e proteo do govemo federal. Esta circunstncia estimulava
o interesse e as liges dos proprietrios fluminenses com a cafeicultura,
criando entraves para a adoo definitiva de outras alternativas. '
Pa,a trabalhar o primeiro aspecto proposto, a estratgia escolliida
foi privilegiar a anlise das complexas conexes entre o cultural e o
poltico, enfatizando"o papei das heranas e dos projetos nos mecn:i.smos
formadores das mentalidades e dos comportamentos das elites agrrias e
polticas fluminenses? .
A, memria histri nunca deixou de ser referncia": no jogo
, poltico, e a busca das razes sempre foi um caminho para solucionar os
problemas atravs dos tempos. Mais uma vez a noo de Idade de Ouro
apresentada por Raoul Girardet fundamental para o entendimento das
resistncias dos proprietrlos rurais flwninenses
3
.Tendo como referendal
80 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
um tempo passado marcado pela opulncia, a elite agrria do estado do
Rio tinha dificuldade em aceitar programas de reforma que mexessem com
elementos bsicos aSsociados a esse imaginrio.
Outro autor importante para esta anlise Amo Meyer, emAfora
da tradio. Ao analisar a Europa ocidental de 1848 a 1914, Meyer no
s6 chama a ateno para as foras de resistncia e inrcia que refreavam
as novas tendncias econmicas da poca, como traballia com as noes
de tradio e permanncia nas elites agrrias europias, sem associ-las
idia de atraso. Ainda que preservando traos do antigo regime e sem
abdicar de sua concepo de mundo, postura e relaes aristocrticas,
essas elites eram dotadas de grande capacidade de adaptao. Assim, para
Amo Mayer, afirmar que as formas de atuao das elites se mantiveram
clssicas e tradicionais no significa dizer que fossem arcaicas, sem vida, e
impermeveis mudana 4.
Podemos tambm considerar que os problemas e resistncias
das elites flurninenses no so especficos e singulares, mas, ao contrrio,
so comparveis aos de suas congneres europias. Os impasses
que se apresentaram para a realizao do programa de reformas no estado
do Rio no seriam assim fruto do atraso ou da averso a todo tipo de
mudana, mas estariam relacionadas com uma determinada maneira de
conceber o mundo.
A concepo de mundo das elites fluminenses, como j foi visto,
era fortemente influenciada pela viso de um "tempo de antes". Depois
de ter sido durante quase meio sculo um dos principais sustentculos
do regime monrquico, graas pujana da cafeicultura escravista
e prosperidade do setor aucareiro campista, a classe dos proprietrios
rurais fluminenses passou a enfrentar, a partir de fIns do sculo
passado, graves dificuldades econmicas e polticas. Tais dificuldades, na
sua perspectiva, caracterizavam a situao de "decadncia geral da
VelliaProvincia', que contrastava com um passado de opulncia, fartura,
grandeza e prodigalidade.
Esse 'tempo de antes", a despeito da significativa diversidade regio-
nal e da complexidade social existente entre os proprietrios rurais
fluminenses', era o tempo de urna economia cujos produtos bsicos eram
o acar e o caf e na qual a propriedade da terra e a posse de escravos
eram fatores fundamentais. Foi com base nesses componentes que, ao
longo de todo o sculo XIX, constituiu-se uma poderosa aristocracia rural
no Rio de Janeiro . .
A FORADA TRADIO 81
Partindo desse quadro, nosso objetivo examinar as ligaes dessa
elite fluminense com a terra e seus produtos nobres, o caf e o acar,
smbolos derlqueza e poder, e mostrar como esses elementos passaram a
fazer parte do imaginrio dessas elites, associados a uma Idade de Ouro
perdida que era preciso recuperar.
1. A propriedade: smbolo de prestgio
Opapel-chave da propriedade tenitorialno universo cultural da sode-
dade brasileira to antigo quanto os primrdios da colonizao portuguesa.
Tornar-se proprietliorural eingressarnaari.stocracia territorial brasileira era
o smbolo mximo de prestgio e poder no Brasil desde osculoXVI6.No caso .
fluminense essa situao no foi especiahnente diferente, e desde a abertura
das prlmeirasfazendas e engenhos o acesso terra foi o primeiro passo para
atingir posies de destaque sodal e poltico. "
. Sheila de Castro Faria, ao analisar a estrutura fundiria de' Campos,
fornece a esse respeito 7. Os senhores do acar
do norte fluminense, a despeito de suas origens econmicas diversas,
viveram na segunda metade doscu1oXIXum. processo de enriqueCimento
que deu lugar constituio de uma "nobreza territorial". A ampliao dos
capitais foi acompanhada do aumento das propriedades rurais e dos
engenhos, o que por sua vez trouxe a possibilidade de enobrecimento
com a obteno de um ttulo nobilirquico. Esta foi a histria do Baro de
Abadia, do Baro de Santa Rita e de muitos outros. Esses ricosfazendeiros
viviam luxuosaIn<;nte em grandes casares, ampliando 'e refinando Seus
padres de consumo. A anlise dos inventrios dos grandes proprietrios
campistas revela a divrSifica e' sofistico de' seu' estilo de
No universo cultural desse:s indivduos, a propriedade fuildirla' era
sem dvida o indicador fundamental de riqueza e prestgio. Se.r
trio de reas expressivas de terra significava poder deixar de ser um sitiante
ou mesmo um abastado para adciuirir uma nva,posio,
umnovo statUssocial.
Se os cmc;:rciantes 'pretendiam transfonnar-se em proprietrios
ruraiS que possvel, abandonando suas antigas atividades; em
cootrapartid 'oS ''- produtores agricolas de rilair vulto desdenhavam
o comrcio como' lugr de investimento de capital. Este fato evidencia
que a posse de terras era condio sne qua non para a ascenso'social
s
Fia ,as.Sim C? papel fundamental da propriedade territorial,
82 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
no s como elemento de enriquecimento, mas como forma de
obter statuse poder.
Esse quadro no era muito diferente nas reas cafeeiras, onde, ao
longo do sculo XIX, tambm se constituiu uma poderosa aristocracia
territorial. Oriundos em grande parte das atividades comerciais, os novos
plantadores de caf encaravam a aquisio de terras e sua prpria
transformao em fazendeiros como uma poss1billdade de ascenso social
e de obteno de prestgio.
JolioLulsFragoso,aoanali.sarosmecanismosdeacumulaodecapital
no Rio de Janeiro no sculo XIX, comprova essas prticas. Os fazendeiros
fundadoresdosprimc:iroscafczaisdoValedoParahleramgrandescomerdanles
do Rio de Janeiro, que acumularam seus capitais no comrcio, mas que to
logo tomaram-se proprietrios rurais abandonaram os negcios mercantis .
Assim,namedidaemq\leseconsolidavaumaeliterura1llgadaaocaf,amaior
parte de seus negcios vinculava-se reproduo da agricultura escravista,
sendo pequena a parcela de capitais destinada anegcios no agrcolas. Isso
se explica, segundo Fragoso, porque tratava-se de uma sociedade em que
vigorava uma economia pr-capitalista onde o uso do excedente no deveria
de maneira c:xc1usiva e obrigatria ter fins produtivos ou lucrativos. Inmeros
eram os casos de comerciantes que, aps assumir uma considervel posio
econmica, direcionavam seus excedentes para a obteno de prestgio
social e status. I! certo que esses investimentos no eram obrigatoriamente
destinados a aplicaes economicamente improdutiVas, como por exemplo
a aqulsio de prdios, a compra de comendas etc. Tambm se poderia
melhorar a posio na hierarquia social atravs de investimentos produtiVos.
Foi nesse sentido que ocorreu nas primeiras dcadas do sculo XIX a
montagem das grandes fazendas escravistas de acar e caf pelos grandes
comerciantes da eorte 10.
Tomar-se proprietrio rural, para esses indivduos, era a forma de
escapar do preconceito que atingia aqueles que pertenciam, na linguagem de
Joaquim Nabuco, 'sc1assesquetraficam'" .Essaopopeloenobrecimento
eporsegulrum ethos"em que o resguardo em relao ao lucro" era um trao
fundamental o que explica o afastamento dos grandes comerciantes das
atiVidadesmercantisparaselimitaraseusafazeresagro-escravistas,aindaque
isso pudesserepresentarperdas econmicassignificatiVas,j queas atividades
mercantis em gera1apresentavam um maior potencial de acumulao. No
se tratava de menosprezar o lucro, mas de defini-lo como uma forma de
alcanar prestgiosocia1 e poder poltico 12. Esse fenmeno vem demonstrar
A PORA DA TRADiO 8
que a transfortnao da acumulao mercantil em fazendas escravistas era um
movimento que estava tambm subordinado a uma 16gica pr-capitalistade
ascenso sodal 13, Este foi o caso de inmeros comerciantes que se
converteram em fazendeiros, como Braz Carneiro Leo, os Gomes Barroso,
Amaro Velho da Silva de RibeiroAvelar.
Esse "escrpulo" em questes de lucro, esse 'tdesdm" pelos que
viviarndele e o como meio devida mostram claramente, para
Oliveira Viana, que o esprito pr-capitaUsta tinha razes fundas na
mentalidade da nossa aristocracla agrria. Prova disso que s6 nos anos
30, no dizerdeste autor, as "profisses mercantis comearam a classificar os
que as praticam: o dinheiro s por si no bastava para dar entre ns posio
social e mundana aningum". No comeo do sculo XIX, foi esta a causa
central da rivalidade entre a burguesia comercial dolo e os senhores rurais,
bem ex:emplificada no conflito entre os grandes senhores terrltorlais e a classe
dos mercadores enriquecidos depois da lei de abertura dos portos (1808).
Burgueses e grandes proprietrios disputaram entre ai a
freqncia, os titulos e as honras do Pao naquela poca. Mas
o preconceito peninsular contra as atividades mercantis
a nobreza territorialdaque1ea tempos e a hOstilidade
s pretenses da nova burguesia colonial, sada do trfico e
do comissariado, bem a expresso dessa mentalldade.
14
Realmentc.um; grande negociante importador. embora com as
arcas repletas de dinheiro, no podia penetrar:p.o crculo desta alta roda
aristocrtica, enobrecida ou pelos cargos ou pela grande propriedade: as
atividades do comrcio e da indstria eram ento consideradas
incompatveis com um homem de nobreza. Mesmo no fim do sculo XIX,
um jovem da aristocracia territorial, diplomado em direito ou
medicina, que porventura ingressasse "nas classes que traficam", estaria
marcado por uma desclassificao inevitvel 15
S6 a terra e o cargo pblico dignificavam. Durante todo o perodo
imperial as relac!s do Almanaque Laemmert, onde se discriminavam
todos os nobiliarcas do Imprio. abarcavam somente os grandes
proprietrios de terra c os senhores de escravaria que o
Imperdor distinguia com as hontarias e insgnias da nobreza' de ttulo.
Estas caractersticas so signos indicativos de uma sociedade em que as
atividades econmicas no tinham a preocupao exclusiva de acumular
recursos para novas aplicaes depuro ganhomonetrio. Oenriquedmento
tinha fins mais "elevacJoslt: era ambidonado, sem dvida, e inspirava, como um
84 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
ideal dominante, as atividades daquela elite; mas significava principalmente
um processo de prestgio social, unlmeio de assegurara cada um e aos seus
uma posio condigna nasodedade 16.
2. A propriedade intocvel
Dentro deste universo, a terra como elem.ento de poder e prestgio
ocupava um papeffundamental. Logo. apresentar propostas de refonnaque
afetassem esse "bem". especialmente no final do s culo XIX, quando tantas
modificaesjestavamemmardlaa1terandoa posio soda! dos proprietrios
rurais, significava no apenas um problema econmico que envolvia a
taxao da para alm dele. uma ameaa a todo um. universo de
valores edificado pelo tempo.
O monoplio da terra deveria ser mantido a qualquer preo,
especialmente numa conjntura em que o fim da escravido era'um fato
recente e o novo ordenamento social da decorrente se achava ainda em '
curso. Os proprielrios tiuitli.D.enses temiam oparceIamento da terra como
uma brecha que pudesse alterar a estrutura fundiria e criar possibilidades
de surgimento de uma ca:rnada de pequenos proprietrios rurais, alterando
as condies de vida. dosttabalhadores de maneira a aumentar seu poder
de barganha no trabalho. Impedir a fragmentao terra,
para os proprietrios uma fonna de manter um rgido controle
sobre ostrabalhad.oreS 17. I . ,' . ' " . ',o .,' " ,
da terra revalorizada pela Abolio em um bem mvel e disponvel no
mercado, sujeito a um cadastrO e ainda por cima tnbutvel, era extremamente
ameaadOr. Os.tiscosque airciativa de cobranado imposto territOrial trazia
para os proprietrios transcendiam qualquetvantagem que pudesse ser
oferecida para aqueles produtores que mantinham suas terras produtivaS e
que exportavam seus gneros para fora do estado, especiahnente os
cafeicuhores, mesmo a reduo dos ndices do, i.tpposto ,de
aportao .
para que ppderiam trazer.
, '- dentro desse qudio que devem ser htendidas'as
e asfoilnaS e mecanismos pe10squais
essas reaes se manifestavam. Ainda que no possam ser detectadas
" ,,, .
A FORA DA TRADIO 85
manifestaeBexpldtase agressivas dos propriettlosrutaise da elite poltica
diante da instituio do imposto teITitorial; e quevrias leis regulamentando
sua cobrana 1enhm sido aprovadas no Legislativo, na prtica uma oposio
suedase constituiu, inviabilizando a implantao do imposto.
Essas dificuldades se manifestaram to logo a bandeira da t.axao
territorial comeou a fSt!f levantada.J nos primeiros momentos do governo
deAlbertoTorres, quando foi organizado um questionrio destinado a coletar
infonna6es e opinies acerca das dificuldades da agricultura fluminense e
das ,foonas de enfrent-las, ficaram evidenciadas as dificuldades de
qualquer alterao da estrutura fundiria. Embora muitos fazendeiros
demonstrassem interesse emvendersuaspropriedades, no desejavam faz-
lo em lotes pequenos. Pode-se perceber que a diviso das propriedades, '
no era'bem vista pelos fazendeiros, o que em si j era um elementindica-
tivo das resistncias que seriam levantadas contra o imposto tenitorial. Este
imposto significava, ,que por vias indiretas, a possibilidade "de
fragrnentaodaproprled?erura118. ,I' ,
'Esse primeiro cootomo da posio dbsproprietrios de ficaria
mais claramente evidenciado quando comearam a ser implementadas as
apresentado pelo governp de Alberto Torres teve como seu 'pnndpal
opositoro deputado Andr de Lacerda Werneck, do 50 distrito Q\esende) .
.Ainda que no possam ser detectadas formalmente adeses explictas s
posies daquele fica fora de dvida que seu ponto <;te vista era
abraado por muitos de ,seus colegas e pela maiori dos propnetrios
fluminenses 19. '
ParaAndr Werneck, o imposto territorial desvalorizaria asprprie-:
dades, uma vez que, incidindo sobre terras pouco produtivas ou'impro-
dutivas, acarretaria a diminuio das fortunas dos, fazendeiros. Como
,conseqncia, os proprietrios deixarlamde apllcarseus cpitais no Rio de
Janeiro, pra outros estados. Diante das diftculdades qa agricultura
fluminense, o imposto representava um confisco, e desse ponto de vista 56
seria correta sua cobrana sobre a renda lquida da e no sobre seu valor
e rea. Portanto, s6 a terra cwe produziss'e deveria estarsujeita a inlpostos.
Alm disso, argumentava Werneck que:! O imposto territorial constitua
agres9o ao direito de propriedade. Ao pressionar o a tomar
terras produtivas. o imposto estaria obrigando o indivduo a cultivar sua
propriedade,e tal no podia ser feita pelo estado., '
86 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
Mesmo tendo sido aprovado na ALER], o imposto tenitorial no
entrou em vigor, que indica resistncias latentes. Numa retomada dos
debates sobre o tema!=m 1900
1
o deputado.Alberto Bezamat apresentou
um novo projeto, defendendo a aplicao do tributo apenas aos terrenos
insalubres 20. A aprovao desse projeto evidentemente esvaziaria o
contedo inicial da proposta do governo, e o imposto territorial no teria
condies mnimas para se tomar a nova base tributria do estado, Embora
os Anaisda..ALEIYno registrem discusses, sabe-se que a posio de
Bezamatsaiuvencedora.Em dezembro de 1900 foi pubUcadana Coleo de
1efs do do Rio deJanelro a Lei 448, detenninando que o imposto
territorlalfosse cbbrdosomente sobre osterrenos "pelassuas condies
de insalubridade, estiverem compreendidos entre os que reclamam os
trabalhos de saneaniento
lf
(art. 9).Areduo do alcance do imposto territorial
era evidente. No govemo de Quintino Bocaillva, ainda que propostas
oriundas do pr6prio,Legislativo tivessem sido apresentadas visando efetiva
implantao do imposto territorial, a posio contrria do chefe doExecutiVo
estadual, aliada s resistncias dos proprietrios de terra, tomou a legislao
aprovada letra morta t o fun do trinio.
Com a retomada do programa de reformas no incio da gesto
de Nilo Peanha, a questo do imposto territorial passou a ser encarada
mais de frente, o que conduziu inaugurao de sua cobrana, Esta,
por sua vez, passou a gerar protestos mais claros. Se no Legislativo j
no se erguiam vozes dissonantes (Andr Werneck e Alberto B.ezamat
no tinham sido reeleitos' deputados estaduais), desaparecendo assim
qualquer oposio mais lara no espao de representao formal, na
imprensa e na correspondncia privada de NUo Peanha os ,protestos
contra a cobrana do imposto territorial se sucediam. Pelos artigos de jornal
e pelas cartas localizadas no arquivo de Nilo Peanha, pode .. se perceber
que a insatisfao'atingia tanto os cafeicultores quanto os demis setores
produtivos, tanto os grandes proprietrios quanto os possuidores de:peque-
nas parcelas de terra e, fi.nahnente, que esses protestos se mantiveram ao
longo do tempo, em todas as ocasies em que se concretizaram investidas
para a cobrana do imposto.
a-recl'amao feita por um pequeno produtr a Nilo:
"Esse imposto til, justo e barato, menos quando se trata do para o
qual exorbitante( ... ) sei de muitos que esto dispostos a deixar com a
sclVentia, no regiStrando ec..,.) no pagando o imposto, resignados a que o
A FORA DA TRADICO 87
govemo mais tarde o seu cantinho, 1121 O missiVista sugeria a
reduo-do quantum do imposto e apresentava dados da lei referente
ao imposto territorial do estado de.Minas Gerais que, implicitamente,
considerava mais jUS.ta..
Expressando idntica indisposiao, grandes proprietrios e chefes
polticos de regies no exportadoras faziam-se porta-vozes dos protestos
dos lavradores contra a medida que os atingia de forma incisiva . .Assim,
Aure1:lanoPortugal, de ltaocara, denundavao nus que a cobrana do imposto
estava representando para os agricultores da regio: "Em ltaocara e aqui em
Pdua venderam hbras esterlinas e correntes de ouro s para no deixarem
de pagar o imposto territorial"
22
O impacto causado pela instituio do imposto repercutiu tambmna
imprensa. OFlumlnense, ao procedera uma avaliao dos termos em que
fora institudo, teceu srias criticas ao modo pelo qual era calculado:
A taXa territorJal tmposto sobre (J renda e no um tributo
sobre o valor venal do imvel. H em Capivad regies
alagadas que nada produzem de renda e no devem ser
inclutdas no lanamento, pois a conseqncia seria o abandono
da propriedade ao fisco e este no teria em praa um licitante
que o indenizasse do valor do tributo.
O jornal refirmava no entanto as vantagens j apontadas na
implementao d imposto, t'que tambm desejamos ver em nosso sistema
tributtio para que depressa desapaream os empecilhos das taxas de
exportao que tanto vexam e oprimem a lavoura fluminense
l123
.' '
Contudo, as resistncias palpveis so infinitamente pequenas
para explicar as imensas dificuldades que marcaram as tentativas de
implantao do imposto territorial. De fato, s6 uma oposio latente mas de
grande fora pode justificar a impotncia de Alberto Torres para iniciar sua
cobrana, e a de Nilo Peanha em exercer as prerrogativas que a
Lei 664, de 1904, lhe facultava.
Esse temor que marcava a atuao de ambas as partes, proprietrios
rurais e ncleo reformista, fazendo com que os primeiros tivessem medo de
exporc1anunente suasposi6es deflagrando e
que os segundos, ainda que conseguindo aprovar suas medidas, ficassem
temerosos de execut-las em toda sua extenso, era resultado de um certo
equilbrio de foras e da exiStncia de alguns pontos bsicos de identificao
88 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
entre as partes. Contudo, se as dissenses no eram suficientes para fazer
ecloclir cisesmais profundas, constitulam-se em elementos impeditivos para
aCOllSlruocleumconsensoquepeIffiitisseaunificaodaselitesfluminenses.
3. A tradio plantactonista
Ao lado de uma tradio em que a ligao com a terra se constitua
em elemento fundamental de prestgio e status, desenvolvia-se tambm
uma concepo a respeito dos produtos e das formas de produo que
traziam mais prestgio e riqueza. A vinculao com o mercado externo era
um dado importante e em geral significava maior possbilidade de lucro.
Assim, tomar-se um plantador de caf, produto destinado exportao,
era visto como um caminho mais seguro para o enriquecimento e o poder.
Contudo, a vinculao com o mercado externo no era absolutamente
obrigatria. O acar do norte fluminense destinou-se, ao longo do
tempo, ao mercado interno, mais especificamente cidade do Rio de
Janeiro, e ainda a;;sim tomar-se senhor de engenho tambm significava
alcanar poder e prestgio.
O que de fato contava como elemento fundamental era a forma de
produo. Privilegiava-se essencialmente a grande lavoura e a produo
em escala mais ampla. Assim, o caf e o acar constituam produtos
nobres, verdadeiras fontes de prestgio e status. Isto evidentemente
acarretava limitaes para a adoo da diversificao da agricultura como
opo preferenciaL .
Ao contrrio do caf, a atividade aucareira no foi objeto das
polticas econmicas elaboradas pelas elites polticas fluminenses. No se
cogitou de sua substituio por nenhuma outra atividade econmica,
mantendo-se seu desenvolvimento margem das polticas oficiais. A
secundarizao das atividades aucareiras dentro dos programas de
govemo pode ser explicada em funo do desempenho do prprio setor,
que nlio atravessava. dificUldades tilo profundas quanto O setor cafeeiro,
bem como da posio poltica de menor relevncia que seus representantes
ocupavam no cenrio estadual.J que foi na substituio da cafeicultura
que se concentraram OS esforos dos poderes pblicos, esta a atividade que
c:xaminaremos commais cuidado.
A ligao de parcelas expressivas da classe dos proprietrios rurais
fluminenses com a cafeicultura repousava numa tradio de vrias dcadas
A FORA DA TRADIO 89
que associava o cultivo deste gnero a uma fase de grande prosperidade e
riqueza. Grande parte dos textosvoltados para retratara vida e a atuao dos
proprietrios rurals fluminenses ao longo do scu10XIX fornece um quadro
de grande.za e opulncia das atividades cafeeiras. O trabalho de StanleyStein,
Grandeza e decadncia do caf, exemplar nesse sentido 24. .
O "fascnio pelo ouronegro" no se restringia s reas adequadas
cafeicultura e contaminava a todos, levando urngrande nmero de munic-
pios fluminenses a praticar o cultivo do caf com alguma expresso. Nem
mesmo aquelas regies . geograficamente pouco propcias escaparam
da febre cafeeira que assolou a provIDcia ao longo do sculo XIX. No
munidpio de Capivari, onde dominava uma estrutura produtiva bastante
diferenciada das reas tpicas cafeeiras, e onde a produo voltava-se
essencialmente para o mercado interno - com o tamanho das propriedades
variando em mdia ,entre 35 e 70 hectares e o nmero de escravos girando
em tomo de 20 -, o caf era a opo preferencial dos produtores, emespedal
aqueles mais abastados 25., ' . ' '
Sem querervalorl2ar a atividade monocultora na provncia flumi-
nense ao longo do sculo XIX e minimizar a expanso da de
alimentos eminnleras regies do estado 26, importante reconhcer que
para os proprietrlos ruraisftuminenses a grande lavoura, e particularmente
aafeicu1tura,tinhattmapeloespedal.GrandepartedasfuzendasllUn:ililenses
resenrava um espao para prbduzirpara seu autoconsumo, mas a prduode
alimentos era vista como uma atividade secundria. A estrutura ecnmico-
social do Vale do Paraba caracterizava-se por uma agricultura escravista
especializada on,de havia um predorrnio absoluto dO Caf.
Uma carta do Baro de Pati doAlferes a seu comissrio, em 1857,
reveladora a esse respeito: .'
No possvel que o estado atual da lavoura do caf no
deixe lugar a sementeiras em larga escala de cereais que
possam abStecer os grandes mercados e a falta que hoje .
. ordinariamente se nota nos grandes plantadores de comestveis
para . os trabalhadores. 27
O depoimento de Luis Peixoto Wemeckde Lacerda em 1855 tambm
refora. essa concepo: . ,
Os lavradores de caf hoje s6 tm vistas produo, desse
gnero de exportao. e tm para isso destruido ,todas as
90 BM BUSCA DA IDADB DB OURO
matas e povoado os terrenos ma.is frteis de cafezeuOo' . Esse
tnibalho ocupa quase todo o ano ... foras do lavrador e no
llie resta tempo para fazer roados gnndes, onde cultive os
cereais de que precisa para amanuteni10 de seus
estabelecimentos. Para economizar servios, enquanto os
cafezais silo novos, planta ele o milli.o de permeio dos
arbustos que teve de capinar para os preparos para a
collieitaj mas apenas estes alcanam certa idade, e que
crescendo cobrem o terreno de sombra, imposa.(ve1 obter
re.sultado algum dessa plantao e como lhes d1fIcil fazer
roados o resultado diminuir a cultura do mJlho ...
Esse tipo de prtica econmica, associada a uma conjuntur .. em que
O caf trouxe um grande enriquecimento para seus produtores, possibilitou
a construo de uma mentalidade emque o apogeu da cafeicultura era visto
como uma Idade de Ouro que deveria a todo custo ser recuperada. Raul
Femandes,emartigoinlituJado'Aredeno',expressaessamentalidadenum
tomgrandiloqtiente ao declarar:
o centenrlo do caf recorda aos fluminenses da minha
Idade uma poca de cujo crepsculo eles foram espectadores,
um crepsculo de cordilheira abra.oado em fulgores de
apoteose, chispando galas e riquezas, at um minuto antes
de sOar a abolio dos cativos, a hora da
As palavras do deputado estadual Slvio Rangel tambm evocam essa
Idade do Ouro Negro: .
no antigo regime, foram. proprietrios rurais,fazendeiros de
caf, os estadistas que fizeram e consolida.r.un o prestigio do
Rio deJaneiro. A poltica nacional esteve em suas mos, e nas
mesas de voltarete, em Vassouras, fiZeram-se e desflzeram-
.se ministrios. Eis ai a influncia que a lavoura cafeeira
exerceu na vida econmica e social do Rio de Janeiro. Oxa.li
os govemos de hoje, apreciando o valor dessa influncia no
paasado, procurem restabelec-la para o futuro, certos de
que somente a riqueza e a prosperidade material e moral
garantem aos povos o verdadeiro prestigio. Para o Rio de
Janeiro este prestgio foi uma realidade enquanto durou a
prqsperidade de sua lavoura cafeeira.'o
Joaquim de Melo, secretrio de Finanas do estado, em seu livro A
evoluo da cultura cafoera tW estado do Rio, contnbui igualmente para o
entendimento do lugar do caf no imaginrio fluminense:
A FORA DA TRADIO 91
o estado do Rio, ao comemorar o bicentenrio da lavoura
cafeeira no pais. se orgulha do seu passado, tambm se
com o seu presente, porque atesta os esforos do
seu povo e do seu govemo no sentIdo de honrar a posio
que a antiga provncia. ocupava entre suas irms como
centro irrad.iadot de grande rlqueza, que foi e ainda a
major propulsora do crdito, do progresso e da civilizao
do Brasil. !lI
o autor reSgata o passado de glrias fluminenses, advindas da
cafeicultura, e relacionaas com o esforo presente de recuperao das
lavouras cafeeiras. Finalmente, ViosoJardm, referlndo-se ao caf, declarava:
A civilizao fluminense teve a alimentar lhe no bero o
caf. cresceu com ele e ainda no caf q\le senUtte o seu
progresso atual. C..) Bendito o solo, bendita. a rvore, bendito
o gro que enche de fortuna o casario branco das fazendas,
sUstenta a':grandeza do estado e o melhor amJgo dos
financeiros fluminenses. 52
Se a en'smbolo de grandeza e opulncia,
por que parcela significativa dos proprietrios fluminenses possua estreitos
laos cxm essa atMdadeeconmica.Manterse ligado cafeicultura significava
manter-se ligado a elemc;:ntos do passado que representavam riqueza,
nobreza e poder; Era com base nesta tradio, em que as imagens e
representaes do passado eram associadas ao caf e terra, que se
enfrentava o presente, dominado pela noo de queda e e se
buscavasolue5para o futuro. Por isso mesmo, quando ondeorefonnista
apresentou reformas tendo em vista a diversificao da agricultura e a
produo de alimentos como opo preferencial, asresistndas tomaram-se
inevitveis. E' verdade que essas resistncias no eram explcitas, e pode-se
at ter a impresso c;le que aparentemente todos partilhavam do desejo de
diversiftcar a agricultura. Cotno j foi assinalado, havia mesmo uma tendncia
"natural" nesse sentido. O problema residia em detenninar a extenso e a
profundidade dessainiativa, e considerando esse tipo de varivel que se
pode detectar melhor as reSistncias.
O interesse fundalnerital da classe dos proprietrios rurais era aceitar
e at defender a diversificao, mas como uma atividade complementar e
para garantirsuasobrevivnda
e prosperidade. O depoilriento do deputado Valadares, de Paraba do Sul,
expressa bem essa conepo. liA defesa da grande lavoura a principal
92 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
obrigao do governo. O governo deve direcionar seu auxilio para as
grandes propriedades, sobre as quais esto as bases de riqueza do estdo
do Rio por longos nos".
Para este deputado, pquena e a pequena Iavourano
podiam ser criadas pelo governo, mas dt:wiam surgir como uma evoluo
natural da plantatton
a3
O deputado LidnioBarcelos tambm refora essa
orientao ao dedarar que a criao da pequena lavoura era pura 34.
Estetipodel11entalidadeera espedalmenteforte entre os cafeicultores,
que viam o "caf tomo lavoura mater' e acrec;li.tavam que no poderiam
cUItivaroutracoisa que no este gnero. Em sua tica, o caf era a nica cultura
que poderia suportar 'considerveis custos de produo, e Ilmesmo nos
momentos de depreciao dospreOso lavrador s nele pensa na esperana
de um novo periodo de preos favorveislt35.
Portanto, o desenvolvimento da policultura era considerado uma
fonna de recriar um setor de 'subsistncia, dentro ds fazendas de cf',. que
pennitisse o dos custos de reproduo e consumo dos
trabalhadores. O objetivo, em lt.inla instncia, era a lI)anuteno da cultura
exportadora do da atividade produtiva 36.
, Alm desses havia iguahnente interesse em subordinj.
a produo de existente desde o auge cafeicltura e
realizada por pequenos proprietrios ou por pequenos produtores em terras
arrendadas; A policultura deveria seguir os padres j presentes 'na
plantatlon, e todo 'o seu desenvolvimento deveria estar condicionado aos
interesses da grande lavoura 37.
, '!';;;,Qualqueriniciatlva visando diversificao J nascia asSim limitada
e secundria, pois sua meta era propiciar subsistncia barata para os
trabalhadores, comofonna. de reduzitos custos da produo.
4. O caf na conjuntu:ra naional
A estreita liga'o dos proprietrios fluminenses com a cafeicultura
deve ser relaCionada tambm predominnciados interesses cafeeiros
em ivel nacional. As polticas de proteo cafeicultura vige,ntes na
Primeira Repblica
r
ainda que voltadas para as reas mais dinmicas como
So Paulo, o caf fluminense,
traziam, no geral, benefcioS para a cafeicultura no estado do Rio, ou, na pior
A FORA DA TRADIO 93
das hipteses, criavam expectativas nesse sentido. Assim. a poltica de
valorizao do caf ajudava a manter a mentalidade dos
do caf e da produo para o mercado externo 38.
A sustentao dos preos -em nvel nacional representava um
compromisso do setor exportador, e isso constitua um
entrave para atrair elementos para as novas atividades. Na verdade. os
incentivos alados pelo programa diversificador levado a efeito no estado do
Rio foraminsuftcientes para neutralizar o apelo da cafeicultura. Afim de que
houvesse um maior engajamento na produo destinada aomeradointerno
era necessrio que os plantadores fluminenses perdessem sua confiana na
reconverso ao caf. Entretanto, a poltica cafeeira emnvelfederal corroborava
essa confiana. O investimento em unidades agrOexportadoras representava,'
entre 05 negdos ruiais, uma opo pelo lucro e pela proteo pblica. Alm
disso, OS produtos de exportao possuam melhores preos do que os
destinados ao mercado interno. Desse modo, as aplicaes nas atividades
cafeeiras podiam fazer parte de estratgias de proprietrios que produziam
para um mercado com caractetsticas lf
co
loniais"39. -
O ncleo reronnista fluminense tentou reverter esse quadro, criando
incentivos para neutralizarp.ape1o do mercado externo nas opcsde cultivo
doS proprietrios fluminenses. Contudo, as intervenes nesse sentido foram
insuficientes, por modestaS e pouco agressivas.
Alfredo Backr percebeu essa limitao da poltica diversmca-
dota "voltada pr o mercado interno e, sem discordar da diversificao
em geral, preconizava que esta fosse direcionada para o mercadoextemo",
No seu entender, o fundamental era encontrar uma nova,-riqueza
que substitusse ti caf 40.
StevenTopik, relativize o peso das polticas cafeeiras como
elemento reforador da monocultura e irubidor do desenvolvun.ento, da
produo de alimentos, reconhece que ocorreu uma concentrao de
te.Ul'S9S d" caf 41 , o motor da nacional, especiahnente
em reas cafeeiras menos diiimicas.
, Nesse \ os daS, polticas
no -estado do Rio"na' Pnmeir "Repblica- podem ser explicados maiS
trstruturas_ sociedade _fluminense do que pelas intenes dos
atores polticos - ou sej, 'dos integrantes do ncleo reformista da
elite fluminense que as idealizaram.
94 EM BUSCA DA IDADl DE OURO
Cootudo,apermannciadewnaconcepodemundoligadagraIl<je
lavoura e em especial ao caf no deve ser entendida como sinnimo de
seadequaraosnovOstCmpos,adotandooempregoderno-de.ooralivre,via
parceria,etentandoadiversificaoassociadaaocafeaoal1car,oqueindica
que procuravam encontrar caminhos eficientes capazes de trazer alguma
lucratividade a seus negcios, mantida a garantia de sua propriedade da terra
e de seu status de grandes senhores. Em outras palavras, as tradicionais
famlias de proprietrios fluminenses primaram por adaptar e assimilar de
maneira seletiva novas idias e prticas, evitando contudo que estas
amea..."semseriamente sua condio de grandes proprietrias (segundo os
padres locais) e grandes produtoras e conduzissem a qualquer tipo de
repartio das terras.
Esto tipo de procedimento criou entraves profundos para que o ncleo
reformista da elite fluminense tivesse sucesso em seu programa.Ainda que
os proprietrios rurais e o ncleo reformista partilhassem a crena na
possibilidade de resgatar a Idade de Ouro do estado do Rio, havia uma
ausncia de integraoefetiva em tano de um programa econmico comum.
Se esse desencontro no fOi o responsvel direto e principal pelas cises que
occtTiamcon.stlntemente na poltica fluminense, semdvida crioudiliculdades
para asolidilicao de a!ianas e acordos queviabilizassemo consenso entre
as elites do estado do Rio.
Notas
1. o conceito de cultura tem sido objeto de grandes e infindveis discusses
tericas, que nlo nosso objetivo aprofundar aqui. Para essa discusso ver GUberto Velho
e Eduardo Viveiros de Castro. RftlislaEspao, v .:Z, n.2, 1980. utilizando o conceito
de cultun. como sLstema.s de significados criados historicamente em termos dos quais
damos fonua, ordem, ' objetivo e dire10 u nossas vidas' , tal como foi expllcllado por
Olfford Geru em A /"""Pn'ailo das adluras. p.64.
A noIo de mentalidade objeto de p<edria deflnlio po' parte de seu.
estudiosoa. Ver ARlt!s, ' Phillppe. L'histoire des In: LE GOFP, ]acques. I
nouwlJ, bistorr. p.167-188. Em nosso caso, estamos usando o termo mentalidades no
ser:.tido de -representaes meritals . Ver DURKHEIM, Bmile. Representaes individuais
e _ntaOes coletlv ... Jn, __ . Sociologia filosofia. p.n-41.
2. LABORIE, Pierre. Annals, 11a:moml1, SocUtis, otuil.uJli.om. v,44, n.6. p.l369,
nov./dec. 1989. Igualmente, o antroplogo Marshall SahHns, em seu trabalho !1ba.J di
Hist6rI, p.7-8, enf'atb;a u relaOes simblicas de ordem culcur.ll como objeto hist6rico.
A PORA DA TRADIlo 95
3. GlRARDET .. Raoul. Mitos e mitologias politicas. p.97-98, 101. I.E GOF'F, ]acques.
Idades mfticas. In: IfncIdopldla Blnaudt. p.311.
4. MAYER, Amo. A.f0t'F4 da 1radlf40. p.24.
5. Indmeros eaNdos tm chamado a aten;io para as diferentes tegUSes
econ&mJcaa e:xIItente. no esrado do ruo.
6. VIAN\, alvelta. HstfrIa 80daI da Dnomltl CtIJ1IIaII.tta no Brt.uII. v.l, p.116, 126.
7. PARIA, SheUa de Castro. 7mY.I ti m;,bl.l/bo ma Campos dOll GottacaDf (18.50:-
1920). p.236, 228-229.
8. Idem, lb. Ver tambm LAMEGO, Alberto. T,.,.,.. gmtac4. v.6.
9. PRAGOSO, Jolo Luis. Comerdantes ejaztmdfllrw ,jormll$ de e:u:uf,nula6o ..
uma economia lIf/atJulata colonial. p.358, 394.
10. Idem, lb." p.'338.
11. VIANA, Ol1velta. op. clt., v.l, p.116-12L GOMES, ngela. A tica cat6Uca
e o esp(rito do 0iInda Hoje, v.9. n.52, p.23. 1989.
12. FRAGOSO, Joio Luis op. clt., p.338.
13. Idem, lb., p.339.
14. VIANA, Oliveira. op. cit., p.118. 119.
15. Idem, ib., p.117, 119.
16. Idem, ib., p.lll. ,.
17. SILVA, Pranc1sco Carlos Teixeira da. Terra e potrtlca no Rio de Janeiro. na poca
da AboJiio. In: SILVA, Jaime da et aI. (org.). Cativeiro" llberdad8. p.61-81. REIS, Elisa.
BrasU: cem anos de quedo agrria. DadoB, v. 32, n.3, p.291, 1989.
18. RELATRIO da Secretaria de Obras PbUcas do estado do Rio de
Janeiro 1898. p.61-250.
19. Anais da ALBIU 1898. p.314.
20. Anatr I/I iJJ1U 1!)(JO. p.352-353. Coleo de leis e decretos de 1900. p.42-
48. ciL por LAMARO,' Srgio. O governo Alberto renova!o da elite paUdca e
tentativa de recupera.io econmica. p.27. documento de trabalho.
21. carta de Antnio Carvalho a NIlo em 27 jan. 1904. Coleo Nilo Peanha.
22. Carta de Aureliano Portugal aNUo Peanha em 03 jul. 1904. Arquivo
Nilo Peartha.
23. o Flunslrumse, 03 lev. 1904.
24. STEIN, Stanley. Grimdeza 11 decadlncia do cafl 110 Vale do Ptm:li'ba.
Recentemente este livro foI reeditado pela Nova Fronteira com novo ttulo:Vassouras,
um municipio bmsiIelro do caf: 1850-1900.
25. 'CASTRO. Hebe de. Ao sul da histria. p.30-37, 48-49.
26. PRAGOSO. Joo Luis. op. cit., p.360. SANTOS, Ana Maria. Agriculturt reJo"""
12nd Ih" i.d8a of "d8t::adence" in lhe state 01 Rio de Janlllro. p.275.
96 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
27. Citado por SILVA, Eduaroo. _. -=alli<J. p.163.
28. CI!ado por SILVA, Edua.do. op. ele, p.176.
29. FERNANDES, Raul. A redenio. In: I.B.C. O cafi no cml#trlo t .sua
no __ v.1,p.46.
30. RANGBL, SUvio. O no estado do Rio de Janeiro, sua origem e
na vIda ccon&mica e !:Odal da terra fluminense. In: LB.C. O cafi no 2- unlm4rio d#.sua
/nIrod"flO no __ v.1, p.167.
"L MELLO, .Joaguim de. Evoluao dQ cultura caf.nra no fitado do
Rio tU janll",. p.51, 52.
32. JARDIM, Vioso. A influncia do caf nas fmanu fluminenses. In: I.B.C.
O caflno 2"amlmrlo"sua inlTOdulio no Bra.sil. v.2, p.S03.
33. Anais daAIEll/l891. p.109, 160, 191.
34. Anais da AIEll/l891. p.238.
35. BURNIOiON, joseph. lBrisil aujourd'buL p.174. 175. cil por SANTOS, Ana
Maria. op. ciL, p.274. RELATRIO da Secretaria de Obras Pblicas. 1898. p.lU.
36. SANTOS, Maria. op. ciL, p.315.
37. Idem, ih., p.2U, 275, 289.
38. PRAGOSO, JoIo Luis. op. cit. , p.340.
39. SANTOS, Ana Maria. op. cit, p.289.
40. roPIK, Stcven. pr.wna do Estado na fic:onomJ pollica do BrtuiJ tU 1889
a 1930. p.106-107. . .
41. MAYI!R, Amo. op. c1L, p.13-25.
5
A nacionalizao da poltica fluminense
A chamada IJregio do Rio deJaneird', na definio da gegrafa Lysia
Bemardes, envolve a
idia cleuma a qual, comandando o escoamento
da produo regional, que exporta para mercados remotos,
serve como intermed:iiio nico e direto entre sua hinterlndia
e o mundo exterior.
1
Mas no foi apenas na drenagem e na exportao da produo
que se apoiou a influncia da cidade do Rio de Janeiro sobre o
espao regionaltnais prximo (Baix:ada da Guanabara, Baixada
Campista e extensa faixa da encosta do-planalto). A cidade comandou
diretamente a ocupao inicial da maior parte do que ento era
a provncia do Rio de Janeiro, e foi tambm o centro que apoiou
todas as atividades, posteriores ocupao, de cons-
truo do espao regional, constituindo-se num grande mercado
consumidor para <> hinterla-nd. As funes que cada rea exerceu mar-
caram de forma definitiva as relaes entre a cidade e o eStado do
RiodeJaneiro.
Ao lado dessas consideraes de ordem econmica, devem
ser pensadas igualmente as relaes que
marcaram a evoluo da "regio do Rio de Janeiro". Durante'-grande
parte do perodo colonial, o territrio do atual estado do Rio corres-
pondeucapitarua do Rio de Janeiro. Seu principal centro urbano
era a cidade d<? de Janeiro, que a partir de 1763 passou
a sediar a administrao portuguesa no Brasil. Com a promul-
gao do Ato Adicional em 1834, -a cidade do Rio de Janeiro: passou
a constituir o Municpio Neutro da Corte., desvinculando-se
da provncia do -Rio de 'Janeiro. Se, por um lado, a 'provricia
deixava de abrigar a maior cidade, o principal porto e' -o centro
pltico do Imprio, por outro -lado conquistava sua autonomia
poltica e administrativa'- ESsa autonomia. contudo, no foi suficiente
para libertar a provncia do peso da cidade do Rio de Janeiro na sua
98 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
vida poltica e econllca. A centralizao monrquica acentuava'
a relao de dependnda da provncia para com a capital do pas, o que re-
sultava no carreamento para a Corte de vultosos tecursos econmicos
e tributrios, alm de permitir constante ingerncia da Corte nos neg6dos
fluminenses 2.
Referindo-se ao passado monrquico, Miguel de Carvalho assim
retratava a situao fluminense:
A grande mquina admi.r:strativa movia-se pesadamente,
nem. sempre impulsionada por fluminenses, como fora de
desejarj com a capital a meia hora de viagem da Corte, a'
provncia sofria dessa proximidade em vez de auferir vantagens,
mais imediatamente centralizada .sua direo por esse fato
que a de qualquer outra, tomavam-se seus presIdentes os
mais dependentes do governo central, e assim atrofIavam-se
seus meios de desenvolvimento. No lhe restavam nem
aparncias de autonomia. Enteada) e no fl1ha. sem nunca ter
gozado os delicados extremos dispensados pelQs pais
carinhO$ps, nem mestnoseaproveitaclo dos mais vulgares
deveres destes para com a prole, temia a possibilidade de
rWna tr:lzida pela desorgan:izao do trabalho agrcola. pelo
deflflhamento do comrcio' e de SWB nascentes indstrias.
A situa.o econmica tinha feio igual poltica, estavam
t o ~ 8 fatigados de haver tanto tempo percorrido incessante
e' infrutiferamente o mesmo caminho spero, tortuoso e
Interminvel.
Moral e materialmente sentia-se o desfalecimento e a agonia,
o. camhaleio de uma natureza forte debatendo-s em meio
asfodante. ' '.
Eis o que era, a traos largos, o Rio de Janeiro em 15 de
novembro de 1889.
5
'
E continua Miguel de CarvalliO
J
agora referindo-se aos novos
problemas trazidos pela Repblica:
( ... ) continuou o Rio a. ser tratado pelo govemo central da
mesma forma ou pior que a antiga provncia I e assim
anunciava o presente que no futuro se burlaria uma das mais
ar:dentes aspiraes fluminenses, alis da essncia dQ regime
A NACIONALIZAO DA POLTICA FLUMINENSE 99
rePublicano federativo, a de livremente governar a si mesmos,
deacardo com os prprios interesses e necessidades.'"
Este discurso de Miguel de Carvalho, proferido em 1894, mostra com
clareza no s o ressentimento dos conservadores fluminenses diante da
poltica dos ltimos tempos da monarquia, certamente provocada pela
questo da mo-de-obra, mas prlndpahnente a rede complexa de relaes
que envolvia a cidade e a provincia. Na viso do poltico fluminense, a
provnda do Rio de Janeiro, mesmo durante seus momentos de apogeu
econmico e poltico, viveu uma situao particular de maior controle por
parte do poder central que as demais, o que llie trazia inmeros problemas,
embora seu potencialeconnicoe po1ticoconttabalanasse essas limitaes.
Mas, com a crise da escravido e da cafeicultura essa situao se agravou, na
medida em que as polticas implementadas pe1opoder central chocavam-se
comas demandas dos conserVadores flumine:nses. Restavam ento apenas as
desvantagensdointervendonismo centralizador. Com a Repblica, o
estado do Rio deJaneiro, enfraqueci.dopoliticaeeconomicamente, continuou
a ser objeto deintetvertes da poltica national; sem condies de exercer
a autonomia que o novo regime preconizava.
De fato, a implantao da Repblica Federativa, ao promover a
descentralizao poltico-administratlva do pas, gerou expectativaS de uma
efetiva agora estado do Rio deJaneiro, mas no foi capaz de
porsi s6. partindo deste quadro que pretendemos analisar as
relaes entre o estado e addade do Rio bsica que esta
relao promovia umanac1onallzao
5
da poltica flumitlense, o que por sua
vez acarretava um processo de fragmentao das elites polticas. .
Por nacionalizao da poltica fluminense estamos entendendo um
conjunto de relaes que envolvia o governo federal) a cidade e o estado do
Rio. O governo federal, sediado na cidade do Rio de Janeiro, intervinha
onstanternentensneg6ciosintemos tluminenses, e a cidade, como centro
de convergncia das principais questes do pas, atuava como um p6lo de
atrao sobre o estado. Essa dupla influncia fez com que os polticos
fluminenses fossem em boa parte absorvidos pela poltica naonal e pela vida
na capital federal. Por esse motivo, as lideranas regionais tiveram dificuldade
de se reunir em tomo de projetos comuns, que facilitassem a construo de
um acordo interno e beneficiassem o estado do ponto de vista econmico.
Nossa inteno analisar essa relao enfocando-a como uma via
de mo dupla, seja, observando, de um lado, as interferncias do
100 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
governo federa! nos negcios internos fluminenses, e, de outro, como
as elites fluminenses eram suscetiveis ao poder de atrao que a cidade
do Rio de Janeiro exercia.
1. Uma relao de amor e dio
A interferncia do governo federal e da capital
Ainterferncia do governo federal 'los negcios internos fluminenses
se efetivou basicamente de duas maneiras: interveno no processo eleitoral,
atravs da imposio de nomes para as listas de candidatos, e controle da
insero do estado do Rio no oramento da Unio.
No primeiro caso, as interferncias aconteceram em um grande
nmero de pleitos,mas para efeito desta anlise optamos por privilegiar dois
momentos: as eleies para as Constituintes Nacional e Estadual, em 1890,
1891 e 1892, e as eleies estaduais e federais que tiveram lugar no governo
de Oliveira Botelho 0911-1914). Essa escolha se explica no s pela
importncia desses pleitos, mas tambm pela intensidade com que as
interfernciasocorreram.
Aimplantao da ordem republicana no estado do Rio de Janeiro, na
viso de seus principais atores, colocou de imediato problemas de
relacionamento entre ogovemoprovisrio de Deodoro da Fonseca e as elites
fluminenses. O processo de escolha dos representantes fluminenses para a
Constituinte Nacional j indicava as intenes do governo federal, sSociado
com O govemo estadual- seu representante -, de intervir de forma radical na
formao da chapa de candidatos. Pode-se argumentar que esse expediente
ocorreu em todos os estados, como resultado da vigncia da legislaoAlvim,
mas o caso fluminense apresentava uma peculiaridade - a interveno na
organizao das ci)apas para a primeira Constituinte republicana se fez no
apenas pela indicao de candidatos afinados com os governos federal e
estadual, mas pela.apr.esentao de um nmero expressivo de elementos
estranhos poltica fluminense e sem razes no estado 6.
Uma das explicaes levantadas para este fato era que, alm das
imposies do governo federal, os prprios governantes fluminenses
tinham interesse em cultivar o apoio de setores da capital. Para Miguel
de Carvalho, a escolha de elementos estranhos poltica fluminense,
oriundos da capital para integrar a chapa, tinha como objetivo incorporar
indivduos ligados . imprensa diria da capital, e dessa forma obter o
,A NACIONALIZAO DA POLfTICA FLUMINENSE 101,
apoio desta na defesa do governo estadual. A populao fluminense se
interessava fundamentahnente pela imprensa carioca; portanto, dispor de
apoios nessa rea era indispensvel '.
A formao da chapa pata as eleies para a Constituinte estadual
de 1891 apresentou problemas semelliantes. E at mesmo a Constituinte
de 1892, formada por elementos enraizados na poltica, flumi-
nense, tinha um grande nmero de seus membros residente na cidade
do Rio dejaneiro.
Asegunda conjuntura importante em que pode servisualizada com
clareza", interferncia federal na poltica fluminense Situa-se no governo de
Oliveira Botelho. Hermes da Fonseca, .. ento presidente da Repblica,
associado ao lder gacho e presidente do Partido Republicano Consetvador
(PRC), Pinheiro Machado, imps constantemente nomes alheios poltica
fluminense, tanto para compor as chapas para as eleies legislativas quanto
para ocuparcargos,executivose de diteopartidri.]no indo do governo
ocuparaSc:cretarla
que Lacerd
sempre fez oposi.o ao nllismo.,
O exame das eleies de 1912 para o Legislativo federal confir-
ma esse tipo de prtica. Entre os candidatos indicados para compor
uma bancada de 17 dois eram absolutamente estranhos poltica
do estado, sendo que Augusto Souza e Silva era um verdadeiro agente de
Pinheiro.Machado. OUt:rostrs, em1x>ra ttadicionaispolticos fluminenses, no
eram lU! npmes bem ceitos pela situao estadual, e sua eleio
implicou o de 'elementos mais afinados com o grupo Dilista 8.
As vrias interferncias do governo federal nas, eleies
flumine:nsesso relatadas et;ncarta de Raul Fernandes aNuo Peanha datada
, de 1912
9
No entanto, a intcifernciamaisaberta e duradoura foi a indicao
dodesconhedo tenente Feliano Sodr, em 1911, para prefeito de Niteri.
Trs'anos depoiS. graas novamente ao apoio do governo federal, Sodr
chefe da oposio aoS nilistase candidato ao govemo do estado,
provocando a mais disput;ada eleio para o Executivo estadual de toda a
Primeira Rep6blica.A eleio de 1914 evidenciou como o governo federal
interferiu decisivamente na poltica fluminense, procurando alijar uma fora
poltic at"ento dOminante:.. onilismo- para garanclt a consolida'o de "
novo gruPO. que n;Unia. as'antigas oposies fluminenses sob a liderana de
Sodr, um agente da; poltica federal.
102 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
Nilo Pea;nha, negando-se a aceitar a participao de
foras estranhas ., poltica na escolha do candidato ao
govemo do estado, lanou-se pessoalmente candidatoco.ntmSodt,levantando
a bandeira da autonomia assumida
por Nilo, de lanar-se 3.poiQ estadual e federal, exigiu
. no s6 um trabalho de .ch.l polticas no e$ado do Rio,
como a e1abo-rao de estrltgia . qlle arregimentasse um apoio
mais amplo, de lidenmase da imprensa carioca. Com um discurso
em que defendia a autonomia do estado do Rio frente s sucessivas
investidas dogovemo federal e pregava o engrandecimento do estado
na federao. Nilo lanou uma campanha eleitoral indita, que percorreu
todo o estado do Rio promovendo concios com o fim de mobilizar
o eleitorado a seu favor. Nessa ocasio, Nilo lanou mo de seus contatos
com lideranas e jornalistas do Distrito Federal para sensibilizar a
opinjopbliacarioca.O C:OneiodaManb, dirigido por Edmundo Bittencourt,
deu total cobertura nilista 10.
O desfecho desta histria, favorvel a Nilo Peanha, deveu-se
em grande parte interveno do recm-eleito presidente da Repblica
Wenceslau Brs, que, interessado emneutrallzara fora de PinheiroM'achado,
deixou o espao berto para o lder fluminense consolidar sua pSio.As
caractersticas de qUe se revestiu a campanha e suas repercusses no Distrito
Federal tambm ajudaram a "engrandecer" a figura de Nilo Peanha e a ga-
'- "
Ao lado dessas interferncias de carter poltico-eleitoral, devem
se participao fluminense np oI'amento republiaoo, :Ra:ql Fernandes
declarou: <,
o estado do Rio, agora como no Imprio, d mais ao tesouro
do que dele recebe em servios pblicos, e supera na sua
contribuio outros estados maiores em territrio ou
PQpulao. E no murmur.a enio recriminaj porque da
hbrida conformao de outrora, fidalga e escravocrata,
expelido o escravismo, ficou indelvel a fidalguia de carter. H
Ainda que se possa questionar a veracidade desta afu.inao,
no h dados disponveis que a invalidem. Ao contrrio, OS nmeros
expressos nos oramentos de 1881 a 1912 mostram dotaes pequenas
para o Rio de Janeiro ;12, em comparao com outras prvIDcias
e/ou estados (anexo 1).
, A NACIONALIZAO DA POLtTICA FLUMINENSE 103
Pode-se argumentar ainda que o oramento da Unio apresen-
tava dados problemticos para a realizao desta anlise, e que recursos
poderiam ser destinados provncia/estado do Rio por outros
canais. Ainda assim, os dados oramentrios podem ser interessantes
para demonstrar a peculiar Diferentemente de
todos os estados 'da'federaO
t
o estado do Rio foi o nico que no
possuiu uma rubrica prpria durante vrios anos da Repblica.
Os recursos a ele destinados eram reunidos aos do Distrito Federal
sem nenhum.3 especificao. Mesmo que esta falta de especifi-
cao pudesse trazer vantagens materiais, e o estado do Rio
supostamente recebesse grandes montantes de recursos, evidente
sua situao frente Unio, se comparada' de outroS
estados. Por sua vez, esta peculiaridade um indicativo claro da
compleXa insero do estado do Rio na federao e da simbiose
ento existente entre o estado, a cidade e o governo federal.
Se as excessivasinterl'erncias do governo federal e a situao peculiar
do estado do Rio no oramento da UIo suscitavam reclama-es, a
proximidade com o Distrito Federal e o contato constante
com a populao carioca abriam potencialmente inq.meras possibilidades
de vantagens para os fluminenses.
o fascnio pela metrpole
Se fcil detectar e captar as formas de interveno elo governo
federal nos negcios internos fluminenses, h um outro tipo de influn-
cia, fruto da proximidade da capital e do fascnio que a"fmetrpole"
exercia sobre a "provncia", que, por ser informal e fora dos limites da ao do
poder pblico, mais problemtico e difcil de ser apreendido.
Alain Corbin, em seu artigo "Paris - province" 13, oferece indicaes
interessantes para pensar esta questo. Para este al.ltor, a noo de provncia
,se funda na percepo de uma carncia, de um distanciamento,
de uma privao, de uma excluso; o lugar do CX1llointerior, do esqueci-
mento, da zombaria dos elementos da capital. A provncia se identifica
comaletargia, a hibernao longe da "sociedade
ll
, do lugar real, dos sales,
do mundo da academia; ela se constitui, enfim
l
num espao depreciado
que se caracteriza pelo ridculo. O provinciano que se instala na metrpole
vido de reconhecimento deve se dessolidarizar do meio de onde vem.
Depredar a provncia constitui uma obrigao para aquele que quer obter
104 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
a adeso da cidade. Esta relao sociocultural forte e complexa, descrita
por Corbin, enquadra-se perfeitamente nas representaes produzidas
por cariocas e fluminenses acerca dos laos que envolvem a cidade e o
estado do Rio deJaneiro.
viso depreciativa dos cariocas sobre s fluminenses somava-se a
viso dos fluminenses sobre si mesmos, especialmente os de Niteri,
marcados por um grande complex> de inferioridade frente ao grande centro
cultural, poltico e econmico que era o Rio deJaneiro. O deputadoMauticio
Medeiros captou com preciso a complexidade dessa relao:
Por maior que seja, pois, o espao flumJnense, o estado do
Rio sempre aquele estado que se acha fronteiro grande
metrpole (. .. ) O mineiro pode ter os seus hbitos e o carioca
08 respeita, assim como os outros estados. Mas o fluminense
no pode ter. Se certo que ele no evolui com a precIpitao
do carioca, porque no est submetido s mesmas Influncias,
a verdade que, a proximidade da capital sempre exerce
sobre o estado essa influncia demolidora, que no lhe
permlte criar uma personalidade pr6pria, um carter tnico,
morai ou social que o tipifique. O carioca toma-o ento sua
conta e tudo quanto se refere ao estado do Rio, ao vizinho
eStado, envolto nesta gaze de ironia que no permite
apreciao verdadeira. 1.(
A elite fluminense partilhava dessa avaliao negativa e est.va longe
de querer fazer poltica em Niter6i, uma cidade vista como sem atrativos e
provinciana. Ao contrrio, a cidade do Rio deJaneiro encarnava o ideal de
modernidade e progresso, especialmente aps a reforma urbana de 1905,
quando tudo foi feito para apagar sua face de cidade colonial e trarisform-
la no smbolo da nao modema i5. '
Com a Primeira Repblica, o destino nacional do Rio se consolidou,
tomando-se a capital federal uma cidade modelo, pelo poder de sUas idias
renovadoras. No dizer da poca, o Rio una constelao dos'estados era a
cidade-sol". Com esses atnbutos, a cidade do Rio dejaneirofuncionava como
um m que atraa toda a elite fluminense nos mais diferentes aspectos,
poltico, econmico, cultural, sugando sua energia vital, que ao invs de ser
canalizada para o interior deslocava-se para o plano nacional 16
Pode-se argumentar que por sua condio de capital e centro poltico,
econmico e cultural, o Rio exercia um papel especial em relao a todos os
A NACIONALIZAO DA POLTICA FLUMINENSE 105
estados. No entanto, no caso especfico do estado do Rio, essa relao se
manifestava de fonna muito mais intensa e profunda, atingindo todos os
setores da vida dos fluminenses, desde a vida privada das pessoas at
questes maiores que envolviam decises polticas-
17
Assim, um grande
nmero de deputados estaduais fluminenses e funcionrios da administrao
estadual residiam e exerciam suas,profisses hberais no Distrito Federal 18
O resultado poltico desse tipo de relacionamento facilmente
verificvel quando se examina a pr6pria difuso das idias republicanas na
antiga provncia do Rio de Janeiro. A despeito de ter produzido as mais
expressivas lideranas republicanas no plano nacional, como SilvaJardim,
Quintino BocaiYa, I.opesTrovo, A1berto Torres, NdoPeanha, osftwninenses
s conseguiram articu1arum partido republicano svsperas da Proclamao.
Ainda que outrasvariveis importantes possam ser computadas para explicar
tal situao, como a identificao da elite fluminense com o Partido ConselVador
e a monarquia, sem dvida a militncia poltica dos jovens republicanos fora
das fronteiras da provncia um dado relevante para explicar o fraco
enraizamento das idias republicanas no territrio fluminense.
o Rio era inevitavelmente o centro da vida da provmcia e o
que acontecia na cidade tinha repercusses imediatas ali. s
vezes, as atividades na capital tornavam desnecessrias ou
desencorajavam atividades similares na provncia. Por
eXemplo, a fundao do Clube Republicano. em 1870, atraiu
alguns provincianos e por volta de 18'11, a maioria dos
membros que no residiam no Rio eram da provmcia , o que
veio a impedir tambm a formao de um verdadeiro
mvimento provinciano. 19
Vivenciando essa relao conflituosa de amor e dio com a
cidade do Rio, como a elite poltica fluminense encarava a questo e
pensava solucion-la?
2. O sonho da provncia: a interiorizao da poltica
fluminense
Os problemas colocados pelas interferncias do governo federal
e pela influncia da cidade do Rio de Janeiro sobre a vida poltica fluminense
foram objeto de preocupao e o d s elites fluminenses, especialmente
na primeira dcadi republicana.
106 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
A implantao do federalismo trazido pela Repblica colocou
a necessidade se construir novos, padres de relaciona-
mento entre poder central e governos estaduais ,20. nesse contexto
que se d a emergncia da discusso sobre a transferncia da capi-
tal do estado de Niteri para o interior, sob o argumento de que era
fundamental afastar a poltica fluminense das ms influncias da
capital do pas.
O incio desta discusso, que teve continuidade ao longo
das duas primeiras dcadas republicanas, pode ser localizado
logo aps a Proclamao da Repblica, quando o municpio de Campos
passou a reivindicar abrigar a sede do governo estadual. Sem ter tido maiores
desdobramentos, 'a questo permaneceu em aberto at
agosto de 1890, quando o governador Francisco Portela tambm adotou a
bandeira da transferncia de capital, mas agora para Terespolis 21.
A escollia deste municpio, que na poca estava longe de reunir
para abrigara capital, refletia as intenes do governador
de livrar-se no s das presses e influncias da poltica
do Distrito Federal, mas tambm de grupos regionais fluminenses
que o hostilizavam.
Sem condies de ser efetivada durante o governo portela,
a transferncia da capital s voltou baila em janeiro de 1893,
quando distrbios militares em Niteri recolocaram ameaas
estabilidade do governo fluminense. Naquela ocasio, a bandeira da
transferncia da capital para o interior era defendida pelas mais expres-
sivas lideranas fluminenses, tanto do governo quanto da oposio.
Alberto Torres, lder do governo na ALER] , apresentava trs poderosas
razes para a mudana: o alheamento da heterognea populao de
Niteri, de pronunciada tendncia industrial, em relao aos interes-
ses do estado, sua submisso aos interesses da vizinha capital federal e
a ameaa autonomia do estado que essa proximidade representava.
De outro lado, as principais lideranas campistas, chefiadas pelo
Baro de Mirac'ema, desencadearam uma campanha regional,
envolvendo outros municpios do norte fluminense, para que Campos
sediasse a capital do estado. Se a tese da interiorizao da capital era par-
tilhada por expressivos setores, o local para onde deveria ser
transferida era motivo dos mais acirrados conflitos. Entre os inmeros
locais cogitados, como Vassouras, Nova Friburgo, Terespolis e Cam-
pos, este ltimo, era o que defendia de forma mais organizada e
agressiva sua pretenso.
A NACIONALIZAO DA POL(TICA PLUMINENSE 107
A dificuldade de conciliar tantas presses acabou por provocar
o esvaziamento . da questo. A transferncia da capital acabou
sendo feita de forma emergencial. A ecloso da Revolta da Armada em
1893 e a adeso da maioria da populao de Niteri aos revoltosos
colocaram a capital fluminense sob ameaa de bombardeio. Diante
desse fato, a ALERJ decidiu transferir provisoriamente a capital no
para Terespolis, mas para Petrpolis, que alm de possuir condi-
es materiais para abrigar a sede do governo era a base poltica
do presidente do estado, Jos Toms da Porcincula. A transferncia foi
consumada em fevereiro de 1894, e a volta da capital para Niteri
s se efetuou em 1903, sob a imposio de Nilo Peanha, recm-eleito
presidente do estado do Rio 22.
Toda essa discusso que mobilizou diferentes lideranas regionais
fluminenses, visando no s a fortalecer a posio de seus municpios, mas
tambm promover uma interiorizao da poltica, terminou por no ter
nenhuma eficcia: Mesmo durante a permanncia da capital em
Petrpolis as relaes entre a cidade e o estado do Rio no mudaram
de forma substancial.
Ainda assim, a preocupao de interiorizar a poltica fluminense
permaneceu sob outras formas que no a transferncia da capital,
destacando-se nesse movimento os polticos campistas. Sua atuao
caracterizava-se pela luta para o fortalecimento das lideranas regionais
e locais em detrimento daquelas que tinham maior trnsito na esfera
federal, mas em contrapartida tinham menos contato com as bases locais.
Uma situao exemplar nesse sentido foi a sucesso estadual de 1918,
quando a faco do grupo nilista que atuava na esfera estadual
encampou a candidatura do deputado estadual campistaJoo Guimares. Esta
indicao foi contudo derrotada em favor de um nome que expressava
exatamente a posio oposta, ou seja, tinha pouco contato com as bases
e problemas locais mas gozava de reconhecimento na esfera nacional".
3. A nacionalizao como um instrumento de ampliao
do espao poltico
Se a interiorizao poltica era defendida porsetores da elite fluminense,
uma orientao diversa era sustentada por Nilo Peanha e outras lideranas
108 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
de maior trnsito na poltica nacional 24 Nilo sempre privilegiou a atuao na
esfera federal, mesmo que isso colocasse em risco a estabilidade interna. Esta
orientao no se aplicava apenas sua trajetria pessoal, mas conduo da
prpria poltica fluminense em um sentido mais amplo. Mesmo, pretendendo
resistir s interrerncias do governo federal, Nilo via a nacionalizao da
poltica fluminense como um fato consumado, e sua perspectiva era tirar disso
o maior proveito possvel.
As eleies de 1918 para o Executivo estadual mais uma vez pennitem
comprovar essa orientao. Como j foi dito, em 1917 foi lanada a
candidatura de Joo Guimares ao governo do estado. Em oposio, uma
outra faco do nllismo lanou o nome de Raul Femandes. Lder da bancada
nilistana Cmara dos Deputados, RaulPernandes tinha a seu favor uma longa
experiI)cia na poltica federal e Vl.culos bastante estreitos com o mundo
empresarial, intelectual e poltico catloca.JJoo Guimares era um poltico
provinciano, sem lig,aes fora do estado e com uma viso regional dos
problemas fluminenses. Significativamente, Raul Fernandes consagrava em
tomo de si toda a bancada federal. Entre os mais ativos defensores de sua
candidatura destacavam-se os deputados federais Raul Veiga,]os Tolentino,
Jos EduardoMacedo Soares, o Conde Modesto Leal e o advogado e usineiro
Nelson Rlbeiro de Castro 25 (anexo ll).
A atuao de Ntlo Peanha nesse espisdio, ainda que de forma indireta
e disfarada, foi francamente no sentido de esvaziar o nome de Joo
Guimares. Como no foi psSvel sustentar a candidatura de Raul Fernandes,
vingou afinal o lanamento do nome de Raul Veiga, que, mesmo no
dispondo da mesma projeo nacional, estava pleriamente afinado com
aqueles elementos que desfrUtavam de prestgio no cenrio federal.
Essa estratgia de valorizar as relaes e as articulaes na poltica
nacional foi novamente implementada em 1920, por ocasio da reorganizao
da Comisso Executiva do PRF. Sua caracterstica principal era ser fonnada
exc1usi:vamentepormembroo da bancada federal, diferentemente de comisses
anteriores, em que se privilegiou a incorporao de lideranas regionais ou
locais. Alm disso
t
com exceo de Ramiro Braga, todos os demais elementos
eram totalmente afinados com a faco liderada por Raul Fernandes. Alm de
ter sido pessoalmente excludo,]oo Guimares no teve qualquer aliado seu
includo na Comisso Executiva. Os novos dirigentes do partido de Nilo
Peanha tinham r ~ t o fcil junto a destacadas figuras do cenrio POltico
nacional, o que era considerado fato importante na montagem ,de um
A NACIONALIZAO DA POLfTICA FLUMINENSE 109
esquema que beneficiasse a obteno de apoios para Nilo Peanha disputar
a Presidncia da Repblica em 1922
26
Nessa linha de atuao, a faco nillsta com trnsito na esfera federal
pretendia construir alianas s6lidas com lideranas do Distrito Federal e
de oulros estadas) de maneira a ampliar a 1iderana de Nilo Peanha para alm
das fronteiras fluminenses e em especial frente s camadas urbanas da cidade
do Rio. A insero de Maurcio de Lacerda na bancada federal fluminense
e a sustentao de seu nome por Nilo Peanha, a despeito das presses
dos governos de Wenceslau Brs e de Epitcio por sua excluso, como
conseqncia de sua atuao na Cmara em defesa da classe trabalhadora
do Rio de Janeiro, so'ndicativos desta orientao 27. A popularidade e a
liderana de Maurcio de Lacerda junto s massas cariocas interessavam
sobremaneira a NiloPeanha, que as encarava como um meio de aproximao
com o eleitorado da capital.
Essa penetrao eleitoral de Nilo Peanha na cidade do Rio de Janeiro
se concretizou de maneira mais explcita por ocasio da Reao Republicana,
em 1921/1922. Lanado como candidato de oposio, Nilo teve grande
respaldo eleitoral, no s6 de expressivas lideranas polticas cariocas mas
tambm de massas trabalhadoras da capital.
Ao desembarcar no Rio no dia 6 de junho de 1921, depois de quase
um ano de ausncia, Nilo Peanha recebeu uma das mais expressivas
manifestaes populares. liA multido comprhnia-se no cais do porto,
rompendo as cordqs de isolamento aos gritos de 'Viva Nilo Peanha, o futuro
presidente da Repblica' ."A despeito do inegvel prestgio de Nilo, existem
indicaes de que essa manifestao no era exatamente fruto da
espontaneidade d populao carioca e fluminense. Na verdade, os rgos
mais expressivos da imprensa carioca, liderados pelo CorreiodaManhe por
OImpacia/, foram fundamentais para conformar a opinio pblica em favor
de Nilo. Edmundo Bittencourt, dono do Correio daManh, possuidor de
inegveis qualidades jornalSticas e de uma extraordinria capacidade de
despertar o intereSse popular, juntamente com o nilista]os Eduardo de
Macedo Soares, proprietrio de O Imparcial, vinha desde a\gum tempo
bombardeando a candidatura Artur Bernardes e exaltando as qualidades
polticas e pessoais do lder fluminense 28.
Embora fosse um movimento marcadamente oligrquico. a Reao
Republicana estava interessada em mobilizar as massas urbanas, e para atingir
tal objetivo a campanha se revestiu de um apelo popular. Nesse sentido
J
Nilo
Peanha declarava:
110 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
o mundo no pode ser mais o domnio egostico dos ricos,
e (. ... ) s teremos paz de verdade, e uma paz de justia,
quando nas nossas propriedades (. .. ) e nas nossas
conscincias, sobretudo, forem to legtimos o direito do
trbalho como os do capital. No possvel a nenhum
governo brasileiro deixar de respeitar, dentro da ordem, a
liberdade operria, o pensamento operrio.:!!)
O destaque dado a essa questo estava ligado intensa agito
operria que marcou os ltimos anos da dcada de 1910 e colocou em
evidncia' o debate acerca da questo social, no qual Maurcio de Lacerda
desempenhou um papel-chave. Nilo advogava igualmente a extenso da
instruo pblica para acabar com o analfabetismo e como alternativa
para ampliar a participao poltica de segmentos desprivilegiados. A
despeito desse discurso progressista, nenhuma proposta concreta que
propiciasse uma maior democratizao foi apresentada. O voto secreto,
por exemplo, j reivindicado por expressivos segmentos urbanos, no era
objeto de discusso
ao
.
Ainda que com uma plataforma to limitada em tennos de propostas
concretas os interesses das populaes urbanas, Nilo conseguiu obter
uma grande penetrao nesse contingente eleitoral, em especial no
Distrito Federal, e em funo disso sua imagem foi vinculada a uma
postura democratizante, Um deitor carioca annimo traou'. perfil de Nilo
como refletor das esperanas nacionais, que' tomou a si o
grande sacrifcio de redimir o povo brasileiro, regenerando--
llie os costumes polticos e mostrando-lhe que, na poltica,
no se vence pela autocracia, pelo crime, pela coao, pelo
suborno, e sim pela democracia, pelo direito, pelo prestigio
e sobretudo pelo respeito soberania do pOVO.'1
O noticirio dos jornais nilistas insistia na penetrao do candidato
da Reao no seio do eleitorado urbano, e at mesmo as
foras oposicionistas reconheciam temerosas esse fato. Um informante
escrevia a Raul Soares relatando: ao Nilo esteve muito conconida,
mas dizem todos que havia 60% de curiosos) 35% de revoltados contra tudo
e contra todos e apenas 5% de nilistasll.Aseguir alertava: "Estamosmarchando
para a anarquia na capital ( ... ), O Epito parece indiferente s depredaes
e atentados a nossos jomaisll32 . '
Algumas biografias de Nilo Peanha ressaltam demasiadamente sua
ligao com as massas, chegando a atribuir-lhe o papel de precursor do
A NACIONALIZAO DA POLfTICA FLUMINENSE 111
populismo no pas, de portador de um iderio socialista, e a qualificar sua
atuao na Reao Republicana como antioligrquica.A despeito daS crticas
que possam ser feitas a essas interpretaes, era inegvel, naquele momento,
a penetrao do nome de Nilo junto s camadas urbanas do Distrito Federal.
Istopode ser explicado no s em funo de suas caractersticas pessoais, pois
era um excelente orador
t
com grande capacidade de comunicao, mas
tambm pelas pr6prias caractersticas e anseios dos grupos urbanos"Numa
sociedade em que esses segmentos achavam-se marginalizados de qualquer
participao poltica , o simples fato de o discurso nilista consider-los como
interlocutores dignos de ateno j era em si uma iniciativa mobilizadora.
Porm, se no Distrito Federal Nilo conseguia encantar as massas
uroanas, fazendo de seu comdo de outubro de 1921 umgrandeacontecimento
popular, como admitiu um correligionrio de Bemardes, as populaes
das cidades fluminenses mostravam-se resistentes ao fascnio nilista. Com
exceo de Campost terra natal de Nilo, os principais centros urbanos no
estado do Rio, Petrpolis e Nova Friburgo, eram reas onde as
oposies fluminenses movimentavam-se com mais desenvoltura e onde a
poltica nilista tinha maiores dificuldades para exercer seu controle. Na
verdade, enquanto no Distrito Federal e em outras capitais do pas Nilo
apresentava um discurso mais progressista, em seu estado natal, onde
residiam suas principais bases, seu papel era o do oligarca tpico, que
promovia perseguies polticas, fraudava eleies, enfim, lanava mo de
todas as prticas caracteristicas do coronelismo.
A complexa rede de alianas que Nilo peanha construiu no Rio de
Janeiro, angariando. o apoio de militares e camadas populares urbanas, fez
com que sua candidatura fosse vista pelos jornais paulistas de fonua
extremamente negativa. O Correio Paulistano, por exemplo, se referia ao
candidato da Reao Republicana como o "monstro carioca" 33.
A estratgia de Nilo Peanha e de setores das elites fluminenses mais
cosmopolitas, de estreitar os laos pouticos com a populao carioca, parecia
desejados, transfonnando o poltico fluminense na maisimportante
liderana da cidade.
Entretanto, apesar de desgastada, a poltica dos governadores continuava
vigente, e o princpio de Campos Sales, "de que se governava a Repblica por
cima das multides que tumultuam, agitadas, as ruas da capital da Unio, e
com o apoio dos grandes estados", deveria ser mantida a ferro e fogo 34 E foi.
O desfecho fmal desta disputa eleitoral de 1922 foi a derrota da Reao
112 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
Republicana e a -interveno federal no estado do Rio de Janeiro, com a
completa do grupo nilista do poder.
Um balan das iniciativas do grupo nilista mais cosmopolita, que
atuava fundamentalmente no Distrito Federal e pretendia colher dividendos
das redes de relacionamentos construdas com diferentes segmentos da
populao carioca, nos permite dizer que esse grupo obteve sucesso do
ponto de vista das trajetrias polticas individuais. No entanto, na perspectiva
de construo de uma fora poltica ca paz de enfrentar o eixo dominante
Minas-So Paulo, seus planos no conseguiram os resultados desejados,
resultando num retunlbante fracasso.
Entretanto, seria enganoso atribuir a derrota da Reao Republicana
apenas a problemaS especficos da poltica da capital e do estado do Rio, pois
ela se insere num quadromals amplo de funcionamento do pacto oligrquico
em nvel nacional. Seu fracasso tambm estava relacionado correlao de
foras e forma de funcionamento poltico do regime impostas pela poltica
dos na qual a competio poltica devia ser confmada aos
estados e as oposies tinham chances mnimas de desalojar a situao que
se eternizava no poder.
O mais importante, do nosso ponto de vista, no discutir a derrota
das pretenses de Nilo Peanha e dos polticos cariocas e fluminenses a ele
associados, mas perceber os limites impostos pela estratgia adotada pelo
lder fluminense, de encarar a nacionalizao como um instrumento de
ampliao do espao de ao poltica do estado do Rio.
verdade que a opo de buscar apoios externos e tirar proveito dos
pontos de contato com os polticos cariocas e nacionais, ao invs de defender
a interioriZao flwninense, parecia ser o caminho acertado para conseguir um
melhor statuspara o estado do Rio na hierarquia do federalismo brasileiro. No
entanto, a pouca solidez das relaes entre Nilo peanha e os cariocas, bem
como a prpria diviso interna das elites polticas carioca e fluminense na
ocasio, enfraqueceram as bases de sustentao desta aliana entre setores
cariocas e fluminenses para enfrentar o pacto oligrquico patrocinado por
Minas e So Paulo ..
Para concluir, gOStaramos de ressaltar que a nacionalizao da poltica
fluminense era um fato consumado que se manifestou de diversas maneiras
e levou os fluminenses a buscar alternativas para enfrent-lo. difcil aftrmar,
num balano fmal, se a nacionalizao representou um bem ou um mal.
Entretanto, no que diz respeito unificao poltica do estado, a nacionalizao
teve um efeito negativo.
A NACIONALIZAO DA POLITICA FLUMINENSE 113 .
4. O porto de Niteri: uma nova tentativa de" autonomia
Na dcada de 20, aps a derrota. do grupo nllista! a questo
das relaes cidade - estado do Rio foireativada sob um novo prisma. Ainda
que a nova faco poltica liderada por Feliciano Sodr tivesse conquistado o
poder graas uma intetveno federal) o que por si s limitava suas
possibilidades de questionamento das interferncias do governo federal na
polticaflummense1sua atuao seria direcionada no sentido de denunciar
as IInefastas" influncias do Distrito Federal sobre o estado do Rio.
A questo central para o governo de Feliciano Sodr no estava
diretamente ligada defesa da interiorizao da poltica fluminense, mas
necessidade de neutralizar os malefcios trazidos pela preponderncia
econmica da cidade do Rio de Janeiro sobre o estado. Sua estratgia para
enfrentar tal problema era a construo do porto de Niteri e a criao de
uma alfndega naquela cidade. A base principal de seu argumento era que
o estado do Rio no possua nenhuma instncia fiscal, e toda a arrecadao
das taxas cobradas sobre os produtos importados que ingressavam no
territrio fluminense era feita pela coletoria e pela recebedoria do Distrito
Federal. A construo de um porto estava assim ligada no s entrada
e sada de produtos no estado do Rio sem a intermediao do porto do
Distrito Federal, mas tambm criao de uma nova fonte de recursos
fiscais. Tudo isso visava naturahnente a uma maior autonomia estadual.
Assim! a construo do porto e a criao de uma alfndega em
Niteri
l
embora no estivessem diretamente relacionadas questo da
nacionalizao da poltica fluminense, oferecem indiretamente alguns
subsdios nessa direo. Ao pretender "conquistar a emancipao econmica
do estado do Riou! o governo de Sodr acreditava tambm poder conter a
influncia da cidade como plo de atrao poltico e econlnico das
potencialidades da Velha Provncia 35. Os resultados dessa proposta foram
extremamente limitados) urna vez que o porto de Niteri no chegou a
entrar em funcionamento efetivo na Primeira Repblica.
Notas
1. BERNARDES, Lysia. Consideraes sobre a regio do Rio de Janeiro. Revista
Brasileira de Geograff4, v.33, nA. p.99-107, 1971.
2. FERREIRA, Marieta de Moraes. Poltica e poder no estado do Rio na Repblica
Velha. Revista do Rio deJaneiro, n.l, p.116, 1985, e A crise dos comiss'f'ios de caf do Rio
. deJanei.ro, p.28-45. Ver ainda PRAGOSO, Joo Luis. Comerciantes efazendeiros (I/ormas
114 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
de acumulao em uma eronomia escravista colonial. p.374; e CARVALHO, Jos Murilo
de. Teatro das sombras. p.100.
3. CARV AIJIO, Miguel de. Organizao republicana do estado do Rio de Janeiro,
1889 a 1894. p.H.
4. Idem, ib., p.16.
Essa idia de da cidade do Rio de Janeiro foi utilizada por Jos
Rm6rio Rodrigues no texto 110 destino nacional da cidade do ruo de ]aneiro
N
, em Vida
.: h.J.Stria, p.126-146. Posteriormente, Jos Murilo de Carvalho retomou essa questo no
livro Teatro das sombras, p.100. Em ambos os autores, o uso do termo nacionaHZ2l1o
ligava-se a caraCteristicas da .. uJe do Rio. Em nosso caso, consideramos tn aplic-lo
tambm ao estado do ruo, porque muitas das caractersticas que marcaram a trajetria da
cidade se faziam sen[ir tambm no estado.
6. A anlise comparativa do processo de instalao da nova ordem republicana
nos diferentes eSL;.Idos. bem como a reaHzalo das eleies para a Constituinte Nadonal
em 1890. mO.'ilranl a especificidade do caso fluminense no que diz respeito
nadonalizan. Slti Pa..rlo e Rio Grande do Sul) por possurem uma melhor organizao
e difuso de Rl'\.lpos republicanos, tiveram condies de fazer valer suas propostas para
a conduA" :1. poltica Em outrOS estados, como Minas Gerais, onde no se havia
constitu ,tlJ "m partido republicano com maior solidez, Deodoro reve um poder de
iUne para' a organizao do no govemo, mas a chapa para a Conslituinre
Nar ;,,('I.d ihtSCeu de uma aliana entre republicanos hist6ricos e liberais e as eleies para
a (on'::'Llluinte estadual; embora tenha sido obje(o de conflito entre OS dois grupos, acabou
pv< incorporar os republicanos histricos, reduzindo assim as interferncias exterruts.
Mesmo em estados como Bahia e Sergipe a imposio de elementos de fora da
poltica regional no denunciada para as elejes da Constituinte Nacional.
Ver LOVE, ]oseph. A loco m olva: So Paulo na federao brasileira: 18891937.
p.IS7. ___ O regionalismo gacho. p.30, 43. WIRTII, John. Ofiel da ba/altI Minas
Gerais na federao brasileira, 1889-1937. p.lS6. SAMPAIO. Consuelo Novais. Os
partidos polticos na Primeira Repblica: uma poltica de acomodao. p.2729. SOUZA,
Terezinha de. Impasses do federalismo brasileiro: Sergipe e a Revolta de Fausto Cardoso.
p.S8.
7. S, Surama de. A elite polfticajluminense: renovao ou continuidade. relatrio
de pesquisa. LEMOS, Renato. A implan/ao da ordem republica114 na estado do Rio de
Janeiro, 1889-1892. p.82-B7. Ver ainda CARVALHO, Miguel de. op. clt, p.25, 16.
WERNECK, Andr. O estado do ruo: burgo podre? Folha do Dia, 19 dez. 1908. Arquivo
Nacional, caixa 29-B, lbum, p.173.
8. KORNIS, Mnica. A retomada do controle poltico. In: FERREIRA, Marieta de
Moraes (cooro.). A R6pblica na Velha Provncia. Carta de Chico a Nilo
Peanha em 16 ;an. 1912 e 05 fev. 1912. Carta de Horcio de Magalhes a Nilo em 12
fev. 1912. Carta de Teixeira Br-.mdo a Nilo em 04 mar. 1912. Arquivo Nilo Peanha.
9. Carta de Raul Fernandes a Nilo Peanha em 25 mar. 1912. Arquivo
Nilo Peanha.
A NACIONALIZAO DA POLfTICA FLUMINENSE 115
10. MARY, Cristina Pessanha. Poria de NiJeri
J
- uma promessa de autonomia.
p.ll0. KORNIS, Mnica. Enfrentamento e acordo. In: FERREIRA, Marieta de Moraes
(cooro.). Opa clt, p.192. BARREiO, Joo. Aspedos polticos, econllmicos e administrativos
do estado do Rio: o sr. ~ l o Peanha. p.56, 57.
11. FERNANDES, Raul. A redeno. In: I.B.C. O caf no segundo amlenrio de
sua introduo no BrllSil v.6, p,46
1
47.
12. BALANo, da receita e despesa do Imprio e Repblica, 1880.1930.
13. CORaIN, AJain. Pari.s.-provlnce. In: NORA, Pierre (dir.). Les lieux de memoire
III. Les Prances V.l Conflits et Partages p.m-n9.
Para acompanhar essa discusso ver tambm os artigos de Madellaine Riberioux,
A capital e o sonho das provncias e 1900" e o de Anne Marte Thiesse. liA inveno
do regionalismo . Belle Epoque" em le Moummlmt Social, Paris. Province, n.160,
p.3-10, 11-32, ;uU./sePt. 1992.
14. Anais da.Af.BRJ.. sesso ordinria de 1920, anexos. Artigo de Maurcio Medeiros
publicado em O lmpan:::lal, em 13 ago. 1920.
15. SEVECBNKO, Nicolau. Lileralura como misso. p.25-41. OLIVEIRA, Lcia
Lippi. A qutlSllio nacional na Primeira Repblica. p.112-1l3.
16. RODRIGUES, Jos Hon6rio. O destino nacional da cidade do Rio de Janeiro.
In: __ VuJa e bistria. p.126-146. MOTA, Marli. A nao faz cem anos. pAO.
17. CoJelo de cartas de Marieta Galvo de Moraes, residente numa fazenda em
Cantagalo, sua innl Nomia Galvo de Moraes, relatando suas expectativas e planos de
viagem ao Rio, 1915-1919.
18. A consulta ao Almunt:ltJ.ue Laemmerl para a localizao de residncias e
escritrios dos deputados estaduais fluminenses revela um nmero expressivo de nomes
radicados no Rio.
19. BORHRER, George. Da Monarquia RBjJblic.a, bistria do Parlido Republicano
no Brasil (1870-1889) . . p.67.
20. LESSA, Re'nato. A nveno republicana. cap.2.
21. LEMOS, Renato. op. cit., p.127-130. Ver tambm oS jornais Monitor Campista,
novo 1889, e O Fluminsnse, 19 out. 1890.
22. LEMOS, Renato. A oligarquia no poder. In: FERREIRA, Marleta de MOraes
(cooro.). op, cit., p.81.
23. Ver os Jamais O Rio de Janeiro, dez. 1917, Gazela do Povo, maio 1918, e O
Momento, jun. 1917.
24. Podem ser includos neste grupo: Raul Fernandes, Jos Eduardo Macedo
Soares (dono do jomal carioca OImparcial), Maurcio de Lacerda, Azevedo Sodr (mdico
do Distrito Pederal), Maudcio Medeiros (mdico e professor da Escola de Medicina
do Distrito Pederal), Manoel Reis, Julio Ribeiro de Castto, Conde Modesto Leal,
Manoel Tem(stodes de Almeida, Raul Veiga, Francisco Marcondes Macedo Jr.,
Domingos Mariano, Laudndo Lengruber Filho, SDvio Rangel, Monteiro Soares, Arthur
de Souza e Jos Tolentino.
116 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
25. BRANDI, Paulo. Estabilidade e compromisso. In:- FERREIRA, Marieta de
Moraes (coord.). op. cit., p.216. .
26. Ver O Fstado, maio 1920.
27. Para a atuao de Maurcio de Lacerda no Legislativo federal ver GOMES,
Angela de Castro. Burguesia e trabalho. p.5558. As presses dos governos de Wenceslau
Brs e Epltcio Pessoa sobre lideranas fluminenses nilistas para a excluso do nome de
Maurcio de Lacerda da bancada tluminense podem ser constatadas na correspondncia
do Arquivo de Nilo Peanha de jan. e fev. de 1918; 02 de out. de 1920; e fev. de 1921,
quando fina1tpente Nilo no teve mais condies de resisfu e excluiu Lacerda da chapa.
28. FERREIRA, Maneta de Moraes. Conflito regional e crise poltica: a Reao
Republicana no Rio de Janeiro.
29. Discurso de Nilo Peanha eirado por. Celso Peanha, Nilo Peanha e a
revoluo brasileira. p.135.
30. FERREIRA, Marieta de Moraes. Um eixo alternativo de poder. In: ___ . A
Repblica na Velha Provncia. p.241-258.
31. Carta de um eleitor do Rio de Janeiro a Nilo peanha em fevereiro de 1922.
Arquivo Nilo Peanha.
32. Carta de Lopes Martins a Raul Soares em 07 novo 1922. Arquivo Raul Soares.
33. Cit. por MOTA, Marli. op. cit., p.90-91.
34. Ver SALES, Campos. Da propaganda presidncia. p.258. Ver tambm
CARVALHO, Jos Murilo de. Os bestializados. p.33.
35. MARY, Cristina Pessanha. op. cit., p.U1. 112. Ver tambm OF..stado, 20 oU[.
1927, e O Jornal, 11 maio 1927.
6
Fragmentao poltica
e questo partidria
Os projetos de refonna da agricultura e a nacionalizao da poltica
estadual foram eix:QS em tomo dos quais a elite poltica fluminense se diVidiu
em grupos e subgrupos ao longo daPrlmeira Repblica. Mas h ainda um
outro plano em que as divises dessa elite se tomam especialmente
evidentes: o da vida partidria. O objetivo deste captulo mapeara trajetria
dos partidos fluminenses de 1889 a 1930 de modo a explicar as dificuldades
de institucionalizao da vida partidria e a incapacidade da cultura f poltica
do estado para ah;orverconflitosregionais, evitando assim uma fragmentao
(anexos I e II). No Brasil, os partidos polticos passaram a se constituir'
como grupos institUCionalmente organizados sob a gide da monarquia
parlamentarlstado Segundo Reinado. Naquele momento, o ponto central da
dinmica poltica estava menos na relao entre os partidos e b eleitorado do
que nas relaes dos partidos com o Poder Moderador, cuja interveno;
fazendo e desfazen40 gabinetes, promovia a rotatividade no poder central e
nos governos provinciais. Esses procedimentos no impediam, porm, que
aracionaJidade do jogo poltico fosse dada pela disputa entre partidos, tendo
como eixo de equ.i4rio a figura do imperador.
Com a implantao da Repblica essas regras foram alteradas de
fonpa substantiva. Eliminou-se a pea-chave o Poder Moderador -, e
substituiu-se a base de legitimidade do regime com a introduo do sufrgio
universal e a extino.dos doiS partidos principais, o Liberal e oConsexvdor.
O nico partido que pennanecu foi o Republicano, fundado em 1870, que
nunca chegou a se constituir como uma organizao unificada em nvel
nacional, caracterizan'do-se como uma federao de ncleos provinciais
com diferentes matizes ideolgicos e com estratgias polticas frouxa-
mente coordenadas pelo ncleo central do Rio deJaneiro.A consagrao do
princpio federativo pelo novo regime agravou essa situao, pro1l'\ovendo
uma fragmentao que consolidou uma estrutura partidria estadual.
Em contraste com o sistema imperial, a Primeira Repblica parecia avessa
aospartidosnadonahnente organizados 2.
118 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
A nova lgica polftica iniciada com a Repblica, e aprofundada
com Campos Sales atravs da poltica dos governadores, no estava
pautada pela competio poltica entre partidos nacionais, e sim pelas
relaes entre as vrias situaes polticas estaduais e o poder central.
Assim, ao longo da primeira dcada republicana formaram-se em cada
estado partidos dominantes, quando no nicos, que monopolizavam
as posies de governo e possuam maior ou menor complexidade
interna conforme 3: diversificao da estrutura social e poltica de cada regio.
No caso especfico do estado do Rio dejaneiro, a vida partidria
na Primeira Repblica foi marcada por baixos nveis de institucionali-
zao e por dificuldades em se construir uma mquina partidria
unida e eficiente, capaz de permitira atuao de uma bancada federal coesa
na defesa dos interesses fluminenses diante da poltica nacional.
A questo central que marcou todo o perodo foi a dificuldade de defmio
nas relaes governo - partido. A incapacidade das elites flumi-
nenses de precisar as atribuies de cada um provocou inmeras
crises e impossibilitou a criao de instncias partidrias capazes de
absorver faces dissidentes e neutralizar conflitos. Para estudar os partidos
polticos do estado do ruo nesse perodo, estabeleceremos luna periodi-
zao em trs etapas: as tentativas de estruturao dos partidos
fluminenses (1888-1899); o refluxo dos partidos (1900-1920); e a tentativa
de revitalizao partidria (1920-1930).
1.As tentativas de estruturao dos partidos fluminenses
A primeira dcada republicana no estado do Rio se caracterizou peJas
tentativas de estruturao de novos partidos e pela discusso das foonas de
relacionamento entre governo e partido.
A primeira condicionante desse processo est relacionada com a
maneira como ocorreu a difuso das idias republicanas na provncia
do Rio dejaneiro.Adespeito do fato de as principais lideranas republicanas
nacionais serem fluminenses, como Quintino Bocaiva, SllvaJardim, Lopes
Trovo, NiloPeanha, a criao de uma agremiao partidria republicana na
provncias6 ocorreu em novembro de 1888, e muito mais em funo de Um
contingente de elementos descontentes coma monarquia devido Abolio
do que propriamente por uma opo pelas idiasrepubHcanas.
Uma nova leva de adeses ocorreu coma Proclamao da Repblica,
que estimulou um grande nmero de adeptos da monarquia ase transfonnarem
FRAGMENTAO POLfTICA E QUESTO PARTIDRIA 119
nos chamados"republicanos do 15 de Novembro", O crescimento numrico
do partido no novo regime no significou porm a construo de uma
agremiao forte e coesa. O precrio enraizamento das idias republicanas foi
um complicador iQ1portante para se chegar a uma deftnio mais clara das
relaes entre governo e partido, o que por sua vez acabou por provocar a
ciso dos republicanos, e a reorganizao partidria dos ex J ,
A fragilidade do Partido Republicano no estado do Rio se manifestou
explicitamente logo aps a Proclamao, quando a escolha de Francisco
Portela para a chefia do governo esu\dual foi feita sua revelia. A montagem
da mquina administrativa estadual e a organizao das eleies de 1890 para
a Constituinte Federal, e de 1891 para Consttu.inte Estadual, confirmaram a
marginalizao da agremiao republicana na vida poltica fluminense A esse
respeito Santos Werneck declarou:
Aflgurava-seme, e ainda se me afigura, que uma eleio em
que o governo do principal estado da Unio entraria como
parte apaixonada, em que desembar.1adamente apresentasse
uma chapa oficial incluindo nomes das autoridades supe-
riores, outros que no contam o menor servio ao estado,
nem Repblica, outros que representam imposies
sua reconhecida fraqueza e at que no se compreende
como aliar com a sua no suspeitada dignidade pessoal,
chapas de que ao mesmo tempo seriam excludos os
mais antigos republicanos fluminenses, parecia-me, dizia
eu, que uma eleio assim processada seria o atestado
o mais legtimoe autntico da m f do regime provisrio do
estado do Rio para com essa parte da nao ludibriada e um
desafio soberania do povo fluminense, autonomia
do estado, tornado pelo seu prprio governador o burgo
mais podre do Brasil ".
As tentativas do Partido Republicano de alcanar uma maior
institucionalizao, atravs da realizao de convenes partidrias, da
renovao das comisses executivas e do lanamento das chapas eleitorais
escolhidas segundo mecanismos partidrios e no estritamente pessoais,
no resultaram numa maior participao sua no poder, nemna eleio de
suas principais lideranas, como SUvaJardim e Alberto Torres. Em contra partida,
a atuao de Francisco Portela se caracterizou por sua subordinao ao
governo federal e por uma postura personalista em que a meta central era
criar uma base de poder prpria independente das demais foras polticas
estaduais, sem contudo chegar a estruturar nenh uma agremiao.
120 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
Esta situao de marginalizao do PR fluminense conduziu-o a
uma aproximao com membros do antigo Partido Conservador liderados
pelo Conselheiro Paulino Soares de Souza, que em 31 de agosto de 1890
fundaram o Partido Republicano Moderado. A impotncia do PR
fluminense em se contrapor ao Executivo estadual aprofundou sua
aliana com o Partido Republicano Moderado, dando origem a uma nova
agremiao, o PartdoAutonomistaFlumnense, em 13 de abril de 1891 5,
Essa experincia partidria no chegou a ter vida longa e no enfrentou
nenhum pleito eleitoral, em virtude da queda do governo provisrio
de Deodoro da Fonseca e de seu no estado do Rio, Francisco
Portela, em novembro de 1891.
A necessidade de realizar eleies para uma nova Constituinte'
Estadual, para uma nova Assemblia Legislativa e para o governo do estado,
imposta pela queda de Deodoro e seus representantes estaduais, exigia a
reorganizao das foras polticas. O resultado fo o surgimento do Partido
RepubllcantJFlumnens;e(pRF), fonnado pelo ex-P AF e mais dissidentes do
govemador Portela. Incorporando republicanos histricos e ex-monarquistas,
o PRF era comand:ado pelo Conselheiro Paulino Soares de Souza e pelo
republicanohistrico]osTomsdaPorcincula,ocupandoesteltimoa
Presidncia do partido ..
O objetivo da nova agremiao era construir uma mquina parti-
dria forte e centralizada que garantisse a estabilidade poltica do estado.
Aparentemente este objetivo foi atingido, uma vez que de 1892 a 1898
o PRF funcionou praticall').ente como partido nico, controlando todr'1S
as eleies estaduais, federais, legislativas e executivas. Isto ocorreu
porque foi possvel neutralizar e absorver dissenses intrapartidrias,
o que no significa que tivessem sido eliminadas tenses internas ou
excluda a de perdas futuras.
A existncia de uma chefia nica concentrada nas mos dePorcincula
era um trunfo importante para garantir a unidade 6. Tudo levava a crer que
o PRF estava funcionando elll moldes semelhantes aos que vieram a ter o
Partido Paulista,e o Partido Republicano Minero. No entanto,
duas questes bsicas estavam na mesa de discusso, ,e de sua resoluo
dependia o futuro do partido: o formato da direo partidria e as relaes
partdo-govemo. .
O debate acerca do formato da direo partidria manifestou-se com
clareza em fevereiro de 1896, com a realizao do congresso do PRF. Desde
FRAGMENTAO POLTICA E QUESTO PARTIDRIA 121
sua fundao, a direo do PRF tinha sido organizada sob a forma de
uma comisso executiva composta por seis membros e presidida por
Porcincula, que de fato atuava como chefia nica. Contudo o afastamento de
Porcincu1a da poltica fluminense, em janeiro de 1895, para exercer funes
diplomticas, abriu espao para que eclodissem divergncias latentes rela-
tivas forma de organizao do partido.
A proposta oficial apresentada pelo delegado de Sapucaia, S Earp,
era que a chefia nica, exercida at ento por Porcincula, fosse substi-
tuda por uma comisso executiva composta de quinze membros, trs de
cada um dos cinco distritos eleitorais em que se dividia o estado. Em oposio,
Nilo Peanha, representantede Campos, argumentava que uma comisso
composta de quinze 'membros seria incapaz de ter a agilidade necessria
ao desempenho de funes executivas, e como opo, propunha a eleio
de um diretrio c<;>mposto de cinco membros, com representantes dos
cinco distritos eleitorais 7.
Naturalmente a proposta vencedora foi a oficial, aprovada em plenrio
por representantes de todos os municpios, e Nilo Peanha acabou por cutVat-
se deciso da ~ i o r i a Ao fim do congresso parecia que as dificuldades
tinhamsido superadas, e a desejada estabilidade partidria, mantida. Contudo,
os resultados obtidos no neutralizaram as reivindicaes do grupo de
Campos e no equacionaram de forma precisa as relaes governo-partido.
A conveno do PRF de novembro de 1896 trouxe novamente tona
a discusso em tomo do formato da comisso executiva do partido, e mais
uma vez o grupo de Campos sugeriu alteraes que abrissem um maior
espao para as lideranas do norte do estado. Visando mais uma vez a
neutralizar as investidas campistas, Porcincula, j de volta ao comando do
partido, apresentou a proposta de que o diretrio estadual fosse composto de
sete membros, eleitos trienalmente pelos delegados dos munipios, aps o
reconhecimento d6s poderes dos deputados federais e estaduais e senadores,
por escrutnio de lista, uma por municpio e contendo um nome para
representante de cada um dos cinco distritos deitorais, um deputado federal
e um senador. Essa f6rmula dilua pelo estado os votos que elegeriam os
dirigentes partidrios; reduzindo dessa maneira a influncia dos chefes locais
nos resultados, o' que significava criar dificuldades para a eleio de
representantes do norte do estado ligados chefia de Nilo Peanha e do Baro
de Miracema 8. Impossibilitadas de reagir, as chefias campistas decidiram
abandonar o partido, consumando a primeira ciso doPRF.
122 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
Esse episdio ilustra bem a incapacidade do PRF de neutralizar
e absorver os conflitos atravs de sua comisso executiva. Por que
no aceitar uma participao mais igualitria das lideranas do norte
na direo do partido? Aparentemente no se pode detectar naquele
momento divergncias de fundo entre as duas faces..At ento o grupo de
Campos no tinha manifestado atitudes de contestao radical ao PRF e ao
governo do estado, naquele momento dirigido por Maurcio Abreu (1895-
1897). Tudo indica que teria sido mais prudente cooptar o grupo de Campos
e mant-lo dentro do partido, sob controle, como certamente seria feito pelo
PRM e pelo PRP 9.
A excluso do grupo de Campos, que passou a se autodenominar
PanidoRepublicanoem oposico! nos abriu espaopamarticulaes com
os antigos adeptos do portelismo de Niteri, que at entilo no tinham maior
expresso e ressurgiram reunidos no PartidoAutonomtsta, como permitiu
a interferncia federal nas eleies para a renovao da bancada fluminense
na cmara, pleiteadas por Nilo Peanha para garantir sua eleio como
deputado federal 10
Esse quadro de fragilizao do PRF seria ainda II'\is agravado quando
novas cises comearam a se delinear etn tomo da questo das relaes
govemo-partido.Essas relaces haviam sido hannoniosas desde a fundao do
PRF em 1892. Durnte o governo Porcincula (1892-1894), as funes de
chefe do governo e chefe do partido estavam concentradas em uma mesma
pessoa. ComMauridoAbreu, a orientao de Porcincula sempre prevaleceu,
mais do que a da comisso executiva.
A expectativa do PRF era que esse padro fOsse mantido, e que
o novo presidente do estado, Alberto Torres (1898
4
1900) se compor-
tasse segundo essas regras. Contudo, a prtica contrariou essas previses,
e em maio de 1899 o PRF sofreu um racha irreversvel com a ciso de
Alberto Torres e a: criao de um novo partido, o Partido Repu,blicano
do Rio de Janeiro (PRRJ).
A publicao na Gazeta de Pct1"pols, jornal de propriedade de
Hennogneo Silva, aliado de Alberto Torres, de um artigo sobre esses
acontecimentos de suma importncia para o entendimento da
questo 11. Na perspectiva de Alberto Torres, a raiz dos problemas do PRF
no resdaem desentendimentos pessoais ligados chefia do partido, mas
em divergncias doutrinrias acerca das relaes entre o governo e opartido.
Do seu ponto de vista a chetla unipessoal era um inconveniente, e deveria
haver uma separao entre o chefe do partido e o chefe do governo. O chefe
FRAGMENTAO POL1TICA E QUESTO PARTIDRIA 123
do govemo deveria ter autonomia nas suas deliberaes e na escolha de seus
auxiliares em qualquer funo pblica. Sem recusar o cOllsellio e a indicao
de correligionrios polticos, o chefe do governo no poderia passar s mos
destes o poder de deciso nas questes de governo e da escolha dos
delegados por cujos atos era responsvel.
o nico compromisso que o chefe do estado assume
para o seu partido o de ser fiel ao seu programaj a
praxe da consulta direo geral e s direes locais
sobre as nomeaes, legtima pela presuno de que os
homens mais aptos para a aplicao de um programa
so seus adeptos, no pode ter foros de doutrina de
direito pblico, constituindo um dever para o chefe do
governo e um direito para os partidrios.
Assim pois, na organizao normal de um partido, a regra da
aceitao das indicaes partidrias instituda apenas no
interesse da execuo do programa e do cumprimento dos
deveres governamentais, ressalvada, porm, para o governo
a competncia de verificar se as indicaes atingem esse fim.
o chefe do governo normalmente obrigado a escolher os
seus delegados entre correligionrios, .isto , entre os cidados
que comungam do mesmo credo poltico.
Esta a concepo do sr. Alberto Torres sobre as relaes
do com o seu partido neste regme. 12
Defendendo essa postura ,Alberto Torres negava-se a acatar a orien-
tao do PRF para organizar seu governo e entrava em luta aberta
comPorcincula, o que terrnlnou por provocara ciso da comisso executiva
e a fundao de um novo partido.
O balano da vida partidria fluminense ao longo da primeira dcada
republicana demonstra na verdade uma grande falta de consistncia.
Assim como seus congneres em outros estados, o PartdoRepublicano
Fluminense no se constituiu em torno de um programa consistente
1
mas de idias gerais em que a defesa da autonomia do estado e do
federalismo era o ponto central. No entanto, ao contrrio do que aconteceu
em estados como So Paulo, Minas Gerais e Bahia, onde a primeira
dcada republicana foi marcada pela existncia de vrios partidos frgeis
e pouco coesos, no estado do Rio o PRF funcionou praticamente como
partido nico at 1897 J gara '1tindo a estabilidade da poltica estadual 13
124 EM BUSCA DA IDADE DB OURO
E' importante lembrar que, a despeito dos conflitos pessoais e
da chefia personalista de Pordncula, a vida do PRF teve uma conside-
rvel regularidade: .realizavam-se convenes, congressos, eleies das
comisses executiVas e at debates sobre como deveria ser o funciona-
mento e qual deveria ser o papel do partido. primeira vista estas
observaes podem parecer pouco relevantes para indicar qualquer
vitalidade da vida partidria fluminense, mas, se comparadas com as d-
cadas posteriores, elas so significativas.
2. A dana das siglas: PRF ou PRRJ?
O ano de 1899 inaugurou uma nova fase na vida partidria fluminense,
dando incio a uma disputa interpartidria mais intensa, aprofundando assim.a
ciso da poltica estadual. Diferentemente de outros estados tais como Minas
e Bahia. que naquela conjuntura comearam a caminhar em direo ao partido
nico, no estado do Rio passaram a funcionar dois partidos.
O partido do governo era o PRRJ, que incorporou o grupo de
Campos e a dissidncia do PRF que ficou ao lado de Alberto Torres em seu
confronto com Porcincula. Entre esses dissidentes, destacava-se um
grupo de polticos de Petrpolis. O segundo partido era o antigo PRF,
que, depois da defeco de Alberto Torres, com exceo de algumas
lideranas como Porcincula, Maurcio Abreu e Sebastio
Lacerda, ficou dominado porvellios monarquistas liderados
pelo Consellieiro Paulino. Sua comisso executiva expressava bem
essa situao: Maurcio Abreu (pres.)j Fonseca Portela (sec.), Sebastio'
Lacerda, Vitrio Pareto, Paulino Jos Soares de Souza]r., Miguel de Carvalho.
ApenasMaurdoAbreu era republicano histrico 14
.As cises partidrias, entretanto, no pararam a. O fortalecimento do
PRRJ graas ao apoio do governo federal, exatamente no momento
em que foi posta em prtica a poltica dos governadores e o enfraque-
cimento do PRF I no pennitiu a construo de uma mquina partidria
forte e coesa nos moldes do PRM ou do 'PRP, ou at mesmo em moldes
mais limitadaS como os do PRB 15.
Num primeiro momento, o movimento de conciliao que aproximou
. o PRF e PRR] em tomo da candidatura de Quintino Bocaiva ao governo do
estado parecia estar neutralizando as divergncias e construindo as bases de
uma unificao futura. Entretanto, to logo Quintino foi eleito e tomou posse
FRAGMBNTAO POLITICA B QUBSTO PARTIDRIA 125
nada concedeu ao PRF, que apesar de todos os seus esforos para participar
do governo, permaneceu marginalizado.
Ao mesmo tempo, o PRRJ nach fazia para se organizar melhor,
fortalecendo suas bases municipais ou institucionalizando seus rgos e
deciso. Na verdade, no se tem notcias de convenes ou de novas eleies
internas que pudessem expressar uma rotiniZao da vida. organizacional do
partido. A nica convenodoPRRJ de que se tem notda de.sdesuafundao
ocorreu em.jane.iro de 1904. Nesse momento um novo racha j havia ocorrido
no partido, e o chamado grupodePetropolis,liderado por HennogneoSilva,
havia sido excludo,
Ainda que no haja documentao disponvel p;tra acompanhar o
desenrolar dessa ciso do PRR], sabe-se que Hennogneo pretendia o
governo do estado na sucesso de Quintino Bocaiva, e que Nilo Peanha
almejava o mesmo objetivo. A disputa pelo governo do estado e as tentativas
de Nilo de solapar as bases de seu opositor acabaram por concretizar o racha
do PRRJ, fazendo com que a sigla temporariamente desaparecesse sem
nenhuma explicao fonnal
16
, Por outro lado, p o e ~ s e supor que as
dificuldades de aceitao do nome de Nilo pelo PRR] tenham feito com que
os nilistas buscassem um acordo com o PRF para as eleies federais de 1903,
Sem lanar mo de nenhuma instncia partidria, Nilo Peanha, que no
ocupava nenhum cargo no governo flurirlnense e nem na wreo do PRRJ,
com o apoio de Quintino, organizou a chapa que deveria concorrer a essas
eleies. Seu critrio foi marginalizar os antigos aliados para abrir cinco vagas
para elementos do PRF, ligados ao Conselheiro Paulino e Miguel de CalValliO,
seus arquiinimigos, "Eram eles: BelisrioAugusto Soares de Souza,Alberto
Bezamat, Paulino JOs Soares de Souza, MaurcioAbreu e Jlio Verissimo dos
Santos. A partir da a sigla PRFpassoua designara situao. Foi o PRF o partido
que lanou a candidatura de Nilo ao governo do estado em 1903 17.
A vitria de Nilo Peanha e sua posse no governo do estado
conduziram reorganizao do PRRJ e ao abandono da sigla PRF. Nesse
momento de fortalecimento do grupo nilista, de pleno funcionamento da
poltica dos govelTlfldores e de consolidao do processo de centralizao e
cerceamento da autonomia municipal, que se iniciara no governo Quintino,
criaram-se condies ~ o estabelecimento de um rgido monopartidarismo
e de uma rgida di.sciplina partidria. Nos quadros da poltica dos governadores,
a coeso poltica interna dos estados e a existncia de um partido nico forte
e disciplinado eram condies sne qua non para que os interesses do estado
pudessem ser bem representados na esfera federal' 8
126 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
Ao iniciar-se o governo de Nilo havia amplas possibilidades de que sua
dominao poltica se solidificasse. O grupo de Petrpolis estava absolutamente
neutralizado e confinado atuao municipal, e o antigo PRF aparentemente
tinha se curvado liderananillsta, aceitando indicar seu nome para o governo
do estado. Tudo parecia indicar que o PRRJ iria ganhar uma maior institu-
cionalizao e baseS organizacionais mais profundas e estveis. Erafundamen-
tal construir uma agremiao poltica forte e disciplinada que garantisse a
atuao de uma bancada coesa na esfera federal. Era preciso tambm
assegurar a vida do partido atravs da organizao de ncleos municipais, da
realizao de convenes regulares e da atuao efetiva da comisso
executiva, para organizar as chapas eleitorais e defmir um melhor entrosamento
entre a esfera estadual e federal.
Foi nesses moldes que Silviano Brando
t
governador de Minas,
estruturou o PRM. A meta do poltico mineiro era acelernr a montagem de uma
estrutura de dominao oligrquica onde a unlcao da bancada mineira no
Congresso fosse um. fator chave para a defesa dos interesses de Minas na
esfera federal. Nesse, esquema, a organizao da comisso executiva assumia
um papel central. A idia era esvaziar a conveno partidria
t
iniciahnente
destinada a organiZar as chapas, para reforar a comisso executiva, que
deveria disciplinar e submeter a todos. Um outro ponto importante era que
a dupliddade de delegae5dosmunicipios nas convenest que inicialmente
era. circunstandal, passou a ser nonna partidria, o que permitia canalizar para
dentro do partido as diferentes faces municipais. Assim, a comisso
executiva passou a ter todos os poderes e a substituir a conveno. O
desdobramento que o comando real da poltica do estado
no se manteve mais nas mos do chefe do Executivo, mas na comisso
executiva do partido, que atuava no sentido de incorporar diferentes faces
de maneira aneutralizarconllitos 19. Com essa opo, privilegiava-se o partido
em detrimento do governo omo instnda defmidora da ao potica.
Nilo Peanha parecia partilhar de idi4lSscmelhantes para garantir sua
dominao no Rio de Janeiro e melhor situar-se na hierarquia do desigual
federalismo brasileiro. Entretanto, sua prtica poltica esteve longe de ter
preocupaes partidrias mais consistentes.
Com o objetivo de incorporar grupos oposicionistas ao partido e
neutralizarsua capaddadede resistncia, foi rcorg:uuzada a comisso executiva
do PRR] em janeiro de 1904 e preparadas as eleies estaduais e municipais
a realizar naquele mesmo ms e ano. A principal relativa
PRAGMENTAO POLfTICA B QUESTO PART1DRIA 127
reestruturao foi a de aumentar o nmero de membros de cinco par.a sete
e incotporaros elementos ligados aMigue1 de Carvalho. Essa iniciativa pareda
abrir espaos para o fortalecimento da co.rnisso executiva como rgo central
do partido, capaz de absolVer as faces oposicionistas e de transformar os
conflitos em disputas intrapartidrias 2.A organizao das chapas para
concorrer s eleies municipais e estaduais pretendia seguir essa mesma
orientao, promovendo a cooptao de elementos resistentes aonilismo.
No ano seguinte, com a perspectiva de afastamento de Nilo Peanha
do governo do estado para concorrer Vice-Presidncia da Repblica, novas
iniciativas foram tomadas para fortalecer o PRRJ e aprofundar seu enraiza-
menta nos municpios. Em dezembro, nova conveno foi realizada
para a escolha de uma nova comisso executiva.As alteraes fundamenttis
foram: estabelecimento de regularidade de dois anos para durao do
mandato da comisso executiva, ampliao do nmero de membros de
sete para nove, renovao de todos os membros com exceo apenas do
Baro de Miracema, e alterao do critrio de escolha, que deixava de
privilegiar deputados estaduais e feder.ais para valorizar polticos municipais.
O grupo de Miguel de Carvalho, que na conveno anterior tinha sido
incorporado como minoria, foi excludo 21.
Se essas vtias iniciativas foram tomadas pard incorporar setores da
oposio e fortalecer as prticas partidrias, uma anlise mais cuidadosa
demonstra suas limitaes e proble.mas. Em primeiro lu gar, a ncorporaao dos
liderados de Miguel de Carvalho na bancarul federal fluminense nas eleies
de 1904 no surtiu os resultados desejados. Se verda de que a participao
daqueles elementos fortaleceu Nilo Peanha nas suas pretenses ao governo
do estado frente a Hennogneo Silva, fragilizou a bancada federal, que no
foi capaz de atuar de forma coesa. Isto signHka dizer que a oposio no
retribuiu as iniciativas de paficaIio que Nilo apresentou 22.
Por outro lado, a poltica de distenso nilista, via cooptao de
elementos da oposio e alterao no PRl\] ,tambm apresentava limitaes.
As prticas de cooptao adotadas no foram objeto de uma formalzao
explcita atravs de acordos, nem fornm iguais para todos os agrupamentos
oposicionistas. Em geral, concesses maiores foram feitas no nvel municipal,
onde foi permitida a participao oposdonisul nas cmaras municipais) ou
mesmo o controle de alguns municpios pela oposio.j no Legislativo
estadual no foi aberto espao para elementosoposidorustas, no s aqueles
liderados por Miguel de Carvalho, que tinhatll participao na comisso
128 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
executiva do PRRJI como aqueles integrantes do chamado grupo de
Petrpolis, liderads por Henngeneo Silva. Ficava evidenciado assim
que as transformaes da comisso executiva de 1903 no eram para valer,
como bem expressou o deputado nilista Curvelo Cavalcanti em carta a
Quintino: IIComo ver nos jornais de hoje, representamos ontem nossa
comdia para a eleio do diretrio (comisso executiva)"23 .
As alteraes na comisso exeGUtiva do PRRJ em dezembro de
1904 tambm no trouxeram frutos mais significativos. No ocorreram
iniciativas de criar diretrios municipais; os representantes dos municpios
nas convenes eram em geral os presidentes das cmaras e no membros
de um diretrioj a representao munkipal era nica e pertencia a quem
tinha o controle da poltica local no momento, no havendo a duplici-
dade de delegaes ,como era comum nas reunies do PRMj a comisso
executiva no tinha um poder de deciso efetivo, e o comando real da poltica
ficava nas mos do chefe do Executivo estadual. Nessas circunstncias, a
comisso executiva tiriha dificuldades de incorporar faces dissidentes e
administrar as dissenses dentro do espao partidrio. Assim, o PRRJ definia-
se como o partido nilista, e tinha como marca principal o personalismo.
Com essas caractersticas
t
o PRRJ no reunia as condies necessrias
para arcar com o afastamento de seu chefe do governo do estado para
concorrer Vice-Presidncia da Repblica em 1906. Privilegiando sua
participao na poltica nacional, Nilo Peanha colocou em plano secundrio
a estabilidade de sua dominao oligrquica.
Afalta de uma estrutura partidria e a personalizao da vida poltica
do estado flZeram com que a coeso do grupo nilista, e conseqentemente
do PRRJ, fosse pelos ares ao primeiro sinal de ausncia do "grande lder",
A ciso poltica se manifestou na rejeio ao nome do sucessor de
Nilo Peanha, Oliveira Botelho, primeiro vice-presidente, que deveria com-
pletar o mandato j em curso 24.
A partir de ento, abriu-se uma etapana poltica do estado em que mais
do que nunca a vida partidria se tomou uma iluso. Os sucessivos rachas
dentro do grupo nilista, a construo de alianas entre dissidncias nilistas e
as oposies lideradas por antigos monarquistas herdeiros do Conselheiro
Paulino, como Miguel de Carvalho, criaram e recriaram agrupamentos
partidrios que assUmiam de fonna aleatria e indiscriminada as siglas PRF
e PRRJ. Se o PRF aparecia ora designando nilistas e antinilistas, o PRRJ era
usado exclusivamente pelos primeiros.
FRAGMENTAO POLTICA E QUESTO PARTIDRIA 129
Em 1911, com a fundao do Partido Republicano ConseIVador,
agremiao de carter nacional, por Pinheiro Machado, o quadro partidrio
fluminense ficaria ainda mais confuso. O ento PRF, controlado pornilistas, se
transformou numa seo do PRC, adotando onorne de Partido Republicano
Conservador Fluminense (PRCF) 25, Por sua vez, o grupo que na ocasio
agregava Miguel de CaIValho,Alfredo Backer e Hennogneo Silva passou a
usar a sigla PRF. Em 1913, com o rompimento de Nilo Peanha com Pinheiro
Machado, os nilistas se retiraram do PRC, voltando a usar a sigla PRP. Em
contrapartida, a oposio fluminense aproximou-se do PRC e passou a se
utilizar da siglaPRCF . .As eleiesparaogovemo do estado em 1914, opondo
as candidaturas de Nilo Peanha, pelo PRF, e Feliciano Sodr, pelo PRCF,
pareciam criar um novo esWnlo para o fortalecimento da vida partidria, j
que pela primeira vez ocorria de fato uma disputa eleitoral. Entretanto, a
vitria fmal de Nilo com o apoio do governo federal de Wenceslau Brs,
recm-empossado, resultou num grande enfraquecimento do PRCF26.
Nos anos que se seguiram at 1920, o uso das siglas ficou melhor
definido, ficando situao nilista com o PRF, e a oposio, que agregaria
as faces de Miguel de CaIValho, Oliveira Botelho e Felidano Sodr, com
o PRCF. O uso menos aleatrio das siglas, pennitindo uma melhor
caracterizao nominal da oposio e da situao, no representou
entretanto uma revitalizao dos partidos. O PRCF na oposio ficou
completamente marginalizado, no conseguindo participar das eleies
realizadas entre 1916e 1921. OPRP, que a partrde 1915 voltou situao,
tambmno realizou nenhum esforo de fortalecimento partidrio, chegando,
em janeiro de 1918, emvirtude de disputasintemas, a dissolvera comisso
executiva e a assumir formalmente que todas as decises partidrias
eram tomadas pessoalmente por Nilo Peanha, o que indicava a total
desestruturao do partido 27 .
Urna avaliao dessa segunda fase da trajetria dos partidos fluminenses
demonstra que os conflitos partido-govemo que marcaram a primeira dcada
republicana foranl'eclipsados pela predominncia do papel do governo. A
atuao personalista de Nilo Peanha inibiu grandemente uma maior
regularidade das prticas partidrias. Ainda que em alguns momentos Nilo
Peanha tenha se afastado diretamente das decises polticas, sua presena
era o referenda! fundamental.
O partido liderado por Nilo Peanha, que ao longo de sua
evoluo denominou-se Partido Republicano Fluminense (pRF) e Partido
Republicano do Rio de janeiro (pRRj), caracterizou-se sempre por uma
130 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
precariedade decorrente das confusas concepes de partido poltico, das
contradies entre a poltica estadual e a poltica federal, mas principahnente
da atuao das lideranas pessoais, que se sobrepunham idia de
partido. Na verdade, no se conseguiu fonnaruma agremiao disciplinada,
coesa, que solidificasse os laos partidrios frouxamente sustentados, em
virtude da baixa institucionalizao, da ausncia de reunies polticas e
da falta de uma estruturao competente. Toda a mobilizao partidria
era voltada para a organizao de chapas, o que evidenciava seu carter
meramente eleitoreiro.
3. A tentativa de revitalizao partidria
A dcada de 1920 veio alterar um pouco esse quadro, abrindo espao
para a criao de um maior nmero de partidos e um maior
grau de institucionalizao partidria. Assistiu-se mesmo ao surgimen-
to de partidos apresentando programas de defesa de interesses de
grupos especficoS 28: '
As eleies para presidente da Repblica em 1919 foram um ponto
de partida para a reorganizao partidria fluminense. O posicionamento do
grupo niista em favor da candidatura oposicionista de Rui Barbosa contra
EpitcioPessoa a imprensa chamou na poca de "emergna
das oposesu
29
Alfredo Backer, adotando a siglaPRF, apoiou a candidatura
de Epitcio. O PRCF, que mantinha suas antigas lideranas, como Miguel de
CaNalho, Felician Sodr e Oliveira Botelho, fez a mesma opo, enquanto
o grupo nilista a sigla PRRJ.
Em maio de 1920, na iminncia do afastamento de Nilo da poltica
fluminense em virtude de sua viagem Europa, realizou-se a conveno
do partido nilista com o objetivo de eleger sua comisso executiva, eXtinta
desde dezembro de 1917. Num momento de crise, em que Nilo peanha,
que at ento havia centralizado as principais decises polticas da vida do
estado, se achava ameaado por seu apoio ao candidato derrotado Rui
Baroosa, urgia tentar aiar canais de poder mais descentralizados e ao mesmo
tempo despersonaliZar um pouco a vida poltica. Diferentemente de ocasies
anteriores, quando a escolha da. comisso transcorria sem maior alarde e
muitas vezes a portas fechadas, esta eleio transfonnou-se num evento
poltico. A conveno foi presidida por Nilo Peanha e contou com a presena
de representantes de todos osmunidpios, ou seja, 00 presidentes das cmaras
municipais, alm ck todos os parlamentares estaduais e federais.
FRAGMENTAO POLTICA E QUESTO PARTIDRIA 131
A grande novidade foi a presena de Nilo Peanha, que, segundo
OBstado, desde que assumira a chefIa do PRF h mais de vinte anos, nunca
havia participado dos trabalhos de uma conveno ou reunio oficial de
seu partido 30, o qu;e demonstrava um total descaso pela institucionalizao
de uma poltica partidria. O comparecimento de representantes de todos os
munipiosfoiiguahnente Tais fatos indicavam
sem dvida a tentativa de promover algumas alteraes na maneira de
organizar a vida poltica fluminense. Um primeiro aspecto a ser destacado
estaria na inteno de atnbuir um papel mais relevante ao partido, de dar um
carter mais institucionalizado a seu funcionamento, e de buscar um maior
estreitamento nas relaes com as bases locais. Mesmo que essas iniciativas
pudessemterumcarter essenciahnente fonnal, elas expressavam a tendncia
a uma certa despersonalizao da vida partidria.
A explicao para essas alteraes encontra-se num contexto que
exigia um novo tipo de relacionamento das foras nilistas com as oposies
e com o governo federal, e at mesmo uma pacificao interna do partido
oficial, em virtude da crise, que teve lugar por ocasio da sucesso estadual
de 1918, entre asfacesdeJoo Guimarese de Raul Fernandes, j tratadas
no captulo 6.Alm disso, a necessidade de fortalecimento do PRRJ devia-se
em grande parte ao planejado afastamento de Nilo Peanha do cenrio
poltico e da conduo direta dos negcios fluminenses. Permanecendo
frente da poltica estadual, alm de enfrentar os constrangimentos decorrentes
da derrota de Rui Barbosa, Nilo sofreria os inevitveis desgastes trazidos pela
conduo cotidiana dos negcios polticos. A idia fundamental era preserv-
lo dos conflitos, mantendo sua imagem de grande estadista, adquirida
principalmente atravs de seu desempenho no Ministrio das ,Relaes
Exteriores. De acordo com essa estratgia, NiloPeanha deveria ausentar-
se do pas, como realmente fez, permanecendo na Europa de maio de
1920, logo aps o tnnino da conveno do PRRJ, at as vsperas
da conveno para a escolha de um novo candidato a presidente da
Repblica, em junho de 1921. Nesse quadro, a conveno do PRRJ
tinha tambm a fmalldade de formalizar a passagem da chefia da poltica
fluminense das mos de Nilo para as de Raul Veiga. A escolha justificava-se
. no s por ser Raul Veiga o chefe do Executivo estadual, mas tambm por
ser figura de absoluta confiana de Nilo, e plenamente afmada com a liderana
de Raul Fernandes, que ganhava cada vez mais espao no interior doparudo.
A nova comisso executiva do PRRJ foi integrada por apenas
quatro nomes. Sua caracterstica principal era ser fonnada exclusi-
132 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
vamente por membros da bancada federal, diferentemente de comisses
anteriores, em que se privilegiou a incorporao de lideranas regionais ou
locais. Tudo indica que essa orientao estivesse ligada ao interesse de
priylegiar as relaes e as articulaes na esfera De fato, os novos
dirigentes do partido tinham trnsito fcil junto a destacadas figuras do cenrio
poltico nacional, o que era considerado fato importante na montagem de um
esqllema que beneficiasse a obteno de apoio para Nilo com vistas
sucesso de 1922.
Entre as definies polticas trazidas luz na conveno do PRRJ,
devem sem dvida ser ressaltadas as propostas concernentes ao relacionamento
com o governo federal. A tnica do discurso nilista nessa questo era a busca
de aproximao e o apaziguamento.
A preocupao com a institucionalizao partidria pode
ser percebida mais uma vez atravs da realfzao da conveno do
PRRJ de abril de 1922 31. Essa conveno revestiu-se de especial importncia
em virtude da derrota de Nilo Peanha na eleio para presidente
da Repblica de 1922. O apoio do PRF e do PRCF ao candidato vitorioso Artur
Bernardes abriu como perspectiva a possibilidade de reeleio
nas prximas eleies estaduais de julho de 1922 e a ameaa de interveno
federaL Diante desse quadro, o fortalecimento do PRRJ e seu afastamento da
liderana de Nilo Peanha, alvo principal das perseguies federais, tornava-
se fundamentaL
Dentro dessa a comisso executiva anterior foi reeleita
com uma nica alterao, o que era indicativo de que se mantinha
o critrio de privilegiar nomes de maior trnsito na esfera federal e
consagrar a liderana da faco de Raul Fernandes, nome indicado naquela
ocasio para concorrer ao governo do estado. No campo estritamente
partidrio) Raul Fernandes levantou novamente a antiga discusso acerca das
relaes entre partido e governo, propondo a desvinculao do exerccio do
governo da chefia do PRRJ, j que a vinculao entre a administrao e a
poltica partidria era responsvel, a seu ver, por toda sorte de manipu-
laes e abusos do Poder Executivo.
Os presidentes de estado tm a iluso de exercer um governo
forte porque dominam simultaneamente a administrao e a
poltica partidria, dispondo a seu arbtrio dos postos eletivos,
suscitando e satisfazendo como lhes apraz as ambies de
uma clientela numerosa.
32
FRAGMENTAO POLTICA E QUESTO PARTIDRIA 133
Com essas fonnulaes, Raul Fernandes pretendia no s6 criticar
o sistema oligrquico-clientelstico, mas propor um novo mo-
delo de funcionamento para a poltica, em que as chefias estaduais
tivessem um envolvimento menor na conduo da vida partidria,
podendo assim admirstrar independentemente das ingerncias polticas.
Ao mesmo tempo, o efeito dessa orientao seria o fortalecimento da
estrutura partidria.
Ainda que -se possa questionar a efetiva identificao de Raul
Fernandes com esses principios, defend-los naquele momento signifi-
cava um ato pragmtico de sobrevivncia. Separar o exercicio do governo
da chefia do partido significava delimitar fonnalmente seu prprio
papel e o de Nilo Peanha. Raul Fernandes pretendia guardar para
si apenas as atividades administrativas, ficando a conduo dos neg-
dos polticos entregue ao PRRJ e, em ltima instncia, a Nilo. Alm
disso, pretendia restringir a autonomia do Executivo, cuja atuao
deveria refletir a orientao do Legislativo, a qual, por sua vez, reprodu-
ziria livremente a, opinio de seus mandatrios. O pensamento do
governo se manifestaria publicamente apenas nas mensagens presi-
denciais ou nos vetos.
Entretanto, essas no chegaram a se concretizar, uma veZ
que a intervenon<;> estado do Rio ocorreu logo aps a posse de Bemardes,
desalojando o grupo nllista do poder e permitindo a ascenso de uma nova
coalizo poltica liderada por Feliciano Sodr.
A inaugurao de uma nova etapa da poltica fluminense no
alterou a tendncia j em marcha a um maior fortalecimento partidrio.
Uma das primeiras iniciativas do novo governo foi a realizao de uma,
conveno em 16 de agosto de 1924, destinada a reestruturar o PRF, a
e a escolher a comisso executiva 33 Os participantes
da conveno fo.tam os deputados federais, senadores, deputados estaduais
e um representante de cada municipio, e a presidncia da reunio coube a
Miguel de Carvallio.
'A nova comisso executiva expressava a composio poltica do novo
partido, que agregava os antigos herdeiros do Consellieiro Paulino, polticos
recm-ingressados na poltica fluminense e antigasdissidndas donilismo.
'Uma anlise da descrio da conveno, publicada no jornal OBstado,
fomce indicadorclacerca das preocupaes com uma mellior organizao
do funcionamento partidrio 34. '
134 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
Com a elaborao e votao da lei orgnica do partido foram
estabelecidososmecan.ismos de funcionamento: periocUzao das convenes
e fixao do mandato das comisses executivas e de sua composio
numrica (sete); definio dos rgos do partido (conveno, comisso
executiva, diretrios municipais, juntas distritais) e suas atribuies especficas.
Em relao a esse ltimo ponto, importante salientar que nenhum membro
do partido poderia por iniciativa prpria apresentar candidato a qualquer
cargo eletivo, que os membros da comisso executiva no poderiam
fazer parte dos diretrios ou das juntas distritais, e que os membros destas
tambm no poderiam fazer parte dos diretrios. Um outro aspecto a ser
ressaltado na conveno a preocupao com um programa de ao
partidria que preconizasse uma nova legislao eleitoral para assegurar s
funes eletivas a representao proporcional de todas correntes de
opinio, e que estimulasse a agricultura e.o crdito agrcola, bem como a
criao de um regime de trabalho que conciliasse interesses dos agricultores
e dos industriais fabris.
Ainda que se p().$a apontar a fonnalidade desses pontos e a dificuldade
de sua aplicao prtica, sua simples meno na lei orgnica indica a tendncia
criao de instncias hierrquicas de deciso poltica e o interesse por uma
maiorinstitucionalizao.
Den1ro dessa linha de fortalecimento partidrio, tiveramlugar, seguindo
a periodizao proposta pela lei orgnica, as convenes de dezembro de
1926 e de julho de 1928.
A primeira delas elegeu uma nova comisso executiva, cuja
composio manteve-se inalterada dos pontos de vista numrico
(permaneceram 11 membros) e dos critrios de escolha. Os membros
eram senadores e deputados federais e houve uma renovao de apenas
dois de seus membros. Nessa conveno tambm foram escolhidos.
os candidatos do partido Presidncia e Vice-Presidncia do estado,
Manoel Duarte e Eduardo Portela 35
Asegundaconveno, de 1928, maisumavezdemonstrouaregularidade
do funcionamento que a vida partidria ia assumindo. Realizou-se no prazo
previsto e reelegeu a antiga comisso executiva com apenas a troca de nome
de Manoel Duarte por Feliciano Sodr 36. Alm disso, essa conveno
demonstrou a concretizao de um acordo entre o PRF e setores nilistas
reorganizaclosno PRRJ, que permitiu a participao da corrente oposicionista
nas chapas oficiais de deputados estaduais e federais, na condio de minoria.
FRAGMENTAO POLTICA E QUESTO PARTIDRIA 135
Com esse conjunto de procedimentos o PRF visava a se forta-
lecer, fazendo valer a distino entre atribuies do Executivo estadual
e do partido atravs do fortalecimento da comisso executiva. Alm russo,
pretendia evitar n9vos conflitos com a oposio nilista, objetivando incor-
por-la agremiao oficial.
Ao lado de um fortalecimento crescente do PRF, a vida partidria'
fluminense tambm se ampliou ao longo dos anos 20, obedecendo a uma
tendncia geral do momento e do pas.
Em abril de 1926, o PRRJ, que havia desaparecido aps a derrota do
nilismo e a intelVeno federal, foi reestruturado pelas trarudonais lideranas
nilistas, e em fins daquele mesmo ano parte do partido concretizou um acordo
com o PRF I como j foi assinalado 37.
Mesmo a faco doPRRJ que no aceitou formalizar nenhum acordo
com o PRF (os chanladosnillstasvennellios, liderados por Maurcio de Lacerda
eJooGuimares)teveumaconvivnciarazoavelmenteestvelapartlrda
eleio de Manoel Duarte, sem grandes conflitos abertos. Esse fato se mostrou
especialmente claro na organizao das chapas para as eleies federais de
fevereiro de 1930, quando os nillstas acordistas passaram a fazer parte
integrante do PRF, e os nilistasvermelhos entraram nas trs vagas reservadas
minoria. Esse procecJimento, entretanto, no se repetiu para as eleies
estaduais de agosto daquele mesmo ano, quando todos os candidatos doPRRJ
e do PD foram excludos, ficando as vagas reservadas minoria entregues aos
candidatos avulsos ligados ao PRF 38 "
-Sem uma importncia expressiva, mas de qualquer forma indicando
uma maior vitalidade da vida partidria, foram criados nos anos
20 vrios outros partidos. Um deles foi o Partido do Trabalho, cujas bases
se localizavam em Campos e que tinha como ,lder Luis Guaran;
apesar de sua vida curta, representou uma tentativa d organizao
de uma agremiao partidria vinculada a interesses econmicos, os
plantadores e usineiros de Campos, que no comeo dos anos 20 viviam
grandes dificuldades 39.
Em moldes semelhantes foi criado em agosto de 1927. o Partido
Republicano Rural(pRR) ,cujas bases estavam localizadas em Duas Barras,
BomJardim e So Francisco de 'Paula, e que tinha como objetivo combater a
poltica cafeeira do governo estadual levada a efeito pelo Instituto do
FomentoAgrcolaFluminense 40.
136 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
Com caractersticas diferentes, mas indicndo a mesma tendncia,foi
fundado em 1925 o PartidodaMocidadedeCampo, articulado ao Partido da
Mocidade Nacional, e, em 1927, o Partido Democrtico (PD), tambm
expresando uma corrente de organizao nacional.
' margem das faces oligrquicas, mas tambm expres-
sando uma orientao nacional, a do Bloco Operrio Campons (BOC),
foi criado em 1928 o Centro Proletrio do;! Niteri com vistas a concorrer
a eleies 41
Esse maior fortalecimento dos partidos, em especial do PRF, ainda
que marcado por limitaes, conseguiu, aliado s circunstncias da
poltica nacional, garantir uma maior estabilidade interna no estado, que
veio a ser quebrada com Revoluo de 30. Aliado ao governo de Washington
Luis at o final, o PRF foi desalojado do poder, tendo incio um novo
momento poltico no estado do Rio.
A explicao para uma maior vitalidade da vida partidria na dcada
-de 20 pode ser pensada em funo de duas ordens de fatores: a conjun-
tura poltica nacinaf e as condies internas e especficas d estado"
do Rio. No que diz respeito ao primeiro aspecto, vale lembrar que
ao longo dos anos 20 o pacto poltico oligrquico passou a dar
sinais de esgotamento. A poltica dos governadores, que ooha garn-
tido a estabilidade do sistema, funcionava inibindo o jogo partidrio, uma _
vez que sua dinmica no estava centrada na competio entre
partidos nacionais, mas nas relaes entre as vrias situaes polticas
estaduais e o poder central. O enfraquecimento dessa poltica abria
espao para uma gradativa eXpanso partidria 42.
Quanto problemtica interna fluminense, devem ser pensadas as
diferenas entre a vigncia da dominao dilista e seus perodos anterior e
posterior. Na primeira dcada republicana, o novo regime estava em fase de
implanta\-'o e a polfti..a.Jluminense era integrada por muitas lideranas
expressivas de diferentes tendncias que se equivaliam e se
ficando o poder __ _
Ja partir de 1900, as grandes figuras foram desertando da poltica
fluminense. O Conselheiro e Toms Portincula morreram, Alberto
Torres retirou-se da poltica, Quintino era um grande nome na esfera nacional
mas tinha" enraizamento limitado no estado e sempre atuou em nvel
interno tutelado por NUol'eanha.;tisufruindo de uma pOsio destacada em
FRAGMBNTAO POLfTICA B QUESTO PARTIDRIA 137
relao a seus pares, Nilo Peanha sempre atuou de maneira extremamente
personalista e seus interesses.
Uma carta de Oliveira Botelho enviada a Nilo em 1911 expressa bem
esse tipo de situao. Botelho, ento presidente do estado, declarava a seu
chefe supremo: no estado do Rio seu, s6seu, exclusivamente seu. 11 43 .Ainda
que essa declarao no expressasse a completa realidade dos fatos, ela
extremamente ilustrativa para reforar o argumento da personalizao da
poltica fluminense.
Um outro depoimento nesse sentido foi feito por RaulFemandes.
Referindo-se posio ocupada pelo estado do Rio dentro da fede-
rao, dizia ele: ItE' possvel que ela (a mquina poltica) nos tivesse
convertido em um estado de importncia secundria no jogo da poltica geral
(to.) se no tivssemos o contrapeso do valor pessoal de nosso grande amigo,
Nilo Peanhalt44.
, . Contrariamente, o perodo que se inaugurou na dcada de 20, mais
especi'almente aps o afastamento de Nilo Peanha da cena poltica, se
caracterizou pela dominncia de um nmero significativo de lideranas que
se equivaliam. Miguel de Carvalho, Oliveira Botellio, Feliciano Sodr, eram
polticos que usufruam de statussmelliantes e tinham poucas condies de
se sobrepor uns aos outros. Nesse quadro, o fortalecimento do partido, a
consolidao da comisso executiva como instncia decisria e uma melhor
delimitao das atrtbuiesentre partido e governo eram caminhos importantes
para administrar aS relaes entre esses elementos.
Uma segunda questo importante que o grupo que ascendeu ao
poder em 1923 neCessitava de um maior enraizamento na poltica estadual,
uma vez que objetivava substituir a mquina nilista que havia oito anos
controlava o poder de fonnaininterrupta. O fortalecimento do PRF e a criao
de uma rede de articulao ,que penetrasse na esfera dos municpios se
apresentavam como minstrumento-chave para consolidarsua dominao.
Assim, uma maiorinstitucionalizao partidria funcionou como um auxlio
para neutralizar conflitos e estabelecer um padro de comportamento
marcado por maior estabilidade.
Um balano geral da vida partidria fluminense na Primeira Repblica
nos pennite verificar quo limitados e precrios eram seus partidos,
especialmente se comparados ao PRM, ao PRP, ao PRR ou at mesmo aos
partidos baianos, com os quais guardavam maior semelhana 45.
138 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
Marcadospe)a
namaiorparte do tempo, neutraliza.r os conflitos, mas, ao contrrio, contriburam
para agravar a fragmentao que marcou a vida poltica do estado.
Notas
1. BERSTEIN, Serge. L' bistorien etla culture politique. op. cit, p.69.
2. VENHU, Marcos Guedes. Enferrujano o sonho: partidos e eleies no Rio de
Janeiro, 1889-1895. Dados, v.30, n.1, p.46, 47, 1987. FRANCO. Afonso Arinos de Melo.
Histria e teoria do partlo no direito constitucional brasileiro. p.61. DINIZ, EU. Crise
poltica, eleies e dinmica partidria no Brasil: um balano histrico. Dados, v.32, n.3,
p.323-325, 1989.
3. Para uma descrio detalhada das atividades republicanas na provncia do Rio
de Janeiro ver BOERliRER, George. Da MOruJrquia Repblica: histria do Partido
Republicano do Brasil. p.167.
Para. uma an:11ise do enra.izamento republicano em outros estados ver LOVE,
Joseph. A Iocomotitxi. p.157. __ o O regionalismo gacbo. p.30-40-46. SAMPAIO,
Consuelo Novais. Os partidos politi.cos da Babia na Pri;"'eira Repblica. p.27-29. WIRTII,
John. O fiel da balana. p.156. LBVINE, Robert. A velba usina. p.123-125.
4. Santos Werneck citado por CARV AIJIO, Miguel de. Organizao Republicana
do estado do Rio de Janeiro. 1889-1894. p.20.
5. LEMOS, Renato. O republica.nismo fluminense. In: FERREIRA, Maneta de
Moraes (ceord.). A Repbli.ca ruJ Velha Provncia. p.55-57. CARVALHO, Miguel de.
op. cit., p.19.
6. CARVALHO, Miguel de. op. cit., p.119-125. LEMOS, Renato. A oligarquia no
poder. In: FERREIRA, Maneta de Moraes (coaro.). op. clt., p.69-93.
7. LEMOS, Renato. A poltica. oligrquica. no Rio de Janeiro: estabilidade e
cempromiBso. documento de trabalho. Ver tambm O Fluminense de 13 fev. 1895.
8. Gazeta do Pow, 10 out. 1896. Monitor Campista, 01 aut. 1896. LEMOS, Renato.
op. cit., p.41-42.
9. Para uma anlise do Partido Republicano Mineiro (PRM) ver RESENDE, Maria
Bfignia. Formafo da ,flSl7utura de dominao em Minas Gerais:. o novo PRM (1889-
1906). para. o Partido Republicano Paulista (PRP) ver CASALECCHl, Jos O Partido
Republicano Paulista: (1889-1926). -
10. Gazeta do Povo, 09 mar. 1893. Carta de Jos Faro a Quintino em 27 fev. 1897.
Arquivo Quintino Boca.va. UMA SOBRINHO, Barbosa. Presena de Alberto TolTBS.
p.144, 145.
11. GazFJta de, Petrpolis, 05 mar. 1899.
12. Idem.
13. Maria Efignia. op. cito CASALECCHI, Jos op. cito SAMPAIO,
Consuelo Novais. op.' cito
FRAGMENTAO POLfTlCA E QUESTO PARTIDRIA 139
14. LAMARo, Srgio. O gOrKJrl1D Alberto Torres: renovao da eHt poltica e
tentativa de recuperao econmica. documento de trabalho.
15. Ver RESENDE, Maria Efignia. op. cito CASALECCHI, Jos op. cito
SAMPAIO, Consuelo Novais. op. cit.
16. LAMARo, Srgio. A formao do grupo niHsta. In: FERREIRA, Marieta de
Moraes (coord.). op. cit., p.119-122. BARRETO, Joo. Aspectos politicos, econmicos e
admnistratifJOS do estado do Ria o sr. Nilo Peanha. p.21. VASCONCELOS, Clodomiro.
Histria do estado do Rio de Janeiro. p.197. 198. carta de Nilo Peanha a Quintino
Bocaiva, 11 jul. 1902. Arquivo Quintino Bocaiva.
17. Carta de Alfredo Backer a Nilo Peanha em 06 dez. 1902 e carta de Laurindo
Pita a Nilo Peanha de 10 aut. 1902. Arquivo Nilo Peanha.
18. LESSA, Renato. A inveno republicana. p.l05-106. SALES. Manoel Ferraz de
Campos. Da propaganda presidincia. p.235. RESENDE, Maria Eflgnia, op cit . capo 8.
19. RESENDE, Maria Efignia. op. cit., p.166-177, 177-191.
20. Ver PANTOJA, Slvia. O proJel:O poltico de Nilo Peanha. In: FERREIRA,
Marieta de Moraes (coord.). A Repblica na Velba Provncia. p.133-136. Ver
O Fluminense, 11 jan. 1904, 28 jan. 1904j cartas de 01 dez. 1903 e 2S dez. 1903.
Arquivo Nilo
21. O Flumi:nense, 10 dez. 1905.
22, Carta de Hon6rio Pacheco a Nilo Peanha, 2S maio 1903. Arquivo
Nilo Peanha.
23. carta de 11 jan. 1904. Arquivo Quintino Bocaiva.
24. Ver conjunto de cartas do ano de 1906. Arquivo de' Henrique Cameiro Lelo
Teixeira, IHGB.
25. KORNlS, MQnica. A retomada do controle poltico e Enfrentamento e acordo.
In: FERREIRA. Marieta de Moraes (coord.). op. cit., p.178, 192.
Idem, p.192, 198.
27. Ver OS jomais campistas A Notcia, abro 1917, O Rio de Janeiro, jun. 1917e
09 fev, 1918.
28. Ver O Estado, 2 qulnz .. mar. 1919.
29. O Estado, . 03, 04 maio 1919.
30. O Eslado, 19 abro 1922.
31. Platafonna: de Raul Femandes publicada no jomal O Estado, 24 jun. 1922.
32. Idem.
33, O Eslado, 16 ago. 1924.
34. Idem.
35. O Estado, 19" dez. i926 e O Estado de S. Paulo, 20 dez. 1926.
36. O Estado, 15 jul. 1928.
37. KORNlS, Mnica. Pacificao e derrocada. In: FERREIRA, Marieta de Moraes
(coord.). op. cit., p.294, 296, 301. O Estado, 18 abro 1926.
140 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
38. O Estado, 18 jul. 1930.
39. O Estado, lO, 12, 28 jan. 1921. Discur.so de Luis Guaran' em Anais da Ctlmara
Federal, 1922, sesso 'de 16 de maio.
40. KORNlS, Menlca. A nova situao fluminense. In: FERREIRA, Marleta de
Moraes (coord.). op. cito
41. KORNIS, Menic::a. Pacificao e derrocada. op. cit., p.295-300.
42. VENBU, Marcus. op. cit., p.47.
43. Carta de Oliveira Botelho a Nilo Peanha em 21 ago. 1911. Arquivo NUa Peanha.
44. O Rio deJaneiro, 05 ju1. 1918.
45. SAMPAIO, Consuelo N o v ~ i s op, clt., p.19, 20
Concluso
o estudo das elites 'polticas fluminenses na Primeira Repblica
evidenciou as inmeras dificuldades e problemas que marcaram sua traje-
tria. Visando a recuperar uma Idade de Ouro localizada no passado cafeeiro
e imperial, as elites fluminenses estabeleceram uma agenda de tarefas
que inclua a recuperao econmica e a organizao de uma fora poltica
interna estvel e coesa, capaz de arcar com a defesa de seus interesses
no contexto nacional e de restaurar a influncia do estado do Rio no conjunto
da nova federao., . .
Ainda que essas propostas gerais fossem comuns ao conjunto da elite
poltica e das classes de proprietrios de terras, as tentativas feitas para sua
efetivao apresentaram diferenas entre si e ao longo do tempo.
Os esforos de recuperao econmica receberam ateno especial
de um segmento por mim denominado ncleo reformista, que elaborou
um programa r ~ a agricultura fluminense cujo ceme era a diversificao
do cultivo e a criao do imposto territorial rural. O objetivo da primeira
iniciativa era aumentar e melhorar a produo de alimentos voltada
para o mercado interno, visando a diminuir a dependncia da cafeicultura.
A criao do imposto territorial pretendia encontrar uma nova fonte de
recursos capaz de suprir o declnio das rendas do imposto de exportao
do caf, e ao mesmo tempo funcionar como instrumento de dinamiZao
das propriedades improdutivas.
A construo de um consenso poltico no interior das elites fluminenses
tambm recebeu tratamento diferenciado. O fortalecimento poltico do
estado pela via da coeso intema era procurado de duasmaneiras: de um lado,
pela interiorizao, ou seja, pelo afastamento da poltica estadual das
influncias "malficas e desagregadoras" da capital e da poltica nacional; de
outro lado, a meta era buscar uma articulao privilegiada com a poltica
nacional, visando a arregimentar aliados para a construo de um eixo
alternativo de poder que permitisse um maior equihrio entre os diferentes
grupos oligrquicos ria esfera nacional.
A busca do consenso intemo foi tentada tarnbmatravs de diferentes
procedimentos de organizao partidria, que discutiam formas de
relacionamento govemo-partidos, o formato das comisses executivas, a
incluso ou excluso de grupos oposicionistas, entre outros.
142 EM BUSCA.DA IDADE DE .oUR.o
Essas diferentes propostas e procedimentos, em alguns casos
uuplementados, no atingiram os resultados desejados. Os programas de
reforma da agricultura encontraram fortes resistncias. A diversificao da
agricultura, entendida como alternativa definitiva e prioritria, foi aceita
apenas como opo secundria e conjuntural. A criao do imposto tenitorial
encontrou percalos ainda maiores e, a despeito de ter sido objeto de
inmeras leis, no logrou resultados efetivos. Os projetos de unificao
poltica interna e a ampl.iaodo espao da elite polltica fluminense na poltica
nacional tambm fracassaram. O acompanhamento da trajetria das elites
fluminenses revela uinasucesso constante de conflitos e cises onde a meta
do consenso ficou cada vez mais distante e inalcanvel. Por sua vez, a
alterao do status do estado do Rio no conjunto da federao no foi atingida,
e as tentativas de autonomia de parcela de sua elite poltica foram vistas pelo
eixo dominante Minas-So Paulo como atos de rebeldia s regras bsicas da
poltica dos governadores, resultando em inteJ.Venes federais no estado.
A explicao para: o fracasso dessas iniciativas e propostas est
associada a diferentes fatores. As resistncias refonna da agricultura podem
ser pensadas como resultado de prticas culturais e econmicas vigentes no
estado do Rio e na economia brasileira que, enraizadas na mentalidade e nos
procedimentos dos proprietrios rurais fluminenses e de uma grande parcela
de sua elite poltica, constituam entraves aos programas refornstas. Essas
divergncias acerca de programas econmicos destinados a dinamizar a
economia fluminense, ainda que no tivessem sido diretamente responsveis
pelas cises poltico-partidrlas, dificultavam uma maior interao entre os
setores produtivos e a elite po1tica, o que por sua veZ criava obstculos para
a construo da unidade e da coeso da poltica fluminense.
Uma segunda ordem de fatores responsveis pela fragmentao da
elite poltica pode ser pensada em funo da nacionalizao da poltica do
estado e das relaes contraditrias da decorrentes, que, de um lado,
funcionavam como elementos incentivadores de conflitos e cises, e, de
outro, como dificultadores para a criao de laos de solidariedade entre seus
membros. Um ltimo ponto a ser considerado so as limitaes dos partidos
fluminenses; marcados pelo personalismo, na maior parte do tempo no
conseguiram atuar no sentido de neutralizar os conflitos, nem definir com
clareza suas atribuies e as dos governos, o que permitiu um aprofutdamento
da fragmentao da vida poltica.
Do exposto, conclui-se que essa sucesso de conflitos e cises
que ocorreram ao longo dos 41 anos de existncia da Primeira Repblica teve
CONCLUSO 143 _
origens diversas, em que estomesc1adas disputas estritamente clientelfsticas
e divergncias mais substantivas no que diz respeito aos programas de
refonna da agricultura ou nacionalizao da pOlltica fluminense. Ainda que
o acompanhamento dos conflitos e o mapeamento partidrio dos grupos e
subgrupos que sefonnaramno interior da elite fluminense no indiquem que
as cises tivessem relao direta com divergncias de interesses, sendo
expressivo o nmero de elementos que transitou de um para outro partido
apenas por questes pessoais ou clientelsticas, no devem ser descartadas
aquelas variveis. Se verdade que os componentes personalsticos e
clientelsticossomasvisveis e porissomesmo comumente responsabilizados
como provocadores exclusivos de todas as cises, no deve ser minimizado
o peso indireto das divergncias substantivas.
Alm dos fatores de ordem interna j apontados, para o melhor
entendimento da fragmentao da poltica fluminense importante considerar
o prprio funcionamento da poltica dos governadores, isto , do pacto
poltico, cuja regra bsica estabelecia que as situaes estaduais deveriam
atuar sempre em consonncia com o govemo federal, em troca de seu apoio
para o controle daS dissidncias internas estaduais. Neste modelo de
funcionamento do pacto oligrquico, em que o compromisso e aredprodade
eram elementos fundamentais, a postura dissonante de Nilo Peanha em
inmerAS conjunturas, assumindo atitudes de rebeldia, foi muitas vezes objeto
de retaliao do eixo dominante e elemento fortemente desestabilizadorpara
a elite poltica fluminense.
Estas concluses podem ser inseridas em uma discusso mais ampla
sobre a natureza dos conflltos polticos e do papel do Estado na Primeira
Repblica, em que se delineiam duas tendncias bsicas. A primeira adota o
modelo de Estado de representao de interesses, e conseqentemente
sustenta tuna estreita associao entre interesses econmicos dominantes e
o controle do Estado na Primeira Repblica, o que significa dizer que os
interesses cafeeiroS de So PaUlo e Minas eram detenninantes na
da poltica republicana.
Uma segunda linha de interpretao, contrariamente, sustenta que o
Estado na Primeira Repblica no se define como representante de classes ou
grupos de interesses imperantes na sociedade, mas defende a idia que o
Estado um ator poltico que representa a "si mesmo", ao mesmo tempo em
que articula grupos e/ou classes sociais, possuindo assim um contedo
marcadamente patrimonialista. No plano das diSputas polticas, a cooptao
com base no clientelismo tenderia a predominar sobre fonnas clssicas de
representao de interesses.
144 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
As concluses que emergem da pesquisa realizada acerca da elite
poltica fluminense nosfomecem dados que corroboram as criticas endereadas
s teses que defendem a estreita associao entre interesses cafeeiros e
Estado e que, conseqentemente, supervalorizam o papel de Minas e So
Paulo. Assim, os resultados obtidos:
1. demonstram que as tentativas de articulao dos grupos oUgrquicos
estaduais de segunda grandeza, visando a construir um eixo alternativo de
poder, evidenciam resistncias dominao do eixo Minas-So Paulo,
revelando a maior complexidade que marcava esse pacto poltico;
2. destacam que, mesmo em estados produtores de caf como o
estado do Rio, foram desenvolvidas propostas com razovel autonomia
frente aos interesses cafeeiros, sustentando a existncia de nveis de
autonomia para a ao poltica;
" 3. demonstram que os conflitos poltico-partidrios apresentavam-se
essencialmente a partir de motivaes clientelsticas, caractersticas de um
modelo de Estado patrimonialista, questionando o simplismo de encontrar
contradies a todo momento e em todo lugar e de esvaziar o
contedo dos problemas especficos do campo do poltico.
Entretanto, as consideraes apresentadas no nos levam a romper
com o modelo terico que v o Estado na Primeira Repblica como
campo de representao de interesses de classe. Nossa inteno ver
esta representao de interesses de uma perspectiva mais ampla e mais
complexa, de modo que outros grupos oligrquicos sejam contemplados
com um espao maior de atuao e seja valorizado um nvel de autonomia
para a esfera da ao poltica. No se trata de negar a representao de
interesses, inasde captar a riqueza e a multiplicidade desses interesses. Trata-
se assim de negar a noo simplista do Estado como "comit executivo da
classe dominante ti , destacando a necessidade de aprofundar o estudo da
classe dominante e do Estado.
Nesse sentido, mais uma vez podemos recorrer aos resultados da
pesquisa sobre a elite poltica fluminense. Se detectamos a existncia de um
grupo refonnista capaz de lanar propostas que no estavam diretamente
conectadas com as dern.andas da classe dos proprietrios de terra" e em
especial dos cafeicultores, tambm verdade que eles levantaram fortes
resistncias contra os programas apresentados, dificultando ou neutralizando
a ao do Estado.
CONCLUSO 145
No que diz respeito natureza dos conflitos polticos estaduais, se
verdade que as inmeras cises tinham a marca do clientelismo, tambm no
podem ser esquecidas as divergncias de carter substantivo, caracteristicas
do modelo de Estado de representao de interesses; mesmo no sendo
diretamente responsveis pelas dissenes polticas, inegavelmente
, desempenhavam um papel importante em seu aprofundamento.
Finalizando, cabe mais uma vez a importncia do trabalho
com a histria poltica c9mo caminho adequado para flexibilizar o uso dos
modelos, de maneira a no eliminar a riqueza e a complexidade da reali-
dade scio-poltica, captara atuao dos atores e as diferentes
estratgias de ao.poltica.
Fontes e Bibliografia
1. Arquivos privados
ArquivoAfrnio de Mello Franco - Bblioteca Nacional
- Casa deAlbertoTorres- ltabora
Arquivo Henrique Carneiro Leo Teixeira- LH.G.B.
Arquivo Nilopeanha -Museu da Repblica
Arquivo QuintiIo Bocaiva-FGV/CPDOC
Arquivo Raul Soares -FGV /CPDOC
2. Publicaes oficiais'
ANURIo estatstico do Brasil (1908-1912). Rio de Janeiro: Ministrio da Agricul
tura, Indstria e Comrcio, 1916/1917. 3v.
AZEREDO, Antnio. Interveno no estado do Rio de Janeiro: discurso pronun-
ciado na sesso de 8/8/1923. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1923. 27p.
BRASIL. Ana1sda Cmara dos Deputados (1889-1930). [s.1.: s.n., 19-].
__ .Balano da receita e despesa do Imprio e da RepbJica. 1880-1930.
__ o Diretrio eral de Estat'lStica. Populao: populao do Brasil por esta-
dos e municpios, segundo o sexo, idade e a nacionalidade. Rio de Janeiro:
Typ. do Servio de Estatstica, 1918. 2v.
__ o Ministrio da Agricultura, Indstria e Comrcio. Recenseamento do Bra-
sil realizado em 11911920 : relao dos proprietrios dos estabelecimentos
rurais recenseados no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Typ. do Servio
de Estatstica, 1925.
__ o Servio de Inspeo e Defesa Agrcola. Questionrio sobre as condies
da agricultura dos munictpios do estado do Rio de Janeiro: inspetoria agr-
cola do 13 distrito, inspecionados de 25/6/1910 a 29/4/1913. Rio de Janeiro:
Typ. do Servio de Estatstica, 1913. 174p.
INSnTIrrO DE FOMENTO E ECONOMIAAGRfCOLA (RJ). O cafflumlnense e o
InstttutodeFomento eEconomiaAgrfcola. Rio deJaneiro: Pago e Typ., 1926. 16p.
__ a Relat6rlo apresentado diretoria do Instituto por intermdio do respecti-
f)Q presidente A.ntonio Joaquim de Mello, secretrio de Estado das Finanas,
pelo gerente bacbarelFranctsco Corra de Figueiredo. Niteri: [s,n.], 1928. 238p.
148 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
LEITE, Eurico Teixeira, VIANNA, Francisco Jos de Oliveira. O regime te1T8no no
estado do Rf,o de Janeiro. Niteri: Instituto de Fomento e Economia Agrcola,
1927. 156p.
PEIXOTO, Amrico. Os crimes do ntlismo : discursos pronunciados nas sesses
de 7 e 10 de agosto de 1922, da Assemblia Legislativa do estado do Rio. Rio
de Janeiro: [s.n.], 1922. 21p.
RIO DE jANEffiO. Anais da Assemblta Legislativa do Rf,o de Janeiro (1889-1930).
__ o Coleo de leis e decretos(1889-1930).
__ o Diretoria de Estat'tStica. Estudo econmico e financeiro: qinqnio 1924-
1928. Niteri: Escola de Trabalho, 1931. 107p.
__ , Mensagens de presidentes do estado(1889-1930).
__ , Programa de governo: lido no banquete de 20.3.1927 em Niteri pelo
senador eleito Manuel de Mattos Duarte Silva, candidato do Partido Republicano
fluminense do Estado. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio,
1927.41p.
__ , ReJat6rios de secretrios de estado(1889-1930).
__ o Secretaria do Interior e Justia. Congresso das municipalidadesfluminen-
ses convocado peJa deliberao n
lJ
104 de 30 de agosto de 1924. Rio de Janeiro:
Jornal do Commercio, 1924. 26p.
_"_o_o Servio de Estatstica. Propriedades agricolas. Rio de Janeiro: Tip. Marques
Arajo, 1927. 483p.
RODRIGUES, Amrico, Lei orgtlnca das municpaltdades com alteraes da lei
n
D
1829, notas e observaes, organizado pelo diretor de expediente e nspec-
tor da administrao municipal da Prefeitura de Nctberoy. Niteri: J. Silva,
1925. 53p.
3fornais
ALMANAQUE LAEMMERT 1889/1930. Rio deJaneiro.
CORREIO DA MANH. Rio dejaneiro, 1914/1917.
O DEBATE. Rio dejanero, 1898.
DIRIO CARIOCA. Rio dejanero, 1930.
DIRIODEN011ClAS.Riodejaneiro, 1914.
DIRIO Recife, 1904.
DIRIO DO CONGRESSO NACIONAL. Rio dejanero, 1904.
DIRIO FLlJ.MINENSE. Niteri, 1912/1914.
O ESTADO. Niteri, 1919/1930.
PONTES E BIBLIOGRAFIA 149
o FLUMINENSE. Niteri, 1888/1930.
GAZETA DE Petrpolis, 1898/1899 e 1900/1902.
GAZETA DO POVO. 1896/1898.
GAZETA 00 POVO. Campos, 1918.
O IMPARCIAL. Rio deJaneTO, 1913/1918.
IMPRENSABARRAMANSENSE. BarraMansa, 1888.
JORNAL DO COMMERCIO. Rio dejaneiro, 1889/1915.
AMANH. Rio deJaneiro, 1926.
O MOMENTO. Niteri, 1915.
MONITOR CAMPISTA. Campos, 1889/1898.
ANOTfCIA. Niteri, 1916.
ANOTfCIA. Campos, 1917.
AN011CIA. RiodeJaneiro, 1926.
opAfS.Riodejaneiro,1904/1914.
AREPBLICA. Campos, 1890/1892.
O RIO DEjANEIRO. Niteri, 1890/1891.
O RIO DEjANEIRO. Niteri, 1915/1918.
O SCULO. Niteri, 1909/1912.
SEGUNDO DISTRITO. Campos, 1897/1900.
1RIBUNADE PETRPOLIS. Petrpolis, 1916.
4. Obras gerais
ABRANCHES, Dunshee de. Atas e atos do governo provls6rlo. 3.ed. Rio de Janeiro:
Jornal do Brasil, 1953. . .
__ o Como se faziam presidentes: homens e fatos no incio da. Repblica. Rio
de Janeiro: Jos Olympio, 1973.
ABREU, Alzira. As cincias sociais como objeto de estudo. Estudos Histricos
Rio de Janeiro, n.s, 1990.
ARON, Raymond. Estudos polticos. Braslia: Ed. UnE, 1980.
AUGRAS, Monique. A psicologia da cultura. Psicologia, Teoria, Pesquisa, Braslia.
v.1, n.2, p.99-109, tnaio/ago. 1985.
150 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
BALMAND, Pascal. La renouveau de l'histoire politique. In: Guy,
MARTIN, Herv. LesicoJes hlstorlques. Paris: Sevil, 1989.
BARRIGUEIlJ, Jos Cludio (org.). O pensamento poltico da classe dominante
1873-1928. So Carlos: Univ. de So Carlos, 1986.
BARROS, Roque Spencer Maciel de. A ilustrao brasileira e a idia de UniversI-
dade. So USP, 1959.
BASBAUM, Lencio. Hst6rla sincera da Repblica., de 1889 a 1930. 4.ed. So
Paulo: Alfa-Omega, 1976.
BATALHA, Cludio H. de Moraes. le syndicalisme "amarelo" Rio de Janeiro
(1906-1930). Paris: Univ. de Paris I, 1986. tese.
BEIGUEIMAN, Paula. A crise do escravismo e a grande imigrao. So Paulo:
Brasiliense, 1981. (Tudo Histria).
___ ' Pequenos estudos de cincia polftica. So Paulo: Ed. Centro Universitrio,
1967. v.2.
___ o Pequenos estudos de cincia poltica. So Paulo: Pioneira, 1968. v.2.
BEllO, Jos Maria. Hist6ria da Repblica. So Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1969.
DELOCH, Israel, ABREU, AlZird Alves de (org.). Dtctdonrlo bist6rlco-biogrd-
fico brasileiro: 1930-1983. Rio de Janeiro! Forense Universitria, FGV/CPDOC,
FINEP, 1984. 4v.
BERSTBIN, Serge. L 1tistorien et la culture politique. Vingti6me Swcle - Revue
d'lllstoire, n.35, j1lil./sept.1992.
BOEHRER, George C.A. Da Mona rquia Repblca: histria do Partido Republica-
no do Brasil. Rio.de Janeiro: MEC, 1954.
BORGES, Vavy Pacheco. A histria da Repblica: um objeto, alguns temas, al-
guns conceitos. Primeira Verso, Unicamp/IFCH, n.31, 1991.
BRANDI, Paulo. Vargas: da vida para a histria. ruo de Janeiro: Zahar,1983.
BURGUIERE, Andr, REVEL, ]acques. Histoire de la France: L'tat et les conflits.
Paris: sevu, 1990.
___ (org.). Hstoire de la France: L'tat et les pouvoirs. Paris: SevU, 1989.
BURKE, Peter. A escola dos Annales - 192 - 1989: a Revoluo Francesa da
historiografia. So Paulo: Unesp, 1991.
CAMMACK, Paul. O coroneBsmo e o compromisso coronelista: uma critica.
Cadernos DCP, Belo Horizonte, n.5, mar. 1979, p.1-20.
CANO, Wilson. Padres diferenciados das principais regies cafeeiras (1850-
1930). &tudosEconmicos, v.15, n.2.
___ o Razes da concentrao industrial em So Paulo. So Paulo: DUel, 1977.
CARDOSO, Ciro Flamarion (org.). Escravido e abolio no Brasil: novas
perspectivas. ruo' de Janeiro: Jorge Zahar, [19-].
FONTES E BIBLIOGRAFIA 151
CARDOSO, Ciro Flamarlon, BRIGNOU, Hector. Os mtodos da hlst6rla. Rio de
Janeiro: GraaJ, 1979.
CAR!X)SO, Fernando Henrique. Dos govemos militares a Prudente de Moraes -
Campos Sales. In: FAUSTO, Boris (org.). OBrastl republicano. So Paulo: Duel,
1975. (Histria Geral da Civilizao Brasileira, 1).
CARDOSO, Vicente Uclnio. tna'8em da hlst6rla da Repblica. Braslia: Ed. UnB,
1981.
CARDOSO-SILVA, Vera Alice. O significado da participao dos mineiros na
polItica nacional durante a Primeira Repblica. In: V Semln4rlo de Estudos
Mlnetros. Belo Horizonte: UFMG, 1982.
CARNElRO, Levl. DIscursos e conferncias. Rio de Janeiro: Sul-Americana, 1954.
CARONE, Edgat. A Prlmelra Repblica (1889-1930): texto e contexto. So Paulo:
Duel, 1969.
___ o A Repblica Velha: evoluo polltica. So Paulo: Duel, 1971.
___ o A Repblica Velha: instituies e classes sociais. So Paulo: Duel, 1972.
_ _ _ ' O tenentirmo; acontecimentos - personagens - programas. So Paulo:
Duel, 1975.
CARVALHO I Antnio Gontijo de. Raul Fernandes, um servidor do Brasil. Rio de
Janeiro: Agir, 1956.
CARVALHO, Jos Mwilo de. A construo da ordem: a elite poltic,a imperial. Rio
de Janeiro: Campos, 1980.
___ o Aformao das almas. So Paulo: Cia. das Letras, 1990.
_ __ o As Foras Armadas na Primeira Repblica: o poder desestabilizador. In:
FAUSTO, Boris. OBrastlrepubllcano.SoPaulo: Duel, 1977. v.2. (Histria Geral
da Civilizao Brasileira, 9).
___ o As proclatnaes da Repblica. Cincia Hoje, n.59, novo 19119.
___ o Coronelismo. In: BELOCH, Israel, ABREU, Alzira Alves de (org.) D/clon4-
rio hlst6rico-b/ogrdflco brasileiro: 1930-1983.Rio de Janeirq: Forense
Universitria, FGV/CPDOC, FINEP, 1984. v.2. .
_ _ _ ' Os besltalfzados: o Rio de Janeiro e a Repblica que no foi, So Paulo:
Cia. das Let.ra.s, 1987.
___ o Tearrodesombras: a poltica imperial. Rio deJaneiro: Vrtice, lUPERJ, 1987.
CASALECHl, Jos eruo. O Partido Republicano Paulista. So Paulo: Brasiliense,
1987.
CASASANTA, Guerino. COm!spondncta de Bueno Brando. Belo Horizonte:
Imprensa Oficial; 1958.
CASTORIADIS, Comellus. A instituio imagln4rla da sociedade. 3.ed. Rio de
Janeiro: Paz e TeiTa, 1982.
152 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
CASlRO, Francisco Borges de. ].]. Seabra: sua vida, sua obra na Repblica.
Salvador: Imprensa Oficial, 1922.
CASlRO, In Elias. O mito da necessidade: discurso e prtica do regionalismo
nordestino. Rio de janeiro: luPERJ, 1989. tese.
___ , Poltica e terrlt6rlo: evidncias da prtica regionalista no Brasil. Dados,
Rio de janeiro, v.32, n.3, 1989.
CASlRO, Sertrlo. A Repblica que a revoluo destruiu. Rio de janeiro: [s.n.],
1932.
CA V ALCANTI, Temfstocles Brando et alo O voto distrital no Brasil. Rio de Janeiro:
FGV,1975. .
CHARLB, Christophe. Les lites de la Republique (1880-1900). Paris: Fayard, 1987.
CONGRESSO NACIONAL DA AGRlCUL111RA, 1. Anais. Rio de Janeiro: S.N.A.,
1901.
CONGRESSOS aucareiros no Brasil. Rio de janeiro: IAA, 1949,
CONIFF, Michael. Urban poHtics in Brazil: the rise of populism, 1925-1945.
Pittsburgh: Unlv. of Pittsburgh Press, 1981. 227 p.
CONRAD, Robert. Os ltimos dias da escravatura no Brasil: 1850-1888. 2. ed. Rio
de janeiro: Civilizao Brasileira, 1978.
COSTA, Emflia Viotti da. Da Monarquia Repblica: momentos decisivos. So
Paulo: Cincias Humanas, 1979.
___ , Da senzala. colnia. 2.ed. So Paulo: Cincias Humanas, 1982.
DADOS: Revista de Cincias Sociais .. Rio de Janeiro: IUPERj, v. 32, n.3, 1989.
Percursos da Repblica.
DEAN, Warren.. A industrializao de So Paulo (1880-1945). So Paulo: Difu-
so Europia do Livro, EDUSP, 1971.
___ , Rio Claro: um sistema brasileiro de Grande Lavoura (1820-1920). Rio de
janeiro: Paz e Terra, 1977.
DEBES, Clio. O PartJo Republicano de So Paulo na propaganda (1872-1899).
So Paulo, 1975.
DE DECCA, Edgar S: O silncio dos vencidos. So Paulo: Brasiliense, 1981.
DELFIM NETO, Antnio. O problema do caf no Brasil. ruo de janeiro: FGV, 1979.
DlNIZ, EU. Voto e mquina poltica: patronagem e dientelismo no Rio de janeiro.
ruo de janeiro: Paz e Terra, 1982.
DUARTE, Nestor. A 'ordem privada e a o1ganizao poltica nacional. So Paulo:
Cia. Ed. Nacional, 1939. (Brasiliana,172).
DURKHEIM, Emile. Soclologiaefllosofia. Petrpolis: Vozes, [19-]. __ . __ o
ruo de janeiro: Forense Universitria, 1970.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 153
EISEMBERG, Peter. A mentalidade dos fazendeiros vista no Congresso Agrcola
de 1878. In: LAPA, J. R. Amaral (org.). Modos de produo e realiade brasilei-
ra. Petrpolis: Vozes, 1980.
___ o O congresso agrfcola de 1870. [s. n. t.]
ENDERS, Anne11e. Pouvoits etfdrallsme auBrsl1: 1889-1930. Paris: Univ. de Paris
IV - Sorbonne/Institute de Histoire, 1993. tese.
ESTIJDIOS POTICOS: Histda y poltica - Acontecer e historiografia. Univ.
Nacional Autonoma de Mxico, v.6, nA, oct./dic. 1987.
FAORO, Raimundo, Os donos do poder. Rio de Janeiro: Globo, 1958.
FAUSTO, Boris. A Revoluo de 1930 : histria e historiografm. So Paulo:
Brasiliense, 1970.
___ ' Estado e burguesia agroexportadora na Primeira Repblica: uma revi-
so historiogrfica. Novos Estudos CEBRAP, So Paulo, n.27, jul. 1990.'
___ , Expanso do caf e poltica cafeeira. In: ___ . O Brasil republicano.
So Paulo: Direl, 1982. v.3. (Histria Geral da Civilizao Brasileira),
__ o O Brasil republicano: So Paulo: Difel, 1975-1981. 3v. (Histria Geral da
Civilizao Brasileira, 8/10).
__ ' Pequenos ensaios de hlstrladaRepblica, 1889-1945. So Paulo: Cebrap,
1970.
FONSECA FILHO, Hennes da. Marechal Hermes, Rio de Janeiro: IBGE, 1961.
FORJAZ, Maria Ceclia Spina. Tenentlsmo e Aliana Liberal (1927-1930), So
Paulo: PoUs, 1978.
___ o Tenentlsmo e Foras Armadas na Revoluo de 1930. Rio de Janeiro:
Forense Universitria, 1988.
___ , Tensntfsmo e polftica: (tenentismo e camadas mdias urbanas na criSe da
Primeira Repblica), Rio de Janeiro: paz e Terra, 1977.
FRANCO, Afonso Ar;tos de Mello. Histria e teoria do partido no direito consti-
tucional brasileiro. Rio de Janeiro: [s.n.], 1948.
___ o Rodrigues Alves: apogeu e declnio do presidencialismo. Rio de Janeiro:
Jos Olympioj So Paulo: Edusp, 1973.
_ ~ _ Um estadista da Repr1blica: Afrnio de Mello Franco e seu tempo. Rio de
Janeiro: Jos Olympio, 1955.3 v.
__ o __ 2.00. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1976.
FRANCO, Gustavo Barroso. A primeira dcada republicana. In: ABREU, Marcelo
de Paiva (org.). A ordem do progresso: cem anos de poltica econmica repu-
blicana (1889-1989). Rio de Janeiro: Campus, 1989.
___ ' Reforma monetria e InstablJiade durante a transio republicana. Rio
de Janeiro: BNDES. 1983. '
154 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
FREIRE, Felisbelo. As constituies dos estados e a Constituio Federal. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional, 1898.
__ o Htst6rla constitucional da Repblica dos Estados Unidos do Brasil. 2.ed.
Braslia: UnB, 1983.
FRITSCH, Winston. 1924. Pesquisa e Planejamento Econtjmico, Rio de Janeiro,
lPU, p.713-714. dez.1980.
___ o Apogeu e crise na Primeira Repblica: 1900-1930. In: ABREU, Marcelo de
Paiva (arg.). A ordem do progresso: cem anos de poltica econmica republi-
cana (1889-1989). Rio de Janeiro: Campus, 1989.
___ o Aspectos da poltica econmica brasileira na Primeira Repblica. Cam-
bridge. 1983. tese ..
___ o Aspectos da poltica econmica do Brasil: 1906-1914. In: NEUHAUS,
Paulo (org.). Economia brasileira, uma vtso histrica. Rio de Janeiro: Cam-
pus, 1980.
___ ' Sobre as interpretaes tradicionais da lgica da poltica econmica na
Primeira Repblica. Estudos Econmicos, So Paulo, v.15, n.2, p. 339-346,
1985.
FURET, Franois. Entrevista. Revista Estudos Hist6ricos, Rio de Janeiro, n.l, 1988.
FURTADO, Celso. Formao conmica do Brasil. So Paulo: Cia. das Letras, 1987.
GABAGUA, Laurita Pessoa Raja. Epitcio Pessoa. Rio de Janeiro: Jos Olympio,
1951.2 v.
GEERTZ, Clilford. A tnte1pretao das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. p.64.
GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias polticas. So Paulo: Cia. das Letras, 1987.
GNACARINE, Jos. O acar e o Pacto Colonial. In: FAUSTO, Boris (org.). O Bra-
sil republicano. So Paulo: Difel, 1982. (Histria Geral da Civilizao Brasilei-
ra,8).
GOMES, ngela M. de Castro. A dialtica da tradio. Revista Brasileira de
Cincias Sociais, Rio de Janeiro, n.12, fev. 1990.
___ , A tica catlica e o esprito do capitalismo. CwnciaHoje, abro 1989.
___ o A inveno do trabalhismo. So Paulo: Vrtice, 1988.
___ ' Burguesia e trabalha: poltica e legislao social no Brasil 0917-1937}. Rio
de Janeiro: Campus, 1979.
GOMES. Eduardo. Campo contra cidade: reao ruralista crise oligrquica no
pensamento poltico social brasileiro 0910- 1935). Rio de Janeiro: IUPERJ,
1980. dissertao.
GUANABARA, Alcindo. A presidncia Campos Sales: poltica e frnanas. Rio de
Janeiro: Laemmert, 1902.
HAHNER, June E. Relaes entre civis e militares no Brasil. So Paulo: Pioneira,
1975.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 155
HIMMELFARB, Gertrude. 1be new Hlstoryand the Old. Cambridge: Harvard Univ.
Press, 1987.
HOBSBAWN, Eric. The revival af narrative: some comments. Past and Fresem,
England, n.86, p. 3-8, Feb. 1980.
HOBSBAWN, Eric, RANGER, Terence. A Inveno das tradies. Rio de Janeiro:
paz e Temt, 1984.
HOLLOWAY. lhamas. Vida e morte do coruJn{o de Taubat: a primeira valoriza-
o do caf. Rio de Janeiro: Paz e Tena, 1978.
IANNI, Otvio. Raas e classes sociais no Brastl, Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1966 . .
IGLESIAS, Francisco. Agricultura em Minas Gerais na Repblica Velha. Estudos
EconIJmlcos, So Paulo, v.15, 1985.
___ ' Constituintes e constituies brasileiras. 2. ed. So Paulo: Brasiliense,
1986.
INSTITUTO BRASILEIRO DO A F ~ O caf no segundo centenrio de sua introdu
o no Brasil. Rio de Janeiro: Dep. Nacional do Caf, 1934.
JAGUARlBE, Hlio. Desenvolvimento eCOMm{co e desenvolvimento po/{t{co. Rio
de Janeiro: Fundo de Cultura, 1962.
JANOrn, Maria de Lourdes Mnaco. O coronellsmo. So Paulo: Brasiliense, 1981.
(Tudo Histria, 13).
___ o Os subvenlvos da Repblica. So Paulo: Brasiliense,1986.
]UWARD,Jacques.A poltica. In: LE GOFF,Jacques, NORA, Pierre (org.). Hlst6ria.
nQvas abordagens. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.
KLEIN. Lcia Maria Gomes, UMAJR., Olavo Brasil de. Atores polticos no Imprio.
Dados, v.7, 1970. .
KOSEllECK, Reinbart. Le regne de la critique. Paris: Mlnuit, 1979.
KUGEIMAS, Eduardo. A Primeira Repblica no perodo de 1891-1909. In:
BElGUElMAN, Paula. Pequenos estudos de cinciapoWtca. So Paulo: Pionei-
ra, 1968. v.2.
___ o DijTctJ hegemonia: um esrudo sobce So Paulo na Pcimeira Repblica. So
Paulo: USP, 1986. tese.
LABORlE, Pierre. lntecsciences. Annales-Economies...societs-Ctvtltzattons, v.44,
n.6, nov./dec. 1989.
LAGO, Mozart. A conveno nacional de 1921. Rio de Janeiro: Pimenta de Melo,
1921.
LAPA, Jos Roberto do Amaral. A bistria em questo. 2. ed. Petrpolis: Vozes,
1976.
___ o HIst6r1a e blstorlograjfa: Brasil ps-64. So Paulo: Paz e Tena, 1985.
156 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
___ (org.). poltica da Repblica. So Paulo: Papiros, 1989.
___ o Historiografia brasileira contempornea. Petrpolis: Vozes, 1981.
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. So Paulo: .Alfa Omega, 1975.
LE GOFF, Jacques. Decadncia. In: Enciclopdia Einaudt: memria-histria.
Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1984. v.1.
___ o ls the still the backbone of history? .Daedallus, p.1-19, 1971.
___ o La nouvelle histoire. Bruxelles: Complexe, 1988.
LESSA, Renato. A infNJno republicana. So. Paulo: Vrtice, 1987.
LEVINE, Robert. A velha usina: Pernambuco na federao brasileira. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1975.
LEVY, Maria Brbara. O Encilhamento. In: NEUHAUS, Paulo (org.). Economia
brasileira: uma viso histrica. Rio de Janeiro: Campus, 1980.
LIMA, Sandta Lcia Lopes. O oeste paulista e aRepbltca. So Paulo: Vrtice, 1986.
LIMA SOBRINHO, Barbosa. Presena de Alberto TorreS'. sua vida e pensamento.
Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1968.
LINHARES, Maria Veda, SILVA, Francisco Carlos. Histria da agricultura
combates e controvrsias. So Paulo: Brasiliense, 1981.
__ o Histria pol(tfca do abastecimento (1918-1974). Braslia: Binagre, 1979.
WVE. Joseph. A locomotiva: So Paulo na federao brasileira. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1982. .
___ o O reg10naltSmo gacho. So Paulo: Perspectiva, 1975.
MAGALHES, Bruno de Almeida. Artur Bernardes, um estadista da Repblica.
Rio de Janeiro: JOs Olympio, 1973.
MANHEIM, Karl. O pensamento conservador. In: MARTINS, Jos de Souza.
Introduo cntfca sociologia rural. So Paulo: Hucitec, 1981.
MARTINS FilHO, Amilcar. A economia poltica do caf com leite (1900-1930).
Belo Horizonte: UFMG/PROED, 1981, .
___ ' Cliente1ismo e representao em Minas Gerais durante ala Repblica:
uma crtica a Paul Cammack. Dados, Rio de Janeiro, n.27, 1984.
___ o Tbe white collar republc: patronage and interest representation in Minas
Gerais, 1889-1930. Illinois: Univ. minois, 1987. tese.
MATOS, Dmar. Tempo StuJuarema. So Paulo: Hudtec, 1987.
MAYER, A. A/ora da tradio. So Paulo: Cia. das Letras, 1987.
MAZON, Brigitte. Aux origines de 1'E.H.E.S.S.-cole des Hautes tudes en sciences
soc1a/eS'.le role du mcenat americain. Paris: Ed. du cerf, 1988.187 p.
MELLO, Joo Manoel Cardoso de. O capitalismo tardio: contribuio reviso
crtica da formao e desenvolvimento da economia brasileira. So Paulo:
Brnsiliense, 1982:
FONTES E BIBLIOGRAFIA 157
MEllO, Pedro, SLENES, Robert. Anlise econmica da escravido no Brasil. In:
NEUHAUS, Paulo (coord.). Economia brasileira: uma viso histrica. Rio de
Janeiro: Campus, 1980.
MENDONA, Sonia Regina. O ruralismo brasileiro: um debate de idias.
margem, v.1, n.l, jan. 1993.
___ o Ruralisma agricultura, poder e Estado na Primeita Repblica. So Paulo:
USP, 1989. tese. , .
MICHELS, Robert. Sodologia dos partidos polfticos. Braslia: Ed. UnB, 1982.
MILIBAND, Ralph. OBstado na sociedade capitalista. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.
__ o Marxismo e pol(tica. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
MORAES, Evaristode. A campanha aboll.donista (1879-1888). 2. ed. Braslia: Ed.
UnB,1986.
MOREIRA, Teresa Levi. SoPaulo na Primeira Repbltca. So Paulo: Brasiliense,
1990. (Coleo TudO llistria).
MOTA, Carlos Guilhenne (org.). Febure: histria. So Paulo: tica, 1978.
MOTIA, Marly Silva: A nao faz cem anos. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1992.
MUELLER, Charles. Das oligarquias agrrias ao predom(nto urbano-industrial:.
um estudo do processo de formao de polticas agrcolas no Brasil. Rio de
Janeiro: IPEA!INPES, 1983.
NOIRIEL, Gerard. Enjeu:x:: une histoire sociale du politique est..elle possible?
Vingtteme SScle: Revue d'Histoire, n.24, oct./dec. 1989.
NORA, Pierre (dir.) .1es lleux de mmoire: la Republique. Paris: Gallimard, 1984. v.l.
___ o Les lleux de mmoire: les France. Paris: Gallirnard, 1983. 3v.
NUNES, Castro. Ajornada 'T8VStonista. Rio de Janeiro: Almeida Marques, 1924.
___ o As constituies estaduais do Brasil. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro, 1922.
OIlVElRA, Lcia LippL A questo nacional na Primeira Repblica. So Paulo:
Brasiliense, 1989.
___ o .As festas que a Repblica manda guardar. Estudos Hist6ricos, Rio de
Janeiro, nA, 1989.
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional So Paulo: Brasiliense,
1985. capo 1/2.
PALMIER, Luiz. Maurl'cio de Abreu: um pioneiro da democracia. Rio de Janeiro:
Minerva, [19-].
PANG, Eui Soa. Coronelf.smoe oligarquias. Rio deJaneiro: Civilizao Brasileira,
1979.
PESA VENTO, Sancha Jatahy. A burguesia ga11.cha: dominao do capital e
disciplina do t r a ~ a h o (1889-1930). Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988.
___ o A Revoluo Federalista. So Paulo: Brasiliense, 1983.
158 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
___ , Repblica Velba gacba. Porto Alegre: Movimento, lEL, 1980.
PESSOA, Reyna1do Carneiro (org.). A idia republicana no Brasil atravs dos
documentos. So' Paulo: Alfa-Omega, 1975.
PINTO, Celi Regina. Poslttvismo: um projeto poltico alternativo (R.S. 1889-1930).
Porto Alegre: LPM, 1986.
PORFfRIO, Henrique. A tem da promisso. [s. n. t.1.
PORTO, Costa. l'tnbeiroMacbadoeseu tempo. Rio deJaneiro:Jos Olympio, 1951.
PRADO JNIOR, Caio. Hist6r1a econfJmtca do Brasil. 12.ed. So Paulo: Brasilien-
se, 1970.
PRESTES, Anita LeoCdia. A Coluna Prestes. So Paulo: Brasiliense, 1990.
QUEIROZ, Maria lsaura P,ereira de. O coronelismo numa interpretao sociol6gica.
In: FAUSTO, Boris (org.). O Brasil republicano. So Paulo: Difel, 1976. v.3.
(Histria Geral da Civilizao Brasileira, 9).
QUEIROZ, Maurcio Vinhas de. Paixo e morte de Silva Jardim. Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 1967.
QUEIROZ, Suely Robles. Os radicais da Repblica. So Paulo: Brasiliense, 1987.
RAMOS, Guerreiro. A crise do poder no Brasil. Rio de Janeiro: Zabar, 1961.
REIS, Elisa Pereira. Interesses agroexportadores e construo do Estado: Brasil
de 1890 a 1930. 1rl: SORJ, Bernardo, CARDOSO, Fernando Henrique (org.).
Economia e movimentos sociais na Amrica Latina. So Paulo: Brasiliense,
1985.
___ , O Estado Nacional como ideologia: o caso brasileiro. Estudos Histricos:
Identidade Nacional, Rio de Janeiro, n.2, 1988.
REMOND, Ren (org.). Pour une bistotre polttque. Paris: Ed. du Sevil, 1988.
RESENDE, Maria Efignia. Formao da estrutura de domtnao em Minas Ge-
rais: o novo PRM (1889-1906). Belo Horizonte: UFMG/PROED, 1982.
RIBERlOux, Madeleine (dit,). Le mouvement social Paris-Province 1900. Les
dittons Ouvrteres, n.16O, juil./sept.1992.
ROBLES, Sueli. Os radicais da Repblica. So Paulo: Brasiliense, 1986.
RODRIGUES, Jos Hon6rio. Conctliaoe reforma noBrasiL 2. ed. Rio deJaneiro:
Nova Fronteira, 1982.
___ , Vida e histria. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1966.
ROSANV AllON, Pirre. Pour une histoire conceptuelle du politique. Revue de
Syntbese, vA, n.1/2, jan./juin.1986.
SAENS, Dcio. AfonnaodoEstado burgus noBrasil: 1888-1891. So Paulo: Paz
e Terra, 1985.
___ , Classe mdia e pol(tica na Primeira Repblica brasileira. Petrpolis: Vo-
zes,1975.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 159
SAHLINS, Marshall. Ilhas de Histria. -Rio de janeiro: Zahar, 1990.
SALES, Flvio. O do escravisnlo: uma nota sobre a historiografia. Estudos
Econmicos, v. 12, n.3.
SALES, Manuel Ferraz de Campos. Da propaganda presidOnca. So Paulo:
[8.n.1, 1908.
S.AMP AIO, Consuelo Novais. Os partidos polticos da Bab1a na Prlmetra Repbli-
ca: uma poltica de acomodao. Salvador: UFBA, 1978. (Coleo Estudos
Baianos, n.10).
SANTOS, Wanderley Guilhenne. Ordem burguesa e ltbera/smopolfttco. So Paulo:
Duas Cidades, 1978.
SCHWARTZMAN, Simon. Representao e cooptao poltica no Brasil. Dados,
n.7, 1970.
___ o So Paulo e o Estado Nacional. So Paulo: Dfel, 1975.
SEVCENKO, Nicolau. Ltleratura como misso: tenses sociais e criao cultural
na Primeira Repblica. So Paulo: Brasiliense, 1983.
SILVA, Ciro. QuinNno Bocatva, o patriarca da Repblica. So Paulo: Bdagllt,
1962.
SILVA, Eduardo (org.). As idias po/fticas de Qutnttno Bocatva. Braslia: Senado
Federal; Rio de janeiro: Fundao Casa de Rui Barbosa, 1986. 2 v.
SILVA, Hlio. 1889: a Repblica no esperou amanhecer. Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 1972.
___ o 1922: sangue na areia de Copacabana. Rio de janeiro: Civilizao
Brasileira, 1964.
Sn.VA, Marco Antnio: Repblica em mtgalhas. So Paulo: Marco Zero, 1989.
SILVA, Srgio. Expanso cafeeira e origens da indstria no Brasil. So Paulo:
Alfa-Omega, 1976.
SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. Repu bJicanismo e federalismo: um estudo da
implantao da Repblica brasileira (1889-1902). Braslia: Senado Federal,
1978.
SIMONSEN, Roberto. A evoluo i.ndustrial do Brastl e outros estados. So Paulo:
Cia.Ed. Nacional; 1973.
SINGER, Paul. O Brasil no contexto do capitalismo internacional, 1889-1930.
In: FAUSTO, Bom (org.). O Brasil republicano. So Paulo: Dlfel, 1975. v.3.
(Histria Geral da Civilizao Brasileira).
SKIDMORE, lhamas. lhe historiography of Brazil, 18891964. The Hispanta
AmerlcanHstorlcalRevew, v.55, nA, v.56, n.1, 1975/1976.
SOARES, Glaucio Dillon. Estado e partidos polfticos no Brasil: 1930-1964. So
Paulo: Alfa-Omega, 1976.
160 EM BUSCA D,A IDADE DE OURO
SODR, Nelson Werneck. Formao da sociedade brasileira. Rio de Janeiro: Jos
Olympio, 1943.
___ o Formao histrica do Brasil. So Paulo: Brasiliense.
___ o Histria militar do Brasil Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1965.
SOUSA, Maria do Canno Campello de. O processo poltico partidrio na Primeira
Repblica. In: MOTA, Carlos Guilhenne. Brasil em perspectiva. So Paulo:
Difel, 1972.
SOUZA, Terezinha Oliva. Impassesdofederalismo brasileiro:. Sergipe e a revolta de
Fausto Cardoso. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Aracaju: UIV. Federal de Sergi-
pe,1985.
SZMRECSNYI, Tams, O planejamento da agroindstria canavfeira do Brasil
(1930-1975). So Paulo: Hucitec, Uncamp, 1979.
TANNURI, Lus Antnio. O Enctlhamento. So Paulo: Hucitec, 1981.
TAUNAY,Monso cIeE. Hist6riadocalnoBrasil Rio de Janeiro: DNC,1939-1943.
TELAROLLE, Rodolfo. Eleies efraudes eleitorais naRepblica Velha. So Paulo:
Brasiliense, 1982. (Tudo histria, 56).
TOCQUEV1LLE, Alexis de. O antigo regime e a revoluo. Braslia: UnB, 1979.
TOPIK, Steven. A prrlsena do Estado na economia poltica do Brasil de 1889 a
1930, Rio de Janeiro: Record, 1989.
___ , La revolucin republicana en Brasil y la burguesia en el poder? SigloXIX,
Mxico, v.3, n.5, p.9/44, 1988.
___ o VEtat sue le march: aproche comparative du caf brsilien et du
hennequem mexicain. Annales ESC, n.2, pA29-457, mars./ avr. 1991.
TORRES, Alberto. A organizao nacional. 2.ed. So Paulo: Cia. Ed. Nacional,
1938.
TORRES, Joo Camilo de Oliveira. Aformao do federalismo no BrasiL So Pau-
lo: eia. Ed. Nacional, 1961. (Brasiliana, 308).
___ o Hist6ria das idias n:Jlgiosas no Brasil: a Igreja e a sociedade brasileira.
So Paulo: Grijalbo, 1968.
VELHO, Gilberto, CASTRO, Eduardo Viveiros. O conceito de cultura e o estudo
das sociedades complexas. RevstaEspao, Univ. Santa rsula, v.2, n.2, 1980.
VENNCIO FILHO, Alberto, Carlos Peixoto e o jardim de infncia. Dtgeato
Econmico, Rio c;J. Janeiro, n.226, 1972.
VIANA, Oliveira. Hist6ria social da economia capitalista no Brasil Belo Horizon-
te: Itatiaia; Niteri: UFF, 1987.
V1LEll.A, Aru"bal Villanova, SUZIGAN, Wllson. Pol(tica do gOtJerno e cn:Jscimento
da economia 1889-1945. 2.ed. Rio de Janeiro: IPEA!INPES, 1975.
VINHOSA, Francisco Luis Teixeira. O Brasil e a Primeira Guerra MundiaL Rio de
Janeiro: LH.G.B., 1990.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 161
VIom, Bmilia. Da Monarqut RepbUca. So Paulo: Grijalbo, 1976.
VIZENTINI, Paulo Gilberto Fagundes. Os liberais e a crl.se da Repblica. So Pau-
lo: Brasillense, 1983. (Tudo histria, 67).
WEFFORT, Francisco C. Democracia e movimento operrio. Algumas questes
para a histria do movimento operrio do perodo de 1945-1964 . .RevIsta de
cultura v.l, n.l, jul. 1978.
__ o O popullsmo na pol(Hca brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
WIRlH, John. O fiel da balana: Minas Gerais na federao brasileira. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1975.
WI'ITER, Sebastio. Partido polfttco.federaltsmo e Repblica. So Paulo: Arquivo
do Estado, 1984.
XISTO, pulcro. A verdade histrica: da conveno de 1921 revoluo de 'junho
de 1922. Rio de Janeiro: 8.C.p., 1922.
ZIMMERMANN, Maria Bmilia Marques. O PRP e osfazenderos de caf. So Paulo:
Unicamp, 1987. dissertao.
5. Obras especficas sobre o estado do Rio
A ADMINISTRAO do sr. Quintino Bocaiva no estado do Rio de Janeiro: 1901
a 1903. Petrpolis:, Tip. da Tribuna de Petrpolis, 1903.
ALBUQUERQUE, Jlio Pompeu de Castro (org.). O estado do Rio de Janeiro: pero-
do de 1928 a 1934. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, {19-].
ALBUQUERQuE JNIOR, Hildiberto Ramos" Cavalcanti de. O republcanismo
fluminense (1887-1891). Niteri: UFF, 1974. dissertao,
ALMEIDA, Antnio Figueira de. Hlstrlaflumnense. 2.ed. Rio de Janeiro: S.R. dos
Santos, 1930. '
___ , Osflumnenses na histria do BrasiL Niteri: Jernimo Silva, 1928.
ALMEIDA, Dayl de. Escoro de histria poltica fluminense. Niteri, vA, n.3,
p.3&-67,1972.
ARAJO, Elsio de. Atravs de meio sculo: notas histricas. So Paulo: Limitada,
1932.
ATAfoE, Jos 'FamOtasfluminenses. Juiz de Fora: Lar Catlico, 1970. 2v.
BARRETO, Joo. O estado do Rio de Janeiro. aspectos politicos, econmicos e
admi.ni8trativos do do Rio de Janeiro: o sr. Nilo Peanha. Rio de Janeiro:
Jornal do Commercio, 1917.
BARROS, Jaime. O estado fluminense. [s.1.: s.n.], 1927.
BASTOS, Manoel Leite. O estado do Rio e seus homens: homenagem do Partido
Republicano"Fluminense, 1927-1928. Niteri: [s.n.], 1927. 1 v.
162 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
BERNARDES, Lym M.C. Consideraes sobre a regio do Rio de Janeiro. Revista
Brasletra de Geografia, Rio de Janeiro, v.33, nA. p.99-107, 1971.
BERNARDES, LY8ia, SOARES, Maria Therezinha. Rio de Janeiro: cidade e regio.
Rio de Janeiro: Secr. Municipal de Cultura, 1987.
BIOGRAFIA do cir. Jos Toms da Porcincula, pela Comisso Central encarre-
gada de promover as homenagens a Sua Excelncia por ocasio da terminao
do seu perodo presidencial. Rio de Janeiro: Tip. Jernimo Silva, 1885.
CAMINHA FILHO, Adrio. A prspera situao da lavoura e da indstria
aucareira fluminense. Brasil Aucareiro, v.10, n.U, set. 1937.
CARLI, Gileno de. A evoluo do problema canavtelro fluminense. Rio de Janei-
ro: hmos Pangetti, 1942. '
CARVALHO, Miguel de. Organizao republicana do estado do Rio de Janeiro:
1889-1894. Rio de Janeiro: Tip. Guimares, 1895.
CASADEI, 1balita de Oliveira. Estudos de bistrlafluminense. Niteri: [s.n.], 1980.
CASTRO, Hebe. Ao sul da bistria (bomens livres, pobres e pequena produo na
crise do trabalbo escravo). So Paulo: Brasiliense, 1987.
CASTRO, Manuel Viana de. A aristocracia rural fluminense. Rio de Janeiro:
laemmert, 1961.
CONCEIO, Carlos. 2
11
Centenrio do cafeeiro no Brasil: histria da irradiao
e decadncia do caf no estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Papo
Mello, 1927.
CORREIA, Heloisa Serzedelo. Nova Frlburgo, o nascimento da Indstria (1890-
1930). Niteri: UFF, 1985. dissertao.
COSTA, Carlos da Silva. Os acontecimentos de 5 e 6 de julbo. Denncias do
procurador criminal da Repblica. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1923.
CRUZ, Paulo e r n e ~ k da. Demografia bistrica da Repblica Velba: o
desenvolvimento fluminense. Taubat, 1980. comunicao apresentada no
Simpsio de Histria. do Vale do Paraba,
__ ' O novo Rio de Janeiro emprlmeiras(ntese de hlstriapol(tea (1889-19 75).
Taubat, 1980. comunicao apresentada no Simpsio de Histria do Vale do
Paraba.
DA VIDOVICH, Fany. Um foco sobre o processo de urbanizao do estado do Rio.
Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v,48, n.3, p.333-371, jul./set.
1986.
DINIZ, Almaguio. Razes jurdicas para uma interveno no estado do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: Cia. Nacional de Artes Grficas, 1927.
EARP, S. Propaganda do estado do Rio. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 1907 ..
,ECONOMIA FLUMINENSE: conjuntura e anlise. Niteri: UFP. Dep. de Economia,
v.2, n.7, set. 1990.
FONTES B BIBLIOGRAFIA 163
PARIA, Sheila de Castro. Terra e trabalho em Campos dos Goitacazes (185()...
1920). Niteri: UFF, 1986. dissertao.
FERNANDES, Raul. A Redeno. In: l.B.C. O caf no segundo centenrio de sua
tntroduo no BrasiL Rio de Janeiro: Dep. Nacional do Caf, 1934.
'_' _. O estado do Rio no Centenrio do Brasil. OBstado, Niteri, 7 jul. 1922.
FERREIRA, Maneta de Moraes. A crise dos comissrios de caf do Rio de janeiro.
Niteri: UFF, 19n: dissertao.
___ o COtifltto e crise po/(Uca: a Reao Republicana no Rio de Janeiro.
Rio de 1aneiro: FGV!CPDOC, 1988.
__ , Poltica e poder no estado do Rio na Repblica Vellia. Revista do Rio de
Niteri, UFF, n.1, 1985.
___ o Questes para o estudo da industrlalzalJo Rio de 1aneiro:
FGV /CPDOC, 1986.
FERREIRA, Marieta de Moraes, IAMARO, Srgio. Fontes para o estudo da hist-
ria do estado do Rio de Janeiro na Primeira Repblica. BIB, Rio de 1aneiro,
n.20, 1985.
__ (coord.). A Repblica na VelbaProv{ncfo. Riode1aneiro: Rio Fundo,1989.
FONTENELLE, Oscar Penna. Problemas econr5micos do estado do Rio de janeiro.
Rio de 1aneiro: 10rrlal do Commercio, 1925.
FORTES, 10s Matoso Mata. Esboo de geografia econr5mlca do estado do Rio
de jarurlro. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 1919.
___ o O estado do Rio de ensaio para o estudo de sua Rio de
Janeiro: Jornal do Commercio, 1928.
FRAGOSO, Joo Luiz Ribeiro. Comerciantes, fazendeiros e formas de acumula-
o em uma economia Rio de Janeiro: 1790-1888. Nite-
ri: UFF, 1990. tese.
__ ' Sistemas agrrios em Para(ba do Sul (1850-1920): um estudo de rela-
es _no capitalistas de produo. Rio de Janeiro: UFRJ, 1985. d.iMertao.
FREIRE, Lucy, SOARES, Maria Therezinha, TEIXEIRA, Marcelene. Organizao
especial da agricultura do estado do Rio. Revista Brasileira de Geografia, Rio
de Janeiro, v.39, n.2, p. 41-96, abr./jun. 1977.
GEIGER, Pedro Pinchas. Urbanizao e industrializao na orla oriental da baa
de Guanabara. geogrfico do estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
v.9, p.21D-236, 1956. '
GOMES, Angela Maria de Castro. e trabalbo. Rio de Janeiro: Campus,
1979.
GOMES, .ngela Maria de Castro, FERREIRA, de Moraes. Industrializa-
o e classe trabalhadora no Rio de Janeiro: novas perspectivas de
BIB, Rio de 1aneiro, n.24, 1987.
164 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
GRANER, Maria Paula. A estruturafundirla do municfpio de Araruama (1850-
1920): um estudo das distribuies das terras: continuidades e transforma-
es. Niteri: UFF. 1985. dissertao.
KORNIS, Mnica de Almeida. A crise do niltsmo e a consolidao de um novo gru-
po polftico no estado do Rio (1923-1930). Rio de Janeiro: FGV!CPDOC, 1987.
documento de traballio.
___ , Os #npasses para a consolidao do nllismo no Rio dejaneiro: retomada,
enfrentamento e acordo 0909-1914). Rio de Janeiro: FGV!CPDOC, 1988.
docuinento de traballio.
LACOMBE, Loureno Luis. Os chefes do Executivo fluminense. Petrpolis: Museu
Imperial, 1973.
LAMARO,Srgio.Acrl.seeconmicafluminenseeastentattvasparasuarecupemo
(1930-1937). [8.1.: 1987. documento de traballio. mimeogr.
___ o O governo Alberto Torres: renovao da elite poltica e tentativa de
recuperao econmica. Rio de Janeiro: FGV/CPDOC. 1988. documento de
trabalho.
___ ' OgovemoQulnttnoBocavaeaescaladadoniJismo. Rio de Janeiro: FGV!
CPDOC, 1988. documento de traballio. .
LAMEGO, Alberto. A terra goltac. Rio de Janeiro: Dirio Oficial, 1943.
LAMEGO, Alberto Ribeiro. O homem e a restinga. Rio de Janeiro: IBGE, 1946.
___ o O homem e a serra. Rio de Janeiro: mGE, 1950.
__ o O homem e o brejo. Rio de Janeiro:-mGE, 1945. v.32.
___ o O homem e brejo. 2. ed. Rio de Janeiro: lidadot, 1974.
LAMEGO, Luis. O estado do Rio e alguns dos seusfllbos mais Ilustres. Niteri: Dirio
Oficial, 1943.
LEMOS, Renato Lus do Couto Neto. A implantao da ordem republicana no
estado do Rio. UFF, 1985. dissertao.
___ ' Repblica e poltica .regional fluminense. Revista do Rio de Janeiro, n.4,
dez.1986.
LEMOS. Renato. ApolftlcaoHgdrqulca noRiodejanetm estabnidadee compromisso.
Rio de Janeiro: FGV/CPDOC, 1987. documento de trabalho.
LE.OPOIDI, Maria Antonieta. Crescimento industrial. polticas governamentais e
organ.i2aes da burguesia: o ruo deJaneiro. Revista do Rio dejaneiro, v.l, n.3,
1986.
LEVY, Maria Brbara. Repblica S.A. Cilncia Hoje, n.59, novo 1989.
LIMA, Lana Lage da Gama. Rebeldia negra e aboltcionisma. Rio de Janeiro:
Achiam., 1981. .
LIMA, Santa Cruz. Ressurge a velha provfncia. [s.n.t.]
FONTES E. BIBLIOGRAFIA 165
LOBO, Eullia. Hfst6rla do Rio dejaneiro: do capital comercial ao capital industrial
e fmanceiro. Rio ele Janeiro: IBMBC, [19-].
MACHADO, Humberto Fernandes. Escravos, senbores e caf: um estudo sobre a
crise da lavoura cafeeira do Vale do Paraiba, 18601888. Niteri: UFF, 1983.
cl.issertao.
MARCHIORI, Maria Enlia.. A bfst6rla e a temtica da decadOncla da provfncta
fluminense. [s.l.: ".ri., 19-]. datil.
__ o A Iluso do progresso: a pantomima dos engenhos centrais (1875-90).
[5.1.: s.n.l, 1987. documento ele trabalho. mimeogr.
__ o Engenhos cent.rajs e usinas do norte fluminense, t7751909, Mensrio
do Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, v.lI, n.8, p.3-12, ago.1980.
__ ' O amargo d acar. Revista do Rto de janeiro, n.3, 1986.
___ o O mundo das usinas: problemas da agroindstria aucareira no municpio
de Campos. Nitef6i; UFF, 1979. dis.sertao.
MARTINS, lamnia Lima. Subs{dios para a bfst6rla da industrializao de
Petrpoll.s0850-193 O). Petrpolis: Univ. Catlica de Petrpolis, 1983.
MARY. Cristina Porto de Nlctberoy: uma promessa de autonomia. Rio
de Janeiro: IPUR, UFRJ, 1988. cl.issertao.
MEDEIROS, Mauricio de. A reforma constitucional de 1920. Rio Jacinto
Ribeiro Soares, 1922.
___ o Sobre a histria constitucional flunnense na Repblica. RtJ{sta da
Academia Fluminense de Letras. Niteri, p.57-64, out. 1949.
MEU.O, Pedro C. A economia da escravido nasfazendas de caf: 1850-1888. Rio
de Janeiro: PNPE, 1984.
MELO,Joaquim. Evoluo da cultura cafeeira no estado do Riqdejanetro. fastgio,
decadncia e reerguimento do caf fluminense. Rio de Janeiro: Papo MeI1o,
[IH.
___ o OestadodoRlo: suas peculiaridades, evoluo e grandeza. [s.l.: s.n.]. 1927.
MENDONA, Snia .Regina de. A primeira pol{ttca de valorizao do caf e sua
vtnculao com a economia agrico/a do estado doRio de janeiro. Niteri: UFF"
1977.
MORAES, Vicente Ferreira. A questo do caf. Niteri: Tip. 5 de julho, 1934.
MOITA, Mrcia. Pelas bandas D'AIm. Niteri: UFF, 1989. dissertao.
NA vaGA, O.C. Lesucredans l'tatdeRiodejanetroetauBrastl: eles oligarchies aux
multinationales, 1920-1965. Paris: Univ. de Paris, 1976. tese.
P ADIlHA, Silvia Da rnonocultura dtversiflcao econmica: um
estudo ele caso: Vassouras, 1880-1930. Niteri: UFF, 1977. dissertao.
PANroJA, Silvia. A desestabilizao do ntlismo, 1905-1909. Rio deJaneiro: FGV/
CPDOC, 1988. documento ele trabalho. mimeogr.
166 EM BUSCA DA IDADE DE OURO
___ o As tentativas de recuperao econ6mica do estado do Rio (1904-1906).
Rio FGV/CPDOC, 1988. documento de trabalho. mimeogr.
__ o Oprojetopol(tlc(j. a consolidao do nilismo 0904-19(6). Rio de Janeiro:
FGV /CPDOC, 1988. documento de traba1ho. mimeogr.
P AZERA JR., Eduardo, BERNARDES, Laura Regina Mendes. Antigas capitais do
caf do Esprito -Santo, Rio de Janeiro e So Paulo. Boletim Geogrfico, Rio
de Janeiro, v.33, n.242, p.8S-102, set./out. 1974.
PEANHA, Celso. Nilo Peonha e a revoluo brasil8ira. Rio de Janeiro: Civiliza-
o Brasileira, 1969.
PEANHA, Nilo. Pol(ttca, economia e finanas: a campanha presidencial de
1921-1922. Rio de Janeiro: Imprensa NacionaJ, 1922.
A PECURA no estado fluminense. Revista Comercial e Agncola do Estado do
Riodejanetro, Rio de Janeiro, v.1, n.l, p.7, 1922.
PIGNATON, lvaro. 'Origens da industrializao no Rio de Janeiro. Dados, Rio
de Janeiro, n.15, 1977.
PINHEIRO, Maria Isollna. O l(der Soares Pilbo. Rio de Janeiro: s.c.p., 1975.
PINHEIRO, Saramago. Galdtno do Val8 e smulas de seus pronunciamentos:
discursos sobre o centenrio de nascimento de Galdino do Vale e smulas
apresentadas pelo deputado Saramago Pinheiro. Braslia: Cmara dos
Deputados, 1980.
RAFFARD, Henri. O centro da indstria e o comrcio de acar no Rio deJanetro.
Rio de Janeiro: Typ. do Brasil, 1892.
RANGEL, Sylvio Ferreira. O caf no estado do Rio de Janeiro, sua origem e
influncia na vid econnca e .social da terra fluminense. O jornal, Rio de
Janeiro, 15 out. 1927. p.14, seo 2. edio comemorativa do bicentenrio
do caf.
RUSSEL, Robert. NlloPeanhaand tbeflumlnensepolitics (1889-1917). Univ. do
Novo Mxico, 1974. tese.
S, Surama. A elitepol(tcafluminense: renovao ou continuidade. Rio de Janeiro:
UFRJ, 1990. relatrio de pesquisa.
SANTOS, Ana Maria dos. Agricultural refo1mand Ibe idea of decadence in tbe state
ofRlo dejanelro. AU8tn: Univ. Texas, 1984. tese.
SANTOS, Ana Maria dos, MENDONA, Snia Regina. Interveno estatal e
diversificao agricolano estado do Rio deJaneiro (1888/1914). Revista do Rio
de Janeiro, Niteri, n.2. 1986.
SRIE ESTUDOS. Rio de todas as crises. Rio de Janeiro, IUPERJ, n.SO/81,
dez. 1989/jan. 1990.
SILVA, Edmino Pereira. Hermogneo Pereira da Silva. Petrpolis: Vozes, 1973.
SILVA, Eduardo. Baroes e escravido. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 167
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Abolio e crise na provnc.ia do Rio de
Janeiro: um balano das princ.ipais pesquisas. Acervo, Rio deJaneiro, v.3. n.1,
jan./jun. 1988.
___ o Ten-a e polfttca no RJo de Janeiro na poca da Abolio: cativeiro e
liberdade. Rio de Janeiro: UERJ"1989.
SLENES, Robert. Grandeza ou decadincld: o mercado de e a economia
cafeeira da provnc1a do ruo de Janeiro, 1850-1888. Campinas: Unicamp,
[lH.mimeogr. .
SOARES, Emanoe1Macedo. Hlstrlapol(#cadoestadodoRlo,1889-1975.Niter6i:
Imprensa Oficial, 1987.
SOARES, Emanuel de Bragana de Macedo. Raul Veiga no governo fluminense.
Niter6i: Museu Histrico do Estado do Rio de Jane.iro, 1978.
Feliciano. O idealismo fluminense e a sucesso discursos
proferidos no Senado Federal. Rio de Jane.iro: Tip. do Jornal do Commercio,
1929.
STANLEY, Miriam. A companhia agrcola Usina 'de Santa Maria: de um
caso. Niteri: UFF, 1983. dissertao.
STEIN, Stanley. Grandeza e decadncia do caf no Vale do Para(ba. So Paulo:
Braslliense, a.d.p.
TABORDAi BasUo et alo Nas vsperas de plBito (documentos poltiCOS). ruo de
Jane.iro: Jornal dO 1923.
TINOCO, Brgido. A vida de Nilo Peanba. Rio de Jane.iro: Jos 01ympio; 1962.
TOLENTINO, Jos. Nilo Peq..nba e sua vida pblica. Rio de Janeiro: Armando
Martins, 1930.
__ o Nilo obra poltica. Petrpolis: Armando Martins, [19-].
TRABALHOS da comisso do centenrio de Petrpolis. Rio de Janeiro, 1940.
1URNOWSKI, Salomon. A cafeicultura no estado do Rio de Janeiro. Boletim da
Conjuntura, Rio de Janeiro, FIDERJ, jan. 1978.
VASCONCELOS, Clodomiro; HlstriIJ do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,
1928.
VENEU, Marcos G. Enferrujando o sonho: partidos eleies no Rio de Janeiro: ,
1889-1895. Dados, n.30, 1987.
VIANA, Sonia Bayo Rodrigues. O engenho centralde Qulssaman, 1874-1904. So
Paulo:_USP, 1981. tese.
WERNECK, Franc.isco K1ors. Hstrtaegenealogiaflum/nense. Rio deJaneiro, 1947.
ZETI1RRY, Arrigo. A lavoura no estado do Rio. Jornal do Commercio, 14 jul. 1894.
Anexos
Capitulo 1
Anexo I (p . .1'71); Divisod:vdoestadodoRiode]aneiroem 1892.
Anexo n (p. 173): Diviso eleitoral distrital do estado do Rio de
Janeiro em 1893. '
Capitulo 2
Anexo I (p. 175); Receita arrecadada e despesa efetuada pelos
estados - 1897-1939, dados anuais.
Anexo II (p: 178): Receita arrecadada e despesa efetuada pelos
estados - 1897 1 9 ~ 6 __ resultados por decnios.
Captulo 3
Anexo I (p. 180): Quadro do ncleo reformista da elite poltica
fluminense-1898-1906.
Capitulo 5
Anexo I (p. 188): Quadro do balano da receita e despesa do
Imprio e RepbHca-1880-1930.
Anexo II (p. 192): Quadro da faco nilista articulada com a
poltica nacional 1915-1922.
Captulo 6.
Anexo I (p. 197): Quadro partidrio fluminense.
Anexo n (p. 201): Quadro de Comisses Executivas dos partidos
fluminenses-1888-1930.
CAPTUL01 .
ANEXO I
DIVISO CIVIL" DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO EM 1892
rea em distritos
Angra dos Reis' 728,53 6
Araruama 543,85
3
Barra Mansa 927,03 6
Barra de 5.Joo 631,57 2
Cabo Fro 885,27
3
Campos 3.675,47 15
Cantagalo 858,88 7
Capivari 649,10
3
Carmo 261,25
3
Duas Barras 356,74 2
Iguau 1.527,67
6'
Itabora 545,58 4
Itagua 511,98 4
Itaocara 349,90 3
Itaperuna 2.707,93 11
Maca 3.211,03 8
Mag 718,13 6
Maric 293,39
2
Niteri 254,42
9
Nova Frburgo 1.425,56 4
Paraba do Sul 1.114,88 7
rea em Km2 Nmero de distritos
Parati 911,26 2
Petrpolis
784,35 5
Pira 743,82
3
Resende 1.670,01 6
Rio Bonito
360,19 2
Rio Claro 506,69 2
Santana de Maeacu
796.45 2
Sta. Maria Madalena 800,03
3
Santa Teresa 419,38 4
Sto. Antonio de Pdua 685,85 6
So Fidlis 2.173,26 6
S. Feo. de Paula 824 4
S. Joo da Barra 1.790,25 5
S. Joo Marcos 644,31 4
Sapucaia 817,24 4
Saqu arem a 333,02 3
Terespolis 707,11 2
Valena
1.355,33 6
Vassouras 1.048,45 7
FONTE: Relatrio do diretor dos rwgcios do estado do Rio de Janeiro. 1892.
CAPITULO 1
ANEXO O
DIVISOELEllORALDISTRIl'ALDO ESTADO DO RIO DEJANEIRO,
DE ACORDO COM O DECREro NO 153, DE 3 DE AGOS'lO DE 1893:
1 g distrito -' Niteri (sede), Mag, ltabora, Rio Bonito, Capivari,
Bana de So Joo,. Prio, Araruama, Saquarema e Maric.
2
2
Campos (sede), Maca, Madalena, So Joo da Barra
e ltaperuna.
3
2
distrito- Cantagalo (sede), Pdua, So Fidlls, ltaocara, So
Francisco de Paula, Duas Barras, Carmo, Friburgo e Santana do Macacu.
4'1 distrito -Vassouras (sede), Sapucaia, Paraba do Sul, Pira, Itagua,
Iguau, Petrpolis e Teres6polls.
52 distrito -Resende (sede), Santa Teresa, Valena, Barra do Pira,
Barra Mansa, Rio Claro, Parati, Angra dos Reis e So Joo Marcos.
Esta diviso, detenninada por decreto estadual, foi concebida para
adequar-se diviso distrital determinada pela Cmara dos Deputados,
para efeito de eleies federais.
Pontes:- O Fluminense, 6 de agosto de 1893; Anais da
Assemblia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sesso de 17
de outubro de 1894, p. 217.
A partir de fevereiro de 1906 foi reestruturado o mapa que
reduziu de cinco pa,ra trs os distritos eleitorais, para eleies federais.
1
2
Distrito: Araruama, Barra de S. Joo, Bom Jardim, Capivari,
Iguau, Itabora, Mag, Maric, Niteri, Nova Friburgo, Petrpolis, Rio
Bonito, Saquarema, Santana de Japuba, So Pedro da Aldeia, Teres6polls.
2
2
Distrito: camPos, C3.ntagalo, Itaocara, ltaperuna, Maca, Cambuei,
Madalena, Santo Antnio de Pdua, So Francisco de Paula, So Fidlls,
So Joo da Bana, So Sebastio do Alto.
3
2
Distrito: Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Pira, Canno, Duas
Barras, Itagua, Mangaratiba, Parati, Paraba do Sul, Resende, Rio Claro,
Sapucaia, Santa Teresa, Sumidouro, S. J. Marcos, Valena e Vassouras.
Para as estaduais foi mantida a mesma diviso
anterior de 1893.
CAPTULO 2
ANEXaI
FINANASPBLICAS
RECEITA ARRECADADA E DESPESA EFETUADA PELOS
ESTADOS
1. Dados anuais - 1897/1939 - b) Nmeros relativos
ESTADOS (Concluso)
Bahia Esprito Rio de So Paran Santa Rio Mato. Gois Minas
ANOS Santo Janeiro Paulo Catarina Grande Grosso Gerais
do Sul do Sul
% da despesa sobre a receita
1897 119,1 107,0 99,9 118,3 137,8 99,5 125,4 101,5 94,8 98,6
1898 100,5 10,6 141,8 128,1 90,7 96,7 94,8 95,9 98,4 110,2
1899 132,1 151,1 141,8 85,2 119,8 91,8 103,8 131,2 101,2 94,9
1900 109,8 98,0 226,0 85,1 142,0 97,1 87,0 100,3 99,0 128,6
1901 102,1 103,8 191,2 100,0 115,1 99,6 94,9 285,5 88,3 105,3
1902 114,7 102,7 118,9 108,7 146,1 95,5 86,3 113,7 85,7 95,9
1903 127,6 93,2 152,3 119,.4 126,9 92,7 88,5 119,1 111,3 102,8
1904 116,6 104,8 82,1 84,2 103,0 97,3 94,8 96,9 109,2 94,0
1905 195,7 102,7 89,9
166,1 194,3 112,5 93,9
102,2 102,5 114,4
1906 111,3 110,5 95,3
104,4 152,4 99,2 90,5 99,7
81,4 127,1
1907 108,8 168,0 89,1 131,4 95,0 92,0 106,9 79,0 108,0 86,5
1908 132,9 131,7 103,9 159,3 110,9 105,3 104,4 104,8 105,4 120,2
1909 97,6 97,3 94,5 119,6 94,2 113,3 89,1 98,2 144,4 129,1
1910 119,4 112,3 91,8 152,1 105,0 108,3 97,3 68,2 111,0 140,3
1911 105,1 90,0 90,4 131,1 94,1 95,7 100,3 120,7 128,0 127,0
1912 100,9 109,1 80,9 127,8 100,0 95,0 98,7 83,1 94,4 79,8
ESTADOS (Concluso)
ANOS Gerais
% da despesa sobre a receita
1913 164,9 101,5 150,1 141,7 132,6 105,2 97,5 105,5 96,0
104,4 '
1914 112,0 108,1 157,1 152,4 151,5 118,7 110,8 110,3 121,2 123,4
1915 93,6 64,7 92,1 118,1 92,5 104,3 104,8 109,2 96,8 78,7
1916 71,9 99,8 99,3 109,1 176,8 94,5 89,2 105,5 99,3 87,9
1917 96,5 95,6 .89,4 118,5 144,7 95,2 83,7 96,7 83,1 86,1
1918 125,1 93,2 93,1 136,7 156,4 102,2 77,5 98,6 89,0 94,1
1919 106,4 51,3 73,7 117,7 142,6 111,4 76,9 92,6 57,6 76,8
1920 119,6 85,0 133,0 99,4 118,3 114,2 69,8 111,7 102,7 93,6
1921 122,4 80,8 113,4 110,8 87,1 105,4 68,2 134,2 128,0 103,0
1922 94,8 109,2 116,8 130,5 105,4 113,7 83,3 111,4 84,4
99,9
1923 98,2 94,1 93,2 115,0 100,8 131,5 145,7 62,7 78,0 80,3
1924 96,1 83,0 93,2 122,7 90,6 108,4 106,9 88,9 82,2 69,4
1925 110,4 104,1 114,5 115,1 87,8 94,6 92,4 101,2 102,6 76,4
1926 115,9 118,9 150,3 145,0
93,7
100,5 108,3 11,6 140,5 120,5
1927 115,8 142,1 288,2 147,2 120,7 100,9 98,4 123,7 91,2 94,8
1928 105,4 134,6 200,1 128,2 122,0 101,5 96,6 119,3 92,8 99,3
1929 121,9 129,6 238,9 141,0 185,9 92,3 95,5 139,1 133,2 88,9
1930 133,5 133,2 238,0 154,0 159,3 121,6 110,9 134,8 127,6 186,8
1931 87,3 84,1 165,5 154,3 118,4 97,5 98,1 144,7 96,6 119,4
1932 94,0 82,1 78,1 173,3 95,3 96,5 112,1 109,0
1933 105,9 127,6 81,2 137,2 95,9 105,8 9,6 112,7
1934 92,7 96,6 99,9 138,0 161,6 189,4 ,9 198,4
ESTADOS (Concluso)
Bahia Esprito Rio de So Paran Santa Rio Mato Goi:'i s Minas
ANOS Santo Janeiro Paulo Catarina Grande Grosso Gerais
00 Sul do Sul
% da despesa sobre a receita
1935 95,9 94,5 93,7 113,5 79,8 85,1 95,7 134,1 104,7 133,9
1936 80,4 99,8 117,1 106,2 85,4 121,6 90,9 71,3 105,9
125,8
1937 97,4 115,3 114,9 120,0 127,1 118,9 95,2
82,1 100,0 126,4
1938 117,8 98,0 86,1 125,7 106,1
97,3 107,5 79,0 98,3
121,5
1939 125,9 111 ,7. 113,9 122,8 94,6 93,4 98,6 83,5 106,7 100,7
FONTE, ANURIO estatstico do Bmsi!. 1939. p.1416.
CAPtruL02
ANEXO II
RESULTADOS POR DECilNIOS 1897/1936
COEFICIENTES -
ESTADOS % da receita sobre o total % da despesa sobre o total da
receita dos estados despesa dos estados
1897-1906 1907-1916 1917-1926 1927-1936 1897-1906 1907-1916 1917-1926 1927-1936
Amazonas 111,0 58,3 14,1 7,9 128,3 60,3 12,9 7,1
Par 107,5 62,9 19,7 16,8 99,1 59,9 23,8 14,0
Maranho 15,2 13,1 12,4 10,3 13,2 12,1 11,5 8,6
Piau 5,6 7,0 5,1 4,6 6,3- 4,5 4,4
Cear 17,2 18,5 16,9 13,8 15,8 16,6 14,7 11,3
Rio Grande do Norte 7,4 9,4 _ 10,1 9,9 6,6 8,9 10,9 8,5
Paraba 8,4 14,4 14,4 13,5 8,0 12,3 13,2 10,8
Pernambuco '55.4 57,1 55,2 49,4 53,8 48,7 49,8 43,2
....
,., {;.
.9 .8 12..4 1,.1,5
ll.
......
;
''',
........ ............. T _ .... _ __ ""''' __ " ...... __ " _.-._
'Sergipe 10,1 10,8 12,3 7,5 9,6 10,8 12,3 6,2 '
Bah 70,2 76,5 70,0 54,6 -74,6 73,1 70,0 46,6
Santo 18,6 17,9 31,5 28,9 18,0 16,5 27,7 26,0
Rio de Janeiro 56,4 51,1 49,2 39,6 65,9 47,6 49,5 47,8
S.o Paulo -292,6 303,5 344,8 377,9 291,6 354,2 391,5 429,4
Paran 19,1' '36,8 23,5'
26,,7 23,3 36,6 23,0 27;4
Santa Catarina 9,3- 11?7 18,1 15,0 8,1 10,6 . 18,2 13,9
Rio Grande do Sul- 62,8 80,4 125,0 143,5 53,4 70,7 115,4 111,9
Minas Gerais 106,1 133,9 149,2 157,1 99,7
122,8 ' 124,8 162,7
Gois 4,7 5,0 6,0 5,5 4,0 ' 4,8
5,3 .4,9
'Mato Grosso 9,1 18,2- 9,9 6,9 9,8 15,7 - 9,2 6,9
Total 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1;000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
FONI1!: ANURIO estatstico do Brasil. 1939. p.1416.
CAPTULo 3
ANEXO
NOCLEO REFORMISTA DA EUTE POLfTICA FLUMINENSE
Ncleo NucUn.cnto Pormalo Ar..ividade econmica Aluaio
dirigente <=01 .... profISSional - local
legislativa
Abelardo Campos bacharel negociante, advogado dep. esc (901)
Satumino DireilQ em Gampos
de Mello
Alberto 1865 bacharel ruo de Janeiro
dep. est. const:o
Torres O"bo,.O
Direito
(1892)
Antonio 1844 (MG) bach=1 advogado/ Canno senador
Augusto Direito
(Gov. Pootela)
Pereira
dep. fedo
de Lima 0900, 03, 06)
dep. proVo (div.leg)
Bulhes de bacharel Advogado/Pira
dep', est.
Carvalho Direito
(1901,04,07,16,19)
Oldefonso
Brant)
Carlos 1937 (Rll, bacharel banqueiro dep. fedo (1900)
Augusto +1912 Direito
dep. est,
O. Figueiredo SP senador (1904-1911)
Elysio Arajo
1868 (PE) bacharel prom. pb. dep. fedo
Direito (S. dep. fedo (1906)
CP. Recife) Otaocara-1891)!
deleg. pol. D. P.
(1895)/
lnsp. esooI. muni. (1987)
Brico Marinho d&adade bach=1 prem. pb.-Plral e RJ dep. fedo (1891, 94,
da Gama 60 Direlo SP/ ;.aiz muniGipal-Cabo Prio 97, 1900
Coelho
(CaboPrio) Mdico - advogado - Santos 1900, 03, 06, 09,
Fac. Med. RJ
12)/ .. n.
(6I08.)e(1914/192O)
Cargos Outras Ligaes Local de atuao _
executivos. informaaes familiares politica
:. secret. geral do es:. R.1 (1903)
membro da S.N.A. Campos
dep. fedo (1904)
mino interior ministro do STP Itabora,
gov. Prud. Moraes 8-12/96 Niteri
preso est. RJ (1898) e D.F.
vice-presidente do eStado liberal no imprio Carmo
do RJ
Pirai
,
pes. da provo Minas Gerais ministro do Tribunal de Valena
(1887) Contas (1892-1903)/min.
doSTP
chefe de polcia do est:. Niteri
do RJ (1903)
famOla de prop. Cabo Frio
1\1.l'lS em ,Ar.uwuna
Ncleo Nascimento
dirf8ente e local
Henrique 1869 (IQ) bacharel
Borges Direito SP
Monteiro
Henrique - 1869 (RJ) bacharel
carneiro L. Direito
Teixeira.
Joo Curvelo 1846 CRJ) bacharel
Cavalcante - Direito (fac.
Recife)
rnllb.r(coronel)
Jos P. R. 1869 (Sio bacJ'larel
Porto Sobrinho Joo Marrus)
Direito(fac.sP)
Luiz Alves O. 1850 (RJ) bacharel
Bello . Direito SP
Martinho MG bacharel
Direito Alvares da
Silva Campos
:Manuel Marlins 1843 (Rj) bacharel
Tones +1905 Direito
Nilo Peanha 1864 bacharel
(Campos) Direito
econ5mica
1- local
. prom. pb.
Cachoe ira(SP),
Vassouras 00/
super. eng. e juiz
(Vass.)
advocacia (Vass)
Petrpolis - proprietmo
rural
carreira na adminisrao
f.l.zendria advOOlCia (RJ)
promotor Oguau), e
juiz municipal,
advocacia (RJ)(Dp)
advocacia (SP)
magistrado
Rangel
Pestana
Iguau - bcharel jomalista/educador
1839 +1903 Direito (fac . .sP) vire-presidem.e do Banco
Repblica
Raul Pemandes 1877"
(Valena)
. bacharel magistrado
Direito (fac.-SP)
Atualo
dep. est.
(1898 a 1903)
dep. fedo
0903 a 1908)
vereador(VassOUnB)
dep. elt. 0901, 1904),
dep. fedo (903)
dep. est. (1895,
dep. est. 0901,
derna a.sgefJlb.
. dep. fedo (1909,12);
dep. prov. em Y<
diversas
fedo (1900)
dep. fed 0900-19(2)
senador, dep.
(1898-1901), dePJ
dep. fedo consto
(903), .
senadorC1903,
dep. provo (SP),
dep. fedo (1891,,;
92, 99, 1900) ,,:
senador (1890, 9f}{:
dep. est. 0904,
dep. fedo
12, 15)
Cargos Outras Ligaes Local de atuao
exeutivos lnfoItnaes familiares poltica
preso cam. munic. membro do 1
11
Vassouras
conselho superior
def. da S.N.A.
seactrio geral dO ~ do membro do cons. da neto do Marqus, Petrpolis
RJ (1905) ela naco de sego do Ptan e ftlho
mtuo contra fogo do Vise. de Cruz.
participou da guerra
do Paraguai
preso caro. muno Iguau parentesco farollia Iguau
(2 Trinios)/ seco ger. est. Cotrim (propriet.
RJ (1905-06) em Vassouras)
preso da prov. Sergipe passado Ub., membro nIhos d.o preso da Petr6poH,s
(1880-1881), preso provo do cons. insto pub. SNA e prop. rural -
Paran (1883-1884) em nit, intelec. Wenceslau O. Bello
seco do Interior e justia filho de conselheiro
(sov. ~ Torres) do imp. e lder
liberal
vice-govemador (1892) Niteri
preso est. RJ 0903, 19in Campos
vice-preso rep. (1906-10)
preso rep. (1910)
vice-gov. 0900-19(3) passado liberal. D.F.
intelectual
ftlho de prop. rur.
em Valena, neto
Vise. de Ipiabas
CAPTULo 2
ANEXOII
RESULTADOS POR DECANIOS - 1897/1936
COEFICIENTES
ESTADOS % da receita sobre o total % da despesa sobre o total da
receita dos estados despesa dos estados
1897-1906 1907-1916 1917-1926 1927-1936 1897-1906 1907-1916 1917-1926 1927-1936
Amazonas 111,0 58,3 14,1
7,9 128,3 60,3 12,9 7,1
Par 107,5 62,9 19,7 16,8 99,1 59,9 23,8 14,0
Maranho 15,2 13,1 12,4 10,3 13,2 12,1 11,5 8,6
Piau 5,6 7,0 5,1 5,4 4,6 6,3 4,5 4,4
Cear 17,2 18,5 16,9 13,8 15,8 16,6 14,7 11,3
Rio Grande do Norte 7,4 9,4 10,1 9,9 6,6 8,9 10,9 8,5
Paraba 8,4 14,4 14,4 13,5 8,0 12,3 13,2 10,8
Pernambuco 55,4 57,1 55,2 49,4 53,8 48,7 49,8 43,2
Alagoas 13,3 13,5 12,6 9,8 12,4 11,5 11,8 8,4
'4}
'-i;<!
10,1 10,8 12,3 7,5 9,6 10,8 12,3 6,2 .
Bahi 76,5 70,0 54,6 -74,6 73,1 70,0 46,6
Espr.i.to Santo 18,6 17,9 31,5 28,9. lS,O 16,5 27,7 26,0
Rio de Janeiro 56,4 51,1 49,2 39,6 65,9 47,6 49,5 47,S
S.o Paulo '292,6 303,5 344,8 3n,9 291,6 354,2 391,5 429,4
Para:n 19,1- 36,8 23,5' 26,7 23,3
'36,6- 23,0 27;4
Santa Catarina 9,3 11,7 18,1 15,0 .8,1 18,2 13,9
Rio Gtande do Sul 62,8 80,4 125,0 143,5 53,4 70,7 115,4 111,9
Minas Gerais 106,1
133,9 149,2 157,1 99,7 122,8 124,8 162,7
Gois 4,7 5,0 6,0
5,5 4,0 4,8 5,3 ,,9
-'Mato Grosso 9,1 18,2 9,9 6,9 9,8 15,7 9,2 6,9
Total l.(XX),O l.(XX),O 1.(XX),O 1.(XX),O l.(XX),O -1.000,0 l.(XX),O 1.(XX),O
FONTE: ANURIO estatstico do Brasil. 1939. p.1416.
CAPTULo 3
ANEXO
NCLEO REFORMISTA DA ELITE POTJCA FLUMINENSE
Ncleo Nascimento Formao Atividade econmica. Atuao
dirigente escolar profIssional - legislativa
Abelardo Campos bacharel negociante, advogado dep. est. (901)
Satumino Direito em Gwnpos
de Mello
Alberto 1865 bacharel Rio de Janelro dep. est. consto
TOITes OtaboraO Direito (1892)
Antonio 1844 (MG) bacharel advogado/Canno senador
Augusto Direito (Gov. Portela)
Pereira dep. fedo
de Llma (1900, 03, 06)
dep. proVo (div. leg)
Bulhes de bacharel AdvogadolPiraf dep: est.
Carvalho Direito (1901,04,07,16,19)
(Ildefonso
Brant) I
Carlos 1937 (RJ), bacharel banqueiro dep. fedo (1900)
Augusto +1912 Direito dep. est.
.o. Figueiredo SP
.'
Elysio Arajo 1868 CPE) bacharel prom. pb. dep. fedo
Direito (S. Fidl.-1889)/juiz dep. fedo (1906)
(F. Recife) (Itaocara-1891)/
delego poI. D. F.
(1895)/
insp. escol. muni. (1987)
Erico Marinho dcada de bacharel prom. pb.-Pira e RJ dep. fedo (1891,'94,
da Gama 60 Direito SP/ juiz municipal-Olbo Frio, 97, 1900
Coelho (Cabo Frio) Mdico - I advogado - Santos - 1900, 03, 06, 09,
Fac. Med. RJ 12)/sen.
(6 leg.) e (1914/1920)
--
- --
Cargos Outras Ligaes Local de atuao
executivos. infonnaes familiares poltica
secret geral do e&.. R] (1903) membro da S.N .A. Campas
dep. fedo (904)
mino ,interior ministro do STF ltabora,
gov. Prud. MoJ;'3.es 8-12/96 Niteri
preso est. R] (1898) e D.P.
vice-presidente do eStado liberal no imprio Cannb
do R]
Pira
da provo Minas GeJals mJnJstro doTrlbunal de Valena
(1887) Contas (1892-1903)/min.
do STF
chefe de polcia do esc. Niteri
do R] (1903)
famflia de prop. Cabo Frio
Ncleo Nascimento Atividade econmica Atuao
dirigente e local escolar profissional - local
Cargos Outras Ligaes Local de atuao
executivos Infon'naes familiares
Henrique 1869 CRD bacharel _ prom. pb. dep. est.
BorgC?s Direito SP Cachoeira(SP), (1898 a 1?03)
Monteiro Vassouras (RJ)! dep. fedo
preso cam. munic. membro do 1
11
Vassouras
conselho superior-
def. da S.N.A.
super. eng. e juiz (1903 a 19(8)
(Vass.) vereador (Va.ssuras)
advocacia (Vass)
,
Henrique 1869 bacharel Petropolis - proprietrio . dep.est(I901,l904)
Carneiro L. Direito rural
geral do e;gt. do membro do cans. da neto do Marqus Petrpolis
RJ (1905) da naco de sego do Parn e fIlho
Teixeira
mtuo contra fogo do Visc. de Cruz.
Joio Curvelo 1846 (Rl) bacharel Carreira na dep. fedo (1903)
Cavalcante- Direito (Cac. fazendria advocacia CRD dep. est. (1895,
participou da guerra
do Paraguai
Recife)
milb.r(coronel)
Jos p, R. 1869 (Silo bacharel promotor Oguau); e dep. est. (1901, 04)
Pprto Sobrinho Mart:Us) Dirito (Cac-SP) juiz municipal, Idernaasgemb. cons.
advocacia OO)(DP) , dep. fedo (1909,12)
preso cam. muno Iguau parentesco famlia Iguau
(2 Trinios)! seco gero est. Cotrim (propriet.
RJ (1905-06)
em Vassouras)
Luiz Alves O. 1850 CRD bacharel dep. provo em
Be110 Direito SP diversas legslaturas
dep. fed .. (1900)
pres .. da provo Sergipe passado Iib., membro fLlhos do preso da Petrpolis
(1880-1881), preso provo do cans. Inst. pub. SNA e prop. rural -
Paran (188-3-1884) em nit, intelec. Wenceslau O. &110
Martinho MG bacharel advocacia (SP) dep. red. (1900-1902)
Alvares da Direito
seco do interior e justia filho de conselheiro
(gov. A. Torres) do imp. e lder
SUva Campos
liberal
" .. ..
Manuel Martins 1843 CRj) bacharel magistrado senador, dep. est.
Torres +1905 Direito (1898-1901), dep,
vice-govemador (1892)
Niteri
. ..
Nilo Peanha 1864 bacharel , dep. fedo onst.
(Campos) Direito (1903),
- - 1912)
preso est. RJ (1903, 1!(17)
Campos
vice-preso rep. (1906-10)
preso rep. (910)
Rangel Iguau - bacharel jomallsta/educador dep. provo (SP),
Pestana 1839 +1903 Direito (fac.-SP) vice-presidente do Banco "ep. Ced. (1891,
vice-gov. (1900-1903) passado liberal, D.P.
intelectual
..
Repblica 92, 99, 1900)
- - senador (1890, 92)
Raul Pemardes 1877 ' . magistrado dep. (1904, 01)
(Valena) Direito (fac.-SP) dep. Ced. (1909,
12, 15)
filho prop. rur.
"
em Valena, neto
Vise. de Ipabas
Ncleo NasCimento Fonnao Atividade econmica Atuao
dirigente e local escolar profissional -. local legislativa
Cargos Outras . Ligaes Local de 3tuac
executivos informaes familiares poltica
Antonio P.etrpolis engenheiro propoietrio rural vereador (1897)
Flalho
CRD Petrpolis dep. fedo (1900)
vice-preso (1900-03) presidente da SNA Petrpolis
preso cmara municipal (1902-08) . .
(Petrpolis)
".
Americo 1855 engenheiro proprietOO rural MGIRJ dep. est. (1906.)
Werneck (Bem posta- civl dep. est. (1901) dep. fedo (1901)
RD
seCo ag,-:. 'obro pub. M;G
descendente do Bemposta,
(1898-190l)/pref. Lambari!
bario de Bemposta Paraba do Sul
cons. tec. obro pub. com.
INDR] (04-06)
;
Baltazar 1850 (RJ- engenheiro lente da escola naval dep. est.(1898, membro da SNA ltabora
Bemadino ltaboraO civl presidente IMGB 1901, 04)
Batista Pereira dep. fedo (1906, 09)
Raul Moraes 1878.(S. F. engenheiro eng. da comisso da dep. est. (1907) preso est. RJ 1918-22 filho de So F. Paula
Veiga de Paula- civil planta cadastral e dep. fedo 0906, 09)
RD saneamento de Niteri
p-opietrios rurais
de ~ P. de Paula
(1921-1925)
Francisco 1868 mdico (Fac. ver. (1898-1906)/ preso cam. muno Resende
Resende
Chaves O. (Mobtevidu Med.,R]) dep. est,(1901)/ 7101, 24/10/98 (1904-06)/
Botelho pres.As. Leg. (04-05)/ 1
2
V. preso est. RJ (03-07),
dep. fedo (1905, 07) preso RJ 01/11 a 31/12/06
no assumiu (910)
Hennogneo P. 1848 (So mdico vereador da corte
da Silva Gonalo) 1881-84
dep. est. (1892, 95,
seco obro pub. (1897-99)/ apreso como v e ~ descendente de Petrpolis
seco int. e justia (04/07 a projeto p/ ref. urbana proprietrios
17/09/99)/pres. cam. muno da coretldono do jom. rurais
1901)
preso ALER] (1900)
Petrpolis (aps 15/11) Gaz. de Petrpolis
(1898-99)
Joo Carlos 1854 (RJ) mdico medicina (bar. Manga) dep. fedo (1903) filho de Barra Mansa
T. Brando 1878-1880, prof. Fac. proptetrios
Med. (DF) 1883/dir. rurais
hosp. (1887-92) e varo
out. cargo medo (DF)
Joo Martins 1848 (RJ) mdico dir. adj. da Insp. Geral dep. fedo (900) intelectual
Teixeira (fac.1W de Higiene
Fidlis 1854 mdico, proprietrio rural dep. est. (1892 a presidente clma.ra. municfpio membro da SNA descendente de ltabora
Azevedo (ItaboraO militar (cor.) 1902) Itaborai proprietrios
Alves dep.fed. rurais
. .
Ncleo Nascimento Formao Atividade econmica
dirigente e local escolar profissional - local
Aral!;o Pinheiro
I (Carlos Jos)
1850 militar
Francrsao Petrpolls mililar (COronel,
Soares de
Gouveia
Manoel DF jornalista,
AntoniQ A. literato, poeta
Azevedo
Sobrinho
Barreto Duro:
Raymundo da
Camara
, F.ernando
Antonio
Ferraz
Mateus. Nogeira negod.an1e ind.
Brando de saco de
caf
PedtO G. da 1847 engenheiro proprietrio rural
Cunha em Co.irpbra
Mascarenhas
legislativa
dep. est. (const.)
1901, 04, 07
dep. fedo (1909)
dep: est. (1892, 95,
98)
dep. est. (1901)
dep. fedo (1905)
dep. est. (1895, 98)
dep. est. (1895, 98,
1901)
dep. est. (1901)
vereador, preso
. Cmara de Pira
dep. e'st. (1895)
dep. est. (1892, 95,
98, 1901, 16)
1
Cargos
executivos
militincia poHtica no
pelo partido
liberal
, ,
Outras
, informaes
.ahnlrante
II Ligaes
familiares
Local de atuao
poJftlca
descendente do I Petr6pols
Baro de ltamb
fundou o Jornal sobrinho do Baro I Niteri,
A Capital . de Itaocara ltabora
campanha p/mudana
da capital pe-
c;:mpregou colonos
estrangeiros
Cantagalo
I
parent. com os I Barra do Pirar
Souza' '
breves/filho de um
dos princ. prop.
rurals.
Petrpolis
CAPTULo 5
ANEXO I
QUADRO DO BALANO DE .RECEITA E DESPESA DO IMPRIO E DA. REPBUCA
Ano.VProvncias 1881 1884 1886 1888 1889 1890 1891
Estados
municpio da Corte 77 .388:950$089 88.580:468$214 116.821 $97$163 73.908:255$163 '88.499:925$835 121.H3:24O$245. 119.711:667$731
Distrito Federal
provo Rio de janeiro 467:442$949 446:871$390 717:151$432 449:753$309 488:260$541 588:948$646 166:990$867 .
est. Rio de Janeiro
prov. Esp. Santo 599:804$646 424:963$668 856:422$837 629 :967$017 972:886$835' 927:102$227 966:861$680
Est. Esp. Santo
provo Bahia 5.944:856$058 6.314:628$115 10.007:790$295 5.789:799$384 5.78i :738$394 6.958:320$537 8.687 :455$283
est. Bahia
provo Pernambuco 5.235:347$165 . 6.452:487$130 13368:136$873 . 7.365:477$595 7.654:600$988 6.740:092$154- 9.769:223$154
est. Pernambuco
provo Sao Paulo 2.412:270$5?1 2.833:088$338 4.918:683$485 3.267 :332$853 4.426:568$211 5.539:687$769 4.793:775$865
eEst:. Silo Paulo
prov. Minas Gerais 1.649:905$816 2.175:617.$020 2.996:108$760 1.855:784$217 2.146:079$709 2380:145$130 2.337:742$913
est. Minas Gerais
provo S. pedto 7.789:649$948 8.3n:152$047 12.168:632$260 7.573:413$171 ' 9.258:662$800 13.935:984$087 16.711 :719$794
est. R G. do Sul
.Ano.s/Provincias 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
Estados
Distrito Federal 178.978937$052 19).484968$599 243.D87 B36$599 220.746:426$727 299.324:156$956 269.085b34$lSO 5f:I).937 :204$061 2Q3.765:791$98B
: : P ~ ~ l
15:076$849 93:744$257 58:894$681" 69:637$177
1204:035$141 401 :432$515 694:422$515 4Q4:745$544 573:983$176 503:295$607 498:148$061 579:884$263
est. da -Bahia 7.992:175$413 8.320:173$129 10.307:667$783 8.265:232$266 11.075:314$107 12.252:480$490 8.358:062$868 7.410:429$683
est. Pemambucc 9.006:035$021 10.315:960$'649 11.164:132$442 14.489 :653$899 14.887:228$157 8.591; 756$880 7.645:219$446 5.859:429$683
est. S. Paulo 3.670:169$489 4.883:613$246 9.978:118$692 4.472:312$432 4577 :490$679 4.226:250$922 4.180;403$831 4.13B:905$959
eS:. Minas Gerais 2.149:368$073 1.895:305$834- 2.049:494$467 2.452:860$891 2.517:086$572 2.177:685$090 2.487:549$218 2.611:316$393
est. RG. do Sul 18.288:555$518 20.724:016$730 30.708:432$705 23.327 :072$454 23.
6
35:575$692 21.398:306$475 17.169:808$749 16.607:482$227
FONTE: BRASil.. MINIsTRIO DA FAZENDA. Balano da receita e despesa do Imprio e da Repblica; 1880-1930.
Anos/Provncias 1900 1901 1902 1904" 1906 1910 1912
.E'.stadOs
W'o Ouro Ouro W'o Ouro Ouro W'o
DiSt:rito Federal 9.654:017$034 5.900:938$969 1.192:235$230 4.786:662$526 2.872:387$428 '13.953:492$631 14,306:484$312
. Papel
Papel Papel
Papel Papel Papel
297.575: 132$881 199555:816"$952 173.656:405$836 295.985:015$102 333.814:425$390 486.722:436$743"
Papel . Papel Papel Papel
est.Rio de Janeiro 67:788$694 52:968$994 69:051$273 24:520$259
Papel Papel Papel Ouro Papel Ouro Papel
est. Esp. Samo 550:785$459 549630$368 566:986$003 1:953$523 591 :395$557 -901$380 1.691 :444$433
Papel Papel
562:071$339 1,324:580$293
Ouro Papel Papel Ow'-o Ouro Ouro Papel
est Bahia 466$343 . 7.986:478$357 7.655:990$267 137$418 1;604$757 1:422$240 18.066:810$684'
Papel Papel Papel Papel
7.452:215$405 7.531:408$939 8.097:149$065 9.476':898$546: _
Omo Papel Papel Ouro Ouro Ouro Ouro
. est. Perfta.mbuco 4:566$184 6573:028$770 6393:596$650 2:226$162 1:038$375 14:518$242 5:576$104
Papel Papel Papel Papel Papel
6.426:982$685 6.680:809$259 7.268:349$933 11.582:626$385 8,379:962$108
Papel Ouro Ouro Ouro Ouro Ouro Ouro
. est. So Paulo
4.527:975$159 1:690$079 226$675 3:776$938 1:789$228 10:276$862 6:069$842
Papel Papel Papel Papel Papel Papel
4.757:551$434 "5317 :598$695 8.954:113$155 '6.539:173$593 12.451:146$201 14.969:748$544-
.
Papel Papel Papel Papel Papel ' OUro Ouro
est. Minas Gerais 2.655:995$678 2.664:684$857 ,5.044:826$303' 5.044:826$303 6,324:265$596 308:338$512 728$888
Papel Papel
4.831 :976$309 6.029:637$861
Ouro Ouro Ouro Ouro Ouro
est. R G. do Sul 15'.801 :627$680 16.250;096$618 544$487 15$000 3:255$304 423$660 4:418$364-
Papel Papel Papel "Papel
.
16.498:999$335 18.936:158$922 17.927:882$168 21.566:333$371 6.029:637$861
CAP1VL05
ANEXOII
FACO NllllSTA ARl1CUIADA NA POII1CA FEDERAL - 1915 -1922
. 1
Nascimento Formao Atividade Econmica' Atuaf:o .
e local escolar Profissional-local legls ativa
I
lArthur de De pu t. Est. (1919)
Souza
Pres.da
Outras Liga8es Local de atuao
executivos fam' iares poltica
- :
r
Vassouras
I
'Antonlo 1864 Mdico Professornafaculdade Dep.Ped.C1818, 1921)
Augusto de ,Medicina no D.P.'
Azevedo
Sodr .
I.
Membro da D.P. Publicou vrios traba- DIretor geral
Oa sade academia Petrpolis lhos e fundou a revista
prefeito do nacional de Brasil Mdico
FF
medicina -
Conde MG Comerlanteindustriall SenadorC1918, 19 21)
Modesto Preso do banco
Leal hypotecado do Brasil
Prop. rural
I
Famlia pobre D.F.
ele Minas
I
\
Dep.Est.(191O
i
13,16)
Mariano Dep.Fed.C19'2 )
1
J>refeito de Niteri
Niteri
Francisco ' Comissrio de caf Dep.Est.(1913 16)
., Mu-ca-ldes Dep.Fed.C1918,21)
Machado
Junior
1881 J Militar I Jornalista I Dep.Fed.C1915,18,21)
duardo
Macedo
So,ares
I
RJ Bacharel Advogado Dep.Fed.C1912,15)
I1 olentino Direito
,I
FHh de Sapucaia
I
comissrio
I
de caf
Filho de prop. D.F. e Maric
rurais de
oIr;,rrcial
Araruama e _
Maric
I Niteri Publicou livros
{{jHo I
RJ Bacharel Advocacia (DF), Dep.Fed921)
'beiro Direito Prop. Usiha Quissam Dep.Est.CI913,16)
de Castro
Filho e neto Quissam
de usineiros
Laurindo I RJ I Dep.Est.
t
8 e 9-) ,
l.engruber Dep.Bst. 1913
8
10)
'Filho Dep.Fed.(191 ,30)
Descendente
I
de
ruraIS
Mano
Temis
eles d
A1mei
Mauri
de
Lacerda
Maur
Mede
I
I
Nascimento Forma
e Local escolar
. Bacharel
caIDfcs
(1 . 5) Direito
(Fac.de Recife)
Vassouras Bacharel
(1888) Direito
DF Mdico
Vassouras Bacharel
Atividade Econmica/
Atuafa
Profissional-Local legis ativa
I
Dep.Est.(1900
p
O,4J Promotor pblio
Advocacia (Pdua) Vereador em a ua
Diretor Imprensa (190105)
Nacional Dep.Fed.(1906)
Advocacia Dep. Fed.C1912,15)
(vassouras), l;>maHsta,
oficial de ga inete
da Presidncia da
Repblica (1910)
Professor da Dep.Est.(1919)
faculdade de Dep.Fed.(1921,27)
Medicina do DF
Vereador
Soares
Filho
Direito
Advogado
Dep.'Est.C19 13,16)
1877 Bacharel Raul
Fernandes ; (Vassouras) Direito
I
Raul
Veiga
I Silvio
r:
ge
1878 (S.Foo. Ensenheiro
de PaulaRD CiVIl
I
I Vassou,,", Bacharel
. . Dreito
Magistrado
Dep.Fed.(1909,12,15)
Dep.Est.C1904,07)
Engenheiro da Dep.Est.(1907)
comisso da Dep.Fed.(1909,12,15)
planta cadastral
e saneamento de
Niteri 0921-25)
Vereador
Dep.Est.
C1
904
07)
Dep.Fed.(193 )
FONTES: Anais da Assemblia Legislativa do estado do Rio de ]aneiro(1889-1930)
Dunshee de Abrantes - Governos e Congressos no Brasil
Almanaque Laemmert 1889-1930
Entrevistas com descendentes dos titulares
Arquivos privados Nilo Peanha, Quintino Bocaiva
I
!
OBS; As datas registraqas ao lado dos cargos legislativos correspondem ao incio de cada
mandato exercido.
Cargos Outras Liga8es
Local de atuao
executivos informaes fam' iares poltica
Pdua
:
Filho do dr. D.F.
Sebastio de Vassouras
no 1!l congresso Lacerda
sul-americano (min. do STF)
de estudantes
D.P. Publicou vrios
trabalhos
Vassouras
Eleito Filho -de PWe'
Valena Publicou vrios
rur. emVa etc
trabalhos
Vise. de Ipiabas
Pers.Est.R] Filho de
S. Fco. de
(1918-22)
rur.de S. co. Paula
de Paula
Membro da Filho de prop. Vassouras e Publicou vrios
SNA(Vice- rur. de Friburgo trabalhos
Presidente) Vassouras
CAPTULO 6
ANEXaI
QUADRO PARl1nARIo
novo 1888 Criao do Partido Republicano na provncia do RJ
ago. 1890 Partido Rep. Moderado (PRM) - conselheiro Paulino
abro 1891 Partido Autonomista Fluminense (P AF)
- J. T. Porcincu1a
- cons. Paulino
abro 1892 ~ a r t l d Republicano Fluminense (PRF)
set. 1893 Partido Republicano Federal
1896 Primeiro racha do PRF - defeco do grupo de Campos
fev. 1897 Organizao do Partido Autonomista (PorteHsta)
mar. 1897 Partido Republicano em oposio (Baro de Miracema) liga
Oposicionista
- Partido Autonomista
- Partido Republicano em
oposio ,
maio 1899 Segundo racha do PRF (sada do grupo de Alberto Torres)
23 jul 1899 Fundao do Partido Republicano do Rio de Janeiro CPRRD
1889 a 1903 Existncia do PRF e PRRJ
1902
1903
jan.1904
Racha do PRRJ - exc1uso do grupo de Petrpolis
Acordo de Nilo c/ PRF - desaparece a sigla PRRJ PRF o parti- I
do oficial e'lana a candidatura de Nilo
Reorganizao do PRRJ por Nilo Peanha. j eleito presidente
do estado
1909 Conveno do PRR]. que adota a sigla PRF, desaparecen-
do a primeira
1911 PRF se inr.egra ao PRC (de Pinheiro Machado), e passa a se
chamar Partido Republicano Conservador Fluminense, PRCF.
PRF pssa a ser a sigla de oposio
jul. 1913
1914
fev. 1914
1915
dez. 1915
jan. 1918
at
maio 1920
1919
- Miguel de Carvalho
- Alfredo Backer
- He.rmogneo Silva
PRCF - sigla da oposio - Backer e elementos Ugados
a Pinheiro Machado
PRF - situao
- OHvetra Botelho
- Nilo Peanha
Defeco de Oliveira Bote1ho do PRF
PRF indica a candidatura de Nilo Preso do estado
Desagregao do PRCF
- adeso dos deputados
a Nilo
- morte de Pinheiro Machado
Tentativa de criao da Oposio Constitucional Fluminense
(l3;rlco Coelho)
PRF fica sem Comisso Executiva
Suce.ss.ID de Pres. Rep. - a sJgJa PRF passa pias mos de Backer
- PRCE
- PRRJ
Miguel Carvallio
- Oliveira Botelho
- FeUciano Sodr
o grupo nili"ta adota
esta sigla
jan. I921
ouL 1923
1926
Eleies federais - aparecimento do Partido Trabalhista - PT
Eleies de Feliclano Sodr p/ preso do estado (}>RF)
Eleies ALERJ grande derrota dos nlllstas (}>RRJ)
Eleies federais - PRF - situao
Reorganizao do PRRJ - nlllstas
1927 Clsilo do PRRJ
- nUistas vermelhos
- nlllstas acordlstas
j'm. 1927 Criao do Partido Democrtico Fluminense (}>D)
ago. 1927 Criao do Partido Republicano Rural (}>RR)
CAP!ruLO 6
ANEXO II
QUADRO DE COMISSES EXECUTIVAS DOS PARTIDOS
FLUMINENSES
, Agremiao
o.ta Membros Periodi- N"de Informaes
cidade membros Complementares
P.Rep. da 3 nov preso Silva Jardim 03
Provincia do 1888 seco Alberto Torres
RJ
teso Ant. Purquim
Wemeck Almeida
Francisco Portela
VirgiBo Pes.soa
Tefllo de Almeida
Santos Wemeck
PR 15 abro pres.: Silva Jardim 04
1890 Francisco Santiago
Te6fl1o de Almeida
Part. Rep. 1 ago. preso Cons. Paulino
Moderado 1890 So';1u
(ex-monar- seco Visconde de
quisW) Quls.sarnl
Qx\o. Qrlosde
Martlru Rocha
Partido 13 abro Batista da Mata - 03
Autonomista 1891 dep.fed . "'p.
Flum. Alberto Torres -
rcp. hLst.
Fonseca Portela -
rep. do PRM
PRP 24 abro Qrlos Fl<CIerico Casrio<o 06 Os trh primeltos
1892 Paulino Soares
pertenceram ao Part.
Souza]r. !lep. Moderado
Manoel Fen<ira de Matos
Pelix Morein.
Jose Barros Pranco Jr.
Alberto Torres
Agremiao Data Membros Periodi- NEIde Informaes
cidade membros Complementares
PRF 30ago. Quintino Bocaiva 1 ano
1893 Bento Carneiro
Alberto Torres
Paulino Jr.
Ponce de Leon
Francisco Santiago
Emestro BrasUio
PRF 10 fev. Porclncula
1895 (chefia nica)
PRF 30.set. J. Porcincula (pres.)
3
061
1
racha do PRF -
1896 Martins Torres com a defeco
(1" dist.) do grupo de Campos
Vise. Qulssam
( ~ dist.)
Miguel de Carvalho
( ~ dist.)
Hermogneo Silva
(4"1 dist.)
J o ~ Ba..rcelos (5!l dist.)
PRP maio Mauricio Abreu (pres.) 06
1899 Fonseca Portela (sec)
Seb,astio Lacerda
(dep. fedo e seco ag.)
Vitrio Pareto
(dep. fedo 2" distr.)
Paulino J. S. Souza Jr.
(der. 5" dist)
Miguel Caravalho
( ~ distr.)
PRRJ maio Martins Torres (lQ distr.)
OS Representao distrital;
1899 Baro de Miracema no teve presidente;
(2" distr.) (incorpora grupo de
Augusto Ferreira lima Campos)
(3
12
dlstr.)
Barros Franco (41' distr.)
Alfredo Whately
(52 distr.)
Agremialo Data Membros Periodi- N" de Infonnaes
cidade membros Complemenu.res
PRRJ jan. Barlo de Miracema 07 Excluslo do grupo de
1904 Olivein. Botelho Petrpolis
Laurindo Pina
Henrique Borges
Jo10 Batisu. Pereira
Santbs
Leopoldo Teixeira Leite
Belizrio Augusto
Soares Souza
PRR,1 dez. Bat.lo de Miracema 2 anos 09
1905 Francisco M. M. Jr.
(40 disto Sapucaia)
Galdino do VaIe
(3 dist. Priburgo)
Antonio Leite Pinto
(Valena)
j010 Lopes da Silva
(510 Pidelis)
Julio Braga
Luis Correia da Rocha
PRP
fev. Nil9 Peanha
07
1911
Quintino Bocaiva
e o grupo nilisu. adota
Oliveira Figueiredo
a sigla PRP.
Baro de Micacema
Os trs ltimos eram
Joio Guimarles
vice-presidentes da
AntonloRibeiroVelho
Estado.
Avelar
AlfredoLopesMartins
PRCP 1911
peso Quintina a::x:liva PRP integra-se ao Parto
1912 preso Nilo Peanha Rep. Conservador,
comandada par
Pinheiro Machado.
PRP 1912 Bemardlno Torres da 05 PRP passa a ser a sigla
Costa Franco
da opas lao dominada
LulsdeCarvalhoMelo
por de Carvalho e os
AntonioFerreiraRabelo
descendentes de
.s6diokoujoPadllha
Paulino Soares de
I ros da Qmha Peneira
So uza
Agremialo Data Membros Periodl- N'de Informaes
cidade membros Complementares
PRCF mar. Nilo Peanha (Pres.)
04
1913 Batia de Mir.u:ema
(sen.)
Raul Femandes
(dep. fed.)
Joio Gulmaries
(v. peso esL - dep. est.)
PRF jul. PRF passa a ser a sigla
1913 dos nilistas
PRCF lu!. PRCF passa a ser a
1913 sigla dos elementos
que antes usavam a
sigla PRF
cp. Cons. dez. Erlco Coelho Dissidncia do PRCF
Plum.
1915
PRF
13mal< Jo1o Gulmat1es - 08
1916 dep . ....
Raul Pem2ndes -
dep. fedo
Batia de Miracema -
.. n.
Raul Veiga
J. E. Macedo Soares
Conde Modesto Leal
Buarque Nazareth
Francisco Guimaries
PRF 18 jun.
1917
PRF jan. Terminou o mandato
1918 e nio foi eleita outra
Com. Exec.
Ag<emlaio Data Membros Periodl- N" de Infonnaes
cidade membros Complementares
PRP maio Ramlro Braga 2 anos 05 Aps a conven1o o
1920 T=-deA1meida gruponilista abandonou
Francisco Marconds a sigla PRF e adotou a
Raul Pernandes
sigla PRIV.
Raul Veiga - preso
PRP 1919 Backer
07 Backer passa a usar a
Henrique Borges sigla PRF.
Paulino Soares NlIo h notcias de
Joaquim Moreira formalizal0 partidria
Paria Souto (Base S. Gonalo, Nlte<6I,
Abreu Lima ltabol1li, Bam Mansa)
Norival Preitas
PRCP 1919 Miguel de Carvalho
05
Oliveira Botelho
Feliciano Sodr
Galdino do' Vale Pilhe
Rverardo Backheuser
PT 1921 Luis Guaran Partido de plantadores
de cana e usineiros.
PRIV
abro o ~ TolenLino 2 anos 05 Nilista
1922 Rarniro Braga
Ternlstocles de Almeida
Praricbco Maroondes Jr.
Domingos M:lrillno
PRP ago. Mlgud de Carvalho 2 anos 11 Reesttuturaio do PRP
(pr<s.) que se tomou o partido
Joaquim Moreira(vice onelal e incorporou o
Oliveira Botelho (vice) PT e o PRCP - criaio
Natival de Preitas da lei orgnica do
Horcio Magalhes partido.
Manoel Duarte
Henrique Borges
Jos de Mones
Galdno do Vale Filho
Paria Souto
Luis Guaran
Agremia10 Data Membros Periodi- NR de InformaOes
cidade membros Complementares
Par<. da lloov. AnI:nio Pereira Quares 04 Articulado ao Partidoda
Mocidade
1925 Emesto Lima Ribeiro Mocidade Bras.
Campos Luis Sobral
0svaJd0 Gudoso de
Mello
PRRJ
abro Raul Veiga 12 Ree.struturalo do PRRJ
1926 Temisroc1es de Almeida
Azevedo Sodr
Mauricio Medeiros
Slvio Rangel
Joo Guimares
Francisco Marcondes
Eduardo Cotrim Pilho
Jlio Silva Araujo
Everardo Backheuser
Arthur Leandro Corte
Mauricio Lacerda
PRP de . Oliveira Botelho 2 anos 11 PRP incorporou parte do
Manuel Duarte
PRRJ
Miguel de Carvalho
Joaquim Moreira
Miranda Rosa
Galdino do Vale Pilho
Horcio Magalhles
Nariva! Freitas
Paria Souto
o ~ de Moraes
Thiers Cardoso
PD - Partido jun. Vicente Moraes 04
Democdtico 1927 Jlio Cesar Luterbach
Othon [.eonard
Alfredo Clodoaldo
Oliveira
PRR - Partido jul. Sebastilo Monernt Pundaio do partido
Luterbach para lutar em Duas
Orestes Neves Barras, BornJardirn, S10
Eugnio Luterbach Prancisco de Paula
contra apoltica cafeeira
do governo
Agremialo 02 .. Membros Periodi- N'de Inronnaes
cidade membros Complementares
PRP 14jul. Thlers. Cardoso 2 anos 11 Incorpora uma parcela
1928 Oliveira Botelho do PRRJ
Peliciano Sodr
Miguel de Carvalho
Joaquim Moreira
Miranda Rosa
Galdino Pilho
Horcio MagalM.es
Nocival Preitas
Pari a Souto
Jos de Moraes
Agradecimentos
Este traballio foi originalmente apresentado como tese de
doutorado em Histria na Universidade Federal Fluminense em
outubro de 199L Algumas alteraes foram feitas para adequ-lo s
exigncias de publicao, sem que contudo fosse modificada a
sua estrutura original. Devo especial agradecimento a Ismnia Lima
Martins, orientadora desta tese, e tambm a Angela Maria de Castro
Gomes, Maria Brbara Levy, Eduardo Kugelmas e Maria de Lourdes
Janotti, que flZeram parte da banca examinadora e apresentaram
inffieras sugestes que foram aqui incorporadas,
CAPES, que atravs do Programa de Ps-Graduao em His-
tria da UFF concedeu-me uma bolsa de estudos, pelo auxlio trazido
preparao desta tese.
Desejo expressar ainda minha gratido:
direo do CPDOC, de cujo corpo de pesquisadores fao parte, nas
pessoas deA!ziraAlves deAbreu, Lcia Lippi Oliveira,Maria Gelina Soares
D'Arajo e Angela de Castro Gomes, pelo apoio institucional e confiana
fundamentais para a realizao deste trabalho;
aos colegas Mnica Kornis e Slvia Pantoja e Mrio Grynzpan, pelas
sugestes e criticas a alguns captulos;
Nazareth Vargas e Adolfo A. Breves, e s bbliotecrias Margareth
Tavares e GlriaMafil!,Moreira Valim, pela boa vontade constante e presteza;
aMarilia doAmparo e Tania Maria Oliveira pelo trabalho de digitao,
feito com competncia e ateno;
ao estagirio Gilberto Fernandes, que durante um ano de traballio
revirou arquivos para descobrir informaes e atender meus pedidos, sem
nunca colocar obstculos ou dificuldades;
aJos Luiz Werneck da Silva, meu amigo e colega de doutorado, que
partilhou comigo as angstias de fazer uma tese;
a Hebe de Castro, com quem discuti algumas questes relativas
economia fluIl1llense' num momento crucial de dvidas sobre
esta pesquIsai
amiga Dora Rocha, que om sua pacincia viu e reviu os originais
deste trabalho, contribuindo para a maior clareza e coerncia do textoj
a Annelle Enders, que conheci ao longo deste processo de feitura
da tese, pela possibilidade da troca de experincias e pela amizadej
a meus alunos do Curso de Histria do Instituto de Filosofia e
Cincias Sociais da UFRJ, que mesmo sem o saber foram interlocu-
tores constantes na realizao deste trabalho.
A todos os meus amigos e rrnhafamlia, especialmente Diney, Isabel
e Vicente que torceram para que eu chegasse ao fun, meu muito obrigado.
Capa
Elizabeth Lafayene
Projeto Grfico
janise Duarte
Editorao Eletrnica
Clementino )r.
Daniela Carbone
Reviso
Isabel Grau
Papel miolo
Offset 75g/m'
Papel capa
Offset 180g/m'
Impresso
Folha Carioca Editora
Você também pode gostar
- Redes Governativas e Práticas Administrativas no Governo de Gomes Freire de Andrada: Capitania de Minas Gerais, 1735-1763No EverandRedes Governativas e Práticas Administrativas no Governo de Gomes Freire de Andrada: Capitania de Minas Gerais, 1735-1763Ainda não há avaliações
- Da tradição coimbrã ao bacharelismo liberal: Como os bacharéis em Direito inventaram a nação no BrasilNo EverandDa tradição coimbrã ao bacharelismo liberal: Como os bacharéis em Direito inventaram a nação no BrasilAinda não há avaliações
- Debates sobre Educação, Ciência e MuseusNo EverandDebates sobre Educação, Ciência e MuseusAinda não há avaliações
- O Tempo do Lyceu em Goiás: Formação Humanista e Intelectuais (1906-1960)No EverandO Tempo do Lyceu em Goiás: Formação Humanista e Intelectuais (1906-1960)Ainda não há avaliações
- Odisseia de um general do povo brasileiro e de sua geração intelectual: Testemunho de Olga Sodré sobre o combate cultural de Nelson Werneck SodréNo EverandOdisseia de um general do povo brasileiro e de sua geração intelectual: Testemunho de Olga Sodré sobre o combate cultural de Nelson Werneck SodréAinda não há avaliações
- Do Sertão à Cidade: Política e a Questão Social em Amando FontesNo EverandDo Sertão à Cidade: Política e a Questão Social em Amando FontesAinda não há avaliações
- Jardim de Infância em Goiás: Nas Tramas do Processo CivilizadorNo EverandJardim de Infância em Goiás: Nas Tramas do Processo CivilizadorAinda não há avaliações
- A crônica no século XIX: Historiografia, apagamento, facetas e traços discursivosNo EverandA crônica no século XIX: Historiografia, apagamento, facetas e traços discursivosAinda não há avaliações
- Resistir para existir: O samba de véio da ilha do MassanganoNo EverandResistir para existir: O samba de véio da ilha do MassanganoAinda não há avaliações
- Abrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsNo EverandAbrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsAinda não há avaliações
- O Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)No EverandO Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O Boulevard da República: Um Boulevard-Cais na AmazôniaNo EverandO Boulevard da República: Um Boulevard-Cais na AmazôniaAinda não há avaliações
- A tragédia de Sísifo: Trabalho, capital e suas crises no século XXINo EverandA tragédia de Sísifo: Trabalho, capital e suas crises no século XXIAinda não há avaliações
- A Lírica de Leodegária de Jesus: devaneio poético e imagemNo EverandA Lírica de Leodegária de Jesus: devaneio poético e imagemNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Imprensa NegraDocumento210 páginasImprensa NegraBruno JeukenAinda não há avaliações
- SimoensenDocumento387 páginasSimoensenCletrhaAinda não há avaliações
- O Nome e A Coisa o Populismo Na Política BrasileiraDocumento68 páginasO Nome e A Coisa o Populismo Na Política BrasileiraStefan Gerzoschkowitz100% (1)
- Os intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasNo EverandOs intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasAinda não há avaliações
- RODRIGUES, Marly. O Brasil Na Década de 1920 PDFDocumento88 páginasRODRIGUES, Marly. O Brasil Na Década de 1920 PDFAlessandro Leonardo Rodrigues SilvaAinda não há avaliações
- Estudos Econômoicos v. 17 N. Especial (1987) - O Protesto Escravo IDocumento142 páginasEstudos Econômoicos v. 17 N. Especial (1987) - O Protesto Escravo IPedro Henrique Garcia Pinto De AraujoAinda não há avaliações
- SIMONSEN, R. A - Controvérsia - Do - Planejamento - Na - Economia - Brasileira - 3ed PDFDocumento202 páginasSIMONSEN, R. A - Controvérsia - Do - Planejamento - Na - Economia - Brasileira - 3ed PDFRafaelDukeGijoeAinda não há avaliações
- 1.1. Alberto Torres - O Problema Nacional BrasileiroDocumento178 páginas1.1. Alberto Torres - O Problema Nacional BrasileiroMarcelo SevaybrickerAinda não há avaliações
- Elites e Vadios na Imprensa: Histórias da Educação e Violência na Primeira RepúblicaNo EverandElites e Vadios na Imprensa: Histórias da Educação e Violência na Primeira RepúblicaAinda não há avaliações
- O Arcaísmo Como Projeto. Introdução. Fragoso, João. Florentino, Manolo. 2001Documento18 páginasO Arcaísmo Como Projeto. Introdução. Fragoso, João. Florentino, Manolo. 2001Gabriel CrivelloAinda não há avaliações
- GF 24 PDF - Ocr - Red PDFDocumento312 páginasGF 24 PDF - Ocr - Red PDFLuigi AmendolaAinda não há avaliações
- Sociedade e Estado Na Filosofia PoliticaDocumento184 páginasSociedade e Estado Na Filosofia PoliticaMarcio CarvalhoAinda não há avaliações
- Ebin - Pub Vida Privada e Quotidiano No Brasil Na Epoca de D Maria I e D Joao Vi 2a Ed 9789723309157 9723309157Documento213 páginasEbin - Pub Vida Privada e Quotidiano No Brasil Na Epoca de D Maria I e D Joao Vi 2a Ed 9789723309157 9723309157Jéssica IglésiasAinda não há avaliações
- Nas tramas da "escassez": O comércio e a política de abastecimento de carnes verdes em Belém 1897-1909No EverandNas tramas da "escassez": O comércio e a política de abastecimento de carnes verdes em Belém 1897-1909Ainda não há avaliações
- Escravo e Proletário Na História Do Brasil - Peter Louis EisenbergDocumento15 páginasEscravo e Proletário Na História Do Brasil - Peter Louis EisenbergAgnus LaurianoAinda não há avaliações
- Maria de Lourdes M. Janotti - O Coronelismo - Uma Política de Compromissos-Brasiliense (1992)Documento84 páginasMaria de Lourdes M. Janotti - O Coronelismo - Uma Política de Compromissos-Brasiliense (1992)Lucas AraújoAinda não há avaliações
- Historiografia Sobre A Escravidão em Goiás Lugares de ProduçãoDocumento15 páginasHistoriografia Sobre A Escravidão em Goiás Lugares de ProduçãoPesquisaUEG100% (2)
- Círculo De FerroNo EverandCírculo De FerroAinda não há avaliações
- 5 - O Feudalismo Economia e SociedadeDocumento16 páginas5 - O Feudalismo Economia e SociedadeAlessandro Zelinhevis100% (2)
- 378 PDF - Ocr - RedDocumento154 páginas378 PDF - Ocr - RedESILZANETH zilAinda não há avaliações
- Lucia Maria Bastos - Corcundas Constitucionais (Marcado)Documento15 páginasLucia Maria Bastos - Corcundas Constitucionais (Marcado)CaelenAinda não há avaliações
- A Margem Do Abismo - Wanderley Guilherme Dos SantosDocumento115 páginasA Margem Do Abismo - Wanderley Guilherme Dos SantosJuAinda não há avaliações
- ANGELI, Douglas Souza. Do Populismo A Experiencia Democrática PDFDocumento23 páginasANGELI, Douglas Souza. Do Populismo A Experiencia Democrática PDFMárcio PereiraAinda não há avaliações
- Estados Unidos Do Brasil - Élisée ReclusDocumento512 páginasEstados Unidos Do Brasil - Élisée ReclusRenan TokkiAinda não há avaliações
- A história de amizade, de companheirismo e de confiança entre Laurentino Martins Rodrigues (pai), fundador de Goianésia, e João Martins Rodrigues (filho)No EverandA história de amizade, de companheirismo e de confiança entre Laurentino Martins Rodrigues (pai), fundador de Goianésia, e João Martins Rodrigues (filho)Ainda não há avaliações
- Silva, Anderson Dantas - em Nome Dos Interesses PDFDocumento266 páginasSilva, Anderson Dantas - em Nome Dos Interesses PDFElaine AmadoAinda não há avaliações
- 01-Luciano Figueiredo Narrativa Das Rebeliões PDFDocumento22 páginas01-Luciano Figueiredo Narrativa Das Rebeliões PDFtalespintoAinda não há avaliações
- Sonhos revolucionários e pesadelos ardentes: El machete, a classe operária e a luta da imprensa comunista mexicana e brasileira (1920 – 1930)No EverandSonhos revolucionários e pesadelos ardentes: El machete, a classe operária e a luta da imprensa comunista mexicana e brasileira (1920 – 1930)Ainda não há avaliações
- Revista Temporalidades - 2Documento255 páginasRevista Temporalidades - 2temporalidadesAinda não há avaliações
- Ressignificando A DemocraciaNo EverandRessignificando A DemocraciaAinda não há avaliações
- Dossier Temático Padre António Vieira Ana Nunes Ines DragoDocumento17 páginasDossier Temático Padre António Vieira Ana Nunes Ines Dragomario191Ainda não há avaliações
- RIO VERDE OS CAMINHOS DE NOSSA HISTÓRIA e seus ciclos econômicosNo EverandRIO VERDE OS CAMINHOS DE NOSSA HISTÓRIA e seus ciclos econômicosAinda não há avaliações
- RELIGIÃO, TRADIÇÃO E CULTURA NA LENDA DO BOI DE OURO NO MUNICÍPIO DE ANICUNS, GOIÁSNo EverandRELIGIÃO, TRADIÇÃO E CULTURA NA LENDA DO BOI DE OURO NO MUNICÍPIO DE ANICUNS, GOIÁSAinda não há avaliações
- Província Imensa e Distante: Goiás de 1821 a 1889No EverandProvíncia Imensa e Distante: Goiás de 1821 a 1889Ainda não há avaliações
- FALCON, Francisco José C. Da Ilustração À Revolução Percursos Ao Longo Do Espaço-Tempo SetecentistaDocumento166 páginasFALCON, Francisco José C. Da Ilustração À Revolução Percursos Ao Longo Do Espaço-Tempo SetecentistaGlauco M. Dos SantosAinda não há avaliações
- 1930 - 1945 - Era VargasDocumento98 páginas1930 - 1945 - Era Vargaspablo_tahimAinda não há avaliações
- HARTOG, François. Crer em História. Capítulos 3 e 4Documento97 páginasHARTOG, François. Crer em História. Capítulos 3 e 4Everaldo BritoAinda não há avaliações
- As ideias e os fatos: Ensaios em teoria e HistóriaNo EverandAs ideias e os fatos: Ensaios em teoria e HistóriaAinda não há avaliações
- FALCON, Francisco RODRIGUES, Claudia. A Época Pombalina No Mundo Luso-BrasileiroDocumento532 páginasFALCON, Francisco RODRIGUES, Claudia. A Época Pombalina No Mundo Luso-BrasileiroRenato MoraesAinda não há avaliações
- Imaginários, Poderes e Saberes: História Medieval e Moderna em DebateNo EverandImaginários, Poderes e Saberes: História Medieval e Moderna em DebateNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- LYNCH Cultura Politica BrasileiraDocumento16 páginasLYNCH Cultura Politica BrasileiraGuilherme CamfieldAinda não há avaliações
- Día Mundial Do CaféDocumento1 páginaDía Mundial Do CaféCeciliaCabreraAinda não há avaliações
- RicoeurianaDocumento279 páginasRicoeurianaLeoTron25100% (1)
- Historias Das Ideias LinguísticasDocumento19 páginasHistorias Das Ideias LinguísticasCarla Cristina100% (1)
- Patricia Rossi CarraroDocumento339 páginasPatricia Rossi CarraroRaquel Santos PalmaAinda não há avaliações
- Prova e GabaritoDocumento6 páginasProva e Gabaritogilima2010Ainda não há avaliações
- Relatorio - Parcial - Olavo - Matheus-Passos - PIBIC - UFS - 2021 - 22Documento3 páginasRelatorio - Parcial - Olavo - Matheus-Passos - PIBIC - UFS - 2021 - 22LeoHilAinda não há avaliações
- Ana Farias Hirano Dissertacao FinalDocumento281 páginasAna Farias Hirano Dissertacao FinalRafael SouzaAinda não há avaliações
- 2 Série 4 BiDocumento44 páginas2 Série 4 BiFrost FFAinda não há avaliações
- Minha Casa Minha VidaDocumento88 páginasMinha Casa Minha VidaEstevam GuimaraesAinda não há avaliações
- Prova 2022Documento24 páginasProva 2022Ana Carolina SiqueiraAinda não há avaliações
- Procedimentos Básicos para A Certificação Fitossanitária: Frutas Do Brasil, 5 Abacaxi Pós-ColheitaDocumento2 páginasProcedimentos Básicos para A Certificação Fitossanitária: Frutas Do Brasil, 5 Abacaxi Pós-ColheitaDANNY ALEXANDREAinda não há avaliações
- Rupm 2016Documento4 páginasRupm 2016ney rorizAinda não há avaliações
- Avaliação de Geografia 3º Ano "A"Documento3 páginasAvaliação de Geografia 3º Ano "A"Flavio Toledo DE SouzaAinda não há avaliações
- ESA Questões ComentadasDocumento27 páginasESA Questões Comentadastosatti.yago.ytAinda não há avaliações
- Magnoli Demetrio. O Corpo de Patria - ImDocumento3 páginasMagnoli Demetrio. O Corpo de Patria - ImMatheus RaimündiAinda não há avaliações
- GPC Novos-Pastelaria PDFDocumento21 páginasGPC Novos-Pastelaria PDFNuno AlvesAinda não há avaliações
- Plantas Medicinais - Mara Zelia de AlmeidaDocumento302 páginasPlantas Medicinais - Mara Zelia de AlmeidaEder Luiz100% (2)
- Boletim-de-Ocorrência MGDocumento3 páginasBoletim-de-Ocorrência MGGabryel Vitor0% (1)
- Indicadores Culturais e o Patrimônio ImaterialDocumento14 páginasIndicadores Culturais e o Patrimônio ImaterialAndreia Costa100% (1)
- Sales PecuáriaDocumento8 páginasSales Pecuáriakara caraAinda não há avaliações
- O Trato As Margens Do PactoDocumento279 páginasO Trato As Margens Do PactoMichelineAinda não há avaliações
- Fichamento Aula 03 - Educação e Direitos HumanosDocumento4 páginasFichamento Aula 03 - Educação e Direitos HumanosEduardo Santana Medeiros AlexandreAinda não há avaliações
- CEMIG Organograma 28-02-2015Documento1 páginaCEMIG Organograma 28-02-2015scribd8885708100% (1)
- GlossárioDocumento8 páginasGlossárioharleyAinda não há avaliações
- Nu 984762089 01set2022 30set2022Documento8 páginasNu 984762089 01set2022 30set2022Emerson GodoiAinda não há avaliações
- Diretrizes de SaúdeDocumento60 páginasDiretrizes de SaúdeThalles AroucaAinda não há avaliações
- Agente - Comunitario - de - Saude (5) - eDocumento13 páginasAgente - Comunitario - de - Saude (5) - eThe HackerAinda não há avaliações
- COELHO 2006 Crisp Seguranca PrivadaDocumento72 páginasCOELHO 2006 Crisp Seguranca PrivadaFabricio LopesAinda não há avaliações
- Lista Dos Contemplados Fase 3 Pre Matricula 2021Documento92 páginasLista Dos Contemplados Fase 3 Pre Matricula 2021Júlio CésarAinda não há avaliações
- As Religiões Africanas No BrasilDocumento9 páginasAs Religiões Africanas No BrasilGiulia BenvenutiAinda não há avaliações