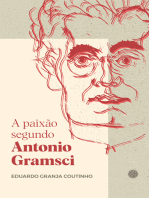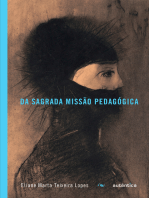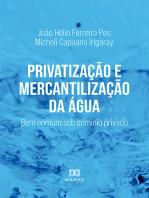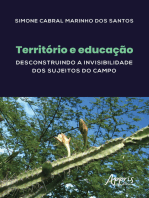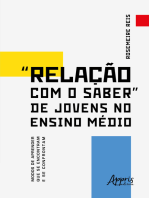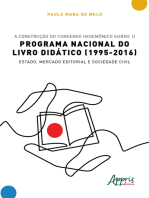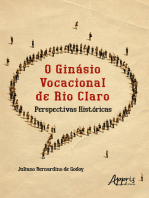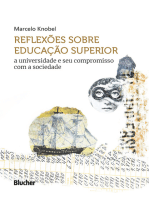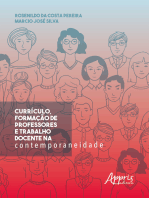Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Feati - Resenha Pedagogia Esperanca
Enviado por
Andre Luiz Dos SantosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Feati - Resenha Pedagogia Esperanca
Enviado por
Andre Luiz Dos SantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
2
RESENHA: PEDAGOGIA DA ESPERANA
VIDA, SONHO E OBRA SE JUNTAM
1
Marta Virgnea machado Klein
Pedagogia da Esperana, 245 pginas, de Freire, Paulo Reglis Neve, So
Paulo: Paz e Terra, 2000.
Paulo Freire (1921-1997) representa um dos maiores e mais significantes
educadores do sculo XX. Sua pedagogia mostra um novo caminho para a relao
entre educadores e educandos. Caminho este que consolida uma propostas polticopedaggica elegendo educador e educando como sujeitos do processo de
construo do conhecimento mediatizados pelo mundo, visando a transformao
social e construo da sociedade justa, democrtica e igualitria.
Conhecido mundialmente por sua coragem de pr em prtica um autntico
trabalho de educao, que identifica a alfabetizao com um processo de
conscientizao, capacitando o oprimido tanto para aquisio dos instrumentos de
leitura e escrita, quanto para a sua libertao, fez dele um dos primeiros brasileiros a
serem exilados.
A metodologia por ele desenvolvida foi muito utilizada no Brasil em
campanhas de alfabetizao conscientizadora e, por isso, foi acusado de subverter a
ordem instituda. Foi preso aps o Golpe Militar de 1964 e, depois de 732 de
recluso, foi convencido a deixar o pas. Exilou-se no Chile, onde encontrando um
clima social e poltico favorvel ao desenvolvimento de suas idias, desenvolveu
durante cinco anos, trabalhos em programas de educao de adultos no Instituto
Chileno de Reforma Agrria. Foi a que escreveu, em 1968, a sua principal obra:
Pedagogia do Oprimido, obra essa que Freire retoma para repens-la, reviv-la em
1992, na Pedagogia da Esperana.
Mestre em Educao pela Universidade Lusfona de Humanidades e Tecnologia Lisboa
Portugal. Professora da Faculdade de Educao, Administrao e Tecnologia de Ibaiti-PR e da Faculdade de
Cincias de Wenceslau Braz - PR. Coordena do setor de Infra- estrutura do 32 Ncleo Regional de Educao
do Paran.
Pedagogia da Esperana, a obra que vamos nos ater para anlise. Um livro
que recupera da histria vivida os temas provocados pela Pedagogia do Oprimido,
no qual o autor faz um delineamento sistemtico de sua teoria.
A obra est dividida em sete partes, alm das primeiras palavras e notas que
apresentam alguns detalhes para melhor esclarecimento aos leitores e leitoras, no
decorrer da leitura.
Em Primeiras Palavras, o autor refere-se obra de forma encantadora,
quando diz t-la escrito com raiva, com amor, sem o que no h de esperana. Uma
defesa de tolerncia que no se confunde com a convivncia, da radicalidade da
ps-modernidade progressista e uma recusa conservadora, neo-liberal.
Preocupado com o contexto da educao brasileira, j, na primeira parte,
Paulo Freire, declara a urgncia da democratizao da escola pblica, da formao
permanente de seus educadores e educadoras, entre os quais, ele inclua, vigias,
merendeiras, zeladores. Uma formao permanente cientfica, frisando as prticas
democrticas, resultando a ingerncia dos educandos e de suas famlias nos
destinos da escola.
Para o autor, educadores e educadoras progressistas devem construir uma
postura dialgica e dialtica, trabalhando o processo do ato de aprender,
fundamentado na conscincia da realidade vivida pelos educandos, do seu aqui, do
seu agora, e, jamais reduzir-se ao simples conhecer de letras, palavras e frases
vazias de significado, alheias ao seu mundo. A participao do sujeito no processo
de construo do conhecimento, no algo mais democrtico, mas algo mais eficaz.
Na segunda parte, Freire recorre Pedagogia do Oprimido, texto que retoma,
na sua maioridade, para re-ver, re-pensar, para re-dizer.
Durante toda a obra o autor refere-se a vrias crticas, das quais a Pedagogia
do Oprimido foi passiva, e, nesta segunda parte que ele aproveita, de uma forma
muito singela, para agradec-las. Um mestre como Freire s poderia ter reagido
assim: revendo criticamente a sua prtica, teorizando e tornando prtica sua teoria.
O autor enfatiza que, educadores e educadoras progressistas precisam ser
coerentes com seu sonho democrtico, respeitando seus educandos e jamais, os
manipulem, mas que os levem a aprender ao aprender a razo dos objetos ou dos
contedos, atravs de uma sria disciplina intelectual, que segundo Freire, tem sido
forjada desde Pr-escola.
Na terceira parte da obra, o autor esclarece-nos como constituir essa disciplina
intelectual mencionada na segunda parte, pois esta, no pode gerar de um trabalho
feito nos alunos pelo professor (educao-bancria) mas atravs do dilogo e
incentivo dos mesmos, ultrapassa-se as situaes-limites, o educador educando
chegam a uma viso totalizante, permitindo que a disciplina seja construda e
assumida pelos alunos. E declara, que a educao deve estar centrada no
educando e no educador. O aluno deve ser o senhor de sua prpria aprendizagem.
A cada parte da obra, o autor vai mostrando seu sonho, seu desejo ardente de
abrir espaos para os seres humanos desprovidos do poder, para que estes venham
ser produtores de sua prpria voz, protagonistas de sua histria.
Para Freire, a educao verdadeira aquela que visa a humanizao, ou seja,
que busca na construo de uma vida social mais digna, livre e justa, partindo
sempre da realidade do educando. Por isso, sugere aos educadores e educadoras,
a construo de uma postura dialgica e dialtica, no mecnica, de forma humilde,
mas esperanosa, contribuindo para a transformao das realidades sociais,
histricas e opressoras que desumanizam a todos.
Na quarta parte, Freire declara que no mecanicista, pois sua perspectiva
dialtica, atenta realidade, que dinmica, imprescindvel, marcada pela
contradio, e ressalta, aos mecanicistas e idealistas que s impossvel entender o
que se passa na relao de opressores com oprimidos, atravs do entendimento
dialtico.
O autor dirige-se novamente aos educadores e educadoras progressistas, no
que diz respeito questo dos contedos programticos da educao, e afirma que,
no h outra posio para eles em face s questes dos contedos, seno lutar
incessantemente em favor da democratizao da sociedade, que implica a
democratizao da escola, como necessariamente, de um lado a do contedo, de
outro, da de seu ensino.
Freire, fala tambm, nesta quarta parte, de fatos, de acontecimentos de tramas
que participou, de cartas que recebia, de visitas que fez a outros pases e, nos quais
momentos e lugares, teve a oportunidade de participar de debates, que quase
sempre giravam em torno das linhas e entrelinhas da Pedagogia do Oprimido. O
medo da liberdade.
O pensamento de Paulo Freire rompeu a relao cristalizadora de dominao,
buscando pensar a realidade dentro do universo do educando, construindo uma
prtica educacional, considerando a linguagem e a histria da coletividade.
E,
declara o autor: "esta uma esperana que nos move. (p.126).
Na quinta parte, Freire faz relatos muito interessantes como: uma conversa que
teve, em Genebra, com um trabalhador imigrante espanhol, sobre um programa de
educao infantil, que eles haviam organizado e executavam com seus filhos. Sobre
sua primeira visita frica, Zmbia e Tanznia. E tambm, da visita que fez a
doze estados do Estados Unidos, a convite de lideranas religiosas ligadas ao
Conselho Mundial de Igrejas. Em todos os encontros que realizou nestes lugares, os
debates giraram em torno da Pedagogia do Oprimido.
Na sexta parte, Paulo Freire aborda um tema que j discutira tambm na
Pedagogia do Oprimido, unidade na diversidade, afirmando ser uma longa e difcil
caminhada, as minorias, no fundo, repita-se, maioria, em contradio com a nica
minoria, a dominante, teriam muito o que aprender.
Elucida o autor, "ningum caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a
fazer o caminho caminhando, sem aprender a refazer, a retocar o sonho, por causa
do qual a gente se ps a caminhar". (p.155)
Analisando essa maravilhosa declarao de Freire, possvel observar que,
ela fazia parte de seu dia a dia, pois ao escrever este livro, estava re-fazendo, retocando o sonho que se ps a caminhar.
Prossegue Freire, destacando que h um outro aprendizado demasiado
importante mas, ao mesmo tempo, demasiado difcil de ser feito. Ele refere-se ao
aprendizado de que a compreenso crtica das chamadas minorias de sua cultura,
no se esgota nas questes de raa e de sexo, mas demanda tambm a
compreenso nela do corte de classe. Em outras palavras, alm da cor da pele, da
diferenciao sexual, h tambm a cor da ideologia.
A multiculturalidade, para o autor, esta no se constitui na justaposio de
culturas, muito menos no poder exacerbado de uma sobre as outras, mas na
liberdade conquistada, sem medo de ser diferente, de ser cada um para si, somente
como se faz possvel crescerem juntas e no na experincia da tenso permanente,
provocada pelo todo-poderosismo de uma sobre as demais.
Freire, relata tambm uma outra jornada com momentos marcantes, a sua
primeira visita ao Caribe, com um programa de encontros e debates em vrias ilhas,
dos quais permitiu ao autor, perceber o quanto estava distante da vida concreta, do
cotidiano de camponeses e camponesas.
Ressalta FREIRE, que em fins de 1979 e comeos de 1980, esteve duas
vezes, novamente, no Caribe. Dessa visita destaca trs encontros que o
impressionou: o primeiro foi o encontro que teve com o ministro; o segundo, foi o que
teve com os funcionrios administrativos do ministrio da Educao, desde
serventes e motoristas at as secretrias dos diferentes departamentos, passando
pelas datilgrafas; o terceiro momento que o tocou foi com Mr. Bishop, de quem
destaca trs qualidades: simplicidade, o gosto da liberdade e o respeito liberdade
dos outros; a maneira dialtica de pensar e, no a maneira de falar sobre a dialtica.
Na visita que o autor fez Austrlia , destaca a oportunidade que teve de
conviver com intelectuais que, no lado certo de Marx, alcanando por isso mesmo,
corretamente, a relao dialtica mundo-conscincia, perceberam a teses
defendidas na Pedagogia do Oprimido e no a consideraram um livro idealista.
O autor, percorreu grande parte da Austrlia, discutindo com trabalhadores de
fbricas, professores e alunos universitrios, com grupos religiosos. Entre estes, no
importava se eram catlicos ou protestantes, o tema gerador era a Teologia da
Libertao.
Na stima e ltima parte, o autor fala de sua passagem por Fiji, nos anos
setenta, onde teve um encontro com estudantes, na Universidade Pacfico Sul,
discutindo com eles aspectos da Pedagogia do Oprimido, e ressalta que em 1992,
em Itabuna - Bahia, na Universidade Santa Cruz, revive os mesmos aspectos
discutidos em setenta, em Fiji. As distncias temporais que separaram as duas
reunies, afirma o autor, que tiveram algo de semelhante, tinham motivaes
parecidas: moviam-se atiados pelo gosto da liberdade e tinham a Pedagogia do
Oprimido, um ponto de referncia.
O autor afirma ter deixado propositadamente, para encerrar este ensaio, com
uns poucos comentrios sua ltima visita ao Chile, pois declara ser esta uma das
visitas que lhe deixou marcas mais vivas. Fixa-se em dois momentos, que os
considera os mais importantes desta visita: no clima extraordinrio de luta polticoideolgico, na confrontao de classe que alcanava nveis de sofisticao por parte
das classes dominantes e de aprendizado por parte das classes populares.
Nesta parte o autor fala tambm de seu percurso pela Argentina, no qual
surpreendido pelo mpeto renovador com que as universidades se estavam
entregando ao esforo de recriar-se.
Freire, faz referncias em relao s Universidades, afirmando que estas
devem girar em torno de duas preocupaes fundamentais, de que se derivam as
outras e que tm apenas dois momentos que se relacionam permanentemente: um
o momento em que conhecemos o conhecimento existente, produzido; o outro, o
momento em que produzimos o novo conhecimento. E, ressalta, na verdade,
porm, toda docncia implica pesquisa e toda pesquisa implica docncia. Para ele,
ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses momentos do ciclo gnosiolgico o
em que se ensina e se aprende o conhecimento existente e o que se trabalha o
conhecimento ainda no existente. (FREIRE, 1997:31)
Assim, a docncia/discncia e a pesquisa so indissociveis prticas no dia a
dia da prxis pedaggica que se quer constituidora de sujeitos histricos,
socialmente situados.
Encerrando o ensaio, Freire relata a visita que fizeram, ele e Nita a EL
Salvador, em julho de 1992. Nesta visita o autor foi convidado por camponeses e
camponesas, para com esperana, festejar um hiato de paz, na guerra. A eles e a
elas se juntaram professores e professoras, da Universidade de El Salvador que lhe
outorgou o ttulo de doutor de honoris causa.
O autor destaca nesta parte algumas de suas visitas s diferentes zonas do
pas, e ressalta que em uma destas assistiu uma sesso de um Crculo de Cultura
em que militantes armados se alfabetizavam, aprendiam a ler palavras fazendo a
releitura do mundo. esse o tipo de alfabetizao, que afirma Freire, sempre ter
defendido, um aprendizado de leitura e de escrita das palavras, que faziam na
compreenso do discurso e que emergia ou fazia parte de um processo maior e
mais significativo o da assuno da cidadania, o da tomada da histria.
Alm dos captulos mencionados, a obra apresenta as Notas, que foram muito
bem organizadas por Ana Maria Freire, para aclararem e amarrarem aspectos
importantes do texto de Paulo Freire. Ela foi muito feliz na forma como organizou e
transmitiu as Notas, possibilitando ao leitor e leitora uma compreenso mais fcil
de alguns termos utilizados na Pedagogia da Esperana.
Considerando o que foi exposto pelo autor em Pedagogia da Esperana, cabenos concordar, que esta obra, veio realmente reforar as categorias bsicas,
propostas por Freire na dcada de sessenta, em Pedagogia do Oprimido e podemos
afirmar que elas no mudaram. O que mudou foi forma histrica de coloc-las em
prtica, os temas geradores, a realidade dos educandos como ponto de partida, a
escola como espao de construo do conhecimento e de organizao da
comunidade, o respeito autonomia dos educandos e tambm do educador, e a
necessidade de formao permanente para os educadores, instigando-lhes a
conscincia crtica, levando-os a serem perquiridores em suas prxis. Estas
formulaes o autor viveu-as em sessenta e re-viveu-as em noventa, mas se
mantm atuais.
A busca agonizante pela mudana, faz parte, hoje, do cenrio da educao
brasileira, em pleno sculo XXI, to viva quanto Freire retrata em seus escritos, da
dcada de sessenta. Esta angstia pela mudana parece ser o salto axiolgico que
o professor e a escola precisam dar, no sentido desta tomada de conscincia que os
far buscar novas possibilidades. Enquanto isso no acontecer, como afirma Freire,
sem a problematizao da realidade, das prticas polticas, sociais e escolares,
parece difcil que acontea a superao da conscincia ingnua e do senso comum
que caracterizam os saberes escolares.
Sair das pretensas, certezas e aventurar-se pelo caminho enredado das
dvidas, dos questionamentos contnuos e da busca incansvel, sempre ser difcil
e, para muitos, talvez signifique uma espcie de insanidade mental. No entanto,
sabe-se que o profissional, nos dias atuais, e dentre todos, principalmente o
educador ou educadora, no pode dar-se ao luxo de sentar-se margem da histria,
esperando que ela acontea, sem interferir. Afinal, afirma Paulo freire (1997:110),
ensinar exige compreender que a educao uma forma de interveno no
mundo.
Torna-se cada vez mais clara, para os professores, a necessidade de
investigar, de desenvolver formas sempre mais criativas de ensinar. O que existe
hoje no mundo no deve ser entendido como algo eterno ou impossvel de ser
modificado. (ZITKOSKI, 2000). Mas, para que isso se torne realidade, necessrio
que os educadores adentrem essa educao problematizadora, consolide sua
proposta pedaggica partindo do ponto de que educador e educando so sujeitos do
processo de construo de conhecimentos mediatizados pelo mundo.
Afinal, podemos observar, atravs desta obra, que Paulo Freire provou que
possvel educar para responder aos desafios da sociedade, sendo a educao desta
forma, um instrumento de transformao global do homem e da sociedade, tendo
como essncia a dialogicidade.
preciso compreender que no se trata de petrificar as obras de Paulo Freire,
nem mesmo os mtodos colocados por ele da dcada de sessenta e repensado na
dcada de noventa, pois a educao tambm histrica. A questo central
aprender a concepo de educao na qual se fundamenta. No h uma teoria do
conhecimento e um mtodo que no se contentem com idias. Trata-se de um
compromisso permanente e sistemtico em prol da emancipao e da conquista da
autonomia das classes oprimidas, que esto sendo historicamente.
Enfim, pelo que foi possvel abordar, nos limites deste texto, esperamos haver
comunicado a importncia deste livro para profissionais da educao, bem como
para todos queles que esto envolvidos com a escola e preocupados com uma
educao autntica, na qual possa formar crianas e jovens construtores ativos.
Almejamos que todos os educadores e educadoras sejam contagiados, pelo
encantamento de Freire com a vida, com a liberdade, com o prazer da
aprendizagem, com o gosto de conhecer junto com outras pessoas, sejam atingidos
pela sua paixo , pelo seu sonho.
Paulo Freire foi um educador apaixonado, que amava um sonho futuro.
( SHOR, 1987, p.224)
10
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
FREIRE, P. (2000). Pedagogia da Esperana. So Paulo: Paz e Terra.
__________ (1987). Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
__________ (1997). Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
__________ (1996). A Importncia do Ato de Ler. Rio de Janeiro: Cortez.
__________ e SHOR, I. (1987). Medo e Ousadia. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
ZITKOSKI, J.J. (2000). O Legado de Paulo Freire Caderno Pedaggico.
Você também pode gostar
- Geração de 45Documento27 páginasGeração de 45evily silvaAinda não há avaliações
- Um Homem Klaus Klump e A Máquina de Joseph Walser by Tavares Gonçalo M.Documento107 páginasUm Homem Klaus Klump e A Máquina de Joseph Walser by Tavares Gonçalo M.Souza TcharAinda não há avaliações
- A Escola de Aperfeiçoamento de Belo HorizonteNo EverandA Escola de Aperfeiçoamento de Belo HorizonteAinda não há avaliações
- Letramento Crítico na Universidade: uma proposta para o desenho de ambientes de discussão on-lineNo EverandLetramento Crítico na Universidade: uma proposta para o desenho de ambientes de discussão on-lineAinda não há avaliações
- Bakhtin - Marxismo e Filosofia Da Linguagem, Cap1Documento9 páginasBakhtin - Marxismo e Filosofia Da Linguagem, Cap1Luci PraunAinda não há avaliações
- As Estratégias Didáticas No Processo De Ensino/aprendizagemNo EverandAs Estratégias Didáticas No Processo De Ensino/aprendizagemAinda não há avaliações
- O Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)No EverandO Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Debates sobre Educação, Ciência e MuseusNo EverandDebates sobre Educação, Ciência e MuseusAinda não há avaliações
- Práticas colaborativas de escrita via internet: Repensando a produção textual na escolaNo EverandPráticas colaborativas de escrita via internet: Repensando a produção textual na escolaAinda não há avaliações
- A Estrutura Potencial do Gênero: Uma Introdução às Postulações Sistêmico-Funcionais de Ruqaiya HasanNo EverandA Estrutura Potencial do Gênero: Uma Introdução às Postulações Sistêmico-Funcionais de Ruqaiya HasanAinda não há avaliações
- A escolarização da literatura em diferentes níveis da educação básica: um trajeto de (des)encantamento?No EverandA escolarização da literatura em diferentes níveis da educação básica: um trajeto de (des)encantamento?Ainda não há avaliações
- Educação, escola e diversidade no meio ruralNo EverandEducação, escola e diversidade no meio ruralAinda não há avaliações
- (Re)significações do ensino médio e protagonismo juvenil: tessituras curricularesNo Everand(Re)significações do ensino médio e protagonismo juvenil: tessituras curricularesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Principios e questões de philosophia politica (Vol. II)No EverandPrincipios e questões de philosophia politica (Vol. II)Ainda não há avaliações
- FORMAÇÃO DOCENTE & ENSINO NA ERA DIGITAL: Relatos de ExperiênciasNo EverandFORMAÇÃO DOCENTE & ENSINO NA ERA DIGITAL: Relatos de ExperiênciasAinda não há avaliações
- Dona Benta: Uma Mediadora no Mundo da LeituraNo EverandDona Benta: Uma Mediadora no Mundo da LeituraAinda não há avaliações
- Gêneros Textuais E O Ensino De Língua PortuguesaNo EverandGêneros Textuais E O Ensino De Língua PortuguesaAinda não há avaliações
- Nova Iorque das Ruas e do Texto: uma leitura de Maggie, uma Garota das Ruas, de Stephen CraneNo EverandNova Iorque das Ruas e do Texto: uma leitura de Maggie, uma Garota das Ruas, de Stephen CraneAinda não há avaliações
- Transmidiação e as Culturas Juvenis: A Construção de Sentidos pela Saga CrepúsculoNo EverandTransmidiação e as Culturas Juvenis: A Construção de Sentidos pela Saga CrepúsculoAinda não há avaliações
- Espaço e Tempo na Educação Integral em Campinas: Narrativas da Emefei Padre Francisco SilvaNo EverandEspaço e Tempo na Educação Integral em Campinas: Narrativas da Emefei Padre Francisco SilvaAinda não há avaliações
- Fotografias de Professoras: Uma Trajetória Visual do Magistério em Escolas Municipais do Rio de Janeiro no Final do Século XIX e Início do Século XXNo EverandFotografias de Professoras: Uma Trajetória Visual do Magistério em Escolas Municipais do Rio de Janeiro no Final do Século XIX e Início do Século XXAinda não há avaliações
- Bourdieu - Novas Reflexões Sobre A Dominação MasculinaDocumento8 páginasBourdieu - Novas Reflexões Sobre A Dominação MasculinaJussara Carneiro CostaAinda não há avaliações
- Reflexões sobre os modelos de seleção de gestor escolar: Escola públicaNo EverandReflexões sobre os modelos de seleção de gestor escolar: Escola públicaAinda não há avaliações
- André Lemos - CiberespaçoDocumento17 páginasAndré Lemos - CiberespaçoJuninho GabrielAinda não há avaliações
- Fichamento Generos Do DiscursoDocumento2 páginasFichamento Generos Do DiscursoGustavo Primo100% (1)
- Privatização e mercantilização da água: bem comum sob domínio privadoNo EverandPrivatização e mercantilização da água: bem comum sob domínio privadoAinda não há avaliações
- Território e Educação: Desconstruindo a Invisibilidade dos Sujeitos do CampoNo EverandTerritório e Educação: Desconstruindo a Invisibilidade dos Sujeitos do CampoAinda não há avaliações
- Dicionário crítico de educação e tecnologias e de educação a distânciaNo EverandDicionário crítico de educação e tecnologias e de educação a distânciaAinda não há avaliações
- Filosofia Da Tecnologia1Documento9 páginasFilosofia Da Tecnologia1Adam ReyesAinda não há avaliações
- TARDIFF - Saberes Docentes - Introdução PDFDocumento10 páginasTARDIFF - Saberes Docentes - Introdução PDFTeresinha SaraivaAinda não há avaliações
- Praxis e Poiesis em AristotelesDocumento37 páginasPraxis e Poiesis em AristotelesAna De BarrosAinda não há avaliações
- Educação como conhecimento do ser humano na era do antropoceno: uma perspectiva antropológicaNo EverandEducação como conhecimento do ser humano na era do antropoceno: uma perspectiva antropológicaAinda não há avaliações
- Relações de ensino e trabalho docente: Uma história em construçãoNo EverandRelações de ensino e trabalho docente: Uma história em construçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Gêneros HíbridosDocumento11 páginasGêneros HíbridosIgor PinheiroAinda não há avaliações
- Letramento,ensino e pesquisa: Práticas educativas em açãoNo EverandLetramento,ensino e pesquisa: Práticas educativas em açãoAinda não há avaliações
- Modelos de gestão e Educação: gerencialismo e subjetividadeNo EverandModelos de gestão e Educação: gerencialismo e subjetividadeAinda não há avaliações
- O romance como veículo de preenchimento da falta humana: Reparação de Ian McewanNo EverandO romance como veículo de preenchimento da falta humana: Reparação de Ian McewanAinda não há avaliações
- "Relação com o Saber" de Jovens no Ensino Médio Modos de Aprender que se Encontram e se ConfrontamNo Everand"Relação com o Saber" de Jovens no Ensino Médio Modos de Aprender que se Encontram e se ConfrontamAinda não há avaliações
- A Construção do Consenso Hegemônico sobre o Programa Nacional do Livro Didático (1995-2016): Estado, Mercado Editorial e Sociedade CivilNo EverandA Construção do Consenso Hegemônico sobre o Programa Nacional do Livro Didático (1995-2016): Estado, Mercado Editorial e Sociedade CivilAinda não há avaliações
- O Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasNo EverandO Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasAinda não há avaliações
- Reflexões sobre educação superior: A universidade e seu compromisso com a sociedadeNo EverandReflexões sobre educação superior: A universidade e seu compromisso com a sociedadeAinda não há avaliações
- Delírios frásicos de Orepse Écov: A sublimação de um surto psicóticoNo EverandDelírios frásicos de Orepse Écov: A sublimação de um surto psicóticoAinda não há avaliações
- Literatura, Ensino e Formação em Tempos de Teoria (com "T" Maiúsculo)No EverandLiteratura, Ensino e Formação em Tempos de Teoria (com "T" Maiúsculo)Ainda não há avaliações
- Práticas formativas na Extensão Universitária: Contribuições do Instituto de Ciências Exatas da Universidade de BrasíliaNo EverandPráticas formativas na Extensão Universitária: Contribuições do Instituto de Ciências Exatas da Universidade de BrasíliaAinda não há avaliações
- Narrativas Autobiográficas:: Memórias de Estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática da Urca em Campos SalesNo EverandNarrativas Autobiográficas:: Memórias de Estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática da Urca em Campos SalesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Martín-Baró & Klaus Holzkamp: um encontro necessário para a psicologiaNo EverandMartín-Baró & Klaus Holzkamp: um encontro necessário para a psicologiaAinda não há avaliações
- Hegel e Paulo Freire Uma Pedagogia Critico DialeticaDocumento15 páginasHegel e Paulo Freire Uma Pedagogia Critico DialeticaPriscila CristinaAinda não há avaliações
- Referenciais epistemológicos: a formação pedagógica dos professores da educação básicaNo EverandReferenciais epistemológicos: a formação pedagógica dos professores da educação básicaAinda não há avaliações
- Abordagens metodológicas não convencionais em pesquisaNo EverandAbordagens metodológicas não convencionais em pesquisaAinda não há avaliações
- A Dialética em Marx PDFDocumento14 páginasA Dialética em Marx PDFleocouto100% (1)
- Currículo, Formação de Professores e Trabalho Docente na ContemporaneidadeNo EverandCurrículo, Formação de Professores e Trabalho Docente na ContemporaneidadeAinda não há avaliações
- Forma Literária e Matéria Social em Manuel RuiDocumento210 páginasForma Literária e Matéria Social em Manuel RuiAilton Leal PereiraAinda não há avaliações
- Modelo Monografia Revisão de LiteraturaDocumento22 páginasModelo Monografia Revisão de LiteraturaRaul Alberto Mancilla AlvaradoAinda não há avaliações
- Palestra - o Poder Da PreceDocumento12 páginasPalestra - o Poder Da PreceSergio LinoAinda não há avaliações
- Grafia Das PalavrasDocumento13 páginasGrafia Das PalavrasManassés Da Silva LopesAinda não há avaliações
- Trabalho de Pesquisa DQIDocumento2 páginasTrabalho de Pesquisa DQISérgio José MickyAinda não há avaliações
- Aulas 10 A 12Documento5 páginasAulas 10 A 12jose rodrigoAinda não há avaliações
- Sites de Busca e PesquisaDocumento18 páginasSites de Busca e PesquisaGenielbert SouzaAinda não há avaliações
- Slides Da Lição 13 - A Amizade de Jesus Com Uma Família em Betânia - Pr. Caramuru Afonso Francisco-1Documento29 páginasSlides Da Lição 13 - A Amizade de Jesus Com Uma Família em Betânia - Pr. Caramuru Afonso Francisco-1Thamyres LimaAinda não há avaliações
- CLP Material de EstudoDocumento121 páginasCLP Material de EstudoOperação Simm SE ModeloAinda não há avaliações
- Metáfora Do Tubo (Reddy)Documento22 páginasMetáfora Do Tubo (Reddy)Cristiano PratesAinda não há avaliações
- Sistema-Metrico-E-Base-Decimal-Conteudo e Questoes-Orientadas PDFDocumento5 páginasSistema-Metrico-E-Base-Decimal-Conteudo e Questoes-Orientadas PDFCarlos Júnior Deus VultAinda não há avaliações
- Cap Tulo 1 Caracteriza o de Part Culas 2014 Sistemas ParticuladosDocumento55 páginasCap Tulo 1 Caracteriza o de Part Culas 2014 Sistemas ParticuladosLucas SilvestreAinda não há avaliações
- Estudo de Célula - O PODER DA RENÚNCIADocumento1 páginaEstudo de Célula - O PODER DA RENÚNCIAVinicius Di FreitasAinda não há avaliações
- Evangelho Pregado em Todo o Mundo: (De Acordo Com o Preterismo Mateus 24.14 É o Mesmo Assunto de Mateus 28.19-20?Documento6 páginasEvangelho Pregado em Todo o Mundo: (De Acordo Com o Preterismo Mateus 24.14 É o Mesmo Assunto de Mateus 28.19-20?Eric Maussambani.Ainda não há avaliações
- Grandes Marcos Históricos Das TicDocumento34 páginasGrandes Marcos Históricos Das TicManuel MartinsAinda não há avaliações
- ExercíciosDocumento4 páginasExercíciosCarla TeixeiraAinda não há avaliações
- Programacao I - Volume 1 VFINALDocumento97 páginasProgramacao I - Volume 1 VFINALGeorge FelixAinda não há avaliações
- A Flauta Mágica e A MaçonariaDocumento23 páginasA Flauta Mágica e A MaçonariadaniloAinda não há avaliações
- Neologia: Revista Gtlex May 2020Documento28 páginasNeologia: Revista Gtlex May 2020Gleiciane Nascimento100% (1)
- 2 Série - Vesp 16 A 31-08-2021Documento106 páginas2 Série - Vesp 16 A 31-08-2021JC Hertz BotelhoAinda não há avaliações
- 1 Série - L.Portuguesa - TRILHA - Semana 01 - NivelamentoDocumento2 páginas1 Série - L.Portuguesa - TRILHA - Semana 01 - Nivelamentoluzia alvesAinda não há avaliações
- NeurologiaDocumento16 páginasNeurologiaiara cristina arruda valeAinda não há avaliações
- Musculatura Da LinguaDocumento22 páginasMusculatura Da LinguafoucaultuffAinda não há avaliações
- Teste ConcordanciaDocumento8 páginasTeste Concordanciab_azevedoAinda não há avaliações
- Atividade 3 Trava LinguaDocumento2 páginasAtividade 3 Trava LinguaVal MarianoAinda não há avaliações
- Extrato AGOSTODocumento2 páginasExtrato AGOSTOCarolina Cristina Pimenta da SilvaAinda não há avaliações
- AGOSTINHO, Santo. Confissões de Magistro (Coleção Os Pensadores)Documento16 páginasAGOSTINHO, Santo. Confissões de Magistro (Coleção Os Pensadores)Rondinelle MenezesAinda não há avaliações
- Av. Mensal Port 3º Ano - 1º TrimDocumento6 páginasAv. Mensal Port 3º Ano - 1º TrimquelfranAinda não há avaliações
- Estrutura de Projeto de PesquisaDocumento9 páginasEstrutura de Projeto de PesquisaCastigo VissaiAinda não há avaliações
- Resenha Introducao BiblicaDocumento6 páginasResenha Introducao BiblicaJose TavaresAinda não há avaliações