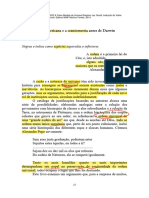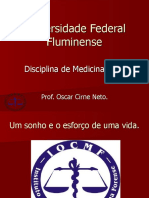Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1195 7767 1 PB
1195 7767 1 PB
Enviado por
DanFernandes90Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1195 7767 1 PB
1195 7767 1 PB
Enviado por
DanFernandes90Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Ensaio
Guarda de filhos de mulheres presas e a ecologia do
desenvolvimento humano
Safekeeping of children of women prisoners and the ecology of human development
Claudia Stella1, Vnia Conselheiro Sequeira2
Universidade Presbiteriana Mackenzie, So Paulo, SP, Brasil
Resumo
No Brasil, quando uma me presa, existem trs possibilidades de guarda para seus filhos
pequenos: em abrigo, em famlia substituta ou no berrio/creche do presdio. O objetivo
deste artigo terico dialogar com autores do desenvolvimento humano, como Spitz, Bowlby e, especialmente, Bronfenbrenner, para entender as principais influncias da priso
no desenvolvimento das crianas e nas suas possibilidades de guarda. Este artigo tambm
apoia-se em tericos dos estudos prisionais, como Foucault e Goffman, para avanar nas
anlises sobre a ecologia do desenvolvimento humano e o ambiente prisional. A separao
me-filho, repentina ou no, em decorrncia da priso e de suas possveis consequncias
como a mudana no tipo de guarda da criana pode influenciar o ambiente desenvolvimental no qual a criana est inserida, modificar sua relao na dade me-filho e, consequentemente, for-la a passar por transies ecolgicas capazes de afetar o seu desenvolvimento. Conclui-se que o ambiente prisional um contexto especfico de desenvolvimento
humano que carrega consigo todo um significado de punio e segregao social e que,
portanto, no pode ser considerado um ambiente neutro, ou equivalente casa ou escola;
antes, interfere em todo o processo desenvolvimental de crianas de mulheres presas que
se encontram em seu interior e em outros processos de guarda, como em instituies e na
famlia substituta.
Palavras-chave: Ecologia do desenvolvimento humano, Filhos de mulheres presas,
Guarda, Vulnerabilidade social.
Abstract
In Brazil, when a mother is arrested, there are three possibilities to guard her young children: in shelter, in a foster family or in the prison nursery. The aim of this article is to revisit
and engage with authors of human development, as Spitz, Bowlby and Bronfenbrenner,
to understand the influences of imprisonment on childrens development and their guard
possibilities. This article also draws on theoretical studies of the prison, as Foucault and
Goffman, to advance the analysis of the ecology of human development and the prison environment. The mother-child separation, sudden or not, due to imprisonment and its possible
impacts as the change in the type of custody can influence the childrens developmental
environment, changing their relationship in the mother-child dyad and consequently force
then to face ecological transitions that can affect their development. This article concluded
1
Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem experincia na rea de Psicologia e Educao, atuando
principalmente nos seguintes temas: filhos de mulheres presas, polticas pblicas, desenvolvimento humano, teoria
crtica da sociedade e socializao. E-mail: claudiastella@mackenzie.br
Professora e supervisora de estgios em Psicologia Jurdica da Universidade Presbiteriana Mackenzie com estgios em abrigos; medidas socioeducativas, conselhos tutelares, grupo de apoio a candidatos adoo, mediao
familiar, vara da famlia, vara da infncia, egressos do sistema prisional e penas alternativas priso. E-mail: vania.
sequeira@mackenzie.br
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
380
Stella C, Sequeira VC
that the prison environment carries a meaning of punishment and social segregation that
interferes throughout the developmental process of children of women prisoners, inside the
prison, and their guard processes, in shelters and foster families.
Keywords: Ecology of human development, Children of women in prison, Guard, Social
vulnerability.
Com o crescimento mundial dos ndices de criminalidade, h o consequente aumento de crianas que vivem a experincia de ter seus pais encarcerados. Como
uma populao esquecida, essas crianas no esto inseridas em polticas pblicas especficas nem tm uma padronizao de suas possibilidades de atendimento. Elas esto sujeitas a vrios arranjos de guarda que podem no atender s suas
necessidades.
Tanto os filhos de homens presos quanto os de mulheres presas podem enfrentar
dificuldades semelhantes, porm privilegiaremos os filhos das mulheres presas, por
entendermos que existem grandes diferenas entre a priso materna e a paterna,
que so baseadas na verificao de que, ao longo da histria, as crianas sempre
estiveram ao encargo das mulheres. Essa questo exemplificada no Censo Penitencirio Paulista (2002), segundo o qual somente 20% das crianas de mes presas
estavam sob a responsabilidade de seus pais enquanto 87% dos filhos de homens
presos eram cuidados por suas mes. Ainda de acordo com ele, a maioria dos filhos
de mulheres presas estava sob a guarda das avs maternas (40%). Dados nacionais
sobre a guarda de crianas de mulheres encarceradas so raros, contudo podemos
verificar o real crescimento do aprisionamento de mulheres no Brasil, o que pode
levar a um nmero maior de crianas separadas de suas mes pela priso. Segundo
dados divulgados em 2014, enquanto a populao carcerria masculina cresceu
141% entre os anos de 2000 e de 2013, a feminina mais que triplicou no mesmo perodo: 257%. Assim, em 2000, eram 10.112 mulheres presas; j em 2013, o nmero
passou para 36.135 (BRASIL, 2014).
No Brasil, quando uma me presa, existem trs possibilidades para a guarda
de seus filhos pequenos (de zero a seis anos): em instituio de abrigo, em famlia
substituta (que pode ser a sua famlia ampliada) ou no berrio/creche do presdio.
Quanto legislao, na brasileira, so assegurados os direitos dos presos para o
exerccio da paternidade, especialmente o da maternidade. Sob a tica da criana,
o artigo 208 da Constituio Federal (BRASIL, 1988) e o artigo 54 do Estatuto da
Criana e do Adolescente (BRASIL, 1990) determinam que direito da criana de
zero a seis anos o atendimento em creche e pr-escola. O Ministrio da Justia reafirma: Aos menores de zero a seis anos filhos de preso ser garantido atendimento
em creche e pr-escola (1999), sem especificar em que condies e como garantir
esse direito. Essa falta de especificaes pode ser mais bem compreendida com o
estudo de Santa Rita (2006).
Em estudo descritivo sobre creches no sistema penitencirio brasileiro, Santa Rita (2006) verificou que, entre outubro e dezembro de 2005, 289 crianas de at
seis anos foram atendidas em unidades prisionais brasileiras. Mais da metade delas
(59,5%) ficava em espaos classificados como outros, o que inclui as prprias celas
das presas; 21% estavam em berrios e 18,9% se encontravam em equipamentos
denominados creches.
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Guarda de filhos de mulheres presas e a ecologia do desenvolvimento humano
381
A temtica abordada neste artigo levanta uma importante questo de gnero que
permeia o encarceramento feminino: o crime cometido por uma mulher pode ferir
o esteretipo da boa me, que aquela que se sacrifica no cuidado de seus filhos
(STELLA, 2005).
Frana (2014) diz que, alm da discriminao por gnero das mulheres presas,
o encarceramento no favorece em nada os vnculos entre mes e filhos, exemplificando com o relato de revistas vexatrias s quais as crianas so submetidas ao
visitar suas mes nos presdios. Afirma tambm:
No imaginrio institucional, essas mes so vistas e tratadas como naturalmente ms, desatentas, descuidadas e incapazes de amar seus filhos. A
naturalizao da maldade nas mes presas uma das mais contundentes construes de gnero. Seu poder e influncia na determinao das relaes sociais
podem ser identificados para alm do espao das prises, mas , sobremaneira,
nesses espaos que essa imagem a elas atribuda tem servido de justificativa
para a manuteno do precrio atendimento dispensado a essas mulheres e
seus filhos (FRANA, 2014, p. 224).
O objetivo deste artigo terico dialogar com autores do desenvolvimento humano, como Spitz, Bowlby e, especialmente, Bronfenbrenner, para entender as principais influncias da priso no desenvolvimento das crianas e nas suas possibilidades
de guarda. Este artigo tambm apoia-se em tericos dos estudos prisionais, como
Foucault e Goffman, para avanar nas anlises sobre a ecologia do desenvolvimento
humano e o ambiente prisional.
Este trabalho se constitui como uma investigao terica que pode ser inserida
nas pesquisas de cunho histrico-conceitual; sua proposta a investigao da histria das ideias, bem como das articulaes e desenvolvimentos conceituais de um
campo cientfico (MEZAN, 1994).
Desse modo, a partir de uma investigao temtica sobre filhos de mulheres
presas e a busca pela compreenso do desenvolvimento de crianas em ambientes
adversos, como a priso, chegamos at as concepes sobre ecologia do desenvolvimento humano, de Bronfenbrenner (1996). Assim, investigando a fundo a base
terica do referido autor e a histria de suas idias e articulando com os conceitos
tericos dos estudos prisionais, encontramos os achados de pesquisa apresentados
neste artigo.
A ecologia do desenvolvimento humano pode nos ajudar a entender as especificidades do contexto prisional, as suas influncias na separao e aproximao
entre me e filho, nas alternativas de guarda das crianas e, consequentemente, em
seus desenvolvimentos.
Por exemplo, a vida diria das crianas cujas mes esto presas influenciada
no somente pelas caractersticas de seu ambiente de cuidados (estar com a me
na priso ou separada dela) mas tambm pelo contexto sociopoltico e legal no
qual a instituio, como a priso, opera (FARRELL, 1994, p. 7).
No sentido acadmico, a ecologia estuda as relaes entre organismos e ambientes. Ecologistas exploram e documentam como o indivduo e seu habitat modelam seus desenvolvimentos mtuos (GARBARINO, 2000 p. 34). Bronfenbrenner,
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
382
Stella C, Sequeira VC
porm, prope um modelo para estudar a ecologia, isto , emprega-a para compreender um aspecto especfico do organismo humano: seu desenvolvimento.
O fato de o enfoque de Bronfenbrenner ser privilegiado neste estudo decorre
tanto da importncia que ele atribui s polticas pblicas quanto da ateno que
ele dirige aos processos que ocorrem no meio ambiente. J na apresentao de seu
livro (verso em portugus, datada de 1996), o autor afirma: A segunda lio que
aprendi a partir do trabalho em outras sociedades que as polticas pblicas tm o
poder de afetar o bem-estar e o desenvolvimento humano (BRONFENBRENNER,
1996, p. 9). Portanto, e como o prprio livro evidencia, o estudo do desenvolvimento
humano de Bronfenbrenner no ocorre em contexto experimental, mas em contexto natural. Consideramos, neste nosso trabalho, que a priso da me reconfigura o
ambiente de desenvolvimento da criana, necessitando, assim, de polticas pblicas
especficas que deem conta da condio particular desse grupo de crianas.
Urie Bronfenbrenner (1996) define a ecologia do desenvolvimento humano como
(...) o estudo cientfico da acomodao progressiva mtua entre um ser humano
ativo, em desenvolvimento, e as propriedades mutantes dos ambientes imediatos em que a pessoa em desenvolvimento vive, conforme esse processo afetado
pelas relaes entre esses ambientes e pelos contextos mais amplos em que os
ambientes esto inseridos (BRONFENBRENNER, 1996, p. 18).
A proposta da ecologia do desenvolvimento humano oferecer, ento, uma maneira de compreender o processo de desenvolvimento, apresentando uma teoria das
interconexes ambientais e seus impactos no indivduo.
Ao contrrio do que vemos em outras teorias da Psicologia Desenvolvimental,
Bronfenbrenner (1996) no descreve a evoluo dos processos emocionais, cognitivos e sociais; antes, aponta que, para um maior entendimento dos processos
intrapsquicos e interpessoais, que envolvem o desenvolvimento humano, faz-se
necessrio investigar os ambientes concretos em que os seres humanos vivem e
interagem, tanto os imediatos quanto os mais remotos.
Nos dizeres de Robert Myers (1992), o livro de Bronfenbrenner Ecologia do desenvolvimento humano concentra-se mais na descrio e anlise dos processos
relativos acomodao do indivduo no ambiente. De acordo com a ecologia do desenvolvimento humano, processos desenvolvimentais ocorrem nos meios imediatos
das relaes humanas e so profundamente afetados pelas condies e eventos dos
meios mais amplos nos quais esto inseridos.
Trs componentes dessa concepo de desenvolvimento humano so destacados
pelo autor: a concepo de pessoa, como sendo ativa; a reciprocidade (ou interao)
entre pessoa e meio ambiente; e a concepo ampliada de meio ambiente (BRONFENBRENNER, 1996). Na realidade de uma criana de me presa, a concepo que
tem de si, as possibilidades de interao que tem com a sua me presa e o significado social da priso podem afetar todo o seu processo desenvolvimental.
Nos dizeres do autor, o ambiente ecolgico concebido como uma srie de estruturas encaixadas, uma dentro da outra, como um conjunto de bonecas russas
(BRONFENBRENNER, 1996, p. 5). No nvel mais interno do ambiente ecolgico,
encontra-se o microssistema, que compreende a pessoa em desenvolvimento e suas
relaes primrias, as quais ocorrem sem mediao. Nesse nvel de complexas inter-relaes, o indivduo pode experienciar atividades, papis e relaes interpessoais
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Guarda de filhos de mulheres presas e a ecologia do desenvolvimento humano
383
em um ambiente com caractersticas especficas, no qual a interao face a face
especialmente vivenciada. No microssistema, experienciar o verbo de ordem,
j que o ambiente no constitudo apenas de suas caractersticas objetivas mas
tambm, principalmente, da percepo que o indivduo tem do ambiente no qual
est inserido. Para isso, baseado na teoria sistmica de Kurt Lewin, Bronfenbrenner
(1996) afirma que, para perceber o ambiente no qual est inserida, a pessoa tem que
vivenci-lo e, quanto mais experienci-lo, melhor.
Nesse nvel, as conexes entre as outras pessoas presentes no ambiente e a natureza desses vnculos tm influncia indireta na pessoa em desenvolvimento, por
meio de seu efeito naquelas que com ela interagem de modo imediato. Nesse sentido, o carter punitivo da priso, que envolve diversos atores sociais, como agentes
penitencirios, guardas e outras presas, pode influenciar o desenvolvimento de
crianas que convivem com suas mes no interior dos estabelecimentos penais ou
que delas so separadas pela priso.
O mesossistema o prximo nvel do ambiente ecolgico, formado de vrios
microssistemas que se inter-relacionam. No mesossistema, a pessoa em desenvolvimento participa ativamente de dois ou mais ambientes. As interaes no mesossistema podem assumir uma caracterstica de rede social, na medida em que se
ampliam com a entrada do indivduo em outros ambientes.
No exossistema, esto includos o microssistema e o mesossistema. As principais
instituies sociais, estruturadas ou espontaneamente organizadas, fazem parte
desse nvel. Esse o mundo da vizinhana, do trabalho, da escola, e nele esto
includos os transportes, as comunicaes, as agncias governamentais e as prises.
No nvel mais externo, est o macrossistema, formado de todos os outros
nveis, influenciando e sendo influenciado por eles. Aqui, as contradies existentes
no micro, no meso e no exossistema so reelaboradas e fixadas, o que d margem
para o surgimento de estigmas e discriminaes sociais. Dele fazem parte a cultura,
as polticas pblicas (ou a ausncia delas, como no caso de filhos de mulheres presas) e a ideologia (conjunto de valores) de uma sociedade.
O macrossistema pode ser caracterizado e analisado como espirais de ideologia que oferecem a motivao e o significado para as redes sociais, para as atividades, para os papis e para as inter-relaes. A atuao do macrossistema abrange
os sistemas econmico, social, educacional, legal e poltico, que so manifestados
concretamente nos nveis mais internos (micro, meso e exossistema).
Bronfenbrenner (1996), baseado nas ideias construtivistas de Piaget, descreve como se desenvolvem os aspectos de percepo da realidade para a criana
com relao a seu envolvimento no meio ambiente fsico e social. Segundo ele, a
princpio, o beb tem apenas a capacidade de perceber o microssistema, mais especificamente um ambiente por vez e pessoas e objetos que o influenciam de maneira
direta. Conforme vai crescendo, a criana pequena comea a desenvolver um senso
de mesossistema, tornando-se consciente das relaes entre as pessoas e os eventos
do ambiente, que no envolvem a sua participao ativa. Com a aquisio da linguagem, adicionada capacidade de reconhecer as possibilidades de relaes entre os
ambientes, ela passa a compreender a natureza dos eventos em ambientes nos quais
ainda no entrou, como a escola ou a priso onde est sua me (exossistema).
Esse modelo topogrfico do ambiente ecolgico pode nos ajudar na compreenso
dos dilemas enfrentados na busca de melhores cuidados para a criana, em funo
do encarceramento materno.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
384
Stella C, Sequeira VC
Para compreender a guarda de filhos pequenos de presidirias, importante
entender o funcionamento dos microssistemas e das dades, pois, mesmo que as
atividades das pessoas se restrinjam ao meio ambiente imediato, elas podem, atravs das relaes com outras pessoas, assumir uma ordem mais elevada de complexidade (BRONFENBRENNER, 1996).
No microssistema, uma das relaes importantes para a anlise a dade (sistema de duas pessoas). As dades, com seu componente de reciprocidade, constituem
um ponto importante para o desenvolvimento, servindo de base para as outras formas de relaes, como as trades e as ttrades. O componente de reciprocidade nas
relaes estabelecidas fornece pistas concretas para a compreenso das mudanas
desenvolvimentais no apenas nas crianas mas tambm nos adultos que so os
seus cuidadores primrios: mes, mes substitutas, pais, avs, funcionrios da instituio e assim por diante.
As dades descritas por Bronfenbrenner (1996) podem ser de trs tipos: a observacional, a de atividade conjunta e a primria.
A dade observacional ocorre quando um membro est prestando ateno s
atividades do outro, que nota e reconhece essa ateno, fornecendo explicaes e
comentrios ocasionais sobre sua atividade para o observador.
A dade de atividade conjunta se estabelece quando os membros se percebem
como fazendo alguma coisa em conjunto, o que no quer dizer que estejam fazendo
a mesma coisa, mas desempenhando funes diferentes na mesma atividade. Bronfenbrenner (1996) cita o exemplo de uma me que l para seu filho enquanto ele, a
pedido dela, nomeia as gravuras do livro. Esse tipo de dade envolve uma srie de
relaes, como a influncia mtua entre os participantes da dade e o domnio de
um indivduo pelo outro em determinada atividade.
A dade primria aquela que continua a existir para os dois participantes mesmo que ambos no estejam perto. Eles sentem falta um do outro e continuam a influenciar o comportamento do outro membro. Essa dade tem um forte componente
emocional. O que liga a dupla so os sentimentos.
Para Bronfenbrenner (1996), a dade primria fundamental para o processo de
desenvolvimento. O autor acredita que seja mais provvel que a criana adquira os
valores, os conhecimentos e as habilidades de uma pessoa com a qual estabeleceu
uma dade primria do que daquela que no tem nenhum significado emocional
para ela.
A aprendizagem e o desenvolvimento so facilitados pela participao da pessoa desenvolvente em padres progressivamente mais complexos de atividade
recproca com algum a quem a pessoa desenvolveu um apego emocional slido
e duradouro e quando o equilbrio do poder gradualmente se altera em favor da
pessoa em desenvolvimento (BRONFENBRENNER, 1996, p. 49).
Bronfenbrenner (1996) argumenta que, no microssistema, as inter-relaes vo
alm da dade e atribui igual importncia aos sistemas N+2, que so as trades, as
ttrades e as estruturas interpessoais mais amplas. Na verdade, afirma que, para o
adequado funcionamento da dade no processo de desenvolvimento, necessrio o
envolvimento de uma terceira pessoa, como o pai, na dade me-filho. Todavia, se
essa terceira pessoa est ausente ou desempenha um papel perturbador na dade
primria, o sistema desenvolvimental pode ser comprometido. No caso de crianas
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Guarda de filhos de mulheres presas e a ecologia do desenvolvimento humano
385
de mulheres presas, os sistemas N+2 podem ser influenciados por outros atores
sociais presentes na instituio, bem como por seu carter punitivo.
As transies ecolgicas
A definio de transio ecolgica fornecida por Bronfenbrenner (1996) refere-se
a mudanas de papel e/ou de ambiente que modificam a posio que o sujeito ocupava no ambiente. Durante toda a vida, o sujeito passa por transies ecolgicas,
o que de fundamental importncia para o desenvolvimento, pois elas envolvem
mudanas de comportamento e atitude esperadas para o cumprimento de determinados papis sociais.
As transies ecolgicas mais comuns so o nascimento de uma criana, que se
insere em determinada famlia, cujos membros sofrem mudanas de papel; a entrada na escola ou na creche; a entrada em um emprego ou a sada dele; o casamento;
e, no caso deste estudo, a priso, a libertao e a mudana de guarda. Uma hiptese
enfatizada por Bronfenbrenner (1996) que, quando ocorre uma mudana de papel
em um dos membros da dade, o outro tambm muda, alm de ambos modificarem
o ambiente.
O processo de desenvolvimento
O ser humano bastante verstil e capaz de se adaptar e viver em ecologias hostis
e difceis. Possui ainda a incrvel capacidade de transformar o ambiente para poder
se desenvolver melhor. Porm, para que ocorra o desenvolvimento, necessrio
que o indivduo esteja inserido em um dado ambiente, ou seja, em um contexto. O
desenvolvimento no ocorre no vcuo (BRONFENBRENNER, 1996).
Para Bronfenbrenner (1996), desenvolvimento uma mudana duradoura na maneira pela qual uma pessoa percebe o seu ambiente e com ele lida, ou, em outras
palavras,
(...) o desenvolvimento humano o processo atravs do qual a pessoa desenvolvente adquire uma concepo mais ampliada, diferenciada e vlida do meio
ambiente ecolgico e se torna mais motivada e mais capaz de se envolver em
atividades que revelam suas propriedades e sustentam ou reestruturam aquele
ambiente em nveis de complexidade semelhante ou maior de forma e contedo
(BRONFENBRENNER, 1996, p. 23).
Verifica-se que o processo de desenvolvimento se d atravs de mudanas produzidas nas atividades e/ou concepes do sujeito, que as aplica em outros ambientes,
podendo ser notado tambm por meio da atividade molar, que um comportamento continuado que possui um momento (quantidade de movimento, impulso)
prprio e percebido como tendo significado ou inteno pelos participantes do
ambiente (BRONFENBRENNER, 1996, p. 37). Assim, as atividades molares so
manifestaes externas de crescimento psicolgico.
Para Bronfenbrenner (1996), o desenvolvimento sempre positivo; para ele,
dificilmente, a pessoa no se desenvolve ou se desenvolve de forma contrria aos
princpios sociais. No entanto, ao analisar a separao me-beb e as instituies
de cuidados, o autor discute o retardo desenvolvimental tema que veremos a
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
386
Stella C, Sequeira VC
seguir, sempre apontando alternativas para que o quadro possa ser totalmente revertido e a criana se recupere sem sequelas.
Para discutir essa questo e apontar sadas, Bronfenbrenner (1996) se baseia no
estudo de dois importantes autores: Spitz e Bowlby, que analisaram a separao
me-filho e a colocao da criana em instituies de cuidados. Assim, torna-se importante levantar alguns aspectos da obra desses dois autores, especialmente Spitz,
para poder entender um pouco melhor as concluses de Bronfenbrenner.
Spitz (1993) realizou seu estudo em quatro meios ambientes diferentes, em dois
pases distintos: ustria e EUA, especificamente no Estado de Nova York. Dois
ambientes eram instituies de cuidados, um em cada pas, e os outros dois eram
grupos de controle, nos quais os bebs recebiam cuidados semelhantes aos da instituio, s que nas prprias casas. Um desses ambientes, chamado Casa da Criana
Abandonada, era uma instituio de cuidados para crianas cujas mes no tinham
condies de sustent-las. O outro era um berrio para filhos de meninas e moas delinquentes, tendo entre 14 e 26 anos de idade; as razes para a sua deteno
variavam de delinquncia sexual a roubo, incluindo homicdio. A grande maioria,
entretanto, havia sido presa por m conduta sexual. Spitz (1993) denominou esse
ambiente de Creche.
A Creche era uma instituio penal para a qual eram enviadas jovens delinquentes j grvidas ao serem admitidas. Elas davam luz numa maternidade
prxima. Aps o perodo de parto, as crianas eram criadas na Creche, desde o
nascimento at o primeiro ano. Como as mes eram, na maioria, menores delinquentes, at certo ponto socialmente desajustadas, s vezes dbeis mentais,
algumas vezes portadoras de problemas psquicos, psicopatas ou criminosas, a
hereditariedade e o background representavam uma seleo negativa do ponto
de vista das crianas (SPITZ, 1993, p. 23, grifo nosso).
A Creche, segundo a descrio de Spitz (1993), possua um ambiente fsico bastante adequado para as crianas, com vrios brinquedos disponveis, alto padro
de higiene e alimentao bem preparada, variada e adequada para cada fase da
criana.
Uma enfermeira-chefe e suas assistentes dirigiam a Creche e tinham como funo ensinar s mes os cuidados bsicos com as crianas.
Cada criana era alimentada, assistida e cuidada por sua me. Se, por alguma
razo, a me tivesse que se separar do filho, era substituda pela me de outra
criana ou por uma jovem grvida, que, dessa maneira, adquiria a experincia
necessria para os cuidados de seu futuro beb. Assim, cada criana, na Creche,
era cuidada, todo o tempo, pela prpria me ou, no mnimo, por uma substituta
escolhida por uma enfermeira-chefe competente, que tentava achar uma substituta que gostasse da criana (SPITZ, 1993, p. 22).
Spitz (1993), em seu trabalho, enfatiza as personalidades infantis e a inadequada
integrao do ego dessas jovens mes delinquentes. Para o autor, esses dados so
de extrema importncia, uma vez que a me o primeiro parceiro humano do filho,
sendo a mediadora para outros nveis de interao social.
As mes que viviam na instituio prisional tinham algumas caractersticas: no
gostavam de tocar em seus filhos, no prestavam ateno aos seus cuidados e expunham os bebs a riscos desnecessrios. Sobre o comportamento das mes, descreve
ainda:
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Guarda de filhos de mulheres presas e a ecologia do desenvolvimento humano
387
No ambiente do berrio penal, seus bebs eram, fatalmente, a principal vlvula
de escape para as suas emoes instveis, de modo que esses bebs eram expostos, alternadamente, a exploses intensas de carinho, de amor, e a exploses
igualmente intensas de hostilidade e fria. Em poucas palavras, havia rpidas
oscilaes entre mimo e hostilidade (SPITZ, 1993, p. 181).
Esse tipo de comportamento desencadeava uma srie de complicaes psquicas
e fsicas nos bebs, como o no estabelecimento de relaes objetais adequadas e
o desenvolvimento de diversas doenas somticas, como eczema. O autor concluiu
ainda que, at os seis meses de idade, uma criana criada longe de sua me em uma
instituio-modelo se desenvolve melhor do que aquela criada em um ambiente
difcil; contudo, depois desse perodo, o quadro se inverte, e as crianas comeam
a definhar quando no h o estabelecimento de uma relao materna adequada,
mesmo estando em um ambiente bom.
Em sua obra O primeiro ano de vida, Spitz (1993) no leva em conta a separao
materna tendo como causa a priso; ele enfoca apenas a ausncia materna, sem
investigar as causas, pois o que interessa a ele so os impactos da privao materna
sofridos pelas crianas. Nesse texto, no encontrada nenhuma meno influncia ambiental da funo bsica de punio da instituio penal no desenvolvimento
dos bebs. Para Spitz, a grande questo a personalidade materna.
O Estado de Nova York (EUA) onde Spitz realizou parte de seus experimentos
possui tradio no acolhimento de meninas, moas e mulheres delinquentes e de
seus bebs.
Em 1901, o Estado de Nova York abriu Westfield Farms, um lar correcional para
moas desajustadas moralmente. Essa instituio foi rebatizada, posteriormente,
de New York Reformatory for Women. Em 1930, a Auburn Prison, uma penitenciria feminina, foi transferida e anexada ao reformatrio. No mesmo ano, uma
lei permitiu que as mulheres presas pudessem permanecer com seus filhos desde
o nascimento at o primeiro ano; assim, os bebs passaram a ser acolhidos nessa
instituio.
Entre 1930 e 1972, a priso e o reformatrio femininos eram separados e chefiados por uma superintendente. O berrio ficava no reformatrio, com bebs de
mes abrigadas nos dois equipamentos. As mulheres da priso podiam visitar seus
filhos duas vezes por semana. Em 1972, a priso e o reformatrio foram integrados,
sob o nome de Bedford Hills Correctional Facility (GABEL; GIRARD, 1995).
No sabemos exatamente se foi nessa instituio que Spitz realizou seus estudos,
j que o nome da instituio no mencionado no seu trabalho (edio de 1993), porm essa hiptese bastante forte, uma vez que as autoras pesquisadas no citaram
instituio similar no Estado de Nova York, na poca dos estudos do autor. Spitz,
em seu estudo, no leva em considerao esses dados.
O ponto mais crtico do trabalho de Spitz, segundo Bronfenbrenner, sua afirmao de que, sob certas condies, a institucionalizao prejudica o desenvolvimento psicolgico da criana. O ponto de desacordo est no termo sob certas condies.
Bronfenbrenner considera Spitz apesar das crticas que este sofreu nos meios
acadmicos como um homem frente de seu tempo, que conseguiu formular um
prottipo do modelo ecolgico, mesmo com srias falhas. Em nenhum momento
Bronfenbrenner (1996) menciona que parte do estudo de Spitz foi realizado no
contexto ecolgico de um berrio penal, fazendo apenas uma releitura da relao
me-beb estudada por Spitz.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
388
Stella C, Sequeira VC
Diferentemente de Spitz (1993) e de Bronfenbrenner (1996), neste trabalho, focalizamos o ambiente prisional como um contexto especfico de desenvolvimento humano: a priso no pode ser considerada como um ambiente neutro, ou equivalente
casa ou escola, como nos informam os trabalhos de Foucault e Goffman.
O ambiente prisional
A priso surgiu h pouco mais de dois sculos e j assumiu uma posio de destaque em nossa sociedade. Sua funo bsica transformar a alma do criminoso,
reintegrando-o socialmente como um ser humano (FOUCAULT, 1997).
A priso foi aceita quase universalmente como o meio possvel de castigo, porm
ela produz srios problemas sociais, sendo a reincidncia um dos mais graves. Foucault (1997) argumenta que, em vez de devolver sociedade indivduos corrigidos, a
priso espalha uma populao de delinquentes perigosos, que acabam retornando
instituio prisional.
A priso fabrica tambm delinquentes, impondo aos detentos limitaes violentas; ela se destina a aplicar as leis e a ensinar o respeito por elas; ora, todo
o seu funcionamento se desenrola no sentido do abuso do poder (FOUCAULT,
1997, p. 235).
Assim, alm da pena de privao de liberdade o mais precioso dos bens , a
priso lana o sujeito ao mundo do crime, retira dele e de sua famlia os meios possveis de sobrevivncia e o obriga a uma violenta rotina institucional (FOUCAULT,
1997). A priso oferece vrios inconvenientes sociais e acaba sendo ineficiente em
sua proposta de saneamento social. To perigosa quanto intil, ela (a priso) a
detestvel soluo de que no se pode abrir mo (FOUCAULT, 1997, p. 208). A
violncia do sistema prisional tambm e principalmente se concretiza pela violncia
psicolgica, na qual
(...) o prisioneiro deve aceitar, ainda que contra a vontade, o fato de estarem
presos, pois as prises (pelo menos as do tipo moderno), supostamente, do
um meio para que o preso pague sociedade, cultive o respeito pela lei, admita
seus pecados, aprenda um ofcio legtimo e, em alguns casos, receba uma psicoterapia necessria (GOFFMAN, 1996, p. 157).
Para Goffman (1996), a priso uma instituio total que como os manicmios e os conventos possui uma tendncia ao fechamento ao mundo exterior.
Seu fechamento ou seu carter total simbolizado pela barreira relao social
com o mundo externo e por proibies sada, que, muitas vezes, esto includas no
esquema fsico (GOFFMAN, 1996, p. 16).
As instituies totais possuem caractersticas e particularidades que foram descritas por Goffman e que no foram contempladas nos trabalhos de Spitz e Bronfenbrenner, porm elas so importantes para entender o mundo das mes presas.
O indivduo, quando chega a uma instituio total, possui uma concepo de si
construda no mundo externo. Essa concepo , constantemente, exposta s prticas institucionais de rebaixamento, degradaes, humilhaes e profanaes do
eu (GOFFMAN, 1996, p. 24).
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Guarda de filhos de mulheres presas e a ecologia do desenvolvimento humano
389
Esse processo, denominado mutilao do eu, intensificado pela desconfigurao pessoal imposta pela instituio, como corte de cabelo e uso de uniformes
padronizados. Esse processo de padronizao da aparncia fsica pode atingir as
mulheres de modo especial, j que as prticas culturais do mundo externo incentivam a individualizao feminina. No por acaso que Goffman (1996) utiliza o
exemplo de prostitutas presas numa de suas raras citaes sobre mulheres presas
para exemplificar a desconfigurao pessoal.
Para Goffman (1996), as instituies totais se constituem em uma grave ameaa ao eu. Nas prises especialmente, o indivduo despido de sua identidade e de
sua individualidade, compondo uma massa de iguais. No meio externo, o indivduo
possui territrios e objetos que se ligam aos seus sentimentos e atitudes de conservao do eu, como seu corpo, pensamentos, bens e aes. Contudo, nas instituies
totais, esses territrios do eu so violados; a fronteira que o indivduo estabelece
entre seu ser e o ambiente invadida, e as encarnaes do eu, profanadas (GOFFMAN, 1996, p. 31).
A rotina da instituio no s a vida diria como tambm as relaes entre
os internos e as destes com os superiores formalmente administrada, cheia de
regras impostas e regulamentadas, o que pode ocasionar a perda de intimidade do
indivduo; Goffman chama isso de exposio contaminadora. So exemplos de exposies contaminadoras o dossi sobre a vida pregressa do indivduo, a intimidade
imposta por funcionrios, a correspondncia aberta e as visitas familiares pblicas.
Esse mundo de regras impede que o sujeito se expresse com autonomia e liberdade, aes que, na sociedade civil, atestam que a pessoa toma atitudes adultas. A
impossibilidade de manter esse tipo de competncia executiva adulta ou pelo menos
os seus smbolos pode provocar no internado o horror de sentir-se radicalmente
rebaixado no sistema de graduao de idade (GOFFMAN, 1996, p. 46).
A compreenso desse conflito importante para entender a me no contexto prisional. Existe uma tenso, no processo de rebaixamento de autonomia adulta, que
pode ocorrer no interior das prises: a autonomia necessria para cuidar de filhos,
dentro e fora das prises, j que a maternidade um forte indicador, na vida das
mulheres, da chegada ao mundo adulto.
O processo de mutilao do eu pode gerar uma grande tenso psicolgica no indivduo e exigir dele uma reorganizao pessoal para a adaptao. Faz parte do
processo de adaptao o sistema de privilgios, que composto de regulamentos
claros, rgidos e formais, denominados, por Goffman, de regras da casa. O indivduo recebe prmios e privilgios, claramente definidos em troca de obedincia s
regras, e punies e castigos quando do seu descumprimento. Vale ressaltar que,
nas instituies totais, os prmios e privilgios podem significar apenas ausncia
de privaes (GOFFMAN, 1996).
A priso uma instituio total que, alm das questes levantadas anteriormente,
possui um carter punitivo e correcional, podendo gerar um atributo estigmatizante nos homens e mulheres presos, isto , a priso gera nos seus internos ou at mesmo ex-internos uma situao de inabilidade para a aceitao social plena. Goffman
(1988) afirma que tal estigma se estende para alm do indivduo estigmatizado;
para ele, a pessoa que se relaciona com outra estigmatizada (como os presidirios)
atravs de uma estrutura social (como a filiao) possibilita sociedade considerar
ambos uma s pessoa (GOFFMAN, 1988).
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
390
Stella C, Sequeira VC
Com essa contextualizao, podemos considerar que a separao materna pela
priso, a dade me-beb e os ambientes nos quais as crianas so acolhidas so
influenciados pela violncia do sistema punitivo, pela mutilao do eu pela qual
passa a me em uma instituio prisional e pelo carter distintivo do estigma. No
entanto, Bronfenbrenner, assim como Spitz, desconsidera a priso como contexto
ecolgico especfico e suas implicaes e transformaes impostas ao indivduo e ao
estabelecimento de suas relaes.
Os ambientes de guarda para filhos de mulheres presas
A ecologia do desenvolvimento humano oferece bons indicativos para uma reflexo sobre as possibilidades de guarda para filhos de mulheres presas.
De acordo com Bronfenbrenner, para os pesquisadores de laboratrio que enfatizam os estmulos fsicos, os efeitos que so observados no desenvolvimento da
criana em ambiente institucional se originariam do empobrecimento que a instituio propicia na estimulao ambiental com relao ao ambiente domstico com
presena materna. J os psicanalistas que seguem Bowlby afirmam que o fator
crtico seria a privao materna, a ausncia ou o rompimento do vnculo me-beb.
John Bowlby (1995) afirma que o vnculo materno essencial para a formao
da sade mental do beb, pois a angstia de sua privao pode causar graves e
duradouros comprometimentos afetividade e aos relacionamentos futuros dessas
crianas, desencadeando at mesmo comportamentos agressivos e delinquentes.
Bowlby (1995) descreve duas formas bsicas de privao materna: a total e a parcial. Na privao parcial, a criana desenvolve uma grande necessidade de ateno
e de sentimentos de vingana e, por conseguinte, culpa e depresso. Na privao
total, as consequncias so maiores, incapacitando a pessoa de estabelecer relaes
com outros. As angstias provocadas por relaes insatisfatrias na primeira infncia predispem as crianas a reagir, mais tarde, de forma antissocial diante das
tenses (BOWLBY, 1995 p. 15).
Spitz encontrou nas crianas da instituio um retardo desenvolvimental, propiciado pelo ambiente empobrecido. Os bebs que mais sofriam de depresso em
decorrncia da institucionalizao eram aqueles que tiveram, anteriormente, um
bom relacionamento com sua me ou com a figura materna. O impacto imediato da
institucionalizao era mais intenso nas crianas que foram institucionalizadas na
segunda metade do primeiro ano de vida, quando o apego e a dependncia do beb
com relao me costumam ser mais fortes.
No entanto, Bronfenbrenner (1996) defende a ideia de que, por mais que seja
traumtica a separao me-beb aps a primeira metade do primeiro ano de vida,
esses bebs se recuperam melhor e mais rapidamente se tiveram a oportunidade de
desenvolver e vivenciar um importante apego emocional me ou outra cuidadora
antes da separao.
O acolhimento da criana em uma instituio de cuidados, aps o seu desligamento da me, segundo Bronfenbrenner deve ser adiado o mximo possvel, uma
vez que, quanto mais tarde a criana admitida na instituio, maior a sua possibilidade de recuperao aps a sua sada (BRONFENBRENNER, 1996, p. 118).
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Guarda de filhos de mulheres presas e a ecologia do desenvolvimento humano
391
O processo desenvolvimental da criana pode ter seus efeitos agravados por duas
condies da instituio: quando no h condies para que cuidadora e criana se
envolvam em uma srie de atividades e quando o ambiente fsico inadequado, no
fornecendo criana oportunidades de locomoo e objetos que possa utilizar em
atividades espontneas.
A capacidade da pessoa de se adequar ao ambiente, como dito anteriormente,
faz parte do processo de desenvolvimento, que comea na infncia. Como afirma
Bronfenbrenner (1996),
A criana pequena, a princpio, confunde as caractersticas subjetivas e objetivas do ambiente e, em resultado, pode experienciar frustrao ou inclusive
danos corporais, na medida em que tenta alguma coisa fisicamente impossvel.
Mas, gradualmente, ela se torna capaz de adaptar sua imaginao aos limites
da realidade objetiva e inclusive de reformular o ambiente, para torn-lo mais
compatvel com suas capacidades, necessidades e desejos (BRONFENBRENNER, 1996, p. 10).
Assim, mesmo na instituio, a criana pode se adequar e procurar formas de
desenvolvimento. Bronfenbrenner (1996) acredita que o retardo desenvolvimental
possa ser evitado e at mesmo revertido se a criana, alm de ter um ambiente
fsico adequado e uma cuidadora que com ela interaja em diversas atividades, tiver
a presena de uma figura materna com quem possa desenvolver um forte apego
emocional.
No entanto, no s na instituio que o ambiente e as interaes podem prejudicar o processo desenvolvimental da criana; em alguns lares, a situao pode
ser to catica que, mesmo tendo uma srie de limitaes, a instituio se constitui
como a melhor opo para o desenvolvimento de algumas crianas.
As diferenas entre o lar e a instituio infantil no se limitam ao microssistema.
No nvel do mesossistema, a instituio infantil no se limita ao microssistema.
No nvel do mesossistema, a instituio fica muito mais isolada dos outros ambientes do que o lar, sendo menos provvel que a criana tenha experincias em
outros ambientes. Em termos do exossistema, o pessoal e as prticas de uma
instituio so menos suscetveis influncia da comunidade externa e menos
adaptveis a modificaes e inovaes no interesse da transio da criana para
outros ambientes. Finalmente, do ponto de vista dos valores e expectativas culturais, ser criado numa instituio traz consigo um estigma, que pode se tornar
uma profecia de fracasso (BRONFENBRENNER, 1996, p. 124).
A instituio abordada nos trabalhos de Spitz, Bowlby e Bronfenbrenner so instituies de abrigo (moradia) para as crianas que foram separadas de seus pais,
seja por morte, abandono ou guerra. As crianas que esto nesse tipo de acolhimento podem ter mais dificuldade de se inserir em mais de um ambiente pelo carter
impermevel de algumas instituies, o que pode ocorrer com as crianas em presdios. Porm, quando esto com a famlia, mesmo que substituta, as crianas tm
uma insero natural na sociedade (meso e exossistemas).
A ecologia do desenvolvimento humano oferece um modelo bastante complexo de
anlise das inter-relaes humanas, possibilitando o entendimento das influncias
ambientais nas implicaes da priso materna na vida dos filhos e das possibilidades de guarda dos filhos de mulheres presas em instituies, famlias ou presdios
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
392
Stella C, Sequeira VC
, que, por viverem uma experincia humana singular, modificam e so modificados pelos ambientes onde so acolhidos.
Consideraes finais
A separao me-filho, repentina ou no, em decorrncia da priso e de suas
possveis consequncias como a mudana no tipo de guarda da criana pode
influenciar o ambiente desenvolvimental no qual a criana est inserida, modificar
sua relao na dade me-filho e, consequentemente, for-la a passar por transies ecolgicas capazes de afetar o seu desenvolvimento.
O prprio evento prisional impe ao pai ou me uma mudana de papel, isto ,
uma transio ecolgica, que tem o poder de influenciar e comprometer a formao
das dades primrias, possivelmente estabelecidas com seus filhos, dentro ou fora
das prises; por conseguinte, as mudanas de papel ocorrem para os dois componentes da dade.
O ambiente prisional, por sua violncia, punio e isolamento social, pode influenciar o desenvolvimento das crianas e seus possveis tipos de guarda. Dentro
dos presdios, a dade me-beb pode ser afetada ou estabelecida a partir dos sentidos de priso para a me e das inter-relaes da me com os agentes penitencirios,
com as outras detentas, com as visitas que recebe e com a prpria instituio. Nesse
tipo de guarda, a criana pode ter dificuldade em se inserir em outros nveis de
interao social (mesossistema) pelas caractersticas da priso.
Na famlia substituta, a dade me-beb , na maioria das vezes, substituda pela
dade cuidadora primria-beb, que pode ou no ter parentesco com a criana. Nesse tipo de relao, a criana pode estabelecer um forte apego emocional, importante
para o seu desenvolvimento e sua insero em outros nveis do ambiente ecolgico.
Alm disso, na guarda substituta, h uma insero natural da famlia na sociedade,
o que possibilita a participao da criana em mais de um ambiente (mesossistema).
A guarda em instituies, por sua vez, pode ter uma srie de complicaes para as
crianas. O estabelecimento da dade primria, na instituio, pode ficar comprometido, j que as tarefas de cuidados com as crianas pequenas so divididas entre
vrias pessoas, impossibilitando, muitas vezes, a formao de um slido vnculo
emocional, importante para o desenvolvimento da criana, alm de dificultar o resgate do vnculo me-filho aps a liberao.
O impacto da separao pais-filhos pela priso pode produzir efeitos diversos de
acordo com o ambiente em que a criana est inserida, por exemplo, deve-se levar
em considerao se ocorreu a perda ou no de seu apoio financeiro e qual a qualidade dos vnculos estabelecidos e/ou mantidos com seus pais ou cuidadores durante
o aprisionamento destes.
Outro importante aspecto o estigma social, que tem sua reelaborao e sua fixao no macrossistema; no entanto, deve-se levantar a hiptese de que o indivduo
pode ou no sofrer suas consequncias de acordo com o que vivencia nos outros
nveis do ambiente ecolgico. Se a priso comum na comunidade (exossistema) em
que est inserido o estigma, ele pode no interferir nos nveis mais internos de seu
ambiente (meso e microssistemas) e no afetar o seu contexto de desenvolvimento.
Contudo, se a priso um fator que impossibilita a aceitao social plena, o estigma
pode ser um agravante do impacto da separao me-filho pela priso.
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Guarda de filhos de mulheres presas e a ecologia do desenvolvimento humano
393
As influncias prisionais no desenvolvimento da criana tambm dependem das
inter-relaes estabelecidas pelo sujeito em desenvolvimento. Nos primeiros dois
anos de vida, o beb tem apenas a capacidade de perceber o microssistema e um
ambiente de cada vez; para ele, o que importa so as pessoas e objetos que o envolvem diretamente a poca do estabelecimento de uma das dades primrias mais
significativas (me-filho), importante para a aquisio de futuras atividades desenvolvimentais. O estabelecimento da dade pode ser influenciado pela separao
materna (paterna) pela priso. A criana pequena j tem a noo de mesossistema e
torna-se consciente das relaes entre as pessoas e os eventos do ambiente, mesmo
os que no envolvam sua participao. Desse modo, a priso parental tem influncia
na criana no apenas pela separao dos pais, mas tambm por seu ato criminoso
e por sua deteno. J as crianas maiores so capazes de reconhecer as possibilidades de relao entre os ambientes, compreendendo a natureza punitiva da priso.
Assim, ao fim deste texto, entendemos o ambiente prisional como um contexto
especfico de desenvolvimento humano que carrega consigo todo um significado de
punio e segregao social e que, portanto, no pode ser considerado um ambiente
neutro, ou equivalente casa ou escola; antes, interfere em todo o processo desenvolvimental de crianas de mulheres presas e em seus processos de guarda.
Referncias
BOWLBY, John. Cuidados maternos e sade mental. So Paulo: Martins Fontes, 1995.
BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil (1988). Lex: legislao federal e marginlia, Braslia, 5
out. 1988.
BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispe sobre o Estatuto da Criana e do Adolescente e d outras
providncias. Dirio Oficial da Repblica Federativa do Brasil, Braslia, DF, 16 jul. 1990.
BRASIL. Censo penitencirio de 1995. Braslia: Ministrio da Justia, 1999.
BRASIL. Sistema penitencirio nacional do Brasil. Populao carcerria sinttica. Braslia: Departamento
Penitencirio Nacional, 2014.
BRONFENBRENNER, Urie. A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais e planejados.
Porto Alegre: Artes Mdicas, 1996.
FARRELL, Ann. The experience of young children and their incarcerated mothers: a call for humanly responsive
policy. International Journal of Early Childhood, v. 26, p. 6-12, 1994.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da priso. Petrpolis: Vozes, 1997.
FRANA, Marlene. Criminalidade e priso feminina: uma anlise da questo de gnero. Revista rtemis, v. 18,
n. 1, p. 212-227, jul./dez. 2014.
GABEL, Katherine; GIRARD, Kathryn. Long-term care nurseries in prisons: a descriptive study. In: GABEL, Katherine; JOHNSTON, Denise (Ed.). Children of incarcerated parents. Nova York: Lexington Books, 1995.
GARBARINO, James. A conceptual tool box for understanding childhood social and cultural worlds. Os mundos
culturais e sociais da infncia. Actas do congresso internacional. Braga: Cesc-Eiec da Universidade do Minho,
2000.
GOFFMAN, Erving. Estigma. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.
GOFFMAN, Erving. Manicmios, prises e conventos. So Paulo: Perspectiva, 1996.
MEZAN, Renato. Pesquisa terica em psicanlise. Revista Psicanlise e Universidade, v. 2, p. 51-75, 1994.
MYERS, Robert. The twelve who survive. Londres: Routledge, 1992.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
394
Stella C, Sequeira VC
SANTA RITA, Rosngela. Mes e crianas atrs das grades: em questo o princpio da dignidade humana.
2006. 162f. Dissertao (Mestrado em Servio Social) Universidade de Braslia, Braslia, 2006.
SO PAULO. Secretaria de Administrao Penitenciria. Censo penitencirio. www.sap.sp.br. So Paulo, 2002.
SPITZ, Ren. O primeiro ano de vida. So Paulo: Martins Fontes, 1993.
STELLA, Claudia. Filhos de mulheres presas. So Paulo: LCTE Editora, 2005.
Enviado em: 17/11/2014. Aprovado em: 15/06/2015.
Revista Eletrnica de Educao, v. 9, n. 3, p. 379-394, 2015.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271991195
Você também pode gostar
- BingoDocumento6 páginasBingoJean Carlos Bezerra100% (1)
- Kristen Ashley-Chaos-05-Wild Like The Wind-Rev-PLDocumento651 páginasKristen Ashley-Chaos-05-Wild Like The Wind-Rev-PLLaenia100% (2)
- ZALUAR. Desvendando Máscaras SociaisDocumento261 páginasZALUAR. Desvendando Máscaras SociaisDanFernandes90100% (5)
- TCC Ibra - Ed EspecialDocumento17 páginasTCC Ibra - Ed EspecialJoel da Silva100% (1)
- Caderno Dds JulhoDocumento25 páginasCaderno Dds JulhoJonatan SoaresAinda não há avaliações
- WL Counter 19 PortuguésDocumento349 páginasWL Counter 19 PortuguésVinicius RdcAinda não há avaliações
- FERNANDES, Daniel Fonseca SANTANA, Tainan Bulhões. A Presunção de Inocência e A Execução Antecipada Da Pena No STF PDFDocumento7 páginasFERNANDES, Daniel Fonseca SANTANA, Tainan Bulhões. A Presunção de Inocência e A Execução Antecipada Da Pena No STF PDFDanFernandes90Ainda não há avaliações
- .RODRIGUES, Anabela Miranda. Consesualismo e PrisãoDocumento25 páginas.RODRIGUES, Anabela Miranda. Consesualismo e PrisãoDanFernandes90100% (1)
- FERNANDES, Daniel Fonseca. O Grande Encarceramento Brasileiro - Política Criminal e Prisão No Século XXIDocumento54 páginasFERNANDES, Daniel Fonseca. O Grande Encarceramento Brasileiro - Política Criminal e Prisão No Século XXIDanFernandes90Ainda não há avaliações
- BRAGA, Ana Gabriela Mendes. Criminologia e PrisãoDocumento17 páginasBRAGA, Ana Gabriela Mendes. Criminologia e PrisãoDanFernandes90Ainda não há avaliações
- SILVA, Josué Pereira Da. Poder e Dierito em Foucault - Relendo Vigiar e Punir 40 Anos DepoisDocumento34 páginasSILVA, Josué Pereira Da. Poder e Dierito em Foucault - Relendo Vigiar e Punir 40 Anos DepoisDanFernandes90Ainda não há avaliações
- Atucaiados Pelo Estado - Vilma Reis PDFDocumento247 páginasAtucaiados Pelo Estado - Vilma Reis PDFMarcos RochaAinda não há avaliações
- Luiza Mahin - Uma Rainha Africana NoBrasilDocumento76 páginasLuiza Mahin - Uma Rainha Africana NoBrasilDanFernandes90Ainda não há avaliações
- NASCIMENTO, Abdias Do. Genocídio Do Negro Brasileiro.Documento92 páginasNASCIMENTO, Abdias Do. Genocídio Do Negro Brasileiro.DanFernandes90Ainda não há avaliações
- STF - HC-127573Documento5 páginasSTF - HC-127573DanFernandes90Ainda não há avaliações
- Marcelo Paixão - Antropofagia e Racismo PDFDocumento45 páginasMarcelo Paixão - Antropofagia e Racismo PDFDanFernandes90Ainda não há avaliações
- Tcc-Versão Final - CreatinaDocumento27 páginasTcc-Versão Final - CreatinaÁurea RomãoAinda não há avaliações
- Especialidade de AracnideosDocumento1 páginaEspecialidade de AracnideosMarcelo Xavier KaminskiAinda não há avaliações
- Curso 31045 Aula 00 v1Documento70 páginasCurso 31045 Aula 00 v1Dayanna DheniferAinda não há avaliações
- 3 As Ações de Enfermagem Frente À Sepse Uma Abordagem Do Paciente Crítico Uma Revisão Da LiteraturaDocumento17 páginas3 As Ações de Enfermagem Frente À Sepse Uma Abordagem Do Paciente Crítico Uma Revisão Da Literaturajéssica lopesAinda não há avaliações
- IU PA320 - PA321 - Cromonew VRE - Rev06 - 15.08.2023Documento2 páginasIU PA320 - PA321 - Cromonew VRE - Rev06 - 15.08.2023Jessica Cunha dos SantosAinda não há avaliações
- A Poligenia Americana e A Craniometria Antes de Darwin - S Jay GouldDocumento46 páginasA Poligenia Americana e A Craniometria Antes de Darwin - S Jay Gouldrebecabaeumleoliveira.estudosAinda não há avaliações
- Estudo Da Personalidade (Finalizado)Documento102 páginasEstudo Da Personalidade (Finalizado)NeonDWNAinda não há avaliações
- 06 Introdução À Elaboração de Projetos Bem SucedidosDocumento106 páginas06 Introdução À Elaboração de Projetos Bem SucedidosLidiane CunhaAinda não há avaliações
- Numerologia Da Cor Do NomeDocumento4 páginasNumerologia Da Cor Do NomeMarcos Antonio Zaniquelli100% (1)
- Tanatologia - CronotanatognoseDocumento82 páginasTanatologia - CronotanatognoseLuana PereiraAinda não há avaliações
- Min Plano TematicoDocumento6 páginasMin Plano TematicoIvan BilaAinda não há avaliações
- Ae Pal10 Teste1 Out2019Documento4 páginasAe Pal10 Teste1 Out2019MiguelAinda não há avaliações
- Aborto - Prob Morais Da Existencia HumanaDocumento3 páginasAborto - Prob Morais Da Existencia HumanadrpropeAinda não há avaliações
- Bauman PDFDocumento170 páginasBauman PDFHN Harry NetoAinda não há avaliações
- Rubem FonsecaDocumento22 páginasRubem FonsecaMarcelo De Andrade DuarteAinda não há avaliações
- Etnodesign Aplicação Dos Grafismos Da Etnia Indígena Krenak No Design de SuperfícieDocumento52 páginasEtnodesign Aplicação Dos Grafismos Da Etnia Indígena Krenak No Design de SuperfíciebellharaAinda não há avaliações
- Campânulas Da EstrelaDocumento3 páginasCampânulas Da EstrelairissimaoAinda não há avaliações
- Repensando o Animado, Reanimando o Pensamento - Tim Ingold PDFDocumento16 páginasRepensando o Animado, Reanimando o Pensamento - Tim Ingold PDFCícero PortellaAinda não há avaliações
- Postura Correta para As GestantesDocumento7 páginasPostura Correta para As Gestantesdomingues4294100% (1)
- POLUIÇÃO SONORA - Aspectos Ambientais e Saúde PúblicaDocumento21 páginasPOLUIÇÃO SONORA - Aspectos Ambientais e Saúde PúblicaJordan Henrique de SouzaAinda não há avaliações
- D29 - Resolver Problema Que Envolva Função Exponencial.Documento2 páginasD29 - Resolver Problema Que Envolva Função Exponencial.Allan Dias100% (1)
- Os Insaciaveis - Harold RobbinsDocumento645 páginasOs Insaciaveis - Harold RobbinsCarol LeopoldoAinda não há avaliações
- Livro Guia de Pragas Do MorangueiroDocumento49 páginasLivro Guia de Pragas Do MorangueiroBrunoHenriqueAinda não há avaliações
- Apostila BIOQUIMICA Prática 2024Documento43 páginasApostila BIOQUIMICA Prática 2024Christopher IngramAinda não há avaliações
- Wa0149.Documento8 páginasWa0149.lucco ffAinda não há avaliações