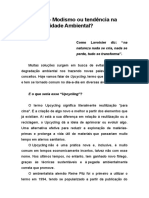Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Amor Bozon
Amor Bozon
Enviado por
Raul AçucenaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Amor Bozon
Amor Bozon
Enviado por
Raul AçucenaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
AMOR E CONJUGALIDADE NA CONTEMPORANEIDADE: UMA REVISO DE
LITERATURA
*
Leandro Castro Oltramari
RESUMO. O presente artigo se prope a realizar uma reviso bibliogrfica sobre a temtica do amor e da conjugalidade
no mundo contemporneo trazendo contribuies de autores como Bozon, Gagnon e outros. O amor tem sido uma
temtica de discusso diversificada das cincias humanas e sociais e principalmente da Psicologia. A perspectiva adotada
neste trabalho apresenta as contribuies da sociologia da sexualidade em uma reviso que traz o amor como uma
perspectiva de interao social vivenciada como sentimento amoroso. Esta anlise centra-se principalmente na teoria dos
roteiros sexuais, compreendendo o amor como uma prtica social, mas vivenciada como sentimento. Esta forma hbrida
constitui uma das principais caractersticas do amor na contemporaneidade.
Palavras-chave: Amor; roteiros sexuais; conjugalidade.
CONTEMPORARY LOVE AND CONJUGALITY: A LITERATURE REVIEW
ABSTRACT. The purpose of this article is to provide a bibliographic review about the theme of love and conjugality in
the contemporary world including contributions from authors such as Bozon, Gagnon and others. The theme of love has
been discussed not only in human and social science but particularly in psychology. The perspective adopted in this work
presents contribution from the sociology of human sexuality. Its revision demonstrates love as a social interaction
perspective experienced as a loving sentiment. The analysis focuses basically on the sexual scripts theory, which
understands love as a social practice although lived as a feeling. This hybrid form consists in one of the main
characteristics of contemporary love.
Key words: Love; sexual scripts; conjugality.
AMOR Y CONYUGALIDAD EN LA CONTEMPORANEIDAD:
UNA REVISIN LITERARIA
RESUMEN. La propuesta del presente artculo es realizar una revisin bibliogrfica sobre el tema del amor y la
conyugalidad en el mundo contemporneo, trayendo contribuciones de autores como Bozon, Gagnon entre otros. El amor
ha sido un tema de discusin de las ciencias humanas, sociales y principalmente de la psicologa. La perspectiva
adoptada en este trabajo trae contribuciones de la sociologa de la sexualidad. Esta revisin coloca el amor como una
perspectiva de interaccin social vivenciada como sentimiento amoroso. Este anlisis se centra principalmente en la teora
de los scripts sexuales, comprendiendo el amor como una prctica social vivenciada como sentimiento. Esta forma
hibrida constituye una de las principales caractersticas del amor en la contemporaneidad..
Palabras clave: Amor; scritps sexuales; conyugalidad.
Historicamente, o amor tem sido, durante sculos,
um dos mais declamados, procurados ou mesmo
desejados sentimentos relacionados ao comportamento
humano. Por muitas vezes referenciado como uma das
razes de viver, ou de sofrer, ele tem sido
responsabilizado tanto pelas felicidades humanas
quanto por suas mazelas. Em face disso, este artigo
*
prope-se a fazer uma reviso das leituras
contemporneas sobre o amor na literatura nas
cincias humanas. Pretende-se, aqui, fazer uma
discusso crtica a partir da ideia do amor como
sentimento para chegar-se questo central do texto,
que compreend-lo a partir do mundo
contemporneo no campo das cincias humanas.
Doutorado Interdisciplinar em Cincias Humanas. Professor Titular da Universidade do Vale do Itaja e Universidade do Sul de
Santa Catarina.
Psicologia em Estudo, Maring, v. 14, n. 4, p. 669-677, out./dez. 2009
670
Oltramari
A VIVNCIA DO SENTIMENTO AMOROSO
Existem vrias perspectivas para compreender o
amor. Para iniciarmos esta anlise, vamos partir de um
clssico sobre o assunto: o livro de Dennis de
Rougement (1939/2003). Este pensador suo, nascido
no ano de 1906, escreveu a obra A histria do amor
no ocidente, publicada em 1939 e considerada, por
muitos autores, uma das mais importantes do sculo
XX sobre a temtica do amor. Para realizar sua
anlise, o autor partiu do mito de Tristo e Isolda. Em
seu estudo, revelou que a ideia de amor reinante em
nossos dias relativamente nova, tendo surgido em
torno do sculo XII e estando fortemente marcada por
caractersticas ocidentais. Isso no quer dizer que no
existia relao integrada entre o afeto e a sexualidade,
como nos revela o pensamento grego a partir da leitura
de Foucault (1998, 1999); mas o que significativo
aqui que, a partir do sculo XII, o amor passa a ter
uma identidade que lhe d certa autonomia e liberdade
com relao s interaes sociais. A partir desse
momento, parece que o amor no necessitava de
outros ingredientes. Ele bastava a si mesmo.
O amor romntico se constitui, assim, como
aquele que nunca alcana a correspondncia,
continuando como uma busca contnua. ainda
Borges (2004) que cita o exemplo do romance de
Tristo e Isolda, a mesma obra analisada por Denis de
Rougement, apontando que, nesse mito, o amor
percebido como uma doena da alma, que pessoas
como Isolda, personagem do romance, decidem
contrair. Podemos perceber isso a partir do que os
estoicos pensavam sobre o amor.
Segundo Freire Costa (1998), estas informaes
so importantes para podermos compreender que hoje
se vive com base em concepes do amor romntico
que fazem uma mistura de iluso e realidade, de
ganhos e perdas, de avanos, paradas e recuos no
campo das relaes humanas (1998: 150). Assim, o
amor, segundo o autor, suporte de predicao
moral (Idem: 161) e tanto pode representar felicidade
quanto sofrimento.
Vale ressaltar que a ideia de amor no
correspondido a tnica dos principais romances da
cultura ocidental. Para Borges (2004), a literatura
amorosa representa uma grande contribuio para
entender como o amor compreendido na
Modernidade. A autora usa como exemplo a obra de
Goethe Os sofrimentos do jovem Werther, que,
segundo ela, foi causadora de inmeros suicdios no
sculo XVIII. Tal livro trata da dor de um amor no
correspondido.
Psicologia em Estudo, Maring, v. 14, n. 4, p. 669-677, out./dez. 2009
Ainda segundo Borges, a ideia contempornea de
amor surge do pensamento grego, que pressupe trs
tipos de amor: Eros, philia e caritas. Eros originado
do pensamento platnico e lembra o amor romntico,
aquele que talvez seja o mais prximo deste conhecido
atualmente. Este tipo de amor est ligado falta, ou
seja, ao sofrimento. Seria aquele amor que busca ser
alcanado. J o amor philia est prximo ao
pensamento de Aristteles e encontra-se relacionado a
um desejo de partilhar a companhia do outro,
principalmente se for atravs da virtude. querer o
bem do outro. Por ltimo, o amor gape ou caritas,
que est mais prximo da philia, um amor que est
atrelado ao bem do outro, muito prximo do
humanismo cristo. Assim, gostar de algum seria
amar esta pessoa incondicionalmente e s lhe fazer o
bem. O amado nada mais , para o amante, que
algum a quem ele deseja fazer o bem.
possvel perceber aqui uma relao entre as
caractersticas que Rougement define para o amor
romntico e as atribuies que Borges estabelece ao
que Plato chamara de Eros. Isso ocorre porque,
segundo Rougement (2003), o amor corts foi
constitudo a partir de uma idealizao do amor
carnal. Ele faz relaes que demonstram que o amor
corts tem uma influncia mstica ou mesmo religiosa.
Por exemplo, em alguns poemas de trovadores que
cantavam o amor mulher amada, esta era comparvel
a Deus, perfeio. Este ponto pode ser identificado
no texto de Macfarlane (1990) quando, citando o
poeta ingls John Milton, que viveu entre 1608-1674,
revela que este aponta que a perda de Ado e Eva do
direito de viver no paraso no foi devida
insubordinao em comer o fruto proibido, mas sim,
ao ato de Ado colocar Eva acima de Deus; ou seja, o
amor f-lo escutar a amada, e no a Deus. Assim
podemos identificar que Rougement defende que o
amor-paixo glorificado pelo mito foi realmente, no
sculo XII data de sua apario , uma RELIGIO
na mais plena acepo do termo e especialmente
UMA HERESIA CRIST HISTORICAMENTE
DETERMINADA (2003: 192; grifo do autor).
Outro autor que tambm dissertou sobre o amor
foi o socilogo Georg Simmel, que viveu entre 1858 e
1918. Ele elaborou fragmentos de textos organizados
em uma obra chamada Filosofia do amor, na qual
realizou uma discusso abordando o amor a partir do
egosmo. Para Simmel, o amor um sentimento que se
atrela mais diretamente ao seu objeto, ou seja, o objeto
amado. Ele se estabelece de uma forma que, quando
consolidado, descarta o aspecto central que o mediou,
sendo
percebido
como
um
acontecimento
transcendental a si mesmo. Assim, veremos que o
671
Amor e conjugalidade na contemporaneidade
amor , na maioria das vezes, percebido como algo
transcendente sua prpria existncia, ou seja,
relao na qual ele surgiu. O sujeito que ama
defende o autor tem a impresso de que a vida dele
est nica e exclusivamente mediada pelo amor do
sujeito amado e a servio dele. Simmel ainda faz uma
reflexo importante, pois, segundo ele, no amor h
uma condio trgica que promove, entre os sujeitos, a
necessidade de fundir-se com a pessoa amada, de
modo a constiturem uma s pessoa. Ele postula tais
questes a partir de princpios sociolgicos, pois
descarta a ideia do amor com motivaes apenas
biolgicas.
Vale dizer que esta ideia de amor transcendental,
descrita por Simmel, muito comum com relao ao
sentimento amoroso. Podemos identificar tal
associao em pesquisas sobre coup de foudre
realizadas por Marie-Noelle Schurmans e Loraine
Dominicie (1997). Elas pesquisaram o que seria, para
os brasileiros, a ideia de amor primeira vista, ou
seja, arrebatador e quase mstico. De acordo com esta
concepo, o amor vem de algum lugar que no se
consegue identificar e vivido de forma intensa em
relao a algum especfico.
Em outro estudo de Simmel (1909/2001),
publicado originalmente em 1909 e chamado A
psicologia do coquetismo, o autor faz a relao do
amor entre o ter e o no ter. Ele tambm revela que
o amor se configura como um esgotamento quando se
realiza; ou seja, quando o amante possui o objeto
amado, o amor passa a no existir mais. O autor revela
que o amor tanto mais buscado quanto mais difcil se
torna realiz-lo (mais uma vez, a imagem do amor
inalcanvel atrelado ao sofrimento se faz presente).
Para a conquista do objeto amado, ele observa que
homens e mulheres relacionam-se a partir do que ele
denomina coquete. O autor descreve o coquetismo
como uma forma especfica de homens e mulheres
estarem um em relao ao outro, de maneira que se
sintam mutuamente atrados ou atraentes. O
significado do coquetismo tem uma relao direta com
tornar-se desejvel ao outro, atravs de gestos ou
mesmo de comportamentos. O coquetismo seria o jogo
de seduo elaborado pelos amantes para fazer
desencadear ou despertar o sentimento do amado.
isso que possibilita que as pessoas sintam interesse por
outra pessoa e a amem.
Continuando a discusso sobre o amor primeira
vista a partir da pesquisa de Schurmans e Dominicie
(1997), elas afirmam que estas lgicas de pensamento
do coup de foudre expressam formas de dar respostas
religiosas, ou mesmo por meio de crenas e de magias,
para explicar o mundo em que se vive. As autoras
Psicologia em Estudo, Maring, v. 14, n. 4, p. 669-677, out./dez. 2009
utilizam Jung para concluir que o amor est ligado a
uma relao de autonomia e de troca. Para tais autoras,
a paixo revela uma forma de fazer o sujeito valorizar
o objeto amado e desvalorizar-se a si prprio e, assim,
tornar a relao fusional, j que na paixo existe
uma abolio de limites entre o amado e amante.
No estudo de Schurmans e Dominicie (1997), as
referidas autoras chegaram concluso de que o amor
primeira vista vivido, muitas vezes, como
sentimento benfico ou malfico. O incio do encontro
percebido como maravilhoso, mas as dificuldades
que o relacionamento apresenta posteriormente vo
determinando uma mudana de imagem. Os
entrevistados relataram o amor primeira vista como
algo que acontece como um flash, algo instantneo.
Muitas vezes, em suas pesquisas ele esteve
relacionado irracionalidade ou a sentimentos
incontrolveis.
O amor vira objeto em si mesmo. Isso pode ser
identificado na obra Fragmentos de um discurso
amoroso, publicada originalmente em 1977 pelo
filsofo, escritor e semilogo francs Roland Barthes.
Este autor revela que, por vezes, na anulao,
caracterstica de um dos fragmentos deste discurso
amoroso, o amor se torna um fenmeno procurado
pelos amantes que resulta em uma anulao pessoal
quando acreditam que o encontram. Para o autor,
existe, portanto, uma relao de dependncia com o
objeto amado. Os amantes sentem uma sensao de
ausncia de realidade quando amam.
O AMOR COMO UMA PRTICA SOCIAL
A segunda abordagem explicitada aqui ser
aquela que relaciona o amor a uma prtica social
exercida atravs do que denominamos roteiros
sexuais. A perspectiva dos roteiros sexuais, defendida
por Gagnon (2006; 1999) e por Simon e Gagnon
(1986; 1984), aborda a constituio da sexualidade e
do desejo, assim como o amor, a partir de uma relao
de roteirizao destes fenmenos. Assim, eles
defendem que as pessoas iro amar outras porque
existe uma condio social e cotidiana que d
possibilidades para que isto ocorra.
Para compreender o amor como um roteiro
sexual, utilizaremos uma abordagem desenvolvida
pelo socilogo Michel Bozon (2005), segundo o qual
existem vrias vises sobre o amor, encontradas
principalmente na literatura. Para ele, importante
compreender que o amor se constitui como fenmeno
prtico cujo sentido se encontra em um jogo. Ele um
ato de conceder a si mesmo ao outro. Bozon cita
Luhmann, para quem o amor age como um cdigo
672
geral de comunicao, que cria os fundamentos da
intimidade contempornea, relaes intersubjetivas e
de um domnio da intimidade (Bozon, 2005, p. 2).
Destarte, vale dizer que existe uma relao
constituidora do amor a partir das mais variadas
interaes sociais que o conduzem a uma ao prtica,
mas que ele , sim, vivenciado como um sentimento.
Por isso inegvel que, dentro do mundo
contemporneo, existe uma relao direta com o que
pensamos e com o que concebemos sobre o amor, a
partir de sua vivncia como sentimento. Dessa forma,
ele se institui no interior de uma srie de roteirizaes
(Gagnon, 2006) que nos levam a sentirmo-nos
atingidos pelo amor de algum ou a tocar o corao de
outra pessoa. Vale, no obstante, lembrar que isso
acontecer
nas
relaes
interpessoais
que
denominamos prticas sociais.
Bozon (2005) afirma que a compreenso do que
seja o amor deve partir da ideia de uma prtica social,
cotidiana, de um roteiro. Uma das primeiras aes
definidoras deste contexto so as informaes ou
trocas de confidncias quando as pessoas esto se
conhecendo Os amantes vo concedendo a pequenos
gestos, como envio de fotos, de pequenas cartas (hoje
e-mails), entre outros, que, de uma forma mais
consistente, iro constituindo a relao amorosa no
como algo mstico, mas sim, como uma construo
passo a passo, na interao de um com o outro.
Vale dizer que as pesquisadoras Schurmans e
Dominicie
(1997),
citadas
anteriormente,
identificaram as estratgias amorosas como coletivas e
inconscientes. As dinmicas coletivas forjam os
habitus, que possibilitam que os sujeitos tenham
interesse uns pelos outros. Elas ainda citam o italiano
Alberoni (1994) para relatar que ele trata a paixo
como uma constituio do ns, ou seja, uma
dimenso interpessoal por excelncia.
por isso que, para Barthes (2003), toda relao
amorosa um drama, pois o encontro o evento
fundador de um possvel amor que ser constitudo
e que poder ser longo ou curto, dependendo do tipo
de relao que ser estabelecido. Desta forma, o
encontro, que a primeira fase do amor, parece
mgico, pois acontece antes de se sucederem os
conflitos
e
os
confrontos
intrnsecos
ao
relacionamento amoroso.
Barthes (2003) revelou a importncia do papel da
comunicao na roteirizao do lao amoroso. Ele
ilustra isso quando refere que a carta de amor uma
forma esvaziada, mas, ao mesmo tempo, cheia de
sentido para a expresso do amor. Por exemplo, a
carta de amor faz com que o sujeito ao qual ela
endereada se sinta amado e, ao mesmo tempo,
Psicologia em Estudo, Maring, v. 14, n. 4, p. 669-677, out./dez. 2009
Oltramari
cobrado a responder a ela. Assim, a comunicao
uma dimenso interpessoal que auxilia na constituio
do sentimento amoroso. Com isso, entendemos que
esses pequenos gestos configuram a constituio da
prtica amorosa.
Seguindo ainda o raciocnio de Bozon, o
socilogo alemo Niklas Luhmann, que foi aluno de
Jurgen Habermas, em seu texto Amour comme
passion, originalmente publicado em 1982, diz que o
amor uma relao de comunicao interpessoal e
social entre as pessoas. Ele no deve ser
compreendido, ou mesmo tratado, como sentimento;
um cdigo simblico que informa sob que condies o
sujeito ir amar outra pessoa. O autor revela que o
amor passa a ser percebido como uma fonte de
informaes, e no mais como uma inveno mental.
O que se pensa hoje sobre o amor que constitui um
sentimento que existe antes mesmo de os sujeitos
encontrarem um parceiro, pois h um cdigo
partilhado, que construdo anonimamente por todas
as pessoas e comum a todos. Para Lhumann, o amor
permite ao outro dar alguma coisa precisamente
sendo tal como ela (Luhmann, 1990, p. 40).
AMOR E REFLEXIVIDADE
Luhmann (1990), assim como Giddens (1993), faz
meno reflexividade na contemporaneidade, que
propicia a individualizao das relaes entre as
pessoas e do sentimento amoroso. Para Giddens
(1993), tais relaes individualizadas so as causas do
fracasso do casamento fundado no amor, pois uma das
caractersticas que ele define como um dos sucessos
dos relacionamentos reflexivos seria a necessidade de
uma diferenciao entre as pessoas, ou seja, um
respeito por sua individualidade. J para Luhmann
(1990), o problema do individualismo um impasse
dentro da modernidade, pois, de maneira geral, as
pessoas compreendem que o amor deve ser vivido de
maneira a ser atrelado ao imaginrio do amor
romntico, e assim o fazem em uma busca
gradativamente intensa. Por exemplo, a autora
Purificacion Gomes (1992) revela que o amor tem
sido cada vez mais procurado dentro dos
relacionamentos de conjugalidade. A autora revela que
grande parte das dissolues conjugais acontece
porque o amor acaba, mas logo as pessoas entram
em novos relacionamentos, procurando o amor que
terminou no anterior.
O individualismo talvez demonstre um paradoxo
dentro da relao entre individualidade e autonomia
que se encontra hoje nos laos de conjugalidade.
Segundo Giddens (1993), os laos de intimidade esto
673
Amor e conjugalidade na contemporaneidade
mais atrelados ao que chamamos hodiernamente de
relacionamentos amorosos. Na contemporaneidade
essa expresso tem mais sentido do que a prpria ideia
de casamento. O autor, apesar de fazer uma distino
entre o amor romntico e o amor passion, deixa
transparecer que o amor romntico incorporou
elementos do amor passion, como, por exemplo, uma
busca pelo sujeito amado sempre com expectativas de
que os sentimentos do incio do relacionamento se
perpetuem. Vale dizer que o amor romntico acaba
sendo novo dentro da histria do amor, j este sempre
se diferenciou da paixo. Podemos compreender que
na Modernidade existe uma relao direta entre essas
duas formas de relacionamento, porquanto, se
entendermos que o amor passa a ser direcionado no
mais apenas ao companheirismo, mas tambm ao
prazer atrelado sexualidade, amor e paixo se
aproximam muito.
A CONJUGALIDADE NA
CONTEMPORANEIDADE
A conjugalidade no mundo contemporneo est
sendo abordada por alguns autores, dentre eles
Giddens (1993) e Bauman (2004), que tratam das
incertezas que a modernidade trouxe aos
relacionamentos amorosos. Segundo os autores, as
pessoas sentem a necessidade de buscar vnculos
amorosos materiais em uma sociedade que coloca
dificuldades nas constituies dos vnculos sociais.
Para Zygmunt Bauman (2004), na Modernidade
os laos afetivos se tornam cada vez mais frgeis, o
que decorre das crescentes relaes de consumo
caractersticas de nosso contexto histrico; mas o
autor tambm afirma que, mesmo dentro desta
fragilidade, existe uma necessidade de relacionamento
entre as pessoas - estes relacionamentos apenas esto
mais rpidos e menos cristalizados do que em tempos
atrs. Ele se refere metfora do amor lquido como
uma forma de compreender a complexidade das
relaes afetivas do ser humano na atualidade. Apesar
das caractersticas efmeras do amor, interessante
perceber quanto ainda este almejado como se fosse
eterno, mesmo sabendo-se que poder durar menos do
que imaginamos. Como a insegurana causa mal-estar,
podemos compreender que as pessoas envolvidas em
relacionamentos amorosos tentam control-los como
se controlam investimentos realizados no mercado.
Sobre o amor na Modernidade, por exemplo,
Luhmann (1990) revela que, para ser amor e
diferenciar-se de sentimentos como a paixo mais vil,
necessrio tempo de relacionamento, segurana e
algo que o torne mais estvel; mas o grande problema,
Psicologia em Estudo, Maring, v. 14, n. 4, p. 669-677, out./dez. 2009
segundo o mesmo autor, que assim o amor destri a
si mesmo. Vale explicar que isso acontece porque o
amor e a paixo se constituem como lados da mesma
moeda dentro da Modernidade, tendo o casamento
como seu fim, apesar de a histria mostrar que nem
sempre eles andam juntos. Segundo o autor, enquanto
o amor procura serenidade, a paixo procura
aventuras; porm, o amor se constitui dentro de uma
lgica de busca por uma institucionalizao. Segundo
a psicloga social Vergas Silva,
O amor romntico uma prova social da
capacidade mpar humana de significar e dar
sentido a fenmenos. Estas representaes se
manifestam em palavras, sentimentos e
condutas que se institucionalizam, e que,
assim, regularizam e impem nossa forma de
amar (Silva, 2005, p. 3933).
Assim podemos compreender que, para a
existncia de uma relao de conjugalidade, o amor
estabelecido por meio da confiana1 entre os
parceiros. Desta forma, Silva (2005) revela que a
confiana um dos requisitos fundamentais para a
realizao do amor. Sem ela, no h possibilidade de
relacionamento institucionalizado. As pessoas vivem
com o desejo quase indissolvel da fidelidade como
uma instncia nica de realizao do amor romntico.
A certeza de que o eleito nico e eterno muito
forte nesta perspectiva. O imaginrio romntico
concebe a ideia de indissolubilidade dos amantes.
Silva revela que o amor, mesmo na sociedade
ocidental, sentido de forma idealista.
Para Anthony Giddens (1991), a confiana
um fenmeno necessrio sociedade moderna, pois
esta deriva das transformaes das relaes sociais.
Para ele, a confiana s existe em uma relao de
risco, e o sujeito tem de estar consciente deste.
Segundo o autor, se este sujeito no consegue prever
ou considerar os riscos existentes nas relaes sociais,
mantm um comportamento de crena, pois esta
pressupe que elementos que so familiares
permaneam estveis. Sem percepo dos riscos
presentes na relao, um indivduo que no considera
alternativas est numa situao de crena, enquanto
algum que reconhece essas alternativas e tenta
calcular os riscos assim reconhecidos se engaja em
confiana (Giddens, 1991, p. 39). Podemos, porm,
pensar que a confiana pode ser um tipo de crena,
e alguns pontos podem ser considerados para
1
A confiana uma categoria muito utilizada para designar
uma das estratgias dos casais para diferenciar os
relacionamentos srios daqueles sem menor importncia.
674
revelarmos por que a confiana se consolida na
Modernidade. Quando h uma ausncia no tempoespao, as pessoas necessitam confiar em algo que no
visvel. Outra questo importante que a confiana
se relaciona credibilidade que uma pessoa tem na
relao com outra. esta credibilidade proporcionada
pelo outro que possibilita estabelecer-se a confiana.
No caso da conjugalidade, parece ser esta a forma de
estabelecimento da confiana. Assim, possvel
compreender, a partir do autor, que dentro das
relaes de conjugalidade a confiana est relacionada
com uma possibilidade de risco aceitvel para as
pessoas, desde que no se desestruturem as relaes
sociais entre elas e aqueles com quem se relacionam.
Quando confia, a pessoa pode calcular um risco e
saber de sua ameaa. Confiando-se, pode-se
estabelecer um comportamento de segurana diante
dos riscos. A segurana, aqui, delimitada como uma
situao na qual um conjunto especfico de perigos
est neutralizado ou minimizado (Idem, p. 43).
Ento o amor ser, segundo Freire Costa
(1998), o que ele chama de crena emocional, assim
como Giddens (1991) define a confiana como
quase atrelada ideia de uma aposta. A ideia de
crena
emocional
fundamental
para
compreendermos as relaes no interior da
conjugalidade. Estas emoes amorosas, sentidas
quando se est no calor do relacionamento, so
vividas como reais, e essa realidade que impulsiona
os sujeitos a pensarem no amor como algo
transcendental, vivido de forma imortalizada pelos que
esto envolvidos. Esta emoo experienciada como
julgamentos irrefletidos, e faz com que os amantes
sintam possuir a mesma identidade do companheiro, j
que o amor permite aos sujeitos dar estabilidade a algo
que instvel, como se caracterizam hoje as relaes
sociais. A partir desse momento, compreenderemos
que na Modernidade o amor se constituir como um
importante elemento para a conjugalidade. O amor,
para Freire Costa, uma inveno que nada mais fez
do que tornar os seres humanos caadores deste
suposto sentimento. Em tempos contemporneos as
pessoas se sentem fracassadas quando no encontram
algum para amar, ou ainda quando encontram e mas
o amor no se constitui como o desejado; ou seja, o
amor um tipo de objetivo que o ser humano
contemporneo tende a nunca encontrar. Ainda assim
interessante pensar que esta insegurana ou
desesperana no leva as pessoas a desistirem dele,
ao contrrio, faz com que cada vez mais ele seja
buscado.
Destarte, para compreender como os laos
afetivo-sexuais se formam, necessrio perceb-los
Psicologia em Estudo, Maring, v. 14, n. 4, p. 669-677, out./dez. 2009
Oltramari
dentro de um leque de interaes sociais. Para Freire
Costa (1998), o amor no mgico; ele seletivo, da
mesma forma exposta por Bozon (2001a) quando se
refere homogamia. Esta questo importante, pois
se vive o amor de forma espontnea, de modo que
quanto mais ele for sentido desta forma, mais ele
considerado puro. Ambos os autores descrevem o
amor como uma experincia que se faz atravs de uma
lgica prtica, como qualquer outra que imprimimos
em nossa vida ou seja, escolhemos amar os iguais,
pessoas que compartilhem as mesmas identidades que
as nossas, possuindo os mesmos gostos e
identificando-se com caractersticas similares s de
quem se ama.
Vale lembrar que autores como Bozon (2004b)
indicam que as relaes de conjugalidade tm se
mostrado cada vez mais atreladas ao que ele
compreende como homogamia, a qual formada a
partir de similares condies sociais e existenciais e
implica na unio entre sujeitos que possuem grande
afinidade socioafetivo-intelectual. O casamento
constitui, a partir da homogamia, um mecanismo
poderoso de cristalizao das clivagens sociais
(Schurmans & Dominicie, 1997, p. 93).
Segundo Foucault (1999), o vnculo conjugal,
para os gregos, era associado a uma relao de ajuda
mtua e de companheirismo, alm da procriao; mas
os gregos j compreendiam que o casal era uma forma
de unificao dos cnjuges, principalmente porque o
casamento era descrito como uma prtica cotidiana de
encorajamento e de cumplicidade entre eles. Podemos,
dessa maneira, identificar que o casamento era o lugar
da legitimidade do ato sexual, o que no significa que
ele fosse o nico espao em que a relao sexual
pudesse acontecer.
CONJUGALIDADE E AMOR: OS DILEMAS DA
MODERNIDADE.
Partindo
destas
concepes,
devemos
compreender que a sexualidade do casal no se
constitui seno como um cenrio cultural no qual os
sujeitos tm referncias para agir sobre a realidade.
Podemos dizer que existe uma forma - que Bozon
(2001b) chama de orientaes ntimas - pela qual a
sexualidade ir conformar-se. Para o autor, as
orientaes ntimas constituem verdadeiros quadros
mentais que delimitam o exerccio da sexualidade,
definindo o sentido que lhe dado e indicando o papel
da sexualidade desempenhado dentro da construo de
si (Bozon, 2001b, p. 13, traduo nossa).
Como a sexualidade passa por mudanas, assim
como o amor, devemos compreender que os laos de
Amor e conjugalidade na contemporaneidade
conjugalidade decorrem de um momento de
complexificao das relaes amorosas. Apesar de ter
ocorrido uma mudana significativa nas relaes entre
homens e mulheres, ainda se percebe que no se pode
falar de igualitarizao dos seus papis, e isso ajuda a
compreender as formas complexas como a
conjugalidade vm constituindo-se, isto , sob um
contexto de permanncia dos valores e das tradies
concomitantemente dom suas mudanas, assim como
de transformaes das identidades e dos papis
sexuais. Um exemplo citado por Bozon (2001c)
refere-se a uma pesquisa de Daniel Welzer-Lang sobre
o mundo swing2. O pesquisador revela que o
fenmeno swing fez diminuir o interesse dos homens
pela prostituio, porque estes utilizam suas esposas
para ter acesso a outras mulheres. Tal prtica no se
tornou necessariamente uma forma mais igualitria de
relaes entre homens e mulheres, pois muitas destas
se submetem a ela por imposio do companheiro.
Dessa maneira, conforme Bozon (2001a, 2004a),
a sexualidade do casal na Modernidade se conforma
melhor a um modelo de sexualidade individual, que
est cada vez mais presente nos cotidianos sexuais.
Ele tece tal afirmao levando em conta que o desejo
individual a marca da sociedade contempornea. As
relaes sexuais hoje se configuram mais de forma
narcsica que altrusta, mas ainda assim existem
representaes que constroem, para o casal, a ideia de
que os limites entre as duas pessoas podem acabar, de
que os integrantes no tm mais diferenas entre si.
o que ocorre, por exemplo, com a ideia do casal
fusional (Heilborn, 2004). Isso se d porque, segundo
o autor, pode haver orientaes ntimas contraditrias
a partir dos diferentes espaos que ocupam as pessoas
que se relacionam.
Essas relaes ntimas, citadas por Bozon
anteriormente, podem ser compreendidas a partir da
psicloga social Sharon Brehm (1991). Segundo essa
autora, existe uma necessidade de compreenso das
relaes ntimas como uma forma de interao social
que ela identifica como troca; ou seja, existem,
segundo ela, recompensas, custos e troca social em
qualquer relao que suponha algum tipo de
intimidade. As recompensas so classificadas por
determinados atributos, como as caractersticas fsicas
do companheiro, beleza, inteligncia, assim como a
ateno dispensada pelo companheiro ou ainda o
auxlio prestado em algum momento da vida. Os
recursos tambm podem ser financeiros, inclusive em
2
Swing uma palavra conhecida no Brasil para designar o
que se conhece popularmente como troca de casais. Na
Frana, os autores chamam de Lechangisme.
Psicologia em Estudo, Maring, v. 14, n. 4, p. 669-677, out./dez. 2009
675
determinados tipos de relao. Os casais, portanto,
estabelecem redes de relaes nas quais os laos
ntimos se constituem a partir dessas caractersticas de
trocas.
claro que essas redes de relaes vo sendo
constitudas dentro de um universo de interaes, que
complexo, com intensas aproximaes e
afastamentos entre as pessoas que se relacionam
conjugalmente. Por exemplo, Brehm diz que a relao
do casal se caracteriza por atribuies sobre o que um
pensa em relao ao outro e, ainda, sobre o
relacionamento entre ambos. Segundo ela, o
relacionamento conjugal percebido como uma troca
ntima de comunicao entre as pessoas.
O que mais caracteriza a intimidade, segundo
Brehm (1991), o fato de as relaes de intimidade,
que se intitulam amor, surgirem dentro dos aspectos
de comunicao interpessoal. O amor se estrutura a
partir da. A comunicao tem uma importante tarefa,
que o revelar-se ao outro. Ela argumenta que existe,
para os amantes, um abrir-se ao outro, para mostrar-se
quem . De alguma forma, a exposio faz com que se
alimente a confiana entre as pessoas. Podemos
afirmar, mediante as informaes elencadas, que as
relaes de intimidade dentro da conjugalidade
estabelecem o que podemos compreender como um
contrato. No se trata, entretanto, de um contrato pela
tradio, mas sim, de um contrato pela vontade de
estar junto com o outro. Segundo Bozon (2001c), o
casamento um contrato contnuo que prev o
envolvimento dos companheiros. O amor e o sexo tm
papel primordial dentro desse contrato.
Segundo Kaufmann (2003), a sexualidade e o
amor acabam tomando uma dimenso exponencial na
vida do casal conjugal moderno. As pessoas ainda
colocam o amor como um valor; elas podem
interessar-se por vrias pessoas, mas no amar mais
que uma. Em outras palavras, as pessoas vivem a
exclusividade no relacionamento amoroso. Dessa
forma, o autor revela que o discurso sobre o amor
dentro da conjugalidade realizado atravs da ideia de
devoo. Ele ainda revela que os sujeitos aparecem
amando mais o amor que o objeto amado, porque o
amor percebido como sendo de definio
inqualificvel.
Kaufmann (2003) tambm afirma que estamos
longe de romper com a ideia de amor como algo
transcendental no contexto das relaes conjugais. O
amor conjugal parece ser um sentimento vivido
hibridamente entre a personificao daquele que o
vive e o sentimento em si. O amor materializou-se
como mito a partir de representaes histricas; ele
assim se constituiu como um sentimento,
676
Oltramari
principalmente a partir da conjugalidade. Vale
ressaltar que o sentimento amoroso se inscreve em
uma relao identitria entre aqueles que amam.
Estudos de Psicologia Social de Endo, Heine &
Lehman (2000) sobre conjugalidades e identidades
revelam que existe uma caracterstica comum
subjacente aos discursos das pessoas que vivem
relacionamentos afetivos amorosos em pases
ocidentais: elas consideram suas relaes de modo
mais positivo do que as relaes de outras pessoas.
Para os entrevistados, portanto, suas relaes sempre
so melhores que as dos outros. As mulheres
pesquisadas compreenderam seus relacionamentos
afetivos familiares como positivos mais do que os
homens.
Dessa forma, podemos pensar que o
estabelecimento daquilo que os casais compreendem
por confiana nada mais do que esta forma de tentar
controlar o incontrolvel, pois esta no possibilidade
de previso sobre o outro impossibilita a vida das
pessoas, j que a dvida uma constante na vida do
casal. O ser humano procura por segurana ante a
imprevisibilidade da vida e tenta fugir da fragilidade
dos laos do mundo moderno. Isto quer dizer que,
segundo Apostolidis e Deschamps (2003), como
vimos anteriormente, os relacionamentos de
conjugalidade estabelecidos nos dias de hoje se do a
partir de uma relao prazerosa. Assim sendo,
compreendemos a existncia de uma diferena entre a
vivncia e a no vivncia da conjugalidade. que os
sujeitos estabelecem relaes de conjugalidade e
perspectivam a construo de um projeto de vida em
comum com aqueles que elegem como amados,
enquanto aqueles que vivenciam relacionamento sem
conjugalidade no o elaboram.
CONSIDERAES FINAIS
O presente trabalho apresentou uma reviso
bibliogrfica sobre o amor dentro da perspectivas de
autores contemporneos, que o tm compreendido no
como um sentimento, mas como uma prtica social
construda atravs de roteiros sexuais que se
constituem no universo social e interpessoal dos
amantes. A principal constatao na literatura
consultada aponta para aquilo que se pode identificar
como uma hibridizao das concepes de amor; ou
seja, o amor ainda tem fortes componentes do
elemento romntico, mas incorpora cada vez mais
elementos daquilo que no passado foi chamado de
amor paixo. Assim as pessoas continuam procurando
as emoes da paixo com a segurana que o amor
traz por meio da confiana. Talvez seja esta dupla
Psicologia em Estudo, Maring, v. 14, n. 4, p. 669-677, out./dez. 2009
funo incorporada pelo amor no mundo
contemporneo o que tem trazido descontentamento e
ao mesmo tempo sua busca incessante. Pode-se assim
dizer que o amor tem apresentado uma roupagem
nova para ainda permanecer no centro dos interesses
e buscas do ser humano. Ele no perdeu sua fora.
Hoje ele mais importante do que era em tempos
atrs. Talvez ele tenha se tornado mais central do que
o era nos tempos de Sheakspeare e sua obra clssica
Romeu e Julieta.
REFERNCIAS
Alberoni, F. (1994). L Vol Nupticial: l`imaginaire amoureux
ds femmes. (P. Girard, Trad.). Paris: Plonm.
Apostolidis, T; Deschamps, J.-C. (2003). Une Approche
Psychosociale De Lamour: Logiques normatives et
reprsentations. Dans Nouvelle Revue de Psychologie
Sociale, 2(2) 216-227.
Barthes, R. (2003). Fragmentos de um Discurso Amoroso. (M.
V. M. de Aguiar, Trad.) So Paulo: Martins Fontes.
Bauman, Z. (2004). Amor Lquido: sobre a fragilidade dos
laos humanos. (C. A. Medeiros, Trad.). Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor.
Borges, M. L. (2004). Amor. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor.
Bozon, M. (2004a). A nova normatividade das condutas
sexuais ou a dificuldade de dar coerncia s experincias
intimas. Em Heilborn, M. L. (Org.), Famlia e sexualidade.
(pp.119-150). Rio de Janeiro: FGV
Bozon, M. (2001a) Les cadres sociaux de la sexualit. Dans
Socits contemporaines. 41-42, 5-9.
Bozon, M. (2001c) Sexuality, gender and the couple: a
sociohistorical perpective. In Annual Review of sex
research, (12) 1-30.
Bozon, M. (2005). Supplment um post-scriptum de Pierre
Bourdieu sur lamour ou peut-on um thorie damour
comme pratique (mimeo).
Bozon, M. (2004b). Sociologia da sexualidade. Rio de Janeiro:
FGV.
Bozon, M. (2001b). Orientations intimes et construtions de soi.
Pluralit et divergences dans les expressions de la
sexualiat . Em Socits contemporaines. 41-42, 11-40.
Brehm, S. (1991). Las relaciones intimas. Em Moscovici, S.
(Org.).
Psicologia
social
I.
(pp.211-236).
Barcelona/Buenos Aires/Mxico: Ediciones Paids.
Endo, Y, Heine, S. J, Lehman, D. R. (2000). Culture and
Positive Illusions in Close relationships: How My
Relationships Are Better Than Yours. In Personality And
Social Psychology Bulletin. 12(26) December, 1571-1586.
Foucault, M. (1999). Histria da sexualidade: a vontade de
saber. Rio de Janeiro: Graal.
Foucault, M. (1998). Histria da sexualidade: o uso dos
prazeres. Rio de Janeiro: Graal.
Amor e conjugalidade na contemporaneidade
677
Freire Costa, J. (1998). Sem fraude nem favor: estudos sobre o
amor romntico. Rio de Janeiro: Rocco.
Rougement, D. (2003). Histria do amor no ocidente. (P.
Brandi, E. B. Cachapuz, Trad.). So Paulo: Ediouro.
Gagnon, J. H. (1999). Les uses explicites et implicites de la
perspective des scripts dans les recherches sur la sexualit.
Dans Actes de la recherche em scienes sociales, 128, 7379.
Schurmans, M-N, & Dominicie, L. (1997). L coup de foudre
amoureux: essaide sociologie compreensive. Paris: Press
Universitaires de France.
Gagnon, J. (2006). Uma interpretao do desejo: ensaios sobre
o estudo da sexualidade. (L.R. da Silva, Trad.). Rio de
Janeiro: Garamond.
Giddens, A. (1993) A transformao da intimidade:
sexualidade, amor e erotismo nas sociedades (M. Lopes,
Trad.). So Paulo: UNESP
Giddens, A. (1991). As consequncias da modernidade. (R.
Finker, Trad.). So Paulo: Editora UNESP.
Gomes, P. B. (1992). Separao contingncia do casamento?
Em Porchat, I. (Org.), Amor, casamento, separao: a
falncia de um mito. (pp. 127-144). So Paulo: Brasiliense.
Silva, V. V. A. (2005). Pra que rimar amor e dor: um estudo
sobre as formas contemporneas de representao e
expresso do sofrimento amoroso. Em III Jornada
Internacional de Representaes Sociais Joo Pessoa/PB.
(pp. 3931-3940). IV Jornada Internacional e II Conferncia
Brasileira sobre Representaes Sociais.
Simmel, G. (2001). Filosofia do amor. So Paulo: Martins
Fontes. (Original publicado em 1909).
Simon, W, Gagnon, J. H. (1986). Sexual scripts: permanence
and change. In Archives of sexual behavior. 2(15), 97-120.
Simon, W, Gagnon, J. H. (1984). Sexual scripts. In Society, 5360.
Heilborn, M. L. (2004). Dois par: gnero e identidade sexual
em contexto igualitrio. Rio de Janeiro: Garamond.
Kaufmann, J-C. (2003). Sociologie du couple. Paris: PUF.
Luhmann, N. (1990). Amour comme passion: de la codification
de l`intimite. Paris: Aubier.
Recebido em 24/03/2008
Aceito em 21/10/2008
Macfarlane, A. (1990). Histria do casamento e do amor. (P.
Neves, Trad.). So Paulo : Companhia das Letras.
Endereo para correspondncia :
Leandro Castro Oltramari. Rua das Azalias, 1606, Bosque das Manses, CEP 88108-400, So
Jos-SC, Brasil. E-mail: leandrooltramari@gmail.com
Psicologia em Estudo, Maring, v. 14, n. 4, p. 669-677, out./dez. 2009
Você também pode gostar
- Cybelec DNC60 User ManualDocumento101 páginasCybelec DNC60 User ManualAndre LucasAinda não há avaliações
- Explicando "Explicação" de Carlos Drummond de AndradeDocumento1 páginaExplicando "Explicação" de Carlos Drummond de AndradeMarcos Galvel MoraisAinda não há avaliações
- Fredie Didier JR PDFDocumento14 páginasFredie Didier JR PDFViníciusRochaAinda não há avaliações
- Dialogos Feministas - Cor - 18 05 2021.compressedDocumento229 páginasDialogos Feministas - Cor - 18 05 2021.compressedVeronica TosteAinda não há avaliações
- Fleurbaey - Manifesto Pelo Progresso Social - Ideias para Uma Sociedade MelhorDocumento223 páginasFleurbaey - Manifesto Pelo Progresso Social - Ideias para Uma Sociedade MelhorVeronica TosteAinda não há avaliações
- OPT - Sociologia de Norbert EliasDocumento2 páginasOPT - Sociologia de Norbert EliasVeronica TosteAinda não há avaliações
- 2019.2 Metodologia de Pesquisa Social I - Fernando Rabossi e Flavio CarvalhaesDocumento5 páginas2019.2 Metodologia de Pesquisa Social I - Fernando Rabossi e Flavio CarvalhaesVeronica TosteAinda não há avaliações
- Andrea Nye - Teoria Feminista e As Filosofias Do HomemDocumento285 páginasAndrea Nye - Teoria Feminista e As Filosofias Do HomemVeronica TosteAinda não há avaliações
- Texto Violencia de Genero, Pentecostalismo e Política Jacqueline - Jacqueline Moraes TeixeiraDocumento26 páginasTexto Violencia de Genero, Pentecostalismo e Política Jacqueline - Jacqueline Moraes TeixeiraVeronica TosteAinda não há avaliações
- 1 - MartineauDocumento12 páginas1 - MartineauVeronica TosteAinda não há avaliações
- 6 - Olympe de GougesDocumento16 páginas6 - Olympe de GougesVeronica TosteAinda não há avaliações
- Serrote35 36-Amostra PDFDocumento23 páginasSerrote35 36-Amostra PDFVeronica TosteAinda não há avaliações
- Texto Violencia de Genero, Pentecostalismo e Política Jacqueline - Jacqueline Moraes TeixeiraDocumento26 páginasTexto Violencia de Genero, Pentecostalismo e Política Jacqueline - Jacqueline Moraes TeixeiraVeronica TosteAinda não há avaliações
- PanditaDocumento11 páginasPanditaVeronica TosteAinda não há avaliações
- Como As Instituições Pensam (Mary Douglas)Documento161 páginasComo As Instituições Pensam (Mary Douglas)Elaine Da Silveira LeiteAinda não há avaliações
- Manual de Boas Práticas para Processos Seletivos - GT - UFFDocumento9 páginasManual de Boas Práticas para Processos Seletivos - GT - UFFVeronica TosteAinda não há avaliações
- Programa de Curso - Interseccionalidade e Marcadores Sociais Da Diferença - Maria Elvira Diaz-BenitezDocumento11 páginasPrograma de Curso - Interseccionalidade e Marcadores Sociais Da Diferença - Maria Elvira Diaz-BenitezVeronica TosteAinda não há avaliações
- Araújo - O Negro Na DramaturgiaDocumento7 páginasAraújo - O Negro Na DramaturgiaVeronica TosteAinda não há avaliações
- A Mensagem A Igreja de EsmirnaDocumento6 páginasA Mensagem A Igreja de EsmirnaAlex Luiz100% (1)
- Fichamento Do Capítulo "Máscaras", in Formação Da Literatura Brasileira (Antônio Cândido)Documento2 páginasFichamento Do Capítulo "Máscaras", in Formação Da Literatura Brasileira (Antônio Cândido)Tábita AraújoAinda não há avaliações
- Gersé Jordão Da Silva - Evangelização Através de FolhetosDocumento7 páginasGersé Jordão Da Silva - Evangelização Através de FolhetosGersé JordãoAinda não há avaliações
- Agravo de InstrumentoDocumento4 páginasAgravo de InstrumentoYuri Vallinoto Pará RodriguesAinda não há avaliações
- Direito Imobiliário - O Guia Completo - Blog Do JurisDocumento10 páginasDireito Imobiliário - O Guia Completo - Blog Do JurisGustavo MaiaAinda não há avaliações
- Porta Garrafa WandinhaDocumento9 páginasPorta Garrafa Wandinhajaviersito1A100% (2)
- Filosofia - 10 - A Necessidade Uma Fundamentação Da MoralDocumento9 páginasFilosofia - 10 - A Necessidade Uma Fundamentação Da Moralmaria brancoAinda não há avaliações
- E 14 CipeDocumento33 páginasE 14 Cipethais cristina saitoAinda não há avaliações
- Dilemas de Uma Maternidade ConscienteDocumento18 páginasDilemas de Uma Maternidade ConscienteNicole ResendeAinda não há avaliações
- Exercicio 65dc5c26185d7aeacfa59eb3 GabaritoDocumento18 páginasExercicio 65dc5c26185d7aeacfa59eb3 Gabaritoraphaelrocha.3rAinda não há avaliações
- Dou Te Meus Olhos Uma Analise Da ViolenciaDocumento42 páginasDou Te Meus Olhos Uma Analise Da ViolenciaThais LorenaAinda não há avaliações
- Aula Prática IDocumento2 páginasAula Prática Ilidia NhamonaAinda não há avaliações
- Anita Mills - O Sósia Do Duque PDFDocumento169 páginasAnita Mills - O Sósia Do Duque PDFGabriele BastosAinda não há avaliações
- Trabalho de Conclusão de Curso Última Versão RevisadoDocumento51 páginasTrabalho de Conclusão de Curso Última Versão RevisadoEdinalva BarrenseAinda não há avaliações
- Direito Penal EstrategiaDocumento121 páginasDireito Penal EstrategiaDenisioMouraAinda não há avaliações
- O Homem Que Leu A AlmaDocumento5 páginasO Homem Que Leu A AlmaIsabel GonçalvesAinda não há avaliações
- Configuracao MikrotikDocumento23 páginasConfiguracao MikrotikMarcos GarridoAinda não há avaliações
- Ez Tec Empreendimentos E Participações S.ADocumento4 páginasEz Tec Empreendimentos E Participações S.ARenan Dantas SantosAinda não há avaliações
- Extra ToDocumento2 páginasExtra ToCris Leani LimaAinda não há avaliações
- Prova Do Ensino Medio 1 AnoDocumento4 páginasProva Do Ensino Medio 1 AnoSueli Ferreira Silva100% (1)
- Upcycling e ReciclagemDocumento9 páginasUpcycling e ReciclagemSheron VitorinoAinda não há avaliações
- Domínios Climáticos em PortugalDocumento2 páginasDomínios Climáticos em PortugalRaquel SantosAinda não há avaliações
- PREPARAcaO INTENSIVA PGE SP METAS DA SEMANA 04Documento2 páginasPREPARAcaO INTENSIVA PGE SP METAS DA SEMANA 04paulo felixAinda não há avaliações
- Aula 2 - Recomendações NutricionaisDocumento39 páginasAula 2 - Recomendações NutricionaisKarem100% (2)
- Ensino de GeografiaDocumento10 páginasEnsino de Geografiabeto100% (1)
- 25 Sabedoria Dos SamuraisDocumento2 páginas25 Sabedoria Dos SamuraisGilson Giovani MachadoAinda não há avaliações
- SISBOVDocumento134 páginasSISBOVFernanda Paola ButarelliAinda não há avaliações