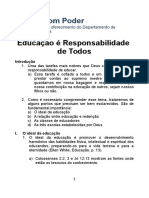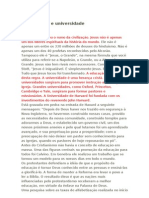Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Texto Publicação Verbum
Enviado por
Emerson InácioTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Texto Publicação Verbum
Enviado por
Emerson InácioDireitos autorais:
Formatos disponíveis
VERBUM (ISSN 2316-3267), n. 8, p. 4-16, mai.
2015 EMERSON DA CRUZ INCIO
LUSOFONIA(S), CRTICA E SUBJETIVIDADE
Emerson da Cruz INCIO1
Doutorado em Letras/UFRJ
Ps-Doutorado/Universidade do Porto
Docente FFLCH/USP
Pesquisador/CNPq
Apenas a imaginao histrica pode
meditar sobre a diferena entre o que vem
e o que poderia vir, bem como entre o
passado e o presente. Preservar esse
exerccio deve, portanto, ser o ponto de
partida
de
qualquer
articulao
emergente da razo crtica. importante
lutar contra a reduo tendencial do
pensamento condio de um meio para
a reproduo tcnica do que existe.
(Alberto Moreiras, 2002, p. 30)
RESUMO
Este artigo pretende discutir a ideia de lusofonia em relao ao processo crtico e s novas
subjetividades que escrevem e/ou so representadas pela Literatura. A questo envolve o fato de ser ou
no esta ideia capaz de envolver procedimentos e produes to diversas como aquelas que se observa
na atualidade dinmica dos vrios povos que falam a Lngua Portuguesa.
Palavras-chave: Lusofonia. Literaturas de Lngua Portuguesa. Identidades. Periferias.
Numa palestra proferida em 2012, por ocasio do lanamento da 35. Edio de
Cadernos Negros, coletnea brasileira anual que rene autoras e autores negros e
afrosdecendentes, Lus Silva, o Cuti, crtico literrio e poeta negro, participante do coletivo
negro Quilombhoje, demonstrava certa preocupao com a forma como esta produo seria
denominada nas livrarias e tratada nas escolas e universidades. No poderia ser chamada
literatura negra, posto que tanto esbarraria no problema da literatura de terror que no Brasil
j carrega este nome h uns bons anos quanto no fato de haver artistas no-negros e noafrodescendentes que produzem e militam por esta literatura. Diante de possibilidades como
afrodescendente, negrobrasileira, negrfica, o poeta optava por enfatizar o fenmeno e
Endereo eletrnico: einacio41@gmail.com
VERBUM (ISSN 2316-3267), n. 8, p. 4-16, mai.2015 EMERSON DA CRUZ INCIO
deixar a nomenclatura para um momento em que a sedimentao cultural e esttica j
estivesse em consolidao.
A preocupao de Cuti tenha talvez parecido maioria dos espetadores daquele
lanamento apenas leitores um preciosismo que partia de quem, como ele, est h quase
40 anos preocupado com a conformao esttica e crtica de uma produo intelectual e
artstica, bem como em historicizar e divulgar a obscura (com trocadilho) e silenciosa
produo de autoria negra no Brasil. Para aquele pblico presente na Galeria Olido, espao
cultural no centro de So Paulo um mar de turbantes, dread locks, bons e cabelos raspados
a fala de Cuti fora apenas mais uma de suas emblemticas intervenes. Entretanto, eu e
mais uns 4 ou cinco colegas de universidades paulistas, mineiras e baianas sabamos bem da
dimenso da fala do poeta. Nos entreolhamos e concordamos silenciosos que os Cadernos
Negros se tratavam menos de um objeto da crtica e mais, sim, da materialidade de um projeto
libertrio e alternativo que ao ser cooptado pelos rtulos poderia ser silenciado em sua
capacidade resistiva, transgressiva ou vanguardista.
A situao que me serve de introduo gravita no entorno de questes as quais
gostaria de refletir, j que ao fim sabemos que os objetos com os quais lidamos a Literatura,
a Lngua e a Histria Cultural so profundamente determinados pelos rtulos que neles
colocamos, bem como por conceitos e noes que parecem conformar tais objetos e no deles
nascerem. Traduzo: quando um leitor capacitado passa a se referir a certa produo como
Literatura Negra, tal classificao menos tem a ver com o que foi produzido e mais com o
que vir, uma vez que novos produtores, interessados na prpria insero dentro de um campo
especfico, passam a produzir de forma a atender s silenciosas exigncias de um rtulo.
O mesmo ocorre com o que prefiro chamar ideia de Lusofonia, possibilidade que
vive entre a herana histrica de um colonialismo indesejado e a esperana futura de um
comunitarismo lingustico e identitrio que vejo impossvel toda vez que uma cidad ou
cidado falante do portugus, minimamente atento, me pergunta: o que que tu pensas do
acordo lingustico? No fim, um mar de descontentamentos, diria Cames desconcertado. E
reno aqui duas questes dspares e problemticas por sab-las mais prximas que talvez
imaginemos.
Por exemplo, ao se referirem Lusofonia como (im)possibilidades, tanto o escritor
Mia Couto quanto o filsofo Eduardo Loureno apelam ao fato de que a lngua que nos diz,
muito menos que nos dizemos nela; e nessa lngua que nos aproxima estaria a chave para esta
suposta unidade na diversidade sobre o que se apoia o pensamento lusofnico, j que se os
5
VERBUM (ISSN 2316-3267), n. 8, p. 4-16, mai.2015 EMERSON DA CRUZ INCIO
sujeitos se imaginam unidos em torno dessa expresso lingustica; na verdade, no esto j
que mais se tratam de Lnguas Portuguesas que necessariamente um corrimo apenas sobre os
quais todos nos apoiamos. E a situao se agrava porque as subjetividades majoritrias
sustentadas por esta lngua se confrontam no campo maior da cultura, entre o velho discurso
a lngua nossa e a constante vivificao que todo idioma vivo e em franco uso passa. Se
partirmos do pressuposto defendido por alguns, ou seja, de que a Lngua Portuguesa pertence
a um povo e foi dada como concesso a outros, pensamento alis muito utilizado pelo senso
comum e pelo grande universo de falantes, no h como haver a ideia de Lusofonia, j que eu
no posso pertencer ao que no me pertence. Nem mesmo se eu, antropofagicamente, fizer
aqui valer a premissa de Oswald de Andrade quando nos diz, em seu Manifesto
Antropofgico, que s me interessa o que no meu.
Ainda com Eduardo Loureno, temos a clareza da impossibilidade de um todo
lusfono, como imaginado por Agostinho da Silva e defendido pelo professor Fernando
Cristvo: o Brasil no tem pai, no tem me, nasceu de biogenesis ou, melhor, sofre de
esquecimento crnico de sua memria histrica, fato bem demarcado na dissoluo de uma
memria espacial e geogrfica portuguesas em cidades como So Paulo e Rio de Janeiro. Ao
lado disso, o jogo do mascaramento e a absoro da mscara como parte da subjetividade:
fomos tomados em 1500 e nascemos grandes em 1822, pelos auspcios de um prncipeimperador que era portugus. Preferimos acreditar que Pedro I nascera no Brasil e ali ficara
porque era brasileiro e que toda e qualquer lembrana de base colonial existente antes de 1808
fora apenas um detalhe conjuntural. Na imanncia da nossa histria, o gesto antropofgico
como procedimento eterno: ingerimos o perodo colonial, transformamos-lhe em nossa idade
da pedra e lhe pusemos a mscara que nos convinha para a inveno, ainda no sculo XIX, de
uma identidade brasileira que nada tivesse a ver com os portugueses que ali estiveram. Fora
mais fcil esquecer-lhes como atores sociais da nossa histria e resgatar-lhes do limbo quando
o projeto de embranquecimento nacional brasileiro fora posto em prtica na virada do XIX
para o sculo XX, enfatizando-lhe seu maior contributo: a Lngua Portuguesa.
Claro est que pensarmos o conceito de Lusofonia no diz respeito a apenas pensar
uma possvel aproximao de carter institucional promovida pelos pases que (tambm) se
utilizam da Lngua Portuguesa como idioma oficial, mas pensar o quanto e como tal conceito
opera sobre as subjetividades e sobre os indivduos que compem estes pases, j que no
existe fenmeno que tangencie a experincia histrica que no envolva tambm as mulheres e
homens que nela agem. Quando recorro aqui ao aspecto lingustico, ao recente acordo
6
VERBUM (ISSN 2316-3267), n. 8, p. 4-16, mai.2015 EMERSON DA CRUZ INCIO
ortogrfico, penso tanto nesta lngua que nos diz como indivduos quanto no fato de ela
favorecer a criao de um rtulo que no atende por completo s subjetividades abrangidas
por esta lngua. Na prtica, a Lusofonia um recorte por cima, posto que, ao pensar uma
suposta universalidade ou uma abrangncia satisfatria, exclui do processo as subjetividades
mais midas, a histria dos vencidos, como muito bem nos aponta Walter Benjamin em seu
Sobre o conceito de Histria, ao opor o historicismo ao materialismo histrico. Interessa
que compreendemos, afinal, em nome de que e em favor de quem falamos quando adotamos
como orientao a Lusofonia.
Embora tenhamos, no campo dos estudos literrios, diferenas de base terica muito
grandes, principalmente surgidas nos ltimos 40 anos, a lgica lusofnica muito me lembra as
premissas da Sociologia da Literatura e seus operadores crticos herdados da Sociologia: as
grandes falas que arregimentam o entendimento da matria literria devem girar em torno da
raa, da nacionalidade e quando muito da classe social, os trs marcadores sociais histricos.
Para que tenhamos um exemplo, basta que olhemos o trabalho dos grandes crticos brasileiros
e portugueses que atuaram neste vis, como Antnio Candido e scar Lopes: a nfase estava
na construo de um discurso sobre a nacionalidade, baseado especificamente na experincia
de homens e de algumas mulheres que escreveram desta ou daquela forma porque eram
brasileiros e portugueses. No fim, a escrita fortalecia uma certa identidade que se pretendia
alcanar, que tinha como meandro o uso desses marcadores sociais e que nivelava por cima as
especificidades da produo escrita, valorizando sempre o discurso da nacionalidade como
nica forma de se determinar o pertencimento ou no de uma obra a um sistema especfico.
Quando tocamos na ideia de Lusofonia, no parecemos distantes disto, j que em
ltima instncia trata-se da construo de uma unidade e de uma identidade que se d pela
lngua e se desdobra numa intentada conformao cujo ponto de partida no unitrio e nem
previsvel: a Lngua. Cabe sempre lembrar que a Lngua Portuguesa tal qual a imaginamos s
mesmo imaginada nos corredores e salas de aula das universidades e escolas e que, em
pases como Guin, Cabo Verde, So Tom e Prncipe, Moambique e Angola, as formas
dialetais crioulas e lnguas especficas de grupos tnicos so efetivamente as lnguas
utilizadas. A Lngua Portuguesa, quando muito, reflete-se em forma aplicada pelas elites
culturais, tendo sido utilizada como fator positivo de unidade nacional, criao de uma
identidade possvel e para o fortalecimento de uma ideia de raa aqui utilizada como povo
escolhido e ao mesmo tempo conjunto de caracteres biolgicos e humanos que descrevem
este povo. Em outras palavras, a aquilo em que se pretende apoiar a Lusofonia o seu maior
7
VERBUM (ISSN 2316-3267), n. 8, p. 4-16, mai.2015 EMERSON DA CRUZ INCIO
problema, uma vez que sempre ir refletir um pressuposto ideolgico e lingustico que impe
uma ditadura da minoria, j que alguns dos povos a que acima nos referimos no podem ser
povos lusfonos porque simplesmente no falam o Portugus. Da mesma forma, quando
pensada para Sociologia da Literatura, imagina a criao de um sistema literrio e cultural
baseado no idioma, esbarra nas formas no expressas naquele idioma e que coexistem com
outras, privilegiadas, e mais calmamente admitidas como cannicas. Nesse caso, comete-se o
erro antes j observado, que o de apagar os fatores que criam as diferenas produtivas, por
consider-los inoportunos construo de um campo ideolgico majoritrio e, portanto,
perigoso.
E a questo parece ganhar contornos mais grossos e problemticos quando pensamos a
atualidade: possvel que pensemos conceitos de tendenciosa abrangncia que no levem em
considerao os outros marcadores sociolgicos de diferena, incorporados ao campo das
Cincias Sociais e Humanas nos ltimos 30 anos, a saber, gnero, etnia e sexualidade e
orientao? Se estes marcadores, presentes no trabalho potico de Ana Paula Tavares, Ana
Lusa Amaral, Vera Duarte, Conceio Lima, Valdo Motta, Al Berto, Eduardo Pitta, Horcio
Costa, Roberto Piva, so operadores de leitura e, muitas vezes, a forma de acesso aos poemas
e narrativas2, penso que no possamos conceber conceitos, quaisquer que sejam, que no os
levem em conta, sob o risco de retornarmos a um imanentismo crtico pouco coetneo ou
pouco atual. Ou, pior, aprisionamos os objetos literrios, fluidos e livres, dentro dos
conceitos!
Por outro lado, se aprendemos com Jacques Derrida que a diferena no distingue mas
produz uma outra forma de aproximao e um outro entendimento no baseado na lgica das
oposies cartesianas e saussureanas, devo considerar que no se possa escandir um conceito
percebendo-o apenas numa lgica discursiva que a tudo aproxima sem que as partes sejam
vistas na sua especificidade, na sua diferena produtiva.
E aquela era a hora do mais tarde, diz, ainda, Riobaldo, narrador de Grande Serto:
Veredas (ROSA, 1968, p. 454), ao terminar o funeral da Diadorim que fora homem at
momentos antes. E talvez ns, crticos de vises to diversos, vivamos este mais tarde que
redunda dos momentos atuais, em que a farra do ps-tudo se impe sem que tenhamos
resolvido questes de base como o Modernismo e a Modernidade, as noes de Literatura e
O termo narrativa aqui utilizado no sentido ressignificado por Hommi Bhabha (The Right To Narrate) e
amplamente utilizado atualmente em diversas reas das Cincias Humanas. Diz respeito no apenas capacidade
do sujeito de se dizer, mas de, emancipando-se discursivamente, tambm se enunciar-se, produzindo assim
novos discursos.
VERBUM (ISSN 2316-3267), n. 8, p. 4-16, mai.2015 EMERSON DA CRUZ INCIO
qual enfim o papel do texto de arte num concerto humano e scio-cultural como os atuais. Ou
mesmo as questes de fundo to presentes e atuais, a saber, como a lusofonia e a pscolonialidade. Da mesma forma, temos lidado com um objeto a profuso terica que,
antes que o tenhamos apreendido, mesmo que parcialmente, se transmuda em um outro que
no conseguimos mais abranger, dado o seu tom polimrfico. Como objetos da e na
linguagem, cabe lembrar que a teoria e a crtica so fenmenos fractais e que, nessa
transmutao, nem sempre cabem os objetos literrios com os quais trabalhamos ou, s vezes,
falta teoria objetos com os quais dialogue com satisfao.
Deixo claro: no falo contra a teoria nem contra os conceitos que dela advm, mas em
favor de um campo terico e analtico que diga com mais eficincia nossa experincia de
utentes da Lngua Portuguesa, resultado de fenmenos coloniais mais ou menos recentes e das
demandas terceiromundistas e neoliberais muito contemporneas. Em outras palavras,
temos de ter claro que se esperamos a descolonizao poltica, ideolgica e cultural, devemos
esperar de ns como crticos, analistas e tericos tambm um processo de descolonizao
crtica, principalmente no cada vez mais vasto e bablico campo dos estudos comparatistas,
onde, num processo dadasta, tudo acaba por converter-se em nada. Ou no!
Se fizemos bem em des-hierarquizar os objetos culturais, aproximando texto literrio
da adaptao cinematogrfica ou pondo a conversarem Literatura e Msica, parece-nos que
haja um vazio, sobretudo na tentativa emancipatria de criarmos um arcabouo terico que
nos descreva na particularidade afro-asio-ibero-americana que nos caracteriza como sujeitos
de um processo cultural dinmico e mltiplo, mesmo que no seja possvel compreender os
vrios fenmenos literrios de Lngua Portuguesa por um nico e mesmo vetor crtico. No
outro lado da moeda, teorias, s mais vastas, que nem sempre correspondem s nuances de um
processo ideolgico particular, em que da herana cultural mais opressora a Lngua nasa
e renasa no Brasil e nos pases africanos, o fator de unidade lingustica e nico meio de lhes
tornar possvel o universo diverso que so. No defendemos aqui um lusotropicalismo
Freyre nem sua proposta de libertina e afetiva relao entre colonizador e colonizado, visto
que os tempos nos provaram o que sustentava tal romantizao; apenas reiteramos o carter
diverso do mundo que o Portugus/portugus criou, para usarmos aqui as palavras do
prprio socilogo. E mesmo no caso portugus.
E em se tratando dos aspectos controversos daquilo que hoje chamamos
comparatismo literrio, podemos tomar de emprstimo o exagero de Alberto Moreiras em
seu A exausto da Diferena (2002), quando descreve o embate entre os estudos literrios e
9
VERBUM (ISSN 2316-3267), n. 8, p. 4-16, mai.2015 EMERSON DA CRUZ INCIO
culturais no mbito da Associao Brasileira de Literatura Comparada ABRALIC. O crtico
e professor da Universidade de Duke afirma termos ns, os brasileiros, nessa luta, deitado
fora a gua, a criana e a bacia, justo por no conseguirmos apaziguar na nossa crtica os
acirrados nimos at hoje to vvido quanto a luta Lingustica/Lngua Portuguesa entre os
imanentistas, a sociologia da literatura e os recm-chegados Culturalistas. Alis, ao adjetivo
vale um esclarecimento: quela altura, no Brasil, em 1998, Estudos Culturais ambientavam
tudo e quaisquer coisas que no pertencessem ao campo de compreenso fosse da crtica
histrico-marxistas, cultores dos reflexos entre Literatura e Sociedade ou das vertentes
estilsticas. Naqueles ento estudos culturais, entrvamos ns, os outros e ainda os que
faltaram chegar, numa anomia identitria e terica que, no caso brasileiro, tendeu a funcionar
por certo tempo, mas no para sempre e redundou por um lado na perda do foco na
textualidade literria e, por outro, no reavivamento de certas posies radicais que parecem
esvaziar a Literatura de sua relao com a sociedade, com a ideologia e com a Histria.
No caso especfico da Sociologia da Literatura, a soluo encontrada nos anos de 1950
e 1960, em resposta leva Estruturalista, nascera com um problema de formao: como
explicar, usando os paradigmas de Nao (como a arregimentao do sistema literrio);
Classe (a burguesia como produtora e receptora do texto, no fim); e Raa (como base temtica
da Literatura) uma produo que surgira e se conformara na rasura dessas trs matrizes
sociolgicas, como o caso da Literatura Brasileira e mesmo das ento nascentes Literaturas
Africanas? Escusaram-se desse entendimento, claro, noes como Gnero (mesmo em seu
grau zero, masculino, portanto) e as tenes tnico-raciais j ento presentes nos nossos
autores de Lngua Portuguesa, mesmo naqueles que, no caso portugus, dedicavam-se a uma
literatura colonial (brancos que liam, escreviam e produziam sobre o que haviam
experimentado). Como nesse paradigma explicar um sistema literrio como o brasileiro,
nascido a par da colonizao, com mulatos e negros que epigonicamente escreviam, ao lado
de mulheres negras letradas, num espao em que a ideia de nao surge depois de haver o
pas se tornado independente?
E mesmo tendo sido uma corrente terica nascida sob relativa influncia do
pensamento marxista, havendo, em si, portanto, forma de escape diferente daquelas vistas na
crtica beletrista e cor-de-rosa, opta-se, no caso brasileiro, pela paulatina substituio e
mesmo obliterao de valores, obras e temas, pelo fato de que, embora, por exemplo,
focassem-se no embate entre o corpus literrio e as condies scio-histricas, os critrios
utilizados eram os mesmos adotados pela outra visada, menos terica e mais centrada nas
10
VERBUM (ISSN 2316-3267), n. 8, p. 4-16, mai.2015 EMERSON DA CRUZ INCIO
mincias textuais: o critrio do gosto esttico do crtico, que ao no ver sentido de
nacionalidade no Barroco brasileiro, sequestra-lhe da formao de nossa literatura, como bem
atesta Haroldo de Campos, em seu O sequestro do Barroco na Formao da Literatura
Brasileira (1989), obra esta que junto com os anais da ABRALIC de 1996, dos quais
constam a referida conferncia de Alberto Moreiras sobre os Estudos Culturais, consta do
sistema das bibliotecas da USP, mas no h nenhum exemplar para emprstimo h pelo
menos 6 anos.
Situao correlata se deu, mesmo no Brasil, com relao criao de um paradigma
matricial modernista, este, alis, fomentado como grande e talvez nico momento
efetivamente relevante de toda a nossa literatura, aos quais se agregam Manuel Bandeira e
Carlos Drummond de Andrade. A situao do campo intelectual, caro aos estudos de
sociologia literria, far com que todo um manancial crtico se dedique a erigir um momento
especfico acontecido num lugar especfico e que desracionaliza toda uma outra produo
para fora do eixo, a ponto de ter sido criada uma modernismolatria, dos quais Joo do Rio,
Lima Barreto, os autores recifenses e amazonenses simplesmente no comparecem. Num
modelo terico que tendia descompresso, observa-se uma laada que sobrevaloriza as
noes de burguesia como classe, de homem como gnero prioritrio e uma ideia de Brasil
constituda a partir de um Brasil que se inventava sob os auspcios de uma classe dominante e
de uma aristocracia agrria paulista que se queria representada.
Ainda hoje, nos estudos vrios que observamos e que tem o mote literatura e
sociedade por princpio, no h lugar para os outros marcadores to caros Sociologia, como
o Gnero, as identidades ou raa e etnia. E no concerto maior, considera-se pouco relevante a
cada vez mais internacionalmente produo oriunda de autoras e autores oriundos das
periferias de So Paulo, corpus este considerado crtica de risco pelos crticos mais afeitos
ao arrefecimento que s efervescncias. No fim, um modelo terico, pode, sim, virar uma
panaceia e muito me preocupa o fato de posies de leitura como a Teoria Queer e a Crtica
Ps-Colonial passarem a servir como possvel descrio para todas e quaisquer prticas de
anlise crtica e sem critrios devidamente definidos. cada vez mais comum o fato de que a
indistino produzida pelo queer acabou por desconformar identidades que levaram anos para
serem constitudas e da mesma forma, quando jogamos no mbito da textualidade,
observamos os efeitos e no os procedimentos. Ora, uma obra no feita somente daquilo que
causa no seu leitor, mas tambm e principalmente dos procedimentos, no sentido assumido
por Michel Foucault, dispensados sua composio. Uma obra ser queer se tambm puder
11
VERBUM (ISSN 2316-3267), n. 8, p. 4-16, mai.2015 EMERSON DA CRUZ INCIO
fazer circular uma compreenso queer da linguagem e no apenas porque o personagem vive
a deriva de gnero, identidade e sexo.
Se descobrimos o corpo morto de Diadorim, temos de necessariamente considerar a
hora do mais tarde como um momento de ao. Traduzo: o fenmeno literrio olha
mulheres, negros, homossexuais, desfocam-se as lentes rumo performatividade do texto oral
e no damos o passo seguinte na sociologia da literatura que, a meu ver, seria embarcar de vez
na sua verso inglesa e tambm marxista, os Estudos Culturais, sem os quais as hierarquias
continuam as cada vez mais as mesmas. Como considerar sociologicamente a literatura hoje
sem que incluamos nesse escopo tambm as identidades e experincias mais recentes, que se
insurgem como produtores e leitores? Estendo a pergunta: como pensar o ps-colonial sem
pensarmos que ainda vivemos a colonizao de gnero, identidade sexual e de raa e ainda
no conseguimos agregar s demandas de nao e classe os trs paradigmas acima referidos?
A resposta est em pensar a certeza da no neutralidade do lugar discursivo que ns, crticos,
ocupamos, j que os lugares de que redundamos, as formaes histricas e ideolgicas que
ecoam dos espaos em que circulamos acabam por nos atravessar e tambm aos nossos modos
de ver. De maneira semelhante, encontraremos resposta numa reviso da lgica marxista, que
subjaz Sociologia da Literatura, os Estudos Ps-Coloniais e mesmo a Teoria Queer. Mais
que o embate de classes, de grupos de poder ou a mais valia do texto literrio, precisamos
talvez implementar um embate focado na lgica de poder, nos discursos de poder que, no fim,
o que faz transparecer a necessidade de antepormos sufixos e propormos revises que sejam
capazes de nos incluir.
Antes de mais, no podemos deixar de lado o fato de que o Ps-colonial e a Sociologia
da Literatura potencializam, ambos, a ideia de Nao e os graus zero das categorias de gnero
e classe, lembrando que no h nem nao, nem gnero, nem classe, sequer identidade, se a
no h mulheres e homens, homossexuais e transexuais que sustentem os marcadores acima
sugeridos. No h prtica sociolgica ou ps-colonial possvel sem que o humano e suas
demandas sejam trazidos para o centro da questo. At porque os efeitos de que supera a
colonialidade operam diretamente sobre o humano, antes de surtirem efeito sobre conceitos,
noes e mecanismos polticos e ideolgicos de maior vulto. Identidade, nao e
nacionalidade tm suportes sem os quais no podem ser pensados, insisto: a mulher, o
homem, o/a transexual, indgenas, gays e lsbicas, crianas, autores e personagens, produto
esttico e produtores dessa rede de discursos.
12
VERBUM (ISSN 2316-3267), n. 8, p. 4-16, mai.2015 EMERSON DA CRUZ INCIO
Se no rompemos com este paradigmtico jogo, insistiremos perenemente num
modelo que no abrange ou agrega e que produz falas como a de Srgio Vaz, articulador
cultural do movimento COOPERIFA, sobre quem muitos dizem no fazer literatura brasileira,
mas da periferia; e em tempos em que o Brasil parece renunciar ao seu estatuto perifrico, o
que pensarmos dessas novas produes de que Vaz faz parte? Talvez a sada no esteja
efetivamente na excessiva multidisciplinarizao que vemos acontecer, mas na reviso dos
paradigmas que j se demonstraram eficazes. At porque j est comprovada a ineficincia de
corpos e instncias compartimentalizadas, visto que no resultam em discursos capazes de
promoverem nem a cidadania e nem a percepo da necessidade de dilogos.
E a lusofonia com isso tudo o que acabo de dizer? Imensa a relao, imensa a
demanda! Porque nos cabe criar para ns, nos espaos diversos e mltiplos da expresso
esttica e terica em Lngua Portuguesa, um edifcio terico que nos reclama urgncia, j que
no podemos continuar nem traduzindo nem sendo traduzidos por uma experincia que no
nos suporta totalmente: somos ndicos e negros, brancos e pacficos, negros e atlnticos.
Viemos de uma experincia de escravido e captura, de conquista e violncia, mas sempre
pautada no princpio emancipatrio como palavra de regra. Ps-coloniais, sim, mas isso no
tudo o que nos descreve, sobretudo quando, como no caso brasileiro, as bases da
colonialidade, do colonialismo e mesmo a noo de sujeito colonial se erigem sobre matrizes
to diversas das vistas ou que sequer existam, mesmo se consideramos que os atores sociais
que nesses conceitos operam so comuns.
Cabe-nos, pois, mudar os modos de ler o texto e a crtica e modificarmos a forma
como a crtica l o texto literrio e produz sua teoria, uma vez que no nos adiantam novas
teorias e novas disciplinas, se nos mantivermos com os mesmos culos, ou acreditando no
beletrismo incuo ou crendo que apenas os fatores externos preponderem na compreenso da
obra de arte literria. preciso, sim, assumirmos a conscincia de que na contemporaneidade
o texto literrio um emaranhado de fatores que antecedem e sucedem ou correm em paralelo
imanncia do texto. Sobretudo no caso das culturas hoje representadas pela lngua
portuguesa, to particulares no seu tecido malhado e ao mesmo tempo translcido.
Considerando a lngua que nos fala e o poder que crescentemente os povos de Lngua
Portuguesa parecem tomar para si, temos, sim, de nos dedicarmos a uma fala que seja nossa
antes que seja tarde. At porque, bem o sabe Cames, se o rei fraco faz fraca a forte gente,
corremos o sempre risco de se no assumirmos a fala sobre ns mesmos, encontrar algum
que nos diga e ainda mais nos subalternize.
13
VERBUM (ISSN 2316-3267), n. 8, p. 4-16, mai.2015 EMERSON DA CRUZ INCIO
Nos meus diversos lugares de fala e aqui me declaro uma identidade caleidoscpica,
como bem nos lembra Stuart Hall: mestio e intervalar, vindo do subrbio carioca,
homossexual tenho insistido no fato de talvez no ser a periferia um lugar que ela tenha
criado para si prpria, mas se no um discurso que as lgicas de poder tenham inventado para,
num mundo em crise e na farra do ps-tudo, explicar as novas relaes de autoritarismo e
silenciamento do outro e, portanto, tambm do seu processo de subalternizao. Da mesma
forma, quando os movimentos surgidos nas periferias geogrficas de cidades como So Paulo,
a Cooperifa, e Maputo, a Kuphaluxa, quando reclamam a si a condio perifrica, o fazem
menos para potencializar esse lugar como um fora do centro, mas muito mais para
contribuir para a orfandade discursiva dos que dominam os discursos, deixando sempre claro
quem que fala por eles. A quem, interessa, afinal, que nos concebamos, como mulheres,
homossexuais, negros ou pobres um rtulo como o de ps-colonial, perifricos, subalternos,
oprimidos, excludos? Se quisermos superar alguns traumas que nos marcaram
profundamente, interessa-nos mais potencializar o tempo histrico e seus desdobramentos que
necessariamente nos encaixarmos na caixa criada pelos que dominam os discursos crticos e
tericos para descrever, com certa condescendncia, os fenmenos que eles mesmos criaram,
que redundam da histria e se demarcam at a atualidade.
Num palco salpicado de gentes de todos os tipos, num show ocorrido no SESC
Pompeia, zona oeste da cidade de So Paulo, em abril de 2012, Mano Brown, rapper, declara,
contamina: Ns no fomos colonizados, truta! Ns que ndio, preto, sempre fomos
libertos! (sic). A plateia, claro, infla-se inteira e explode aos primeiros acordes do rap
Negro Drama, cujo tom pico metonimiza a prpria condio de mulheres e homens em
condio de indigncia. Tornamos ao que nos referimos acima, quando pensamos na profuso
terica que aqui procuramos evitar a fim de no nos silenciarmos como sujeitos e objetos que
se dizem por si mesmos: a quem interessa construir e implementar conceitos como colonial,
ps-colonial, marginal, central, perifrico que no aqueles que dominam tanto os
discursos como as formas como estes atos de fala circulam? Os espaos que vivem de vida
prpria, como as favelas e bairros distantes, com sua lgica econmica e social, cultural e
poltica prprias, demandam que um outro, externo a esta experincia, lhes defina como
periferia? A margem margem com relao a qu? A pergunta soaria a um Harold
Bloom como resultado da lgica dos ressentidos! Entretanto, se o sujeito conquistou a sua
emancipao, tornando-se objeto de si mesmo, no nos parece pertinente e nem correto, ouso
inferir, considerar que ele no seja o centro de seu prprio discurso e que o espao em que
14
VERBUM (ISSN 2316-3267), n. 8, p. 4-16, mai.2015 EMERSON DA CRUZ INCIO
vive, pensa e sente seja minorizado em favor de outro, com o qual ele no mantm nenhuma
identidade. Afinal, para que no nos alonguemos, chamar margem ou periferia aquilo que
na borda cria novos e dinmicos significados e sentidos no assumir um discurso centralista
e que politicamente desfavorece e silencia o outro? At porque, bem o sabemos, aquilo a que
chamamos margem, periferia etc no se sente como tal e ignora, muitas vezes por opo e
conhecimento, os espaos tidos como centrais.
Simone de Beauvoir, em O segundo sexo tece uma assertiva que parece contribuir para
o desmonte de certas concepes que correm de maneira muito comum no pensamento sobre
o que no se conhece: se a mulher ocupa apenas o que esperam dela, ela fmea; se quiser
ocupar um lugar transgressivo e que demarque sua subjetividade, ser acusada de imitar o
homem. Ao insistirmos nos jogos opositivos tpicos de uma lgica binarista, maniquesta e
excludente, no estamos decerto contribuindo em nada para o entendimento dos objetos
diversos que as diversas culturas na sua dinmica de aproveitamento, releitura, dispensa e
excluso so capazes de produzir. Em outras palavras, no seria demais exigir que no
olhssemos determinados fenmenos culturais, musicais, literrios, artsticos mais
contemporneos com um olhar de reprovao, que no fim apenas os silencia, em lugar de
garantir que falem. Quanto posio que talvez eu ocupe ao olhar tais objetos, talvez afirme
que ocupe identitria e discursivamente uma lgica marginal, no sentido de quem est fora da
Cidade, do poeta expulso e alijado de sua cidadania. Se olho pro rap ou pra poesia produzida
nas bordas das grandes cidades do antes denominado 3. Mundo, a partir de sua prpria e
particular lgica, o marginal sou eu, os perifricos somos ns, os Crticos, j que no seu
contexto de produo e circulao eles se autossustentam como um lugar possvel, no como
um centro, um cnone, um ponto irradiador, mas como uma possibilidade nodular de estar e
produzir a partir de um lugar especfico.
E, sim, se pensamos uma dialtica responsvel, uma esttica do compromisso com os
novos e diversos fenmenos, devemos decerto evitar as hierarquizaes binrias que no fim
categorizam e diminuem. No, no somos marginais, nem perifricos, nem apenas lusfonos,
qui ps-coloniais! Ocupamos um lugar que nosso e que nada tem com relao aos demais
lugares, ainda que com eles converse, dialogue, interaja.
Referncias bibliogrficas
ANDRADE, Oswald de. Manifesto antropfago. In TELES, Gilberto Mendona.
Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro. Petrpolis/RJ: Vozes, 1978.
15
VERBUM (ISSN 2316-3267), n. 8, p. 4-16, mai.2015 EMERSON DA CRUZ INCIO
BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de Histria. In BENJAMIN, Walter. Obras
escolhidas. Magia e tcnica, arte e poltica. So Paulo: Brasiliense, 1994.
BLOOM, Harold. O cnone ocidental. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.
COUTO, Mia. A lngua portuguesa em Moambique. In Do Msculo da Boca. Santiago de
Compostela:
Ed.
Encontro
Galego
no
Mundo.
Disponvel
em
http://www.ciberduvidas.com/antologia.php?rid=709 [Consultado em: 04.abr.2012].
COUTO, Mia. Pensatempos: Textos de opinio. Lisboa: Caminho, 2005.
CRISTVO, Fernando. Cruzeiro do Sul, a Norte: Estudos Luso-Brasileiros. Lisboa: INCM,
2005.
HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade. Porto Alegre: DP&A, 1999.
LOURENO, Eduardo. A nau de caro. Lisboa: Gradiva, 1999.
MOREIRAS, Alberto. A exausto da diferena. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
ROSA, Joo Guimares. Grande Serto: Veredas. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1968.
ABSTRACT
This article discusses the idea of "Lusophone" in relation to the critical process and new subjectivities
who write and / or are represented by the literature. The issue involves the fact of whether or not this
idea can involve procedures and productions as diverse as those observed in the present dynamics of
the various peoples who speak the Portuguese language.
Key words: Lusophone. Literatures of Portuguese. Language.Identities. Peripheries.
Envio: Agosto/2016
Aprovado para publicao: Agosto/2016
16
Você também pode gostar
- 6 - A Tríade Do EquilíbrioDocumento12 páginas6 - A Tríade Do EquilíbrioCristiane Da Silva MeloAinda não há avaliações
- DEHEDBDocumento172 páginasDEHEDBpedroza08100% (1)
- Neurorreabilitação: Uma ciência interdisciplinarDocumento56 páginasNeurorreabilitação: Uma ciência interdisciplinarRodrigo SantosAinda não há avaliações
- Concepções de LinguagemDocumento15 páginasConcepções de LinguagemIgor PinheiroAinda não há avaliações
- Sermão 170 - Educação É Responsabilidade de TodosDocumento5 páginasSermão 170 - Educação É Responsabilidade de TodosSamuel Zauro100% (1)
- PCN Língua Portuguesa ensino fundamentalDocumento8 páginasPCN Língua Portuguesa ensino fundamentalVivianeBárbara100% (2)
- As Novas Cartas Portuguesas e a contestação do poder patriarcalDocumento5 páginasAs Novas Cartas Portuguesas e a contestação do poder patriarcalstellaamiranda100% (1)
- LIGIA MARCIA MARTINS-Periodização Histórico-Cultural Do Desenvolvimento PsíquicoDocumento190 páginasLIGIA MARCIA MARTINS-Periodização Histórico-Cultural Do Desenvolvimento Psíquicohenrique ribeiro0% (1)
- Perguntas sobre educação a distância e tecnologias da informaçãoDocumento4 páginasPerguntas sobre educação a distância e tecnologias da informaçãoMaraiza FerreiraAinda não há avaliações
- Canções de Antônio BottoDocumento19 páginasCanções de Antônio BottoAnglo53Ainda não há avaliações
- Amador Ribeiro Neto 2 POEMASDocumento3 páginasAmador Ribeiro Neto 2 POEMASEmerson InácioAinda não há avaliações
- Conceição EvaristoDocumento2 páginasConceição EvaristoEmerson InácioAinda não há avaliações
- 2013 SheilaVieiraDeCamargoGrilloDocumento334 páginas2013 SheilaVieiraDeCamargoGrilloEmerson InácioAinda não há avaliações
- Ana Luisa e AngelicaDocumento3 páginasAna Luisa e AngelicaEmerson InácioAinda não há avaliações
- Publico 4 Feira 25 Março 2015Documento48 páginasPublico 4 Feira 25 Março 2015Emerson Inácio100% (1)
- O Corpo Utopico FOUCAULT MichelDocumento7 páginasO Corpo Utopico FOUCAULT MichelBela LachterAinda não há avaliações
- Novas Cartas LlansolDocumento2 páginasNovas Cartas LlansolEmerson InácioAinda não há avaliações
- Musica Popular e Moderna Poesia Brasileira 1 PDFDocumento35 páginasMusica Popular e Moderna Poesia Brasileira 1 PDFEmerson InácioAinda não há avaliações
- Literatrura Comparada e Estudos CulturaisDocumento27 páginasLiteratrura Comparada e Estudos CulturaisEmerson InácioAinda não há avaliações
- Signos Do Corpo - Réquichot, Barthes e Nós, Os OutrosDocumento11 páginasSignos Do Corpo - Réquichot, Barthes e Nós, Os OutrosRafael RochaAinda não há avaliações
- A poesia como acesso ao sentidoDocumento9 páginasA poesia como acesso ao sentidoEllena Rizzi100% (1)
- O Navio Negreiro - (Revista Trip)Documento2 páginasO Navio Negreiro - (Revista Trip)Emerson InácioAinda não há avaliações
- Oficina Sesc03Documento10 páginasOficina Sesc03Emerson InácioAinda não há avaliações
- Terra SonanbulaDocumento10 páginasTerra SonanbulaleirfranciscoAinda não há avaliações
- Timor e A OnuDocumento13 páginasTimor e A OnuEmerson InácioAinda não há avaliações
- STAM, Robert & SHOHAT, Ella. Do Eurocentrismo Ao Policentrismo in Crítica Da Imagem EurocêntricaDocumento28 páginasSTAM, Robert & SHOHAT, Ella. Do Eurocentrismo Ao Policentrismo in Crítica Da Imagem EurocêntricaMaria Da Luz CorreiaAinda não há avaliações
- Literatura residual de CalvinoDocumento1 páginaLiteratura residual de CalvinoEmerson InácioAinda não há avaliações
- Blanchot A Literatura e o Direito C3a0 MorteDocumento22 páginasBlanchot A Literatura e o Direito C3a0 MorteRafael SantanaAinda não há avaliações
- BENTO Berenice A Teoria Queer e A Reinvenção Do CorpoDocumento9 páginasBENTO Berenice A Teoria Queer e A Reinvenção Do CorpoDidoné HevertonAinda não há avaliações
- OS NEGROS e o ModernismoDocumento3 páginasOS NEGROS e o ModernismoEmerson InácioAinda não há avaliações
- Canções de António BottoDocumento28 páginasCanções de António BottoEmerson InácioAinda não há avaliações
- Agenciamento - Fuganti-Luiz - Pensadores-Textos-E-VideosDocumento5 páginasAgenciamento - Fuganti-Luiz - Pensadores-Textos-E-VideosEmerson InácioAinda não há avaliações
- História da Literatura Brasileira de Sílvio RomeroDocumento131 páginasHistória da Literatura Brasileira de Sílvio RomeroGabriel LealAinda não há avaliações
- Orpheu n2Documento65 páginasOrpheu n2Nuno BritoAinda não há avaliações
- Entrevista RS - Chico Buarque - Rolling Stone BrasilDocumento8 páginasEntrevista RS - Chico Buarque - Rolling Stone BrasilEmerson InácioAinda não há avaliações
- Morreu Herberto Helder, o Poeta Dos Poetas - PÚBLICODocumento3 páginasMorreu Herberto Helder, o Poeta Dos Poetas - PÚBLICOEmerson InácioAinda não há avaliações
- Noémia de Souza poesiaDocumento4 páginasNoémia de Souza poesiaEmerson Inácio100% (1)
- "Peixe Bom de Garfo" Come de Tudo e Mantém Equilíbrio Ecológico em Ilha Oceânica BrasileiraDocumento8 páginas"Peixe Bom de Garfo" Come de Tudo e Mantém Equilíbrio Ecológico em Ilha Oceânica Brasileiracasa de Maria mulambo da lixeira pai tessoAinda não há avaliações
- Educação Infantil AtividadesDocumento5 páginasEducação Infantil AtividadesFernandoMascarenhasAinda não há avaliações
- Desigualdades sociais e a busca pela igualdade de direitosDocumento27 páginasDesigualdades sociais e a busca pela igualdade de direitosIsadora FurtuosoAinda não há avaliações
- 01 Álgebra Nos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental Uma Análise Do Conhecimento Matemático Acerca Do Pensamento AlgébricoDocumento147 páginas01 Álgebra Nos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental Uma Análise Do Conhecimento Matemático Acerca Do Pensamento AlgébricoRIZALDO DA SILVA PEREIRAAinda não há avaliações
- Percepção de Aluno Pré-Vestibular PDFDocumento82 páginasPercepção de Aluno Pré-Vestibular PDFFernanda GallucciAinda não há avaliações
- Blog No Ensino de BiologiaDocumento22 páginasBlog No Ensino de BiologiaWilliam SousaAinda não há avaliações
- Funções periódicas: a roda-giganteDocumento10 páginasFunções periódicas: a roda-giganteMagaly OliveiraAinda não há avaliações
- Construção Do PPPDocumento14 páginasConstrução Do PPPBenAinda não há avaliações
- Leis Municipais RiodasostrasDocumento112 páginasLeis Municipais RiodasostrasValcir Gonçalves100% (1)
- NutricionistaDocumento13 páginasNutricionistaADERITOAinda não há avaliações
- CM 26 04 12Documento40 páginasCM 26 04 12costa_roque4534Ainda não há avaliações
- Histórico Do Senac No AcreDocumento6 páginasHistórico Do Senac No AcreCbrhntrAinda não há avaliações
- Fatores que contribuem para a evasão escolar na EJA: um estudo de casoDocumento13 páginasFatores que contribuem para a evasão escolar na EJA: um estudo de casoRsinhafAinda não há avaliações
- Robert Gagné Teoria AprendizagemDocumento4 páginasRobert Gagné Teoria AprendizagemInáyra Oliveira MesquitaAinda não há avaliações
- Documentação Obrigatória para Formatura - Portal Do Aluno - Grupo UNIASSELVIDocumento1 páginaDocumentação Obrigatória para Formatura - Portal Do Aluno - Grupo UNIASSELVIFernando GahyvaAinda não há avaliações
- Abordagens pedagógicas da Educação Física escolarDocumento4 páginasAbordagens pedagógicas da Educação Física escolarLuciana Braga de OliveiraAinda não há avaliações
- Orientacoes L. Inglesa AfDocumento15 páginasOrientacoes L. Inglesa AfEunice GalazziAinda não há avaliações
- Educação Física 2o Semestre Homem Cultura SociedadeDocumento1 páginaEducação Física 2o Semestre Homem Cultura Sociedadeyasmim FrançaAinda não há avaliações
- Matrícula Quinta Chamada SISU-UFSC 2021 por cursoDocumento9 páginasMatrícula Quinta Chamada SISU-UFSC 2021 por cursoEsther Mota SilvaAinda não há avaliações
- Edital PPGL Comunidade-RevisadoDocumento33 páginasEdital PPGL Comunidade-Revisadonathalia_bzrAinda não há avaliações
- Guia de Matemática com Resoluções de ExercíciosDocumento480 páginasGuia de Matemática com Resoluções de ExercíciosMarcio PrietoAinda não há avaliações
- A herança cristã na universidadeDocumento3 páginasA herança cristã na universidadeEvelyn Ferreira SantosAinda não há avaliações