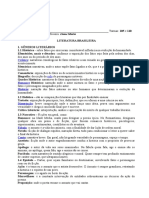Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ARQUIVO AmarginalizacaodosmudejaresnoreinadodeAfonsoX PDF
ARQUIVO AmarginalizacaodosmudejaresnoreinadodeAfonsoX PDF
Enviado por
Leonardo FontesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ARQUIVO AmarginalizacaodosmudejaresnoreinadodeAfonsoX PDF
ARQUIVO AmarginalizacaodosmudejaresnoreinadodeAfonsoX PDF
Enviado por
Leonardo FontesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A marginalizao dos mudjares no reinado de Afonso X (Espaa, sc.
XIII)
Leonardo Fontes1
Resumo: Anlise do processo de coexistncia dos cristos e dos mudejres muulmanos
que permaneceram em terras hispnicas aps a dita Reconquista , no sculo XIII, durante o
reinado de Afonso X, o Sbio. Atravs da teoria de Bronislaw Geremek sobre marginalizao
no medievo e da relao transdisciplinar entre Histria e Literatura, pretende-se discutir como
as representaes simblicas e discursivas veiculadas sobre os mouros se coadunaram s
tentativas de regulamentao jurdico-normativa e da produo narrativo-historiogrfica da
corte afonsina, essencialmente crist e aparentemente tolerante.
Palavras-chave: marginalizao mudjares Afonso X
Abstract: Analysis of the process of coexistence of the christians and the mudjares
muslims who stayed in Hispanic lands after the so called Reconquista , in the thirteenth
century, during the kingdom of Alfonso X, the Wise. Through the theory of Bronislaw
Geremek on marginalization in Middle Ages and the transdisciplinary relation between
History and Literature, this article intends to discuss how the symbolic and discursive
representations broadcasted about the moors by the Alfonsine court (essentially Christian and
seemingly tolerant) were linked to its efforts of juridical-normative regulamentation and
narrative-historiographical production.
Key-words: marginalization mudjares Alfonso X
Mestrando em Histria Medieval pela Universidade Federal Fluminense (UFF).
1- Conceituando e contextualizando a marginalizao
O uso do conceito de marginalizao a pesquisas sobre a Idade Mdia recente, no
sentido em que Bronislaw Geremek lhe atribui. Para este autor, o marginalizado vive num
mundo parte, diferente, da negao, uma espcie de separao sociedade constituda. A
origem do marginal no medievo a figura do exilado, o banido alto-medieval, retirado
fisicamente do convvio social num momento em que os agrupamentos sociais conferem
identidade e pertena ao mundo, onde o coletivo se sobrepe ao individual.
Portanto, o conceito no s geogrfico, pois as sociedades medievais estavam longe da
estabilidade espacial; exlio e excomunho so marcados pelas constantes deslocaes e pelo
modo de vida marginal, uma fuga social voluntria ou a excluso pela sociedade
constituindo, assim, as situaes clssicas da marginalidade alto-medieval, modificando-se ao
longo da Idade Mdia. Geremek ressalta que o excomungado ficava totalmente destitudo de
laos e suportes sociais, j que o
etnocentrismo cristo colocava margem das sociedades europias as pessoas de
religio diferente, que encontravam, todavia, apoio nas suas comunidades religiosas
e nos laos tnicos, ao passo que a excomunho (...) determinava o isolamento da
pessoa (GEREMEK, 1990: 235).
Nessa poca, mobilidade espacial era associada a perigo para a ordem social. Diante
desse quadro, o que teoricamente a marginalidade? Jean-Claude Schmitt reconhece a
dificuldade em definir esse fenmeno em termos abstratos, mas estabelece um esboo a partir
de uma gradao de diferentes noes:
a de marginalidade, que implica um estatuto mais ou menos formal no seio da
sociedade e traduz uma situao que, pelo menos teoricamente, pode ser transitria;
aqum da marginalidade, a noo de integrao (ou reintegrao) que indica a
ausncia (ou a perda) de um estatuto marginal no seio da sociedade; e, ao contrrio,
alm, a noo de excluso, que assinala uma ruptura s vezes ritualizada em
relao ao corpo social (SCHMITT, 1993: 264).
Vemos, assim, que a marginalidade uma situao intermediria e que junto com as
outras noes se referem a dois planos de realidades que no so necessariamente
coincidentes: valores socioculturais e relaes socioeconmicas. Marginal no a mesma
coisa que excludo, sua pr-condio. Para Geremek, a marginalizao social nem sempre
equivale a excluso e segregao (GEREMEK: 1990, 248). Por vezes, a marginalizao
social acompanhava a marginalidade espacial, como nos guetos. Entretanto, isto no era um
pr-requisito. As informaes do terreno da marginalidade referem-se mais prpria
sociedade que o seu objeto de represso, segundo Geremek. Afinal, interessa-nos destacar que
mais do que caracterizar o marginal ou o excludo como o sujeito histrico real e ouvir sua
prpria voz; importa-nos identific-lo como fora idealizado, o que certamente se vincula
muito mais realidade e lgica do seu artfice (RODRIGUES: 2008, 3).
No caso dos muulmanos e judeus, por exemplo, a marginalidade se transforma em
excluso somente no fim do medievo. Dentro da ideia de centro e periferia, a prpria
Pennsula Ibrica, onde estes grupos eram mais presentes, se localiza nas margens geogrficas
e culturais da Europa medieval. Havia margens externas e internas.
Sendo assim, os muulmanos estariam tanto nas margens externas do mundo europeu,
quanto nas internas no mundo ibrico. interessante vermos todas as ponderaes acerca do
fenmeno da marginalidade, deixando antever que o processo de marginalizao bastante
complexo e mutvel e que entre as normas () e a realidade social existia uma certa
discrepncia (GEREMEK, 1990: 243).
Geremek afirma que o campo de aes das normas continua pouco estudado e, como j
vimos, h que se diferenciar marginalizao de excluso. A marginalizao dependia,
sobretudo, da situao social (idem: 245). Portanto, havia a atualizaes de diferena e
ambiguidade. Seguindo essa lgica, havia uma ambivalncia em relao aos mouros, pois
juntamente com os judeus e hereges, eram smbolos da marginalidade porque na Idade Mdia
o principal critrio de diferenciao dos homens consistia na sua f (GEREMEK, 1995: 42).
Portanto, eles se inseriam dentro da comunidade crist, mas de forma subordinada. No
tendo qualquer papel na religio e na cultura dominantes esses grupos eram considerados
perigosos para as prprias bases da ordem social; alis, mais do que qualquer categoria de
marginalizados, estavam bem conscientes de sua diferena. (GEREMEK: 1990, 247).
Percebe-se, nesta passagem, que a marginalizao envolve processos sociais objetivos e
outros sociopsicolgicos, como a conscincia da condio marginal. Por parte dos
marginalizados, esta conscincia da diferena da sua situao por si e pela sociedade se d
com a interiorizao das normas coletivas e dos princpios da ordem social, mediante
penalidades diversas. Uma das formas de se marcar essa diferena pelo vesturio e por
sinais distintivos. A diferenciao religiosa teve um papel fundamental a partir do IV Conclio
de Latro, de 1215, que explicitou que a cristandade caminhava rumo a uma sociedade da
persecuo (BASCHET: 2006, 243). Ademais, o uso desses signos visuais facilitava a
conformao, no que se refere aos marginais, do que Geremek chama de um mundo parte,
bem delimitado em termos de espao, de organizao social e, por fim, de regras morais e
elementos culturais, que os separavam do resto da sociedade (GEREMEK: 1995, 42).
H uma gradao entre os prprios grupos marginalizados, pois nem todos portavam
smbolos de distino, havendo uma atualizao e uma instrumentalizao da infmia. A
diferena era tanto na maneira de viver quanto no modo de ser. O foco era maior na vida
pblica do marginal, pois passa a haver um maior controle social e uma intensa viglia acerca
dos preceitos cristos. O marginal o porque est fora da esfera de correo da Cristandade,
do centro. Assim, eram no s tratados, mas tambm vistos como diferentes. Portanto, h que
se diferenciar excluso, diferenciao e marginalizao.
Schmitt aforma que nos sculos XI-XII h uma integrao da marginalidade. tambm,
o tempo das cruzadas (), em que a Igreja tenta muito mais convencer os judeus () do que
procura convert-los fora. A 'persuasio' ainda prevalece sobre a 'coercitio'. (SCHMITT,
1990: 271). Tal postura tambm era destinada aos muulmanosno caso da Pennsula Ibrica,
onde mesmo aps os cristos reconquistarem suas terras, os muulmanos nelas
permaneciam com o estatuto de mudejres, mantendo sua religio. Eles eram estatutariamente
marginais, no sendo da comunidade crist tida como tolerante, no reinado afonsino.
2 A coexistncia scio-religiosa na sociedade poca de Afonso X
Esse reinado se diferenciou do restante do continente europeu contemporneo
principalmente pela coexistncia entre cristos, judeus e muulmanos. No que tange sua
atuao interna, a corte de Afonso X, o Sbio (Castela e Leo, 1252-1284) produziu vasto
material literrio, seja de cunho potico, normativo, histrico, cientfico, narrativo, filolgico,
religioso e at mstico. Este investimento em empresas culturais, cientficas e jurdicas legoulhe o j mencionado epteto de rei sbio, alcunha que o diferenciava de seus contemporneos.
Outro aspecto diferenciador de seu governo foi a j mencionada relao com as minorias
tnico-religiosas, tido como refgio de tolerncia para os ditos infiis.
No que se refere s trs religies em Espaa, a alteridade se alternava pendularmente.
No podemos descuidar, contudo, que estes grupos estiveram envolvidos em uma guerra, cujo
estado crnico deixou marcas profundas nas instituies sociais. Afonso X utilizou o termo
Espaa inclusive no ttulo e no texto de algumas obras; portanto, pode-se utiliz-lo como
conceito geopoltico para sua poca. Nestas terras, judeus e mouros so alvos de leis
especficas, como a definio e o tratamento reservado pelas Siete Partidas, que so o maior
corpo normativo afonsino, redigido com o objetivo de uniformizar juridicamente os reinos
sob domnio cristo e cuja datao vai de 1256 a 1265.
No ttulo reservado aos mouros, Afonso X garante-lhes o exerccio de sua f:
E dezimos, que deuen biuir los Moros entre los Christianos, en aquella mesma manera, que
diximos en el titulo ante deste, que lo deuen fazer los Judos, guardando su Ley e non
denostando la nuestra. (AFONSO X: 1844, 343). Esta garantia seria a prova mxima da
tolerncia afonsina?
Convm lembrar que antes de rei, Afonso era cristo, devendo assim zelar por sua f.
Por isso, na mesma lei, e no mesmo pargrafo, o monarca determina o confisco dos templos
religiosos muulmanos, mas no de seus bens pessoais:
en las Villas de los Christianos non deuen auer los Moros Mezquitas, nio fazer
sacrificio publicamente ante los ornes. E las Mezquitas, que deuian auer
antiguamente, deuen ser del rey, e puedelas el dar a quien se quisiere. (AFONSO
X:1844, 344)
Portanto, a suposta tolerncia afonsina deve ser matizada e o carter de marginalizao
desse grupo ressaltado, pois ele exorta a converso voluntria dos infiis:
Por buenas palabras, e conuenibles prediraciones, deuen trabajarlos Christianos de
conuertir a los Moros, para fazerles creer la nuestra Fe, e aduzirlos a ella e non por
fuera, nin por premia (...) si por auentura, algunos dellos, de su voluntad les
nasciesse que quisiessen ser Christianos, defendemos otrosi , que ninguno non sea
osa do de gelo vedar , nin gelo contrallar en ninguna manera. (AFONSO X: 1844,
344).
Porm, Fernandz afirma que no uso dessas fontes legais se deve sempre cuidar de no
supervaloriz-las como elemento efetivo de constituio, no emprico, da instncia do
poltico; mas lembrar que antes comportavam um modelo de representao (FERNNDEZ:
2001, 100) uma idealizao social.
Este carter representativo se explicita nas Cantigas de Santa Maria (CSM); elas so a
grande obra potica do rei sbio, que tambm escreveu poemas profanos, e o maior
cancioneiro mariano medieval. Sua elaborao ocorreu durante todo o reinado de Afonso X
(1252-1284), tendo sido a obra que lhe consumiu maior ateno e dedicao. Esta obra foi
vista e tratada pelo rei sbio como parte importante de sua salvao poltica e pessoal.
Construda num trip de letra, msica e imagem, ela serviu tambm como transmissora de
mensagens religiosas e ideolgicas.
Em uma delas, descreve-se detalhadamente a violncia dos muulmanos em sua
tentativa de infligir o maior dano possvel contra a quase indefesa cidade de Constantinopla, o
atributo de maldade e falsidade reservado aos mouros e seu lder, que descrito de forma
totalmente vexatria e bestial: Soldan beyudo (AFONSO X: 1959, CSM 28, v. 75) e barvudo
(v.82).
Sua figura s amenizada a partir do momento em que ele ergue os olhos aos cus e v
Maria sob seu manto, a ele se tem por pecador e resolve se converter, per vossa mo per
vossa mo tornar e seer convertudo e Mafomete leixar, o falsso recreudo (idem, v. 117-120).
Esta no apenas uma converso espiritual, pois se tornar vassalo de Maria tambm prestar
vassalagem ao rei, pois ambos estavam intrinsecamente imersos na lgica senhorial; a prpria
Virgem segundo vossa lei diz, a mui santa Reinna (idem, v. 124-125).
Os muulmanos convertidos ao cristianismo so conhecidos como tornadios e so um
contraponto aos numerosos mulades (convertidos ao Isl), o que possibilita uma leitura desta
CSM e das outras nas quais aparecem mouros se curvando religio de Maria como uma
propaganda da f catlica na Pennsula, principalmente no sul. Alm disso, deve-se ressaltar
que embora o monarca fosse receptivo ao legado da cultura rabe, esta era filtrada pela
cultura crist, enquanto, no caso dos mulades, tratava-se da presena muulmana real e
concreta que podia colocar em risco a posio hegemnica do credo cristo (MACEDO:
2002).
Ao analisar o tratamento ambguo de Afonso X diante das minorias tnico-religiosas,
Fernndez concluiu que em um perodo ainda de confronto militar contra os infiis, tal
marginalizao era marcada pela ambigidade, pois o rei sbio atua no terreno da cultura
com uma poltica de abertura ao legado desse circuito cultural e de atuao ativa de
muulmanos e judeus em seus projetos (FERNNDEZ, 1994: 101-102), ainda que seus
respectivos credos pretendessem-se nicos e universais.
Se no plano cultural Afonso X e os escritores a seu servio oscilaram entre o saber rabe
e o saber cristo, no plano poltico, social e, sobretudo, no ideolgico, suas convices eram
perfeitamente coerentes com a religio a que pertenciam, fazendo-os pender exclusivamente
para s um dos dois universos. Afinal, parece claro o fosso que separava a brilhante
civilizao islmica, da qual a crte castelhana era indubitavelmente tributria, dos mouros
prximos e reais, tidos como o inimigo tradicional, contra o qual forjava-se a prpria idia da
identidade hispnica (MACEDO: 2002). H um esforo notvel da corte afonsina em
integrar os mouros em seus projetos unificadores, pois como Jean-Claude Schmitt afirma, o
cristianismo medieval recupera de uma maneira ou de outra todos os marginais
(SCHMITT: 1990, 287).
Em algumas cantigas, os muulmanos aparecem num contexto primordialmente
religioso ou penitencial, longe do campo de batalha, facilitando sua associao com os
cristos. Neste caso, percebe-se que a peregrinao religiosa atenua os signos marginalizantes
imputados aos muulmanos, j que ela desenraiza os prprios cristos que a empreendem.
Mesmo no momento em que a marginalidade volta tona com a aproximao do
mesqyo a um mendigo (AFONSO X: 1959, CSM 333, v. 52) o que est em primeiro plano a
peregrinatio purificadora no ser assumida enquanto monoplio do universo cristo.
Nesta cantiga, o mouro um peregrino em busca de bens imateriais, tal qual os
andantes cristos. Entretanto, permanece a ambigidade, porque eles podem tanto ser
convertidos, como tambm serem seres diablicos, malficos. Tal aspecto lhes confere um ar
marginal, outsider. O smbolo maior desse carter marginalizante em relao aos cristos
visual, mormente o uso da barba que se associa feira e ao temor.
A barba, retratada em diferentes CSM, no era mero acessrio esttico para os
seguidores do Isl, ao contrrio, ela foi importante como constituinte de identidade e
interdies. Ela aparece na legislao sunturia castelhana do sculo XIII e no que respeita
aos mouros, Alfonso X limitou-se a eles deveriam distinguir-se dos cristos pelo tipo de
corte de cabelos e pelo uso de barba longa (MACEDO: 2003, 8-9).
Ou seja, a barba simbolizava o estigma social dos mouros nesta sociedade
hierarquizada, ainda que os projetos afonsinos caminhassem no sentido de sua integrao a
partir de uma coexistncia forada. Nas sociedades tradicionais, como a medieval europia,
os arranjos do cabelo e da barba serviam como um dos indicativos da situao das pessoas
no interior do grupo demarcando posies sociais e diferenas religiosas, identificando
diferenas etrias e assinalando as mudanas de status por ocasio de rituais de passagem
(idem, 13). Ainda assim, no caso dos mouros a distino parece ter sido menos intrusiva do
que foi para os judeus, cujo vesturio era o estigma humilhante de sua condio margem da
sociedade crist, de seu deicdio e usura. Como se v, se falarmos de tolerncia em Afonso X,
esta dever ser vista muito mais como poltica do que religiosa.
3 Concluso
Marcada por embates poltico-religiosos, a corte afonsina buscou garantir a distncia
ideolgica e, ao mesmo tempo, a incluso simblica e efetiva das minorias religiosas na
sociedade hispnica. Deste modo, a marginalizao dos mouros deve ser relativizada.
Destaca-se que o rei sbio resolveu de forma ambgua a questo da coexistncia indesejvel
mas necessria com grupos marginais como os mudjares que formavam cultura e sociedade
parte, mas ao mesmo tempo estavam inseridos e subjugados Cristandade. Sua converso
s era bem-vinda se via persuasio, seja por mecanismos rgios ou por ao mariana. Isso
transparece em fontes de natureza distinta, ou seja, tanto na jurdico-normativa quanto na
potico-narrativa. O mouro guerreiro e o sbio seriam idealizaes e pontas do processo de
um muulmano real, ambguo, marginal, mais que excludo.
4 Bibliografia
AFONSO X. Cantigas de Santa Maria. Edio de Walter Mettman. Edio de Walter
Mettmann. Coimbra: Acta Universitatis Conimbrensis, 1959. 4 vol.
______. Siete Partidas. Edio de Gregorio Lopez. Barcelona: Imprenta de Antonio Bergnes,
1844.
BASCHET, Jrme. A Civilizao Feudal : Do Ano Mil Colonizao da Amrica. Rio de
Janeiro: Editora Globo, 2006.
FERNNDEZ, Monica Farias. A Sennor de Dom Afonso X: estudo de um paradigma
mariano (Castela 1252-1284). Niteri: UFF, 1994. Dissertao (Mestrado em Letras).
______. Si tomas los dones que te da la sabidura del Rey - a imagem de rei sbio de Afonso
X (Castela 1252-1284). Niteri: UFF, 2001. Tese (Doutorado em Histria).
GEREMEK, Bronislaw. O marginal. In: LE GOFF, Jacques (org.) O homem medieval.
Traduo de Maria Jorge Vilar de Figueiredo. Lisboa: Presena, 1990.
______. Os filhos de Caim: vagabundos e miserveis na literatura europia, 1400-1700. So
Paulo: Companhia das Letras, 1995.
MACEDO, Jos Rivair. Afonso, O Sbio, E Os Mouros: Uma Leitura das Siete Partidas.
Artigo publicado originalmente em Anos 90: Revista do Programa de Ps-Graduao
em
Histria
da
UFRGS,
vol.
16,
2002.
Disponvel
em
<http://islamicaforum.blogspot.com/2007/06/afonso-x-o-sbio-e-os-mouros.html>
Acesso em:12/04/2008.
______. Os sinais da infmia e o vesturio dos mouros em Portugal nos sculos XIV e XV.
Flvio de CAMPOS & Eliana Magnani Soares CRISTEN. Le Moyen Age vu dailleurs.
So Paulo: Instituto de Estudos Avanados da USP, 2003. Disponvel em
<www.ifcs.ufrj.br/~pem/sinais.pdf>. Acesso em :28/04/2008.
SCHMITT, JeanClaude. A histria dos marginais. In: LE GOFF, Jacques le. A histria
nova. So Paulo : Martins Fontes, 1990
SILVA, Leila Rodrigues da. Marginalidade e excluso: aspectos da produo intelectual
eclesistica no reino suevo. Semana de Integrao Acadmica. Desafios s Cincias
Humanas e Sociais. In: Atas ... Rio de Janeiro: CFCH, 2006. (prelo). p. 3. Disponvel
em <http://www.pem.ifcs.ufrj.br/Marginalidade.pdf>. Acesso em 08/05/2008.
Você também pode gostar
- Ocrepúsculo Da Idade Média em PortugalDocumento310 páginasOcrepúsculo Da Idade Média em PortugalRafael MateusAinda não há avaliações
- Paul Teyssier - História Da Língua PortuguesaDocumento95 páginasPaul Teyssier - História Da Língua PortuguesaAntónio Alves100% (5)
- A Convergência Dos AstrosDocumento15 páginasA Convergência Dos AstrosFelipe Jhonatann100% (1)
- O Tetrabiblos de PtolomeuIIDocumento22 páginasO Tetrabiblos de PtolomeuIIJose de Tayob100% (1)
- História Da LiteraturaDocumento105 páginasHistória Da LiteraturaAna AndradeAinda não há avaliações
- Linhagens Medievais Portuguesas II PDFDocumento628 páginasLinhagens Medievais Portuguesas II PDFDiogo Pacheco de Amorim100% (4)
- De D. Sancho I A D. DinisDocumento34 páginasDe D. Sancho I A D. DinisEdgar DiasAinda não há avaliações
- Acervo Diversidades PDFDocumento149 páginasAcervo Diversidades PDFLeonardo FontesAinda não há avaliações
- Antologia Do TrovadorismoDocumento11 páginasAntologia Do TrovadorismoAnonymous gp78PX1Wcf0% (1)
- Panamericas Utópicas. GUIMARAES, AnselmoDocumento198 páginasPanamericas Utópicas. GUIMARAES, AnselmoAnselmo GuimaraesAinda não há avaliações
- Yara Frateschi Vieira - A Poesia Lírica Galego-PortuguesaDocumento33 páginasYara Frateschi Vieira - A Poesia Lírica Galego-PortuguesaelderAinda não há avaliações
- Problematizando A Idade Media PDFDocumento310 páginasProblematizando A Idade Media PDFAdriana Romeiro100% (1)
- IPSIS DOSSIE - 002 LibanisDocumento21 páginasIPSIS DOSSIE - 002 LibanisLeonardo FontesAinda não há avaliações
- Rapm 1Documento154 páginasRapm 1Leonardo FontesAinda não há avaliações
- Nas Trilhas Da Antiguidade e Idade MédiaDocumento463 páginasNas Trilhas Da Antiguidade e Idade MédiaAntonio Victor100% (1)
- Revista Recine 2011 Ebook PDFDocumento151 páginasRevista Recine 2011 Ebook PDFLeonardo FontesAinda não há avaliações
- Paul Ricoeur, Linguagem, Finitude e TraduçãoDocumento8 páginasPaul Ricoeur, Linguagem, Finitude e TraduçãoLeonardo FontesAinda não há avaliações
- Fichamento BREVE HISTÓRICO DA PENÍNSULA IBÉRICADocumento5 páginasFichamento BREVE HISTÓRICO DA PENÍNSULA IBÉRICAPoca SarmentoAinda não há avaliações
- Trovadorismo - Cancioneiros e Cantigas de Santa MariaDocumento21 páginasTrovadorismo - Cancioneiros e Cantigas de Santa MariaLia MartinsAinda não há avaliações
- Mateus SokolowskiDocumento5 páginasMateus SokolowskiValmir MonarquistaAinda não há avaliações
- As Cantigas de Santa Maria - Um Tesouro PDFDocumento17 páginasAs Cantigas de Santa Maria - Um Tesouro PDFDiego Siqueira100% (1)
- BRINQUEDOSDocumento3 páginasBRINQUEDOSAndré Neto SimoesAinda não há avaliações
- Portugal Medieval - Reconquista e Fixação Do Territóro 2018 - SínteseDocumento2 páginasPortugal Medieval - Reconquista e Fixação Do Territóro 2018 - SínteseSara AlvesAinda não há avaliações
- Lenda VambaDocumento17 páginasLenda VambaAntónio RochaAinda não há avaliações
- Tese O Rei A Nobreza e A Batalha Do Salado (1279-1340) - Savius Miguel PovalukDocumento86 páginasTese O Rei A Nobreza e A Batalha Do Salado (1279-1340) - Savius Miguel PovalukSuely Moraes100% (1)
- Alomorfia Da Vogal TemáticaDocumento11 páginasAlomorfia Da Vogal TemáticaPedMelkAinda não há avaliações
- Polígrafo de LiteraturaDocumento28 páginasPolígrafo de LiteraturaMonica CardosoAinda não há avaliações
- Sum - HCP 2022 2Documento21 páginasSum - HCP 2022 2Dave PchoAinda não há avaliações
- TROVADORISMO MEDIEVAL - Apostila - Fernando FioreseDocumento21 páginasTROVADORISMO MEDIEVAL - Apostila - Fernando FioreseFernando FioreseAinda não há avaliações
- Sobre El Conde Lucanor PDFDocumento79 páginasSobre El Conde Lucanor PDFHelen PatríciaAinda não há avaliações
- SARAIVA, António José - A Épica Medieval PortuguesaDocumento89 páginasSARAIVA, António José - A Épica Medieval PortuguesaEdu ZomwskiAinda não há avaliações
- BB 08Documento146 páginasBB 08Adriana RomeiroAinda não há avaliações
- Tese Doutoramento IsabelBarrosDiasDocumento433 páginasTese Doutoramento IsabelBarrosDiasAmérico PolichettiAinda não há avaliações
- Alex. Herculano - Hist. de Portugal - Monarquia-Afonso IIIDocumento237 páginasAlex. Herculano - Hist. de Portugal - Monarquia-Afonso IIImazevedo_264648Ainda não há avaliações
- IPSIS DOSSIE - 002 LibanisDocumento21 páginasIPSIS DOSSIE - 002 LibanisLeonardo FontesAinda não há avaliações
- Atividade - Pratica - Historia e Historiog. Medieval OrientalDocumento6 páginasAtividade - Pratica - Historia e Historiog. Medieval OrientalVanessa MartinsAinda não há avaliações