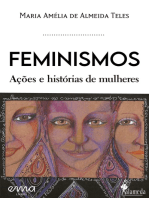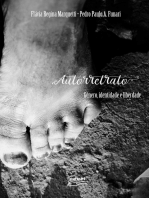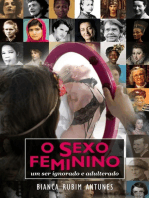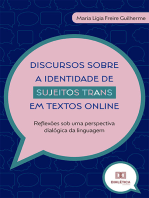Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Mulher Na Visão Do Patriarcado PDF
A Mulher Na Visão Do Patriarcado PDF
Enviado por
MayareteTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Mulher Na Visão Do Patriarcado PDF
A Mulher Na Visão Do Patriarcado PDF
Enviado por
MayareteDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO BRASILEIRO:
UMA HERANA OCIDENTAL
Kellen Jacobsen Follador
Resumo Abstract
A histria da participao feminina na The history of feminine participation in
formao da sociedade foi durante sculos formation of the society for centuries was
deixada em segundo plano no mundo left in second place in the western world.
Ocidental. Esse artigo problematiza a viso This article discusses the masculine vision
masculina em relao s mulheres e in relation to the women and gives
destaca os papis e imagens, que, para a prominence the parts and images that the
sociedade masculina patriarcal brasileira, masculine society patriarchal Brazilian
formavam a mulher ideal formed the ideal woman.
Palavras-Chave: Histria da Mulher. Papel Keywords: History of the Woman. Social
Social. Viso Masculina. Part. Masculine Vision.
Uma nova perspectiva: o gnero
Por muitos sculos as mulheres ficaram em segundo plano quando o assunto
relacionava-se histria e feitos da humanidade. Trancafiadas em castelos, palcios ou
simples moradias as mulheres no tinham vez na histria escrita pelos homens. Vasconcelos
menciona que reclusas no mundo domstico, circunscritas ao silncio do mundo privado,
elas no teriam uma histria1, visto que, somente o espao pblico, destinado aos homens,
possua importncia. Era nesse espao pblico que ocorriam os grandes acontecimentos da
humanidade, onde seus orquestradores eram homens na quase totalidade.
O ramo da histria que trabalha com a histria das mulheres muito recente,
remontando segunda metade do sculo XX. Anteriormente, no sculo XIX sob a gide
positivista, a histria excluiu duplamente as mulheres. Primeiro porque a elas era
impossibilitado o acesso a uma educao profissionalizante que as levasse produo de
conhecimento exercendo o ofcio de historiadoras2. Em segundo lugar, pelo fato de que a
1
VASCONCELOS, Tnia Mara Pereira. A perspectiva de gnero redimensionando a disciplina histrica.
Revista rtemis, n. 03, dez., 2005 (A), p. 02. Disponvel em: <http://www.prodema.ufpb.br/revistaartemis>.
Acesso em: 15 de junho de 2007.
2
No sculo XIX era permitido s mulheres o acesso educao, porm num nvel de instruo que as
mantinham sob o jugo masculino.
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 3
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
histria positivista3 preconizava os grandes fatos desencadeados por lderes polticos e
militares, o que, novamente, afastava as mulheres da participao como agentes histricos4.
O interesse por uma histria das mulheres surgiu aos poucos. Isso devido a um lento
processo que pe em destaque no final do sculo XIX, principalmente para a antropologia
histrica, o papel da famlia como clula fundamental5 da sociedade.
A Escola dos Annales com suas vrias propostas de mtodos e pesquisas promoveu
um estmulo ao desenvolvimento de uma histria das mulheres, decorrente de um dos
interesses da referida escola que era enfatizar a histria do cotidiano, da vida privada e dos
grupos marginalizados pela histria positivista6. Assim, segundo Peter Burke, a histria das
mulheres oferece uma nova perspectiva sobre o passado, uma vez que, anteriormente, eram
invisveis para os historiadores, sendo subestimado seu trabalho dirio, sua influncia poltica
e econmica7.
A partir da dcada de 1980 a contribuio feminina para a construo da histria da
humanidade passou a ser destaque nas pesquisas acadmicas. O conceito de gnero tornou-se
amplamente utilizado para caracterizar as relaes entre homens e mulheres, partindo do
pressuposto de que a formulao de uma histria das mulheres necessita obrigatoriamente dos
estudos acerca das inter-relaes entre os dois sexos8.
A categoria gnero se reporta a uma construo social que delimita os papis
desempenhados por cada um dos sexos na sociedade. No algo taxativo, que dependa da
questo biolgica entre os sexos, porque uma pessoa pode ter determinado sexo e adotar para
si o gnero oposto.
3
No sculo XIX a histria poltica era considerada mais real ou mais sria do que o estudo da sociedade e
cultura.
4
VASCONCELOS, 2005 (A). Op. cit. p. 02.
5
DUBY. Georges & PERROT, Michelle. Histria das Mulheres no Ocidente. Porto: Afrontamento. So Paulo:
Ebradil, 1991, v. 1.
6
A Escola dos Annales surgiu na dcada de 1920, com os franceses Marc Bloch e Lucien Febvre que criticavam
os historiadores tradicionais e almejavam substituir a histria poltica por uma histria mais ampla e mais
humana, que abrangeria todas as atividades humanas e estaria menos preocupada com a narrativa de eventos do
que com a anlise das estruturas. Bloch e Febvre fundaram a revista Annales dHistoire conomique et Sociale,
na qual faziam crticas aos historiadores tradicionais e divulgavam a nova forma de se fazer histria. BURKE,
Peter. Histria e teoria social. So Paulo: Unesp, 2002, p. 30.
7
BURKE, P. Histria e teoria social. So Paulo: UNESP, 2002, p. 76.
8
VASCONCELOS, 2005 (A). Op. cit. p. 02.
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 4
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
Assim, o gnero pode ser compreendido como uma conveno social, histrica e
cultural, baseada nas diferenas sexuais. Logo, est ligado s relaes sociais criadas entre os
sexos. Gnero a construo sociolgica, poltica e cultural do termo sexo9.
Da mesma forma que a categoria gnero depende de um acordo social que delimita
os papis desempenhados pelo gnero feminino e masculino, ela pode mudar dependendo do
perodo histrico e da sociedade na qual os estudos so elaborados. Portanto, Mergr destaca
que,
As relaes de poder entre os gneros, da mesma forma que os significados, os
valores, os costumes e os smbolos, divergem atravs das culturas. A religio, a
economia, as classes sociais, as raas e os momentos histricos estabelecem
significados que se consolidam e se relacionam integradamente e agindo em todos
os aspectos do dia-a-dia10
Igualmente, podemos perceber que o termo gnero reporta aos dois sexos e s relaes
que so socialmente construdas entre eles. O termo, dessa forma, no se baseia unicamente
na questo biolgica e [...] no significa homem e mulher tal como nascem, mas tal como
[se] fazem, com diferentes poderes, diferentes comportamentos, diferentes sentimentos [...].
Conceitos de gneros estruturam a percepo do mundo e de ns mesmos, organizam concreta
e simbolicamente toda a sociedade11.
A autora Rachel Soihet, acredita que os novos mtodos e teorias auxiliam no
desenvolvimento das pesquisas historiogrficas relacionadas histria das mulheres.
Porquanto possvel trabalhar com novas temticas relacionadas ao espao privado cotidiano
como: a sexualidade, a maternidade e a famlia12. Em relao s temticas abordadas pelo
estudo de gnero, Nader acredita que aps a dcada de 1970 as discusses acadmicas deram
nfase s pesquisas que denotavam a libertao feminina do jugo que lhe foi imposto pela
sociedade durante milnios, destacando no s aspectos da vida social da mulher, mas
tambm temas vinculados sade, ao sexo, maternidade, casamento, divrcio, profisso,
9
MERGR, Arion. A representao social do gnero feminino nos autos criminais na Provncia do Esprito
Santo (1853-1870). 2006. 160 f. Dissertao (Mestrado) Programa de Ps-Graduao em Histria Social das
Relaes Polticas, Universidade Federal do Esprito Santo, Centro de Cincias Humanas e Naturais, Vitria,
2006, p. 79.
10
Idem, p. 79.
11
Ibidem, p. 80.
12
SOIHET, Rachel. Histria das Mulheres. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Org.).
Domnios da Histria. Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 5
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
salrio, escolaridade, movimento feminista, enfim, uma srie de assuntos que envolvem o
gnero feminino13.
A mulher sob o prisma ocidental masculino
Ao longo da histria, a imagem do feminino esteve ligada a ambigidades. Os
homens, aqueles a quem cabiam os relatos posteridade, expressavam seus sentimentos e
opinies de forma dupla, ora demonstrando amor e admirao s mulheres, ora demonstrando
dio e repulsa. O olhar masculino reservava s mulheres imagens diferentes, sendo em
determinados momentos um ser frgil, vitimizado e santo, e, em outros, uma mulher forte,
perigosa e pecadora. Essas caractersticas levaram a dois papis14 impostos s mulheres: o de
Eva, que servia para denegrir a imagem da mulher por ele maculada; e o de Maria, santa me
zelosa e obediente, que deveria ser alcanado por toda mulher honrada.
Delumeau destaca que durante milnios a mulher foi associada s foras da natureza
devido fertilidade e ao seu papel na reproduo da espcie. Ela provocava medo no homem
por causa de acontecimentos que eram inexplicveis, como a maternidade. Esse medo
provocado pelo desconhecido levou o homem a manter a mulher sob seu controle, garantindo
sua superioridade em relao a ela. No ocidente cristo medieval, a mulher passaria a ser
associada ao demnio e essa diabolizao se remete descendncia de Eva, smbolo do
pecado e tentao15.
Porm, tambm ocorreu na Idade Mdia o fortalecimento do culto Virgem Maria e o
destaque para suas qualidades. Desde o final do sculo XI, os religiosos esforavam-se para
transformar este ser diablico numa fonte do bem. Mas, a imagem das descendentes de Eva,
pecadoras e sedutoras, ainda predominava nesse perodo. O culto Virgem ganhou destaque a
partir do sculo XII, onde Maria representava o ideal de mulher pura, assexuada, capaz de
conceber sem pecar. Um ideal que deveria ser seguido pelas demais mulheres em detrimento
da herana deixada por Eva, pois, enquanto essa carregava o castigo na sua sexualidade,
13
NADER, Maria Beatriz. A condio masculina na sociedade. Dimenses Revista de Histria da Ufes.
Vitria: Ufes, n. 14, 2002, p. 462.
14
Para Peter Burke (Op. cit. p. 71), o conceito de papel social um dos mais importantes em Sociologia. Esse
conceito definido com base nos padres ou normas de comportamento que se esperam daquele que ocupa
determinada posio na estrutura social.
15
DELUMEAU, Jean. Histria do medo no Ocidente: 1300-1800. So Paulo: Cia. das Letras, 1990.
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 6
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
Maria trazia a redeno s mulheres mostrando que era possvel cumprir o papel de
procriadora, sem exercer o desejo carnal.16.
Logo, ntido que no Ocidente a imagem das mulheres ora foi diabolizada, ora
santificada, e, a expresso diablica compunha a noo de uma natureza sexuada selvagem,
rebelde, m, cuja domesticao resultaria na imagem da boa, da verdadeira mulher. Os
discursos fundadores dessas concepes em torno do feminino vo de Aristteles a Paulo de
Tarso, passando por inumerveis caminhos discursivos e temporalidades diversas, entre o
medievo, com as teorias de Santo Agostinho, e, a modernidade, com os discursos de
Rousseau17.
Somente no sculo XVIII que a mulher foi reconhecida como a guardi da
infncia, mas, tal reconhecimento encontrou algumas barreiras, porquanto no era tarefa fcil
convencer a sociedade de que a mulher, considerada perigosa, poderia se tornar responsvel
pelo cuidado com as crianas. A imagem da mulher demonaca deu espao para a imagem de
Maria. Anteriormente considerada imperfeita no cumprimento de suas tarefas, a mulher
passou a desempenhar um papel adequado s funes delegadas por Deus, como a tarefa de
ser boa me e esposa18.
Reconhecida como guardi da infncia, a mulher, mais do que nunca, tinha um
exemplo a seguir, o de Maria. Aquelas que transgredissem o modelo esposa-me-dona-de-
casa-assexuada eram consideradas desviantes do perfil, do papel social, que a sociedade
espera. Essas mulheres desviantes eram julgadas e culpabilizadas pela sociedade na qual
viviam simplesmente por no quererem ou no poder se encaixar no molde mariano. A
prostituta, por exemplo, era considerada um anti-modelo da mulher-me, apesar de os
homens que elaboravam tais modelos a considerarem como um mal necessrio. Assim, na
edificao de um exemplo ideal de mulher, as desviantes seriam associadas imagem da
prostituta.
Conforme Mergr, o ideal de mulher que subordina sua sexualidade maternidade, em
contraposio quelas dotadas de erotismo, perigosas, dadas como criminosas, loucas,
prostitutas, foi nos sculos XIX e parte do XX assegurado pela viso dominante e afirmado
16
VASCONCELOS, Vnia Nara Pereira. Vises sobre as mulheres na sociedade Ocidental. Revista rtemis, n.
03 dez/2005 (B), p. 06. Disponvel em: <http://www.prodema.ufpb.br/revistaartemis>. Acesso em: 15 de jun.
2007.
17
SWAIN, Tania Navarro. Feminismo e representaes sociais: a inveno das mulheres nas revistas
femininas. Histria: Questes & Debates. Curitiba: UFPR, n. 34, 2001, p. 16.
18
VASCONCELOS, 2005 (B). Op. cit. p. 08.
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 7
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
por autoridades, como filsofos, mdicos e juristas, dando, assim, um respaldo cientfico para
aquilo que j existia no passado explicado por um iderio cristo19.
A mulher sob o prisma patriarcal brasileiro
Levando em considerao que o Brasil foi colonizado por ocidentais, podemos
concluir que os homens no Brasil possuam os mesmos conceitos, em relao mulher, que os
moradores do velho continente. Assim, desde o perodo colonial a exigncia de submisso,
recato e docilidade foi imposta s mulheres. Essas exigncias levavam formao de um
esteretipo que relegava o sexo feminino ao mbito do lar, onde sua tarefa seria a de cuidar da
casa, dos filhos e do marido, e, sendo sempre totalmente submissa a ele.
Ratificando as proposies de Souza acreditamos que poderes absolutos eram
destinados ao homem, chefe e senhor da famlia na sociedade patriarcal brasileira, enquanto
que s mulheres era destinada a obrigatoriedade da recluso ao lar, com sua vida domstica
junto da criadagem escrava20. No perodo colonial as mulheres no podiam freqentar escolas,
ficando dessa forma excludas do mbito da educao formal, destinada apenas aos homens.
Em contrapartida eram treinadas para uma vida reclusa, onde o casamento, a administrao da
casa, a criao dos filhos eram seus maiores deveres, alm de ter que "tolerar as relaes
extra-matrimoniais dos maridos com as escravas21.
Logicamente que as excees existiam e as mulheres mais humildes no podiam
desfrutar desse papel social que via como ideal para a mulher a vida reclusa em seu lar.
Precisavam trabalhar e, desta forma, adentravam ao espao pblico, reservado aos homens,
pois, o sustento da famlia em muitos casos era tarefa delas. Afora essas excees, no
podiam sair desacompanhadas e sua passagem pelos espaos pblicos s era bem aceita se
relacionada s atividades da Igreja, como missas, novenas e procisses, o que para as jovens
daquela poca era uma forma de lazer.
19
MERGR. Op. cit. p. 83.
20
SOUZA, Alinaldo Faria de. Entre a recluso e o enfrentamento: a realidade da condio feminina no Esprito
Santo a partir dos autos criminais (1845-1870): desmistificando esteretipos. 2007. 143 f. Dissertao
(Mestrado) Programa de Ps-Graduao em Histria Social das Relaes Polticas, Universidade Federal do
Esprito Santo, Centro de Cincias Humanas e Naturais, Vitria, 2007, p. 69.
21
SOUZA, Eros de; BALDWIN, John R. A construo social dos papis sexuais femininos. Psicologia, reflexo
e crtica. v. 13, n.03, 2000, p. 03. Disponvel em: <http://www.ufrgs.br/psicologia/revista>. Acesso em: 15 jun.
2007.
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 8
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
Toda essa vigilncia em torno da mulher era necessria para se resguardar a
virgindade, a fidelidade e a honra. Caso fosse solteira, a mulher era vigiada para que
mantivesse essa qualidade, pois de sua castidade e pureza dependia a honra de todos os
homens da famlia, ou seja, irmos e pai. Quando casada a mulher era vigiada porque dela
tambm dependia a honra do marido, tanto no que dizia respeito fidelidade e a legitimidade
da prole, quanto no que se referia prpria masculinidade do marido. Assim, cabia mulher,
em parte, a responsabilidade pela manuteno da honra dos homens da famlia a qual
pertencia.
Durante o perodo colonial, as mulheres no Brasil no tiveram muito espao para
expressar seus pensamentos e para gozar de algum lazer, seno as festividades relacionadas
Igreja Catlica. O controle exercido pelos homens sobre elas atingia todos os campos de suas
vidas, como o controle dentro de casa desde a infncia, o controle ideolgico mantido pelos
ideais de recato, respeito, humildade e pela falta de instruo; por fim, a escolha de um
marido que certamente manteria o mesmo controle sobre ela.
A educao feminina no perodo colonial era, geralmente, restrita aos cuidados com a
casa, marido e filhos. A mulher aprendia a costurar, bordar, cozinhar e, as mais abastadas, a
pintar e tocar algum instrumento. A leitura e escrita deveriam ser as mnimas possveis, isso
dependemdo da rigorosidade do pai, que, em muitas vezes no permitia que as filhas
aprendessem a ler e escrever. A educao era ministrada somente aos homens, e, tanto as
mulheres brancas ricas e pobres, quanto as negras, fossem elas escravas, alforriadas ou
mestias, no tinham acesso instruo. Um ditado da poca demonstra muito bem a opinio
masculina acerca da instruo feminina, onde menciona que mulher que sabe muito mulher
atrapalhada, para ser me de famlia, saiba pouco ou saiba nada22.
O ditado popular menciona que a mulher ideal era aquela que sabia pouco ou sabia
nada. Podemos perceber a falta de conhecimento no somente relacionada instruo
intelectual, mas tambm instruo sexual que serviria para sua vida enquanto mulher e
esposa. Ribeiro menciona que, quando as mulheres se casavam, seguiam para a lua-de-mel
sem informaes sobre sexo ou mesmo sobre o que ocorreria. O sexo ocorria s escuras,
sendo o corpo feminino coberto por um lenol que permitia apenas a viso dos rgos
22
RIBEIRO, Arilda Ins Miranda. Mulheres educadas na colnia. In: LOPES, Eliane (Org.). 500 anos de
educao no Brasil. Belo Horizonte: Autntica, 2007, p. 79.
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 9
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
sexuais. O prazer sexual masculino ficava a cargo das negras escravas, e, esposa era
proibido sentir tal prazer j que o sexo cabia somente reproduo23.
Apesar de todos esses modelos e regras que as mulheres deveriam seguir para serem
qualificadas como honradas, existiam aquelas que no se encaixavam em tais modelos, fosse
por situaes passageiras ou permanentes, ligadas ao modo de vida. Geralmente esses padres
eram ditados para as mulheres brancas, pois as escravas, negras alforriadas e mestias j eram
mal vistas pela sociedade, consideradas como mulheres sem honra. Porm, mesmo as
mulheres brancas nem sempre conseguiam manter esse ideal, como era o caso das mulheres
pobres. Elas precisavam trabalhar fora de seus lares e isso j as caracterizavam, na maioria
dos casos, como mulheres pblicas.
Nesse contexto havia trs classificaes para as mulheres: honradas, desonradas e sem
honra. As mulheres desonradas eram aquelas que praticavam relaes extra-conjugais,
perdiam a virgindade antes do casamento ou possuam um comportamento desajustado
socialmente. Elas manchavam a honra da famlia ou de seus maridos e, por isso, eram
exemplarmente punidas pelos familiares ou condenadas ao dio da sociedade. As mulheres
honradas eram aquelas que seguiam os padres e normas que a sociedade impunha, seguindo
tambm o ideal de pureza mariano. Deveriam exaltar as virtudes de uma vida recatada e
submissa ao poder masculino, ora do pai, ora do marido. Por fim, as mulheres sem honra eram
aquelas, na maioria, ligadas direta ou indiretamente prostituio, e, aquelas ligadas ao
submundo das ruas. As escravas, por exemplo, eram consideradas mulheres sem honra.
No geral, a existncia dessas mulheres ligadas prostituio era aceita na sociedade
pelas famlias ricas e pela Igreja, j que ambos segmentos viam-nas como uma forma de
proteger a sexualidade das virgens de boa famlia. Cabia ainda a essas mulheres a iniciao
sexual dos vares das famlias abastadas. A prostituio era, em muitos casos, a nica forma
de algumas mulheres pobres e marginalizadas sobreviverem e sustentarem a famlia.
O sustento da famlia fez com que a mulher pobre no perodo colonail brasileiro
desempenhasse inmeras funes, tidas muitas vezes como masculinas, como era o caso das
tropeiras e cocheiras. A grande maioria das mulheres pobres possua atividades como
lavadeiras, cozinheiras, domsticas e vendedoras ambulantes, afirmando Nader que a
sociedade brasileira, que se pautou no poder masculino, jamais prescindiu da mo-de-obra
23
Idem, p. 83.
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 10
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
feminina24. O trabalho feminino era muito importante no comrcio de gneros alimentcios
que invadia as ruas das cidades, onde eram vendidos bolos, doces, hortalias, derivados do
leite, entre outras guloseimas preparadas pelas mulheres. Segundo Mergr, entre os sculos
XVIII e XIX o pequeno comrcio fixo ou ambulante era atividade quase que exclusivamente
feminina. Essas atividades estavam ligadas s camadas inferiores da sociedade e aos escravos,
que muitas vezes iam cidade vender os produtos advindos das fazendas de seus senhores25.
Como podemos perceber, as mulheres pobres, bem ou mau, podiam desfrutar de
uma liberdade impensada pelas mulheres de boa famlia. Essas ltimas viviam sob a proteo
dos olhares masculinos e enclausuradas em suas casas. O enclausuramento foi amenizado com
o fim da colonizao quando o Brasil passou por um leve processo de urbanizao aps a
chegada da Famlia Real.
A vinda da Famlia Real portuguesa para sua mais rica colnia proporcionou algumas
mudanas, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Como salienta Manoel, a abertura
comercial para um mercado mundial proporcionou a penetrao do capitalismo e a
gravitao do universo do neocolonialismo possibilitando a percepo de novas perspectivas
para o universo feminino, como uma maior participao social26.
Conforme Souza, com a vinda da Famlia Real tambm foram verificadas mudanas
em relao aos costumes familiares. A clausura do lar para as mulheres estava com seus dias
contados. Elas passaram a freqentar os espaos pblicos, como as ruas, os teatros, os bailes e
os sales de beleza. Com o tempo, surgiu uma rede de estabelecimentos, principalmente lojas,
que possuam como maior clientela as senhoras integrantes da elite imperial27.
J em meados do sculo XIX, durante a era Imperial, as mulheres lutaram para ampliar
seus papis na sociedade. O patriarcalismo e sua disciplina rgida excluram as mulheres da
cena social, porm nesse perodo j era aceito o fato de mulheres transitarem pelas ruas das
cidades a fazer compras, passeios ou mesmo a trabalho. Logo, pde-se ver avanos na luta
por direitos no campo do trabalho, da educao e da poltica, setores antes destinados
exclusivamente aos homens28.
24
NADER, Maria Beatriz. Op. cit., p. 197.
25
MERGR. Op. Cit. p. 97.
26
MANOEL, Ivan Aparecido. Igreja e educao feminina (1859-1919): uma fase do conservadorismo. So
Paulo: Unesp, 1995, p. 22.
27
SOUZA. Op. cit., p. 82.
28
SOUZA; BALDWIN. Op. cit., p. 03.
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 11
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
O sculo XIX trouxe mudanas para as mulheres, tanto na Europa quanto na Amrica.
Foi um sculo no qual, em pases mais desenvolvidos, elas buscaram seus direitos e tentaram
igual-los aos dos homens. No Brasil o patriarcalismo ainda era forte, porque mesmo com sua
Independncia as caractersticas principais da sociedade se mantiveram, isto , o
patriarcalismo baseado num meio de produo escravocrata. Segundo Souza, a maior
transformao ocorreu [...] na dcada de 1870, quando mudanas socioeconmicas foram
minando as bases do patriarcalismo29.
Na educao tambm podemos verificar algumas alteraes. As mulheres da elite
tiveram mais acesso instruo, que era ministrada em suas prprias residncias, e, nesse
momento aceita como lago positivo pelos homens. Entendia-se por instruo feminina a
dana, o aprendizado de piano, a escrita e a leitura. Livros eram escritos especialmente para
esse pblico, no exigindo de suas leitoras um esforo de reflexo e compreenso30. Assim,
traziam temas que no levantavam nenhuma discusso acerca da sociedade, mas, abordavam
principalmente o amor, j que, o grande desejo da maioria dessas mulheres era o de se
casarem. Na verdade, as mulheres deveriam ser educadas e no instrudas, e, esse fato
notvel pelos aprendizados destinados a elas, que no tinham nenhum teor de anlise crtica
da sociedade ou contedos cientficos. Em relao s mudanas Cerdeira destaca que,
Ela no mais permanece reclusa casa-grande, freqentando festas, teatros e indo Igreja, o
que possibilita um aumento em seus contatos sociais. Sua instruo geral, porm, permanece
desvalorizada, uma vez que a sociedade espera que ela seja educada e no instruda. sua
educao domstica acrescenta-se o cuidado com a conversao, para torn-la mais agradvel
nos eventos sociais31.
Como mencionado, as mulheres recebiam uma determinada educao para aquilo que
a sociedade esperava delas. Como destacado por Hahner o sistema escolar brasileiro
exprimia o consenso social sobre o papel da mulher. Ensinava-se a ela s o que fosse
considerado necessrio para viver em sociedade32. Agora elas precisavam falar bem em
pblico, ter familiaridade com algumas artes como a dana, a msica e at mesmo outro
idioma, no intuito de serem companhias agradveis aos seus maridos e s pessoas com quem
29
SOUZA. Op. cit., p. 82.
30
SOUZA. Op. cit., p. 80.
31
MERGR. Op. cit., p. 93.
32
HAHNER. June E. Emancipao do sexo feminino: a luta pelos direitos da mulher no Brasil (1850-1940).
Florianpolis: Mulheres, 2003, p. 73.
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 12
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
ele mantinha relaes de amizade ou negcios. Isso ocorria principalmente quando
freqentavam ambientes pblicos elitistas, como bailes e teatros.
Apesar dessas mudanas, as mulheres da elite continuavam limitadas porque no
possuam nem autonomia, nem igualdade perante os homens, j que, a estrutura social,
cultural e econmica era apangio masculino. As limitaes eram mais exacerbadas em
relao s mulheres menos privilegiadas que se mantinham na ignorncia por no poderem
desfrutar dos mesmos privilgios que suas colegas da elite. As mulheres pobres, quando
possvel, freqentavam as escolas normais, que no possuam boa qualidade, e cursavam ao
mximo o ensino primrio. O ensino era privilgio de poucos e a maioria da populao
brasileira era composta por analfabetos33.
A primeira lei referente educao feminina, que data de 1827, menciona que as
meninas podiam freqentar a escola somente at o nvel elementar, sendo-lhes vedado o
ingresso nas instituies de ensino superior. Dava-se destaque s prendas domsticas, como a
costura, em detrimento da escrita e aritmtica que, alis, era diferente da aritmtica ensinada
aos meninos.
A partir da segunda metade do sculo XIX, a instruo tornou-se mais acessvel s
mulheres que tiveram a oportunidade de cursar o ensino primrio e secundrio. Com uma
maior instruo elas podiam se dedicar ao magistrio, reafirmando a idia de que a mulher
seria por natureza uma educadora34. As escolas normais destinadas a formar professores
primrios preparavam-nas para a carreira de ensino e permitiam que elas continuassem a
investir em sua educao. O magistrio era visto pela sociedade como uma profisso honrada,
destinado apenas s mulheres dignas35. Por sua vez, Franco acredita que devido a sua
doura, pacincia e compreenso a mulher passou a representar o modelo ideal para o
exerccio do magistrio, visto que, o homem com o autoritarismo tpico poca era
inadequado, porquanto, amedrontaria as crianas36.
CONCLUSO
33
SOUZA.Op. cit., p. 82.
34
FRANCO, Sebastio Pimentel. As escolas femininas de formao para o magistrio no Esprito Santo:
Primeira Repblica. Dimenses Revista de Histria da Ufes. Vitria: Ufes, n. 16, 2004, p. 312.
35
HAHNER. Op. cit., p. 78-79.
36
FRANCO, Sebastio Pimentel. Do privado ao pblico: o papel da escolarizao na ampliao de espaos
sociais para a mulher na Primeira Repblica. Tese de Doutorado. Universidade de So Paulo, 2001, p. 85.
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 13
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
O sculo XIX trouxe mudanas, que, na verdade, no se estenderam a todas as
mulheres, pois as mais beneficiadas foram quelas ligadas elite. As mudanas foram
verificadas no que se refere a uma maior liberdade para freqentar locais pblicos e em um
maior acesso educao, uma vez que, agora lhes era permitido e esperado que soubessem ler
e escrever. Para as mulheres das camadas inferiores pouca coisa mudou nesse sculo.
Continuavam a ser encaradas, na maioria, como mulheres desonradas ou sem honra,
decorrncia em muitos casos dos meios que utilizavam para sobreviver. A maioria das
mulheres brasileiras teria de esperar a chegada do sculo XX para alcanarem um maior
reconhecimento da sociedade por sua participao na construo do pas.
No incio do sculo XX no faltaram vozes para reclamar publicamente o
inconformismo que as mulheres sentiam por causa das restries que lhes eram impostas por
aqueles que governavam o pas, isto , os homens. Desejavam uma maior participao na
economia, na poltica e principalmente almejavam serem reconhecidas como cidads, sendo
livres e tendo os mesmos direitos que aqueles que sculos antes se declaravam donos e
senhores de suas vidas. Essas pioneiras reivindicavam: ns queremos a liberdade [...] ou pelo
menos a sua igualdade com o homem, o nosso dspota, o nosso tirano37.
Referncias
BURKE, Peter. Histria e teoria social. So Paulo: Unesp, 2002
DELUMEAU. Histria do Medo no Ocidente: 1300-1800. So Paulo: Cia. das Letras,
1990
DUBY. Georges & PERROT, Michelle. Histria das Mulheres no Ocidente. (Vol. 1).
Porto: Afrontamento. So Paulo: Ebradil, 1991
FRANCO, Sebastio Pimentel. As escolas femininas de formao para o magistrio no
Esprito Santo: Primeira Repblica. Dimenses Revista de Histria da Ufes. Vitria:
Ufes, n. 16, 2004
37
MALUF, Mariana & MOTT, Maria L. Recnditos do Mundo Feminino. In. SEVCENKO, Nicolau (Org.).
Histria da Vida Privada no Brasil: Repblica - da Belle poque Era do Rdio. So Paulo: Companhia das
Letras, 1999, p. 371.
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 14
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
FRANCO, Sebastio Pimentel. Do privado ao pblico: o papel da escolarizao na
ampliao de espaos sociais para a mulher na Primeira Repblica. 2001. Tese de
Doutorado. Universidade de So Paulo
HAHNER. June E. Emancipao do sexo feminino: a luta pelos direitos da mulher no
Brasil (1850-1940). Florianpolis: Mulheres, 2003.
MALUF, Mariana & MOTT, Maria L. Recnditos do mundo feminino. In. SEVCENKO,
Nicolau. (Org.). Histria da Vida Privada no Brasil: Repblica - da Belle poque Era do
Rdio. So Paulo: Companhia das Letras, 1999.
MANOEL, Ivan Aparecido. Igreja e educao feminina (1859-1919): uma fase do
conservadorismo. So Paulo: Unesp, 1995.
MERGR, Arion. A representao social do gnero feminino nos autos criminais na
Provncia do Esprito Santo (1853-1870).2006. 160 f. Dissertao (Mestrado) Programa
de Ps-Graduao em Histria Social das Relaes Polticas, Universidade Federal do
Esprito Santo, Centro de Cincias Humanas e Naturais, Vitria, 2006.
NADER, Maria Beatriz. A presena feminina no mercado de trabalho no Brasil e no
Esprito Santo: dos tempos coloniais aos dias atuais. Dimenses Revista de Histria da
Ufes. Vitria: Ufes, n. 17, 2005.
NADER, Maria Beatriz. A condio masculina na sociedade. Dimenses Revista de
Histria da Ufes. Vitria: Ufes, n. 14, 2002.
RIBEIRO, Arilda Ins Miranda. Mulheres educadas na colnia. In: LOPES, Eliane (Org.).
500 anos de educao no Brasil. Belo Horizonte: Autntica, 2007.
SOIHET, Rachel. Histria das mulheres. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS,
Ronaldo (Org.). Domnios da Histria. Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro:
Campus, 1997.
SOUZA, Alinaldo Faria de. Entre a recluso e o enfrentamento: a realidade da condio
feminina no Esprito Santo a partir dos autos criminais (1845-1870): desmistificando
esteretipos. 2007. 143 f. Dissertao (Mestrado) Programa de Ps-Graduao em
Histria Social das Relaes Polticas, Universidade Federal do Esprito Santo, Centro de
Cincias Humanas e Naturais, Vitria, 2007.
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 15
Kellen Jacobsen Follador A MULHER NA VISO DO PATRIARCADO
BRASILEIRO: UMA HERANA OCIDENTAL
SOUZA, Eros de; BALDWIN, John R. A construo social dos papis sexuais femininos.
Psicologia, reflexo e crtica. vol. 13, n.03, 200, Porto Alegre. Disponvel em:
<http://www.ufrgs.br/psicologia/revista>. Acesso em: 15 jun. de 2007.
SWAIN, Tania Navarro. Feminismo e representaes sociais: a inveno das mulheres nas
revistas femininas. Histria: Questes & Debates. Curitiba: UFPR, n. 34, 2001.
VASCONCELOS, Tnia Mara Pereira. A perspectiva de gnero redimensionando a
disciplina histrica. Revista rtemis, n.03 dez/2005. Disponvel em:
<http://www.prodema.ufpb.br/revistaartemis>. Acesso em: 15 jun. de 2007 (a).
VASCONCELOS, Vnia Nara Pereira. Vises sobre as mulheres na sociedade Ocidental.
Revista rtemis, n.03 dez/2005. Disponvel em:
<http://www.prodema.ufpb.br/revistaartemis>. Acesso em: 15 jun. de 2007 (b).
Revista fato&verses / n.2 v.1 / p. 3-16 / 2009 www.catolicaonline.com.br/fatoeversoes ISSN 1983-1293 16
Você também pode gostar
- Feminismos, ações e histórias de mulheresNo EverandFeminismos, ações e histórias de mulheresAinda não há avaliações
- Atualização Metodologia Grupos Reflexivos Noos 2016 PDFDocumento50 páginasAtualização Metodologia Grupos Reflexivos Noos 2016 PDFignAinda não há avaliações
- Prostituição e Violência de Gênero - A Rua F em Alta FlorestaDocumento20 páginasProstituição e Violência de Gênero - A Rua F em Alta FlorestaJoeser AlvarezAinda não há avaliações
- A Importância Da Mulher Na SociedadeDocumento28 páginasA Importância Da Mulher Na SociedadeAdam ErlonAinda não há avaliações
- Dossie Historia e Genero - Riso, Porn, Mulheres PDFDocumento170 páginasDossie Historia e Genero - Riso, Porn, Mulheres PDFJuliana SechinatoAinda não há avaliações
- Mulheres na diplomacia do Brasil: entre vozes e silêncios (1918-2018)No EverandMulheres na diplomacia do Brasil: entre vozes e silêncios (1918-2018)Ainda não há avaliações
- Autorretrato: gênero, identidade e liberdadeNo EverandAutorretrato: gênero, identidade e liberdadeAinda não há avaliações
- Direito Contemporâneo em Conflito: coletânea de artigosNo EverandDireito Contemporâneo em Conflito: coletânea de artigosAinda não há avaliações
- Mulheres e Justiça: Teorias da Justiça da Antiguidade ao Século XX Sob a Perspectiva Crítica de GêneroNo EverandMulheres e Justiça: Teorias da Justiça da Antiguidade ao Século XX Sob a Perspectiva Crítica de GêneroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Cidadania Doméstica: a Confluência entre o Público e o Privado na Emancipação da MulherNo EverandCidadania Doméstica: a Confluência entre o Público e o Privado na Emancipação da MulherAinda não há avaliações
- Entrevista Com Raewyn Connell PDFDocumento14 páginasEntrevista Com Raewyn Connell PDFSérgio RêgoAinda não há avaliações
- História Das MulheresDocumento8 páginasHistória Das MulheresIago MouraAinda não há avaliações
- Gayle Rubin-Trafico - Texto TraduzidoDocumento62 páginasGayle Rubin-Trafico - Texto TraduzidoPamela CamaranoAinda não há avaliações
- Roberta Jucá e Vanessa Berner - Descolonizar A UniversidadeDocumento21 páginasRoberta Jucá e Vanessa Berner - Descolonizar A UniversidadeRobertAugustodeSouzaAinda não há avaliações
- Articulacao Do Trabalho em Rede para A PDocumento26 páginasArticulacao Do Trabalho em Rede para A PLarissa CarvalhoAinda não há avaliações
- História Das Mulheres (Rachel Sueht)Documento7 páginasHistória Das Mulheres (Rachel Sueht)sarizacaetanoAinda não há avaliações
- Artigo de Michelle PerrotDocumento10 páginasArtigo de Michelle PerrotMarcelo Gomes de BarrosAinda não há avaliações
- Violência Contra A Mulher e Violência Doméstica H. SaffiotiDocumento17 páginasViolência Contra A Mulher e Violência Doméstica H. SaffiotiAndré SilvaAinda não há avaliações
- A Mulher Enquanto Metáfora Do Direito PenalDocumento17 páginasA Mulher Enquanto Metáfora Do Direito PenalMaxwell MirandaAinda não há avaliações
- 3 - Rachel Soihet, Transgredindo e Conservando, Mulheres Conquistam Oespaço PúblicoDocumento8 páginas3 - Rachel Soihet, Transgredindo e Conservando, Mulheres Conquistam Oespaço PúblicoEMANOEL BORGES CORREIAAinda não há avaliações
- A Mulher Os Rapazes, Da História Da SexualidadeDocumento3 páginasA Mulher Os Rapazes, Da História Da Sexualidadeelias silva100% (1)
- As filhas de Eva querem votar: uma história da conquista do sufrágio feminino no BrasilNo EverandAs filhas de Eva querem votar: uma história da conquista do sufrágio feminino no BrasilAinda não há avaliações
- Cartilha - Introducao Genero PDFDocumento168 páginasCartilha - Introducao Genero PDFLuci ElzaAinda não há avaliações
- Da Divisão Do Trabalho Entre Os Sexos - Daniele KergoatDocumento9 páginasDa Divisão Do Trabalho Entre Os Sexos - Daniele KergoatMaria Júlia MonteroAinda não há avaliações
- 3386-Texto Do Artigo-11744-1-10-20180413 PDFDocumento9 páginas3386-Texto Do Artigo-11744-1-10-20180413 PDFGabriela MachadoAinda não há avaliações
- Resenha - Genero, Patriarcado e Violencia - SaffiotiDocumento8 páginasResenha - Genero, Patriarcado e Violencia - SaffiotiMariana AlmeidaAinda não há avaliações
- BERTULLO, Dora Lucia de L. - RACISMO, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS PDFDocumento50 páginasBERTULLO, Dora Lucia de L. - RACISMO, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS PDFAna Paula da Cunha GóesAinda não há avaliações
- Crime, Justiça e Sociedade Nos Tempos Modernos e Modernos - Trinta Anos de Crime e História Da Justiça CriminalDocumento32 páginasCrime, Justiça e Sociedade Nos Tempos Modernos e Modernos - Trinta Anos de Crime e História Da Justiça CriminalAdriana Carpi100% (1)
- Vem Pra Roda! Vem Pra Rede!Documento77 páginasVem Pra Roda! Vem Pra Rede!Ana Paula MedeirosAinda não há avaliações
- Mulher deve votar?: O Código Eleitoral de 1932 e a Conquista do Sufrágio Feminino Através das Páginas dos Jornais Correio da Manhã e A NoiteNo EverandMulher deve votar?: O Código Eleitoral de 1932 e a Conquista do Sufrágio Feminino Através das Páginas dos Jornais Correio da Manhã e A NoiteAinda não há avaliações
- Fichamento - Geografias SubversivasDocumento4 páginasFichamento - Geografias SubversivasBiaAinda não há avaliações
- Da Invisibilidade Ao GêneroDocumento16 páginasDa Invisibilidade Ao Gênerocarlosedu22Ainda não há avaliações
- Do Homossexualismo A Homoafetividade. Discursos Judiciais Sobre As Homossexualidades No STJ e STF de 1989 A 2012Documento251 páginasDo Homossexualismo A Homoafetividade. Discursos Judiciais Sobre As Homossexualidades No STJ e STF de 1989 A 2012Ricardo RochaAinda não há avaliações
- Transgênero, Transexual, Travesti - Os Desafios para A Inclusão Do Grupo No Mercado de TrabalhoDocumento7 páginasTransgênero, Transexual, Travesti - Os Desafios para A Inclusão Do Grupo No Mercado de TrabalhoArley de MattosAinda não há avaliações
- Manual AntirracistaDocumento1 páginaManual AntirracistaOSWALDO JOSE MOREIRA SOTOAinda não há avaliações
- A Breve Historia Da Mulher No Mundo OcidentalDocumento4 páginasA Breve Historia Da Mulher No Mundo OcidentalSamanthaAinda não há avaliações
- RAGO, Margareth. Relações de Gênero e Classe Operária No Brasil 1889-1930Documento19 páginasRAGO, Margareth. Relações de Gênero e Classe Operária No Brasil 1889-1930Igor MarquezineAinda não há avaliações
- A ORIGEM DO PATRIACARDO - Gerda LernerDocumento6 páginasA ORIGEM DO PATRIACARDO - Gerda LernerAna LuciaAinda não há avaliações
- SWAIN - A Construção Dos Corpos - Perspectivas FeministasDocumento9 páginasSWAIN - A Construção Dos Corpos - Perspectivas FeministasGF GabryAinda não há avaliações
- J. Mitchell. Mulheres A Revolução Mais Longa PDFDocumento30 páginasJ. Mitchell. Mulheres A Revolução Mais Longa PDFgsevmarAinda não há avaliações
- A Mulher No Século XIXDocumento2 páginasA Mulher No Século XIXBruna de OliveiraAinda não há avaliações
- A Relação Entre Patriarcalismo e ViolênciaDocumento3 páginasA Relação Entre Patriarcalismo e ViolênciascakelAinda não há avaliações
- PromotorasLegais - PreviewPgSimples - Versão Final PDFDocumento348 páginasPromotorasLegais - PreviewPgSimples - Versão Final PDFliviagdf2Ainda não há avaliações
- As Marcas Do Machismo No Cotidano EscolarDocumento10 páginasAs Marcas Do Machismo No Cotidano EscolarAna Beatriz QuintilianoAinda não há avaliações
- "Toda Feita" - Gênero e Identidade NoDocumento19 páginas"Toda Feita" - Gênero e Identidade NoThiago Batista100% (1)
- Pelucio Subalterno Quem Cara PalidaDocumento24 páginasPelucio Subalterno Quem Cara Palida120580douglasAinda não há avaliações
- HIRATA, Gênero, Classe e RaçaDocumento13 páginasHIRATA, Gênero, Classe e RaçaCarol SantosAinda não há avaliações
- Gênero em Movimento: Mulheres na Organização SindicalNo EverandGênero em Movimento: Mulheres na Organização SindicalAinda não há avaliações
- Feminismo e Pós ColonialismoDocumento30 páginasFeminismo e Pós Colonialismoeloo nogueiraAinda não há avaliações
- Madalena Barbosa - FeminismoDocumento13 páginasMadalena Barbosa - Feminismoshyznogud100% (2)
- Feminismo e Lesbianismo - TANIA NAVARRODocumento12 páginasFeminismo e Lesbianismo - TANIA NAVARROyaya_a_portoAinda não há avaliações
- Aspectos Psicológicos Relevantes Da Violência Doméstica1 PDFDocumento18 páginasAspectos Psicológicos Relevantes Da Violência Doméstica1 PDFSCFLAinda não há avaliações
- MOURA - Civilização Tronco de EscravosDocumento119 páginasMOURA - Civilização Tronco de EscravosGustavo PiovezanAinda não há avaliações
- Violências e Resistências Impactos Do Rompimento Da Barragem Da Samarco Sobre A Vida Das Mulheres AtingidasDocumento332 páginasViolências e Resistências Impactos Do Rompimento Da Barragem Da Samarco Sobre A Vida Das Mulheres AtingidasLuciana TasseAinda não há avaliações
- Cecilia Toledo - Marxismo - Livro - Mulheres, o Gênero No Une, A Classe Nos DivideDocumento27 páginasCecilia Toledo - Marxismo - Livro - Mulheres, o Gênero No Une, A Classe Nos DivideBruna Piazzi100% (1)
- Candidaturas-Laranja: o necessário enfrentamento jurídicoNo EverandCandidaturas-Laranja: o necessário enfrentamento jurídicoAinda não há avaliações
- As lutas feministas e o enfrentamento à desigualdade de gênero na política institucional brasileiraNo EverandAs lutas feministas e o enfrentamento à desigualdade de gênero na política institucional brasileiraAinda não há avaliações
- Discursos sobre a identidade de sujeitos trans em textos online: reflexões sob uma perspectiva dialógica da linguagemNo EverandDiscursos sobre a identidade de sujeitos trans em textos online: reflexões sob uma perspectiva dialógica da linguagemAinda não há avaliações
- Discurso de ódio e Direito Penal: a tutela penal dos discursos potencialmente ofensivosNo EverandDiscurso de ódio e Direito Penal: a tutela penal dos discursos potencialmente ofensivosAinda não há avaliações
- POLIFONIA - A Origem e Evolução Do Conceito em Oswald DucrotDocumento20 páginasPOLIFONIA - A Origem e Evolução Do Conceito em Oswald DucrotManoelFilhuAinda não há avaliações
- 463 1722 1 PBDocumento22 páginas463 1722 1 PBJúnior PinheiroAinda não há avaliações
- Indícios de Abuso SexualDocumento18 páginasIndícios de Abuso SexualCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- O Espetáculo MidiáticoDocumento115 páginasO Espetáculo MidiáticoCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- Corpo e TeatroDocumento7 páginasCorpo e Teatrosel_rick6760Ainda não há avaliações
- Maria Angela de A P M - Corpo Na Criacao Artistica Do AtorDocumento5 páginasMaria Angela de A P M - Corpo Na Criacao Artistica Do AtorCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- Helga FinterDocumento8 páginasHelga FinterCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- Papeis Sociais FemininosDocumento11 páginasPapeis Sociais FemininosCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- Teato Do Dia A DiaDocumento216 páginasTeato Do Dia A DiaCláudio ZarcoAinda não há avaliações