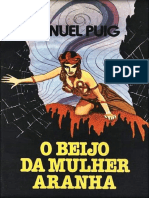Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Anatomia Couraca
Anatomia Couraca
Enviado por
Fernando Marques0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações11 páginasTítulo original
Anatomia_couraca.doc
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações11 páginasAnatomia Couraca
Anatomia Couraca
Enviado por
Fernando MarquesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 11
ANATOMIA E COURAA MUSCULAR DO CARTER *
Ricardo Amaral Rego **
INTRODUO
Desde h 20 anos, j aos meus primeiros contatos com a obra de Reich e com trabalhos nela
baseados, tem havido um enorme fascnio pela possibilidade de trabalho na interface mente-corpo, e
ao lado disso uma grande admirao pela genialidade de Reich, que abriu as portas desse novo
mundo. Entretanto, tambm desde o incio, algumas concepes do campo reichiano me pareciam
um pouco difceis de encaixar com o que me era ensinado na Faculdade de Medicina que eu ento
cursava. Eram teorias que falavam dos mesmos assuntos que eu estudava nas aulas de Anatomia e
outras matrias, e havia muita coisa interessante, til e perfeitamente coerente com o conhecimento
cientfico. Mas haviam alguns pedaos que no se encaixavam.
No comeo, atribua o problema a mim mesmo: "eu que entendo pouco de Medicina e de
Reich, e quando eu crescer e souber mais, tudo se esclarecer". O tempo passou, e eu passei de
estudante-paciente-curioso a psicoterapeuta e depois tambm professor, e nem tudo se esclareceu.
Vem da uma vontade, quase uma necessidade, de buscar uma melhor coerncia na articulao entre
estas duas vertentes to importantes: a cincia biolgica e o psicoterapia reichiana.
Uma primeira tentativa foi o meu trabalho sobre bioenergia (1992). Agora, apresento aqui
uma discusso sobre a concepo reichiana dos anis da couraa muscular, principalmente a partir do
referencial da Anatomia, da Fisiologia e da Embriologia, mas tambm tecendo algumas
consideraes a partir da teoria e da tcnica de autores neo-reichianos.
Talvez no seja muito tranqilo e nem agradvel para alguns leitores ver colocados em xeque
conceitos antigos e tradicionais.
Quando da apresentao do contedo deste artigo em palestras, colhi reaes tanto de
entusiasmo por ousar desafiar o estabelecido, como de mgoa e raiva por tentar "destruir" o pai
Reich. A partir de uma postura amadurecida de examinar, refletir e discutir sem idias pr-
concebidas, ficar logo evidente que no se trata de atacar e destruir, e sim uma tentativa de
desenvolver a teoria reichiana.
Tendo em vista a existncia de alguns erros de traduo, a discusso foi baseada no texto em
portugus da edio de 1989, cotejada - e corrigida quando necessrio - com a edio em ingls
(Reich, 1988). O nmero das pginas referidas em citaes corresponde sempre edio em
portugus.
Finalmente, acredito que o acompanhamento do que ser exposto se tornar bastante difcil sem
o aspecto visual, ou seja, sem que se tenha mo algum livro de Anatomia e Embriologia. Deste
modo, recomendo que se providencie isto antes de se iniciar a leitura.
A COURAA MUSCULAR DO CARTER
Wilhelm Reich foi um dos pioneiros da aplicao psicoterapia de uma compreenso do ser
humano que no dissociasse corpo e mente. Um dos pilares de sua abordagem a noo de couraa
muscular do carter, onde a musculatura estriada aparece como base para tal concepo integrada.
* Trabalho apresentado IV Encontro Reich no Sedes, 1991.
Publicado na Revista Reichiana 2. Instituto Sedes Sapientiae, So Paulo, 1993, p. 32-54.
** fone (011) 283 3055 - fax (011) 289 8394
R. Alm. Marques Leo 785, S. Paulo, SP CEP 01330 010
E-mail: ric.rego@uol.com.br
Segundo ele, "a couraa est disposta em segmentos, quero dizer que ela funciona de
maneira circular, na frente, dos dois lados, e atrs, isto , como um anel" (p. 331). Tais anis, em
nmero de sete, estariam dispostos perpendicularmente ao eixo cfalo-caudal do corpo humano.
Cada segmento ou anel "compreende aqueles rgos e grupos de msculos que tm um contato
funcional entre si e que podem induzir-se mutuamente a participar no movimento expressivo
emocional", sendo que "um segmento termina e outro comea quando um deixa de afetar o outro em
suas aes emocionais" (p. 331-2).
Esta concepo bastante difundida nos meios reichianos e neo-reichianos, e fundamenta
inmeras tcnicas psicoterpicas. Entretanto, um exame mais atento dos seus pormenores levanta
vrias dvidas, que iremos examinar. No ser discutido o conceito de couraa muscular do carter, e
sim apenas sua disposio segmentar. Tambm no ser objeto de anlise a incluso feita por Reich
de rgos sensoriais e viscerais como integrantes da couraa, nos atendo discusso dos grupos
musculares envolvidos.
A discusso bastante dificultada pela maneira vaga e pouco precisa com que Reich muitas
vezes se refere aos grupos de msculos pertencentes a cada anel. Alm disso, tambm nos deparamos
com a questo de se todos os msculos devem ser enquadrados em algum anel, ou se existem
msculos que no pertencem a nenhum anel. Pela lgica da concepo reichiana, parece que todo e
qualquer msculo deveria ser parte de um anel, pois a existncia de msculos "extra-anelares" no
parece coerente com o conceito de segmentao das expresses emocionais, a menos que tais
msculos fossem desprovidos de significado emocional. Entretanto, dado no haver uma resposta
definitiva a esta questo, na discusso a seguir nos limitaremos anlise dos msculos, grupos de
msculos, regies e aes explicitamente mencionados por Reich no trecho em que discute o tema
(p. 330-48).
OS ANIS DA COURAA MUSCULAR
CABEA E PESCOO
No anel ocular estariam os msculos dos globos oculares, das plpebras e da testa. Reich
menciona ainda a imobilidade dos dois lados do nariz como caracterstica do bloqueio deste anel, e a
mobilizao e afrouxamento dos msculos das bochechas quando o anel trabalhado (p. 331).
O anel oral "compreende toda a musculatura do queixo e da faringe, e a musculatura
occipital, incluindo os msculos em torno da boca" (p. 332), e sua mobilizao pode liberar o desejo
de sugar.
O anel cervical abrangeria a musculatura profunda do pescoo, os msculos platisma e
esternocleidomastideo, e a lngua. Em relao ltima, Reich afirma que "a musculatura da lngua
liga-se ao sistema sseo cervical, e no aos ossos faciais inferiores. Isso explica porque os espasmos
da musculatura da lngua esto ligados funcionalmente compresso do pomo-de-ado e contrao
da musculatura profunda e superficial da garganta" (p. 335).
Na regio da cabea e do pescoo, os seguintes questionamentos podem ser feitos quanto
distribuio da couraa muscular do carter em anis:
a) Como parte do anel ocular, Reich menciona os "msculos das bochechas", cuja
mobilizao provocaria um sorriso peculiar. Apesar de no especificado, parece que isto deve ser
entendido em sentido restrito. Ou seja, no todos os msculos que compem as bochechas, mas
apenas aqueles com insero na regio infra-orbital, descrita como pertencente ao anel ocular.
Seriam, portanto, o m. zigomtico maior, m. zigomtico menor, m. levantador do lbio superior, m.
levantador do lbio superior e da asa do nariz. Entretanto, estes msculos tm um papel importante
na movimentao da boca (sugar, rir, chorar, mastigar). Anatomicamente, a movimentao desta
regio se d atravs de um eixo circular (m. orbicular da boca) entrelaado por braos radiais,
estrutura da qual fazem parte os msculos citados acima (Hollinshead e Rosse, 1991, p. 744-6). Alm
disso, na definio de Reich, o anel oral inclui os msculos em torno da boca. Deste modo, este
grupo de msculos deveria ser enquadrado em ambos os anis, tanto pela definio de Reich como
pela localizao e funes, o que contraria a prpria definio de anis vista acima.
b) A funo de morder considerada expresso tpica do anel oral. Entretanto, os dois
principais msculos responsveis pela movimentao da articulao temporo-mandibular poderiam
topograficamente serem considerados como parte do segmento ocular: o m. temporal, que est ao
lado do olho e acima da orelha de cada lado; e o m. masseter, um msculo da bochecha de insero
na regio malar e zigomtica, e que fica ao lado do grupo de msculos citados no item anterior.
c) H dois msculos que atuam sobre o nariz e que se originam do maxilar superior: m.
depressor do septo e m. nasal (pores transversa e alar). Sua classificao duvidosa, pois apesar de
atuarem sobre o nariz (anel ocular), sua localizao parece estar parcialmente no mbito do anel oral.
d) O msculo occipital enquadra-se no anel oral segundo Reich (p. 332). Entretanto,
anatmica e funcionalmente ele est relacionado com o m. frontal, a ponto de ambos serem
considerados como partes de um mesmo msculo: ventre frontal e ventre occipital do m.
occipitofrontal (Hollinshead e Rosse, 1991, p. 746); venter frontalis e venter occipitalis do m.
epicrani (Wolf-Heidegger, 1981, p. 148); ventre anterior e ventre posterior do m. occipitofrontal
(Lockhart et al., 1965, p. 153).
e) Existem muitos outros msculos na regio occipital cuja incluso no anel oral discutvel.
Em primeiro lugar, os msculos retos e oblquos da cabea: so 6 pares de msculos pequenos,
descritos anatomicamente como parte da musculatura motora da cabea e pescoo, e que atuam
sinergicamente com os msculos oculares, fazendo com que a cabea se vire para a direo que se
olha (Hollinshead e Rosse, 1991, p. 264-6). Pela localizao e funo, somos levados a questionar se
estes msculos devem ser enquadrados no anel ocular ou cervical, mas parece que no h nenhuma
razo para inclu-los no anel oral, a no ser a tentativa de completar um suposto "anel muscular".
Note-se que Baker parece se referir a este grupo de msculos quando inclui no anel ocular "os
msculos profundos na base do occipital" (Baker, 1980, p. 72). Alm destes, existem diversos outros
msculos que tm insero total ou parcial no osso occipital, e que nitidamente fazem parte da
musculatura cervical, e no oral: m. reto anterior da cabea, m. trapzio, m. esternocleidomastideo,
m. esplnio da cabea, m. semi-espinhal da cabea.
f) O m. platisma classificado como parte do anel cervical, mas tem ao na regio oral:
ajuda a baixar os cantos da boca na expresso de melancolia, e pode puxar a mandbula para baixo
(mantendo a boca aberta) contra resistncia (Lockhart et al., 1965, p. 155-6).
g) A lngua uma massa mvel e compacta de fibras musculares entrelaadas. composta
por msculos intrnsecos, que se inserem no septo lingual ou na mucosa, e pelos msculos
extrnsecos bilaterais: m. genioglosso, m. estiloglosso, m. hioglosso. O m. genioglosso nasce do
maxilar inferior. O m. estiloglosso nasce da apfise estilide do osso temporal. O m. hioglosso nasce
do osso hiide (Hollinshead e Rosse, 1991, p. 769). Portanto, e contrariamente ao que Reich afirmou,
a musculatura da lngua tem origem nos ossos da face, exceto apenas o m. hioglosso. Mesmo neste
caso, parece inadequado falar que o osso hiide pertence ao "sistema sseo cervical", sendo na
verdade um elemento intermedirio entre o pescoo e a mandbula, como ser analisado no prximo
item. Quanto s aes da lngua, ela est intimamente envolvida nos movimentos de suco,
mastigao, deglutio e fonao, de modo que poderamos classific-la no anel oral, no anel
cervical, ou em ambos.
h) Os msculos hiideos. O osso hiide tem forma de U e um osso mvel, no articulado,
que serve como plataforma para os movimentos da lngua, e para a mastigao, deglutio e fonao.
Nele se insere um grupo de msculos que o traciona para baixo (m. esterno-hiideo, m. tireo-hiideo,
m. omo-hiideo), um grupo de msculos que o traciona para cima (m. digstrico, m. estilo-hiideo),
alm de um msculo da lngua (m. hioglosso) e msculos do assoalho da boca (m. gnio - hiideo,
m. milo-hiideo). Estes msculos tm ao coordenada entre si, e poder-se-ia dizer que representam
uma transio topogrfica e funcional entre o anel oral e cervical, dessa maneira contradizendo a
afirmao de Reich da no influncia mtua na expresso emocional dos anis.
i) A prpria fonao no pode ser compreendida ou tratada se pensarmos a boca, faringe e
laringe dissociadas entre si. A integrao destas reas condio imprescindvel para o
funcionamento normal desta atividade expressiva. Assim, mais uma vez, faz-se praticamente
impossvel separar estas regies a nvel anatmico, funcional ou clnico.
TRONCO E MEMBROS
O anel torcico compreenderia "todos os msculos intercostais, os grandes msculos
torcicos (peitorais), os msculos do ombro (deltides) e o grupo muscular sobre e entre as
escpulas" e a musculatura dos membros superiores. Alm disso, "entre as escpulas h dois feixes
de msculos dolorosos na regio do msculo trapzio" (p. 336-7).
Fazem parte do anel diafragmtico o m. diafragma, e "dois feixes de msculos salientes que
se estendem ao longo das vrtebras torcicas inferiores" (p. 339).
No anel abdominal estariam o m. reto abdominal e "dois msculos laterais (transversos
abdominais), que vo das costelas inferiores at a margem superior da pelve". Este anel se
completaria nas costas pelas "pores inferiores dos msculos que correm ao longo da coluna
(grande dorsal, eretor da espinha etc.)" (p. 346-7).
Como parte do anel plvico esto "quase todos os msculos da pelve", os mm. adutores da
coxa, o m. esfncter anal, os mm. glteos (p. 347).
Nestas regies, encontram-se tambm msculos e grupos de msculos que no respeitam a
idia de segmentao, de no interferncia nos segmentos adjacentes. Examinam-se a seguir os casos
mais importantes:
a) O m. trapzio origina-se do osso occipital e coluna vertebral cervical e torcica, inserindo-
se na clavcula e omoplata. Tem aes a nvel dos ombros e do pescoo, cobrindo portanto dois anis
reichianos, com funes que afetam a ambos de maneira inseparvel.
b) O m. reto abdominal descrito como pertencendo ao anel abdominal. Entretanto, Reich
menciona uma tenso no epigstrio como relacionada com o anel diafragmtico. Tal tenso no
poderia ser causada pelo diafragma, mas sim pelo m. reto abdominal. Alm disso, na descrio dos
distrbios do anel plvico, dito que "o msculo abdominal acima da snfise pbica fica dolorido"
(ibidem, p. 347). Desta maneira, o msculo citado parece estar relacionado com os anis
diafragmtico, abdominal e plvico, ligando o trax ao quadril, e no seguindo assim a delimitao
segmentar necessria para a caracterizao de um anel reichiano. Os msculos oblquos abdominais
(externo e interno) tambm parecem cumprir esta funo de interligao entre o trax e a pelve.
c) A poro inferior do m. grande dorsal classificada como parte do anel abdominal. Este
msculo origina-se da crista ilaca, coluna lombar e dorsal baixa, e vai se inserir no mero. Age
principalmente na movimentao do brao, tanto que descrito nos textos de Anatomia como um
msculo da articulao escpulo-umeral (Lockhart et al., 1965, p. 203-5; Hollinshead, 1991, p. 152-
7). Influi tambm na compresso da parte posterior da cavidade abdominal, com efeitos na expirao,
mico e defecao. Assim, sua classificao estaria mais adequada dentro do anel torcico, mas ele
parece desafiar a segmentao pela localizao e pelas aes secundrias, que poderiam levar a
considerar sua incluso no anel abdominal. Alm disso, para que o m. grande dorsal aja a nvel
abdominal, preciso que outros msculos do ombro imobilizem o brao para que este sirva como
ponto de apoio ao invs de mover-se. Ou seja, necessria uma ao coordenada de dois segmentos
para que ocorra esta ao expressiva.
d) Certas funes de grande importncia psicolgica, e que parecem ser nitidamente plvicas,
como o defecar, o urinar e o trabalho de parto, na verdade dependem grandemente de todos os
msculos do anel abdominal e do diafragma. Estes mesmos msculos e outros do anel cervical e oral
esto envolvidos no reflexo do vmito, que utilizado na vegetoterapia reichiana. Encontram-se,
portanto, aes expressivas importantes que envolvem ao coordenada e indivisvel de vrios
segmentos.
e) O m. psoas maior tem origem em vrtebras torcicas e lombares, inserindo-se no fmur.
Age principalmente no andar e na flexo do tronco. Por sua localizao e funes poderia ser
classificado tanto no anel abdominal como no anel plvico.
f) A respirao no se restringe aos anis torcico e diafragmtico. Msculos cervicais (m.
esternocleidomastideo, mm. escalenos, m. trapzio) podem agir na inspirao profunda e na
manuteno de um trax cronicamente inspirado. Msculos do anel abdominal (m. transverso, m.
reto abdominal, mm. oblquos, m. quadrado lombar) tambm tm influncia no processo respiratrio,
principalmente na expirao. Assim sendo, a respirao envolve msculos de pelo menos quatro
anis, e mesmo que haja uma diferenciao entre o bloqueio torcico e o bloqueio diafragmtico, fica
difcil separar a influncia dos msculos cervicais sobre o trax, e a dos msculos abdominais sobre
a ao do diafragma.
g) O prprio Reich revela a interao anatmica, fisiolgica e expressiva entre os diversos
segmentos quando trata do reflexo de vmito. Este reflexo, focalizado no movimento do msculo
diafragma, mas com participao da musculatura do trax, abdome, pescoo, garganta e boca, alm
da musculatura lisa do tubo digestivo alto, tem efeito sobre vrios segmentos. Conforme Reich, "a
liberao do reflexo de vmito pode mobilizar o segmento oral" (p. 332). "Se o reflexo de vmito
comea a agir ou mesmo chega ao ponto de fazer o paciente vomitar, as emoes contidas pela
couraa do pescoo so liberadas" (p. 335). "Conseguimos liberar o segmento diafragmtico da
couraa fazendo o paciente liberar, repetidas vezes, o reflexo de vmito" (p. 344). Ou seja, tudo isso
desafia a concepo de anis isolados entre si quanto ao movimento expressivo emocional.
A MUSCULATURA DORSAL
Este um caso especial, que merece ser analisado detalhadamente, devido s implicaes que
sero discutidas adiante.
Esta musculatura se organiza basicamente em torno do eixo da coluna vertebral. A camada
mais profunda constituda por pequenos msculos que ligam as vrtebras adjacentes (mm.
interespinhais, mm. intertransversrios, mm. rotadores curtos).
A camada seguinte constituda por uma massa muscular que recebe o nome de grupo
transversoespinhal, cujas subdivises recebem nomes especficos. As fibras mais profundas
caminham poucas vrtebras antes de se inserirem, e as mais superficiais percorrem distncias
maiores, sempre paralelamente coluna. Os feixes mais profundos e os que nascem na regio lombar
recebem o nome de m. multfido. As fibras mais superficiais se denominam, conforme a altura, mm.
semi-espinhais do trax, do pescoo e da cabea. Apesar dos diversos nomes, trata-se de uma massa
indivisvel anatmica e funcionalmente, que vai da pelve at a cabea.
Na camada mais superficial o mesmo acontece. Originando-se na pelve, o m. eretor da
espinha continua-se por trs colunas musculares:
a) uma mais externa, o m. ileocostal (com pores lombar, dorsal, cervical);
b) uma coluna mdia, o m. dorsal longo (constitudo pelos mm. longos do trax, do pescoo e
da cabea);
c) uma coluna interna (m. espinhal).
A coluna vertebral o eixo que organiza e integra o organismo. Todos estes msculos, alm
de outros, funcionam coordenadamente para movimentar a coluna vertebral, ou para fix-la e
possibilitar o movimento de outras partes do corpo, alm de auxiliar no equilbrio postural. Tm
participao importante no caminhar e na movimentao da pelve. Agem na movimentao sinrgica
do tronco com os olhos e a cabea. Observa-se que mesmo pequenas distenses destes msculos
limitam severamente boa parte dos movimentos corporais.
Pelo exposto acima, pode-se concluir que a coluna vertebral e os msculos descritos formam
um todo indivisvel, que funciona e se expressa de forma articulada e interdependente. Sua extenso
abrange praticamente todos os anis da couraa muscular, com exceo do anel ocular. Dentro do
conceito reichiano de segmentao, talvez at se pudesse pensar esta estrutura como um segmento
longitudinal independente dos demais. Mas isso descartado por Reich com a afirmao de que "os
segmentos da couraa tm sempre uma estrutura horizontal - nunca vertical" ... "formando ngulos
retos com a espinha dorsal" (p. 332).
Alm disso, Reich insiste na idia de anis musculares, e coloca como parte do anel
abdominal as "pores inferiores dos msculos que correm ao longo da coluna (grande dorsal, eretor
da espinha etc.)" (p. 347). Como parte do anel diafragmtico, "dois feixes de msculos salientes que
se estendem ao longo das vrtebras torcicas inferiores" (p. 339). E no anel torcico, "dois feixes de
msculos ... na regio do msculo trapzio" (p. 337). Ou seja, a unidade anatmica e funcional da
musculatura dorsal desconsiderada para que no se abale o conceito de anis da couraa
perpendiculares ao eixo longitudinal. Talvez no seja por acaso que a minhoca, modelo da estrutura
reichiana, no possua coluna vertebral.
DA MINHOCA AO HOMEM
Como foi visto, a idia de anis da couraa muscular pode ser contestada pela anlise de suas
bases anatmicas. Examinemos agora como fica a comparao com a minhoca enquanto modelo de
segmentao longitudinal, e tambm as possveis bases embriolgicas da disposio segmentar da
couraa muscular.
Inicialmente, percebe-se que o organismo humano bem mais complexo e diferenciado do
que os aneldeos como as minhocas e os vermes. Entre outras diferenas, os humanos possuem ossos,
incluindo uma coluna vertebral, o que permite uma grande variedade de movimentos complexos,
envolvendo muitas vezes diversas regies do corpo simultaneamente. Existem braos e pernas com
grande flexibilidade de aes; um equipamento sensorial sofisticado, incluindo olhos, para cujo
funcionamento adequado exige-se sinergia de movimentos. Alm disso, a postura bpede leva
necessidade de uma integrao rpida e precisa dos movimentos que garanta o equilbrio. H ainda a
musculatura da mmica, com funo basicamente expressiva.
Tudo isso refora a hiptese de que as diversas regies do corpo humano no so
independentes, mas sim profundamente relacionadas e interligadas. O organismo funciona como um
todo, e evolutivamente est muito distante de organismos mais simples, nos quais as partes
componentes podem funcionar de maneira mais autnoma. Neste sentido, a proposio reichiana de
que um segmento pode se expressar sem afetar outros parece no representar a realidade da estrutura
e funcionamento do corpo.
De acordo com a concepo de que a ontognese repete a filognese, podemos encontrar no
embrio humano um estgio semelhante aos aneldeos, um esboo de organismo segmentar. No
seria esta a base de uma possvel disposio segmentar da musculatura que se ajustasse idia
reichiana de anis musculares? Um exame deste aspecto da questo mostrar que tambm deste
ponto de vista no encontramos fundamentao para tal idia.
Acompanhando a embriologia humana percebe-se que, ao fim da terceira semana de vida, o
embrio desenvolve segmentos chamados somitos, formados por parte do mesoderma. Estes somitos
chegam a ser pouco mais de 40, e deles derivam ossos, msculos e derme. Por volta do fim do
segundo ms no so mais visveis, diluindo-se progressivamente na diferenciao dos tecidos e
rgos.
No fim do processo, algumas estruturas ainda apresentam sinais evidentes de sua origem
segmentar, como demonstra a inervao da pele. Entretanto, em relao musculatura o mesmo no
se aplica.
Em primeiro lugar, existem muitos msculos que derivam do mesoderma no somtico, como
os msculos dos membros superiores e inferiores, e parte da musculatura da cabea.
A musculatura derivada dos somitos sofre grandes transformaes, atravs da fuso com
outros segmentos, da migrao e da mudana de direo. Por exemplo, o m. grande dorsal origina-se
de somitos cervicais e torcicos, mas se estende at a pelve e regio lombar. Os nicos msculos que
mantm a segmentao original so os msculos intercostais e os msculos mais profundos da
coluna vertebral. Os demais msculos se originam de mais de um somito (Junqueira e Zago, 1987;
Langman, 1982).
O sistema nervoso perifrico tambm no respeita a segmentao estanque. As razes
nervosas tm origem segmentar, mas misturam-se nos plexos nervosos, que so estruturas onde h
interligao e entrelaamento de fibras de diversas origens. Assim, as origens segmentares so como
que embaralhadas, de maneira que os nervos perifricos so multisegmentares. Alm disso, a
similitude de nvel de inervao no corresponde aos anis reichianos, sendo que a musculatura do
membro superior tem inervao segmentar semelhante do pescoo, e na musculatura do membro
inferior ela semelhante dos msculos abdominais (Lockhart et al., 1965, p. 280). Ou seja, por esse
critrio os braos fariam parte do segmento cervical, e as pernas do segmento abdominal.
As prprias vrtebras, que parecem ser o exemplo mais palpvel de segmentao, na verdade
so constitudas pela fuso da metade superior de um segmento com a metade inferior do segmento
adjacente.
Desta maneira, percebe-se que a segmentao no embrio humano parcial, e logo se dilui
em estruturas mais complexas e interligadas. Alm disso, seria de se perguntar se os restos desta
segmentao so compatveis com a segmentao proposta por Reich, j que os cerca de 40 somitos
teriam que caber nos sete anis da couraa.
Aqui tambm no se observa uma compatibilidade, com msculos pertencentes a anis
diferentes tendo origem e inervao de um mesmo nvel embriolgico, e msculos de um mesmo
anel tendo origem e inervao diversas. Como exemplo do primeiro caso, os mm. escalenos
(cervicais), o m. serrtil anterior (torcico), o m. grande dorsal (abdominal), e o diafragma tm
origem nos somitos cervicais. No segundo caso, msculos do anel torcico podem ter origem
cervical (mm. rombides) ou torcica (mm. intercostais); e msculos do anel abdominal podem ter
origem torcica (m. reto abdominal) ou lombar (m. quadrado lombar, m. psoas ilaco) (Lockhart et
al., 1965, p. 280).
REICHIANOS, NEO-REICHIANOS E OS ANIS DA COURAA
A forma de psicoterapia proposta por Reich gerou muitos desdobramentos. Existem os
reichianos, que continuam a pensar e a trabalhar basicamente dentro dos moldes originais, com
algumas modificaes, detalhamentos e aperfeioamentos. Existem tambm outras propostas de
psicoterapia de abordagem corporal que, embora influenciadas pelo pensamento reichiano, se
distanciam do mesmo quanto teoria e tcnica. Os membros deste segundo grupo tm sido
chamados genericamente de neo-reichianos.
Deve-se notar que nenhuma das correntes neo-reichianas mais importantes est fundamentada
no conceito de anis da couraa tal como descritos por Reich. Quanto aos reichianos atuais, a questo
dos anis tem sido tratada de maneira tradicional (Baker, 1980) ou modificada (Navarro, 1987).
Em Baker encontramos o conceito de anis da couraa muscular, perpendiculares ao eixo da
coluna vertebral, e uma descrio dos msculos componentes de cada anel basicamente igual
encontrada no livro "Anlise do Carter". Segundo ele, "cada segmento responde como um todo e
mais ou menos independente dos demais", com a ressalva de que "esta autonomia no dever ser
tomada em termos radicais" (Baker, 1980, p. 68).
J a abordagem de Navarro parece levar em conta muitas das questes levantadas neste
artigo. O conceito de anel da couraa encontrado muito raramente nos seus livros sobre terapia
reichiana (na verdade, apenas uma vez, na pgina 25 do segundo volume). O termo mais usado o de
nveis da couraa. Segmento outro nome utilizado, porm sempre afirmando e exemplificando a
interdependncia dos vrios segmentos, e nunca confirmando a tese reichiana de que a expresso de
um segmento no se estende a outros. A diviso dos nveis tambm no segue exatamente a proposta
de Reich, sendo que a lngua e a fonao esto classificadas no segundo nvel (boca), e os membros
superiores e a parte alta do trax no terceiro nvel (pescoo). O trax no considerado como um
nvel distinto, sendo a poro superior estudada em conjunto com o pescoo, e a parte inferior em
conjunto com o diafragma. No se encontra em Navarro uma classificao anatmica detalhada da
musculatura componente de cada nvel. A nfase posta na expresso emocional, psquica e
psicossomtica relacionada com cada segmento.
Desta maneira, percebe-se que hoje em dia existem propostas (Baker) que preservam quase
que integralmente o pensamento reichiano original sobre a questo. Existem outras (Navarro), que
preservam a tcnica da vegetoterapia segmentar, com algumas modificaes mais ou menos
importantes na teoria que a embasa. E ainda os neo-reichianos (Boadella, Boyesen, Gaiarsa,
Keleman, Lowen), cuja teoria e tcnica no esto baseadas na segmentao da couraa muscular ao
longo do eixo longitudinal do organismo.
O trabalho com tcnicas neo-reichianas mostra claramente que a mobilizao no se restringe
ao nvel transversal trabalhado. Freqentemente um trabalho de olhos mobiliza o diafragma, ou as
pernas, por exemplo. Um trabalho plvico pode produzir o famoso "bolo na garganta", e a dissoluo
desse bloqueio levar por sua vez a uma sensao de aperto e angstia no peito. Ou uma massagem na
barriga levar a tremores e movimentos involuntrios do queixo e dos lbios. Tais cenas so to
comuns para a maioria dos psicoterapeutas reichianos e neo-reichianos que no nos damos conta de
que elas contradizem a afirmao reichiana de que s msculos e rgos do mesmo segmento so
capazes de "induzir-se mutuamente a participar no movimento expressivo emocional" (p. 331).
Este fato incorporado s tcnicas de mobilizao das vrias correntes neo-reichianas, para
permitir um trabalho adequado sobre as excitaes, pulsaes e mobilizaes que no se
circunscrevem a um s segmento. Na teoria isso tambm aparece nas diversas maneiras de conceber
as couraas e bloqueios corporais.
O ser humano em seu corpo pode ser olhado de vrias perspectivas. Uma a de segmentao
transversalmente ao eixo longitudinal: em 7 nveis (e no anis) como na concepo reichiana; ou em
3 bolsas (cabea, trax, abdome-pelve) separadas por diafragmas (pescoo e msculo diafragma)
como proposto por Keleman. Outra perspectiva a da polaridade entre tronco e extremidades
(perspectiva ncleo-periferia ou da ameba/medusa), como proposta pela Bioenergtica (Lowen,
1982). Ainda dentro da Bioenergtica, possvel raciocinar em termos da polaridade entre a
musculatura da parte da frente do corpo e a musculatura das costas, uma perspectiva que poderamos
chamar de ntero-posterior. Diversos autores (Boadella, Boyesen, Keleman) trabalham tambm com
uma perspectiva derivada das camadas embriolgicas primitivas (endoderma, mesoderma,
ectoderma), que poderamos chamar de concntrica. Alm destas, existem propostas de trabalho
corporal como as de Godelieve Struyf-Denys, que derivam de uma concepo de cadeias musculares
longitudinais, ou seja, uma forma de perceber a organizao da couraa onde os grupos de msculos
se disporiam de maneira perpendicular aos anis reichianos.
O que tudo isso demonstra a riqueza de possibilidades de compreenso e interveno sobre
um mesmo corpo biolgico. Conforme se priorizem grupos musculares transversais, longitudinais ou
ntero-posteriores, emergem tcnicas teis e maneiras de ver o ser humano que abrem horizontes. O
mesmo ocorre tanto ao se priorizar uma viso das diversas camadas concntricas de tecidos e rgos
como ao se priorizar uma viso da energia que pulsa entre um ncleo (tronco) e uma periferia
(extremidades). Parece claro que, mais uma vez, todas estas abordagens so muito mais
complementares do que antagnicas. Parecem fruto de um perodo inicial onde pioneiros foram
desbravando territrios inexplorados e de repente descobrem-se todos vizinhos uns dos outros.
CONCLUSES
Reich explicita seu conhecimento de que as manifestaes fsicas da histeria no seguem a
anatomia e fisiologia dos msculos, nervos e tecidos, e sim parecem depender do significado
emocional das regies atingidas. Porm, logo em seguida, ao tratar da couraa muscular do carter,
afirma que "os bloqueios musculares individuais no seguem o percurso de um msculo ou de um
nervo; so completamente independentes dos processos anatmicos. Ao examinar cuidadosamente
casos tpicos de vrias doenas, procura de uma lei que governe esses bloqueios, descobri que a
couraa muscular est disposta em segmentos" (p. 330).
Desta maneira, parece que Reich tentou escapar de uma concepo anatmica estreita, mas se
prendeu logo adiante a uma teoria que padece, como vimos acima, dos mesmos defeitos bsicos.
Creio que a lgica dos bloqueios musculares no deve ser buscada em estruturas perifricas, e
sim a partir da compreenso psicodinmica de regies e estruturas afetivamente significativas. Isto
traduzido para a anatomia e a fisiologia significa caminhar na compreenso do funcionamento das
instncias do sistema nervoso central responsveis pela integrao entre a expresso emocional e a
atividade locomotora.
Depois de todos estes questionamentos, abrem-se dois caminhos: manter a idia de diviso da
couraa muscular em anis, reclassificando os msculos em uma nova diviso mais apropriada; ou
abandonar a idia de segmentao nos moldes reichianos.
Acredito que a segunda via a mais adequada, j que a idia da existncia de um verdadeiro
anel muscular no se verifica pelo menos nos segmentos ocular, oral, torcico, diafragmtico e
abdominal. E a concepo de segmentos estanques entre si tambm no se mostrou verdadeira,
havendo msculos que so dificilmente classificveis e que representam estruturas intermedirias ou
de transio entre dois ou mais segmentos. Como exemplo maior deste caso est a musculatura
paravertebral j discutida, e que perpassa quase todos os anis, numa massa indivisvel anatmica e
funcionalmente.
Assim, creio que a concepo da existncia, nos seres humanos, de anis musculares
perpendiculares ao eixo cfalo-caudal, constituindo unidades isoladas e no-comunicantes umas
com as outras quando participantes num movimento expressivo emocional, deva ser abandonada
como anatomicamente inadequada.
Aos que argumentam que o conceito de anis funcional e no anatmico, deve ser
lembrado que: a) Reich, ao descrever os segmentos, o fez em bases anatmicas, citando os msculos
componentes, dizendo que a mobilizao de um segmento no chegaria at os msculos de outro
segmento, e afirmando que o anel seria um anel mesmo, "na frente, dos dois lados, e atrs" (p. 331);
e b) mesmo funcionalmente, percebe-se que no se pode falar de uma segmentao estanque do
organismo humano, tendo sido mostrados inmeros exemplos de ao coordenada e integrada, e
mtua influncia entre as diversas regies. Assim, realmente parece que no h espao para o
conceito de anis musculares. Pode-se sim falar em nveis ou segmentos da couraa, desde que se
explicite que isso no implica serem eles estanques e independentes.
Tem-se dito tambm que os anis citados por Reich no seriam musculares, e sim
"energticos", correspondendo aos "chakras" das tradies hindustas. Entretanto, a comparao com
textos destas tradies (Muktananda, 1987) revela que esta correspondncia parcial, havendo dois
chakras em alguns anis (ocular e plvico), e nenhum em outros (oral e diafragmtico).
Reich disse que "na disposio segmentar da couraa muscular encontramos o verme no
homem" (p. 372). O comportamento de certas pessoas realmente nos faz acreditar na existncia de
algo de um verme nos seres humanos, mas talvez no exatamente na segmentao do organismo.
Se a teoria dos anis da couraa muscular parece to sujeita a questionamentos, cabe
perguntar como fica a tcnica baseada nessa teoria. Desde a sua formulao, na dcada de 30, a
vegetoterapia vem sendo utilizada, e tem se mostrado eficiente. Pessoalmente j tive a oportunidade
de verificar sua eficcia enquanto psicoterapeuta, e tambm como paciente. Reich afirmou que "uma
atitude terica incorreta conduz, necessariamente, a uma tcnica incorreta" (p. 263). Isto
epistemologicamente incorreto, como j foi argumentado e exemplificado em artigo anterior (Rego,
1992), sendo que muitas vezes uma teoria errnea pode embasar atitudes e tcnicas adequadas.
A vegetoterapia no depende do conceito de anis da couraa muscular. Na verdade, basta
admitir que certas regies do corpo concentram possibilidades de expresso emocional, e que a
mobilizao adequada das mesmas numa certa ordem (na direo cfalo-caudal) pode ser til em
psicoterapia. Literalmente conforme o dito popular, vo-se os anis e ficam os dedos da
vegetoterapia. O que parece ruir sem o conceito de anis musculares a sua proposio enquanto
nica tcnica correta de psicoterapia de abordagem corporal. Mas isso no nenhuma novidade: as
diversas correntes neo-reichianas tambm se mostram eficazes, apesar de abordagens bastante
diferentes na prtica e na teoria.
Talvez uma das principais lacunas do trabalho baseado no conceito de anis seja a
subestimao do papel psicolgico da musculatura ligada movimentao da coluna vertebral. Da a
validade, e a complementaridade, de concepes como a Bioenergtica, que d grande nfase tcnica
mobilizao da musculatura dorsal, atravs de exerccios de arcos e outros (Lowen e Lowen,
1985).
O que se discute aqui no desmerece a importncia do trabalho pioneiro de Reich com a
couraa muscular do carter. Percebe-se que as bases gerais de suas concepes e as tcnicas por ele
propostas permanecem vlidas, e que a viso segmentar do organismo faz sentido (no como a nica
possvel, e sim como uma entre outras abordagens). O que se questiona verdadeiramente aqui
simplesmente o conceito de anis musculares.
Reich repetidas vezes afirmou em seus escritos que sabia estar pisando em terreno ainda no
desbravado, e que suas concluses teriam que ser testadas, aperfeioadas, e mesmo refutadas caso se
mostrassem inadequadas. Entendo este artigo no como uma negao da obra de Reich, e sim
exatamente o contrrio, ou seja, uma contribuio ao seu desenvolvimento e uma afirmao
inequvoca de que suas propostas continuam vivas e gerando desdobramentos tericos e prticos.
Enquanto no se chega a uma adequada fundamentao anatmica e fisiolgica do trabalho
psicoterpico reichiano e neo-reichiano, acredito ser mais sbio seguirmos o exemplo de Freud. Este
tentou inicialmente, em 1895, descrever seus achados em termos neurolgicos no seu "Projeto para
uma psicologia cientfica". Entretanto, ao perceber que o que descobrira no era compatvel com a
neurologia conhecida, desistiu de dar um substrato biolgico s suas concepes psicolgicas. J a
partir de "A Interpretao de Sonhos", ele falou sempre em um aparelho psquico, deixando a
conexo com a base fsica do organismo para ser discutida e descoberta posteriormente (Ricoeur,
1977). Como bem pontua Ricoeur, "o 'Projeto' um adeus anatomia sob a forma de uma anatomia
fantstica. Sem dvida, a tpica se enunciar sempre na linguagem de uma quase anatomia" ... "mas
nenhuma localizao das funes e dos papis atribudos s instncias da tpica ulterior ser jamais
tentada. Deve-se mesmo ir mais longe: essa ltima tentativa tambm o primeiro ato de
emancipao da psicologia" (Ricoeur, p. 76- 77).
Do mesmo modo, enquanto psicoterapeutas, o que importa realmente a imagem corporal, o
corpo simblico, o corpo ertico, o corpo onrico, o corpo virtual no dizer de Briganti (1987), e no o
corpo puramente anatmico e fisiolgico. A nossa matria prima imediata o "corpo psquico".
Certamente devemos caminhar na integrao deste corpo virtual com o corpo biolgico, real e
concreto. E o primeiro passo neste sentido nos livrarmos corajosamente de concepes
inadequadas, admitindo que h muito por se fazer nesse sentido. Se acharmos que j sabemos, no
haver o que procurar.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BAKER, E. F. - O Labirinto Humano. Summus, So Paulo, 1980.
BOYESEN, G. - Entre Psiqu e Soma. Summus, So Paulo, 1986.
BRIGANTI, C. R. - Corpo virtual. Summus, So Paulo, 1987.
FREUD, S. - Projeto para uma Psicologia Cientfica (1895). Edio Standard Brasileira das Obras
Psicolgicas Completas - 2a. ed., vol. I. Imago, Rio de Janeiro, 1987, p. 303-409.
GAIARSA, J. A. - Couraa Muscular do Carter. gora, So Paulo, 1984.
HOLLINSHEAD, W. H. & ROSSE, C. - Anatomia 4a.ed.. Interlivros, Rio de Janeiro, 1991.
JUNQUEIRA, L. C. & ZAGO, D. - Embriologia Mdica e Comparada 3a. ed.. Guanabara-
Koogan, Rio de Janeiro, 1987.
KELEMAN, S. - Anatomia Emocional. Summus, So Paulo, 1992.
LANGMAN, J. - Embriologia Mdica 4a. ed.. Ed. Medica Panamericana, Buenos Aires, 1982.
LOCKHART, R. D. et al. - Anatomia Humana. Interamericana, Mexico, 1965.
LOWEN, A. - Bioenergtica. Summus, So Paulo, 1982.
LOWEN, A. & LOWEN, L. - Exerccios de Bioenergtica. Summus, So Paulo, 1985.
MUKTANANDA, S. - Kundalini. El secreto de la vida 2a. ed.. Ed. Siddha Yoga, Mexico, 1987.
NAVARRO, F. - Terapia Reichiana (2 vol.). Summus, So Paulo, 1987.
REICH, W. - Anlise do Carter. Martins Fontes, So Paulo, 1989.
_________ - Character Analysis 3rd. ed.. Farrar, Straus & Giroux, New York, 1988.
REGO, R. A. - Conceitos de bioenergia. Revista de Homeopatia APH, 57: 3-19, 1992.
RICOEUR, P. - Da Interpretao. Ensaio sobre Freud. Imago, Rio de Janeiro, 1977.
STRUYF-DENYS, G. - Les Chaines Musculaires et Articulaires. Mimeo, Bruxelles, s.d.
WOLF-HEIDEGGER, G. - Atlas de Anatomia Humana 4a. ed..Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro,
1981.
Você também pode gostar
- Curso de Fund. Artesan. de Alumínio - AtualDocumento53 páginasCurso de Fund. Artesan. de Alumínio - AtualCarlo DamiãoAinda não há avaliações
- Ácido Hialurônico Dentro Da Área de Estética e CosméticaDocumento11 páginasÁcido Hialurônico Dentro Da Área de Estética e CosméticaMárciaRebeloAinda não há avaliações
- Teste QI 1Documento9 páginasTeste QI 1Ana SchwerzAinda não há avaliações
- Oficina Medieval PDFDocumento13 páginasOficina Medieval PDFCarlo Damião50% (2)
- Reiki I 05082003 PDFDocumento35 páginasReiki I 05082003 PDFAndré BorelaAinda não há avaliações
- Enciclopédia Diderot-Joaillerie PDFDocumento75 páginasEnciclopédia Diderot-Joaillerie PDFCarlo DamiãoAinda não há avaliações
- Blavatsky E A Sociedade Teosófica PDFDocumento5 páginasBlavatsky E A Sociedade Teosófica PDFCarlo DamiãoAinda não há avaliações
- H.P.Blavatsky - O Aprendizado Oculto - A.P. Sinnett PDFDocumento6 páginasH.P.Blavatsky - O Aprendizado Oculto - A.P. Sinnett PDFCarlo DamiãoAinda não há avaliações
- Galvani Autoformação PDFDocumento19 páginasGalvani Autoformação PDFCarlo Damião100% (1)
- Visão Sistêmica PDFDocumento7 páginasVisão Sistêmica PDFCarlo DamiãoAinda não há avaliações
- Abqm Regulamento de Bem Estar AnimalDocumento17 páginasAbqm Regulamento de Bem Estar AnimalCarla AmorimAinda não há avaliações
- Introdução Sobre FungosDocumento2 páginasIntrodução Sobre FungosMari100% (1)
- Jogo Caracteristicas Dos AnimaisDocumento4 páginasJogo Caracteristicas Dos AnimaisBruna Luiza de PinhoAinda não há avaliações
- 3 Peixes - Cartilaginosos AulaDocumento47 páginas3 Peixes - Cartilaginosos AulaEmanuel Teixeira da SilvaAinda não há avaliações
- Nutrição Nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTDocumento20 páginasNutrição Nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTcleusawm100% (1)
- Pop Hem 08 VhsDocumento3 páginasPop Hem 08 VhsAnderson RodriguesAinda não há avaliações
- Ezoognósia BovinosDocumento97 páginasEzoognósia BovinosTalya100% (1)
- Guião de História ClínicaDocumento4 páginasGuião de História ClínicaMarcia CardosoAinda não há avaliações
- InflamaçãoDocumento32 páginasInflamaçãoAndressa AlmeidaAinda não há avaliações
- Para Que Serve o GEL Volumao? - É Enganação?? (ANTES LEIA ISSO - NÃO COMPRAR?)Documento7 páginasPara Que Serve o GEL Volumao? - É Enganação?? (ANTES LEIA ISSO - NÃO COMPRAR?)Sayure D. SantosAinda não há avaliações
- Plano de Emergncia de Anafilaxia PDFDocumento1 páginaPlano de Emergncia de Anafilaxia PDFHernani CabralAinda não há avaliações
- Caderno de Um Ausente - Joao Anzanello CarrascozaDocumento61 páginasCaderno de Um Ausente - Joao Anzanello CarrascozaFernanda SampaioAinda não há avaliações
- APOSTILADocumento91 páginasAPOSTILAlucena008Ainda não há avaliações
- A Formiga e A Pomba@sosprofessoratividades 1Documento5 páginasA Formiga e A Pomba@sosprofessoratividades 1Dressinha AparecidaAinda não há avaliações
- CeiaDocumento4 páginasCeiaFernando Bernardo da SilvaAinda não há avaliações
- A Pequena Alice No País Das Maravilhas: Ewis ArrollDocumento5 páginasA Pequena Alice No País Das Maravilhas: Ewis ArrollLuiz Miguel Carvalho DantasAinda não há avaliações
- Teste para Detecção - Igg: Coccus Equi, Um Dos Responsáveis Por Pneumonias E MortalidadeDocumento4 páginasTeste para Detecção - Igg: Coccus Equi, Um Dos Responsáveis Por Pneumonias E MortalidadeVictor WakninAinda não há avaliações
- Álgebra. Manual de Preparación Pre-Universitaria - Lexus PDFDocumento416 páginasÁlgebra. Manual de Preparación Pre-Universitaria - Lexus PDFedsopine1Ainda não há avaliações
- Gustação e Olfação - EC2019Documento53 páginasGustação e Olfação - EC2019Lucas GustavoAinda não há avaliações
- Vampyroteuthis Infernalis - Vilém FlusserDocumento88 páginasVampyroteuthis Infernalis - Vilém Flusserולדימיר מרטין סנטAinda não há avaliações
- A Ira Divina RochesterDocumento165 páginasA Ira Divina RochesterGinamagalhãesAinda não há avaliações
- Questões de Biologia (Sistema Digestorio)Documento6 páginasQuestões de Biologia (Sistema Digestorio)Alexandra MercêsAinda não há avaliações
- Cloreto de Magnésio - para Dor Na ColunaDocumento4 páginasCloreto de Magnésio - para Dor Na ColunaLacoste CorsinAinda não há avaliações
- Design de Cortes de Cabelos e Seus Fund.Documento22 páginasDesign de Cortes de Cabelos e Seus Fund.Washington Bustamante100% (2)
- Ynsa - Ponto ZsDocumento3 páginasYnsa - Ponto ZsSimone DreherAinda não há avaliações
- Vter9 Fap Sol 9Documento1 páginaVter9 Fap Sol 9zavaAinda não há avaliações
- Anatomia e Fisiologia Do Sistema Circulatorio Das AvesDocumento10 páginasAnatomia e Fisiologia Do Sistema Circulatorio Das AvesRodrigues sitoe Domingos100% (2)
- O Beijo Da Mulher-Aranha - Manuel PuigDocumento210 páginasO Beijo Da Mulher-Aranha - Manuel PuigRafael HenriqueAinda não há avaliações