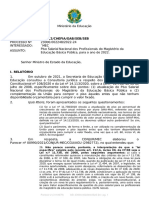Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
FLeitor SAlberti
Enviado por
Marcelo Vitor Pacheco0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
20 visualizações7 páginasAs subjetividades contemporâneas
Título original
FLeitor_SAlberti
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoAs subjetividades contemporâneas
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
20 visualizações7 páginasFLeitor SAlberti
Enviado por
Marcelo Vitor PachecoAs subjetividades contemporâneas
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 7
Estados Gerais da Psicanálise: Segundo Encontro Mundial - Rio de Janeiro - outubro 2003
Função Leitor:
Sonia Alberti
Tema 5
As Subjetividades Contemporâneas
Andrea Seixas Magalhães e Terezinha Féres-Carneiro; Bárbara Conte; Carlos Augusto
Peixoto Junior; Corinne Daubigny; Eduardo Ponte Brandão; Fátima Milnitzky; Fernanda
Pacheco Ferreira, Suzana Pons, Octavio Souza; Gilda Vaz Rodrigues; Helena
Bocayuva; Henrique Caetano Nardi, Raquel da Silva Silveira e Silvia Maria Silveira;
Maria do Carmo Andrade Palhares e Regina Celi Bastos Lima; Mônica Messina; Nora
Beatriz Susmanscky de Miguelez; Olga B. Ruiz Correa; Oscar Manuel Miguelez; Pedro
Paulo Vellozo Alonso Azevedo; Regina Neri; Sergio Benvenuto, e Vera Malaguti Batista.
Prezados autores! E colegas ouvintes!
gostei muito de ter tido a oportunidade de estudar aprofundadamente cada um dos
textos que li e me senti muito honrada com a confiança em mim depositada pelo
Presidente do Encontro, Joel Birman e pela Secretaria Executiva! Espero retribuir a
contento, apesar de saber, de antemão, que os autores dos trabalhos que me couberam
ler, não poderão verificar a minha própria elaboração do texto deles (e que aconteceu),
como foi possível em outras mesas, pois não tenho nem um minuto para cada um... Mas
se Daniel Kupermann conseguiu ontem, quem sabe posso tentar?!
De acordo com os textos, em que tipo de enrascada estamos metidos? Não creio
que sejamos analistas as vinte e quatro horas de nossos dias! Seria, aliás, infernal! Por
isso, é importante observar que esses textos não foram escritos por analistas, no
sentido estrito do termo.
Foram escritos por sujeitos contemporâneos que estão no mesmo barco em que
se encontram aqueles que vêm nos procurar como analistas, as pessoas com as quais
convivemos, mais ou menos, na cidade e no mundo. O analista, no sentido próprio do
termo, não escreve, ele tem uma função muito específica, e alguns autores dos textos
que li tentaram nomeá-la de alguma forma. Se o analista escrevesse, bastaria trocar
correspondência com nossos pacientes... Mas, já dizia Freud, é necessária a presença
do analista para que opere de seu lugar. Então leio esses textos como tentativas de
elaboração de sujeitos no mundo e que procuram identificar o lugar do analista frente à
subjetividade contemporânea. Enquanto sujeitos, sofremos igualmente com o mal-estar
na cultura! Assim, nos questionamos, procuramos, às vezes achamos! Mas como já
dizia Jacques Lacan, a partir de Picasso, ao perguntarmos já trazemos nossas
respostas, mesmo se um sujeito que também é um analista não é necessariamente um
grande intelectual, um renomado pesquisador, nem mesmo um exímio escritor. Estamos
impactados com o mundo em que vivemos, e para responder a ele, nos
instrumentalizamos, em particular com o que nos ensina nossa clínica. Mas ela também
nos questiona: tipos clínicos e problemáticas que não encontramos nos textos de
Freud... não há receita de como responder. Então o que fazemos? De duas, uma: ou
dizemos que a psicanálise, tal como Freud a construiu, não mais responde às questões
da contemporaneidade, ou, ao contrário, dialogamos com Freud e com outros autores,
para tentar encontrar no texto deles, possíveis pistas para novas soluções.
Particularmente sou completamente identificada com essa segunda via, pois, a meu ver,
as novas fenomenologias não negam os universais em que nos formamos. Para retomar
Antonio Negri: Maquiavel, Espinoza e Marx são absolutamente atuais; da mesma
maneira, o complexo de Édipo, a teoria das pulsões e as questões freudianas do mal-
estar na cultura. Eis a função do sujeito que também é analista: relê-las e reatualizá-las
em cada tratamento e em cada prática em que atua como analista, na interlocução com
outros saberes.
É o caso, por exemplo, da interlocução com o Direito de Corinne Daubigny; com a
Geriatria, no texto de Monica Messina; com a Psicologia Social – Fátima Milnitzky; com
os leitores norte americanos – Sergio Benvenuto. Cada um a seu jeito faz um esforço de
se instrumentalizar com a psicanálise para transmitir aos outros discursos, de algum
jeito, o que ela tem de mais precioso: a possibilidade de atribuir a palavra ao outro do
discurso – quem fala, em psicanálise, é o sujeito que sofre, por definição!
O trabalho de Pedro Paulo Azevedo levanta questões na intersecção com o
campo jurídico no que tange a família homo e heterossexual. E Corinne pode advogar,
junto à Justiça Francesa, pelo “direito” de cada cidadão de conhecer as origens
pessoais, sobretudo quando a história tanto negou esse direito aos filhos adotivos, em
nome de uma proteção ao passado e dos pais biológicos. Como é possível um analista
não sustentar o direito de um sujeito saber sobre suas origens, se justamente esse
saber é tantas vezes recalcado, produzindo sintomas (Roudinesco), desorientações? Na
adoção e na procriação assistida, como comenta Olga B. Ruiz Correa, na realidade, é
importantíssimo levar em conta os aspectos intergeracionais, já que a filiação é sempre
em relação de três gerações sucessivas e reconhecidas como tais. Por quem?
Pergunto, levando em conta o texto de Corinne? Em tempos de inseminação artificial,
transplante e, até mesmo, robótica, quando já surgem as discussões sobre uma
possível identidade/humanização de um clone, esquecemos que sujeitos, de carne e
osso, são separados de suas histórias por uma lei que, apesar de relativisada na França
em 2002, ainda vigora de fato? Lembro-me do poema de Drummond, quando leio vários
desses textos: “O homem – bicho da Terra – de tanto chatear-se nela, foi colonisar a
lua, marte, todos os planetas” para então, no fim, se dar conta de que precisava retomar
“a dificílima dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pondo o pé no chão”. Podemos
navegar por todos os discursos das novidades, mas, no fundo, é na nossa própria
história que encontraremos as respostas para o mal-estar na contemporaneidade. Os
novos, são velhos problemas: se já pudermos sustentar o direito de um sujeito saber
suas origens, independente de ele querer ou não vir a fazer sua pesquisa, se já
pudermos sustentar o direito a uma jovem mãe, ou uma mãe estuprada, ou ainda uma
mãe que pelas mais variadas razões não suportou, não quis a maternidade, de
sustentar junto a ela o direito de ela falar sobre isso, reconhecer nela um sujeito na
história, assim como em seu filho rejeitado, dado, às vezes amado, então sustentamos o
direito à expressão da singularidade, sem a priorii, e certamente estaremos mais bem
preparados para o mundo que vem!
É nas questões que dizem respeito ao homem e à sua história que
encontraremos as respostas para a contemporaneidade, assim como na história de
nossa teoria, de nossa clínica. Há uma necessária alteridade histórica, diz Bárbara
Conte. Razão de tantos trabalhos fazerem uma revisão histórica: de novo Corinne; de
Andrea Seixas Magalhães e Terezinha Féres-Carneiro, que estudam as novas formas
de conjugalidade; Fátima Milnitzky que estuda a história do consumo; de Vera Malaguti
Batista que estuda a importância do medo na história da cultura brasileira como modo
de sustentação do poder; Helena Bocayuva que comenta a história da constituição da
família brasileira para se perguntar, no final, se a lei que cria o poder familiar (no lugar
do antigo pátrio poder) não estaria na origem da própria dissolução da família hoje; a
história do conceito de perversão, com Sergio Benvenuto e Bárbara Conte e, finalmente,
a mais terrível história recente, identificada por Hanna Arendt como a banalização do
mal, retomada no texto de Oscar Manuel Miguelez.
Taí uma coisa importantíssima: a importância da história, que a psicanálise
sustenta e que vai na contramão da introdução da 3ª. edição do DSM, na qual se lê,
com todas as letras, que a prática clínica a partir do DSMIII se quer “ahistórica, ateórica
e adoutrinária”! É a isto que psicanalista resiste! E os textos lidos o atestam! Porque no
fundo, como escreve Pedro Paulo Azevedo, a psicanálise lida, desde o início, com o fato
de que a vida sexual é o paradigma do que caracteriza, no homem, uma desordem
iminente, nada naturalmente adaptável. Na vida humana não vale um programa
instintivo-natural.
Apesar disso, devo ressaltar de minha leitura, que há textos que se questionam quanto
a isso. Em partircular, textos que observam uma certa relativização do Édipo hoje em
dia! Mesmo se Gilda Vaz Rodrigues diz ser fundamental a interdição do gozo, há vários
textos que observam que é como se nossos filhos, ou nós mesmos (?!) nem sempre
estivéssemos pelo Édipo normatizados. Anti-Édipo? Pedro Paulo Azevedo levanta a
questão no contexto da família de pais homossexuais. No mesmo contexto, Henrique
Caetano Nardi, Raquel da Silva Silveira e Silvia Maria Silveira, entendem que o Édipo
reafirma que a biologia é o destino e (pelo que pude entender) melancoliza os sujeitos.
Nora Miguelez provoca: a reafirmação do complexo de Édipo é uma usina de
subjetivação sexuada, fábrica de homens e mulheres que trabalha a partir da
sexualidade infantil perverso-polimorfa e está ligada na tomada da proibição do incesto.
Pergunta: “diante das formas contemporâneas de subjetivação, o que fazer com esse
complexo, veio interpretativo do qual Freud se utilizou?” Seria o complexo de Édipo
datado historicamente e nada universal? Eduardo Ponte Brandão pergunta: se a
paternidade clássica é o ato de um soberano a declarar publicamente uma criança de
que se apossava, e se com a família judaico-cristã depois, o pai é mero servidor, hoje
sexo e família estão perfeitamente separados e a psicanálise poderia se tornar
instrumento de revalorização do familiarismo moral. Na realidade, diz ele, a psicanálise
é produto da crise da ordem patriarcal, com o fim de elaborar justamente o que não se
submete à simbolização. Regina Neri, por sua vez, se inquieta: seria o complexo de
Édipo uma resistência a novas cartografias da diferença, na medida em que a
psicanálise insistiria com ele numa necessária oposição masculino/feminino? Com
efeito, Regina insiste na questão, ao sustentar que até mesmo a conceituação de Lacan
de A (barrado) mulher como não toda inscrita no gozo fálico, ratifica a referência ao falo.
Em contraposição a isso, a autora propõe um desejo com plasticidade à imagem da
pulsão, para que finalmente o sujeito da psicanálise “possa se libertar das amarras
representadas pela proibição do incesto”. Como leitora, encontro aí alguma pista para a
solução da questão, na medida em que surge na cena a discussão sobre a pulsão, mas
não posso deixar de fazer minha observação: a margem aqui é bastante tênue entre o
horror ao Édipo – de antanhos, mas sempre também reatualizado – e a necessidade de
sua reatualização teórica. Não podemos deixar de estar atentos a isso, o que mais uma
vez ratifica minha posição inicialmente explicitada: nossos textos são uma tentativa de
elaboração do que sofremos e, em função disso, a história é grande mestre!
Fernanda Pacheco Ferreira, Suzana Pons e Octavio Souza, por sua vez,
contrapõem ao Édipo freudiano o texto de Ferenczi. Em Freud, a psiconeurose teria
uma origem dupla: a fantasia sexual infantil e o fator desencadeante da puberdade. Para
Ferenczi, por trás do trauma há um evento precoce e real, desmentido no meio próximo.
Trauma é confusão de línguas, e como a língua da criança não implica o genital que
está presente na língua do adulto, o fator genital é traumático. Ou seja, novamente,
agora com Ferenczi, o campo psicanalítico se define como o da fala mas, com Ballint, o
amor primário não tendo tido lugar, surge a falta básica e, com ela, um maior
comprometimento da fala a ser reparado a partir da relação terapêutica. Tanto esse
texto, quanto o texto de Maria do Carmo Andrade Palhares e Regina Celi Bastos Lima
propõem uma nova forma de relação psicanalista-psicanalisante – a que não escraviza,
aliena, nem subjuga –, mas pela via da compreensão: é preciso de dois fazer um (sic),
com Winnicott, e é necessária a confiança mútua, pois esta tem um poder cicatrizante.
Assujeitamento e sujeitamento são tensões que freqüentemente retornam nesses
textos, na tentativa de identificar o trabalho da psicanálise na contramão da segregação.
Carlos Augusto Peixoto Junior observa, com Foucault, que o poder não atua somente
oprimindo ou dominando as subjetividades, há um mecanismo produtivo de
subjetividade determinado pelo poder. Destarte, a violência perpretada na moral é
fundadora da subjetividade. Qualquer subjetividade que se opõe à violência já é, ela
mesma, produto da violência. Há uma alienação primária e inaugural na sociabilidade. O
sujeito emerge contra si mesmo para ser, paradoxalmente, para si próprio (Butler).
Assim, é somente persisitindo na alteridade que persistimos no nosso próprio ser.
Diferente, o masoquismo: Diz Bárbara Conte que a violência se incrementa em nossa
clínica sob formas narcisistas e autoritárias; múltiplas intervenções cirúrgicas, abuso de
medicamentos, psicossomática e autodestruição. Movimento reflexivo, volta-se sobre si.
A criança, inicialmente, é assim por estrutura (teoria da sedução generalizada,
Laplanche). O traumatismo inicial faz borda com a pulsão de morte e é aí que se
encontra a disposição masoquista (primária, Freud/1924).
Quanto à clínica, lest but not least, vários textos apontaram dificuldades: o mal-
estar na clínica contemporânea, do sujeito e do próprio analista. Para retomar o texto de
Olga, a infertilidade equivale a uma dificuldade de assumir seu lugar na ordem de uma
filiação e, às vezes, isso implica até mesmo transgredir uma interdição parental
inconsciente. Laços entre mãe e filha estão carregados de história, muitas vezes
condensados em não ditos e mal-ditos e frases ditas na infância (caso Célia). A
infertilidade também pode ser a expressão de um luto não elaborado de um irmão ou
irmã (caso Renata).
A clínica da neurose obsessiva, com Sergio Benvenuto, que ele metaforiza com a
história de sua vizinha, Tonina, e sua ambivalência em relação ao pai. Com Claudel,
Benvenuto observa que o ritual é ele mesmo produtor de certezas, razão pela qual o
obsessivo vive numa hipérbole da incerteza, na tentativa de desconstruir o que ele
mesmo constrói. Trabalho fundamental na sustentação da psicanálise frente à clínica do
TOC. Filho do discurso cientificista, como corrigiu Jurandir Freire na 5ª. Feira, TOC é um
dos nomes de uma clínica ahistórica, ateórica e adoutrinária que elide a castração, na
associação da ciência com o capitalismo. Como diz Monica Messina, o capitalismo faz a
promessa de o sujeito poder contornar o desejo com o acúmulo de bens. Segundo Gilda
Vaz Rodrigues, com a ciência, o sujeito perde sua formalização subjetivada e se torna
objeto a. O saber da ciência se aloja no real em um lugar diferente do lugar da
psicanálise. A ciência pode gozar do real num campo resistente à simbolização. Mas
isso não deve nos afastar da ciência propriamente dita, à qual Luis Hanns fazia ontem
alusão. Esta, ao contrário, é força de simbolização. No contraponto com a neurose
obsessiva, a histeria e sua relação com o desejo, inspira a própria cultura do
capitalismo, na manobra realizada por Charles Kettering, da General Motors, que
percebeu que para fazer as pessoas desejarem era preciso criar uma insatisfação.
Como mostra Fátima Milnitzky, aí surge o marketing e a publicidade que, até então
sustentada na propaganda do necessário, passa a usar as propagandas emocionais de
promoção social.
De tudo isso posso concluir, com Oscar Miguelez, que a leitura desses trabalhos
me permitiu acompanhar todos esses analistas na sua atividade de pensamento.
Pensamento: construção, filosofia, questionamento; mas é como a teia de Penélope:
desfaz-se toda manhã o que fora terminado na noite anterior. Pensar tem a faculdade de
desfazer os “axiomas sólidos”, por isso, tampouco podemos esperar dessa atividade um
mandamento moral, nem uma definição definitiva do bem e do mal e sim, um efeito
corrosivo e destrutivo sobre todos os critérios estabelecidos. Pensar teria levado algozes
e vítimas a questionarem as ordens de seus líderes. Quando o real ultrapassa qualquer
ficção, a própria capacidade de antecipação do pensamento perde função. Eis porque
se torna tão importante a tentativa de elaboração que vi nesses trabalhos. (Em
homenagem a meus colegas mineiros que deixei na mão mês passado:) “[...] por o pé
no chão / do seu coração / experimentar / colonizar / civilizar / humanizar / o homem /
descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas / a perene, insuspeitada alegria /
de com-viver.” (Carlos Drummond de Andrade, “O homem; as viagens”).
Rio de Janeiro, 2 de novembro de 2003.
Sonia Alberti.
Você também pode gostar
- O Ator No AudiovisualDocumento55 páginasO Ator No AudiovisualAdriano CruzAinda não há avaliações
- Walmeri Ribeiro - Ator e Processo Tendencias Do Cinema Brasileiro ContemporaneoDocumento4 páginasWalmeri Ribeiro - Ator e Processo Tendencias Do Cinema Brasileiro ContemporaneoMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- Elmar Carvalho - DIÁRIO INCONTÍNUO PDFDocumento3 páginasElmar Carvalho - DIÁRIO INCONTÍNUO PDFMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- O Macambúzio - Correio Luizense PDFDocumento2 páginasO Macambúzio - Correio Luizense PDFMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- Santos Marcelo 2018 Ator CinemaDocumento8 páginasSantos Marcelo 2018 Ator CinemaMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- Santos Marcelo 2018 Ator CinemaDocumento8 páginasSantos Marcelo 2018 Ator CinemaMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- Fluidos RefrigerantesDocumento6 páginasFluidos RefrigerantesMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- 2 PB PDFDocumento16 páginas2 PB PDFMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- O Ator No AudiovisualDocumento55 páginasO Ator No AudiovisualAdriano CruzAinda não há avaliações
- Resenha - 1 - Julierme - Morais - & - Anderson - R - Neves PDFDocumento9 páginasResenha - 1 - Julierme - Morais - & - Anderson - R - Neves PDFMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- 2 PB PDFDocumento16 páginas2 PB PDFMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- Tese Oscar MiguelezDocumento254 páginasTese Oscar MiguelezCristiano da silva100% (1)
- POLITIZE Sistemas e As Formas de GovernoDocumento33 páginasPOLITIZE Sistemas e As Formas de GovernoRoseli Padua AngeloniAinda não há avaliações
- Aula 05 - Transformadores Modelo RealDocumento32 páginasAula 05 - Transformadores Modelo RealMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- 239 241 1 PBDocumento11 páginas239 241 1 PBMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- 225 2032 1 PB PDFDocumento10 páginas225 2032 1 PB PDFJamile CostaAinda não há avaliações
- 827 1867 1 PBDocumento10 páginas827 1867 1 PBMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- Pietro Maraveli ED2 2018 1 PDFDocumento1 páginaPietro Maraveli ED2 2018 1 PDFMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- (POP) - Fluxogramas - Ciclo Jr.Documento6 páginas(POP) - Fluxogramas - Ciclo Jr.Marcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- Tese Ericka Marie Itokazu PDFDocumento206 páginasTese Ericka Marie Itokazu PDFMarcelo Vitor PachecoAinda não há avaliações
- Serviço de Pequenos AlmoçosDocumento42 páginasServiço de Pequenos Almoçosanisabelba100% (3)
- Sapatilha 1Documento2 páginasSapatilha 1cristianoteclogAinda não há avaliações
- Lei Anticrime Comentada - Vladmir ArasDocumento207 páginasLei Anticrime Comentada - Vladmir ArasLeandro FilhoAinda não há avaliações
- FICHA DE AVALIAÇÃO - A Cidadania Europeia - 16022021Documento3 páginasFICHA DE AVALIAÇÃO - A Cidadania Europeia - 16022021AnaEloyAinda não há avaliações
- Entre Fantasmas... Dissertação de Mestrado Sobre Israel PDFDocumento266 páginasEntre Fantasmas... Dissertação de Mestrado Sobre Israel PDFReginaAinda não há avaliações
- Código Comercial PortuguêsDocumento6 páginasCódigo Comercial PortuguêsRicardo CristóvãoAinda não há avaliações
- Edital Verticalizado PCDFDocumento7 páginasEdital Verticalizado PCDFFlávio RodriguesAinda não há avaliações
- Sei 23000.002248 2022 242Documento7 páginasSei 23000.002248 2022 242Pedro TorrecillaAinda não há avaliações
- Estratégias Concursos - Direito CambiárioDocumento316 páginasEstratégias Concursos - Direito CambiárioGustavo CostaAinda não há avaliações
- Para Quem o Mercado Deve Funcionar? Uma Análise Do Caso Uber No Brasil À Luz Dos Princípios ConstitucionaisDocumento26 páginasPara Quem o Mercado Deve Funcionar? Uma Análise Do Caso Uber No Brasil À Luz Dos Princípios ConstitucionaisrafaelrnetoAinda não há avaliações
- Planejando A Jornada Um Guia para Seu Projeto de Vida: Bia MonteiroDocumento180 páginasPlanejando A Jornada Um Guia para Seu Projeto de Vida: Bia MonteiroTiago VasconcelosAinda não há avaliações
- A Atuação Do Assistente Social No Combate As Drogas Na AdolescenciaDocumento6 páginasA Atuação Do Assistente Social No Combate As Drogas Na AdolescenciaAdriana CristinaAinda não há avaliações
- Economia e Justiça SocialDocumento4 páginasEconomia e Justiça SocialsaraAinda não há avaliações
- Caderno Ibfc 205Documento11 páginasCaderno Ibfc 205Elder TobinarutoboyAinda não há avaliações
- Sistema Educacional 2Documento39 páginasSistema Educacional 2Sarah RochaAinda não há avaliações
- Lom 01 1925Documento40 páginasLom 01 1925Rodrigo SilvaAinda não há avaliações
- Influencia Das Clases Profissionais Na Etica ProfissionalDocumento16 páginasInfluencia Das Clases Profissionais Na Etica ProfissionalSergio Alfredo Macore100% (6)
- Manual de Atuação Funcional Das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva MP - RJDocumento64 páginasManual de Atuação Funcional Das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva MP - RJClaudioBritoAinda não há avaliações
- 1..Prf Nocoes de Direito Penal Evandro GuedesDocumento16 páginas1..Prf Nocoes de Direito Penal Evandro GuedesPatricia CamposAinda não há avaliações
- Contrato de Prestação de Serviços OrtodônticosDocumento25 páginasContrato de Prestação de Serviços OrtodônticosKarina SantosAinda não há avaliações
- Plano de Matrícula 2024Documento25 páginasPlano de Matrícula 2024Gisele Rocha CardosoAinda não há avaliações
- Tese de Doutoramento Maria Da Conceicao PortelaDocumento233 páginasTese de Doutoramento Maria Da Conceicao PortelaRosario SitimaAinda não há avaliações
- Etica - Passei DiretoDocumento2 páginasEtica - Passei DiretoLucas LeoniAinda não há avaliações
- Direito Real À Aquisição ResumidoDocumento24 páginasDireito Real À Aquisição ResumidoRodrigo Ribeiro100% (2)
- A Psicologia Financeira - Morgan HouselDocumento5 páginasA Psicologia Financeira - Morgan HouselDavid americo fernando0% (2)
- RES CONAMA 001 90 Poluição SonoraDocumento2 páginasRES CONAMA 001 90 Poluição SonoraEdgar SchlickmannAinda não há avaliações
- Resp 1335291 2024 03 21Documento12 páginasResp 1335291 2024 03 21Jader FilhoAinda não há avaliações
- Regimento Escolar - Colegio Marista Pio XII 2020Documento57 páginasRegimento Escolar - Colegio Marista Pio XII 2020Helena Amaral Lopes100% (1)
- Contrato de Adesão Curso de Socorrista Am TreinamentosDocumento5 páginasContrato de Adesão Curso de Socorrista Am TreinamentosAmanda LarieAinda não há avaliações
- Resposta A Acusação.Documento6 páginasResposta A Acusação.Medeiros SilvaAinda não há avaliações