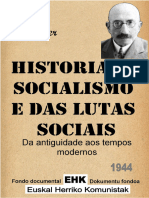Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cristian Is Mose N America Latin A
Cristian Is Mose N America Latin A
Enviado por
Nosdek SedeugTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cristian Is Mose N America Latin A
Cristian Is Mose N America Latin A
Enviado por
Nosdek SedeugDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cinema e História
Lisbeth Oliveira*
Resumo
As múltiplas interferências na relação entre cinema e história,
abordadas na obra de Marc Ferro, pioneiro nesses estudos.
Os desafios de uma leitura histórica do filme e de uma leitura
cinematográfica da história.
Palavras-chave: cinema, história.
1 Introdução
Em junho de 2002, durante a realização dos Seminários Internaci-
onais do IV Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental
(FICA), na Cidade de Goiás, o historiador americano Robert Stam
mostrou, num interessantíssimo passeio pela história em diferentes épo-
cas, a vocação historiográfica do cinema. Começando pelo confronto
de perspectivas estéticas, os estilos de performance e a conquista do
Brasil, Stam chega, em suas reflexões, à presença do índio no cinema
brasileiro.
Robert Stam mostrou o índio didático-patriótico no cinema de
Humberto Mauro (Descobrimento do Brasil, 1937), o índio
antipatriótico de Glauber Rocha (Terra em Transe, 1966), o índio-
documentado (dos anos 20) de Silvino Santos (No país das Amazo-
nas, 1922), o índio-modernista do Cinema Novo, com Joaquim Pedro
de Andrade e seu Macunaíma (1971), o índio-tecnizãdo (com
Camcorder) em Kayapó out ofthe Forest (1989) e O espírito da
TV (1990), o índio auto-representativo com Iniciação Xavante (1998),
dentre outras encarnações do índio no cinema brasileiro.
* Mestre em Teoria da Imagem/Fotografia Documental pela Universidade de Viena,
Áustria. Pesquisadora e Professora da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da
Universidade Federal de Goiás.
Comiin. Inf., v. 5, n. 1/2, p.131-137, jan./dez. 2002
130
Naquela oportunidade, Stam afirmava que "osfilmesque não são
sobre história, são história", mostrando que na relação entre cinema e
história as interferências são mesmo múltiplas, como bem reconheceu
Marc Ferro, um dos pioneiros nos estudos da relação entre os dois
campos.
2 Como o cinema intervém
Nossa reflexão não considera ofilmedo ponto de vista semiológico,
mas toma-o como um produto, uma imagem-objeto, cujas significa-
ções não são somente cinematográficas.
Nesse sentido, Marc Henri Piault nos ajuda nestajustificativa: "As
1
questões colocadas hoje aosfilmesde ontem não podem deixar de ter
efeitos sobre a maneira pela qual nós concebemos as nossas próprias
imagens e o que está implicado na realização e nos usos destas".
Optamos, então, por uma análise que não leva em conta apenas o
valor de testemunho do filme, mas, principalmente, a abordagem
sociohistórica que ele autoriza, daí recorrermos a Marc Ferro , pio-
2
neiro nessa abordagem.
Para esse autor, na "confluência entre a História que se faz e a
História compreendida como relação de nosso tempo, como explica-
ção do devir das sociedades" , o cinema intervém de diferentes for-
3
mas:
2.1 Como agente da história
Na busca obsessiva pela representação imagética do movimento
na tela do cinema, os trabalhos de E. Muybridge e Marey foram inici-
almente apresentados como instrumentos do progresso científico, fun-
ção que o cinema conserva até hoje. Paralelamente, desde que o cine-
ma se tornou uma arte, seus pioneiros passaram a intervir na história
comfilmesdocumentários ou deficção,que, desde sua origem, sob a
aparência derepresentação,doutrinam e glorificam, lembra Marc Ferro.
"Simultaneamente, desde que os dirigentes de uma sociedade com-
preenderam a função que o cinema poderia desempenhar, tentaram
apropriar-se dele e pô-lo a seu serviço: em relação a isso, as diferen-
ças se situam ao nível da tomada de consciência, e não ao nível das
ideologias, pois tanto no Ocidente como no Leste os dirigentes tive-
ram a mesma atitude" , afirma Marc Ferro, quando comenta a realiza-
4
Comun. Inf., v. 5, n. If2, p. 131-137, jan./dez. 2002
131
ção de um documentário de aproximadamente oito minutos sobre os
campos de concentração na União Soviética.
Apesar de constituir um documento em estado bruto, realizado em
condições precárias, é um exemplo defilmeautêntico, pouco inocente
e realizado para "testemunhar"; umfilmeque abriu brechas num siste-
ma de informações bastante fechado, abalando esse sistema, trazendo
a compreensão além-fronteiras - o que se comprova com a reação do
Partido Comunista Francês, que na época não compartilhou a tese
soviética da "falsificação grosseira" -, de que uma informação não tem
que ser necessariamente proveniente de suas instâncias para ser ver-
dadeira.
Dirigentes como LeonTrotski, Lênin, Lunatcharski viam no cine-
ma um instrumento de propaganda extremamente eficaz, quer seja para
fins científicos ou de animação, quer para educação das massas. Con-
tudo, observa-se que em meio a inúmeros filmes considerados agra-
dáveis ao regime vigente, outros escapavam ao controle da censura.
Em Po Zaconu, Kulechov denunciou, por meio de um western cuja
ação se passa supostamente no Canadá, os processos dos Anos 20;
Tchapaiev de S. e G Vassiliev (1934) também revelam traços profun-
damente tradicionalistas da ideologia stalinista, dentre outros exem-
plos que vêm demonstrar o quanto um filme vai além de seu próprio
conteúdo.
Sobre o antinazismo americano por ocasião da II Guerra Mundial,
constata-se que enquanto na França, em meio a um clima de guerra
civil embrionária, os dirigentes militares ou culturais ainda não tinham
realmente decidido se seu inimigo era o nazismo ou o comunismo, nos
Estados Unidos, a escolha já havia sido feita, e mesmo antes de 1939.
Filmes como Confissões de um Espião Nazista (1939), Quatro Fi-
lhos, O Grande Ditador, Correspondente Estrangeiro, Tempesta-
de d'alma, de Frank Borzage, são exemplos explícitos da ideologia
americana antinazista por meio do cinema dos anos de guerra, um fe-
nômeno, aliás, mais claro no cinema do que no mundo da palavra es-
crita, no jornalismo ou na pesquisa.
2.2 Nos modos de ação da linguagem cinematográfica
O cinema intervém com de um certo número de modos de ação
que tornam o filme eficaz, operatório, capacidade que está ligada à
sociedade que produz ofilmee àquela que o recebe, que o recepciona.
Comun. Inf., v. 5, n. If2, p.131-137,jan./dez. 2002
132
O autor mostra que os efeitos de montagem, como já fizeram
Koulechov, Eisenstein, etc, o funcionamento dos diferentes elementos
da película sonorizada e outras muitas combinatórias no interior do
filme não são práticas inconscientemente utilizadas. Pelo contrário, elas
revelam, mesmo sem a intenção do cineasta, zonas ideológicas e soci-
ais das quais ele não tinha necessariamente consciência ou que acredi-
tava ter rejeitado.
Marc Ferro exemplifica, com vários filmes, que procedimentos
como a escolha das testemunhas, a natureza das perguntas feitas, a
seleção das respostas e a montagem das entrevistas podem dar ao
filme força diante do expectador, esteja ele de acordo ou não com
seus pontos de vista.
Para ele, tradicionalmente, numfilme,a força das imagens sobres-
sai-se em relação ao texto. No documentário Le chagrín et la pitié
(1941) ocorre o inverso, graças a um novo sistema de relações entre o
texto, o discurso oral e o discurso da imagem. Nessefilme,a função
do testemunho é a de "substituir-se ao comentário, cujo lugar é ocupa-
do ora pelas perguntas feitas às testemunhas, ora pelo comentário
sincrônico dos jornais cinematográficos da época. Assim, o historia-
dor aparentemente se apaga diante das testemunhas, diante da socie-
dade, diante do testemunho do passado. Na ausência dessa media-
ção, a explicação histórica surge como terrivelmente autêntica, como
que dotada de um suplemento de verdade" . 5
2.3 Na sociedade que produz e na sociedade que recebe
A utilização e a prática de modos de escrita específica são armas
de combate ligadas à sociedade que produz ofilmee à sociedade que o
recebe: "Assim como todo produto cultural, toda ação política, toda in-
dústria, todofilmetem uma história que é História, com sua rede de rela-
ções pessoais, seu estatuto dos objetos e dos homens, onde privilégios e
trabalhos pesados, hierarquias e honras encontram-seregulamentados,os
lucros da glória e os do dinheiro são aqui regulamentados com a precisão
que seguem os ritos de uma carta feudal: guerra ou guerrilha entre atores,
diretores, técnicos, produtores, que é mais cruel à medida que, sob o
estandarte da Arte, da Liberdade, e na promiscuidade de uma aventura
comum, não existe empreendimento industrial, militar, político ou reli-
gioso que conheça diferença tão intolerável entre o brilho e a fortuna
de uns e a obscura miséria dos outros artesãos da obra" . 6
Comun. Inf., v. 5, n. If2, p.131-137,jan./dez. 2002
133
Marc Ferro recorre ao exemplo da alegoria do açougue em A
Greve, de Eisenstein, para mostrar que o realizador já havia observa-
do que toda sociedade recebe as imagens em função de sua própria
cultura, ou seja, tal alegoria suscitava muito bem o efeito desejado nas
cidades, mas os camponeses, habituados a ver correr o sangue da-
quela forma, permaneciam indiferentes, sem contar que eles também
não tinham a "educação" que lhes permitisse apreender talfiguracomo
uma alegoria.
A Grande Ilusão (1937, Jean Renoir) é um exemplo de filme que
teve uma "dupla acolhida", constituindo uma revelação sobre a socie-
dade do antes e do pós-guerra . O filme mostra que a verdadeira
realidade da História não estava na luta entre nações, mas sim na luta
de classes e, conseqüentemente, a guerra não tinha razão de ser. Con-
tudo, outras reações diante dofilmedemonstram que seu conteúdo
não deixa de ser ambíguo.
2.4 Na leitura cinematográfica da História e na leitura
Histórica do Cinema
Para Marc Ferro, esses são os dois últimos eixos a serem seguidos
por quem se interroga sobre a relação entre cinema e história: "A leitu-
ra cinematográfica da história coloca para o historiador o problema de
sua própria leitura do passado. As experiências de diversos cineastas
contemporâneos, tanto na ficção quanto nanão-ficção demonstram
que graças à memória popular e à tradição oral, o historiador pode
devolver à sociedade uma história da qual a instituição a tinha
despossuído".
"A leitura histórica e social do filme permitiu-nos atingir zonas não
visíveis do passado das sociedades, revelando, por exemplo, as
autocensuras e os lapsos de uma sociedade, de uma criação artística,
(conforme nossa análise de Pó Zakonu de Dura Lex), ou ainda o
conteúdo social da prática burocrática na época stalinista (cf. o estudo
sobre Tchapaiev)" .7
3 Desafios para o historiador atual
Numa entrevista aos Cahiers du Cinema, em 1975, Marc Ferro 8
atribuía ao historiador a função primeira de restituir à sociedade, a
História da qual os aparelhos institucionais a despossuíram: "Em lugar
Comun. Inf., v. 5, n. If2, p. 131-137, jan./dez. 2002
134
de se contentar com a utilização de arquivos, o historiador deveria
antes de tudo criá-los e contribuir para a sua constituição: filmar, inter-
rogar aqueles que jamais têm direito à fala, que não podem dar seu
testemunho".
Para ele, o filme foi uma grande ajuda nesse caso, tanto os de
ficção quanto os cine-jornais: "Na verdade não acredito na existência
de fronteiras entre os diversos tipos defilmes,pelo menos do ponto de
vista do olhar de um historiador, para quem o imaginário é tanto histó-
ria, quanto História" .9
Umfilme,seja ele qual for, sempre vai além de seu próprio conteú-
do, além da realidade representada, mostrando zonas da história até
então ocultadas, inapreensíveis, não-visíveis.
No início do século XX, não é difícil imaginar o que foi o
cinematógrafo para historiadores, juristas e demais pessoas instruídas
da sociedade. O filme, como outras fontes não-escritas, por muito
tempo nãofigurouentre as fontes utilizadas pelo historiador consagra-
do, entre aquelas que formavam um corpo tão cuidadosamente
hierarquizado quanto a sociedade à qual ele destinava sua obra. Àquele
que filmava não era reconhecido o direito de autoria. Ele não tinha o
estatuto de um homem cultivado e era qualificado como mero "caça-
dor de imagens". Reinando tal pensamento, como poderiam os histo-
riadores referir-se à imagem ou mesmo citá-las?
"A imagem não poderia ser uma companheira dessas grandes per-
sonagens que constituem a sociedade do historiador: artigos de leis,
tratados de comércio, declarações ministeriais, ordens operacionais,
discursos" .
10
Os anos se passaram, a história se transformou, a revolução mar-
xista metamorfoseou as concepções da História. Um outro método
apareceu, um outro sistema e, igualmente, uma outra hierarquia de fon-
tes. A própria noção do tempo da História se modificou e o trabalho
do historiador também.
Hoje os historiadores já recolocaram em seu lugar legítimo as fon-
tes de origem popular, primeiro as escritas, depois as não-escritas: o
folclore, as artes e as tradições populares. O desafio que se coloca
com relação ao filme é claro: resta agora estudá-lo, associando-o ao
mundo que o produz. E, mais uma vez, a interrogação de Marc Ferro
continua atual: "Será que o filme, imagem ou não da realidade, docu-
mento ou ficção, intriga autêntica ou pura invenção, é História?". E
acrescenta:"... aquilo que não aconteceu (e por que não aquilo que
Comun. Inf., v. 5, n. If2, p. 131-137, jan./dez. 2002
135
aconteceu?), as crenças, as intenções, o imaginário do homem, são
tão História quanto a História" . 11
Abstract
The cinema as a History agent; the cinematographic language's manners
of action; the society that produces and receives the fílm; the challenges of a
cinematographic interpretation of the History and a cinema's historie reading
are aspects of a great variety of interventions in the relation between cinema
and History, present in Marc Ferro's produetion, commented in this article.
Keywords: cinema, history.
Notas
1. PIAULT, Marc Henri. Real e Ficção: onde está o problema? In: KOURI,
M. G. Pinheiro (Org.). Imagem e Memória, pág. 155.
2. FERRO, Marc. Cinema e História. São Paulo: Paz e Terra, 1992.
3. Idem, pág. 13.
4. Idem, pág. 14.
5. Idem, pág. 48.
6. Idem, pág. 17.
7. Idem, pág. 19.
8. Idem, pág. 76.
9. Idem, pág. 77.
10. Idem, pág. 83.
11. Idem, pág. 86.
Comun. Inf., v. 5, n. If2, p. 131-137, jan./dez. 2002
Você também pode gostar
- História AntigaDocumento82 páginasHistória AntigaMarcos Luz100% (2)
- Biblia Arqueologia e A História, José Ademar KaeferDocumento227 páginasBiblia Arqueologia e A História, José Ademar KaeferJose Carlos Cruqui100% (2)
- Resumo - Visões e Ilusões PolíticasDocumento6 páginasResumo - Visões e Ilusões PolíticasWeslei Eller100% (2)
- EVANS PRITCHARD - Bruxaria Oraculos e Magia PDFDocumento49 páginasEVANS PRITCHARD - Bruxaria Oraculos e Magia PDFAna Paula GarcêzAinda não há avaliações
- Durval Muniz - Fazer Defeitos Nas Memórias...Documento22 páginasDurval Muniz - Fazer Defeitos Nas Memórias...Aline Silva100% (1)
- A Era Dos Direitos, de Bobbio (Resumo)Documento7 páginasA Era Dos Direitos, de Bobbio (Resumo)Daniel BonesAinda não há avaliações
- 308 595 1 SM PDFDocumento241 páginas308 595 1 SM PDFDiego EstevamAinda não há avaliações
- José Dassunção Barros - História CulturalDocumento26 páginasJosé Dassunção Barros - História CulturalJeferson RamosAinda não há avaliações
- Educação Popular e Movimentos SociaisDocumento13 páginasEducação Popular e Movimentos SociaisAna Paula GarcêzAinda não há avaliações
- Tabela PNLD - 3 MesopotâmiaDocumento31 páginasTabela PNLD - 3 MesopotâmiaAna Paula GarcêzAinda não há avaliações
- OLIVEIRA, Francisco - A Economia Da Dependência Imperfeita (Cap. 3) Padrões de Acumulação, Oligopólio e Estado No Brasil (1950-1976)Documento19 páginasOLIVEIRA, Francisco - A Economia Da Dependência Imperfeita (Cap. 3) Padrões de Acumulação, Oligopólio e Estado No Brasil (1950-1976)Ana Paula GarcêzAinda não há avaliações
- PEC Das Domésticas Artigo PDFDocumento20 páginasPEC Das Domésticas Artigo PDFAna Paula GarcêzAinda não há avaliações
- Revolução Francesa e Iluminismo - Jorge GrespanDocumento107 páginasRevolução Francesa e Iluminismo - Jorge GrespanDamien DuncanAinda não há avaliações
- O Colonialismo Como Glória Do ImpérioDocumento16 páginasO Colonialismo Como Glória Do ImpérioAna Paula GarcêzAinda não há avaliações
- Texto 7 O Terror François FuretDocumento2 páginasTexto 7 O Terror François FuretAna Paula GarcêzAinda não há avaliações
- Narrativas Midiáticas Contemporâneas Sujeitos Corpos Lugares PDFDocumento296 páginasNarrativas Midiáticas Contemporâneas Sujeitos Corpos Lugares PDFRaphael Duarte100% (1)
- Livro - Teoria e Prática Da LeituraDocumento100 páginasLivro - Teoria e Prática Da LeituraRenata NobreAinda não há avaliações
- Sequência Didática Escrita de CartasDocumento5 páginasSequência Didática Escrita de CartasJessica FerrazAinda não há avaliações
- Ficha Inf - 1 - Narrativa - 7.º ADocumento2 páginasFicha Inf - 1 - Narrativa - 7.º Aana quelhasAinda não há avaliações
- Resenha Livro Um Povo TransformadorDocumento3 páginasResenha Livro Um Povo TransformadorKainã dos SantosAinda não há avaliações
- A Pré-HistóriaDocumento5 páginasA Pré-HistóriaScoovyi100% (1)
- Análise de "A Quinta História", de Clarice LispectorDocumento20 páginasAnálise de "A Quinta História", de Clarice LispectorRosana Gondim RezendeAinda não há avaliações
- Dipesh K.Documento2 páginasDipesh K.Diogo FerreiraAinda não há avaliações
- Fichamento Prost.05Documento4 páginasFichamento Prost.05JOAO JUNIORAinda não há avaliações
- Capoeiras em PernambucoDocumento202 páginasCapoeiras em PernambucoMônica JácomeAinda não há avaliações
- Araujo Práticas Pedagógicas IIDocumento20 páginasAraujo Práticas Pedagógicas IIJoão José AraújoAinda não há avaliações
- Arvore Da ResistenciaDocumento28 páginasArvore Da ResistenciaUlisses Heckmaier CataldoAinda não há avaliações
- Aula 6 Ano Arte Pre - HistoriaDocumento8 páginasAula 6 Ano Arte Pre - Historialaura mendes 2Ainda não há avaliações
- X Estudos Socine BDocumento714 páginasX Estudos Socine Bm935513Ainda não há avaliações
- A Escrita Da História - Peter BurkeDocumento2 páginasA Escrita Da História - Peter BurkeNatália CorrêaAinda não há avaliações
- Modelo - Plano História 2ºp - 2022Documento6 páginasModelo - Plano História 2ºp - 2022Elke_1976Ainda não há avaliações
- Vitruvius Arquitextos 123 01 PDFDocumento12 páginasVitruvius Arquitextos 123 01 PDFRafael Felipe TavaresAinda não há avaliações
- Lendastextos PDFDocumento13 páginasLendastextos PDFRamsés Eduardo PinheiroAinda não há avaliações
- Alan Chalmers - A Fabricação Da CiênciaDocumento24 páginasAlan Chalmers - A Fabricação Da CiênciaVanderson SantosAinda não há avaliações
- Historia Do Socialismo e Das Lutas Sociais-KDocumento460 páginasHistoria Do Socialismo e Das Lutas Sociais-KMarco RibeiroAinda não há avaliações
- 3 - Elementos Da Narrativa - Quais São, Características e Mais!Documento9 páginas3 - Elementos Da Narrativa - Quais São, Características e Mais!DiedraRoizAinda não há avaliações
- Criação Dos Grupos Escolares No BrasilDocumento168 páginasCriação Dos Grupos Escolares No BrasilMarcio_Brigeir_7993Ainda não há avaliações
- Felipe QueirogaDocumento6 páginasFelipe QueirogaDamião FernandesAinda não há avaliações