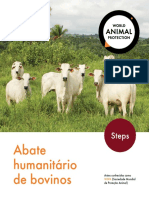Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
FREIXO ABREU DaMATA - A Nostalgia Como Problema Metahistórico
FREIXO ABREU DaMATA - A Nostalgia Como Problema Metahistórico
Enviado por
Tiago Almeida0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações4 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações4 páginasFREIXO ABREU DaMATA - A Nostalgia Como Problema Metahistórico
FREIXO ABREU DaMATA - A Nostalgia Como Problema Metahistórico
Enviado por
Tiago AlmeidaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
A nostalgia como problema metahistórico: uma
introdução
Nostalgia as a meta-historical problem: an interpretation
______________________________________________________________________
André de Lemos Freixo
andredelemos@gmail.com
Professor Adjunto
Universidade Federal de Ouro Preto
Rua do Seminário, s/n
35420-000 - Mariana - MG
Brasil
Marcelo Santos de Abreu
orientacaoufop@gmail.com
Professor Adjunto
Universidade Federal de Ouro Preto
Rua do Seminário, s/n
35420-000 - Mariana - MG
Brasil
Sérgio da Mata
sdmata@ichs.ufop.br
Professor Adjunto
Universidade Federal de Ouro Preto
Rua do Seminário, s/n
35420-000 - Mariana - MG
Brasil
______________________________________________________________________
138 Palavras-chave
Nostalgia; Modernidade; História.
Keywords
Nostalgia; Modernity; History.
Recebido em: 10/4/2017
Aprovado em: 2/5/2017
hist. historiogr. • ouro preto • n. 23 • abril • 2017 • p. 138-141 • doi: 10.15848/hh.v0i23.1226
A nostalgia como problema metahistórico
_________________________________________________________________________________
A nostalgia faz parte do repertório básico de experiências humanas. Ela pode
ser encontrada nas mais diferentes épocas e lugares, a despeito do esforço, não
menos recorrente, de se lhe emprestar certo colorido local. As perspectivas sob
as quais se pretendeu explicá-la e descrevê-la remontam ao alvorecer da ciência
moderna. Desde Johannes Hofer, o interesse por esta mistura de idealização
retrospectiva e topofilia tem ocupado gerações de estudiosos, de Jacob Grimm
a Roberto DaMatta. Da Heimweh dos antigos mercenários suíços ao banzo dos
africanos trazidos à força para o novo mundo, muito já se escreveu a respeito
da nostalgia.
Os historiadores são em geral pouco interessados pelo fenômeno da
nostalgia. Por vezes o termo “nostálgicos” é empregado no sentido de marcar
os “conservadores”, num movimento complexo no qual tais conceitos são
empregados de modo intercambiável. Os textos a seguir, por nós traduzidos,
procuram convidar os historiadores brasileiros a prestar a devida atenção à
abertura de possibilidades - não só teóricas, mas políticas - sugerida pela leitura
dos ensaios de Arnold Gehlen e Svetlana Boym.
Depois da grande leva de publicações nos últimos anos sobre as
experiências de trauma coletivo, talvez seja chegada a hora de nos ocuparmos
com modalidades menos extra-cotidianas de presença do passado. Ao contrário
do que se convencionou a respeito do conceito de trauma, entendido como uma
ferida aberta e uma dor que não passa, um “passado” que insiste em não passar,
a nostalgia não carece de “tratamento”. Ela não precisa ser trabalhada, reprimida
ou sublimada, pois trata-se de um sentimento distinto da dor traumática, ela
representa uma melancolia que, paradoxalmente, se sente com algum prazer.
139
Para além das tradicionais análises médicas, psicológicas e literárias
do fenômeno, um de nossos autores traduzidos, Arnold Gehlen, propôs sua
“interpretação histórico-política” da nostalgia numa época em que o tema
aparentemente não fazia sentido algum no campo da sociologia. Publicado
no ano de sua morte, este texto de 1976 destoa completamente do Zeitgeist
daquela época, um momento em que o otimismo das filosofias da história
ainda parecia amplamente amparado pelos fatos. Embora fosse um dos mais
influentes intelectuais conservadores alemães (o que não impediu que Adorno,
Lukács, Blumenberg, Luhmann e Honneth recorressem com frequência aos
seus escritos), Gehlen nunca se notabilizou por uma sensibilidade especial em
relação à história. Enquanto o outro grande nome da antropologia filosófica,
Helmuth Plessner, caracteriza o ser humano como constitutivamente apátrida
e como “uma questão em aberto”, para Gehlen o humano é um ser de
carências, e a cultura uma jaula feita de hábitos e instituições. Em Plessner
o ser humano é todo possibilidade, e seu lugar um lugar utópico. Em Gehlen,
ele é um ser carente de estabilidade e orientação. Ainda que as duas visões se
complementem, é curioso que a nostalgia e o advento de surtos nostálgicos
possam ser melhor compreendidos por meio da teoria daquele que, dentre os
pais da antropologia filosófica, menos se interessou pela história. O conceito
de posicionalidade excêntrica, cunhado por Plessner para descrever a condição
humana, tanto quanto a tradicional noção de Bildung, encontram aqui os seus
hist. historiogr. • ouro preto • n. 23 • abril • 2017 • p. 138-141 • doi: 10.15848/hh.v0i23.1226
André de Lemos Freixo, Marcelo Santos de Abreu e Sérgio da Mata
_________________________________________________________________________________
limites. Configurando-se como uma segunda natureza, a cultura exerce uma
força centrífuga que nos reconduz e por vezes encarcera num espaço e tempo
específicos (se idealizados ou não, pouco importa) cujo abandono é, não raro,
doloroso. Para Gehlen o ser humano está condenado a essa dor, razão pela qual
suas reflexões se iniciam pelo tema da felicidade. Nostalgia e utopia vivem às
custas da ilusão de que a plenitude existiu, ou há de existir um dia.
Os estrategistas das indústrias do audiovisual e fonográfica, ao que parece,
perceberam-no antes de nós. A entropia temporal que marca as sociedades
contemporâneas se revela, entre outras coisas, no prestígio compensatório do
vintage e do second hand, situação que o rapper Prinz Pi traduziu nesses versos:
gostaríamos tanto de estar no ontem / vivemos segundo a fórmula “quanto
mais retrô, mais novo”. Recentemente, o cineasta brasileiro João Moreira Salles
afirmou em entrevista que “a nostalgia mata”. Ele se referia à visão dominante
em certos meios, envolta numa densa névoa romântica, que ainda hoje cerca
os eventos do maio de 1968. Tal juízo expressa uma dificuldade que não seria
o caso de dramatizar. Por uma questão não apenas de princípios, mas também
de empatia, os intelectuais conservadores estão muitas vezes mais próximos
de compreender a nostalgia e inclusive de torná-la esteticamente produtiva.
É o caso de Arnold Gehlen, que já em meados da década de 1960 defendia a
tese de que o mundo contemporâneo passou por um processo de cristalização
cultural, adentrando com isso a era da posthistoire. É também o caso de Andrei
Tarkovski, cujo notável filme Nostalghia, de 1983, pode ser visto como a versão
140 cinematográfica dos diagnósticos de Gehlen. À época, um colunista do New York
Times, se bem que com intenção crítica, resumiu Nostalghia em duas palavras:
“nothing happens”.
De um filme mais recente e de enorme sucesso, Adeus Lenin!, pode-se dizer
outra coisa: tudo acontece novamente. Svetlana Boym lembra esse filme para
indicar o artificialismo que pode constituir a cultura nostálgica contemporânea
como resposta à crise de futuro experimentada nas últimas décadas. Em sua
interpretação, ela se encontra com intelectuais conservadores e progressistas
ao apontar a relevância do fenômeno para a compreensão do nosso mundo.
Encontro revelado igualmente na identificação da nostalgia à modernidade,
e especialmente o lugar que a utopia - a busca da felicidade, diria Gehlen -
ocupa no mundo moderno. No entanto, Boym distingue alguma positividade na
nostalgia como fenômeno que não se reduz necessariamente a um passadismo
compensatório - ao contrário de um intelectual progressista como Andreas
Huyssen, que no mesmo momento fazia a crítica da produção mercantil da
nostalgia como um indício de certo aprisionamento em um presente carregado
de passados e carente de futuro.
O texto de Boym, que resume as principais hipóteses sobre a nostalgia
desenvolvidas no livro The Future of Nostalgia (2001), se situa no campo
de reflexão sobre o suposto fechamento do horizonte de expectativas na
contemporaneidade. Reflexões que ensejaram os diagnósticos - a palavra aqui
não é inocente - sobre o que seria a crise de futuro: ela estaria a indicar uma
nova ordem do tempo, o presentismo como novo regime de historicidade ou
hist. historiogr. • ouro preto • n. 23 • abril • 2017 • p. 138-141 • doi: 10.15848/hh.v0i23.1226
A nostalgia como problema metahistórico
_________________________________________________________________________________
o presente amplo como evidência de esgotamento do cronótopo historicista
(para ficarmos apenas nas proposições que ganharam relevância entre nós).
Boym partilha dessas percepções, algumas claramente nostálgicas, de certo
mal estar na contemporaneidade provocado pela produção massiva de passados
em nosso tempo.
O que ela traz de novo para o debate, porém, são as distintas possibilidades
da cultura nostálgica contemporânea. Em um primeiro sentido, como já
apontamos, a nostalgia é contemporânea da utopia como traço moderno e que
precisa ser pensada em sua dimensão espaço-temporal. Por outro lado, Boym não
a vê como necessariamente oposta à utopia - um dos mais instigantes insights
em sua análise. A autora procura identificar duas modalidades da nostalgia: a
restauradora e a reflexiva. Ambas transcendem diferentes paisagens e nomes
próprios que a nostalgia possa ganhar. Realizam-se em diversos contextos
políticos, intercambiam-se certamente, embora a autora não demonstre
exatamente como isso se dá ao marcar as diferenças entre uma e outra. As
duas produzem e atualizam formas estéticas próprias que configuram, por sua
vez, contornos éticos precisos. Em sua prosa elegante, Boym nos faz ver que a
nostalgia reflexiva assume a contingência e não procura deter a mudança, ao
passo que a nostalgia restauradora evoca o passado, especialmente o passado
grandioso das idades de ouro nacionais - diferença que parece hierarquizar
cada uma delas na tipologia. A primeira “temporaliza o espaço”, a segunda
“espacializa o tempo”, do que podemos inferir duas posturas distintas: ver num
lugar, mesmo no desterro, as camadas de tempo e história que se misturam e
podem inspirar o novo ou inscrever no presente a marca de um lugar pretérito
141
hegemônico, sempre idêntico a si mesmo. A última quer fazer do presente
um lugar para o futuro do passado, configurando, por assim dizer, uma utopia
conservadora como aquela imaginada por Ernst Jünger em seu romance distópico
Eumeswil, de 1987. A primeira, ao contrário, faz do passado uma inspiração
para um futuro aberto, recobrando, talvez, o sentido das utopias futuristas e do
“princípio esperança”.
Não é o caso, nessa introdução, de nos estendermos muito no delineamento
das características da nostalgia para os dois autores, nem de marcar as
diferenças de fundo que há entre eles - o que de fato já se evidencia nessas
notas breves. Esperamos que as leituras dos textos provoquem a reflexão sobre
os passados presentes não apenas a partir do que já conhecemos e controlamos
racionalmente, mas também a partir de um sentimento a que estamos
naturalmente inclinados: a saudade.
hist. historiogr. • ouro preto • n. 23 • abril • 2017 • p. 138-141 • doi: 10.15848/hh.v0i23.1226
Você também pode gostar
- O Noivo Vem - Marlete GuerreiroDocumento1 páginaO Noivo Vem - Marlete GuerreiroSilas Costa50% (2)
- Liderança EstratégicaDocumento84 páginasLiderança EstratégicaForex Moçambique Online100% (1)
- Curso Direito Previdenciario - Inss - Frederico AmadoDocumento2 páginasCurso Direito Previdenciario - Inss - Frederico AmadoEduardo Gonçalves PegoAinda não há avaliações
- Resenha GestaçãoDocumento2 páginasResenha GestaçãoFlávio ViniciusAinda não há avaliações
- Fichamento - Etnografia MultilocalDocumento3 páginasFichamento - Etnografia MultilocalFlávio ViniciusAinda não há avaliações
- Antropologia Estrutural - Mito - MitemaDocumento4 páginasAntropologia Estrutural - Mito - MitemaFlávio ViniciusAinda não há avaliações
- CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto - Sobre o Pensamento Antropologico PDFDocumento36 páginasCARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto - Sobre o Pensamento Antropologico PDFFlávio Vinicius100% (1)
- Prova - SociologiaDocumento9 páginasProva - SociologiaFlávio ViniciusAinda não há avaliações
- Estrategias Cuidado Doenca Cronica Obesidade Cab38Documento214 páginasEstrategias Cuidado Doenca Cronica Obesidade Cab38amandaAinda não há avaliações
- Tantra Da Grande LibertaçãoDocumento22 páginasTantra Da Grande LibertaçãoMarta Helena Bittencourt100% (1)
- Unid 4Documento42 páginasUnid 4Eliana TarginoAinda não há avaliações
- Diario Oficial 2022-07-04 CompletoDocumento104 páginasDiario Oficial 2022-07-04 CompletoMarco AurélioAinda não há avaliações
- Louis LAmour-x-O Ultimo Da Raça-BasDocumento192 páginasLouis LAmour-x-O Ultimo Da Raça-BasAlekseiAinda não há avaliações
- Folheto Explicativo Batismo PDFDocumento2 páginasFolheto Explicativo Batismo PDFmucamabaAinda não há avaliações
- Monografia - Um Estudo Das Representações de Akhenaton No BrasilDocumento69 páginasMonografia - Um Estudo Das Representações de Akhenaton No BrasilMaria IsabelAinda não há avaliações
- Direito Romano ClássicoDocumento6 páginasDireito Romano Clássicorafael gonçalvesAinda não há avaliações
- Boleto Pe1a LT Com023Documento1 páginaBoleto Pe1a LT Com023Tiago FreitasAinda não há avaliações
- Teo&exe 1 Lista de Literatura Obrigatória-1Documento3 páginasTeo&exe 1 Lista de Literatura Obrigatória-1Francisco FernandesAinda não há avaliações
- Motivos Baixa Frequencia - Sistema PresençaDocumento3 páginasMotivos Baixa Frequencia - Sistema PresençaCaucaia BAAinda não há avaliações
- Acórdãos Do Conselho Constitucional Da Jurisdição EleitoralDocumento264 páginasAcórdãos Do Conselho Constitucional Da Jurisdição EleitoraledgarAinda não há avaliações
- Edificios FantasmasDocumento6 páginasEdificios FantasmasPaulo GiovaniAinda não há avaliações
- Esboço - Dizimo (By - Hércules Botelho Couto)Documento8 páginasEsboço - Dizimo (By - Hércules Botelho Couto)Couto NetworkAinda não há avaliações
- Aula 5 (Motivação)Documento37 páginasAula 5 (Motivação)Daniel Teles100% (1)
- A Cartilha de Antonio Gramsci (1891-1937)Documento7 páginasA Cartilha de Antonio Gramsci (1891-1937)livecajoAinda não há avaliações
- Direito de FamíliaDocumento57 páginasDireito de FamíliaVictor Daniel OliveiraAinda não há avaliações
- Banco de QuestõesDocumento7 páginasBanco de QuestõesDiego FernandesAinda não há avaliações
- As Sete Características Do Verdadeiro DiscípuloDocumento3 páginasAs Sete Características Do Verdadeiro DiscípuloGustavo GuerraAinda não há avaliações
- Queixa Crime EnricoDocumento6 páginasQueixa Crime Enriconeizan8Ainda não há avaliações
- 105646attachmenturl 666816475 en PTDocumento43 páginas105646attachmenturl 666816475 en PTPablo BispoAinda não há avaliações
- Abate Humanitário de Bovinos (Cartilha)Documento138 páginasAbate Humanitário de Bovinos (Cartilha)Priscila LessaAinda não há avaliações
- Calendario Descritivo 2021 1Documento6 páginasCalendario Descritivo 2021 1Diely LourençoAinda não há avaliações
- Notitia CriminisDocumento2 páginasNotitia CriminisadvisabellalacerdaAinda não há avaliações
- Aula 5Documento36 páginasAula 5Kátia PinaAinda não há avaliações
- A Interdisciplinaridade Como Um Movimento Articulador No Processo EnsinoDocumento13 páginasA Interdisciplinaridade Como Um Movimento Articulador No Processo EnsinoElenita Helena Oliveira100% (2)