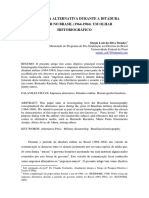Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Foucault Entrevista Ao Le Monde
Foucault Entrevista Ao Le Monde
Enviado por
RonyTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Foucault Entrevista Ao Le Monde
Foucault Entrevista Ao Le Monde
Enviado por
RonyDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A palavra nua de Foucault
DO "LE MONDE"
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2111200424.htm
Michel Foucault já concedeu muitas entrevistas, mas poucas vezes falou sobre aquilo que o
liga de maneira íntima à escrita, à qual ele chegou tarde e por necessidade. Nesta entrevista
de 1966, ainda inédita e dada a Claude Bonnefoy após o lançamento de "As Palavras e as
Coisas" [Martins Fontes] -e conservada no Centro Michel Foucault-, o filósofo francês fala
de suas dúvidas, convicções e de sua relação íntima com a escrita.
O sr. poderia explicar como abordou a escrita?
Uma de minhas lembranças mais constantes -certamente não a mais antiga, mas a mais
obstinada- é a das dificuldades que tive para escrever bem. Escrever bem no sentido em que
se entende o termo na escola primária, ou seja, criar páginas de escrita bem legíveis.
Acredito -na verdade, tenho certeza- que, em minha classe e minha escola, eu era o mais
ilegível. Isso continuou por muito tempo, até os primeiros anos do ensino secundário.
Assim, minha relação com a escrita era um pouco complicada, um pouco sobrecarregada.
Mas existe outra recordação, bem mais recente. É o fato de que, no fundo, eu nunca levei
muito a sério a escrita, o ato de escrever. O desejo de escrever só surgiu forte em mim
quando eu tinha cerca de 30 anos. Para chegar a descobrir o prazer possível da escrita, foi
preciso estar no exterior.
Eu estava vivendo na Suécia e me via obrigado a falar ou o sueco, que conhecia muito mal,
ou o inglês, que praticava com muita dificuldade. Meu conhecimento fraco dessas línguas
me impediu de dizer o que eu realmente queria durante semanas, meses, até mesmo anos.
Eu via as palavras que queria dizer sendo travestidas, simplificadas, tornando-se como
pequenas marionetes irrisórias à minha frente, assim que as pronunciava.
Nessa impossibilidade de usar minha língua própria, percebi, em primeiro lugar, que esta
possuía uma espessura, uma consistência, que ela não era simplesmente como o ar que
respiramos, uma transparência absolutamente insensível, mas que tinha suas leis próprias,
seus corredores, suas linhas, seus declives, suas costas, suas irregularidades -em suma, que
tinha uma fisionomia e que formava uma paisagem na qual podíamos caminhar e descobrir
em volta das palavras, das frases, de repente, pontos de vista que não apareciam até então.
Nessa Suécia em que tinha que falar uma língua que me era estranha, compreendi que podia
habitar minha língua, com sua fisionomia repentina particular, como o lugar mais secreto,
mas mais seguro, de minha residência nesse lugar sem lugar que é o país estrangeiro no
qual nos encontramos.
Quando o sr. começou a escrever, houve uma reviravolta, então, com relação a essa
concepção primeira e desvalorizadora da escrita?
A reviravolta veio, evidentemente, de mais longe. Mas cairíamos numa autobiografia ao
mesmo tempo anedótica demais e banal demais para que fosse interessante falarmos dela.
Digamos que foi por meio de um trabalho longo que eu finalmente conferi a essa palavra
tão profundamente desvalorizada um certo valor e um certo modo de existência.
Hoje, o problema que me preocupa -e que, na realidade, não pára de me preocupar há dez
anos- é o seguinte: em uma cultura como a nossa, em uma sociedade como a nossa, o que
significa a existência das palavras, da escrita, do discurso? Me pareceu que nunca
atribuímos importância tão grande ao fato de que, ao final de tudo, o discurso existe.
Os discursos não são apenas uma espécie de película transparente através da qual e graças à
qual enxergamos as coisas, eles não são simplesmente o espelho do que é e do que
pensamos. O discurso possui uma consistência própria, sua espessura, sua densidade, seu
funcionamento. As leis do discurso existem do mesmo modo que as leis econômicas
existem.
É claro que ela marca uma conversão total com relação àquilo que, para mim, era a
desvalorização absoluta da palavra quando eu era criança. Me parece -creio que consiste
nisso a ilusão de todos aqueles que acreditam descobrir alguma coisa- que meus
contemporâneos são vítimas das mesmas miragens de minha infância. Também eles crêem
facilmente demais, como eu fazia no passado, como se acreditava em minha família, que o
discurso, a linguagem, não é grande coisa, no fundo.
Os lingüistas, eu sei, descobriram que a linguagem é muito importante porque ela obedece a
leis, mas eles insistiram sobretudo na estrutura da linguagem, ou seja, na estrutura do
discurso possível.
Mas eu me pergunto é sobre o modo de surgimento e funcionamento do discurso real, sobre
as coisas que foram efetivamente ditas. Trata-se de uma análise das coisas ditas, na medida
em que são coisas. É isso que é o oposto do que eu pensava quando era criança.
Sinto uma impressão de veludo quando escrevo. Para mim, a idéia de uma escrita
aveludada é como um tema familiar, no limite do afetivo e do perceptivo, que não pára de
assombrar meu projeto de escrever, não pára de guiar minha escrita quando estou
escrevendo, que me permite a cada momento escolher as expressões que quero utilizar. A
doçura é uma espécie de impressão normativa para minha escrita. Assim, fico muito
espantado ao constatar que as pessoas tendem a enxergar em mim alguém cuja escrita é
seca e mordaz.
Refletindo sobre isso, acho que são elas que têm razão. Imagino que deve existir, em minha
caneta, uma velha herança do bisturi. Talvez, afinal, eu trace sobre a brancura do papel os
mesmos sinais agressivos que meu pai traçava sobre os corpos dos outros que ele operava.
Transformei o bisturi em caneta. Passei da eficácia da cura à ineficácia da livre proposta,
substituí a cicatriz sobre o corpo pela grafitagem sobre o papel, substituí o inapagável da
cicatriz pelo sinal perfeitamente apagável e rasurável da escrita. Talvez seja mesmo o caso
de ir mais longe ainda. A folha de papel, para mim, talvez seja como os corpos dos outros.
O que é certo, o que eu senti imediatamente quando, perto dos 30 anos de idade, comecei a
sentir o prazer de escrever, é que esse prazer de escrever sempre guardou um pouco de
relação com a morte dos outros, com a morte de modo geral. Essa relação entre escrita e
morte é algo do qual mal ouso falar, pois sei quanto alguém como [Maurice] Blanchot já
falou sobre coisas muito mais essenciais, gerais, profundas e decisivas do que o que eu
possa dizer agora.
Eu diria que a escrita, para mim, está ligada à morte, talvez essencialmente à morte dos
outros, mas isso não significa que escrever seria como assassinar os outros e realizar contra
eles, contra sua existência, um gesto definitivamente mortífero que os expulsaria da
presença, que abriria um espaço soberano e livre à minha frente. De maneira nenhuma. Para
mim, escrever significa lidar com a morte dos outros, sim, mas, essencialmente, significa
lidar com os outros na medida em que já estão mortos. De certa maneira, falo sobre o
cadáver dos outros. Devo confessar que, até certo ponto, eu postulo sua morte. Falando
deles, me vejo na situação do anatomista que faz uma autópsia.
Com minha escrita, eu percorro o corpo do outro, faço incisões nele, levanto os tegumentos
e as peles, procuro trazer os órgãos à tona e, com isso, fazer aparecer finalmente o local da
lesão, o local onde reside o mal, esse algo que caracterizou sua vida, seu pensamento e que,
em sua negatividade, acabou por organizar tudo o que eles foram. Esse coração venenoso
das coisas e dos homens -é isso, no fundo, o que eu sempre procurei trazer à tona.
Eu compreendo, também, porque as pessoas sentem minha escrita como uma agressão. Elas
sentem que existe nela alguma coisa que as condena à morte. Na realidade, sou bem mais
ingênuo do que isso. Eu não as condeno à morte. Simplesmente suponho que já estejam
mortas. É por isso que me surpreendo quando as ouço gritar. Fico tão espantado quanto o
anatomista que sentisse redespertar de repente, sob a ação de seu bisturi, o homem sobre o
qual pretendia fazer uma demonstração. Bruscamente, os olhos se abrem, a boca se mete a
gritar, o corpo a se retorcer, e o anatomista se espanta: "Então ele não estava morto!".
Acho que é isso o que acontece comigo em relação àqueles que me criticam ou gritam
contra mim, depois de me haver lido. Sempre é muito difícil para mim responder a eles,
exceto por uma desculpa, desculpa que eles talvez interpretem como ironia, mas que, na
realidade, é a expressão de meu espanto: "Então eles não estavam mortos!".
Você também pode gostar
- A Construção Da MasculinidadeDocumento66 páginasA Construção Da MasculinidadeCarla Cristina GarciaAinda não há avaliações
- Planilha - 058 - Relatório de Vistoria de Imóveis - 1.0Documento36 páginasPlanilha - 058 - Relatório de Vistoria de Imóveis - 1.0Francisco D Ramos JrAinda não há avaliações
- Laudo SP035590799-21 2021Documento2 páginasLaudo SP035590799-21 2021uhfduhfudAinda não há avaliações
- Carrego de EgumDocumento30 páginasCarrego de EgumNaldo Istuart0% (1)
- 02 Mironga de Zé Por Entre As Manifestações Religiosas Do PaísDocumento13 páginas02 Mironga de Zé Por Entre As Manifestações Religiosas Do PaísMarcos Queiroz100% (1)
- A Imprensa Alternativa No BrasilDocumento18 páginasA Imprensa Alternativa No BrasilCarla Cristina GarciaAinda não há avaliações
- Resumo Livro Cidades Jardins de AmanhãDocumento27 páginasResumo Livro Cidades Jardins de AmanhãVinicius TozziAinda não há avaliações
- Oracy NogueiraDocumento3 páginasOracy NogueiraCarla Cristina GarciaAinda não há avaliações
- CONTINENTE SOMBRIO. Prefácio. MAZOWER, Mark. 2001.Documento7 páginasCONTINENTE SOMBRIO. Prefácio. MAZOWER, Mark. 2001.Carla Cristina GarciaAinda não há avaliações
- As Cantigas Que A Gente Canta - Os Amores Que A Gente Quer - Ria Lemaire - 1Documento16 páginasAs Cantigas Que A Gente Canta - Os Amores Que A Gente Quer - Ria Lemaire - 1Carla Cristina GarciaAinda não há avaliações
- A Heterogeneidade Epistemológica Da Psicologia SocialDocumento134 páginasA Heterogeneidade Epistemológica Da Psicologia SocialCarla Cristina GarciaAinda não há avaliações
- Lendo Mulheres - Um Anjo em Minha MesaDocumento3 páginasLendo Mulheres - Um Anjo em Minha MesaCarla Cristina GarciaAinda não há avaliações
- As Bronte e o ColonialismoDocumento282 páginasAs Bronte e o ColonialismoCarla Cristina Garcia100% (1)
- Teoria Da HistóriaDocumento20 páginasTeoria Da HistóriaVera H. ParksAinda não há avaliações
- Atividade 09 - Será Que o Big Data Traz Grandes RecompensasDocumento5 páginasAtividade 09 - Será Que o Big Data Traz Grandes RecompensasMatheus LuisAinda não há avaliações
- Concurso TAE Edital 526-2022-Programas Provas-Cargos Nivel DDocumento14 páginasConcurso TAE Edital 526-2022-Programas Provas-Cargos Nivel DRicardo MartinsAinda não há avaliações
- IGLE Antropologia Teatral e EtnocenologiaDocumento144 páginasIGLE Antropologia Teatral e EtnocenologiaLika Rosá100% (1)
- 130-Texto Do Artigo-220-229-10-20210628Documento7 páginas130-Texto Do Artigo-220-229-10-20210628fernandoAinda não há avaliações
- Simulados - TIEXAMES - Ambiente de Ensino Virtual-2Documento5 páginasSimulados - TIEXAMES - Ambiente de Ensino Virtual-21lourencoAinda não há avaliações
- Biofísica 1 PDFDocumento236 páginasBiofísica 1 PDFSotero JacieleAinda não há avaliações
- Uma História de ResistênciaDocumento2 páginasUma História de Resistência912mhrAinda não há avaliações
- 2 Reis 20 A Doença de EzequiasDocumento2 páginas2 Reis 20 A Doença de EzequiasLuiz Marcus CondéAinda não há avaliações
- PLA-Chibuto COMPILADODocumento52 páginasPLA-Chibuto COMPILADOEfidercio FilipeAinda não há avaliações
- Verificação de Balanceiro de Válvula de Escape: Secção 6 - Revisão Mecânica Geral Série CursorDocumento30 páginasVerificação de Balanceiro de Válvula de Escape: Secção 6 - Revisão Mecânica Geral Série CursorJuarez Geronimo Da SilvaAinda não há avaliações
- 6º A GEO - Elementos Do Clima - ProfessorDocumento4 páginas6º A GEO - Elementos Do Clima - Professoreugeniarodrigues0216Ainda não há avaliações
- Resenha BOSCH, Aurora (2005) História de Estados Unidos (1776-1945) - Barcelona, Crítica. Cap. 9 Pp. 351-382Documento4 páginasResenha BOSCH, Aurora (2005) História de Estados Unidos (1776-1945) - Barcelona, Crítica. Cap. 9 Pp. 351-382Dayanewiliam AmorAinda não há avaliações
- Apostila CefetDocumento49 páginasApostila CefetJuliana JardimAinda não há avaliações
- Palestra 2 - Mercados FinanceirosDocumento12 páginasPalestra 2 - Mercados FinanceirosCarla Vanessa ZucaAinda não há avaliações
- Solicitação Nº 637341 KIARA LAURA - 226504Documento1 páginaSolicitação Nº 637341 KIARA LAURA - 226504Christofer CavalariAinda não há avaliações
- Cenários de Resposta - Unidade 4Documento15 páginasCenários de Resposta - Unidade 4Anonymous J89cuC7cGAinda não há avaliações
- GRAMSCI, Antonio. Cadernos Do Cárcere, Vol. 4Documento202 páginasGRAMSCI, Antonio. Cadernos Do Cárcere, Vol. 4carlotapsiAinda não há avaliações
- AutovalorizaçãoDocumento9 páginasAutovalorizaçãomaraAinda não há avaliações
- Módulo 004 - Rov PDFDocumento34 páginasMódulo 004 - Rov PDFPedro Guilherme SouzaAinda não há avaliações
- História de IndaiatubaDocumento19 páginasHistória de IndaiatubaArquivo Público-Fundação Pró-Memória Indaiatuba100% (1)
- TransferirDocumento7 páginasTransferirTeresa Francisco NamacurraAinda não há avaliações
- TCC - Karina NunesDocumento24 páginasTCC - Karina NunesKarina Nunes FerreiraAinda não há avaliações
- Interpretacao de Texto A Pedra No Caminho 9º Ano WordDocumento4 páginasInterpretacao de Texto A Pedra No Caminho 9º Ano WordPriscila Antunes empreendaAinda não há avaliações
- Vpap II St-A Manual Do Médico. Número ReencomendaDocumento57 páginasVpap II St-A Manual Do Médico. Número ReencomendadiegolimanaAinda não há avaliações