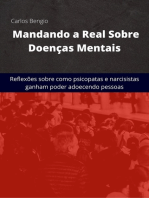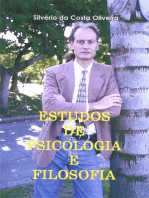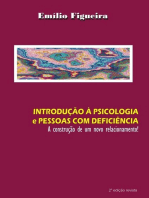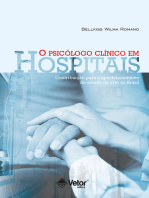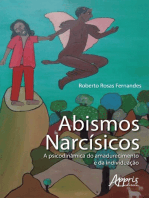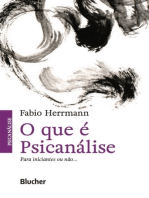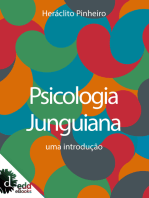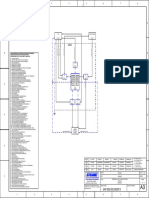Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Entrevista de C. Bollas Na Revista Percurso
Enviado por
Alvaro de Oliveira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
47 visualizações23 páginasA entrevista apresenta Christopher Bollas, um psicanalista inglês membro do Grupo Independente da Sociedade Psicanalítica Britânica. Bollas discorda das respostas usuais da psicanálise e defende que profissionais de outras áreas como literatura e artes enriqueceriam a formação psicanalítica. Ele construiu um corpo teórico consistente focado nos objetos e na antropologia da pessoa revelada através deles.
Descrição original:
Entrevista de C. Bollas Na Revista Percurso
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
ODT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoA entrevista apresenta Christopher Bollas, um psicanalista inglês membro do Grupo Independente da Sociedade Psicanalítica Britânica. Bollas discorda das respostas usuais da psicanálise e defende que profissionais de outras áreas como literatura e artes enriqueceriam a formação psicanalítica. Ele construiu um corpo teórico consistente focado nos objetos e na antropologia da pessoa revelada através deles.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato ODT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
47 visualizações23 páginasEntrevista de C. Bollas Na Revista Percurso
Enviado por
Alvaro de OliveiraA entrevista apresenta Christopher Bollas, um psicanalista inglês membro do Grupo Independente da Sociedade Psicanalítica Britânica. Bollas discorda das respostas usuais da psicanálise e defende que profissionais de outras áreas como literatura e artes enriqueceriam a formação psicanalítica. Ele construiu um corpo teórico consistente focado nos objetos e na antropologia da pessoa revelada através deles.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato ODT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 23
Entrevista de C.
Bollas na Revista Percurso
Apresentação de Christopher Bollas (por Amnéris Maroni)
Christopher Bollas natural da Califórnia é membro do Independent Group da British
Psychoanalitical Society na qual fez formação em 1973. Graduado em História pela Universidade
da Califórnia, doutorou-se em literatura pela Universidade de Buffalo e, todavia, sua formação em
humanas não responde, segundo suas próprias palavra, por sua opção pela psicanálise.
Bollas é um psicanalista deveras intrigante, pois ele discrepa das respostas usuais que outros de
sua área oferecem a questões (im) pertinentes. São muitas essas questões e eu vou chamar atenção
de duas ou três: a psicanálise, no que diz respeito à formação, se enriqueceria se profissionais do
campo das ciências humanas como filosofia, sociologia, antropologia, literatura fossem aceitos.
Sabemos que não é assim e que a formação em psicanálise esteve restrita — e ainda está — a
psicólogos e médicos e isto a enfraqueceu, tirando-lhe o brilho e a paixão que outras áreas e
outras profissões poderiam ter-lhe ofertado.
Christopher Bollas recorre a um leque imenso de autores da psicanálise — e fora dela — para
construir seu pensamento: S. Freud, W. R. Bion, D. Winnicott, Melanie Klein, André Green, J.
Lacan e, exatamente por isso, não vê com bons olhos a “guerra entre as escolas” de psicanálise;
considera essa guerra destrutiva e mesmo fascista já que cada analista que adere a uma escola vê-
se convocado a denegrir as demais. Também, não tem simpatia pela ideia de “aplicar a
psicanálise” quer no setting analítico quer nas artes, na literatura, etc. A melhor metáfora que
consigo tecer para Bollas é a de um errante, um nômade, um viajante solitário a passear e a criar
entre as várias comunidades psicanalíticas. Os participantes deste blog também se sentem à
vontade no nomadismo e, com certeza, essa é uma das afinidades que temos com Christopher
Bollas.
Com grande prática analítica e valendo-se de um imenso cabedal de autores, Bollas construiu um
corpo teórico consistente e hoje seus conceitos enriquecem a clínica contemporânea: idioma
pessoal, objeto transformacional, conhecido não pensado, objeto evocativo, introjeção extrativa, a
doença normótica, destino e fado, a sabedoria dos sonhos, etc.
Esse psicanalista criativo deu uma ênfase particular e ressignificou na prática analítica, os objetos
e, então, a materialidade do mundo. O self verdadeiro — idioma pessoal, personalidade — se
expressa e se elabora através dos objetos, objetos evocativos. O próprio analista é usado como
objeto no setting bollasiano e isso dá margem, a uma antropologia invisível, a uma antropologia da
pessoa. Os objetos escolhidos expressam o Self no plano inconsciente — sem passar pela
consciência, afirma Bollas na entrevista abaixo. A construção dessa antropologia é uma das
marcas distintivas de Christopher Bollas, pois com o seu pensar, a materialidade do mundo,
ganhou uma dignidade até então desconhecida na psicanálise.
A entrevista abaixo publicada na Revista Percurso[1] por ocasião da vinda de C. Bollas ao
Brasil é uma boa oportunidade para entrarmos em contato com esse psicanalista idiomático. Nós
a escolhemos por que todas as questões aí discutidas foram aprofundadas e radicalizadas nas
entrevistas posteriores e nos muitos livros escritos por Bollas.
Amnéris Maroni.
Revista Percurso
Pulsional Impiedoso e Receptividade materna.
Percurso: O senhor poderia nos contar sobre sua trajetória intelectual transitando da literatura e da
história para a psicanálise?
Bollas: O fato de esta revista ter uma vertente psicanalítica francesa me leva a uma resposta muito
particular. Não há possibilidade de responder a sua questão por que qualquer coisa que eu diga a
esse respeito seria falso. Como alguém se torna psicanalista? Quais são as linhas de tal
desenvolvimento? É muito difícil dizer. A verdade é que é impossível saber como isso ocorre. Não
há uma ligação entre meus estudos de literatura e de história e a psicanálise. Não há nem uma
ligação no plano do conteúdo manifesto que possa fazer sentido. Eu não decidi aos 21 anos que para
me tornar psicanalista seria preciso primeiro passar pelos estudos de história e de literatura (“jogarei
futebol”, “depois beisebol”) para chegar à psicanálise. Em algum momento da minha carreira me
dei conta que havia alguns pontos de ligação entre as primeiras escolhas e a minha vocação atual,
porém não acredito que sejam passíveis de uma descrição fiel com o ocorrido. Portanto essa questão
quando feita por um analista para um outro não tem resposta, não pode ter! A verdade é que
ninguém pode responder a esse tipo de questão. Para respondê-la pode-se apenas fornecer uma série
de racionalizações: estive em Berkeley, estive estudando história, trabalhei dentro do contexto do
século XVII tentando caracterizar a Nova Inglaterra e aí recorri à psicanálise para melhor entender
meu assunto. Entretanto, além dos estudos, eu era um jovem que foi em busca de uma análise.
Vejam essa é uma outra trajetória; meus estudos incluíam a filosofia francesa, um pouco de Freud –
essa é uma outra trajetória. Assim poderíamos traçar 25, 50, 100 trajetórias diferentes e
parcialmente simultâneas. Como bem sabem, é impossível saber como alguém se torna um
psicanalista.
Percurso: A questão parece ser sobre a relação entre modo de olhar e pensar como psicanalista que
criou uma certa obra e sua trajetória intelectual. Por exemplo, à luz do seu comentário de que
“talvez necessitemos de uma nova visão na psicanálise clínica, semelhante a um tipo de
antropologia da pessoa”. Quais poderiam ser as decorrências dessa antropologia ou clínica
psicanalítica?
Bollas: Eu disse isso em resposta a um problema particular de um paciente que é psicótico e que
passa de uma instituição a outra e em que a tarefa do psicanalista é a de registrar uma história
cuidadosa que inclua uma antropologia da pessoa, especialmente sobre as origens dos primeiros
momentos psicóticos. Esses devem ser anotados detalhadamente por que sua história tende a
esvanecer-se no decorrer do tempo, durante o qual o paciente passa de uma instituição a outra
contando sua história para diferentes médicos de cada um dos hospitais nos quais é internado.
Perderemos sua história tornando-nos cínicos como no caso de crianças que são transferidas de sua
família para uma segunda e depois uma terceira… Nós, que trabalhamos nas instituições de saúde
mental, contribuímos para a cronificação da psicose no paciente.
Portanto, quando o psicanalista é o primeiro a encontrar o paciente na sua primeira internação,
quando se trata do primeiro contato do paciente com o hospital, o analista tem uma tarefa muito
especial: ele deve saber que é necessário escrever minuciosa e detalhadamente a história da pessoa e
a antropologia da doença para que passem a ser parte do prontuário do paciente que será transferido
de uma instituição (consultório) para outra, pois o paciente compreende nesse início algo sobre seu
mundo mas ele perderá com o tempo, a capacidade de contar sua história e, na realidade, começará
a esquecê-la à medida que sua psicose progredir. Algo sobre seu mundo, mas ele perderá, por isso
eu disse, de uma maneira muito particular, que o psicanalista deve funcionar como um antropólogo.
Numa outra direção, eu diria, que cada paciente é um idioma e esse idioma cria, de fato, seus
objetos e seleciona seus objetos particulares — mentais, humanos, inanimados. Essa é a inteligência
das escolhas e também é uma cultura peculiar — e que deve ser estudada. Nesse sentido, a
psicanálise é um tipo de trabalho antropológico. Entretanto, lembro-lhes que usei essa metáfora para
descrever uma função particular.
Penso também que a psicanálise, no que diz respeito à formação, sofre da ausência de uma maior e
melhor participação de profissionais do campo das ciências humanas, como a filosofia, a sociologia,
a literatura e também do mundo das artes, como a música e as artes plásticas e a poesia. Houve uma
alta concentração de pessoas que vêm da medicina e da psicologia. Elas têm muitas contribuições a
fazer. Mas, se a psicanálise quer sobreviver para sempre, é preciso, do meu ponto de vista, que ela
seja transmitida por pessoas que têm a capacidade de escrevê-la bem, ensiná-la bem, e que tenham
um comprometimento geral e uma paixão para com ela. No momento, talvez não no Brasil, mas na
Europa e na América do Norte, não existe um amor pela psicanálise dentro dos departamentos de
psicologia e de psiquiatria. Ela está morrendo por que as disciplinas majoritárias são hostis a ela, de
modo que ela não consegue sobreviver nesses departamentos. Mas sempre houve um grande
interesse pela psicanálise nos departamentos de literatura. No entanto, as instituições, os agentes
oficiais e as sociedades psicanalíticas mantiveram uma desconfiança e uma atitude hostil para com
essas entidades. Esse fato é trágico, é horrível, mas isso é um outro assunto.
Percurso: Sua atenção para a expressão e revelação do self em cada momento, através de cada
situação e dos objetos concretos da vida cotidiana do paciente, não apontariam para um modo
particular de investigação antropológica na clínica?
Bollas: Sim. Eu diria que na escuta sim. Podemos ver isso, em teoria, como um tipo de
antropologia. Lamentavelmente — depende de como queremos olhar para isso — a maneira por
meio da qual o analista acolhe o uso que o paciente faz dele enquanto objeto é tão inconsciente que
acaba sendo uma antropologia invisível, que nunca foi vista, nunca foi escrita, nunca foi encontrada
e, no entanto, tal antropologia existe. Somente em momentos muito particulares esse uso do analista
se torna evidente. Isso ocorre, mas raramente entra na consciência. É extremamente difícil
visualizar, no plano consciente, o uso que o sujeito faz das pessoas enquanto objetos.
Percurso: O Senhor escolheu o Grupo Independente. Sabemos que nos anos 1940 ser independente
significava uma posição diante das controvérsias entre Anna Freud e Melanie Klein. No entanto, ser
independente foi também uma metáfora para uma posição psicanalítica. Com Lacan e outros, a
psicanálise criou outros espaços que não somente o das sociedades oficiais internacionais. O que
significa hoje ser um analista independente?
Bollas: Primeiro, antes de ir para a Inglaterra, para a British Psychoanalytical Society, eu estava
interessado nos trabalhos de Melanie Klein, do mesmo modo que estava interessado nos de
Winnicott, de Masud Khan e outros. Decidi pelo Grupo Independente porque o analista que escolhi
pertencia a esse grupo, de forma que a escolha do grupo foi uma consequência da escolha do
analista. É a regra! Entretanto, penso que seria provável que logo fosse escolher o grupo dos
independentes. Os analistas desse grupo são de dois tipos: um dos quais inclui aqueles que se
chamam também do meio (Middle) porque não querem pertencer ao grupo kleiniano ou ao grupo
clássico de Anna Freud. Portanto, como consequência, acabam entrando no Middle Group, como
refugiados de outros grupos. Entretanto, eles não têm um interesse particular pela tradição
intelectual como aquela erigida pelas linhas de pensamento traçadas por Winnicott, Marion Milner,
Khan, Michael Balint e outros.
É uma linha de pensamento muito particular que nem sempre é promovida pelos membros do grupo
aos quais estou me referindo — algo que não ocorre do lado dos kleinianos. Embora houvesse um
desejo de achar alguma solução para os conflitos dentro da British Society, eles eram, do meu ponto
de vista, tão intensos que a mentalidade dos analistas independentes, inclusive aqueles que há pouco
havia mencionado, era de não querer se envolver, não querer sustentar uma posição nessa guerra
entre os convictos. A minha evolução foi tomando rumo à independentização da British Society e
isso pela seguinte razão: decidi que não queria que o grupo kleiniano fosse meu Outro.
Se você pertence à British Society, e nesse caso não importa quem você seja, clássico ou
independente, o grupo para o qual você é obrigado a prestar contas é sempre o grupo kleiniano.
Achei que isso ia destruir a minha criatividade. Eu não queria falar para os dogmáticos. Para mim,
essa conversa nunca é criativa. Portanto, escolhi não ter uma participação profunda na British
Society para não ferir minhas aquisições. Escolhi manifestar-me contra os movimentos oficiais
dentro da psicanálise. Sou contra qualquer forma de kleinianismo, lacanismo, winnicottianismo,
com exceção do freudismo. Sou contra o desmantelamento do corpo e do espírito da teoria de Freud
e a criação dessas igrejas com seus bispos e papas; penso que esse fenômeno é destrutivo. Por outro
lado, sou a favor da concentração do pensamento em torno de textos, como os textos importantes de
Melanie Klein, de Bion, de Lacan e de Heinz Kohut. É preciso que sejam estudados e transmitidos
por pessoas que são capazes de ensiná-los, elaborá-los e comunicá-los para outros.
Há uma diferença enorme entre esse tipo de tornando-a um movimento que adquire força nas coisas
através da tentativa de destruir o pensamento de outra escola. Essa guerra entre escolas destrói a
psicanálise assim como a nossa crença no efeito de uma psicanálise pessoal, porque se você faz
parte de um movimento — que eu temo que seja um movimento fascista, no final das contas —, se
você participa dele em nome de Melanie Klein, Lacan, Winnicott, etc., como poderia justificar sua
análise, já que tal conduta significa um verdadeiro repúdio do caminho que você escolheu para sua
vida, enquanto analisando e analista? Algumas pessoas decidiram dizer que na política não há
função para a psicanálise e, portanto, permitem-se distorcer, atacar, denegrir a escola e o
pensamento do outro com a intenção de eliminá-lo. Esse fato me levou, três anos atrás, a quebrar
meu silêncio. Botei a boca no mundo, através dos meus livros e comunicações, porque, do
contrário, a psicanálise não sobreviverá.
Percurso: Nosso departamento foi fundado sobre um princípio pelo qual o senhor vela. Entretanto
demo-nos conta de que é impossível estar aberto a todas as correntes de pensamento psicanalítico.
Existe sempre uma pressão para constituir-se em torno de uma única linha de pensamento e isso cria
problemas entre as diferentes tendências.
Bollas: Penso que a diferença não é um problema, ao contrário, é um testemunho de força. A
diferença entre analistas evidencia a força do grupo. A questão é quanto à mentalidade operante e ao
modo pelo qual as diferenças estão sendo negociadas. Se as diferenças estão sendo expressas com
inteligência e com a ingênua busca de conhecimento, com o interesse de explorar e desenvolver o
pensamento, penso que é possível permanecer mesmo quando há seis ou dez opiniões diferentes na
sala. Isso é saudável. Não estou falando sobre isso, mas sobre o esforço consciente de destruir a
integridade pensante do outro. Existe no movimento psicanalítico atual uma tentativa deliberada de
desacreditar, distorcer, diminuir e anular as diferenças. Isso é um fascismo, um genocídio
intelectual.
O que é diferente dos conflitos, da angústia que resulta das diferenças intelectuais, pois esses
últimos trabalham a favor do desenvolvimento do pensamento. Nesse sentido, a história intelectual
da psicanálise não é diferente de outros movimentos. Na literatura, na filosofia houve brigas e
aviltamentos parecidos. Entretanto, adquirimos, pelo próprio trabalho psicanalítico, uma
compreensão consciente sobre nossa própria destrutividade. Nosso envolvimento nesses tipos de
movimentos dentro da psicanálise significa uma anulação da própria análise pessoal de cada um de
nós. É a razão pela qual assistimos hoje dentro da psicanálise a uma baixa estima, uma espécie de
depressão e descrença, uma crise iminente em relação à psicanálise. Parece que perdemos a fé no
movimento enquanto tal. É uma questão complicada e que requer um tempo mais longo para lidar
com ela de modo apropriado.
Percurso: Em seu texto “Pondo em palavras e relatando a sexualidade” [Revista Brasileira de
Psicanálise, v. 30, número 3, 1996], o senhor faz uma afirmação sobre o uso da voz do analista ser
tão importante quanto aquilo mesmo que ele comunica ao paciente. A voz precisa ser flexível o
suficiente para ajudar a trazer e a sustentar adequadamente a força das pulsões nas palavras do
analista. O senhor poderia estender-se mais sobre isso?
Bollas: Na vida cotidiana, a voz veicula a realidade psíquica da fala. O significante por si só não
pode fazer isso! No mundo simbólico, conforme o sentido que Lacan lhe atribui, existe essa
veiculação, porém há múltiplos níveis de significação e a voz pode mudar o significante. Por
exemplo, frases simples como “sirva-se, por favor” podem provocar muitas coisas. Dependendo da
entonação, pode significar simplesmente o convite para se servir, ou, numa outra — severa e
repreendedora — implicaria, “você foi guloso e já se serviu antes mesmo que o convidassem para
fazê-lo”. É por isso que digo que a voz é o retorno segundo do significante.
A voz humana é a mais importante comunicação da realidade psíquica. Veicula a mentalidade. A
mentalidade é o contexto do momento. É impossível, é verdade, registrá-lo, isto é, escrever sobre a
função, o lugar e a dimensão da voz na situação analítica, entretanto ela é crucial para a apreensão
da regularidade desta. Penso que é impossível saber o quão bom analista foi, por exemplo, Lacan, a
menos que você tenha sido seu analisando. Caso tenha sido, e afirme em seu favor, é porque você
foi ajudado pela sua voz, transformado pela sua voz e engajado pela sua voz. Do contrário, ninguém
pode comentar sobre a capacidade de um analista na situação clínica a menos que tenha sido o
destinatário de sua voz no lugar de analisando. Falo então sobre um aspecto ordinário da vida
cotidiana, uma das partes mais importantes da vida humana.
Penso que é de grande valia se pudermos voltar e reconsiderar o caráter da situação da supervisão
neste contexto. Refiro-me às dimensões negativas dessa situação na qual o paciente está sendo
apresentado pelo analista para o grupo de supervisão e onde há, infelizmente, um tipo de
estimulação para que o analista faça o seu relato em voz padrão (standard), que é — citando André
Green — uma voz morta, a voz da mãe morta. A padronização da voz é certamente mortífera para a
própria realidade psíquica.
Percurso: Não só na voz, mas na escrita também existe uma tendência parecida cuja razão se deve
em parte à formação padrão do analista. O senhor, por exemplo, chegou a dizer para um paciente
que ele era louco, o que é uma fala pouco standard.
Bollas: Relatei no meu livro um momento no qual dizia para um paciente que ele era um monstro.
Acho importante contar o que fazemos, como trabalhamos, assim como quais são os momentos
turbulentos que passamos com nossos pacientes. Sei que ao publicar tais incidentes acabo me
expondo a uma série de atitudes desagradáveis nas quais estou sendo ridicularizado e denegrido
pelos colegas, porém, no final das contas, penso que é importante para mim, e sem dúvida para os
outros, saber que fomos honestos, que fomos íntegros em nosso trabalho e que não fizemos algo
com o paciente para estar de acordo com um certo padrão de trabalho que foi ditado pela instituição
com a qual estamos identificados. O dogma significa o fim da psicanálise. Isso é algo que sempre
devemos lembrar.
Portanto, proponho pôr fim ao kleinianismo, ao lacanismo, etc. É importante estudar os trabalhos
desses autores e daqueles que tiveram uma boa leitura deles. Estranha-me o fato de esses
comentários serem encarados com tanta surpresa; penso que muitos psicanalistas trabalham assim
com seus pacientes, mas talvez tenham medo de mostrar seus trabalhos para os outros. Por outro
lado, é lamentável que às vezes os psicanalistas digam ou mostrem isso ao mesmo tempo que surge,
em seu discurso, algo como um acting-out (atuação) de um tipo de celebração da singularidade, um
apontamento narcísico (“vejam como sou diferente dos demais”).
Nesse sentido, os três heróis da psicanálise das últimas gerações — Lacan, Bion, Winnicott —
exageraram e muito, seus idiomas, dando demasiada ênfase às suas diferenças dos outros, a ponto
de levarem os membros dos respectivos grupos, a atuarem em favor de seus grupos. Fato que os
levou a se cindirem de sua própria criatividade idiomática. Os líderes incorporaram a necessidade
do grupo para pôr em cena, atuar, o idioma da psicanálise, mas eles vão longe demais e convidam,
de uma maneira bastante irônica, a um tipo de marginalização. É preciso que a psicanálise ordinária,
comum, seja escrita cada vez mais por psicanalistas provenientes de muitas partes do mundo de
modo a torná-la mais acessível e diminuir a angústia imensa em torno da escrita e da discussão da
psicanálise.
Percurso: Em seu livro Forças do destino [Imago, 1992], o senhor aponta para a celebração do
analisando pelo analista e vê nisso um dos importantes operadores de uma análise sem deixar de
criticar qualquer tipo de gratificação do desejo do analisando. O senhor poderia nos falar mais sobre
isso?
Bollas: A voz humana é afeto no sentido de que está carregada de emoções. A questão, portanto,
não é a de conter ou não emoções em nossas vozes, mas a do que significa quando não se veiculam
emoções através das nossas vozes. O assassinato da voz em prol da padronização da psicanálise
deve parar. Não temos outra opção, pois sempre celebramos um ao outro através das nossas vozes.
Não sei se usei no meu livro o seguinte exemplo: trata-se de um caso apresentado na Itália, no qual
uma criança expressava um ambiente sem vida através de desenhos (objetos inanimados e aparelhos
de televisão e vídeo) até desenhar uma aranha. O terapeuta fez um comentário sobre a aranha,
porém celebrar o fato de que a aranha era e foi a primeira representação pulsional desse paciente.
Eu disse que, quando o paciente fez a aranha, teria sido importante recebê-lo com um grito de
surpresa, “aaah… uma aranha”, como celebração da instauração de um novo estado pulsional, que
trouxe a vida no desenho e na sessão. Não celebrar é falhar na decodificação da significância do
gesto da criança naquele contexto. Não falamos com nossos filhos com vozes mortas, mas dirigimo-
nos a eles com nossos afetos. Penso que isso vale também para os adultos quando estamos lhes
respondendo através das nossas vozes. Por exemplo, quando nos deparamos com a resistência de
pacientes inteligentes que desfazem nosso esforço interpretativo podemos dizer: “Mais uma vez
você está desmantelando a interpretação e me leva a sentir um certo cansaço dentro de mim”. É
possível dizer isso para o paciente. Mas quando se trata de uma desconstrução particularmente
brilhante por parte do paciente, é importante elogiar e dizer com surpresa: “Ah…você ganhou, você
realmente conseguiu me tapear, fez um trabalho brilhante, mostrou o quanto sou bobo”. Para além
da forma viva de comunicação, percebe-se aqui a importância do conteúdo por meio do qual se
assinala ao paciente como ele obtém prazer em manipular e triunfar sobre o analista e outras coisas.
Após a partida do paciente, é muito importante para mim refletir sobre a pós vida da sessão no
paciente. Eu me pergunto se ele está tendo reflexões animadoras e confortantes sobre a hora que
passamos juntos, ou se carrega dentro dele algo como um objeto maligno de forma a sentir-se
destruído e re-destruído pelo horrível comentário lançado pelo analista e que o mata a cada
momento que passa. Num outro caso, pode parecer que algo muito importante lhe foi dito, atingindo
um sítio que nele é íntegro, porém a forma da comunicação não lhe permitiu viver e conciliar-se
com ela.
Percurso: Como diferenciar sua concepção de uso que o paciente faz do analista enquanto objeto
daquele da identificação projetiva, utilizado pelos kleinianos?
Bollas: O objeto kleiniano baseia-se no modelo do corpo da mãe, ou seus seios, de modo que
quando se trata de projeção, o conceito kleiniano do uso do objeto é um uso transferencial. Eles
sempre pensar sobre o que o paciente coloca dentro da mãe, ou dentro do analista na identificação
projetiva. Portanto, o uso de objeto é considerado por eles nessa dimensão particular de pegar uma
parte do seu self e colocá-la dentro do objeto. É um modo de comunicação. Essa descoberta é de
extrema importância. A teoria kleiniana da identificação projetiva e a maneira como foi por eles
elaborada é uma das maiores descobertas na história intelectual. O modo profundo e sofisticado
pelo qual a descrição do seu funcionamento foi demonstrada, articulada e refinada é uma das
grandes conquistas do nosso tempo. Minha concepção do uso do objeto é diferente. A dos
kleinianos tem a ver com uma atuação de uma relação entre o self e o outro, ou o bebê e sua mãe,
que se manifesta na sessão. Bion moveu as coisas um pouco mais adiante quando introduziu as
funções interagindo entre si dentro da personalidade, apontando também para a existência de fatores
que determinam tais funções pela interação entre eles. Com isso, Bion deu um passo em direção a
uma conceptualização mais genérica.
Minha visão é de que a criança, o bebê e especialmente o adulto usam todos os objetos do mundo
como um tipo de léxico para a liberação do self, para a elaboração da inteligência das formas da
personalidade, e, portanto, trata-se de um modo de usar os objetos que possa liberar o idioma
singular de cada pessoa. Eu incluo qualquer objeto através do qual seja possível obter a evidência
de certos padrões peculiares da organização da vida. Imaginemos que tivéssemos à nossa disposição
um museu onde as primeiras salas abrigassem os artigos e objetos da infância de um certo indivíduo
de forma que estivessem penduradas na parede obras contendo partes do corpo da mãe que
constituem os interesses eróticos, e que são também fontes de angústia para a criança.
Essas salas conteriam outros objetos como brinquedos, objetos inanimados e animais que
promovem o desenvolvimento da criança, além dos quadros das representações dos objetos internos
da criança. E assim passando de uma ala para outra presenciaríamos uma exposição que traçaria
sucessivamente os estágios da vida humana. Seria um museu que requereria dias para ser explorado.
Imaginem ser visitantes desse museu e que vocês estão assistindo a um movimento idiomático
daquele indivíduo através de todas as formações potenciais dos objetos vivos – um tipo de
assinatura estética daquele sujeito. É isso que entendo por uso do objeto: usamos objetos para
expressar o self no plano do inconsciente, e isso não passa pela consciência.
Da mesma forma, quando alguém entra em uma livraria, coloca-se, enquanto sujeito, através
daquele livro que abre e do tempo que lhe dedica. Se tivéssemos um jeito de obter um historial
dessa atividade (visita à livraria) de um certo indivíduo ao longo de cinco anos, obteríamos –
novamente, uma antropologia – a cultura privada e singular de interesse e uso daquela pessoa. É um
exemplo muito superficial, já que não inclui uma atenção mais profunda aos modos de uso do
objeto, como, por exemplo, qual livro o indivíduo de fato comprou, o que escolheu para ler, o que
apreende e o que não apreende nele, porque, como disse Blanchot, durante a vida e o uso dos
objetos há, ao mesmo tempo, um movimento do nada (nothingness) que sempre é o companheiro
das pulsões de vida. Se continuarmos com essa metáfora veremos uma seleção muito particular de
objetos, um uso muito particular dos objetos selecionados e um não uso também muito particular
desses objetos.
Penso que nossos pacientes nos usam dessa maneira. Entretanto, somos objetos de uso muito mais
complexo, de forma que o manejo desse uso se assemelha às infinitas modalidades com as quais se
usa um instrumento numa orquestra sinfônica, que é um modo de se pensar e se expressar enquanto
sujeito. É o que o paciente faz com o analista, e este, por sua vez, traz uma resposta, profundamente
inconsciente, ao idioma do paciente. Por ser inconsciente, nada sabemos ou compreendemos sobre
ela. Sabemos que ela existe, sentimo-la como se fosse uma impressão (marca) deixada em nós, e
lembrem-se de que Freud sempre falou sobre as impressões da infância — isso é muito importante,
pois nossos pacientes imprimem algo em nós. Vejam então que a concepção que trago do uso de
objeto é muito diferente da identificação projetiva nos kleinianos. É interessante pensar na ligação e
na diferença entre tais concepções. Nesse sentido, posso contar uma historinha: minha esposa
mexeu no ano passado nas monografias que escrevi durante minha graduação, há mais de vinte
anos, e me chamou a atenção para o fato de que a teoria das formas que venho apresentando
atualmente encontra-se embrionária naqueles trabalhos. Ela me disse: “Você já disse isso, está se
repetindo!”.
Percurso: É o seu idioma?
Bollas: É o meu idioma! Voltando à teoria da identificação projetiva, ela ignora justamente a
integridade dos objetos, aquilo que chamo de integridade processual do objeto, de forma que o
objeto tenha um efeito particular sobre nós e não que a gente projete partes nossas dentro dele,
sendo ele um continente para tais projeções. As teorias se aproximam porque nenhuma identificação
projetiva pode ser bem-sucedida a menos que o continente seja apto para conter as projeções — o
que supõe que aí exista uma compreensão inconsciente da integridade do objeto. Porém, nesse caso,
a integridade do objeto não é um fator subsequente do efeito sobre o self: durante a vida lidamos
com objetos que tem um efeito evocativo sobre nós, e isso é importante por permitir, como eu disse
numa palestra, irmos para além da posição depressiva.
Percurso: A teoria que o senhor propõe é centrada no self. O senhor poderia definir, em poucas
palavras, o que é o self?
Bollas: Escrevi um ensaio chamado “What is this Thing Called Self” que se encontra em meu
último livro, Cracking up [Hardcover, 1995]. Como vocês sabem, é uma questão muito difícil de
responder. Penso que temos uma percepção endopsíquica de nosso idioma, que significa que não
podemos descrever nosso self, mas podemos sentir e ter alguma noção sobre o fato de que somos
peculiares, que somos guiados por uma inteligência que, ao nível inconsciente, toma conta de nós.
Portanto, há um sentido endopsíquico do próprio self. Novamente a ênfase é sobre o sentido do self;
acredito na existência desse sentido do self — sentido endopsíquico — o qual é particular ao
homem. Esse termo, sentido (sense), foi usado durante séculos e, no entanto, não me parece perder
seu valor de uso, porque tem justamente, do meu ponto de vista, a função de tentar nomear algo que
é inominável. É uma das palavras que tem vida porque nunca pode haver uma definição para ela.
Caso encontrássemos uma tal definição, perderíamos seu valor de uso.
Percurso: O senhor criou uma série de conceitos em relação à origem do self, entre os quais a
pulsão de destino. Qual seria a relação entre essa pulsão, a da destrutividade de Winnicott e o Trieb
de Freud?
Bollas: Existe uma relação nítida entre esses conceitos. Penso que o Trieb, a pulsão freudiana, é
impiedosa (ruthless) é implacável quanto à escolha: o objeto pode ser escolhido ou ignorado por
ela, não há meio caminho. A teoria de Winnicott sobre o uso de objeto é igualmente uma teoria que
fala da implacabilidade, isto é, o objeto deve ser usado de maneira a possibilitar que o self seja
verdadeiro consigo mesmo. A pulsão de destino é uma teoria um pouco mais complexa. Trata-se da
tentativa de identificar as necessidades e o prazer da própria representação. Isso acarreta a urgência
de se auto articular. É a razão pela qual essa pulsão deve ser igualmente implacável, não se
curvando a qualquer acordo ou compromisso; ela é inconciliável. Novamente, entramos na livraria e
passamos pelas estantes onde se encontram os livros de Jane Austen, Brontë, Dickens…Não vamos
ler um pouco de cada um dos autores ou vamos decidir que hoje não daremos uma olhada neste ou
naquele livro.
No entanto, não nos desculparemos para com os objetos que não vamos usar, mas nos dirigiremos
para o lugar onde temos, inconscientemente, um interesse por um certo objeto que possa ser
encontrado. Na vida sexual, quando se pensa sobre a atração humana, a escolha deve ser sempre
implacável, isto é, o homem escolhe uma mulher ou uma mulher escolhe um homem em relação ao
qual se vê atraída, compelida — um lugar onde surge uma verdadeira paixão. Quando a escolha do
objeto não é implacável (ou impiedosa), mas feira de acordo com a sensação de que o cônjuge é
uma boa pessoa, acreditando que o amor aparecerá com o passar do tempo, eu digo “talvez”, mas na
maior parte das vezes isso não ocorre, porque a implacabilidade é vital para a realização do idioma
do self — implacabilidade que caracteriza a pulsão freudiana, o uso do objeto, segundo Winnicott, e
segundo a minha pulsão de destino.
Percurso: Qual seria a substância última no homem dessa positividade do gesto espontâneo, do
verdadeiro self? A espontaneidade é algo fenomenológico ou…
Bollas: Não creio numa substância para a espontaneidade do verdadeiro self. O que existe aí é o
movimento. Se quisermos ver aí uma substância, ela está em movimento. No Esboço de psicanálise
[Imago, 1996], Freud disse que a libido é motilidade, de forma que estamos falando de movimentos,
não de espaços. É o movimento que rege o verdadeiro self. Mas quando vocês me perguntam sobre
seu núcleo, de onde vem, qual é o seu caráter original, eu penso que é muito difícil definir. A
analogia que uso para isso é novamente a inteligência das formas, o idioma é uma inteligência. De
onde surge então uma inteligência? Trata-se, obviamente, da genética, em parte, mas a genética
dimensiona apenas um código na medida em que se mistura com a realidade, na medida em que se
transforma pela vivência com os pais e na medida em que nela abriga mentalidades.
Acredito, portanto, na genética enquanto predisposição livre para o código humano com o qual cada
indivíduo chega ao mundo, e isso é uma lógica das formas, ou melhor, um conjunto de teorias a
partir das quais as formas são determinadas. Penso que é justamente esse fator que foi
negligenciado nas construções teóricas de Lacan porque ele não pôde ver qual é a base da unidade
mãe-bebê. Ele disse que essa unidade é uma ilusão, que ela não existe. Por isso ele vê apenas um
self em pedaços no estágio do espelho, de forma que supõe uma alienação básica do sujeito a
perpetuar-se também no decorrer de sua evolução, etc. Concordo com quase tudo que ele diz até o
ponto onde eu percebo uma comunicação inconsciente profunda entre mãe e o bebê que ocorre no
nível do encontro entre as formas de um com a do outro. É essa inteligência, é esse caráter que não
foi incluído nem no modelo conceitual de Lacan e nem em nenhum outro, e é essa omissão que é
preciso corrigir.
Percurso: O senhor desenvolveu a noção de inconsciente receptivo dentro da qual apreendeu o
trabalho materno utilizando-se de metáforas como conceber, engendrar, dar à luz, diferentemente
das metáforas paternas freudianas que põem o acento sobre o recalque e a dominação. O senhor
poderia desenvolver um pouco mais essa questão?
Bollas: A teoria de Freud sobre o recalque surge em nome do pai. Também a história desse nome
tem a ver com a força do censor, do proibido, e a interdição pelo pai contra as ambições sexuais
indesejáveis. Os franceses têm se centrado sobre o complexo de castração, sobre as origens do
recalque e, consequentemente, sobre a formação do inconsciente enquanto conteúdo cujos
complexos resultantes atraem para si, pela via associativa, representações levando a uma sorte de
colonização do vecú (o vivido) pelo conteúdo do recalcado. Em decorrência disso, o recalque tende
a retornar pela via do deslocamento. Mas, ao mesmo tempo, há uma outra formação do
inconsciente, que não está relacionada com o trabalho do recalcamento, mas com o da recepção,
cujo paradigma deriva-se da relação que a mãe tem com o bebê e que opera também enquanto ação
inconsciente entre ambos.
Quando a mãe diz “venha até mim”, o que transmite é “levarei você para dentro de mim”. Lacan e
outros referem-se, de fato, à experiência na criança do desejo da mãe. A busca do objeto pequeno a
nada mais é do que uma busca da identidade do self dentro da mãe. Na nossa vida inconsciente
funcionamos, em relação ao vivido, sob um princípio que é muito diferente do da teoria do
recalcamento. Na recepção estamos procurando no ambiente objetos do desejo que trazemos para
dentro do self, gerando malhas, redes que constituem os nossos interesses ou investimentos. Todos
esses interesses e suas respectivas malhas inconscientes correspondem a complexos que eu chamo
de gêneros, que penso serem as bases que fundam a intuição humana. Como esta brota das
fronteiras maternas, eu uso sempre e deliberadamente metáforas maternas, como as de conceber,
disseminar — o sêmen do pai sendo concebido na mãe — dar à luz.
Quero assim inserir, na teoria, elementos do corpo materno e da maternidade, porque é importante
que eu transmita o que estou pensando. Há uma dualidade, uma tensão no inconsciente entre as
formações que resultam do recalcado e outras que são fruto do trabalho da recepção. Freud não
compreendeu as segundas, mesmo se sua teoria sobre o trabalho dos sonhos é a conceitualização
mais sofisticada sobre o trabalho do universo materno. Entretanto, a não conceitualização da relação
mãe-bebê não lhe possibilitou estabelecer a ligação entre a teoria da formação do sonho e o trabalho
de recepção. Alguns de seus sonhos mostram o sonho como processamento do recalcado, enquanto
a maior parte deles mostra o desejo dentro do self se concentrando em direção à vida lá fora —
trata-se de interesses que se desenvolvem, se nutrem e se mantêm ao longo do dia para, em seguida,
formarem os sonhos. Essa parte ele não conseguiu enxergar. Nas minhas pesquisas sobre essa
problemática, não encontrei muita coisa na teoria psicanalítica.
Comecei então a consultar os diários e cadernos de notas de compositores, artistas plásticos, poetas,
escritores e cientistas. Encontrei uma grande e impressionante concordância entre eles sobre a
natureza das suas inspirações. Alguns zombam de mim dizendo que a ideia estava aí sem que
precisassem trabalhar sobre ela: pois é, há sempre um Mozart que não parece ter medo de persistir e
apenas trabalhar. A vasta maioria desses criadores fala de um tipo de luta envolvendo um interesse e
uma sensação de que algo está ocorrendo dentro do self. Alguns cientistas sonharam sua teoria, ela
lhes foi apresentada em sonho; outros sentiram durante o trabalho de criação que estavam num
estado sonhante. O inconsciente do qual se trata aqui é que detém a inteligência das formas que
Freud, em algum lugar, entendeu, pois é essa inteligência que rege o trabalho do sonho e por meio
do qual os sonhos são formados. No entanto, ele não propõe nenhuma teoria sobre a experiência do
self que seja sustentada, teoricamente, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento psíquico.
Percurso: O seu livro A sombra do objeto [Imago, 1987] faz pensar que o senhor procura
caracterizar uma clínica do século XX que é diferente da de Freud. No entanto, em seus seminários,
o senhor recorre bastante ao modelo da histeria.
Bollas: É preciso que se diga duas coisas sobre o livro. A sombra do objeto é uma coletânea de
artigos escritos ao longo de quinze anos — alguns foram escritos no começo dos anos 1970 e outros
no começo dos anos 1980. Como outros jovens analistas por volta de seus trinta anos, tive longas
jornadas de trabalho, de doze a quinze horas, incluindo os sábados. Eu tinha também uma família e
uma esposa trabalhava de manhã, de forma que eu ficava com as crianças nesse período e, portanto,
trabalhava até muito tarde da noite porque precisava ter dinheiro. Eu tinha dez minutos entre um
paciente e outro, além de ter um caderno por perto – o que me possibilitava tomar notas sobre
qualquer coisa que atraía meu interesse ou que surgia em mim durante o atendimento. A escrita de
artigos era possível apenas nas manhãs dos domingos, quando tinha quatro a cinco horas para isso.
Nessas horas eu sempre pensava sobre algo que me intrigava em relação a um certo paciente.
Todos os ensaios do livro foram redigidos na máquina de escrever, e tive que adotar o seguinte
princípio: precisavam ser escritos numa única versão, sem revisão, pois eu não dispunha de tempo
para isso. Se eu não seguisse essa regra, jamais teria publicado os artigos que compõem esse livro.
Eram imperfeitos, imprecisos, é verdade, mas de qualquer forma iam diretamente para o envelope e
eram encaminhados para o International Journal of Psychoanalysis ou outras revistas. No entanto,
esses ensaios constituíam para mim momentos epifânicos no trabalho com os pacientes. O ato da
escrita representava o advento de uma realização muito importante para meu trabalho clínico.
Quando iniciava a semana com o paciente sobre o qual havia escrito no domingo, sentia que tinha
captado em relação a ele algo de muito importante. Escrever, naqueles dias, se aproximava muito da
noção de realização de Bion que leva a uma nova concepção: aprendia um conceito de algo sobre o
qual eu havia tido antes uma pré-concepção no trabalho clínico.
Os pacientes mais difíceis eram aqueles aos quais dedicava a maior parte do tempo. Muitos deles
eram psicóticos esquizofrênicos, maníaco-depressivos e fronteiriços graves. Eu não tinha interesse
pela problemática da histeria ou as da personalidade obsessiva, pois, para ser franco, eu achava que
eu as compreendia — raramente me intrigavam e, de qualquer modo, nunca como o faziam os casos
difíceis. Quando tive tempo de escrever — e isso foi em 1985, quando passei dois anos nos Estados
Unidos, onde eu ensinava, atendendo um número muito restrito de pacientes, — pude fazer revisão
dos meus ensaios. Ao voltar para a prática psicanalítica em Londres, em 1987, eu passei a aceitar
pacientes que, embora bastante perturbados, não chegavam a ser psicóticos. Eu não recebia mais
pacientes esquizofrênicos ou maníaco-depressivos. Alguns foram ligeiramente psicóticos quando
jovens, mas conseguiram ultrapassar essa fase crítica. Esse fato me permitiu repensar alguns
assuntos. Quero dizer também que durante o período que relatei acima, 1972-1985, a carga horária
não me possibilitava ler — ter família e trabalhar quinze horas por dia, seis dias da semana, não
permite isso. Só depois de 1985 é que tive tempo de ler, especialmente Bion e mais Lacan, de forma
que meu interesse tomou outra direção.
Percurso: Parece-me que o senhor encontrou um fundo histérico nos casos tanto de psicose como
nos fronteiriços que lhe foram apresentados durante os seminários clínicos que acompanhávamos
estes dias com o senhor…
Bollas: Não, não…constatei apenas que pacientes que foram considerados como fronteiriços não
são fronteiriços, mas histéricos. Distingo entre os dois. Acho que existe uma grande diferença entre
o histérico e o fronteiriço. Concentrei meus recentes trabalhos, e os seminários que apresentei aqui,
em torno da histeria. Estou escrevendo um livro sobre a histeria por várias razões: por motivos de
ordem sociológica houve no mundo clínico, entre os psicanalistas, uma perda de contato com a
histeria. Um colega da Inglaterra, Giora Cohen, disse, há dez anos, que ninguém sabe mais o que é a
histeria. Giora foi a primeira pessoa no mundo anglo-americano que acionou o alarme dizendo:
“Gente, o que está acontecendo aqui”? Ele tinha razão, pois todo o mundo, com a exceção dos
franceses, deixou de se indagar sobre a natureza da histeria.
Na França sempre houve um interesse muito particular pela histeria. Entretanto, algumas
contribuições francesas tornaram-se tão arcanas, tão obscuras, de forma a dificultarem a
possibilidade de acompanhar as linhas de pensamento dos respectivos autores. Embora houvesse
um centramento em torno da histeria no pensamento psicanalítico francês, não houve uma
transmissão adequada desse esforço. O crédito dos franceses é que eles mantiveram a histeria
sempre em mente: o complexo de castração está no coração de seu pensamento, e você não pode
pensar nele sem pensar na histeria.
Percurso: Quanto ao panorama psicopatológico atual, o senhor poderia nos dizer sobre a parcela
dos histéricos na sua clínica?
Bollas: Penso que houve um aumento do número das personalidades histéricas nesses últimos dez
anos. Trata-se de pessoas que eram crianças dez anos atrás e que estão agora por volta dos vinte
anos — refiro-me ao mundo anglo-americano, mas penso que esse fenômeno existe em outros
lugares também. Entretanto, penso que histéricos existiam também há quinze ou vinte anos, talvez
em número menos do que hoje, porém expressando-se e aparentando serem fronteiriços,
esquizofrênicos ou narcisistas, porque percebiam inconscientemente que esse era o nosso desejo —
já que o histérico tem sensibilidade especial para o desejo do outro. A partir dos 1950, os
psicanalistas privilegiaram os casos fronteiriços e os esquizofrênicos. Como o histérico sempre
soube ler o desejo do outro e consequentemente realizar o nosso desejo, tornaram a ser narcisistas,
fronteiriços e esquizofrênicos. Minha teoria é a de que no histérico você vai encontrar aquele que
quer encontrar — narcisistas, fronteiriços e esquizofrênicos, porém ele acaba se denunciando, já que
existem modos de pensar e de atuar que são peculiares apenas ao histérico. Eles se escondem por
detrás de outras personalidades, mas acabam se entregando por ações que lhes são peculiares.
Percurso: O senhor fez seu doutoramento sobre Melville. Qual é, segundo o senhor, o destino e o
significado da busca de Moby Dick?
Bollas: Melville brinca com essa jornada ou com essa caça de maneiras diferentes e inacreditáveis.
Encontramos nessa busca todas as metáforas e todas as dimensões da vida humana. No meio à
escrita de Moby Dick ele começou a ler o Rei Lear. Decidiu, então, reescrever seu próprio livro a
fim de incluir o Rei Lear, de forma que as sombras de Lear estão em Moby Dick. Engaja-se também
na questão kantiana sobre o real — onde está o real? Como e porque você lida com a coisa em si
constitui, em parte, o alvo da busca na qual Ahab se engajou. Enquanto muitas personagens lhe
aconselhavam “Esqueça Moby Dick, ela não existe, está apenas na imaginação, tente curti-la
enquanto tal, deixe de procurá-la”, ele permanece nessa caça e, no final do livro, Ahab encontra o
objeto real, encontra Moby Dick, e os dois morrem juntos.
Existe no livro um capítulo inteiro sobre a mãe e Queequeg — Queequeg suga o leite dos seios da
mãe, criando um mar de leite, mas em certo momento é ferido e o sangue mistura-se com o leite.
Melville explora isso também. Num outro capítulo um homem corta o pênis da baleia, coloca-o
sobre seu corpo e passeia com ele sobre um barco. Melville explora um número inacreditável de
fenômenos registrando-os em vários níveis que são também versões alegóricas da sociedade
americana. Tornei a escrever sobre ele na minha tese de doutorado porque — e isso não sabia na
época, me dei conta muito depois — quando tinha onze anos e nadava em uma das praias da
Califórnia, uma baleia aproximou-se de mim aterrorizando-me imensamente.
Depois fiquei muito aliviado por ter sido poupado da sua caça. De qualquer forma, penso que esse
incidente tem evocado conteúdos inconscientes extremamente fortes dentro de mim que
permaneceram lá, e mesmo quando lidei com esses assuntos na minha tese não me dei conta de que
estava elaborando algo que me aconteceu aos onze anos de idade. A tese permitiu então um acesso
para a perlaboração das dimensões inconscientes que diziam respeito a mim. Impressiona a maneira
como Melville faz a passagem de um romance que se desenrola num mar, fundamentalmente
alegórico, para outro que é puramente doméstico — um irmão, uma irmã ilegítima, uma mãe e um
pai numa pequena cidade —, uma alternativa diametralmente oposta ao mundo do mar, mas ele os
escreveu na sequência. É fascinante o modo de transformação de uma realidade para outra!
REVISTA PERCURSO
Christopher Bollas
Introduction by Amnéris Maroni
Christopher Bollas was born in California. He takes part in the Independent Group, which is linked
to the British Psychoanalitical Society, where he concluded his formation in 1973. He graduated in
History, at the University of California, and earned his PhD in Literature, at the University of
Buffalo. Nonetheless, his formation in the humanities does not account — in his own words — for
his choosing of psychoanalysis.
Bollas is such an intriguing psychoanalyst inasmuch as he steers away from the usual answers
provided by his colleagues while dealing with some (im)pertinent questions. Those questions are
multiple and multifaceted, and here I am going to focus on two or three only. First of all, the
psychoanalysis, concerning the formation process, would be considerably upgraded if the
professionals in the field of the humanities such as philosophy, sociology, anthropology, and
literature, were welcomed. We know that things do not usually follow this path, and that the
formation in psychoanalysis has been kept quite secluded and almost invariably reserved to
psychologists and clinicians. This state of affairs has weakened psychoanalysis, keeping it from
fully benefitting the shine and passion other areas and practices would have provided it.
Christopher Bollas takes advantage of a wide range of psychoanalytical authors — of others from
outside the field — in order to build up his thinking: S. Freud, W.R. Bion, D. Winnicott, Melanie
Klein, André Green, J. Lacan, and, precisely because of that, he does not appreciate the “wars
among psychoanalysis schools”. He regards such “war” as a destructive one, even a fascist one, for
each psychoanalyst who aligns with one school is compulsory called on to denigrate the remaining
ones. Bollas also does not approve of the idea of “applying psychoanalysis” whether it is in the
analytical setting, in the arts, in the literature, etc. The best metaphor I can come up with to describe
this author is that of a wonderer, a nomad type, a solitary traveler, walking about and creating
among several psychoanalytical communities. The participants in this blog also feel comfortable
with the nomadism approach, and that is, surely, one of the affinities we share with Bollas.
With the analytical practice, and making use of a vast set of authors, Bollas has built a consisting
theoretical body. Today, his concepts enrich the contemporary clinic: the personal idiom, the
transformational object, the unknown known, the evocative object, the extractive introjection, the
normotic illness, destiny and fate, the wisdom of dream, etc.
This creative psychoanalyst has put special emphasis on and ressignified the analytical practice, the
objects, and, then, the materiality of the world. The true self — personal idiom, character —
expresses and elaborates itself by means of objects, evocative objects. The analyst himself/herself is
used as an object in the Bollasian setting, and that gives rise to an invisible anthropology, an
anthropology of the person. The chosen objects express the self in the unconscious level — without
going through the conscience, says Bollas in the interview bellow. The making of that anthropology
is one of Bollas’s distinctive brand, for it has been through his thinking that the materiality of the
world has acquired such a dignity until then unknown to psychoanalysis.
The following interview, published in Percurso Magazine, in the occasion of Bollas’s visit to Brazil,
is a great opportunity for all of us to get in touch with this idiomatic psychoanalyst. We have chosen
it because all the questions debated in it have been deepened and radicalized in the subsequent
interviews given by the author, and in the many books he has written since then.
Amnéris Maroni
INTERVIEW WITH CHRISTOPHER BOLLAS
PULSIONAL MERCILESS AND MOTHERLY RECEPTIVITY
PERCURSO: Could you tell us your intellectual trajectory, going from history and literature to
psychoanalysis?
BOLLAS: The fact that this magazine has a French bearing drives me to a very particular answer:
there is no possibility of answering your question because anything I could say in this respect would
be false. How could anybody become a psychoanalyst? Which are the guidelines for such
development? It is very difficult to say. The truth is that is it impossible to figure out how it
happens. There is not a link connecting my studies in literature with my studies in history and with
those in psychoanalysis; there is not a connection in the plane of content that would make sense. I
did not decide, at the age of 21, that in order for me to be a psychoanalyst it would be necessary to
go through the studies in history, after that in literature (“I’ll play soccer, then baseball”), to get at
the psychoanalysis.
Somewhere in my career, I realized that there were some linking points among my first academic
choices and my current vocation, but I do not believe they are liable to a faithful description of what
end up happening. Therefore, this question, formulated by one analyst to another, does not have an
answer, it cannot have! The truth is that nobody can answer a question such as that one. To answer
it, one can only provide a sequence of rationalizations: I’ve been at Berkeley, I’ve been studying
history, I’ve worked in the context of the seventeenth century, trying to characterize New England,
then I resort to psychoanalysis so that I could better understand my subject… However, besides
those studies, I was a young man who looked for an analysis — see, this is another trajectory; my
studies comprised the French philosophy, a little bit of Freud — this is another trajectory. Thus, we
could track 25, 50, 100 different and partly simultaneous trajectories; as you know quite well, it is
impossible to figure out how someone end up being a psychoanalyst.
PERCURSO: The question seems to be about the link between the way you look at the world and
the way you think, as an analyst, who created a certain work and your intellectual trajectory. For
instance, having in mind your comment that “maybe we need a new view of the clinic
psychoanalysis similar to a type of personal anthropology”, what could be the outcomes of such
anthropology in the psychoanalytical clinic?
BOLLAS: I said that in response to a patient’s specific problem, someone who is psychotic and
was sent from one institution to another, when the analyst’s task is to register a careful history,
which includes a personal anthropology, especially on the origins of the first psychotic moments.
These moments must be described in details, because its history tend to fade away over time during
which the patient goes from an institution to another, telling his history to different clinicians in
each one of the hospital where he is registered. We would lose his history, becoming ourselves
cynical, as in the case of children who are transferred from the original family to a second, then a
third… We, who work in the mental health institutions, contribute to the cronification of the
psychosis in the patient.
Therefore, When the psychoanalyst is the first to encounter the patient in his first entrance in the
health centre, in the very first contact of the patient with the hospital, the analysts has a very special
task: he must know that it is necessary to write a minute and detailed personal history and
anthropology of the disease so that they become part of the patient’s form***, which will be
transferred from one institution (clinic) to another. For, on this onset, the patient understands
something about his world, but he will lose, within time, his ability to tell his history and, in reality,
he will start to forget it, as long as his psychosis goes on. For this reason, I said, in a very particular
fashion, that the psychoanalyst must function as an anthropologist in that situation.
On a different direction, I would say that each patient is an idiom, and this idiom creates, in fact, its
objects, and selects his particular objects — mental, human, and inanimate. This is the intelligence
of the choices, and of a peculiar culture — derived from these choices —, which must be studied. In
this sense, psychoanalysis is a sort of anthropological work. However, I remind you that I used that
metaphor to describe a particular function.
I also think that psychoanalysis, concerning the formation, suffers from the absence of a major and
better participation of the professionals from the humanities, such as philosophy, sociology,
literature, and from the world of art, such as music, the fine arts, and the poetry. There was a high
concentration of people who come from medicine and from psychology. They have many
contributions to give. But, if psychoanalysis wants to survive for ever, it is necessary, from my point
of view, that it must be transmitted by people skilled enough to write it well, to teach it well, and
people with a general commitment to it, as well as a passion for it.
At the present, maybe not in Brazil, but in Europe and North America, there is not a passion for
psychoanalysis inside the departments of psychology and psychiatry. It is dying because those
major disciplines are hostile to it, in such a way that it cannot survive in those departments.
However, there have always been a keen interest for psychoanalysis in the departments of literature.
Nevertheless, the institutions, the official agents, and the psychoanalytical societies have kept a
suspicion and an unfriendly attitude towards those entities. This fact is tragic, it is horrible, but this
is another subject.
PERCURSO: You pay attention to the expression and revelation of the self, in every moment,
through each situation and the concrete objects from the patient’s daily life; wouldn’t it point to the
particular mode of anthropological investigation in the clinic?
BOLLAS: Yes. I would say that in the listening, yes. We can see it, in theory, as a sort of
anthropology. Regrettably — depending on how we want look at it — the manner, with which the
analyst welcomes the use the patient makes of him as an object, is so much unconscious, that end up
being an invisible anthropology, which was never seen, was never written, was never found, and,
nonetheless, such anthropology does exist. Only on very peculiar moments, this use of the analyst
becomes clear. It happens, but rarely does it enter the conscience. It is extremely difficult to
visualize, in the conscious plane, the use the subject does of the people as objects.
PERCURSO: You chose the Independent Group. We know that in the 40’s to be independent meant
to take a position between Anna Freud and Melanie Klein. However, to be independent it was also a
metaphor for a psychoanalytical position. With Lacan and others, psychoanalysis created other
spaces that are not only the official international societies. What does it mean, nowadays, to be an
independent analyst?
BOLLAS: First, before I went to England, to the British Psychoanalytical Society, I was interested
in Melanie Klein’s works in the same way I was interested in Winnicott’s works, Masud Khan’s
works and others’. I made up my mind for the Independent Group because the analyst I chose
belonged to this group; so, the choice of the group was a consequence of the choice of the analyst. It
is the rule! However, I think that it would be likely that soon I would choose the independent group.
The analysts in these groups fall in two categories: one that includes those who also call themselves
the middle, because they do not want to belong to the Kleinian group or to the classic group of Anna
Freud. Therefore, consequently, they end up entering the Middle Group, as refugees from other
groups. However, they do not have a particular interest in the intellectual tradition of the
independent founding group, such as those raised by the line of thoughts drawn by Winnicott,
Marion Milner, Khan, Michael Balint and others.
This is a line of thought so particular that it is not always promoted by the members of the group to
which I am referring to — something that does not take place on the Kleinian side. Although there
was a wish to find some solution to the conflicts inside the British Society, they were, in my point
of view, so intense that independent analysts’ mentality, including those to whom I’ve just referred,
was a mentality toward non engagement, towards not holding a position in that war among the
indoctrinated. My evolution unfolded towards the independence process undergone by the British
Society as a whole. I had been always walking on its margins. I rarely went to its scientific
meetings. I am very grateful to my formation inside the Institute of Psychoanalysis, but I was never
active inside the British Society, due to the following reason: I decided I did not want the Kleinian
group to be my Other.
If you belong to the British Society, in that case, it does not matter who you are, classic or
independent, the group to which you are obliged to respond to is always the Kleinian group. I
thought it would destroy my creativity. I did not want to speak to the dogmatic people. To me, this
conversation never is creative. Then, I chose to manifest myself against the official movements
inside psychoanalysis. I am against any kind of Kleinianism, Lacanianism, Winnicottianism, with
exception of the Freudianism. On the other hand, I am in favour of the concentration of thoughts
around texts, such as the important texts by Klein, by Bion, by Lacan, and by Heinz Kohut. It is
necessary that they are studied and transmitted for people who are capable of teaching them,
elaborate them, and transmit them to the others.
There is a huge difference between this type of centering and this belonging to a school, making it a
movement that acquire force in things through the attempt to destroy the thinking of another school.
This war against schools destroys psychoanalysis in the same way it destroys our belief in the effect
of the personal psychoanalysis, because if you belong to a movement — I’m afraid that it might be
a fascist movement, after all — if you take part in it in the name of Melanie Klein, Lacan,
Winnicott, etc., as you could justify your analysis, once such behaviour would mean a true
repudiation of the path you chose for your life, as analysant and analyst? Some people opted to say
that in politics there is not any function for the psychoanalysis, therefore, they allow distortions,
attacks, denigrations, against the school and the thought of the other, with the intention to eliminate
him. This fact made me — three years ago — to speak out. I spoke out, through my books and
communications, because, otherwise, psychoanalysis will not survive.
PERCURSO: Our department was founded on a principle defended by you. However, we figured
out that it was impossible to be open to all the psychoanalytic thoughts of all the other schools.
There is always some pressure to gather around a single train of thought, and that creates problems
among the different trends.
BOLLAS: I think that the difference is not a problem; conversely, it is a testimony of force. The
difference among analysts testifies to the group’s strength. The question should be about the
working mind-set and about the way by which the differences are negotiated. If the differences are
expressed with intelligence, and with an ingenuous search for knowledge, with the interest in
exploring and developing the thinking process, I believe it is possible to go on even when there are
six or ten different opinions in the same room. This is healthy. I am not talking about that, rather, I
am referring to the conscious effort to destroy the thinking integrity of the other. There is, in the
current psychoanalytical movement, a deliberate attempt to discredit, to curtail, and to do away with
the differences. This is a kind of fascism, a cultural genocide.
That is different from the conflicts; from the anguish that comes out of the intellectual differences,
for these latter contribute to the development of a sound thinking process. In this sense, the
intellectual history of psychoanalysis is not different from the other movements. In literature, in
philosophy there have been similar quarrels and debasements. However, we have, through the very
psychoanalytical work, a conscious grasp of our own destructiveness. Our involvement in these
movements inside psychoanalysis means the annihilation of our own personal analysis inside each
one of us. That is the reason why we witness, nowadays, inside psychoanalysis, a low esteem, a sort
of depression and disbelief, an impending crisis related to psychoanalysis. It seems that we have
lost the faith in the movement as such. It is a complex issue, which demands a longer time to cope
with it, in a proper fashion.
PERCURSO: In your text “Putting in words and reporting the sexuality” [Brazilian Psychoanalysis
Magazine, v.30, number 3, 1996], you make a statement about the use of the analyst’s voice being
as important as that very message that he communicates to the patient. The voice should be flexible
enough to help to bring up and keep adequately the force of the pulsions in the analyst’s words.
Could you, please, say something else about that?
BOLLAS: In the everyday life, the voice yields the psychic reality of the speech. The signifying,
by itself, cannot do that! In the symbolic world, according to the sense that Lacan give to it, there is
this conveyance, but there are multiple levels of signification and the voice can change the
signifying. For instance, simple sentences such as “please, help yourself” they might convey many
things. Depending on the intonation, such sentence can simply mean an invitation to oneself to
serve up, or, in a different intonation — a severe and reproaching one –, it could mean “you were
gluttonous and have already served yourself up without even been invited to”. That is why I say that
the voice is the return of the signifying.
The human voice is the most important communication of the psychic reality. It conveys the
mentality. The mentality is the context of the moment. It is impossible, surely, to register the
context, I mean, to write about the function, the place and dimension of the voice in the analytic
situation, however, the voice is crucial to the understanding of the singularity of the context. I think
it is impossible to know how good an analyst was Lacan, for example, unless one has been his
analyst. In case you have been his analyst, and state that in your favour, it is because you were
helped by your voice, transformed by your voice, and engaged by your voice. On the contrary,
nobody can comment on an analyst’s ability, in a clinic situation, unless one has been the receptor
of analyst’s voice, in the place of the analysant. I speak, then, about an ordinary aspect of the daily
life, one of the most important parts of the human life.
I think it is of great value for us to go back reconsider aspect of the situation of the supervision in
this context. I refer to the negative dimensions of this situation in which the patient is introduced by
the analyst to a supervisory group, where, unfortunately, there is a type of stimulus so that the
analyst makes his report with a standard voice, that is, to quote André Green, “a dead voice, a dead
mother’s voice”. The standardization of the voice is doubtlessly lethal to the very psychic reality.
PERCURSO: Not only the voice, but in writing there also is a similar trend whose reason derives,
partially, from the analyst’s standard formation. You, for instance, told a patient that he was crazy,
which is not so standard approach.
BOLLAS: I reported in my book a moment when I told a patient that he was a monster. I think it is
important to tell what we do, how we work, as well as what are the stormy moments we experience
with our patients. I know that by making such incidents public, I end up exposing myself to a series
of disagreeable attitudes in which I am vulnerable to derision and vilification by some colleagues,
but, in the end of the day, I think it is important to me, and certainly to many others; it is important
to know that we have been fair and square, we have been straightforward in our work, and we
haven’t done anything with the patient only to be in line with a certain working standard that was
dictated by the institution with which we are connected. The dogma means the end of
psychoanalysis. This is something we must always bear in mind.
Therefore, I propose to put an end to the Kleinianism, to the Lacanianism, etc. It is important to
study this authors’ works, and of those who had interpreted them fairly. On the other hand, it is
regrettable that, sometimes, some psychoanalysts say or show it at the same time that comes up, in
their speech, something as an acting-out of a sort of celebration of the singularity, a narcissist note
like “Look how different I am from everybody else!”.
In this sense, the three heroes of psychoanalysis for the last generations — Lacan, Bion, Winnicott
— overstated, excessively, their idioms, putting too much emphasis on their differences in relation
to one another, to the point of making the members of the respective groups act exclusively in
favour of their own groups. It has made them lose touch of their own idiomatic creativity. The
leaders have incorporated the group’s need to rehearse and act out the idiom psychoanalysis, but
they go too far and invite, in a very ironic manner, a sort of marginalization. It is necessary that the
ordinary, the usual psychoanalysis be written, more and more, by psychoanalysts coming from
different parts of the world so that it will be more accessible, and to lessen the huge anguish around
psychoanalytical writings and discussions.
PERCURSO: In your book Forces of Destiny, you point to the celebration of the analysant by the
analyst, and you see in it one of the important factors of an analysis at the same time that you
criticize any kind of the analysant’s wish gratification. Could you tell us something else about that?
BOLLAS: The human voice is affection in the sense that it is loaded with emotions. The issue,
then, is not about refraining or not the emotions in our voices, but about what it means when there is
not emotions conveyance through our voices. The killing of the voice in the name of standardization
of psychoanalysis must stop. We do not have another option, because we always celebrate one
another through our voices. I do not know if I used in my book the following example: it is about a
case occurred in Italy, in which a child expressed a lifeless environment through her drawings
(inanimate objects and TV sets and videos) even drawing a spider. The therapist made a comment
about the spider, but without celebrating the fact that the spider was the first representation of life
inside the child. It was the first pulsional representation in that patient.
I said that when the patient drew the spider, it would be important to welcome it with an expression
of surprise, “oh…a spider!”, as a celebration of the beginning of a new pulsional state, one that
brought life into the drawing and into the session. By failing to celebrate is the same of failing to
decode the meaning in the child’s gesture in the context. We do not talk with our children using
dead voices, but we address them by using our affections. I think it also applies to adults when we
are responding to them through our voices. For instance, when we face a smart patient’s resistance
that dismantle interpretative effort, we might say: “Once again you’re dismantling the interpretation
and making me feel a certain tiredness inside me.” It is possible to say that to the patient. However,
when it comes to a particularly brilliant deconstruction carried out by the patient, and important to
praise and reply, with surprise: “Oh…you won, you really tricked me, you did a brilliant job, you
showed how silly I am.” Beyond a lively form of communication, one notices here the relevance of
the content by means of which one signals to the patient how she gains pleasure by manipulating
and triumphing over the analyst and other things.
After the patient leaves, it is very important for me to think over the post-life session in the patient.
I ask myself if she is having exciting and comforting reflections on the hour we spend together in
the session, or if she carries inside her something as a malign object so that it makes her feel
destroyed and re-destroyed by the terrible comment made by the analyst, something that kills her at
every passing moment. In a different case, it might seems that something quite important has been
said, hitting the very spot in her that is integrate, but the way it was communicated didn’t allow her
to live and reconcile with herself.
PERCURSO: How can one differentiate your conception of the use that the patient makes of the
analyst as an object from the use of the projective identification applied by the Kleinians?
BOLLAS: The Kleinian object bases itself on the model of the mother’s body, or her breasts, so
that when it comes to projection, the Kleinian concept of the use of the objects is a transferential
use. They always think about what the patient put inside the mother, or inside the analyst, in the
projective identification. Therefore, the use of object is considered by them in this particular
dimension of catching a part of your self and putting it inside the object. It is a mode of
communication. This discovery has a vital importance. The Kleinian theory of projective
identification, and the manner how they elaborated it, was one of the biggest findings in the
intellectual history. The profound and sophisticated mode by which the description of its working
was shown, articulated, and refined, ended up being one of the greatest conquests of our time.
My conceptualization of the use of the object is different. The Kleinian’s conceptualization has to
do with an actualization of a relation between the self and the other, or the baby and its mother,
which comes up in the session. Bion moved things a little bit forward when he introduced the
functions interacting among themselves within the personality, pointing also to the existence of
factors that determine such functions through the interaction among them. Thus, Bion took a step in
the direction of a more generic conceptualization.
My view is that the child, the baby, and especially the adult use all the objects of the world as a kind
of lexicon for the liberation of the self, for the elaboration of the grasping of personality forms;
therefore, it is about the use of objects that might set free the singular idiom of each person. I
include any object by which it might be possible to obtain the evident of certain peculiar patterns of
the organization of life. Let us imagine that we have, at our disposal, a museum where the first
rooms would store articles and objects related to a certain individual’s childhood; hanging on the
walls there would be the works containing the mother’s body parts, which have erotic interests that
are sources of anguish for the child, as well. Those rooms would have other objects such as toys,
inanimate objects, and animals, which promotes the child’s development, besides some paintings
with representations of the child’s internal objects. Therefore, going from one ward to the next, we
would witness an exhibition that would trace, successively, the stages of the human life. It would be
a museum, which would require days to be fully explored. Imagine you are the visitor in such
museum and that you are watching an idiomatic movement of that individual through all the
potential formations of the living objects — a kind of the subject’s aesthetic signature. That is it
what I see as the use of object: we use the objects to express the self in the plane of the unconscious,
and that does not goes through the conscience.
Similarly, when somebody steps into a bookstore, puts herself, as a subject, through that book that
she opens and through the time, she engages in reading it. If we had a way to obtain a track record
of such activity (visit to the bookstore) of a certain individual throughout a five-year period, we
would get — again, an anthropology — that person’s private culture and singular interests. It is a
very superficial example, since it doesn’t include a deeper attention to the modes of use of the
object, such as, for instance, what book the individual did bought, what he did chose to read, what
he understood and what he didn’t understand; because, according to Blanchot, during a lifetime and
the use of the objects there is, simultaneously, a movement toward the nothingness which is always
a companion of life’s pulsions. If we go on with this metaphor, we will see a very particular
selection of objects, a very particular use of the selected objects, and a very particular non-use of
these objects.
I think that our patients use us in this fashion. However, we are much more complex objects of use,
so that the handling of this use is similar to the infinite modalities with which one uses an
instrument in a symphonic orchestra that is a way of thinking and of expressing oneself as subject.
That is what the patient does with the analyst, and the analyst, by her turn, brings an answer, an
unconscious one, to the patient’s idiom. Because such answer is unconscious, we do not know or
understand anything about it. We know it does exist, we feel it as if it was a scar left on our skin —
and remind the Freud talked about impressions from the childhood — that is very important, for our
patients imprint something on us.
You see, now, the conception I have of the use of the object is very different from the projective
identification preached by the Kleinians. It is interesting to think about the connection and the
difference between these conceptions. So, I can tell you a story: last year, my wife was looking
through the monographies I wrote during my under graduation, more than twenty years ago, and she
draw my attention to the fact that the theory of the forms, which I have presented lately, can be
found in its embrionary shape in those works. Then, she told me: “You already said that, and you’re
repeating yourself!”
PERCURSO: That is your idiom…
BOLLAS: That is my idiom! Back to the theory of projective identification, it ignores precisely the
integrity of the objects, something I call the procedural integrity of the object, so that the object has
a particular effect on us; it is not the case that we project our parts inside the object, making it just a
continent for such projections. The theories come close because no projective identification may
succeed unless the continent is able to contain the projections — that implies the existence of an
unconscious comprehension of the integrity of the object. Nevertheless, in this case, the integrity of
the object is not a subsequent factor of the effect on the self: during the life, we deal with objects,
which do not have any evocative effect on us, and this is important, as I said on a lecture, for us to
go beyond the depressive position.
PERCURSO: The theory you propose if centred on the self. Could you define, in a nutshell, what
is the self?
BOLLAS: I wrote an essay titled “What is this thing called Self”, which can be found in my book
Cracking-up. As you know, it is a very difficult question to answer. I think we have an endopsychic
perception of our idiom, that means that we can’t describe our self, but we can feel and have some
clue about the fact that we are peculiar, that we are guided by an intelligence that, at the
unconscious level, take care of us. Therefore, there is an endopsychic sense of our own self. Again,
the emphasis should be put on the sense of the self; I do believe in the existence of this sense of the
self — an endopsychic sense —, which is particular to the man. This term, sense, was used
throughout centuries, and, nonetheless, I do not think it has lost its utility, because it precisely has,
from my standpoint, a function that is to try to name something that is unnameable. It is one of
those words, which have its own life because there cannot be a definition for it. Were we to find
such definition, we would lose its utility, its value of use.
PERCURSO: You created a range of concepts linked to the origin of the self, among them, the
pulsion of the destiny. What would be the relation between this pulsion, the Winnicottian
destructiveness, and Freud’s Trieb?
BOLLAS: There is a clear relation among these concepts. I think that the Trieb, the Freudian
pulsion, is ruthless, implacable as to the choice: the object may be chosen or ignored by it, there is
no third way. Winnicott’s theory on the use of object similarly speaks of an implacability, that is, the
object must be used so that it makes possible for the self to be true to itself. The pulsion of destiny
is a theory a little bit more complex. It is about the attempt to identify the needs and the pleasure of
the very representation. It brings about an urgency to self-articulate. That is the reason why such
pulsion should be equally relentless, not bending itself toward any agreement or commitment; this
pulsion is irreconcilable. Again, we step into a bookstore and go by the shelves containing the books
by Jane Austen, Brontë, Dickens… We are not going to read a bit of each one of these authors or we
are going to decide that today we will not take a look at this or at that book.
Yet, we will not apologize for the objects that we are not going to use, but we will move towards a
place where we have, unconsciously, an interest in a certain object that might be found there. In
sexual life, when we think about human attraction, the choice must always be implacable, that is,
the man chooses a woman, or a woman chooses a man, in relation to whom she feels attracted,
compelled — a place where a true passion comes up.
When the choice of the object isn’t implacable — or ruthless — but made in accordance to the
feeling that the espouse is a good person, believing that love is going to show up with the passing of
time, I say “maybe”, but most of the times it doesn’t happen, because the implacability is vital to
the actualization of the idiom of the self — implacability which characterizes the Freudian pulsion,
the use of the object, according to Winnicott, and according to my pulsion of destiny.
PERCURSO: What would be the ultimate substance in man of this positivity of the spontaneous
gesture, of the true self? Spontaneity is something phenomenological, or…
BOLLAS: I do not believe in a substance for the spontaneity of the true self. What does exists here
is the movement. If we want see here a substance, it is in the movement. In the Psychoanalysis
Draft, Freud said that the libido is mobility, so we are talking about movement, not spaces. It is the
movement what rules the true self. However, when you ask me about its nucleus, where it comes
from, what is its original character; I think it is quite difficult to define. The analogy I use for that
purpose is, again, the intelligence of the forms; the idiom is a kind of intelligence. Where does this
intelligence spring up from? Obviously, it is linked to the genetics, in part, but the genetics outlines
only a code as long as it is transformed by the experiences with the parents, and as long as this
genetics shelters mentalities.
I believe, therefore, in genetics as free predisposition to the human code with which each individual
arrives at this world, and that is a logic of the forms, or rather, a set of theories from which the
forms are determined. I think that it was exactly this factor that was neglected in Lacan’s theoretical
constructions once he was not able to see what the basis of the unit mother-baby is. He said that this
unit is an illusion, that is does not exist. Then, he sees only a fragmented self, in a mirror stage, in a
way that he assumes the subject’s basic alienation, which perpetuates itself throughout her
evolution, etc. I agree with almost everything that he says to the point where I notice a deep
unconscious communication between mother and baby, something that takes place at the level of
the encounter between the forms of one with the forms of the other. It is this intelligence, this
character that was not included neither in Lacan’s conceptual model nor in any other model, and
this omission has to be corrected.
PERCURSO: You developed a notion of receptive unconscious within which you apprehended the
motherly work, using metaphors such as to conceive, to engender, to give birth to, differently from
the Freudian fatherly metaphors, which emphasize the repression and the domination. Could you
tell us something about that?
BOLLAS: Freud’s theory about repression appears comes up in the name of the father. The history
of this name also has to do with the force of censorship, of prohibition, and the interdict carried out
by the father against the undesirable sexual ambitions. The French theoreticians have focused on the
castration complex, on the origins of the repression, and, consequently, on the formation of the
unconscious as a content whose resulting complexes attract to itself, via association, the
representations, what leads to a sort of colonization of the vecú (lived experience) by the repressed
content. Due to this phenomenon, the repression tends to come back via dislocation. But, at the
same time, there is another formation of the unconscious, which is not connected to the work of
repression, but is linked to the work of reception, whose paradigm derives from the relationship the
mother has with the baby and that operates as an unconscious action between them, as well.
When a mother says: “Come to mommy!”, what she conveys is “I’ll take you inside me”. In fact,
Lacan and others refer to the experience of the mother’s desire in the child. The search for the little*
object is nothing else than the search for identity of the self inside the mother. In our unconscious
life, we function, in relation to the lived experience, under the principle that is very different from
that of the theory of repression. In the reception, we are looking for objects of desire in the
environment, objects that we bring into the self, generating meshes, networks that make up our
interests and investments. All these interests and its respective unconscious meshes correspond to
complexes, which I call genres, what I think to be the founding basis of human intuition. Once the
intuition springs up from the motherly boundaries, I always deliberately use motherly metaphors,
such as those of conception, dissemination — the father’s semen being conceived in the mother —,
giving birth.
So, I want insert, in the theory, elements of the maternal body and of motherhood, because it is
important that I transmit efficiently what I am thinking. There is a duality, a tension in the
unconscious among the formations resulting from what is repressed, and others, which result from
the work of reception. Some of your dreams show them as the processing of what is repressed,
while most of them show the desire inside the self, focusing itself on the direction of the outside life
— it has to do with interests that unfold themselves, nourish themselves, and keep themselves
throughout the day in order to make up the nightly dreams. This part, Freud could not see. In my
researches on this issue, I could not find much information in the psychoanalytical literature.
Then I started to look up the diaries and copybooks written by composers, plastic artists, poets,
writers, and scientists. I found a huge and impressive concordance among them about the nature of
their inspirations. Some people sneer at me by saying that the whole idea was over there without
being necessary to work on it: well, there is always a Mozart who does not seem to be afraid of
persisting and just working. The vast majority of these creators speaks of some sort of struggle
involving an interest and an sensation that something is going on inside the self. Some scientist
have dreamt of their theories, which have been presented to them while dreaming; others have felt
themselves as if they were in a dreamlike state while they were engaged in their creative work.
The unconscious we are talking about here is something that carries the intelligence of the forms
that Freud, somewhere, understood, because it is this intelligence what rules the work of the dream
and it is by means of such intelligence that the dreams are formed. However, he does not propose
any theory about the experience of the self, a theory that could be sustained, moreover, in relation to
what concerns the psychic development.
PERCURSO: Your book The Shadow of the Object makes us think that you try to characterize
twentieth century clinic, which is different from Freud’s clinic. However, on you seminars, you
resort quite often to the hysteria model…
BOLLAS: It is necessary to say two things about this book. The Shadow of the Object is a
collection of essays written throughout fifteen years — some of the essays were written in the
beginning of the 70’s, and others in the beginning of the 80’s. Like many other young analysts,
around my thirties, I had long work journeys, of twelve to fifteen hours daily, including Saturdays. I
also had a family and my wife used to work in the mornings, so I was expected to look after the kids
during this period, therefore I worked until very late at night because I needed the money. I had ten
minutes between one patient and the next, besides, I kept a notebook at close range — that allowed
me to take notes on anything that called my attention or anything that dawned at me during the
attendance.
All the essays in the book were written in the typewriter, and I had to take up the following
principle: they needed to be written in a single version, without revision, for I did not have available
time for that. If I could not follow that rule, I would not have ever published the essays, which make
up that book. They were imperfect, imprecise, that is true, but, somehow they went straight to the
envelope and they were sent to the International Journal of Psychoanalysis, and to other magazines.
However, these essays represented epiphanic moments for me in my work with the patients.
The act of writing represented the advent of a very important achievement in my clinical practice.
When I started the week with the patient about whom I had written on the Sunday, I felt that I had
grasped something quite essential about that patient. To write, on those days, was very close to the
notion of realization in Bion, which leads to another conception: I was grasping a concept about
something on which I had had a previous conception in the clinical practice.
I dedicated most of the time to those most problematic patients. Many of them were psychotic,
schizophrenic, manic depressive or serious borderline. I did not have interest in the cases involving
hysteria or those involving obsessive personality, because, to be frank, I thought that I understood
them — they rarely intrigued me and, anyway, not as the most difficult cases.
When I had time to write — that happened in 1985, when I spent two years in the USA, where I
taught, attending a very limited number of patients —, I could revise my essays. Coming back to
psychoanalytical practice in London, in 1987, I started to accept patients who, despite being quite
disturbed, they could not be diagnosed as psychotic. I did not receive many schizophrenic or manic-
depressive patients. Some of them were slightly psychotic in their youth, but they had managed to
overcome that critical phase. That fact allowed me to rethink many topics. I also want to say that
during the period I mentioned, 1972-1985, my workload did not grant me reading time — to have a
family and work fifteen hours a day, six days a week, doesn’t allow you to read substantially. Only
after 1985, I had time to read, especially Bion and more Lacan, so that my interest took a different
path.
PERCURSO: It seems to me that you have found a hysterical background both in the cases
involving psychoses as well as in those limitary cases, which were presented to you during the
clinical seminars we have accompanied these days, with you…
BOLLAS: No, no… I only remarked that patients who were considered as borderline, they are not
borderline, but they are hysteric. I make a clear difference between them. I think that there is a big
difference between the hysteric and the borderline. I focused my recent works, and the seminars I
have presented here, on hysteria. I am writing a book about hysteria for several reasons: for the sake
of sociological order, there was, in the clinic world, among the psychoanalysts, a loss of contact
with hysteria. A colleague of mine, in England, Giora Cohen, said, ten years ago, that nobody else
knew what hysteria was. Giora was the first person in the Anglo-American world who rang the bell
by saying: “Folks, what is going on here?” He was right, because the entire world, with the
exception of the French, had abandon the question about the nature of hysteria.
In France, there had always been a very particular interest in hysteria. However, some of the French
contributions have become so much arcanum, so much obscure, so that they made difficult to
follow the train of thoughts of the respective authors. Although there were a focus around hysteria
in the psychoanalytical French thought, there was not a suitable transmission of the effort. The
French analysts’ credit is that they have kept hysteria always in mind: the castration complex is at
the core of their thinking, and you cannot think of it without thinking of hysteria.
PERCURSO: As to the psychopathological current scenario, could you tell us something about the
percentage of hysterical patients in your clinic?
BOLLAS: I think that there has been an increase in the number of hysterical personalities in the
last ten years. It has to do with people who were children ten years ago and who are now around
their twenties — I am referring to the Anglo-American world, but I think that this phenomenon also
takes place somewhere else. However, I also think that there were hysterical patients fifteen, twenty
years ago, maybe in less number than there is today; but, those earlier patients used to express
themselves and appeared to be borderline, schizophrenic, or narcissist, because they unconsciously
realized that that was our wish — since the hysteric has a special sensibility to the other’s wish.
Starting in the 1950’s, psychoanalysts put special emphasis on the borderline and schizophrenic
cases. As the hysteric has always been able to read the other’s wish, and consequently realize our
wish, they behaved as borderline, narcissist, and schizophrenic. My theory is that you’re likely to
find in the hysteric whoever you want to find — narcissist, borderline, schizophrenic, but she end
up giving herself away, since there are ways of thinking, and ways of acting, which are peculiar
only to the hysteric person. They are able to hide themselves behind the other personalities, but they
end up giving themselves away because of the actions, which are typical of them.
PERCURSO: Your PhD thesis was about Melville. What is, according to your thesis, the fate and
the meaning of the search in Moby Dick?
BOLLAS: Melville plays with this journey, or with this hunting, in different and unbelievable
ways. We find in this pursuit all the metaphors and all the human life dimensions. While writing
Moby Dick, he started to read King Lear. He decided, then, to rewrite his own book in order to
include King Lear, so the shadows of King Lear are Moby Dick. He also engages himself in the
Kantian question on the real — where is the real? How and why you deal with the thing in itself***
constitute, in part, the goal of the pursuit in which Ahab got involved. While many character advise
him: “Forget about Moby Dick, it doesn’t exist, it is only in your mind, try to enjoy it as such, stop
looking for it!”, he goes on in his hunt, and, at the end of the book, Ahab meets the real object, he
finds Moby Dick, and they die together.
There is a whole chapter in the book about the mother and Queequeg — he sucks the milk from the
mother’s breast, creating a sea of milk, but at a certain moment, he is hurt and his blood gets mixed
with the milk. Melville explores this, too. In another chapter, a man cuts the whale’s penis, puts it
over his body, and walks with around the ship. Melville explores an unbelievable number of
phenomena, registering them on different levels, which also are allegorical version of the American
society.
I wrote about him on my doctorate thesis, again, because — and that I didn’t know at the time, I
only figured it out long after — when I was eleven and I was swimming on the beaches of
California, a whale came close to me, what terrified my immensely. After that, I was relieved for
being spared of its hunt. Anyway, I think that the incident has evoked extremely strong unconscious
contents inside me, which remained there, even when I coped with these subjects in my thesis I
didn’t realize that I was elaborating something that had happened to me when I was eleven.
The thesis granted me an access to the working through of these unconscious dimensions linked to
myself. It is impressive the way how Melville engenders the passage of a novel whose events take
place on the sea, fundamentally allegorical, to another which is hardly domestic — a brother, an
illegitimate sister, a mother, and a father in a small town —, a diametrically opposite alternative to
the sea world, but he wrote them in the sequence. It is fascinating the mode of transformation from
one reality to the next one!
[1] Revista Percurso. Revista semestral de psicanálise, editada em São Paulo pelo Departamento do
Instituto Sedes Sapientiae.
Número 20/Primeiro semestre de 1998.
SELAIBE. Mara. CARVALHO. Andréa. Psicanáliseentrevista.S.P. Ed. Estação Liberdade, 2014.
Volume 2, p. 506-523.
Você também pode gostar
- História da psicologia Ibero-americana em autobiografiasNo EverandHistória da psicologia Ibero-americana em autobiografiasAinda não há avaliações
- O sentido do humano: Entre fenomenologia, psicologia e psicopatologiaNo EverandO sentido do humano: Entre fenomenologia, psicologia e psicopatologiaAinda não há avaliações
- Carl Rogers com Michel Foucault (Caminhos Cruzados)No EverandCarl Rogers com Michel Foucault (Caminhos Cruzados)Ainda não há avaliações
- O Tronco e os Ramos: Estudos de história da psicanáliseNo EverandO Tronco e os Ramos: Estudos de história da psicanáliseNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Pierre FedidaDocumento7 páginasPierre FedidaJúlio MartinsAinda não há avaliações
- Conceito de mundo e de pessoa em Gestalt-terapia: Revisitando o caminhoNo EverandConceito de mundo e de pessoa em Gestalt-terapia: Revisitando o caminhoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Christopher Bollas Na SBPdePA PDFDocumento13 páginasChristopher Bollas Na SBPdePA PDFFelipe Paulino De Lima100% (1)
- Psicose e laço social: Esquizofrenia e paranoia na cidade dos discursosNo EverandPsicose e laço social: Esquizofrenia e paranoia na cidade dos discursosAinda não há avaliações
- Ressonâncias da clínica e da cultura: Ensaios psicanalíticosNo EverandRessonâncias da clínica e da cultura: Ensaios psicanalíticosAinda não há avaliações
- O Nascimento da Psicologia Social no Brasil: uma Crítica a Raul BriquetNo EverandO Nascimento da Psicologia Social no Brasil: uma Crítica a Raul BriquetAinda não há avaliações
- Introdução à Psicologia Fenomenológica: A nova psicologia de Edmund HusserlNo EverandIntrodução à Psicologia Fenomenológica: A nova psicologia de Edmund HusserlNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (3)
- Psicologia favelada: Ensaios sobre a construção de uma perspectiva popular em PsicologiaNo EverandPsicologia favelada: Ensaios sobre a construção de uma perspectiva popular em PsicologiaAinda não há avaliações
- A herança psíquica na clínica psicanalíticaNo EverandA herança psíquica na clínica psicanalíticaAinda não há avaliações
- Psicoterapia breve: Abordagem sistematizada de situações de criseNo EverandPsicoterapia breve: Abordagem sistematizada de situações de criseNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (8)
- A linguagem perdida das gruas e outros ensaios de rasuras e revelaçõesNo EverandA linguagem perdida das gruas e outros ensaios de rasuras e revelaçõesAinda não há avaliações
- Sobre a Psicologia dos Grupos: uma Proposta FenomenológicaNo EverandSobre a Psicologia dos Grupos: uma Proposta FenomenológicaAinda não há avaliações
- A vida sempre tem um sentido?: Como encontrar significado nos altos e baixos da sua jornadaNo EverandA vida sempre tem um sentido?: Como encontrar significado nos altos e baixos da sua jornadaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- O psicólogo clínico em hospitais: Contribuição para o aperfeiçoamento da arte no BrasilNo EverandO psicólogo clínico em hospitais: Contribuição para o aperfeiçoamento da arte no BrasilAinda não há avaliações
- Corporeidade - o objeto originário concreto: uma hipótese psicanalítica em expansãoNo EverandCorporeidade - o objeto originário concreto: uma hipótese psicanalítica em expansãoAinda não há avaliações
- O Pensamento de Franco Basaglia: dos caminhos da saúde mental italiana a uma vivência prática em TriesteNo EverandO Pensamento de Franco Basaglia: dos caminhos da saúde mental italiana a uma vivência prática em TriesteAinda não há avaliações
- Quadros clínicos disfuncionais e Gestalt-terapiaNo EverandQuadros clínicos disfuncionais e Gestalt-terapiaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Resenha Crítica O Que É PsicologiaDocumento9 páginasResenha Crítica O Que É PsicologiaMylene Freitas De Oliveira100% (1)
- Fundamentos Da Logoterapia NOV 2011Documento18 páginasFundamentos Da Logoterapia NOV 2011Marcelo RechAinda não há avaliações
- Abismos Narcísicos: A Psicodinâmica do Amadurecimento e da IndividuaçãoNo EverandAbismos Narcísicos: A Psicodinâmica do Amadurecimento e da IndividuaçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- O lugar do gênero na psicanálise: Metapsicologia, identidade, novas formas de subjetivaçãoNo EverandO lugar do gênero na psicanálise: Metapsicologia, identidade, novas formas de subjetivaçãoAinda não há avaliações
- Psicanálise clínica: Novas descobertas, novos conceitosNo EverandPsicanálise clínica: Novas descobertas, novos conceitosAinda não há avaliações
- Jesus e a logoterapia: O ministério de Jesus interpretado à luz da psicoterapia de Viktor FranklNo EverandJesus e a logoterapia: O ministério de Jesus interpretado à luz da psicoterapia de Viktor FranklNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Psicologia contemporânea e Viktor Frankl: Fundamentos para uma psicoterapia existencialNo EverandPsicologia contemporânea e Viktor Frankl: Fundamentos para uma psicoterapia existencialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A vontade de sentido: Fundamentos e aplicações da logoterapiaNo EverandA vontade de sentido: Fundamentos e aplicações da logoterapiaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- W. R. Bion: Uma teoria para o futuroNo EverandW. R. Bion: Uma teoria para o futuroAinda não há avaliações
- A psicologia no Brasil: Leitura histórica sobre sua constituiçãoNo EverandA psicologia no Brasil: Leitura histórica sobre sua constituiçãoAinda não há avaliações
- Teorias e técnicas de atendimento em consultório de psicologiaNo EverandTeorias e técnicas de atendimento em consultório de psicologiaAinda não há avaliações
- EtnopsicanáliseDocumento12 páginasEtnopsicanáliseIsabela Ferreira MirandaAinda não há avaliações
- Uma Visão Da Evolução Clínica Kleiniana: Da Antropologia À PsicanáliseDocumento2 páginasUma Visão Da Evolução Clínica Kleiniana: Da Antropologia À PsicanáliseFlávia JaquesAinda não há avaliações
- Resumo de Técnicas RespiratóriasDocumento9 páginasResumo de Técnicas Respiratóriascampos.lAinda não há avaliações
- Aula 06 GeneticaDocumento24 páginasAula 06 GeneticaMari KlenAinda não há avaliações
- Lab7 Teste Avaliacao 5 SolucoesDocumento3 páginasLab7 Teste Avaliacao 5 SolucoesHelenaCSilvaAinda não há avaliações
- Master LinkDocumento1 páginaMaster LinkCall Wirvin FalcãoAinda não há avaliações
- A Historia Da Inovacao em 50 AcordosDocumento47 páginasA Historia Da Inovacao em 50 AcordosHeraldo FentesAinda não há avaliações
- Danfe: Fisia Comercio de Produtos Esportivos LtdaDocumento1 páginaDanfe: Fisia Comercio de Produtos Esportivos LtdaDaniel Cardoso LeiteAinda não há avaliações
- Aula 25 - Lajes Armadas em Duas Direções - Exemplos (Parte 9)Documento43 páginasAula 25 - Lajes Armadas em Duas Direções - Exemplos (Parte 9)Jonas Osio Mattos100% (1)
- Es Paebes 2018 CH Web 71Documento146 páginasEs Paebes 2018 CH Web 71Ziano FreitasAinda não há avaliações
- Fiesta de Los Bravos-PercussãoDocumento1 páginaFiesta de Los Bravos-Percussãovitorhugoodasouza2018Ainda não há avaliações
- 09 Cjon 395-398 PDFDocumento4 páginas09 Cjon 395-398 PDFVictória ReginaAinda não há avaliações
- Reconhecimento de Funções Orgânicas GF QuimicaDocumento5 páginasReconhecimento de Funções Orgânicas GF QuimicaReltonAinda não há avaliações
- 7 Competências Criticas para o Sucesso em Qualquer EmpregoDocumento2 páginas7 Competências Criticas para o Sucesso em Qualquer EmpregoCarlos Augusto RiosAinda não há avaliações
- CadastroepDocumento5 páginasCadastroepFelipe FernandesAinda não há avaliações
- CEEM Rosa Alvarez Rebelo Professora: Ester Alves Estudante: Série: Data: Componente Curricular: Eletiva 1Documento5 páginasCEEM Rosa Alvarez Rebelo Professora: Ester Alves Estudante: Série: Data: Componente Curricular: Eletiva 1Bruna AlvesAinda não há avaliações
- Técnico de Manutenção Industrial de Metalurgia e MetalomecânicaDocumento43 páginasTécnico de Manutenção Industrial de Metalurgia e MetalomecânicaSergio MartinsAinda não há avaliações
- Atividade 4Documento5 páginasAtividade 4JOSELICE SILVA TIMOTEAinda não há avaliações
- Captulo2 Ecof Cotton PDFDocumento60 páginasCaptulo2 Ecof Cotton PDFFabricio LimaAinda não há avaliações
- Livro Eustaquio SeneDocumento96 páginasLivro Eustaquio SenecanegroAinda não há avaliações
- Relatorio Da Ponte de EspaqueteDocumento19 páginasRelatorio Da Ponte de EspaqueteEverton Luis de Araujo LimaAinda não há avaliações
- Utilização Da Contabilidade Gerencial Nas Micro e Pequenas EmpresasDocumento10 páginasUtilização Da Contabilidade Gerencial Nas Micro e Pequenas EmpresasDaniela LimaAinda não há avaliações
- Apostila Especial de Natal+Documento9 páginasApostila Especial de Natal+Fabio Tordim100% (1)
- Amorc Introducao A Simbologia Portugues PDFDocumento230 páginasAmorc Introducao A Simbologia Portugues PDFjaugust_1100% (5)
- Aula Filogenia ExercíciosDocumento5 páginasAula Filogenia ExercíciosAnderson100% (1)
- O Que É o PranaDocumento3 páginasO Que É o PranaodeAinda não há avaliações
- Barba e Visagismo - Billy CondorDocumento14 páginasBarba e Visagismo - Billy Condorhipster barber100% (1)
- Corpus HermeticumDocumento6 páginasCorpus HermeticumGeorge AlexAinda não há avaliações
- DiagramaDocumento16 páginasDiagramaHiago Kurosaki100% (1)
- Usca ST2060Documento33 páginasUsca ST2060Souza Luthier100% (1)
- Legenda Roma - ApostilaDocumento121 páginasLegenda Roma - ApostilaLara MatosAinda não há avaliações
- Mídias Locativas: Um Estudo Sobre o Foursquare.Documento89 páginasMídias Locativas: Um Estudo Sobre o Foursquare.Evandro Schelle EisingerAinda não há avaliações