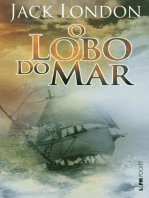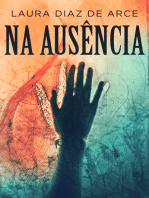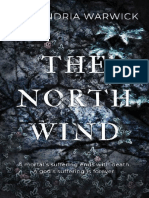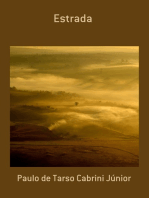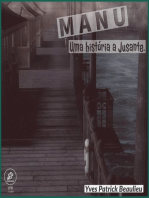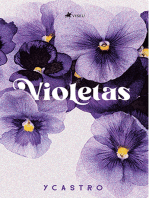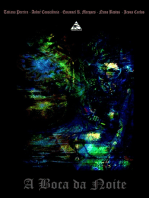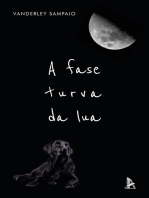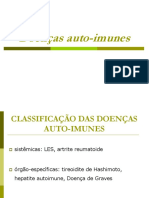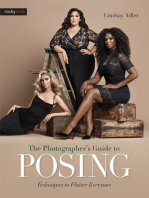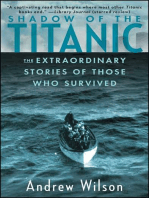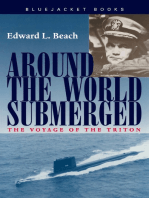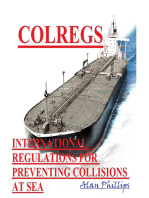Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Manto - Andre Vianco
Enviado por
eplouco0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações17 páginasLivro O Manto de André Vianco
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoLivro O Manto de André Vianco
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações17 páginasO Manto - Andre Vianco
Enviado por
eploucoLivro O Manto de André Vianco
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 17
O manto
Não sei se é o cansaço ou é
essa dor de cabeça que me consome. O
lance é que não lembro, de jeito nenhum,
do chão desta rua alguma vez ter sido
assim. Fofo. Estranho. Parece que eu
piso e ele afunda um pouco. Nem eu nem
ele estamos firmes o suficiente para nos
sustentarmos. Já olhei pra trás umas
quinhentas vezes, achando que veria um
rastro de pegadas, marcas fundas no
asfalto que confirmariam meus passos,
meus feitos, minhas crenças, medos e
alegrias. Olho para trás e não vejo nada.
Nada foi marcado. Tenho medo. Respiro
fundo e uma nuvem longa de vapor
escapa da minha boca. Longa mesmo.
Elucubrações, quiromancia, adivinhos e
oráculos. É tudo água. As nuvens
desprendem-se de mim e sempre
parecem formar alguma coisa que
deveria ter significado. Vão subindo
para o céu, sendo coisas. Sendo coisas
perturbadoras. Uma, para minha
surpresa, toma forma de um caranguejo
pegando uma moeda. Outra, uma forma
taurocéfala, acho que é um minotauro
vencido, isso, um minotauro caído num
labirinto... e se desfaz. Agora uma girafa
procurando o poço das lágrimas. O poço
das lágrimas tem água que não se deve
beber. Uma brincadeira da minha
memória. Pedaços de coisas vividas.
Suspiro novamente. Nenhuma forma
desta feita, só a certeza de que não
estava tudo confuso antes de cruzar o
túnel por baixo do Rio Pinheiros. Não
existiam girafas nem homens com
cabeça de boi. Não estava nada
estranho. De estranho só tinha eu, ali,
andando àquela hora da madrugada.
Com frio, com medo e desprotegido de
tudo. Agora não sei que horas são. Só
sei que andei sobre cacos de vidro. Que
depois o chão ficou fofo. Não pensei
Faria Lima. Parei no cruzamento. Não
dava pra ver o topo dos prédios. Nuvens
rápidas cruzando o céu como se fosse
um oceano revolto bem em cima da
minha cabeça. Valhalla. Um oceano
revolto. Marolas de nuvens. Marolas de
chuva. Vikings barbudos e com olhos de
fogo brandindo espadas e escudos. Tudo
valeu. Meu eu pensa para, ali, no chão
fofo que parece afundar enquanto eu
passo. Tenho sede, mas meus olhos só
alcançam o poço das lágrimas. Daquela
água não devo beber e não quero.
Enternece demais.
Quanto tempo eu andei? Acho
que por causa do frio não suei nem
cansei. Rumei para aquela praça de que
gosto, ali, pertinho do Parque do
Ibirapuera, onde um monumento de que
gosto, destilando sentidos do lugar onde
eu era. Passei outro túnel. Andei mais
um pedacinho. E lá estava ele. O
Monumento às Bandeiras. Antes de
chegar, abaixo pra amarrar meus
sapatos. Susto. Estou descalço, em cima
do gramado. Aqui o chão é firme,
encorpado. Me dá mais segurança. Mas
não é menos estranho. Sinto saudades
dos sapatos de couro falso, confortáveis
e bonitos para os outros verem. Meu
estômago revira assustado quando minha
cabeça inicia uma suposição. Um tio
meu falou um dia acerca das pessoas
que perdem os seus sapatos. Há uma
bruma, de um palmo, talvez dois, que me
cerca. Não é neblina densa. Não é
fumaça que rola no rés do chão. É
translúcida, ora opaca, indecisa e
corrediça. De novo a ideia do oceano.
Só que agora no chão da praça. Mas
essa bruma estranha não é o que me
apoquenta e nem mais os pés descalços
ou a história do meu tio falando dos
sapatos perdidos. São elas. Estão
embaixo da neblina, existindo,
atormentadas. Formigas. Formiguinhas
pequenininhas, marchando em linha,
resmungando sobre pequenas coisas bem
do tamanho delas. É elas falam. Elas
dizem coisas impossíveis de entender
porque eu não falo formiguês. Contudo,
para o meu assombro elas viram umas
para as outras e conversam e riem e
contam coisas umas às outras, tenho
certeza. Estão conversando. Algumas
atrasadas, preocupadas com o fazer de
hoje. Levanto-me horrorizado. E o
horror não para. Ele se dilui, na
verdade. Dilui-se porque reparo que
minha alusão ao oceano não está de todo
torta. Torta. Aquela bruma é fria e
parece água. O leito plácido de um largo
e impossível rio. E olho direito para o
Monumento às Bandeiras. O barco que
os índios e negros e empurram com tanta
gana... o barco vai deslizando e chega
dentro d´água. Os cavalos de granito
erguem as fuças para o céu e tracionam
com toda a força para frente. Seus
músculos de pedras parecem capazes de
fazer girar o mundo. O barco, no entanto,
se arrasta devagar. A bruma é água
clamando para ser singrada. O barco
rasga sem dó o leito espectral que se
estende ao redor da praça. E vai e vai e
começa a navegar. Um gigante de pedra
grita:
- Jaraguá!
O gigante aponta para a frente.
O barco afunda até o meio do casco,
acho que toco o chão da praça. Mas não
é problema. Aqueles homens,
brutamontes que estão dentro, vão com
ele, claro. São bandeirantes. São
desbravadores e perigosos. Heróis e
assassinos bárbaros. São homens de
corpo e peito de pedra. Pacificadores.
Querem o ouro e drenar riquezas. O
barco se afasta vagaroso. Preguiçoso. É
um espetáculo tão inusitado que me
esqueço de tudo por um instante. Só me
deu conta de que estou de fato ali e que
não estou fora de meu corpo,
vivenciando viagem astral ou tendo um
sonho lúcido, quando o índio colossal
caminha na minha direção, agitando a
bruma com os pés e fazendo sacolejar o
chão de tão pesados que são seus
passos. Ele olha pra mim. Para o fundo
dos meus olhos. Um frio sobe por minha
espinha. Ele se abaixa e toca o joelho
gigante ao lado do meu corpo. Passa sua
mão de pedra sobre a minha cabeça e
aponta para o obelisco dos heróis de 32.
- Vai pra lá.
Agradeço ao gigante fazendo
uma mesura. Volto a caminhar. Lembro-
me do cansaço, do frio em meus braços.
Agora o vento gelado é feito chibata que
machuca. Olho para o obelisco, que
parece algo de assombrado. A bruma
está também ao seu redor, mas o que me
chama a atenção agora são os espíritos.
São tantos e leves que flutuam em
correnteza ao redor do obelisco.
Fantasmas. Saem do chão e sobem
lentamente. Com medo de chegar
depressa. Olho para o Parque do
Ibirapuera. Está tão tarde (ou tão cedo).
E tão escuro que não vejo nada além das
grades. A bruma corrediça sobre pelos
meus pés, fazendo ondinhas em torno de
mim. Chego ao asfalto. Atravesso a rua
e estou de novo no chão gramado,
mantendo minha marcha, rumo ao
encontro. É a decisão. Sei que é. O frio
que atormenta não é natural. Sinto o
peso do manto se desvanecendo, se
desfazendo, e a ciência descendo para o
queixo sem restinho de ingenuidade.
Lágrimas marcando meu rosto sem que
eu sequer chegasse perto da água do
poço. Eu olho para trás e não vejo o que
todo mundo diz. Falam tanto disso. Foi
algo tão besta que não precisava ser. Me
distraí com ela por dois ou três
segundos. Ela sorria através do aparelho
que prendeu meus olhos mais do que
devia. Ela ainda nem sabia que eu não ia
ligar de manhã. Dizer bom dia. Aperto
os olhos e tento ver, mas não vem mais
nada. Dizem que a gente vê tudo nesse
preciso instante. Eu não vejo nada. Só
sinto o frio e ouço de novo as vozes das
formiguinhas. Olho para o obelisco em
homenagem aos herois de 32. Vou
chegando. Duas fileiras de soldados
espectrais recepcionam os que se
aproximam. Eles não olham para a
gente. Os que chegam. Acho que os
soldados já passaram ali faz tempo e
perderam o ar de novidade. Nós, os
novos, estamos tristes e lerdos. Noto
alguns curvados, confrangidos pelo peso
que lhes vem nos ombros. O peso
daquilo que não se fez ou não se
arriscou. Nós. Estou falando deles com
tanta intimidade, mas agora só percebo
de fato esses tantos outros andarilhos,
espantados como eu, se achegando ao
obelisco de pedra. Existe um cheiro de
medo impregnado no ar e antes de
começar a pensar nisso eu me distraio.
Olho para o barco. Jaraguá. Já vai
sumindo. Observo o caminho à minha
frente. Os espíritos rodopiando e
subindo como duas correntes em torno
do obelisco. Agora que estou mais
próximo, vejo. Como o par que sobe, há
também duas correntes descendo das
nuvens até o chão. Moto-contínuo. E
dessa segunda corrente alguns espíritos
escapam e chegam ao chão, ficando
eretos e caminham como se fossem gente
viva. Eles andam em direção aos que
chegam. Vêm com sorrisos nos rostos e
graça emanando das figuras. Estão
felizes, destemidos. Ao meu lado, uma
mocinha que tem um galo enorme na
cabeça, um vestidinho rodado,
vermelho, engole em seco de olhos
pregados na figura que vem ao seu
encontro. O espírito chega junto dela e é
ela mesma. Em outra época. O espírito a
abraça e suavemente a carrega. Meus
pelos se arrepiam ao me dar conta do
que está prestes a acontecer. Admirado,
percebo que estou certo, pois vejo eu
mesmo no meio dos fantasmas que
chegam. Lá venho eu. Euzinho da silva,
em forma de espírito. O eu fantasma toca
a bruma. Só agora tomo tento. Os
espíritos são de cor cinza e ficam
esverdeados quando se misturam com a
bruma. É como se a bruma fizesse parte
deles naquele instante. Meu espírito vem
caminhando em minha direção, cada vez
mais esmeraldino. Meu fantasma. Minha
cópia em outro tempo. Um backup de
mim mesmo que se aproxima e me toca.
Ele me abraça. Recobre-me como um
manto de paz e compreensão. Não me
diz castigos, não me pergunta os feitos.
É tudo existido e consumado. Me eu
fantasma só toca meu peito e sente meu
coração. Tudo valeu. O medo se
dissolve feito fumaça. Eu vou junto. Sou
arrastado suavemente em direção ao
obelisco e começo a flutuar. Me viro
correndo e subo junto. É uma delícia
partir. Diferente de tudo que pensei que
fosse. Lá de cima, no fim do meu aqui
existir, lanço um olhar na direção do
barco. O bandeirante vira-se para mim e
me olha. Ele vai buscar ouro e leva
nosso medo para lá, dentro do embornal
de pedra. Vejo a cidade ficando pequena
e incompreensível. Nada aqui embaixo é
lógico. Jaraguá. Eu vou embora. É
chegada a hora. Não, não chora nem me
faz chorar. Como diz a música, se
lembrar de mim, faça com o mesmo
ardor, de uma canção feliz, de uma
canção de amor.
Fale com o autor:
andrevianco@gmail.com
Você também pode gostar
- UMBERTO ECO - A Misteriosa Chama Da Rainha LoanaDocumento310 páginasUMBERTO ECO - A Misteriosa Chama Da Rainha LoanaDani de VerasAinda não há avaliações
- Antes de Desaparecer - Lisa GardnerDocumento376 páginasAntes de Desaparecer - Lisa GardnerDenise de MaioAinda não há avaliações
- 3-The Fallen KingdomDocumento367 páginas3-The Fallen KingdomCake QueenAinda não há avaliações
- COUTO, Mia - Nas Águas Do Tempo in Estórias AbesonhadasDocumento3 páginasCOUTO, Mia - Nas Águas Do Tempo in Estórias Abesonhadasdaniela_alvesp3350Ainda não há avaliações
- Rio TurvoDocumento59 páginasRio TurvoXaarcaAinda não há avaliações
- Caio Fernando Abreu - Garopaba, Mon AmourDocumento6 páginasCaio Fernando Abreu - Garopaba, Mon AmourAnderson BogéaAinda não há avaliações
- O Desfile Dos ChapeusDocumento2 páginasO Desfile Dos ChapeusJonasdeSouzaAinda não há avaliações
- (TRAD) The North Wind - Alexandria WarwickDocumento496 páginas(TRAD) The North Wind - Alexandria Warwickamarilissantos283Ainda não há avaliações
- Trezentas OnçasDocumento4 páginasTrezentas OnçasLucineia Renata Martins ZborovskiAinda não há avaliações
- O Engenho dos Sonhos: Antologia de Contos FantásticosNo EverandO Engenho dos Sonhos: Antologia de Contos FantásticosAinda não há avaliações
- Um Habitante de CarcosaDocumento3 páginasUm Habitante de CarcosaJoaoLopesAinda não há avaliações
- Na Barca do Pensamento Vai a Poesia Vai o VentoNo EverandNa Barca do Pensamento Vai a Poesia Vai o VentoAinda não há avaliações
- Cecilia Meireles - 1945 - Mar Absoluto e Outros PoemasDocumento77 páginasCecilia Meireles - 1945 - Mar Absoluto e Outros PoemasDaniel SiqueiraAinda não há avaliações
- Antologia Erotica Os DramatikosDocumento27 páginasAntologia Erotica Os DramatikosBárbara GontijoAinda não há avaliações
- Harbor Master (Sweet Cherry Cove Book 1) (Cassie Mint) (Z-Library)Documento60 páginasHarbor Master (Sweet Cherry Cove Book 1) (Cassie Mint) (Z-Library)larrisadesousamotoAinda não há avaliações
- Nas Margens Do Azul - Capítulo I: A Cinza Das HorasDocumento3 páginasNas Margens Do Azul - Capítulo I: A Cinza Das HorasRalph DucciniAinda não há avaliações
- O Enigma Da Borboleta - Kate EllisonDocumento200 páginasO Enigma Da Borboleta - Kate EllisonCarol TelesAinda não há avaliações
- Poemas Da Cecília para EscolherDocumento10 páginasPoemas Da Cecília para EscolherMarilia VezzaroAinda não há avaliações
- Do Calvario Ao InfinitoDocumento32 páginasDo Calvario Ao InfinitoCleber CuriAinda não há avaliações
- Fernando Pessoa - Poesia Do OrtónimoDocumento24 páginasFernando Pessoa - Poesia Do OrtónimoFkx ExplicaçõesAinda não há avaliações
- Conto - Lobisomem & VampiroDocumento13 páginasConto - Lobisomem & VampiroVitor SouzaAinda não há avaliações
- Poesia ParaguaiaDocumento11 páginasPoesia ParaguaiaGersonDudusAinda não há avaliações
- Monstruário de Fomes - 7.1 PDFDocumento75 páginasMonstruário de Fomes - 7.1 PDFRenan Nuernberger0% (1)
- A+Misteriosa+Chama+Da+Rainha+Loana+ +Umberto+EcoDocumento254 páginasA+Misteriosa+Chama+Da+Rainha+Loana+ +Umberto+EcoDeh CabralAinda não há avaliações
- Poemas de Antonio GedeãoDocumento18 páginasPoemas de Antonio Gedeãoferreira.laurinda7995Ainda não há avaliações
- Saulo Fernandes Nunes - PoemasDocumento17 páginasSaulo Fernandes Nunes - PoemasSaulo NunesAinda não há avaliações
- Rainha Loana - Umberto EcoDocumento60 páginasRainha Loana - Umberto Ecopatriciahortz100% (1)
- Silo - Tips o Caminho Do PeregrinoDocumento8 páginasSilo - Tips o Caminho Do PeregrinoLissauer MoraesAinda não há avaliações
- Riley Bloom 02 - LuminososDocumento97 páginasRiley Bloom 02 - LuminososAnna FreitasAinda não há avaliações
- UntitledDocumento392 páginasUntitledlivia yayAinda não há avaliações
- Mistérios da bússola azul: O despertar da magiaNo EverandMistérios da bússola azul: O despertar da magiaAinda não há avaliações
- AzaleaDocumento7 páginasAzaleaIsa. VitóriaAkemiAinda não há avaliações
- Folder-Curso-Grupos de Crescimento EspiritualDocumento3 páginasFolder-Curso-Grupos de Crescimento EspiritualMauriPerkowskiAinda não há avaliações
- Unidade 1 - AmoniacoDocumento40 páginasUnidade 1 - Amoniacoantónio_ramalho_17Ainda não há avaliações
- Relatório Ensaio de DurezaDocumento13 páginasRelatório Ensaio de DurezaIsabelle BarachoAinda não há avaliações
- Empreendedorismo e Intervenção Social 01Documento58 páginasEmpreendedorismo e Intervenção Social 01Glaucia Castro100% (1)
- 05 - Gestão, Compliance e Marketing No Esporte PDFDocumento218 páginas05 - Gestão, Compliance e Marketing No Esporte PDFlbravimAinda não há avaliações
- Plano de Aula - 6º Poema Identidade AntonimosDocumento1 páginaPlano de Aula - 6º Poema Identidade AntonimosRenata Fonseca SiqueiraAinda não há avaliações
- OSO Braganca 2023 04 25Documento12 páginasOSO Braganca 2023 04 25Stephanie GodoyAinda não há avaliações
- Z - CarregaLaudo ROBSON VALERIO MARÇO 2024Documento3 páginasZ - CarregaLaudo ROBSON VALERIO MARÇO 2024nadirconsorcioAinda não há avaliações
- 10 - Doenças Auto ImunesDocumento63 páginas10 - Doenças Auto ImunesDam LaignierAinda não há avaliações
- Prova 2018 para C-FSD-FN 2019Documento7 páginasProva 2018 para C-FSD-FN 2019pepu mpAinda não há avaliações
- Obras e Personalidades FemininasDocumento19 páginasObras e Personalidades FemininasLucas De Godoy BuenoAinda não há avaliações
- Síntese A Reforma Sanitária e o Processo de Implantação Do Sistema Único de Saúde No BrasilDocumento3 páginasSíntese A Reforma Sanitária e o Processo de Implantação Do Sistema Único de Saúde No BrasilGabriel PortoAinda não há avaliações
- HEATHER (TRADUÇÃO) - Conan GrayDocumento1 páginaHEATHER (TRADUÇÃO) - Conan GrayCarla GomesAinda não há avaliações
- Lista de Dilatacao LinearDocumento3 páginasLista de Dilatacao LinearMeigga JulianeAinda não há avaliações
- Plano de Estudo Tutorado Adaptado: Comemorativo Dos 300 Anos de Minas GeraisDocumento17 páginasPlano de Estudo Tutorado Adaptado: Comemorativo Dos 300 Anos de Minas GeraisSamuel MarquesAinda não há avaliações
- Edital Do Espetáculo Orixás - Nos Seios Da Mãe Raiz - 2.º Edição Ano 2023Documento2 páginasEdital Do Espetáculo Orixás - Nos Seios Da Mãe Raiz - 2.º Edição Ano 2023Taciana MellAinda não há avaliações
- 01 o Pecado OriginalDocumento42 páginas01 o Pecado OriginalNelson FerreiraAinda não há avaliações
- Históricos Do Teste Psicológico MIRIAM-2Documento6 páginasHistóricos Do Teste Psicológico MIRIAM-2Milton CameraAinda não há avaliações
- Recepção Dos Conceitos AgostinianosDocumento193 páginasRecepção Dos Conceitos AgostinianosWallace Johnson100% (1)
- La Libertad AvanzaDocumento1 páginaLa Libertad AvanzaEl LitoralAinda não há avaliações
- INTERNACIONAL SEMANA 11 - RespostaDocumento2 páginasINTERNACIONAL SEMANA 11 - RespostaAdenilson Nascimento SoaresAinda não há avaliações
- MPA - Calendário Eclesiástico 2023Documento5 páginasMPA - Calendário Eclesiástico 2023Darlan CostaAinda não há avaliações
- Religiões e Modernidades: Cristianismos, Secularização e Novas EspiritualidadesDocumento271 páginasReligiões e Modernidades: Cristianismos, Secularização e Novas EspiritualidadesEditora Pimenta CulturalAinda não há avaliações
- Introducao BotanicaDocumento14 páginasIntroducao Botanicajohnnylarah100% (1)
- 2 - Avaliação InstitucionalDocumento2 páginas2 - Avaliação Institucionalapostilasnorte1Ainda não há avaliações
- Artigo - ("Assim É A Vida Charlie Brown." - Revelada A Identidade Discursiva Do Professor Nas Tirinhas de Snoopy de Charles Schulz)Documento14 páginasArtigo - ("Assim É A Vida Charlie Brown." - Revelada A Identidade Discursiva Do Professor Nas Tirinhas de Snoopy de Charles Schulz)Igor PimentelAinda não há avaliações
- Letras ComadevaspDocumento3 páginasLetras ComadevaspduduhnAinda não há avaliações
- Liceniado em Admistração E Gestão Da Educação Pela Universidade Pedagógica. Mestrando em Avaliação Educacional Pela Universidade Prdagógica de MaputoDocumento15 páginasLiceniado em Admistração E Gestão Da Educação Pela Universidade Pedagógica. Mestrando em Avaliação Educacional Pela Universidade Prdagógica de MaputoAmandio Cunna's CunnaAinda não há avaliações
- Servidor Linux para CIDDocumento26 páginasServidor Linux para CIDAdriano AlvesAinda não há avaliações
- Proposiciones y Sus Contracciones - Tus Clases de PortuguésDocumento4 páginasProposiciones y Sus Contracciones - Tus Clases de PortuguésCarmen Talledo GalvezAinda não há avaliações
- The Photographer's Guide to Posing: Techniques to Flatter EveryoneNo EverandThe Photographer's Guide to Posing: Techniques to Flatter EveryoneNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (19)
- The Dinghy Bible: The complete guide for novices and expertsNo EverandThe Dinghy Bible: The complete guide for novices and expertsAinda não há avaliações
- Shadow of the Titanic: The Extraordinary Stories of Those Who SurvivedNo EverandShadow of the Titanic: The Extraordinary Stories of Those Who SurvivedNota: 4 de 5 estrelas4/5 (58)
- Choroidal DisordersNo EverandChoroidal DisordersJay ChhablaniAinda não há avaliações
- New light on the eyes: Revolutionary and scientific discoveries which indicate extensive reform and reduction in the prescription of glasses and radical improvement in the treatment of diseases such as cataract and glaucomaNo EverandNew light on the eyes: Revolutionary and scientific discoveries which indicate extensive reform and reduction in the prescription of glasses and radical improvement in the treatment of diseases such as cataract and glaucomaAinda não há avaliações
- Around the World Submerged: The Voyage of the TritonNo EverandAround the World Submerged: The Voyage of the TritonNota: 4 de 5 estrelas4/5 (7)
- The Book of Old Ships: From Egyptian Galleys to Clipper ShipsNo EverandThe Book of Old Ships: From Egyptian Galleys to Clipper ShipsNota: 4 de 5 estrelas4/5 (4)