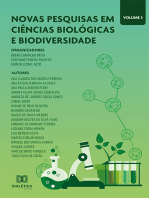Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Queima Solo
Queima Solo
Enviado por
emil diogoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Queima Solo
Queima Solo
Enviado por
emil diogoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Impacto da queima nos atributos químicos do solo e na vegetação 633
Impacto da queima nos atributos químicos e na composição química
da matéria orgânica do solo e na vegetação
Deborah Pinheiro Dick(1), Rosane Martinazzo(2), Ricardo Simão Diniz Dalmolin(3), Aino Victor Ávila Jacques(4),
João Mielniczuk(2) e Alessandro Samuel Rosa(3)
(1) UniversidadeFederal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de Química, Avenida Bento Gonçalves, no 9.500, CEP 91501-970 Porto
Alegre, RS. E-mail: dpdick@iq.ufrgs.br (2)UFRGS, Departamento de Solos, Avenida Bento Gonçalves, no 7.712, CEP 91540-000 Porto Alegre,
RS. E-mail: martinazzo_ro@yahoo.com.br, joao.mielniczuk@ufrgs.br (3)Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Solos, Avenida
Roraima, no 1.000, CEP 97105-900 Santa Maria, RS. E-mail: dalmolinrsd@gmail.com, alessandrosamuel@yahoo.com.br (4)UFRGS, Departamento
de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, Avenida Bento Gonçalves, no 7.712, CEP 91540-000 Porto Alegre, RS. E-mail: aino@ufrgs.br
Resumo – O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito residual de queimadas periódicas nos atributos químicos,
teor e composição da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho e na composição química da vegetação
predominante. Os ambientes estudados foram: campo nativo pastejado, sem queima e sem roçada (PN); campo
nativo queimado e pastejado (PQ); e mata nativa adjacente à pastagem (MN). As amostras de solo foram coletadas
nas camadas 0–5, 0–20, 20–40 e 40–60 cm, para determinação dos atributos de fertilidade, teores de carbono e
nitrogênio, e realização das análises de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR).
A parte aérea da vegetação desses ambientes foi analisada por análise elementar e FTIR. A queima da pastagem
reduziu os teores de N, Mg e K e aumentou a saturação por Al no solo, em comparação ao PN. No solo sob mata,
os teores dos nutrientes foram menores, e os de C e N e a saturação por Al mais elevados do que em PN.
A aromaticidade da matéria orgânica do solo não diferiu entre os três ambientes estudados e aumentou em
profundidade. Na vegetação da pastagem queimada, observou-se menor teor de N e maior proporção de grupos
silicatados, em comparação ao PN. A vegetação de mata apresentou maior quantidade de grupamentos
nitrogenados e aromáticos do que a de PN e PQ.
Termos para indexação: aromaticidade, composição elementar, FTIR, mata nativa, pastagem.
Impact of burning on soil chemical attributes and organic matter
composition and on vegetation
Abstract – The objective of this study was to evaluate the residual effect of periodic burning on soil chemical
attributes, composition of soil organic matter, and on vegetation of a Hapludox. Samples from three environments
were studied: native pasture under grazing, without burning and shortening (NP); native pasture under grazing
and burning (BP); and native forest (NF) adjacent to the pasture area. Soil samples were collected in four layers:
0–5, 0–20, 20–40 and 40–60 cm, in which fertility attributes and contents of C and N were determined, and
analyses of Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) were performed. Samples from the above ground
vegetation from these environments were analyzed through elemental analyses and FTIR. Pasture burning
reduced soil contents of N, Mg and K, and increased Al saturation in soil, in comparison to NP soil. Nutrient
contents were smaller in the soil samples under forest, when compared to NP, while C and N contents and Al
saturation were greater. The aromatic character of soil organic matter did not differ among the studied environments,
and increased with depth in all environments. In comparison to NP, BP vegetation had a lower N content and a
greater proportion of Si groups. The forest vegetation contained more N and showed higher aromaticity than the
pasture vegetation.
Index terms: aromaticity, elemental composition, FTIR, native forest, pasture.
Introdução imediatamente após a queima (Rheinheimer et al., 2003)
e, assim, favorecer o rebrote e supostamente aumentar
Em solos sob pastagem, a queima é usualmente a qualidade da pastagem.
utilizada para eliminar o material vegetal morto (mantilho), Os benefícios advindos da queima são contestados
para aumentar a disponibilidade de nutrientes no solo em diversos estudos. Segundo Jacques (2003), não há
Pesq. agropec. bras., Brasília, v.43, n.5, p.633-640, maio 2008
634 D.P. Dick et al.
necessidade de eliminar o pasto seco com o fogo, quando O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito residual
é exercido determinado controle da vegetação existente, de queimadas periódicas, após oito anos de suspensão
pois esse material seco funciona como proteção das desta prática, nos atributos químicos, teor e composição
gemas responsáveis pela brotação e da superfície do da matéria orgânica, de um Latossolo Vermelho de
solo, e proporciona maior retenção de água. Heringer altitude, sob pastagem, e na composição química da
& Jacques (2002b) postulam que, comparada a outras vegetação predominante, em comparação com uma área
práticas de manejo, a queima da pastagem não melhora de mata nativa, adjacente à pastagem.
a qualidade da forragem e, em geral, o mantilho e o
material senescente apresentam menores teores de Material e Métodos
nutrientes do que na pastagem não queimada. Este estudo foi realizado no Município de André da
Conseqüentemente, a queima reduz a quantidade de Rocha, RS, na região fisiográfica de Campos de Cima
nutrientes que retornam ao solo via material morto. da Serra a 28°38'S, 51°34'W, e altitude aproximada de
Em geral, aumento na disponibilidade de P 800 m. O clima é mesotérmico (Cfb), com verões
(Serrasolsas & Khanna, 1995) e no teor de bases amenos, e a vegetação natural representa uma zona de
trocáveis (Rheinheimer et al., 2003) são observados transição entre o campo e a mata (de galeria e
imediatamente após a queima, em conseqüência do Araucaria angustifolia), com grande cobertura e
acúmulo de cinzas na superfície do solo. Entretanto, dominância de gramíneas cespitosas (Heringer, 2000).
esses efeitos tendem a desaparecer, em médio prazo, O solo, de origem basáltica, apresenta textura argilosa
na lixiviação dos nutrientes pela ação de chuvas, o que e é classificado como Latossolo Vermelho distroférrico
resulta em concentrações que podem ser até inferiores típico (Streck et al., 2002).
às observadas em solos que não sofreram ação do fogo Os ambientes selecionados para as avaliações
(Knicker, 2007). A diminuição do Al trocável observada constaram de mata nativa (MN), campo nativo pastejado
em solos do Cerrado, após a queima (Coutinho, 1990), sem queima e sem roçada há 41 anos (pastagem nativa
pode ser atribuída à elevação do pH resultante do – PN) e campo nativo com queima e pastejado (pastagem
queimada – PQ). Na área de PQ, a queima foi realizada
aumento da concentração de bases, conforme constatado
bienalmente durante mais de 100 anos, tendo sido suspensa
por Ulery et al. (1993) em solos de floresta.
há oito anos. As áreas de estudo encontram-se descritas
O impacto do fogo na quantidade e qualidade da
em Heringer & Jacques (2002b) e Jacques (2003).
matéria orgânica do solo (MOS) depende,
Em cada uma das áreas estudadas, foi selecionado
principalmente, da intensidade do fogo, tipo de vegetação
um ambiente representativo de 150x150 m; os três locais
e textura do solo (Knicker, 2007). Em Latossolo sob situavam-se em posição semelhante na paisagem. Em
cerrado submetido a 21 anos de queima, Roscoe et al. cada ambiente foram demarcados, aleatoriamente, três
(2000) observaram redução drástica dos estoques de locais para a abertura de trincheiras de aproximadamente
C e N na liteira, porém, nas amostras do solo, os teores 1x1 m de superfície e 1,5 m de profundidade. Em cada
de C e N não diferiram daqueles observados para duas trincheira, realizou-se a descrição morfológica (Santos
áreas próximas, que não sofreram ação do fogo. et al., 2005) e a coleta de amostras indeformadas, para
Comportamento diferenciado foi constatado por a determinação da densidade do solo, e de amostras
Knicker et al. (2005), em Cambissolo de floresta de deformadas das três paredes da trincheira, nas
Pinus, da região mediterrânea da Espanha. Nesse solo, profundidades de 0–20, 20–40 e 40–60 cm, para compor
as queimadas espontâneas freqüentes provocaram a amostra da repetição de campo. A fim de isolar o efeito
aumento de 100% nos teores de C e de N no horizonte A do fogo e da vegetação, na camada superficial do solo,
(0−15 cm), quando comparado com uma área próxima foi amostrada separadamente a camada de 0–5 cm, pelo
que não foi queimada. Esta constatação se traduziu no mesmo procedimento descrito anteriormente.
aumento da fração resistente à extração com solução As amostras foram secadas ao ar, destorroadas e
de NaOH (fração humina) e no aumento da proporção peneiradas em malha de 2 mm, tendo sido determinados
de estruturas aromáticas (enriquecimento de 2,9 vezes), em cada repetição de campo – 36 amostras ao todo – o
conforme determinação por espectroscopia de RMN de pH em água e os teores de Ca, Mg, Al, K e P (Tedesco
13C. No Brasil, especialmente em solos subtropicais,
et al., 1995). A partir desses dados, foram calculadas a
resultados sobre o impacto da queima da vegetação, na capacidade de troca de cátions efetiva (CTCef) e a saturação
qualidade e quantidade da MOS, são ainda incipientes. por alumínio.
Pesq. agropec. bras., Brasília, v.43, n.5, p.633-640, maio 2008
Impacto da queima nos atributos químicos do solo e na vegetação 635
A matéria orgânica do solo foi concentrada em Resultados e Discussão
amostras compostas pelas três repetições de campo, por
tratamento com solução de ácido fluorídrico (HF) 10% A distribuição granulométrica das amostras, coletadas
(v/v) (MOSHF), tendo-se empregado 30 mL de solução nas diferentes camadas, foi de: 61 a 64% de argila, 27 a
de HF e 10 g de solo (Gonçalves et al., 2003). 30% de silte e 8,3 a 9,5% de areia, a 0–5 cm; 56% de argila,
A suspensão foi agitada durante 2 horas, em agitador 31 a 36% de silte e 8,3 a 9,5% de areia, a 0–20 cm; 58
horizontal (130 agitações por min), centrifugada (10 min, a 64% de argila, 29 a 33% de silte e 7,1 a 11% de areia,
3.000 rpm), e o sobrenadante foi descartado. Este a 20–40 cm; e 68 a 73% de argila, 22 a 26% de silte e
procedimento foi repetido oito vezes. A seguir, o resíduo 4,3 a 5,2% de areia, a 40–60 cm. A densidade das
foi lavado quatro vezes com água deionizada, para amostras variou de 1,1 a 2,5 g cm-3 e não apresentou
remover o HF remanescente, e foi secado em estufa à variação entre tratamentos ou camadas.
temperatura inferior a 50ºC. Os solos dos diferentes ambientes estudados
Amostras de vegetação (VG) de cada ambiente foram apresentaram valores de pH abaixo de 4,8 (Tabela 1),
coletadas em triplicata, para se identificar sua
composição química e sua relação com a MOS. Foi
amostrada somente a parte aérea das plantas vivas Tabela 1. pH em água, teores de magnésio, cálcio, potássio e
predominantes, tendo-se excluído raízes. No ambiente alumínio trocáveis, saturação por alumínio, CTC efetiva e teor
MN, coletaram-se folhas e ramos finos das árvores e de fósforo disponível, em diferentes camadas de solo sob
mata nativa (MN), pastagem nativa (PN) e pastagem queimada
arbustos predominantes. No laboratório, as amostras
(PQ), em Latossolo Vermelho distrófico típico(1).
compostas foram secadas ao ar, maceradas em gral de
ágata e secadas em estufa a 50°C sob vácuo. Ambiente Profundidade (cm)
Os teores de C e N de vegetação, solo e MOSHF 0–5 0–20 20–40 40–60
pH
foram determinados em duplicata por combustão seca MN 4,2a 4,2a 4,4a 4,5a
(Perkin Elmer 2400), tendo sido calculada a relação C/N. PN 4,8b 4,8b 4,8b 4,7a
A massa recuperada após tratamento com HF PQ 4,7b 4,7b 4,7b 4,7a
(MR, %) foi obtida com a relação da massa resultante Ca (mg dm-3)
MN 2,4a 0,9a 0,2a 0,2a
após o tratamento (M F ) pela massa inicial (MI): PN 2,8a 1,0a 0,5a 0,3a
MR = [MF/MI]x100. A fim de se averiguarem possíveis PQ 1,3a 0,8a 0,4a 0,3a
extrações preferenciais de C ou N pela solução de HF, Mg (mg dm-3)
foi calculada a razão R, que relaciona a relação C/N MN 1,0a 0,4a 0,1a 0,1a
PN 2,3b 0,9a 0,3a 0,2a
antes e depois do tratamento (Dick et al., 2005). PQ 1,2a 0,7a 0,2a 0,1a
A análise por espectroscopia de infravermelho com K (mg dm-3)
transformada de Fourier (FTIR) (Shimadzu 8300) foi MN 93,7a 49,3a 26,3a 24,0a
realizada nas amostras de vegetação, solo e MOSHF em PN 285,0b 216,0b 75,5b 46,5a
PQ 126,7a 72,0a 29,0a 20,3a
pastilhas de KBr (1 amostra: 100 KBr), pelo uso de Al (cmolc dm-3)
32 “scans” e resolução de 4 cm-1, no intervalo espectral MN 6,0a 6,7a 7,5a 7,3a
de 4.000 a 500 cm-1. A atribuição das bandas de absorção PN 2,6b 4,1b 4,9b 4,0b
foi realizada segundo Farmer (1974) e Tan (2003), e foi PQ 4,9a 5,8ab 5,6ab 6,0ab
Saturação por Al (%)
calculado o índice de aromaticidade (IC=C/IC-H) (Chefetz MN 60a 82a 94a 96a
et al., 1996), em que IC=C é a intensidade de absorção PN 31b 54b 84a 89b
em torno de 1.640 cm-1 e IC-H é a intensidade de absorção PQ 64a 78a 90a 94a
em torno de 2.920 cm-1. O valor da intensidade foi obtido CTCef (cmolc kg-1)
MN 9,6a 8,1a 7,9a 7,6a
a partir do programa específico do equipamento, com PN 8,4a 6,4b 5,8b 4,6b
linha de base entre 1.690 e 1.560 cm-1 para IC=C, e entre PQ 7,7a 7,5a 6,3b 6,5ab
3.000 e 2.800 cm-1 para IC-H. P (mg dm-3)
MN 9,5a 5,3a 3,0a 2,7a
Na análise estatística dos dados referentes aos
PN 4,1b 3,2b 1,7b 1,7a
atributos químicos do solo, empregou-se a análise de PQ 4,5b 2,9b 2,2ab 2,1a
variância (ANOVA) e o teste de Tukey, a 5% de (1)Valoresseguidos por letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo
probabilidade, para comparação das médias. teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
Pesq. agropec. bras., Brasília, v.43, n.5, p.633-640, maio 2008
636 D.P. Dick et al.
que é típico de Latossolos subtropicais sob vegetação Os teores de Ca, Mg e K trocáveis, nos solos sob
nativa (Dalmolin et al., 2006). No ambiente MN, o pH pastagem no presente estudo, estão em concordância
do solo é mais ácido do que nos solos sob pastagem, em com os dados obtidos por Rheinheimer et al. (2003), ao
razão, provavelmente, do maior teor de ácidos orgânicos avaliar os atributos químicos de um Cambissolo Húmico
nesse solo de MN, o que é corroborado pelo maior teor alumínico, ao longo de 350 dias após queima de pastagem
de C determinado nessas amostras (Tabela 2). nativa. Imediatamente após a queima, ocorreu aumento
Nos solos sob pastagem, o teor de Mg trocável, na dos teores desses nutrientes e diminuição dos teores de
camada 0–5 cm, foi maior na PN em comparação ao Al trocável, na camada 0–2 cm; no entanto, os valores
PQ. Os teores de Ca trocável apresentaram a mesma originais foram atingidos em 90 dias. Neste trabalho, as
tendência, embora diferenças estatísticas não tenham coletas de solo de PQ foram realizadas oito anos após
sido observadas, em razão do alto coeficiente de variação suspensão da queima, e os resultados mostram que, após
apresentado para este nutriente. Nas camadas esse período, os teores desses nutrientes no solo foram
amostradas abaixo de 20 cm, as diferenças de nutrientes inferiores aos encontrados no solo de PN.
entre PQ e PN não foram relevantes (Tabela 1). No ambiente MN, o teor de Al trocável e saturação
Em condições similares de clima e solo, Heringer & por Al até 20 cm de profundidade foram superiores aos
Jacques (2002a) também observaram menores teores observados nos solos de PN e similares aos de PQ.
de Ca e Mg, na camada superficial de um solo submetido O teor de Mg trocável no solo de MN foi inferior ao de
à queima. PN apenas na camada 0–5 cm, enquanto o K trocável
Os teores de K trocável foram elevados no solo de foi semelhante ao de PQ até a profundidade de 40 cm.
PN, até a profundidade de 40 cm, enquanto no solo de Resultado similar foi observado por Araújo et al. (2004)
PQ, os teores foram baixos e muito baixos, e estiveram em um Argissolo, em que ficou evidenciada a maior
acima do nível de suficiência somente na camada eficiência da pastagem na ciclagem de nutrientes, em
superficial (Comissão..., 2004). Provavelmente, este fato relação à mata nativa.
esteja condicionado às perdas de K, nas cinzas A CTCef de todas as amostras de solo analisadas foi
resultantes da queima por escoamento superficial elevada, e os valores mais altos foram observados em
(Certini, 2005). Os valores de Al trocável e saturação MN (Tabela 1). Para todo o grupo de amostras, foi obtida
por Al, no solo de PQ, foram superiores aos do solo de correlação significativa (r≥0,79; p<0,002) entre CTCef e
PN até 20 cm, o que é decorrente dos menores teores teor de C, o que evidencia a contribuição da MOS para
de Ca, Mg e K no complexo de troca do solo de PQ. a CTC nesse tipo de solo.
Tabela 2. Teores de carbono e nitrogênio da vegetação e do solo, antes (C e N) e após o tratamento com ácido fluorídrico (CHF
e NHF), e respectivas relações C/N, massa recuperada após tratamento com ácido fluorídrico (MR) e índice de aromaticidade
IC=C/IC-H de Latossolo Vermelho distrófico típico sob mata nativa (MN), pastagem nativa (PN) e pastagem queimada (PQ).
Amostra Prof. C N C/N CHF HHF NHF C/NHF MR IC=C/IC-H
(cm) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
MNveg - 46,2 2,6 18 nd nd nd nd nd 2,2
PNveg - 45,3 2,1 22 nd nd nd nd nd 1,3
PQveg - 43,1 0,7 62 nd nd nd nd nd 1,2
MNsolo 0–5 6,3 0,54 12 34,1 3,7 2,5 14 13,0 1,3
0–20 4,2 0,34 13 27,6 2,8 2,0 14 9,7 1,5
20–40 2,5 0,17 15 16,7 1,6 1,0 17 6,8 2,7
40–60 2,0 0,12 16 14,4 1,2 0,9 17 4,8 2,5
PNsolo 0–5 4,4 0,35 13 31,2 3,3 2,3 14 9,0 1,5
0–20 3,5 0,28 13 36,3 4,0 2,7 14 7,9 1,3
20–40 2,6 0,18 14 26,2 2,5 1,7 15 5,7 1,9
40–60 1,9 0,12 16 24,0 2,1 1,6 15 3,9 2,9
PQsolo 0–5 4,1 0,29 14 26,7 3,0 1,8 15 7,7 1,2
0–20 3,2 0,22 15 25,5 2,7 1,6 16 7,3 1,4
20–40 2,5 0,16 16 22,9 2,3 1,4 16 4,8 1,8
40–60 2,0 0,14 15 20,9 2,2 1,4 15 3,0 2,3
Pesq. agropec. bras., Brasília, v.43, n.5, p.633-640, maio 2008
Impacto da queima nos atributos químicos do solo e na vegetação 637
Os teores de P foram maiores no solo de MN até a Tanto no solo não tratado com ácido fluorídrico como
profundidade de 40 cm, especialmente na camada na MOSHF, todas as amostras apresentaram o mesmo
superficial de 0–5 cm, o que está de acordo com os padrão de espectro de FTIR e, portanto, apenas aqueles
resultados de Araújo et al. (2004), em perfis de Argissolo referentes ao PN são apresentados na Figura 1 A e B.
sob pastagem e mata.
O teor de C do solo foi relativamente elevado nos A 1.034
três ambientes e em todas as profundidades avaliadas 1.009
(Tabela 2), o que é característico de solos sob pastagem 1.094
de regiões com temperaturas amenas e com altos teores
3.627 3.442
de argila (Dalmolin et al., 2006). Nas camadas inferiores, 3.697
915
o acúmulo de C pode ser resultante de processos de
translocação de MOS e sua sorção nos minerais, como 0_ 5 cm
também de decomposição de raízes (Dalmolin et al., _
0 20 cm
2006). Os maiores teores de C foram encontrados em _
20 40 cm
solo de MN, o que era esperado, como conseqüência do _
40 60 cm
elevado aporte de resíduos vegetais usualmente
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
observado em sistemas florestais (Wambeke, 1992).
Número de onda (cm-1)
Nos solos sob pastagem, o teor de C foi maior em PN
apenas na camada superficial (0–5 cm), não tendo B 3.400 1.075
diferido entre ambientes nas demais profundidades
analisadas (Tabela 2). 1.641
2.922
Quanto ao N, o tipo de vegetação e uso do solo se 2.847
1.717 1.540
refletiu especialmente na camada superficial (0–5 cm),
onde o teor desse elemento decresceu na ordem 0_5 cm
MN>PN>PQ. A relação C/N aumentou no sentido
inverso, e seguiu o mesmo comportamento observado _
0 20 cm
para a vegetação (Tabela 2). Rheinheimer et al. (2003) _
20 40 cm
observaram que o teor de N total do solo aumentou logo
_
depois da queima, diminuiu nos meses subseqüentes, e 40 60 cm
não retornou às concentrações originais no final de
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
350 dias. No presente trabalho, após oito anos de 4.000 3.500
Número de onda (cm-1)
suspensão da queima, o teor de N no solo não alcançou
os níveis da área sem queima há 41 anos. C 3.400 1.053
O tratamento com HF foi eficiente na dissolução dos 1.249
silicatos e óxidos, tendo resultado em aumento dos teores 1.640
de C e N em todas as amostras após esse tratamento 1.517
(Tabela 2). A relação C/N, após tratamento com HF, 2.922
foi similar à do solo não tratado, e o índice R esteve no 2.850 1.733
intervalo de 0,8 a 1,2, o que indica que não houve perdas
preferenciais relevantes de N ou de C pelo tratamento
ácido (Dick et al., 2006), VG PQ
A massa recuperada, após o tratamento com solução VG MN
de HF, variou de 3 a 13% (Tabela 2) e se correlacionou VG PN
linearmente com o teor de C do solo, nos três 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
tratamentos (r≥0,91; p<0,01). Nessas amostras que Número de onda (cm ) -1
apresentam teor de argila semelhante, o teor de C do Figura 1. Espectros de infravermelho com transformada de
solo determinou a massa remanescente após tratamento Fourier (FTIR): A) do solo não tratado com ácido fluorídrico;
com HF, conforme foi observado anteriormente em B) da matéria orgânica do solo sob pastagem nativa, tratado
Neossolos de altitude do Estado do Rio Grande do Sul com ácido fluorídrico; C) da vegetação (VG) sob pastagem
(Silva, 2007). queimada (PQ), mata nativa (MN) e pastagem natural (PN).
Pesq. agropec. bras., Brasília, v.43, n.5, p.633-640, maio 2008
638 D.P. Dick et al.
Nos espectros do solo original (não tratado com HF), nos ambientes estudados; à menor disponibilidade de N
apenas na camada 0–5 cm foram observadas bandas no solo em PQ, decorrente de sua volatilização durante
de absorção referentes à presença da matéria orgânica. a queima; bem como à lixiviação (Andersson et al., 2004;
Nessas amostras, as bandas de estiramento dos grupos Knicker 2007). Segundo Heringer (2000), a queima da
C–H foram identificados na região de 2.922 e 2.850 cm-1 pastagem, em solos desta região, favoreceu as espécies
(Figura 1 A). Nas outras camadas, o teor de MOS foi andropogôneas e a Piptochaetium montevidense,
insuficiente para se sobrepor à absorção dos minerais, pobres em N, em detrimento de gramíneas e leguminosas
cujas principais bandas foram em 3.697 e 3.627 cm-1, de hábito rasteiro, e de ciperáceas. Estivalet Júnior (1997)
atribuídos aos estiramentos externo e interno de Al–OH observou que a queima reduziu o teor médio de N no
da caulinita, e 1.094, 1.034, 1.009 e 915 cm-1 das material morto de 2,5 a 3,5 vezes, em pastagem nativa
vibrações do Si–O da caulinita e do quartzo. A presença na região da Depressão Central do Rio Grande do Sul,
de caulinita foi detectada anteriormente, em solos da em comparação à pastagem não queimada.
região, por difração de raio-X (Dalmolin et al., 2006). Os espectros de FTIR da vegetação não se
Os espectros de FTIR de MOS HF apresentaram diferenciaram quanto ao tipo de grupo funcional, e foram
padrão típico de matéria orgânica humificada identificadas as seguintes bandas com estiramento de:
(Figura 1 B), cujas principais bandas de absorção foram OH em ponte em 3.420 cm-1; C–H de alifáticos em 2.922
semelhantes às observadas nos espectros da vegetação e 2.850 cm-1; C=O de COOH em 1.733 cm-1; C=C de
(Figura 1 C). Os espectros diferem, entretanto, quanto grupos aromáticos em 1.640 cm-1; N–H em 1.517 cm-1.
à posição de algumas bandas de absorção. Foram detectadas também bandas com deformação de:
O estiramento C=O da carboxila na MOSHF ocorre em C−H de alifáticos em 1.429 cm-1; C–O de COOH em
número de onda (1.717 cm -1 ) menor do que na 1.249 cm-1 e bandas com absorção de Si–O entre 1.053
vegetação (1.733 cm-1), o que indica que, na matéria e 1.038 cm-1 (Figura 1 C). No entanto, a intensidade
orgânica humificada, este grupo funcional encontra-se relativa de algumas bandas foi diferente, o que indica
conjugado às estruturas mais condensadas proporções diferenciadas dos grupos funcionais. O índice
comparativamente à vegetação. Deslocamentos desta de aromaticidade I C=C /I C-H decresceu na ordem
banda para números de onda menores foram observados MN>PN≅PQ (Tabela 2), e possivelmente a maior
para MOS HF de solos reconstruídos em área de proporção de lignina, usualmente observada na
mineração, o que foi atribuído à conjugação da carboxila vegetação de mata, explica o caráter aromático
a ligas duplas e anéis aromáticos (Dick et al., 2006). comparativamente mais elevado desta amostra.
O grupo Si–O na MOSHF absorveu em número de onda No espectro de PQ, a intensidade da banda de Si–O
maior (1.075 cm-1) (Figura 1 B) do que na vegetação (1.053 cm-1) foi mais acentuada do que nas outras
(Figura 1 C), o que indica a presença de estruturas amostras, o que indica proporção mais elevada de silício.
silicatadas, precipitadas durante o processo de remoção Segundo Quadros (1999), a silicificação dos tecidos pode,
da fração inorgânica com HF (Dick et al., 2006). eventualmente, ser considerada uma estratégia
Contrariamente ao observado na vegetação, o adaptativa das plantas em relação a distúrbios como a
índice de aromaticidade da MOS HF, nas camadas queima.
0–5 e 0–20 cm, não diferiu de modo relevante entre os
tratamentos analisados e, em todos os ambientes, Conclusões
aumentou no perfil (Tabela 2). O aumento do caráter
aromático da MOSHF com a profundidade foi observado 1. A queima da pastagem favorece o predomínio de
em outros Latossolos subtropicais e pode ser atribuído a vegetação com maior teor de silício e menor teor de
um efeito de diluição na superfície, resultante do aporte nitrogênio; este efeito persiste por oito anos após a
de resíduos, como também à translocação de compostos suspensão da queima.
aromáticos ao longo do perfil (Dick et al., 2005). 2. A vegetação de mata, possui maior proporção de
O teor de C na vegetação foi similar entre os diversos grupamentos nitrogenados e é mais aromática do que a
ambientes analisados, enquanto o teor de N diminuiu na da pastagem.
ordem MN>PN>PQ, e acarretou uma variação da 3. O solo de pastagem queimada é mais pobre em
relação C/N na ordem inversa (Tabela 2). Este resultado nutrientes e apresenta saturação por alumínio mais elevada,
pode ser atribuído: às diferentes espécies que ocorrem em comparação ao solo de pastagem sem queima.
Pesq. agropec. bras., Brasília, v.43, n.5, p.633-640, maio 2008
Impacto da queima nos atributos químicos do solo e na vegetação 639
4. O solo de mata nativa apresenta maiores teores ESTIVALET JÚNIOR, C.N.O. Efeitos de ceifa, queima e
de carbono e nitrogênio, menor relação carbono/ diferimento sobre a disponibilidade de forragem e composição
botânica de uma pastagem natural. 1997. 82p. Dissertação
nitrogênio, e saturação por alumínio mais elevada do que
(Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
o de pastagem nativa. Alegre.
5. A composição química do tipo de vegetação, no
FARMER, V.C. The infrared spectra of minerals. Londres:
que se refere aos teores de carbono e nitrogênio, se Mineralogical Society, 1974. 539p.
reflete na composição química do solo apenas na
GONÇALVES, C.N.; DALMOLIN, R.S.D.; DICK, D.P.;
camada superficial (0–5 cm). KNICKER, H.; KLAMT, E.; KOEGEL-KNABNER, I. The effect
of 10% HF treatment in the resolution of CPMAS 13C NMR spectra
Agradecimentos and on the quality of organic matter in Ferralsols. Geoderma, v.116,
p.373-392. 2003.
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de HERINGER, I. Efeitos do fogo por longo período e de alternativas
Nível Superior e ao Conselho Nacional de de manejo sobre o solo e a vegetação de uma pastagem natural.
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pelo suporte 2000. 208p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre.
financeiro.
HERINGER, I.; JACQUES, A.V.A. Nutrientes no mantilho em
pastagem nativa sob distintos manejos. Ciência Rural, v.32, p.841-847,
Referências 2002a.
ANDERSSON, M.; MICHELSEN, A.; JENSEN, M.; KJØLLER, HERINGER, I.; JACQUES, A.V.A. Qualidade da forragem de
A. Tropical savannah woodland: effects of experimental fire on soil pastagem nativa sob distintas alternativas de manejo. Pesquisa
microorganisms and soil emissions of carbon dioxide. Soil Biology Agropecuária Brasileira, v.37, p.399-406, 2002b.
and Biochemistry, v.36, p.849-858, 2004. HERINGER, I.; JACQUES, A.V.A.; BISSANI, C.A.; TEDESCO,
ARAÚJO, E.A.; LANI, J.L.; AMARAL, E.F.; GUERRA, A. Uso M. Características de um Latossolo Vermelho sob pastagem natural
da terra e propriedades físicas e químicas de Argissolo Amarelo sujeita à ação prolongada do fogo e de práticas alternativas de manejo.
distrófico na Amazônia Ocidental. Revista Brasileira de Ciência Ciência Rural, v.32, p.309-314, 2002.
do Solo, v.28, p.307-315, 2004. JACQUES, A.V.A. A queima das pastagens naturais: efeitos sobre o
CERTINI, G. Effects of fire on properties of forest soils: a review. solo e a vegetação. Ciência Rural, v.33, p.177-181, 2003.
Oecologia, v.143, p.1-10, 2005. KNICKER, H. How does fire affect the nature and stability of soil
CHEFETZ, B.; HATCHER, P.; HADAR, Y.; CHEN, Y. Chemical organic nitrogen and carbon? A review. Biogeochemistry, v.85, p.91-118,
and biological characterization of organic matter during composting 2007.
of municipal solid waste. Journal of Environmental Quality, v.25, KNICKER, H.; GONZÁLEZ-VILA, F.J.; POLVILLO, O.;
p.776-785, 1996. GONZÁLEZ, J.A.; ALMENDROS, G. Wildfire induced alterations
COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO. Manual of the chemical composition of humic material in a Dystric Xerochrept
de adubação e calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e under a Mediterranean pine forest (Pinus pinaster Aiton). Soil
Santa Catarina. 10.ed. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Ciência Biology and Biochemistry, v.37, p.701-718, 2005.
do Solo; Comissão de Química e Fertilidade do Solo, 2004. 400p. QUADROS, L.F.F. Dinâmica vegetacional em pastagem natural
COUTINHO, L.M. O Cerrado e a ecologia do fogo. Ciência Hoje, submetida a tratamento de queima e pastejo. 1999. 128p. Tese
v.12, p.22-30, 1990. (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre.
DALMOLIN, R.S.D.; GONÇALVES, C.N.; DICK, D.P.;
KNICKER, H.; KLAMT, E.; KÖGEL-KNABNER, I. Organic RHEINHEIMER, D.S.; SANTOS, J.C.P.; FERNANDES, V.B.B.;
matter characteristics and distribution in Ferralsol profiles of a MAFRA, A.L.; ALMEIDA, J.A. Modificações nos atributos
climosequence in Southern Brazil. European Journal of Soil químicos de solo sob campo nativo submetido à queima. Ciência
Science, v.57, p.644-654, 2006. Rural, v.33, p.49-55, 2003.
DICK, D.P.; GONÇALVES, C.N.; DALMOLIN, R.S.D.; ROSCOE, R.; BUURMAN, P.; VELTHORST, E.J.; PEREIRA,
KNICKER, H.; KLAMT, E.; KÖGEL-KNABNER, I.; SIMOES, J.A.A. Effects of fire on soil organic matter in a cerrado “sensu-
M.L.; MARTIN-NETO, L. Characteristics of soil organic matter of stricto” from Southeast Brazil as revealed by changes in δ13C.
different Brazilian Ferralsols under native vegetation as a function of Geoderma, v.95, p.141-160, 2000.
soil depth. Geoderma, v.124, p.319-333, 2005.
SANTOS, C.A.A. Matéria orgânica de Argissolo Vermelho e
DICK, D.P.; KNICKER, H.; ÁVILA, L.G.; INDA JÚNIOR, A.V.; Latossolo Bruno sob diferentes sistemas de manejo e sob
GIASSON, E.; BISSANI, C.A. Organic matter in constructed soils vegetação nativa: distribuição das frações físicas, qualidade e sorção
from a coal mining area in Southern Brazil. Organic Geochemistry, do herbicida atrazina. 2005. 180p. Tese (Doutorado) - Universidade
v.37, p.1537-1545, 2006. Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Pesq. agropec. bras., Brasília, v.43, n.5, p.633-640, maio 2008
640 D.P. Dick et al.
SERRASOLSAS, I.; KHANNA, P.K. Changes in heated and TAN, K.H. Humic matter in soil and the environment: principles
autoclaved forest soils of S. E. Australia. II. Phosphorus and and controversies. New York: Marcel Dekker, 2003. 385p.
phosphatase activity. Biogeochemistry, v.29, p.25-41, 1995. TEDESCO, M.J.; GIANELLO, C.; BISSANI, C.A.; BOHNEN, H.;
SILVA, L.B. Quantificação e caracterização da matéria VOLKWEISS, S.J. Análise de solo, plantas e outros materiais.
orgânica em horizontes A de solos sob pastagem nativa dos 2.ed. Porto Alegre: UFRGS, 1995. 174p. (Boletim Técnico, 5).
Campos de Cima da Serra, RS. 2007. 59p. Dissertação ULERY, A.L.; GRAHAM, R.C.; AMRHEIN, C. Wood-ash
(Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto composition and soil pH following intense burning. Soil Science,
Alegre. v.156, p.358-364, 1993.
STRECK, E.V.; KÄMPF, N.; DALMOLIN, R.S.D.; KLAMT, WAMBEKE, A. van. Vegetation, soil organic matter and crops. In:
E.; NASCIMENTO, P.C.; SCHNEIDER, P. Solos do Rio WAMBEKE, A. van. Soils of the Tropics: properties and
Grande do Sul. Porto Alegre: Emater; UFRGS, 2002. 107p. appraisals. Toronto: McGraw-Hill, 1992. p.69-95.
Recebido em 27 de novembro de 2007 e aprovado em 25 de abril de 2008
Pesq. agropec. bras., Brasília, v.43, n.5, p.633-640, maio 2008
Você também pode gostar
- Apostila de Lubrificação BásicaDocumento59 páginasApostila de Lubrificação Básicajdionisio2012Ainda não há avaliações
- Relatorio Acido BaseDocumento26 páginasRelatorio Acido BaseMarcio Flavio Vidal71% (7)
- Industria Do VidroDocumento17 páginasIndustria Do VidroAmanda OliveiraAinda não há avaliações
- Apostila Teste de EstanqueidadeDocumento33 páginasApostila Teste de EstanqueidadeSr brasil100% (5)
- 2011 - Adubação VerdeDocumento8 páginas2011 - Adubação VerdePatySilvaAinda não há avaliações
- Treinamento Plantio Vitoria TopDocumento107 páginasTreinamento Plantio Vitoria TopKlinsmann HenrichsenAinda não há avaliações
- Novas pesquisas em Ciências Biológicas e Biodiversidade: Volume 3No EverandNovas pesquisas em Ciências Biológicas e Biodiversidade: Volume 3Ainda não há avaliações
- Teste 2 ADocumento4 páginasTeste 2 AMarta GonçalvesAinda não há avaliações
- Silva 2011Documento14 páginasSilva 2011Ariadne Cristina De AntonioAinda não há avaliações
- GtterceiroinventarioDocumento99 páginasGtterceiroinventarioTeobaldo JogosAinda não há avaliações
- Artigo - Dinamica Do Carbono No Solo em Ecossistemas Nativos e Plantações Florestais em SCDocumento9 páginasArtigo - Dinamica Do Carbono No Solo em Ecossistemas Nativos e Plantações Florestais em SCmichel souzaAinda não há avaliações
- Bustamante 2008Documento24 páginasBustamante 2008Marcelo Francisco SestiniAinda não há avaliações
- Estoque de Carbono DFDocumento12 páginasEstoque de Carbono DFCharles FonsecaAinda não há avaliações
- DownloadDocumento12 páginasDownloadCaio GarboAinda não há avaliações
- Uso Do Fogo em Pastagens NaturaisDocumento22 páginasUso Do Fogo em Pastagens NaturaisNewton de Lucena CostaAinda não há avaliações
- Leguminosas e GramíneasDocumento10 páginasLeguminosas e GramíneasGilson VenturaAinda não há avaliações
- Artigo 2 - Qualidade e Rendimento Do Carvão Vegetal de Um Clone Híbrido de Eucalyptus Grandis X Eucalyptus UrophyllaDocumento12 páginasArtigo 2 - Qualidade e Rendimento Do Carvão Vegetal de Um Clone Híbrido de Eucalyptus Grandis X Eucalyptus UrophyllaGuilherme de Miranda Fernandes ReisAinda não há avaliações
- Variação Temporal Da Agregação e Da Matéria Orgânica em Um Argissolo Sob Diferentes Preparos Do Solo para Plantio de EucaliptoDocumento4 páginasVariação Temporal Da Agregação e Da Matéria Orgânica em Um Argissolo Sob Diferentes Preparos Do Solo para Plantio de EucaliptoSamara Pozzan da RochaAinda não há avaliações
- CARDOSO, E. L. Et Al. 2000. Composição e Dinâmica Da Biomassa Aérea Após A Queima em Savana Gramíneo-Lenhosa No PantanalDocumento8 páginasCARDOSO, E. L. Et Al. 2000. Composição e Dinâmica Da Biomassa Aérea Após A Queima em Savana Gramíneo-Lenhosa No PantanalMadson FreitasAinda não há avaliações
- Estoques de Carbono Do PantanalDocumento5 páginasEstoques de Carbono Do PantanalCharles FonsecaAinda não há avaliações
- 866-Texto Do Artigo-1705-1-10-20210516Documento8 páginas866-Texto Do Artigo-1705-1-10-20210516Jesus Soberón LozanoAinda não há avaliações
- Efeito Do Fogo Sobre o SoloDocumento12 páginasEfeito Do Fogo Sobre o SoloBruna RibeiroAinda não há avaliações
- Atributos Físicos, Químicos e Mineralógicos Dos Solos Do Cerrado. R. Bras Ci. Solo 2004, 17pDocumento17 páginasAtributos Físicos, Químicos e Mineralógicos Dos Solos Do Cerrado. R. Bras Ci. Solo 2004, 17pAlcidesGattoAinda não há avaliações
- Estoque de Carbono em PastagemDocumento4 páginasEstoque de Carbono em PastagemErlon HonoratoAinda não há avaliações
- G1 - Produção de Forragem em SSPDocumento8 páginasG1 - Produção de Forragem em SSPGuilherme SantosAinda não há avaliações
- Cópia de Cópia de FICHAMENTO FERNANDO ICARO PDFDocumento1 páginaCópia de Cópia de FICHAMENTO FERNANDO ICARO PDFLucas OliveiraAinda não há avaliações
- Impactos Do Fogo Sobre A Entomofauna Do SoloDocumento11 páginasImpactos Do Fogo Sobre A Entomofauna Do SoloEdson Alves de AraújoAinda não há avaliações
- Agostinho Et Al, 2013Documento4 páginasAgostinho Et Al, 2013Nathalia FrançaAinda não há avaliações
- BNX YX3 F8 Q Nyvc Yq ZNC MR4 TNDocumento11 páginasBNX YX3 F8 Q Nyvc Yq ZNC MR4 TNMateus Lara RochaAinda não há avaliações
- Mineralização de Nitrogênio em Solo Tropical Tratado Com Lodos de EsgotoDocumento9 páginasMineralização de Nitrogênio em Solo Tropical Tratado Com Lodos de Esgotofarleymendes17qAinda não há avaliações
- Corrigido. DEPOSIÇÃO DE SERAPILHEIRA E LIBERAÇÃO DE NUTRIENTES DE TRÊS FLORESTAS DISTINTAS EM DOIS VIZINHOSDocumento10 páginasCorrigido. DEPOSIÇÃO DE SERAPILHEIRA E LIBERAÇÃO DE NUTRIENTES DE TRÊS FLORESTAS DISTINTAS EM DOIS VIZINHOSTiago LuisAinda não há avaliações
- Plantas Indicadoras 2 PDFDocumento8 páginasPlantas Indicadoras 2 PDFFábio De Santis CamposAinda não há avaliações
- Solo Apiaú-RRDocumento12 páginasSolo Apiaú-RRFrancine GuimarãesAinda não há avaliações
- FERNANDES Et Al., 2014 - REVISTA CULTIVANDO O SABERDocumento16 páginasFERNANDES Et Al., 2014 - REVISTA CULTIVANDO O SABERKathleen Fernandes BrazAinda não há avaliações
- 2000BarbosaeFearnside QueimPast RR BoletimMIRRDocumento9 páginas2000BarbosaeFearnside QueimPast RR BoletimMIRRemil diogoAinda não há avaliações
- Efeito de Doses de N Na Produtividade Da CebolaDocumento12 páginasEfeito de Doses de N Na Produtividade Da CebolaBruno OliveiraAinda não há avaliações
- 363-Texto Do Artigo-3870-2-10-20121114Documento14 páginas363-Texto Do Artigo-3870-2-10-20121114VANDERLEI TREVISANAinda não há avaliações
- DownloadDocumento8 páginasDownloadCamila GonçalvesAinda não há avaliações
- Benefícios Da Seqüência de Adubações NPK em Pastagens de Brachiária BrizanthaDocumento11 páginasBenefícios Da Seqüência de Adubações NPK em Pastagens de Brachiária BrizanthaDaniel DiasAinda não há avaliações
- Zeferino 2023Documento38 páginasZeferino 2023Elaine Cosma FiorelliAinda não há avaliações
- Estoque e Mecanismo de Protecao Fisica Do Carbono No Solo 2021Documento14 páginasEstoque e Mecanismo de Protecao Fisica Do Carbono No Solo 2021Ciro MagalhãesAinda não há avaliações
- Estimativa de Captação de Carbono Por Árvore Esalq 2009Documento23 páginasEstimativa de Captação de Carbono Por Árvore Esalq 2009Kilha1Ainda não há avaliações
- Comissão 3.3 Manejo e Conservação Do Solo e Da Água: André Barbosa Silva Et Al. 502Documento10 páginasComissão 3.3 Manejo e Conservação Do Solo e Da Água: André Barbosa Silva Et Al. 502Fábio MoritzAinda não há avaliações
- QUALIDADE DA MADEIRA DE Eucalyptus Dunii PARA FINS ENERGÉTICOS EM FUNÇÃO DO ESPAÇAMENTODocumento13 páginasQUALIDADE DA MADEIRA DE Eucalyptus Dunii PARA FINS ENERGÉTICOS EM FUNÇÃO DO ESPAÇAMENTOEduardo PinheiroAinda não há avaliações
- Trab1 ApDocumento6 páginasTrab1 ApcerradoemextincaoAinda não há avaliações
- Biomassa E Estoques de Carbono em Diferentes Sistemas Florestais No Sul Do BrasilDocumento12 páginasBiomassa E Estoques de Carbono em Diferentes Sistemas Florestais No Sul Do Brasilelba danielaAinda não há avaliações
- Utilização Do Fogo No Manejo de PastagensDocumento19 páginasUtilização Do Fogo No Manejo de PastagensNewton de Lucena Costa100% (2)
- Componente Arbóreo, Estrutura Fitossociológica ..Documento12 páginasComponente Arbóreo, Estrutura Fitossociológica ..Fernanda Duarte Araújo HimmenAinda não há avaliações
- DescarregarDocumento6 páginasDescarregarSalimo José ArmandoAinda não há avaliações
- Respiracao EdaficaDocumento15 páginasRespiracao EdaficaJoselyfernandesAinda não há avaliações
- Zhou Et Al., 2022Documento15 páginasZhou Et Al., 2022edir bezerraAinda não há avaliações
- Artigo Carvão RecadDocumento3 páginasArtigo Carvão RecadPaulo MendesAinda não há avaliações
- As Relações Entre A Vegetação e o Meio Físico Do Cerrado Pé-De-Gigante. 2002, 16pDocumento16 páginasAs Relações Entre A Vegetação e o Meio Físico Do Cerrado Pé-De-Gigante. 2002, 16pAlcidesGattoAinda não há avaliações
- 66-Artigo de Submissão (Enviar No Word) - 348-376!10!20061224Documento11 páginas66-Artigo de Submissão (Enviar No Word) - 348-376!10!20061224jose.pauloAinda não há avaliações
- Tairo,+5.Artigo+139 09+Emissao+de+Co2+ +CA+ +OKDocumento10 páginasTairo,+5.Artigo+139 09+Emissao+de+Co2+ +CA+ +OKMateus Lara RochaAinda não há avaliações
- 5908 12697 1 PBDocumento10 páginas5908 12697 1 PBMarcio RolimAinda não há avaliações
- Produção de Forragem e Atributos Químicos e Físicos Do Solo em Sistemas Integrados de Produção AgropecuáriaDocumento4 páginasProdução de Forragem e Atributos Químicos e Físicos Do Solo em Sistemas Integrados de Produção AgropecuáriaRonaldo SantosAinda não há avaliações
- Solo - Qualidade Da Madeira - PinusDocumento7 páginasSolo - Qualidade Da Madeira - PinusmiriamAinda não há avaliações
- Comparação Entre Solo Do Parque Ecologico Jatoba Centenario de Morrinhos e Solo Utilizado No Cultivo de Graos Soja e FeijaoDocumento12 páginasComparação Entre Solo Do Parque Ecologico Jatoba Centenario de Morrinhos e Solo Utilizado No Cultivo de Graos Soja e FeijaoUEGMORRINHOSAinda não há avaliações
- Arqueologia e Paleoambiente em Áreas de Cerrado PDFDocumento11 páginasArqueologia e Paleoambiente em Áreas de Cerrado PDFVinícius de OliveiraAinda não há avaliações
- Dinamica Do CDocumento8 páginasDinamica Do CDemichaelmax MeloAinda não há avaliações
- Artigo 1 - Aporte e Decomposição de Serrapilheira - Jorge Renan e João VictorDocumento8 páginasArtigo 1 - Aporte e Decomposição de Serrapilheira - Jorge Renan e João VictorDanielly LucenaAinda não há avaliações
- Estoque de Carbono e de Biomassa em Vegetação Com Diferentes EstágiosDocumento16 páginasEstoque de Carbono e de Biomassa em Vegetação Com Diferentes EstágiosCharles FonsecaAinda não há avaliações
- Atributos Fisicos Do Solo em Áreas Sob Diferentes Sistemas de Usos Na Regiao de ManicoréDocumento7 páginasAtributos Fisicos Do Solo em Áreas Sob Diferentes Sistemas de Usos Na Regiao de Manicorémichel souzaAinda não há avaliações
- Compactação de Um Chernossolo Rendzico-Duas PáginasDocumento2 páginasCompactação de Um Chernossolo Rendzico-Duas PáginasRoberto Vieira PordeusAinda não há avaliações
- Barbero Et Al 2009 (RBZ) - Produção de Forragem e Componentes Morfológicos de Panicum MaximumDocumento8 páginasBarbero Et Al 2009 (RBZ) - Produção de Forragem e Componentes Morfológicos de Panicum MaximumPaulo MendesAinda não há avaliações
- ijerph-19-13721-v2.en.ptDocumento18 páginasijerph-19-13721-v2.en.ptPatySilvaAinda não há avaliações
- 2020 Dis KcdsousaDocumento64 páginas2020 Dis KcdsousaPatySilvaAinda não há avaliações
- Mapa Das AtividadeDocumento2 páginasMapa Das AtividadePatySilvaAinda não há avaliações
- Introdução A SistematicaDocumento38 páginasIntrodução A SistematicaPatySilva100% (1)
- Sistematica 4Documento51 páginasSistematica 4PatySilvaAinda não há avaliações
- Campo Magnetico Das Correntes Eletricas - TextoDocumento35 páginasCampo Magnetico Das Correntes Eletricas - TextoCauã Dos SantosAinda não há avaliações
- NBR 06187 - Lingote de Cobre EletroliticoDocumento6 páginasNBR 06187 - Lingote de Cobre EletroliticoWagner BritoAinda não há avaliações
- Ureia TecnicaDocumento6 páginasUreia TecnicaPrimas &VocêAinda não há avaliações
- Edital - 2 EUF 2023Documento8 páginasEdital - 2 EUF 2023Krt MndAinda não há avaliações
- Apostila Leis de NewtonDocumento5 páginasApostila Leis de Newtonweslleyramos559Ainda não há avaliações
- Combate A Incêndio SlidesDocumento11 páginasCombate A Incêndio Slidesengenhariamec100% (1)
- Universidade Técnica de MoçambiqueDocumento16 páginasUniversidade Técnica de MoçambiqueLucasFilipeTameleAinda não há avaliações
- Simulado FisicaDocumento5 páginasSimulado Fisicaarimsx1Ainda não há avaliações
- Instalação de Gás Com Tubos PEX Multicamada (Téchne, 2014)Documento7 páginasInstalação de Gás Com Tubos PEX Multicamada (Téchne, 2014)Harielson Dhagne Brito MendesAinda não há avaliações
- Entalpia, Entropia e Energia Interna Com Relações de Maxwell + O Estado de Gás Ideal - Termodinâmica Clássica (P)Documento11 páginasEntalpia, Entropia e Energia Interna Com Relações de Maxwell + O Estado de Gás Ideal - Termodinâmica Clássica (P)guilherme maiaAinda não há avaliações
- Movimento Circular UniformeDocumento88 páginasMovimento Circular UniformeMarcos GuilhermeAinda não há avaliações
- Pilha de LimaoDocumento3 páginasPilha de LimaoDaqueuaho Afonso CalaveteAinda não há avaliações
- Manual Tecnico Amora Rev1Documento10 páginasManual Tecnico Amora Rev1Gustavo odontotechAinda não há avaliações
- Quimica Organica Sintese e Purificacao Da AcetanilidaDocumento3 páginasQuimica Organica Sintese e Purificacao Da AcetanilidaOsvaldo FerreiraAinda não há avaliações
- Catalogo Simplifisica FinalDocumento28 páginasCatalogo Simplifisica FinalChristine AndersonAinda não há avaliações
- Atividade3M 20220912155046Documento3 páginasAtividade3M 20220912155046Mariah MoreiraAinda não há avaliações
- Pratica 1 Coeficiente de Difusao Lab Eq1 PDFDocumento19 páginasPratica 1 Coeficiente de Difusao Lab Eq1 PDFOndina Monteiro FernandesAinda não há avaliações
- Patologia - Recuperacao e Reparo Das Estruturas de Concreto - EspecializacaoDocumento56 páginasPatologia - Recuperacao e Reparo Das Estruturas de Concreto - Especializacaozhe7839Ainda não há avaliações
- Estudo Dirigido - Ciclo de KrebsDocumento2 páginasEstudo Dirigido - Ciclo de KrebsAndrea SantosAinda não há avaliações
- PDF 20230419 104918 0000Documento5 páginasPDF 20230419 104918 0000Penelope FAinda não há avaliações
- Prova 1Documento3 páginasProva 1Fernando Souza de OliveiraAinda não há avaliações
- 10ano Q 2 1 3 Compostos OrganicosDocumento26 páginas10ano Q 2 1 3 Compostos OrganicosMarta CâmaraAinda não há avaliações
- plc0011 03Documento25 páginasplc0011 03Belson Cumbe JrAinda não há avaliações