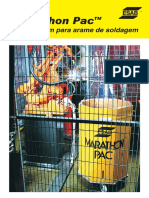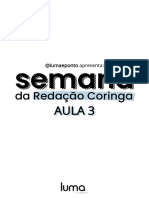Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Agua Esgoto Brasil Leo Heller
Agua Esgoto Brasil Leo Heller
Enviado por
Christopher DeleonDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Agua Esgoto Brasil Leo Heller
Agua Esgoto Brasil Leo Heller
Enviado por
Christopher DeleonDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CENTRE FOR BRAZILIAN STUDIES
UNIVERSITY OF OXFORD
Acesso aos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Brasil: consideraes histricas, conjunturais e prospectivas
Lo Heller
Working Paper Number CBS-73-06
junho/2006
Centre for Brazilian Studies University of Oxford 92 Woodstock Rd Oxford OX2 7ND
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Acesso aos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Brasil: consideraes histricas, conjunturais e prospectivas1
Lo Heller Senior Lecturer, Department of Sanitary and Environmental Engineering, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil Visiting Research Associate, Centre of Brazilian Studies and School of Geography and the Environment, University of Oxford (2005-2006) Resumo Apresenta-se, analiticamente, a situao dos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Brasil. Mesmo reconhecendo a fragilidade e as imprecises dos indicadores quantitativos disponveis, sobretudo relativos cobertura de atendimento, procura-se avaliar a tendncia por eles apontada. A anlise complementada pelo relato da evoluo histrica do setor, buscando-se localizar nessa trajetria algumas marcas que trazem obstculos e oportunidades para o presente; pela descrio de experincias cooperativas de municpios, experincias municipais, experincias das companhias estaduais e sistema condominial - que possam ser consideradas bem sucedidas e se tornar paradigmas para um novo cenrio; e, por fim, procuram-se visualizar cenrios prospectivos, com base no panorama legal e poltico-institucional. Nesse ltimo ponto, destaque oferecido ao projeto de lei n. 5.296, de iniciativa do Governo Federal, e seu potencial em suprir lacuna histrica do setor, em possibilitar a existncia de regras claras para a prestao dos servios e em contribuir para sua universalizao e a melhoria da qualidade do atendimento populao. O documento procura demonstrar que, se avanos importantes j foram observados no pas na rea de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio, ainda h um importante passivo a ser solucionado. E que um quadro mais satisfatrio, inclusive na direo do cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do Milnio, somente ser atingido se a dimenso do setor enquanto poltica pblica, com necessidades de efetivos instrumentos de gesto, for seriamente considerada. Alm disso, defende-se que anlises conseqentes dessa realidade e da sua evoluo no devam negligenciar as tenses verificadas na luta pelo poder poltico, social e econmico representado pelo setor, colocando em diferentes lados, circunstancialmente, atores que
O presente working paper constitui adaptao de trabalho Access to water supply and sanitation in Brazil: Historical and current reflections; future perspectives,elaborado por solicitao do UNDP United Nations Development Programme, com vistas a subsidiar o texto base do Relatrio de Desenvolvimento Humano de 2006, tendo sido desenvolvido no mbito do programa de ps-doutorado do autor, junto ao Centre for Brazilian Sudies e School of Geography and the Environment da University of Oxford.
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
nele atuam, com seus respectivos interesses: instncias federativas de governo, iniciativa privada e sociedade civil. Abstract The paper provides an analytical description of water supply and sanitation in Brazil. While acknowledging the fragility and imprecision of the available quantitative indicators, particularly those that measure service coverage, it attempts to identify some major trends. The essay provides a description of the evolution of this sector, seeking to identify milestones along the way that present obstacles and opportunities for the current day. Experiments are describedmunicipal cooperatives and experiments, state company experiments and the condominial systemthat may be considered successful and supply paradigms for a new scenario. Finally, the paper looks ahead to possible scenarios for the future, based on the current legal and politico-institutional landscape. In this connection, the paper highlights the federal governments bill for Law no. 5.296 and the potential it has to supply what the sector historically has lackedthe setting of clear guidelines for service provision that would lead to universality and improvements in the quality of service for the population. The document tries to show that, although important advances in water supply and sanitation have been achieved in Brazil, there remains a significant deficit to be addressed. Moreoever, a more satisfactory framework, including progress in meeting the Millennium Development Goals, will be produced only when the sectors public policy dimensionsand its need for effective administrative toolsare seriously taken into consideration. Furthermore, it is suggested that subsequent analyses of this reality and its evolution ought not to ignore the tensions produced in the struggle within the sector for social, economic, and political power, which variously pits its different actorsfederal authorities, private enterprise, and civil society against one other.
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Introduo A avaliao do acesso aos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio2 em uma dada localidade, em verdade, no constitui tarefa trivial. A abordagem mais usual, para tanto, a de se recorrer a indicadores de cobertura de atendimento, disponvel em fontes oficiais3. Nos nveis nacionais, o procedimento padronizado tem sido o de se levantar, em geral para as populaes urbana, rural e total, o nmero de moradores com acesso aos servios e determinar sua proporo em relao ao total da respectiva populao. Diversas imprecises so verificadas nesse processo: a definio de urbano e rural; a determinao dos totais populacionais; a determinao da populao atendida e, sobretudo, o conceito de acesso. Tanto para o abastecimento de gua quanto para o esgotamento sanitrio, diversas definies de acesso podem ser adotadas, cada qual incorporando valores sociais e polticos e conduzindo a diferentes resultados e implicaes. Entretanto, a dificuldade no se resume definio do status de atendimento que se pretende considerar. Existem claras limitaes metodolgicas quanto caracterizao de um dado status, principalmente da qualidade como o servio fornecido. A superao desses limites conduziria a abordagens com maior profundidade, combinando avaliaes quantitativas com qualitativas, dados agregados com dados desagregados, dados secundrios com investigaes de campo, perspectiva histrica com quadro conjuntural, anlise poltico-institucional com avaliao de indicadores, dentre outros enfoques. Obviamente, uma tarefa com essa viso demandaria estudos especficos, em geral impossveis apenas com a busca nas fontes secundarias disponveis. Ao mesmo tempo ciente das limitaes de uma anlise que emprega apenas dados oficiais e das dificuldades em se empreender um estudo em maior profundidade, o presente artigo procura avaliar a situao do acesso aos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Brasil a partir de uma abrangncia maior de informaes e uma olhar mais qualitativo para estas. Assim, parte-se da descrio da evoluo histrica do setor, buscando-se localizar nessa trajetria algumas marcas que trazem obstculos e oportunidades para o presente; avaliam-se as condies de prestao dos servios nos ltimos anos, procurando localizar indcios da qualidade como so oferecidos mas no deixando de explorar as limitaes dos
2 No Brasil, tanto na organizao do Estado quanto na formulao de leis e polticas, tem-se trabalhado com os conceitos de saneamento, saneamento bsico ou saneamento ambiental (muitas vezes empregados de forma indistinta), compreendendo as subreas de abastecimento de gua, esgotamento sanitrio, limpeza publica, drenagem pluvial e controle de vetores. 3 Por exemplo, o Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation, iniciativa conjunta da World Health Organisation e da UNICEF, que publica periodicamente o estado da cobertura pelos servios nos diversos pases e regies do Mundo. Pode-se consultar, a este respeito, Water for life: making it happen. (2005) e Global water supply and sanitation assessment 2000 report. (2000).
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
indicadores disponveis; descrevem-se experincias no pas que possam ser consideradas bem sucedidas e se tornar paradigmas para um novo cenrio; e, por fim, procuram-se visualizar cenrios prospectivos, com base no panorama legal e poltico-institucional. Temse a conscincia de que se trata de uma abordagem preliminar, que necessitar de ajustes e de aprofundamento analtico, mas que eventualmente possa desempenhar o papel de um quadro referencial para posteriores avaliaes. Breve histrico da organizao dos servios Para se entender convenientemente a atual situao da rea no Brasil, fundamental examinar a evoluo de como o Estado brasileiro o encarou ao longo da histria. Basicamente, so identificados cinco distintos perodos na trajetria dos modelos para o saneamento no Brasil, conforme caracterizado a seguir4: Primeiro perodo: sculo XVI a meados do sculo XIX Colnia portuguesa at o incio do sculo XIX, o Brasil foi palco de uma poltica econmica baseada no comrcio exterior, sendo a estrutura colonial direcionada para atender a esses interesses, no havendo assim polticas explcitas que visassem s melhorias nas condies de vida do brasileiro. O poder poltico teve como caracterstica a descentralizao, iniciada com o sistema de Capitanias Hereditrias, concentrando o poder poltico e econmico nas mos dos grandes proprietrios de terra. A maior parte das aes sanitrias tinha carter individual, como poucas intervenes realizadas no plano coletivo at meados do sculo XVIII. Com a descoberta do ouro, o crescimento populacional criou demanda por aes sanitrias coletivas, que privilegiaram os centros mais dinmicos da economia. Tal quadro sofreu alguma alterao com a transferncia da Corte portuguesa para o pas, que gerou demanda por melhorias na higiene dos portos, resultando na criao das primeiras instituies de sade pblica e higiene, contudo ficando a maior parte das aes restrita capital, Rio de Janeiro. O predomnio de aes voltadas para o suporte s atividades econmicas determinou o papel das autoridades federais no perodo. Segundo perodo: 1850-1910
Com o rpido crescimento das cidades, tornou-se mais forte a compreenso, pelas elites dirigentes, da interdependncia social e sanitria e dos conseqentes riscos de epidemias. Febre amarela, clera e varola eram comuns em todo o territrio, atingindo
4
adaptado de Rezende e Heller (2002) e de Castro e Heller (2006).
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
drsticas propores nas cidades mais populosas. A economia nacional, assentada no trabalho escravo, sofria com a instabilidade no sistema de produo provocada pelas epidemias. A compreenso dessa interdependncia, aliada ao desejo de melhorar a imagem do Brasil na Europa, provocou a implantao de aes sanitrias. Aps a Proclamao da Repblica, em 1889, foi promulgada nova constituio, na qual se reafirmou a autonomia dos Estados para prestarem servios de sade, gerando uma descentralizao, com exceo da capital, onde os servios ficaram a cargo do Governo Federal. Entretanto, esse arranjo constitucional foi um entrave para a penetrao do poder do Estado no territrio nacional, dificultando a maior homogeneizao das aes sanitrias e a consolidao do poder pblico no Brasil. A viso contagionista, com base no paradigma da unicausalidade das enfermidades, passou a prevalecer no meio cientfico gerando preocupaes com o combate ao agente etiolgico em detrimento de aes de carter mais coletivo. No final do sculo XIX e incio do sculo XX, porm, o Estado comea a assumir os servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio como atribuio do poder pblico e os transfere iniciativa privada, principalmente a empresas de capital ingls. A tentativa de insero da economia brasileira na esfera do capitalismo mundial foi determinante para as polticas sanitrias, que visaram a criao das condies infra-estruturais para as atividades econmicas. Dessa forma, as companhias privadas atuavam, prioritariamente, nos locais onde se concentravam as elites nacionais, intervindo, preferencialmente, nas regies centrais das cidades, cujos habitantes eram capazes de lhes restituir os investimentos. Terceiro perodo: 1910-1950
A libertao dos escravos, no final do sculo XIX, repercutiu fortemente, na medida em que estes acabaram sendo abandonados pelo Estado e a fora de trabalho substituda pelos imigrantes, os quais recebiam tratamento semelhante. Isto determinou o aumento da massa de excludos e provocou a ocupao desordenada dos espaos urbanos, excluindo as massas populares de qualquer benefcio da modernizao do pas. Tal situao gerou revoltas na populao, incluindo manifestaes contrrias s companhias privadas, em funo da limitao dos sistemas implantados. Por isso, a maioria das companhias privadas teve curta durao, com exceo da companhia de esgotos do Rio de Janeiro, que atuou at 1947, e a de gua e esgotos de Santos, So Paulo, at 1953. A partir dessa insatisfao, o Estado passou a assumir a gesto dos servios, criando rgos especficos, na administrao direta municipal, estadual ou federal. Concomitantemente, no incio do sculo XX houve a chamada redescoberta dos sertes, por meio de expedies rea rural, que alertaram quanto precarssima situao de sade daquela populao. Esta constatao resultou no movimento
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
conhecido como Liga Pr-Saneamento do Brasil, que buscava melhorias na sade do homem rural como um fator essencial ao desenvolvimento econmico, assentado no potencial agrcola do pas. Esse movimento foi instrumento de ampliao da presena do Estado nas unidades da Federao, motivado pela compreenso da inviabilidade tcnica e econmica de aes isoladas para a resoluo do problema. A partir da, incentivou-se a formao de recursos humanos na rea da engenharia sanitria que, juntamente com o avano da industrializao, acelerou a encampao das aes de saneamento pelo Estado. O perodo 1910-1930 foi o primeiro grande salto do saneamento na histria do Brasil, ficando conhecido como A Era do Saneamento, tendo continuidade at a dcada de 1950, a partir de quando se ampliou a dicotomia entre a sade e o saneamento. Quarto perodo: 1950-1969
O perodo foi marcado por inmeras discusses e debates acerca da institucionalizao do setor de saneamento, j que este ganhara contornos mais expressivos com a poltica industrial. Diferentes modelos de gesto foram analisados e tambm solues para o financiamento passaram a merecer destaque. Entretanto, a sociedade e os prprios municpios ficaram margem das decises. Os primeiros cursos de ps-graduao em Engenharia Sanitria do Brasil foram criados no incio do perodo, contando com o apoio dos USA, que exerceu forte influncia na matriz tecnolgica implantada. No ano de 1953, foi criado o Ministrio da Sade. O setor de saneamento, por sua vez, passava a assumir um carter cada vez mais independente do setor de sade, adotando novos modelos de gesto, alternativos administrao direta municipal, como a criao de autarquias municipais. Buscou-se uma maior autonomia para os servios, ocorrendo nas dcadas de 1950 e 1960 uma transio entre o modelo de gesto centralizado e servios com carter mais autnomo. Esse perodo foi caracterizado por importantes decises para o progresso das aes de saneamento, assumindo-se o conceito de autosustentao tarifria, contribuindo para o aporte de recursos financeiros adicionais. Isto se verificou em um contexto imposto pela nova realidade do pas, representada pela crescente industrializao e urbanizao. A partir da, o contexto poltico-institucional do setor passa a se adaptar, abrindo espao para a implementao do PLANASA Plano Nacional de Saneamento, na dcada seguinte, por meio da progressiva implementao de mecanismos de suporte financeiro e assistncia tcnica, ainda com forte presena da cooperao tcnica dos EUA.
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Quinto perodo: a partir da dcada de 1970
O contexto do pas no incio da dcada de 1970 era de um governo autoritrio, que, no plano poltico, impunha severas restries s liberdades individuais e censura livre manifestao da imprensa e, no plano econmico, um crescimento acelerado, graas ao ingresso macio de capital estrangeiro, resultando no aumento galopante da dvida externa. Durante a ditadura militar a poltica urbana nacional passou a ser inserida em uma estratgia que visava alcanar o crescimento econmico e firmar o novo regime. O investimento em sistemas de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio surgiu ento, no contexto do esforo de gerar novos empregos, de impulsionar o desenvolvimento econmico e de conquistar a aprovao da populao, minando a rejeio nova situao poltica. Foi ento lanado, no incio deste perodo, o PLANASA Plano Nacional de Saneamento, com base em recursos do FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servio, recolhido pelas empresas em funo dos salrios dos seus empregados, em uma conjuntura de milagre econmico. Este contexto descrito a seguir, na avaliao da conjuntura atual, em vista de sua expressiva influncia na presente situao do setor. Como se pode verificar, houve uma progressiva alterao na forma como o abastecimento de gua e o esgotamento sanitrio, como uma rea de poltica pblica, so visualizados e assumidos pelo estado. Em geral, essa viso foi conseqncia de fatores externos lgica do prprio setor, a exemplo das preocupaes associadas ao controle de doenas, que compreendiam a necessidade de boas condies de saneamento; ou de processos econmicos, polticos, sociais e culturais que caracterizaram o modelo de desenvolvimento do pas a cada poca. Obviamente, tambm foi determinada pela viso de estado predominante a cada poca. Mas, por outro lado, a prpria natureza assumida pelo setor vem influenciando a dinmica de outros setores e outros aspectos da qualidade de vida da populao, a exemplo dos impactos na sade, no ambiente e nas condies sociais e econmicas. Ademais, a histria mostra que, se inicialmente atender a populao com condies adequadas de saneamento era um encargo pelo qual no se apresentavam responsveis, dado o nus representado pela tarefa, gradativamente o servio passa a ser ambicionado como uma importante forma de prtica de poder poltico, econmico e social e enseja disputas entre agentes pblicos e privados e entre instncias federativas. A descrio do quadro histrico e poltico-institucional desenvolvido neste texto auxilia na ilustrao dessa viso, acrescentando-se que, paradoxalmente, a disputa por este poder verificada mesmo em realidades onde a carncia de servios e o desafio de prov-los so expressivos.
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Na sua configurao mais recente, observa-se que, a partir da dcada de 1970, a rea de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio se reorganizou com a implementao do PLANASA, que estabeleceu nova ordem na estruturao do setor. Esse plano, cuja concepo ainda exerce significativa influncia no pas, determinou importantes mudanas institucionais quando de sua implementao, segundo diferentes aspectos. Talvez a mais importante marca do PLANASA tenha sido a mudana do agende federativo responsvel pela gesto dos servios. A estrutura federativa brasileira, que tem nos Estados uma importante concentrao de poder, foi ambiente propicio para a transferncia da gesto dos servios do nvel local para o nvel estadual. Se at aquele momento, a Unio e os Estados atuavam em abastecimento de gua e esgotamento sanitrio basicamente nos nveis da assistncia tcnica e do financiamento das aes, com esse plano os Estados passam a atuar diretamente na prestao dos servios. Embora titulares dos servios, por fora da constituio federal vigente, os municpios viram-se na contingncia de autorizar a transferncia dos servios para o nvel estadual, sob o risco de no mais terem acesso a recursos financeiros federais e estaduais. Para tanto, foi estabelecida uma relao contratual similar atualmente utilizada em muitas partes do Mundo para formalizar a participao privada: os contratos de concesso. Tal deciso resultou na criao de uma nova companhia de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio em cada Estado da federao em alguns casos adaptando-se as estruturas existentes que se tornaram responsveis pela viabilizao do financiamento, implantao (ou expanso) dos sistemas, sua operao e manuteno, em contrapartida recebendo o direito de arrecadar as tarifas correspondentes. Outra caracterstica do PLANASA foi a definio de uma nova fonte de financiamento pblico para as aes, inicialmente mais perene que as dispersas fontes que prevaleciam at o lanamento daquele Plano - o Fundo de Garantia por Tempo de Servio FGTS , composto pelo recolhimento, pelos empregadores, de uma parcela da sua folha de pagamento. Ainda sob o aspecto da gesto financeira, o Plano determinou que os servios devessem buscar a sua prpria sustentao, por meio do recebimento das tarifas, e, no nvel das companhias estaduais, essa sustentao poderia ser complementada por uma poltica de subsdios cruzados, praticando-se modelo tarifrio nico em cada Estado. Historicamente, a implementao do PLANASA deve ser localizada tambm no contexto da verdadeira revoluo urbana pela qual o pas atravessava poca, com um elevado crescimento populacional e uma desordenada migrao da zona rural para as maiores cidades. Em 30 anos, as cidades brasileiras passaram de uma populao de 52 milhes de habitantes, em 1970, representando 56% da populao do pas, para 138 milhes de habitantes em 2000, passando a corresponder a 81% da populao, em um
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
impressionante crescimento de 86 milhes de novos habitantes, populao esta demandando e reivindicando infra-estrutura urbana. A extino do BNH - Banco Nacional de Habitao, agente financeiro do PLANASA, em 1986 e a transio democrtica determinaram alguma mudana na lgica institucional e na forma de atuao do governo federal, mas sem que se modificasse em profundidade o modelo vigente. importante porm destacar que, no perodo, particularmente aps a Constituio Federal de 1988 e impulsionado por ela, verificou-se um fortalecimento do nvel municipal, que passou a contar com maior autonomia poltico-administrativa, maior oramento e maior acesso a financiamento, embora tal fortalecimento esteja aqum do desejado para uma verdadeira e desejvel descentralizao. Assim, no se pode afirmar que um modelo nico ou uma trajetria linear das opes poltico-institucionais tenham vindo a substituir o modelo simbolizado pelo BNH. Nas duas dcadas posteriores extino do banco, a sucesso de mandatos governamentais mostrou perodos de oscilaes institucionais anrquicas (governo Jos Sarney 1985-90), de supervalorizao dos agentes privados na determinao dos rumos polticos do setor (governo Fernando Collor de Mello 1990-92), de um nacionalismo com poucos resultados para a rea (governo Itamar Franco 1992-94), de tentativas sistemticas e mal sucedidas de ampliao da participao privada (dois mandatos do governo Fernando Henrique Cardoso - 1995-2002) e de tentativa de ordenao institucional do setor (governo Lula, a partir de 2003). Do ponto de vista legal, um marco na tentativa de organizao do setor de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio foi a aprovao pelo Congresso Nacional, em 1993, do Projeto de Lei Complentar n. 199, que dispunha sobre a Poltica Nacional de Saneamento e seus instrumentos, aps ampla e produtiva discusso por entidades que representavam os diferentes segmentos da rea. Entretanto, aps sua aprovao legislativa, o PLC 199 foi integralmente vetado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, sob a justificativa de que este contrariaria os interesses pblicos. Em substituio ao PLC 199, o governo apresentou como alternativa o Projeto de Modernizao do Setor de Saneamento (PMSS), que seria financiado pelo Banco Mundial (BIRD), com uma viso neoliberal. Outra referncia legal a ser mencionada a Lei 8.987, conhecida como Lei das Concesses, sancionada em 1995 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, segundo a qual regulamentado o regime de concesses e permitida a prestao de servios pblicos pela iniciativa privada. Em paralelo, porm sem obteno de aprovao no Congresso devido polmica gerada, verificou-se a tentativa de transferncia para os Estados da titularidade dos servios nas reas metropolitanas, por meio do PLS 266. Avalia-se que um
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
dos principais objetivos do projeto era a reduo dos riscos para a atuao da iniciativa privada nessas regies, mais atraentes para aquele capital. Na mesma lgica de privatizao, no acordo firmado com o FMI em 1999, o governo brasileiro comprometia-se a acelerar e ampliar o escopo do programa de privatizao e concesso dos servios de gua e esgoto. Afirmava estar adotando medidas para que o acesso dos municpios aos recursos oficiais fosse limitado. Complementando tal poltica, o mesmo mandato governamental procurou desenvolver programas e projetos grande parte financiada pelo BIRD no sentido de tornar as companhias estaduais atraentes iniciativa privada. No nvel estadual, a rea de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no perodo que segue implementao do PLANASA, como regra, sequer encontra uma organizao formal no aparelho do estado. Em geral, os Estados desobrigam-se de suas responsabilidades, sob o pretexto da existncia das companhias estaduais, embora estas apresentem limitaes na amplitude geogrfica de sua cobertura, pois parte dos municpios manteve a gesto dos servios de abastecimento de gua (68,8% dos distritos eram operados pelas companhias estaduais e 45,5% por servios municipais em 20005) e parcela ainda maior os de esgotamento sanitrio (14,1% dos distritos eram operados pelas companhias estaduais e 38,4% por servios municipais em 2000)6. No diferente a omisso da maior parte dos municpios em assumir seus deveres para com a rea, em especial aqueles onde se firmaram contratos de concesso. A, raro se localizar algum tipo de mecanismo de controle social e de participao da sociedade. Evoluo temporal e situao atual do acesso aos servios: informaes e desinformaes dos indicadores disponveis Estatsticas de acesso aos servios Uma avaliao detalhada da evoluo do acesso aos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio constitui tarefa complexa, dependendo dos propsitos que se tm. Embora o Brasil mantenha um sistema de informao sobre saneamento, periodicamente atualizado, considerado bastante completo e at exemplar, muitas vezes no se consegue traar um adequado quadro qualitativo do atendimento populao, pois os sistemas de informao acabam por valorizar a dimenso quantitativa dos indicadores.
5 6
A soma supera 100% porque alguns municpios mantm mais de um operador. Dados extrados de IBGE (2000b).
10
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Um esforo a ser empreendido nessa tarefa o de se quantificar o contingente populacional includo e excludo do acesso aos servios, mas tambm de qualificar esse acesso, buscando indicaes da qualidade como o servio recebido pela populao. Uma vez que o Brasil exibe uma das maiores iniqidades do Mundo (UNDP, 2005), torna-se importante, em uma avaliao do quadro nacional, procurar identificar em que aspectos e com qual magnitude ocorrem as assimetrias. Dados do IBGE Fundao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica, censitrios a cada decnio e amostrais a cada ano, permitem avaliar, com alguma aproximao, a evoluo da cobertura pelos servios de abastecimento coletivo de gua e por rede coletora de esgotos. Os censos, em geral, possibilitam estimar a cobertura populacional e os levantamentos amostrais a cobertura domiciliar. Com base nesses levantamentos, a Figura 1 mostra a evoluo da cobertura percentual por rede de abastecimento de gua para as populaes urbana, rural e total do pas, no perodo 1991-2003.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990
cobertura (%)
Populao urbana Populao rural Populao total
1992
1994
1996 ano
1998
2000
2002
2004
Fontes: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios - PNAD (1992-1993, 1995-1999, 20012003), IBGE/Censo Demogrfico 2000.
Figura 1. Cobertura por rede de abastecimento de gua. Brasil, populao total, populao urbana e populao rural. 1991-2003. Observa-se que, nesse perodo mais recente, a cobertura da populao urbana aumentou 4,5 pontos percentuais (de 87 para 91,4%) e da populao rural, mais significativamente, de 9,3 para 25,7%, com um acrscimo de 16,4 pontos percentuais. Tal comportamento reflete a dificuldade de avanar mais na universalizao da cobertura urbana, j que a populao ainda desprovida dos servios localiza-se predominantemente nas reas perifricas e de urbanizao informal, o que determina a necessidade de adoo de programas especficos e integrados aos de desenvolvimento
11
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
urbano. Por outro lado, por maior que tenha sido o avano do atendimento populao rural, a cobertura ainda incipiente, ainda que em alguns casos caiba uma discusso se o sistema coletivo constitui a tecnologia mais apropriada. Tais dados informam, por outro lado, a existncia de 12.000.000 brasileiros nas cidades e outros 22.000.000 na rea rural, ainda a serem atendidos, adicionados demanda imposta pelo crescimento vegetativo populacional. Em 2000, a distribuio dos ndices de cobertura por rede coletiva de abastecimento de gua, segundo os municpios, era o apresentado na Figura 2, podendo-se observar maior concentrao de municpios com coberturas menos satisfatria nas regies Norte e Nordeste do pas, justamente as regies com menor desenvolvimento scio-econmico.
Fonte: IBGE (2004).
Figura 2. Cobertura domiciliar por rede de abastecimento de gua, segundo municpios. Brasil, 2000. Importante informao no revelada diretamente pelos levantamentos do IBGE relativos cobertura quanto forma como o abastecimento se verifica: se com
12
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
regularidade, se oferecendo o devido acesso tarifrio populao, se atendendo aos padres de potabilidade, entre outras variveis. Suspeita-se que nem sempre o atendimento cumpre com os requisitos considerados adequados, o que reforado pela constatao do financiamento sem regularidade aos servios e das limitaes operacionais que muitos apresentam. Em relao qualidade como a gua fornecida, a Tabela 1 mostra que nem sempre sua segurana garantida, considerando o reconhecimento da ocorrncia de fontes de poluio nos mananciais e a existncia de processos de tratamento muitas vezes inadequados. Como em todas as variveis relativas ao saneamento, observam-se diferenas, ressaltadas na tabela as de carter regional. Tabela 1. Caracterstica do sistema de abastecimento de gua por macro-regio. Percentual de distritos segundo cada caracterstica.
Macroregio/Pas Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil Sem rede geral 15,7 17,3 3,4 16,0 11,6 12,1 Com captao superficial 31,6 46,3 63,7 34,9 46,9 48,9 Que declaram contaminao dentre os que tm captao superficial 17,3 15,6 42.7 37,6 27,9 32,3 Com tratamento convencional* dentre os com captao superficial e que declaram contaminao 41,7 45,7 81,2 87,0 97,5 77,5
* em principio, o mtodo de tratamento mais apropriado para este tipo de fonte de gua. Fonte: IBGE (2000b)
A Figura 3 traz a representao de uma espcie de mapa de risco sade decorrente da gua fornecida, associando informaes sobre o manancial, seu nvel de poluio e o tipo de tratamento de gua existente. Ao se fazer esse cruzamento, percebe-se que as situaes mais crticas esto distribudas pelas vrias regies do pas, sem uma concentrao definida. Certamente, essas situaes mais crticas podem ser explicadas pela presena importante de fontes de poluio nos mananciais e por processos de tratamento no apropriados ao tipo de gua captada.
13
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Fonte: SRH (2006)
Figura 3. Distribuio de trs nveis de risco sade decorrentes da qualidade da gua distribuda, segundo estados e bacias hidrogrficas. Brasil, 2000.
14
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
No ponto relativo qualidade da gua para consumo humano, deve-se avaliar ainda o impacto da Portaria 518/2004, inicialmente publicada em dezembro de 2000 sob a designao de Portaria 1469, que estabelece procedimentos e responsabilidades sobre o controle e a vigilncia da qualidade da gua para consumo humano e define o padro de potabilidade. Trata-se de legislao conceitualmente avanada, em vista da sua viso sistmica quanto garantia de um fornecimento seguro de gua e a proteo sade humana, e moderna, em razo de sua atualidade face s tendncias internacionais. Tal legislao, mais em funo de sua concepo que de suas exigncias, dever impor uma salutar mudana de prticas nos servios, o que poder demandar tempo, esforo e determinao dos rgos gestores, em vista das vises arraigadas que prevalecem no setor. Na mesma direo espera-se o impacto do decreto 5.440/2005, que institui mecanismos e instrumentos para a divulgao de informao ao consumidor sobre a qualidade da gua para consumo humano, o qual poder impor importantes mudanas de procedimento e de respeito ao consumidor por parte dos servios. Quanto ao esgotamento sanitrio, tambm se nota tendncia crescente e discreta de ampliao da cobertura por rede coletora no perodo 1991-2002, conforme Figura 4.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990
cobertura (%)
Populao urbana Populao rural Populao total
1992
1994
1996 ano
1998
2000
2002
Fontes: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios - PNAD (1992-1993, 1995-1999, 20012002), IBGE/Censos Demogrficos 1991 e 2000.
Figura 4. Cobertura por rede coletora de esgotamento sanitrio. Brasil, populao total, populao urbana e populao rural. 1991-2002. No perodo, verifica-se que a cobertura por rede coletora aumentou 13 pontos percentuais (de 62 para 75%) e a populao rural, embora tenha exibido acrscimo de cobertura, permanece com apenas 16% dos domiclios atendidos, ainda que aqui caiba uma discusso sobre a mais adequada soluo tecnolgica para populaes dispersas.
15
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Da mesma forma que para o abastecimento de gua, o indicador cobertura contm uma informao apenas parcial, pois no fornece indicaes sobre o destino dos efluentes. Aqui importante discutir a ambigidade do indicador, pois a mera existncia de cobertura por coleta de esgotos no necessariamente proporciona uma efetiva melhoria nas condies de sade e ambientais. A rede coletora em locais desprovidos de interceptores e tratamento de esgotos pode at provocar uma acentuao dos problemas sade humana, caso a soluo anteriormente prevalente, invariavelmente de infiltrao dos efluentes no subsolo por diferentes tipos de fossas, se mantivesse funcionando medianamente. Nesse caso, a rede termina por concentrar os esgotos nos corpos de gua do meio urbano, expondo as populaes e aumentando a circulao ambiental de microrganismos patognicos. A prpria presena de interceptores e estaes de tratamento, em vista da freqentemente reduzida eficincia dessas ltimas em remover microrganismos patognicos, no constitui garantia de proteo sade humana e qualidade da gua dos corpos receptores. Quanto natureza do atendimento, a PNSB (IBGE, 2000b) informa que 4.097 (42%) dos 9.848 distritos possuem rede coletora, mas que apenas 1.383 deles tm estaes de tratamento (14% do total). Contudo, apenas 118 realizam desinfeco dos esgotos. Do total de volume coletado de esgotos, apenas 35% recebem algum tipo de tratamento, resultando em cerca de 9.400.000 m3 de esgotos brutos encaminhados diariamente aos corpos de gua do pas, considerando-se somente aquele coletado por rede. tambm merecedora de registro a informao de que 3.288 distritos com rede (80%) no possuem qualquer extenso de interceptor, potencialmente provocando a deteriorao da qualidade das guas dos corpos receptores situados nas malhas urbanas. A Figura 5 representa a cobertura pela coleta de esgotos sanitrios, segundo municpios, reforando a tendncia concentrao dos melhores ndices de atendimento nas regies mais desenvolvidas do pas.
16
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Fonte: IBGE (2004).
Figura 5. Cobertura por rede de esgotos sanitrios, segundo as cidades, Brasil, 2000. Por outro lado, a Figura 6 mostra a proporo de distritos, em cada estado, com tratamento de esgotos. Mesmo sabendo-se que na maior parte dos distritos que declaram possuir tratamento de esgotos, este tem eficincia parcial e nvel de cobertura populacional tambm parcial, chamam negativamente a ateno o fato de estados do Sul-Sudeste, regio mais desenvolvida do pas, estarem entre aqueles com os piores ndices e positivamente o desempenho de estados das regies Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Tal resultado pode estar revelando a relutncia de companhias estaduais e servios municipais das regies Sul-Sudeste em priorizar a implantao de sistemas de tratamento de esgotos, em vista da dificuldade de recuperao financeira do investimento.
17
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Fonte: SRH (2006)
Figura 6. Proporo de distritos com tratamento de esgotos, segundo estados e bacias hidrogrficas. Brasil, 2000.
18
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Na avaliao do atendimento populacional pelos servios, necessrio destacar as assimetrias com que ocorre. Estas se verificam segundo vrias dimenses. Alm da desigualdade de acesso estar associada ao local de moradia, urbano ou rural, apresenta tambm uma no surpreendente clara relao com a renda: os mais pobres so os mais excludos. A Figura 7 ilustra essa situao para o abastecimento de gua e o esgotamento sanitrio, revelando um significativo gradiente, especialmente para o esgotamento sanitrio.
100 90 80 Cobertura (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 <1 1a2 2a3 3a5 5 a 10 10 a 20 > 20 Renda mdia mensal domiciliar (SM) gua Esgoto
SM: salrio mnimo
Fonte: Costa (2003)
Figura 7. Cobertura por abastecimento de gua por rede geral e esgotamento sanitrio por rede coletora no Brasil, segundo faixa de renda. Em uma analise da lgica institucional, avaliando a adoo dos diferentes modelos de gesto, observam-se igualmente assimetrias, conforme ilustrado na Tabela 2.
19
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Tabela 2. Brasil urbano, 2000. Cobertura por redes de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio, segundo o modelo de gesto e a macro-regio. (% de domiclios)
Variveis de nvel 2 / Modelos de gesto Macrorregio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Porte do municpio At 5 mil 5-20 mil 20-50 mil 50-200 mil mais de 200 mil IDH municipal Baixo Mdio Alto Variveis de nvel 2 / Modelos de gesto Macrorregio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Porte do municpio At 5 mil 5-20 mil 20-50 mil 50-200 mil mais de 200 mil IDH municipal Baixo Mdio Alto 37,93 83,16 57,92 55,65 33,75 78,75 69,66 42,16 25,48 10,31 100,00 66,12 46,75 6,90 3,85 11,25 5,54 10,00 2,31 6,32 17,30 23,95 18,56 0,00 6,26 20,48 34,48 11,54 28,89 38,58 53,75 18,37 22,09 38,11 46,77 67,01 0,00 25,86 31,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,69 1,46 1,94 0,22 2,50 0,58 1,92 2,43 3,80 4,12 0,00 1,76 1,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 40,00 18,19 21,04 0,00 6,75 17,04 46,67 0,00 13,33 7,90 12,17 Particular 100,00 100,00 100,00 Total 66,67 0,50 49,74 0,00 Esgotamento Sanitrio Estadual Federal 26,86 12,34 9,51 6,75 8,00 3,02 8,73 17,48 22,19 19,00 60,90 71,14 63,11 60,13 67,00 0,16 0,89 0,19 0,64 0,00 9,06 6,90 9,71 10,29 6,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 22,09 13,01 27,97 13,75 13,67 6,18 6,74 11,28 6,30 4,56 41,09 75,09 56,60 66,29 74,49 0,24 0,29 0,00 0,09 3,87 30,40 4,88 4,14 13,57 3,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Abastecimento de gua Municipal 1* Municipal 2* Estadual Federal Particular Total
Municipal 1* Municipal 2*
Municipal 1 = Administrao direta + Participao do poder publico Municipal 2 = Autarquia Fonte: Rezende (2005), a partir de IBGE (2000a) e IBGE (2000b).
Da Tabela, nota-se que o modelo preconizado pelo PLANASA, da gesto por meio das companhias estaduais, no obteve cobertura universal para todos os estratos de municpios, passados quase trs dcadas da implantao daquele plano. Na verdade, fica patente que o modelo:
20
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
privilegiou o abastecimento de gua em detrimento do esgotamento sanitrio (por razes de viabilidade econmico-financeira?); no conseguiu se expandir como pretendido nos municpios das regies mais desenvolvidas (possivelmente porque, nessas regies, uma maior proporo de municpios exerceu sua autonomia e no firmou contrato de concesso);
em abastecimento de gua tambm no se expandiu mais em municpios com mais elevado IDH, por serem mais fortes politicamente e seus servios mais viveis financeiramente para serem mantidos sob a gesto municipal;
concedeu menos prioridade para os municpios com menos de 20.000 habitantes em esgotamento sanitrio, certamente por razes de viabilidade econmico-financeira. Tais evidncias apontam para a hiptese de que o modelo estadual, provavelmente
por sua concepo de natureza empresarial, tenha contribudo para ampliar as assimetrias. Ao se desagregarem os percentuais de cobertura segundo o modelo de gesto e por caractersticas do municpio (Tabela 3), verifica-se que o modelo estadual equivale ao municipal em termos de efetividade do atendimento, com destaque para o modelo das autarquias municipais em abastecimento de gua. Alm disso, constata-se que, efetivamente, os municpios que receberam mais ateno so os mais desenvolvidos (maior IDH) e de maior populao, tanto para o abastecimento de gua quanto para o esgotamento sanitrio. Tabela 3. Brasil Urbano, 2000. Cobertura por rede de abastecimento de gua e rede de esgotamento sanitrio, segundo o modelo de gesto, o IDH municipal e o porte do municpio (%).
Variveis de Nvel 2 Modelos de gesto Municipal 1 Municipal 2 Estadual Federal Particular IDH municipal IDH baixo - < 0.500 IDH mdio - 0.500 - 0.799 IDH alto - > 0.799 Porte do municpio At 5 mil de 5 a 20 mil de 20 a 50 mil de 50 a 200 mil acima de 200 mil abastecimento de gua 90,70 94,03 90,18 82,72 83,34 63,89 85,69 95,11 85,15 85,85 87,32 89,50 92,80 esgotamento sanitrio 40,54 50,35 52,24 17,67 17,89 2,23 43,98 74,05 31,79 41,16 49,64 56,36 69,47
Municipal 1 = Administrao direta + Participao do poder publico Municipal 2 = Autarquia
Fonte: Rezende (2005), a partir de IBGE (2000a) e IBGE (2000b)
21
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
As limitaes das informaes fornecidas pelos indicadores Uma indispensvel discusso neste ponto refere-se qualidade das informaes fornecidas pelos indicadores. Tal debate tem eventualmente freqentado os trabalhos publicados na literatura da rea, mas vem demandando maior aprofundamento. Como ilustrao, relevante o registro de que, a depender do critrio a se adotar para definir o que seria um atendimento desejvel pelos servios, pode-se obter um dficit populacional para a populao urbana, em 2000 na frica, sia e Amrica Latina e Caribe, de 171 milhes de habitantes (8%), quando se adota um conceito mais tolerante, ou de 690 a 970 milhes (28-46%), quando se considera um requisito mais exigente, para o acesso ao abastecimento de gua. O mesmo raciocnio aplicado ao esgotamento sanitrio traz valores de 394 milhes (19%) contra 850 a 1.130 milhes (42-56%).7 Por outro lado, avaliando estatsticas de cobertura em pases da sia e da frica, divulgados oficialmente pela WHO e UNICEF (2000), Satterthwaite (2003) questiona, por exemplo, que dados oficiais apontem apenas 4% da populao urbana de Qunia no possurem esgotamento sanitrio em 2000, j que cerca da metade da populao da capital, Nairbi, vive em assentamentos informais. Nessas reas, as condies seriam to desafiantes que 150 em cada 1000 crianas morrem antes de completar cinco anos, pequena proporo das moradias possui suas prpria privada e comum at 200 pessoas compartilharem da mesma fossa seca. Igualmente, o autor questiona o dado de que haveria 98% de cobertura por esgotos na Tanznia, j que levantamentos locais vm revelando que uma elevada proporo da populao urbana usa fossas secas de baixa qualidade, muitas vezes compartilhadas, que freqentemente extravasam devido s inundaes. Quanto ao abastecimento de gua na ndia, enquanto as estatsticas mostram 92% de cobertura da populao urbana por servios melhorados, estudos vm demonstrando que as inadequaes nessa proviso afetam de 30 a 60% da populao. Tanto a discusso sobre a qualidade e as omisses presentes nos indicadores de fonte oficial, quanto sobre a importncia para a sade das vrias dimenses segundo as quais os servios so prestados, foram objeto de estudo de campo desenvolvido na cidade de Betim, Minas Gerais (Brasil), com 160.000 habitantes (Heller, 1999). Na pesquisa, composta por um estudo epidemiolgico do tipo caso-controle que investigou a ocorrncia
7
As primeiras estimativas consideram o conceito de proviso melhorada (improved), adotada pelo WHO e UNICEF (ver Global water supply and sanitation assessment, 2000 Report, World Health Organization, UNICEF and Water Supply and Sanitation Collaborative Council), e a segunda consta de UNHabitat (2003), Water and sanitation in the worlds cities; local action for global goals, Earthscan, London, conforme sistematizao realizada em Water, sanitation and drainage: ensuring better provision with limited resources (Editorial de Environment&Urbanization, v. 15, n.2, Outubro 2003).
22
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
de morbidade por diarria em crianas de at cinco anos, algumas questes foram levantadas, no contexto da discusso sobre o acesso, conforme sintetizado a seguir: (a) Qual a proporo da populao efetivamente conectada rede pblica de gua? Na pesquisa, a proporo da populao conectada foi determinada, em verdade, como superior quela registrada oficialmente. A Tabela 4 mostra a cobertura conforme trs diferentes fontes. Tabela 4. Betim, Brasil. Cobertura por rede de abastecimento pblico de gua, segundo trs diferentes fontes.
Fonte COPASA-MG (concessionria estadual)a Censo demogrfico (n=36.238)b Estudo epidemiolgico (n=1.000)c Coberura por rede pblica de abastecimento de gua (%) 91,6 8,4 80,1 19,9 98,4 1,6
a. Extrado de COPASA-MG (1993). b. Extrado de IBGE (1991). Valores estimados a partir da razo entre o nmero total de domiclios residenciais conectados e o nmero total de domiclios residenciais urbanos (94,6% do total de domiclios). c. Extrado de Heller (1995). Valores estimados a partir de investigao domiciliar em moradias com crianas abaixo de cinco anos de idade, aleatoriamente selecionadas na rea urbana.
Tal diferena, com maior cobertura para a pesquisa epidemiolgica baseada em uma amostra domiciliar, deve-se elevada incidncia de conexes clandestinas, que no so consideradas nem nas estatsticas oficiais da concessionria nem no censo demogrfico. A menor cobertura observada no censo pode ser provavelmente explicada pelo fato de a pesquisa ter se realizado dois anos antes dos dois outros levantamentos e tambm por diferenas na abordagem metodolgica. (b) A que risco a populao no conectada est exposta? No estudo, os 1,6% da populao supostamente no conectada rede de distribuio de gua, e que basicamente seria abastecida por poos rasos, mostrou nenhum risco aumentado, estatisticamente significativo, para a diarria infantil. Duas possveis explicaes seriam: o tamanho da amostra insuficiente, impedindo a identificao da significncia estatstica, e a ausncia de risco para esta populao, que compensaria o abastecimento de gua deficiente com prticas higinicas adequadas. 8
Na literatura epidemiolgica observa-se tanto ausncia de associao entre abastecimento de gua e diarria (Ryder et al. 1985) ou com mortalidade at cinco anos (Lindskog et al., 1988), quanto a presena dessa relao com infeces entricas (Chambers et al., 1989; Georges-Courbot et al., 1990), giardase (Chute et al. 1987). No Brasil, um estudo (Gross et al., 1989) identificou o impacto da construo de rede de distribuio de gua na incidncia de diarria. Por outro lado, Victora et al. (1988) mostraram o significativo risco mortalidade infantil por diarria em famlias sem gua canalizada e Azevedo et al. (2005) mostraram uma possvel reduo na ocorrncia de diarria e de desnutrio crnica, sendo que estudo em crianas residindo em reas de invaso urbana revelou que o uso de gua do sistema pblico implica menos casos de parasitoses de transmisso feco8
23
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
(c) Pode ser assumido que a populao conectada rede de distribuio tem um abastecimento de gua seguro? Para se responder a esta questo, os seguintes aspectos devem ser analisados: a qualidade da gua; a existncia de intermitncia no fornecimento com o conseqente risco de contaminao da gua; o consumo per capita. Violaes dos padres de potabilidade da gua podem impor riscos de natureza tanto biolgica quanto fsica para os consumidores. Alm disso, deve ser reconhecido que a prpria dinmica da gua na rede de distribuio pode provocar a deteriorao de sua qualidade, o que pode resultar do abastecimento intermitente ou baixa presso nos condutos. Em Betim, a intermitncia no abastecimento foi relatada por 44% dos entrevistados, embora risco significativo para a diarria no tenha sido identificado. possvel que, devido prtica generalizada no Brasil de utilizao de reservatrios domiciliares, a percepo da populao quanto intermitncia seja enviesada pela capacidade dos reservatrios de absorver variaes de oferta de gua. 9 Outro fator de risco sade usualmente relacionado gua o nvel de consumo. Em Betim, foi identificado um possvel risco para a diarria em crianas vivendo em casas com baixo consumo per capita (menos de 125 litros/habitante.dia no estrato scioeconmico inferior e menos de 75 litros/habitante.dia no estrato superior). Pesquisas mais aprofundadas sobre a associao entre consumo de gua nas reas urbanas e sade mostram-se ainda necessrias. Grande nmero de estudos epidemiolgicos vem indicando a maior importncia para a sade da quantidade de gua em relao qualidade da gua. Porm, tais estudos tm sido desenvolvidos em situaes em que o consumo per capita da ordem de 10-40 litros/habitante.dia, muito menor que os verificados em reas urbanas com ligaes das moradias s redes de abastecimento (em Betim, o consumo mdio de 145 litros/habitante.dia). (d) Em que medida o manuseio intra-domstico da gua influencia riscos a sade? Os seguintes fatores foram analisados no trabalho em Betim: o papel dos reservatrios domiciliares, a existncia de instalaes intra-domiciliares e as prticas higinicas.
oral (Teixeira e Heller, 2006) e menos casos de diarria (Teixeira e Heller, 2005). Logo, os resultados dos estudos epidemiolgicos desenvolvidos para diversas condies scio-econmicas e de suprimento de gua no permitem uma afirmao definitiva sobre os riscos sade da populao no abastecida pelo sistema pblico, independente da realidade especfica.
9
Burns et al. (1993) concluram que, em Beira, Moambique, o suprimento intermitente de gua conduzia procura de fontes subterrneas alternativas e que, freqentemente, essas fontes eram contaminadas e seu uso associado com o aumento na ocorrncia de diarria e clera.
24
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Moradores que no dispunham de reservatrio em suas moradias, e que presumivelmente armazenavam a gua em vasilhames, demonstraram um risco aumentado de diarria infantil, sugerindo que tal associao esteja de fato relacionada precariedade das instalaes de gua dessas moradias. A importncia das prticas higinicas foi demonstrada naquela pesquisa. Quatro prticas foram investigadas: lavagem e desinfeco de frutas e verduras; cuidado com a gua para bebida; lavagem das mos antes das refeies; lavagem das mos aps defecar. Aps anlise estatstica, apenas a primeira das prticas avaliadas lavagem e desinfeco dos alimentos mostrou risco significativo, tendo revelado o maior valor dos riscos relativos encontrados no estudo, o que destaca o importante papel das prticas higinicas no controle das doenas infecciosas e parasitrias. Os riscos relacionados ingesto de frutas e verduras impropriamente lavadas podem estar vinculados ao uso de gua de irrigao contaminada por esgotos, prtica comum na Regio Metropolitana de Belo Horizonte. (e) Como deve ser concebida a coleta de esgotos para a proteo sade? Geralmente, as estatsticas referem-se conexo ao sistema de coleta de esgotos como a definio mais adequada de proviso por sistema de esgotos. O conceito subjacente o de que os moradores em casas conectadas ao sistema pblico esto protegidos e aquelas no conectadas esto expostas a problemas de sade devido presena de excreta e guas servidas no ambiente. Duas questes destacam-se: (i) em uma localidade apenas parcialmente atendida por sistema de rede coletora, a populao servida estaria realmente protegida contra a presena de excretas e guas servidas no ambiente? (ii) as solues adotadas pela populao no servida a expem ao risco de contaminao? Os resultados da pesquisa de Betim ilustram essa discusso. Duas variveis relacionadas coleta de esgotos foram analisadas: o tipo de soluo adotada por cada moradia e a presena de esgotos escoando nas ruas. Aps a anlise estatstica, a varivel relacionada s solues para a disposio de esgotos mostrou-se sem significncia e aquela sobre a presena de esgotos escoando nos arruamentos revelou risco significativo, podendo-se concluir que o fator determinante associando esgotos e sade a presena dos efluentes no ambiente. A conexo das moradias ao sistema de coleta seria menos relevante que o equacionamento global do esgotamento em cada bacia de drenagem, sendo que as solues de montante determinariam os riscos s moradias de jusante. Na prtica, tais resultados indicam que se a disposio de esgotos abordada sob o ponto de vista da sade pblica, a unidade de interveno deveria ser a bacia de drenagem, de tal forma que todos os efluentes da bacia necessitariam de um correto equacionamento,
25
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
seja por meio da conexo rede pblica, seja por solues estticas (fossas) adequadas e que previnam extravasamentos para as vias pblicas. (f) Qual o papel da interceptao e do tratamento dos esgotos? No apenas a disposio local dos esgotos determina risco sade humana, mas tambm a presena de interceptores e estaes de tratamento, embora estes sejam menos freqentemente referidos na literatura. Obviamente, os riscos relacionados a tais unidades do sistema afetam populaes especficas, revelando novamente a perversidade da exposio aos esgotos: solues inadequadas no necessariamente implicam riscos aos moradores portadores daquelas solues, mas populao de jusante. No caso da ausncia de interceptores, aqueles que vivem nas margens dos cursos de gua so especificamente afetados. J a ausncia de tratamento expe no apenas a populao que vive a jusante do curso de gua mas tambm toda a populao urbana que consome vegetais irrigados com a gua contaminada. Estatsticas sobre o nvel de interceptao precisam ser aperfeioadas no Brasil, alm de que as pesquisas sobre cobertura por instalaes de tratamento tm sido meramente quantitativas, com uma classificao genrica dos processos de tratamento e sem avaliao consistente de sua capacidade em remover patgenos e os conseqentes riscos sade para as populaes de jusante. Portanto, com base pelo menos nessas referncias, pode-se observar que o uso dos indicadores para caracterizar uma dada situao de acesso aos servios deve se cercar de cuidados metodolgicos, cuidando-se para que a informao seja devidamente qualificada. Tal precauo importante quando se compara temporalmente uma mesma realidade com base em levantamentos com metodologias diferentes (ver, por exemplo, diferenas dos resultados entre levantamento censitrio e amostral nas figuras 1 e 4) e torna-se ainda mais relevante quando se comparam diferentes realidades, sobretudo pases. Nesse ultimo caso, alm de possveis diferenas metodolgicas que incidem nos levantamentos, a prpria construo scio-cultural do conceito de acesso predominante na populao ou a conceituao institucional adotada pelos agentes responsveis pela informao pode interferir.
Modelos bem-sucedidos e experincias inovadoras Conforme se destaca neste texto, embora a trajetria da rea de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Brasil talvez pudesse ter experimentado uma evoluo mais virtuosa, em termos do acesso da populao aos servios e de proteo sade
26
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
humana e ao ambiente, importante reconhecer que diversas localidades tiveram a capacidade de se sobressair pela qualidade do servio prestado. Essa qualidade do servio pode ter vrias caractersticas, como naqueles servios que conseguiram atingir a universalizao; nos servios que, mesmo ainda no a atingindo, desenvolvem polticas publicas inovadoras que colaboram nessa direo, ou em solues tecnolgicas apropriadas que tm o potencial da incluso social. Na presente seo, procuram-se colocar em destaque quatro grupos de experincias dessa natureza. a) Cooperativas e consrcios de municpios As cooperativas de municpios para o abastecimento de gua e o esgotamento sanitrio na zona rural constituem um modelo implantado na dcada de 1990 no Brasil e que tem sido reconhecido como uma forma muito bem sucedida de organizao de um grupo de municpios para esse fim. A idia central do modelo a de, considerando a dificuldade de uma localidade rural isoladamente assegurar uma adequada prestao de servio, sobretudo em vista de seu porte reduzido, potencializar um conjunto deles, com afinidade geogrfica, organizando uma instncia supra-municipal que tenha a capacidade tcnica e gerencial de fornecer o suporte necessrio. Trata-se de uma forma de autoorganizao dos servios, com baixa participao dos governos estaduais e federal. J se identificam movimentos no pas na direo da ampliao da experincia, inclusive para ncleos urbanos. CENTRAL, Bahia Uma dessas experincias desenvolve-se no estado da Bahia, por meio da CENTRAL - Central de Associaes Comunitrias para a Manuteno de Sistemas de Abastecimento de gua -, criada em 1995 mediante convnio entre o governo do estado da Bahia e o banco alemo Kreditanstalt fr Wiederaufbau (KfW). uma associao sem fins lucrativos, aberta participao das associaes comunitrias responsveis pelo funcionamento de sistemas do abastecimento de gua. Tem como objetivos: (i) garantir o funcionamento dos sistemas, com financiamento por arrecadao, tendo por base tarifas por ligao, aferidas por medio; (ii) promover aes para melhorar o funcionamento das associaes comunitrias associadas quanto gesto dos sistemas e (iii) representar as associaes junto aos rgos pblicos e privados, zelando por seus interesses. Cabe, s associaes comunitrias filiadas, a operao dos sistemas e CENTRAL sua manuteno e o apoio gerencial, tcnico e administrativo s associaes, que em 1999 eram em numero de 37 (Prince, 1999a). A direo da CENTRAL exercida pelas seguintes instancias: Assemblia Geral, Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. O Conselho Deliberativo, que se rene a cada trs meses, constitudo por quatro representantes das associaes
27
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
comunitrias, dois representantes das prefeituras, um representante da CERB-Companhia Estadual de Engenharia Rural da Bahia e um representante da empresa de consultoria alem que d suporte cooperativa. Todos os componentes da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal so eleitos pela Assemblia Geral, dentre os representantes das associaes comunitrias. A cooperativa compunha-se de cinco funcionrios em 1999, em uma estrutura bastante racionalizada (Prince, 1999a). Em uma avaliao da participao da comunidade na implantao de quatro sistemas de abastecimento de gua , Prince (1999a) descreve que: na elaborao do projeto, esta ocorreu sobretudo em nvel de comunicao, por no haver mais de uma soluo tecnolgica a considerar em vista das limitaes hdricas da regio; praticamente inexistiu na implantao do sistema, j que as obras foram contratadas com empresas construtoras; na administrao e operao do sistema, a comunidade atua por meio da respectiva Associao Comunitria; na gesto e definio da tarifa a comunidade participa por meio da sua Associao. H, contudo, um envolvimento importante da comunidade em programa de educao sanitria. SISAR, Cear
12 10
Outra instituio que tem sido muito reconhecida nacional11 e internacionalmente a da SISAR - Sistema Integrado de Saneamento Rural, no Estado do Cear, criada em 1996 e muito inspirada na experincia da Bahia, embora compreenda tambm os servios de esgotamento sanitrio. Tem personalidade jurdica semelhante da CENTRAL e os seguintes objetivos: (i) administrar, manter e coordenar a operao de todos os sistemas de fornecimento de gua tratada e esgotamento sanitrio de suas associadas; (ii) estabelecer e cobrar tarifas reais, compatveis com os princpios de autogesto; (iii) representar as associaes filiadas e (iv) promover educao sanitria e de associativismo. A contratao do operador de cada sistema realizada pelas respectivas associaes de usurios, sendo que em alguns casos o operador funcionrio da Prefeitura. Em 1999 eram 32 as associaes filiadas ao SISAR, sendo que, para um determinado servio passar a integrar a organizao, so estabelecidas as condies de adequao ao padro tcnico do SISAR (todas as ligaes prediais dotadas de hidrmetro; existncia de macro-medidor na unidade de produo de gua; instalaes eltricas adequadas; instalaes sem problemas
Mocambo (195 habitantes), Poo Grande/Bairro Unio (840 habitantes), Lobato (475 habitantes) e Pau Ferro (510 habitantes). 11 Foi selecionado no projeto Experincias inovadoras em servios urbanos, promovido pelo IBAM (Instituto Brasileiro de Administrao Municipal), como um programa portador de sustentabilidade econmico-financeira (IBAM, 2006). 12 Internacionalmente, registra-se trabalho de ps-graduao que avalia positivamente a experincia (Sarmento, 2001) e avaliaes positivas do prprio banco financiador, que atribuiu ao projeto um grau bom em significncia e relevncia, adequado em eficincia e satisfatrio em efetividade (KfW, 2006).
10
28
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
construtivos) e da existncia de associao de usurios funcionando adequadamente (Prince, 1999b). As instncias de direo do SISAR so a Assemblia Geral, o Conselho de Administrao, o Conselho Fiscal, Auditoria Tcnica e Gerncia Executiva. A Assemblia Geral formada por um representante de cada associao filiada e responsvel pela escolha, dentre seus pares, dos membros do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal. A Gerncia Executiva encarregada das medidas necessrias ao funcionamento da organizao, sendo composta por um gerente e por profissionais das reas de manuteno, comercial e de educao (Prince, 1999b). Sarmento (2001) avaliou comparativamente seis experincias de esgotamento sanitrio de baixo custo para comunidades de baixa renda, sendo quatro delas, incluindo o SISAR, trabalhos de implantao de esgoto condominial . As outras trs experincias de sistemas condominiais foram realizadas com diferentes modelos de gesto. Em suas concluses, atesta os benefcios do modelo de organizao do SISAR para o sucesso de tecnologias que demandam alta participao e envolvimento da comunidade. O fortalecimento da comunidade mediante uma associao de usurios considerado um fator diferencial entre as experincias. Dentre as seis experincias, foi a nica que logrou atender a 100% da populao, foi a segunda em que os usurios menos declararam problemas de funcionamento, a primeira em satisfao dos usurios com os servios e a nica que apresentava, em sua estrutura gerencial, um programa continuado de desenvolvimento comunitrio e de educao sanitria. Em sua descrio das experincias inovadoras em servios urbanos, o IBAM (2006) descreve o SISAR como uma alternativa privatizao dos servios de saneamento, proporcionando um modelo de gesto que se enquadra na esfera pblica e explorando os benefcios da parceria governo/comunidade. Consrcio pblico, Piau Trata-se de um planejamento para a organizao de reas urbanas do Piau, atualmente operadas pela companhia estadual AGESPISA, na forma de consrcio pblico, modelo semelhante ao das cooperativas. O planejamento foi desenvolvido pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental SNSA do Ministrio das Cidades e as informaes aqui utilizadas foram extradas de estudos desenvolvidos por aquela secretaria (PMSS, 2005). Estudos anteriores da prpria SNSA constataram a necessidade de mudanas drsticas na Companhia [AGESPISA] para se tentar alcanar uma reestruturao capaz de
comunidades em Natal, Rio Grande do Norte; em Recife, Pernambuco e na Vila Planalto, em Braslia, alm de dois casos de solues estticas: Tringulo de Peixinhos em Olinda, Pernambuco e uma favela em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
13
13
29
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
melhorar a sua viabilidade tcnica e financeira, dada o baixo padro organizacional verificado. Embora formalmente responsvel pelo abastecimento de gua e esgotamento sanitrio em todo o territrio estadual, a AGESPISA opera 161 sedes municipais das 222 existentes (72,5% do total) em abastecimento de gua. Em esgotamento sanitrio, atende apenas a capital, Teresina, com cobertura por redes de apenas cerca de 12% da populao, alm de alguns conjuntos habitacionais isolados em trs cidades do interior do estado. Das sedes municipais onde opera o abastecimento de gua, h uma clara opo por aquelas de maior porte, atendendo a praticamente todas aquelas com populao urbana acima de 5.000 habitantes. Das cidades com menos de 5.000 habitantes, 35,1% no so operadas pela estatal. Com base nesse quadro, os estudos da SNSA para a reformulao do modelo de gesto no Estado resultaram na proposio de um recorte fsico-populacional dos municpios, no qual a AGESPISA se manteria responsvel pela prestao de servios na capital e em 35 sedes municipais do interior (1.358.000 usurios ou 75% da populao urbana do Estado), geograficamente concentrados do extremo-Norte at o Centro-Sul. Nas restantes 187 sedes, de menor porte e correspondendo globalmente a 465.015 usurios, o modelo combinaria a atuao das municipalidades com a gesto por quatro cooperativas regionais, a serem organizadas. As cooperativas so formalmente designadas por consrcio pblico com a participao do Estado e Municpios e teriam suporte legal na Lei dos Consrcios (n 11.107, de 06/04/2005), que regulamenta a gesto associada de servios por meio da cooperao entre entes federados. Essa lei assegura organizao formada, de direito pblico, autonomia administrativa e financeira e possibilidade de assuno de funes tpicas do poder pblico. Os estudos consideraram que, dentre os modelos institucionais aplicveis, aqueles que contassem com entidades de carter apenas estadual, isto , sob a gide exclusiva do Governo do Estado [...], no seriam em princpio interessantes no presente caso do Piau, dado o risco de contaminao pelas mazelas da herana poltica e pela decorrente ineficincia da prestao dos servios, o que poderia consistir, ento, numa mera repetio agora em 4 vezes do modelo AGESPISA. O estudo defende ainda que os novos operadores tivessem um poder de mando mais diludo entre Estado e Municpios, nascido do consenso entre um conjunto expressivo de Prefeitos e do Governo Estadual, o que poderia permitir uma administrao mais profissional e democrtica. (destaque no original) O modelo pressupe uma diviso de atividades entre os consrcios e os municpios integrantes e, em contrapartida, uma tarifa composta, a ser rateada entre os dois nveis de gesto com base nas respectivas despesas. Para o abastecimento de gua, inicialmente haveria a realizao de investimentos em cada sistema, com a adequao do sistema de distribuio, implantao de instalaes
30
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
de tratamento, automao das instalaes eltricas e macro e micro-medio de gua. A partir da, o municpio se encarregaria das atividades de natureza local, com a contratao e alocao do pessoal necessrio, a ser capacitado pelo consrcio. Essas atividades incluem, dentre outras tarefas, a operao rotineira, o controle dos parmetros mais elementares de qualidade da gua, a coleta e envio de amostras de gua para anlise, a leitura de hidrmetros e a entrega de contas. Por sua vez, ao Consrcio caberiam as atividades de maior complexidade ou que requeiram fator de escala mais econmico. Estas incluiriam a manuteno preventiva e corretiva de maior vulto; o controle da qualidade da gua; o controle da inadimplncia; o planejamento e elaborao de estudos e projetos; a realizao de licitaes; a fiscalizao das aquisies e das obras de maior vulto; o fornecimento de produtos qumicos; a emisso de contas; o controle da arrecadao das tarifas e a articulao interinstitucional juntos aos rgos estaduais e federais. Do ponto de vista financeiro, o modelo preocupa-se em superar reveses acumulados pela companhia estadual e o fato de que os pequenos municpios em questo serem tradicionalmente os considerados, pelas empresas estaduais, justamente como os inviveis e cuja viabilizao pode ser assegurada apenas pelo mecanismo de subsdio cruzado, beneficiando-se dos supervits originados dos sistemas maiores. Os documentos da SNSA indicam que o modelo busca, portanto, contornar as duas principais deficincias detectadas sobre a AGESPISA: os altos salrios, [...] na sede da empresa, mas tambm no pessoal local, mesmo nos pequenos Municpios e a logstica centralizada da empresa, onde todo suporte manuteno corretiva, qualidade da gua, comercializao, dentre outros , ocorre a partir de Teresina, com elevados custos de deslocamento. Em vista desses condicionantes, o novo modelo parte de custos de pessoal mais prximos da realidade do interior do Estado e prev que as sedes dos Novos Operadores, agora em nmero de 4, tenham logstica mais satisfatria. Em termos organizacionais, os consrcios teriam uma equipe diretiva composta por um diretor geral, assessoria tcnica de saneamento, dois gerentes (administrativo-financeiro e operacional-comercial) e uma secretaria executiva. No nvel operacional, haveria trs equipes: de apoio administrativo, de manuteno e controle de qualidade e de comercializao. No nvel municipal, haveria equipes locais com porte e natureza variveis, em funo de dois fatores: o porte do sistema e a necessidade da existncia de instalao mais complexa para tratamento da gua. Globalmente, as instncias decisria e executiva concebidas para o Consrcio da regio Sul teriam a formatao representada na Fig. 8.
31
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
CORESA - Consrcio Regional de Saneamento
Gesto associada
Nvel decisrio participativo
Governo Estadual e Prefeituras (Assemblia Geral, Presidncia e Diretoria Executiva). Representantes dos Legislativos e usurios (Conselhos).
Nvel executivo profissional
Superintendente - Tcnico nomeado pela Diretoria. Funcionrios concursados.
SELOS - Servio Local de Saneamento
Nvel decisrio
Gesto e operao municipal
Secretaria Municipal de Obras, Servios Pblicos.
Nvel executivo
Funcionrios municipais.
Fonte: PMSS (2005)
Figura 8 Representao esquemtica dos nveis decisrio e executivo do Consrcio da regio Sul do Piau e dos servios locais de saneamento Os estudos econmico-financeiros desenvolvidos pela SNSA concluram pela necessidade de tarifas mdias que, se aplicadas a um consumo familiar de 10m3/ms, resultariam em despesas mensais variando entre R$ 8,10 e R$ 10,20 (US$ 3.70 a 4.60), sendo que a estrutura tarifria atualmente praticada pela empresa prestadora estadual, para o mesmo consumo mensal, supera R$ 20,00 (US$ 9.00). Tais estudos consideram apenas o abastecimento de gua, mas sinalizam que a incorporao dos servios de esgotamento sanitrio traria uma otimizao de estruturas e recursos, podendo tornar o modelo ainda mais sustentvel economicamente. Logo, o modelo proposto para o Piau, alm de se alinhar com premissas importantes, como o fortalecimento do poder local, a descentralizao e a auto-organizao dos prestadores de servios, aparentemente tambm se caracterizar como financeiramente saudvel e praticando tarifas que facilitam o princpio do acesso aos servios, mesmo da populao de mais baixa renda. Para esta, ainda, a possibilidade da prtica de tarifas sociais pode potencializar ainda mais uma adeso universal aos sistemas de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio. Em relao ao modelo de organizao por meio de cooperativas de municpios, cabem algumas consideraes finais. Evidentemente, trata-se de uma forma organizativa com significativo potencial de aperfeioar a prestao dos servios em comunidades de
32
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
pequeno porte que, isoladamente, detm baixa capacidade tcnico-gerencial. Em verdade, o modelo emprega, na rea de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio, o princpio cooperativo, que tem tido aplicao bem sucedida em vrios outros setores da sociedade, em diversas partes do mundo. No Brasil, as cooperativas funcionam h muitos anos em setores to diversos como o da produo e distribuio de leite e da prestao de servios de assistncia sade. Por um lado, a recente promulgao de legislao especifica para a formao de consrcios para a prestao de servios - Lei n 11.107 de 06/04/2005 - pode ser um incentivo e uma base legal para prover o suporte ao modelo. Entretanto, as trs experincias descritas fornecem alguns ensinamentos, que deveriam orientar novas experincias. Em primeiro lugar, a importncia de financiamento externo, sobretudo governamental, para ensejar os primeiros passos da organizao e para a implantao de unidades. Segundo, a importncia da assistncia tcnica, nos campos da engenharia, jurdico e gerencial, em um primeiro momento na organizao da cooperativa, mas tambm na seqncia, at que esta adquira sustentabilidade. Em sntese, o modelo guarda expressivo potencial de ampliao para diversas regies do pais, seja em reas rurais, seja reunindo pequenos ncleos urbanos geograficamente afins, ou mesmo organizaes que cuidem tanto do saneamento urbano quanto do rural em uma dada regio. Contudo, parece equivocado encarar essa experincia apenas como um modelo de auto-organizao da sociedade, sobre o qual o estado no tem responsabilidades. Aqui, como em vrios outros aspectos da rea de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio, o poder pblico tem papel central em criar as boas condies para a eficincia, efetividade e sustentabilidade da prestao dos servios. b) Experincias municipais Conforme apontado em outras partes deste documento, a partir da dcada de 1970 o modelo de gesto municipal dos servios no recebeu apoio das polticas oficiais do governo federal, que fez opo clara pelo modelo das companhias estaduais, quadro que vem se alterando apenas nos ltimos anos. Tal opo poltica deixou quase a totalidade dos municpios, que optaram por manter a gesto de seus servios, sem acesso a financiamento, instrumento vital para fazer frente ao aumento populacional e obsolescncia dos sistemas, e sem o apoio tcnico federal ou estadual, por pelo menos 20 anos. A despeito disto, muitos municpios conseguiram consolidar servios de qualidade, contando sobretudo com seus prprios esforos organizativos e financeiros. Em 2005, a ASSEMAE Associao Nacional dos Servios Municipais de Saneamento organizou publicao em que descreve 20 experincias municipais de xito
33
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
(ASSEMAE, 2005). A escolha das experincias foi realizada por um processo de consulta a especialistas, por meio da aplicao do mtodo Delphi, mediante um questionrio respondido em duas rodadas, no qual eram explicitados os princpios assumidos para se caracterizar uma experincia como bem sucedida . Apresenta-se, a seguir, breve caracterstica de parte das experincias includas na publicao. Alagoinhas, Bahia (140.000 habitantes) Alagoinhas localiza-se em regio carente do estado da Bahia, ao norte de sua capital Salvador, e vem conseguindo superar as dificuldades impostas pela sua localizao scio-geogrfica, adotando um servio de saneamento participativo e comprometido com a populao. Em 2001, o municpio aprovou lei criando a poltica municipal de saneamento ambiental, considerada a primeira do pas. A formulao da referida lei foi fruto de um processo muito participativo, que aps 17 pr-conferncias regionais, quatro prconferncias temticas e diagnsticos participativos, em que participaram 5.000 pessoas, culminou com uma conferncia municipal de saneamento ambiental, com a presena de 166 delegados, alguns eleitos nas etapas anteriores e outros indicados pelo governo municipal. O municpio elaborou um plano municipal de saneamento ambiental, por meio de convnio firmado com a Universidade Federal da Bahia, que vem orientando as suas aes. Graas ao esforo organizado do municpio, tem ocorrido uma visvel expanso do acesso ao abastecimento de gua, inclusive com implantao de micro-medio, e ao esgotamento sanitrio, e uma importante reduo da mortalidade infantil de 46 para 26 bitos ate um ano de idade por mil nascidos vivos, entre 1999 e 2003. Tais avanos tm sido reconhecidos nacionalmente, tendo sido cunhados, por um reconhecido magazine do pas como a revoluo no caos, dadas as condies adversas locais. Araraquara, So Paulo (200.000 habitantes) A cidade destaca-se pela universalizao que conquistou na prestao dos servios. Toda a populao urbana recebe gua atendendo aos padres de potabilidade e com 100% de micro-medio e tem seus esgotos coletados e tratados. Os investimentos que asseguraram essa condio tm sido provenientes de recursos prprios, arrecadados das tarifas, as quais reconhecidamente so mdicas e inferiores s de cidades de porte equivalente. Mesmo assim, o servio tem usado de criatividade em sua relao com os consumidores sem capacidade de pagamento das tarifas, criando um fundo social, formado
14
14
A publicao informa que as experincias foram selecionadas considerando um balanceamento entre porte populacional e diversidade regional e, principalmente, o atendimento satisfatrio de parte ou da totalidade dos seguintes princpios de uma poltica pblica de saneamento ambiental: universalidade, eqidade, integralidade, titularidade municipal, gesto pblica, participao e controle social, intersetorialidade, qualidade dos servios (incluindo a regularidade, a continuidade, a eficincia, a segurana, a atualidade, a cortesia e a modicidade dos custos) e acesso.
34
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
pela arrecadao de 1% das receitas tarifrias, que empregado para quitar os dbitos dos consumidores que comprovam no possuir renda suficiente. Uma gesto apropriada, que valoriza o envolvimento da populao no processo e que planeja suas aes por meio de planos diretores, vem assegurando a sustentabilidade dos servios. A excelncia dessa prestao tem alcanado padres internacionais: o tratamento de gua e o tratamento de esgotos receberam nos ltimos anos a certificao ISO 9001. A autarquia responsvel, o DAAE, a partir de 2003 ampliou sua abrangncia de atuao, passando a ser encarregada da gesto integrada dos resduos slidos urbanos, incluindo os resduos dos servios de sade. Para tanto, tm sido investidos recursos prprios na implantao de usina de reciclagem, na criao de postos de trabalho e na organizao do trabalho de cooperativa de reciclagem, na operao adequada do aterro sanitrio e na aquisio de incinerador para resduos de servios de sade. Ibipor, Paran (50.000 habitantes) O SAMAE Servio Municipal de gua e Esgotos de Ibipor tem se destacado pela qualidade do servio prestado e se tornado referencia para outros municpios. Foi o primeiro servio municipal do pas a conquistar o Premio Nacional de Qualidade em Saneamento, outorgado pela ABES Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental, e recebeu a certificao ISO 9001 em 2003. Praticamente atingiu a universalizao do atendimento em abastecimento de gua e coleta e tratamento de esgotos para a populao urbana e rural do municpio. No caso da rea rural, realiza trabalho integrado com empresa estadual de assistncia tcnica e extenso rural. Tem superado o nmero de anlises de gua requerido pela legislao brasileira para a aferio da potabilidade, sendo includas anlises mais complexas, como as de agrotxicos e metais pesados. O servio tem praticado uma viso gerencial e poltica ampla, ao participar da criao e formao do Consrcio Intermunicipal de Servios Municipais de Saneamento do Norte do Paran, j inspirado na legislao federal sobre consrcios pblicos de 2005. Dentre as aes planejadas, o consrcio pretende implantar laboratrio comum para anlise de guas, contratar profissionais de engenharia, direito e agrimensura para fornecer assistncia tcnica aos consorciados e, sobretudo, promover o intercmbio de experincias entre os 11 municpios associados. Ituiutaba, Minas Gerais (90.000 habitantes) A SAE Superintendncia de gua e Esgotos de Ituiutaba exibe excelentes ndices de atendimento por abastecimento de gua e coleta de esgotos na rea urbana, tratando cerca de 70% dos esgotos coletados por lagoas de estabilizao. A excelncia dos servios tem sido reconhecida, com a conquista do Premio Nacional de Qualidade em Saneamento,
35
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
outorgado pela ABES Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental, e da certificao ISO 9002 de sua estao de tratamento de gua. Importante prioridade conferida pela superintendncia o programa de combate s perdas no abastecimento de gua, por meio da substituio de redes e da deteco de vazamentos, com tcnicas modernas. No plano gerencial, a SAE tem praticado o monitoramento por indicadores, tendo sido criados 100 indicadores de gesto, que so levantados e avaliados mensalmente. Tem enfatizado o relacionamento do rgo com os usurios dos servios, promovendo o envolvimento de seu corpo de funcionrios com essa obrigao e realizando pesquisas de ps-atendimento, com amostra de usurios que solicitaram servios autarquia. Segundo os dirigentes, a eficincia administrativa tem assegurado a prtica de uma das mais baixas tarifas do pas. Penpolis, So Paulo (60.000 habitantes) O servio de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio de Penpolis foi uma das 15 experincias consideradas como boa prtica em saneamento, em concurso promovido pela WWF-Brasil em 2005 (WWF, 2005). O Departamento Autnomo de gua e Esgoto de Penpolis DAEP, responsvel pelo saneamento no municpio, alcanou nmeros expressivos no cenrio nacional. Universalizou o atendimento com abastecimento de gua tratada e hidrometrada, a coleta e o tratamento de esgotos e a coleta de resduos, com elevado nvel de coleta seletiva, mantendo aterro sanitrio com qualidade reconhecida. Foi o primeiro rgo pblico municipal de saneamento no Brasil que conquistou a certificao ISO 9001:2000. A viso abrangente de saneamento ensejou que, em 1993, o DAEP assumisse a educao ambiental do municpio, tendo sido criado o Centro de Educao Ambiental CEA. Ademais, realiza aes de limpeza de reservatrios domiciliares e controle de vetores. Pratica a participao popular em sua gesto, por meio de Conselho Deliberativo com representantes da sociedade civil, o que tem assegurado continuidade e sustentabilidade nas suas polticas. Membros do Conselho so eleitos nos Fruns de Saneamento e Meio Ambiente, realizados a cada dois anos. Alm disso, o municpio criou o consrcio do Ribeiro Lajeado, visando proteger o nico manancial que abastece a cidade, demonstrando uma preocupao em vincular suas atividades com uma viso de gerenciamento de recursos hdricos. Porto Alegre, Rio Grande do Sul (1.400.000 habitantes) Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul, um cone da prestao municipal dos servios de saneamento, por pelo menos duas razes. Por um lado, a nica capital brasileira que no concedeu seus servios companhia estadual, a despeito da implementao do PLANASA. Por outro, o pioneirismo da cidade na implantao do
36
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
oramento participativo um fato reconhecido mundialmente e uma prtica adotada em diversas cidades do mundo, por inspirao dessa experincia. O DMAE Departamento Municipal de gua e Esgotos o maior prestador municipal de servios de saneamento do Brasil. O rgo tem tido um compromisso histrico com a universalizao dos servios, com a ateno populao mais carente e com o processo democrtico participativo. Segundo Maltz (2005), a implementao do oramento participativo mudou o DMAE, com a transformao do conceito de como atender s necessidades da populao, resultando em que todo o nvel gerencial e os trabalhadores do Departamento passassem a modificar o foco de suas atividades e a priorizar as demandas dos usurios e os apelos populares, atendendo suas demandas. A adoo do oramento participativo transformou inclusive a forma de administrao financeira do rgo, pois a definio de onde os recursos deveriam ser aplicados tem por base as assemblias populares, fazendo o DMAE mais prximo da sociedade e sendo estabelecido um controle social desta sobre suas atividades. Essa estratgia vem propiciando cidade exibir elevados nveis de atendimento por servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio. Entretanto, ser necessrio avaliar no futuro o nvel de sustentabilidade do modelo, pois, tendo havido mudana do partido poltico que administrava a cidade em 2004, tambm se mudaram os mtodos de gesto, com o abando por exemplo da prtica do oramento participativo. Santo Andr, So Paulo (700.000 habitantes) O SEMASA Servio Municipal de Santo Andr tem posio emblemtica dentre os servios municipais brasileiros, a ponto de a ASSEMAE apresent-lo como a vitrine do saneamento. O rgo tem uma consolidada tradio de exerccio do controle social e da prtica da chamada integralidade, pois desde 1999 passou a ser o responsvel, no municpio, pelos servios de abastecimento de gua, esgotamento sanitrio, manejo de resduos slidos e drenagem urbana, e, posteriormente, tambm pela defesa civil e a gesto ambiental. Essa reunio de servios afins, relacionados com a sade ambiental e a proteo do ambiente, propicia vantagens econmicas, pela prtica de um sistema de subsdio cruzado interno, e uma importante integrao operacional. As aes do SEMASA tm permitido que a cidade apresente elevados ndices de atendimento, programa de combate a perdas, emprego de moderno sistema de automao, coleta seletiva de resduos em todo seu territrio, disposio final de resduos com qualidade reconhecida, comprometimento institucional na relao com o usurio, bem como certificao pela ISO 9001, mediante um processo de acompanhamento de indicadores estratgicos. O Plano Diretor de Drenagem Urbana desenvolvido pelo municpio em 1998 considerado a primeira iniciativa dessa natureza do pas, tendo resultado na reduo dos pontos de alagamento e inundao.
37
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Entretanto, a cidade emblemtica tambm na ocorrncia de conflitos polticos entre as esferas estadual e municipal de prestao de servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio. Santo Andr est localizada na Regio Metropolitana de So Paulo, na qual existem sistemas integrados para a produo e transporte de gua e para o transporte e disposio de esgotos, operados pela SABESP, a maior companhia estadual do pas. A cidade recebe gua tratada da SABESP, em seus principais reservatrios, e tem seus esgotos recebidos e (parte) tratados pela companhia estadual, aps coletados em redes do SEMASA. Entretanto, o relacionamento entre os dois nveis governamentais tem sido relativamente conflituoso, no havendo at o presente, decorridos 35 anos da criao do SEMASA, contrato que formalize essa relao e sequer uma tarifa pelos servios, oficialmente estabelecida. Como se observa, as experincias relatadas apontam para a possibilidade de que os esforos locais, desde que assumidos com seriedade, competncia tcnica e gerencial e compromisso com a populao, podem resultar em servios muito efetivos e eficientes. Deve-se reiterar que, nos casos descritos, tal conquista foi obtida quase sempre com recursos tcnicos e financeiros potencializados localmente e pouco suporte das instncias estaduais e federal de governo. Obviamente, muitos aperfeioamentos necessitam ainda ser introduzidos em alguns desses servios, como naqueles que no atingiram a universalizao do atendimento ou no avanaram no tratamento de esgotos. Adicionalmente, deve-se reconhecer a existncia de muitos servios municipais de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Brasil que esto longe de serem classificados como eficientes e efetivos. Contudo, as experincias aqui descritas so ntidas demonstraes do potencial que tem o fortalecimento do poder local, na transformao do quadro de carncias de atendimento do pas. c) Experincias das companhias estaduais Diferentemente da iniciativa da ASSEMAE descrita no item anterior, no h um levantamento com metodologia semelhante para a seleo das melhores experincias nas companhias estaduais do pas. Existem concursos, abertos participao dos servios interessados, no exclusivos para os estaduais, visando premiar sistemas e experincias bem sucedidas. O mais tradicional deles o j mencionado Prmio Nacional de Qualidade em Saneamento - PNQS, outorgado pela ABES Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental desde 1997. Mais recentemente, o Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto, no mbito do Programa da Qualidade no Servio Pblico PQSP e do Prmio Nacional da Gesto Pblica, criou a categoria Especial Saneamento.
38
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
O referido Prmio Nacional da Gesto Pblica, na categoria Saneamento, teve apenas uma aplicao, em 2005, e consiste de adaptao de instrumento empregado de forma abrangente para a avaliao da gesto pblica, adaptado para a rea especfica de saneamento. Em sua avaliao, o Prmio considera sete conjuntos de critrios, avaliados sob os pontos de vista qualitativo e quantitativo: liderana; estratgias e planos; cidados e sociedade; informao e conhecimento; pessoas; processos; e resultados. A candidata vencedora em 2005, a Superintendncia Metropolitana de Salvador da EMBASA - Empresa Baiana de guas e Saneamento S.A., uma unidade daquela companhia estadual, com funo de realizar o planejamento, a coordenao, a execuo e o controle das atividades operacionais, comerciais e administrativas relacionadas aos Sistemas de Abastecimento de gua e Esgotamento Sanitrio de Salvador e da Regio Metropolitana de Salvador. Essa unidade exibe os seguintes indicadores: 100% de conformidade com o padro de potabilidade de gua (desde 2002); 99,7% de cobertura por gua (97,8% em 2000); 65% de cobertura por coleta de esgotos (38,2% em 2000); relao de 48,6% entre volume de esgotos tratados e gua consumida (37,9% em 2001); 3% de reclamao por falta de gua (EMBASA, 2006). No so indicadores que se destaquem excepcionalmente se confrontados com o de outros servios estaduais ou municipais, mas o relatrio de candidatura da Superintendncia Metropolitana revela um consistente esforo de aprimoramento de seu desempenho e, sobretudo, de planejamento e de monitoramento dos indicadores. Por sua vez, a premiao concedida pelo PNQS, da ABES, tambm se baseia na pontuao de indicadores, com base nos mesmos sete grupos de critrios, cotejando-os com indicadores de referncia ou benchmarking. Na sua verso de 2005, a nica experincia que obteve a premiao de nvel 2, o nvel mais elevado, foi a Unidade de Negcio Sul da SABESP Companhia de Saneamento Bsico do Estado de So Paulo, companhia que se regionalizou segundo bacias hidrogrficas em 1995, concedendo autonomia operacional e financeira a essas unidades. A Unidade de Negcio Sul a responsvel pelo planejamento, operao e manuteno dos sistemas de distribuio de gua e coleta de esgotos sanitrios e pela comercializao dos servios na regio sul da Regio Metropolitana de So Paulo (ABES, 2004). A Unidade atende 3,4 milhes de pessoas com abastecimento de gua (94,5% de atendimento) e 2,4 milhes com coleta de esgotos (67,3%) de atendimento, tratando esgotos de 11,8% da populao de sua rea de influncia (ABES, 2004). Os bons indicadores exibidos pela Unidade de Negcios muito provavelmente podem ser explicados pelo intenso investimento em planejamento operacional, empregando tcnicas gerenciais especializadas de acompanhamento e operacionalizao de indicadores.
39
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Alm dessa premiao de maior nvel, o PNQS 2005 tambm reconheceu, como nvel 1, trs experincias em cidades do interior de Minas Gerais operadas pela COPASAMG, duas do interior do Rio Grande do Sul operadas pela CORSAN, uma do interior da Bahia e uma unidade em Salvador, operadas pela EMBASA. O prmio de 2005 atribuiu ainda uma outra modalidade de premiao, denominada Inovao da gesto em saneamento, escolhendo experincias como a gratificao de desempenho, de mecanismos inovadores de gesto, de avaliaes de desempenho, uso de sistemas de informao geogrfica, gesto de resduos slidos urbanos. Todos esses sistemas e mecanismos de gesto so de responsabilidade de companhias estaduais de saneamento, que so as que mais se candidatam ao prmio e o empregam como referncia para suas metas de gesto. Essas iniciativas, de premiao por critrios de qualidade, tm por base inicial paradigmas de eficincia empresarial desenvolvidos segundo diferentes perspectivas tericas, mas sempre muito influenciadas pelo conceito de eficincia empresarial. Embora meritrios os referidos programas, no sentido de reconhecer as boas experincias mas principalmente no de induzir boas prticas, verifica-se a necessidade de se consolidar um paradigma prprio, mais aplicado especificamente a organizaes de carter pblico. Assim, v-se como importante a re-conceituao do princpio da eficincia luz do papel da instituio pblica e de sua relao com o cidado e a sociedade. Ademais, percebe-se que poderia ser salutar para o aprimoramento dos critrios adotados, um exerccio de translao de viso da organizao: a partir da sociedade para a instituio, em lugar de uma viso endgena. Nessa perspectiva, poderiam passar a receber mais valorizao fatores relacionados melhoria da qualidade de vida dos usurios dos servios. Na avaliao das experincias estaduais, um aspecto que necessitaria ainda ser fortemente considerado sua relao com aquele que deveria ser seu principal interlocutor: o poder concedente ou, no modelo brasileiro, o municpio que autoriza a concesso do servio. Esta permanece ainda uma relao muito sensvel e sujeita a conflitos de interesse, conforme exposto em outras partes deste texto. Algumas iniciativas de uma relao mais adequada entre os dois entes tm sido observadas no pas, o que tem ocorrido especialmente por ocasio de renovao dos contratos de concesso. Uma das experincias documentadas, nessa direo, vem ocorrendo em Recife, Pernambuco, em que a renovao do executivo municipal em 2000 interrompeu uma tentativa de privatizao da companhia estadual a Companhia Pernambucana de Saneamento-COMPESA, desde 1971 responsvel pela operao dos sistemas de abastecimento de gua e de esgotamento sanitrio na cidade, de 1,5 milhes de habitantes. A justificativa para a privatizao seria a incapacidade da COMPESA em prestar adequados servios ao municpio, que apresenta precrios indicadores: apenas 27% da populao servida por coleta de esgotos, menos de 10% dos esgotos submetidos a tratamento, 12%
40
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
da populao com conexo irregular rede de abastecimento de gua e sistemtico racionamento de gua (Miranda, 2005). Ao modelo privado, a Prefeitura de Recife, suportada por um amplo processo de discusso com a sociedade, contraps um modelo alternativo: o de formalizao (inexistente at ento) da concesso dos servios a essa companhia, que seria mantida pblica, associada ao controle social e do poder concedente, e a criao de instncia municipal para o planejamento, o acompanhamento da concesso e a execuo de servios complementares especialmente em favelas. Entretanto, embora com ampla mobilizao da sociedade e, pelo menos inicialmente, forte determinao da prefeitura municipal, o acordo final entre municpio e estado passa por marchas e contramarchas, dificultando a implantao e teste do modelo. mais uma demonstrao de como a classe poltica brasileira avalia a gesto do saneamento como uma importante forma de poder. d) Sistemas condominiais As solues condominiais adotadas no Brasil a partir da dcada de 1980, inicialmente para esgotos sanitrios e em um segundo momento tambm para o abastecimento de gua, tm sido objeto de diversos estudos e aplicaes, no apenas no Brasil como em outras partes do mundo. Em 1996 (Melo, 1996), estimava-se que mais de 500.000 pessoas, em uma centena de cidades brasileiras, eram atendidas pela soluo para o esgotamento sanitrio , havendo experincias registradas em gua e esgotos em El Alto, Bolvia (Foster, s.d.) e em esgotos no Paquisto (Mara, 1998). Certamente, trata-se de uma soluo com potencial revolucionrio para o atendimento populacional, tanto pela sua concepo fsica quanto pelo seu modelo gerencial. Do ponto de vista fsico, o sistema modifica o conceito tradicional de unidade receptora do servio. Enquanto no sistema convencional o servio provido a cada unidade domiciliar, no condominial este provido a quadras ou a grupo de moradias, de forma similar ao modelo dos condomnios verticais ou edifcios de apartamento. Como conseqncia, a rede pblica no necessita percorrer todos os lotes ou estar presente em todas as ruas, resultando em reduo de cerca de 50% da extenso da rede de esgotos e de 75% da rede de gua (Melo, 2005). Dessa forma, o sistema condominial compreenderia o ramal condominial, que uma rede de esgotos simplificada localizada no interior das quadras ou nos passeios (ver Figura 8) ou uma rede de abastecimento de gua situada nos passeios, e a rede pblica. Estimula15
15
possvel que este nmero supere hoje a casa de 2.000.000 de pessoas.
41
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
se ainda a descentralizao das unidades coletivas, sejam estaes de tratamento de esgotos ou reservatrios de gua. Globalmente, tal concepo propicia uma significativa economia de custos, quando comparada com a soluo convencional de esgotamento sanitrio (Mara, 1998).
Fonte: Melo (1996)
Figura 8. Possibilidades de localizao de ramais condominiais de esgotos. Em termos de sua lgica gerencial, o modelo prev a formao dos condomnios de usurios, que se tornam responsveis pela implantao e manuteno dos ramais condominiais. Tal estratgia propicia a organizao da comunidade em torno da problemtica dos esgotos sanitrios e uma relao mais prxima entre o rgo prestador dos servios e o usurio. Segundo o idealizador do modelo, o condomnio torna-se no apenas uma unidade fsica de proviso de servios, mas uma unidade social de facilitao de decises coletivas e aes de organizao comunitria, sendo que os membros do condomnio devem selecionar o projeto apropriado e organizar-se para aes complementares, da educao sanitria participao direta na construo e manuteno (Melo, 2005). Entretanto, justamente esta ltima caracterstica, do envolvimento comunitrio, que pode ser o calcanhar de Aquiles do processo, pois caso no seja adequadamente realizada, e assegurando a perenidade da organizao dos usurios, pode levar a um comprometimento da sustentabilidade do sistema.
42
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
A despeito disto, a maior parte das experincias relatadas demonstra o amplo sucesso da soluo, atestado pela significativa reduo de custos obtida e pelo efetivo engajamento da comunidade. Experincias to distintas quanto em Braslia, capital do Distrito Federal; Salvador, capital do Estado da Bahia, e Parauapebas, no estado do Par, registradas em publicao do Banco Mundial (Melo, 2005), ilustram esta afirmativa: Em Braslia, a interveno envolveu a ampliao do atendimento por esgotos sanitrios para cerca de 500.000 pessoas, a um custo mais reduzido e contemplando desde reas de muito baixo nvel scio-econmico at regies de alta renda. Avaliaes posteriores demonstraram que o nvel de manuteno requerido pelo sistema condominial no era superior ao do convencional. O sucesso do programa tem uma importante explicao no forte suporte institucional provido pela companhia estadual responsvel, a CAESB Companhia de gua e Esgotos de Braslia. Em Salvador, uma interveno muito ampla de esgotos condominial atendeu a mais de um milho de pessoas, em regies de baixa renda, com padro de ocupao muito desordenado e uma condio topogrfica muito desfavorvel. Entretanto, diferentemente do caso de Braslia, a experincia foi caracterizada por certo voluntarismo por parte do agente responsvel a EMBASA Empresa Baiana de Saneamento , com a ausncia de uma efetiva institucionalizao do modelo e um mais baixo envolvimento da comunidade. Tais condies aliaram-se s prprias condies locais desfavorveis, em que grande parte da populao j possua instalaes intradomiciliares, conectadas a rede de guas pluviais, sem a necessidade de dispndio de tarifas mensais. Assim, problemas foram observados, como a baixa aderncia s tarefas de manuteno e a baixa proporo de domiclios que se conectaram (cerca de 30% em 2005), provavelmente uma dificuldade nointrnseca ao modelo condominial, mas a qualquer soluo para a expanso do atendimento por esgotos. A experincia de Paraupebas constou da execuo de rede de gua pelo sistema condominial. Por essa razo, tem carter inovador, sinalizando para o potencial de adoo do sistema condominial tambm problemtica do abastecimento urbano de gua. A cidade, pequena mas com acelerado ritmo de crescimento, conseguiu mobilizar a participao da comunidade em larga escala na construo da rede, propiciando a expanso da cobertura por rede de gua por menos de 30% do custo projetado para o sistema convencional. A concepo do modelo traz o potencial de ampliao, contudo sem se desconsiderar as condies bsicas de garantia de sua sustentabilidade: o apoio dos poderes pblicos, o financiamento para a execuo do sistema e a adoo de medidas para
43
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
a sustentabilidade da mobilizao da comunidade. A ausncia desses ingredientes pode comprometer a continuidade dos sistemas implantados com essa concepo no largo prazo. Cenrios e perspectivas para um novo quadro poltico-institucional Organizao institucional Em termos de organizao do Executivo para a rea, o governo Lula, quando da sua posse em 2003, criou o Ministrio das Cidades e, em sua estrutura, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, cuja misso, divulgada em seu stio, assegurar os direitos humanos fundamentais de acesso gua potvel e vida em ambiente salubre nas cidades e no campo, mediante a universalizao do abastecimento de gua e dos servios de esgotamento sanitrio, coleta e tratamento dos resduos slidos, drenagem urbana e controle de vetores e reservatrios de doenas transmissveis. Logo, competem a essa secretaria aes como financiamento, avaliao, implementao e estabelecimento de diretrizes para a rea de saneamento, tornando-se a sua principal referncia, em nvel federal. Alm desta, outras trs secretarias, todas com relaes com o saneamento, compem o referido ministrio: Habitao; Transportes e Mobilidade Urbana; e Programas Urbanos. A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental vem operando com uma ampla gama de programas, incluindo tanto concessionrias quanto municpios e prevendo aes especficas para regies e populaes particularmente vulnerveis. Ademais, alguns programas so iniciativas interministeriais, como com o Ministrio do Meio Ambiente e o Ministrio da Integrao Nacional. Alm dessa organizao no mbito do governo federal, foi criado o Conselho das Cidades, de carter deliberativo e consultivo, e com a finalidade de propor diretrizes para a formulao e implementao da poltica nacional de desenvolvimento urbano, bem como acompanhar e avaliar a sua execuo (Brasil, 2005) e em cuja estrutura se inclui o Comit Tcnico de Saneamento Ambiental, com funes de assessoramento. Pretende-se que a mesma estrutura se reproduza nos nveis dos estados e municpios. Influem nas polticas de saneamento as deliberaes das Conferncias das Cidades, sendo que a primeira conferncia nacional realizou-se em outubro/2003 e a segunda em novembro-dezembro/2005. As conferncias tm tido participao muito ampla e representativa dos vrios segmentos das polticas urbanas e tm deliberado pelo acesso universal e por um maior compromisso com a sociedade, sobretudo a mais carente, por parte das polticas de saneamento.
44
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Observam-se tambm iniciativas em outros ministrios, alm daquelas que o Ministrio das Cidades desenvolve. Podem ser mencionados, entre outros, programas da Agncia Nacional de guas ANA (Brasil, 2006), no apoio aos comits e agncias de bacias hidrogrficas, na fiscalizao dos usos da gua, na conservao de gua, no planejamento de recursos hdricos e no incentivo econmico implantao de unidades de tratamento de esgotos. O prprio Ministrio do Meio Ambiente, em seu mandato de implementao da Agenda 21 brasileira e locais, encontra-se com diversas interfaces no tema da relao entre saneamento e recursos hdricos. Em nvel estadual, o que se verifica com mais freqncia a inexistncia de rgos formais do executivo que se dediquem rea de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio, ficando essa funo em geral restrita s companhias estaduais. Esse modelo traz limitaes busca de um servio mais universal e igualitrio para a populao do respectivo Estado, conforme j discutido, uma vez que as companhias no atuam em todos os municpios do estado. No nvel municipal, embora a constituio federal estabelea a competncia do municpio para organizar e prestar os servios, entendidos como de natureza local, observase que nem sempre esse direito e esse dever exercido plenamente. Segundo o modelo vigente, os municpios devem operar diretamente os servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio ou concederem os servios para terceiros, mas se espera, nesse caso, que o governo municipal exera um acompanhamento da concesso e exija do concessionrio um servio adequado aos interesses de sua populao. Para a atual realidade brasileira, nem sempre o poder municipal tem conscincia dessa sua responsabilidade e se omite perante a concesso. Qualquer que seja a anlise, no entanto, a situao da rea de saneamento no Brasil mostra com nitidez uma evoluo muito acanhada na direo de um ambiente mais compatvel com a realidade democrtica do pas, sobretudo quando se compara com a evoluo de outros setores pblicos, a partir da redemocratizao de meados da dcada de 1980. Assim, com muito maior velocidade e eficincia, a participao popular e o controle social legitimaram-se nas reas de sade, de meio ambiente, de poltica urbana e de recursos hdricos. De forma similar, a descentralizao, com o reconhecimento e o estmulo ao do nvel municipal, foi assumida pelas reas de sade, com os conselhos municipais, e de meio ambiente. A prpria rea de recursos hdricos, ao adotar a bacia hidrogrfica como unidade de planejamento e estabelecer os comits de bacias para a sua gesto, mostra sinais inequvocos de fortalecimento do poder local. Este passivo de democratizao, portanto, ainda acompanha a rea de saneamento, talvez encontrando explicao na resistncia dos grupos de interesse nele instalados em ter seu poder controlado.
45
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Em termos do financiamento, tem havido uma recuperao do nvel de recursos disponibilizados pelo governo federal para as aes de saneamento, aps um momento de grandes restries nos ltimos anos do governo Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, h que se reconhecer a necessidade de uma regularidade nesse fluxo, tornando sustentvel a implantao e recuperao, bem como a manuteno dos sistemas. Alm disso, necessrio e premente que se utilize o recurso financeiro de forma responsvel e tica, empregando-se projetos apropriados, executando-se obras com as melhores tcnicas de engenharia, praticando oramentos condizentes com os reais custos dos servios e controlando-se com vigor qualquer forma de corrupo nas diversas etapas do processo. Alm disso, a implantao de um sistema efetivo de fiscalizao e avaliao dos empreendimentos uma tarefa concomitante com a viabilizao de recursos suficientes para o setor. A necessidade de recursos para se obter a universalizao dos servios at o ano de 2020 estimada pela SNSA em R$ 184 bilhes , sendo 169,2 bilhes para o abastecimento de gua e esgotamento sanitrio nas reas urbanas, 9,2 bilhes para os mesmos servios nas reas rurais e 5,6 bilhes para o manejo de resduos slidos urbanos. So valores aparentemente elevados, mas perfeitamente alcanveis caso os governos reconheam a importncia dessas aes e as priorizem, j que a estimava, para atingir as metas, de investimentos anuais no superiores a 0,5% do PIB (Brasil, 2003). Outra face dessa anlise diz respeito s tentativas de privatizao dos servios, sobretudo mediante o modelo de concesso a empresas privadas. Tal esforo articulou-se com um apelo e uma presso das agncias multilaterais, no esteio da adoo do modelo macroeconmico neoliberal no pas. Entretanto, verificou-se uma expanso desse modelo no Brasil aqum da observada em outros pases. A explicao para essa evoluo no encontra uma causa nica, sendo mais bem suportada quando se analisa a interao e combinao de um conjunto de fatores (Castro e Heller, 2006). De um lado, a paralisia e o ambiente ainda pr-neoliberal do governo Sarney, a desorganizao poltica do governo Collor e a viso nacionalista do governo Itamar resultaram em que as tentativas de aprofundamento do modelo neoliberal no pas se iniciassem de forma mais determinada apenas no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995. Nesse momento, a maior onda de entusiasmo das companhias privadas multinacionais do abastecimento de gua e esgotamento sanitrio j diminua, em face das dificuldades apresentadas por algumas concesses, sobretudo devido instabilidade poltico-econmica dos pases em que atuavam, como a Argentina.
16
16
Cerca de US$ 80 bilhes.
46
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Por outro lado, as iniciativas do governo em ampliar as concesses privadas esbarraram em um conjunto de resistncias: dos principais governadores e da direo de importantes companhias estaduais, que se recusavam a abrir mo do capital poltico e econmico por elas representado; do corpo tcnico-burocrtico dessas companhias e sua organizao sindical, que receavam perder privilgios; das organizaes representativas dos servios municipais, que sempre propugnaram para que os servios devam ser pblicos. Um fator adicional, que talvez tenha gerado intranqilidade aos investidores, foi a ausncia de uma regulao que definisse com mais clareza o estatuto jurdico das concesses privadas. Particularmente nas regies metropolitanas, ainda hoje persiste uma indefinio quanto titularidade dos servios: se so detidos pelos Estados ou pelos Municpios. Deve-se ressalvar, no entanto, que esses fatores no impediram que algumas concesses privadas fossem firmadas, a exemplo de Manaus, capital do estado do Amazonas em 2000 . Entretanto, em 2006 o nmero de municpios com concesso privada dos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio pouco superior a 1% dos municpios brasileiros. Regulao No Brasil, no houve, at o momento, a iniciativa de criao de uma agncia reguladora nacional para a rea de saneamento. A agncia nacional que maior proximidade tem para com a rea a ANA Agncia Nacional de guas, vinculada ao Ministrio do Meio Ambiente, que tem o mandato de implementar a Poltica Nacional de Recursos Hdricos (Brasil, 2000), mediante a regulao do uso das guas dos rios e lagos de domnio da Unio e a implementao do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos, garantindo o uso sustentvel [das guas], evitando a poluio e o desperdcio e assegurando, para o desenvolvimento do pas, gua de boa qualidade e em quantidade suficiente para a atual e as futuras geraes (Brasil, 2006). Ou seja, a despeito das interfaces, trata-se de agncia voltada para a gesto dos recursos hdricos, no estando
17
17
No final de 2005, a concesso dos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio de Manaus, ao grupo Suez, enfrentava simultaneamente duas crises. De um lado, a concessionria guas do Amazonas reivindicava a reviso do contrato de concesso, em funo de um alegado desequilbrio no contrato decorrente de que o maior volume de receitas geradas provm da categoria residencial e a demanda pela expanso justamente em reas de ocupao irregular e desorganizada e de caracterstica scio-econmica bastante carente, no havendo do outro lado do servio consumidores industriais ou mais favorecidos que permitissem criar subsdios para os investimentos necessrios. Pelo contrrio, os clientes que sustentariam essa equao esto saindo sistematicamente do sistema, optando por poos particulares, sem fiscalizao e sem controle, o que est comprometendo gravemente o equilbrio da concesso, bem como a situao dos aqferos subterrneos. (guas do Amazonas, 2005). De outro, a Cmara Municipal de Manaus aprovou, no dia 05/12/2005, relatrio de uma Comisso Parlamentar de Inqurito, determinando Prefeitura de Manaus a suspenso do contrato de concesso, em vista de possveis irregularidades no processo de contratao. (Cmara Municipal de Manaus, 2005; Dirio de Amazonas, 2005).
47
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
previsto, em seu mandato, a regulao da prestao dos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio. No nvel federal, verificam-se mecanismos de controle social da rea de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio, por meio dos conselhos nacionais e suas estruturas organizacionais, como o Conselho das Cidades e seu Comit Tcnico de Saneamento Ambiental; o Conselho Nacional de Sade e sua Comisso Intersetorial de Saneamento e Meio Ambiente; e o Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, com suas cmaras tcnicas Controle e Qualidade Ambiental; Educao Ambiental; e Sade, Saneamento Ambiental e Gesto de Resduos. Nos nveis estadual e municipal, no se observa um modelo uniforme para regulao e controle social. Algumas agncias reguladoras foram criadas nos ltimos dez anos, congregadas na ABAR Associao Brasileira de Agncias de Regulao, porm com modelos muito despadronizados. Identificam-se pelo menos 11 estados que organizaram agncias em cujos mandatos incluem-se os servios de abastecimento de gua e, ou esgotamento sanitrio: uma especfica para os temas relativos gua guas, irrigao e saneamento (Paraba), algumas atuando em servios pblicos de forma ampla (Acre, Mato Grosso do Sul, Gois e Alagoas) e outras em servios pblicos delegados ou concedidos (Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceara, Pernambuco, Amazonas e Rio de Janeiro). Observa-se uma maior concentrao dessas agncias nos estados das regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No nvel municipal, existem poucas agncias especficas para o setor, algumas delas tendo sido criadas para a regulao de contratos de concesso (e.g.: Cachoeiro do Itapemirim Esprito Santo), outras para o controle do prprio servio municipal publico (e.g.: Joinville Santa Catarina) e outras para controle da concesso companhia estadual, como em Campo Grande (Mato Grosso do Sul) e Natal (Rio Grande do Norte).
18
Um modelo alternativo adotado por algumas capitais, em um processo de repactuao da sua relao com a concessionria estadual, o da criao de conselhos municipais de saneamento, integrados por membros do governo, da sociedade civil e eventualmente da concessionria. Um exemplo dessa experincia ocorre em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde foi criado o COMUSA Conselho Municipal de Saneamento, instncia responsvel por acompanhar a relao entre a concessionria e o municpio. Dentre as atribuies previstas em seu regimento, incluem-se: (i) regular, fiscalizar, controlar e avaliar a execuo da Poltica Municipal de Saneamento; (ii) estabelecer diretrizes, fiscalizar e deliberar sobre a aplicao dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento-FMS; (iii) aprovar o Plano Municipal de Saneamento e fiscalizar sua
18
Informaes disponveis na home page da ABAR (http://www.abar.org.br) e das respectivas agncias.
48
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
implementao; (iv) apreciar e opinar sobre a composio de tarifas ou taxas incidentes sobre os servios; (v) aprovar e publicar o relatrio "Situao de Salubridade Ambiental do Municpio de Belo Horizonte". (Belo Horizonte, 2004). O suporte tcnico e administrativo ao COMUSA provido por uma instncia do poder executivo municipal, denominada Grupo Gerencial de Saneamento - GGSAN. Claramente, este conselho constitui uma modalidade de regulao, com participao da sociedade, distinto do modelo de agncia reguladora independente do poder executivo. Modelo semelhante est previsto para implementao em Recife, Pernambuco, conforme j comentado. Aparato legal Sob o aspecto poltico-institucional, aps o PLANASA, observaram-se vrias iniciativas no sentido de se estabelecer um novo marco legal e institucional para o saneamento no pas, porm sem que resultasse em um novo modelo, claramente definido e com estabilidade a mudanas pelos sucessivos governos federais. Dessa forma, atualmente ainda se verificam mantidos pressupostos bsicos daquele plano: as Companhias Estaduais e seus contratos de concesso, o princpio da autosustentao financeira, o tmido controle social, o privilgio ao financiamento das aes de abastecimento de gua e de esgotamento sanitrio, a baixa articulao com as reas de sade pblica, recursos hdricos, planejamento urbano, etc. No incio do sculo XXI, no se dispe de legislao, em nvel federal, especfica sobre a organizao dos servios, alm de menes muito pontuais na Constituio Federal, as quais tm sido a referncia para a definio de competncias entre municpios e estados, em especial quanto titularidade dos servios. A maior polmica nesse sentido, presente neste momento, refere-se titularidade nas regies metropolitanas, j que no h muitas dvidas quanto ao papel do municpio, de efetivo titular dos servios, nas outras situaes. O Artigo 25, 3, da CF estabelece que os Estados podero, mediante lei complementar, instituir regies metropolitanas, aglomeraes urbanas e microrregies constitudas por agrupamentos de Municpios limtrofes, para integrar a organizao, o planejamento e a execuo das funes pblicas de interesse comum. Este texto tem sido interpretado, pelos defensores da atuao do nvel estadual no saneamento metropolitano, como uma delegao de poderes para esse nvel federativo atuar nessas regies. Entretanto, parece claro que o esprito da Constituio de atribuir aos Estados o papel de integrao da organizao, planejamento e execuo dos servios e no, diretamente, a sua organizao, o seu planejamento e a sua execuo. Outros instrumentos de legislao vm complementando, precariamente, o aparato legal do setor, a exemplo da lei sobre consrcios pblicos - Lei n 11.107 de 06/04/2005,
49
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
que estabelece as bases para a formao de consrcios entre municpios, entre municpios e estados ou at mesmo envolvendo a Unio, para a prestao de servios, principalmente de sistemas ou unidades dos sistemas que ultrapassam as fronteiras do territrio de um nico municpio. Contudo, no incio de 2005, o Governo Federal encaminhou ao Congresso o projeto de lei 5.296, visando instituir diretrizes para os servios pblicos de saneamento bsico e a Poltica Nacional de Saneamento Ambiental PNSA. Trata-se de iniciativa muito importante, pois pode cobrir lacuna histrica do setor e possibilitar a existncia de regras claras para a prestao dos servios, podendo contribuir para promover a sua universalizao e a melhoria da qualidade do atendimento populao (ver Box). Ademais da legislao especfica para o saneamento, tal como descrito, deve-se destacar o fato de que o marco legal relacionado a outras polticas setoriais pode influenciar os rumos e a prtica do saneamento no pas. Alm da prpria legislao do campo dos recursos hdricos, o aparato legal das reas de meio ambiente, sade, poltica urbana, habitao, poltica agrria, entre outras, guarda muitos pontos de interface com o setor. Alm dos instrumentos legais setoriais, nas reas mencionadas, deve-se registrar a existncia de outras definies que afetam a estrutura do Estado, de carter mais geral. Um desses instrumentos, j referido no item 3.2, a Lei 8.987/1995 - Lei das Concesses cuja efetiva aplicao rea de saneamento tanto pode implicar mudanas na forma como as companhias estaduais estabelecem sua atuao junto aos municpios, quanto pode ampliar a prestao de servios iniciativa privada. Outro instrumento o das parcerias pblico-privado as chamadas PPP definidas na Lei 11.079/2004, considerado pelo atual governo federal como uma importante alternativa de atrao de capital privado para a execuo de obras pblicas. Encontra-se em fase de definio a estrutura do chamado fundo garantidor, sem o qual os projetos no se iniciaro. O projeto parece vislumbrar mais a rea de transportes, sendo que no h ainda clareza quanto ao comportamento das parcerias na rea de saneamento, sobretudo quanto sua atratividade para a iniciativa privada. Mesmo que o modelo tenha alguma disseminao na rea, com algumas experincias, no se projeta que isto venha a resultar em um novo modelo, que modifique a estrutura dos mecanismos de financiamento vigentes. Outra legislao com interfaces nesses temas o Estatuto da Cidade, ou Lei 10.257/2001, que estabelece normas de ordem pblica e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurana e do bem-estar dos cidados, bem como do equilbrio ambiental. Tal legislao assume o princpio da garantia do direito a cidades sustentveis, entendido como o direito terra urbana, moradia, ao saneamento ambiental, infra-estrutura urbana, ao transporte e aos servios pblicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras geraes.
50
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
O projeto de lei para organizao dos servios pblicos de saneamento, de iniciativa do governo federal. O atual Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, desde o inicio de sua gesto em janeiro de 2003, vem trabalhando no texto de uma legislao que procure organizar o setor, necessidade manifestada pelo conjunto de agentes que dele participam: operadores, entes de regulao e controle social, representantes de usurios, profissionais, acadmicos, etc. Aps diversas verses, resultantes de contribuies de atores e segmentos do setor, o projeto de lei foi encaminhado Cmara dos Deputados, para votao em regime de urgncia, tendo recebido a designao de Projeto de Lei n. 5.296. O objetivo apresentado para o projeto o de instituir diretrizes para os servios pblicos de saneamento bsico e a Poltica Nacional de Saneamento Ambiental PNSA. A iniciativa tem o potencial de trazer ao setor uma evoluo positiva, no sentido da acelerao da universalizao dos servios e da melhoria da qualidade do atendimento populao. Por um lado, uma nova ordem institucional promovida por essas diretrizes viria suprir a lacuna de marcos que regulem o setor, pouco claros h cerca de duas dcadas, desde o ocaso do PLANASA. Neste perodo, a ausncia de um ambiente sem regras claras tem deixado os agentes do setor relativamente inseguros quanto ao futuro. Tal indefinio vem afetando particularmente a relao entre municpios e companhias estaduais, sobretudo quando os contratos de concesso no tm mais vigncia, mas tambm dificulta s companhias estaduais um eficaz planejamento por um perodo maior de tempo e que alguns municpios tambm consigam se planejar para alm do mandato de um prefeito municipal. Especial tenso existe nas reas metropolitanas, onde permanece pendente uma interpretao definitiva da Constituio Federal, quanto titularidade dos servios, quando os sistemas de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio possam ser classificados como de interesse comum e no como de interesse local. Deve ser ressaltado, no projeto 5.296, entre outros aspectos, especialmente seu carter democratizante, a afirmao do papel do poder pblico na rea, uma viso abrangente do conceito de saneamento e uma viso sistmica de gesto, incluindo as etapas de planejamento e avaliao dos servios. Dentre os princpios contemplados no projeto, que procuram concretizar bandeiras histricas de segmentos democrticos do setor, observam-se: o conceito amplo de saneamento (no projeto definido como saneamento bsico), incluindo as aes de abastecimento de gua, esgotamento sanitrio, manejo de resduos slidos urbanos e manejo de guas pluviais; a afirmao do objetivo de salubridade ambiental para os servios, em contraposio
51
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
viso do saneamento como bem econmico; a afirmao do papel do Estado e do sentido pblico do saneamento, em contraposio concepo da privatizao como meio de universalizao dos servios; o compromisso com a universalizao, a integralidade e a eqidade; a afirmao dos conceitos de regulao, planejamento e avaliao dos servios, de forma articulada entre si; implantao de regras claras para a delegao dos servios, afirmando os direitos do poder concedente; a afirmao da centralidade do papel do municpio, fortalecendo o poder local; o reconhecimento do controle social e a previso de mecanismos concretos para sua implementao; o favorecimento do acesso aos servios populao de baixa renda; o reconhecimento da necessidade de uma poltica de cincia e tecnologia especfica para a rea. O projeto apia-se na lei sobre consrcios pblicos (Lei n 11.107 de 06/04/2005) para modificar a forma de atuao das companhias estaduais nos municpios, com regras mais claras e o reconhecimento dos direitos do poder concedente, sem contudo implicar a exigncia de licitao para a concesso dos servios, o que poderia ensejar uma concorrncia com o prestador privado e riscos de perturbao de alguns processos de renovao das concesses. Esse projeto recebeu um primeiro parecer do relator na Cmara dos Deputados, em dezembro de 2005, aps compatibiliz-lo com quatro outros projetos de lei sobre o mesmo tema, que tramitavam, e sistematizar 862 emendas. Dentre os projetos em tramitao, havia um projeto paralelo ao do governo19 PLS 155/2005 com concepo muito distinta daquele, revelando os conflitos de interesse presentes no setor. Trata-se de projeto que reduz a compreenso do saneamento a apenas os servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio, nesse ponto fazendo eco a uma distoro freqentemente denunciada na formulao do PLANASA. Alm disso, notase claramente no projeto a tentativa de transferir para o nvel estadual e portanto subtrair do municipal a responsabilidade pela prestao dos servios, em muitas situaes, ao aplicar uma viso prpria aos conceitos de servios de interesse local e servios de interesse comum, reinterpretando a Constituio Federal. Deve-se reconhecer que o relator do projeto, em seu parecer, mostra-se sensvel a incorporar alguns dos pontos chave do projeto 155. No tocante titularidade dos servios
19
Apresentado por induo dos executivos estaduais.
52
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
em reas metropolitanas, o projeto do relator prope a seguinte redao: os servios pblicos de saneamento bsico de interesse comum tero planejamento, organizao, regulao, prestao e fiscalizao unificadas, sob a responsabilidade do respectivo Estado, abrangendo a integralidade de suas aes e componentes, nos termos de lei estadual. Tal interpretao claramente toma partido dos interesses dos governos estaduais e das companhias estaduais de saneamento e contraria os interesses dos representantes dos municpios. A ASSEMAE - Associao Nacional dos Servios Municipais de Saneamento manifesta-se em desacordo com tal formulao, argumentando que a questo da titularidade matria constitucional e no pode ser resolvida por meio de lei ordinria (ASSEMAE, 2006). O futuro desta tentativa de definio de um marco legal para o saneamento no Brasil no de fcil previso no presente momento (incio de 2006). H uma visvel polarizao de interesses no setor, colocando, de um lado, governos e companhias de saneamento estaduais, com significativo poder de presso sobre o parlamento, e, de outro, o governo federal, as instncias municipais e parte importante da sociedade civil organizada com proximidades com o setor (movimento de urbanitrios, rgos de defesa do consumidor, entidades profissionais, etc), o que tende a muito dificultar a formao de um consenso em torno dos pontos cruciais. Aqui fica nitidamente exposta a disputa entre grupos de interesse e o importante nicho de poder representado pelo setor de saneamento. Adicione-se a este conflito a fragilidade do governo federal, volta com uma sria crise poltica e com problemas de relacionamento junto ao Congresso, e o fato de que 2006 ano de amplas eleies no pas executivos e legislativos federal e estaduais o que tradicionalmente traz uma paralisia nos trabalhos do legislativo e nele introduz diferentes variveis no processo de deciso, de carter eleitoral e clientelista. Em vista desses fatos, e lembrando-se ainda mais que o projeto necessita ser aprovado pela Cmara de Deputados e pelo Senado Federal, em uma tramitao longa, envolvendo comisses temticas e votaes em plenrio, parece improvvel que algum projeto dessa natureza seja aprovado neste mandato do presidente Lula. O prprio relator, deputado Julio Lopes, manifesta a opinio de que as chances de o texto final ser aprovado em 2006 no so grandes (Agncia Cmara, 2006). Caso no haja a aprovao do projeto em 2006, diversos outros fatores influenciaro o futuro da existncia de regras claras para a organizao do setor, um deles sendo o prprio resultado das eleies para a Presidncia da Repblica. A desregulamentao resultante de mais um longo perodo sem tais regras pode ser muito negativa para a criao de um ambiente mais propcio para a universalizao dos servios de saneamento e para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento do Milnio no pas, assegurando qualidade na
53
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
prestao dos servios, respeito ao usurio, proteo ambiental e efetiva promoo da sade da populao, sobretudo a mais pobre.
Concluses A descrio e anlise do percurso histrico, da atual situao, de experincias relevantes e de futuros cenrios para o abastecimento de gua e o esgotamento sanitrio no Brasil, desenvolvidos neste documento, so capazes de sinalizar para algumas concluses, ainda que provisrias: A anlise histrica sugere que houve uma progressiva alterao na forma como essa rea, como uma poltica pblica, visualizada e assumida pelo estado, como conseqncia de fatores como a preocupao com o controle de doenas, de processos econmicos, polticos, sociais e culturais e da viso de estado predominante a cada poca. Por outro lado, a prpria natureza assumida pelo setor vem influenciando a dinmica de outros setores e outros aspectos da qualidade de vida da populao, a exemplo dos impactos na sade, no ambiente e nas condies sociais e econmicas. As assimetrias hoje verificadas na prestao de servios mostram um forte componente social: os excludos tm predominantemente menor renda, vivem em municpios menores e com menor IDH. O modelo preconizado pelo PLANASA, da gesto por meio das companhias estaduais, privilegiou o abastecimento de gua em detrimento do esgotamento sanitrio, no conseguiu se expandir como pretendido nos municpios das regies mais desenvolvidas, no se expandiu muito em abastecimento de gua nos municpios com mais elevado IDH, concedeu menos prioridade para os municpios com menos de 20.000 habitantes em esgotamento sanitrio. Eventualmente, a concepo empresarial do plano contribuiu para ampliar as assimetrias. O uso dos indicadores quantitativos disponveis muitas vezes mascara a situao de acesso aos servios, devendo-se cercar de cuidados metodolgicos para uma caracterizao adequada, preferencialmente combinando vrios enfoques, como avaliaes quantitativas com qualitativas, dados agregados com dados desagregados, dados secundrios com investigaes de campo, perspectiva histrica com quadro conjuntural, anlise poltico-institucional com avaliao de indicadores. A precauo importante quando se compara temporalmente uma mesma realidade com base em levantamentos com metodologias diferentes e tornase ainda mais relevante quando se comparam diferentes realidades, sobretudo pases, em que, alm de possveis diferenas metodolgicas nos levantamentos, a
54
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
prpria construo scio-cultural do conceito de acesso e, ou, sua conceituao institucional podem interferir. O futuro da tentativa de definio de um marco legal para o saneamento no Brasil no de fcil previso, verificando-se visvel polarizao de interesses, colocando, de um lado, governos e companhias de saneamento estaduais, e, de outro, o governo federal, as instncias municipais e parte importante da sociedade civil organizada, tendendo a muito dificultar a formao de um consenso em torno dos pontos cruciais. Na situao fica nitidamente exposta a disputa entre grupos de interesse e o importante nicho de poder representado pelo setor de saneamento. A histria e as presentes tenses vm demonstrando que a assumir a responsabilidade pelos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio tem sido objeto de ambio por parte de grupos de interesse, como uma importante forma de prtica de poder poltico, econmico e social , e, como conseqncia, vem ensejando disputas entre agentes pblicos e privados e entre instncias federativas. Por fim, deve-se ressaltar a importncia de esforos que tragam iluminaes sobre o atual quadro de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Brasil e em pases em desenvolvimento em geral, com similares constrangimentos, de forma a contribuir na identificao da melhores estratgias para a universalizao do acesso. Metodologias adequadas para tanto podem ser aperfeioadas a partir do conjunto de estudos que busquem essa avaliao.
55
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
Referncias
ABES Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental. Prmio Nacional de Qualidade em Saneamento. IX Seminrio de Benchmark. 2004. Agncia Cmara. Relator busca consenso para saneamento bsico. Especial 11/01/2006. Disponvel em http://www.camara.gov.br/internet/agencia/materias.asp?pk=81803. Acesso em 16/01/2006. guas do Amazonas. Requerimento para a reviso peridica qinqenal do contrato de concesso. Manaus: guas do Amazonas, 2005. 30 p. Disponvel em http://www.manaus.am.gov.br/transparencia/aguasAmazonas/concessionaria_dos_servicos_publicos _de_abas.pdf. Acesso em 16/01/2006. ASSEMAE - Associao Nacional dos Servios Municipais de Saneamento. Experiencias de exito em servicos publicos municipais de saneamento. Sao Paulo: ASSEMAE, 2005. 168 p. ASSEMAE - Associao Nacional dos Servios Municipais de Saneamento. PL 5296/05: substitutivo do relator pe fim titularidade dos municpios metropolitanos. Disponvel em http://www.assemae.org.br/alerta.htm. Acesso em 16/01/2006. Azevedo, E. A., Heller, L., Rezende, D. F. Diarrea infantil: su relacin con el sistema de abastecimiento de agua y de cloacas en un assentamiento de una metrpolis latinoamericana. El caso de Belo Horizonte, Brasil. Medio Ambiente y Urbanizacion. Buenos Aires, 2005. (forthcoming). Belo Horizonte. Decreto n 11.730 de 08 de junho de 2004. Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saneamento - COMUSA. Dirio Oficial do Municpio. 06/09/2004. Brasil. Lei n 9.984, de 17 de julho de 2000. Dispe sobre a criao da Agncia Nacional de guas ANA, entidade federal de implementao da Poltica Nacional de Recursos Hdricos e de coordenao do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos, e d outras providncias. Brasil. Ministrio das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Braslia: SNSA, 2005. Disponvel em http://www.cidades.gov.br/indice.php?option=content&task=category§ionid=17&id=154&menufid =267&menupid=215&menutp=saneamento. Acesso em 16/08/2005. Brasil. Ministrio das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. O desafio da universalizao do saneamento ambiental no Brasil. Braslia: SNSA, 2003. Disponvel em http://www.cidades.gov.br/indice.php?option=content&task=views&id=588&Itemid=0. Acesso em 16/08/2005. Brasil. Ministrio do Meio Ambiente. Agncia Nacional de guas. Disponvel em http://www.ana.gov.br. Acesso em 16/01/2006. Brasil. Ministrio do Planejamento. Programa Nacional de Gesto Pblica e Desburocratizao. Instrumento para Avaliao da Gesto Pblica 2005. Disponvel em http://www.pqsp.planejamento.gov.br/Download/Instrumento_Avaliacao.pdf. Acesso em 01/02/2006. 64p. Burns, K., Cullivan, D., Dingman, J.S. (1993). Water shortage and related public health problems: an action plan for the city of Beira, Mozambique, WASH Field Report No.389, Washington DC. Cmara Municipal de Manaus. LEGISLATURA 2005 A 2008. Ata da Reunio Extraordinria do dia 5 de dezembro de 2005. Disponivel em http://www.cmm.am.gov.br/atas/ATA05DEZ.EXT.pdf. Acesso em 16/01/2006. Castro, J.E., Heller, L. The historical development of water and sanitation in Brazil and Argentina In: Environmental history of water. Global views on community water supply and sanitation. Londres: IWA Publishing, 2005(no prelo). Chambers, L.W., Shimoda, F. and S.D. Walter et al. (1989), Estimating the burden of illness in an Ontario community with untreated drinking water and sewage disposal problems, Canadian Journal of Public Health Vol.80, No.2, March/April, pages 142-148. Chute, C.G., Smith, R.P. and J.A. Baron (1987), Risk factors for endemic giardiasis, American Journal of Public Health Vol.77, No.5, May, page 585-587.
56
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
COPASA-MG. Informaes e indicadores globais. Informaes e indicadores gerenciais. Belo Horizonte: COPASA-MG, 1993. Costa, F.J.L. Estratgias de gerenciamento dos recursos hdricos no Brasil: reas de cooperao com o Banco Mundial. Srie gua Brasil, vol. 1, Braslia: Banco Mundial, 2003, 177 p. Dirio do Amazonas. Manaus: 09/12/2005. Extraido de http://www.fnucut.org.br/Bol%2009122005.htm. Acesso em 16/01/2006. EMBASA- Empresa Baiana de Saneamento. Diretoria de Operaes. Unidade Descentralizada Superintendncia Metropolitana de Salvador. Relatrio para candidatura ao Prmio Nacional da Gesto Pblica PQGF ciclo 2005. Disponvel em http://www.embasa.ba.gov.br/download/infoope_OM-PQGF2005.pdf. Aceso em 11/01/2006. Foster, Vivien. Sistemas condominiales de agua y alcantarillado: Costos de implementacion del modelo. Lima: Programa de Agua y Saneamiento. S.d. Georges-Courbot, M.C.G., Beraud, A.M.C. and I. Gouandjika et al. (1990), A cohort study of enteric campylobacter infection in children from birth to two years in Bangui (Central African Republic), Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene Vol.84, pages 122-125. Gross, R., Schell, B. and M.C.B. Molina (1989), The impact of improvement of water supply and sanitation facilities on diarrhoea and intestinal parasites: a Brazilian experience with children in two low-income urban communities, Revista SadePblica Vol.23, No.3, pages 214- 220. Heller, L. Who really benefits from environmental sanitation services in the cities: an intra-urban analysis in Betim, Brazil. Environment & Urbanization. London, v.11, n.1, p.133 - 144, 1999. Heller, L. Associao entre cenrios de saneamento e diarria em Betim- MG: o emprego do delineamento epidemiolgico caso-controle na definio de prioridades de interveno. Tese (Doutorado em Epidemiologia) Escola de Veterinria, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 1995. IBAM Instituto Brasileiro de Administracao Municipal. Experiencias inovadoras em servicos urbanos. Rio de Janeiro. Disponivel em: http://www.ibam.org.br/urbanos/assunto3/blt6_3.htm. Acesso em 17/01/2006. IBGE. Censo demogrfico. Rio de Janeiro: IBGE, 1993. IBGE. Censo demogrfico. Rio de Janeiro: IBGE, 2000a. IBGE. Pesquisa nacional de saneamento bsico. Brasla: IBGE, 2000b. KfW - Kreditanstalt fr Wiederaufbau. Brazil: Basic Sanitation Cear I. Ex-post evaluation. Disponivel em: . Acesso em 13/01/2006. Lindskog, U., Lindskog, P. and J. Carstensen et al. (1988), Childhood mortality in relation to nutritional status and water supply - a prospective study from rural Malawi, Acta Paediatr. Scand. Vol.77, pages 260-268. Maltz, Hlio. Porto Alegres water: public and for all. In: Transnational Institute (TNI), Corporate Europe Observatory (CEO). Reclaiming public water: Achievements, struggles and visions from around the world. 2nd edition. Amsterdan, 2005. p. 29-36. Mara, D.D. Low-cost sewerage. In: Promotion Through innovation. Genebra: WHO, 1998. p. 249-262. Melo, Jos Carlos R. de (1996). Sistemas condominiais de esgotos: Razes, teoria e prtica. Rio de Janeiro: Caixa Economica Federal. 140 p. Melo, Jos Carlos R. de (2005). The experience of condominial water and sewerage systems in Brazil: Case studies from Brasilia, Salvador and Parauapebas. Lima: The World Bank (Water and Sanitation Program Latin America). 62p. Miranda, A. Recife, Brazil: Building up water and sanitation services through citizenship. In: Transnational Institute (TNI), Corporate Europe Observatory (CEO). Reclaiming public water: Achievements, struggles and visions from around the world. 2nd edition. Amsterdan, 2005. p. 113-119. PMSS Programa de Modernizacao dos Servicos de Saneamento. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Ministerio das Cidades. Reestruturao dos servios de saneamento bsico
57
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Working Paper 73
no Estado do Piau: Estudo de cenrios para a prestao dos servios de abastecimento de gua e de esgotamento sanitrio. Braslia: PMSS, 2005. 84 p (mimeogr.) Prince, A.A. Anlise de experincias relevantes e sustentveis na elaborao, implementao e gesto de projetos e servios de saneamento bsico em localidades urbanas de pequeno porte em reas rurais no Brasil. A experincia da Central de Associaes Comunitrias para a Manuteno de Sistemas de Abastecimento de gua - Estado da Bahia. Braslia: SEPURB, 1999a. 56p. Prince, A.A. Anlise de experincias relevantes e sustentveis na elaborao, implementao e gesto de projetos e servios de saneamento bsico em localidades urbanas de pequeno porte em reas rurais no Brasil. A experincia do Estado do Cear. Braslia: SEPURB, 1999b. 60p. Rezende, S.C., Heller, L. (2002). Saneamento no Brasil: polticas e interfaces. Belo Horizonte: Ed. UFMG. 310 pp. Rezende, S.C. Utilizao de instrumentos demogrficos na anlise da cobertura por redes de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio no Brasil. Tese (Doutorado em Demografia) Faculdade de Cincias Econmicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 2005. Ryder, R.W., Reeves, W.C. and N. Singh et al. (1985), The childhood health effects of an improved water supply system on a remote Panamanian island, American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Vol.34, No.5, pages 921-924. Sarmento, Vernica de Barros Arajo. Low-cost sanitation improvements in poor communities: conditions for physical sustainability. PhD Thesis: Civil Engineering Research Institute, School of Engineering, University of Leeds. July 2001. Satterthwaite, D. (2003). The Millennium Development Goals and urban poverty reduction: great expectations and nonsense statistics. Environment &Urbanization Vol 15 No 2 October, pages 181190. SRH - Secretaria de Recursos Hdricos. Ministrio do Meio Ambiente. Caderno Saneamento e Recursos Hdricos. Plano Nacional de Recursos Hdricos. Braslia: SRH, 2006. 74p. Teixeira, J. C., Heller, L. Fatores ambientais associados diarria infantil em reas de assentamento subnormal em Juiz de Fora, Minas Gerais. Revista Brasileira de Sade Materno Infantil. Recife: , v.5, n.4, 2005. (forthcoming) Teixeira, J. C., Heller, L. Impact of water supply, domiciliary water reservoirs and sewage on faecoorally transmitted parasitic diseases in children residing in poor areas in Juiz de Fora - Brazil. Epidemiology and Infection, 2006. (forthcoming). UNDP. United Nations Development Programme. Inequality and human development (Chapter 2). In: Human Development Report 2005. International cooperation at a crossroads: aid, trade and security in an unequal world. Source: http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_chapter_2.pdf, accessed 09/01/2006. p.49-71. Victora, C.G., Smith, P.G. and J.P. Vaughan (1988), Water supply, sanitation and housing in relation to the risk of infant mortality from diarrhoea, International Journal of Epidemiology Vol.17, No.3, September, pages 651- 654. Water, sanitation and drainage: ensuring better provision with limited resources (Editorial de Environment & Urbanization, v. 15, n.2, October 2003). WHO, UNICEF (2000). Global water supply and sanitation assessment 2000 report. Geneva: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. Source: http://www.wssinfo.org/pdf/GWSSA_2000_report.pdf, accessed 03/01/2006. 87 pp. WHO, UNICEF (2005). Water for life: making it happen. Geneva: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. Source: http://www.wssinfo.org/pdf/JMP_05_text.pdf, accessed 03/01/2006. 37pp. WWF-Brasil. Mostra gua para a vida, gua para todos: Boas prticas em saneamento. Brasilia: WWF-Brasil, 2005. 228p.
58
Você também pode gostar
- O Poder Da Magia em 21 Exercicios+ (1) +Documento28 páginasO Poder Da Magia em 21 Exercicios+ (1) +Flaviane MendesAinda não há avaliações
- O Homem Insubmisso Independencia Emocional e Social Do Macho SigmaDocumento197 páginasO Homem Insubmisso Independencia Emocional e Social Do Macho SigmaJoao Milani100% (1)
- manualSHELLVISA 2013Documento111 páginasmanualSHELLVISA 2013Fernando Martins Rocha100% (2)
- 11 Modelos de e Mails para Corretores de Imoveis - PraediumDocumento32 páginas11 Modelos de e Mails para Corretores de Imoveis - PraediumLeonardo Lima100% (1)
- Alianças Afetivas - Entrevista Com Ailton KrenakDocumento9 páginasAlianças Afetivas - Entrevista Com Ailton KrenakWilliam RibeiroAinda não há avaliações
- LP Encarte A Palavra Magica PNLD2020Documento8 páginasLP Encarte A Palavra Magica PNLD2020ana ackermanAinda não há avaliações
- Pérolas TelúricasDocumento164 páginasPérolas TelúricasJohanna Oviedo De Oviedo de Oviedo100% (1)
- 1B23 - Lia Kilsztajn - FILOSOFIA - Atividade 01Documento8 páginas1B23 - Lia Kilsztajn - FILOSOFIA - Atividade 01liaAinda não há avaliações
- Como Ajustar A Suspensao Da Minha MotoDocumento9 páginasComo Ajustar A Suspensao Da Minha Motoapi-3698906100% (1)
- Tematico Black MirrorDocumento10 páginasTematico Black MirrorJeovane DamacenoAinda não há avaliações
- Simulado Uerj VetorDocumento2 páginasSimulado Uerj VetorsilvioolAinda não há avaliações
- Numerologia Científica DimensionalDocumento10 páginasNumerologia Científica Dimensionalsanandrasan67% (3)
- Ebook - Formação Da Personalidade - PARTE 1 1Documento32 páginasEbook - Formação Da Personalidade - PARTE 1 1PAULAinda não há avaliações
- Espinosa Sem Saída - Luiz Alfredo Garcia RozaDocumento116 páginasEspinosa Sem Saída - Luiz Alfredo Garcia RozapotamuspeterAinda não há avaliações
- #Conferencia de Jacques Alain Miller em ComandatubaDocumento6 páginas#Conferencia de Jacques Alain Miller em ComandatubaAnonymous ykRTOEAinda não há avaliações
- Corpo e Sexualidade Na ContemporaneidadeDocumento18 páginasCorpo e Sexualidade Na ContemporaneidadeÉrikaOrtsacAinda não há avaliações
- Rev1 MarathonPac PTDocumento8 páginasRev1 MarathonPac PTbernardohbgAinda não há avaliações
- Hume e A SensibilidadeDocumento15 páginasHume e A SensibilidadeCésar RikidōAinda não há avaliações
- IAC3507Documento23 páginasIAC3507Luiz Fernando MibachAinda não há avaliações
- História e Memória em Albuns de FamiliasDocumento23 páginasHistória e Memória em Albuns de FamiliasIndiane QueirozAinda não há avaliações
- Manual ZX3020Documento36 páginasManual ZX3020Rômulo Campos100% (1)
- 32065-Texto Do Artigo-129635-1-10-20151029Documento9 páginas32065-Texto Do Artigo-129635-1-10-20151029Rodrigo Ribeiro BittesAinda não há avaliações
- Falacia Pre TransDocumento9 páginasFalacia Pre Transrobmac10Ainda não há avaliações
- Ebook Aula3Documento19 páginasEbook Aula3Giovana Trevisan LeiteAinda não há avaliações
- TCC XavierDocumento37 páginasTCC XavierMauricio OhseAinda não há avaliações
- Costa Lima, Luiz - Mímesis - Desafio Ao Pensamento (Seleção)Documento14 páginasCosta Lima, Luiz - Mímesis - Desafio Ao Pensamento (Seleção)Fabiana FranciscoAinda não há avaliações
- O Sábado Ou o Repouso Do Sétimo Dia - Guilherme Stein JRDocumento253 páginasO Sábado Ou o Repouso Do Sétimo Dia - Guilherme Stein JRRosana Martins100% (1)
- Manual Formacao Hst-cgtp-InDocumento100 páginasManual Formacao Hst-cgtp-InpelosirosnanetAinda não há avaliações
- Prova Educação Física SME RJ 2010Documento13 páginasProva Educação Física SME RJ 2010Francisco MarcosAinda não há avaliações
- O Que É Política - Wolfgang Leo MaarDocumento106 páginasO Que É Política - Wolfgang Leo MaarMarcelina Gonçalves Gonçalves100% (1)