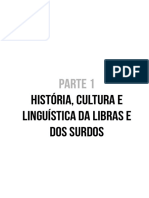Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Macho Versus Macho Um Olhar Antropologico Sobre Práticas Homoeróticas
Macho Versus Macho Um Olhar Antropologico Sobre Práticas Homoeróticas
Enviado por
Diogo de OliveiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Macho Versus Macho Um Olhar Antropologico Sobre Práticas Homoeróticas
Macho Versus Macho Um Olhar Antropologico Sobre Práticas Homoeróticas
Enviado por
Diogo de OliveiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Macho versus Macho:
um olhar antropolgico sobre prticas homoerticas entre homens em So Paulo*
Camilo Albuquerque de Braz**
Resumo
Neste trabalho, minha proposta tomar como foco de investigao prticas homoerticas realizadas entre homens na cidade de So Paulo em espaos de sexo casual, grupal e/ou annimo, envolvendo, em alguns casos, elementos fetichistas e/ou sadomasoquistas. Dados de campo preliminares, coletados sobretudo na Internet, permitem perceber a presena de discursos valorativos da masculinidade em parte destes contextos. A hiptese desta pesquisa que tal valorizao deve ser levada em conta no entendimento dos processos de materializao dos corpos e de construo da subjetividade entre esses homens.
Palavras-chave: Gnero, Sexualidade, Homoerotismo,
Corporalidade, Subjetividade.
Recebido para publicao em fevereiro de 2007, aceito em maio de 2007. Esse artigo uma verso revisada e modificada do trabalho que apresentei no Seminrio do Projeto Temtico Gnero e Corporalidades (financiado pela Fapesp) do Ncleo de Estudos de Gnero Pagu (Unicamp, agosto de 2006); no Simpsio Temtico Gnero, Corpo e Diversidade Sexual (Sexualidades), no VII Seminrio Internacional Fazendo Gnero (Florianpolis, agosto de 2006); e no Grupo de Trabalho Sexualidade, corpo e gnero, no 30 Encontro Anual da ANPOCS (Caxambu, outubro de 2006). Trata-se do primeiro fruto de minha pesquisa de Doutorado, orientada pela Professora Dra. Maria Filomena Gregori, em curso na rea de Estudos de Gnero do Doutorado em Cincias Sociais da Unicamp. Agradeo s sugestes dos/as pesquisadores/as e de meus/minhas colegas do Pagu, alm da leitura cuidadosa e do apoio imprescindvel de minha orientadora.
** Doutorando em Cincias Sociais rea de gnero, Instituto de Filosofia e Cincias Humanas da Unicamp. camilo_braz@yahoo.com.br
cadernos pagu (28), janeiro-junho de 2007:175-206.
Macho versus Macho
Macho versus Macho: an Anthropological Look at Homoerotic Practices Among Men in So Paulo
Abstract
In this work, I intend to investigate homoerotic practices among men in So Paulo city in sites for casual, group or anonymous sex, involving sometimes fetishisms and/or sadomasochism. Preliminary field data, most of which collected in the Internet, shed light on the existence of discourses that grant great value to masculinity in some of these contexts. My hypothesis is that such valorization must be taken into account so as to fathom out the processes of body materialization and subjectivity construction in each of these men.
Key Words: Gender, Sexuality, Homoeroticism, Corporality,
Subjectivity.
176
Camilo Albuquerque de Braz 1. Contextualizao de meus dilemas... Uma idia exige uma lealdade que torna difcil qualquer astcia. Ela mesma por vezes est errada, mas atrs dessa mentira reconheo ainda algo verdadeiro, que eu mesmo no consigo esconder (Maurice Blanchot, 2006).
No Brasil, a noo de direitos sexuais est sendo apropriada pelos movimentos homossexual e lsbico desde o incio deste sculo, quando seus documentos e publicaes a tomam como ponto de partida para enfrentar questes como as (hetero)sexualidades no-reprodutivas e a invisibilidade das homossexualidades (Facchini, 2006). possvel at indicar que as prticas homoerticas passam a ser reconhecidas e parcialmente desestigmatizadas. As recentes reivindicaes de homossexuais famlia e legalizao da parceria civil so exemplos de um processo que, para alguns/algumas, seria de normalizao das (homo)sexualidades e vm reacendendo o debate sobre os limites da sexualidade e o sentido da transgresso para o erotismo (Piscitelli et alii:Apresentao). Segundo Judith Butler (2003), o risco que se corre ao se pensar na legitimao das unies homossexuais exclusivamente via Estado o de vermos diversas prticas sexuais e relacionamentos, que ultrapassam a esfera da lei, tornarem-se ilegveis ou insustentveis, e novas hierarquias emergirem no discurso pblico. O interesse sobre as prticas aqui mencionadas reside em discutir e trazer elementos empricos para a reflexo e os debates scio-antropolgicos sobre temas relacionados sexualidade, s novas formas de erotismo e sociabilidade nelas envolvidas e suas convenes. Acredito que esta pesquisa possa contribuir para suprir as lacunas derivadas da relativa escassez de estudos sobre prazer sexual, erotismo e desejo sexual, envolvendo formas diversas de expresso da sexualidade.1
1
Num panorama das pesquisas brasileiras em Cincias Sociais relativas a sexualidades e direitos sexuais no perodo de 1990 a 2002, publicado pelo Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM), aponta177
Macho versus Macho
Vrios dilemas me perseguem em minha pesquisa de doutorado. Uma das principais dificuldades que encontro atualmente a tentativa de delimitao de meu objeto de estudo, ciente do risco da essencializao ao buscar nome-lo. Poderia cham-lo de sexo hardcore entre homens, evocando a associao entre essas prticas e um certo contedo violento ou duro. Poderia seguir as indicaes de Gayle Rubin e cham-lo de universo gay leather (Butler & Rubin, 2003). Ou mesmo qualific-lo como sexo sujo entre homens, inspirando-me em Mary Douglas (1976), para evocar seu possvel carter liminar, marginal, fronteirio ou perigoso. Isso me autorizaria a pensar nas possveis rearticulaes das convenes de sexo, gnero, sexualidade e corporalidade neste universo que justamente o que busco entender. No me sinto autorizado e talvez nunca venha a estar a utilizar nenhuma dessas designaes. Minha sada temporria e contingente para escapar a esse dilema buscar classificaes de maior neutralidade e incluso. Provisoriamente, posso afirmar que se trata de tomar como objeto uma parte do vasto universo dos homens que fazem sexo com homens na cidade de So Paulo.2 Especificamente, tenho em mente o sexo realizado em parte do mercado existente para essa finalidade (como cinemas porns, saunas, bares e clubes de sexo),
se uma ausncia relativa de estudos sobre o erotismo, o prazer e o desejo sexual masculino e feminino, em comparao a um grande nmero de publicaes em outras reas, tais como sexualidade e juventude, sexualidades em tempos de AIDS ou prostituio, ver Citeli, 2005. Sobre a problemtica dos direitos e polticas sexuais no Brasil, ver tambm Vianna & Lacerda, 2004.
2
Sigo aqui as indicaes de Jlio Simes em torno das controvrsias que envolvem as formas de categorizao utilizadas para referir e classificar prticas ertico-sexuais entre pessoas do mesmo sexo. O uso da expresso homens que fazem sexo com homens seria, desse modo, uma tentativa de neutralizar a carga poltica e cultural de termos como homossexual ou gay (Simes, 2004). Apesar dessa designao, segundo o autor, no ser isenta de tais cargas e no resolver a questo da nominao dessas prticas, acredito que seu uso provisrio possa ser justificado neste trabalho, uma vez que fao aluso a locais onde homens efetivamente, dentre outras coisas, fazem sexo entre si. 178
Camilo Albuquerque de Braz
envolvendo, em alguns casos, elementos fetichistas ou sadomasoquistas (s/m).3 Tomo a liberdade de utilizar aqui tais expresses tambm de modo inclusivo, entendendo que a designao s/m ou fetiche contextualmente variada, e um de meus objetivos de pesquisa entender como se configuram esses elementos da perspectiva dos sujeitos com os quais dialogo. O propsito analtico da escolha desses locais e prticas para a investigao constitui meu segundo dilema, que est relacionado com a possvel rearticulao ou atualizao das convenes de sexo, gnero, corporalidade e sexualidade por parte dos sujeitos nelas envolvidos, o que me leva a buscar inspirao na bibliografia que trata da chamada estratificao sexual nas sociedades contemporneas. Um terceiro dilema tentar delimitar um campo terico no que diz respeito a gnero e sexualidade que me ajude a criar problematizaes e problemas. Para isso, tenho buscado inspirao nas chamadas teorias ps-estruturalistas em gnero e sexualidade, que me levam a questionar os processos de produo das subjetividades e de materializao dos corpos nesses espaos, a partir de uma etnografia comparativa entre eles. Pensando na existncia de uma matriz de inteligibilidade cultural hegemnica, que opera por meio da reiterao de normas que estabelecem a coerncia dos corpos, talvez as prticas enfocadas neste estudo possam ser descritas como exemplos de descontinuidades, uma vez que rompem com a coerncia estvel entre sexo, gnero, desejo e com a materialidade corprea. De certa forma, esses homens seriam corpos abjetos dentro de uma matriz heteronormativa (Butler, 2002). O abjeto designa, para Butler, aquelas zonas invivveis, inabitveis da vida social,
que, sem dvida, esto densamente povoadas pelos que gozam da hierarquia dos sujeitos, mas cuja condio de
S/m uma abreviao para sado-masoquismo. Esta sigla aparece em parte da bibliografia e designa jogos erticos inspirados em fantasias de dominao e submisso (Ver Gregori, 2004; MacClintock, 1994 e 2003). 179
Macho versus Macho viver sob o signo do invivvel necessria para circunscrever a esfera dos sujeitos (Id. ib.:19-20).
A inteligibilidade no deve ser tomada como um campo fechado ou um sistema com fronteiras finitas, mas como um campo aberto. A prtica humana seria constituda por atos repetidos que se instituem como normatividades hegemnicas ao encobrir seus efeitos. Sendo um campo em aberto, nas margens se encontram os sujeitos excludos, que ajudam a entender a norma.4 Neste ponto, encontro outra justificativa analtica para a escolha de meu objeto de pesquisa. Pensar em abjeo em relao a uma matriz cultural hegemnica no significa, contudo, que no possamos pensar na criao de matrizes alternativas de inteligibilidade, nas quais a coerncia seria dada por outros modos de arranjo entre categorias diversas. O fato de que os universos metropolitanos de pessoas que se relacionam afetivosexualmente com outras do mesmo sexo (sejam designados como GLS, GLBTTT ou nenhum dos dois) criam em seu interior formas prprias de insero e abjeo algo que vem sendo apontado em estudos contemporneos realizados em So Paulo.5 Meu olhar est voltado para as matrizes alternativas de inteligibilidade. Tomo como foco de investigao os mltiplos espaos voltados para o sexo entre homens em So Paulo para pensar na produo discursiva da subjetividade e na materializao dos corpos dentro deles, levando em conta os diversos marcadores que operam e/ou so acionados nesses processos. Um quarto dilema diz respeito preocupao ticoantropolgica na realizao da pesquisa de campo. Este ensaio sobre esses dilemas. No pretendo resolv-los aqui e no sei se os
4
A autora se inspira aqui na leitura de Kristeva (1982) das idias de Mary Douglas para a constituio da idia de abjeo. Os corpos que no so tornam-se importantes para se entender as normas que constituem as subjetividades possveis ou inteligveis (os corpos que so). Ver, por exemplo, Simes, 2004; Simes & Frana, 2005; Facchini, 2006. Vale salientar que os chamados queer studies tratam h tempos dessa questo. 180
Camilo Albuquerque de Braz
resolverei algum dia. Minha tentativa torn-los texto, sem que, com isso, percam a aura fantasmtica que lhes faz interessante.
2. Digresses etnogrficas
Muitos dos locais paulistanos voltados para o sexo entre homens contam com pginas na Internet, propiciando um rico material para um campo exploratrio. Aps minha ingnua e fracassada tentativa de buscar pessoas dispostas a dialogar comigo em salas de bate-papo voltadas para o sexo, resolvi criar um perfil no Orkut6 explicando meus propsitos e pedindo voluntrios, por meio de mensagens deixadas em comunidades relacionadas a este universo. Em pouco tempo, consegui uma lista de homens dispostos a conversar comigo via comunicador instantneo (MSN). Alguns amigos e amigas tambm tm me ajudado a entrar em contato com os freqentadores desses espaos, alguns deles bastante conhecidos neste universo, como proprietrios de clubes e organizadores de encontros sadomasoquistas e fetichistas. A entrada nessa rede tem me propiciado um ainda incipiente, mas promissor, trabalho de campo.7. Analisando o mercado gay em algumas metrpoles dos Estados Unidos, Gayle Rubin (1993) fala do sucesso espetacular dos empresrios gays na criao de uma economia homossexual diversificada.8 So Paulo uma metrpole que conta, atualmente, com um expressivo e crescentemente segmentado mercado voltado para pessoas que se relacionam afetivo-sexualmente com outras do mesmo sexo (Frana, 2006). Dentro dele, h um vasto e diversificado mercado voltado para o sexo entre homens. Muitas boates e casas noturnas contam com um espao especfico para o sexo (os chamados dark-rooms). H tambm muitas saunas
6 7
Rede virtual para contatos eletrnicos que se transformou em febre no Brasil.
A pesquisa na internet vem sendo realizada desde o incio de 2006. O trabalho de campo foi iniciado em outubro de 2006. Na atualidade, assiste-se segmentao desse mercado, ao incorporar novas preferncias e demandas homoerticas (Gregori, 2004). 181
Macho versus Macho
voltadas para homens que fazem sexo com homens, bem como cruising-bars (que contam com cabines privativas, nas quais os freqentadores podem realizar trocas ertico-sexuais), alm dos grandes e antigos cinemas-porns do centro da cidade. Alm disso, h espaos intitulados como clubes de sexo entre homens alguns abertos ao pblico em geral. Em outros, para participar dos encontros, preciso ser cadastrado. Esses clubes promovem festas e encontros temticos diversificados. Rubin realizou um estudo sobre a comunidade gay leather de So Francisco, nos EUA (Butler & Rubin, 2003). Leather, para a antroploga, uma categoria mais ampla que inclui homens gays que praticam o sadomasoquismo, fazem a penetrao anal com o punho, so fetichistas, msculos e preferem parceiros masculinos, sendo o couro (leather) um smbolo polivalente que teria sentidos diferentes para os vrios indivduos e grupos. Nessa comunidade, haveria uma articulao ou conexo entre preferncias sexuais no convencionais e o masculino, o que no ocorreria entre heterossexuais ou lsbicas, onde esses elementos seriam arranjados de uma forma diferente. Seria, portanto, uma forma bastante peculiar e interessante de combinar determinadas prticas sexuais com a rearticulao de convenes de sexo, sexualidade e gnero.9 Esses homens codificariam os sujeitos desejantes/desejados e os objetos desejantes/desejados como masculinos. Nesse sistema, um homem pode ser subjugado, reprimido, torturado e penetrado e, ainda assim, manter a sua masculinidade, desejabilidade e subjetividade. A pesquisa empreendida at aqui sugere que a valorizao do macho como objeto de desejo permeia o universo de prticas homoerticas em contextos bastante diversos.10 No
9
O desenvolvimento de tal comunidade seria parte de um longo processo histrico no qual a masculinidade teria sido reivindicada, afirmada e reapropriada pelos homossexuais homens, nos EUA (Butler & Rubin, 2003).
Este um exemplo dentre muitos outros: uma das comunidades do Orkut tem o sugestivo ttulo de Gay sim... bicha, NUNCA e conta com quase 6,5 mil membros cadastrados. 182
10
Camilo Albuquerque de Braz
mbito restrito da pesquisa no diferente. Na maioria dos perfis cadastrados numa pgina de busca de parceiros para sexo e/ou relacionamento afetivo-sexual, os usurios buscam conhecer caras machos, com postura masculina, sem trejeitos ou afetaes. Apresentar-se como discreto ou fora do meio e adquirir o status de macho parece ser uma maneira de se tornar mais valorizado sexualmente. Tanto aqueles que se identificam como ativos quanto os passivos buscam parceiros afetivosexuais machos. Quase todos os usurios do site que buscam encontrar parceiros para sexo grupal, no qual um homem deve ser penetrado por outros homens, frisam a exigncia de que o passivo seja macho. Danilo mora em So Paulo, num bairro da Zona Sul, branco, mdico e tem 32 anos. Namora h dois anos um rapaz de 22 anos em um relacionamento aberto, que lhes permite ter experincias sexuais com outros homens. Danilo tem me acompanhado na pesquisa de campo e me ajudado a entrar em contato com os sujeitos desta pesquisa. Ele critica a postura do Clube X, localizado num bairro da Zona Sul, de limitar o acesso queles considerados machos. No entanto, ao descrever os encontros sexuais dos quais participa (l e em outros espaos variados), afirma que o objeto de desejo o macho. Mesmo aquele que penetrado deve ser macho, no afeminado. Foda entre machos a nomeao de Tlio para as prticas das quais participa ele tem 23 anos, ps-graduando numa universidade estadual, mora em Campinas entre elas, orgias em clubes, saunas e encontros espordicos com homens que conhece pela Internet. Para ir ao Clube X, Tlio precisou passar pelo cadastro e ser aceito como membro. Sempre que vai a esses espaos, Tlio penetrado por muitos homens em uma mesma noite. Segundo ele, precisa ser muito macho para agentar passar por isso. O Clube X um espao para sexo e orgias privado e seu site traz os roteiros das festas organizadas pelo grupo. Os participantes (ou pesquisadores...) devem, obrigatoriamente, concordar em no
183
Macho versus Macho
vestir nenhuma pea de roupa l dentro bottomless. Os temas das festas so variados, envolvendo uma srie de fetiches homoerticos. Na primeira vez em que estive l, convidado pelo principal organizador dos encontros de BDSM gay e de gays leathers11 da cidade, tratava-se de uma festa de mascarados (a nica pea de roupa permitida eram mscaras fornecidas na entrada). Assim, h festas estudantinas, para rapazes mais novos; Boots, que evoca uniformes, especialmente militares; Paizo, quando rapazes mais novos realizam trocas erticas com homens mais velhos etc, alm de festas sadomasoquistas, bem como um espao especialmente criado para o exerccio dessas prticas, dentro do clube (que conta com as chamadas slings, uma espcie de cadeira suspensa, feita de couro). H uma srie de itens que devem ser preenchidos para que um homem interessado possa ser membro dele: cadastrar-se (via site); ter uma aparncia e uma atitude masculina; ter o peso proporcional altura; ter entre 18 e 55 anos; ser resolvido e open minded que, segundo alguns sujeitos de pesquisa, significaria no se restringir a fazer sexo com s um parceiro durante a festa, no fazer caro, nem bancar o difcil, estar, enfim, disposto mesmo a fazer sexo. Muito embora a consensualidade seja valorizada por meio da regra de que no no.12 Tenho me valido dessa regra para
11
Os termos so dele.
O termo vem da sigla SSC so, seguro e consensual ou consentido , utilizada por adeptos/as como referncia s prticas do BDSM. Segundo Zilli (2006), o B designa o Bondage (Imobilizao), sendo o par B & D para Bondage e Disciplina. O par D & S para Dominao e Submisso, e o par S & M para Sadismo e Masoquismo, ou Sadomasoquismo. O BDSM envolveria ainda prticas ligadas ao Fetichismo. interessante tentar articular as informaes em torno da consensualidade com as teorias a respeito do erotismo. A partir dos anos 50 do sculo passado, o tema passa a ganhar destaque na intelectualidade francesa, pela retomada dos escritos do Marqus de Sade e de Leopold von Sacher-Masoch (entre outros/as, Maurice Blanchot, Michel Leiris, Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Georges Bataile). Comparando escritos dos dois autores, Deleuze (1983) discute a unidade entre sadismo e masoquismo, argumentando que a idia de sado-masoquismo seja 184
12
Camilo Albuquerque de Braz
realizar a pesquisa. Embora os proprietrios do clube, os organizadores das festas e alguns freqentadores conheam meus propsitos, a maioria das pessoas (que eu apenas observo) no. A consensualidade , de certo modo, uma forma de manter minhas roupas figuradas num ambiente de nudez escancarada e compulsria. Na pgina do Clube X na Internet, afirma-se que ele voltado para homens interessados em homens. Homens com jeito de homem, com voz de homem e com postura e vestimentas masculinas. esse discurso valorativo da masculinidade, que poderia talvez ser chamado de hipermasculinidade, o meu foco de interesse nesse trabalho.
3. Digresses analticas
Existe uma vasta tradio de estudos sobre as homossexualidades no Brasil, que remonta dcada de 1980 e tem a obra de Peter Fry (1982) como referncia. A partir dessa matriz de pensamento, teramos um sistema classificatrio em que as prticas homoerticas podem ser pensadas a partir de dois
analiticamente inconsistente sob vrios aspectos. Para usar um jargo psmoderno, eu diria que ela discursivamente produzida no mbito da medicina e da psicanlise. Essa uma idia especialmente interessante para quem toma o s/m contemporneo como objeto de investigao. Analisando um sex-shop idealizado por lsbicas em So Francisco, Gregori (2004) chama a ateno para o processo de criao de um erotismo politicamente correto, protagonizado por atores ligados defesa das minorias sexuais nos EUA. Segundo a autora, estaria em curso um deslocamento do sentido de transgresso do erotismo para um significado cada vez mais associado ao cuidado saudvel do corpo e para o fortalecimento do self. No que diz respeito s prticas s/m, a autora percebe uma espcie de neutralizao ou domesticao dos traos e contedos violentos a elas associados. Nos sites dos clubes pesquisados at o momento so recorrentes as afirmaes de que, para participar das festas, preciso respeitar a regra de que no no. A idia que, dentro desses espaos, tudo permitido, desde que seja consensual e praticado entre maiores de 18 anos. Para Deleuze, a noo de contrato e de consentimento, to cara Masoch, est ausente em Sade. Isso leva sugesto, a ser investigada, de que as prticas que reivindicam o rtulo de s/m atualmente sejam mais inteligveis sob o que talvez possamos chamar de registro do masoquismo. 185
Macho versus Macho
modelos contrastantes. O primeiro, de modernidade e igualdade, remete a homens de camadas mdias que se auto-identificam enquanto gays ou entendidos. O segundo, de tradio e hierarquia, composto por homens de camadas populares, cuja auto-identificao se daria (dentre outros fatores) a partir da posio assumida nas relaes sexuais. Nesse modelo, as bichas seriam os passivos, considerados homossexuais, em oposio aos bofes, que se valeriam de uma suposta ambi-sexualidade (Duarte, 2004). Esse modelo vem sendo problematizado por pesquisas recentes em So Paulo, que apontam para um processo de circulao dos ideais igualitrios entre pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo de diferentes camadas sociais e colocam a necessidade de se repensar o entendimento da materializao dos corpos nesses contextos, levando em conta a interseco entre diferentes categorias e marcadores (Facchini, 2006). Meu argumento que as nuances relativas s convenes presentes no sexo entre machos podem ajudar nessa discusso. A apropriao feita por Bataille (1987) dos escritos de Sade, perpassa boa parte da literatura sobre o erotismo. Inspirando-se em Sade, Bataille sugere que o erotismo deve ser pensado como transgresso s convenes morais. Gregori (2004) salienta que essa concepo perpassada pelo posicionamento da relao masculino/feminino a partir de uma dade entre ativo e passivo, sendo ainda limitado o exame dos efeitos dessa tradio no que concerne problemtica de gnero.13 A questo que me coloco se essa concepo do ertico via Bataille d conta de explicar as prticas aqui referidas. Em Bataille, o gnero aparece fixo e cristalizado, ligado ao dimorfismo sexual e associao entre sexo/gnero e posies sexuais. O corpo violado, passivo, feminino, oposto ao masculino violador que o penetra. Vale salientar que essas idias presentes em Bataille no aparecem no prprio Sade.14 Em termos butlerianos, eu diria que
13 14
Para uma anlise da apropriao de Sade por Bataille, ver Gallop, 1981. A esse respeito, ver Carter, 1978. 186
Camilo Albuquerque de Braz
Bataille introduz o erotismo dentro da matriz heterossexual, impossibilitando que se pense o ertico fora da heteronormatividade. Pensar o aspecto ertico nas prticas aqui referidas requer desconstruir a prpria idia do que erotismo. Um primeiro passo talvez seja levar a srio o que os sujeitos com quem tenho conversado dizem e dissociar a penetrao do corpo de sua feminizao. Um segundo passo talvez seja pensar que quando esses homens se dizem machos no esto se opondo necessariamente feminilidade. A rejeio aqui de quaisquer atributos corporais, gestuais, comportamentais, relativos a sentimentos, sensaes ou expectativas que possam ser relacionados ao esteretipo do afeminado. A valorizao do macho, os discursos que constituem o macho como objeto de desejo, no se opem, nesse sistema, feminilidade, mas bichisse. Sem desconsiderar a importncia da obra de Michel Foucault (1977) por retirar a possibilidade de naturalizao e mostrar a historicidade do dispositivo da sexualidade, sabido que algumas/alguns tericas/os feministas incluindo Judith Butler (2003a) o criticam por operar com certas categorias prdiscursivas, como os corpos e os prazeres.15 Um dos desafios colocados para as atuais pesquisas, que tomam a materializao dos corpos e a produo das subjetividades como objeto de investigao, pensar formas de articular (e no separar) no apenas gnero e sexualidade, mas uma srie de outros marcadores de diferena na anlise. Nesse sentido, tentei construir algumas reflexes sobre as teorias chamadas de ps-estruturalistas ou ps-modernas de gnero e sexualidade no pensamento social. Essas teorias apontam os limites da distino entre sexo e gnero (inspirada no construcionismo social e na separao entre natureza e cultura) e ajudam a pensar na produo discursiva da corporalidade em contextos sociais diversos, levando em conta a
15
A esse respeito, ver Piscitelli et alii, 2004:Apresentao. 187
Macho versus Macho
operao de marcadores diferenciados que operam em sua materializao.
3.1 Estratificao sexual
A obra de Foucault referencial para a chamada perspectiva construcionista de gnero e sexualidade, surgida nas cincias humanas na dcada de 1970, na medida em que ele retira qualquer possibilidade de naturalizao do termo sexualidade. Foucault afirma que os desejos sexuais no so entidades biolgicas pr-existentes, mas so constitudos no curso de prticas sociais especficas, determinadas historicamente. O autor ressalta os aspectos geradores da organizao social do sexo e no os seus elementos repressivos, mostrando que h uma espcie de positividade nos dispositivos da sexualidade e que novas modalidades esto sempre sendo produzidas (Foucault, 1977). A partir de sua obra surge a noo de um processo histrico de autonomizao da sexualidade em relao a outros sistemas sociais como trao das modernas sociedades ocidentais. Essa alternativa construtivista permitiu quebrar vises essencialistas que buscavam entender as sexualidades em termos puramente biolgicos. Segundo Donna Haraway (2004:216), a segunda onda da poltica feminista em torno dos determinismos biolgicos versus construcionismo social e das bio-polticas das diferenas de sexo/gnero ocorrem no interior de campos discursivos prestruturados pelo paradigma de identidade de gnero, cristalizado nos anos 50 e 60. Para a autora, tal paradigma seria uma verso funcionalista e essencializante da idia colocada por Simone de Beauvoir nos anos 40, de que no se nasce, mas torna-se Mulher. Num contexto terico e poltico em que se fazia necessria a quebra das vises biologizantes por parte do pensamento antropolgico-feminista, surge a distino entre sexo e gnero, tendo como base um trabalho de Gayle Rubin de 1975 (1986). A antroploga norte-americana desenvolve a idia do
188
Camilo Albuquerque de Braz
sistema de sexo/gnero16, mostrando, dentre outros fatores, como a relao entre reproduo e gnero perpassa certas teorias e como ela se ancora num pressuposto que tende a aparecer de maneira mais velada: o pressuposto da naturalidade da heterossexualidade. Na leitura de Piscitelli (2003:213)
Em termos gerais, a organizao social da atividade sexual humana estaria duplamente ancorada em algo que podemos considerar gnero e na heterossexualidade compulsria.
A diviso sexual do trabalho17 e a construo psicolgica do desejo (especialmente a formao edipiana) seriam os fundamentos de um sistema de produo de seres humanos que atribuiria aos homens direitos sobre as mulheres que elas prprias no teriam sobre si prprias. Segundo Henrietta Moore (1997), a distino entre sexo biolgico e gnero mostrou ser absolutamente crucial para o desenvolvimento da anlise feminista nas cincias sociais dos anos 70 e 80, porque possibilitou demonstrar que as relaes entre mulheres e homens e os significados simblicos associados s categorias mulher e homem so socialmente construdos e no podem ser considerados naturais, fixos ou predeterminados.
O sistema sexo-gnero o conceito elaborado pela autora e se refere a um conjunto de arranjos atravs do qual a matria- prima biolgica do sexo e da procriao humana moldada pela interveno humana e social e satisfeita de forma convencional. Tal sistema constituiria uma parte da vida social que seria o lcus da opresso das mulheres, das minorias sexuais e de determinados aspectos da personalidade humana nos indivduos (Rubin, 1986). Essas idias que levam a autora a postular que a revoluo feminista profunda libertaria no somente as mulheres, mas formas de expresso sexual diversas. Neste trabalho, Rubin considera que a diviso sexual do trabalho criaria homens e mulheres e os criaria heterossexuais. A supresso do componente homossexual da sexualidade humana e a opresso dos homossexuais seriam, desse modo, produtos do mesmo sistema cujas regras e relaes oprimem as mulheres. 189
17 16
Macho versus Macho
Em Thinking Sex, preocupada com a emergncia de um movimento conservador que denomina de pnico sexual, Rubin (1993) prope elementos descritivos e conceituais para refletir sobre sexo e poltica.18 A autora desenvolve o conceito de estratificao sexual, por meio do qual postula que as sociedades ocidentais modernas avaliam os atos sexuais de acordo com um sistema hierrquico de valor sexual.19 Nessa estratificao, os estilos de sexualidade considerados bons (normais, naturais, saudveis), tais como modalidades heterossexuais, no marco do casamento, monogmicos, reprodutivos, se oporiam aos maus, expressos nas prticas sexuais de travestis, transexuais, fetichistas, sadomasoquistas, no sexo comercial, por dinheiro, entre geraes, contando com reas intermedirias.20 Dessa forma, Rubin afirma a relevncia das sexualidades no reprodutivas no domnio da sexualidade. Alm disso, ressalta a importncia dos estudos
18 Sua inteno seria contribuir para uma reflexo libertria sobre a sexualidade. Para isso, a autora coloca a necessidade de formular um inteligente e coerente corpus de pensamento radical sobre sexo, que possibilite o desenvolvimento de pontos de vista radicais sobre a sexualidade. O objetivo geral do ensaio seria propor elementos de um quadro descritivo e conceitual para refletir sobre sexo e poltica (Rubin, 1993). Sobre o contexto poltico que levou Rubin a formular essas idias, ver a entrevista realizada com a autora por Judith Butler (2003) e Piscitelli et alii, 2004:Apresentao. 19 Os casais heterossexuais, ligados pelo casamento, estariam sozinhos no topo da pirmide ertica. Abaixo deles, estariam os casais heterossexuais monogmicos no casados, seguidos pelos/as heterossexuais com vida sexual ativa, porm casual. O sexo solitrio viria acima de casais estveis de lsbicas e de gays, que estariam prximos da respeitabilidade. Lsbicas de bares e homossexuais promscuos ficariam pouco acima dos grupos que ficam na parte mais baixa da pirmide. As castas sexuais mais desprezadas atualmente seriam os transexuais, os travestis, os fetichistas, os sadomasoquistas, os/as trabalhadores/as do sexo e, abaixo de todos os outros, aqueles cujo erotismo ultrapassa as fronteiras de geraes (pedfilos). 20 importante notar que, em nota de 1992, revisando o artigo para nova publicao, Rubin (1993) afirma que seu sistema classificatrio no d conta de todas as complexidades existentes, servindo apenas para fins de demonstrao. As relaes de poder no mbito da variao sexual seriam muito mais complexas.
190
Camilo Albuquerque de Braz
acadmicos sobre elas. Nos anos 90, assiste-se profuso de chamados estudos gays e lsbicos, que, inspirados na autora, clamam pela distino analtica entre gnero e sexualidade, ao mapearem criticamente a estratificao sexual presente nas sociedades modernas. Uma das crticas desses estudos que, na anlise de sexualidades heterossexuais, o gnero apareceria aprisionado numa distino binria, na qual a sexualidade atravessada por uma linha divisria entre homens e mulheres que parece estabelecer uma continuidade entre sexo e gnero.21 A noo de que existem prticas sexuais boas e ms permeia boa parte dessa produo, que pensa o sexo como um vetor de opresso que atravessa outros modos de desigualdade social (classe, raa, etnicidade ou gnero). Para Piscitelli (2003:214-215),
na atualidade so, sobretudo, os estudos feitos da perspectiva gay e lsbica que parecem atualizar o esprito contestador de certas linhas do pensamento feminista em relao sexualidade. Esses estudos, destacando a distino entre sexualidade e reproduo, insistem veementemente na distino analtica entre gnero e sexualidade.22
A noo de estratificao sexual pode ser extremamente rentvel para analisar as prticas homoerticas aqui referidas. Por meio dela, possvel uma justificativa (terica e poltica) de sua escolha como objeto de estudo, uma vez que estariam localizadas nas esferas mais baixas da estratificao sexual. Acredito, porm, que um olhar sobre as teorias ps-estruturalistas ou psmodernas possibilitem a (re)articulao entre gnero e sexualidade e um maior refinamento do propsito analtico de minha pesquisa.
21 22
A esse respeito, ver Piscitelli, 2003.
Vale lembrar que Judith Butler foi a primeira crtica da tendncia geral dos queer studies de separao entre teorias de sexualidade e teorias de gnero, focalizando as primeiras e deixando as segundas para o feminismo (Butler, 1997). Ver, tambm, Gregori, 2003. 191
Macho versus Macho 3.2 Sexo ou Gnero, mas em maisculas
Segundo Donna Haraway (2004), em todas as suas verses, as teorias feministas de gnero tentam articular a especificidade da opresso das mulheres no contexto de culturas nas quais as distines entre sexo e gnero so marcantes, o que depende de um sistema relacionado de significados reunido em torno de uma famlia de pares de oposio: natureza/cultura, natureza/histria, natural/humano, recursos/produtos. Apesar da rentabilidade (poltica e acadmica) da distino entre sexo e gnero no que diz respeito s sexualidades no-reprodutivas, algumas teorias mais recentes, inspiradas no desconstrutivismo23, apontam para os limites tericos, polticos e epistemolgicos da manuteno dessas dicotomias e, de diferentes maneiras, buscam alternativas analticas relacionais. No geral, isso implica tanto em repensar a dualidade entre natureza e cultura (que persiste quando se pensa que o gnero seria a construo cultural do sexo visto como natural), quanto em abrir mo de teorias calcadas nas identidades e nos sujeitos para outras focadas na materializao dos corpos e nas subjetividades. Haraway, por exemplo, pontua que cresce a necessidade de uma teoria da diferena cuja geometria, paradigmas e lgica escapem aos binarismos, dialtica, aos modelos natureza/cultura de todo tipo (Haraway, 2004:206-207). Para a autora, se a distino sexo/gnero permitiu ao pensamento de inspirao feminista argumentar contra o determinismo biolgico e a favor do construcionismo social, tambm impediu a desconstruo dos corpos, incluindo corpos sexuados e racializados.
Termo presente na filosofia e nas cincias sociais contemporneas, que tem na obra do filsofo francs Jacques Derrida sua principal inspirao. A leitura desconstrutivista do chamado pensamento ocidental tem sido fonte para o desenvolvimento de muitas idias do dito ps-estruturalismo em cincias humanas, inspirando, ainda, boa parte da teoria queer, sobretudo nos pases anglfonos. 192
23
Camilo Albuquerque de Braz
Henrietta Moore (1997) baseia-se nas idias de Yanagisako e Collier (1987) para questionar a distino sexo/gnero. A diferena de sexo tomada como natural, pr-social, comporia o modelo nativo ocidental que se apia numa diferena sexual binria, de base biolgica, que basearia as anlises antropolgicas. Para as autoras, tanto o sexo quanto o gnero so socialmente construdos, um em relao ao outro. Os corpos, os processos psicolgicos e mesmo as partes do corpo no teriam sentido fora das compreenses socialmente construdas a seu respeito. De modo anlogo, no faria sentido falar num sexo anterior ao social, na medida em que o sexo (no limite, qualquer outro objeto) s existiria dentro dos discursos que o produzem.24 As autoras concluem que se reconhecemos que o conceito ocidental de sexo socialmente construdo, no podemos argumentar que esse modelo particular de sexo biolgico constitui em toda parte o material cru das construes de gnero, tampouco fornece em toda parte a base para a compreenso dos processos de reproduo humana. Essas idias so retomadas por Errington, de acordo com Moore, para categorizar o Sexo (em maisculo): uma construo particular dos corpos humanos. E o gnero se referiria ao qu as diferentes culturas fazem do sexo (em minsculo). O problema, para Moore, que essas autoras parecem no conceber que o sexo (materialidade, em minsculo), em toda parte, Sexo (matriz, em maisculo) e, embora a constituio, a configurao e os efeitos particulares do sexo sejam claramente variveis entre as culturas, no h outra maneira de conhecer o sexo seno atravs do Sexo. O Sexo passa a ser, ento, uma matriz de inteligibilidade dos corpos sexuados. A prpria noo de sexo biolgico seria o produto do discurso biomdico da cultura ocidental. No faria sentido, portanto, insistir na separao de sexo e gnero, quando
Essas autoras trabalham na linha foucaultiana, o que implica pensar que tanto o sexo quanto o gnero no so origens, mas produtos de prticas discursivas especficas, que compem o dispositivo da sexualidade (Foucault, 1977). 193
24
Macho versus Macho
a questo real no sexo, e sim Sexo (Moore, 1997). A determinao de duas categorias fixas e mutuamente exclusivas de sexo, a fmea e o macho, seria um efeito do discurso cultural ocidental do Sexo. Essa uma maneira de conceituar o modo como os corpos so materializados dentro de uma matriz de inteligibilidade no caso, a heterossexualidade compulsria , que estabelece a necessidade da coerncia entre categorias diferenciadas para que os sujeitos possam ser inteligveis, no limite, para ter existncia enquanto sujeito. Se Moore chama essa matriz de Sexo, Judith Butler a nomeia Gnero. Em Problemas de Gnero, Butler (2003a) busca facilitar a convergncia entre as perspectivas feministas, gays e lsbicas sobre o gnero com a teoria ps-estruturalista. A autora desenvolve uma teoria performativa de atos de gnero que rompem as categorias de corpo, sexo, gnero e sexualidade, ocasionando sua re-significao subversiva e sua proliferao alm da estrutura binria (Id. ib.:11). Em outro texto, a autora explica que a performatividade deve ser entendida no como um ato singular e deliberado, mas antes como a prtica reiterativa e referencial mediante a qual o discurso produz os efeitos que nomeia. As normas reguladoras do sexo agiriam de uma maneira performativa para construir a materialidade dos corpos e, mais especificamente, para materializar o sexo do corpo, a diferena sexual, visando consolidar o imperativo heterossexual (Butler, 2002). Para Butler, o gnero deve ser entendido como uma espcie de imitao persistente, que passa como real.25 O gnero
25 Inspirada em Foucault, a autora busca uma perspectiva crtica baseada na noo de genealogia. A crtica genealgica recusa-se a buscar as origens do gnero, a verdade ntima do desejo feminino, uma identidade sexual genuna ou autntica que a represso impede de ver; em vez disso, ela investiga as apostas polticas, designando como origem e causa categorias de identidade que, na verdade, so efeitos de instituies, prticas e discursos cujos pontos de origem so mltiplos e difusos (Butler, 2003a). isso que a faz defender uma poltica feminista que tome a construo varivel da identidade como um pr-requisito metodolgico e normativo, seno como um objetivo poltico.
194
Camilo Albuquerque de Braz
seria a estilizao repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rgida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparncia de uma substncia, de uma classe natural de ser.
Quando o status construdo do gnero teorizado como radicalmente independente do sexo, o prprio gnero se torna um artifcio flutuante, com a conseqncia de que homem e masculino podem, com igual facilidade, significar tanto um corpo feminino como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino
(Butler, 2003a:24-25).
De acordo com a autora, no faz sentido definir o gnero como a interpretao cultural do sexo, pois a produo do sexo como pr-discursivo deve ser compreendida como efeito do Gnero, entendido como um aparato de construo cultural. Ela recoloca, dessa maneira, a problemtica do gnero no estudo das sexualidades, ao menos no sentido foucaultiano. Mas o faz por meio de um entendimento muito peculiar do que seria o gnero: um aparato, uma matriz de inteligibilidade cultural.26. Em Butler, tanto o gnero, quanto o sexo e mesmo o corpo no podem ser entendidos como anteriores lei, ou como recipientes passivos de uma lei cultural inexorvel. A coerncia e a continuidade da pessoa no seriam caractersticas lgicas ou analticas da condio de pessoa, mas, ao contrrio, normas de inteligibilidade socialmente institudas e mantidas.
Gneros inteligveis so aqueles que, em certo sentido, instituem e mantm relaes de coerncia e continuidade entre sexo, gnero, prtica sexual e desejo. Em outras
26 Se o carter imutvel do sexo contestvel, talvez o prprio construto chamado sexo seja to culturalmente construdo quanto o gnero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o gnero, de tal forma que a distino entre sexo e gnero revela-se absolutamente nenhuma (Id. ib.:25).
195
Macho versus Macho palavras, os espectros de descontinuidade e incoerncia, eles prprios s concebveis em relao a normas existentes de continuidade e coerncia, so constantemente proibidos e produzidos pelas prprias leis que buscam estabelecer linhas causais ou expressivas de ligao entre o sexo biolgico, o gnero culturalmente constitudo e a expresso ou efeito de ambos na manifestao do desejo sexual por meio da prtica sexual (Id. ib.:38).
Para Butler, a heterossexualizao do desejo requer e institui a produo de oposies discriminadas e assimtricas entre feminino e masculino, compreendidos como atributos expressivos de macho e de fmea. O efeito substantivo do gnero seria performativamente produzido e imposto pelas prticas reguladoras da coerncia do gnero. A identidade de gnero (relao coerente entre sexo, gnero, prtica sexual e desejo) seria o efeito de uma prtica reguladora que pode ser identificada como heterossexualidade compulsria.27 Desse modo, a matriz cultural (Gnero), por intermdio da qual a identidade de gnero28 se torna inteligvel, exigiria que certos tipos de identidade (por exemplo, sexual) no possam existir isto , aquelas em que o gnero no decorre do sexo e aquelas em que as prticas do desejo no decorrem nem do sexo nem do gnero. Certos tipos de identidade de gnero seriam impossibilidades lgicas, pois no se conformam s normas da inteligibilidade cultural. A sexualidade seria construda culturalmente nas relaes de poder. Desse modo, a postulao
27 A coerncia ou a unidade internas de qualquer dos gneros, homem ou mulher, exigem assim uma heterossexualidade estvel e oposicional (...) Essa concepo do gnero no s pressupe uma relao causal entre sexo, gnero e desejo, mas sugere igualmente que o desejo reflete ou exprime o gnero, e que o gnero reflete ou exprime o desejo (Id. ib.:45). 28 Para Butler, seria errado supor que a discusso sobre a identidade deve ser anterior discusso sobre a identidade de gnero, pois as pessoas s se tornariam inteligveis ao adquirir seu gnero em conformidade com padres reconhecveis de inteligibilidade do gnero.
196
Camilo Albuquerque de Braz
de uma sexualidade normativa antes, fora ou alm do poder constitui, para Butler, uma impossibilidade cultural, politicamente impraticvel. A questo seria, ento, perguntar sobre as possibilidades subversivas da sexualidade e da identidade nos prprios termos do poder. A repetio das normas da matriz cultural hegemnica de inteligibilidade, que ela chama de Gnero, estaria fadada a persistir como mecanismo da reproduo cultural das identidades.29 A partir da, a autora se questiona sobre o tipo de repetio subversiva que poderia questionar a prpria prtica reguladora da identidade.30 As transgresses, aquilo que do ponto de vista normativo intratvel, tornam-se interessantes para pensar as mudanas. O interdito, em Butler, tomado como possibilidade aberta, evocando uma criatividade subversiva.31 As produes (dentro da matriz) se desviariam de seus propsitos originais e mobilizariam inadvertidamente possibilidades de sujeitos que no apenas ultrapassam os limites da inteligibilidade cultural como efetivamente expandem as fronteiras do que de fato culturalmente inteligvel (Butler, 2003a:54). A persistncia e proliferao das identidades de gnero logicamente impossveis criariam
oportunidades crticas de expor os limites e os objetivos reguladores desse campo de inteligibilidade e, conseqentemente, de disseminar, nos prprios termos
Como em outros dramas sociais rituais, a ao do gnero requer uma performance repetida. Essa repetio a um s tempo reencenao e nova experincia de um conjunto de significados j estabelecidos socialmente; e tambm a forma mundana e ritualizada de sua legitimao (Butler, 2003a:200).
30 29
Essas idias lhe permitem tomar as drag-queens como exemplos de prticas potencialmente subversivas, pois seus atos corporais exporiam o feminino como um pastiche. por isso que a autora busca como referencial as idias de Austin. No plano lingstico, Austin (1980) permite perceber como os sentidos das palavras no so dados de antemo, mas construdos na relao que os termos estabelecem contextualmente. Essa noo de incompletude e de abertura dos termos interessante para Butler. 197
31
Macho versus Macho dessa matriz de inteligibilidade, matrizes rivais e subversivas de desordem do gnero (Id. ib.:39).
Para Butler, as regras que governam a significao no s restringem, mas permitem a afirmao de campos alternativos de inteligibilidade cultural, i.e., novas possibilidades de gnero que contestem os cdigos rgidos dos binarismos hierrquicos. Desse modo, ela se questiona acerca da proliferao das configuraes de gnero fora das estruturas restritivas da dominao masculinista e da heterossexualidade compulsria.32 Em seus termos,
A construo de contornos corporais estveis repousa sobre lugares fixos de permeabilidade e impermeabilidade corporais. As prticas sexuais que abrem ou fecham superfcies ou orifcios significao ertica em ambos os contextos, homossexual e heterossexual, reinscrevem efetivamente as fronteiras do corpo em conformidade com novas linhas culturais (Butler, 2003a:190).
A heterossexualidade normativa seria um dos regimes reguladores que operam na produo dos contornos corporais ou na fixao dos limites da inteligibilidade corporal (Id., 2002). Se o corpo, para a autora, no uma superfcie pronta espera de significao, mas um conjunto de fronteiras, individuais e sociais, politicamente significadas e mantidas (Butler, 2003a:59), o sexo anal e oral entre homens evoca uma noo de permeabilidade
32
A questo seria, ento, descobrir que possibilidades existem de configuraes de gnero entre as vrias matrizes emergentes e s vezes convergentes da inteligibilidade cultural que rege a vida marcada pelo gnero (Id. ib.:56). Em outro texto, Butler afirma que o sexo uma construo ideal que se materializa obrigatoriamente atravs do tempo. um processo a materializao nunca completa. Para ela, as instabilidades, as possibilidades de rematerializao abertas por esse processo, marcam um espao no qual a fora da lei reguladora pode voltar-se contra si mesma, produzindo rearticulaes que ponham em tela de juzo a fora hegemnica dessas mesmas leis reguladoras (Butler, 2002). 198
Camilo Albuquerque de Braz
corporal no sancionada pela ordem hegemnica. A homossexualidade masculina seria, do ponto de vista hegemnico, um lugar de perigo e poluio.
3.3 Subjetividades contingentes
Enfatizo que perspectivas como a de Butler, ou de autores/as que poderamos colocar sob a rubrica do psmodernismo ou do ps-estruturalismo (quando bem lidas), no descartam os fundamentos ou substncias trata-se, antes, de mostrar como eles no so o ponto de partida analtico (no esto l desde sempre), mas sim o efeito de prticas discursivas contextualmente dadas que operam na materializao dos corpos e na produo de subjetividades tidas como coerentes, inteligveis, dentro das matrizes (discursivas) de poder. esse movimento que autoras como Strathern (1996) e Toren (1996) fazem com o conceito de sociedade (enquanto totalidade integrada) em Antropologia. Questionando conceitos adjacentes ao de sociedade, as autoras buscam um vocabulrio alternativo, defendendo o uso de socialidade: pessoas existindo por meio de relaes e as criando em suas aes societais. O interessante observar que a noo de socialidade no joga fora a noo de sociedade: trata-se de uma desconstruo do termo. No limite, a socialidade deriva da sociedade, mas a tendo como uma espcie de pano de fundo contingente (Toren, 1996). Essa maneira de pensar a socialidade e a existncia dos objetos em matrizes relacionais est presente em Gnero da Ddiva, trabalho de Strathern (1988) que parte de um balano de etnografias antropolgicas produzidas sobre a Melansia para desenvolver seus argumentos sobre uma teoria de gnero relacional. A autora enfatiza que a noo de indivduo no cabvel no caso melansio. Seu foco passa a ser na constituio da pessoa, tomando os agentes empricos como seres dividuais (Id. ib.). Acredito que Strathern possa ser apontada como uma das autoras que contriburam para o desenvolvimento das linhas ps199
Macho versus Macho
estruturalistas ou ps-modernas nos estudos de gnero e sexualidade. Entre as correntes dos feminismos europeus ps 68, Haraway destaca autoras como Irigaray, Kristeva e Cixous (apoiadas tanto no desconstrutivismo de Derrida, como nas crticas de Freud via Lacan), que insistem que o sujeito, que talvez seja melhor percebido atravs da escrita e da textualidade, est sempre em processo, sempre estilhaado, e que a idia de mulher deva permanecer aberta e mltipla.
A preferncia pela psicanlise das relaes objetais contra a verso lacaniana relaciona-se com conceitos vizinhos como identidade de gnero, com sua rede de significados da cincia social emprica, que diferente da aquisio de posies de subjetividade sexuada, conceito este imerso na teoria cultural/textual do continente (Haraway, 2004:234).
A recusa em tornar-se ou permanecer homem ou mulher marcado/a pelo gnero , ento, uma insistncia eminentemente poltica em sair do pesadelo da muito-real narrativa imaginria de sexo e raa (Id. ib.). Para a autora, o poder poltico e explicativo da categoria social gnero depende da historicizao das categorias sexo, carne, corpo, biologia, raa e natureza, de tal modo que as oposies binrias, universalizantes, que geraram o conceito de sistema de sexo/gnero num momento e num lugar particular na teoria feminista sejam implodidas em
teorias da corporificao articuladas, diferenciadas, responsveis, localizadas e com conseqncias, nas quais a natureza no mais seja imaginada e representada como recurso para a cultura ou o sexo para o gnero (Id. ib.:246).
Esse argumento semelhante ao de Judith Butler (2003a), ao questionar a necessidade de um sujeito poltico estvel e coerente para a prtica feminista. Ela argumenta que o discurso de identidade de gnero intrnseco s fices de coerncia
200
Camilo Albuquerque de Braz
heterossexual e que o feminismo precisa aprender a produzir uma legitimidade narrativa para todo um conjunto de gneros no coerentes. A tarefa seria desconstruir as categorias analticas, como sexo ou natureza, que levam univocidade, substancialidade. Haraway lembra que
muitas feministas resistem a propostas como a de Butler por medo de perder um conceito de atuao para as mulheres, j que o conceito de sujeito murcha sob o ataque s identidades centradas e s fices que as constituem (Haraway, 2004:219).
Butler, entretanto, argumenta que o conceito de um eu interior coerente, adquirido (culturalmente) ou inato (biolgico), uma fico reguladora desnecessria de fato, inibidora aos projetos feministas. Para a autora, o eu constitudo por posies, situado, e essas posies no so meros produtos tericos, mas princpios organizadores embutidos de prticas materiais e arranjos institucionais, que so as matrizes de poder e discurso que me produzem como um sujeito vivel (Butler, 1997). Isso significa no tomar o sujeito como um ponto de partida. A crtica do sujeito no uma negao ou repdio a ele, mas um modo de interrogar sobre sua construo como dada de antemo. Para a autora, a desconstruo implica apenas que suspendemos todos os compromissos com aquilo a que o termo o sujeito se refere, e que examinamos as funes lingsticas a que ele serve na consolidao e ocultamento da autoridade. Desconstruir no negar ou descartar, mas pr em questo e abrir um termo (como o sujeito) a uma reutilizao e uma redistribuio anteriormente no autorizadas (Id. ib.). Do mesmo modo, desconstruir a materialidade dos corpos significa apenas suspender e problematizar o referente ontolgico tradicional do termo, o que proporcionaria um meio para mobilizar o significante a servio de produes corporais (ou materializaes) alternativas (Id. ib.). Isso significa pensar tanto as materializaes dos corpos
201
Macho versus Macho
quanto a produo das subjetividades como contingentes: a possibilidade de existncia (ou a abjeo) dos corpos e dos sujeitos depende da matriz discursiva de inteligibilidade.
4. Consideraes finais...
Se, a princpio, tentador pensar que tal exploso discursiva valorativa da masculinidade entre homens com prticas homoerticas significa uma reposio de normas, convenes ou esteretipos tradicionais de gnero, o fato de ela se dar em contextos de sociabilidade homoertica no banal. Por mais questionvel do ponto de vista das hierarquias que coloca, a hiper-valorizao da masculinidade ou a criao discursiva do macho como objeto de desejo entre esses homens (e de um macho que no perde sua macheza ao ser penetrado) pode ser lida como rearticulao ou deslocamento de convenes relativas a sexo, gnero e desejo que compem a matriz heteronormativa culturalmente hegemnica, como se esses atos corporais servissem para pensar tambm o masculino como um pastiche. Por outro lado, fica evidente tambm que tal processo implica na criao de novos modos de hierarquizao e de inteligibilidade. Um exemplo a rejeio, de determinados segmentos do chamado Circuito GLS paulistano, aos garotos pobres moradores da periferia apelidados, pejorativamente, bichinhas poc poc ou bichas pocom-ovo, tomados como afeminados (Simes e Frana, 2005). Nessa taxonomia so acionados diferentes marcadores, no apenas de gnero e sexualidade, mas de classe, estilo, raa, gramtica corporal, o que me levou a etnografar espaos para sexo localizados em diferentes lugares na cidade. Outro exemplo relatado por Tlio. Certa vez, ele combinou, via bate-papo eletrnico, uma orgia com seis homens do Rio de Janeiro (em que ele seria a Bola da Vez). Esses homens se diziam machos, dominadores, ativos. Chegando ao Rio de Janeiro, Tlio se deparou com seis garotos magrinhos, na faixa dos vinte anos, alguns deles at meio afeminados, que no correspondiam
202
Camilo Albuquerque de Braz
figura do macho dominador que esperava encontrar. Isso fez com que ele voltasse para So Paulo na hora, sem dizer uma palavra. Este relato suscita a questo de como os sujeitos so contextualmente materializados, ou seja, como so criadas as possibilidades de sua existncia dentro do mercado do sexo entre homens. A hiptese desta pesquisa que a produo do macho como objeto de desejo um dos elementos dessa materializao, na qual se articulam no apenas marcadores de gnero e sexualidade, ou convenes relativas a posies sexuais (ativo/passivo), mas uma srie de outros marcadores, raciais, etrios, de classe e at mesmo relativos obesidade (se pensamos na necessidade de um corpo proporcional altura, o que me leva a pensar, para tomar apenas um exemplo, que nas prticas sadomasoquistas do Clube X, nem toda nudez ser castigada...). Concordando com boa parte do pensamento de inspirao antropolgico-feminista contemporneo, que toma a diferena como categoria analtica (Moore, 1996) e aponta a necessidade de pensar a interseco de diversos marcadores na produo contextual e relacional das subjetividades (Brah, 1996), acredito que um olhar relacional e interseccional fundamental para entender as nuances implicadas no sexo entre machos. Olhar para os machos em questo e perceber como eles vm a ser talvez seja importante para pensar no versus que os relaciona.
Referncias bibliogrficas AUSTIN, John L. Quando dizer fazer - Palavras e Ao. Porto Alegre, Artes Mdicas, 1980. BATAILLE, Georges. O Erotismo. Porto Alegre, L&PM Editores, 1987. BLANCHOT, Maurice. Pena de Morte. Rio de Janeiro, Imago, 2006. BRAH, Avtar. Difference, Diversity, Differentiation. Cartographies of Diaspora: Contesting Indentities. Longon/New York, Routledge, 1996. BUTLER, Judith. O parentesco sempre tido como heterossexual? cadernos pagu (21), Ncleo de Estudos de Gnero Pagu/Unicamp, 2003, pp.219-260.
203
Macho versus Macho __________. Problemas de gnero: feminismo e subverso da identidade. Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 2003a. __________.& RUBIN, Gayle. Trfico sexual entrevista (Gayle Rubin com Judith Butler). cadernos pagu (21), Ncleo de Estudos de Gnero Pagu/Unicamp, 2003, pp.157-209. __________. Cuerpos que importan Sobre os lmites materiales y discursivos del sexo. Buenos Aires/Barcelona, Mxico, Paidos, 2002. __________. Against Proper Objects. In: LEED, Elizabeth & SCHOR, Naomi. Feminism meets queer theory. EUA, Indiana University Press, 1997. CARTER, Angela. The Sadeian Woman and the ideology of pornography. New York, Pantheon Books, 1978. CITELI, Maria Teresa. A pesquisa sobre sexualidade e direitos sexuais no Brasil (1990-2002): reviso crtica. Rio de Janeiro, CEPESC, 2005. DELEUZE, Gilles. Apresentao de Sacher-Masoch o frio e o cruel. Rio de Janeiro, Taurus, 1983. DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo. So Paulo, Perspectivas, 1976. DUARTE, Luiz Fernando Dias. A Sexualidade nas Cincias Sociais: leitura crtica das convenes. In: PISCITELLI et alii. (orgs.) Sexualidade e Saberes: Convenes e Fronteiras. Rio de Janeiro, Garamond Universitria, 2004. FACCHINI, Regina. Entrecruzando diferenas: corporalidade e identidade entre mulheres com prticas homoerticas na Grande So Paulo. Comunicao apresentada na 25. RBA Reunio Brasileira de Antropologia, Goinia, 2006. FOUCAULT, Michel. Histria da Sexualidade I. A vontade de Saber. Rio de Janeiro, Graal, 1977. FRANA, Isadora Lins. Cercas e pontes. O movimento GLBT e o mercado GLS na cidade de So Paulo. Dissertao de mestrado, Antropologia Social, USP, 2006. FRY, Peter. Para Ingls Ver: identidade e poltica na cultura brasileira. Rio de Janeiro, Zahar, 1982.
204
Camilo Albuquerque de Braz GALLOP, Jane. Friendship, a small number of exceptions: Bataille on Sade. Intersections a reading of Sade with Bataille, Blanchot and Klossowski. London, University of Nebraska Press, 1981. GREGORI, Maria Filomena. Prazer e Perigo: notas sobre feminismo, sexshops e s/m. In: PISCITELLI et alii. (orgs.) Sexualidade e Saberes: Convenes e Fronteiras. Rio de Janeiro, Garamond Universitria, 2004. __________. Relaes de violncia e erotismo. cadernos pagu (20), Ncleo de Estudos de Gnero Pagu/Unicamp, 2003. HARAWAY, Donna. Gnero para um dicionrio marxista: a poltica sexual de uma palavra. cadernos pagu (22), Ncleo de Estudos de Gnero Pagu/Unicamp, 2004. KRISTEVA, Julia. From Filth to Defilement. In: Powers of Horror an essay on abjection. New York, Columbia University Press, 1982. MACCLINTOCK, Anne. Couro Imperial Raa, travestismo e o culto da domesticidade. cadernos pagu (20), Ncleo de Estudos de Gnero Pagu/Unicamp, 2003. __________. Maid to Order Commercial S/M and gender power. In: GIBSON, Pamela; GIBSON, Roma. Dirty Looks Women, pornography, power. London, BFI Publishing, 1994. MOORE, Henrietta. Understanding sex and gender. In: INGOLD, Tim. (ed.) Companion Encyclopedia of Anthropology. Londres, Routledge, 1997. __________. Antropologa y feminismo. Madri, Ctedra, 1996. PISCITELLI, A.; GREGORI, M. F.; CARRARA, S. (orgs.) Sexualidade e saberes: convenes e fronteiras. Rio de Janeiro, Garamond, 2004. __________. Comentrio. cadernos pagu (21), Ncleo de Estudos de Gnero Pagu/Unicamp, 2003, pp.211-218. RUBIN, Gayle. Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality. In: ABELOVE, Henry; BARALE, Michle; HALPERIN, David. (eds.) The Lesbian and Gay Studies Reader. Nova York, Routledge, 1993 [1984]. __________. El Trfico de Mujeres: notas sobre la economia poltica del sexo. Revista Nueva Antropologa (30, VIII), Mxico, 1986, pp.95145.
205
Macho versus Macho SIMES, Jlio Assis. Homossexualidade Masculina e Curso da Vida: pensando idades e identidades sexuais. In: PISCITELLI et alii. (orgs.) Sexualidade e Saberes: Convenes e Fronteiras. Rio de Janeiro, Garamond Universitria, 2004. __________ e FRANA, Isadora Lins. Do Gueto ao mercado. In: GREEN, James Naylor; TRINDADE, Ronaldo. (orgs.) Homossexualismo em So Paulo e outros escritos. So Paulo, Editora Unesp, 2005. STRATHERN, Marilyn. For the Motion (1). In: INGOLD, Tim (ed.). Key Debates in Anthropology. London, Routledge, 1996. __________. The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia. EUA, University of California Press, 1988 [Gnero da ddiva: problemas com as mulheres e problemas com a sociedade melansia. Campinas-SP, Editora da Unicamp, 2006 (trad.: Andr Villalobos)]. TOREN, Christina. For the Motion (2). In: INGOLD, Tim. (ed.) Key Debates in Anthropology. London, Routledge, 1996. VIANNA, Adriana & LACERDA, Paula. Direitos e polticas sexuais no Brasil: o panorama atual. Rio de Janeiro, CEPESC, 2004. YANAGISAKO, Sylvia e COLLIER, Jane. Toward a unified theory of gender and kinship. In: YANAGISAKO e COLLIER. (orgs.) Genger and Kinship: Essays Toward an Unified Analysis. Stanford, Stanford University Press, 1987. ZILLI, Bruno Dallacort. O Perverso Domesticado: da patologia diversidade sexual num estudo sobre o discurso BDSM na internet. 30 Encontro Anual da Anpocs (CD-ROM), Caxambu, 2006.
206
Você também pode gostar
- NBR 7212 - 2021 - Concreto Dosado em CentralDocumento31 páginasNBR 7212 - 2021 - Concreto Dosado em CentralIgor Lima Silva75% (4)
- Apostila de Porteiro e Vigia 1°Documento39 páginasApostila de Porteiro e Vigia 1°Tiago Ferrebraz100% (1)
- O Rei Da Vela - SlideDocumento18 páginasO Rei Da Vela - SlideSARA NICACIAAinda não há avaliações
- A Força Normativa Da Constituição Konrad HesseDocumento4 páginasA Força Normativa Da Constituição Konrad HesseVitor Cardoso100% (2)
- Carpinteiro de CofragemDocumento1 páginaCarpinteiro de CofragemAnonymous qI0eKs100% (1)
- As Cabo-Verdianas Estudantes Quando Vem PDFDocumento18 páginasAs Cabo-Verdianas Estudantes Quando Vem PDFCeleste FortesAinda não há avaliações
- Emigrantes e Deportados em Cabo VerdeDocumento22 páginasEmigrantes e Deportados em Cabo VerdeCeleste FortesAinda não há avaliações
- Artigo Celeste Fortes - Teorias Que Servem e Teorias Que Não Servem PDFDocumento27 páginasArtigo Celeste Fortes - Teorias Que Servem e Teorias Que Não Servem PDFCeleste FortesAinda não há avaliações
- Sócio-Antropologia Da Sáude - Programa FinalDocumento10 páginasSócio-Antropologia Da Sáude - Programa FinalCeleste FortesAinda não há avaliações
- Diaspora Retorno Trajano-1Documento27 páginasDiaspora Retorno Trajano-1Celeste FortesAinda não há avaliações
- 1 TessalonicenssesDocumento3 páginas1 TessalonicenssesNubia MarquesAinda não há avaliações
- 2 TESTE Port 8 ANO 1º Per. Nov2018Documento6 páginas2 TESTE Port 8 ANO 1º Per. Nov2018SusanaDelindroAinda não há avaliações
- Os Impactos Do Pensamento Cartesiano Sobre A Historia HumanaDocumento5 páginasOs Impactos Do Pensamento Cartesiano Sobre A Historia HumanaGlória AraujoAinda não há avaliações
- Manual Sobre Aspectos Segurança AAFR-SECDocumento148 páginasManual Sobre Aspectos Segurança AAFR-SECMário PereiraAinda não há avaliações
- Projeto de Extensão II CibersegurançaDocumento4 páginasProjeto de Extensão II CibersegurançaArleno PerdigãoAinda não há avaliações
- A Análise FinanceiraDocumento60 páginasA Análise FinanceiraPaulo Pereira100% (4)
- 6 Ao 9 AnoDocumento44 páginas6 Ao 9 AnoMarcia Donel100% (1)
- PT2500SDocumento9 páginasPT2500SaloizioAinda não há avaliações
- FICHAMENTO - SCHWARTZ, Suzana. Alfabetização de Jovens e Adultos Teoria e PráticaDocumento4 páginasFICHAMENTO - SCHWARTZ, Suzana. Alfabetização de Jovens e Adultos Teoria e PráticaCésar Leirião Jr.Ainda não há avaliações
- Avaliação Teórica NR 13 CaldeirasDocumento3 páginasAvaliação Teórica NR 13 CaldeirasThiago Ferreira100% (2)
- Manual Módulo I - DefinitivoDocumento63 páginasManual Módulo I - DefinitivoMario Sergio NascimentoAinda não há avaliações
- A Visão É Jesus!!!!Documento1 páginaA Visão É Jesus!!!!Larissa Litter de AndradeAinda não há avaliações
- Efeitos Da Energia Elétrica No Dia-A-Dia, Destacando Conceitos, Grandezas, e Aplicações TecnológicasDocumento28 páginasEfeitos Da Energia Elétrica No Dia-A-Dia, Destacando Conceitos, Grandezas, e Aplicações TecnológicasNathalia Gomes Leitao AbreuAinda não há avaliações
- Calculos Espessura RetoDocumento4 páginasCalculos Espessura RetoMarcelo Augusto Braga ZorteaAinda não há avaliações
- Atuadores ElétricosDocumento27 páginasAtuadores ElétricosFERNANDA ANDRADEAinda não há avaliações
- Teste Classificatório 3º Ano - InglesDocumento7 páginasTeste Classificatório 3º Ano - InglesMaramota100% (1)
- Acolhimento - 2024 - FORMAÇÃODocumento11 páginasAcolhimento - 2024 - FORMAÇÃOMARLI PINTO DE SIQUEIRAAinda não há avaliações
- Guia - Computação Criativa PDFDocumento192 páginasGuia - Computação Criativa PDFangelarojoAinda não há avaliações
- PHONOLOGY para AjudaDocumento53 páginasPHONOLOGY para AjudaCafe com inglesAinda não há avaliações
- O Cangaço e A Religiosidade de LampiãoDocumento9 páginasO Cangaço e A Religiosidade de LampiãoPedro HenriqueAinda não há avaliações
- Mary Del PrioreDocumento2 páginasMary Del PrioreRosyane de MoraesAinda não há avaliações
- LivroLibrasDaniel Parte01Documento56 páginasLivroLibrasDaniel Parte01Lucascorrea TrbAinda não há avaliações
- Arquitectura y Clima - Victor Olgyay - Exercicio 1Documento30 páginasArquitectura y Clima - Victor Olgyay - Exercicio 1Aline OliveiraAinda não há avaliações
- Módulo 4Documento12 páginasMódulo 4Rômulo ReisAinda não há avaliações
- N 0381Documento17 páginasN 0381Jaime_LinharesAinda não há avaliações