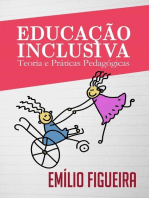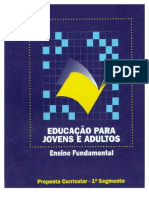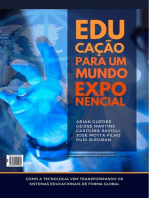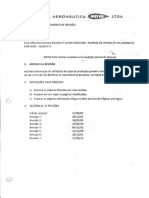Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Anais Enlece 2013
Enviado por
Patricia RochaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Anais Enlece 2013
Enviado por
Patricia RochaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
SABERES DA DOCNCIA, CURRCULO E ENSINO
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP) Bibliotecria: Regina Clia Paiva da Silva CRB 1051
E 56 Encontro da Linha de Educao Currculo, e Ensino da Universidade Federal do Cear, I; Anais, Saberes da docncia, currculo e ensino. Santos, Alice Nayara; Gomes, Sabrina Linhares; Gabriel Neto, Jos Antnio (orgs). Fortaleza: Imprece, 2013.
350p 16,2x22,9. Livro Digital ISBN: 978-85-8126-044-0 Vrios autores.
1. Ensino Encontro. 2. Currculo Estudo e Ensino. 3. Educao. 4.Caldas Filho, Odmir Fortes Menezes I. Ttulo.
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
SABERES DA DOCNCIA, CURRCULO E ENSINO
Organizao:
Alice Nayara dos Santos Sabrina Linhares Gomes Jos Antnio Gabriel Neto Odmir Fortes Menezes Caldas Filho
Editora: IMPRECE Cear - 2013
4
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO EDITORIAL
EDITORA: Imprece
ORGANIZAO: Alice Nayara dos Santos Jos Antnio Gabriel Neto Sabrina Linhares Gomes Odmir Fortes Menezes Caldas Filho
COORDENAO Profa. Dra. Ana Maria Irio Dias Prof. Dr. Pedro Rogrio.
REVISO DE TEXTOS: Alice Nayara dos Santos Sabrina Linhares Gomes
CAPA, DIAGRAMAO E ARTE INTERNA. Odmir Fortes Menezes Caldas Filho
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC SUMRIO
PREFCIO AJUSTANDO AS LENTES DE LEITURA ...................................................................... 9
PARTE I: EIXO DE ENSINO DE CINCIAS
12
A QUMICA NO COTIDIANO DAS FRIAS ESCOLARES .............................................................. 13 ORIENTAO SEXUAL: PERCEPO DE PROFESSORES DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM ITAPIPOCA-CE ....................................................................................................... 19 FORMAO INICIAL DOCENTE: SOB O OLHAR DE LICENCIANDOS EM CINCIAS BIOLGICAS DA FACEDI/UECE UTILIZAO DO TANGRAM NO ENSINO DE CINCIAS ............................................................. 28 LIBRAS E O ENSINO DE CINCIAS: CONTRIBUIES PARA O APRENDIZADO DE ALUNOS SURDOS 33 23
A PRTICA DOCENTE NA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: IMPLICAES PARA O ENSINO REGULAR DAS CINCIAS DA NATUREZA ................................................................................................................ 38
PARTE II: EIXO DE ENSINO DE MATEMTICA
43
CONTRIBUIES DO PIBID NA FORMAO DOCENTE: EXPERINCIAS EM UMA ESCOLA PBLICA NA REGIO NORTE DO CEAR ........................................................................................................................................... 44 A INSERO DE PRTICAS LDICAS NO ENSINO DE MATEMTICA: EXPERINCIAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NUMA TURMA DE ENSINO FUNDAMENTAL ................................................................................ 48 R: UMA FERRAMENTA PARA EXPLORAR A INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE A MATEMTICA E A GEOGRAFIA LGEBRA MATRICIAL: EXPERINCIA DE ENSINO EM UMA UNIVERSIDADE PBLICA NO INTERIOR DO CEAR O JOGO DAS QUADRTICAS ........................................................................................................... 63 REFLEXES E EXPERINCIAS ACERCA DA PRTICA DOCENTE: EXPERINCIAS DO PIBID-MATEMTICA-UVA TECNOLOGIAS INFORMTICAS NA EDUCAO MATEMTICA E A MEDIAO PEDAGGICA: APLICAO DE RECURSO GRFICO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DO CONCEITO DE FUNO................... 72 PROJETO OBAMA: LEVANTAMENTO E CLASSIFICAO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM DE MATEMTICA 78 68 53 58
PARTE III: EIXO DE ENSINO DE MSICA 84
A GNESE DO CAMPO DE PESQUISA EM EDUCAO MUSICAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR 85 REFLEXES SOBRE O PROCESSO DE CONSTRUO DA FORMAO MUSICAL DOS ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA REGULAR EM FORTALEZA .............................................................................................................. 92 ENTRE ADORNO E MRIO DE ANDRADE: PASSOS E DESCOMPASSOS NO ESTABELECIMENTO DE UM REPERTRIO MUSICAL DE REFERNCIA .............................................................................................................. 99 PROJETO ARTE-EDUCAO E O ENSINO DE MSICA NO INSTUTUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DO CEAR (IFCE) ................................................................................................... 105 CASA CAIADA: FORMAO HUMANA E MUSICAL EM PRTICAS PERCUSSIVAS COLABORATIVAS. 112
PARTE IV: EIXO DE CURRCULO
117
CURRCULO E CULTURA: COMO SE D ESTA RELAO? ...................................................... 118 PERCEPO DOCENTE QUANTO AOS DESAFIOS ENCONTRADOS NA IMPLANTAO DO PROJETO POLTICO PEDAGGICO DO CURSO DE MEDICINA DE UMA UNIVERSIDADE PBLICA BRASILEIRA124 COMO OS GESTORES DE CURRCULO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR DEFINEM PROJETO PEDAGGICO? ............................................................................................................................................................. 128
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
CONCEPES ACERCA DO CURRCULO NO SISTEMA COLGIO MILITAR DO BRASIL (SCMB) 133 DILOGO DE EXPERINCIAS DE PESQUISA: INTERFACES ENTRE A GASTRONOMIA, A EDUCAO, O CURRCULO E O ENSINO............................................................................................................................................... 139 O ENSINO DE HISTRIA E AS NECESSIDADES DE ADAPTAES CURRICULARES PARA ALUNOS COM DEFICINCIA VISUAL .............................................................................................................................................. 146 CURRCULO DA EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS: CONTRADIES, DESAFIOS E IMPLICAES NA CONTEMPORANEIDADE ................................................................................................................. 151
PARTE V: EIXO DE FORMAO DE PROFESSORES
156
A CAPACIDADE DE RESILINCIA DO DOCENTE NO FAVORECIMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO EDUCANDO ....................................................................................................................................... 157 A DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E SUA RELAO COM A FORMAO DE PROFESSORES 162 O PAPEL DO PLANEJAMENTO COMO ELEMENTO INTEGRANTE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM ............................................................................................................................................................. 167 OS DESAFIOS DE SER PROFESSOR: DILOGOS PRODUZIDOS NO 1 COLQUIO DE FORMAO DOCENTE REALIZADO NA URCA ........................................................................................................................................... 171 AS ATIVIDADES LDICAS E PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM ........................... 176 O ESTGIO NA FORMAO DOCENTE: UM ESTUDO DA PROPOSTA PEDAGGICA DO CURSO DE HISTRIA DA UFC. ............................................................................................................................................................. 181 ESTRATGIAS DE INTRODUO FORMAO CONTINUADA EM CURRICULO E PLANEJAMENTO: EXPERINCIA FLMICA ............................................................................................................................................. 186 A FORMAO INICIAL DO PROFESSOR PEDAGOGO PARA A EDUCAO INCLUSIVA: UM ESTUDO BIBLIOGRFICO ............................................................................................................................................................. 191 SABERES DOCENTES: DILOGOS COM A FORMAO E O TRABALHO DE PROFESSORES197 FORMAO DOCENTE SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAO DIALGICA FREIREANA .. 202 O COORDENADOR PEDAGGICO E A FORMAO DOCENTE: CONCEITOS E PRESSUPOSTOS 207 212 217
LEITURA DE IMAGENS: UMA POSSIBILIDADE NO PROCESSO DE FORMAO DE PROFESSORES O ESTGIO SUPERVISIONADO COMO PAPEL FUNDAMENTAL NA FORMAO DE PROFESSORES.
CONCEPO DE LICENCIANDOS EM CINCIAS BIOLGICAS DA FACED-UECE ACERCA DA INTERDISCIPLINARIDADE EM SUA FORMAO INICIAL. ....................................................................................................... 220 INICIAO A DOCNCIA EM UMA ESCOLA NO INTERIOR DO CEAR: EXPERINCIAS DO PIBID-MATEMTICA-UVA ............................................................................................................................................................. 223 CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA NO CURRCULO ESCOLAR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA FORMAO DE PROFESSORES A PARTIR DA LEI 10.639/03 ........................................................................... 227 AS TECNOLOGIAS DE INFORMAO E COMUNICAO - TIC'S COMO FONTES PARA A FORMAO DOCENTE ............................................................................................................................................................. 232 RELAO ENTRE PESQUISA E TRABALHO DOCENTE NA INTEGRAO DA PRTICA PEDAGGICA 236
FORMAO CONTINUADA DO PROFESSOR COORDENADOR PEDAGGICO NUMA ABORDAGEM REFLEXIVA ............................................................................................................................................................. 240 CONTRIBUIES DO PIBID NA FORMAO DOCENTE ........................................................... 245 CONDIES DE TRABALHO X DOCNCIA UNIVERSITRIA .................................................. 250 FORMAO PEDAGGICA UNIVERSITRIA, LIMITES E POSSIBILIDADES ......................... 255 (IN)FORMAO PROFISSIONAL NO ENSINO SUPERIOR: ESTUDO SOBRE A REALIDADE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAU(UESPI) ......................................................................................................... 260 DOCNCIA NO ENSINO SUPERIOR: PROFISSO COM CONHECIMENTOS PEDAGGICOS ESPECFICOS 265
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
O MATERIAL DIDTICO DE CLCULO II NA OPINIO DO ALUNO: FORMAO DE PROFESSORES DE MATEMTICA DO CURSO SEMIPRESENCIAL DO IFCE ....................................................................................... 269
PARTE VI: EIXO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAO
273
UMA ANLISE DA METODOLOGIA DO LABORATRIO DE PESQUISA MULTIMEIOS/FACED/UFC, UTILIZADA NA DISCIPLINA DE EDUCAO A DISTNCIA DO CURSO DE PEDAGOGIA. ............................. 274 QUALIDADE NA OFERTA DE ENSINO SUPERIOR A DISTNCIA NO BRASIL: UMA ANLISE DOS CURSOS A DISTNCIA DE UMA INSTITUIO DE ENSINO SUPERIOR DE FORTALEZA ............................................. 279 O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA FORMAO INICIAL DE TUTORES ..................... 282 EAD - EDUCAO A DISTNCIA E O PARADIGMA DA INTERAO E INTERATIVIDADE NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM .............................................................................................................................. 285 APRENDIZAGEM COLABORATIVA COM SUPORTE COMPUTACIONAL: UMA PROPOSTA PARA FORMAO DE PROFESSORES .................................................................................................................................. 289 A IMPORTNCIA DA INFORMTICA EDUCATIVA NAS SRIES INICIAIS ............................ 295 AVALIAO DA ACESSIBILIDADE DOS SOFTWARES EDUCATIVOS DO SISTEMA OPERACIONAL UBUNTUCA A PESSOAS COM DEFICINCIA VISUAL.......................................................................................... 301 EXPERIENCIANDO PRTICAS EDUCATIVAS NO LABORATRIO DE INFORMTICA ........ 307 A WEB 2.0 COMO AUXILIAR DA AO DOCENTE E DA APRENDIZAGEM ........................... 312 PROJETO UCA: DESAFIOS A FORMAO DOCENTE EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE FORTALEZA AS TECNOLOGIAS NA FORMAO DOCENTE NA EDUCAO SUPERIOR PRESENCIAL . 320 O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO SUPERIOR ................................................. 325 TCNOLOGIAS DIGITAIS E O CURRCULO: UMA PESPECTIVA ETINOGRFICA DA FACED COM O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS ................................................................................................................ 329 PRTICAS PEDAGGICAS UTILIZADAS PELO PROFESSOR TUTOR EM CURSO DE ESPECIALIZAO DISTNCIA ............................................................................................................................................................. 334 FORMAO INICIAL DE PROFESSORES PARA UTILIZAO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAO E COMUNICAO (TDIC) NO ENSINO: ALGUNS DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE .... 339 EDUCAO A DISTNCIA NO CONTEXTO DAS FORAS ARMADAS E DAS INSTITUIES DE SEGURANA PBLICA ............................................................................................................................................................. 344 316
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
PREFCIO
AJUSTANTO AS LENTES DE LEITURA
PEDRO ROGRIO
Coordenador da Linha de Pesquisa Educao, Currculo e Ensino LECE Programa de Ps-Graduao em Educao Brasileira PPGED Faculdade de Educao FACED Universidade Federal do Cear UFC
ANA MARIA IORIO DIAS
Professora da Linha de Pesquisa Educao, Currculo e Esnino LECE, Programa de Ps-Graduao em Educao Brasileira PPGEd Faculdade de Educao FACED Universidade Federal do Cear UFC
Este texto prefacia os ANAIS do I ENLECE Encontro da Linha Educao, Currculo e Ensino: Saberes da Docncia, Currculo e Ensino. Este encontro resultou de um grande esforo coletivo e compartilhado e da indiscutvel competncia dos estudantes da disciplina Educao, Currculo e Ensino em 2013.1, sob a coordenao dos professores Ana Maria Irio Dias e Pedro Rogrio. A disciplina Educao, Currculo e Ensino obrigatria para estudantes de mestrado e doutorado matriculados na Linha de Pesquisa Educao, Currculo e Ensino LECE, do Programa de Ps-Graduao em Educao Brasileira (PPGEd), da Faculdade de Educao (FACED), da Universidade Federal do Cear (UFC), atualmente sob a coordenao do professor Pedro Rogrio. A Linha de Pesquisa Educao, Currculo e Ensino tem seis eixos temticos: Currculo; Ensino de Cincias; Ensino de Matemtica; Ensino de Msica; Formao de Professores; Tecnologias Digitais na Educao. Em cada um deles, muitos estudos, muitas pesquisas, muitos pesquisadores, procurando dar um maior e mais significativo aporte terio-prtico Educao (Bsica e Superior). Educao formal, no formal, informal. No caso da LECE, com seus eixos temticos, um leque multifocal nos oferecido, e possvel encontrar muitas contribuies que so caras e centrais.
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Alm da LECE, o PPGEd/FACED/UFC inclui as linhas de pesquisa: Avaliao Educacional; Desenvolvimento, Linguagem e Educao da Criana; Histria da Educao Comparada; Filosofia e Sociologia da Educao; Histria, Memria da Educao; Trabalho e Educao; Marxismo, Educao e Luta de Classes; Movimentos Sociais, Educao Popular e Escola. Um ponto importante, que merece nosso destaque e reflexo: no existe apenas um centro e sim centros. Podemos ainda pensar que so pontos centrais que orbitam em tornos de outros centros. Os seis eixos apresentados, orbitam a linha de pesquisa LECE. Esta linha de pesquisa ao lado das demais compem um grande centro de produo do conhecimento da rea: o Programa de Ps-Graduao em Educao Brasileira. O que interessante que, dependendo do ajuste da lente, podemos ter vrias possibilidades de leitura da realidade. Escrever estas notas introdutrias aos ANAIS do I ENLECE foi uma grande alegria e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Alegria e responsabilidade, neste caso, no so excludentes e sim duas faces de tantas outras que podem ser percebidas em um evento que traz em seu nome palavras-chave de grande abrangncia: Educao, Currculo, Ensino e Saberes da Docncia. Estas palavras foram e continuam sendo dignas de reflexes, de publicaes que, ao que tudo indica, apresentam-se como um processo que no tem fim, pois todos os dias, em todos os momentos estamos em formao, aprendendo, ensinando, compartilhando saberes, construindo e transformando conhecimentos, ressignificando valores e aes. Desse ponto de vista, Educao e Vida so sinnimos. Mas, existe ainda outra varivel muitssimo importante para que o leitor possa compreender os textos que compem estes ANAIS; trata-se do lugar de onde cada um fala/escreve. Este um dado que traz ao leitor uma chave de acesso a uma compreenso contextualizada e, portanto, relacional, o que nos salvaguarda de ingenuidades polticas. Sim, a cincia ocupa um lugar poltico no espao social, exerce poder, induz verdades, e quando utilizada de m f, induz a inverdades. Saber disso no torna menor o papel dos pesquisadores, mas pe em questo o campo de pesquisa e seus agentes. Colocamos em relevo esta maneira de perceber a cincia neste prefcio com dois objetivos: 1 Manter acordadas as mentes humanas, retirando ingenuidades e acrescentando uma boa dose de realidade relacional que, de forma objetiva, nos inculca formas de perceber o mundo e influencia nossas escolhas, logo, afeta nossas aes;
10
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
2 Utilizar de boa f esta produo acadmica para desfazer as armadilhas dos interesses ocultos e principalmente fazer avanar com clareza de entendimento os conhecimentos da rea colocando-os a servio da construo de um mundo mais justo e mais belo. Nossas aes se tornam mais consistentes e, quanto mais prximas estiverem desses objetivos, corresponderam s demandas educacionais demandadas da realidade na qual nos inserimos. O I ENLECE nasce com as marcas de um esforo coletivo em contribuir para diversificar a formao qualificada para a Educao Brasileira. Do contato direto com estudos, pesquisas e relatos sobre aspectos vitais da Educao (Bsica ou Superior), cresce a universidade, crescem os estudantes, os professores, os profissionais - crescemos todos ns. E, assim, a LECE e o PPGEd se consolidam, para o aperfeioamento de nossa prxis pedaggica, poltica e inovadora. Portanto, ajustem suas lentes de leitura e desfrutem da produo de conhecimento de uma rea que de to rica e sedutora se confunde com a vida a Educao! Fortaleza, setembro de 2013.
11
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
PARTE I: EIXO DE ENSINO DE CINCIAS
12
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
A QUMICA NO COTIDIANO DAS FRIAS ESCOLARES
Dbora Cristina Lima Ferreira1 Gabrielly Ferreira Mota2 Maria Cleide da Silva Barroso3
RESUMO O presente trabalho foi realizado durante o perodo de frias escolares de uma escola estadual no municpio de Maracana- CE, em defluncia de um minicurso de frias promovido pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciao Docncia PIBID. Com o desgnio de oportunizar aos alunos do ensino mdio, com baixo rendimento escolar em qumica, a criao deste minicurso surgiu da problemtica relatada pelos alunos aos bolsistas durante o perodo regular de ensino, que no perodo de frias escolares ficavam sozinhos e ociosos. Esse problema aliado ao inferior rendimento escolar em qumica, fez com que fosse viabilizado o minicurso, com o tema: a Qumica no cotidiano das frias, proporcionando conhecimento, investigao e experimentao. O estudo de caso foi desenvolvido com dezessete alunos que participaram do minicurso com objetivo de avaliar os impactos do curso de frias e sua relao com a qumica atravs de um instrumento de pesquisa: um questionrio versando questes abertas e entrevistas com os alunos. Para superar as dificuldades os facilitadores trabalharam com recursos didticos e prtica laboratoriais aguando a reflexo dos alunos a cada situao proposta. Assim, esperase que no retorno das aulas, estes alunos apresentem um maior rendimento escolar na disciplina de qumica. Uma vez que cresceu o interesse pela disciplina, acredita-se que ser mais fcil para aluno estudar e tentar compreender os fenmenos qumicos e suas implicaes no cotidiano. Somado a essas concluses defende-se oferecer o minicurso nas frias escolares verificando o prazer dos alunos em vivenciar a cincia. PALAVRAS CHAVES: Qumica. Frias. Cotidiano. Minicurso. Aprendizagem. INTRODUO O ensino de qumica um dos maiores desafios para o processo de ensino-aprendizagem no sistema educacional. Visto que, pelo simples fato de muitos professores encontrarem-se submetidos a um mtodo tradicional, os alunos costumam ter averso aos contedos desta disciplina, por consider-los de difcil assimilao. Isso nos mostra a busca por novos recursos didticos com objetivo de reverter ou modificar essa realidade constante dentro da sala de aula. Uma das maiores dificuldades no aprendizado de Qumica a correlao com os conceitos vistos em sala de aula com o cotidiano. Diante do contexto utilizado requerer mudanas nas
Graduanda do Curso de Licenciatura em Qumica, Campus de Maracana. Instituto Federal do Cear, IFCE. E-mail: deboracristinaferreira@gmail.com; 2 Graduanda do Curso de Licenciatura em Qumica, Campus de Maracana Instituto Federal do Cear, IFCE. E-mail: gabriellyferreyra@hotmail.com; 3 Orientadora: Doutoranda em Educao Brasileira (UFC) e Professora do IFCE Campus Maracana; Email: ccleide1971@yahoo.com.br.
1
13
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
metodologias aplicadas pelos docentes, em razo de que, so especficas como o principal motivo do desinteresse e baixo rendimento escolar. Porquanto, as propostas sejam mais especficas no ensino de Qumica, possui um dos desgnos a necessidade da relao ativa dos estudantes nas aulas, construindo um processo interativo entre professor/ aluno, em que as opinies dos alunos sejam consideradas para um melhor desenvolvimento na disciplina. Por conseguinte, essencial que todos estejam empenhados em obter resultados significativos, promovendo participaes ativas no processo de ensinoaprendizagem, mesmo com dificuldades e desmotivao, buscando melhora na didtica do ensino. A aquisio do conhecimento de Qumica depende das mais variveis maneiras de como aplicada, tais como: professor, estudantes, gesto escolar, o ambiente scio-cutural e de como a qumica abordada dentro da sala de aula correlacionada com o cotidiano. Os fatores que influenciam no ensino de forma que parte do docente ser mediador na produo do conhecimento, porm, sabe-se que as aes dos profissionais so extremamente limitadas por no disporem de recursos didticos pedaggicos, a falta de planejamento escolar e carga horria insuficiente. Segundo LIBNEO, 2004: o processo educacional a considerar, existe uma relao entre as polticas educacionais, a organizao e a gesto escolar e as prticas pedaggicas, todos que participam direta ou indiretamente sero beneficiados e o fruto deste processo a melhoria na qualidade de ensino. Visto que, muitos professores utilizam-se dos mesmos mtodos e tcnicas de ensino, nos quais transmitem o contedo de forma desinteressante, promovendo assim, um baixo rendimento escolar. A disciplina de Qumica exige uma metodologia diferencial, para despertar o interesse dos alunos, alm de motivar o conhecimento, procura desenvolver no aluno a interatividade, interrelacionando as prticas laboratoriais estimula-os aplicao dos conceitos propostos em sala direcionados ao cotidiano. Conforme BROWN, 2005: a Qumica uma cincia extremamente prtica que tem impacto no dia a dia. A prtica evidenciou uma ferramenta que utilizamos para despertar tal interesse e motivao, buscando a troca de informaes e experincias j vivenciadas. Atravs da aplicao possvel diversificar e tornar mais eficiente o mtodo de ensino, estabelecendo novos parmetros na formao de um indivduo crtico e participativo. Esta pesquisa prope uma alternativa de busca do conhecimento, tornando mais necessrio a aquisio do aprendizado e assim aproximar o aluno da qumica, de forma prazerosa e educativa. O minicurso foi criado com propsito de oportunizar aos alunos do ensino mdio, com baixo rendimento escolar, o desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Qumica correlacionado com o cotidiano. A partir da problemtica relatada pelos alunos aos bolsistas durante o perodo regular de ensino, que no perodo de frias escolares ficavam sozinhos e ociosos. Esse problema aliado ao inferior rendimento escolar em qumica, fez com que fosse viabilizado o minicurso, com o tema: a Qumica no cotidiano das frias, proporcionando conhecimento, investigao e experimentao. A metodologia aplicada, o estudo de caso foi desenvolvido com dezessete alunos que participaram do minicurso com objetivo de avaliar os impactos do curso de frias e sua relao com a qumica atravs de um instrumento de pesquisa: um questionrio versando questes abertas e entrevistas com os alunos. Com intuito de superar as
14
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
dificuldades os facilitadores trabalharam com recursos didticos e prticas laboratoriais aguando a reflexo dos alunos a cada situao proposta. Assim, ao retornar as aulas espera-se que esses alunos apresentem um melhor rendimento escolar na disciplina de qumica. Portanto, cresceu o interesse pela disciplina, acredita-se que ser mais fcil para aluno estudar e tentar compreender os fenmenos qumicos e suas implicaes no cotidiano. OBJETIVO GERAL Oportunizar os estudantes do ensino mdio, com baixo rendimento escolar, o desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Qumica atravs de um minicurso de frias correlacionado com o cotidiano. METODOLOGIA A fim de estimular o processo de desenvolvimento na disciplina de qumica durante as frias, realizou-se o minicurso em duas etapas, a teoria e prtica com o tema: a Qumica no cotidiano das frias. A partir da metodologia utilizada no processo de investigao evidenciou um estudo de caso onde foi elaborado um questionrio versando os principais aspectos das questes abertas e fechadas, com a participao de 17 alunos inscritos de uma Escola Estadual de Maracana. Na primeira etapa foram desenvolvidas aulas expositivas, dialogadas, apostilha elaborada pelos aplicadores do minicurso e com recursos didticos pedaggicos diferencial para correlacionar com o cotidiano. Na segunda etapa foram desenvolvidas as prticas laboratoriais com produtos encontrados no cotidiano, onde acompanharam a expanso do conhecimento da disciplina de qumica. DISCURSO DOS RESULTADOS A partir dos dados obtidos pela pesquisa referente as respostas do questionrio, a base terica foi ministrada em sala de aula associando a qumica ao cotidiano de maneira diferenciada, dos 17 alunos 100% responderam que o minicurso foi proveitoso e que atendeu as expectativas despertando o interesse pela disciplina, como demostrada na FIGURA 1.
EXPECTATIVAS DO MINICURSO 100 % Alunos
Figura 1 Expectativas do Minicurso
Durante o desenvolvimento do minicurso os recursos didticos foram imprescindveis na aplicao do contedo, facilitando o ensino-aprendizagem na construo um processo interativo
15
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
entre professor/aluno. Diante dos dados 100% dos alunos responderam que os materiais didticos atenderam as suas necessidades no geral, porm especificamente, 94,12% disseram que atendeu as suas necessidades devido a fcil linguagem e 5,88% respondeu que o material didtico no atendeu as suas necessidades, por ter sido distribudo por equipe e no forma individual, desta maneira eles no poderiam realizar o estudo desse material em casa (FIGURA 2).
MATERIAL DIDTICOS
5,88% Atendeu as necessidades
94,12 %
Figura 2 Material Didtico
Os contedos ministrados no minicurso de frias despertaram a dedicao dos alunos na aplicao dos conceitos propostos direcionados ao cotidiano, 5,88% disseram que todas as aulas preencheram as suas expectativas. Visto que, 5,88% dos alunos responderam que a aula de segurana no laboratrio foi de grande importncia, incentivando a curiosidade de manusear os equipamentos. Na aula de misturas e substancias 5,88% dos estudantes destacaram que os materiais utilizados so, com frequncia, encontrados no cotidiano. No contedo tabela peridica utilizou-se um metodologia diferencial, onde 11,76% dos alunos afirmaram que os jogos ldicos introduziu grande aprendizado devido maneira diferenciada de ter sido aplicada. A temtica da aula: cidos e bases estabeleceu um novo parmetro no conhecimento, onde 58,84% dos alunos relataram que as experincias utilizadas no laboratrio aproximaram da disciplina de qumica de forma prazerosa e educativa.
APLICAO DOS CONTEDOS 100% Alunos
Figura 3 Aplicao dos Contedos
As prticas laboratoriais evidenciou uma nova ferramenta buscando a troca de informaes e experincias. Atravs da aplicao possvel diversificar e tornar mais eficiente o mtodo de
16
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
ensino, dos 17 alunos 100% responderam que todas as prticas estavam relacionadas com os assuntos abordados, fazendo a juno da teoria com a pratica estabelecendo novos conceitos ligando ao cotidiano.
PRTICAS LABORATORIAIS
100%
Alunos
Figura 4 Prticas Laboratoriais
Com propsito de superar as dificuldades no desenvolvimento do minicurso de frias, 29,40% dos estudantes especificaram que o minicurso foi timo, porm, 64,72% responderam que o minicurso deveria ter um tempo de durao maior e 5,88% disseram que o minicurso deveria abrir vagas para um numero maior de pessoas.
SUPERAO DE DIFICULDADES
5,88% 29,40% Alunos Alunos Alunos 64,72%
Figura 5 Superao de Dificuldades
Com criao do minicurso de frias cresceu o interesse pela disciplina de qumica, alm de oportunizar os estudantes do ensino mdio que obtiveram um rendimento baixo durante o perodo regular de ensino. No processo de ensino-aprendizagem 100% dos estudantes responderam que se houvesse outros minicursos com certeza participariam, alm de contribuir no processo de esclarecimento de dvidas, estabeleceu novos parmetros na formao de um indivduo crtico e participativo.
17
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
MINICURSO DE FRIAS
100%
Alunos
Figura 6 Minicurso de Frias
CONSIDERAES FINAIS Esta pesquisa buscou investigar o processo de ensino/aprendizagem atravs da criao de um minicurso de frias para alunos com baixo rendimento escolar na disciplina de Qumica. Podemos destacar que, com aplicao deste minicurso, estimulou o desenvolvimento do conhecimento, proporcionando um momento de investigao e experimentao. Portanto, cresceu o interesse pela disciplina e uma melhor compreenso dos fenmenos qumicos e suas implicaes no cotidiano, superando as dificuldades expostas atravs de recursos didticos diferenciais e prticas laboratoriais. Contudo, ao retornarem ao perodo regular de ensino esses alunos apresentem um melhor rendimento escolar na disciplina de qumica. REFERNCIAS Lei de Diretrizes e Bases da Educao (LDB 9394/96). LIBNEO, Jos Carlos. Organizao e Gesto da Escola: Teoria e Prtica. Goinia: Editora Alternativa, 2004. BROWN, LEMAY, BURSTEN. Qumica: A cincia central. Editora Pearson, Traduo da 9 edio, So Paulo. COSTA. Joo Batista Sousa. BARROS. Maria Luciene Urbano. Quando o ensino da cincia se torna algo natural no cotidiano escolar. Natal/RN. NARDIN. Ins Cristina Biazon. Brincando aprende-se Qumica. UNOPAR Arapongas. FERREIRA. Maria Onaira Gonalves. DIAS. Iara Campos. Qumica Encantada: aplicao de uma metodologia alternativa no ensino de Qumica. PIBIC/UESPI
18
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
ORIENTAO SEXUAL: PERCEPO DE PROFESSORES DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM ITAPIPOCA-CE
Ktia Pinto de Sousa4 Maria Danielle Arajo Mota 5 Raquel Crosara Maia leite6
RESUMO A sexualidade prpria ao ser humano, manifestando-se de um modo particular nas diferentes fases da vida humana, desde a infncia at a velhice. Sua abordagem nas escolas proposta pelos Parmetros Curriculares Nacionais PCN a partir sua transversalizao designada como Orientao Sexual. Por tratar-se de um assunto de importncia social, educacional e familiar surgiu a preocupao em investigar como os professores do 9 ano do Ensino Fundamental II da E. E. B. Francisca de Morais Pontes abordam a temtica Sexualidade atravs de transversalizao proposta pelos PCN. Sendo est pesquisa de cunho quantiqualitativo, os dados sero recolhidos por meio de questionrio com perguntas abertas e fechadas aplicado para o quadro de professores do 9 ano. Seguida da anlise dos dados, especificando, interpretando, descrevendo e discutindo as informaes obtidas. O percentual obtido foi discriminado por meio de tabelas. Seguida dos comentrios, discutidos e comparados com os principais autores. Dessa forma, foi feita a constatao de que a orientao acontece na escola, pela maioria dos professores, embora alguns tenham relatado dificuldades. Pode-se perceber, atravs da fala dos e professores que a abordagem da orientao sexual realizada pela referida escola pode ser aprimorado. PALAVRAS-CHAVE: Orientao Sexual. Escola. Professores. INTRODUO A sexualidade faz parte da vida do ser humano, ela se faz presente em toda sua trajetria de vida, manifestando-se de um modo particular nas diferentes fases da vida humana. O homem no pode desfazer-se dela ou anula-la, pelo contrrio, ela deve ser compreendida como natural, saudvel e necessria. As primeiras noes de sexualidade do indivduo provm inicialmente da famlia, de modo direto ou indireto, inicialmente atravs da observao ao comportamento dos seus pais, que lhe
Licencianda em Cincias Biolgicas, pela Universidade Estadual do Cear (UCE). E-mail: g.katia74@yahoo.com.br Mestranda em Educao Brasileira, pela Universidade Federal do Cear (UFC). Coordenadora Pedaggica- SEDUC- Ce. Email: danybotanica@yahoo.com.br 6 Professora da Ps graduao-Universidade Federal do Cear (UFC)- raquelcrosara@yahoo.com.br
5 4
19
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
indicar inicialmente o seu papel social. No entanto, na adolescncia as manifestaes da sexualidade se tornam mais intensas, podendo ser notada por todos ao redor. Belisse (2009) ressalta que bastante comum ouvir frases relacionando o adolescente com sexualidade ou mesmo sexo, passando a impresso que a sexualidade desponta somente nesse perodo. A abordagem da sexualidade um tema propostos pelos Parmetros Curriculares Nacionais PCN atravs da transversalizao designada como Orientao Sexual. Dessa maneira, em sua prtica docente alm dos componentes curriculares, que o professor deve ministrar, ele ter que abordar os temas transversais, propostos pelos PCN, entre eles a Orientao Sexual. A escola um lugar favorvel para a sistematizao de conhecimento dos mais diversos contextos da sexualidade, tendo como mediador o professor nesse processo. Souza (2010) salienta que a sexualidade no se reduz somente ao conhecimento das funes dos rgos genitais ou somente a reproduo. Dessa forma, o professor poder discutir variadas questes, como: virgindade, aborto, afetividade, autoestima, Doenas Sexualmente Transmissveis (DST), Sndrome da Imunodeficincia Humana Adquirida (AIDS), preveno, namoro, prazer, enfim, muitas questes emocionais, sociais e at mesmo polticas que envolvem a sexualidade. No esquecendo tambm que esse um tema permeado por diversos tabus e preconceitos, os quais tambm devero ser tratados no mbito escolar. Sendo indispensvel que o professor consiga abordar esse assunto utilizando-se de linguagem cientfica ao referir-se s todas as partes do corpo, de mtodos atrativos. OBJETIVO GERAL Investigar como os professores do 9 ano do Ensino Fundamental II da E. E. B. Francisca de Morais Pontes trabalham esse tema com seus alunos durante as aulas. METODOLOGIA A pesquisa de natureza qualiquantitativa foi realizada em uma escola de ensino fundamental II, Escola Municipal de Francisca de Morais Pontes. Foi aplicado aos 8 professores que lecionam em todas as disciplinas do 9 ano, sujeitos da pesquisa (P1 a P8), um questionrio com 04, sendo 03 questes discursivas e 01 pergunta de mltipla escolha Foi realizada a anlise baseada nas respostas dos professores aos questionrios e confeccionadas tabelas com a porcentagem de respostas obtidas e transcrio das falas consideradas mais relevantes dos sujeitos. DISCUSSO DOS RESULTADOS Os dados coletados e analisados mostraram que dentre os professores pesquisados quando indagados se realizam abordagem sobre o tema sexualidade, 63% responderam sim, enquanto 37,5% responderam no. Entre as justificativas obtidas, o professor P2 expe no tratar sobre sexualidade em suas aulas por no sentir-se conhecedor do assunto, enquanto que o professor P8 reconhece que a temtica em questo muito importante e necessria para promover a informao dos jovens, porm no fala sobre o mesmo nas aulas porque no encontrar na disciplina em que leciona espao ou meio de encaixar a temtica. Percebeu-se a importncia da interdisciplinaridade na prtica pedaggica, que conforme Fortes (2009), constitui-se em um elo entre as diversas reas
20
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
de conhecimento e possibilita a superao da fragmentao do ensino. A interdisciplinaridade auxilia no processo de transversalizao. Nos PCN (BRASIL 1998) destaca a importncia da interdisciplinaridade para a promoo da transversalidade, visto que ambas simultaneamente se complementam. Foi questionado se os professores sentiam dificuldade em tratar sobre assuntos relativos sexualidade. 87,5% dos docentes afirmam no sentir nenhum tipo de problema quanto a esse tema, enquanto que 12,5% relatam sentir dificuldade em tratar sobre o tema em sala de aula. A pergunta indagou que caso houvesse dificuldades, quais seriam elas e por qu. O educador P8 afirmou que em seu entender a escola deveria dispor de algum especializado no assunto para orientar os alunos ou seno, que houvesse uma capacitao para os professores, a fim de que pudessem orientar os discentes. Notou-se na fala desse professor a indigncia de formao voltada especificamente para o trabalho de orientao sexual. Souza (2010) declara que um dos obstculos enfrentados pelos professores so as classes heterogneas e que o profissional do ensino deve estar apto para habituar-se essa realidade, desempenhando seu papel. Essa uma das causas pelas quais os professores sentem-se incapazes. Outro aspecto so os prprios bloqueios pessoais, visto que a sexualidade um tema permeado por tabus e preconceitos. Foi averiguado se os professores possuem algum tipo de formao em orientao sexual, sendo que 87,5% responderam no, e 12,5% responderam sim. Compreendeu-se que uma parcela maior dos educadores no possui nenhum curso ou especializao no sentido de orientar sexualmente os estudantes. necessrio que o educador tenha acesso formao especfica para tratar de sexualidade com crianas e jovens na escola, possibilitando a construo de uma postura profissional e consciente no trato desse tema. (BRASIL 1998, p. 303). Um curso especfico sobre sexualidade de suma importncia, pois, os professores necessitam entrar em contato com questes tericas, leituras direcionadas, discutir assuntos relacionados de forma a compreender a temtica e enfrentar as prprias dificuldades e empecilhos pessoais. Os PCN (BRASIL 1998) afirma que a formao docente deve ser contnua e sistematizada, permitindo a reflexo da prpria prtica. Os educadores ao serem indagados se conhecessem ou no os PCN para Orientao Sexual, 50% deles disseram sim, entre eles sobressaiu-se o professor P5 que disse que conhecer os Parmetros Curriculares Nacionais uma obrigao de todos os professores. 12,5% afirmaram no ter nenhum conhecimento, assim no tm nenhuma propriedade do documento em questo e 25% falaram conhecer superficialmente. Respectivamente os professores P2 e P3 informaram ter realizado apenas leitura uma rpida sem aprofundamento ou reflexo, isso quer dizer eles no conhecem a fundo as orientaes para auxiliar os docentes em sala de aula prevista nesses documentos e desse modo no podem realizar um trabalho de orientao sexual em conformidade com os PCN para orientao sexual. E outros 12,5% deixam essa questo em branco. Os PCN so um documento de grande valia, pois, trazem orientaes direcionadas para todos os professores de acordo com as reas de ensino e de cada disciplina, salientam sobre a postura profissional do professor, os contedos que devem ser ministrados, entre outros. Os PCN voltados para os temas transversais, por sua vez, trazem indicaes especficas para o tratamento
21
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
desses temas dentro ou fora da sala de aula e constituem uma ferramenta de orientao pedaggica muito importante e vlida. CONSIDERAES FINAIS Mediante a metodologia utilizada neste trabalho, foi possvel concluir que a orientao sexual trabalhada na escola de modo transversal por uma parcela significativa dos educadores estudados. No entanto, existem professores que por insegurana e /ou falta de domnio do tema optam por no trabalhar esse assunto. Outra dificuldade apontada pelos docentes trabalhar de modo interdisciplinar e transversalizado. Um dos docentes pesquisados (professor P8) alegou que a escola necessitaria dispor de profissional especializado na rea para realizar de modo eficaz esse trabalho de orientao acerca da sexualidade, essa afirmao se deve possivelmente a sentimentos de insegurana e incapacidade, oriundos da falta de formao especifica sobre sexualidade, visto que, a maioria dos docentes pesquisados disse no ter nenhum tipo de curso especfico sobre sexualidade. O conhecimento dos PCN sobre Orientao Sexual sobremaneira necessrio para a realizao efetiva da transversalidade e a orientao sexual na escola. Percebeu-se que o estudo e aplicao das orientaes previstas nos PCN para orientao sexual constitui-se um forte elemento para a realizao de um bom trabalho, mas que nem todos os docentes conhecem essas orientaes. Seria interessante a promoo de momentos fora da sala de aula, como oficinas de colagem, confeco de histrias em quadrinhos, construo de jogos e modelos anatmicos, entre outros, pelos prprios alunos sob o direcionamento dos professores. Uma alternativa para sanar inicialmente as dificuldades dos professores em trabalhar sexualidade, o incentivo a conhecer plenamente os PCN sobre Orientao Sexual. REFERNCIAS BRASIL. Secretaria de Educao Fundamental. Parmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Apresentao dos temas transversais/Orientao Sexual. Braslia: MEC/SEF, 1998. p. 303. FORTES, Clarissa Corra. Interdisciplinaridade: origem, conceito e valor. Revista acadmica Senac on-line. 6a ed. setembro-novembro, 2009. SOUZA, Valdinia Aniceto de. Educao Sexual na Escola: desafios e realidade. 2010. Monografia (Graduao: Licenciatura em Pedagogia). UNEMAT e Campus Universitrio de SINOP.
22
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
FORMAO INICIAL DOCENTE: SOB O OLHAR DE LICENCIANDOS EM CINCIAS BIOLGICAS DA FACEDI/UECE
Maria Luciete dos Santos7 Maria Zenilda Costa8 Francisco Mirtiel Frankson de Moura Castro9
RESUMO A formao inicial de professores motivo de muitos debates e reflexes na contemporaneidade por ser a etapa formativa em que o docente constitui a sua identidade e aprende vrios conhecimentos importantes para a sua profisso. Assim, este trabalho objetivou analisar as perspectivas de licenciandos do 9 perodo de Cincias Biolgicas da Faculdade de Educao de Itapipoca (FACEDI), unidade da Universidade Estadual do Cear (UECE), quanto formao inicial docente. O trabalho foi fundamentado em Lima, Maldaner, Pimenta e Pereira, com destaque nos estudos sobre formao docente e saberes profissionais, pautado na abordagem qualitativa e utilizou a entrevista semiestruturada como procedimento de coleta de dados. A entrevista foi desenvolvida com cinco alunos do curso de Cincias Biolgicas, abordando nas indagaes aspectos referentes formao inicial dos entrevistados. Com base nos dados coletados, percebeu-se que os licenciandos consideram a docncia como uma profisso muito complexa e que embora estes estejam concluindo um curso de licenciatura, nem todos aspiram exerc-la. Os resultados revelam que estes professores em formao se encontram em processo de constituio da identidade docente, agregando diferentes conhecimentos ao longo do curso. A problematizao da formao docente enquanto campo investigativo confere identidade licenciatura, o que resulta em um dos aspectos que favorece a valorizao da profisso docente nas reas especficas. PALAVRAS-CHAVE: Formao Inicial de Professores. Perspectivas Discentes. Cincias Biolgicas. INTRODUO A formao para a docncia tem sido nos ltimos anos motivo de muitos debates e reflexes em mbito nacional e internacional, gerando uma mobilizao de todos os seus envolvidos para compreender e melhor formar os profissionais que desenvolvem o processo de ensino. No momento atual, em que se busca uma valorizao da educao, a formao de professores posta como um dos principais elementos que pode interferir diretamente na qualidade educacional.
7 Graduada em Cincias Biolgicas, pela Universidade Estadual do Cear (UECE). E-mail: lucieteramos61@gmail.com 8 Doutora em Educao Brasileira, pela Universidade Federal do Cear (UFC); Professora da Universidade Estadual do Cear (UECE). E-mail: zenildabv@yahoo.com.br 9 Mestrando em Educao Brasileira, pela Universidade Federal do Cear (UFC). Email: mirtiel_frankson@yahoo.com.br
23
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
O professor ocupa um importante papel na sociedade que ultrapassa os muros das escolas. Em virtude disso, faz-se necessrio repensar e refletir sobre a formao do educador, na perspectiva da emancipao de um profissional que seja realmente capacitado a desenvolver tamanha funo que a de formar cidados em meio a tantas outras funes que lhes so concedidas. Para tanto, mudanas necessitam serem realizadas no campo educacional, o que torna imprescindvel que a formao de professores, especialmente, a formao inicial seja alvo de constantes preocupaes. A deciso profissional deve ser constituda gradualmente, no deve ser movida por situaes de impulsos ou por obrigaes. Muitas vezes, porm, o que se percebe uma deciso precipitada, impulsionada pela necessidade de se ter uma profisso. isso que se observa em muitos cursos que formam professores. Os jovens se sentem exigidos a se inserirem no mercado de trabalho e para isso precisam de uma formao acadmica que lhes oferea suporte para isso. Em razo disso, muitos assumem a docncia, inicialmente, como campo de trabalho para se inserir no mercado de trabalho e ao longo dos anos constituem sua identidade docente, agregando diferentes conhecimentos tericos e prticos prxis educativa. Existem, contudo, aqueles que realmente anseiam em se tornarem professores, os quais representam uma parcela mnima da sociedade que tm a docncia como a profisso almejada. Lima (2012) ressalta que no decorrer do trabalho docente o profissional vai se identificando com a docncia. A partir das orientaes apresentadas nas Diretrizes curriculares nacionais para a formao do professor da Educao Bsica, os cursos de licenciatura vm agregando propostas formativas ao curso no sentido de conferir identidade licenciatura como espao para problematizar a prtica docente como campo de pesquisa. Alm dos estgios, o PIBID tem contribudo para promover a prtica no apenas como lugar da exposio de contedos ou modelos didticos, mas tambm como campo investigativo, o que configura um dos aspectos de valorizao da profisso docente. Essa ao, entretanto, no representa o impacto necessrio no cenrio social para fomentar mudanas na valorizao da profisso docente. Em continuidade, h que ser considerado tambm, que em meio a atual desvalorizao enfrentada pelos profissionais da educao, sobretudo pelo professor, a docncia no seja apreciada como uma das profisses mais atrativas a ser exercida por quem sonha em construir um futuro promissor. Pereira (1999) reflete que o desestmulo dos jovens pelo magistrio consequncia, sobretudo, das ms condies de trabalho, dos salrios pouco atraentes, de uma jornada de trabalho excessiva, dentre outros fatores que comprometem a formao de novos profissionais para docncia. importante considerar tambm nesta discusso a funo social que os docentes so chamados a assumirem no seio da sociedade, que se relaciona diretamente com a propagao dos conhecimentos sistematizados ao longo dos anos pela humanidade. Ento, compreende-se que esse profissional deve assumir com compromisso tal funo e ao mesmo tempo deve receber formao que a possibilite desenvolver com xito. Sendo assim, considera-se relevante a realizao de estudos sobre as perspectivas e implicaes da formao inicial com base nas percepes dos alunos em formao. Da situao exposta emergiu o objetivo do presente estudo:
24
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
OBJETIVO GERAL Analisar as perspectivas de licenciandos do 9 perodo de Cincias Biolgicas da Faculdade de Educao de Itapipoca (FACEDI), unidade da Universidade Estadual do Cear (UECE), quanto profisso docente. METODOLOGIA O trabalho realizado apresenta carter qualitativo, e teve como sujeitos cinco alunos do 9 perodo de Licenciatura em Cincias Biolgicas da Faculdade de educao de Itapipoca (FACEDI), unidade da Universidade Estadual do Cear. Como procedimento de coleta de dados foi elaborada uma entrevista semiestruturada e aplicou-se aos cinco licenciandos (identificados pelo seguinte cdigo L1, L2, L3, L4 e L5). A entrevista foi norteada por um roteiro constando quatro perguntas, sendo gravada por meio de udio e vdeo, no intuito de colher informaes dos sujeitos sobre as suas perspectivas quanto profisso docente. Marconi e Lakatos (2003) consideram que o principal objetivo da entrevista a obteno de informaes do entrevistado, sobre determinado assunto ou problema. Aps a aplicao das entrevistas, estas foram transcritas e analisadas. DISCUSSO DOS RESULTADOS Os dados coletados e analisados mostraram que nem todos os licenciandos se sentem motivados em exercer a profisso docente, sendo que o participante da pesquisa L1 ressaltou que a sua desmotivao parte do contexto dos alunos da Educao Bsica que no demonstram um real interesse pelos estudos, fato observado, segundo o participante, durante as suas atividades realizadas no Estgio Supervisionado. Em muitos casos, considera-se que todos os alunos inseridos em cursos de licenciatura realmente querem ser professores, entretanto isso no pode ser generalizado, como caso deste licenciando citado. Concorda-se com Lima (2012) quando expressa que comum achar que todos os estudantes de licenciatura estejam prontos para assumir a sala de aula. Diante disso, confirmado que nem todos os alunos que cursaram ou esto cursando licenciatura realmente desejam se tornarem professores. Entretanto, os demais participantes afirmaram sentirem-se motivados em exercer a profisso de professor, embora percebam que o ofcio docente seja cheio de dilemas a serem vividos e enfrentados e que a profisso no valorizada. Como o Projeto Poltico Pedaggico (PPP, BIO/FACEDI, 2007) do curso de Licenciatura em Cincias Biolgicas da FACEDI expe que o profissional que sair formado da intuio essencialmente o profissional docente, ou seja, o bilogo licenciado, a entrevista buscou saber se os licenciandos j tinham conhecimentos sobre isso ao iniciarem o curso. Apenas o participante L3 afirmou j ter conhecimento do objetivo do curso, o qual formar professores, enquanto que os outros participantes alegaram no terem conhecimento no incio, sobre qual a modalidade de profissional que o curso forma, chegando a acreditarem que formava o profissional bilogo. Acredita-se que estes alunos que consideravam que o curso formava o bilogo no tiveram durante a sua fase pr-universitria conhecimento do verdadeiro sentido de um curso de licenciatura, em especial o da FACEDI.
25
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Outro assunto discutido na entrevista foi com relao formao docente que exigida atualmente, onde os licenciandos envolvidos na pesquisa tiveram que expressar opinies sobre a formao que esto tendo no curso, se esta eficiente e capaz de atender a exigncias da profisso. Portanto, todos os sujeitos afirmaram que o curso apresenta muitas limitaes, tanto na parte fsica do prdio da faculdade como na pedaggica, referindo prtica docente dos professores, que no contribuem significativamente com os alunos para que se identifiquem com a docncia, o curso ainda se apresenta de forma bastante terica. Pimenta e Lima (2008) confirmam que muitos alunos que concluem seus cursos conferem a formao como algo bastante terico. O Participante L5 destacou que alguns de seus professores no deixam ntido em suas aulas que o os contedos apreendidos devem ser disseminados na futura docncia dos alunos, o que ocorre um direcionamento para quem vai trabalhar na rea da sade, como, por exemplo, formao para enfermeiros ou mdicos. Percebe-se, ento, que os licenciandos entrevistados sentem falta de um maior direcionamento por parte de alguns professores universitrios para a profisso para qual esto sendo formados. A docncia no identificada, por parte de alguns professores universitrios, como campo de trabalho por excelncia dos professores em formao. Assim, Maldaner (2000) discute que muitos professores universitrios realmente se comprometem pouco com a questo da formao de professores. Quando se procurou saber sobre as expectativas dos estudantes de Licenciatura em Cincias Biolgicas sobre a profisso docente, a maioria afirmou no terem muito aspirao para o exerccio da docncia. O participante L1 ressaltou que no apresenta boas expectativas sobre a profisso de professor, destacando que a docncia um trabalho bastante sofrido e no valorizado principalmente no que diz respeito a bons salrios. Infelizmente, a docncia vista como uma das profisses mais desvalorizadas do Brasil, sobretudo, essa desvalorizao vem dos prprios governantes que no se comprometem com a formao, ofertando verbas pblicas insuficientes para suprir o mnimo dessas necessidades. Dessa forma, observa-se que alguns licenciandos representam certa resistncia em exercer a profisso para a qual esto sendo formado, conservando a imagem de um profissional frgil, debilitado, sem perspectivas futuras de reconhecimento pelo seu trabalho. Acredita-se que se os licenciandos que at ento no demonstram anseio em se tornarem professores, caso se sintam exigidos a exercer a profisso, medida que estiverem vivenciando-a podem mudar o modo de pensar a respeito da mesma, pois como observa Lima (2012), ao longo do exerccio o profissional pode se identificar com a docncia. Farias et al (2008) refletem que a formao um dos contextos de socializao que permite ao professor reconhecer-se como profissional a partir de suas relaes com os saberes e o trabalho docente. Para tanto, alguns dos entrevistados afirmaram ter boas expectativas sobre a docncia, visualizando-a como uma profisso desafiadora, mas, porm, muito gratificante. Acordamos com esses licenciandos. A profisso de professor realmente desafiadora e cheia de dilemas a serem superados, mas, por outro lado, um exerccio prazeroso, no sentido de que tal profissional contribui com a formao cidad e com o aprendizado dos alunos, e isso deve ser motivo de muito contentamento.
26
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
CONSIDERAES FINAIS Com base na metodologia utilizada neste trabalho, foi possvel concluir que a parte dos alunos entrevistados, do curso de Licenciatura em Cincias Biolgicas da Faculdade de Educao de Itapipoca, reconhece a importncia da profisso docente. Eles tm boas perspectivas e entendem que para exercer tal profisso necessrio dispor de uma boa formao durante o perodo da graduao. Todavia, percebeu-se de acordo com os relatos dos sujeitos que ainda ocorre problemas quanto ao no direcionamento de professores universitrios para o verdadeiro objetivo de um curso de licenciatura, o qual de formar professores. A pesquisa tambm permitiu evidenciar que nem todos os alunos que esto inseridos em um curso de licenciatura tm interesse em exercer a profisso de professor, alegando na maioria das vezes, que esta uma profisso difcil e no valorizada o quanto deveria ser. A partir da pesquisa realizada, foi possvel perceber que a profisso docente no bem vista pelos prprios aprendizes da docncia, os licenciandos, que a consideram como algo desafiador e desvalorizado pela sociedade, principalmente no que diz respeito ao salrio. A formao inicial no contexto da licenciatura, portanto, requer a constituio da profisso docente enquanto campo afirmativo que aborde os conhecimentos de modo interdisciplinar que articule ensino, pesquisa e extenso e sintonia com as principais problemticas da prtica docente. REFERNCIAS BRASIL. Conselho Nacional de Educao. Parecer CNE/CP N. 009, aprovado em 08 de Maio de 2001. Diretrizes Curriculares Nacionais para a formao de professores da Educao Bsica, em nvel superior, cursos de licenciatura, de graduao plena. No homologado por ter sido retificado em Parecer CNE/CP 28/2001. MEC, 2001. FARIAS, Isabel Maria Sabino de. [et al]. Didtica e Docncia: aprendendo a profisso. Fortaleza: Realce Editora e Indstria Ltda, 2008. 55-79p LIMA, Maria socorro Lucena. Estgio e Aprendizagem da Profisso Docente. Braslia: Liber livro, 2012. MALDANER, Otavio Aloiso. A Formao Inicial e Continuada de Professores de Qumica: Professores/Pesquisadores. RS: Ed. UNIJU, 2000. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Cientifica. So Paulo: Atlas, 2003. PEREIRA, Jlio Emlio Diniz. As licenciaturas e as novas polticas educacionais para a formao docente. 1999. Disponvel em: http://www.scielo.br/pdf/es/v20n68/a06v2068.pdf. Acesso em 10/11/2012. PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estgio e Docncia. So Paulo: Cortez, 2008. PPP. Projeto Poltico Pedaggico. Curso de Cincias Biolgicas. Modalidade Licenciatura V.1. Itapipoca CE, 2007.
27
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
UTILIZAO DO TANGRAM NO ENSINO DE CINCIAS
Raquel Crosara Maia Leite10 Rivanildo Barbosa da Silva11
RESUMO Os processos de ensino e aprendizagem exigem recursos didticos que os tornem mais eficientes. Dentre tais recursos o tangram bastante citado para ser utilizado no contexto educacional. Esta pesquisa buscou averiguar as abordagens metodolgicas que utilizam o tangram na educao formal, buscando verificar o uso deste no ensino de cincias. Atravs do levantamento bibliogrfico de artigos cientficos que tratam da utilizao do tangram na educao formal constatou-se que o tangram est sendo utilizado principalmente na disciplina de matemtica, mas pode ser usado de diversas formas em outras disciplinas tais como Cincias, Histria e Informtica. PALAVRAS-CHAVE: Tangram. Ensino de Cincias. Educao Formal. INTRODUO O processo educativo requer utilizao de recursos metodolgicos que auxiliem no processo de aprendizagem significativa. Dentre os diversos tipos de recursos existentes, os jogos didticos so destacados como ferramentas que possibilitam o vnculo entre os aspectos tericos e as caractersticas que estimulam a aprendizagem, uma vez que os estudantes so motivados pelo esprito competitivo do jogo, bem como pela sua dinamicidade e interatividade. Nessa perspectiva, Moratori (2003) afirma que o jogo pode ser utilizado para estimular o desenvolvimento de determinada rea, com a finalidade de promover aprendizagens especficas. Nesse contexto, a escola necessita de estratgias que possam permitir que seus educandos reelaborem conhecimentos de maneira a incorporar valores, habilidades e prticas favorveis sade. Sendo assim, necessria a adoo de abordagens metodolgicas que permitam ao aluno identificar problemas, levantar hipteses, reunir dados, refletir sobre situaes, descobrir e desenvolver solues comprometidas com a promoo e a proteo da sade pessoal e coletiva, e, principalmente, aplicar os conhecimentos adquiridos (BRASIL, 1998). Nesse contexto, os educadores necessitam de alternativas pedaggicas que auxiliem os processos de ensino e aprendizagem de forma mais eficiente (ALMEIDA; MARTINS, 2001).
10 11
Professora Adjunta da UFC. E-mail: raquelcrosara@yahoo.com.br Mestrando em Educao Brasileira (UFC). E-mail: rivcomciencia@yahoo.com.br
28
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Sendo assim, esta pesquisa pretende averiguar as abordagens metodolgicas que utilizam o tangram na educao formal, buscando verificar o uso deste no ensino de cincias. Para isso, inicialmente caracterizamos esse recurso didtico e em seguida descrevemos algumas pesquisas cientficas que relataram a abordagem do tangram na educao formal. Utilizao de Tangrans no processo de ensino-aprendizagem O tangram um jogo milenar que exige astcia e reflexo. Atravs do corte de um quadrado, sete peas criam juntas, formas humanas, abstratas e objetos de diversos formatos. Originrio da China, pouco se sabe da verdadeira origem do tangram (MOTTA, 2006). O tangram um quebra-cabea formado de sete peas geomtricas oriundas de um quadrado. As peas que compem esse jogo so as seguintes: dois tringulos issceles congruentes grandes, dois tringulos issceles congruentes pequenos, um tringulo mdio, um quadrado e um paralelogramo, conforme est apresentado na Figura 7 (FLORA, 2008).
Figura 7 Representao do Tangram Tradicional. Fonte: http://portalcrescer.blogspot.com/2011_02_01_archive.html
Segundo Motta (2006), atravs das peas do tangram tradicional possvel formar aproximadamente 1700 configuraes, atendendo duas condies: a primeira que as peas devem ficar justapostas, e nunca sobrepostas, e a segunda que todas as peas devem ser utilizadas. A Figura 2 mostra algumas configuraes que podem ser formadas com o tangram tradicional. A mais antiga publicao com exerccios de Tangram data do incio do sculo XIX. Esse jogo foi disseminado rapidamente para os Estados Unidos e Europa e ficou conhecido como o puzzle chins. Desde ento, so criados Tangrans em todos os tipos de materiais, desde carto at pedra, plstico ou metal. Uma Enciclopdia de Tangram foi escrita por uma mulher, na China, h 130 anos. Essa publicao foi composta por seis volumes e contm mais de 1700 problemas para resolver (ALVES, 2010).
29
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Figura 8 Representao de configuraes formadas atravs do tangram tradicional. Fonte: SILVA, 2011
METODOLOGIA CARACTERIZAO DA PESQUISA Este estudo possui natureza qualitativa. De acordo com Minayo (1995) na pesquisa qualitativa no feito o uso de dados estatsticos na anlise do problema, no existindo, portanto, pretenso de numerar ou medir unidades ou categorias homogneas. A pesquisa apresenta, ainda, carter exploratrio e descritivo, conforme Severino (2007), o qual afirma que a tipologia exploratria caracteriza-se apenas por levantar informaes sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho e mapeando as condies de manifestao desse objeto. Por sua vez, de acordo com Barros e Lehfeld (2000) essa pesquisa descritiva, pois no existe interferncia do pesquisador, isto significa que este se limita a descrever o objeto de pesquisa. PROCEDIMENTO METODOLGICO Atravs do site de busca Google acadmico foram pesquisados os artigos cientficos que tratam da utilizao do tangram na educao formal. O objetivo principal desta busca era identificar a existncia de trabalhos cientficos que abordassem a utilizao do tangram no ensino de Cincias. Alm disso, mesmo o artigo retratando o uso do tangram em outra rea da educao formal, este foi lido com a finalidade de identificar em quais disciplinas est sendo utilizado este recurso didtico e quais os temas que esto sendo contemplados associados sua utilizao no contexto educacional. O critrio utilizado para realizar a busca dos artigos atravs do Google acadmico consistiu neste site ser uma ferramenta acessvel e de fcil manuseio, no qual os docentes podem tambm buscar esses trabalhos para utilizar (suas orientaes) em sala de aula. A palavra-chave utilizada no site foi tangram justamente para propiciar uma busca com grande amplitude. Dentre os 120 primeiros links propostos para a pesquisa, apenas treze artigos cientficos com acesso livre e direto foram encontrados, isso significa que o link permitia abrir diretamente o artigo. Existiam links que exigiam cadastro no site para permitir o acesso aos artigos cientficos, estes no foram consultados.
DISCUSSO DOS RESULTADOS
A UTILIZAO DO TANGRAM NO ENSINO DE CINCIAS Apenas o artigo Explorando o tangram numa proposta didtica: uma atividade interdisciplinar entre Cincias, Matemtica e Histria relacionava utilizao do tangram ao ensino de Cincias. Nesse trabalho os autores relacionaram as disciplinas de Histria e Cincias ao
30
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
uso do tangram atravs da elaborao e contao de uma histria, fazendo analogia a fatos marcantes da evoluo do homem no planeta, desde sua origem at a modernidade. As histrias eram elaboradas a partir de representaes montadas atravs do tangram. Segundo os autores o objetivo da atividade era fazer observador (espectador da histria) viajar no tempo, conhecer sua origem e conduzi-lo a reviver a sua prpria histria.
Figura 9 Representao da evoluo humana, atravs do tangram. Fonte: Silva, Rgo (2012)
Os alunos fizeram a opo de contar a histria da evoluo do homem partindo da imagem do Tangram (Figura 9) utilizando ao lado das imagens um texto de fcil leitura e recorrendo algumas vezes ao uso de mensagens com tom humorstico. Conforme os autores essas atividades mostraram-se satisfatrias e o projeto possibilitou o despertar de aes inovadoras, criativas e de explorao artsticas desses alunos. Vale ressaltar que paralelamente a essas atividades o tangram tambm foi usado na disciplina de matemtica para abordar assuntos no qual ele pudesse contribuir para a aprendizagem. A UTILIZAO DO TANGRAM EM OUTRAS DISCIPLINAS Todos os 13 artigos encontrados associam o uso do tangram ao ensino de matemtica principalmente para trabalhar os contedos ligados geometria (rea, permetro, figuras planas). Vale ressaltar que alguns trabalhos destacam que o uso do tangram pode contemplar outros assuntos alm daqueles discutidos na geometria, tais como raciocnio lgico, fraes, porcentagem, grandezas diretamente proporcionais entre outros. Por fim, o trabalho intitulado Linguagem orientada por formas geomtricas, voltada ao ensino de programao descreve a concepo e implementao de um ambiente de programao visual, com o intuito de facilitar o ensino de programao de computadores, mostrando que o tangram pode ser utilizado tambm para facilitar a aprendizagem na rea de informtica. CONSIDERAES FINAIS O tangram um recurso que pode auxiliar nos processo de ensino e aprendizagem de diversas disciplinas na educao formal. Esse recurso didtico est sendo utilizado principalmente na disciplina de matemtica, mas pode ser usado de diversas formas em outras disciplinas. A utilizao do tangram em outras disciplinas mostra-se possvel, pois dois trabalhos relatam a experincia de aplicao do tangram para proporcionar a aprendizagem nas reas de Cincias, Histria e Informtica (programao).
31
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Propomos, portanto, o desafio de educadores buscarem abordagens metodolgicas que contemplem a utilizao do tangram com a finalidade de motivar e atingir a aprendizagem significativa em diversas reas, inclusive na disciplina de Cincias Naturais. REFERNCIAS ALMEIDA, L. M. W; MARTINS, N. Modelagem Matemtica: uma aplicao usando a merenda escolar. Anais eletrnicos do VII ENEM Encontro Nacional de Educao Matemtica. Rio de Janeiro, 2001. ALVES, Edmar Jos. Tangram: Guardado a sete chaves. 2010. Disponvel em: <http://www.sbmac.org.br/eventos/cnmac/xxxiii_cnmac/pdf/545.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2011. BARROS, Aidil Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de. Fundamentos de Metodologia Cientfica: um guia para a iniciao cientfica. 2. ed. ampl. So Paulo: Pearson Education do Brasil, 2000. BRASIL. Ministrio da Educao. Secretaria de Educao Fundamental. Parmetros curriculares nacionais: cincias naturais / Secretaria de Educao Fundamental. Braslia: MEC/SEF, 1998b. FLORA, Sandra Di. Tangram. 2008. Disponvel em: http://matematicamania.wordpress.com/category/curiosidades/tangram/>. Acesso em: 27 set. 2011. MINAYO, Maria Ceclia de Souza. (org.). et al. Pesquisa Social: Teoria, mtodo e criatividade. 4. Ed. Petrpolis: Vozes, 1995 MORATORI, Patrick Barbosa. Por que utilizar jogos educativos no processo de ensino aprendizagem?. 2003. Disponvel em: <http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/PatrickMaterial/TrabfinalPatrick2003.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2011. MOTTA, Ivony Aparecida Rodrigues da. Tangram. Guaratinguet. 2006. SEVERINO, Antnio Joaquim. Metodologia do Trabalho Cientfico. 2007. 23 ed. 3 reimpresso. Ed Cortez.
32
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
LIBRAS E O ENSINO DE CINCIAS: CONTRIBUIES PARA O APRENDIZADO DE ALUNOS SURDOS
Carmen Virgnie Sampaio Avelino12 Francisco Mirtiel Frankson Moura Castro13 Maria Luciete dos Santos14 Bruna Krcia Sousa Lima15
RESUMO Este estudo teve como OBJETIVO GERAL analisar a importncia da LIBRAS para o processo de aprendizagem dos alunos surdos, quanto apropriao dos conhecimentos de Cincias. A pesquisa foi desenvolvida com base na abordagem qualitativa, apresentando como procedimento de coleta de dados um questionrio, constando cinco perguntas abertas, as quais tiveram como intuito compreender o nvel de aprendizado dos participantes da investigao sobre a disciplina de cincias por intermdio da LIBRAS. Com amparo nas anlises e discusses dos dados coletados em relao ao tema abordado foi evidenciado que de grande importncia o uso da Libras como auxlio na mediao da aprendizagem dos alunos na disciplina de Cincias. Isso faz com que o professor traga para as salas de aula propostas pedaggicas adequadas realidade dos alunos, que atualmente se fazem necessrias e urgentes, pois os alunos ainda so estigmatizados, por trazerem sequelas de uma histria de lutas pelos seus direitos. Assim, pode-se concluir com base no estudo realizado que os alunos surdos, sujeitos da pesquisa, possuem dificuldades na compreenso dos contedos de Cincias por no dispor do pleno conhecimento da lngua dos sinais. PALAVRAS-CHAVE: Alunos Surdos. Libras. Ensino de Cincias. Aprendizagem. INTRODUO Por muitos anos as pessoas com deficincia foram tratadas com desprezo e desrespeito quanto aos seus direitos na sociedade, o que os motivou a se organizarem e promoverem grandes movimentos de participao poltica em todo o mundo. Com o passar do tempo essas pessoas so denominadas diferentes ou deficientes. Segundo Magalhes (2002, p.25) diferente aquilo que desvia das normas a partir de determinados critrios. J a deficincia pode-se ser dita como um dficit, como uma falta. Frente a isso, desenvolve-se a Educao Especial, que se apresenta com uma proposta de insero de pessoas que apresentem necessidades especiais em escolas. Tal
Licencianda em Cincias Biolgicas, pela Universidade Estadual do Cear (UECE). E-mail: carmensampaio85@gmail.com 13 Mestrando em Educao Brasileira, pela Universidade Federal do Cear (UFC). E-mail: mirtiel_frankson@yahoo.com.br 14 Graduada em Cincias Biolgicas, pela Universidade Estadual do Cear (UECE). E-mail: lucieteramos61@gmail.com 15 Licencianda em Cincias Biolgicas, pela Universidade Estadual do Cear (UECE). E-mail: brunakercia18@gmail.com
12
33
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
insero passa a ser o principal elemento que poder propiciar a formao desses indivduos perante a sociedade, acreditando que atravs da incluso essas pessoas possam apreender os conhecimentos historicamente sistematizados ao longo dos anos pela humanidade. Com isso, a educao passa a ser o principal campo que poder propiciar a qualidade de vida desses indivduos. No Brasil a histria da Educao Especial iniciou-se a partir de acontecimentos que se expandiam por todo o mundo, tais acontecimentos se basearam na busca pela conquista da permisso para o uso da Lngua Brasileira de Sinais-LIBRAS, sendo esta oficializada no somente no de 2002. Caracterizando-se primeiramente a atender a uma sociedade que apresentasse valores financeiramente maiores, deixando as classes populares sem oportunidades de acesso educao. Todo esse processo foi realizado de forma lenta, at se chegar as grandes lutas por conquistas dos direitos dos deficientes. No contexto histrico da educao dos surdos apresentam-se as lutas por novas prticas pedaggicas, sendo adotadas diferentes metodologias que se se tornaram em habilidades a serem desenvolvidas por educadores para com os deficientes auditivos. Fato que ocorreu para que os deficientes auditivos pudessem desenvolver uma linguagem e uma melhor aprendizagem, pois por muito tempo pensava-se que estas pessoas fossem incapazes de uma socializao ou at mesmo dignos de adquirir qualquer conhecimento. Mas, no decorrer dos anos, com as lutas de seus direitos conquistados foram elaborados elementos que sistematizaram uma melhor qualidade na educao dos surdos. Considerado correntes pedaggicas para o ensino de surdos o: Oralismo, Comunicao Total e Bilinguismo. Ao ser aplicar o Bilinguismo, o educando ser exposto, no primeiro momento na Lngua de Sinais e posteriormente na Lngua Portuguesa, havendo todo um preparativo para sua aplicao. J no mbito escolar de acordo com (MENEZES; FEITOSA, 2010, p.15) A Educao Inclusiva ganha espao a partir da LDB n 9394/96, que vem oferecer ao sistema de ensino formas de atendimento assistencialista para que os alunos em seu ambiente escolar desenvolvam competncias para que estas lhes garantam uma melhor insero dentro da sociedade. A participao das Cincias no processo de aprendizagem implica na em primeiro lugar em uma conscientizao cientifica dos alunos, a fim de possibilitar a compreenso dos contedos, auxiliados por metodologias capazes de facilitar a interpretao dos contedos. Assim, trabalhar o ensino de cincias com os alunos consiste em desenvolver novas habilidades pedaggicas, proporcionando nessas, capacidades para uma melhor transformao no contexto social em que o aluno se insere, permitindo-lhes um melhor desenvolvimento cognitivo. O contedo das cincias deve ser ensinado de modo mais contextualizado, para que o aluno analise criticamente os conceitos cientficos assimilados durante a aula. Para isso, o uso da lngua natural do educando surdo faz-se necessrio, para que este possa aprender o contedo oferecido. Partindo do exposto surge a seguinte inquietao, que desdobrada no OBJETIVO GERAL desta pesquisa, citados a segui: qual a importncia da LIBRAS para o processo de aprendizagem dos alunos surdos, quanto apropriao dos conhecimentos de Cincias? OBJETIVO GERAL
34
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Analisar a importncia da LIBRAS para o processo de aprendizagem dos alunos surdos, quanto apropriao dos conhecimentos de Cincias. METODOLOGIA Esta pesquisa de cunho qualitativo, foi desenvolvida no primeiro semestre de 2013. Em uma escola da rede municipal de Ensino, localizada em Itapipoca-CE. Segundo Ludke e Andr (1986) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados que so predominantemente descritivos. O procedimento escolhido para a coleta de dados desta pesquisa foi o questionrio, aplicado com 15 alunos surdos, que fazem parte de uma turma multiseriada (tendo alunos do 6 ao 9 Ano). Abordaram-se cinco perguntas abertas, que buscaram saber dos envolvidos na investigao as suas compreenses referentes temtica em estudo. Para tanto, os alunos responderam ao questionrio de forma individual, onde alguns participantes apresentaram dificuldades na leitura do instrumento, contando com o auxlio da professora e da interprete da sala. O questionrio permite o sujeito responder de forma explicativa e com clareza cada pergunta sugerida, para que possam levar os participantes a manifestarem suas opinies. O questionrio, segundo Severino (2007, p. 125), o conjunto de questes, sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informaes escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinio dos mesmos sobre os assuntos em estudo. Alm disso, a anlise dos dados pautada na contribuio de diferentes autores que discutem a temtica pesquisada e contribuem com a reviso da literatura desta investigao, como: Feltrini, Magalhes, Menezes, Feitosa e Prince. DISCUSSO DOS RESULTADOS O procedimento desenvolvido para a anlise dos dados fundamentou-se na reviso da literatura e na interpretao das respostas dos participantes da investigao. Ao serem questionados se gostam da disciplina de cincias, a maioria disse que sim, desatando: Eu gostar aula importante; Eu gostar aprender importante. Diante das respostas dadas ao questionamento, compreende-se que os alunos colaboradores da pesquisa, demonstraram interesse pelo aprendizado, sobretudo, pela disciplina de cincias. Fato este, que de certo modo, revela que apesar da rea das Cincias Naturais ser considerada como uma das mais complexas, desperta o interesse de alunos que apresentam necessidades especiais. Brasil (1998) reflete que a compreenso da cincia, deve ser buscada a partir da realidade, fazendo com que o aluno construa conceitos cientficos sobre tudo o que o cerca, como tambm est atento s mudanas e descobertas. Em relao importncia das cincias para o cotidiano dos discentes, eles relataram que esta relevante para a existncia da vida: Precisar aprender vida; Importante aprender vida animais plantas. Ao discutir esse enfoque, os respondentes entendem a importncia da disciplina de Cincias no cotidiano, ressaltando a relevncia da aprendizagem sobre o estudo da vida de
35
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
plantas e animais. Assim, pode-se perceber que os alunos entendem os contedos bsicos e, portanto, fundamentais das Cincias da Natureza. Questionados sobre o nvel de assimilao dos alunos referente aos contedos de cincias, estes, relatam que pelo fato do no conhecimento necessrio de todos os sinais acaba interferindo em uma boa leitura dos contedos das disciplinas. Por isso no compreendem o contedo de cincias: Eu aprender muito pouco porque palavras poucos nomes diferentes. Observa-se neste trecho que os alunos sentem dificuldades na disciplina de cincias, advindas de uma no compreenso de alguns sinais, o que sugere que os professores passem mais tempo trabalhando o mesmo contedo. Assim, verifica-se tambm a complexidade do trabalho do professor, tendo que se habituar a situaes diversas, fato que indica que esse profissional necessita de uma contnua e slida formao. Prince,( 2011 p. 29) relata que a escassez de sinais para termos cientficos decorrente do histrico da educao de surdos. Quando foram perguntados sobre qual a relao da LIBRAS com o conhecimento na disciplina de cincias, os alunos afirmam no aprendem todos os sinais, prejudicando-se com os contedos oferecidos. Apesar de afirmarem que a sua lngua natural, porm os alunos no consegue assimilar os contedos: Libras aprender pouco mais menos; Aprender libras pouco. As respostas aqui coletadas comprovam a resposta dada ao questionamento anterior, onde os participantes tambm falaram das dificuldades em entender alguns certos sinais em que interferem diretamente no aprendizado da disciplina de cincias. De acordo com Feltrini, (2006, p.25): O professor de Biologia deve ter em mente que a LIBRAS no estabelece a comunicao entre ele e seus alunos, mas por meio dela que eles iro atribuir significados ao contedo, uma vez que a compreenso de conceitos cientficos depende da comunicao em sala de aula. Os alunos foram questionados a respeito se a LIBRAS diminui sua concepo dos contedos nas aulas de cincias, os participantes afirmam que os sinais no os deixam compreender o contedo, ou seja, pelo fato dos alunos no aprenderem decorrente do uso da lngua natural que os alunos utilizam: [...] aprender nada precisar falar ns gostar; [...] deixa no aprender entender no sinais, sinais ensinar nada; Libras deixa aprender no ensinar no. Diante do exposto as limitaes que os alunos relatam trazem um histrico muito comum entre a vida pessoal de cada aluno surdo. Devido maioria dos surdos ser filhos de pais ouvintes acaba no sendo exposta a sua lngua natural, que a de sinais, esse contato acontece tardiamente. Isso acontece devido falta de informao dos pais que de incio at rejeitam o fato do filho ser surdo e no aceitam a surdez do filho, dificultando ainda mais a aprendizagem desses alunos. CONSIDERAES FINAIS Os alunos surdos pesquisados demonstram conhecimentos bsicos dos contedos de cincias, mas, sentem dificuldades na compreenso de muitos assuntos referentes a tal disciplina, devido falta de uma maior contextualizao da Linguagem dos Sinais com a disciplina em destaque. Assim, fundamental que o professor da rea de Educao Especial receba uma melhor formao, que implique, por exemplo, na utilizao de metodologias de ensino que aproxime mais os alunos com necessidades especiais do contedo exposto. V- se, portanto a urgncia de
36
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
iniciativas que isole modelos metodolgicos j existentes onde se resumem no conservadorismo, e sim em constituir prticas que reconheam e valorize as diferenas como um todo a ponto de excluir por total todos os esteretipos existentes nesses alunos e na sociedade como um todo. Faz-se necessrio o uso da lngua natural como mediadora para auxiliar na assimilao do conhecimento. Os participantes da pesquisa apresentaram certa dificuldade para a assimilao e compreenso dos contedos, por no terem um maior conhecimento da sua prpria lngua natural, no caso a LIBRAS. Compreende-se que os seus conhecimento e desenvolvimento cognitivo so prejudicados, dificultando ainda mais a aprendizagem dos alunos surdos. Com amparo nas respostas das questes apresentadas nesta pesquisa, compreende-se a relevncia de valorizar a busca por outras propostas pedaggicas que possam transformar de modo positiva a educao para todos os alunos, respeitando a aprendizagem e qualidade que o discente tem por direito a aprender. REFERNCIAS BRASIL. Secretaria de Educao Fundamental. Parmetros Curriculares Nacionais: Cincias Naturais/ Secretaria de Educao Fundamental. Braslia: MEC/SEF, 1998. FELTRINI, G. M. Aplicao de modelos qualitativos `educao cientfica de Surdos. 2009. Dissertao (Ps- Graduao em Ensino de Cincias- Universidade de Braslia, Braslia, 2009. LUDKE, M.; ANDR, M. Pesquisa em Educao: abordagens qualitativas. So Paulo: Editora Pedaggica e Universitria- EPU, 1986. MAGALHES, R de. C. B.(Org). Reflexes sobre a diferena: uma INTRODUO educao especial. Fortaleza: Edies Demcrito Rocha, 2002. MENEZES, J. E. S.A de. ; FEITOSA, C. R de S. Libras. Fortaleza: Demcrito Rocha, 2010. PRINCE, F. M. C. G. Ensino de Biologia para Surdos: conquistas e desafios da atualidade. 2011. 67f. Monografia (Licenciatura em Cincias Biolgicas) Universidade Presbiteriana Marcenziek, So Paulo, 2011. SEVERINO, Antnio Joaquim. Metodologia do trabalho cientfico. 23. ed. rev. E atualizada. So Paulo: Cortez, 2007.
37
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
A PRTICA DOCENTE NA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: IMPLICAES PARA O ENSINO REGULAR DAS CINCIAS DA NATUREZA
Larissa Menezes Farias da Costa16 Gerciane Maria da Costa Oliveira17 Francisco Mirtiel Frankson Moura Castro18
RESUMO Este estudo objetivou investigar a prtica de ensino da professora da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) do Ensino Mdio, espao destinado ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), a fim de perceber como este ambiente favorece o acesso ao currculo da rea das Cincias da Natureza. O estudo foi fundamentado nos seguintes autores: Alves, Ropoli et al., Mendes, entre outros. Trata-se de um estudo qualitativo, realizado por intermdio de pesquisa de campo, realizada com professores do Ensino Mdio da rea das Cincias da Natureza. Para a realizao da coleta dos dados foram desenvolvidas observaes do contexto da SRM e entrevista com a profissional que atua neste espao e professores das salas regulares. As anlises proporcionaram constatar que o apoio conferido pela SRM de fundamental importncia para o desenvolvimento dos ANEE no ensino regular. Entretanto, notrio que o professor deste ambiente ainda encontra-se despreparado pedagogicamente para desenvolver esse trabalho, comprometendo em determinados aspectos o processo educativo, tendo em vista as diversas limitaes que possui. H que ser considerado, tambm, que a existncia dessa sala representa avanos no processo de incluso que revela ainda muitos desafios e entraves educacionais a serem superados. PALAVRASCHAVE: Incluso. Sala de Recursos Multifuncionais. Prtica Docente. Cincias da Natureza. INTRODUO O sistema educacional tem diante de si o desafio de encontrar alternativas para que haja o completo acesso e a permanncia dos educandos nas instituies de ensino. Dessa forma, as escolas precisam se estruturar a fim de responder diversidade com a qual ter que lidar durante o processo de educao, valorizando a riqueza da convivncia e do aprendizado mediante as diferenas. A escola que deve adequar-se ao aluno e no vice-versa, de modo a romper com atitudes discriminatrias, dando visibilidade ao sujeito com deficincia, configurando, assim, um ambiente educativo favorvel a todos.
Graduada em Cincias Biolgicas, pela Universidade Estadual do Cear (UECE). E-mail: larissa.mnezes@gmail.com 17 Doutoranda em Sociologia, pela Universidade Federal do Cear (UFC). Email: gercianemco@uol.com.br 18 Mestrando em Educao Brasileira, pela Universidade Federal do Cear (UFC). Email: mirtiel_frankson@yahoo.com.br
16
38
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Esta concepo de incluso esta assegurada na Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional (LDB), n 9394/96, quando define que a oferta da Educao Especial deve acontecer preferencialmente na rede de ensino regular, de forma que a escola deve organizar-se para assistir os Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE), possibilitando aos mesmos uma educao de qualidade (BRASIL, 1996). Nessa perspectiva, que considera a classe comum como ambiente de aprendizagem do aluno, surge a proposta da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), espao destinado ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), proporcionado aqueles que, em algum momento do seu processo educativo, venha a apresentar necessidades educacionais especiais, tendo como principal objetivo apoiar o ensino comum, complementando e/ou suplementando o aprendizado destes educandos, na busca de superar obstculos que impedem o acesso destes sujeitos s classes comuns do ensino regular. A SRM, portanto, deve articular-se com o ensino regular, visto que ambos, apesar de apresentarem funes distintas no processo de aprendizagem, participam da educao do ANEE e precisam estabelecer uma comunicao ativa, a fim de proporcionar o suporte necessrio para o desenvolvimento e incluso deste educando. Sendo necessrio, tambm, que se oferea uma melhor formao aos professores, sejam eles do contexto comum ou do AEE, haja vista que estes ainda consideram um grande desafio lidar com alunos que apresentem algum tipo de deficincia. Para tanto, este estudo teve como objetivo investigar a prtica de ensino da professora da SRM, a fim de perceber como este ambiente favorece o acesso ao currculo da rea das Cincias da Natureza. Diante disto, surgem os questionamentos que estimularam e nortearam a execuo desta pesquisa: Como se d a prtica docente na SRM? Como o atendimento nesta sala contribui para o ensino regular, mais especificamente para o acesso ao currculo das Cincias da Natureza? De que forma ocorre a articulao entre a SRM e a classe comum? Tais inquietaes subsidiaram o desenvolvimento deste estudo. OBJETIVO GERAL Investigar a prtica de ensino da professora da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), espao destinado ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), a fim de perceber como este ambiente favorece o acesso ao currculo da rea das Cincias da Natureza. METODOLOGIA Esta pesquisa baseada em uma abordagem qualitativa, considerada como uma pesquisa de campo, a qual permite ao pesquisador estar inserido no universo dos sujeitos investigados e, com isso, como expe Farias et al. (2010), confirmar ou refutar os pressupostos adquiridos durante a investigao. Como fonte de informaes foram escolhidos a docente atuante na SRM e trs professores do ensino mdio que lecionam em classes comuns as disciplinas de Fsica, Qumica e Biologia e que, por sua vez, possuem em suas turmas alunos com necessidades educativas especiais que recebem atendimento na SRM. A coleta dos dados se deu atravs de observaes sistemticas do contexto da SRM e entrevistas com a docente da SRM, que foi orientada por um roteiro semiestruturado com 15 questes e com os professores do ensino regular, os quais se
39
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
encontram denominados como P1, P2 e P3, e que, tambm, foi norteada por um roteiro semiestruturado e composta por 10 questes. Aps a coleta dos dados foram feitas as anlises e as respectivas interpretaes. DISCUSSO DOS RESULTADOS Segundo os dados coletados, ao ser questionado a docente da SRM sobre a sua escolha por atuar no AEE, a mesma destaca em sua resposta que tem interesse por esta rea e por atuar na SRM, mesmo que a opo tenha sido influenciada tambm por sua aposentadoria. No entanto, percebe-se que, muitas vezes, os profissionais procuram lecionar nestes ambientes escolares, a fim de atender suas prprias necessidades, sem pensar que tal atitude poder influenciar no aprendizado dos alunos, prejudicando o processo de ensino e aprendizagem. necessrio, portanto, que o professor compreenda seu papel na AEE, a fim de desempenhar sua funo da melhor maneira possvel. Neste sentido, percebe-se que o educador da SRM deve favorecer a aprendizagem do aluno no ensino regular, no intuito, tambm, de realizar o dilogo constante com o professor da classe regular. Sobre a funo deste profissional, Alves (2006) considera como o de atuar visando complementao ou suplementao curricular especfica dos ANEE, colaborando com o professor da classe comum, a fim de definir estratgias pedaggicas que favoream o acesso ao currculo e promovendo a sua incluso. Neste sentido, os professores das Cincias da Natureza colocaram que observam a contribuio da SRM ao ensino regular como um subsdio oferecido ao aluno no que condiz a sua comunicao, facilitando sua articulao nas atividades escolares, bem como a acessibilidade das disciplinas trabalhadas no contexto comum, salientando que anteriormente o apoio conferido era bem mais efetivo, devido a formao da professora e, alm disso, vale destacar, tambm, que um dos professores discute que no observa nenhuma contribuio, por parte da SRM. Diante dessas concepes, torna-se evidente a necessidade de se realizar um trabalho mais eficaz nesse espao, de modo a favorecer a atuao do ANEE na classe comum, j que essa um das principais atribuies deste ambiente. Portanto, visando uma melhor compreenso sobre esse contexto, indagou-se a respeito das atividades desenvolvidas na SRM e como so selecionadas. De acordo com a resposta da professora, pode-se concluir que as atividades realizadas so estabelecidas mediante a deficincia do aluno, a qual indicada em um diagnstico mdico. Deste modo, elaborado um plano de trabalho para cada educando e a partir disso so planejadas as atividades e os recursos didticos utilizados no seu processo de aprendizagem. Fato percebido durante os momentos de observao do contexto da SRM, em que as atividades realizadas com os alunos foram selecionadas pela professora tendo em vista um estudo de caso dos ANEE, considerando suas principais dificuldades e suas facilidades. A SRM frente ao ensino regular apresenta-se como uma forma de impulsionar e contribuir para o desenvolvimento do ANEE, tornando acessveis os currculos das diversas reas do conhecimento. Dessa forma, buscou-se verificar como os assuntos trabalhados nesta sala se
40
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
adquam ao currculo, em especfico ao das Cincias da Natureza. A professora da SRM colocou que essa articulao ocorre por meio de um auxlio que oferecido ao aluno quando este vai realizar uma avaliao que envolva estas reas, traduzindo o material para o educando para o Braille e para a Lngua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e, assim, tornando-o acessvel ao discente. Vale concordar com Alves (2006), quando articula que as aes desenvolvidas nesse espao de apoio ao aluno com dificuldades de aprendizagem no podem ser confundidas com aulas de reforo ou atividades de repeties dos contedos trabalhados em sala de aula, mas deve constituir um conjunto de procedimentos que permitam ao aluno apropriar-se do conhecimento. mencionado pela professora da SRM, tambm, o uso de jogos e frmulas em alto relevo quando esta vai trabalhar com os alunos assuntos relacionados s Cincias da Natureza. Esses instrumentais, portanto, tm como objetivo proporcionar determinadas aprendizagens, de forma a melhorar o desempenho dos discentes. Ainda neste sentido, os professores da rea das Cincias da Natureza, afirmaram que o atendimento na SRM vai alm de uma constituio que visa a promoo do conhecimento, proporciona ao alunado sentir-se mais seguro, j que prepara o estudante com subsdios fundamentais para que este possa experienciar ativamente todo o cotidiano escolar. Entretanto, um dos professores apresenta uma abordagem diferente, afirmando no observar nenhuma contribuio da SRM a sua disciplina, fato que se d, segundo ele, devido a formao da professora. No que tange as dificuldades encontradas pela docente da SRM, pode-se perceber que um dos maiores problemas se d pelo fato desta profissional no conhecer o Braille e a LIBRAS, o que torna difcil uma articulao efetiva entre ela e os alunos com deficincia visual e auditiva, uma vez que, como aponta Alves (2006), das atividades curriculares especficas realizadas no AEE na SRM destacam-se o ensino da LIBRAS, do sistema Braille e do Soroban, da comunicao alternativa, do enriquecimento curricular, entre outros. Tais dificuldades de comunicao prejudica de forma expressiva desenvolvimento destes alunos no ensino regular. Conforme coloca Ropoli et al. (2010) a aproximao do ensino comum com a Educao Especial se constitui a partir do momento que as necessidades de alguns alunos exigem o encontro, a troca de experincias e a busca de condies favorveis para que haja um melhor desempenho destes no domnio escolar. Com o intuito de verificar a interao entre os profissionais do contexto especial e do ensino regular, foi questionado sobre a relao estabelecida entre a docente da SRM e os professores das disciplinas da rea das Cincias da Natureza. A professora da SRM expressou em sua resposta que a interao ocorre por meio de dilogos, nos quais o professor do AEE procura verificar o desempenho do ANEE no contexto comum. Os docentes do ensino regular apresentam concepes distintas, onde dois destes professores, P1 e P2, colocam que h, sim, uma relao entre eles e a professora da SRM, mesmo que em suas respostas tenha ficado evidente que trata-se de uma relao que chega a ser um pouco superficial. J o P3 se expressa, dizendo que at agora no houve nenhum contato com esta profissional.
41
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
No entanto, Bueno (1999), acorda que para se estabelecer um ensino de qualidade oferecido s pessoas com necessidades educacionais especiais, partindo de uma perspectiva inclusiva, um dos fatores a serem considerados, os dois tipos de professores que atuam nesse contexto, os generalistas, do ensino regular e os professores especialistas nas diferentes necessidades educativas especiais, seja para trabalhar diretamente com os alunos, seja para apoiar o trabalho realizado pelos professores de classes regulares que integrem esses alunos. Dessa forma, compreende-se que a incluso escolar se constitui de forma coletiva com a participao de todos aqueles que favorecem a educao dos indivduos com necessidades educacionais especiais. CONSIDERAES FINAIS Por meio deste estudo foi possvel perceber que o atendimento oferecido na SRM tem contribudo para que os ANEE tenham acesso ao currculo das Cincias da Natureza, porm, o profissional atuante neste contexto ainda tem se mostrado bastante despreparado para desenvolver prticas de ensino nestas reas, haja vista que este professor da SRM precisa considerar, no somente as necessidades educacionais especiais que os alunos possuem, mas as diversas reas do conhecimento, a fim de promover os diversos tipos de acessibilidade ao currculo. Porm percebese a necessidade de se compreender o verdadeiro significado da SRM na escola regular e de se estabelecer uma relao mais ntima entre este espao e a classe comum, pois, como analisado, h uma relao entre estes dois ambientes, mas, nota-se que esta ainda acontece de forma superficial. Partindo desse pressuposto, que se verifica quo importante a valorizao das diferenas no mbito escolar, preparando os docentes para atuar mediante a heterogeneidade de uma sala de aula, para que, assim, se desenvolva uma prtica de ensino mais significativa a todos os sujeitos, transformando a instituio de ensino em um local que de fato assiste a todos os alunos, independente de suas particularidades. REFERNCIAS ALVES, D. O. Salas de Recursos Multifuncionais: espao para atendimento educao especializado. Braslia: Ministrio da Educao, Secretaria de Educao Especial, 2006. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional. Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996. BUENO, J. G. da S. Crianas com necessidades educativas especiais, polticas pblicas e a formao de professores: generalistas ou especialistas? In: Revista Brasileira da Educao Especial. N 5,1999. FARIAS, I. M. S.; SILVA, S. P.; THERRIEN, S. M. N.; SALES, J. A. M. Trilhas do labirinto na pesquisa educacional qualitativa: dos procedimentos de coletas de dados ao trabalho de campo. In: Pesquisa cientfica para iniciantes: caminhando no labirinto. Fortaleza: EdUECE, 2010. ROPOLI, E. A.; MANTOAN, M. T.E.; SANTOS, M. T. C. T., MACHADO, Rosngela. A educao Especial na Perspectiva da Incluso Escolar: a escola comum inclusiva. Braslia: Ministrio da Educao, Secretaria de Educao Especial; Universidade Federal do Cear, 2010. THERRIEN, S. M. N.; FARIAS, I. M. S.; SALES, J. A. M. Abordagens quantitativas e qualitativas na pesquisa em educao: velhas e novas mediaes e compreenses. In: Pesquisa cientfica para iniciantes: caminhando no labirinto. Fortaleza: EdUECE, 2010.
42
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
PARTE II: EIXO DE ENSINO DE MATEMTICA
43
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
CONTRIBUIES DO PIBID NA FORMAO DOCENTE: EXPERINCIAS EM UMA ESCOLA PBLICA NA REGIO NORTE DO CEAR
Antnio Jonas Farias19
RESUMO: O presente trabalho visa relatar as vivncias do autor como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciao a Docncia PIBID no subprojeto de Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara UVA. A observao, regncia, contato com os alunos e realizao de oficina em uma escola pblica parceira do programa, foram importantes experincias no processo de formao do professor que se inicia ainda na graduao e deve perdurar mesmo depois dos cursos de formao. Analisar o comportamento de professores j em ao tambm ajudam a moldar o futuro docente no apenas no aspecto didtico e pedaggico, mas tambm na formao de um esprito crtico e na construo do relacionamento com os estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Inovao. Formao. Professor de Matemtica. INTRODUO Vivemos numa sociedade em que as mudanas tm ocorrido numa celeridade nunca vista anteriormente, tanto devido aos avanos tecnolgicos, mudanas culturais e antropolgicas, etc. O professor como partcipe deste processo de transformao e construo deve estar aberto para incorporar novos hbitos, comportamentos, percepes e demandas do paradigma da complexidade, permeado por uma nova concepo de cincia, conhecimento e educao. Hoje a educao passa por profundas transformaes, tendo em vista as mudanas constantes que vm ocorrendo no mundo. As novas tecnologias evoluem num ritmo cada vez mais acelerado, e o mundo cientfico tambm avana constantemente, com novas descobertas e estudos, apontando diferentes competncias para atuar na sociedade e no campo educacional. Diante disso, os novos desafios vm, instigando os profissionais da educao a buscarem novo saberes, conhecimentos, metodologias e estratgias de ensino. As mudanas no contexto escolar e social requerem profissionais atualizados e competentes, que estejam preparados para atuar com diferentes problemas. (LACERDA, pg. 01, 2009). Nesse contexto, a formao contnua de professores, ou de qualquer outro profissional, ganha muita importncia, sobretudo como alternativa para acompanhar esse ritmo.
19 Graduando. Discente do curso de Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara UVA. Bolsista Pibid/Capes. jonasvarjota@hotmail.com.
44
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Aprender a ser professor um processo que vai muito alm dos conhecimentos ditos tcnicos e especficos com os quais entramos em contato na universidade, estando relacionado, tambm, com uma diversidade de outros conhecimentos que s se aprende quando nos inserimos em uma cultura profissional atravs da entrada em um ambiente de trabalho e atravs da interao com nossos colegas profissionais. Embora reconhecendo essa especificidade do processo de aprender a ser professor, consideramos que os docentes devem, sim, possuir uma boa base terica que lhes permita desconstruir e reconstruir suas representaes, recombinar seus saberes a todo instante, refletindo sobre as aes que desenvolve e vendo-se tambm como protagonista de seu processo de formao e (trans)formao. OBJETIVOS GERAIS Atravs de observaes realizadas em sala de aula em uma das escolas parceiras do subprojeto de Matemtica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciao a Docncia PIBID em desenvolvimento da Universidade Estadual Vale do Acara UVA, visou-se analisar o comportamento do professor em sala de aula do ponto de vista didtico, metodolgico e na relao com os estudantes. Tambm, buscou-se identificar as dificuldades dos alunos no processo de aprendizado para, a partir da, planejar melhor as intervenes aulas ministradas pelo bolsista e projetos desenvolvidos na escola. METODOLOGIA Como parte das atividades desenvolvidas no subprojeto de Matemtica do PIBID/UVA, com a ajuda do professor supervisor tambm bolsista do PIBID e sob orientao da coordenao de rea do subprojeto, foram realizadas atividades de observaes/intervenes em sala de aula. O autor deste trabalho e outro bolsita acompanhavam um professor regente da escola em todas as suas aulas em uma turma pr-determinada durante o turno da tarde. Nas observaes eram feitas anotaes sobre o comportamento dos alunos, da relao professor-aluno, assim como sobre a metodologia utilizada em sala pelo docente e como este lidava com algumas situaes fora do padro. Mensalmente tambm havia a participao no planejamento dos professores da escola. No primeiro semestre de 2013, o autor deste trabalho acompanhou uma turma do 3o ano do Ensino Mdio na Escola Elza Goersch, localizada em Forquilha, interior do Cear. No total, foram participaes em 64 aulas sendo que em 12 ocorreram regncia. Paralelamente s atividades de sala de aula, foram realizados durante o primeiro semestre de 2013, uma oficina e o planto matemtico horrios para tira-dvidas aberto aos alunos da escola. A oficina aplicada teve como finalidade trabalhar com os alunos atividades de matemtica financeira a partir de situaes do cotidiano. Isso por que foi observado que os alunos tinham dificuldades em lidar com nmeros decimais e fraes e decidiu-se que com esta motivao
45
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
poderia haver uma contribuio para um melhor aprendizado dos alunos. Desta atividade, participaram alunos do 3o ano do ensino mdio.
Figura 10 Alunos da escola Elza Goersch na oficina sobre matemtica financeira
DISCUSSO DOS RESULTADOS Ao longo das aulas notou-se que os alunos apresentavam muitas dificuldades em certos contedos. A falta de interesse era constante por parte de alguns, que at diziam odiar a matemtica. J outros, ficavam com receio de participar quando surgiam dvidas e acabavam por recorrer aos colegas que se destacavam na turma, que eram poucos. Nas oficinas foram adquiridas grandes experincias metodolgicas de ensino atravs de prticas experimentais. As atividades pesquisadas e aplicadas realmente despertavam a curiosidade dos alunos, mas as oficinas fugiam um pouco da realidade do verdadeiro ambiente da sala de aula, pois eram com poucos alunos, o que melhorava muito o trabalho, diferente das salas de aula com um grande nmero de alunos (algumas com mais de 40 por sala), uma das maiores dificuldades encontrada pelos professores da escola. Isso porque, como observado pelo autor deste trabalho, essa super lotao no permitia se adequar uma melhor metodologia para suprir a necessidade de aprendizagem da turma, pois cada um aprende de maneira diferente. Sentiu-se um pouco da responsabilidade do que ser um professor quando ocorriam as intervenes em algumas aulas; muitas eram as dificuldades para tentar manter a ateno da maioria dos alunos. Para alguns professores, as maiores dificuldades esto justamente em saber lidar com os alunos e ter domnio da sala, de modo a obter a ateno de todos. Sacristn (2008, apud ANDRADE; DE SOUSA; FALCONIER, 2013, pg. 02) diz: Grande parte dos problemas e dos temas educativos conduz a uma implicao dos professores, exigindo-lhes determinadas atuaes, desenhando ou projetando sobre sua figura uma serie de aspiraes que se assumem como uma condio para a melhoria da qualidade educacional. O debate em torno do professorado um dos polos de referencia do pensamento sobre a educao, objeto obrigatrio da investigao educativa e pedra angular dos processos de reforma dos sistemas educativos. CONSIDERAES FINAIS
46
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
A aprendizagem profissional da docncia est relacionada com as experincias vividas e como elas so organizadas. Para Zabalza (2004, p. 222), o sentido da aprendizagem no est na simples acumulao de informaes, por mais especializada que ela seja, mas no desenvolvimento da capacidade para organizar essa informao e tirar proveito dela. O incio da carreira no magistrio bastante impactante, e se antes no houver oportunidade de se vivenciar o contexto escolar, ento quando do incio das atividades em sala, pode ocorrer decepo e um repensar da profisso. fato que muitos licenciados ao ingressarem no magistrio sentem grandes dificuldades e s vezes at desistem da profisso, e o porqu disso pode est relacionado inexistncia de prticas docente durante a graduao. Com tudo isso fica evidente a contribuio do PIBID para melhoria da prtica pedaggica do docente. Todas as atividades complementam a formao do acadmico, e esta deve se desenvolver de maneira contnua e exploratria se tornando uma ferramenta indispensvel para se conhecer os vrios problemas existentes na rede de ensino, assim como as consequncias que acarretam para a aprendizagem dos alunos e na melhoria da educao. REFERNCIAS ANDRADE, Fernanda Gabriely; DE SOUSA, Lindeberg Ventura; FALCONIER, Antnio Gautier. Principais Dificuldades Enfrentadas pelos Professores de Qumica do CEIPEV e Contribuio do PIBID para Super-las. 2013. 09 f. Dissertao (Graduao em Qumica), Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Natal. Disponvel em: < http://annq.org/eventos/upload/1330465494.pdf >. Acesso em: 25 jun. 2013. LACERDA, Caroline Crtes. Problemas de Aprendizagem no Contexto Escolar: Dvidas ou Desafios? Disponvel em: <http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=1157> Acesso em: 25 jun. 2013. ZABALZA, M. A. O Ensino Universitrio: seus Cenrios e seus Protagonistas. Porto Alegre: ARTMED, 2004.
47
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
A INSERO DE PRTICAS LDICAS NO ENSINO DE MATEMTICA: EXPERINCIAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NUMA TURMA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Camila Sousa Vasconcelos20 Mrcio Nascimento da Silva21
RESUMO: Ser professor exige muito mais do que conhecimento; exige bastante planejamento e pesquisa. No ensino de matemtica as dificuldades so inmeras, mas, muitas so frutos do mal preparo dos professores que adotam, na maioria das vezes, metodologias inadequadas. Assim, o presente trabalho busca, atravs de uma experincia do subprojeto de Matemtica do PIBID/CAPES da UVA, analisar as metodologias adotadas pelos professores de matemtica da turma e pelos bolsistas do subprojeto. As observaes e intervenes se deram numa turma da Escola de Ensino Fundamental Maria do Carmo Carneiro (Massap, Cear) e atravs dessas percebeu-se o quanto a insero de prticas ldicas, vinculadas ao ensino convencional pode ser garantia de bons resultados no processo de ensino-aprendizagem da matemtica. PALAVRAS-CHAVE: Matemtica. Ldico. Inovao. INTRODUO As dificuldades enfrentadas pelo ensino e aprendizagem de matemtica h muito tempo preocupam pesquisadores e educadores. Com isso muitas experincias tomaram conta das salas de aula buscando tornar a matemtica mais prxima dos alunos e desmistificar o ensino dessa cincia caracterizado por seus altos ndices de reprovao. Focado nessa experimentao foram desenvolvidas atividades numa escola parceira do Programa Institucional de Bolsas de Iniciao Docncia PIBID - subprojeto de matemtica da Universidade Estadual vale do Acara UVA. O projeto orienta que os bolsistas incorporem o ambiente da sala de aula e neste desenvolvam suas atividades. Essa liberdade para realizar atividades inovadoras que muitos professores no tm no dia a dia possibilitou aos bolsistas do projeto experincias nicas, relatadas neste trabalho, com a utilizao de materiais manipulveis voltados para a realidade dos alunos em questo. Aqui sero discutidas, a partir destas experincias, as contribuies de prticas ldicas em sala de aula e em que pontos as metodologias convencionais deixam a desejar com relao a estas.
20
Graduanda. Estudante do Curso de Licenciatura em Matemtica da Univerisdade Estadual Vale do Acara UVA. Bolsista PIBID/CAPES. camilla.sousa.9@gmail.com. 21 Mestre. Professor do Curso de Licenciatura em Matemtica da UVA. Bolsista PIBID/CAPES. marcio@matematicauva.org.
48
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
OBJETIVOS GERAIS Alm de buscar a aprendizagem dos alunos atravs de prticas ldicas e utilizao de materiais manipulveis, e tambm desenvolver a capacidade dos bolsistas enquanto futuros professores de realizar atividades desse tipo, buscou-se observar as falhas das metodologias convencionais aplicadas na turma objeto de estudo. Atravs da observao das aulas do professor de matemtica buscou-se constatar em que ponto elas deixam a desejar com relao mtodos inovadores e/ou satisfatrios de ensino. A partir da objetivou-se desenvolver prticas experimentais a fim de estabelecer metodologias que possam ser utilizadas em sala de aula, minimizando os problemas enfrentados pelas atuais metodologias dominantes no ensino e aprendizagem da matemtica. Atravs da pesquisa busca-se saber o impacto destas prticas quando inseridas em sala de aula, o quanto elas podem contribuir na aprendizagem dos alunos e se elas se tornam mais vantajosas que os modelos de aulas convencionais. METODOLOGIA Focados no ensino de matemtica direcionado para prticas ldicas mesmo em sries mais avanadas, que foram realizadas as atividades vinculadas ao subprojeto de Matemtica do PIBID/UVA numa turma da Escola de Ensino Fundamental Maria do Carmo Carneiro (Massap, Cear) que foi acompanhada no perodo de agosto de 2012 (oitavo ano) a junho de 2013 (nono ano). Atravs de diagnsticos de conhecimento matemtico e relatos dos prprios professores da turma, notou-se que os estudantes apresentavam deficincias ainda em contedos bsicos como operaes aritmticas e equaes do primeiro grau. A partir de ento, foram planejadas aulas que trabalhassem esses contedos de uma forma diferente do modelo que vinha sendo utilizado pelos professores da turma. Um dos materiais levados para sala de aula foi a balana de equaes, artesanalmente fabricada e que utiliza bolas de gude como unidades, trabalhando equaes do primeiro grau. Seu uso consistia em equilibrar a balana e descobrir a quantidade de unidades (bolinhas de gude) ocultas numa caixa que representa o valor da incgnita Para esta atividade os estudantes foram divididos em equipes e foi realizada uma dinmica na qual eles montavam equaes utilizando a balana e desafiavam os colegas a resolv-las. Ao final da atividade foram coletados depoimentos de alguns alunos e do professor da turma que relataram suas impresses com relao aula. Outra atividade que buscou relacionar a matemtica a elementos do cotidiano dos estudantes foi realizada com os cdigos de barras presentes nos materiais escolares deles. Com esta atividade foi feito um estudo sobre as quatro operaes, mltiplos e equaes. Inicialmente foi aplicado um questionrio que continha questes envolvendo clculos semelhantes aos necessrios no estudo dos cdigos de barras. Depois foi apresentada a utilidade da matemtica na segurana de nossas compras. Ao final da atividade, que se deu em dois encontros,
49
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
foi aplicado um novo questionrio que continha questes do mesmo nvel de dificuldade do primeiro teste, entretanto, desta vez, contextualizadas. Ainda, buscou-se mostrar aos estudantes formas diferentes de se trabalhar contedos matemticos que supostamente eles j conheciam pelo mtodo convencional. Assim, fazendo uso de papel quadriculado, rguas e lpis, trabalhou-se uma forma geomtrica para calcular m.m.c. e m.d.c.; aqui, vale ressaltar a importncia de se mostrar aos estudantes o porqu do mtodo funcionar, pois, muitas vezes a aprendizagem se d na construo dos mtodos e no na sua utilizao, que pode, muitas vezes, se caracterizar por memorizao e mecanizao, o que no vlido na busca de uma aprendizagem duradoura. DISCUSSO DOS RESULTADOS Os professores de matemtica que assumiram a turma no perodo da realizao das observaes e atividades tinham um bom domnio de sala, poucas vezes perdiam o controle e tambm demonstravam ter uma boa relao com os estudantes. Entretanto, isso no foi suficiente para construir um aprendizado mais significativo. Os professores utilizaram metodologias que faziam uso apenas do quadro branco, pincel e livro didtico e poucas vezes realizaram atividades em duplas ou em equipes. Nas aulas no se fazia a relao com a realidade dos estudantes, mas sim um ensino mecanizado, onde mesmo no oitavo ano, uma das avaliaes dos estudantes se dava numa prova oral na qual era exigido destes a memorizao da tabuada. No nono ano as questes apresentadas aos estudantes no eram contextualizadas, seguindo o mesmo modelo que exigia dos estudantes apenas a memorizao de frmulas e sua aplicao. Apesar do nvel das questes ser de baixa dificuldade a maioria dos estudantes no conseguia compreend-las. O que se percebe que muitas vezes o professor assumia determinados contedos prvios como j compreendidos, sem constatar se de fato estes foram absorvidos pelos estudantes quando deveriam ter sido, assim, o professor cumpre seu programa de aula, enquanto os estudantes seguem com suas dificuldades. Para Sergio Lorenzato com o objetivo de proporcionar um ensino partindo do momento em que o aluno est, precisamos considerar os pr-requisitos cognitivos matemticos referentes ao assunto a ser aprendido pelo aluno. (2006, p. 27). Com base nisso as atividades foram realizadas voltadas para amenizar as dificuldades dos estudantes. As atividades desenvolvidas na experimentao conseguiram, a princpio, chamar a ateno dos alunos, despertando neles a curiosidade pelo assunto. Quando fora usada a balana de equaes, mostrou-se de uma forma concreta o conceito de igualdade e como se d a resoluo de equaes do primeiro grau. A maioria dos estudantes no sabia solucionar equaes e, at mesmo os que conseguiam resolv-las no compreendiam sua essncia, o que os levava muitas vezes ao erro. Ainda atividades como esta promovem o trabalho em equipe, possibilitando a interao entre os estudantes, o que no era permitido em aulas convencionais, embora praticado contra a vontade do professor em forma de conversas paralelas e brincadeiras inapropriadas que atrapalham as aulas.
50
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
A gesto da sala de aula corresponde a capacidade do professor para orquestrar a interao entre os alunos em situao de aprendizagem, organizando os espaos os tempos e os agrupamentos pertinentes s suas propostas didticas, se constituindo ele mesmo em mediador entre os contedos escolares e aqueles trazidos pelos alunos. (FIGUEIREDO, 2010, p.8) Atravs da coleta de depoimentos em audiovisual do professor da turma e de parte dos estudantes, percebeu-se que estes aprovaram o modelo de aula e aprenderam ao passo que se divertiam. Isso demonstra que permitir a interao e concretizar assuntos caracterizados por sua abstrao, mesmo em sries mais avanadas pode ser garantia de maior rendimento. Segundo Lorenzato para se alcanar a abstrao preciso comear pelo concreto. Este o caminho para a formao de conceitos. (2006, p.20). A atividade na qual se trabalhou com os cdigos de barras mostrou na aplicao do primeiro questionrio, que os estudantes apresentaram srias dificuldades para solucionar expresses matemticas e equaes do primeiro grau que envolviam parnteses, colchetes e chaves. E ainda, para determinar mltiplos, eles no sabiam qual o significado desta palavra. Na realizao da atividade os estudantes se mostraram atentos e participaram bem. A todo momento eram instigados a participar e levados a pensar. Ao final foi aplicado o segundo questionrio, que continha questes embutidas nos cdigos de barras e a maioria dos estudantes conseguiu solucion-las, diferentemente do primeiro teste. Com isso pode-se notar que no se deve subestimar a capacidade intelectual dos alunos; estes tem a capacidade de criar e descobrir frmulas e esta capacidade no pode ser atrofiada atravs de atividades mecnicas que trabalhem to somente a memorizao. Na aula em que se realizou um estudo de m.d.c. e m.m.c. esperava-se apenas mostrar aos estudantes uma forma diferente para um clculo que supostamente eles j tinham domnio, afinal, ao observar as aulas destes estudantes, viu-se o professor utilizar-se destes dispositivos na resoluo de questes. Entretanto, quando questionados sobre o assunto, poucos se arriscaram a responder o que significa, muito menos como calcul-los. Devido s dificuldades apresentadas pelos estudantes, antes de se realizar a atividade foi feita uma explicao dos contedos, onde foram explorados conceitos de divisores e mltiplos comuns, para depois definir-se m.m.c. (mnimo mltiplo comum) e m.d.c. (mximo divisor comum). A partir de ento, mostrou-se aos estudantes como calcul-los usando papel quadriculado. Eles participaram bem da atividade e mostraram boa vontade em aprender, o que garantiu bom resultados. O professor da turma j havia relatado as dificuldades que ele, seus colegas professores e direo tinham para lidar com determinados estudantes que apresentavam envolvimento com drogas lcitas e ilcitas e o que se via era estes estudantes serem ignorados mesmo quando no estavam sob o efeito delas. Porm, na atividade com papel quadriculado, viu-se que tais estudantes participaram tanto quanto os outros. A principio demonstraram certa resistncia, mas ao passo que lhes foi dado ateno, estes se sentiram motivados e realizaram a atividade, at interagindo com os bolsistas.
51
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
As prticas aqui descritas evidenciaram que mesmo o professor sendo um bom profissional, tendo bom domnio do contedo e da turma, suas metodologias determinam a aprendizagem dos estudantes. Porm, trabalhar com novas metodologias requer bastante planejamento a fim de que a prtica proporcione conhecimento e no apenas diverso. CONSIDERAES FINAIS Trabalhar com o ensino de uma disciplina to complexa quanto a matemtica requer bastante preparo e conhecimento, entretanto, as exigncias vo alm disso, pois uma turma de alunos perfeitos que vo para a escola com o nico objetivo de serem obedientes, atentos e participativos as aulas, no existe. O professor precisa tomar conhecimento das diversidades de sentimentos e interesses que esto em uma sala de aula e, s a partir disso, planej-las. Faz-se necessrio entender que um modelo de aula no o melhor para todos os alunos. Para Lorenzato As diferenas individuais precisam ser consideradas pelos professores, mesmo reconhecendo que elas so complicadores para a prtica pedaggica, pois seria mais fcil se todos os alunos fossem iguais. (2006, p. 33). A diversidade tamanha que o professor no pode se dar ao luxo de adotar uma nica metodologia e trabalhar sempre com esta. O que funciona numa turma pode no ser bom para outra, o que agrada a um aluno pode desfavorecer a outro e preciso estar atento a isso para que se possa conseguir levar de fato o conhecimento a qualquer um. preciso sempre inovar, trabalhar com o ldico, mas tambm atrelado ao convencional. No existe receita pronta para se trabalhar determinado contedo; o professor deve buscar conhecer sua turma e a partir disso planejar suas atividades, mostrando aos estudantes que a funo que a matemtica exerce na vida deles vai muito alm de tirar notas boas em avaliaes que apenas medem a capacidade de memorizao dos estudantes. No se pode tirar o direito dos estudantes de aprender. Uma criana passa no mnimo 11 (onze) anos de sua vida frequentando uma escola; como pode esta se eximir do papel de educadora e formadora de cidados? preciso, enquanto professores e educadores despertar nos estudantes a sede de conhecimento natural do ser-humano, a curiosidade, a vontade de realizar descobertas e, com isso, tudo ficar mais interessante, at mesmo uma disciplina detestada por muitos. REFERNCIAS LORENZATO, S.(2006). Para aprender matemtica. 3.ed.rev. Campinas, SP: Autores Associados, 2010. Coleo formao de professores. FIGUEIREDO, R. V. A escola de ateno s diferenas. Salto para o futuro TV Escola. 2010. < http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/19131803-Escoladiferencas.pdf>. Acesso em 12 de julho de 2013.
52
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
R: UMA FERRAMENTA PARA EXPLORAR A INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE A MATEMTICA E A GEOGRAFIA
Luana de Sousa Sales22 Marclio Dadson dos Santos23 Mrcio Nascimento da Silva24 Nilton Jos Neves Cordeiro25
RESUMO: O presente trabalho procura mostrar a possibilidade de ensinar alguns tpicos de matemtica, mais precisamente trigonometria esfrica de maneira interdisciplinar com geografia apoiados com suporte computacional. Aps uma reviso bibliogrfica de contedos de trigonometria esfrica, de uma busca e utilizao de um software de qualidade e que pudesse dar assistncia resoluo de questes, o qual foi o R, e da criao de um banco de dados de questes, concluiu-se que vivel e que pode ser muito atraente e proveitoso ensinar alguns temas de matemtica de maneira interdisciplinar com a geografia, com um suporte tecnolgico adequado. PALAVRAS-CHAVE: Ensino de matemtica. Interdisciplinaridade. Software R. Geografia. Trigonometria Esfrica. INTRODUO Mesmo nos dias de hoje no difcil encontrar alunos cursando Matemtica no ensino superior que se questionem e/ou indaguem seus professores sobre a utilidade de alguns contedos, ou ainda, para qu servem e aonde se aplicam. Um fator que pode ser relevante para este tipo de situao a falta de habilidade por parte de alguns professores em articular a Matemtica com outras reas do conhecimento, como a Geografia, por exemplo. Partindo dessas premissas, deve-se fazer com que o ensino esteja diretamente ligado, tambm, ao interesse e a necessidade dos alunos. Assim, a reflexo e a busca por estratgias para
22 Graduanda. Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara UVA. luanadesousasales@gmail.com 23 Graduando. Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara UVA. marciliodadson@gmail.com 24 Mestre. Professor do curso de Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara UVA. marcio@matematicauva.org 25 Mestre. Professor do curso de Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara UVA. marcio@matematicauva.org
53
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
que o professor consiga trabalhar bem em sala de aula, articulando o contedo que deve ser repassado com ferramentas e temticas diversas, inclusive as do cotidiano, podem ser de grande valia, tornando o ensino/aprendizagem mais atraente. Desta forma, esse trabalho pretende apontar meios para integrar Matemtica e Geografia de uma maneira que seja atraente para professores e alunos. Como o uso de computadores j algo comum na vida das pessoas e os softwares em sala de aula so uma realidade, o que est posto aqui uma proposta interdisciplinar com o uso do software R. OBJETIVOS GERAIS Este trabalho objetiva mostrar que possvel ensinar Matemtica de maneira interdisciplinar com a Geografia atravs de um suporte tecnolgico para tornar esta tarefa mais prazerosa e eficiente. Ainda, fazer com que o professor repense sua prtica docente, de tal sorte, se possvel, no somente ensinar matemtica por ela mesma, mas, segundo Silva (2010), trabalhar vrias reas num mesmo assunto, bem como ultrapassar o escopo de lousa e pincel e utilizar novas tecnologias no seu exerccio como professor. METODOLOGIA O projeto teve sua motivao inicial a partir da experincia obtida na elaborao, por um dos autores deste trabalho, de um material introdutrio sobre Trigonometria Esfrica em 2010. Esta espcie de apostila tinha como objetivo complementar a formao acadmica dos estudantes da Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara UVA, em Sobral, onde os assuntos que ali constavam seriam repassados por meio de seminrios. Havia tpicos como Histria da Trigonometria, Geodsicas, conceitos basilares de trigonometria esfrica, Teorema de Girard, Lei dos Cossenos, Tringulo Esfrico Reto, Tringulo Polar, etc.. Na feitura dos seminrios percebeu-se que estudantes tiveram algumas dificuldades/resistncias na abordagem de alguns dos contedos apresentados. A partir da, juntaram os esforos do Laboratrio de Ensino de Matemtica da UVA (LEMA) e do Laboratrio de Estatstica e Matemtica Aplicada da UVA (LEMAP), para se pensar numa estratgia de como ensinar tpicos de Trigonometria Esfrica de maneira mais prazerosa e produtiva. O primeiro passo consistiu em a equipe reexaminar tpicos de trigonomtrica esfrica que foram necessrios para a composio do material elaborado pelo professor, e, em seguida, revisar a prpria apostila na busca de aperfeio-la. A segunda etapa foi buscar um software que pudesse auxiliar no ensino de matemtica, especificamente tpicos de trigonometria esfrica. Contudo, caractersticas de alta qualidade, gratuidade e o fato de ser open source tambm foram buscadas. A terceira etapa consistiu em buscar situaes explcitas onde a Matemtica e Geografia se entrelaassem no que tange trigonometria esfrica. Fora feita uma busca exaustiva em questes de vestibulares, exames nacionais oficiais como ENEM e ENADE de forma a coletar um portflio
54
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
razovel de quesitos que potencialmente proporcionariam uma abordagem matemtica mais palpvel e agradvel, implicando numa aprendizagem melhor. Por fim, procurou-se aplicar a potencialidade do software na resoluo dessas questes, de modo a concretizar a interdisciplinaridade entre Matemtica e Geografia apoiada pelo ferramental tecnolgico. DISCUSSO DOS RESULTADOS Na reviso dos contedos de trigonometria esfrica, bem como na anlise da apostila elaborada pelo professor, fora percebido que no haveria necessidade de alteraes, no que tange aos contedos propostos. Assim, acreditou-se que o elenco de temas previamente selecionado seria adequado para uma INTRODUO trigonometria esfrica. Quanto ao software, encontrou-se como til e adequado o R, onde CORDEIRO et. al. (2011) afirmam que o mesmo aborda uma diversidade grande de reas tais como Estatstica, Matemtica, Qumica, Ecologia, ainda acrescentado a Geografia, pois, por exemplo, disponibiliza um pacote, chamado Geosphere, que implementa funes de trigonometria esfrica para aplicaes geogrficas. Aliado a tudo isso, este software apresenta qualidades como: um software absolutamente gratuito e de livre distribuio; usado nas plataformas Windows, Linux e Macintosh; a sua implementao pode ser estendida atravs de pacotes adicionais que so continuamente disponibilizados por colaboradores; permitida a criao e modificao de funes; constantemente surgem verses mais atuais e completas; h um vasto contedo em manuais oficias e gratuitos. Assim, a equipe trabalhou arduamente neste software/pacote para extrair o mximo de aplicaes que ele poderia fornecer para o ensino de matemtica. Quanto ao banco de dados das questes, fora feita uma busca intensa na internet no intuito de encontrar a maior quantidade de material possvel que se encaixasse na temtica proposta: ensinar Matemtica juntamente com a Geografia. Encontrou-se uma boa quantidade de quesitos onde se pensou incialmente: em vestibulares de diversas universidades e faculdades do pas, bem como em itens do ENEM e ENADE. Todo item que era encontrado por algum da equipe, era bastante debatido e investigado se e em qual tpico da trigonometria esfrica poderia se encaixar. Vale ressaltar que este banco de dados foi fortalecido com questes que sofreram pequenas alteraes dos autores deste trabalho para que a partir dessas modificaes elas pudessem ficar contextualizadas na abordagem da trigonometria esfrica, alm de quesitos integralmente criados. Por fim, aliando a reviso da literatura, com o estudo do software e o levantamento/construo de itens, pode-se chegar a resultados excelentes tais como o exposto a seguir:
55
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Exemplo: esta uma adaptao de uma questo do vestibular de 2004-Vero da PUCRS. A nica alterao que foram substitudos os valores de longitude 150 por 70. Nota-se, sem dificuldades, que a mesma tem o objetivo de perceber conhecimentos acerca de Latitude e Longitude, bem como de localizao geogrfica no Globo. Entretanto, o vis da matemtica superior pode ser empregado aqui para passar conhecimentos alm da Geometria Euclidiana, por exemplo, o comprimento de um segmento de curva que une dois pontos numa esfera (Geometria Esfrica): Se duas cidades, A e B, estiverem sobre a Linha do Equador, nas longitudes 70 Oeste e 70 Leste, elas tero, em relao a outras duas cidades, C e D, localizadas nas mesmas longitudes, porm sobre o Crculo Polar rtico, A) a mesma distncia em metros, pois as latitudes so iguais. B) a distncia, em metros, maior, pois os meridianos convergem para os plos. C) a distncia, em graus, diferente, pois nos plos no h paralelos. D) a distncia, em metros, menor, pois a Terra achatada ao longo da linha do Equador. E) a distncia, em graus, diferente, pois as longitudes so as mesmas
Atravs de recursos disponveis no R atravs do pacote Geosphere, pde-se criar o grfico exposto na Figura 1. Vale salientar que o apelo visual na construo da resposta do que solicitado de grande valia para uma melhor assimilao e aceitao do contedo.
Figura 11 Esboo da situao descrita no Exemplo.
O Mapa Mundi utilizado para ilustrar a situao, mostrando o posicionamento das quatro cidades, A, B, C e D. Alm disso, a menor distncia entre as cidades A e B indicada pela linha contnua, uma vez que ambas esto situadas no equador (crculo mximo de latitude 0). J a menor distncia entre as cidades C e D indicada atravs da parte superior da linha tracejada que as une,
56
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
que a forma planificada sobre o Mapa Mundi de um grande crculo do globo terrestre contendo as cidades C e D. Utilizando o comando distCosine no R, que calcula a menor distncia entre dois pontos num Grande Crculo, tem-se, em metros: > distCosine(a,b) [1] 15584729 > distCosine(c,d) [1] 4886948 Aqui, os parmetros a, b so inseridos em graus e usada a Lei dos Cossenos na sua verso esfrica, pois assumindo que a Terra uma esfera. Desta forma, v-se que a distncia entre as cidades A e B (15.584,73 km) que esto no Equador maior que a distncia entre as cidades C e D (4.886,95km) que esto no Crculo Polar rtico, mesmo sendo as distncias em graus as mesmas, sendo, portanto o item b o correto. Assim, buscou-se ilustrar com essa qualidade e clareza, vrios dos tpicos de trigonometria esfrica. CONSIDERAES FINAIS Ainda encontramos, sem grandes dificuldades, na docncia de Matemtica no ensino superior, a pura tecnicidade muito presente e a falta de preocupao do professor em aprimorar sua prtica docente para que ela fique mais acessvel para o estudante. Em relao ao ensino bsico, Brasil (2000) diz que a interdisciplinaridade do aprendizado cientfico e matemtico no dissolve nem cancela a indiscutvel disciplinaridade do conhecimento. Contudo, percebido que isto tambm se aplica matemtica superior, pois fora visto aqui que se h um pouco de dedicao e interesse possvel construir metodologias de ensino, independente de ser de nvel escolar ou superior, que prendam e despertem a ateno e o prazer de aprender. Assim, a seleo adequada de temas de trigonometria esfrica, imersos em situaes prticas e vivenciadas em geografia, apoiados pelo suporte do software R, criam um ambiente favorvel para o ensino de matemtica. REFERNCIAS BRASIL. Secretaria de Educao Bsica. Parmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Mdio, Braslia: MEC, 2000. CORDEIRO, N. J. N.; SOUSA, R. T. de; SILVA, M. N. da. R: um recurso para o ensino de matemtica. In:Encontro Sergipano de Educao Bsica, 5., 2011, Aracaj. Anais...Aracaj: UFS, 2011. 1 CD-ROM. SILVA, F. S. da. O ENEM e a Interdisciplinaridade no Ensino da Matemtica. Revista Episteme Transversalis V.1, N. 1, 2010.
57
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
LGEBRA MATRICIAL: EXPERINCIA DE ENSINO EM UMA UNIVERSIDADE PBLICA NO INTERIOR DO CEAR
Mrcio Nascimento da Silva26
RESUMO: O presente trabalho relata uma experincia de ensino vivenciada no curso de Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara, localizada em Sobral, interior do Cear. lgebra Matricial uma das novas disciplinas implantadas no mais recente projeto pedaggico do curso cujo objetivo principal o de preparar melhor os futuros docentes que estaro em ao nas escolas da Regio Norte do estado. Para o caso especfico da disciplina em questo, buscouse como referncia as Orientaes Curriculares para o Ensino Mdio em detrimento do que feito pela grande maioria dos livros didticos em uso nas escolas da regio, isto , a sequncia adotada foi sistemas lineares, matrizes e determinantes para os contedos relacionados lgebra matricial. Apesar de recm-chegados universidade os estudantes se desenvolveram bem e foram no somente abastecidos com a teoria, mas tambm levados reflexo sobre o ensino destes contedos na educao bsica e convidados a um rompimento do que apregoado pela maioria dos livros didticos em uso. PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Matrizes. Sistemas Lineares. Determinantes. INTRODUO Por lgebra Matricial, entenda-se o estudo de sistemas lineares, matrizes e determinantes. Embora as Orientaes curriculares para o ensino mdio (BRASIL, 2006) sugiram que primeiro seja feito o estudo de sistemas lineares para s depois ser realizado o estudo de matrizes, a maioria dos livros didticos ainda trata esses contedos na seguinte ordem: matrizes, determinantes e sistemas. Tomar como ponto de partida a apresentao de nmeros dispostos em forma de tabela e, depois, definir operaes e constatar certas propriedades com esses objetos a forma como as matrizes so abordadas com os estudantes no ensino mdio. Isso torna o aprendizado bastante mecnico, uma vez que num primeiro momento, no se sabe a utilidade desses elementos. O estudo de determinantes feito logo em seguida ao de matrizes e antes de sistemas lineares, podendo causar a falsa impresso de que so imprescindveis para a resoluo de sistemas. Mais ainda, o uso de tcnicas para a resoluo que no se aplicam a todos os tipos de sistemas lineares, muitas vezes realizado em detrimento a outras ferramentas que so mais prticas e abrangentes.
26 Mestre. Professor do curso de Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara UVA. marcio@matematicauva.org
58
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Considerando as Orientaes curriculares para o ensino mdio e a experincia realizada na disciplina de lgebra Matricial do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara UVA, localizada em Sobral, interior do Cear, viu-se que tomar como ponto de partida os aspectos histricos que cercam estes contedos, pode ser um importante fator para que o estudante no ensino mdio tenha um aprendizado menos traumtico. OBJETIVOS GERAIS O presente trabalho visa relatar uma experincia vivida num curso de licenciatura em Matemtica e levar a uma reflexo sobre como os contedos sistemas lineares, matrizes e determinantes devem ser trabalhados no ensino mdio. Um pensar sobre como tais assuntos foram desenvolvidos ao longo da historia o ponto de partida para uma forma mais eficaz de se trabalhar tais tpicos em sala de aula. Espera-se, tambm, que de alguma forma o professor possa pensar na possibilidade de romper com modelo pr-existente, pois apesar do considervel aumento no nmero de componentes curriculares do ensino mdio nos ltimos anos, mantm-se nas novas diretrizes o discurso da necessidade de um currculo mais flexvel, menos engessado. (Moehlecke, p. 54, 2012) METODOLOGIA Em meados de 2010, o corpo docente do curso de Licenciatura em Matemtica da UVA iniciou os trabalhos para a implantao de um novo projeto pedaggico. A principal preocupao era a de se encontrar uma forma para que os estudantes fossem realmente preparados para a docncia, aliando conhecimento terico, reflexo e prtica. Nesta perspectiva, a nova matriz curricular foi pensada de maneira que os primeiros quatro semestres pudessem servir de base para o restante do curso e, ao mesmo tempo, a passagem do ensino mdio para o ensino superior fosse mais suave; procurou-se fazer uma seleo de disciplinas que realmente atendessem aos anseios dos que futuramente sero professores, levando em conta, tambm, as deficincias herdadas de um ensino bsico ainda cheio de lacunas. Uma das disciplinas pensadas para este bloco foi a de lgebra Matricial, vista no primeiro perodo e que se destina ao estudo de sistemas lineares, matrizes e determinantes. No primeiro semestre de 2013, o autor deste trabalho foi o responsvel por ministrar tal disciplina no curso de Licenciatura em Matemtica da UVA. Nos encontros, os estudantes eram convidados no somente ao estudo dos contedos, mas tambm a uma reflexo frequente sobre a sequncia proposta nas Orientaes curriculares para o ensino mdio e a viabilidade e consequncias de se implantar tal mtodo nas escolas. Embora alguns professores tenham conscincia e busquem deliberadamente desenvolver uma prtica que reproduza ou cultive suas crenas e valores, outros e provavelmente em maior nmero no percebem que, alm Matemtica, ensinam tambm um jeito de ser pessoa e professor, isto , um modo de conceber e estabelecer relao com o mundo e com a Matemtica e seu ensino. (FIORENTINI, p. 110, 2005)
59
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Obviamente, nesta disciplina, os contedos foram vistos na sequncia indicada em Brasil (2006), isto , iniciando com os sistemas lineares e depois matrizes. Em verdade, iniciou-se com uma abordagem histrica, partindo dos primeiros indcios dos sistemas lineares com os chineses. Vale ressaltar que as Orientaes curriculares para o ensino mdio recomendam a dispensa do contedo determinantes no ensino mdio, mas este assunto foi abordado via permutaes, com o intuito de se ter uma definio nica para o determinante de matrizes quadradas de qualquer ordem. O texto tomado como base para a disciplina foi Matrix Analysis and Applied Linear Algebra de Carl Dean Meyer. Alm dos encontros semanais, foram disponibilizadas vdeo aulas com resumos do contedos vistos em sala, listas de exerccios na pgina da disciplina que abrigada na pgina do curso bem como de monitoria em horrios alternativos. Tambm foi criado um grupo dentro de uma famosa rede social para que os estudantes pudessem tirar dvidas ou discutir assuntos ligados disciplina. J a forma de avaliao, consistiu de provas individuais em datas divulgadas no incio do semestre letivo, exerccios que deveriam ser entregues por e-mail e tambm de uma bonificao proporcional frequncia em sala de aula. Ao final da disciplina, os estudantes realizaram uma avaliao acerca da metodologia empregada, dos pontos positivos e negativos, desempenho individual, como tambm crticas e sugestes. DISCUSSO DOS RESULTADOS Como j mencionado anteriormente, a disciplina de lgebra Matricial ministrada no primeiro semestre do curso de Licenciatura em Matemtica da UVA. Desta forma, os estudantes so em sua maioria jovens que ainda trazem consigo muitas caractersticas e costumes tpicos do ensino mdio. Posto isso, foi preciso considerar que o processo de reflexo a ser praticado na disciplina poderia levar algum tempo at ser assimilado pela turma, uma vez que discutir a forma de ensinar um contedo matemtico em uma disciplina no propriamente pedaggica algo novo at mesmo no curso de Licenciatura em Matemtica da UVA. Iniciando com fatos histricos sobre o surgimento dos sistemas lineares, viu-se que os primeiros indcios remontam cerca de 200 a.C., mas especificamente de um registro feito numa antiga obra chinesa Nove captulos sobre aritmtica na qual apresentado um problema que, na linguagem atual, representado por um sistema linear de trs equaes e trs variveis. Usando este fato como motivao, foram definidas as equaes lineares e posteriormente os sistemas de equaes lineares ou simplesmente sistemas lineares. Em seguida passou-se busca por existncia de solues e, havendo, a determinao destas. O mtodo utilizado foi basicamente o da eliminao gaussiana. Tambm foi usado o mtodo de Gauss-Jordan, que nada mais do que uma variao do primeiro. Nesse momento, os estudantes perceberam que as variveis eram escritas, mas no necessrias, uma vez que a manipulao se dava exclusivamente com os coeficientes; da passouse a resolver os sistemas apenas com os nmeros e para que a disposio dos coeficientes ficasse mais organizada, definiu-se matriz.
60
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Aqui, enveredou-se pelo caminho da manipulao com matrizes e ficou evidente que a eliminao gaussiana e/ou mtodo de Gauss-Jordan poderia resolver muitos problemas como inverso de matrizes, por exemplo. Alguns estudantes relataram que no ensino mdio usaram apenas um mtodo trabalhoso e que no poderia ser usado para a resoluo de um sistema qualquer. No entanto, a turma, como um todo, reconheceu o poder da eliminao gaussiana para tratar de dois assuntos, a princpio, distintos: sistemas lineares e inverso de matrizes. Tambm, a turma atentou para o fato de que at ento, no havia necessidade de se aplicar o conceito de determinantes. A Regra de Cramer e a determinao de uma matriz adjunta transposta eram dispensveis; um nico mtodo, o de Gauss-Jordan, poderia ser usado, acarretando menos carga ao estudante no ensino mdio e otimizando o tempo do professor para que ele possa trabalhar melhor tais contedos. Como o objetivo da disciplina no se limita resoluo de sistemas lineares, mas se destina, tambm, ao que vir dentro do prprio curso de licenciatura em Matemtica, o contedo determinantes foi abordado. Para tal assunto, usou-se a definio via permutaes, que possibilita uma definio nica sem usar recorrncia independente da ordem da matriz quadrada. A partir da definio, os prprios estudantes puderam construir as regras para os casos particulares, especialmente o de matrizes 2x2 e 3x3. Assim, mesmo sabendo que dificilmente usaro este conceito na sala de aula do ensino mdio, os discentes tiveram a oportunidade de saber como chegar aos resultados e frmulas to usadas. Paralelamente ao que vinha se desenvolvendo nos encontros em sala de aula, foram disponibilizadas 14 vdeo aulas com resumos dos contedos vistos (exceto sobre determinantes). Os audiovisuais foram produzidos pelo prprio professor da disciplina, em parceria com o LAVID27 e mantendo-se, assim, a mesma linguagem de sala de aula. Com isso o estudante teria a sua disposio um material didtico que poderia ser revisto tantas vezes quanto necessrio. Esse material, disponvel na internet, ajudou no somente na disciplina em questo como tambm tem chegado a diversos estudantes em vrios locais do Brasil, que tm entrado em contato tirando dvidas. Tambm estavam disposio da turma, dois monitores estudantes de semestres mais avanados do curso que em horrios alternativos e pr-determinados estavam espera dos alunos da disciplina para resoluo de questes e esclarecimento de dvidas. Apesar de, em mdia, apenas cerca de 10% da turma ter comparecido aos encontros, estes o fizeram de uma maneira razoavelmente regular. No que tange a forma de avaliao, pode-se considerar que a experincia foi positiva, levando-se em conta o choque que para a maioria dos ingressantes o novo para eles sistema de avaliao. De um universo de 43 matriculados, 18% desistiram em algum momento antes do final da disciplina e dentre os que permaneceram, houve uma aprovao de mais de 83%.
27 Laboratrio de Vdeos Didticos do curso de Licenciatura em Matemtica da UVA www.matematicauva.org/lavid
61
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Na avaliao da disciplina, que foi realizada ao final do semestre por cada estudante individualmente e sem identificao, tambm aparecem indcios de que o mtodo usado foi satisfatrio. Vinte e trs alunos participaram desta avaliao e 95% afirmam que o contedo visto auxiliar quando do exerccio da docncia no futuro. Quando questionados se a sequncia adotada na disciplina poderia ser aplicada na escola, mais de 78% disseram que sim, enquanto os demais apresentaram dvidas, principalmente devido a possveis entraves vindo do ncleo gestor da escola. J quando perguntados quanto s condies de se continuar estudando sobre o assunto, 13% afirmam que no se sentem preparados, pois o contedo ou a forma como foi apresentada, se constituiu com algo completamente novo e seria necessrio rever o assunto antes de continuar os estudos a cerca do tema. CONSIDERAES FINAIS Assim como em muitos outros contedos, a parte relacionada s matrizes e sistemas lineares geralmente se apresenta como problema para muitos estudantes devido a forma como so trabalhados em sala de aula tais assuntos. Geralmente o professor opta por uma abordagem puramente tcnica, valorizando as frmulas em demasia. A experincia na disciplina de lgebra Matricial do curso de Licenciatura em Matemtica da UVA mostra que o professor pode escolher outro caminho, no qual o estudante com menos informao tem maior autonomia. Alm disso, foi possvel refletir e discutir vrios aspectos que foram alm do contedo a ser ministrado em sala de aula pelos futuros professores. Pode-se dizer que a turma encerrou o semestre convicta de que o melhor caminho para abordar lgebra Matricial na escola abordando primeiramente os sistemas lineares; e usando apenas os mtodos de eliminao gaussiana. Tambm vale ressaltar a importncia dada aos que contriburam para o desenvolvimento dessas reas ao longo do tempo, pois como afirma Meyer (2000), tratar a matemtica sem uma contextualizao histrica tende a desumaniz-la. REFERNCIAS BRASIL. Secretaria de Educao Bsica. Cincias da Natureza, matemtica e suas tecnologias: Orientaes curriculares para o ensino mdio, v. 2. Braslia: MEC, 2006. FIORENTINI, Dario. A formao matemtica e didtico-pedaggica nas disciplinas da licenciatura em matemtica. Revista de Educao PUC-Campinas, n. 18, 2012. MEYER, Carl Dean. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra Book and Solutions Manual. SIAM, 2000. MOEHLECKE, Sabrina. O ensino mdio e as novas diretrizes curriculares nacionais: entre recorrncias e novas inquietaes. Revista Brasileira de Educao, v. 17, n. 49, p. 39-58, 2012.
62
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O JOGO DAS QUADRTICAS
Maria de Lourdes Estevo da Silva28 Mrcio Nascimento Silva29
RESUMO: Trata-se de uma experincia desenvolvida pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciao a Docncia (PIBID) do Curso de Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara (UVA), localizada na Cidade de Sobral, no Estado do Cear. Foi trabalhado com alunos de Ensino Mdio, precisamente com alunos de 2 ano da Escola de Ensino Fundamental e Mdio Ministro Jarbas Passarinho, executado no ms de Setembro em dois encontros. Nesse projeto foi trabalhado com um jogo de clculo mental, com o nome de JOGO DAS QUADRTICAS, cuja finalidade foi trabalhar as equaes quadrticas juntamente com as quatro operaes fundamentais da matemtica (adio, subtrao, multiplicao e diviso) desenvolvendo o raciocnio, calculo mental e estratgia. Os alunos trabalharam a construo do jogo, estudaram os assuntos que foram abordados com o jogo, no caso as equaes quadrticas acompanhadas das quatro operaes, e por ltimo, jogaram utilizando a matemtica. A execuo do projeto foi registrada em forma de audiovisual que posteriormente ser publicado no canal Youtube do Curso de Matemtica da UVA.
PALAVRAS-CHAVE: Recurso didtico; Equaes quadrticas; Quatro operaes; Raciocnio lgico. INTRODUO Este trabalho trata-se de um projeto chamado, criao de recursos didticos PIBIDMATEMTICA-UVA, motivado pela coordenao do subprojeto de Matemtica do PIBID-UVA2009 e aplicado por bolsistas que desenvolvem atividades na escola Ministro Jarbas Passarinho nos dias 11 e 21 de setembro de 2012. O objeto didtico que ser descrito a seguir foi criado para facilitar a aprendizagem do aluno em matemtica e para facilitar a aula de muitos professores que no conseguem repassar a disciplina de uma maneira mais compreensvel. Tal objeto refere-se a um jogo de clculo mental, denominado Jogo das Quadrticas, que requer um bom entendimento sobre as equaes quadrticas e um raciocnio rpido para a utilizao das quatro operaes.
BOLSISTA PIBID/CAPES e discente do curso de Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara-UVA (lourdnha_dynha@hotmail.com) 29 BOLSISTA PIBID/CAPES e coordenador de rea do PIBID/Matemtica/UVA (mrcio@matematicauva.org)
28
63
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaborao de estratgias de resoluo e busca de solues. Propiciam a simulao de situaes problema que exigem solues vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das aes; possibilitam a construo de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situaes sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da ao, sem deixar marcas negativas. (PCN, 1998, p.46) A finalidade deste projeto est ligada a mais uma etapa da capacitao dos alunos bolsistas, j que ultimamente estes passaram por formaes (palestras, minicursos, oficinas) e observaes/intervenes em sala de aulas nas escolas participantes do projeto. Da foi a proposta a construo de recursos didticos aptos a trabalhar com a matemtica. O jogo em sala de aula uma tima proposta pedaggica porque propicia a relao entre parceiros e grupos, e, nestas relaes, podemos observar a diversidade de comportamento dos educandos para construir estratgias para a vitria, como tambm as relaes diante da derrota. (PETRY & QUEVEDO, 1993, p.34-35). A execuo do projeto foi registrada em fotos e vdeos que sero transformados em um audiovisual para ser divulgado no canal Youtube do LAVID (Laboratrio de Vdeos Didticos do Curso de Matemtica da UVA), para servir como mostra dos trabalhos do PIBID e como contribuio para ajudar futuros bolsistas e docentes que se interessam pela disciplina. OBJETIVOS GERAIS O presente recurso didtico visa trabalhar com as equaes quadrticas juntamente com as quatro operaes, desenvolvimento do raciocnio e criao de estratgias. METODOLOGIA O projeto em si foi dividido em trs momentos: o da seleo dos alunos, da construo do jogo das quadrticas junto com um teste envolvendo as equaes quadrticas e o da aplicao dos conceitos das equaes quadrticas e as quatro operaes fundamentais da matemtica que seriam exploradas no jogo. Para a execuo do projeto foi feito, de inicio, os convites aos alunos do segundo ano do ensino mdio e os interessados fizeram logo sua inscrio para participar dos encontros. Do total dos inscritos, compareceram 70% dos alunos. Os encontros ocorreram em dois dias, no ms de Setembro, cada um deles com durao mdia de trs horas. No primeiro encontro foi apresentado o projeto aos alunos e em seguida foi feito um teste onde foram abordadas questes relacionadas s equaes quadrticas, sendo que os alunos resolveram e entregaram aos bolsistas. Aps a resoluo do teste os estudantes foram divididos em duas equipes, onde cada equipe orientada por um bolsista construiu o jogo. Para a confeco dos jogos, necessitaram dos seguintes materiais: papelo, isopor, papel emborrachado, folhas brancas ou coloridas, tinta, plstico adesivo, fita adesiva, pincis, rgua, cola e tesoura.
64
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O jogo das quadrticas constitudo de: um tabuleiro (Figura 1), 25 fichas de uma cor, 25 fichas de outra cor e 3 dados.
Figura 12 Jogo das quadrticas
O tabuleiro formado com os possveis resultados das sentenas formadas com os nmeros dos dados utilizando as quatro operaes. As faces dos dados contem equaes quadrticas como mostra a Figura 13.
Figura 13 Equaes quadrticas
Cada equao equivale a uma das razes de 1 6, sendo s vlidas os valores positivos. O jogo em si composto pelas seguintes regras: Dois participantes que jogam alternadamente; Define-se o nmero de pontos mnimo para se conhecer o vencedor; Os dados so arremessados e o jogador deve resolver a equao estampada na face que ficar para cima de cada um dos dados; Com as respostas obtidas no passo anterior, o jogador deve compor tais nmeros com as quatro operaes com o objetivo de obter um dos nmeros do tabuleiro. Um ponto obtido ao se colocar uma ficha num espao desocupado que seja adjacente a um espao com uma ficha j colocada (horizontalmente, verticalmente ou diagonalmente);
65
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Se um participante achar que no possvel formar uma sentena com suas respostas obtidas a partir do lanamento do dado, ele pode passar a vez. Se o seu adversrio conseguir formar a sentena, ganha o dobro do nmero de pontos. Caso contrrio, lana o dado para realizar a sua prpria jogada. O jogo termina quando o jogador conseguir atingir o nmero de pontos definidos no incio do jogo ou ao colocar 5 fichas de mesma cor em linha reta [horizontal, vertical ou diagonal] sem nenhuma ficha do adversrio intervindo.
Figura 15 Marca ponto
Figura 14 No marca ponto
A construo do jogo foi bem prtica. Com o isopor eles construram o tabuleiro e com os pincis escreveram os nmeros. J o papel emborrachado foi usado para confeccionar as 50 fichas em duas cores diferentes. Os dados foram feitos com o papelo, sendo estes revestidos com as folhas de papel para que em seguida fossem estampadas as equaes em suas faces. Finalizaram cobrindo com plstico adesivo os dados para uma melhor conservao. No segundo encontro, com o jogo das quadrticas, j construdo, foram apresentadas as regras, e para dar incio ao jogo, foi feito uma reviso sobre as equaes quadrticas e sua relao com o jogo. Depois de revisadas as equaes quadrticas e as regras do jogo, foi escolhido um integrante de cada equipe para represent-los no jogo, sendo que os demais integrantes podiam ajudar. A equipe vencedora ganhou um premio surpresa como gratificao. Para o encerramento do projeto foi coletado em forma de vdeo depoimento de um dos alunos sobre o que ele achou do desenvolvimento do projeto, que proveito ele teve ao participar e sobre a contribuio dos bolsistas na escola. DISCURSO DOS RESULTADOS No decorrer da aplicao do projeto os alunos se depararam com algumas dificuldades, mas nada desestimulador. Na construo do jogo todos se mostraram bastante entusiasmados e interessados em confeccion-lo, seguindo a orientao dos bolsistas e a partir de um jogo j construdo pelos bolsistas que serviu de modelo. As maiores dificuldades encontradas foram no contedo revisado, pois a maioria no lembrava mais como resolver uma equao do segundo grau, no lembravam como identificar os
66
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
coeficientes das equaes e nem da frmula mais conhecida para resolver tais equaes, que a frmula de Bskara. Mas aps a reviso com as explicaes e exemplos resolvidos eles mostraram que esse esquecimento era apenas falta de prtica, o que no deveria ocorrer, j que se trata de uma ferramenta utilizada com frequncia no decorrer do ensino mdio. Quanto ao entendimento do jogo, enquanto alguns alunos conseguiram compreender rapidamente a partir das primeiras instrues, outros necessitaram de mais detalhes e demonstraes. Quando comearam a jogar tiraram algumas dvidas e o jogo seguiu normalmente at que se chegasse ao fim. A participao em jogos de grupo tambm representa uma conquista cognitiva, emocional, moral e social para o estudante e um estmulo para o desenvolvimento de sua competncia matemtica. (PCN, 1998, pag. 47). A partir do desafio de vencer o jogo, os alunos tem uma maior motivao fazendo, assim, com que tenham maior interesse em aprender os contedos pois o resultado satisfatrio no jogo depender do aprendizado no contedo aplicado. CONSIDERAES FINAIS Ao se concluir o projeto, viu-se que todos os objetivos foram alcanados de forma satisfatria. A proposta de se criar um novo recurso didtico a fim de que os bolsistas tenham uma capacitao ampliada muito importante para a formao do docente. Podem se destacar muitos pontos positivos, como a participao dos estudantes em todas as atividades realizadas, o que promoveu encontros bem dinmicos e descontrados, pois os estudantes sabiam que aps o estudo do contedo iriam jogar um jogo onde necessitariam do aprendizado conquistado ou reconquistado atravs do projeto. Com relao a prtica docente, o aprendizado foi crescente, pois foi uma experincia nova onde foi necessrio usar criatividade para criar algo novo, que seria utilizado como recurso didtico aplicado junto aos estudantes e que de fato promovesse a aprendizagem. Entretanto, espera-se que o Jogo das Quadrticas possa ajudar de uma forma mais fcil a todos os estudantes de matemtica que desejam aprender de uma forma mais interessante e diferente da monotonia muitas vezes encontrada em sala de aula. Que sirva de inspirao para professores que desejam lecion-la de forma mais compreensvel e clara, e que o trabalho como um todo sirva de canal para outros pesquisadores que buscam novas formas de trabalhar a matemtica. REFERNCIAS PETRY, Mary Rose; QUEVEDO, Zelia Rodrigues. A magia dos jogos na alfabetizao. Porto Alegre: Kuruap, 1993. BRASIL. Parmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. Matemtica. Braslia: Ministrio da Educao, 1998.
67
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
REFLEXES E EXPERINCIAS ACERCA DA PRTICA DOCENTE: EXPERINCIAS DO PIBID-MATEMTICA-UVA
Renata Moura da Silva30
RESUMO Este trabalho relata experincias vivenciadas no mbito escolar por uma bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciao a Docncia PIBID mais precisamente do subprojeto de Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara UVA. Entre os meses de fevereiro e junho de 2013 a estudante acompanhou turmas de 2 e 3 ano de uma escola pblica de ensino mdio na cidade de Sobral, interior do Cear. Este acompanhamento consistia de participao nas aulas com observaes e intervenes e tinha por finalidade melhor entender a realidade de professores e alunos em sala de aula. Paralelamente, mas a partir do que era observado em sala, fora realizada uma oficina usando cartes da Mega Sena para o estudo de anlise combinatria e probabilidade. Em ambas as atividades, notou-se a dificuldade e falta de interesse dos alunos. Isso tudo promoveu alm da insero em sala de aula, reflexes sobre o funcionamento do que ocorre no ambiente escolar, contribuindo, assim, para uma melhor formao da autora como futura professora. PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Formao. Reflexes. Oficina. Observao. INTRODUO O presente artigo apresenta as experincias adquiridas por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciao a Docncia (PIBID) do curso de licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara (UVA), localizada em Sobral, Interior do Cear. A educao sem dvida um dos mais importantes caminhos para a formao de um cidado. No se pode pensar em uma sociedade com princpios morais se a mesma no estiver pautada nos princpios educacionais. A fragilidade da educao em nosso pas visvel, onde muitos crticos educacionais discutem sobre o que fazer para que se tenha uma educao de qualidade. Um dos temas que mais se debate est no despreparo de professores para exercer essa prtica.
A preparao do professor torna-se ento um pilar fundamental na construo de um sistema de ensino eficaz. E assim como a educao do aluno deve ser cuidadosamente estudada e planejada para ser eficaz, a formao do educador tambm pressupe uma anlise das contingncias que atuam sobre o 30 Graduada. Egressa do Curso de Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciao a Docncia (PIBID)-CAPES. natty.3005@gmail.com.
68
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
seu comportamento e o planejamento para sua mudana( GIOIA e FONAI, 2007, p.180)
O PIBID um projeto que oferece bolsas de iniciao a docncia aos alunos de licenciatura e o objetivo antecipar o futuro professor para um maior vnculo com a de sala de aula, e melhor capacit-lo para posteriormente exercer sua profisso com melhor qualidade. De janeiro a junho de 2013, parte destas atividades desenvolvidas pela autora deste trabalho se deram no mbito acadmico e parte no Colgio Estadual Dom Jos Tupinamb da Frota, situado em Sobral, que atende estudantes do ensino fundamental e mdio. L foram realizadas observaes a fim de obter conhecimento acerca da realidade escolar em que se atuar, tornando-se possvel ter uma viso mais clara das dificuldades enfrentadas pelo corpo docente e alunos. J no ambiente da Universidade, se discutiu sobre a atuao na rea. OBJETIVOS GERAIS Refletir sobre a importncia da observao no processo de formao do docente, especialmente o que est cursando uma licenciatura. O estgio supervisionado, embora tenha tambm esta finalidade, no d ao licenciando a mesma flexibilidade para planejar o agir atravs de intervenes em sala de aula e realizao de projetos nas escolas como dado pelo PIBID. Desta forma, se por um lado h um ganho para aqueles universitrios que participam de projetos como esse, por outro lado h de se ter uma preocupao com a formao daqueles que no tm praticado de forma qualitativa a docncia antes da primeira oportunidade profissional. METODOLOGIA O trabalho realizado pelo subprojeto de Matemtica do PIBID/UVA nas escolas parceiras do programa basicamente dividido em duas partes: o trabalho em sala de aula observaes e intervenes e o desenvolvimento de projetos que visam a capacitao do universitrio j no seu futuro ambiente de trabalho. Foram realizadas observaes no perodo de fevereiro a junho de 2013, em turmas de 2 e 3 Ano do ensino mdio do Colgio Estadual Dom Jos Tupinamb da Frota pela autora deste trabalho. Estas observaes tiveram o objetivo de verificar a realidade escolar e o comportamento dos que participam desse ambiente, tanto estudantes, como professores. A visita escola se deu em aproximadamente 20 encontros, onde parte desses tinha o foco de analisar o comportamento dos estudantes e a postura do professor. Tambm houve participaes nos planejamentos semanais da rea de matemtica, onde geralmente se debatia que assunto se iria abordar quando eram programadas intervenes em que a bolsista atuaria e, com o auxlio do professor, se discutia que metodologias eram mais adequadas para a turma em que a aula estaria agendada. Dados os problemas observados em sala e em conjunto com outros bolsistas do PIBID/Matemtica/UVA que tambm atuam nesta escola, fora desenvolvido um projeto com o objetivo de se estudar algum contedo matemtico utilizando-se de ferramentas concretas do cotidiano do aluno. O bilhete da Mega Sena foi utilizado pelas bolsistas como instrumento que
69
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
facilitasse o aprendizado em probabilidade. Esta oficina fora desenvolvida em dois encontros por trs estudantes bolsistas do PIBID do curso de licenciatura em Matemtica com estudantes do 2 e 3 Ano do Ensino Mdio. DISCUSSO DOS RESULTADOS A chegada escola e o intervalo so horrios adequados para se conhecer o comportamento dos estudantes. possvel se observar a agitao da chegada, o trabalho que alguns do at para entrarem nas salas de aula, e que esse comportamento continua no restante do perodo em que permanecem na escola. Partindo do princpio que a escola uma pequena amostra da realidade das escolas brasileiras, realidade esta que ser enfrentada pelos graduandos em um futuro bem prximo, o que surge de incio a pergunta: De quem a culpa por tamanha desmotivao? O certo que no se encontrar um e somente um culpado, mas existem vrios fatores que influenciaro no mau comportamento e no desinteresse do estudante em aprender.
[...] a motivao para a aprendizagem exige considerar as caractersticas pessoais dos alunos, tendo em vista que a motivao se mostra diferente para cada indivduo, medida que possuem perspectivas de vida distintas; como tambm, o conjunto de fatores que se inter-relacionam no contexto escolar, ao passo que estes influenciam de forma significativa na motivao de cada aluno para aprendizagem. (CARVALHO, PEREIRA e FERREIRA, p.24)
J com relao ao docente, no perodo de observaes foi possvel identificar dois perfis bastante diferentes de professores de matemtica. O primeiro apesar de dominar bem o contedo que queria expor, no conseguia instigar os estudantes e isso deixa o ambiente dentro de sala constrangedor; os alunos definitivamente no ouviam o professor, a maioria passava o tempo todo brincando, conversando, dormindo, alguns at cantavam; outros usavam celulares e por mais que o docente tentasse atra-los, o retorno era demasiadamente pequeno. Por algumas questes particulares este professor teve que se ausentar, com outro professor assumindo a turma. O segundo professor usava de metodologias totalmente diferentes, sendo que em um breve espao de tempo havia ganhado seu espao diante dos alunos, fazendo com que estes mostrassem algum interesse pela matemtica. Foram usados jogos, competies e, quando possvel, as belezas da matemtica foram mostradas atravs da arte. Nas intervenes realizadas, poucos demonstravam interesse, maioria por sua vez se distraiam facilmente o que dificultava na absoro dos contedos expostos, percebia-se tambm que eles tinham dificuldades em assuntos que eram pr-requisitos para o contedo exposto e isso contribua para que perdessem o foco do assunto que se trabalhava, enquanto que outros conseguiam acompanhar com uma maior facilidade o estudo em pauta. Diante destes fatos percebeu-se a importncia que o professor tem no processo ensinoaprendizagem, e a conscincia do quo indispensvel para que essa aprendizagem ocorra. Mas para tanto, necessrio que esse professor esteja bem preparado para enfrentar esses problemas e, enfim, exera sua prtica de forma a ser um participante ativo na formao destes estudantes.
70
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Com relao ao projeto realizado, j na divulgao ficara evidente a desmotivao e o desinteresse dos estudantes em participar de atividades extra-sala de aula. Dos poucos que se inscreveram apenas sete compareceram. No entanto os estudantes que se propuseram a participar do projeto se mostravam empolgados, j que seria algo diferente daquilo que geralmente se costumava ver na sala de aula. E, de certa a forma, o ttulo do projeto despertou alguma curiosidade em descobrir se a Mega Sena era sorte, ou existia uma frmula que os levaria a ser um ganhador do prmio. Utilizou-se desses artifcios para que os estudantes envolvidos no projeto se mostrassem atrados a aprender probabilidade, uma vez que esse assunto enxergado por muitos alunos como difcil de assimilar, j que lhe convida pra um raciocnio mais intenso - como foi o comentrio um dos estudantes presentes. Todavia, com o auxlio dos bilhetes da Mega Sena, o estudo de probabilidade se tornara bem mais acessvel se comparado ao conhecimento que eles j possuam acerca de probabilidade, mas que ainda no estava bem trabalhado. O trabalho com material concreto um aliado fortssimo para a aprendizagem do aluno, isso ficou evidente tanto pelo projeto realizado, assim como pelas observaes em sala de aula, onde os estudantes se mostraram curiosos em saber como utilizar determinado material e ali-lo ao aprendizado. Os estudantes esto abertos s novidades e as mesmas os atraem; isso far com que sejam instigados a aprender matemtica com prazer. CONSIDERAES FINAIS Todo indivduo tem sua individualidade e personalidade prpria e traz consigo vrios problemas. Cada pessoa responde diferente a determinada ao, o que justifica o comportamento tanto do aluno quanto do professor em sala de aula. Diante disto, faz-se necessrio que o futuro educador esteja preparado para lidar com essas situaes da melhor forma possvel, sabendo que o mesmo o mediador para que a aprendizagem acontea. Esses trabalhos promoveram vrias reflexes sobre a diversidade de cada indivduo e que preciso que como mediadores da aprendizagem, que se tenha uma maior maturidade diante das adversidades que esto no ambiente escolar, o que no seria possvel entender esta realidade, se pelo contrrio no estivssemos integrados nela. REFERNCIAS GIOIA, Paula Suzana e FONAI, Ana Carolina Vieira. A preparao do professor em anlise do comportamento. Psicol. Educ. 2007, n.25, pp. 179-190. Disponvel em < http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psie/n25/v25a10.pdf> Acesso em: 29.06.2013. CARVALHO, M.F.N, PEREIRA, V.C e FERREIRA, S.P.A. A (Des) motivao da aprendizagem de alunos de escola pblica do ensino fundamental I: Quais os fatores envolvidos?. Universidade Federal do Pernambuco, UFPE, Pernambuco. Disponvel em <http://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2007.2/a%20desmotivao%20da%20apr endizagem%20de%20alunos%20de%20escola.pdf> Acesso em 17.07. 2013
71
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
TECNOLOGIAS INFORMTICAS NA EDUCAO MATEMTICA E A MEDIAO PEDAGGICA: APLICAO DE RECURSO GRFICO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DO CONCEITO DE FUNO
Ana Cludia Mendona Pinheiro31 Hermnio Borges Neto32
RESUMO Esse estudo objetivou discutir o uso do software educativo como recurso didtico para o ensino do conceito de funo linear. Foi desenvolvido numa escola da rede pblica de ensino no perodo de 2011 a 2012, como resultado da avaliao do rendimento escolar e da utilizao do laboratrio de informtica. A fundamentao terica apia-se nos estudos de Vigotsky. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ao subsidiada pela proposta metodolgica da Seqncia Fedathi e da Engenharia Didtica. A ferramenta utilizada foi o software Graphmatica for Windows e o recurso do Blog como suporte as atividades. Os resultados mostram que o uso do ambiente computacional para simulao e experimentao colabora na construo dos conceitos e melhoram a compreenso do aluno para a resoluo de exerccios. PALAVRAS-CHAVE: Ensino de funo linear. Graphmatica. Tecnologias informticas. INTRODUO As tecnologias tm acrescentado valores histricos na educao de relevncia na atualizao do currculo escolar e acadmico, na discusso e implementao das dinmicas de sala de aula e no uso educativo do computador. O uso do computador na escola passa a ser uma realidade de imposio dos PCN (1998) quando se especifica sobre uma educao bsica, ensino fundamental e mdio, para atender a uma necessidade de atualizao da educao brasileira e de ampliao da parcela de jovens com capacidade para responder a desafios impostos por processos globais que reclamam por trabalhadores mais qualificados para serem inseridos no sistema de produo e servio. No que diz respeito mais propriamente ao uso do computador no ensino de matemtica, os PCN elegem essa tecnologia como favorvel ao ensino e aprendizagem (PCN, 1998b, p.43). Afirmam que:
Cursando Doutorado em Educao Brasileira pela Faculdade de Educao-FACED da Universidade Federal do Cear-UFC.
32
31
Doutorado em Matemtica pela Associao Instituto Nacional de Matemtica Pura e Aplicada, Brasil(1979). Professor Associado da Universidade Federal do Cear , Brasil
72
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O fato de, neste final de sculo, estar emergindo um conhecimento por simulao, tpico da cultura informtica, faz com que o computador seja tambm visto como um recurso didtico cada dia mais indispensvel. Ele apontado como um instrumento que traz versteis possibilidades ao processo de ensino e aprendizagem de Matemtica, seja pela sua destacada presena na sociedade moderna, seja pelas possibilidades de sua aplicao nesse processo. Tudo indica que seu carter lgico-matemtico pode ser um grande aliado do desenvolvimento cognitivo dos alunos, principalmente na medida em que ele permite um trabalho que obedece a distintos ritmos de aprendizagem. (PCN, 1998b) A quantidade de informao que se produz por hora em todo o mundo muito grande, no podendo permitir no sistema educacional processos que valorizem a memorizao de dados, mas que promovam o desenvolvimento de soluo e anlise de resultados e do raciocnio lgicoformal. Dessa forma, no s o computador, mas a TIC's33 devem ser inseridas na prtica pedaggica para contribuir com a melhoria dos resultados no ensino de matemtica. Nas atividades em sala de aula com os contedos matemticos, presenciamos constantemente dificuldade dos alunos em organizar o pensamento para responder questionamentos sobre o desenvolvimento de uma conjectura, na leitura do livro texto e na representao do pensamento com a linguagem matemtica. Como inserir o computador nas aulas de matemtica para favorecer a compreenso de conceitos matemticos sobre funes nos contedos do primeiro ano do ensino mdio? H um baixo uso do laboratrio de informtica por professores de matemtica. Os alunos comparam as aulas da disciplina de matemtica com outras disciplinas e reclamam por melhorias no sentido de terem aulas mais prazerosas. Entendemos que os alunos no se sentem motivados por no serem desafiados, mas receptores de uma metodologia em que so passivos na aprendizagem. Trocar a metodologia desafiante, mas tambm tem aspectos motivacionais do ponto de vista de quem ensina. Conhecer as dificuldades dos alunos, mas tambm buscar por movimentos mais direcionados as aprendizagens pode fazer o professor buscar por atualizaes sobre o ensino e melhorias nos resultados da aprendizagem dos alunos. OBJETIVO GERAL Esse estudo objetivou discutir o uso do software educativo como recurso didtico para o ensino do conceito de funo linear. Apresentamos resultados significativos do ponto de vista de aprendizagem obtidos com a utilizao de recurso grfico no ambiente computacional, das TIC's e da mediao pedaggica no ensino do conceito de funo linear. Nosso enfoque encontra-se na mediao com o uso dessas tecnologias com um pblico alvo da escola pblica da rede estadual de ensino. No tivemos a inteno de formular uma metodologia, mas de realizar uma proposta pedaggica junto coordenao pedaggica e corpo docente da escola.
33
Tecnologias de Informao e Comunicao
73
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
METODOLOGIA Como recurso grfico foi utilizado o Software Graphmatica for Windows na verso freeware disponvel na internet. A escolha desse software deu-se pela adaptao ao Sistema Operacional Windows que se encontra instalado nas mquinas do Laboratrio de Informtica, pela verso gratuita, por ser de fcil manuseio pelo aluno e, principalmente, por atender, na ntegra, aos objetivos dessa pesquisa experimental. Novas Tecnologias complementando Velhos Contedos Introduzir uma tecnologia no contedo disciplinar apropriar-se de um recurso tcnico ou ferramenta tecnolgica para colaborar no ensino-aprendizagem objetivando adquirir melhores resultados na construo do conhecimento. Pensar essa tecnologia como recurso didtico modifica o ensino aprendizagem do contedo: do ponto de vista do professor, metodologicamente ser necessrio pensar a sala de aula como outro ambiente, nova organizao do plano de ensino e ritmo de elaborao do conceito; do ponto de vista do aluno, modifica sua atuao diante a conduo de sua aprendizagem e na interao com os colegas. O computador como ferramenta tecnolgica para o ensino de matemtica proporciona um ambiente favorvel a simulao e experimentao, tanto para o aluno como para o professor. Para Carraher (1982),
... a contribuio mais importante do computador para a educao corresponde a de ... possibilitar ou sustentar atividades especiais que seriam difceis ou at impossveis de serem realizadas sem o computador, atividades que constituem oportunidades especiais para aprender. (CARRAHER, 1982)
Assim, s se justifica a utilizao deste recurso em casos que a tecnologia (computador, mquina de calcular com visor grfico, tablets) possa obter resultados melhores ou impossveis que tecnologias tradicionais no digitais j obtenham e com contribuies mais significativas (BORGES NETO, 2001). A escola quando se apropria e incorpora os avanos das tecnologias na prtica educativa, visando obter resultados de forma adequada, eficaz e com qualidade deve preocupar-se com a utilizao pedaggica correta dessas ferramentas de modo a articular contedos, planejamentos e tecnologia para que colaborem para complementar, apoiar ou reforar aulas tericas. Esse trabalho originado de resultados de observaes realizadas com turmas de primeiro ano do ensino mdio por dois anos no ensino do conceito de funo linear. A dificuldade maior foi verificada na compreenso do significado do coeficiente linear e coeficiente angular na equao. A melhor estratgia de trabalhar essas dificuldades atravs da construo grfica da funo com abordagem diversa de casos. Porm, essa estratgia desprende muito tempo e trabalho braal se realizada no quadro de giz. Nos ltimos dois anos, trabalhado o conceito de funo linear, percebemos que a utilizao do raciocnio abstrato e a linguagem excessivamente formal necessitam de auxlio grfico para estimular o aluno na criao e resoluo de problemas. Durante a aplicao de uma atividade pedaggica com uma turma de 40 alunos foi percebido que a anlise grfica na resoluo de
74
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
problemas relevante no aprendizado do conceito de funo. A manipulao do software possibilita ao aluno exercitar um maior nmero de atividades. A aplicao dessa atividade tencionou colaborar com o ensino de matemtica junto a alunos da rede estadual de ensino atravs do uso educativo do laboratrio de informtica. Atravs de pesquisa, anlise, criao e aperfeioamento de atividades matemticas relacionadas ao contedo de funo linear e equao da reta do ensino mdio que pudessem ser realizadas com o uso do Software Graphmatica for Windows. Buscamos a integrao do contedo, computador e TIC's com a utilizao de atividades disponveis em um Blog para desenvolvimento com o software. DISCUSSO DOS RESULTADOS Informtica Matemtica x Mediao Pedaggica As competncias as serem seguidas durante o ensino mdio, como complemento aos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, na rea de Cincias da Natureza, Matemtica e suas Tecnologias de acordo com os PCN (2002) diz respeito representao e comunicao, investigao e compreenso, e contextualizao scio-cultural. Para possibilitar o desenvolvimento dessas competncias em Matemtica, com relevncia cientfica e cultural e com uma articulao lgica das ideias, os contedos foram sistematizados em trs eixos temticos: 1) lgebra; 2) Geometria; e 3) Anlise de Dados. Esses temas devem ser desenvolvidos de forma concomitante nas trs sries. Pensando em contemplar o tema de lgebra e trabalhar as tecnologias digitais, foi elaborado situaes didticas que favorecessem a experimentao, o trabalho em grupo e a discusso com os pares em turmas de primeiro e terceiro ano do ensino mdio para trabalhar o significado grfico dos coeficientes linear e angular de uma funo linear e da equao de reta. Como sabemos, matemtica no pode ser ensinada como receita de bolo e nem o aluno capaz de absorver tal conhecimento sem entender o processo de construo, com exerccios repetitivos objetivando assimilao de frmulas. Para Freire (1996), ensinar no transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produo ou a sua construo. As atividades foram estruturadas em dez proposies para possibilitar ao aluno desenvolver representaes mentais do significado desses coeficientes na representao algbrica da funo e da equao linear da reta. Desde proposies simples como identifique na funo y = x o coeficiente angular e linear, at proposies como varie o coeficiente angular com valores entre -1 e 1 para produzir grficos da funo y = x, o aluno foi solicitado na ao de produzir grficos, discutir a CONCLUSO de cada proposio com o colega, e sobretudo, revisar a teoria como apoio as dvidas, sem contudo repet-las mecanicamente e exaustivamente. O desenvolvimento de habilidade para operar mentalmente sobre o mundo, inerente ao ser humano, de maneira a fazer relaes, planejar, comparar ou at mesmo lembrar, requer aes que se organizam a partir de um processo de representao mental. Operar mentalmente no constitui uma relao direta com o mundo real fisicamente presente, mas uma relao mediada por aes internalizadas que representam os elementos do mundo, dispensando a interao concreta com os
75
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
objetos de seu pensamento. Vygotsky (2001) definiu mediao como o processo de interveno de um elemento intermedirio numa relao, da, essa relao deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento. Para compreender esse processo necessrio compreender questo sobre a internalizao. Em seus estudos, Vygotsky (2001) considerou a interao do ser humano com a realidade fsica, como resultado de internalizao de esquemas que representam as regularidades das aes fsicas individuais generalizadas, abstradas e internalizadas. Nesse sentido, a internalizao compreendida como a transformao do fenmeno scio cultural em processos intrapsicolgico (VYGOTSKY, 2001). Para a educao, precisamente para a matemtica, as aes generalizadas, so esquemas mentais particularizados em cada ser humano, pois cada indivduo elaborou sua maneira de construo de determinado conceito. Seria ingnuo pensar que num grupo de alunos prontos para estudar o algoritmo da multiplicao, todos utilizassem da mesma estratgia para o clculo da adio, que pr-requisito para esse estudo. Levando em conta esses limites para operar mentalmente e as possibilidades intelectuais, Vygotsky (2001) relacionou a aprendizagem com o desenvolvimento de um campo denominado de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP):
... a distncia entre o nvel de desenvolvimento real, que se costuma determinar atravs da soluo independente de problemas, e o nvel de desenvolvimento potencial, determinado atravs da soluo de problemas sob a orientao de um adulto ou em colaborao com companheiros mais capazes. (Vygotsky, 2001).
Dessa forma, atravs da identificao da ZDP do aluno, pode-se diagnosticar o que ele j produziu sozinho, mas principalmente o que poder produzir em seu processo de desenvolvimento. Nas atividades com o software o aluno imprimiu seu ritmo de ao, escolheu seu par para trabalhar como respeito a sua facilidade de dialogar para discutir os resultados. A interao foi realizada no sentido de orientar o desenvolvimento do aluno para que ele pudesse se apropriar dos instrumentos de mediao ou dos esquemas mentais necessrios para avanar nos resultados. CONSIDERAES FINAIS A "ideia de funo" e a visualizao de alguns resultados desse conceito so pr-requisitos importantes para aprendizagem de outros conceitos que o aluno do ensino mdio necessita para ampliar seus conhecimentos. Dentre esses resultados podemos destacar os intervalos de crescimento e decrescimento de uma funo, e os zeros de uma funo. Apesar das contribuies que a utilizao de recursos grficos oferece ao ensino de matemtica, percebe-se que no h uma utilizao sistemtica desse recurso por parte dos professores devido a fatores que variam desde a falta de domnio das ferramentas computacionais, at a resistncia de adaptar o planejamento aos recursos tecnolgicos disponveis na escola. Por outro lado, percebe-se certa motivao e interesse por parte dos alunos em ambientes virtuais, facilitando, sobremaneira, a compreenso e apreenso de conceitos matemticos. Pensando nessas questes e na possibilidade de usar uma ferramenta mais simples e especfica ao estudo de funes
76
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
utilizamos o software Graphmatica for Windows. Esse recurso apresentou contribuio significativa no processo de ensino-aprendizagem, bem como de ordem prtica e econmica. Conseguirmos sensibilizar coordenadores e professores na busca de elaborao de propostas para o uso do computador, com a manipulao e visualizao dos conceitos matemticos, para atingir uma maior aceitao por parte dos nossos alunos num processo dinmico de aprendizagem matemtica. REFERNCIAS BORGES NETO, Hermnio; SANTANA, Jos Rogrio. Fundamentos Epistemolgicos da Teoria de Fedathi no Ensino de Matemtica Anais do XV EPENN - Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste: Educao, Desenvolvimento Humano e Cidadania, vol. nico, So Lus (MA), 2001, p594. BRASIL. Secretaria de Educao Fundamental. Parmetros Curriculares Nacionais: Matemtica. Ensino de 5 a 8 Srie, Braslia, MEC /SEF, 1998b. BRASIL. Ministrio da Educao. Secretaria da Educao Mdia e Tecnolgica. Parmetros Curriculares Nacionais + (PCN+) - Cincias da Natureza e suas Tecnologias. Braslia: MEC, 2002. CARRAHER, David Willian. Na vida dez, na escola zero: os contextos culturais da aprendizagem da matemtica. Cadernos de pesquisa, So Paulo, 1982. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessrios da prtica educativa. Editora Paz e Terra S.A., So Paulo, SP, 1996, 165p. VYGOTSKY, Lev S. Aprendizagem e desenvolvimento, um processo scio-histrico. So Paulo: Editora Martins Fontes, 2001. Traduo Marta Koll
77
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
PROJETO OBAMA: LEVANTAMENTO E CLASSIFICAO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM DE MATEMTICA
Dennys Leite Maia34 Francisca Wellingda Leal da Silva35 Joserlene Lima Pinheiro36 Marcilia Chagas Barreto37 Nassara Maia Cabral Cardoso38 Paulo Csar da Silva Batista39 Rayssa Melo de Oliveira40
RESUMO A chegada das Tecnologias Digitais (re)significam os processos de ensino e aprendizagem. Pensar em novas formas de ensinar usando o computador, seja ele desktop, laptop, tablet ou mesmo smartphones, torna-se crescentemente necessrio. O OBJETIVO GERAL deste trabalho apresentar a pesquisa inserida nas atividades em andamento do Grupo de Pesquisa Matemtica e Ensino (MAES) denominada: Projeto Objetos de Aprendizagem (OA) para a Matemtica (OBAMA). Nossos objetivos especficos, so descrever os repositrios visitados e divulgar a catalogao dos OA, apresentando o quantitativo identificado e sua adequao quanto o trabalho com os quatro blocos de contedos de Matemtica e os nveis de ensino para os quais estes recursos so voltados. O levantamento fundamenta-se na metodologia de pesquisa qualiquantitativa. A escassez de recursos dessa natureza para a educao infantil e a predominncia de recursos voltados para contedos do bloco Nmeros e operaes, nos repositrios analisados, sinalizam aos grupos de desenvolvimento de OA. Faz-se necessria uma maior ateno equalizao dos recursos oferecidos para o trabalho de contedos matemticos, tomando por referncia os blocos de contedos explicitados nos PCN, bem como o atendimento s especificidades dos nveis de ensino da educao nacional. PALAVRAS-CHAVE: Educao Matemtica; Objetos de Aprendizagem; OBAMA; INTRODUO Com o advento da tecnologia digital (TD) na sociedade atual, o computador torna-se, cada vez mais, uma ferramenta comum nos ambientes e cotidiano das pessoas. Tratando-se da rea da Educao, a chegada das TD (re)significa os processos de ensino e de aprendizagem. Pensar em novas formas de ensinar usando o computador, seja ele desktop, laptop, tablet ou mesmo smartphones, torna-se crescentemente necessrio.
34
Mestre em Educao; Aluno do doutorado em Educao brasileira da Universidade Federal do Cear (UFC) e professor substituto da Universidade Estadual do Cear (UECE); dennysleite@gmail.com; 35 Graduanda em Pedagogia; Bolsista de Iniciao Cientfica da UECE (IC/UECE); wellingdaleal@gmail.com; 36 Pedagogo; Bolsista do mestrado no Programa de Ps-Graduao em Educao (CAPES/PPGE-UECE); lenofortal01@gmail.com; 37 Ps-doutora em Educao; Professora adjunta da UECE e lder do grupo de pesquisa Matemtica e Ensino (MAES); marcilia_barreto@yahoo.com.br; 38 Graduanda em Pedagogia; Bolsista de IC/UECE; nassaramaia@gmail.com; 39 Graduando em Pedagogia; Bolsista de IC/FUNCAP; paulocesarsb35@gmail.com 40 Graduanda em Pedagogia; Bolsista de IC/FUNCAP; rayssamelodeoliveira@gmail.com;
78
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Concordamos com Miskulin (1999, p. 2) quando explica que educar em uma Sociedade da Informao muito mais do que treinar pessoas no uso das novas tecnologias; trata-se em formar os indivduos para aprender a aprender. Nessa perspectiva as TD contribuem para a aprendizagem matemtica dos alunos da Educao Bsica em diferentes dimenses. De acordo com Mendes (2009) o uso de computadores contribui para que professores e alunos superem alguns obstculos no processo de ensino e aprendizagem da Matemtica. Para alm do hardware, faz-se necessrio compreender e utilizar softwares que permitam o trabalho pedaggico. Este o caso dos recursos digitais utilizados para apoiar situaes de aprendizagem (WILEY, 2001) conhecidos como Objetos de Aprendizagem (OA). Os OA catalogados so aqueles que exploram contedos disciplinares de forma interativa e multimiditica. OBJETIVOS GERAIS Pinheiro, Maia e Barreto (2013), atestam que os repositrios de OA ainda so desconhecidos por muitos professores que ensinam Matemtica. Frente este fato, o OBJETIVO GERAL deste trabalho apresentar a pesquisa inserida nas atividades em andamento do Grupo de Pesquisa Matemtica e Ensino (MAES) denominada: Projeto Objetos de Aprendizagem para a Matemtica (OBAMA). Para este trabalho, nossos objetivos especficos, so descrever os repositrios visitados e divulgar a catalogao dos OA, conforme o quantitativo identificado e sua adequao para o trabalho com os quatro blocos de contedos de Matemtica, e os nveis de ensino para os quais estes recursos so voltados. METODOLOGIA A presente pesquisa possui cunho quali-quantitativo. Ao realizarmos o levantamento quantitativo, preocupamo-nos, tambm, com a descrio de seus repositrios e com a classificao dos OA, conforme os quatro blocos de contedos do PCN de Matemtica, quais sejam: Nmeros e operaes; Espao e forma; Grandezas e medidas e Tratamento da informao. Definidos os repositrios que constam neste levantamento, convm registrar que, como ferramenta de coleta de dados, utilizamos uma ferramenta colaborativa que permite a elaborao de formulrios online. Este tipo de ferramenta permite a avaliao do desenvolvimento da investigao, a adequao e o redirecionamento dos procedimentos inicialmente travados, durante o levantamento. Apesar de alguns repositrios eventualmente apresentarem duplicidade de OA, consideramos relevante contabiliz-los nesta catalogao. Esta opo prev a possibilidade da existncia de links que no ofeream acesso ao recurso em um dos repositrios, sendo o registro do mesmo em diferentes locais, uma maneira de recuperao do link. Ademais, destacamos o fato que um mesmo OA, potencialmente, pode ser trabalhado em mais de um nvel de ensino e contemplar contedos de mais de um bloco de contedo, o que implica sua (re)contagem, de acordo com os critrios de agrupamento. Expomos, inicialmente, uma breve descrio dos repositrios analisados e alguns dos dados obtidos e, ao final desta seo, os quantitativos absoluto e relativo dos OA analisados em cada
79
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
repositrio (figura 01). Esclarecidos os objetivos e metodologia, apresentamos alguns achados da pesquisa. DISCUSSO DOS RESULTADOS Um levantamento prvio a partir do Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem (BIOE) (http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/) apresentou 40 (quarenta) OA. No entanto, destes, apenas 02 (dois) eram diretamente acessveis. Considerando pesquisas que indicam a limitada formao inicial de professores para o uso de TD, alm da falta de articulao e continuidade das formaes continuadas para tal (BORBA, 2011; MAIA; BARRETO, 2012; SALLES; BAIRRAL, 2012), a divulgao de repositrios que no disponibilizem de forma direta os OA algo crtico. Por esta ocorrncia optamos por investigar outras fontes. Esta pesquisa permitiu elencarmos 9 (nove) repositrios entre iniciativas do Governo Federal (a-h) e de instituies privadas (i) engajadas na produo de OA. Convm registrar que todos os OA disponveis nesses repositrios esto sob licena Creative Commons41. Do exposto, passamos apresentao dos repositrios analisados, quais sejam: a) O repositrio RIVED MEC (http://rived.mec.gov.br) alberga OA divididos entre as reas de: Artes, Biologia, Cincias, Engenharia, Filosofia, Fsica, Geografia, Histria, Matemtica, Portugus e Qumica. Aqui dispomos de 21 (vinte e um) OA para o ensino de Matemtica. Constatamos o foco nos contedos dos blocos Nmeros e operaes e Grandezas e medidas e a predominncia de recursos para o Ensino mdio. b) No repositrio Fbrica Virtual do Centro Universitrio Franciscano (RIVED UNIFRA) (http://sites.unifra.br), os OA esto divididos nas seguintes reas: Biologia, Filosofia, Fsica, Geografia, Histria, Letras, Qumica, Matemtica e Pedagogia. Os 11 (onze) OA voltados para o ensino de Matemtica, do maior nfase ao bloco de contedos Nmeros e operaes. O RIVED - UNIFRA disponibiliza estes recursos, principalmente para os anos finais do Ensino Fundamental; c) O Repositrio Fbrica Virtual da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (RIVED UNIJU) (http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/fabrica_virtual) alberga OA predominantemente para a Matemtica. Alm desta, a nica disciplina abordada a Fsica. Neste repositrio, so 28 (vinte e oito) OA para o ensino de Matemtica, em que predomina o ensino de contedos dos anos finais do Ensino Fundamental e o bloco Nmeros e operaes. d) O repositrio Fbrica Virtual da Universidade Federal de Uberlndia (RIVED - UFU) (http://www.rived.ufu.br ) disponibiliza OA para o ensino de Matemtica e Qumica. Para o ensino de Matemtica so 04 (quatro) OA, todos voltados para o ensino dos contedos do bloco Grandezas e medidas e com foco no Ensino Mdio. e) Analisando o repositrio Laboratrio Virtual (LabVirt USP) (http://www2.fe.usp.br/~mef-pietro/rived/fabrica_virtual.html), constatamos a produo de
Licenas Creative Commons so normas criadas pela organizao homnima, sem fins lucrativos, que permitem o compartilhamento e reutilizao de artefatos culturais atravs da disponibilizao de ferramentas jurdicas gratuitas.
41
80
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
OA, em sua totalidade, voltados para ensino de Fsica no Ensino Mdio. Embora o foco do repositrio seja o trabalho com contedos desta disciplina, 3 (trs) OA so considerados neste levantamento por trabalharem contedos dos blocos Espao e forma e Nmeros e operaes. f) O repositrio do Grupo de Pesquisa e Produo de Ambientes Interativos e Objetos de Aprendizagem da Universidade Federal do Cear (PROATIVA - UFC) (http://www.proativa.vdl.ufc.br) alberga OA para as disciplinas de Linguagens, Cincias, Qumica, Biologia, Fsica e Matemtica. Para esta disciplina, so 12 (doze) OA. Destes, a nfase so os anos finais do Ensino Fundamental e os blocos de contedo Nmeros e operaes e Grandezas e Medidas. g) O repositrio Matemtica Multimdia da Universidade Estadual de Campinas (M3 UNICAMP) (http://m3.ime.unicamp.br ) voltado exclusivamente para o ensino da Matemtica no Ensino Mdio. So 34 (trinta e quatro) OA que do enfase semelhante aos contedos dos blocos Nmeros e operaes, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informao. h) O grupo Mdias Digitais para a Matemtica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (MDMat - URFGS) (http://mdmat.mat.ufrgs.br/anos_iniciais) disponibiliza um repositrio exclusivamente voltado para a Matemtica com foco nos anos iniciais do Ensino Fundamental. So 56 OA, e a predominncia so recursos para dos blocos Nmeros e operaes e Espao e forma. i) O Ncleo de Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem Significativa do Sistema de Ensino CNEC (NOAS) (http://www.noas.com.br) disponibiliza OA para o ensino de Histria, Geografia, Portugus, Ingls, Espanhol, Fsica, Qumica, Biologia, Cincias, Filosofia e Matemtica. So 50 OA para o ensino de Matemtica, predominantemente para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Ademais, constatamos que a produo deste repositrio enfatiza o bloco Nmeros e operaes. Este primeiro levantamento, ressalta a importncia do acesso direto ao OA, com informaes que deixem claro para o professor as possibilidades de uso dos recursos. Portanto, ainda so necessrios maiores esforos para que, ao realizar a catalogao de OA, os repositrios valorizem no apenas o recurso per se mas, de modo complementar, o fornecimento de manuais de uso, tcnicos e opo para download do recurso, elementos nem sempre presentes nos repositrios analisados.
81
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Figura 16 Quantitativos de OA por repositrios, blocos de contedo e nveis de educao. Fonte: Autor
Conforme a figura 16, verificamos a predominncia de contedos do bloco Nmeros e operaes entre os OA analisados. Portanto, podemos sinalizar aos grupos de desenvolvimento, uma necessria dedicao de maiores esforos para equalizar a produo dos recursos oferecidos para o trabalho de contedos matemticos, tomando por referncia os blocos de contedos explicitados nos PCN. O mesmo pode ser dito quanto elaborao que contemple as etapas de ensino ao longo da educao Bsica. CONSIDERAES FINAIS A partir dos resultados dessa pesquisa, esperamos contribuir para a formao professores e a aprendizagem dos alunos quanto ao uso dos repositrios. Oferecendo essas ferramentas para auxiliar no planejamento de aulas, esperamos auxiliar no Ensino da Matemtica. Apesar de encontrarmos algumas dificuldades quanto ao funcionamento dos repositrios, existem possibilidades de encontrar OA que vo contribuir para o ensino e aprendizagem dos discentes. Visto que as Tecnologias Digitais so uma tendncia na educao Matemtica espera-se que, com a criao do OBAMA, venhamos a contribuir com a formao e atuao profissional dos professores de Matemtica da Educao Bsica. Compreendemos este como um primeiro passo fundamental para a promoo de futuras capacitaes que contribuam com uma mudana efetiva sobre a percepo do uso da tecnologia na educao matemtica.
82
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
REFERNCIAS BORBA, M. C. Educao Matemtica a Distncia Online: Balano e Perspectivas. In: XIII Conferncia Interamericana de Educao Matemtica. Anais... , 2011. Disponvel em: <http://www.cimm.ucr.ac.cr/ocs/files/conferences/1/schedConfs/1/papers/2853/public/285310906-1-PB.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2013. MAIA, D. L.; BARRETO, M. C. Tecnologias digitais na educao: uma anlise das polticas pblicas brasileiras. Educao, Formao & Tecnologias. v. 5, n. 1, 2012. MENDES, I. A. Matemtica e investigao em sala de aula: tecendo redes cognitivas na aprendizagem. So Paulo: Editora Livraria da Fsica, 2009. MISKULIN, R. G. S. Concepes Terico-Metodolgicas sobre a INTRODUO e a Utilizao de Computadores no Processo Ensino/Aprendizagem da Geometria. Campinas: Faculdade de Educao da UNICAMP (Tese de Doutorado em Educao Matemtica), 1999. PINHEIRO, J. L; MAIA, D. L.; BARRETO, M. C. Recursos didticos digitais para o ensino da matemtica: elementos necessrios para formao de professores. In: XVI CONFERNCIA GPIMEM: 20 ANOS. Anais... Rio Claro, SP: UNESP, 2013. SALLES, A. T.; BAIRRAL, M. A. Interaes docentes e aprendizagem matemtica em um ambiente virtual. Investigaes em Ensino de Cincias, v. 17, n. 2, p. 453466, 2012. WILEY, D. A. Connecting learning objects to instructional design theory: A definition a metaphor, and a taxonomy. 2001. Disponvel em: <http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc>. Acesso em 15 jul.2013
83
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
PARTE III: EIXO DE ENSINO DE MSICA
84
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
A GNESE DO CAMPO DE PESQUISA EM EDUCAO MUSICAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR
Luiz Botelho Albuquerque42 Matheus Santiago Moreira43 Pedro Rogrio44 Sarita Cristina Saito45 Yure Pereira de Abreu46
RESUMO: Este trabalho traz anlises da pesquisa Campo Epistemolgico da Msica que busca compreender o fomento do campo de pesquisa em Educao Musical na Universidade Federal do Cear - UFC. A partir das primeiras dissertaes desenvolvidas no Eixo de Pesquisa Ensino de Msica foi possvel verificar a gnese do campo de pesquisa que surge da interseco entre as reas de Educao e Msica. Analisamos os ttulos e as PALAVRAS-CHAVE das dissertaes orientadas pelo primeiro pesquisador do Eixo. Este artigo tambm analisa a trajetria do agente de maneira a compreender a relevncia que a Educao Musical tem em sua formao. A praxiologia de Pierre Bourdieu forneceu o suporte terico para a compreenso dos dados analisados atravs dos conceitos habitus e campo. Atravs do conceito de habitus foi possvel perceber que a trajetria do orientador vincula, desde o incio de sua atuao profissional, os campos da Educao e da Msica; dado este que se reproduz nas opes acadmicas desenvolvidas e que aponta para o incio do campo de pesquisa em Educao Musical na UFC. PALAVRAS-CHAVE: Campo Epistemolgico da Msica. Habitus. Campo. Educao Musical. INTRODUO Este artigo apresenta a pesquisa intitulada Campo Epistemolgico da Msica, que analisa o campo de Educao Musical no Programa de Ps-Graduao em Educao Brasileira PPGED
42
Graduado em Msica (Composio e Regncia) pela Universidade de Braslia (1971), Mestre em Educao pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1980) e Doutor em Sociologia da Educao - University of Iowa (1990). Atualmente Professor Associado 2 lotado no Departamento de Teoria e Prtica do Ensino da Faculdade de Educao da Universidade Federal do Cear. E-mail: luizbotelho@uol.com.br 43 Graduando em Msica Licenciatura pela Universidade Federal do Cear. E-mail: matmos_sant@hotmail.com. 44 Graduado em Msica Licenciatura pela UECE, Mestre e Doutor em Educao pela FACED / UFC. Professor Adjunto lotado no Curso de Msica ICA / UFC. E-mail: pedromusica@yahoo.com.br. 45 Graduanda em Msica Licenciatura pela Universidade Federal do Cear. E-mail: sarita_saito@hotmail.com. 46 Graduando em Msica Licenciatura pela UFC. Integrante do Laboratrio de Epistemologia da Msica e Grupo de pesquisa Ensino de Msica. E-mail: yuredeabreu@alu.ufc.br.
85
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
da UFC e este texto, mais especificamente, analisa os trabalhos orientados pelo professor Luiz Botelho Albuquerque. O professor Albuquerque foi escolhido por ser o primeiro orientador no Eixo Temtico Ensino de Msica, que est ligado Linha de Pesquisa Educao, Currculo e Ensino LECE do PPGED da UFC e por este mesmo motivo acompanha um maior nmero de trabalhos de mestrado e doutorado. Importante se faz conhecer um pouco da trajetria do professor Albuquerque para que tenhamos uma viso de sua formao e a relevncia do campo de Educao Musical em sua produo acadmica, como nos enfatiza Elias: O esclarecimento das conexes de um artista e sua obra tambm importante para a compreenso de ns mesmos [...]. (ELIAS, 1995, p.57) O professor Luiz Botelho Albuquerque47 graduado em Msica (Composio e Regncia) pela Universidade de Braslia UnB (1971), Mestre em Educao pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1980) e Doutor em Sociologia da Educao - University of Iowa (1990). Atualmente Professor Adjunto IV da Universidade Federal do Cear. Tem experincia na rea de Educao, com nfase em Fundamentos da Educao, atuando principalmente nos seguintes temas: Educao, Msica, Educao Artstica, Currculo cultural e Educao Ambiental. OBJETIVO GERAL O objetivo compreender o incio do fomento do campo de pesquisa em Educao Musical no PPGED da UFC. O trabalho tambm olha para a trajetria do pesquisador-orientador no sentido de identificar os capitais acumulados e compreender sua posio no campo. METODOLOGIA Habitus O conceito de habitus central para a compreenso do desenvolvimento do agente pesquisado e as suas escolhas de orientaes no mestrado permitindo identificar um conjunto de disposies incorporadas que se exteriorizam no percurso individual e estabelece opes estratgicas em busca da legitimao das suas opes acadmicas. O habitus opera como uma estrutura estruturante que organiza as prticas e a percepo das prticas (BOURDIEU, 2007, p.57). Ns nascemos em um mundo estruturado socialmente, em meio a foras que agem sobre todos, nas instituies hierrquicas e mergulhados em valores simblicos diversos48. Conforme o espao social em que nos interagimos, interiorizamos estruturas que passam a constituir nossa lente de leitura da realidade, e as exteriorizamos em nossas escolhas, julgamentos, gostos, atitudes; ou seja, o habitus nos fornece um senso prtico (BOURDIEU, 2009, p.25) que funciona como uma senha de acesso ao mundo, uma chave de decodificao que tanto mais eficaz quanto mais sua formao se der em espaos diversos, plurais, de forma a oferecer uma variedade de possibilidades de leitura da realidade.
Texto informado pelo professor Albuquerque, disponvel na Plataforma Lates no endereo eletrnico: <http://lattes.cnpq.br/1238913601532185>. Acessado em 25 de junho de 2013 48 A questo do poder simblico, para este artigo, ainda que no tratada especificamente, pode ser percebida por um trnsito constante indireto por ser inerente a composio da correlaes de foras dentro da noo de campo
47
86
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O habitus na qualidade de um sistema de disposies no formado de uma hora para outra. A incorporao das REFERNCIAS de leitura da realidade um processo que se realiza na prtica, no contato entre os indivduos, logo, em um ambiente datado historicamente. As estruturas das instituies sociais, que se modificam com o passar do tempo, conforme mudanas polticas, ideolgicas, tecnolgicas, enfim, culturais, se conformam nos indivduos constituindo suas disposies e os indivduos, por sua vez, tendem a se adequar a este ambiente no qual se socializaram. Campo Os capitais e a constituio do habitus somente fazem sentido em um contexto e para isso necessrio a visualizao do espao social. A anlise deste espao trazida por Bourdieu atravs do conceito de campo, que nos ajuda a compreender o espao onde se desenham as trajetrias dos agentes. O autor assim define espao:
(...) de fato diferena, separao, trao distintivo, resumindo, propriedade relacional que s existe em relao a outras propriedades. Essa idia de diferena, de separao, est no fundamento da prpria noo de espao, conjunto de posies distintas e coexistentes, exteriores umas s outras, definidas umas em relao s outras por sua exterioridade mtua e por relaes de proximidade, de vizinhana ou de distanciamento e, tambm, por relaes de ordem, como acima, abaixo e entre (...) (Bourdieu, 2001:18).
A noo de campo pode ser entendida como um espao estruturado onde os agentes orbitam. A fora de atrao entre os agentes decorre de habitus semelhantes que geram interesses prximos e formas de compreenso da realidade similares. Com a chegada de novos agentes interessados em seus projetos de pesquisa que passam a desenvolver suas dissertaes e teses, traz para esse espao um maior volume de capital acadmico que torna possvel visualizar e compreender como foi o incio da constituio de um campo de pesquisa em Educao Musical na UFC. importante percebermos que cada campo tem suas regras prprias, que dependendo da posio de cada agente as estratgias sero diversas. Trazemos as reflexes de Bourdieu:
[...] descrevo o espao social global como um campo, isto , ao mesmo tempo, como um campo de foras, cuja necessidade se impe aos agentes que nele se encontram envolvidos e como um campo de lutas, no interior do qual os agentes se enfrentam, com meios e fins diferenciados conforme sua posio na estrutura do campo de foras, contribuindo assim para a conservao ou transformao de sua estrutura. (BOURDIEU, 2001, p. 50).
Aqui apresentamos os conceitos trazendo como exemplo algumas escolhas do agente na qualidade de pesquisador e orientador de mestrado e doutorado, pois, desta forma, a praxiologia ganha sentido. DISCUSSO DE RESULTADOS Luiz Botelho Albuquerque - O Pesquisador Na Pesquisa Conhecer a trajetria do agente no mbito acadmico importante porque este se torna um dos detentores do poder simblico que indica os elementos estruturados nos quais o habitus
87
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
construdo. Atravs dos dados empricos identificamos que a histria dos agentes traz a incorporao do habitus que ser exteriorizado e, assim, exercer influncia sobre os demais indivduos. O professor Albuquerque orientou 23 dissertaes e tem 3 em andamento; no doutorado orientou 11 teses e tem 5 em andamento. Contudo, este agente tambm atua na rea de Educao de forma mais ampla. Destas encontramos registradas no currculo lattes, ligadas Educao Musical, 7 dissertaes concludas, 1 em andamento; no doutorado 3 teses concludas e 4 em andamento. As demais dissertaes e teses so vinculadas ao campo da Educao. Para este trabalho nos detemos s dissertaes orientadas no PPGED e vinculadas ao campo da Educao Musical. Albuquerque iniciou suas atividades na Fundao Educacional do Distrito Federal no perodo de 1973 a 1975. Aqui percebemos que Albuquerque j vincula sua trajetria ao campo da Educao, ainda que sua formao inicial tenha sido em composio e regncia pela UnB. Entre 1975 e 1998 assume o cargo de professor na Universidade Federal do Piau UPFI sendo que de 1977 a 1980 j se vinculou ao Centro de Cincias da Educao na qualidade de pesquisador do Departamento de Educao Artstica. Este dado nos informa o fortalecimento do seu vnculo com o campo de pesquisa em Educao. Percebemos uma semelhana entre dois perodos na trajetria de Albuquerque, a saber: a arte vinculada ao campo da Educao na UFPI, mantendo a ligao entre Arte e Educao; e da mesma forma a Msica surge na UFC no seio da Faculdade de Educao e em seguida a pesquisa em Msica se mantm ligada ao PPGED da UFC. Entre 1983 e 1986 foi Pr-Reitor e de 1996 a 1998 foi Assessor Especial ligado reitoria da UFPI. Manteve suas atividades docentes na graduao e pesquisas na ps-graduao lecionando disciplinas ligadas aos campos da Arte, Cultura e Educao49. Uma Pesquisa Sobre As Pesquisas A posio de orientador nos apresenta o agente como detentor de um volume de capital acadmico reconhecido pela comunidade de pesquisadores. Este processo de legitimao acadmico investe Albuquerque de um poder simblico que o torna reconhecido como instncia legtima de legitimao (Bourdieu, 1997, p.37). Desta forma, este poder ao ser direcionado ao campo, fortalece e amplia o prprio espao social aqui pesquisado. Dissertaes A seguir analisamos as dissertaes orientadas por Albuquerque no PPGED da UFC. 1 O ARTISTA, O EDUCADOR, A ARTE E A EDUCAO. UM MERGULHO NAS GUAS DA PEDAGOGIA WALDORF EM BUSCA DE UM SENTIDO POTICO PARA A FORMAO DOCENTE, OU ARTIFCIOS S ARTIMANHAS. Defendida por Elvis de Azevedo Matos na UFC em 2002. PALAVRAS-CHAVE: Arte; Educao; Waldorf; Docncia.
Dados coletados no currculo lattes disponvel no endereo eletrnico <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=P11246>. Acessado em 25 de junho de 2013.
49
88
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O ttulo que traz as palavras artista, arte, sentido potico ainda no apontou diretamente para a formao em Educao Musical e sim para a rea da arte de forma mais ampla. E as palavras educador, educao, pedagogia, formao docente nos informam, do compromisso deste agente com a Educao. O mesmo encontramos em trs PALAVRAS-CHAVE ligadas Educao: Educao que no nos deixa dvida sobre o que estamos afirmando; Waldorf que se refere a uma abordagem pedaggica; e Docncia que tambm se liga ao centro dos interesses da pesquisa em Educao. J a palavra Arte mantm a perspectiva aberta para uma abordagem livre e ampla. 2 PESSOAL DO CEAR: FORMAO DE UM CAMPO E DE UM HABITUS MUSICAL NA DCADA DE 1970. Defendida por Pedro Rogrio na UFC em 2006. Palavras chave: Msica do Cear nos anos 1960 e 1970; Habitus; Campo Artstico; Pessoal do Cear. Analisando o ttulo da segunda dissertao encontramos as palavras Formao e Habitus o que aponta para a rea da Educao; j a expresso Pessoal do Cear, que indica um movimento musical do estado do Cear e o termo Musical, revelam que esta pesquisa se direciona ao campo de pesquisa em Educao Musical. No obstante, nas PALAVRAS-CHAVE no aparece nenhuma palavra ou expresso que indique de forma mais explcita esta vinculao. Aqui a estratgia foi de ampliar de Pessoal do Cear para Msica do Cear e de Musical para Artstico. Logo, esta pesquisa demonstra que o campo ainda est em fase de amadurecimento. Sendo este o segundo trabalho de dissertao orientado por Albuquerque no PPGED, possvel verificar que os agentes esto prximos de desvelar suas intenes mais ou menos conscientes - de fomento do campo de pesquisa em Educao Musical na UFC. Mas, a configurao social ainda est em andamento. 3 A INFLUNCIA DA INDSTRIA CULTURAL NAS PREFERNCIAS MUSICAIS DE ADOLESCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MDIO: ESTUDO DE CASO. Defendida por Jaques Luis Casagrande na UFC em 2007. Palavras chave: Educao; Formao Cultural, Massificao, Esclarecimento; Formao musical, Indstria Cultural, Mdias. O ttulo deste terceiro trabalho direto quanto filiao terica, que est ligada aos estudos de Theodor Adorno da Escola de Frankfurt quando utiliza o termo Indstria Cultural e informa que o pesquisador direciona seu interesse msica na escola ao registrar as expresses PREFERNCIAS Musicais e Ensino Fundamental e Mdio. Nas palavras chave o pesquisador manteve a clareza de sua vinculao ao campo da Educao utilizando os termos Educao e Formao por duas vezes. Especifica ainda mais e se vincula mais fortemente aos estudos de Theodor Adorno quando utiliza os vocbulos Massificao, Esclarecimento e Indstria Cultural. E, por fim, como recorrente em trabalhos orientados por Albuquerque existe a possibilidade de ampliao com as expresses Formao Cultural e Mdias. 4 REPENSANDO A PERCEPO MUSICAL BRASILEIRA: O SUBJETIVO, O TERICO E O SOCIOLGICO EM FUNO DO PEDAGGICO. Defendida por Jaderson Aguiar Teixeira na UFC em 2011. Palavras chave: percepo musical, educao musical.
89
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Nesta quarta investigao a expresso percepo musical contida no ttulo remete o leitor a uma rea especfica e que recorrentemente objeto de discusso nos cursos de graduao e para esse campo especfico que o pesquisador se dirige, ou seja, para uma rea relevante e historicamente em pauta na formao de msicos e educadores musicais. A expresso em funo do pedaggico vincula rea da Educao e no deixa dvidas sobre as intenes ou sobre o que o leitor ir encontrar no texto. As PALAVRAS-CHAVE guardam completa coerncia e reforam a clareza de para onde se dirige o olhar investigativo; mais uma vez as expresses percepo musical e educao musical refletem o campo que estamos buscando demonstrar estar em fomento na UFC: o campo de pesquisa em Educao Musical. 5 ESTGIO CURRICULAR E FORMAO DO HABITUS DOCENTE EM EDUCAO MUSICAL. Defendida por Joo Emanoel Ancelmo Benvenuto, na UFC em 2012. PALAVRAS-CHAVE: Educao musical; Estgio Supervisionado; ensino de msica; Habitus Docente. Aqui possvel verificar, mais uma vez, o fomento do campo especfico de pesquisa em Educao Musical, pois esta expresso utilizada no ttulo e nas palavras chave. O incio do ttulo com os termos Estgio curricular e formao do habitus docente revela que o trabalho est na rea da Educao. A nitidez do pesquisador sobre a escolha do campo de pesquisa em Educao reafirmada com os vocbulos Educao, Estgio Supervisionado, Ensino e Habitus Docente e a mesma clareza sobre o a rea da Msica com os termos Musical, e Msica, nos permitem a afirmao de que estamos acompanhando um novo campo de pesquisa sendo forjado a partir da interseco de outros dois campos, o da Educao e o da Msica. Continuando a pesquisa passaremos, agora, s orientaes concludas de teses sob a orientao do Professor Luiz Botelho Albuquerque. CONSIDERAES FINAIS Atravs da pesquisa constatamos que um novo campo de pesquisa vem se configurando medida que novos agentes da rea de Msica se aproximaram deste orientador. Verificamos atravs dos ttulos e das PALAVRAS-CHAVE que o incio da definio do campo fica cada vez mais claro em cada nova pesquisa. importante registrar que a primeira dissertao aqui apresentada, sob orientao de Albuquerque, que no ano de 2013 deve receber mais dois estudantes no doutorado e um no mestrado, foi a do Prof. Dr. Elvis de Azevedo Matos que hoje tambm um dos orientadores do Eixo Ensino de Msica do PPGED da UFC com 3 dissertaes concludas e com 5 em andamento; no doutorado orienta 2 pesquisas e no ano de 2013 deve recepcionar mais 1 doutorando e 2 mestrandos. Registre-se ainda que o Prof. Dr. Gerardo Silveira Viana Jr. do Curso de Msica da UFC integra, tambm, o quadro docente do PPGED e est com uma orientao de mestrado defendida e uma em andamento; no ano de 2013 deve receber mais dois orientandos de mestrado; e o Prof. Dr. Pedro Rogrio tambm orientador da linha com duas orientaes de mestrado concludas e que nesse ano dever receber mais 4 estudantes no mestrado e um no doutorado. Atualmente a linha conta com um total de 6 orientadores, onde o prof. Dr. Marco Antnio Toledo
90
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
o mais novo credenciado do PPGED e dever receber um orientando de mestrado e a Profa. Dra. Carmen Mara Saenz Coopat oriunda de Cuba, atravs do Programa de Bolsas Professor Visitante Estrangeiro PVE do CNPq e est como visitante no PPGED onde abriu duas vagas de mestrado. As dissertaes orientadas por Albuquerque no PPGED da UFC, aqui analisadas a partir dos ttulos e das PALAVRAS-CHAVE, possibilitaram perceber a diversidade de temas e objetos de investigao, assim como o incio do fomento do campo de pesquisa em Educao Musical na UFC, que est em processo de legitimao, se fortalecendo, se ampliando e se consolidando a cada novo agente que ingressa no Eixo Temtico Ensino de Msica da Linha de Pesquisa Educao, Currculo e Ensino do Programa de Ps Graduao em Educao Brasileira da Universidade Federal do Cear. REFERNCIAS ALBUQUERQUE, Luiz Botelho, ROGRIO, Pedro (organizadores). Educao musical em todos os sentidos. Fortaleza: Edies UFC, 2012. ______________. Educao musical: campos de pesquisa, formao e experincias. Fortaleza: Edies UFC, 2012 BOURDIEU, Pierre. O senso prtico. Traduo de Maria Ferreira. Petrpolis; RJ: Editora Vozes, 2009. _____________. Esboo de auto-anlise. Traduo de Sergio Miceli. So Paulo: Companhia da Letras, 2005. _____________. A distino: crtica social do julgamento. So Paulo: Edusp; Porto Alegre, RS: Zouk, 2007. _____________. Razes Prticas: sobre a teoria da ao. Traduo de Mariza Corra. Campinas-SP: Papirus, 2001. _____________. Sobre a televiso. Traduo de Maria Lcia Machado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997. ELIAS, Nobert. Mozart, sociologia de um gnio. Organizado por Michael Schrter. Traduo Srgio Goes de Paula. Rio de Janeiro: Zahar, 1995. ROGRIO, Pedro. Pessoal do Cear: habitus e campo musical na dcada de 1970. Fortaleza, CE: Edies UFC, 2008.
91
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
REFLEXES SOBRE O PROCESSO DE CONSTRUO DA FORMAO MUSICAL DOS ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA REGULAR EM FORTALEZA
Luiz Botelho Albuquerque50 Pedro Rogrio51 Yure Pereira de Abreu52
RESUMO: O presente artigo relato de uma pesquisa exploratria que encontra-se em andamento e tem por objetivo identificar, compreender e refletir como est se estruturando a formao musical, formal e informal, dos adolescentes de Fortaleza - CE na contemporaneidade a partir de uma escola conveniada a disciplina de Estgio Supervisionado do Curso de Msica Licenciatura da Universidade Federal do Cear. Entender a formao musical destes adolescentes de certa forma, compreender os contextos socioculturais em que esto inseridos e seus habitus. Deste modo foi realizado um estudo de caso sobre o impacto que as mdias e grupamentos jovens exercem sobre a formao musical dos adolescentes de Fortaleza, vislumbrando apontar um panorama acerca da formao musical, em carter formal e informal, de modo a auxiliar a repensar estratgias para o acesso a educao musical formal de forma gratuita e igualitria em Fortaleza. PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes. Mdia. Grupamentos Jovens. Formao Musical. INTRODUO Compreender o processo de construo da formao musical de certa forma est atento aos contextos socioculturais na qual nossa juventude est inserida. em meio sociedade moderna com o advento da cultura de massas, vinculada s mdias, que a educao musical se torna mais dinmica e interativa. No entanto a educao passa a operar tanto na formalidade quanto e principalmente em uma mescla entre a formalidade e a informalidade. neste cenrio que a educao musical informal cresce, sendo acentuada pelas mdias e grupamentos jovens. Porm na contemporaneidade a cidade de Fortaleza no oferta educao musical em carter formal de modo acessvel a toda a populao, o que bastante notrio ao passo que a cidade no possui nenhuma escola de msica e/ou conservatrio de msica pblico; tampouco se ofertam disciplinas ou contedo de msica nas matrizes curriculares das escolas de educao bsica,
Graduado em Msica (Composio e Regncia) pela UnB, Mestre em Educao pela UFRGS e Doutor em Sociologia da Educao - University of Iowa. Atualmente Professor Associado 2 lotado no Departamento de Teoria e Prtica do Ensino da FACED / UFC. E-mail: luizbotelho@uol.com.br. 51 Graduado em Msica Licenciatura pela UECE, Mestre e Doutor em Educao pela FACED / UFC. Professor Adjunto lotado no Curso de Msica ICA / UFC. E-mail: pedromusica@yahoo.com.br. 52 Graduando em Msica Licenciatura pela UFC. Integrante do Laboratrio de Epistemologia da Msica e Grupo de pesquisa Ensino de Msica. E-mail: yuredeabreu@alu.ufc.br.
50
92
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
deixando o acesso educao musical (Formal) limitada a instituies privadas de ensino e as universidades, que ofertam cursos de licenciatura, bacharelado e tcnico. No entanto chamamos a ateno para a atuao dos estudantes/estagirios do Curso de Msica - Licenciatura - da Universidade Federal do Cear (UFC), pois os mesmos proporcionam um contato formal com a educao musical a uma pequena parcela dos estudantes das escolas que possuem convenio com a disciplina de Estgio Supervisionado. Tendo em vista que nem todos os alunos destas escolas possuem acesso ao conhecimento musical em carter formal que se faz necessrio refletir sobre a formao musical dos mesmos. No entanto o aprendizado de msica no se interrompe por conta desta carncia de educao musical formal, ela prossegue por diversos caminhos, trilhada em sua maior parte na informalidade. OBJETIVOS GERAIS A pergunta que este trabalho visa responder : Como est ocorrendo formao musical dos adolescentes de Fortaleza na contemporaneidade, tendo como cenrio uma cidade carente de educao musical em carter formal de modo acessvel, de uma juventude organizada em grupamentos jovens e com uma relao intensa e ativa com as mdias? Este artigo visa contribuir com a comunidade cientfica na rea de educao musical, bem como com a comunidade educacional ao apresentar uma amostragem de como estrutura-se a formao musical, formal e informal dos adolescentes acima citados, repensando estratgias e fazendo reflexes no que diz respeito implementao do ensino de msica na educao bsica, o que j est previsto na Lei 11.769 de 18 de agosto de 2008. METODOLOGIA O presente trabalho fruto de um projeto de pesquisa que tem por interesse compreender e refletir como est ocorrendo a formao musical dos adolescentes de Fortaleza na contemporaneidade. Desta forma, iniciamos um estudo bibliogrfico e documental de autores que subsidiem a presente pesquisa de modo a auxiliar na compreenso da temtica. Aps essas leituras e as respectivas reflexes sobre o tema e partindo tambm de nossas observaes sobre o cotidiano educacional na cidade, elaboramos um questionrio - para ser utilizado como instrumento de coleta de dados - contendo treze perguntas, entre abertas e fechadas, direcionadas a temtica. Uma pesquisa exploratria est sendo realizada com a colaborao de vinte e seis adolescentes de uma turma de primeiro ano do ensino mdio de uma escola regular da capital que possui convenio com a disciplina de Estgio Supervisionado do Curso de Msica da UFC53. Segundo Antnio Carlos Gil, a principal finalidade das pesquisas exploratrias :
[...] desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulao de problemas mais precisos ou hipteses pesquisveis para estudos posteriores. (...) Habitualmente envolvem levantamento bibliogrfico e documental, entrevistas no padronizadas e estudos de caso. (GIL, 2009, p.27)
Meu interesse pela pesquisa tem convergncia para a minha insero no mbito escolar atravs da disciplina de Estgio Supervisionado onde sou estudante e monitor.
53
93
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
O Estudo de Caso foi realizado com o intuito de compreender certos aspectos acerca da vivncia musical dos jovens e o modo como os grupamentos jovens e a mdia tendem a influenciar suas concepes referentes ao estilo, gosto musical, e consequentemente formao musical, colaborando para uma padronizao. Dessas fontes empricas extraram-se dados importantes sobre o assunto, da observao do cotidiano e do entendimento que esses jovens possuem sobre sua formao musical, relacionando-as com as suas prprias experincias. Segundo Gil (2009, p.57 58), O estudo de caso caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um dos poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado[...]. A Influncia Miditica, Grupamentos Jovens e os impactos no processo de formao musical No decorrer do sculo XX, as sociedades ocidentais modernas passaram por significativas mudanas estruturais que influenciaram os campos social, ideolgico e cientfico-tecnolgico, colaborando para o surgimento de uma nova cultura, posteriormente definida como massculture ou cultura de massas, que para Morin (2011, p.04) a [...] Terceira Cultura, oriunda da imprensa, do cinema, do rdio, da televiso, que surge, se desenvolve, se projeta ao lado das culturas clssicas religiosas ou humanistas e nacionais. Esta nova cultura, a cultura de massas, torna-se determinante por seu carter industrial, ferramenta ultraligeira, para a propagao do ideal capitalista o consumo visando atingir o maior pblico possvel com o propsito da gerao de lucro. Nesse cenrio a cultura torna-se uma arma forte para a divulgao desses parmetros. O conceito de cultura para Morin (2011, p.05) constitui-se em [...] um corpo complexo de normas, smbolos, mitos e imagens, que penetram o indivduo em sua intimidade, estruturam os instintos, orientam as emoes. Tendo em vista que uma cultura interfere, desenvolve, modifica, orienta e domesticam as virtualidades humanas, a cultura de massas realiza um extraordinrio e bem feito papel para a construo de uma cultura tida como universal, proporcionando estmulos de massificao social para a consumao. Da o fruto da relao produo e consumo ser a Cultura de Massas. Morin (2011, p.38) muito enftico ao dizer que A Cultura de Massas , portanto, o produto de uma dialtica produo-consumo, no centro de uma dialtica global que a sociedade em sua totalidade. Portanto, em princpio a Cultura de Massas a cultura do denominador comum entre as idades, os sexos, as classes e os povos. Os elementos constituintes e fortemente presentes nessa cultura acentuada - de certo modo pelos grupamentos jovens, que fazem selees e interiorizam elementos dessa cultura supracitada constituindo o habitus, que Bourdieu (2007, p.57) define como uma estrutura estruturante que organiza as prticas e a percepo das prticas, dos grupamentos, onde muitas vezes, est intimamente relacionado ao modo como os jovens se organizam nesses grupamentos. Segundo Jannoti Jr. os grupamentos jovens constituem-se de:
Agremiaes de indivduos que partilham interesses comuns, vivenciam valores, gostos, afetos, privilegiam determinadas produes de sentido em espaos desterritorializados, atravs de processos miditicos que se utilizam de REFERNCIAS globais. (Jannoti Jr., 2003)
Desta maneira, a educao passa a operar no mais em sua maior parte na formalidade e sim em uma mescla entre a formalidade e a informalidade. neste contexto que a educao
94
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
musical informal tem um crescimento acentuado, tanto pelas mdias, quanto pelos grupamentos jovens. Segundo Arroyo (2000) ao utilizarmos o termo formal para qualificarmos a educao musical diferentes significados podero ser destacados, pois esse termo pode ter significao como escolar, oficial, ou dotado de uma organizao (apud: Wille 2005). Mas, enxergando a formao musical como um processo em construo contnua e viva, que se faz necessrio incorporar ao conceito de adolescncia, uma compreenso mais profunda dos anseios, problemas e aes que permeiam a vida dos mesmos na confeco de seu habitus, sua identidade, envolvendo uma gama de significados as suas prticas sociais, gostos e, sobretudo, seus vnculos afetivos, o que corroboram para a sua formao. Portanto a adolescncia um perodo instvel e conturbado que Pfromm Netto (1976, p.02) define como inquietao, tornando esta etapa da vida um pilar fundamental, pois nesta fase que se constri os valores e habitus, a sua prpria identidade, estando deste modo vulnerveis e suscetveis a sofrerem influncias. DISCUSSO DOS RESULTADOS A grande maioria dos jovens entrevistados admitiu estudar e/ou terem estudado msica, o que j era esperado, pois, a pergunta formulada carregava consigo uma resposta implcita para a turma entrevistada, visto que essa contemplada com a presena de estagirios da rea de msica, estudantes do curso de Msica da UFC, logo, fato que esses jovens possuem aulas de msica. No entanto, chamou-nos a ateno o fato de haver ocorrido casos de negativa, ainda que em pequeno nmero, no qual dos vinte e seis respondentes trs afirmam no ter estudado msica. As respostas negativas anteriormente citadas podem ocorrer por inmeros motivos, contudo, acreditamos que estejam intimamente ligadas a ausncia de uma mnima sistematizao curricular na rea de msica na rede pblica de ensino, apesar de existir a obrigatoriedade garantida por lei, mas que ainda no vigora em Fortaleza / CE; de no ser um contedo na disciplina de artes e nem possuir uma disciplina especifica; de no existir profissional licenciado da rea presente na escola. Esses so fatores que contribuem para a no compreenso dos estudantes com relao s aulas de msica posto que as atividades com msica ocorrem em um horrio, que para eles, denominado Horrio de Estudos. Tambm, outro fator que contribui para isso o no entendimento do que uma aula de msica e a falsa impresso de que aprender msica est ligado intimamente com a prtica instrumental. Dentre os jovens entrevistados que afirmam estudar e/ou terem estudado msica, a maioria significativa indica ter tido acesso ao conhecimento musical na escola. Tambm foram citadas outras formas de aquisio musical, a saber: Conservatrio, Igreja e Projeto Social/ONG. Um dos respondentes nos forneceu uma resposta que merece uma ateno especial, ele indicou alm da escola regular estudar em casa, porm, ele no forneceu mais detalhes. Podemos, a partir disso, fazer algumas consideraes a essa resposta, tais como: ele pode ter aulas particulares; ele pode ter parente e/ou amigos que compartilham os conhecimentos de msica; bem como ele tambm pode realizar seus estudos de forma autodidata, utilizando-se de materiais impressos e contedos
95
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
virtuais. Como esta pesquisa ainda est em andamento a ainda haver outras etapas, teremos a possibilidade de retornar a esse aluno para maiores esclarecimentos. A maioria dos respondentes afirma possuir habilidades como cantar e/ou tocar instrumento musical. Entre os instrumentos mais citados esto o Violo, Flauta, Guitarra e a Bateria. Qual o porqu da escolha destes instrumentos? Dos entrevistados, apenas sete dizem cantar, o que nos leva a seguinte pergunta: As atividades que eles realizam em sala o canto coral, ento como pode apenas sete realizar atividades de canto? O que nos chama a ateno nessa questo a quantidade, quase metade dos respondentes, no terem assinalado nada. Das pessoas que no responderam a esta questo, apenas trs disseram nunca ter estudado msica. Acredito que essa ideia de no tocar nenhum instrumento e nem cantar est, em parte, relacionado com a mtica de que msica um dom, e que poucos so escolhidos, o que se contrape a ideia de Paynter que considera que todos podem apreender msica (Mateiro, p. 264). A grande maioria disse no participar de nenhum grupo musical e/ou banda, sendo que a prpria classe, de certa maneira, pode ser considerada um grupo musical. Seis pessoas responderam a pergunta de forma afirmativa, onde a grande maioria (cinco) respondeu serem membros de grupos musicais da igreja que frequentam e um disse ser membro da banda que a escola possui que uma iniciativa dos prprios alunos da escola, o que nos mostra o interesse dos alunos pela msica. O que mais chama a ateno a resposta de um dos entrevistados que disse ser regente do grupo de adolescentes da igreja que frequenta, mas ele no detalhou sobre qual tipo de atividade musical eles realizam e nem forneceu mais detalhes sobre a sua formao musical, o mximo que se pode relatar que ele disse adquirir toda sua experincia musical na Igreja. Dentre os meios de comunicao mais utilizados pelos jovens entrevistados, podemos observar a presena forte da internet, sendo este o meio mais acessado por eles; provavelmente possibilitado por Lan House, programas do Governo Federal de Acessibilidade Eletrnica, bem como a utilizao dentro dos laboratrios de informtica da escola e os celulares com acesso internet como facilitadores a esse acesso. A televiso e o rdio aparecem em papel secundrio no cotidiano dos mesmos, apesar de ser muito notria, ainda, a grande influncia que exercem sobre os jovens, como afirma Bourdieu (1997, p.23) A televiso tem uma espcie de monoplio de fato sobre a formao das cabeas de uma parcela muito importante da populao. Esses equipamentos agem fabricando e programando contedos fundamentados nas concepes do mercado, seguindo a lgica capitalista e atendendo aos interesses mercadolgicos, dissipando fortes estmulos aos jovens atravs da veiculao massificada da dialtica produo-consumo, apresentando artistas e gneros do momento, com o interesse de alavancar o consumo de determinados artistas/msicas/produtos, pois, como Bourdieu (1997, p.38) ressalta a lgica do comercial que se impe s produes culturais. Assim, passam a estimular nossa juventude a se adequar padres determinados. Desta forma, concordo com Bourdieu (1997, p.29) quando ele diz que a televiso se torna o rbitro de acesso a existncia social e poltica, o que se reflete diretamente e visivelmente na formao musical dos mesmos.
96
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Podemos observar que os artistas preferidos dos jovens entrevistados circulam diariamente na mdia, em inmeros canais, e tambm possvel constatar que os gostos musicais dos jovens entrevistados so semelhantes, podendo inferir uma padronizao na construo do gosto musical e consequente formao musical. Com base nos questionrios aplicados, foi possvel mapear os gneros musicais dos jovens daquela turma. Dentre os gneros preferidos encontram-se o Rock, Pop, Forr, Gospel e MPB sendo estes os mais citados. Porm no h em principio uma unidade quanto ao gnero musical, visto que ainda foram citados inmeros outros gneros (apresentados a seguir sobre a perspectiva de nmero de citaes, dos mais citados para os menos citados), a saber: Sertanejo, Funk, Ax, Rap, Eletrnica, Pagode, Reggae e Hip-Hop. No entanto, se levarmos em considerao os nmeros relativos a esses gneros notaremos uma unidade, pondo os gneros que esto em alta na mdia como os preferidos pelos mesmos, o que enfatizado por Bourdieu (1997, p.68) quando este fala que a televiso serve-se de seu monoplio para impor a todo mundo produtos com pretenso cultural e formar o gosto do grande pblico. Dentre os artistas ou bandas mais citados pelos entrevistados esto Garota Safada; Legio Urbana; Sorriso Maroto; Luan Santana; Jorge e Mateus; Beyonc; Avies do Forr; e Link Park. Foi possvel desta forma confirmar que os artistas/bandas prediletos dos jovens podem ser denominados como os do momento, artistas e bandas que esto em alta, com circulao assdua e frequente na mdia, demonstrando o poder de influncia que esta exerce sobre a formao musical e sobre o gosto dos entrevistados. Aps a coleta de dados foi possvel identificar os veculos culturais com os quais os jovens entrevistados possuem mais ligao, frequentam/tem acesso. O cinema aparece como o principal meio utilizado por estes jovens, seguidos de shows de msica e bibliotecas/livrarias. Deste modo, podemos compreender que o cinema contribui ativamente para a formao musical, pela presena relevante da trilha sonora. Por sua vez os shows de msica vm mais para reforar o gosto musical j existente. Foi perguntado aos entrevistados qual o nvel de interesse deles pela msica, e constatou-se ao final que o interesse dos mesmos grande, observando que s foram dadas respostas muito ou regular. Quanto presena de msica na escola, dos 26 entrevistados, 25 disseram querer que ela fosse de fato uma realidade, que importante. CONSIDERAES FINAIS A partir da presente pesquisa pude obter, ainda que de formal parcial, uma amostragem de como est se estruturando a formao musical dos adolescentes de Fortaleza na contemporaneidade, e que tal formao est bastante implicada na informalidade ao passo que os grupamentos jovens e as mdias vm intensificando suas influncias sobre o processo de formao musical dos jovens que ali frequentam e que apesar de algumas aes isoladas estejam sendo realizadas no municpio, na tentativa de promover um acesso mais igualitrio ao ensino de msica, analiso que esto sendo insuficientes e deficitrias, j que a maioria dos jovens ainda no possui acesso ao conhecimento musical formalmente.
97
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Tambm foi possvel constatar como est ocorrendo formao musical informal, sendo realizada atravs de amigos, livros, mtodos diversos, vdeos-aula, revistas, dentre outros. Vale tambm ressaltar que esta pesquisa encontra-se em andamento, e que as concluses aqui apresentadas ainda so parciais. Esta pesquisa ainda ir entrevistar uma outra turma da mesma escola e de mesma srie de ensino, porm, desta vez com uma turma que no contemplada com a presena de estagirios do Curso de Msica da UFC. Aps essa nova entrevista os dados dos dois questionrios aplicados (um com a turma que tem a presena de estagirios de msica e outra que no recebe) sero confrontados com o intuito de perceber as semelhanas e diferenas de modo a conseguir um panorama geral daquela escola. Por fim posso concluir que a mdia, os grupamentos jovens e a carncia de educao musical em carter formal na cidade de Fortaleza colaboram para a disseminao da cultura educacional informal.
REFERNCIAS BOURDIEU, Pierre. Sobre a televiso. Traduo de Maria Lcia Machado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1997. ________________. A distino: a crtica social do julgamento. So Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2007. GIL, Antnio Carlos. Mtodos e tcnicas de pesquisa social. 6 Edio, 2 Reimpresso. So Paulo: Atlas, 2009. JANOTTI JUNIOR, Jeder Silveira. Mdia, cultura juvenil e rock and roll: comunidades, tribos e grupamentos urbanos. Disponvel em: <http://galaxy.intercom.org.br:8180/dspace/bitstream/1904/4994/1/NP13JANOTTI.pdf>. Acessado em 28 de outubro de 2010. MATEIRO, Tereza e ILARI, Beatriz (Orgs.). Pedagogias em educao musical. Curitiba: Ibpex, 2011. MORIN, Edgar. Culturas de massas no sculo XX: esprito do tempo 1: neurose. Traduo de Maura Ribeiro Sardinha. 10 Edio. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2011. PFROMM NETTO, Samuel. Psicologia da adolescncia. 5 Edio. So Paulo: Pioneira; Braslia, INL, 1976. WILLE, Regiana Blank. Educao musical formal, no formal ou informal: um estudo sobre processos de ensino aprendizagem musical de adolescentes. Disponvel em: <http://www.abemeducacaomusical.org.br/Masters/revista13/revista13_artigo4.pdf>. Acessado em 28 de maro de 2011.
98
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
ENTRE ADORNO E MRIO DE ANDRADE: PASSOS E DESCOMPASSOS NO ESTABELECIMENTO DE UM REPERTRIO MUSICAL DE REFERNCIA
Jderson Aguiar Teixeira54 Sabrina Linhares Gomes55
RESUMO Este projeto de doutorado presentemente em execuo destina-se a descrever alternativas didticas de ensino interdisciplinar de msica a partir da confeco solfejada de arranjos de msicas familiares aos estudantes. Na presente comunicao, prope-se expor uma parte do subsdio terico que tem sido desenvolvido a partir do estudo comparativo entre os gostos e as predisposies musicais manifestas nos escritos de dois crticos musicais: Adorno e Mrio de Andrade. O objetivo tentar induzir que mesmo a capacidade autnoma de reflexo subjetiva no seria capaz de amenizar o status referencial do repertrio musical a que se teve acesso, tampouco arrefeceria a leitura hierarquizante que o indivduo constri dos repertrios musicais a partir do seu mundo cultural. Por este caminho, observa-se que a fora e a crena no gosto musical incorporado so preponderantes a despeito de qualquer valor tnico-musical especfico que lhe seja estranho e reforo a necessidade de que o ensino terico-prtico de msica para adultos iniciantes seja subsidiado fundamentalmente pelas preferncias musicais dos estudantes e que os conhecimentos sejam construdos sob a luz dos seus contextos prticos de atuao formal/informal sob o pretexto constante de ampliar os recursos tcnicos de suas produes. PALAVRAS-CHAVE: Mrio de Andrade. Adorno. Esttica musical. Repertrio de referncia. INTRODUO Na presente comunicao, proponho expor uma parte do subsdio terico que tenho desenvolvido a partir do estudo comparativo entre os gostos e as predisposies musicais manifestas nos escritos de dois crticos musicais: Adorno e Mrio de Andrade. Andrade (1972) e Adorno (2004) esto empenhados em pensar suas respectivas artes nacionais embora igualmente no apreciassem a denominao nacionalista. Adorno interessa-se em uma esttica alternativa em relao ao tonalismo, apesar de considerar pessoalmente que as contribuies mais promissoras davam-se exatamente na Alemanha. Andrade, entende que uma arte nacional no alcana poder de projeo para alm de suas fronteiras seno mostrando-se conhecedora dos paradigmas e tcnicas que o ocidente consagrara, sendo este o melhor estratagema para subverter a ideia estrangeira da msica brasileira como sendo saborosamente extica e no sentido de providenci-la particular, mas diluda em fluidos universais cuja patente no pudesse ser protestada por nenhuma nao; da no
54 55
Mestre em Educao Brasileira. Professor da Licenciatura em Msica (UFC). jadersonteixeira@bol.com.br Especialista em Arte Educao. Professora do IFCE. sabrinalgomes@yahoo.com.br
99
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
msica nacionalista, condimentada de elementos pitorescos, mas nacional, ciente de suas particularidades e informada dos encaminhamentos da msica ocidental. OBJETIVOS GERAIS Procurar induzir que mesmo a capacidade autnoma de reflexo subjetiva no seria capaz de amenizar o status referencial do repertrio musical a que se teve acesso, tampouco arrefeceria a leitura hierarquizante que o indivduo constri dos repertrios musicais a partir do seu mundo cultural. METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa bibliogrfica exploratria (FARIA et al., 2008) ligada leitura crtica das preocupaes que Mrio de Andrade e Adorno nutrem em relao a uma pretensa arte desinteressada, repercusso educativa da msica veiculada pela indstria cultural, poltica na arte e s concepes estticas de ambos os autores numa expectativa universal. Ao caracterizar a pesquisa qualitativa em educao musical, Bresler (2007) identificaria, neste caso, uma aproximao com a etnomusicologia devido nfase em questes amplas sobre os usos e funes da msica, o papel e o status do msico, os conceitos que sustentam o comportamento musical, de modo que o investigador estaria, por estas vias, procurando compreender de que forma a msica se ajusta e usada dentro de um contexto mais amplo. Na presente comunicao, proponho expor uma parte do subsdio terico que tenho desenvolvido a partir do estudo comparativo entre os gostos e as predisposies musicais manifestas nos escritos de dois crticos musicais: Adorno e Mrio de Andrade DISCUSSO DOS RESULTADOS Adorno apoia sua crtica tendo como referncia de belo a tradio secular germnica interpretada por ele como a espinha dorsal do progresso da msica ocidental, mas sustenta este discurso a despeito das assimilaes alems patentes de avanos idiomticos que dependeram de um dilogo permanente com contribuies musicais importadas de vrios pases da Europa como Itlia, Frana, Inglaterra e Espanha. Como demonstrao da tendncia ariana de Adorno, dos trs grandes movimentos da primeira metade do sculo XX identificados pelo autor o neoclassicismo russo de Stravinsky, o impressionismo de Debussy e o dodecafonismo de Schoenberg o autor defende vigorosamente a segunda escola de Viena explicitando o demrito das outras. A msica de Stravinsky tem [para ele] um comportamento que se parece ao de certos doentes mentais (ADORNO, 2004, p. 132). Quando se reporta ao que chama de infantilismo da primeira fase de Stravinsky, evita compar-lo a Mozart provavelmente porque o conceito de infantil no clssico alemo representou uma virtude e no uma deficincia. Adorno pensa em Stravinsky como uma regresso cultural visto que o motivo temtico ainda no est a, no se importando em se contradizer ao considerar progressista outra escola em que j no existem temas, tampouco desenvolvimento: a de Schoenberg, Berg e Webern. Esforando-me para compreender melhor a posio de Adorno tanto a respeito de seu germanocentrismo quanto de sua calorosa apologia ao dodecafonismo, lembro que, para o autor,
100
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
foram os alemes que exploraram os limites gnosiolgicos das duas principais tecnologias composicionais europias: o contraponto pela apoteose de Bach e a homofonia pela apoteose de Beethoven. Nessa perspectiva persuasiva, Adorno nota quo atraente ver na segunda escola de Viena, mediante uma leitura do prprio Webern, uma vontade de superar a oposio dominante da msica ocidental, a oposio que h entre a natureza polifnica da fuga e a natureza homofnica da sonata. Ora, esta circunstncia representaria no s um ideal diferencial plausvel no controle do material sonoro quanto seria enfim, um primeiro sucesso emprico de toda a aventura dialtica alem, uma demonstrao cientfica, finalmente s obtida por ironia atravs da arte, da utilidade metafsica alem: finalmente uma sntese (dodecafnica) experimentadamente superior s respectivas tese (polifnica) e anttese (homofnica)! A quem quer que seja formado na msica alem e austraca familiar j em Debussy uma sensao de decepcionada expectativa [...] O ouvido deve orientar-se diferente para compreender exatamente Debussy, para entend-lo no como um processo [tonal] de tenses e resolues, mas como uma justaposio de cores e superfcies, como a de um quadro. [Porm], j em Wagner o decurso musical , mais de uma vez, um mero deslocamento. E dali deriva a tcnica temtica de Debussy, que repete sem desenvolvimento sucesses sonoras muito simples. [J] os melismos, calculadamente avaros, de Stravinski [...] deveriam encarnar a natureza como muitos dos motivos wagnerianos (ADORNO, 2004, p. 144-145, grifos nossos). Concluso: o que h de aproveitvel na msica dos franceses e russos , na opinio de Adorno, germnico! Neste respeito, a viso de Andrade mais sbria e consigo melhor avist-la como til em termos educacionais. Para Mrio de Andrade (1972, p. 16-7) nosso aquilo que a gente conseguir incorporar. Msica Brasileira deve de significar toda msica nacional como criao quer tenha quer no tenha carcter tnico. O padre Maurcio, I Salduni, Schumaniana so msicas brasileiras. Portanto, embora Mrio de Andrade preocupe-se com uma arte que reflete as caractersticas musicais da raa, ele mostra-se mais consciente (ainda que seja pela dificuldade que encontra em fundar uma epistemologia prpria) da problemtica de circunscrever o pioneirismo de uma tradio, sugerindo que se utilize, por direito humano amplamente adquirido, do aprendizado de outras culturas para ajudar a constituir uma produo posterior. Andrade (1942) teria para contra-argumentar Adorno o prprio exemplo de Bach: aglutinador de seiscentos anos de solues culturais estrangeiras cuja maestria lhe patenteou a propriedade da sua obra. Neste sentido, Andrade (1972, p. 16) acrescenta: Se fosse nacional s o que amerndio, tambm os italianos no podiam empregar o rgo que egpcio, o violino que rabe, o cantocho que greco-hebraico, a polifonia que nrdica, anglo-saxnica flamenga e o diabo. Os franceses no podiam usar a pera que italiana e muito menos a forma-de-sonata que alem. E como todos os povos da Europa so produto de migraes pr-histricas se conclui que no existe arte europeia.
101
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Contudo, o interesse numa identidade nacional universalmente identificvel ponto comum no pensamento desses autores. E assim como Andrade adverte da polifonia, alegando o perigo deste procedimento na descaracterizao da msica brasileira, Adorno sugere cautela em se deixar inebriar com os acordes sedutores de Debussy: A orgia sonora impressionista se manifesta aqui como um corrosivo em que se submerge a vtima e em que esta perde todo seu sabor (ADORNO, 2004, p. 121). Quanto aos processos j europeus de polifonizao eles so muito perigosos e na maioria das feitas descaracterizam a melodia brasileira (ANDRADE, 1972, p. 53). Numa perspectiva pedaggica, preciso discordar de ambos, porque usar uma diversidade de influncias uma forma de aprender, de ganhar tcnica ou vocabulrio. Mas o fato que processo formativo escolar em msica praticamente no componente presente em seus trabalhos: o mais importante a originalidade artstica e uma cultura que se deixa descaracterizar, no capaz de produzir uma msica com valor propriamente esttico. Tampouco se demoram em seus escritos a refletir sobre um tipo de educao que pudesse favorecer esse ideal esttico de evoluo cultural. No mximo denunciam as polticas ou modelos praticados e emergentes em seus tempos, como a educao deformadora do rdio e da televiso (ADORNO, 2002), um ensino pessimamente orientado por toda a parte (ANDRADE, 1972, p. 73) e os virtuoses a manter programas desgastados e aparncias sociais extra-musicais (ANDRADE, 1942, p. 170). Portanto, o elemento filosfico chave, e no diretamente pedaggico, que entendo aproximar os autores o apreo por uma cultura superior, incluindo a hierarquizao tradicional da msica erudita em detrimento da popular. Em Adorno (2004), mediante a preocupao com a manuteno da hegemonia cultural alem, em Andrade (1972, p. 15-6, 49; 1942, p. 77), atravs da busca por constituir uma msica erudita nacional e apesar de seu profundo empenho como etnomusiclogo. Uma arte nacional no se faz com escolha discricionria e diletante de elementos: uma arte nacional j est feita na inconscincia do povo. O artista tem s que dar para os elementos j existentes uma transposio erudita que faa da msica popular, msica artstica, isto : imediatamente desinteressada [...] a msica artstica no pode se restringir aos processos harmnicos populares, pobres por demais. Tem que ser um desenvolvimento erudito. [Por exemplo, na histria da msica] a harmonia em relao polifonia [representou] uma facilidade [...] um convite constante para a confuso da msica artstica com a precariedade modulatria da msica popular. A respeito desta preocupao harmnica observo uma divergncia entre a busca adorniana de superao dos materiais solidificados em direo a uma esttica nova e a necessidade interessada de Andrade (1972) nas possibilidades de rearmonizaes e ambientaes de materiais folclricos, consideradas por este autor como harmonizaes artsticas e por Adorno (2004) como caprichos afetados. Inseridos em contextos diferentes, Adorno busca alternativas para o diferencial musical dentro da autonomia histrica que a cultura alem teria conquistado. Andrade, uma primeira solidificao da identidade nacional na qual uma leitura estilisticamente sofisticada dos temas populares seria de grande utilidade, dignificando, mas tornando nossa
102
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
cultura internacionalmente menos extica. Mas ambos tendem ao estruturalismo; a procurar racionalizar e estabelecer certa unidade na realizao esttica local. CONSIDERAES FINAIS A partir da manifestao crtica de Adorno e Mrio de Andrade possvel induzir que mesmo a capacidade autnoma de reflexo subjetiva no seria capaz de amenizar o status referencial do repertrio musical a que se teve acesso, tampouco arrefecer a leitura hierarquizante que o indivduo constri dos repertrios musicais a partir do seu mundo cultural. A crtica de Adorno, embora metodologicamente dialtica e o pensamento de Mrio de Andrade, apesar deste haver colido um amplo acervo de registros de manifestaes musicais populares, pendem igualmente para afirmar a concepo de que no existe msica artstica que no seja erudita. Por este caminho, observo que a fora e a crena no gosto musical incorporado so preponderantes a despeito de qualquer valor tnico-musical especfico que lhe seja estranho e reforo que para amenizar esse processo de glorificao de repertrio haja abertura para que o ensino tericoprtico de msica para adultos iniciantes que praticamente ou nunca freqentaram escola, mas j viveram o suficiente para realizar as prprias selees musicais seja subsidiado fundamentalmente pelas preferncias musicais dos estudantes e que os conhecimentos sejam construdos sob a luz dos seus contextos prticos de atuao formal/informal sob o pretexto constante de ampliar os recursos tcnicos de suas produes. Neste ponto chego a uma zona de conflito epistemolgico. O intuito de minhas pesquisas atuais tem sido o de procurar defender a cano brasileira como conhecimento cultural compatvel com a educao formal de adultos iniciantes e como repertrio favorvel a apresentao de percursos didticos que prezem pela incorporao de critrios de estruturao e linguagem musical mediante a experimentao solfejada de arranjos musicais (TEIXEIRA, 2012). O problema que encontro consiste na semelhana em relao forma de uso do repertrio popular como promotor de aberturas pedaggicas que proponham a unio da cano popular brasileira ao reconhecimento das tcnicas homofnicas e contrapontsticas que constituram boa parte da histria da msica ocidental em que Mrio de Andrade (1972) sugeria buscar elementos de identidade a fim de diluir matrias-primas musicais populares em tcnicas de composio pretensamente universais e consagradas. Vista pelo prisma de Mrio de Andrade a msica popular aparece como um ingrediente capaz de atribuir originalidade, embora o valor artstico se deva buscar alhures. Penso que este valor pode acabar sutilmente contagiando a esfera pedaggica que preza pelo discurso dos alunos (SWANWICK, 2003) apenas como procedimento preparatrio para que se lhes possa em seguida ampliar o que estou batizando agora de discurso estreito mediante novos repertrios de referncia. Por outro lado, tanto do ponto de vista artstico quanto do formativo muito sedutor aderir afirmao de que o exclusivista brasileiro s mostra que ignorante do fato nacional, que o que carece afeioar os elementos estranhos e que a reao contra o que estrangeiro deve ser feita espertalhonamente pela deformao e adaptao dele. No pela repulsa (ANDRADE, 1977, p. 26, 27, 28).
103
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Ao mesmo tempo, considero importante destacar, porm, que por causa dos seus interesses mais artsticos de vanguarda do que pedaggicos que Andrade (1972) recomenda, por exemplo, aquela cautela em lidar com critrios europeus de polifonizao e que Adorno (1982) rejeita qualquer tcnica musical que produzisse em seu esprito uma concepo retrgrada; por mais que lhe soasse nova! REFERNCIAS ADORNO, T. W. Berg: o mestre da transio mnima. So Paulo: Unesp, 2010. ADORNO, T. W. Filosofia da Msica Nova. So Paulo: Perspectiva, 2004. ADORNO, T. W. Essays on Music. Berkeley: University of Califrnia Press, 2002. ADORNO, T. W. Teoria Esttica. Lisboa: Edies 70, 1982. ANDRADE, Mrio de. Ensaio sobre a msica brasileira. 3 ed. So Paulo: Vila Rica; Braslia: INL, 1972. ANDRADE, Mrio de. O Banquete. So Paulo: Duas Cidades, 1977. ANDRADE, Mrio de. Pequena histria da msica. So Paulo: Martins, 1942. BOURDIEU, P. Distinction: a social critique of the judgment of Taste. Londres: Routledge, 1984. HEGEL, G. F. Curso de esttica: o belo na arte. So Paulo: Martins Fontes, 1996. KATER, Carlos Elias. Msica Viva e H. J. Koellreutter: movimentos em direo modernidade. So Paulo: Musa Editora: Atravs, 2001. SWANWICK, Keith. Ensinando Msica Musicalmente. Trad. Alda Oliveira e Cristina Tourinho. So Paulo: Moderna, 2003. TEIXEIRA, Jderson Aguiar. Veredas e desafios para o ensino musical de adultos sem extensa formao especializada anterior: alternativas pedaggicas pertinentes realidade cearense. In: ALBUQUERQUE, Luiz Botelho; ROGRIO, Pedro (Org). Educao Musical: campos de pesquisa, formao e experincias. Fortaleza: Edies UFC, 2012.
104
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
PROJETO ARTE-EDUCAO E O ENSINO DE MSICA NO INSTUTUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DO CEAR (IFCE)
Sabrina Linhares Gomes56 Jderson Aguiar Teixeira57
RESUMO Este trabalho apresenta o Projeto Arte-Educao, criado na ento Escola Tcnica Federal do Cear, explicando a importncia do Ensino de Arte na instituio, representando o mapeamento do referido projeto e destacando o Ensino de Msica no mesmo. Tal projeto tinha como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento esttico e crtico dos alunos, propiciando uma formao cultural diferenciada. Era organizado pela Coordenao de Atividades Artsticas da ETFCE CCA. Dentre as atividades e oficinas do projeto, merecem destaque as que compreendiam a rea da Educao Musical, as quais se perpetuaram atravs de projetos de extenso. Aps o perodo de excelncia do Projeto Arte-Educao, foram criados e implantados os seguintes cursos: Curso Tcnico em Msica (atual Curso Tcnico em Instrumento Musical), Curso Superior de Tecnlogo em Artes Plsticas (atual Licenciatura em Artes Visuais), Curso Superior de Tecnlogo em Artes Cnicas (atual Licenciatura em Teatro). Com a criao dos referidos cursos tcnicos e tecnlogos, o projeto Arte- Educao passou a no mais estar sob uma coordenao prpria, durante o perodo de 10 anos. Com a criao do Departamento de Arte, em 2013, o Projeto Arte-Educao comea a ser reformulado, adaptando-se a nova realidade da instituio em estudo, sendo iniciada sua reformulao pela rea da Educao Musical. PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Arte; Msica; Projeto; ETFCE. INTRODUO A importncia do ensino de Arte para a formao dos alunos nas escolas aparentemente reconhecida atravs da Legislao Educacional Brasileira e incentivada atravs de Leis que regem a educao de nosso pas. As duas mais recentes leis que norteiam a Educao Brasileira so: a Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional de 11 de agosto de 1971 (LDB 5.692/71), que torna
56 Professora de Artes Sonoras e Cnicas do Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia do Cear (IFCE). Mestranda do Programa de Ps-Graduao da Universidade Federal do Cear (UFC). ( sabrina.gomes@ifce.edu.br) 57 Professor de Solfejo, Teoria Musical e Flauta Doce do Curso de Licenciatura em Msica da Universidade Federal do Cear (UFC). Mestre e Doutorando do Programa de Ps-Graduao em Educao Brasileira da UFC.
105
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
obrigatrio a Educao Artstica nas escolas, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional de 20 de dezembro de 1996 (LDB 9.394/96), que torna obrigatrio o Ensino de Arte nas escolas. Dez anos aps a implantao da primeira lei citada, a ento Escola Tcnica Federal do Cear (ETFCE), atual Instituto Federal de Educao Cincia e Tecnologia do Cear (IFCE), no ano de 1981, resolve ampliar seu quadro de Educadores Artsticos, quadro este at ento formado apenas pelos professores: Antnio Silveira Bastos58 e Maria Anglica Rodrigues Ellery59, ambos contratados na dcada de 1970. Em 1981 foram criadas duas novas vagas, que, por meio de seleo pblica, possibilitaram a contratao de dois novos professores de Educao Artstica. Com tal quadro de docentes, o Ensino de Arte se fortalece na instituio e gera o Projeto Arte-Educao, um projeto inovador que garantiu lugar de destaque destro da ETFCE. Durante aproximadamente duas dcadas o Projeto Arte-Educao possibilitou a formao artstica de centenas de alunos da instituio, alm disso interagiu com a comunidade externa e contribuiu com a formao dos professores de Educao Artstica do municpio de Fortaleza durantes as dcadas de 1980 e 1990. Com a criao de cursos tcnicos e superiores de Arte na instituio apresentada: Curso Tcnico em Msica, Curso Superior de Tecnolgico em Artes Cnicas e Curso Superior de Tecnlogo em Artes Plsticas; o Projeto Arte-Educao sofreu uma crise, que durou exatamente 10 anos, justamente o perodo referente a primeira dcada de existncia de tais cursos. O IFCE agora amadurece questes pedaggicas aps a transformao de seus cursos de Arte. Os dois cursos superiores em Artes passaram de Curso Superior de Tecnolgico em Artes Cnicas e Curso Superior de Tecnlogo em Artes Plsticas, para Curso de Licenciatura em Teatro e Curso de Licenciatura em Artes Visuais, respectivamente. Tambm sofreu alterao seu curso de nvel tcnico que passou de Curso Tcnico em Msica para Curso Tcnico em Instrumento Musical, passando a ofertar as modalidades: violo, teclado e flauta doce. No ano de 2013, com a criao do Departamento de Artes do IFCE, o Projeto Arte-Educao est sendo reformulado para atender as novas necessidades educacionais da instituio em questo, sendo sua reformulao iniciada pela rea da Educao Musical. OBJETIVOS GERAIS Os objetivos desse trabalho so: explicar o Projeto Arte- Educao criado na dcada de 1980 na ento Escola Tcnica Federal do Cear, identificar as aes de Ensino de Msica no contexto do Projeto Arte-Educao e apresentar novas perspectivas do Projeto Arte- Educao em sua fase de reestruturao. METODOLOGIA Partiremos do princpio levantado por Minayo (2012, p.12) O objeto das Cincias Sociais histrico. Isso significa que cada sociedade humana existe e se constri num determinado espao e se organiza de forma particular e diferente de outras.
Informaes fornecidas pelos funcionrios tcnicos administrativos do setor de Gesto de Pessoas do IFCE, com base nos arquivos da instituio. 59 Idem nota 63.
58
106
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Ser ento desenvolvida uma pesquisa qualitativa por meio do mtodo dedutivo, ao utilizarmos da pesquisa bibliogrfica e etnogrfica analisaremos um estudo de caso.(RICHARDSON, 2011) A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como tentativa de uma compreenso detalhada dos significados e caractersticas situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produo de medidas quantitativas de caractersticas ou comportamentos. (RICHARDSON, 2011 ,p.90) Para o desenvolvimento dessa pesquisa, sero utilizadas fontes diversas, que envolvem o levantamento de documentos oficiais referentes ao Projeto Arte-Educao e ao ensino de msica da instituio e entrevistas. Destacamos que tais entrevistas sero fundamentais em nosso processo pois serviro para sondar alm das respostas e, assim, estabelecer um dilogo com o entrevistado, as quais sero semi-estruturadas por meio de um guia temtico com sondagens e convites a estender as questes levantadas. (MAY, 2004, p. 148) DISCURSSO DOS RESULTADOS No ano de 1981, foram criadas duas novas vagas destinadas contratao de professores de Educao Artstica na ento Escola Tcnica Federal do Cear (ETFCE). De acordo com a criadora do projeto Arte-Educao, Professora Maria de Lourdes Macena Filha, a proposta inicial era aumentar a quantidade de projetos de extenso em Artes na instituio, que at ento contava apenas com dois projetos: Canto Coral e Grupo de Flautas Doces.
Na poca eles pediram ao MEC (gestores da ETFCE sob a consultoria do Maestro Orlando Leite Vieira) a organizao da banda de msica porque todas os atuais Institutos Federais do Brasil tem banda e coro. Foi sempre assim. As Escolas Tcnicas, todas elas tinham uma banda e um coral. Hoje tem outras coisas, mas ento eles pediram isso. Isso eu soube posteriormente. A pessoa que veio aqui enviada pelo MEC, quando veio para essa reunio que fizeram esse pedido, perguntou: O que que a Escola Tcnica tem com trabalhos que se relacionam a cultura local? () Soube que ela fez um trato, de ver as solicitaes que estavam sendo feitas da banda, mas disse Eu preciso que vocs implantem um trabalho que tenham relao com as questes de valorizao das coisas do Cear. () O que talvez referendava esse meu concurso (seleo pblica) foi a necessidade que o instituto tinha de implantar trabalhos voltados para Cultura Popular. () O Costa Holanda entrou seis meses depois de mim. Na poca eu no sabia nada disso, que de certa forma eu ter entrado fazia parte de um interesse para efetivar o que eles queriam com a banda de msica. Esse interesse veio de fora para dentro. 60
A partir de 1982, os professores de Educao Musical da Escola Tcnica Federal do Cear (ETFCE) passaram a ser contratados mediante seleo pblica. Iniciando o processo de consolidao do Campo de Educao Musical da instituio. Atravs de planejamentos da gesto para o Ensino de Arte na instituio, foram contratados dois novos professores, aps seleo para o cargo de Professor de Educao Artstica: Maria de Lourdes Macena Filha, admitida em 01/02/1982, e Francisco Jos Costa Holanda, admitido em 11/08/1982, ambos ainda mediante contrato regido pela Consolidao das Leis Trabalhistas CLT, posteriormente sendo
60Entrevista concedida por Maria de Lourdes Marcena Filha para esta pesquisa, em janeiro de 2013.
107
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
enquadrados no Quadro Permanente da ETFCE pela Portaria n494/MEC, de 16 de junho de 1991.61 Aps as devidas contrataes, os professores assumiram distintos projetos de extenso em Arte: Grupo de Tradies Parafolclricas, criado e coordenado pela professora Maria de Lourdes Macena Filha e Banda de Msica, criada e regida pelo professor e maestro Frnacisco Jos Costa Holanda. Em 1985, foi oficialmente criado o Projeto Arte-Educao62, pela professora Maria de Lourdes Macena Filha, com a colaborao dos demais docentes de Educao Artstica, na antiga Escola Tcnica Federal do Cear (ETFCE). O Projeto Arte-Educao tinha como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento esttico e crtico dos alunos, propiciando uma formao cultural diferenciada. Formao esta indispensvel uma instituio de carter profissionalizante que fazia os alunos ingressarem cedo no mercado de trabalho, com poucas oportunidades para desenvolver sua capacidade criativa pessoal. Tal projeto era organizado pela Coordenao de Atividades Artsticas da ETFCE - CCA, que tinha como coordenadora a professora Maria de Lourdes Macena Filha. O mesmo recebeu em 1985 as instalaes da Casa de Artes para que o mesmo pudesse ocorrer em um espao prprio.63 De acordo com a entrevista concedida pela professora Maria de Lourdes Macena Filha64, durante aproximadamente dezoito anos o projeto fez-se marcante no desenvolvimento criativo e no desenvolvimento pessoal dos alunos, tornando-se ainda referncia nacional por apresentar um ensino de Artes inovador, que antecipava na prtica as teorias presentes hoje nos PCN e em outras diversas diretrizes educacionais. O projeto foi pensado para os alunos de nvel mdio e tcnico, em parceria com diversos professores, artistas e membros da comunidade. Era composto por ciclos de palestras, estudos dirigidos, oficinas artsticas (Flauta doce, Violo, Teclado, Banda de Msica, Canto, Colagem, Ilustrao, Pintura, Escultura, Desenho Artstico, Teatro, Dana Contempornea, Sapateado, Expresso Corporal e Dana Popular), audies didticas, interao com os grupos permanentes de Arte da instituio (Grupo Teatral Aprendizes de Dionisyos, Grupo de Projeo Folclrica, Coral da ETFCE, Banda de Msica da ETFCE, Grupo de Flautas Doces, Grupo de Violo El Cabongue, Grupo de Dana Contempornea metade inteira, Grupo Taco de Sapateado), encontros culturais anuais ( Exposio Plstica, Projeto Jangada, Encontro de Corais, Encontro de Bandas, Encontro de Grupos Parafolclricos, Dia da Msica, Dia do Teatro, Dia do Folclore, Confraternizao
Informao cedida pelos funcionrio do Departamento de Gesto de Pessoas do IFCE, com base nos documentos contidos na pasta de funcionrio de Maria de Loudes Marcena Filha e de Francisco Jos Costa Holanda. 62 Projeto criado pelo grupo de professores de Artes atuantes na instituio na dcada de 1980. (anexo VI) 63 Informaes contidas na placa de fundao da Casa de Artes da ento Escola Tcnica Federal do Cear. Tal placa permanece na entrada da Casa de Artes do IFCE. 64 Entrevista concedida pela professora Maria de Lourdes Macena Filha em 16/01/2013.
61
108
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Natalina), Cursos de Vivncia Didtica (destinados formao dos professores de Artes de outras instituies). 65 Em 2002, a instituio, que j havia tornado-se Centro Federal de Educao Profissional e Tecnolgica do Cear (CEFET-CE), passou por mudanas determinantes nos rumos do projeto Arte-Educao e no ensino de Artes. Em tal ano foram criados e implantados os seguintes cursos: Curso Tcnico em Msica (atual Curso Tcnico em Instrumento Musical), Curso Superior de Tecnlogo em Artes Plsticas (atual Licenciatura em Artes Visuais), Curso Superior de Tecnlogo em Artes Cnicas (atual Licenciatura em Teatro). Com a criao dos referidos cursos tcnicos e tecnlogos, o projeto Arte- Educao passou a no mais estar sob uma coordenao prpria, passando a ser de responsabilidade da Coordenao do Ensino Mdio, atual Departamento do Ensino Mdio e das Licenciaturas e do atual Departamento de Artes, Turismo e Lazer. Com a extino da Coordenao de Atividades Artsticas da ETFCE -CCA, a formao cultural de todos os alunos dos cursos tcnicos integrados ficou seriamente comprometida, assim como os projetos de extenso de Artes. Apenas em 2013, com a criao do Departamento de Artes, foi contemplado a reformulao do Projeto Arte-Educao, que est sendo retomado com as devidas caractersticas condizentes com o o atual cenrio de Ensino de Arte da instituio, bem como est sendo elaborada com base na Legislao Educacional Brasileira em vigor e com base nos documentos legais que devem direcionar o Ensino de Artes no nvel mdio da Educao Bsica de nosso pas: Parmetros Curriculares Nacionais (1996), Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Mdio (1998), Parmetros Curriculares Nacionais do Ensino Mdio PCNEM (2000) e Parmetros Curriculares Nacionais Mais PCN + (2002). Em sua reformulao, o Projeto Arte-Educao prev o incentivo parceria com as duas universidades pblicas do municpio de Fortaleza: Universidade Federal do Cear (UFC) e Universidade Estadual do Cear (UECE); a criao de um programa de bolsas direcionadas para os licenciandos da instituio em questo e para de outras instituies parceiras; a retomada de cursos e palestras visando a formao dos professores de Arte; uma reformulao na oferta das oficinas destinadas ao Ensino Mdio, representados na instituio atravs dos Cursos Tcnico Integrados; o fortalecimento dos projetos de extenso de Artes, bem como uma maior aproximao dos mesmos com os Cursos do Departamento de Arte, sejam eles Tcnicos ou Licenciaturas; a criao de um grupo de pesquisas destinado ao Ensino de Arte. A primeira fase da reformulao do Projeto Arte-Educao tem se dado com a organizao da rea de Educao Musical, atravs da organizao pedaggica de suporte para o Curso Tcnico em Instrumento Musical, da criao do programa de bolsas na rea de msica que contemplam o ensino e a pesquisa, alm da reorganizao dos projetos de extenso musical junto coordenao de Msica do IFCE. CONSIDERAES FINAIS
65 Informaes contidas na cpia original do Projeto Arte-Educao, cedido pela professora Maria de Lourdes Marcen Filha, em janeiro de 2013.
109
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Fazendo um levantamento de dados a cerca do Ensino de Arte na instituio a partir da contratao de professores de Educao Artstica na dcada de 1980, pudemos representar o contexto que possibilitou a criao do Projeto Arte-Educao na ento ETFCE. Mapeamos o Projeto Arte-Educao verificando o seu grau de afinidade com propostas levantadas posteriormente pelo atuais documentos legais que regem o ensino de Arte no Brasil, bem como ressaltamos os projetos na rea musical. Ao final, explicitamos a expanso do Projeto Arte-Educao, que se deu aps a dcada de 1990, e de crise, a partir de 2002, com a criao dos cursos tcnicos e superiores; seguido dos novos direcionamentos com a reformulao de tal projeto no ano de 2013. REFERNCIAS Brasil. Ministrio da Educao. Conselho Nacional de Educao/Cmara de Educao Superior. Nomeao dos aprovados em Concurso Pblico - Canto Orfenico. Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF, 08 nov. 1955. ________. Ministrio da Educao. Conselho Nacional de Educao/Cmara de Educao Superior. Decreto Presidencial de 16 de abril de 1956. Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF, 16 abr. 1956. ________. Ministrio da Educao. Conselho Nacional de Educao/Cmara de Educao Superior. Portaria N 23 de 391 de outubro de 1974. Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF, 31 out. 1974. ________. Ministrio da Educao. Conselho Nacional de Educao/Cmara de Educao Superior. Portaria n91 de 2 de fevereiro de 1978. Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF, 13 fev. 1978. ________. Ministrio da Educao e Cultura. Secretaria de Educao Fundamental. Parmetros Curriculares Nacionais: Arte. Braslia: MEC/SEF, 1997. BRASIL. Ministrio da Educao e Cultura. Conselho Nacional de Educao. Parecer CEB n. 15/98. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Mdio-DCNEM, 1998. ________. Ministrio da Educao. Secretaria de Educao Mdia e Tecnolgica. Parmetros Curriculares Nacionais (Ensino Mdio). Braslia: MEC, 2000. ________. PCN+ Ensino Mdio: Orientaes Educacionais Complementares aos Parmetros Curriculares Nacionais: Linguagens, Cdigos e suas Tecnologias (MEC-SEMTEC, Braslia, 2002). ________. Presidncia da Repblica. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurdicos. Leis Ordinrias de 1971. Lei n 5.692/1971. Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional. Braslia, 1996. Disponvel em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.html>. Acesso em: 14 jan. 2012. ________. Presidncia da Repblica. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurdicos. Leis Ordinrias de 1996. Lei n 9.394/1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional. Braslia, 1996. Disponvel em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.html>. Acesso em: 14 jan. 2012. ________. Presidncia da Repblica. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurdicos. Leis Ordinrias de 2008. Lei n 11.769/2008. Altera a lei n 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996,
110
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Lei de Diretrizes e Bases da Educao para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino de msica na educao bsica. Braslia, 2008. Disponvel em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11769.htm>. Acesso em: 14 jan. 2012. MADEIRA, Maria das Graas de Loiola. Uma Incurso na Memria da Educao Cearense: a experincia da Escola de Aprendizes Artfices do Cear (1910-1918). Fortaleza, 1998. Dissertao ( Mestrado em Educao) Universidade Estadual do Cear. MATOS, Elvis de Azevedo. Paulo Abel. Fortaleza: Edies Demcrito Rocha, 2003. SANTOS, Deribaldo. Os Cem Anos do CEFET/CE. Fortaleza: EDUECE, 2007. VALE, Ceclia do.(org) O Grupo de Flautas Doces do IFCE Toca o Nordeste. Fortaleza: IFCE, 2009. <www.ifce.edu.br> Acesso em 12 dez. 2012.
111
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
CASA CAIADA: FORMAO HUMANA E MUSICAL EM PRTICAS PERCUSSIVAS COLABORATIVAS.
Catherine Furtado dos Santos66 Pedro Rogrio67 Elvis de Azevedo Matos68
RESUMO O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa de mestrado sobre o tema central: processo contnuo de formao humana e musical dos integrantes do Grupo de Msica Percussiva Acadmicos da Casa Caiada (GMPACC) da Universidade Federal do Cear (UFC). O grupo possui como proposta oferecer uma formao humana e musical atravs das prticas percussivas em contexto colaborativo, principalmente, para jovens das escolas pblicas do bairro de Messejana. Desta forma, pude indagar sobre o que caracteriza e como acontece o processo contnuo de formao humana e musical dos integrantes permanentes no GMPACC (UFC) sob uma perspectiva de Educao Musical no perodo dos anos de 2009 a 2012. Para realizao desta pesquisa tm-se como suporte terico autores como Prass (2004) e Schrader (2011), com pesquisas sobre percusso e educao musical, trazendo uma perspectiva sobre processos formativos educacionais. A metodologia abordada foi qualitativa e com o delineamento de estudo de caso. Assim, este artigo apresenta os resultados da pesquisa que analisou o processo contnuo de formao humana e musical dos integrantes permanentes no GMPACC (UFC). PALAVRAS CHAVE: Educao Musical. Percusso. Processo de formao. INTRODUO O presente artigo trata sobre os resultados da pesquisa de mestrado defendida na rea de Educao Brasileira, especificamente, no eixo de Ensino, Currculo e Ensino na linha de Ensino de Msica pela Faculdade de Educao da Universidade Federal do Cear em maio de 2013. A pesquisa teve como tema central o processo contnuo de formao humana e musical dos integrantes do Grupo de Msica Percussiva Acadmicos da Casa Caiada (GMPACC) da Universidade Federal do Cear (UFC) no perodo de 2009 a 2012. Na UFC, fui estudante da segunda turma do ano de 2007 do curso de Licenciatura em Educao Musical69 e, durante o perodo da graduao fui monitora da disciplina de percusso e participei de um projeto de extenso o Grupo de Msica Percussiva Acadmicos da Casa Caiada a partir daqui designado pela sigla GMPACC, do qual, atualmente, sou regente.
Autora. Mestre em Educao Brasileira. Universidade Federal do Cear. batherine_84@yahoo.com.br Orientador. Doutor em Educao Brasileira. Universidade Federal do Cear. pedrorogerio@ufc.br 68 Co-orientador. Doutor em Educao Brasileira. Universidade Federal do Cear. tioelvis@gmail.com 69 Em 2010, o nome do curso Educao Musical, do Campus de Fortaleza, foi alterado por Msica, devido a uma padronizao do MEC.
67
66
112
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Por isso, o objeto da pesquisa foi sobre o processo contnuo de formao humana e musical dos integrantes permanentes no GMPACC (UFC). Este um projeto de extenso do curso de msica da UFC que foi criado em 2008 e que ainda realiza suas atividades com a participao de 25 integrantes. Como regente do grupo, desde 2009, constatei que, atualmente, alguns participantes so permanentes desde o incio do projeto e devido a essa permanncia, busco investigar melhor o processo contnuo de formao humana e musical dos integrantes do GMPACC (UFC) sob uma perspectiva de educao musical. A partir observaes prticas do cotidiano na cidade de Fortaleza, passei a refletir sobre a seguinte questo norteadora: O que caracteriza e como acontece o processo contnuo de formao humana e musical dos integrantes permanentes no GMPACC (UFC) sob uma perspectiva de Educao Musical no perodo dos anos de 2009 a 2012? OBJETIVOS GERAIS Assim o trabalho defendido teve como objetivo geral analisar o processo contnuo de formao humana e musical dos integrantes permanentes no GMPACC (UFC) sob uma perspectiva de Educao Musical no perodo dos anos de 2009 a 2012. E para esse alcance os objetivos especficos foram: caracterizar a proposta de Educao Musical que conduz as atividades do GMPACC (UFC), descrever a realizao das atividades percussivas no GMPACC (UFC), explicitar o sentido formativo do trabalho do GMPACC (UFC) na perspectiva dos integrantes / ritmistas. Metodologia Por ser perceptvel a riqueza de detalhes que se encontram nos agrupamentos percussivos msica e contexto social , a percusso amplia espao para discusses dos processos de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva acadmica, o trabalho de Luciana Prass (2004), intitulado por Saberes musicais em uma bateria de Escola de Samba: uma etnografia entre os Bambas da Orgia apresenta uma reflexo sobre a abordagem dos saberes musicais em uma escola de samba, esclarecendo, assim, uma discusso sobre o ensino e aprendizagem da msica popular de tradio oral. A partir dessa investigao o trabalho ressaltou aspectos importantes que configuram o contexto das prticas percussivas imersos na vida cotidiana dos sujeitos e suas atuaes, assumindo funes de lideranas, organizadores, ritmistas e artistas. Tais fatores foram necessrios para nossa compreenso no que se apresentou como dinmica do GMPACC como as atividades de musicalizao, criatividade e habilidade, no se detendo apenas em exerccios tcnicos, como mais comum encontrar nos mtodos de ensino. Em convergncia com esse trabalho, h tambm um estudo sobre expresses musicais atravs da percusso em contextos coletivos na UFC, de Erwin Schrader (2011).
Ao longo de nosso percurso, tornou-se importante o estudo dos caminhos de construo do movimento percussivo na Universidade Federal do Cear e o seu alcance pedaggico-musical de maneira a tornar possvel o incentivo de pesquisas no campo metodolgico e social da percusso, construindo em um futuro prximo,
113
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
fruns de discusso entre a universidade, a comunidade e os mestres e ritmistas de baterias e batuques. (SCHRADER, 2011, p. 5)
Esta pesquisa buscou narrar o desenvolvimento de prticas percussivas em busca de saberes e estratgias de ensino e aprendizagem dos sujeitos envolvidos numa trajetria do contexto percussivo em coletivo na universidade. A metodologia utilizada para a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, pois as observaes buscaram analisar o processo formativo humano e musical dos integrantes em um grupo de percusso a partir do discurso destes. Como delineamento desta abordagem qualitativa, utilizou-se o estudo de caso. Os encontros continuam a ocorrer na Casa de Jos de Alencar, todos os sbados pela manh de 09 s 12h, sendo formado por 25 jovens e adultos, mas, agora, com a participao de alguns jovens moradores da comunidade do entorno e de outros locais. O perodo investigado foi o do ano de 2009 at junho de 2012, pois cada ano deste perodo retratou momentos fundamentais para auxiliar na anlise dos processos formativos dos integrantes no grupo desde o incio. E, quanto escolha do trmino do perodo da investigao, no ms de junho de 2012, foi devido ao momento em que o grupo apresentou o espetculo percussivo Sons da Casa. Utilizamos para coleta de dados os seguintes instrumentos: documentos, levantamento bibliogrfico e entrevistas. Esse material registrado tambm auxiliou na identificao de quais foram os primeiros participantes do projeto, sendo possvel perceber seus comportamentos, expectativas e desenvolvimentos no grupo ao longo do perodo estudado. E, por isso, foram escolhidos para aplicao das entrevistas 5 (cinco) sujeitos que tenham permanecido no grupo ao logo de todo o perodo. O tipo de entrevista utilizada foi o Grupo Focal (Focus Group) elaborada por questes semiestruturadas, seguindo um modelo de roteiro. DISCUSSO DOS RESULTADOS Como recorte da pesquisa para este artigo apresentamos o ano de 2012 e seus resultados. Este ano foi marcado pelo processo de construo do espetculo Sons da Casa. O intuito de realizar esse tipo de apresentao aconteceu pelo desenvolvimento musical do prprio grupo e que teve nesse ano um conjunto de msicas ensaiada e executadas em sequencia em diversas apresentaes. Desta forma, o ano de 2012 foi, na verdade, a organizao desses ensaios musicais trabalhados com base em uma proposta cnica e que prevalecesse o rodzio de instrumentos dentro da prpria apresentao do trabalho. Por tanto, os integrantes do grupo possuem a oportunidade de aprender e a tocar uma grande gama dos instrumentos de percusso como: atabaques, congas, surdos, caixas, repiques, tamborins, zabumbas, tringulo, agog, pandeiros e outros. Os ensaios de sbado seguiam a seguinte sequencia: Alongamento e aquecimento corporal; Canto das msicas; Estimulao rtmica; Aquecimento tcnico com baquetas e mos;
114
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Ensaio da estrutura musical; Preparo cnico; Ensaio de marcao musical/cnico;
A elaborao desse trabalho reuniu as principais composies e arranjos criados pelo grupo, que abrangeram ritmos como de carimb, maracatu cearense, baio, carimbaio70, marchinha carnavalesca e samba-enredo. Para a execuo de cada ritmo foi feito um estudo de tcnica instrumental, ensaios e apreciao musical, privilegiando, principalmente, o fazer musical criativo atravs dos elementos musicais e culturais da percusso. Com isso, a dinmica do espetculo apresentou evolues com msica percussiva e atuaes cnicas, sendo realizadas por ritmistas que tocam e atuam como, por exemplo, o rei, a rainha e a calunga do maracatu cearense, propiciando, assim, um empolgante e energtico desfecho musical ao som dos tamborins envenenados no samba enredo, Casinha Caiada.
Figura 17 Espetculo Sons da Casa Fonte: Catherine Furtado dos Santos O espetculo depois que a gente comeou a montar pra mim o sbado no era de aprendizagem e sim de vivncia. Todo sbado era de vivncia cada sbado vinha a gente vivia uma coisa e outra muito show mesmo e o que eu aprendi nisso tudo foi a unio mesmo do grupo mesmo da gente de t sempre unido colaborando para o espetculo da certo e isso me ajudou pessoalmente eu consigo me expressar melhor. (Geovane, 24, 10/01/2013) Bem no comeo a percepo da gente como eu falei que cada instrumento fosse estudado at ento chegou a questo de montar o espetculo e eu sempre fiquei me perguntando que espetculo era esse porque a gente s ensaiava a msica e eu me perguntava: O espetculo s ensaiar msica? At porque depois foi montando e ficou bem bacana e eu fiquei impressionada conosco mesmo a gente no grupo em si tudo ficou muito extenso e tudo era magia no momento ento essa montagem at logo depois ser apresentado foi muito bom em si foi crescendo muito e no dia foram vrios aplausos. (Juliana, 16, 10/01/2013)
CONSIDERAES FINAIS
Carimbaio: denominao dada a um ritmo que foi criado pelo prprio grupo. A execuo mescla clulas rtmicas do carimb e do baio.
70
115
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
possvel compreendermos que quando os participantes falam do espetculo eles comeam a citar os fatores que favoreceram sua prpria formao pessoal. Conforme:
O campo das condutas musicais, j por si to amplo e diversificado, como se v pelas apreciaes anteriores, torna-se mais complexo quando entram em jogo as qualidades mticas ancestrais que caracterizam a msica. A participao ativa do sujeito no ato da musicalizao no mobiliza apenas os aspectos mentais conscientes que conduzem a uma apreciao objetiva da msica, mas tambm uma gama ampla e difusa de sentimentos e tendncias pessoais. (GAINZA, 1988, p.34)
A partir da construo do espetculo os participantes tambm perceberam que a construo musical passou a ser feita atravs de uma proposta artstica e que a msica no era feita sem um propsito, sem uma estrutura e sem uma criao de arranjos. A cirurgia era mais delicada: fazer de um espetculo uma escola; montar em um espetculo de formao uma pera nordestina, pois nordestinos artistas somos. (MATOS, 2008, p. 159). Assim, apresentamos como resultado da pesquisa processos formativos que atravs das reflexes em grupo expressou significados mais presentes e vivos na vida musical de cada um dos participantes. Foram e so as dinmicas que movimentam at hoje o circuito musical do GMPACC e que fez com que escolas, comunidades e, por fim, seres humanos construssem em uma trama cnica e musical com os vrios Sons da Casa. E, depois, revigora-se pela dialogicidade das reflexes com um senso mais crtico, potico e tico. REFERNCIAS FONTERRADA, Marisa. De tramas e fios: um ensaio sobre msica e educao. So Paulo: Editora UNESP, 2008. GAINZA, Violeta Hemsy. Estudos de psicopedagogia musical. So Paulo: Summus, 1988. GIL, Antonio Carlos. Estudo de Caso. So Paulo: Atlas, 2009. MATOS, Elvis de Azevedo. Um inventrio luminoso ou um alumirio inventdado: uma trajetria de musical formao. Fortaleza: Diz Editor(a)ao, 2008. PRASS, Luciana. Saberes Musicais em uma Bateria de Escola de Samba: uma etnografia entre os Bambas da Orgia. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. SCHRADER, Erwin. Expresso musical e musicalizao atravs de prticas percussivas coletivas na Universidade Federal do Cear. 2011. 397f. Tese (Doutorado em Educao). Programa de Ps- Graduao em Educao Brasileira. Universidade Federal do Cear, Fortaleza.
116
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
PARTE IV: EIXO DE CURRCULO
117
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
CURRCULO E CULTURA: COMO SE D ESTA RELAO?
Francione Charapa Alves71 Alice Nayara dos Santos72
RESUMO O presente texto tem como objetivo compreender qual a percepo de alunos da disciplina educao, currculo e ensino sobre a relao currculo e cultura. Trata-se de uma investigao que se insere numa abordagem qualitativa. Para obter percepo dos sujeitos, realizamos um questionrio com alunos matriculados na disciplina Educao, Currculo e Ensino, semestre 2013.1, do Curso de Ps-Graduao em Educao Brasileira da Universidade Federal do CearUFC. Realizamos tambm estudos bibliogrficos fundamentados em textos de Moreira (2002), Moreira e Candau (2007), Silva (2011), dentre outros. As leituras nos permitem concluir que imbricada a relao entre currculo e cultura construindo assim dessa forma pilares importantes para a compreenso da educao contempornea. PALAVRAS-CHAVE: Currculo. Cultura. Teorias de Currculo. INTRODUO Os termos currculo e cultura vm sendo discutido por muitos estudiosos de diversas reas: antropologia, filosofia, sociologia, educao, dentre outras. Todos imbudos na busca de estreitar essas relaes e alavancar novas perspectivas para a cincia e para a vida. Por serem termos to polissmicos, estudar a relao entre eles, torna-se uma atividade complexa. OBJETIVO GERAL Esse texto tem como objetivo compreender qual a percepo de alunos da disciplina educao, currculo e ensino sobre a relao currculo e cultura. METODOLOGIA Assim, esta investigao se insere numa abordagem qualitativa. Para obter a percepo dos sujeitos73, realizamos um questionrio via e-mail com duas questes: o que currculo? Qual a relao entre currculo e cultura? Realizamos estudos bibliogrficos fundamentados em textos de Moreira (2002), Moreira e Candau (2007), Silva (2011), dentre outros. O texto traz uma discusso
71
Doutoranda em Educao Brasileira na Universidade Federal do Cear- UFC. CAPES. Email: francionecharapa@gmail.com 72 Doutoranda em Educao Brasileira na Universidade Federal do Cear- UFC. Email: alicesantos.ufpi@gmail.com 73 Alunos matriculados na disciplina Educao, Currculo e Ensino, semestre 2013.1, do Curso de Ps-Graduao em Educao Brasileira da Universidade Federal do Cear- UFC.
118
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
sobre currculo e cultura baseada na literatura proposta, em seguida a percepo dos sujeitos, elencando as principais categorias que emergiram nas falas, por fim, as concluses. DISCUSSO DOS RESULTADOS CURRCULO E CULTURA As questes sobre currculo tm sido alvo de debates por parte de tericos, professores, gestores, estudantes, comunidade, enfim, ele est presente na vida de todos ns, entretanto, ainda no h uma compreenso clara por parte da comunidade escolar no que diz respeito ao que vem a ser realmente o currculo. O termo currculo vem do vocbulo latino currere, que significa correr em um determinado trajeto, caminho. Nesse sentido, durante muito tempo foi interpretado como percurso a ser trilhado pelo aluno durante o perodo em que se encontra na escola, o que nos remete viso tradicional e tcnica de currculo que o compreende como o contedo apresentado para estudo, prescrito para ser ensinado de forma sequenciada a um grupo de alunos. Saindo da etimologia, percebemos que ao vocbulo currculo esto associadas muitas concepes que variam de acordo com as concepes histricas de educao e tambm de acordo com as influncias tericas vigentes neste dado momento histrico. Barbosa e Candau (2007) nos mostram que diferentes fatores sociais, econmicos, polticos e culturais contribuem para que o currculo seja compreendido como: (a) Os contedos a serem ensinados e aprendidos; (b) As experincias de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; (c) Os planos pedaggicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais; (d) Os objetivos a serem alcanados por meio do processo de ensino; (e) Os processos de avaliao que terminam por influir nos contedos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarizao. (BARBOSA E CANDAU, 2007, p.18) Percebemos que h uma nfase nos conhecimentos escolares, nas experincias que os educandos tm na escola, aos programas ou planos pedaggicos, ao ensino e avaliao. Isto nos faz refletir sobre o papel entre a escola e o conhecimento, entre a escola e a sociedade. Durante muito tempo a escola foi vista como instituio transmissora de conhecimentos prontos e acabados que estavam expressos em currculos engessados, entretanto, de acordo com Barbosa (2005) o currculo vem deixando de ser uma rea vista apenas como tcnica, principalmente aps a dcada de 1960, quando as teorias crticas do currculo efetuam uma completa inverso nos fundamentos das teorias tradicionais (SILVA, 2011, p.29) que se restringiam apenas atividade tcnica do como fazer o currculo. Barbosa (2005) ressalta que embora as questes relacionadas ao como tenham a sua importncia, s adquirem significado se forem vistas numa perspectiva que levante questionamentos sobre o por qu das estrutura de
119
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
como o conhecimento escolar encontra-se organizado. As teorias crticas74 questionam de forma radical os arranjos educacionais existentes, as formas de conhecimento, pois, so teorias que nos fazem perguntar, desconfiar, desejar uma transformao. Nesse quadro as teorias ps-crticas75 ampliam as discusses das teorias crticas introduzindo novos conceitos como o de multiculturalismo que representa um importante instrumento de luta poltica, pois ele remete seguinte questo: o que conta como conhecimento oficial? O multiculturalismo e a diversidade faz perceber que a igualdade no se obtm simplesmente atravs da igualdade de acesso ao currculo hegemnico, sendo preciso mudanas substanciais do currculo existente (SILVA, 2011). Assim, estas teorias trazem tona a discusso sobre poder, ideologia, resistncia, questes no discutidas pela teoria tradicional. Silva (2011) ressalta que com as teorias ps-crticas outros elementos passaram a ser preocupao dos estudos curriculares como: identidade, alteridade, diferena, subjetividade, significao e discurso, saber-poder, representao, raa, gnero, etnia, sexualidade, cultura e multiculturalismo. Assim, Moreira(2007) afirma que o currculo considerado um artefato social e cultural. Nesta mesma perspectiva, Sacristn (1999) nos diz que o currculo seria esta ligao entre a cultura e a sociedade exterior escola e educao; entre o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos alunos; entre a teoria (idias, suposies e aspiraes) e a prtica possvel, dadas determinadas condies. (SACRISTN, 1999, p. 61) Nos ltimos anos estudiosos da educao vem apresentando preocupaes sobre as relaes entre currculo e cultura (MOREIRA, 2002). Isto se deve preponderncia da esfera cultural na organizao social contempornea, bem como na teoria social. Stuart Hall (1997) confirma este fato dizendo que a cultura agora um dos elementos mais dinmicos e mais imprevisveis da mudana histrica no novo milnio. (STUART HALL, 1997, p.97) Outro fator importante de ser ressaltado a manifestao da pluralidade cultural em todos os espaos sociais, dentre eles, a escola. Os textos de orientaes legais tambm destacam a pluralidade, a exemplo disso temos a Lei n 10.639/03 (Congresso Nacional, 2003), que determina a incluso do ensino da Histria e Cultura Afro-brasileira no ensino bsico e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educao das Relaes tnico-Raciais e para o Ensino de Histria e Cultura Afro-Brasileira e Africana (CNE, 2004). Entretanto, de acordo com Moreira (2002), essa pluralidade frequentemente acarreta confrontos e conflitos, tornando cada vez mais agudos os desafios a serem enfrentados pelos profissionais da educao.(MOREIRA, 2002, p.20) Estes conflitos se devem a outro elemento forte que no podemos deixar de destacar quando falamos em cultura que a relao entre cultura e poder, o que nos permitem perceber que as estruturas curriculares so dispositivos de saber-poder eficientes na constituio de sujeitos
74
Teorias que trazem tona discusso sobre poder, ideologia, resistncia, questes no discutidas pela teoria tradicional. Destacamos tericos como: Althusser, Bourdieu e Passeron, Baudelot e Establet, Berstein, Michael Young, Bowles e Gintis, Pinar, Apple e Giroux (Cf.: Silva, 2011). 75 Referimo-nos s teorias que abordam dentro do currculo as discusses tnicas, raciais, de gnero, culturais e discursivas (Cf.: Silva, 2011).
120
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
sociais, de novas identidades, de reconhecimento desta pluralidade cultural. E como o prprio autor sugere, uma oportunidade que a escola tem de enriquecer a sua proposta pedaggica, bem como a prtica docente. ANLISE DOS DADOS: Percepo dos ps-graduandos sobre a relao currculo e cultura Para responder ao objetivo proposto nesta investigao que foi compreender qual a percepo de alunos da disciplina Educao, currculo e ensino sobre a relao currculo e cultura. Solicitamos que eles nos respondessem duas questes e realizamos uma anlise interpretativa a fim de extrair as principais categorias expressas nestes questionamentos. Os sujeitos foram dez alunos da referida disciplina do Programa de Ps-Graduao em Educao Brasileira da Universidade Federal do Cear- UFC. Quando os sujeitos foram interrogados sobre o que compreendiam pelo termo currculo, as respostas foram muito diversificadas. Destacamos alguns elementos como: projeto de formao, construo que norteia o processo de ensino e aprendizagem, conjunto de objetivos de aprendizagem, experincias, conhecimentos, prticas, conjunto de unidades temticas, contedos, caminho, etc.Vejamos algumas falas: [...] creio que currculo um projeto de formao dotado de intenes. Seja formal ou informal - ora constitudo institucionalmente, ora oculto -, o currculo a manifestao de decises sobre a gama de conhecimento necessria para instruir a construo e a ao dos atores sociais. [...] PG 01 [...] este um termo de sentido muito amplo. Na educao, currculo uma construo que norteia o processo de ensino e aprendizagem. Diz respeito ao conjunto de todas as experincias que devem ser desdobradas na escola, com a finalidade de desenvolver nos educandos conhecimentos, habilidades e competncias para viverem, conviverem e atuarem no mundo em constante transformao. Assim, est longe de ser apenas uma listagem de contedos que devem ser ensinados e aprendidos em determinado perodo da vida escolar. PG 02 Para a rea de Educao, entendo como os contedos e prticas sociais a serem desenvolvidos durante a vida escolar/estudantil, visando a aquisio de competncias e a cidadania. Estes contedos so pr-selecionados, por um grupo (detentor desse poder) que define que experincias os sujeitos tero acesso. PG 08 Currculo um conjunto de todos os contedos que aprendemos na vida escolar, estes contedos so dotados de intencionalidade, da que alguns contedos so ocultados e esto relacionados todo o contexto histrico da sociedade. A partir da escolha desses contedos que vo ser direcionados os mtodos, o material didtico, a prtica pedaggica do professor, etc. PG 10 Percebemos que a maioria das respostas se referem aos contedos, conhecimentos escolares adquiridos, fica claro que eles tm uma centralidade quando se discute currculo. Entretanto, no
121
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
deixam de se referir da intencionalidade que o currculo apresenta e do seu carter poltico, em que aparecem as relaes de poder. Assim o trecho abaixo de um dos sujeitos nos trouxe um elemento muito importante quando retoma a definio de Sacristn, que sugere avaliao do currculo, que o fato de revisar constantemente o currculo. o conjunto de objetivos de aprendizagem selecionados que devem d lugar criao de experincias apropriadas que tenham efeitos cumulativos avaliveis, de modo que se possa manter o sistema numa reviso constante, para que nele se operem as oportunas reacomodaes." PG 03 Quando os sujeitos foram interrogados sobre a relao currculo e cultura, surgem vrios elementos como identidade, contextualidade, cultura como currculo extra-oficial, etc. [] creio que cultura expresso curricular inicial e predominante em nossas vidas. No seio de uma sociedade, inscrita sob signos identitrios, a cultura divulga as caractersticas que formam o conjunto do que somos, isto , manifesta um plano de formao complexo.[...] PG 01 A relao entre currculo e cultura encontra-se no elo de identidade e contextualidade que as manifestaes locais e regionais fazem para desenvolvimento de um projeto educativo, ou seja, de acordo com a cultura de um determinado local [...] PG 04 [...] Currculo como contedos e prticas sociais uma forma de cultura, portanto de classificar um grupo social. PG 08 Tambm percebemos que o currculo escolar concebido pelos sujeitos como uma via de transmisso cultural, de traduo da cultura para as geraes futuras... O currculo pode ser considerado como um instrumento de transmisso cultural, o qual determina quais valores o aluno deve aprender e praticar. PG 09 Se a gente pensar na cultura como esse conjunto de atividades e modos de agir, costumes e instrues de um povo, ento o currculo essa traduo para as geraes futuras de forma organizada para serem trabalhadas dentro do espao da escola. PG 03 E ainda, o currculo funciona como aquele que vai influenciar na cultura, pois de acordo com este sujeito a principal relao que o que contemplado no currculo escolar vai influenciar na cultura adquirida formalmente e informalmente para mim. [...] (PG 06). Diramos que mais que influenciar, ele tambm influenciado pela cultura, traduzindo-se assim numa relao dialtica, constri, desconstri e reconstri (PG 07). E sendo uma relao dialtica carrega consigo todas as contradies sociais, uma vez que se constitui em um territrio contestado, como diria Silva, em que se concretizam as relaes de poder, percebemos o quanto ele est relacionado cultura que tambm expressa essas relaes. PG 10). Carrega ainda todas as determinaes ou influncias econmicas, polticas, sociais, que no se separam da cultura e muito menos do currculo.
122
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
CONSIDERAES FINAIS As anlises aqui realizadas permitem-nos perceber que a relao entre cultura e currculo intrnseca, no podemos conceber um sem o outro, principalmente se considerarmos os elementos culturais de uma sociedade determinada, sua lngua, seus ritos e mitos, suas crenas, seu jeito de ser e estar no mundo, e ainda mais de perceber, compreender as nuances no currculo oculto. Trata-se do aspecto poltico do currculo, das relaes de poder que tambm esto imbricados na cultura, as ideologias, que fazem com que as pessoas pensem e se comportem da forma como os detentores do poder querem que seja feito. Entretanto, as estruturas curriculares como dispositivos de saber e de poder tambm permitem que na escola surjam novas relaes, novos sujeitos que pensem um mundo diferente. A pluralidade cultural que durante muito tempo foi velada, hoje percebida e pode propiciar o enriquecimento e a renovao das possibilidades de atuao pedaggica. REFERNCIAS HALL, Stuart. Identidades Culturais na ps-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1997. MOREIRA, A. F. B. O campo do currculo no Brasil: construo no contexto da ANPEd. Cadernos de Pesquisa, n.117, p.81-101, 2002a. ________. Currculo, diferena cultural e dilogo. Educao e Sociedade, n. 79, p.15-38, 2002b. MOREIRA, A. F. B. e CANDAU, Vera Maria. Indagaes sobre currculo : currculo, conhecimento e cultura. Organizao do documento Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Ariclia Ribeiro do Nascimento. Braslia: Ministrio da Educao, Secretaria de Educao Bsica, 2007. MOREIRA, Antnio Flvio B. e SILVA, Tomaz Tadeu (org.). Currculo, cultura e sociedade. So Paulo: Cortez Editora, 2005. SACRISTN, J. Gimeno. Poderes instveis em educao. Traduo de Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artmed, 1999. SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade: uma introduo s teorias do currculo. 3 ed. 2 reimp. Belo Horizonte: Autntica, 2011.
123
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
PERCEPO DOCENTE QUANTO AOS DESAFIOS ENCONTRADOS NA IMPLANTAO DO PROJETO POLTICO PEDAGGICO DO CURSO DE MEDICINA DE UMA UNIVERSIDADE PBLICA BRASILEIRA
Dominik Garcia Araujo Fontes 76 Maria do Socorro Sousa77 Maria Vaudelice Mota78 Sarah Maria Fraxe Pessoa79
RESUMO As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina, publicadas em 2001, propem um curriculum que prepare o profissional para atender as necessidades da populao, antecipando a discusso internacional de qualidade de formao com compromisso social. No entanto, tem deixado em segundo plano a preparao que o corpo docente deve ter para formar o novo mdico proposto. Esse estudo teve como objetivo identificar as dificuldades enfrentadas pelos docentes na implantao do currculo no curso de medicina de uma universidade pblica, aps uma dcada de sua aprovao e conhecer suas sugestes para melhorar a qualidade do ensino mdico. Trata-se de um estudo descritivo qualitativo utilizando entrevistas semiestruturadas como tcnica de investigao e a anlise temtica para avaliao do material coletado. No decorrer dos dez anos de implantao do currculo foram enfatizadas prticas significativas atravs da insero do professor de forma efetiva e contnua no Sistema nico de Sade, entretanto em nmero incipiente. A falta de integrao entre instituio de ensino e a assistncia bsica de sade em todos os nveis: fsico, pessoal e poltico-educacional foi apontada como um dos grandes obstculos para o sucesso da efetivao do ensino na prtica, aliada a resistncia da docncia a mudanas na utilizao de novas metodologias de ensino. Foi sugerida, dentre outras coisas, a realizao de uma semana dedicada atualizao de ensino do professor fora do perodo de frias e a integrao interdisciplinar entre os mdulos. Conclumos que, apesar dos avanos, a maioria dos docentes ainda encontra-se resistente s mudanas sinalizadas pela ltima reforma curricular. PALAVRAS-CHAVES: Currculo. Educao mdica. Reforma curricular. INTRODUO O modelo de formao universitria prevalente na imensa maioria dos pases ocidentais durante o sculo XX est se esgotando. Dentre as razes, o ritmo e a intensidade das mudanas no universo do trabalho, a evoluo do conhecimento em todas as reas, a transformao da cincia e do saber em fora produtiva, o surgimento contnuo de novas especialidades e a demanda permanente de novos tipos de profissionais, diferenciados pela flexibilidade nas habilidades
76 Mestre em Polticas Pblicas e Gesto da Educao Superior, Programa de Ps-Graduao em Sade Coletiva/UFC, dominikfontes@ufc.br; 77 Doutoranda em Sade Coletiva, Programa de Ps-Graduao em Sade Coletiva/UFC, sousams3@gmail.com; 78 Professora, Doutora em Sade Coletiva, Ncleo de Estudos em Sade Coletiva/DSC/UFC, vaudelicemota@ufc.br; 79 Doutora em Enfermagem, Maternidade Escola Assis Chateaubriand/UFC, sarahfraxe2005@yahoo.com.br.
124
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
formadoras e pela capacidade de trabalho com interdisciplinaridade em nveis at pouco tempo inimaginveis (MACEDO, 2005). A Reforma universitria implantada no Brasil em 1968 mostrou-se inadequada para as condies e necessidades brasileiras. Ao longo dos anos 70 um vasto conjunto de normas e regulamentos, como decises do Conselho Federal de Educao, viabilizaram a expanso do sistema nacional de educao superior que a partir de 1995, consagrou os princpios da autonomia universitria e da indissociabilidade do ensino pesquisa - extenso e da Lei n 9394 (BRASIL, 1996), que estabelece as diretrizes e bases da educao nacional (MACEDO, 2005). Em 1995, na perspectiva de implantar uma reforma curricular, iniciou-se, na Faculdade de Medicina, de uma universidade pblica brasileira, um processo de discusso sobre o ensino mdico em consonncia com o projeto que vinha sendo desenvolvido, desde 1991, que culminou com a implantao de um novo currculo em 2001 (PROJETO PEDAGGICO, 2001). A demanda por mudanas na Educao mdica tem no currculo uma expresso central, exigindo dos pesquisadores o desenvolvimento de investigaes que demonstram a efetividade dos currculos mdicos onde as mudanas incidem. Vincula-se a investigao dade emancipao/regulao em Educao mdica, adepta de uma pedagogia inovadora para uma Medicina renovada, com interesse investigativo prioritrio para as mudanas de currculos mdicos, particularmente no que tange avaliao de sua efetividade (LIRA, 2010). No currculo aprovado em 2001 da Faculdade de Medicina da universidade em questo, os assuntos passariam a ser organizados por sistemas, dispostos em mdulos interdisciplinares consecutivos nos quais vrias disciplinas contribuiriam de forma harmnica para que os objetivos propostos fossem alcanados (PROJETO PEDAGGICO, 2001). A organizao modular por sistemas visava integrao entre as disciplinas e desta forma, se pressupe um planejamento participativo para que os objetivos, horrios, temas e avaliaes fossem compartilhados e os professores tivessem uma viso geral do currculo (PROJETO PEDAGGICO, 2001). Preconizou-se tambm na referida reforma curricular, a utilizao de metodologias ativas de aprendizagem. Ao estruturar os mdulos, procurava-se ainda facilitar a relao professor/aluno, com atividades em pequenos grupos (PROJETO PEDAGGICO, 2001). De acordo com a reforma curricular aprovada em 2001, no currculo mdico desta universidade passou a existir dois mdulos longitudinais: o de Desenvolvimento Pessoal que aborda aspectos da tica, psicologia, antropologia e cincias sociais; e um outro, o de Assistncia Bsica Sade, cujo objetivo maior o de integrar o curso comunidade e ao servio pblico de sade, nos nveis primrio e secundrio de Ateno Sade. A integrao destes mdulos deveria ocorrer vertical e horizontalmente (PROJETO PEDAGGICO, 2001). As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Medicina, publicadas em 2001, propuseram um currculo que preparasse o profissional para atender as necessidades da populao, antecipando a discusso internacional de qualidade de formao com compromisso social. No entanto, a reforma curricular deixou em segundo plano a preparao que os atores atuantes nesse
125
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
processo de formao do novo mdico deveriam ter. A experincia vivenciada como docente da Faculdade de Medicina de uma universidade pblica brasileira, e colaboradora no processo de reforma curricular de 2001 despertou para a investigao da temtica e delineamento do problema do estudo: O perfil dos docentes da Faculdade de Medicina no est adequado ao Projeto Poltico Pedaggico do Curso de Medicina e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNS) que serviram de alicerce para o atual currculo, h doze anos em execuo. Dessa forma, a atual investigao, pretende identificar as dificuldades enfrentadas pelos docentes na implantao do currculo no curso de medicina de uma universidade pblica ao longo dos ltimos dez anos bem como conhecer as sugestes dos docentes para melhorar a qualidade do ensino mdico. OBJETIVO GERAL Identificar as dificuldades enfrentadas pelos docentes na implantao do currculo no curso de medicina de uma universidade pblica brasileira, dez anos aps sua aprovao e conhecer suas sugestes para melhorar a qualidade do ensino mdico. METODOLOGIA Estudo exploratrio descritivo, de abordagem qualitativa, realizado na Faculdade de Medicina de uma universidade pblica brasileira, durante os anos de 2011 e 2012, atravs de entrevistas semiestruturadas com informantes privilegiados: um diretor e trs professores/coordenadores do curso de medicina, selecionados por saturao dos significados, aps aprovao do Projeto no Comit de tica em Pesquisa da universidade estudada e contato para convite e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As entrevistas seguiram roteiro com identificao dos participantes e 6 perguntas chaves: Como avalia o novo currculo?; Quais os principais obstculos para adoo de novas metodologias de ensino e integrao dos professores aos novos cenrios de prtica?; Quais as dificuldades enfrentadas para o cumprimento do contedo a ser ministrado?; Quais os pontos positivos/facilidades do novo currculo para compreenso do tema pelos alunos?; E a opinio sobre modificaes para melhorar a qualidade do ensino pelo Diretor/coordenadores/professores. As entrevistas foram gravadas e transcritas com organizao dos significados e Anlise Temtica do contedo de fala. DISCUSSO DOS RESULTADOS Os resultados apontam que o currculo est atualizado em relao viso atual de como ensinar medicina e o que ensinar, entretanto a metodologia sugerida, PBL, ainda que considerada interessante, foi avaliada como complementar e no substitutiva. Aliada a esse fator encontramos a resistncia da docncia a mudanas na utilizao de novas metodologias de ensino, a falta de conhecimento de novas didticas e a inexistncia de treinamentos ou cursos de didtica de forma continuada. Em contraponto, a utilizao das metodologias ativas desde que bem compreendidas e utilizadas pelos docentes e pelos alunos emergiu como positivo e como um facilitador para compreenso dos temas pelos discentes. A mudana do papel do professor de detentor do conhecimento para facilitador deste foi tambm apontado como uma mudana positiva. No decorrer dos dez anos de implantao do currculo foram enfatizadas prticas significativas atravs da insero do professor de forma efetiva e continua em cenrios diversificados do Sistema nico
126
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
de Sade, entretanto ainda em nmero insuficiente. Motivo pelo qual foi tambm apontado pelos entrevistados como um dos grandes obstculos para o sucesso da efetivao do ensino na prtica. A falta de integrao entre instituio de ensino e a assistncia bsica de sade em todos os nveis: fsico, pessoal e poltico-educacional foi considerada como um dos grandes obstculos para o sucesso da reforma proposta h mais de uma dcada. Uma melhor integrao entre a comunidade acadmica e a comunidade assistencial da rede bem como a realizao de um trabalho de conscientizao da importncia da ateno bsica, da assistncia primria da sade, para professores e alunos foram apontados como mudanas necessrias para melhorar a qualidade do ensino mdico. Como sugestes dadas esta a realizao de treinamentos continuados acerca das novas metodologias e didticas de ensino; realizao de uma semana voltada para atualizao de ensino do docente desde que realizada fora de seu perodo de frias; integrao interdisciplinar entre os mdulos para avanar na complexidade da disciplina; criao de ambulatrios com a insero da universidade e com a presena contnua do professor no posto e a realizao de um movimento de conscientizao dos alunos, professores, e profissionais da rede bsica de que os alunos devem ter acesso facilitado ateno bsica para que consiga cumprir o estipulado em seu currculo. CONSIDERAES FINAIS Observamos uma conscientizao dos entrevistados quanto s dificuldades em concretizar os objetivos propostos pela ltima reforma curricular, em 2001, e um movimento por parte deles, ainda que inexpressivo, para uma maior adequao do professor em efetivar as Diretrizes estabelecidas. Entretanto, uma dcada aps a reforma, percebemos, que alm da falta de preparo pedaggico e didtico da maioria dos docentes para lidar com as mudanas propostas pela reforma, muitos ainda encontram-se resistentes s mudanas sinalizadas pela mesma sejam elas pedaggicas, fsicas ou polticas. REFERNCIAS BRASIL. Decreto n 2.207, de 15 de abril de 1997. Regulamenta para o Sistema Federal de Ensino, as disposies contidas nos arts. 19, 20, 45, e $ 1, 52, pargrafo nico, 54 e 88 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e d outras providncias. Dirio Oficial [da] Repblica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Braslia, DF, 16 abr. 1997. Disponvel em: < http//: www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 9 set. 2011 LIRA, G. V. Epistemologia, metodologia e prtica de um modelo cartogrfico de avaliao curricular em educao mdica. 2010. 529 f. Tese (Doutorado) Programa de ps-graduao em Educao Brasileira, Faculdade de Educao, Universidade Federal do Cear, Fortaleza, 2010. MACEDO, A. R. et al. Educao superior no sculo XXI e a reforma universitria brasileira. Ensaio: aval. Pol. Pbl. Educ., Rio de Janeiro, v. 13, n. 47, p. 127-148, abr./jun. 2005. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR, Comisso de Reforma Curricular. Projeto Pedaggico: Currculo do Curso de medicina. Fortaleza: Imprensa Universitria, 2001.
127
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
COMO OS GESTORES DE CURRCULO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR DEFINEM PROJETO PEDAGGICO?
Yangla Kelly Oliveira Rodrigues80
RESUMO Apoiando-nos em algumas concepes sobre projeto pedaggico vigentes na literatura, sobretudo, em algumas publicaes de Passos (1996, 2003) e Gadotti (1997), neste trabalho, investigamos como os gestores de currculo na Universidade Federal do Cear (UFC) definem projeto pedaggico. Para tal, aplicamos um questionrio junto aos coordenadores dos cursos de graduao e procuramos compreender o sentido das suas respostas atravs da anlise de contedo, relacionando-as com os conceitos sobre projeto pedaggico dos tericos. A partir dos resultados obtidos, podemos afirmar que a maior parte dos gestores participantes da pesquisa, define projeto pedaggico como um plano a ser seguido, cujo principal objetivo formar um profissional com determinado perfil e algumas competncias e habilidades. Refletimos que o entendimento do projeto pedaggico como plano e no como um processo, o limita ao cumprimento de objetivos prestabelecidos e o atendimento das exigncias legais, comprometendo seu potencial emancipador e perpetuando o que institudo. PALAVRAS-CHAVE: Projeto Pedaggico. Plano. Processo. Currculo. INTRODUO Este artigo procura relacionar as concepes sobre projeto pedaggico existentes na literatura, elaboradas por alguns estudiosos do assunto, e aquelas que encontramos no seio da universidade, entre os gestores curriculares, nomeadamente os coordenadores de cursos de graduao. A consulta a algumas publicaes de estudiosos que tm se dedicado com afinco sobre o tema aqui em debate, nos traz que, etimologicamente, o termo projeto tem origem no latim projectu, particpio passado do verbo projicere, o qual significa lanar para diante. Neste sentido, ao construir projetos planeja-se o que se tem inteno de fazer, lana-se para frente, partindo daquilo que se tem, procurando antever um futuro diferente do presente (VEIGA, 1996). No fundo, projeta-se para tentar construir um futuro melhor, trata-se de fazer advir para si um futuro desejado (BOUTINET, 1990, p. 90). Portanto, subjacente ideia de projeto existe uma expectativa de mudana, pensada a partir da ruptura com o presente. Destacando o sentido de ruptura inerente ao conceito de projeto, Gadotti (1997, p. 37) considera que:
Mestre em Cincias da Educao, com especialidade em Desenvolvimento Curricular pela Universidade do Minho, em Portugal. Diretora de Planejamento e Avaliao de Projetos Pedaggicos da Pr-Reitoria de Graduao da Universidade Federal do Cear. E-mail: yangla.oliveira@hotmail.com.
80
128
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
todo projeto supe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortvel para arriscar-se, atravessar um perodo de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em funo da promessa que cada projeto contm de estado melhor do que o presente.
Gadotti (1997, p.34-35) tambm refere que apesar do termo projeto ser frequentemente confundido com um plano, um conjunto de objetivos, metas e/ou procedimentos, ele no se reduz a isto, pois, em geral,o plano fica no campo do institudo ou melhor, no cumprimento mais eficaz do institudo, como defende hoje todo o discurso oficial em torno da qualidade e, em particular, da qualidade total. Um projeto necessita sempre rever o institudo para, a partir dele, instituir outra coisa. Tornar -se instituinte. Um projeto polticopedaggico no nega o institudo da escola que a sua histria, que o conjunto dos seus currculos, dos seus mtodos, o conjunto dos seus atores internos e externos e o seu modo de vida. Um projeto sempre confronta esse institudo com o instituinte. A compreenso do projeto como um plano dimensiona-o como uma inovao de carter regulatrio ou tcnico, como um conjunto de atividades que vo gerar um produto: o documento, pronto e acabado (VEIGA, 2003, p. 267). Nesse caso, a construo do projeto: (i) d-se pela via normativa, centralizadora e autoritria; (ii) de fora para dentro; (iii) configura-se como um processo de mudana fragmentado, em que a introduo do novo se d pela mudana das partes; (iv) separam-se fins e meios, pois parte-se do pressuposto que os fins j se acham dados, so naturalizados, inquestionveis, devendo a inovao incidir apenas sobre os meios; (v) e no produz rupturas. Nesse processo, o desenvolvimento do projeto pautado pelas ideias de ordem, controle e eficcia, a partir de aes de natureza poltico-administrativa ou emprico-racionais, pelas quais a inovao instituda. O agente inovador lana as ideias e trabalha para a sua aceitao e implementao. Disto resulta, a perpetuao do institudo, pois essa mudana no produz um projeto pedaggico novo, produz o mesmo sistem a, modificado (VEIGA, 2003, p. 270). Como conceitua Veiga (2003, p. 271):
A inovao de cunho regulatrio ou tcnico nega a diversidade de interesses e de atores que esto presentes, porque no uma ao da qual todos participam e na qual compartilham uma mesma concepo de homem, de sociedade, de educao e de instituio educativa. Trata-se de um conjunto de ferramentas (diretrizes, formulrios, fichas, parmetros, critrios etc.) proposto em nvel nacional. Como medidas e ferramentas institudas legalmente, devem ser incorporadas pelas instituies educativas nos projetos pedaggicos a serem, muitas vezes, financiados, autorizados, reconhecidos e credenciados.
Por outro lado, ainda de acordo com Veiga (2003), a compreenso do projeto como processo inscreve-o numa inovao emancipatria ou edificante, que enfatiza o desenrolar da construo do projeto, pautada pelo debate entre os atores envolvidos sobre a realidade interna da instituio e o contexto social mais amplo. Nesse caso, o desenvolvimento do projeto d-se: (i) pela via democrtica; (ii) de dentro para fora; (iii) numa perspectiva globalizante e sistmica; (iv) sem separao entre fins e meios, uma vez que a ao incide sobre ambos; (v) e pressupe uma ruptura que, acima de tudo, predisponha as pessoas e a instituio para a indagao e para a emancipao. Nesse processo, a construo do projeto realiza-se atravs
129
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
da colaborao, a partir de aes de natureza coletiva, pelas quais a inovao instituinte. Da reflexo-ao conjunta nasce um projeto comum que reflete os interesses de seus agentes. Portanto, supera-se a reproduo acrtica das prescries legais e amplia-se a autonomia da instituio educativa. Disso resulta a ruptura com o institudo. Conforme refere Veiga (2003, p. 275):
Sob esta tica, o projeto um meio de engajamento coletivo para integrar aes dispersas, criar sinergias no sentido de buscar solues alternativas para diferentes momentos do trabalho pedaggico -administrativo, desenvolver o sentimento de pertena, mobilizar os protagonistas para a explicitao de objetivos comuns definindo o norte das aes a serem desencadeadas, fortalecer a construo de uma coerncia comum, mas indispensvel, para que a ao coletiva produza seus efeitos.
Apoiando-nos no referencial exposto acima e situando-nos no mbito do ensino superior, confrontamos as definies de PPP encontradas na literatura com o que os docentesgestores curriculares entendem sobre este assunto. OBJETIVO GERAL O objetivo deste trabalho foi descrever e refletir como os coordenadores dos cursos de graduao da UFC definem projeto pedaggico. METODOLOGIA Esta investigao fez uso de um questionrio, que faz parte de um estudo mais amplo, desenvolvido pela Diviso de Planejamento e Avaliao de Projetos Pedaggicos da PrReitoria de Graduao. O referido instrumento denominou-se Diagnstico Curricular e foi construdo numa plataforma eletrnica, o survey monkey. Esse instrumento abrangeu 20 questes e teve como objetivo geral construir um diagnstico dos currculos a partir da viso dos coordenadores dos cursos. O envio do questionrio foi realizado por e-mail. Enviamos um link atravs do qual os participantes tiveram acesso e puderam responder as perguntas. Neste texto, nos voltamos exclusivamente a uma das questes compreendidas por esse questionrio, a que se refere compreenso que os coordenadores de cursos de graduao possuem acerca de projeto pedaggico. A mencionada questo foi respondida por 82 coordenadores. Para o tratamento dessas respostas nos valemos da anlise de contedo. DISCUSSO DOS RESULTADOS Procurando descrever e refletir sobre como os professores, encarregados de alguma coordenao de curso de graduao definem projeto pedaggico, fizemos a seguinte pergunta: Para voc, o que projeto pedaggico? As respostas dos docentes nos permitiram identificar duas categorias que correspondem s concepes sobre projeto pedaggico apresentadas na literatura: o projeto como plano e o projeto como processo; com uma forte prevalncia da primeira concepo, 59 das 82 respostas questo referida acima, cerca de 72% do total. A seguir, citamos algumas delas: o planejamento do que se espera que o curso seja em todos os seus aspectos. um guia a ser seguido para atingir os objetivos desejados e para formar o tipo de aluno que se deseja formar.
130
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
So aes concretas a executar durante determinado perodo de tempo, com definio de atividades necessrias ao processo de ensino e aprendizagem. um documento que deve servir de parmetro para discutir referncias, experincias e aes de curto, mdio e longo prazos. um b alizador da formao dos educandos.
Plano que o curso deve seguir e que foi aprovado para criao do curso Documento que contm as aes, atividades necessrias ao processo de ensino e aprendizagem. o conjunto de metas a cumprir e os meios para concretiz-las um texto construdo por alguns docentes e profissionais de educao, no qual so delineados os aspectos didticos, metodolgicos e estruturais a serem contemplados na formao de recursos humanos em qualquer nvel de instruo. Planejamento de um curso pautado em metas para uma formao slida dos profissionais um documento/projeto que organiza as diretivas a serem seguidas por um curso especfico. um documento que orienta o desenvolvimento de um Curso e baseado no profissional que se quer formar, estabelece as metas e os caminhos para atingir o objetivo que a formao desse profissional. um "plano de voo" que indica, detalhadamente, os procedimentos a serem realizados para chegar ao(s) objetivo(s) proposto(s), refletindo o grau de conhecimento dos diversos recursos (tericos, matrias, institucionais, polticos etc) disponveis e as estratgias metodolgicas para a execuo exitosa desse plano. De forma sucinta, um plano de trabalho pedaggico a ser realizado em um Curso. o estatuto do Curso. As regras gerais de operacionalizao de um curso de graduo conforme as diretrizes curriculares do MEC. o manual para orientao do curso dentro da poltica na formao do indivduo para exercer as atividades dentro do contexto proposto para o curso. Ferramenta que deve ser consultada por gestores, tcnicos e alunos para esclarecimento do que a instituio prope a ensinar no curso. um plano estratgico negociado entre os grupos de interessados que visa a melhor formao possvel para o profissional a que se prope formar. Documento que norteia as aes do curso de graduao. o documento que norteia todo o curso, tanto no que concerne sua dimenso legal quanto os perfis de formao ofertados e desejados.
Estas afirmaes permitem-nos concluir que os professores concebem o PPP como um conjunto de medidas a ser tomadas para concretizar as finalidades que norteiam cada curso e para que os alunos desenvolvam um perfil de profissional pr-determinado. Isto , idealizam o projeto como um plano a ser seguido, numa perspectiva tcnica e prescritiva. Prevalece a preocupao com as formas de organizao, isto , sobre como organizar o projeto e concretiz-lo de modo a alcanar os objetivos pr-definidos.
131
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
CONSIDERAES FINAIS A concepo de PPP predominante entre os gestores curriculares da UFC do projeto como um plano, um documento. Acreditamos que somente a concepo de PPP como processo coerente e adequada construo de projetos emancipadores e comprometidos com a formao integral, que no apenas tcnico -cientfica, mas tambm compreende aspectos ticos, humansticos e de conscientizao para o exerccio da cidadania. Enquanto que a compreenso do PPP como plano reduz a formao a uma preparao profissional, conforme uma tipificao previamente pensada, mais nos termos de como este profissional dever ser a priori, do que em termos de uma atualizao constante e que tambm considere outras dimenses, alm das tcnico cientficas. O entendimento do PPP como processo implica que este no se restringe a um programa de estudos, a um agrupamento de planos de ensino ou a um conjunto de atividades ordenadas; implica ainda reconhecer que o PPP no algo esttico, um documento, que uma vez construdo deve ser arquivado ou enviado para as instncias competentes como prova do cumprimento de formalidades burocrticas (VEIGA, 1996). Contrariamente, a construo de um projeto educativo decorre continuamente ao longo de um processo, pois o projeto no um produto fechado. O seu processo de construo traduz-se nas tarefas de pensar/elaborar o projeto, pensar/realizar o projeto, pensar/avaliar o projeto e pensar/reformular o projeto, pois o que se pretende vai alm da reorganizao da educao, aquilo que se busca a melhoria da qualidade de todo o processo vivenciado. A concepo do PPP como plano contribui para a perpetuao do institudo, para reproduo do mesmo sistema educacional apenas com algumas modificaes, em contraposio aquilo que se pode desenvolver se o PPP visto como processo. Neste segundo caso, entende-se que o PPP no deve ser feito para cumprir exigncias legais, mas para atender aos anseios de alunos e professores. Esta compreenso, por sua vez, potencialmente propusora de mudanas, rupturas e, portanto, emancipadora e edificante. REFERNCIAS BOUTINET, J. P. Antropologia do projecto. Lisboa: Instituto Piaget, 1990. GADOTTI, M. Projeto poltico pedaggico da escola: fundamentos para sua realizao. In: GADOTTI, M.; ROMO, J. E. (Orgs.). Autonomia da escola princpios e propostas. So Paulo: Cortez, 1997. VEIGA, I. P. A. Projeto poltico pedaggico da escola: uma construo coletiva. In: Projeto poltico pedaggico da escola: uma construo possvel. Campinas: Papirus, 1996, p. 1135. VEIGA, I. P. A. Inovaes e projeto poltico-pedaggico: uma relao regulatria ou emancipatria? Caderno Cedes, So Paulo, v. 23, n. 61, p. 267-281, 2003.
132
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
CONCEPES ACERCA DO CURRCULO NO SISTEMA COLGIO MILITAR DO BRASIL (SCMB)
Renata Rovaris Diorio81
RESUMO A reconstruo do currculo do SCMB deu-se em virtude do momento histrico, no qual os Colgios Militares encontram-se desde 2011. Essa inovao curricular oriunda de um projeto maior que o Exrcito brasileiro iniciou a fim de modernizar todo seu sistema de ensino, inclusive nas academias militares, desde 2009. Um novo Exrcito localizado no mundo globalizado deparou-se com novas exigncias que se descortinavam, como novas formas de atuar em misses de paz, por exemplo. Nesse sentido, uma nova racionalidade, conectada com as novas tendncias, diante da complexidade da sociedade tecnolgica tornou essencial a incluso de novas categorias, na formao integral desse combatente, isto , novas competncias, tais como: a multicultural, tornou-se vital a esse cidado global. Tal cenrio tem provocado inmeras transformaes no ensino militar, assim como, no Sistema Colgio Militar. Nesse contexto, esse estudo foi motivado pela seguinte indagao: o qu pensam os professores do Ensino Mdio sobre Currculo? Sob essa perspectiva, o objetivo geral desse estudo : analisar as concepes dos participantes dessa pesquisa, inseridos na reforma curricular, sobre a categoria Currculo. Os dados vm sendo coletados por meio da tcnica de anlise denominada circulo dialtico hermenutico (Guba & Lincoln, Fourth Generation Evaluation, 1989). Concluso: os professores esto num processo de transio epistemolgica, num contexto de continuidades e rupturas de paradigmas, em direo s novas metodologias e prticas docentes de um currculo integrado. PALAVRAS CHAVE: Currculo. Multiculturalismo. Interdisciplinaridade. INTRODUO O Sistema Colgio Militar do Brasil (SCMB) est nesse momento, num perodo de transio, perfazendo um novo caminhar, visto que o seu currculo escolar encontra-se em reconstruo, buscando novos rumos, preparando-se para s novas demandas do sculo XXI. Nesse caminhar, o principal objetivo do Ensino Mdio deve ser possibilitar ao aluno tornarse cidado do mundo, comunicando-se com o meio globalizado, apoderando-se de diversos saberes, a fim de transformar a realidade em que vive. Diante desse cenrio, novos significados acerca do currculo poderiam ser reconstrudos, na tentativa de emergir outros sentidos para tal categoria. E por esses motivos, resolvi investigar as representaes sociais dos professores do Ensino Mdio sobre Currculo, nesse perodo de reforma
Renata Rovaris Diorio, graduada em Letras pela UFMS e em Direito pelas Faculdades Catlicas de Mato Grosso, Mestre e Doutoranda em Educao pela Universidade Federal do Cear, professora de Lngua Inglesa pelo Colgio Militar de Fortaleza, e-mail:renatarovaris@hotmail.com
81
133
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
curricular. Ento, entrevistei 15 professores do Ensino Mdio, das diversas reas do conhecimento, entre eles, militares e civis. A pesquisa de cunho qualitativo e etnogrfico e a metodologia utilizada para coleta e anlise de dados construtivista, ou seja, adotei o Crculo Dialtico Hermenutico, de Guba & Lincoln (1989). Essa tcnica de anlise de dados construtivista porque a partir de uma construo de um participante da pesquisa, recolho outras concepes das entrevistas, dos bate papos informais, das observaes participantes realizadas, das anlises documentais e outros insumos revisitados, construindo novas inferncias acerca do objeto alvo. Nesse percurso, vou refazendo tambm minha construo como pesquisadora, montando um crculo que perpassa pelos sujeitos participantes inmeras vezes, tentando construir um consenso sob a categoria elencada. Portanto, a pergunta geradora dessa investigao foi: o qu pensam os professores do Ensino Mdio, do SCMB, acerca da categoria Currculo, no contexto de reforma curricular vigente? OBJETIVO GERAL Analisar as concepes docentes acerca da categoria currculo, no contexto do processo de reforma curricular no SCMB. METODOLOGIA Utilizo como tcnica de anlise de dados, o estudo de Egon G. Guba e Yvonna S. Lincoln (1989), que consiste no circulo dialtico hermenutico, onde um participante da pesquisa inicia o crculo com suas representaes sociais, acerca do tema e os demais continuam o dilogo, por meio de outros comentrios e articulaes. Desse modo, uma voz inicia o circulo, dando oportunidades para outras vozes complementarem o que j foi dito, acrescentando sempre algo mais construo coletiva. Embora Guba & Lincoln (1989) tenham sugerido a metodologia dialtica hermenutica, principalmente para a rea de avaliao institucional, ela tambm pode ser utilizada para esse trabalho, alvo desse estudo, visto que essa tcnica de anlise de dados parte do pressuposto que a realidade fruto de diversas construes dos protagonistas nela envolvidos. Em virtude desse modo de analisar, dialeticamente e de forma contnua as representaes sociais dos participantes da pesquisa, me identifiquei com essa tcnica de anlise de dados, alm do que, a verdade tambm relativa nesse paradigma construtivista, uma vez que ela sempre consensual. Segue a seguir, figura ilustrativa da referida tcnica de anlise de dados:
134
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
R 1
Rn
Cn
C1
R2
maior
escopo
C2
Insumos do crculo outros crculos
R3
TEMPO
R7
ESTRUTURA
SELEO
C6
menor
Articulao
C3
documentos literatura observaes construo do pesquisador
R 6
C5
C4
R4
Figura 18 (Traduo do Crculo Dialtico Hermenutico de GUBA & LINCOLN, 1989, p.152 apud MORAES, 1995, p.90).
DISCUSSO DOS RESULTADOS Transcrevi as falas dos sujeitos participantes da pesquisa, buscando a essncia das suas concepes, tentando desvelar as entrelinhas dos seus enunciados, as reticncias dos seus discursos, nos vrios contextos analisados. Entrevistei 15 professores do SCMB, que denominei de P1, P2, sucessivamente, acerca de suas crenas, concepes e expectativas sobre o novo Currculo do Ensino Mdio que se vislumbra nesse processo. Ento, agrupei suas falas por semelhanas e os professores, participantes desse estudo revelaram o que se segue sobre a categoria currculo:
P2: currculo so as diretrizes pelos quais a escola segue, estamos bem, no sei porque temos que mudar, time que est ganhando, no se mexe; P3: currculo passagem estreita porque revela a escola como realmente ; isso possvel somente pela grade escolar e seus documentos; P6: a grade, a ementa das disciplinas e seus contedos programados apenas e estamos saindo de um currculo de objetivos para um currculo centrado em competncias; P9: so as normas de avaliao e outras regras tambm que estamos modificando para depois atuar.; P10: ainda cedo para dizer se esse processo de reforma ser um avano ou no, mas espero que mude mesmo, porque currculo para mim so as regras oficiais da instituio, dizendo como devemos agir com os alunos.
Essas falas revelam a tica tradicional clssica, inserida numa perspectiva positivista da educao, j que seu significado consiste no currculo oficial apenas: compreendem que as diretrizes, as normas traduzem o significado de currculo. Nesse sentido, podemos inferir que para esses participantes da pesquisa, mudar o currculo significa mudar as regras do jogo to somente.
< <
R5
135
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
J o seguinte professor participante revela outro significado para o currculo:
P1: o currculo um grande sinalizador porque a escolha de tantas possveis nessa sociedade, onde o conhecimento hoje ficou fragmentado. Ento o professor deve escolher o que prioritrio para o seu aluno, visto que o conhece bem e vive com ele em sala de aula;
Essa fala revela a concepo do professor inserida numa perspectiva ps crtica contempornea, uma vez que percebe o currculo como a escolha de atividades na sala de aula, indo mais alm, inclusive, pois revela tambm que o professor deve escolher o core para o seu aluno, visto que h muito conhecimento fragmentado nessa sociedade tecnolgica. Alm do que, o professor conhece as limitaes e as possibilidades discentes, podendo promover e escolher atividades e estratgias de ensino que desenvolvam a zona proximal dos seus aprendizes. J as falas a seguir revelam o currculo como uma parte do projeto educativo escolar, que essa escola ainda est por construir. Isso revela a compreenso de uma totalidade no que diz respeito concepo do significado dessa categoria. Tal sentido est concebido luz de teorias da educao contemporneas que percebem o currculo como um caminho a ser seguido, mas, articulado com um projeto maior de ensino da instituio em que se encontra.
P5: uma palavra que nos engana porque nos leva acreditar numa grade de disciplinas, mas ele muito mais que isso: ele est inerente ao projeto poltico pedaggico, que ainda estamos por fazer; P7: um caminho a ser seguido e estamos fazendo isso, mas no se fala em projeto mais amplo da escola; P8: faz parte do projeto educativo que estamos pretendendo construir, mas no sei quando isso comear de verdade a fluir...; P12: a transformao do ensino no exrcito, estamos tentando fazer isso, pena que no se iniciou pelo projeto educativo como um todo e sim pelas suas partes: o currculo uma de suas partes.
J essas concepes, a seguir, revelam que os professores se sentem despreparados para poder participar na construo de um novo currculo. Eles acreditam que necessrio mudar, porm no se sentem vontade para expressar suas crenas. Muitas variantes entram nesse cenrio, a indiferena, por exemplo, pode retratar receio de se manifestar, como tambm, certa resistncia s transformaes oriundas desse novo currculo:
P4: um conjunto de todas as atividades que a instituio escola desenvolve e os contedos das disciplinas, mas me sinto despreparado para a mudana, porque parece que falta fundamentao terica para isso; P11: no tenho tido tempo de participar, s os coordenadores esto participando, prefiro no me posicionar sobre isso...; P13: no tenho acompanhado muito o processo de reviso, mas a gesto tambm ter que mudar, tudo tem de mudar, mas no me sinto vontade para falar muito sobre isso, prefiro ouvir....
136
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
H tambm a concepo de que essa fase de reforma curricular tempo de refletir sobre o qu o professor est fazendo, como faz e o porqu que toma determinadas atitudes em sala de aula. Nesse sentido, o professor participante afirma que:
P14: a reviso uma oportunidade para repensarmos o qu estamos fazendo e o porqu de nossas atitudes, mas, no porque no estamos tendo bons resultados, mas sim, para melhorar cada vez mais.
E o seguinte professor revelou na sua fala, outros significados e sentidos, categoria objeto alvo desse estudo:
P15: a reforma curricular possibilita uma nova identidade para o sistema colgio militar de ensino, isso porque nos professores teremos de ensinar diferente, teremos que ter a humildade de tambm aprender com nossos alunos, aproveitando o conhecimento prvio deles para que novas prticas possam surgir em sala de aula. Currculo trajetria, caminho a seguir e os rumos em sala de aula precisam ser revisitados por uma nova proposta pedaggica, isto , por um projeto novo educativo, visto que sem esse projeto no h currculo. E a inter/transdisciplinaridade, o multiculturalismo, e a contextualizao dos conhecimentos podem vir tambm tona.
Temos acima a crena de que o currculo revela uma nova identidade da escola, porque demonstra como os professores ensinam e como os alunos aprendem as diversas reas do conhecimento. Essa fala desvela h necessidade da humildade docente para que se possa trabalhar de forma integrada as diversas reas do saber. Isso possibilita a interdisciplinaridade e a contextualizao, entre outros elementos no currculo escolar. Tal concepo revela ainda um sentido para o termo currculo que consiste na transformao didtica na sala de aula. Esse entendimento trs consigo palavras chave que diretrizes oficiais, como os Parmetros Curriculares Nacionais (1998) e a proposta pedaggica do prprio Sistema Colgio Militar de Ensino (SCMB) nos norteiam. CONSIDERAES FINAIS Estamos em pleno processo de reforma curricular e isso implica em transformaes desde o modo de pensar e o agir na sala de aula. Contudo, h entraves, resistncias, inseguranas, lutas de interesses e relaes de poder que permeiam esse percurso. E isso pressupe novos significados e sentidos para o currculo. Isso no constitui simplesmente mudar a posio das cadeiras, ou adquirir novos recursos didticos e/ou equipamentos eletrnicos, ou fazer novos planos de aulas, ou adicionar/retirar alguns contedos, mas implica, sobretudo, na percepo de novas camadas dessa realidade, em novas formas de ensinar, de agir, de atuar e de avaliar na sala de aula, visto que o paradigma tradicional no se adqua mais s novas demandas dessa sociedade to complexa que o sculo XXI metamorfoseou. Nesse sentido, os participantes da pesquisa ora se sentem coautores, ora se sentem despreparados para tal empreendimento. No entanto, o percurso promissor e acreditamos que
137
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
apesar dos obstculos, um novo currculo em ao est sendo reconstrudo, uma vez que j possvel registrar novos elementos nas falas e concepes docentes, oriundos da contemporaneidade. Isso possibilita a integrao dos saberes, por meio da inter/transdisciplinaridade, do multiculturalismo e da contextualizao, entre as diversas reas do conhecimento, na sala de aula. REFERNCIAS BOURDIEU, P. O Poder Simblico. 11 Ed. Rio de Janeiro, Ed. Bertrand Brasil, 2007. GEERTZ, C. O saber local. Petrpolis, RJ: Vozes, 1997. GUBA, E. and LINCOLN, Y. Fourth Generation Evaluation. Sage Publications, Inc, California, USA, 1989. LUDKE, M. ANDRE, M. Pesquisa em Educao: abordagens qualitativas. So Paulo: EPU, 1986. MINAYO, M. Pesquisa social: teoria, mtodo e criatividade. Petroplis:Vozes, 1994. MORIN, E. Cincia com Conscincia. Rio de Janeiro:Ed.Betrand Brasil,2005 MORAES, S. E. O Currculo do Dilogo: Em busca da situao ideal de fala no currculo escolar internacional. Tese de Doutoramento. So Paulo: So Carlos, 1995. SACRISTN, G. O Currculo: Uma reflexo sobre a Prtica. Porto Alegre: Ed ARTMED, 1998. SZYMANSKI, H. A entrevista na pesquisa em educao: a prtica reflexiva. Braslia: Plano Ed.,2002.
138
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
DILOGO DE EXPERINCIAS DE PESQUISA: INTERFACES ENTRE A GASTRONOMIA, A EDUCAO, O CURRCULO E O ENSINO.
Beatriz Helena Peixoto Brando82
RESUMO O presente trabalho tem o condo de sintetizar a troca de saberes entre os discentes da disciplina Educao, Currculo e Ensino. A proposta curricular inscrita no mbito dessa disciplina traduz, ainda que no intencionalmente, uma postura dialgica (FREIRE, 1996), onde os docentes e discentes compreendem-se mutuamente como fontes abertas de conhecimento, atores curiosos e dinmicos, indagadores, aptos a escutar e a falar sobre suas prprias experincias e impresses. Ademais, parte-se para uma postura de uma hermenutica diatpica (SANTOS, 2001), onde se busca a interpretao dessas experincias a partir dos lugares de onde elas partem dos diferentes eixos de pesquisas -, de forma a consolidar uma conversa entre a universalidade e a relatividade das prticas, amparada em um anseio comum, qual seja o de investigar para realizar uma educao plena, bem como para entender a complexidade dos conflitos que permeiam essas dimenses. Dentro dessa dana lgica global e particular, expe-se, portanto, o relato de experincia com a misso de contemplar as interfaces entre a Gastronomia situada no eixo de currculo e as demais contribuies dos demais eixos: ensino de msica, ensino de cincias, ensino de matemtica, formao de professores e tecnologias digitais. PALAVRAS-CHAVE: Gastronomia; Interfaces; Educao; Currculo; Ensino. INTRODUO Recebe-se a misso de conhecer a atuao dos eixos da Linha de Educao, Currculo e Ensino. Prope-se, assim, uma apreciao dos tpicos levantados em sala de aula pelos membros desses grupos respectivos a partir do referencial de objetos e projetos de pesquisa particulares. Dentro dessa dana lgica global e particular, expe-se, portanto, as interfaces entre a Gastronomia situada no eixo de currculo e as demais contribuies dos demais eixos: ensino de msica, ensino de cincias, ensino de matemtica, formao de professores e tecnologias digitais. OBJETIVOS GERAIS Situar a temtica da Gastronomia, inscrita no mbito do eixo de currculo, a partir das revelaes e apresentaes das pesquisas dos docentes e discentes dos demais eixos da Linha Educao Currculo e Ensino.
82
Graduada em Direito pela Universidade Federal do Cear - UFC (2008). Advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - seo Cear. Aluna da primeira turma do Bacharelado em Gastronomia da UFC. Mestranda em Educao do Programa de Ps-Graduao em Educao Brasileira da Faculdade de Educao UFC. beatrizhpb@hotmail.com
139
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
METOLOGOGIA DE PESQUISA A metodologia, pautada nos referenciais tericos da dialgica de Paulo Freire (1997) e na hermenutica diatpica de Boaventura de Sousa Santos (2001), busca um partido interpretativo acerca das realidades de pesquisas apresentadas pelos membros da disciplina de Educao, Currculo e Ensino na perspectiva do dilogo, portanto -, situando a realidade de seus prprios eixos na perspectiva diatpica, finalmente. Assim, interpreta-se a realidade dos estudos apresentados, aproximando-as da temtica da Gastronomia em seu contingente cientfico e educativo. A pergunta orientadora : dentro do discurso dos colegas e de seus pontos de partida, quais elementos dentro dos referenciais plurais podem ser mantidos em seu carter universal, servindo para a reflexo de reas do conhecimento aparentemente desconexas com o contexto apresentado? Eis o desafio proposto. Prescreve-se, fundamentalmente, a noo de um relato de experincia. DISCUSSO DOS RESULTADOS 1.Eixo de Formao de Professores: educador profissional ou profissional educador? Os desafios da docncia no ensino superior no Bacharelado em Gastronomia da UFC. O bacharelado em Gastronomia da UFC inicia suas atividades no ano de 2010. Inscrito no mbito do Instituto de Cultura de Arte, o Curso assume uma dimenso essencialmente transdisciplinar, de forma a contemplar a alimentao dentro de uma viso holstica. Diante dessas eleies curriculares, a demanda docente tem sido sanada pela contribuio de professores advindos de outros centros da Universidade, tais como o curso de Engenharia de Alimentos, Qumica, Sociologia, Histria, Educao, Economia Domstica etc. Resta-nos falar que muitos desses docentes, ento bem acolhidos e eleitos para atender a demanda transdisciplinar do curso, sofrem, inevitavelmente, de uma fragmentao causada por um espontneo estranhamento inicial. Como traduzir o esprito de um curso to novo, de um bacharelado quase indito no pas, para a prtica docente ainda apegada rea de sua formao inicial? Na ausncia de gastrnomos de formao, como fazer com que um qumico, um historiador ou um bilogo deem aulas de gastronomia, desconhecendo uma linguagem especfica, muitas vezes devendo eles prprios inaugur-la? Essa quase requalificao faz elevar-se a necessidade de reconstruir a identidade docente. A gnese de cursos novos e suas exigncias docentes, a meu ver, revelam-se desafiadoras para as anlises e prticas de Formao de Professores. Outra questo aquela concernente admisso de novos professores ao quadro docente do curso de gastronomia. Indispensveis prtica gastronmica, as experincias prvias e uma larga prtica profissional pregressa so elementos motivadores. As aulas prticas, destarte, exigem a abordagem de um bom profissional ambientado cozinha. Essa concepo positiva, todavia, no deve suplantar jamais o tambm necessrio rigor acadmico, bem como o constante incentivo cientfico. Assim, a partir da conformao da ao docente como ato profissional (o professor como profissional e no somente como o vocacionado, como bem considerou a docente), como adequar esse nvel de exigncia queles docentes com larga experincia em suas reas de atuao,
140
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
mas com pouca aproximao em relao linguagem cientfica/acadmica? Como harmonizar a lgica do educador profissional com aquela do profissional educador? Renasce, portanto, o debate importante sobre os cursos de formao docente do Ensino Superior, tendo em vista a admisso desses profissionais que, embora competentssimos em seus ofcios, afastaram-se da academia e de suas prticas por muitos anos, tendo sua experincia de discente como nico espelho orientador. A Universidade, dessa forma, preocupada com a formao de seus professores, deve proporcionar um cenrio para que os docentes de sintam valorizados e instigados a perseguir um engrandecimento individual e profissional, reconhecendo suas limitaes e alimentando suas potencialidades. 2.Eixo de Ensino de Cincias: o ldico como estratgia de seduo pedaggica para as cincias e para abordagem de tpicos sensveis. Parte-se do ldico para realizar abordagem interdisciplinar acerca de tpicos sensveis, tais como as drogas psicotrpicas. Compreende, assim, tanto um amadurecimento na formao, ao incluir a dimenso desse jovem, buscando compreender como ele se comporta e como ele capaz de aprender. Da mesma forma, acredito, poderia ser trabalhada a Educao Alimentar e Nutricional nas escolas. Deixando de lado aquela crena nutricional prescritiva, onde alimentos so manifestaes de vitaminas, minerais, carboidratos, protenas, lipdios etc., deve-se passar a vislumbrar uma abordagem holstica sobre alimentos. Dentro de uma concepo interdisciplinar, os alimentos no podem ser traduzidos como objetos restritos ao domnio das cincias biolgicas ou da qumica. A comida tambm cotidiana, fruto de vivncias e prticas j consolidadas, manifestao da cultura, alm de conter em si manifestaes de estruturas sociais, distintivas e estticas. Deveria ser preocupao to relevante para a escola e para a famlia, do ponto de vista da sade pblica e da sade social, quanto a prpria questo das drogas psicotrpicas. A obesidade ou a desnutrio infantil, em seus extremos, so fenmenos inegveis e alarmantes dentro das escolas. A fome oculta, essa carncia disfarada, consequncia de uma relao viciosa e desarmnica com a comida. Outras consideraes constroem o quadro sensvel: quem come o qu (rico, pobre, pescador, agricultor, trabalhador urbano), a relao da comida da escola versus a comida de casa versus a comida da cantina, comida como status, o bullying contra as crianas obesas ou com sobrepeso, o sofrimento da criana desnutrida, a questo esttica, os transtornos alimentares, a fora da mdia na manuteno de hbitos e a exposio de como as grandes cadeias de alimentao fazem uso dessas prticas ldicas (com a oferta de brinquedos e jogos) para atingir um pblico to vulnervel como o infantil e o adolescente. Nesse rpido diagnstico, a obesidade e a desnutrio fomes distintas so tpicos igualmente pesados, tambm estigmatizados, que podem ser absorvidos pela ttica do ldico. A escola deve se preparar para apresentar essas questes a seus alunos, posto que urgentes. O jogo, assim, pode ser uma boa estratgia para comear a enfrent-las. 3 Eixo de Ensino de Matemtica: a linguagem como veculo do saber. As reflexes apresentadas transpassam os desafios do ensino da matemtica, cincia esta que, ironicamente, sempre se props como linguagem universal. Entre essa linguagem universal e
141
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
sua respectiva traduo, todavia, existe uma dificuldade concreta. Assim, uma traduo qualquer que seja, ainda que cumpra determinadas regras - ser sempre particular, pois mediada por pessoas, s quais imputamos a denominao de mestres, com estilos variados, lxicos distintos e inseridos em realidades particulares, marcadas por informaes e entornos diferentes. No se pode negar a importncia de se colocar a questo da linguagem em foco, uma vez em que ela o veculo pelo qual as relaes e as interpretaes em torno do conhecimento vo se consolidando em sala de aula e fora dela. Comunicar-se s vezes encontra limites na dimenso da fala, encarando bices reais, nascidos da incompatibilidade entre o lxico discente e o docente, ensejando um quadro de incompreenso. Fazer-se entender e seduzir com as palavras, isto , cativar o pblico escolar para o conhecimento que est sendo compartilhado, crucial para uma misso educadora. Da mesma forma, no nvel superior, em todas as reas de formao, a linguagem tcnica prpria causa primeira de estranhamento. Em cursos onde a expresso marca do ofcio, como o Direito, por exemplo, possvel verificar logo no primeiro semestre, em face de um pblico jovem e recm-egresso do Ensino Mdio, professores ministrando suas aulas a partir de um vocabulrio extremamente tcnico, quando no demasiadamente rebuscado. Da mesma forma, existem cursos nos quais a linguagem tcnica abriga termos estrangeiros, como a Gastronomia, trazendo tambm, para alm do contingente estranhamento inicial, essas explcitas barreiras idiomticas. A forma como essa comunicao deve ser realizada, de maneira que os alunos se envolvam e compreendam o sentido da mediao, a questo pertinente. Acredito que, s vezes, no questo meramente de linguagem, mas tambm de escolhas que o docente faz. O professor detm de recursos hbeis as novas tecnologias da educao esto a pra provar para aplicar solues adequadas s necessidades de cada turma. Como, ento, devem se apropriar desses instrumentos de comunicao, enriquecendo e efetivando os processos de ensino e de aprendizagem? Aqui se expe a misso da academia: contemplar esses silncios para buscar solues e compartilh-las. Mais uma vez e percebo que essa associao ser recorrente a formao de professores parece ser o plano para o desenvolvimento dessas estratgias. Essa incompatibilidade de capitais lingusticos deve ser percebida e amenizada, proporcionado uma apresentao prazerosa da cincia. 4 Eixo de Ensino de Msica: reflexes sobre a trajetria e a conquista do ensino de msica nas escolas. Compartilhando da angstia da msica, em decorrncia de minha formao na gastronomia (e quantas semelhanas encontro nesses dois mundos!), existem inmeras dificuldades em se reconhecer a necessidade da formao para esse professor. A glamourizao da msica, ou melhor, a constante reduo do msico ideologia do dom, so materializaes de dvidas correntes, as quais atrapalham a ao desse licenciado: afinal questionam os desavisados - precisa ser formado/licenciado para dar aula de msica? Da mesma forma, com a mesma inquietao, precisa ser gastrnomo/ter formao em gastronomia para dar aulas, para agir no mercado, para cozinhar? Mais uma vez, o dom salta como valor ainda muito forte, tornando-se at um problema. A
142
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
formao no suplantadora de ofcios ou de vocaes; pelo contrrio, ela uma agregadora desse conhecimento, um espao de troca e de vivncias, uma integradora de lacunas formativas, algo que nos abre para um mundo muito mais dinmico e para uma reflexo muito mais profunda acerca do que a sua arte/cincia significa nessa sociedade em que vivemos. No basta tocar o piano. A dificuldade habita na traduo desse mundo intenso que a msica comunica em linguagem prpria. Ento questiono ora devidamente avisados -, como no ser licenciado para ser professor de msica? A anlise da colega e do professor apresenta, inicialmente, a evoluo do ensino em msica no Brasil. Assim como a gastronomia, paira um misticismo em torno da msica enquanto prtica humana - 1 arte, representante do som -, a qual tem dificultado a sua apreenso como cincia em sua expresso pedaggica. As origens do Ensino de Msica, desde a campanha de nosso grande Heitor Villa-Lobos em torno do Canto Orfenico, nas dcadas de 1930 e 1940, como bem assinalara os colegas, refere-se intrinsecamente mitologia grega e tradio distante fundada sobre aquilo que erudito, o que tornara o ensino msica, embora universal (para todos), um espectro de manifestaes musicais extremamente selecionadas (de poucos). Apesar desse partido (talvez o nico possvel quele tempo), a proposta de Villa-Lobos consolidara, felizmente, a msica como parte necessria de um currculo para a formao humana, para a formao do brasileiro. Depois de um hiato de ausncia da msica nas escolas o qual explica muito bem o declnio qualitativo da prpria indstria musical nas dcadas de 1990 e de 2000 -, passa-se, posteriormente, para uma fase de Educao Artstica e de Educao em Artes, situando a msica nesse rol de artes empilhadas e negligenciadas, todavia. Essa negligncia, nesse caso, consequncia do pouco investimento do Estado em relao aos docentes, denunciada por um cotidiano no qual se verificava professores de msica a lutar, constantemente, para conseguir ministrar aulas de teatro ou de dana, como se a sua formao fosse capaz de sintetizar todas as outras dimenses artsticas. Esse aproveitamento exacerbado comprovara uma urgente necessidade de reviso dessa realidade. Era necessrio iniciar uma luta de afirmao dessas artes como esferas distintas e particulares. Dessa forma, a afirmao de um ensino especfico em msica no era questo de uma introverso ou privilgio cientfico ou artstico, mas uma necessidade de valorizao de seus profissionais e de seus beneficirios. Ademais, apesar dos absurdos do cotidiano, a qualidade de Ensino ainda meta e princpio orientador da educao em nosso pas. enorme a luta investida para que hoje as escolas possam realizar sua Educao Musical, sempre ciente de que novos desafios aparecero. A prpria questo da formao do professor em msica um ponto delicado. Outro ponto interessante de comunho entre a Gastronomia e a Msica que ambos os cursos atraem profissionais j com muita vivncia. Essas pessoas buscam a universidade para fundamentar sua atuao com teoria e com essa base cientfica de qual carece o seu saber de experincia. Vemos muitos padeiros, confeiteiros, gerentes, diferentes pessoas que j trabalham no ramo, querendo retornar universidade para ampliar e para ressignificar o universo do seu ofcio, revisando o seu objeto de trabalho, reconhecendo-o em outras expresses. fenmeno corrente e mais uma coincidncia entre as formaes.
143
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Por fim, fica a minha solidariedade com os coordenadores desses cursos, aqui na UFC, reconhecendo o quo dura a luta dentro da prpria luta. Em recente Congresso Internacional de Gastronomia aqui no Estado, assistimos reunio de coordenadores de cursos de gastronomia no Brasil em seus diversos nveis (tcnico, tecnlogo e bacharelado). Fica muito claro que h muito a ser feito, muito a ser debatido, muito caminho at que se chegue a um consenso sobre o que essa cincia - que tambm arte - representa nas nossas vidas. A luta da msica tem sido uma inspirao. Talvez um dia a Gastronomia saia da cozinha, caminhe pela vida e tambm chegue s escolas. 5 Eixo Tecnologia Digitais na Educao: em busca de uma escola do sculo XXI. Finalmente, chega-se reflexo sobre o impacto das novas tecnologias digitais no mbito da educao, em pleno sculo XXI. Parece-nos, mais do que nunca, relevante e, ainda que no se faa uma intermediao direta com o cenrio da gastronomia, a temtica da tecnologia invade a preocupao de todas as reas do conhecimento, nomeadamente da educao, tendo em vista a mobilizao do exerccio da prpria vida, das prprias mutaes sociais decorrentes desse fenmeno inevitvel. Acredito que a misso desse eixo de relevncia imensa. Identificar esses processos e perceber como so importantes para a realizao do ensino e da aprendizagem como processos humanos por natureza no deveria ser matria restrita ao estudo de novas formas de educar. Aqui, o foco - muito mais profundo - conduz-nos ao entendimento de novas formas de viver, que demandam aptides e estratgias diferentes daquelas de que participamos h 20 anos. No se tratam friamente de inovaes, mas de adequaes a uma realidade que j est posta. Ademais, no se trata ainda de propor o uso de novos instrumentos dentro de uma velha forma de fazer educao. S faz sentido o uso desses veculos avistando as potencialidades; quando se tenta, ao menos, compreender como e quo intensamente esses domnios repercutem na vida do estudante do sculo XXI. necessrio refletir acerca dessas tecnologias no como meros elementos de seduo pedaggica, mas como uma potencial e legtima via para a efetivao de uma educao reflexiva, capaz de entender novos cdigos e novas formas de expresso, as quais j no cabem em folhas de papel e em quadros alvinegros. Ademais, essas crianas, produtos desse admirvel mundo novo, uma vez reconhecidas como porta-vozes de um mundo para elas desde sempre digital, podem nos ajudar a reconhecer essa gritante necessidade de pressa, essa impacincia e urgncia nos processos, fazendo-nos olhar para o passado com essa mesma reflexo: qual era a nossa velocidade? O que isso quer dizer? O que se perdeu e o que se ganhou no caminho? O que quer dizer ser criana em 2013? Ainda possvel realizar o nosso prprio ideal de infncia, aquele vivido em um mundo sem telefonia por satlite, internet e redes sociais digitais? Essas ressignificaes podem nos ajudar no s na efetivao na educao de crianas e jovens, mas tambm na nossa prpria leitura do mundo. Reconhecidas como processos, as tecnologias devem ser constantemente reinterpretadas. Como feitos humanos, contm em si inmeros significados. Para este efeito, o estudo das tecnologias digitais na educao conta com um auxlio inevitvel: a formao de professores. Parece bvio, mas como h de se proporcionar essas conexes sem que os professores estejam
144
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
preparados para o uso dessas tecnologias tambm? Em uma nao de includos e de excludos, que muro contm a legio de docentes? Destarte, avaliar essas condies e o que se pode fazer pela educao dessa juventude passa, primeiramente, por uma formao de um docente que percebe a evoluo digital como fato. O velho medo de ser substitudo pela mquina tem sido substitudo pelo medo de no a compreender. um novo idioma a ser decifrado, um novo capital a ser apreendido. Ao conquist-lo, talvez o professor consiga tambm como imigrante que chegar ao sculo XXI com a mnima convico de que os horizontes da educao no se encerram nas paredes da sala de aula. CONSIDERAES FINAIS Tendo em vista a constituio multifacetada de nossa grande e inclusiva linha de pesquisa, foi um desafio congregar diferentes percepes de eixos para dentro de um mesmo referencial de estudo. Apesar dessa dificuldade inicial, a proposta foi promissora e nos possibilitou refletir e conectar com o interesse de estudo dos outros colegas, to dedicados em suas reas de atuao, alm de contar com um novo olhar para nossa prpria formao, ampliando as dimenses de nosso saber em educao. REFERNCIAS FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessrios prtica educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma concepo multicultural dos Direitos Humanos. Contexto Internacional. Rio de Janeiro, v. 23, n1, janeiro/julho 2001, pp.7-34.
145
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
O ENSINO DE HISTRIA E AS NECESSIDADES DE ADAPTAES CURRICULARES PARA ALUNOS COM DEFICINCIA VISUAL
Ana Maria do Nascimento83 Elinalva Alves de Oliveira84
RESUMO O presente estudo tem como objetivo central conhecer a concepo do professor da disciplina de Histria tendo em vista a ocorrncia das adaptaes curriculares para o atendimento ao aluno com deficincia visual na educao fundamental, em uma unidade escolar da rede pblica em Fortaleza. Inicialmente realizou-se um estudo bibliogrfico tomando por base os estudos de Cardoso (2009), Oliveira (2008), Rodrigues (2006), Gallo (2004), Magalhes (2002), Santos (2002), Miranda (1996). Em seguida, realizou-se uma pesquisa de campo, de natureza descritiva utilizando para coleta de dados, o questionrio, dirigido a 04 professores de uma instituio escolar na modalidade da EJA, em Fortaleza, cuja anlise evidenciou-se como vem sendo elaborados as adaptaes curriculares na disciplina de Histria para alunos com deficincia visual. Verifica-se ainda conforme a fala dos professores a adaptao curricular tem sua importncia para compreenso do contexto da disciplina de Histria na sala de aula, entretanto, realizam somente quando detectada a necessidade de algum aluno, no sendo, pois uma prtica facilitadora do processo ensino aprendizagem. uma prtica que concorre com as normas postas nos Parmetros Curriculares Nacionais. PALAVRASCHAVE: Ensino de Histria. Adaptaes Curriculares. Aluno com deficincia visual. INTRODUO A primeira Constituio brasileira, promulgada no incio do sculo XIX (1824), foi o primeiro documento oficial a manifestar o interesse do Pas pela educao de todos os cidados ao estabelecer a gratuidade da instruo primria. Entretanto, ela no explicitou de quem seria a responsabilidade pelo sistema e pelo processo educacional, eximindo o poder pblico desse compromisso. importante tambm lembrar que, como bem o aponta Kassar (1999), quando o texto dizia todos os cidados, certamente no inclua a massa de trabalhadores, constituda, em sua maioria, de escravos. Assim, o texto constitucional que aparentemente se comprometia com os brasileiros,
Co-autora. Mestranda do Programa de Ps-Graduao em Educao- PPGE da Universidade Estadual do Cear- UECE. Email: rinaestrela@gmail.com 84 Autora. Mestranda do Programa de Ps-Graduao em Educao- PPGE da Universidade Estadual do CearUECE. Email: elinalvaalves@yahoo.com.br
83
146
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
na verdade se referia somente a uma pequena minoria, representada pela elite sociopoltica no Pas. Relatos histricos apontam o perodo de 1961, momento em que os textos legislativos passaram gradativamente a melhor explicitar a conceituao sobre a educao das pessoas com deficincia. De maneira que, os dispositivos legais referentes educao desse segmento populacional, aponta a educao como um direito a ser usufrudo, quando possvel, no sistema regular de ensino. Apesar dessas ponderaes, entretanto, a prtica releva haver uma tentativa de conciliao entre as foras antagnicas pelo debate social sobre esse assunto ao garantir apoio financeiro tambm s entidades privadas, assim livravam-se da tarefa em promover a prestao de servios educacionais tcnicos, especializados, com o objetivo de promover a adaptao da pessoa ao seu meio social e educacional. Sabedores de quanto nossos alunos so diferentes uns dos outros, que cada um traz os conhecimentos j apreendidos, e que tipo de estratgia pedaggica cada um reage melhor, se aprendem melhor quando trabalham em grupo, ou em dupla, ou em atividades individualizadas, como possvel alcanar os objetivos da educao brasileira na prtica educacional cotidiana, num contexto de respeito s peculiaridades de cada aluno, na perspectiva da proposta inclusiva? A abordagem sobre a educao especial vem de longos tempos sendo posta em mesas de discusses, entretanto, ainda permeia dvidas e incertezas no cenrio escolar, cuja trajetria aponta para essas pessoas com deficincia atitudes sociais de extermnio, sendo entregue prpria sorte, ocorrendo ai o abandono explicito, socorridos tempos depois pela concepo do cristianismo, passam a ser consideradas pessoas com almas, dignas, portanto da piedade e da caridade de alguns, atendidos em asilos, numa ao meramente caritativa, vivendo, porm margem da sociedade. Nos tempos modernos, as leis divinas saem do cenrio, baseados pelas ideias iluministas, com foco nas leis da natureza so alvos do interesse da cincia mdica vistos, porm, sob a ptica da patologia, iniciando ai a premissa do atendimento educacional em ambientes especializados. Nos dias atuais, o interesse muda o foco e essas pessoas so reconhecidas como cidads tendo, pois, direitos e deveres, fruto da luta iniciada pelo prprio segmento, seus familiares e os organismos internacionais. Nessa ruptura de concepes, atitudes e, ideias dar se inicio a novo pensar sobre o homem e as relaes na convivncia com seu semelhante. Sobre as transformaes, Magalhes (2003), ressalta que:
Estas transformaes nas atitudes sociais sobre deficincia obviamente acompanham as profundas mudanas nos modos de produo econmica e a supremacia da cincia frente a outras formas de conhecimento, que alcana o seu apogeu no sculo XX (MAGALHES, 2002, p.31).
Nessa luta para lograr a igualdade de oportunidades para as pessoas com deficincia, os diversos pases reunidos em Salamanca (Espanha) firmam acordo internacional ditando rumos para que as escolas e a sociedade em geral possam acolher a todos os alunos excludos, entre eles, os com deficincia. A partir de ento, esse pressuposto alcana repercusso social considervel aderida por outros pases e segmentos em prol dos direitos das pessoas com deficincia
147
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
propiciando assim, novos rumos e novas atitudes, encaminhando-os a autonomia plena, sendo, estes sujeitos, construtor de sua histria. a incluso que lhes vem possibilitando dar inicio ao sonho dessa emancipao social, pelo ingresso e permanncia em diversos ambientes, inclusive, o escolar. Oliveira (2008) ressalta que a educao da pessoa com deficincia visual encontra-se em processo de adaptao por fora da Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional (LDB, n 9.394/96), que traz em seu bojo a proposta da educao inclusiva. Nesse contexto, para melhor sanar as dificuldades dos alunos includos sobre as diretrizes inclusivas, surgem as Adaptaes Curriculares e de Acesso ao Currculo definidos como sendo ajustes graduais ocorridos por ocasio do planejamento escolar e pedaggico, bem como nas aes educacionais, diante da constatada necessidades educacionais dos alunos. Sobre o assunto, currculo, segundo Macedo (2012) na cultura francesa, essa temtica tardou a se configurar. Registros apontam que somente no sculo XX a palavra curriculum mira da Europa para os Estados Unidos. Berticelli (1999, p.163) em suas consideraes formula que, a partir da era industrial se faz a produo de sentido atua do currculo, fenmeno que se estabelece definitivamente no ps-Segunda Guerra Mundial. Nessas formulaes, Silva (1999, p.21), nos diz que a emergncia do currculo como campo de estudo est estreitamente ligada a diversos processos tais como a formao de um corpo de especialistas sobre currculo, formao de disciplinas e de departamentos universitrios, e a consequente institucionalizao de setores especializados. Sobre esse tema, a literatura estadunidense vem esclarecer que o termo currculo um campo especializado de estudos. Silva (1999, p. 22) nos fala que foram talvez s condies associadas com a institucionalizao da educao de massas que permitiram que o campo de estudos do currculo surgisse nos Estados Unidos, como um campo profissional especializado Confirmando as ideologias, Kemmis (1998, p. 14) contra argumenta que o currculo , um terreno prtico, socialmente construdo, historicamente formado que no se reduz a problemas de aplicao de saberes especializado desenvolvido por outras disciplinas, mas que possui um corpo disciplinar prpria. Diante das opinies e compreenses diversas que configuram o tema, considerando-se concepo e prtica sistematizada, configura-se o currculo. De modo que levada por essa compreenso, somos instados a empreender nesse estudo que se estrutura inicialmente mediante abordagem sobre educao brasileira ao longo dos tempos, o currculo e a Educao Especial entre desafios e conquistas advindas pela proposta inclusiva que aponta o currculo como um dos aspectos primordiais no processo de ajuste permitindo a interao contnua diante das necessidades do aluno para alcanar resultados efetivos nos meios educacionais. OBJETIVO GERAL Desta feita o objetivo geral do texto conhecer a concepo do professor da disciplina de Histria tendo em vista a ocorrncia das adaptaes curriculares para o atendimento ao aluno com deficincia visual na educao fundamental, em uma unidade escolar da rede pblica em Fortaleza.
METODOLOGIA
148
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
um estudo que se apoia na abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa, no entender de Oliveira (2007, p. 37) um processo de reflexo e analise da realidade atravs da utilizao de mtodos e tcnicas para compreenso detalhada do objeto de estudo em seu contexto histrico e ou segundo sua estruturao. O estudo ocorreu em Fortaleza, em uma escola da rede pblica municipal que oferece atendimento educacional especializado. Para coleta de dados foi utilizado um questionrio com perguntas abertas e fechada com trs docentes da educao fundamental na modalidade de EJA, alm de observao do contexto escolar. DISCUSSO DOS RESULTADOS A anlise contou com a descrio qualitativa, apurando-se a predominncia do sexo feminino em sala de aula, faixa etria variando entre 30 a 50 anos, a formao acadmica revela que apenas duas das participantes concluram licenciatura em Histria, portanto, habilitadas para lecionar na disciplina em apreo. Em se tratando da concepo sobre o tema, destacam a importncia dessa disciplina para que os alunos possam tornar-se reflexivos. Apurou-se ainda que nenhum dos docentes desse estudo at a data da pesquisa no havia participado de nenhuma capacitao, contando apenas, com a vivncia j adquirida no decorrer do exerccio na sala de aula. Sobre o ensino de Histria, at o final do sculo XIX havia ideologias de currculo com nfase nas disciplinas literrias, voltadas para formar o esprito enquanto a outra trazia um carter cientifico, tcnico e funcional tendo interesse pela formao da identidade nacional tomando forma pelo ensino de Histria. Gasperazzi (2008) salienta que,
Nas primeiras dcadas do sculo XX surgem propostas alternativas ao modelo oficial com as escolas anarquistas que se propem um ensino de Histria voltado para os principais momentos de lutas sociais como a Comuna de Paris, a Abolio, etc. Estes modelos so imediatamente reprimidos pelo governo republicano (GASPERAZZI, 2008, p. 1).
Para justificar essa no capacitao, alega no dispor de tempo ou horrios, tendo em vista a jornada de trabalho, j exaustiva. Quanto ao item comunicao estabelecida com seu aluno, afirmam manter uma boa comunicao, se apoiam em recursos como o uso do Sistema Braille e a oralidade, no havendo empecilhos na interao entre docente e alunos. Em se tratando da temtica de adaptao curricular os participantes respondentes afirmam saber da necessidade de promover adaptaes, entretanto, no esto habituados a essa prtica que segundo eles, exige um planejamento especifico, sendo necessrio melhor conhecimento do aluno. A avaliao para os participantes, processo continuo, dinmico, diagnstico, entretanto, no inovam nos instrumentos, fazendo desse momento apenas avaliao de aferio de conhecimento, o que no garante sucesso no processo ensino e aprendizagem. A educao inclusiva vista como meio de crescimento para todos, desde que o acesso e a permanncia na escola sejam propiciados a todos os alunos que dela carecem. CONSIDERAES FINAIS
149
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
O currculo, em sua estrutura didtica, rodeado de muitas concepes ainda suscita discusses, debates e no caso do Brasil que o assunto sobre o pensamento curricular remonta os anos vinte, conforme base de teorias americanas, sustentados segundo acordos firmados no programa de ajuda Amrica Latina. Superadas essas ideias, surgem novos aportes e, assim este estudo possibilitou iniciar uma reflexo voltada para as adaptaes de currculo na disciplina de Histria capaz de melhor explicitar esse contedo programtico ao aluno com deficincia visual. Apesar de os alunos se encontrarem em um contexto diferenciado em que os professores contam com aportes de materiais acessveis, estes no aproveitam o potencial da escola, reconhecem a importncia do ensino da Histria nesse contexto de implementao da democracia no pas, favorecendo a formao de um cidado consciente, crtico e participativo no meio em que vivem. Essas exigncias na elaborao de um currculo eficaz leva a reflexo uma vez que esse exige do professor conhecimento, assim como limitaes e potencialidades dos alunos para traar planos, dispor de material didtico em formatos acessveis, devendo, pois, ir buscando meios e aes pedaggicas que possa vir a garantir o sucesso da aprendizagem, fim maior da escola. Aos professores, por sua vez, cabe atuar, em cooperao, compartilhando o conhecimento de que dispem, para responder e atender s necessidades educacionais de todos os alunos, inclusive s dos alunos com deficincia, garantindo-lhes o acesso e permanncia nos sistemas de ensino. O ensino de Histria para esse alunado requer habilitao na rea e compromisso com a educao dessas pessoas que apresentam limitaes visuais, cabe ao professor ir em busca do conhecimento e dos recursos que possam alargar seu raio de ao. REFERNCIAS BERTICELLI, I. currculo: tendncias e filosofia. In: COSTA, M.V. O Currculo nos limites do contemporneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. BRASIL. Parmetros Curriculares Nacionais Adaptaes Curriculares. Braslia: MEC/SEF/SEESP, 1999. GASPERAZZOI, Maria Estolimar. Os desafios do ensino de Histria no ensino fundamental. Disponvel em http:// www.Anglelfire.com.be/ planet. em 11de Outubro de 2009. KASSAR, M.C.M. (1999). Deficincia Mltipla e Educao no Brasil: discurso e silncio na histria de sujeitos. Campinas: Editora Autores Associados. KEMMIS, S. El curriculum: ms all de la teoria de la reproduccin. Madri: Morato, 1988. MACEDO, Roberto Sidnei, Curriculo: campo, conceito e pesquisa. 5.ed. revista e atualizada . Petroplis, RJ: Vozes, 2012. MAGALHES, Rita de Cssia Barbosa Paiva (Org). Reflexes sobre a diferena: uma introduo educao especial. Fortaleza: Edies Demcrito Rocha, 2002. OLIVEIRA. Elinalva Alves de. A educao da criana com deficincia visual. Fortaleza: Edies Demcrito Rocha, 2008.138 p- (Coleo rede de saberes). OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrpolis, Vozes, 2007. SILVA, T.T. Documentos de identidade Uma introduo teoria do currculo. Belo Horizonte: Autntica, 1999.
150
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
CURRCULO DA EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS: CONTRADIES, DESAFIOS E IMPLICAES NA CONTEMPORANEIDADE
Roselene Moura de S85 Francisco Mirtiel Frankson Moura Castro86
RESUMO Este texto teve como objetivo investigar os desafios e as contradies no currculo da Educao de Jovens e Adultos frente perspectiva e implicaes da educao contempornea. O qual firmado no seguinte questionamento: quais so os desafios e as contradies no currculo da Educao de Jovens e Adultos frente perspectiva e implicaes da educao contempornea? A metodologia deste trabalho pautada na abordagem qualitativa, orientada na pesquisa bibliogrfica, tendo como suporte as contribuies de diferentes autores, dentre os quais: Freire, Moreira, Oliveira, Silva e Telles. Este estudo fruto de uma pesquisa de Especializao em Coordenao Pedaggica desenvolvido pela Universidade Federal do Cear (UFC), entre os anos de 2011 e 2013. Evidencia-se que as prticas docentes carecem de formao no que tange ao trabalho com a Educao de Jovens e Adultos no sentido de adequar o currculo com a realidade dos educandos. Constata-se, no entanto, percebem-se iniciativas no intuito de valorizar o conhecimento dos alunos na prtica de ensino. PALAVRAS-CHAVE: Educao de Jovens e Adultos. Currculo. Desafios. Contradies. INTRODUO So mltiplos os desafios da educao de jovens e adultos. Diversos pesquisadores, educadores, organizadores de polticas pblicas e equipes pedaggicas, dentre outros profissionais, planejam aes para essa modalidade, no sentido de superar as distores de acesso a escolarizao na idade adequada. Tal realidade constituda ao longo do tempo, pelo pouco investimento e ateno s necessidades daqueles que de alguma maneira tiveram seus direitos negados e excludos historicamente. Diante disso, ao longo da histria da educao brasileira, constitui-se o dever das iniciativas pblicas a responsabilidade em promover um terreno frtil de acesso ao conhecimento para aqueles que foram excludos das condies de permanncia na escola, fruto de uma srie de problemas sociais. Entretanto, a viabilidade desse acesso precisa desenvolver-se na perspectiva de um trabalho educativo que disponha ao sujeito um saber de transformao de sua prpria realidade e de sua histria. Diante dessa perspectiva analtica de mudana, compreendemos que os homens que a criam so os mesmos que podem prosseguir transformando-a. (FREIRE, 2011, p. 21).
Mestranda em Educao Brasileira, rosemourasa@yahoo.com.br 86 Mestrando em Educao Brasileira, mirtiel_frankson@yahoo.com.br
85
pela pela
Universidade Universidade
Federal Federal
do do
Cear Cear
(UFC). (UFC).
E-mail: E-mail:
151
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Para trabalhar na modalidade de EJA, o mnimo que se exige dos profissionais que atendem a essa demanda a curiosidade instigante do mundo a ser desvelado em sua pluralidade. preciso que estes disponham de formao acadmica para esse fim, pois entendemos que indispensvel que os professores sejam profissionais. Obter uma fundamentao terica acerca dessa temtica constitui-se pressuposto essencial e necessrio para a sistematizao de uma prtica tico-poltica coerente e compreensvel dentro de um currculo que redimensione a realidade do trabalho em sala de aula. Tal prtica dever traduzir-se em saberes crticos aliados ao significado de uma viso de mundo, proporcionando ao educando o entusiasmo pelo alcance de um pensamento dialtico, no entanto,
[...] observa-se que as disciplinas so tratadas de modo reificado, como contedos estanques, com pouca ou nenhuma interconexo, tanto entre si, quanto em relao ao mundo concreto e experincia vivida; quando muito, aborda as prticas de trabalho de forma mecnica, vazia de reflexo. Isto no s dificulta ao aluno uma compreenso mais abrangente do saber historicamente produzido pela humanidade, como tambm contribui para reforar [uma] viso quase que puramente tecnicista e instrumental que tem caracterizado o ensino [...]. (FAGUNDES; BUMHAM, 2001, p.39).
Segundo Oliveira (2007), o adulto no mbito da educao de jovens e adultos geralmente migrante que chega s grandes metrpoles, provenientes de reas rurais empobrecidas. Dessa forma, esse aluno busca a escola tardiamente, com o objetivo de superar o atraso na escolarizao, numa perspectiva de melhoria para sua vida pessoal e profissional. Assim, [...] os professores precisam encontrar meios de criar espao para um mtuo engajamento das diferenas vividas, que no exija o silenciar de uma multiplicidade de vozes por um nico discurso dominante [...]. (MOREIRA; SILVA, 1994, p.106). totalmente possvel associar a aprendizagem para os educandos da EJA como uma forma de ruptura da excluso que estes sofreram em alguma fase de suas vidas. De acordo com Oliveira (2007), necessrio historicizar esses sujeitos, do contrrio poderemos desencadear, involuntariamente um julgamento de valor da descrio do jovem e do adulto em questo, comportamento este que dever ser discutido criticamente. A escola possui a responsabilidade de instigar o crescimento desses jovens, respaldada num currculo que desenvolva aspecto de carter intelectual e pessoal, tornando-se atrativa aos olhos dos sujeitos dessa realidade. Partindo do exposto, foi traado o objetivo geral desta pesquisa, que visou: investigar os desafios e as contradies no currculo da Educao de Jovens e Adultos frente perspectiva e implicaes da educao contempornea. Em continuidade, percebemos que a escola no se encontra preparada para os desafios frente a esse pblico, transcorrendo de forma montona ou enfadonha para atender as necessidades interpostas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional, n 9394, publicada em 1996, atendendo as especificaes da Constituio Federal do Brasil, de 1988. Para isso, colocou seus educandos em condies desconfortveis e inseguras, inclusive com relao convivncia afetiva no espao escolar e precariamente potencializando a aquisio de novos conhecimentos, apresentando-se com pouca ou nenhuma atratividade aos olhares desse novo pblico que ora se configura na EJA.
152
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
OBJETIVO GERAL Investigar os desafios e as contradies no currculo da Educao de Jovens e Adultos frente perspectiva e implicaes da educao contempornea. METODOLOGIA Escolhemos fazer uma anlise do tipo qualitativa, pois esse tipo de abordagem viabiliza explicar o objeto investigado, obtendo uma riqueza de detalhes no recolhimento dos dados com base na realidade observada, compreendendo o fenmeno e como ele se comporta. Para Andr (1986), esse tipo de estudo permite a possibilidade de anlise em que o pesquisador poder investir com tempo e recursos para ampliar o foco da pesquisa medida que vai definindo seus instrumentos de interpretao dos dados coletados. Este estudo est pautado em uma reviso da literatura, sendo integrante de uma pesquisa de Especializao em Coordenao Pedaggica pela Universidade Federal do Cear (UFC), desenvolvida entre os anos de 2011 a 2013. DISCUSSO DOS RESULTADOS Entender a educao como ato poltico, consiste em transpor a aprendizagem para alm dos muros da escola, numa perspectiva de transformao e compreenso das contradies da sociedade, efetivando o seu carter poltico; evidentemente com atos para a mudana dessas incoerncias. Sobre esses aspectos levantados, torna-se bastante relevante a as aes pedaggicas dentro da escola que viabilize a construo do conhecimento dentro de um currculo que transponha a neutralidade das ideias e das aes bsicas que extremamente contribuam para fomentar as mudanas na sociedade. [...] o que estamos aqui a abordar uma concepo de currculo que procura relaes em todas as direes, e que devido a esse tipo de unio especial, dado o nome integrao curricular. [...] (BEANE, 2003, p.94). Desse modo, indagamos se nesse modelo de trabalho, o que educando da EJA aprende na sua escolarizao dentro do seu currculo, contribui para o seu processo de conscientizao e insero, no sentido de desenvolver mudanas de atitudes e saberes transformadores enquanto sujeitos de direitos frente vida. Essa conjugao de trabalho nos possibilita pensar que pela ao que cada homem confirma sua singularidade, pois na sua capacidade de realizar o infinitamente improvvel, a ao significa antes de tudo, dar inicio a um novo comeo. (TELLES, 1999, p. 51). Nessa perspectiva, na capacidade do homem pela ao, o cruzamento dos saberes e prticas curriculares permeiam o contexto da sala de aula, possibilitando uma aprendizagem a partir da ao-reflexo. Nessa perspectiva, [...] os professores precisam encontrar meios de criar espao para um mtuo engajamento das diferenas vividas, que no exija o silenciar de uma multiplicidade de vozes por um nico discurso dominante [...]. (MOREIRA; SILVA, 1994, p.106). A conscientizao convida o docente a reconhecer-se humildemente inacabado, compreendendo que a busca pelo conhecimento torna-o inquieto dentro de si; pois a falta de aprofundamento do educador o desqualifica como profissional, deixando-o sensivelmente vulnervel diante de seus educandos. Segundo o autor, A conscientizao no pode existir fora da prxis, ou melhor, sem o ato ao-reflexo. Esta unidade dialtica constitui, de maneira
153
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens. (FREIRE, 2001 p. 30). Sobre essa realidade Brunel nos diz: o papel do educador nesta modalidade de ensino extremamente importante, pois estes jovens possuem um histrico escolar permeado por problemas, no s no campo cognitivo, mas no campo social, econmico e emocional. (BRUNEL 2010, p. 34). A escola poderia assumir o contorno da convivncia e permanncia desses sujeitos da EJA de forma mais atrativa, caso contrrio resguardar a incumbncia de ater-se ao desempenho de acmulo de frgeis contedos, desvinculados da realidade dos educandos. Contudo, a escola apresenta limites na superao de tal tarefa, observando comumente sua restrio em promover situaes que despertem a curiosidade de seus aprendizes na busca do saber, dificultando-lhes a criatividade, desrespeitando-os em sua autonomia e identidade. Analisando esses novos sujeitos que compem no tocante a essa realidade, percebe-se a grande falta de interesse e apatia desses educandos pelos processos de ensino e de aprendizagem. Alia-se a esta problemtica um fator extremamente preocupante, a ausncia e a pouca atratividade dos alunos pelo espao da sala de aula, embora expressem gostar da escola, contudo no se pode deixar que essa realidade torne-se determinista. Percebendo esse dualismo, a contribuio de Freire nos permite reconhecer que a Histria tempo de possibilidade e no de determinismo, que o futuro, permita-se reiterar, problemtico e no inexorvel. (FREIRE, 1996, p. 19). A dvida pois, um ato de liberdade e de responsabilidade pelo o qual o homem impunha, retoma a situao na qual vive, colocando-se com sujeito dela. (GADOTTI, 2010, p.41). Essa suspeita de que no pode se acomodar frente a realidade e se v como sujeito transformador revela que os educandos confiam que a escola lhes oferea oportunidades de transformaes e de melhorias, pois apesar da pouca idade esses jovens anseiam por recuperar o tempo que fora perdido. Essa percepo nos foi possvel a partir do olhar otimista e responsvel dos jovens frente aos estudos como possibilidade de mudanas, contudo percebe-se o distanciamento dos significados do currculo da escola em relao s expectativas que os jovens desejam adquirir para um ingresso no mundo do trabalho. CONSIDERAES FINAIS Na efetivao do estudo, ainda se observou que existe uma enorme fragilidade na formao dos professores quanto ao trabalho com a educao de jovens e adultos que se refletem atravs das ms condies de trabalho na escola pblica. Tais fatores evidenciaram a necessidade de um olhar mais atento para essa temtica, merecendo uma minuciosa investigao acerca desses fenmenos. Uma vez que nos deparamos com uma sociedade permeada de pobreza e de conflitos sociais, onde sua populao jovem encontra-se destituda de seus direitos universalmente assegurados e enquadram-se numa condio de pobreza que inquieta e responsabiliza a atuao do poder pblico no sentido de estabelecer estratgias de mudanas no currculo. REFERNCIAS ANDR, Marli Elisa D. de, Pesquisa em Educao. Abordagens Qualitativas. So Paulo: EPU, 1986.
154
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
BEANE, James A. Integrao curricular: a essncia de uma escola democrtica. Currculo sem Fronteiras, v.e, n.2. Jul/Dez.2003. p.91-110. BRUNEL, Carmen. Jovens cada vez mais jovens na educao de jovens e adultos. Porto Alegre: Mediao, 2004. BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil 1988. ________. Lei de Diretrizes e Bases da Educao Naciona. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. FAGUNDES, Norma Carapl; BUMHAM, Teresinha Fres. Transdisciplinaridade, Multirreferencialidade e Currculo. Revista da FACED, n 5, 2001. p.39-55. FREIRE, Paulo. Educao e Mudana. 34 ed. rev. e atual., So Paulo: Paz e Terra, 2011. _______ Pedagogia da Autonomia: Saberes necessrios prtica educativa. So Paulo: Paz e Terra, 1996 (Coleo leitura). ________ Conscientizao: Teoria e Prtica da Libertao: Uma Introduo ao Pensamento de Paulo Freire. 3. ed. 2 reimp., So Paulo: Centauro, 2008. GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Prxis. 5. ed. So Paulo: Cortez, 2010. MOREIRA, Antnio Flvio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da. (Orgs). Currculo, Cultura e Sociedade. So Paulo: Cortez, 1994. 154p. OLIVEIRA. Marta Kohl. Jovens e Adultos como Sujeitos de Conhecimento e Aprendizagem. Braslia: MEC, ANPED, 2007. TELLES, Vera da Silva. Direitos Sociais: Afinal do que se trata. Belo Horizonte: Ed.UFMG, 1999.
155
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
PARTE V: EIXO DE FORMAO DE PROFESSORES
156
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
A CAPACIDADE DE RESILINCIA DO DOCENTE NO FAVORECIMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO EDUCANDO
Smia Cit Madeira87 Francione Charapa Alves88
RESUMO Este texto resultado de um estudo acerca de como a capacidade resiliente do docente pode favorecer a aprendizagem do discente. A resilincia sempre esteve presente em nosso cotidiano, porm no tnhamos observado que este tema vem sendo cada vez mais abordado por especialistas das mais diversas reas. Entretanto, o termo resilincia causa uma reao de espanto nos profissionais da educao, sendo mais populares palavras como superao, dificuldades, adversidades dentre outras. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo geral compreender como a capacidade de resilincia do docente influencia no processo de aprendizagem do educando. E como objetivos especficos: mapear o referencial terico que traga a definio de resilincia; investigar a concepo dos docentes sobre o tema; analisar a resilincia no processo de aprendizagem do aluno; e entender como a atuao do psicopedagogo pode favorecer a capacidade resiliente na escola. Para atingir tais objetivos, realizamos uma investigao qualitativa, tendo como ponto de partida um estudo da literatura acerca do tema. Em seguida, fizemos a pesquisa de campo, cujo mtodo se aproximou do estudo de caso. Como instrumentos de coleta de dados, aplicamos as entrevistas estruturadas, alternando entre perguntas abertas e fechadas. O lcus da investigao foi uma escola da rede municipal de Maracana, com quatro docentes que lecionam no ensino fundamental I e II. Diante disso, consideramos fundamental uma reflexo sobre o tema, para compreendermos como o ser humano consegue superar grandes adversidades e continuar suas atividades dirias. PALAVRAS CHAVES: Resilincia. Aprendizagem. Adversidades. Superao. INTRODUO Encarar desafios, superar limites, desenvolver capacidade autnoma, vencer adversidades e ser protagonista so expresses muito conhecidas em nosso cotidiano. Normalmente, utilizamos esses termos em diversas situaes de nossas vidas. Porm, quando nos referimos ao termo resilincia ocorre uma reao de estranheza nas pessoas e poucas sabem a que se refere. As ideias sobre resilincia comearam a surgir nas cincias exatas, principalmente na Fsica e Engenharia, reas em que o termo foi colocado como a fora de alterao mxima que um objeto suporta sem passar por modificaes constantes. (ASSIS et al, 2006).
87 Psicopedagoga Clnica e Institucional pela Universidade Estadual do Cear. Professora da Educao Bsica da Prefeitura Municipal de Maracana. Email: samiacito@gmail.com 88 Doutoranda em Educao Brasileira na Universidade Federal do Cear- UFC. Professora substituta no Curso de Filosofia da Universidade Estadual do Cear. CAPES. Email: francionecharapa@gmail.com
157
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
No final dos anos de 1970, o termo resilincia passou a ser analisado com mais consistncia e recebeu diversas definies nas diferentes reas do conhecimento, destacando-se na psicologia como a capacidade de superar uma situao difcil, ou seja, a fora necessria para a sade mental estabelecer-se durante a vida, mesmo aps a exposio a riscos. Passou a significar a habilidade de se acomodar e de se reequilibrar constantemente frente s adversidades. (ASSIS et al, 2006, p.18). Na educao, a resilincia significa
a capacidade que as pessoas tm, tanto individualmente quanto em grupo de resistir a situaes difceis sem perder seu equilbrio inicial, isto , a capacidade de ajustar-se constantemente de maneira positiva. Isso quer dizer resistir s presses do cotidiano escolar, mantendo o foco nos objetivos principais do trabalho e da escola. (SALLES; SALLES FILHO, 2012, p.3)
Nesse sentido, consideramos que a resilincia uma temtica que merece destaque no campo educacional, especificamente no que concerne relao professor e aluno, podendo ser usada como uma ferramenta para favorecer a aprendizagem. A partir da nossa experincia no exerccio da docncia89 percebemos que alguns alunos apresentam uma carncia afetiva e psicossocial e a escola se torna, normalmente, um refgio dos problemas enfrentados em casa. Este fator reflete na sua aprendizagem, visto que em muitos casos, a dificuldade do aluno em aprender no est apenas no problema cognitivo, mas sim na tentativa de processar emoes traumticas vividas, ou que vive, o que impedir de prosseguir na aprendizagem, ocasionando o dficit. (SILVA et al, 2012). Partindo desse pressuposto, o objeto de estudo desta investigao a capacidade de resilincia do docente e a sua influncia nos processos de ensino e aprendizagem de alunos do fundamental, que convivem com fatores de riscos. Assim, a pesquisa tem como grande questo: De que forma a capacidade resiliente do professor pode favorecer a aprendizagem de seu educando? A partir desta pergunta, outras especficas foram surgindo: O que resilincia? Qual a viso do docente sobre resilincia? Como alguns indivduos, apesar de todo um contexto de adversidade, conseguem continuar sua rotina de modo saudvel? De que forma o psicopedagogo pode beneficiar a capacidade de resilincia nos processos de ensino e aprendizagem? Quando uma pessoa est passando por um momento de aflio muito forte, mesmo que tenha seu nvel resiliente desenvolvido, procura ajuda interior e exterior para conseguir suportar tal sofrimento. Nessa situao, ter um tutor ou promovedor de resilincia para apoiar e compartilhar to grande dor de suma importncia. Nesse contexto, o tema merece destaque na educao no sentido de favorecer os processos de ensino e aprendizagem do aluno.
89
Professora do 3 ano do ensino fundamental I da rede municipal de Maracana, desde 2012.
158
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
OBJETIVO GERAL Traamos como objetivo geral desta investigao: compreender como a capacidade resiliente do docente influencia no processo de aprendizagem do educando. Em decorrncia do objetivo geral, delineamos os especficos que foram: mapear o referencial terico que traga a definio de resilincia; investigar a concepo dos docentes sobre o tema; analisar a resilincia no processo de aprendizagem do aluno; e entender como a atuao do psicopedagogo pode favorecer a capacidade resiliente na escola. METODOLOGIA Esta investigao se inseriu na abordagem qualitativa, pois, na compreenso procurou valorizar a interpretao e a descoberta dos fatos e as interaes e influncias mtuas entre os sujeitos em questo. Utilizamos como mtodo de pesquisa elementos do Estudo de caso, que consistiu na investigao de um contexto particular, isto , de uma escola da rede pblica de Maracana. Esse tipo de mtodo possibilitou obter uma srie de informaes relevantes, examinando minuciosamente certos aspectos da realidade da pesquisa. Assim, a investigao se organizou em trs etapas: a fase exploratria; o trabalho de campo; e a anlise dos dados obtidos. (FARIAS; SILVA, 2009). Alm disso, pudemos encontrar alguns dados para realizar as anlises por meio das observaes do contexto e das conversas informais com os professores, consideramos que, o no dito que aparece nos gestos, nas prticas cotidianas e nas conversas no intencionais e no sistematizadas dos investigados tem muito a nos revelar. DISCURSO DOS RESULTADOS Apesar de a literatura trazer diversas definies, conforme cada rea do conhecimento, para o termo resilincia, comum a todas que o seu significado est ligado a uma maneira de suportar e superar uma forte presso e apesar disso conseguir voltar ao seu ritmo. Porm o que acontece que h um desconhecimento dos docentes sobre o assunto, sendo tambm frequentemente esquecido na formao de professores e nas discusses do dia a dia da escola. Nas entrevistas e em conversas informais com diferentes professores, a maioria demonstrava uma reao de espanto ao ouvir o termo resilincia, confirmando assim o que foi estudado na literatura, ou seja, que essa palavra desconhecida no ambiente escolar, sendo conhecida atravs da associao de expresses como superar dificuldades, suportar adversidades e vencer desafios.
No sei. (Professora A) Maneira como voc consegue superar. (Professora B) J ouvi falar, mas no sei o que . (Professora C)
159
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Diante disso, percebemos que existem muitas pessoas com um bom nvel resiliente, mas desconhecem essa capacidade dentro de si. Enquanto outras precisam que a resilincia seja trabalhada. Os profissionais do magistrio passam por uma fase de crise, pelas contnuas mudanas sociais, polticas e econmicas do pas e sabem muito bem o que lidar com a incerteza e imprevisto, j que a sala de aula composta por pessoas heterogneas com hbitos e condutas diferentes, podendo a cada dia serem surpreendidos por uma situao inesperada. Devido falta de laos afetivos na famlia, cabe escola a funo de cobrir essa carncia emocional e afetiva dos educandos, que chegam escola sem nenhuma base de orientao social positiva dos familiares, ou seja, o professor acaba sendo o protagonista para atuar com foras resilientes nesse cenrio educacional. Isso torna ainda mais rdua a prtica pedaggica do docente, podendo lev-lo a frustrao, desmotivao pessoal, aumento de evaso, indisposio e at mesmo abandono, bem como falta de confiana no resultado do seu trabalho. Nesse sentido, faz-se necessrio que o docente tenha condies emocionais para trabalhar a valorizao humana com os discentes. Para isso, preciso que o professor tenha um ambiente de trabalho que lhe proporcione segurana e bem-estar, pois, assim, ele poder exercer a sua funo de modo criativo, tratando seus alunos com afetividade e compreenso, mesmo diante de grandes adversidades. Desde o primeiro dia de aula, importante, que o professor crie vnculos com seus alunos, pois se estes no se sentirem acolhidos por seu professor podem desenvolver antipatia por este e criar um bloqueio em suas aulas. Consequentemente, o estudante ter dificuldades para aprender em seu convvio no ambiente escolar, porque no ter suporte da figura principal, o professor, por tal feita, muitos acabam desistindo no meio da caminhada. As educadoras dessa investigao afirmaram que usam de estratgias para estimular a curiosidade e promover a autonomia, autoconfiana e automotivao de seus alunos, por meio de textos reflexivos, dentro da realidade deles, que tragam parbolas para que eles faam analogias e tirem lies de vida. Alm de socializar os acertos deles, parabenizando-os e valorizando seus trabalhos e nunca usando palavras negativas. Para que o docente possa atuar de maneira positiva seria necessrio dar uma ateno especial s suas prprias necessidades. Porm, h uma falta de estudos a respeito das necessidades dos professores, o foco sempre no aluno, mas vale lembrar que uma boa educao depende tambm de um bom desempenho docente, assim o docente tambm precisa de ateno e cuidados. Nesse sentido, seria importante proporcionar por meio de cursos, uma formao continuada que visasse a qualidade de vida dos educadores, sua sade fsica, emocional e psicossocial. E a prpria escola poderia ser um centro de formao continuada, oferecendo um apoio e assistncia tcnico-pedaggica no desenvolvimento do trabalho docente. Outra contribuio fundamental o apoio psicopedaggico, pois esse profissional, que tem como foco as dificuldades de aprendizagem e tambm toda a arte que abrange o aprender, pode
160
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
contribuir para favorecer a capacidade resiliente do indivduo, promovendo nele habilidades e competncias para encontrar novas escolhas para soluo de situaes difceis. CONSIDERAES FINAIS Apreendemos que o educador que procura conhecer a si mesmo tem maior abertura para conhecer seus alunos. O professor que conhece seus alunos auxilia-os na preveno de dificuldades de adaptao escolar, tem melhores caractersticas de favorecer um clima agradvel em sala de aula, para que a aprendizagem ocorra sem comprometer o desempenho escolar do educando. O professor e o aluno constituem uma interao ao se encontram perante a condio de ensinar e aprender, tanto no aspecto cognitivo quanto nos aspectos afetivo e de relacionamento. Desse modo, no cognitivo compete ao docente a funo de orientao e apoio com a finalidade de permitir aos estudantes a aprendizagem de certos contedos, atravs de elaborao de atividades e de situaes que promovam a estes meios de aprendizagem de modo significativo. J no aspecto afetivo, o docente representa para o educando: confiana, poder social, intelectual e um exemplo a seguir, alm de ser estmulo para o anseio do conhecimento. Por isso, a importncia do vnculo afetivo entre o professor e seus alunos cumpre tamanha influncia sobre o relacionamento que crianas e jovens formam entre si. Assim, a resilincia na atuao docente se concretiza com a valorizao, pelo prprio educador, da importncia de consolidar a articulao dos vrios interesses de forma tica, malevel, participativa e colaborativa, permitindo reflexes acerca das decises e durante a construo do saber. E tambm, criando um ambiente de apoio afetivo e emocional favorvel e adequado para se trabalhar com os educandos. Tendo em vista o que foi discutido, finalizamos destacando que a presente pesquisa constitui em uma contribuio para o estudo acerca da importncia da capacidade resiliente do docente no processo de aprendizagem. REFERNCIAS ASSIS, Simone Gonalves de; PESCE, Renata Pires; AVANCI, Joviana Quintes. Resilincia: enfatizando a proteo dos adolescentes. Porto Alegre: Artmed, 2006. FARIAS, Isabel Maria Sabino de; SILVA, Silvina Pimentel. Mtodos de pesquisa caminho de acesso para conhecer. In: _________;_________. Pesquisa e Prtica Pedaggica II. Fortaleza: RSD, 2009, p. 25-33 (Unidade III). SALLES, Gilsani Dalzoto; SALLES FILHO, Nei Alberto. Resilincia e educao: examinando conceitos e possibilidades. Disponvel em: <http://www.uepg.br/paz/docs/Resili%C3%AAncia%20e%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 24/12/2012. SILVA, Alessandra Nvea da; ARAJO, Juliana Oliveira Guilherme Dias; FIDNCIO, Raquel Gonalves. A resilincia na atuao docente. Disponvel em: <http://www.webartigos.com/artigos/a-resiliencia-na-atuacao-docente/70120/>. Acesso em: 11/06/2012.
161
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
A DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E SUA RELAO COM A FORMAO DE PROFESSORES
Gracikelly Ribeiro Dutra de Sousa90 Maria Rosineide Saraiva Sombra91
RESUMO Esse texto resultado de um estudo a cerca de como o docente est apto para lidar com as Dificuldades de Aprendizagem em sala de aula. A escola o principal local em que crianas e adolescentes manifestam as queixas de no aprender e a no aprendizagem na escola uma das causas do fracasso escolar. O tema aborda uma realidade de muitos professores quando se deparam com alunos que apresentam dificuldades em relao a aprendizagem e no sabem o que fazer. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar qual o grau de conhecimento docente a cerca das Dificuldades de Aprendizagem. E como objetivos especficos: identificar quais recursos facilitadores que os sujeitos da pesquisa obtiveram em sua formao de base para trabalhar com alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem e investigar se tais dificuldades esto sendo abordadas nos cursos de formao continuadas realizadas pelos docentes. Em seguida, foi feita a pesquisa de campo desenvolvida junto aos professores que compem o quadro docente de uma escola em Fortaleza atuantes nas reas de Cincias Humanas, Cincias da Natureza e Linguagens e Cdigos somados com professores especialistas em psicopedagogia e o ncleo gestor da escola. Com a finalidade de atingir os objetivos deste trabalho, buscou-se desenvolver a pesquisa na perspectiva e a tcnica utilizada na coleta de dados foi o questionrio semi - estruturado composto por seis questes. PALAVRASCHAVES: Aprendizagem. INTRODUO A escola o principal local em que crianas e adolescentes manifestam as queixas de no aprender e a no aprendizagem na escola uma das causas do fracasso escolar. O fracasso escolar atinge todos os nveis educacionais incidindo em quase todas as etapas de escolarizao. Muitos alunos so rotulados como burros pelos colegas e por professores fazendo com que seja excludo na escola e em sua vida como um todo. As dificuldades de aprendizagem do aluno podem advir de uma gama de problemas que podem ser de ordem neurolgica, emocionais, intelectuais ou cognitivas, educacionais e entre
Psicopedagoga Clnica e Institucional pela Universidade Estadual do Cear. Professora da Educao Bsica do Estado do Cear. Email: graci.duttra@gmail.com 91 Doutoranda em Cincias da Educao na Universidade Americana. Psicopedagoga Clnica e Institucional pela Universidade Estadual do Cear. Email: rosapsicopedagoga@hotmail.com
90
Dificuldades
de
Aprendizagem.
Formao
de
Professores.
162
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
outros fatores. Podem afetam qualquer rea do conhecimento escolar. As dificuldades de aprendizagem englobam: [...] um grupo heterogneo de transtornos, manifestando-se por meio de atrasos ou dificuldades em leitura, escrita, soletrao e clculo, em pessoas com inteligncia potencialmente normal ou superior e sem deficincias visuais, auditivas, motoras ou desvantagens culturais. Geralmente no ocorre em todas essas reas de uma s vez e pode esta relacionada a problemas de comunicao, ateno, memria, raciocnio, coordenao, adaptao social e problemas emocionais (Sisto 2001, p.193). Nesse sentido, o conceito citado afirma que a dificuldade de aprendizagem se manifesta de forma significativa no processo de aprendizagem escolar do aluno. Segundo Fonseca (1995, p.2) existem comportamentos caractersticos em sujeitos com problemas de aprendizagem. Entre eles podem ser citados os problemas emocionais, desordens na ateno, memria e raciocnio, hiperatividade e dificuldades especficas de aprendizagem: dislexia, discalculia, disortografia e disgrafia. Os professores podem ser os mais importantes no processo de identificao dessas dificuldades em seus alunos. Partindo desse pressuposto, o objeto de estudo dessa investigao analisar qual o grau de conhecimento que os professores tm em relao s dificuldades de aprendizagem. OBJETIVOS GERAIS O presente estudo tem como objetivos gerais analisar qual o grau de conhecimento docente a cerca das Dificuldades de Aprendizagem (DA); identificar quais recursos facilitadores que os sujeitos da pesquisa obtiveram em sua formao de base para trabalhar com alunos que apresentam alguma DA, bem como investigar se as DAs esto sendo abordadas nos cursos de formao continuadas realizadas pelos docentes. METODOLOGIA Com a finalidade de atingir os objetivos deste trabalho, buscou-se desenvolver a pesquisa na perspectiva qualitativa que est cada vez mais presente nas pesquisas voltadas educao. A tcnica utilizada na coleta de dados foi o questionrio semi-estruturado onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema proposto, sem respostas pr fixadas pelo pesquisador. O questionrio um instrumento de coleta de dados constitudo por uma srie de perguntas, que devem ser respondidas por escrito. (Marconi & Lakatos, 1999). DISCURSO DOS RESULTADOS Os dados coletados foram apresentados em forma de texto e interpretados luz de alguns tericos. Inicialmente sero mostrados os relatos da primeira questo e na sequencia, as demais, seguindo a ordem das perguntas. Questo 01: Qual a diferena entre dificuldade de aprendizagem e na aprendizagem?
163
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Numa perspectiva orgnica as DA so desordens neurolgicas caracterizando-se numa discrepncia entre o potencial estimado do aluno e sua realizao escolar. Numa perspectiva educacional as DA refletem em um impedimento para a aprendizagem da leitura, da escrita, do clculo e aptides sociais. J as dificuldades na aprendizagem refletem sobre prticas pedaggicas e metodologias de ensino utilizadas pelo professor em sala de aula que interferem em como os alunos esto aprendendo o contedo transmitido. Verificou-se nas respostas dos entrevistados que os mesmos possuem algum tipo de conhecimento a respeito do que seja dificuldade de aprendizagem, mesmo que de forma bem superficial. Para exemplificar essa colocao selecionou-se algumas respostas dos sujeitos participantes da pesquisa: A dificuldade de aprendizagem est no aluno. A dificuldade na aprendizagem est no
processo e nos meios (falta de material, poucas aulas...). (CF) Na dificuldade de aprendizagem o dficit est no prprio aprendiz. A dificuldade na aprendizagem est relacionada a fatores externos ao aprendiz. (PF)
Questo 02. Voc quanto professor na sua formao de base quais recursos facilitadores voc teve para trabalhar com dificuldade de aprendizagem? No existem disciplinas nos cursos de licenciaturas que abordem as DA. Essa afirmao pode ser observada nos seguintes relatos:
No tive nenhum aprendizado durante minha formao acadmica que fosse direcionado especificamente s dificuldades de aprendizagem. Tudo que aprendi referente ao tema adquiri ao longo da minha prtica pedaggica. (PB)
Os cursos que so oferecidos so faz de conta, so apenas leitura de papeis, eu sei que estes elementos abaixo so importantes, pois aprendi na psicopedagogia. O trabalho com o ldico e pesquisa in locus que so as pesquisas de campo so elementos facilitadores da aprendizagem, os laboratrios, a informtica. Cabe aos professores serem criativos e aproveitar os recursos. (PG) Nenhum. O autodidatismo sempre foi o norte da minha formao, tudo o mais foi fruto das convenes escolares. (PE)
Os sujeitos da pesquisa no receberam nenhum recurso na graduao que os auxiliassem para trabalharem com alunos que apresentam DA e somente aqueles que tm formao psicopedaggica, ou seja, as professoras PF e PG e a Coordenadora do ensino fundamental CF, afirmaram que todo o conhecimento referente ao assunto graas a Psicopedagogia. A no existncia de disciplinas, nos cursos de licenciaturas, que ofeream suporte terico e pedaggico para que os professores possam aplicar em sala de aula demonstra que os mesmos esto saindo das universidades sem entenderem o que e quais so as dificuldades de aprendizagem que os alunos possam apresentar em sala de aula.
164
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Questo 03. Na formao continuada so abordadas as dificuldades de aprendizagem? Em caso positivo, quais? A formao continuada necessria no apenas para tentar minimizar as lacunas da formao inicial, mas tambm visando as reais necessidades que os docentes sentem na sua prtica pedaggica diariamente. Sobre esta orientao, Imbernn (2001 p.49) afirma:
A formao ter como base uma reflexo dos sujeitos sobre sua prtica docente, de modo a permitir que examinem suas teorias implcitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo constante de auto-avaliao que oriente seu trabalho. A orientao para esse processo de reflexo exige uma proposta crtica da interveno educativa, uma anlise da pratica do ponto de vista dos pressupostos ideolgicos e comportamentais subjacentes.
A maior parte dos docentes usa discurso de similaridade ao afirmarem nunca terem participado de cursos de formao ou capacitao direcionados s dificuldades de aprendizagem, exceto as coordenadoras pedaggicas CF e CM conforme pode ser verificado nos relatos:
No participei de formaes continuadas que abordassem o tema em questo. (PC) Formao continuada? O que isso? grego pra mim. (PD) As dificuldades de aprendizagem sempre so temas tratados nas discusses, mas o grande desafio ainda no foi superado. (CM) Os cursos que so oferecidos so faz de conta, so apenas leitura de papeis, eu sei que estes elementos abaixo so importantes, pois aprendi na psicopedagogia. O trabalho com o ldico e pesquisa in locus que so as pesquisas de campo so elementos facilitadores da aprendizagem, os laboratrios, a informtica. Cabe aos professores serem criativos e aproveitar os recursos. (PG)
O relato da professora PG foi o mais abrangente. Ela ressalta que tudo o que sabe sobre as DA aprendeu no curso de especializao em psicopedagogia. O Ldico e a informtica so alguns recursos citados como facilitadores para ajudar o aluno que apresenta dificuldades na aprendizagem. Os relatos foram superficiais e apenas a professora PG, que psicopedagoga, se aprofundou nas duas respostas. Embora a professora PF e a coordenadora CM tenham especializao em psicopedagogia, ambas, foram tambm superficiais em seus relatos. Isso demonstra que apesar de muitos profissionais se especializarem em alguma rea se no estiverem em contato com a mesma, se aprofundando e se dedicando no far diferena alguma. Os docentes no esto sendo capacitados para lidarem com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem em sala de aula. Ressalta-se o discurso da coordenadora CM que relata que embora receba cursos de capacitao reconhece que os mesmos no esto fazendo efeito nas salas de aulas.
165
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
CONSIDERAES FINAIS A partir dos dados coletados na pesquisa foi possvel perceber que os professores pouco sabem sobre as dificuldades de aprendizagem, pois demonstraram superficialidade sobre o tema em seus relatos. Os problemas de aprendizagem constituem uma situao real nas instituies de ensino, principalmente nas pblicas, sendo necessria a atuao de profissionais capacitados para realizarem um trabalho de excelncia e qualidade frente a esses problemas. A formao do professor muito importante nesse contexto, uma vez que bem preparados favorecem o ensino e a aprendizagem dos seus alunos em sala de aula. O docente deve conhecer seu aluno de forma global, ou seja, o seu cognitivo, afetivo, emocional e social respeitando suas necessidades e ritmos e a escola deve se preparar para lidar com as dificuldades de aprendizagem e o professor com formao psicopedaggica um profissional apto a auxiliar a instituio escolar nesse sentido, uma vez o curso de psicopedagogia tem como objeto de estudo as dificuldades no aprender. Nessa perspectiva, a formao de professores se constitui como uma oportunidade para que os profissionais da educao reflitam sobre sua prtica pedaggica. Dessa forma, valoriza-se o conhecimento prtico do professor, colocando-o na condio de investigador da sua prpria prtica. REFERNCIAS FONSECA, V. Dificuldades de aprendizagem. Porto Alegre: Artes mdicas, 1995. IMBERNN, F. Formao docente e profissional: formar-se para a mudana e a incerteza. So Paulo: Cortez, 2001. MARCONI, M. D. A. & LAKATOS, E. M. Tcnicas de pesquisa: planejamento e execuo de pesquisa, amostragens e tcnicas de pesquisa, elaborao, anlise e interpretao de dados. Atlas Editora. 4 Edio. So Paulo, 1999. SISTO, F.F.; DOBRANSKY, E. A.; MONTEIRO, A (Orgs). Cotidiano escolar: questes de leitura, matemtica e aprendizagem. Bragana Paulista: Vozes, 2001.
166
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O PAPEL DO PLANEJAMENTO COMO ELEMENTO INTEGRANTE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Bernadete de Souza Porto92 Maria Geanne Moreira da Silva93 Samantha Maria Monteiro da Silva94
RESUMO O ato de planejar permeia o trabalho docente, sua existncia se deve ao fato de que necessrio organizar e sistematizar as aprendizagens necessrias para o desenvolvimento intelectual e cultural dos alunos e para programao da ao educativa do professor. uma atividade constante que deve estar sendo reformulada, em decorrncia da dinmica da sala de aula, bem como das necessidades e demandas advindas dos alunos, em que o professor tem de aliar essas questes adequando-as aos contedos a serem lecionados. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar a importncia do planejamento pedaggico, bem como a sua influncia no processo de ensino-aprendizagem por parte dos alunos. Para a realizao deste trabalho foi realizada uma pesquisa de cunho bibliogrfica baseada nos estudos de Libneo (1991), Luckesi (1993) e outros autores da rea. A partir do estudo, verificou-se que planejar significa realizar uma previso de aes, ou seja, uma organizao sistemtica do que ser abordado, a fim de alcanar os objetivos previamente definidos, caracterizando-se ainda como momento de tomada de deciso e de reflexo da prtica, visando contribuir para a aprendizagem dos discentes, adaptando-se a realidade dos seus alunos. Tal prtica est intimamente ligada avaliao, visto que a partir desta, o docente reorganiza o curso do processo. Sendo o professor o mediador das aprendizagens discentes, planejar indispensvel, uma vez que funciona como um guia de orientao prtica docente que conduz todo o processo de ensino-aprendizagem no caracterizando-se como algo finito, mas flexvel. PALAVRAS-CHAVE: Trabalho docente. Planejamento. Aprendizagem. INTRODUO O trabalho docente composto de algumas atribuies. Libneo (1991) discorre que o papel do professor planejar, regular o processo de ensino-aprendizagem, alm de avaliar o andamento do mesmo. No presente trabalho destacaremos com nfase uma das tarefas do professor: o planejamento. Para adentrarmos na discusso, inicialmente necessrio abordar os conceitos de ensino e aprendizagem, tendo por base os estudos de Libneo (1991). Ensino um processo dotado de intencionalidade, cujo objetivo contribuir para o desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos. Entende-se por aprendizagem algo inerente condio humana, que ocorre a todo instante, de forma sistemtica ou no. Neste sentido, ensino e aprendizagem so etapas complementares do processo educacional. O autor destaca que no h assimilao se no houver um sistema de
Orientadora. Professora Doutora na Universidade Federal do Cear (UFC). Email: bernadete.porto@gmail.com Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal do Cear (UFC). E-mail: geannemsilva@gmail.com. 94 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal do Cear (UFC). E-mail:samanthapedagogiaufc@gmail.com
93
92
167
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
conhecimentos a serem assimilados (p.81). Para a construo de uma aprendizagem significativa por parte do aluno, decorre a necessidade de efetuar o planejamento pedaggico do ensino. O planejamento pedaggico procura compreender as aprendizagens que o professor considera importante para seus alunos, bem como a forma que ser conduzido o processo de ensino. De acordo com Libneo (1991) o plano consiste em um guia de orientao, pois nele so estabelecidas as diretrizes e os meios de realizao do trabalho docente (p. 223). Planejar significa antecipar aes, sendo o plano [...] algo que d continuidade atividade enlaando aspectos parciais do currculo, temas dispersos, atividades concretas. (SACRISTN, 1998, p. 279). Demanda reflexo por parte do professor, este que tem o papel de articular os contedos relacionando-os com o contexto social dos alunos. No que se refere ao ensinoaprendizagem no pode ser diferente, pois para proporcionar um ensino de qualidade, o docente precisa definir o caminho a ser percorrido, prezando pela sistematizao do processo em detrimento de uma prtica improvisada. (LIBNEO, 1991) Desta forma, faz-se necessrio que o docente realize a seleo de contedos e metodologias que correspondam s necessidades dos alunos. Realizar esta seleo significa retirar fragmentos de um todo, destacando o que considerado relevante para o aluno aprender. Portanto, implica tambm em uma deciso poltica, fruto de uma tomada de deciso. Para Luckesi (1993), o planejamento
[...] o filtro por onde devem passar todos os elementos pedaggicos que admitimos criticamente. No caso da educao escolar, para planejar torna-se necessrio ter presentes todos os princpios pedaggicos a serem operacionalizados, de tal forma que sejam dimensionados para que se efetivem na realidade educativa. Os princpios devem ser mediados para se tornarem realidade. O planejamento uma prtica necessria dessa mediao. [...] no se pode encarar o planejamento como ao puramente formal. Ele deve ser uma ao viva e decisiva, pois um ato poltico decisrio. (p. 168)
Neste sentido o planejamento tambm a interao entre educador e educando, possibilitando esta relao, a construo do planejamento que procura articular os conhecimentos que os alunos j possuem com os que o professor pretende ensinar. Nesta concepo, o ensino para Libneo (1991) deve proporcionar a assimilao dos contedos delimitados pelo currculo escolar, sendo o aluno um sujeito ativo neste processo para a construo de sua aprendizagem. OBJETIVO GERAL Nesta perspectiva o presente trabalho tem por objetivo analisar a importncia do planejamento pedaggico, destacando a sua influncia sobre o processo de ensino-aprendizagem. METODOLOGIA Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma pesquisa de cunho bibliogrfico baseado nos estudos de Libneo (1991), Luckesi (1993), bem como outros autores desta rea. A finalidade da pesquisa bibliogrfica, conforme Marconi e Lakatos (2001) proporcionar o contato com os materiais publicados sobre a temtica abordada, contribuindo assim para a apropriao do
168
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
assunto para melhor anlise por parte do pesquisador, visando ainda complementar o acervo de pesquisas nesta rea. DISCUSSO DOS RESULTADOS O professor, em sua prtica pedaggica precisa traar os objetivos de seu trabalho, definir seu plano de curso e sua intencionalidade, isto significa planejar. Aps a definio do que esperase que os alunos aprendam, o docente precisar dispor de meios que o faam conhecer os nveis de aprendizagem dos discentes. de suma importncia identificar os conhecimentos prvios dos alunos em relao ao assunto a ser abordado, pois esse ser o ponto de partida para a execuo do plano do professor. Segundo Libneo (1991),
Saber em que p esto os alunos (suas experincias, conhecimentos anteriores, habilidades e hbitos de estudo, nvel de desenvolvimento) medida indispensvel para a introduo de conhecimentos novos e, portanto, para o xito de ao que se planeja. (p. 228)
Conhecer o nvel dos alunos permite que o professor contemple em seu planejamento aspectos que possibilitem aos estudantes superar as possveis dificuldades previamente diagnosticadas. Em decorrncia deste momento, as atividades que sero planejadas pelo docente refletiro diretamente na aprendizagem dos alunos. Se o professor no reflete no momento do planejamento, fica impossibilitado de contribuir significativamente para aprendizagem de seus alunos. O planejamento deve ser flexvel, no algo que realizado e no pode ser revisto, sendo na realidade passivo de constantes modificaes em virtude do dinamismo presente na sala de aula. Este dinamismo se refere s necessidades apresentadas pelos alunos, de modo que o professor deve ter conscincia de que o importante no apenas a execuo do plano, mas proporcionar situaes que favoream a construo do conhecimento de forma crtica por parte do aluno. Tal concepo encontra-se presente em Ostetto (2000), para ela o planejamento [...] atitude crtica do educador diante de seu trabalho docente. Por isso no uma frma! Ao contrrio, flexvel e, como tal, permite ao educador repensar, revisando, buscando novos significados para sua prtica pedaggica. (p. 177) Desta forma, o professor precisa ter um olhar sensvel em sala de aula capaz de perceber as necessidades de modo que as contemple em seu planejamento, para que haja assim, de acordo com Libneo (1991), a democratizao dos conhecimentos. Planejar implica em articular os conhecimentos prvios dos alunos aos que precisam ser consolidados. Consiste ainda em elaborar estratgias para alcanar os objetivos, avaliando constantemente o processo. Desta forma, Lucksei (1993) destaca que o mecanismo ao-reflexoao faz-se necessrio a fim de contribuir para a qualidade do percurso. A partir da definio dos objetivos, o professor pode pensar nas estratgias de execuo do seu plano, pois eles so os responsveis por impulsionar todo o processo. de suma importncia que os alunos conheam os objetivos, o que precisam aprender, para que assim a aprendizagem
169
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
seja mais significativa, e que suas sugestes sejam consideradas no processo de elaborao dos objetivos. importante ressaltar que, quando o professor constri uma relao afetiva com seu grupo de alunos, facilita na elaborao do planejamento, pois ao conhecer a turma ele tem propriedade para sugerir atividades e redirecionar sua prtica a partir das propostas dos discentes. Em uma perspectiva construtivista, em que o aluno sujeito ativo na construo do seu conhecimento, o planejamento est assim intimamente relacionado ao processo de ensinoaprendizagem dos alunos, pois atravs da ao de planejar, o professor reflete sobre sua prtica docente (o ensino) para mediar a aprendizagem de seus alunos. De acordo com Sacristn (1998, p.271) o professor [...] Em sua atividade prtica pode aproveitar ideias e teorias cientficas, mas trata-se sempre de uma elaborao pessoal diante de situaes complexas. O docente deve considerar os aspectos das teorias da psicologia do desenvolvimento no que se refere aprendizagem, bem como as caractersticas de seus alunos, para a elaborao de um planejamento que atenda significativamente as especificidades dos sujeitos. Tal atitude configura-se ento, em uma prtica cientfico-pessoal, caracterizada pela necessidade de articular o conhecimento cientfico ao pedaggico de acordo com sua sala de aula, sendo coerente com o contexto social em que atua. CONSIDERAES FINAIS A partir da realizao do estudo, evidenciou-se que para oferecer um ensino de qualidade aos alunos, necessrio que o professor defina o percurso a ser traado, refletindo constantemente sobre sua prtica pedaggica, verificando se esta se encontra em conformidade com a demanda determinada pelo contexto social e pela turma. Planejar algo indispensvel ao processo de ensino-aprendizagem, visto que o docente se basear nele para conduzir todo o processo. Vale destacar que uma das caractersticas do planejamento a flexibilidade, de modo que este sofre constantes ajustes de acordo com as necessidades que emergem no decorrer das aulas. Em sntese, o planejamento o elemento que prev as aes docentes, mas no atende a complexidade das relaes que ocorrem na sala de aula, por isto a importncia da flexibilidade em sua realizao para contemplar os imprevistos apresentados na prtica. REFERNCIAS LIBNEO, Jos Carlos. Didtica. So Paulo: Cortez, 1991. LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educao. So Paulo: Cortez, 1993. MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E.M. Metodologia do trabalho cientfico. 5.ed. rev. ampl. So Paulo: Atlas, 2001. p. 43-44 OSTETTO, Luciana Esmeralda. Planejamento na educao infantil: mais que a atividade, a criana em foco. In: OSTETTO, Luciana E. Encontros e encantamentos na educao infantil: partilhando experincias de estgios. So Paulo: Papirus, 2000. GIMENO SACRISTN, Jos; GOMES, A. I. Perez. Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1998.
170
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
OS DESAFIOS DE SER PROFESSOR: DILOGOS PRODUZIDOS NO 1 COLQUIO DE FORMAO DOCENTE REALIZADO NA URCA
Ana Maria do Nascimento95 Katyanna de Brito Anselmo 96 Maria Socorro Lucena Lima
97
RESUMO Discutir acerca da formao docente no contexto atual nos parece uma tarefa urgente e inalienvel. O texto que apresentamos tem como objetivo central compreender quais os desafios que assolam a formao docente no Curso de Pedagogia da Universidade Regional do CaririURCA, considerando a voz dos atores da escola de Educao Bsica e atores da universidade. Esse trabalho resulta do I Colquio de Formao Docente realizado na URCA, pelo Curso de Pedagogia, se insere em uma pesquisa de cunho qualitativa, cuja abordagem se inscreve na formao de professor na perspectiva freireana. Para anlise de dados nos apropriamos das falas de trs professoras uma docente da Universidade e duas docentes da Escola de Educao Bsica, sendo uma da rede Municipal de ensino e outra da rede Estadual. Para coletar os dados utilizamos a gravao que depois foi transcrita e compreendida com base na analise interpretativa. Como resultados, percebemos que h um distanciamento entre escola e universidade, notamos ainda que h uma dificuldade em compreender qual realmente o papel do professor na sociedade atual. uma discusso relevante, pois apresenta reflexes pertinentes a formao docente por diferentes olhares. Conclui-se que difcil definir qual realmente o papel do docente no contexto atual e que pensar a formao docente na universidade considerar no Projeto Pedaggico as exigncias postas nos discursos oficiais para a formao dos futuros professores e professoras. PALAVRAS- CHAVE: Formao Docente. Relao escola universidade. Papel do Docente. INTRODUO Discutir acerca dos desafios e limites que impem a formao docente no contexto atual nos parece uma tarefa importante e inalienvel. Apesar de ser um tema que tem ganhado campo significativo a partir da dcada de 1990, ainda se apresentam muitas dificuldades no contexto formativo, portanto, uma temtica que vem produzindo dilogos nos mais diferentes campos principalmente na Universidade. O texto que se segue uma problematizao dos dilogos produzidos por diferentes atores que atuam na Universidade e nas escolas de Educao Bsica no Municpio de Crato- Cear o texto resulta do I Colquio de Formao Docente, realizado em 2011, na Universidade Regional do Cariri- URCA. O objetivo central compreender quais os desafios que assolam a formao
Mestranda do Programa de Ps-Graduao em Educao- PPGE da Universidade Estadual do CearUECE. Email: rinaestrela@gmail.com 96 Mestranda do Programa de Ps-Graduao em Educao- PPGE da Universidade Estadual do CearUECE. Bolsista da CAPES. Email: katyans@yahoo.com.br 97 Profa. Dra. do Programa de Ps-Graduao em Educao- PPGE da Universidade Estadual do CearUECE. Email: azerichelima@hotmail.com
95
171
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
docente no curso de Pedagogia da URCA, tendo em vista o olhar da Universidade na voz de docentes da URCA e o olhar da Escola a partir de representes da Secretaria Estadual e Municipal de Ensino do referido municpio. Vale ressaltar que o debate produzido neste encontro trouxe questes importantes no que se refere formao docente considerando principalmente as disciplinas de Estgio Curricular Supervisionado. METODOLOGIA Esse trabalho se insere em uma pesquisa de cunho qualitativa, cuja abordagem se inscreve na formao de professor na perspectiva freireana. Para anlise de dados nos apropriamos das falas das professoras docentes da Universidade e da Escola de Educao Bsica, para coletar os dados utilizamos a gravao que depois de transcrita foi feita uma anlise interpretativa considerando as ideias postas. Severino (2007) ressalta que a anlise interpretativa procura superar a estrita mensagem do texto. O texto constitudo a partir dos elementos do que ser professor atualmente e de como a universidade e a escola tem se aproximado para formar o professor (a) do futuro. Dessa feita trazemos algumas falas e apontamos algumas consideraes. DISCUSSO DOS RESULTADOS FORMAO DE PROFESSORES: PRODUZINDO DILOGOS Aps muitas lutas de profissionais que atuam na Educao Brasileira e compreendem a importncia da formao docente para uma boa qualidade educacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educao- LDB 9394/96 traz em seu texto a necessidade da formao docente e a necessria vinculao entre teoria e prtica. Esse ainda tem sido um desafio que tem se apresentado nos cursos de pedagogia, pois o que vemos de real um distanciamento entre escola e universidade, portanto, entre teoria prtica. como se a universidade fosse responsvel pela teoria e a escola campo pela prtica. O que defendemos neste texto que ambas so responsveis pela formao dos alunos e alunas estgios e estagirias, por tal razo, no podem pensar e agir separadamente. No contexto da formao docente muitos so os saberes necessrios prtica educativa, Freire j nos alertava para essa temtica na dcada de 1990, sistematizando esse debate em seu livro Pedagogia da autonomia datada de 1996, onde so expressos os saberes que deve ter os professores no cotidiano escolar. Essa carga de conhecimentos e habilidades que devem adquirir o professor tambm foi colocada na LDB, no artigo 13 ao colocar as incumbncias do docente. Seno vejamos quais as obrigaes que tem o professor: I. II. III. IV. Participar da elaborao da proposta pedaggica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedaggica do estabelecimento; Zelar pelas aprendizagens dos alunos; Estabelecer estratgias de recuperao para alunos de menor rendimento;
172
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Ministrar os dias letivos e hora- aula estabelecida, alm de participar integralmente dos perodos dedicados ao planejamento, avaliao e ao desenvolvimento profissional; VI. Colaborar com as atividades de articulao da escola s famlias e comunidade. Acreditamos que so exigidos dos professores muitas tarefas e estes so obrigados a assumir questes que no so especificamente suas e acabam por ter que dar respostas a todas as mazelas da sociedade, deixando de lado a atividade que prpria da docncia. O colquio de Formao Docente se constituiu em um momento oportuno para discutir a prtica docente no contexto da universidade considerando os atores da universidade e da escola onde esses alunos realizam os Estgios e tambm so formados tendo em vista o inacabamento como bem nos aponta Freire (1996). Muitos autores trazem a preocupao com o ser professor e os saberes necessrios ao seu campo de atuao, dentre eles podemos citar Freire (2006) Tardif (2010) e Pimenta (2010). A tarefa de ensinar encontra desafios que vo desde a formao sistematizada na Universidade at a construo de saberes prticos que tambm vo se dando no interior das escolas publicas. A preocupao com a formao docente de forma organizada e sistematizada deve est expressa no Projeto Poltico Pedaggico da Universidade de modo que atenda a construo de uma formao de qualidade, o que nos parece ainda estar distante da realidade. Isso foi evidenciado na fala da professora das escolas que recebem alunos (as) estagirios (as), ao revelar o distanciamento entre escola e Universidade um dos desafios vistos na Formao Docente. Vejamos: agente vive dizendo que a universidade precisa se aproximar da escola bsica, agente vive puxando alguns debates, agente convida a universidade pra isso, porque ns sentimos uma distncia imensa (P1 Rede Estadual de Ensino em Crato (grifo nosso)). A dificuldade apontada pela professora nos convida a pensar sobre a relao escola e universidade na realizao dos estgios supervisionados e ainda como esses alunos sujeitos em formao tem construdo os saberes da docncia em espaos to estranhados. Freire (2006) nos coloca a necessidade de estabelecer intimidade entre os saberes curriculares e os conhecimentos sociais dos indivduos. Acreditamos que se fazer professor tambm, saber estabelecer essas relaes e isso no ser possvel enquanto separarmos os conhecimentos da universidade e os conhecimentos da escola. A professora ressalta a importncia do Estgio na Formao do aluno (a) estagirio (a) como identificao ou no com a docncia, neste sentido, assim se expressa: O estgio dentro da escola pblica deve ser um momento de aprendizado muito grande, para que ningum fique na licenciatura por falta de opo. Ningum fica tanto tempo em alguma coisa se no gostar. (P1Rede Estadual de Ensino). Desse modo, o momento do Estgio deve constitui-se em momento significativo para o sujeito aprendiz de professor um momento em que se lida com dois momentos do ciclo gnosiolgico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento j existente, e o que se trabalha a produo do conhecimento ainda no existente (FREIRE, 2006, p, 28). V.
173
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
A questo da relao escola e universidade parece ter inquietado os participantes do Colquio, vejamos a fala da professora da rede Municipal de Ensino.
A professora (...) falou sobre o fato das escolas no quererem s vezes os estagirios, mas na verdade preciso ouvir tambm as reivindicaes das escolas que so justa, como so as de vocs, a escola vista muitas vezes pela universidade e no s como caracterstica da URCA, mas como tambm outras como uma relao utilitria, eu levo l meus acadmicos, eles vo l fazem o estgio, voltam para universidade e a escola no tem o menor controle entre aspas do que esse aluno fez. E mais ainda no tem nenhum retorno, ento uma relao onde a escola s d, d o prdio entre aspas, da porque uma relao de pertence, mas pblico, mas t l. E a o que que este universitrio est trazendo para a escola? Eu acho que essa relao precisa ser melhor compreendida, e voc tem razo essa relao vai se d nos estgios. (P- II- Rede Municipal de Ensino (grifo nosso))
Tendo em vista essas dificuldades de relao entre escola e universidade, percebemos que estas dificultam as aprendizagens docentes. Pois como o aluno (a) estagirio (a) ir se sentir em um espao em que no bem visto? Que espaos teriam para construir conhecimentos? A professora relata que a relao entre as instituies no podem e no devem ser de utilitarismo, mas de parceria, no deve a universidade impor sua vontade nem a escola impor a sua, o que se deseja que haja um dilogo entre ambas de forma que os sujeitos em formao saiam ganhando em conhecimentos. O fato que muitas vezes no h um dilogo e a universidade acaba por invadir um espao que tambm tem as suas especificidades.
[...] quando voc diz que o aluno prepara todo o projeto e chega l tem essa dificuldade, eu acho que esta questo est relacionada a construo deste projeto conjunto com a educao bsica, ns temos dificuldades com alguns estagirios e isso colocado por alguns professores, porque com a escola pblica, por mais que esse pertencimento que voc tenha a escola no sua[...]! (P.II Rede Estadual de Ensino)
Na fala da professora acima, temos a evidencia de como os alunos so colocados nos espaos das escolas, eles pensam os projetos no interior da universidade e levam para ser aplicados na escola, sem pensar nas necessidades e anseios dessas escolas. O que muitas vezes acaba no dando certo, pois as escolas tm suas especificidades, objetivos, metas e projetos que precisam ser considerados. Neste caso, o futuro professor ou professora visto como estorvo que atrapalha rotina da escola. Outro desafio que foi evidenciado nas discusses postas no Colquio foi sobre o que ser professor no contexto atual? Que conhecimentos esto sendo elaborados para formar esse professor ou essa professora? Na voz da professora essa preocupao evidente:
O ser professor algo que no est dado, ele no algo pronto ele no uma receita de bolo, a cada dia na sala de aula, a cada dia nos espaos de atuao docente, sejam formais ou informais vocs estaro convidados a responder e a resolver problemas, a trabalhar com conflitos, a lidar com diferenas, a lidar com saberes e conhecimentos novos que os alunos trazem para a sala de aula, e nesta prtica cotidiana tem que ter que se reinventar como professor. (P.VI Universidade Regional do Cariri- URCA)
Na verdade, ser professor uma construo que se d no inacabamento como j nos evidencia Freire. Ser professor uma reinveno cotidiana, e isto tambm um desafio da
174
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
formao. Pois o professor precisa dar conta de muitas questes que se juntam ao ato de ensinar. A professora ainda revela:
E muita coisa voc tem que ser pesquisador, intelectual, reflexivo, da conta das turmas, dos contedos, fora a brincadeira, e na verdade tem que ser tudo isso. O professor ele tem que ser um agente de transformao do seu ambiente. Ele no pode passar impune, ele tem que assumir o papel de intelectual, aquele que pensa que discute, que critica que est interessado em saber o que o projeto poltico pedaggico da escola, que t participando, que se interessa em discutir os rumos que a escola t tomando, e que est sempre atento a sua formao, a formao de vocs no termina quando vocs concluem o curso de Pedagogia, sinto muito, eu tenho at uma m notcia pra d pra vocs, s comeou.( P VI URCA)
Desta feita, ser professor no contexto atual tomar novos caminhos, assumir o compromisso de cotidianamente refletir a sua prtica, ser intelectual, ser pesquisador, e isso difcil se consideramos as condies precarizadas de tempo e de trabalho docente. CONSIDERAES FINAIS Trabalhar o currculo de fora articulada e conjunta tem sido um desafio apontado pelos profissionais que atuam na escolas e universidades, embora saibamos da necessria articulao teoria prtica e da necessidade dialgica entre escola e universidade. Percebemos nas falas dos sujeitos que ainda h uma precarizao em relao teoria prtica, quanto relao entre escola e universidade. Portanto, o nosso trabalho contribui no sentido de filtrar essas informaes que soam de diferentes vozes, vozes que representam tanto a escola quanto a universidade. Os resultados dessa discusso apontam a necessidade de pensar em uma relao sistematizada entre escola e universidade, a partir do estgio curricular supervisionado. Outro ponto de impasse foi saber qual realmente o papel do professor, tendo em vista s incumbncias que a este tem sido dada, desde os discursos oficiais as discusses de pesquisadores que colocam o professor como, um ser de mltiplas responsabilidades. As reflexes nos levaram a pensar sobre como os alunos (as) tem sido formados para dar conta da multiplicidade de saberes que destes tm sido cobrados, ser se a universidade tem contemplado essas questes no Projeto poltico Pedaggico? Acreditamos que as dificuldades evidenciadas nas falas das professoras da Urca e da Rede Municipal e Estadual necessitam ser consideradas no PPP do Curso de Pedagogia. Tendo em vista que as professores que ali se formam, logo sero inseridos nas escolas publicas. Portanto, refletir sobre a formao docente no mnimo organizar um PPP que contemple as necessidades formativas dos futuros e futuras professores e professoras. REFERNCIAS BRASIL, Secretaria de Educao Fundamental. Lei n 9.394/96: estabelece as diretrizes e Bases da Educao Nacional. Braslia: MEC, 1996. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessrio a prtica educativa. 13. So Paulo, Paz e Terra, 1996. SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Cientfico. So Paulo: Cortez, 2007. TARDIF, Maurice. Saberes docentes e Formao Profissional 11 ed. Petrpolis. Rio de Janeiro. Vozes, 2010.
175
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
AS ATIVIDADES LDICAS E PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Maria Luciete dos Santos98 Francisco Mirtiel Frankson de Moura Castro 99
RESUMO Este trabalho teve por objetivo analisar a importncia da insero das atividades ldicas como fator articulador do ensino com a aprendizagem na perspectiva de licenciandos dos cursos de Pedagogia e Biologia da Faculdade de Educao de Itapipoca (Cear). Para elaborao desse estudo, dentre os autores estudados, citam-se: Brenelli, Santos e Cruz. O trabalho de cunho qualitativo e foi desenvolvido com licenciandos dos cursos de Biologia e Pedagogia, participantes de um minicurso com a temtica Ludicidade e o Ensino, onde foi aplicado aos sujeitos um questionrio como procedimento de coleta dos dados, enfatizando a relao entre o ldico e o ensino. A pesquisa revelou que os alunos identificam que a utilizao de atividades ldicas em sala contribui com o xito do trabalho do professor e proporcionar melhores condies de aprendizagem. Percebeu-se a importncia de trabalhar tais aspectos na formao do professor, no sentido de buscar metodologias de ensino que impliquem na apropriao do conhecimento por parte do aluno e facilite o trabalho docente. PALAVRAS-CHAVE: Atividades Ldicas. Ensino. Aprendizagem. Formao Docente INTRODUO O ensino uma atividade complexa que eleva o processo do conhecimento dos docentes e discentes, que no pode se restringir ao repasse de informaes ou apontar um caminho, o qual o professor considera o mais correto. Freire (2000) critica essa prtica transmissora, considerando-a como educao bancria, onde tende a apassivar ou domesticar o aluno. Educar auxiliar o aluno na tomada de conscincia de si prprio, dos outros e da sociedade, dispondo de ferramentas necessrias prtica de ensino, a fim de que o educando possa escolher entre vrios caminhos, aquele que for ajustvel a seus valores, sua viso de mundo e com as situaes adversas. Educar preparar o aluno para a vida. Os entraves encontrados no ensino precisam ser superados, no sentido de que a educao possa desenvolver o seu verdadeiro papel na sociedade, como formar cidadoas crticos. Brenelli (2008) ressalta que o fracasso escolar, os problemas na aprendizagem, a ineficcia do ensino e a
98 Graduada em Cincias Biolgicas, pela Universidade Estadual do Cear (UECE). E-mail: lucieteramos61@gmail.com 99 Mestrando em Educao Brasileira, pela Universidade Federal do Cear (UFC). Email: mirtiel_frankson@yahoo.com.br
176
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
formao precria dos professores constituem uma realidade desafiadora para os educadores. Esta autora ainda destaca que quando os resultados escolares se mostram insuficientes, devido existncia de algumas carncias no desenrolar do processo pedaggico. Percebe-se a grande responsabilidade do professor perante o processo de ensino e aprendizagem. O ensino configurado como um dos trabalhos mais complexos e responsvel pela formao cidad, fato que exige de seu promotor, o professor, formao adequada do ponto de vista terico e prtico, enquanto facilitador do conhecimento. Dessa forma, o educador deve estar em constante busca de inovao de suas prticas pedaggicas, as quais despertem e estimulem o interesse dos alunos pelo aprendizado. Neste sentido, a insero de atividades ldicas pode ser visualizada como um importante recurso que contribuir com o trabalho do professor para enriquecer suas metodologias de ensino. Assim, o ldico poder facilitar tambm a assimilao e reconstruo do contedo por parte do aluno, auxiliando significativamente no processo de ensino e aprendizagem. Para Santos e Cruz (1997) a ludicidade tem conquistado espao, principalmente na educao infantil, por ser o brinquedo a essncia da infncia e seu uso possibilitar um trabalho pedaggico que proporciona a produo do conhecimento. Nessa perspectiva, torna-se necessrio inserir nos currculos dos cursos de formao de professores, disciplinas que valorizem o ldico, j que essa pode ser uma maneira dinmica de despertar o interesse dos alunos pelo aprendizado. Caracterizadas como atividades ldicas, existem vrios tipos de recursos de ensino, como jogos didticos, brinquedos educativos, entre outros. Supe-se que com o uso dessa modalidade, o aluno aprender de forma mais prazerosa, haja vista, que se aprende brincando e acabar descobrindo valores que muitas vezes ele prprio desconhece, bem como, ser criativo, ousado e dinmico, aprimorando, assim, a sua vida na sociedade. Partindo do exposto, este trabalho teve por objetivo analisar a importncia da insero das atividades ldicas como fator articulador do ensino com a aprendizagem na perspectiva de licenciandos dos cursos de Pedagogia e Biologia da Faculdade de Educao de Itapipoca (Cear). O interesse por este estudo nasceu da seguinte inquietao: qual a importncia da insero das atividades ldicas como fator articulador do ensino com a aprendizagem na perspectiva de licenciandos dos cursos de Pedagogia e Biologia da Faculdade de Educao de Itapipoca (Cear)? A formao docente deve considerar diversos aspectos a serem experienciandos vividos pelo futuro professor no exerccio do magistrio, para que este no venha a sentir tantas dificuldades em sua vindoura prtica docente. Observa-se que em muitos ambientes acadmicos os professores em formao inicial relacionam com reduzida amplitude formao profissional e a ludicidade, no tendo um embasamento terico que permita compreender o ldico como um fator de desenvolvimento humano. Isso ocorre devido a ludicidade ainda no ser entendida como uma dimenso formativa importante, necessitando se encontrar articulada ao ensino. De acordo com Campos (1986), o ldico poderia ser a parte facilitadora da aprendizagem se o professor pudesse pensar e questionar-se sobre a forma de ensinar relacionando a utilizao do ldico como fator motivador de suas aulas. OBJETIVO GERAL
177
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Analisar a importncia da insero das atividades ldicas como fator articulador do ensino com a aprendizagem na perspectiva de licenciandos dos cursos de Pedagogia e Biologia da Faculdade de Educao de Itapipoca (Cear). METODOLOGIA O trabalho apresenta carter qualitativo e teve como procedimento metodolgico a elaborao e aplicao de um questionrio a um grupo de 20 alunos, envolvendo licenciandos do curso de Pedagogia e Biologia da Faculdade de Educao de Itapipoca (FACEDI), unidade da Universidade Estadual do Cear (UECE). O procedimento de coleta de dados foi aplicado aps a participao dos sujeitos em um minicurso que focava as atividades ldicas no ensino, ministrado por estudantes do curso de Biologia. O questionrio contemplou apenas trs questes subjetivas, as quais buscaram saber dos licenciandos as suas concepes acerca da modalidade didtica, atividades ldicas no ensino e se esta prtica contribuiu para a sua formao inicial docente. Marconi e Lakatos (1999) apontam o questionrio como sendo um instrumento desenvolvido cientificamente, estruturado por perguntas ordenadas de acordo com um critrio predeterminado, o qual deve ser respondido sem a presena do entrevistador. Pereira (2008) ressalta que o questionrio busca os fatos observados, opinies sobre os acontecimentos, sobre os outros e a prpria pessoa. DISCUSSO DOS RESULTADOS O procedimento realizado para a anlise dos dados teve como base as respostas ao questionrio dos participantes que estiveram presentes no minicurso. As questes trouxeram como foco a contribuio que as atividades ldicas podem trazer para o processo de ensino e aprendizagem. Em relao aos dados obtidos sobre a importncia das atividades ldicas para o ensino e para o aprendizado no mbito escolar observou-se que os participantes avistam na atividade ldica uma forma divertida de aprender, fazendo com que professores e alunos se desvinculem de prticas tradicionais de ensino e vivenciem atividades que visem criatividade, cooperao, o movimento, a comunicao e o trabalho em equipe. Dessa forma, os licenciandos esto de acordo com Cunha (2007), quando o autor expe que o estmulo aos processos criativos e a manuteno do prazer na criatividade so princpios importantes no processo educacional. Na pergunta foi abordado se os licenciandos j utilizaram essa metodologia de ensino ou se demonstram interesse em utiliz-la, isto , se consideram a modalidade ldica vivel como recurso necessrio em sua prtica pedaggica, a maior parte dos respondentes afirmou que ainda no foi possvel utilizar pelo fato de ainda no estarem exercendo a docncia em sala de aula. Mas, entretanto, consideram de suma importncia, pois poder contribuir para a constituio do conhecimento, enfatizando que as atividades ldicas no substituem outros mtodos de ensino, e sim, so suportes metodolgicos para o professor, alm de motivarem os alunos. Rizzi e Haydt (1994) consideram que atravs do ldico o professor reconhece que o aluno tem uma postura ativa em sala de aula, onde a espontaneidade e criatividade so bastante estimuladas.
178
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O questionrio tambm buscou saber dos participantes se o minicurso ministrado lhes proporcionou algum aprendizado para sua formao docente. Portanto, todos afirmaram que essa vivncia funcionou como um momento de formao bastante enriquecedor, permitindo novos conhecimentos acerca da prtica docente, ainda promoveu uma interao entre todos os licenciandos participantes dos cursos de Pedagogia e Biologia que buscam objetivos comuns, tornarem-se professores bem formados e informados. Dada complexidade do trabalho do professor, torna-se necessrio que este ainda em fase de formao inicial desfrute de uma diversidade de momentos formativos que lhes auxiliem na instituio da profisso. preciso, portanto, que as agncias formadoras de professores percebam a complexidade da formao e da atuao desse profissional GHEDIN; ALMEIDA; LEITE, 2008, p. 24). importante que o licenciando vivencie esses momentos formativos, pois quanto vivenciar a sua ludicidade maior ser a chance deste profissional trabalhar com a criana de forma prazerosa e consciente, manifestando aberturas prticas inovadoras. Tal formao permite ao educador conhecer suas possibilidades e limitaes, tendo viso clara sobre a necessidade da insero do ldico nas aulas como forma de facilitar aprendizados. Nessa perspectiva, Borba (2007, p. 34) trs um questionamento nossas prticas pedaggicas tem conseguido incorporar o brincar como dimenso cultural do processo de constituio do conhecimento e da formao humana?. Com base na leitura e anlise dos dados foi possvel se ter uma melhor compreenso a respeito das ideias dos licenciandos quanto utilizao de atividades ldicas em sala de aula, revelando que o ldico deve sim ser inserido no ensino como forma de estimular os alunos a aquisio do aprendizado. CONSIDERAES FINAIS Por meio da metodologia desenvolvida neste trabalho, tornou-se possvel concluir que os licenciandos dos cursos de Biologia e Pedagogia entendem a importncia da utilizao de atividades ldicas em sala de aula, na viso de que tal utilizao poder subsidiar no trabalho do professor, alm de proporcionar interesse no aluno para a aprendizagem. Os sujeitos participantes demonstraram-se incitados a trabalhar com o ldico quando estiverem exercendo a profisso docente, percebendo que essa metodologia de aula estimula o aluno e desenvolve sua criatividade. Diante dessas observaes, percebeu-se que o minicurso realizado contribuiu de forma satisfatria com a formao dos licenciandos participantes. Os licenciandos trazem consigo conhecimentos acerca das atividades ldicas e eles reconhecem a relevncia dessas prticas em suas vivncias profissionais. Conhecer o ldico significa ousar na criatividade, imaginao, no trabalho em grupo, e principalmente trazer para a sala de aula outras metodologias de ensino, fugindo do tradicionalismo. Por intermdio da pesquisa evidencia-se tambm a necessidade de se trabalhar a formao do professor, instigando-o a buscar metodologias de ensino que possibilitem uma maior apropriao do conhecimento por parte do aluno, o que tambm facilita o trabalho do professor. Assim, a formao do educador, ganharia em qualidade se fosse sustentada pela formao terica, pedaggica e com inovao
179
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
ldica, onde o formando pudesse articular a ludicidade ao ensino, a fim de que no futuro possa utiliz-la em suas metodologias de aulas, implicando diretamente na promoo do conhecimento. REFERNCIAS BORBA, A. M. O brincar como modelo de ser e estar no mundo. In: Ensino Fundamental de nove anos: orientaes para a incluso da criana de seis anos de idade. Braslia: Leograf-Grfica e Editora Ltda, 2007. 33-44p. BRENELLI, R. P. O jogo como espao para pensar: a construo de noes lgicas e aritmticas. 8. ed. Campinas, SP: Papirus, 2008. CAMPOS, D. M. S. Psicologia da Aprendizagem. 19. ed. Petrpolis: Vozes, 1986. CUNHA, N. H. S. Criar para Brincar. So Paulo: Aquariana. 2007. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessrios prtica educativa. So Paulo, Ed. Paz e Terra, 2000. GHEDIN, E. ; LEITE, Y. U. F.; ALMEIDA, M. I. de. Formao de Professores: caminhos e descaminhos da prtica. 1ed. Braslia. Liber Livro, 2008. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Tcnicas de pesquisa. So Paulo: Atlas, 1999. PEREIRA, P. A. O que pesquisa em educao? So Paulo: Editora Paulus, 2008. RIZZI, L.; HAYDT, R. C. Atividades Ldicas na Educao da Criana. So Paulo: tica, 1994. SANTOS, M. P.; CRUZ, D. R. M. O ldico na formao de educador. Petrpoles, RJ: Editora Vozes Ltda, 1997.
180
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O ESTGIO NA FORMAO DOCENTE: UM ESTUDO DA PROPOSTA PEDAGGICA DO CURSO DE HISTRIA DA UFC.
Jos Antonio Gabriel Neto100 Lus Tvora Furtado Ribeiro101
RESUMO O Estgio a parte prtica central dos cursos de formao de professores. O presente trabalho visa compreender como a legislao nacional e o currculo do curso de Histria da Universidade Federal do Cear (UFC) enxergam o Estgio Supervisionado. Utilizamos, como fonte, a nova legislao do Estgio, as Diretrizes Curriculares Nacionais para formao do profissional de Histria, o Projeto Poltico Pedaggico do curso de Histria (modalidade licenciatura) O local do estudo foi a Pr-Reitoria de Graduao e o Departamento de Histria da UFC. Encontramos que a legislao versa claramente sobre a questo do Estgio, porm, embora a UFC e o currculo da licenciatura em Histria fazem uma relao teoria-prtica nos estgios necessrio que o currculo seja reelaborado no sentido de pensar na articulao teoria-prtica, fundamental para a prtica do futuro professor. PALAVRAS-CHAVE: Estgio. Currculo. Formao Docente. Ensino de Histria. INTRODUO O Estgio sempre foi identificado como a parte prtica dos cursos de formao de profissionais (PIMENTA; LIMA, 2007). Todavia, na formao de professores, essa prtica nem sempre esteve aliada teoria. Principalmente quando do modelo 3 + 1, onde os trs primeiros anos eram dedicados ao estudo da teoria e, apenas no ltimo ano, o futuro professor ia para a chamada prtica de ensino. Durante as dcadas de 1980 e 1990, os currculos dos cursos de graduao foram duramente criticados, principalmente por sua rigidez, o que impossibilitava uma flexibilidade na construo da prtica docente. . (COELHO, 1999). Ficou evidente, assim, para o Governo Federal, atravs do Ministrio da Educao (MEC) a necessidade de renovao curricular e mudana da cultura escolar. Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), documentos que traziam orientaes para as construes curriculares dos cursos de graduao, deveriam possibilitar que as prprias instituies
100 Licenciado e Bacharel em Histria pela Universidade Federal do Cear. Mestrando em Educao pela UFC na linha Educao, Currculo e Ensino. E-mail: gabriel-neto87@hotmail.com 101 Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Cear. Professor Associado da Faculdade de Educao da UFC. Email: luistavora@uol.com.br
181
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
reformulassem seus currculos, permitindo, assim, que os cursos de formao possussem autonomia curricular. Atendendo s demandas de formao de professores surgidas na dcada de 1990, em virtude da relao do governo Fernando Henrique Cardoso com o Fundo Monetrio Internacional (FMI), foram promulgadas, em 2001, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Histria e, em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para formao de professores para a Educao Bsica. A legislao para estgio tambm foi modificada. A sua carga horria aumentou para 400 (quatrocentas) horas de estgio curricular supervisionado a partir do incio da segunda metade do curso. (BRASIL, 2002). Um elemento da mudana no estgio so as DCN dos cursos de Histria. De acordo com o documento:
O graduado dever estar capacitado ao exerccio do trabalho de Historiador, em todas as suas dimenses, o que supe pleno domnio da natureza do conhecimento histrico e das prticas essenciais de sua produo e difuso. Atendidas estas exigncias bsicas e conforme as possibilidades, necessidades e interesses das IES, com formao complementar e interdisciplinar, o profissional estar em condies de suprir demandas sociais especficas relativas ao seu campo de conhecimento (magistrio em todos os graus, preservao do patrimnio, assessorias a entidades pblicas e privadas nos setores culturais, artsticos,tursticos etc).(BRASIL, 2001).
O texto contempla o exerccio profissional do historiador, que deve estar preparado para os desafios que o mundo globalizado lhe impe. Trabalhar com novas tecnologias, estar preparado para o exerccio do magistrio em todos os graus, pesquisa e atuao em instituies diversas. Para Fonseca (2003), no entanto, os historiadores, de maneira geral, se preocupam com uma slida formao para a pesquisa em detrimento de uma formao voltada para o exerccio da profisso docente. Segundo a autora, o documento silencia quanto formao do professor de histria, no se preocupando com o ensino de histria no Brasil. Porm, o documento deixa bastante claro em vrias passagens quais devem ser os parmetros de formao para o licenciado:
Competncias e Habilidades B) Especficas para licenciatura a. Domnio dos contedos bsicos que so objeto de ensino aprendizagem no ensino fundamental e mdio; b. domnio dos mtodos e tcnicas pedaggicos que permitem a transmisso do conhecimento para os diferentes nveis de ensino. (BRASIL, 2001).
Assim, podemos afirmar que o documento no apenas demonstra preocupao com a formao do professor de histria, mas tambm explicita de que maneira os cursos de graduao devem preparar o historiador para a funo docente e, tambm, os estgios. O documento deixa claro quais so os saberes necessrios formao do professor. No entanto, as colocaes so vagas, permitindo uma variada gama de interpretaes.
182
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
OBJETIVO GERAL Identificar, a partir da proposta pedaggica do curso de Histria da Universidade Federal do Cear, se a proposta de estgio mostra articulao com a formao plena do professor de histria. METODOLOGIA Como metodologia, utilizamos, principalmente, a pesquisa documental, reviso bibliogrfica e subsequente anlise das DCN de histria e do PPP do curso de Histria da UFC. DISCUSSO DOS RESULTADOS Atendendo s novas demandas legais promulgadas pelo MEC em 2001, o curso de Histria da UFC, juntamente com todos os cursos de licenciatura da Universidade, comeam uma discusso para que as estruturas curriculares possam atender as exigncias propostas. Passos (2007) dispe sobre como essa discusso foi estruturada:
Depois da promulgao das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formao de Professores da Educao Bsica, em nvel superior, curso de licenciatura, de graduao plena, em 2002, os cursos de licenciatura da UFC comearam a se articular a fim de conhecer o seu contedo. A Coordenao das Disciplinas Pedaggicas das Licenciaturas, na gesto anterior, promoveu reunies e seminrios para esclarecimentos sobre o teor daquele documento legal. A maioria dos cursos de licenciatura j tinha iniciado de alguma forma debates sobre a reviso em suas estruturas curriculares, movida por diagnsticos que apontavam seus problemas e limitaes.
Em 2006 entrava em vigor o novo currculo do curso de Histria da UFC. A matriz curricular da licenciatura contava com quatro grandes unidades curricluares: Histria do Brasil, Histria Geral, Teoria e Metodologia da Histria e Prtica de Ensino de Histria O currculo est organizado, em termos de carga horria, da seguinte maneira: Total de 2800 (duas mil e oitocentas) horas distribudas em 8 (oito) semestres, sendo 1800 (mil e oitocentas) horas de contedo cientfico cultural, 400 (quatrocentas) horas de prtica como componente curricular, 400 (quatrocentas) horas de estgio supervisionado e 200 (duzentas) horas de atividades complementares. Pimenta e Lima (2007) alertam para o fato de que a distribuio das 2800 horas em estgios, prtica como componente curricular, contedo cientfico-cultural e atividades complementares acabam por fragmentar o currculo e perpetuar a separao teoria-prtica, desvalorizando o fazer-pensar. Assim, mantm-se o tradicional desprestgio rea de formao de professores. O Projeto Poltico Pedaggico apresenta uma discusso especfica sobre o Estgio, versando sobre a sua importncia na formao do professor de histria e, tambm, tecendo reflexes sobre como a prtica docente importante na vida do futuro professor. O projeto dispe:
Integrando a proposta pedaggica dos cursos de licenciatura e de carter obrigatrio o estgio supervisionado de ensino deve ocorrer a partir do quinto semestre do curso.
183
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Regulamentado pelo Parecer CNE/CP 28/2001 o estgio supervisionado, que deve perfazer um total de 400 horas, um importante momento da formao profissional do aluno por proporcionar a ele o exerccio de regncia de sala e outras atividades no espao da escola fundamentais para a construo de seu saber docente. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR, 2006).
Assim, o Estgio Curricular Supervisionado obedece ao parecer CNE 28/2001, que determina a carga horria dos cursos de licenciatura em todo o Brasil. Segundo o documento, a carga horria de Estgio dever ser de 400 horas. O curso de Histria da UFC obedece a esse dispositivo legal. Portanto, podemos entender que o Estgio cumpre suas funes formativas de maneira plena e satisfatria se levarmos em conta o PPP do curso de Histria. Analisando as ementas, percebemos que os dois primeiros estgios se dedicam ao Ensino de Histria no Ensino Fundamental. Os dois ltimos, ao Ensino de Histria no Ensino Mdio. Segundo o Projeto, o profissional licenciado em Histria deve estar habilitado a analisar o Projeto Pedaggico da escola, confeco e execuo de planejamento didtico-pedaggico e de outros aspectos como currculo, livros didticos, bibliotecas, hemerotecas, entre outros. As vivncias descritas devem ser feitas preferencialmente em instituies pblicas de ensino. Os alunos tem o auxlio do Departamento de Histria e do Laboratrio de Ensino de Histria (LEH). O Laboratrio dispe de mapas, livros e documentos que auxiliam na montagem e execuo dos planos de ensino propostos pelos licenciandos. No primeiro Estgio, o estudante dever acompanhar o Projeto Pedaggico da escola, acompanhar os diversos meios didticos como livros, tecnologias na educao, entre outros. Em um segundo momento, alm do acompanhamento na escola, o estudante deve elaborar um projeto sobre ensino de histria e desenvolv-lo nos estgios seguintes. Na terceira disciplina de estgio, o educando deve desenvolver uma pesquisa baseada no tema escolhido na disciplina anterior. Em todas existe a exigncia de um relatrio sobre as experincias vividas. No quarto e ltimo o estudante dever elaborar um trabalho de concluso de curso (TCC) que tem natureza monogrfica e tem de ser apresentado perante uma banca examinadora composta por um orientador, dois avaliadores e um suplente. CONSIDERAES FINAIS Podemos concluir ento que o Estgio um ponto importante na formao do professor de histria que conclu a sua graduao na Universidade Federal do Cear. Os Estgios tem a preocupao com a docncia e pesquisa, observando formar um professor que seja, ao mesmo tempo, pesquisador. Alm disso, o Estgio possibilita o desenvolvimento de atividades de gesto, pesquisa e ensino, permitindo uma gama maior de experincias ao futuro professor. A prtica de ensino , assim, elemento fundamental na construo da identidade do professor. Destacamos, ainda, a ligao que o estgio trs com os outros setores de estudo do curso, possibilitando, em teoria, uma formao integradora, o que, na prtica, no acontece. As
184
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
disciplinas de contedo histrico (histria do Brasil e geral) esto desconexas s tericometodolgicas. Assim, uma reforma curricular visando boa formao para ensino e pesquisa necessria. REFERNCIAS BRASIL, Ministrio da Educao. Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de Histria. Braslia: MEC, 2001. Disponvel em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf >. Acesso em: 16 de junho 2013. _________. Resoluo CNE /CP nmero 1. Braslia: MEC, 2002. Disponvel em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf >. Acesso em: 16 de junho 2013. <
COLHO, Ildeu Moreira. Do Currculo mnimo s Diretrizes Curriculares: A mudana necessria. Estudos, Braslia: v. 17, n. 25, p. 7-16, ago.1999. FONSECA, Selva Guimares. Como nos tornamos professores de Histria: A formao inicial e continuada. In: FONSECA, Selva Guimares. Didtica e Prtica de Ensino de Histria. Campinas: Papirus, 2009. PASSOS, Carmensita. Novos Projetos Pedaggicos para formao de professores: Registros de um percurso. Tese (Doutorado em Educao), Universidade Federal do Cear, 2007. PIMENTA, Selma; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estgio e Docncia. So Paulo: Cortez, 2007. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR, Departamento de Histria. Projeto Poltico Pedaggico do curso de Histria da UFC: Modalidade licenciatura. Fortaleza: Universidade Federal do Cear, 2006.
185
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
ESTRATGIAS DE INTRODUO FORMAO CONTINUADA EM CURRICULO E PLANEJAMENTO: EXPERINCIA FLMICA
Katyuska Melo Silva102
RESUMO Neste artigo so relatados os momentos iniciais de uma formao continuada para professores da rede pblica de ensino de uma cidade localizada no Vale do Jaguaribe CE. O tema principal era currculo e o objetivo era capacitar os participantes possibilitando-lhes uma compreenso mais abrangente do tema, bem como as aplicabilidades dessa teoria no seu cotidiano de trabalho. Como referencial terico, foram utilizadas a teoria crtica do currculo e a conceituao de currculo como uma construo social, como espao de contestao, como campo de possibilidades de resistncia ao que est posto na sociedade na qual ele est inserido. Para introduzir a temtica e levantar dados sobre o grau de conhecimento dos alunos acerca do do tema, alm de estimular uma discusso inicial, optamos por utilizar um filme chamado Aprovados que tem como plano de fundo o currculo e as diferentes concepes de quem o vivencia. Atravs das discusses incitadas pela exibio do filme observamos que apesar das diferentes formaes e nveis de conhecimento sobre currculo o mesmo pouco refletido e trabalhado enquanto instncia terica e campo de possibilidades de mudana no contexto do municpio atendido. Apesar desse atrofiamento da vivncia do currculo, foi possvel observar que era do interesse dos professores alunos romper com essas prticas descontextualizadas e utilizar os conhecimentos que viriam a ser adquiridos na construo de uma proposta curricular mais coerente com o contexto scio-econmico-cultural, no qual as escolas dos mesmos esto inseridas. PALAVRAS-CHAVE: Currculo. Formao de professores. Vale do Jaguaribe. INTRODUO No presente artigo relataremos a experincia vivenciada num curso de formao continuada para professores de um municpio do Vale do Jaguaribe CE. Alm de relatar o que foi vivenciado, explicitaremos os caminhos tericos percorridos para a execuo da formao e a resposta dos alunos ao que foi exposto. Em meados de 2011, fui convidada por uma empresa de assessoria pedaggica, localizada em Fortaleza, para compor uma equipe multidisciplinar constituda com o objetivo de realizar cursos de formao continuada para os professores da rede pblica de uma cidade localizada no Vale do Jaguaribe. A empresa em questo j trabalha com essas formaes h mais de dez anos e
Mestranda em Educao, Currculo e Ensino pelo Programa de Ps-Graduao em Educao Brasileira pela Universidade Federal do Cear. Bolsista CAPES/PROPAG. Graduada em Pedagogia tambm pela Universidade Federal do Cear. Email: katyuskamelo@gmail.com
102
186
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
tem sido constantemente contratada para formar equipes e fornecer essas formaes nos municpios do interior do estado. Fui procurada para integrar a equipe da formao acima citada atravs da indicao de uma colega formada em Letras que tambm presta servios a essa empresa. Como sou formada em Pedagogia e desenvolvi meus estudos durante e aps a graduao especialmente nas temticas relacionadas a currculo, ela me indicou e fui aceita. As formaes foram realizadas mensalmente durante o perodo de 12 meses e deveriam participar dos encontros os professores atuantes desde a educao infantil at o ensino fundamental. Cada disciplina/temtica possua um grupo prprio formado por 3 a 5 profissionais, dependendo da extenso de contedo que deveria ser trabalhado. A dinmica dos encontros consistia em aulas expositivas ministradas para grupos de professores da cidade divididos por sries ou disciplinas de atuao. A ideia que houvesse um rodzio entre professores formadores e professores alunos103. Integrei a equipe denominada como equipe pedaggica com mais duas colegas pedagogas de formao como eu. Dentre os temas que nos couberam, fiquei responsvel pelos contedos relacionados a currculo, focando nos conceitos de currculo e no planejamento escolar. Os encontros ocorreram de julho de 2011 a maio de 2012, durante um final de semana de cada ms, aos sbados e domingos, nos turnos manh e tarde. OBJETIVO GERAL Exposio dos pormenores da experincia de formao acima citada, observao da interao dos professores alunos com a temtica e anlise das discusses geradas atravs da metodologia escolhida. METODOLOGIA Aps o primeiro momento, no qual foi definido o recorte do tema currculo que seria trabalhado, partimos para o como trabalh-lo junto aos professores alunos, refletindo sobre quais seriam os mtodos de ensino utilizados, focando no mtodo e meio de ensino adotados para a aula inicial da formao. No caso da formao aqui explicitada, o contedo era currculo e os objetivos eram ampliar os conhecimentos dos professores alunos sobre o tema e auxili-los na utilizao do que fosse aprendido no seu cotidiano na escola. A temtica a ser trabalhada no era estranha aos participantes da formao. Mesmo que no conhecessem as vicissitudes que iramos abordar, eles as vivenciavam em seu cotidiano. Pensando nisso, decidimos que antes de qualquer introduo direta ao contedo iramos sondar os conhecimentos tericos e prticos que os professores alunos j possuam. De posse dessas consideraes, optamos por utilizar um filme como pontap inicial da discusso. O objetivo era que atravs da discusso dos temas exibidos no filme pudssemos
103 Durante a formao adotamos o termo professores alunos como forma de deixar bem claro que os participantes estavam ali como alunos, mas sem esquecer que eles tambm eram professores.
187
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
estimular os professores alunos a refletirem sobre suas impresses, consideraes e reflexes sobre currculo, bem como sondar o nvel de conhecimento acerca do tema. A utilizao do filme, uma forma mais ldica de meio de ensino, nos pareceu a melhor escolha porque abordaramos de forma mais leve o tema nesse momento inicial. Mas qual filme seria escolhido? O objetivo era instigar os professores alunos a discutirem, mas para isso seria preciso chamar a ateno deles. Reduzimos as possibilidades e optamos por um filme que fugia ao lugar comum dos filmes considerados didticos. O filme escolhido, um besteirol americano tpico, foi Aprovados, que possui uma premissa simples: um grupo de jovens americanos que por diferentes motivos no consegue ingressar nas sonhadas universidades e para evitar o constrangimento e reprovao dos pais decidem criar sua prpria universidade, na qual qualquer pessoa poderia se matricular. Num primeiro momento, o plano funciona e eles conseguem enganar seus pais, mas o que eles no esperavam que outras pessoas, acreditando na veracidade da universidade, resolvessem se matricular gerando uma situao totalmente inesperada pelo mentor da ideia, Bartleby Gaines. Para evitar que a farsa fosse descoberta, ele decide colocar em funcionamento a universidade de fachada. Todos fazem o que querem e escolhem os cursos que desejam frequentar. Cada disciplina anotada em um grande mural no centro da universidade e com o dinheiro das inscries Bartleby financia os elementos necessrios para a realizao das aulas. Os cursos vo de estilismo a meditao, de coqueteleria a como explodir coisas com a mente. Mas nem tudo so rosas. Quando a farsa descoberta e o ministrio da educao resolve fechar a universidade, inicia-se uma batalha dos alunos com as autoridades para manter a escola funcionando. DISCUSSO DOS RESULTADOS Para a formao inicial foram necessrios 3 fins de semana para trabalharmos o filme e as primeiras noes de currculo com todos os grupos de professores. Cada grupo recebeu a formao inicial durante um dia, pela manh houve as apresentaes iniciais, explicitao de um quadro geral do que iramos trabalhar ao longo da formao e a exibio do filme; durante a tarde realizamos a discusso sobre o filme e sobre o currculo. Essa disposio das aes foi bastante vlida porque no perodo da tarde o calor nas salas e a sonolncia ps-almoo foi aplacada pelo carter mais dinmico da programao estipulada para esse perodo. Aps a exibio do filme e a volta do almoo as discusses foram iniciadas. De modo geral, num primeiro momento, os professores fizeram comentrios sobre o filme em si e seus detalhes, apontando o que haviam achado interessante. Provavelmente pelo contexto de formao no qual estavam inseridos, esse momento de generalidades deu lugar a discusses mais voltadas para a temtica da formao e foram apontados os elementos j esperados quando optamos por esse filme: a liberdade dos alunos para escolher as aulas, o currculo livre das obrigaes legais, a batalha para permitir a execuo desse tipo de formao, entre outros. Alm desses pontos, tambm foram destacados a falta de flexibilidade das autoridades, os processos seletivos para ingresso nas universidades, o ENEM, o endurecimento das disciplinas, por exemplo.
188
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Nesse momento de discusso mais embasada teoricamente, ficou claro que os professores com formao em pedagogia utilizavam termos que iam alm do senso comum, citando autores e denominaes conceituais. Os licenciados, apesar da falta de conhecimentos mais abrangentes, conseguiram acompanhar o nvel da discusso e fizeram apontamentos interessantes. Em todos os grupos houveram comparaes com a realidade na qual eles esto inseridos e ficou claro que currculo na prtica era apenas o conjunto de regras e contedos que cabia a eles praticar e ensinar em sala de aula, no haviam momentos de discusso e melhoria do currculo. Muitos afirmaram que acreditavam que essa formao era justamente para auxili-los na compreenso do currculo e para apreenso de ferramentas tericas com o intuito de elaborar propostas curriculares para as escolas do municpio. Optamos por no interromper em demasia as falas e por no introduzir imediatamente muito contedo terico. O objetivo era observar o que eles sabiam, nossas intervenes se resumiram a colocaes para estimular a discusso, complementos tericos das falas dos professores e direcionamentos para no fugir do escopo da atividade. Diante da reao dos professores alunos ao filme e os comentrios gerados, ficou claro que ao optarmos por um filme foi possvel abordar as questes relacionadas ao currculo de forma mais ampla, permitindo que eles apresentassem diversas opinies e experincias atravs das situaes presentes nesse filme em especfico. Ou seja, o filme nos proporcionou o que espervamos: sondar os conhecimentos dos participantes sobre currculo e conhecer um pouco, mesmo que de forma indireta, a realidade na qual eles trabalham em seu dia-a-dia nas escolas do municpio. CONSIDERAES FINAIS Nesse primeiro momento de formao, acima explicitado, nos ficou claro que os professores possuam pouca autonomia no seu trabalho docente, pois as aulas so organizadas de acordo com o que est presente no livro didtico adotado, livro esse que, na maioria das vezes, no escolhido pelos professores que iro com ele trabalhar diariamente. Apesar dos conhecimentos prvios sobre a temtica trabalhada, era perceptvel a falta de ligao entre teoria e prtica. Os professores no enxergavam como poderiam aplicar esses conhecimentos em seu cotidiano e essa aplicabilidade no era estimulada pela administrao escolar de cada escola e do municpio como um todo, fato que nos foi explicado pelos prprios professores. Segundo eles, boa parte das formaes era apenas para cumprir as determinaes do governo, mas o que era ali aprendido dificilmente era aplicado no cotidiano escolar, pois no havia autonomia deles para mudar as determinaes da prefeitura. Mas era notvel que os professores presentes compareceram no s por ser obrigatrio, mas porque acreditavam que com a formao eles poderiam melhorar o seu trabalho em sala de aula e tornar o processo de ensino-aprendizagem bem mais acessvel e interessante para seus alunos. Esse primeiro momento foi importante para que estabelecssemos o nvel dos professores alunos sobre a temtica, o grau de envolvimento deles com a formao e as caractersticas gerais do contexto no qual eles esto inseridos, elementos necessrios para as nossas futuras intervenes.
189
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Toda a experincia foi extremamente enriquecedora. Trabalhar o currculo e suas teorias de extrema valia para a formao de qualquer educador. Em especial para educadores como os participantes da formao, que muitas vezes sentem-se acorrentados ao livro didtico e ao que a prefeitura da cidade permite ou no. A eles no permitido exercer na prtica sua autonomia. Mas admirvel notar que mesmo no tendo certeza de que podero utilizar empiricamente o que lhes apresentado nas formaes, eles no deixam de comparecer, h neles uma vontade de aprender que nem mesmo os grilhes do burocratismo podem acabar. Conclumos que, alm da importncia da prpria formao no quesito ampliao dos conhecimentos, tambm importante analisar o pblico para quem ela est sendo aplicada e como podemos auxili-los a efetivamente utilizar o que est sendo ensinado. REFERNCIAS APPLE, M. W. Ideologia e Currculo. Porto Alegre: Artmed, 2006. GOODSON, I. F. Currculo: Teoria e Histria. Petroplis, RJ: Vozes editora, 1998. LIBNEO, J. C. Didtica. So Paulo: Cortez Editora, 2008. MOREIRA, A. F. e SILVA, T. T. da. Sociologia e Teoria Crtica do Currculo: uma introduo. In. MOREIRA, A. F. e SILVA, T. T. da. et al. Currculo, Cultura e Sociedade. So Paulo: Cortez, 1995. PASSOS, C. M. B. Currculo como Construo Social. Nota de aula, s/d. PASSOS, C. M. B. Novos projetos pedaggicos para formao de professores: registros de um percurso.Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Cear, Faculdade de Educao, FortalezaCE, 2007. SACRISTN, J. C. O Currculo: uma reflexo sobre a prtica. Porto Alegre: Artmed, 2008. SILVA, T. T. da. Documentos de Identidade: Uma Introduo s Teorias do Currculo. Belo Horizonte, MG: Autntica editora, 2011. Filme: Aprovados (Accepted). Dirigido por Steve Pink, escrito por Adam Cooper. Estrelado por Justin Long. Ano de lanamento: 2006. Link: http://www.imdb.com/title/tt0384793/
190
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
A FORMAO INICIAL DO PROFESSOR PEDAGOGO PARA A EDUCAO INCLUSIVA: UM ESTUDO BIBLIOGRFICO
Ana Larisse do Nascimento Maranho104 Milene Kinlliane Silva Oliveira105
RESUMO A proposta da escola numa perspectiva inclusiva tem enfrentado inmeros desafios. A par desta realidade, a formao inicial do professor pedagogo, que atuar neste contexto, um tema pertinente; portanto, objetivamos refletir sobre a formao inicial destes profissionais para atuar em um ensino que se prope inclusivo. Para tanto, nosso estudo insere-se numa abordagem qualitativa e caracteriza-se por ser um estudo bibliogrfico. Em nossa pesquisa, reconhecemos a relevncia da formao inicial para a futura atuao profissional do pedagogo, pois esta primeira formao acadmica, apesar de no ser a salvadora de todos os futuros problemas a serem enfrentados por estes educadores, tem um papel fundamental no que se refere, por exemplo, ao esclarecimento, compreenso de conceitos, preconceitos, apreenso de conhecimentos imprescindveis para atuar em um contexto escolar inclusivo, baseada em uma formao crtica, reflexiva, respaldada pela e na prxis. Assim, o professor pedagogo pode no ter todas as respostas, o caminho a ser seguido, pode, ainda, continuar com suas inseguranas, mas ter condies, subsdios para prosseguir em sua prtica docente a partir do que apreendeu terica e praticamente na graduao e ter como pressupostos essenciais o dilogo e a pesquisa como suportes para que possam auxili-lo na dinmica escolar, que por no ser esttica requer toda este investimento em formao docente, o qual deve ser contnuo. PALAVRAS-CHAVE: Educao Inclusiva. Formao inicial de professores. Prtica docente. INTRODUO H muito se fala de incluso como uma nova perspectiva educacional, que visa possibilitar a incluso de sujeitos com necessidades educacionais especiais em turmas do ensino regular. Embora esta nova viso esteja sendo proposta como padro para o ensino pblico e privado brasileiro, ainda h uma srie de discusses que envolvem o tema. Entre estas, destacamos a formao inicial do profissional docente, o qual ir desenvolver um papel de suma importncia neste contexto de escola inclusiva, posto que ele tenha o papel primeiro de levar uma educao formal ao indivduo com necessidades educacionais especiais.
104
Pedagoga. Acadmica do curso de especializao em Psicopedagogia Clnica e Institucional UVA. E-mail: analarissedonascimento@ymail.com 105 Pedagoga. Mestranda em Educao do Programa de Ps-Graduao em Educao da Universidade Estadual do Cear PGE/UECE. E-mail: kinlliane@yahoo.com.br
191
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
OBJETIVO GERAL No presente estudo, temos como objetivos refletir sobre a formao inicial de pedagogos para atuar em um ensino que se prope inclusivo e a sua relevncia para a futura atuao profissional do pedagogo em sala de aula. METODOLOGIA O presente estudo tem como objetivo principal refletir sobre a formao inicial de pedagogos para atuar em um ensino que se prope inclusivo, para tanto indicamos como aspectos metodolgicos norteadores desta, a abordagem qualitativa e o estudo bibliogrfico. A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (1994, p. 21),
responde a questes muito particulares. Ela se preocupa, nas cincias sociais, com um nvel de realidade que no pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspiraes, crenas, valores e atitudes, o que corresponde a um espao mais profundo das relaes, dos processos e dos fenmenos que podem ser reduzidos operacionalizao de varveis.
Assim, a pesquisa qualitativa nos d, por isso, subsdios para envolver nossa temtica em um contexto que busque refletir sobre os achados bibliogrficos pertinentes a temtica em questo a formao inicial de professores no mbito da perspectiva inclusiva. Neste sentido, ratificamos que a presente proposta sustenta-se num estudo bibliogrfico, o qual envolve os seguintes temas: Educao Inclusiva, Formao Inicial de Professores e Prtica Docente. DISCUSSO DOS RESULTADOS O processo histrico que envolve a perspectiva da Educao Inclusiva permeia a luta de vrios movimentos sociais pela igualdade de direitos promovidos por "setores" da sociedade considerados minorias. As ltimas quatro dcadas do sculo XX foram marcantes para o processo de construo e disseminao do ideal de educao inclusiva, principalmente, no perodo da dcada de 1990, quando movimentos iniciados na Europa como a Liga Mundial pela Incluso, a Liga Internacional pela Incluso do Deficiente Mental (atualmente Inclusion Internacional) e a Conferncia Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada em Salamanca no ano de 1994, deram impulso formulao de polticas governamentais de carter internacional e nacional que dessem destaque ao ensino regular de carter inclusivo, incentivando a no excluso de crianas com necessidades educativas especiais (NEEs), em ambientes especializados (MASINI apud VOIVODIC, 2004). Deste modo, importante destacarmos a diferena entre incluso e integrao, visto que a caracterizao de uma escola que seja realmente inclusiva gira em torno de uma srie de posies que a instituio e seus profissionais devem seguir. Alguns colocam estes termos como sinnimos, contudo, ao nos depararmos com uma viso pedaggica, nota-se uma diferena bsica, a qual caracterizada, como cita Voivodic (2004), por diversos autores, como Dens, Mantoan, Bueno e Mrech, que concebem a integrao como um modelo mais restritivo de insero educacional e
192
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
social e cujo enfoque recai sobre as dificuldades do portador de deficincia. Ao contrrio desta perspectiva, a abordagem inclusiva objetiva a total incluso da pessoa com deficincia tanto no meio social, quanto no educacional, procurando voltar seu foco para as potencialidades de cada indivduo. Ou seja, na concepo integracionista, o aluno quem tem de se adaptar escola, enquanto na abordagem inclusiva a escola quem deve atender e suprir as necessidades dos alunos. A partir da definio dos reais significados dos termos incluso e integrao, percebemos que embora ainda se faa uma constante confuso entre estes, h de se deixar claro que nossa postura investigativa encontra respaldo nos paradigmas da incluso e no da integrao; posto que para ns, como educadores, de crucial relevncia a adaptao de nossas prticas e aes educativas para a real e efetiva aprendizagem de todos os indivduos que estejam em sala de aula, tenham estes ou no necessidades educativas especiais (NEEs). Tendo em vista a perspectiva inclusiva, cabe a ns refletir sobre a questo da formao inicial do professor: Ser que os cursos de graduao em Pedagogia tm preparado seus discentes para uma educao inclusiva? Como se forma o profissional docente para atuar na escola inclusiva? Ser que o aluno, futuro educador, se sente preparado para atuar em uma escola inclusiva? Precisamos evidenciar e ressaltar que
O estudante de Pedagogia trabalhar com um repertrio de informaes e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos tericos e prticos, cuja consolidao ser proporcionada no exerccio da profisso, fundamentando-se em princpios de interdisciplinaridade, contextualizao, democratizao, pertinncia e relevncia social, tica e sensibilidade afetiva e esttica. (BRASIL, 2006, p. 01).
Podemos perceber que, j no perodo de sua formao inicial, o professor pedagogo dever adquirir conhecimentos tericos e prticos, os quais devem ser vivenciados ao longo dos anos relativos graduao e consolidados no exerccio de sua profisso. Partindo deste aspecto, supomos que, durante seu percurso formativo, o futuro educador dever apreender as bases que sustentaro seu fazer docente. Contudo, Freire e Therrien (2008) apontam que muitos professores, em incio de carreira, no tm clareza de seu fazer docente. Em consonncia com tal colocao, Paganini (2012, p. 02) afirma que [] comum profissional em incio de carreira apresentar certa insegurana, mas no caso do professor esta insegurana traz consequncias que muitas vezes so irreversveis. Dessa forma, como destacam os autores supracitados e corroborando com os mesmos, devemos reconhecer esse universo de incertezas, insegurana e amadurecimento referente epistemologia do conhecimento educacional, pedaggico e cientfico que perpassa a formao inicial dos licenciandos, os quais, muitas vezes, baseiam-se somente nos discursos dos outros colegas, ou em suas prprias prticas escolares. No entanto, este reconhecimento deve ser propiciador e fomentador de discusses, reflexes e vivncias que estimulem a apropriao significativa dos conhecimentos apreendidos no mbito acadmico, a curiosidade epistemolgica, como destaca Freire (1996), por exemplo. imprescindvel que a relao estabelecida, na
193
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
universidade, entre educadores e educandos seja dialgica e que estes sujeitos se assumam epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 1996, p. 96). Neste sentido, Freitas (2008) coloca que
[...] a formao inicial dos professores precisa ser repensada, em seus diferentes nveis, para que possam ser formuladas e encontradas solues compatveis com a urgente necessidade de melhoria das propostas educativas de nossas escolas, para ento podermos falar de uma Educao para Todos. [...]. (FREITAS, 2008, p. 20).
Assim, o repensar, avaliar, refletir sobre os sentimentos, concepes e experincias dos discentes sero significativas prticas em sua futura prtica profissional, os quais tero que atuar em um ambiente escolar de incluso que no prescinde de receitas, mas de sujeitos comprometidos com uma prtica docente de qualidade, incluso, pesquisa e comprometimento. Para Cardoso (2004, p. 24) o processo inclusivo pode significar uma verdadeira revoluo educacional e envolve o descortinar de uma escola eficiente, aberta, comunitria, solidria e democrtica onde a diversidade nos induz a ir alm da integrao para alcanar a efetiva incluso. Para ns, esta revoluo educacional apontada por Cardoso (2004) comea antes de tudo nas mudanas polticas iniciadas na dcada de 1990 e vem tomando flego com outras iniciativas de cunho social, como o caso de movimentos sociais em defesa de uma escola de qualidade que atenda a toda populao sem distino de credo, cor, religio, ou deficincia. A educao, que almejamos, perpassa s mudanas sociais, atitudinais, ideolgicas e tambm polticas, as quais se caracterizam e vem se caracterizando pela promoo da igualdade de condies de acesso e permanncia na escola regular. Mas, indo alm, a incluso precisa tambm de compromisso, um compromisso que de todos, do professor, como agente direto de promoo de educao; da famlia, como instituio social primeira da qual o indivduo participa; social, em consonncia com o advento de uma sociedade, que no seja s idealizada, mas sim uma realidade concreta, melhor organizada poltica, social e economicamente, mais justa e equnime, pela busca de uma real educao de todos, para todos. Neste sentido, a formao dos professores e seu desenvolvimento profissional so condies necessrias para que se produzam prticas integradoras positivas nas escolas. (MARCHESI, 2004, p. 44). Indo alm,
Articular as temticas formao docente, diversidade e incluso torna-se uma tarefa desafiadora quando a sociedade e o sistema escolar buscam meios de garantir a todos o cumprimento dos direitos e deveres previstos constitucionalmente. (FREITAS, 2008, p. 19).
A formao do educador , por isso, de vital importncia, pois este ir interferir diretamente no ambiente escolar, devendo promover e facilitar relaes de cooperao entre a instituio educativa, a famlia e a comunidade (BRASIL, 2006, p. 2). necessrio ainda que professores e tcnicos detenham um slido embasamento terico que permita ponderar a heterogeneidade da clientela. (DESPROPPER & VAYER; ROSA apud ALENCAR, 2002).
194
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Duas questes que aparecem como primordiais para que ocorra a promoo de uma poltica para a educao inclusiva: a primeira seria a adoo de atitudes sistemticas e de servios; e a outra, a formao mais adequada de nossos educadores (MENDES, 2002). No que trata da formao de educadores, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formao de Professores da Educao Bsica
define que as instituies de ensino superior devem prever, em sua organizao curricular, formao docente voltada para a ateno diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades sobre as necessidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. (MEC/SECADI, 2008, p. 11).
Assim, de responsabilidade das instituies de ensino superior a promoo da formao inicial do professor, garantindo uma formao de qualidade, contextualizada, baseada tambm na perspectiva inclusiva, considerando todo o movimento dinmico de prxis que perpassa a formao docente. CONSIDERAES FINAIS Formar profissionais docentes para atuar em um contexto de educao inclusiva uma realidade premente, a qual permeada por debates intensos e inmeros desafios. O educador no nasce pronto, mas se forma em um processo contnuo de formao, atuao profissional e construo de uma identidade profissional. E a formao inicial tem um papel fundamental e o dever de contribuir com a formao dos futuros educadores, os quais devero lidar com a incluso. Por isso, a necessidade de romper com as concepes equivocadas, romnticas, salvficas, ou demasiadamente pessimistas, por exemplo, acerca do que incluso e de como devemos atuar. Na verdade, devemos reconhecer que a formao inicial no ser a salvadora dos desafios inerentes formao docente e que esta, apesar de fundamental, no a nica responsvel pelos males educacionais, ademais pelas prticas inclusivas. No entanto, ela imprescindvel para a formao do professor para que seja um eterno aprendiz, pesquisador de sua prtica e comprometido com a qualidade educacional. REFERNCIAS ALENCAR, M. L. Alunos com necessidades educacionais especiais: anlise conceitual e implicaes pedaggicas. In: MAGALHES, R. C. B. P. (Org.). Reflexes sobre a diferena: uma introduo educao especial. Fortaleza: Edies Demcrito Rocha, 2002. BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduao em Pedagogia, licenciatura. Resoluo CNE/ CP 1/2006. Dirio Oficial da Unio, Braslia. 15 de maio de 2006. Disponvel em: < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf >. Acesso em: 15. set. 2012. CARDOSO, M. S. Aspectos histricos da educao especial: da excluso incluso uma longa caminha. In: STOBUS, C. D.; MOSQUERA, J. J. M. (Org.). Educao especial: em direo educao inclusiva. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. p. 15-26 FREIRE, L. A.; THERRIEN, J. Elementos para a anlise do trabalho docente do profissional de ensino superior com formao de bacharelado. In: I Colquio Internacional sobre Ensino Superior, 2008, Feira de Santana. I Colquio Internacional sobre Ensino Superior. Feira de Santana: UEFS, 2008. v. 1. p. 1-10.
195
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessrios prtica educativa. 13 ed. So Paulo: Paz e Terra, 1996. FREITAS, S. N. Sob a tica da diversidade e da incluso: discutindo a prtica educativa com alunos com necessidades educacionais especiais e a formao docente. In: FREITAS, S. N. (Org.). Tendncias contemporneas de incluso. Santa Maria: Editora da UFSM, 2008. v. 1. p. 19-30. MARCHESI, . A prtica das escolas inclusivas. In: COLL, C.; MARCHESI, .; PALACIOS, J. Desenvolvimento psicolgico e educao: transtornos de desenvolvimento e necessidades educativas especiais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. v. 3 MENDES, E. G. Alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular. In: MAGALHES, R. C. B. P. (Org.). Reflexes sobre a diferena: uma introduo educao especial. Fortaleza: Edies Demcrito Rocha, 2002. MINAYO, M. C. S. Cincia, tcnica e arte: o desafio da pesquisa social. In: MINAYO, Maria Ceclia de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, mtodo e criatividade. 24. ed. Petrpolis, RJ: Vozes, 1993. (Coleo Temas Sociais) PAGANINI, E. L. Superando (in)seguranas no incio de carreira docente. In: IX ANPED Sul. Seminrio de Pesquisa em Educao da Regio Sul. 2012. Disponvel em: < http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/208/487 >. Acesso em: 15. set. 2012. VOIVODIC, Maria Antonieta M. A. Incluso escolar de crianas com sndrome de Down. 2. ed. Petrpolis, RJ: Vozes, 2004.
196
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
SABERES DOCENTES: DILOGOS COM A FORMAO E O TRABALHO DE PROFESSORES
Francisco Mirtiel Frankson Moura Castro106 Bernadete de Souza Porto 107
RESUMO Este texto tem o objetivo analisar os saberes docentes importantes para a formao e o trabalho dos professores. Ressalta-se que no h o intuito de esgotar as discusses sobre esta temtica. Este estudo partiu da seguinte inquietao: que saberes docentes so importantes para a formao e o trabalho dos professores? Este estudo fruto de um recorte da fundamentao terica da pesquisa de mestrado do Programa de Ps-Graduao em Educao Brasileira, da Universidade Federal do Cear, que analisa que saberes da experincia explicitados na interao professor-aluno possibilitam a formao contnua docente. Dentre os referenciais tericos, so utilizadas as reflexes de Farias, Freire, Pimenta, Tardif, Therrien, Mamede, Loiola e Veiga. Esta investigao adota como mtodo de estudo o materialismo histrico-dialtico, orientada pela abordagem qualitativa e tem como suporte a reviso bibliogrfica. Evidencia-se que os saberes docentes so importantes para a formao e para a prtica de ensino dos professores. Ao longo de sua formao o professor tem a possibilidade de apreender e constituir vrios saberes relevantes para a prxis educativa. PALAVRAS-CHAVE: Saberes Docentes. Formao de Professores. Trabalho Docente. INTRODUO Em virtude do papel que o professor desempenha na sociedade, defende-se a necessidade de que ele disponha de formao de qualidade e permanente, pois isso imprescindvel para que ele venha a cumprir com xito o seu trabalho, que consiste, dentre outras dimenses, na transmisso, reestruturao e construo de conhecimentos com os educandos. Conforme expe Tardif (2002, p.31), [...] parece banal, mas um professor , antes de tudo, algum que sabe alguma coisa e cuja funo consiste em transmitir esse saber a outros. [...]. Para que ele possa alcanar a perspectiva exposta, fundamental ainda que a sua formao seja pautada no domnio de diferentes conhecimentos de seu campo profissional, os quais so entrelaados e associados aos saberes constitudos em sua prtica de ensino. Frente a isso, defende-se que a docncia , portanto, uma atividade profissional complexa, pois requer saberes diversificados. Isso significa que os saberes que do sustentao docncia exigem uma formao profissional numa perspectiva terica e prtica. (VEIGA, 2009, p.20).
106 Mestrando em Educao Brasileira, pela Universidade Federal do Cear (UFC). E-mail: mirtiel_frankson@yahoo.com.br 107 Doutora em Educao Brasileira, Professora do Departamento de Teoria e Prtica de Ensino da Universidade Federal do Cear (UFC). E-mail: bernadete.porto@gmail.com
197
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Em adio ao exposto, Passos (2004, p.80) revela que pelas caractersticas aqui apresentadas, percebemos que o exerccio da profisso docente se caracteriza pela pluralidade de saberes e experincias para seu desempenho. [...]. Sendo assim, a formao do professor cercada de diferentes saberes, que provm de contextos diversos, tanto do mbito acadmico quanto das experincias equalizadas no exerccio do magistrio, os quais contribuem indubitavelmente com o seu desempenho profissional. O domnio destes vital para a constituio de sua identidade e profissionalizao, dada a complexidade e natureza de suas atividades profissionais, porque a docncia um trabalho de humano e com humano na mediao de saberes: ou seja, essencialmente um processo de interao entre 3 plos: o docente, os alunos e a matria de ensino. (THERRIEN; MAMEDE; LOIOLA, 2007, p.123). Partindo do exposto, expe-se que este texto tem o propsito de discutir a temtica saberes docentes, a fim de analisar os saberes docentes importantes para a formao e o trabalho dos professores, dando conta de caracteriz-los e categoriz-los, sem o intuito de esgotar as discusses sobre esta temtica, em virtude do que pode vir a ser analisado neste campo de conhecimento que bastante amplo e necessita aprofundamento posteriores. Este estudo almejou responder a seguinte inquietao: que saberes docentes so importantes para a formao e o trabalho dos professores? Esta produo se constitui em recorte da fundamentao terica de uma pesquisa de mestrado, que objetiva analisar que saberes da experincia explicitados na interao professoraluno possibilitam a formao contnua docente, realizada no Programa de Ps-Graduao em Educao Brasileira, da Universidade Federal do Cear (UFC), entre os anos de 2011 e 2013. Em continuidade, destaca-se que o saber do professor plural, porque [...] formado de diversos saberes provenientes das instituies de formao, da formao profissional, dos currculos e da prtica cotidiana, o saber docente , portanto, essencialmente heterogneo. (TARDIF, 2002, p.33). Por outro lado, Pimenta (2009, p.30) argumenta que a formao passa sempre pela mobilizao de vrios tipos de saberes: saberes de uma prtica reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma militncia pedaggica. [...]. Ento, o ensino exige o domnio de diferentes saberes, os quais so relevantes para a constituio da prxis educativa. Todos os saberes so importantes para a constituio da identidade e prtica docentes, por isso, nenhum deles precisa ser supervalorizado ou marginalizado no campo educacional e, especificamente, no exerccio do magistrio. OBJETIVO GERAL Identificar a importncia dos saberes docentes para a formao e o trabalho dos professores. METODOLOGIA A reviso bibliogrfica deste estudo foi desenvolvida com base em diversos autores contemporneos da educao, no intuito de se conseguir no s uma aproximao com aquilo que se intentava analisar, mas tambm de elaborar um conhecimento, mediante a realidade presente no campo (MINAYO, 1994). Escolheu-se o materialismo histrico-dialtico como mtodo de pesquisa, pois ele [...] capaz de aprofundar a anlise da realidade do fenmeno social, com todas as suas contradies, dinamismo e relaes [...]. (TRIVIOS, 1987, p.151). Este mtodo defende
198
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
que o [...] fenmeno observado, sendo parte de um todo, mantm ligaes com outros fatos. A totalidade no cristalizada; dinmica e histrica. O saber cumulativo e revisto, e o conhecimento, uma construo social. (MATOS; VIEIRA, 2001, p.31). Esta investigao est apoiada na abordagem qualitativa, pois ela lida com dados subjetivos, que no so quantificveis e simplesmente objetivos. Este tipo de abordagem se refere a elementos que no so dimensveis em nmeros, porque [...] muitas informaes sobre a vida dos povos no podem ser quantificadas e precisam ser interpretadas de forma muito mais ampla que circunscrita ao dado objetivo. [...]. (TRIVIOS, 1987, p.120). DISCUSSO DOS RESULTADOS Inmeros debates e pesquisas cientficas, dentre outras aes, so voltados formao docente, em decorrncia de determinados fatores, como a necessidade de melhorar a qualidade da educao, em razo das exigncias dos organismos internacionais e da prpria sociedade. Alm disso, como lembram Tardif (2002) e Pimenta (2009), a formao do professor constituda por diversos tipos de saberes. Para Tardif (2002, p.36), pode-se chamar de saberes profissionais o conjunto de saberes transmitidos pelas instituies de formao de professores (escolas normais ou faculdades de cincias da educao). [...]. Outro tipo de saber identificado por Tardif (IBIDEM, p.38) denominado disciplinar, que so [...] aqueles que correspondem aos diversos campos do conhecimento, aos saberes de que dispe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje integrados nas universidades, sob a forma de disciplinas, no interior de faculdades e de cursos distintos. [...]. Os saberes disciplinares so aqueles constitudos e que integram as disciplinas ou reas de conhecimentos, ou seja, so componentes curriculares dos diferentes cursos de formao universitria. Tais saberes no [...] so produzidos pelo docente, mas este retira da o saber necessrio ao ensino. [...]. (FARIAS, 1997, p.39). Estes saberes nutrem a ao educativa, mediante o processo de ensino, porque do a este a razo de sua existncia. Alm dos saberes j expostos, Tardif (2002, p.38) apresenta nesta disposio os saberes de carter curriculares, que [...] correspondem aos discursos, objetivos, contedos e mtodos a partir dos quais a instituio escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelo da cultura erudita e da formao para a cultura erudita. [...]. As escolas sistematizam curricularmente os diferentes conhecimentos e estes, por sua vez, quando pensados e elencados desta forma, seguem alguns parmetros, prticas e objetivos. Outro aspecto a ser considerado em relao aos saberes discutidos que eles [...] so incorporados ou produzidos e difundidos nas universidades e instituies similares de ensino superior. (COSTA, 1995, p.249). Eles no so constitudos e pensados pelos professores, porque j so elaborados historicamente, sendo disseminados por estas instituies. Pimenta (2009) apresenta outras categorizaes para os saberes, divergentes em determinados aspectos dos j elencados anteriormente. Para ela, os professores possuem trs saberes docentes: o conhecimento, os pedaggicos e os experienciais. Em relao ao primeiro, que ele passa pelo conhecer que consiste em [...] estar consciente do poder do conhecimento para a produo da vida material, social e existencial da humanidade. (IBIDEM, p.22).
199
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Existem os saberes pedaggicos que [...] podem colaborar com a prtica. Sobretudo se forem mobilizados a partir de problemas que a prtica coloca, entendendo, pois, a dependncia da teoria em relao prtica, pois lhe anterior. [...]. (IBIDEM, p.27-28). Eles so relacionados com as necessidades dos processos didticos e respondem a inquietaes e problemas do mbito da prtica de ensino. Eles podem ser articulados com os saberes profissionais j discutidos, os quais tambm existem para atender necessidades do campo profissional e no so estanques; ao contrrio, so mutveis. Isso demonstra que a prtica e os saberes que podem ser observados no professor o resultado da apropriao que ele faz da prtica e dos saberes histrico-sociais. A apropriao uma ao recproca entre os sujeitos e os diversos mbitos ou integraes sociais. [...]. (VEIGA, 1991, p.153). Em adio, ressalta-se que Pimenta (2009, p.20) tambm categoriza e discute os saberes da experincia, que so [...] aqueles que os professores produzem no seu cotidiano docente [...]. Esses saberes so constitudos no campo da prtica de ensino dos docentes e so bastante relevantes para o seu exerccio profissional. Do mesmo modo que Pimenta (2009), alm dos saberes j apresentados anteriormente, Tardif (2002, p.38-39) apresenta esta mesma tipologia de saberes, os quais so prprios dos professores, uma vez que estes [...] no exerccio de suas funes e na prtica de sua profisso, desenvolvem saberes especficos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento do seu meio [...], eles so constitudos nas experincias dos professores, considerando como locus a prtica de ensino. Os saberes experienciais exercem papel relevante no desenvolvimento e constituio do trabalho deste profissional, uma vez que ele permanentemente est aprendendo com a realizao de suas prprias atividades, pois os saberes esto [...] em constante reconstruo a partir da experincia vivenciada pelo profissional. (THERRIEN; MAMEDE; LOIOLA, 2007, p.130). Contudo, preciso explicitar, de acordo com Tardif e Lessard, que [...] tambm se pode compreender a experincia, no como um processo fundado na repetio de situaes e sobre o controle progressivo dos fatos, mas sobre a intencionalidade e a significao de uma situao vivida por um indivduo. [...]. (2007, p.51). Freire (1999, p.26) complementa que [...] ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possvel ensinar. [...]. Par desenvolver o ensino o professor necessita de formao, porque a decncia um trabalho que [...] requer saberes especializados [...] (FARIAS, 2008, p.73), os quais, por sua vez, so denominados de um modo geral de saberes docentes, por integrarem a formao e prtica dos professores, e so provenientes de diferentes contextos e espaos, mas que em seu conjunto contribuem para desenhar a profissionalizao docente.
CONSIDERAES FINAIS Os saberes docentes exercem papel de destaque na formao de professores, pois contribuem para o exerccio da profisso e possibilitam a integrao de vrios conhecimentos ao seu desenvolvimento profissional. Tais saberes so apreendidos no mbito acadmico e no
200
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
exerccio da profisso, eles, em geral, constituem a identidade desse profissional, contribuindo de forma significativa para a estruturao do seu trabalho. Em razo disso, eles necessitam de ser valorizados cotidianamente no exerccio do magistrio, por serem fundamentais para a profissionalizao do professor, que tem ao longo deste feito a oportunidade de apreender e constituir criticamente a sua prxis educativa. Sendo assim, evidencia-se que os saberes docentes tecem a formao docente e a prtica de ensino de forma dinmica e dialgica, com suporte na unidade teoria-prtica. Para tanto, ao longo de sua vida, o professor apreende diferentes conhecimentos relevantes constituio da docncia. REFERNCIAS COSTA, Marisa C. Varraber. Trabalho docente e profissionalismo. Porto Alegre: Sulina, 1995. 280p. FARIAS, Isabel Maria Sabino de. [et al]. Didtica e Docncia: aprendendo a profisso. Fortaleza: Realce Editora e Indstria Ltda, 2008. 154p. ________. A atividade docente no teleensino um estudo acerca dos saberes pedaggicos do orientador de aprendizagem. 1997. 205p. Dissertao (Mestrado em Educao Brasileira) Programa de Ps-Graduao em Educao Brasileira. Universidade Federal do Cear, Fortaleza, 2005. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessrios a prtica educativa. 10 ed. So Paulo: Paz e Terra, 1999. 165 p. MATOS, Kelma Socorro Lopes de; VIEIRA, Sofia Lerche. Pesquisa Educacional: o prazer de conhecer. Fortaleza: Edies Demcrito Rocha, 2001. 143p. MINAYO, Maria Ceclia de Sousa. Petrpolis: Vozes, 1994. 80 p. Pesquisa social: teoria mtodo e criatividade. 8 ed.
PASSOS, Carmensita Matos Braga. Docncia no ensino superior: exigncias e carncias. In: ALBUQUERQUE, Luiz Botelho. Culturas, Currculos e Identidades. Fortaleza: Editora UFC, 2004. 224p. p.79-92. PIMENTA, Selma Garrido. Saberes pedaggicos e atividades docentes. 7. ed. So Paulo: Cortez, 2009. 246p. TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formao profissional. Petrpolis, RJ: Vozes, 2002. TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docncia como uma profisso de interaes humanas. 3 ed. Petrpolis, RJ: Vozes, 2007. Traduo de Joo Batista Kreuch. 312p. THERRIEN, Jacques; MAMEDE, Mara; LOIOLA, Francisco. Trabalho docente e transformao pedaggica da matria. In: MAGALHES, Rita de Cssia Barbosa Paiva. et al. Formao e Prticas Docente. Fortaleza: EdUECE, 2007. 336p. (p.121-138). TRIVIOS, Augusto Nibaldo Silva. Introduo pesquisa em cincias sociais: uma pesquisa qualitativa em educao. So Paulo: Atlas, 1987. 175p. VEIGA, Ilma Passos Veiga Alencastro. A aventura de formar professores. Campinas, SP: Papirus, 2009. 95.p (Coleo Magistrio: Formao e Trabalho Pedaggico). ________. (Org). Repensando a didtica. 5 ed. So Paulo: Papirus, 1991. 159 p.
201
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
FORMAO DOCENTE SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAO DIALGICA FREIREANA
Camilla Rocha da Silva108
RESUMO O presente trabalho busca registrar algumas reflexes acerca dos estudos sobre a formao docente, sob a perspectiva da Educao Dialgica Freirena (EDF). A partir do legado e das obras de Paulo Freire, buscamos contribuies que ampliem com a perspectiva da formao inicial de professores(as). Para tanto, apoiamo-nos em algumas obras de Paulo Freire, como tambm no trabalho de alguns(mas) estudiosos que vm buscando ampliar a prxis reflexiva iniciada por Freire. Para alcanar o objetivo acima explicitado, foi realizada uma reviso bibliogrfica sobre o tema da formao docente nas obras Pedagogia do Oprimido (2005) e Pedagogia da Autonomia (1996). Diante do reconhecimento da situao de opresso instaurada no mundo, Paulo Freire nos prope um novo paradigma educativo, que amplia a dimenso da educao e abrange as dimenses poltica, social e transformadora desta. Acreditamos que nos cursos de formao de professores devem estar presentes o dilogo, a contextualizao, a escolha do contedo com e pelos educandos, a afetividade/amorosidade, a humildade, o respeito aos saberes que estes carregam, o estimula criticidade, ou seja, princpios essenciais apontados por Freire para uma educao transformadora, que possibilite o ser mais. Considera-se indispensvel que a Educao Dialgica Freireana estejam presentes durante a formao dos educadores. PALAVRAS-CHAVE: formao docente; formao inicial; Paulo Freire; dialogicidade. INTRODUO O presente trabalho busca registrar algumas reflexes acerca dos estudos sobre a formao docente, sob a perspectiva da Educao Dialgica Freirena (EDF). A partir do legado e das obras de Paulo Freire, educador pernambucano que alcanou reconhecimento mundial, buscamos contribuies que ampliem com a perspectiva da formao de professor@s109, que, para alm da formao tcnica e instrumental, reconhea a necessidade do dilogo verdadeiro, libertador e da dimenso poltica e transformadora da educao. Para tanto, apoiamo-nos em algumas obras de Paulo Freire (2005; 1996), como tambm no trabalho de alguns(mas) estudiosos que vm buscando ampliar a prxis reflexiva iniciada por
108 Doutoranda em Educao Brasileira pela Universidade Federal do Cear (UFC). Mestre em Educao Brasileira pela UFC (2011). Licenciada em Pedagogia pela UFC (2009). Endereo eletrnico: camilla.pedagoga@hotmail.com. 109 Com o smbolo @, estamos indicando simultaneamente os gneros feminino e masculino. Ao invs do uso gramaticalmente correto, utilizamos esta forma grfica, para levantar a questo poltica e cultural do sexismo de nossa linguagem.
202
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Freire, como Figueiredo (2006); Figueiredo e Silva (2011), Camargo (2001), Conceio (2006), Machado (2001), dentre outros. OBJETIVO GERAL Este trabalho objetiva realizar um breve estudo bibliogrfico acerca da formao inicial de professoras sob a perspectiva da formao humana, com base na proposta de educao de Paulo Freire. METODOLOGIA Para alcanar o objetivo acima explicitado, foi realizada uma reviso bibliogrfica sobre o tema da formao docente nas obras Pedagogia do Oprimido (2005) e Pedagogia da Autonomia (1996), como tambm no trabalho de outros autores que trabalhando e pesquisando a partir da proposta de Paulo Freire. DISCUSSO DOS RESULTADOS REFLEXES SOBRE A FORMAO DOCENTE SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAO DIALGICA FREIREANA Diante do reconhecimento da situao de opresso instaurada no mundo, Paulo Freire nos prope um novo paradigma educativo, que amplia a dimenso da educao e abrange as dimenses poltica, social e transformadora desta. A Educao Dialgica Freireana (EDF) destaca o dilogo, que no mera conversa ou troca de ideias entre os permutantes, nem muito menos ao de depositar ideias em outr@. Os fundamentos do dilogo, ou princpios dialogais, so apresentados por Freire em seu livro Pedagogia do Oprimido (2005), quando afirma que o dilogo no pode existir sem que haja: amor; humildade; f nos seres humanos; esperana; pensar crtico. Inicialmente, Freire (op. cit.) assegura que s possvel o dilogo se existe um profundo amor vida, ao mundo e aos seres humanos. Somente com amor, que um ato de coragem, de compromisso com os homens e as mulheres, pode se valorizar os seres humanos e contribuir para o processo de reflexo sobre sua realidade e consequente transformao desta, possibilitando-@s tornarem-se autor@s de sua histria. A pedagogia freireana apresenta-se encharcada de afetividade, o que no exclui a cognoscibilidade nem tampouco interfere no cumprimento tico do dever de professor. O amor e a afetividade levam tambm ao respeito pelos saberes d@s educand@s e necessrio, do mesmo modo, que se tenha humildade, que representa a aceitao d@ outr@, a capacidade de ouvi-l@ afetivamente, o que leva ao respeito por suas ideias, pois s assim possvel reconhecer a possibilidade de aprender com @ outr@, com @ diferente, no @ enxergando como inferior por ser diferente. preciso que @ professor@ reconhea-se tambm ignorante, pois assim possvel o compartilhamento de saberes. Sobre essa questo, Freire (1996, p. 67) reflete:
Como posso respeitar a curiosidade do educando se, carente de humildade e da real compreenso do papel da ignorncia na busca do saber, temo revelar o meu
203
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
desconhecimento? Como ser educador, sobretudo numa perspectiva progressista, sem aprender, com maior ou menor esforo, a conviver com os diferentes? Como ser educador, se no desenvolvo em mim a indispensvel amorosidade aos educandos com quem me comprometo e ao prprio processo formador de que sou parte?
Alm do amor e da humildade, imprescindvel para EDF que haja f nos seres humanos, f no seu poder de fazer e de refazer. De criar e recriar. F na sua vocao de ser mais, que no privilgio de alguns eleitos, mas direito dos [seres humanos] (FREIRE, 2005, p. 93). Outro alicerce dessa educao a esperana, que est na prpria essncia da imperfeio dos homens, levando-os a uma eterna busca (op. cit., p. 94). essa esperana ativa que leva luta por humanizao, esperana que incita a ao e impede uma postura de estagnao. Por fim, Freire defende o pensar crtico, atravs do qual se pode perceber a realidade como processo e no como algo esttico. Reafirmando, assim, que o dilogo o caminho que torna possvel a construo do ser mais, pois Somente o dilogo, que implica um pensar crtico capaz tambm de ger-lo (op. cit., p. 96). Reconhecemos que outro importante fundamento da EDF a contextualizao. O termo contextualizao no aparece de forma explcita na obra de Paulo Freire, porm podemos reconhecer sua manifestao de diversas maneiras, das quais destacamos sua nfase na premncia de se ter uma leitura de mundo como pressuposto essencial leitura da palavra, um levantamento de temas geradores que potencializariam o ensinar e aprender mtuos, com base nos saberes de experincia feitos. Ainda a respeito da contextualizao do processo de ensino-aprendizagem, Paulo Freire (1996, p. 30) reflete:
Por que no discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo contedo se ensina [...]? Por que no estabelecer uma intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experincia social que eles tm como indivduos?
Contextualizar o ensino mais uma forma de valorizar @ educand@ e inseri-l@ de forma ativa no processo educativo, na medida em que se reconhece a importncia do cotidiano del@ e mostra que os conhecimentos gerados no processo de ensino-aprendizagem podem ter aplicao em sua vida prtica. Sobre isso, Figueiredo (2006, p. 97) ainda esclarece:
Contextualizar o ensino incorpor-lo ao cotidiano, em outras palavras, a integrao dos saberes acadmicos ao entorno da escola, aos saberes do aluno, ao ambiente imediato ao ensino-aprendizagem; ou simplesmente, contextualizao se traduz pelo processo de produzir um saber parceiro a partir do saber inerente ao mundo vivido dos educandos, sendo ele prprio, este mundo, o contexto de aprendizagem. [...] contextualizar o contedo reconhecer a importncia do cotidiano d@ alun@, mostrar que os conhecimentos gerados dentro de um processo de ensinoaprendizagem podem ter aplicao na vida prtica das pessoas [...].
Reconhecemos que a contextualizao imprescindvel tambm na formao inicial de professores, visto que muit@s estudantes iniciam sua prtica docente antes mesmo de ingressarem na universidade, ou nos primeiros semestres do curso. Est@s estudantes trazem consigo
204
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
experincias de vida e da prtica docente que poderiam contribuir efetivamente com a sua prpria formao, bem como com a de seus(suas) parceir@s de aprendizagem.
preciso, sobretudo, e a j vai um destes saberes indispensveis, que o formando, desde o princpio mesmo de sua experincia formadora, assumindo-se como sujeito tambm da produo do saber, se convena definitivamente de que ensinar no transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produo ou a sua construo. (FREIRE, 1996, p. 22).
Infelizmente, a educao bancria, tradicional ainda est presente de forma hegemnica nos cursos de formao inicial de educador@s, pois:
[...] ainda vemos uma predominncia de projetos de formao de professor@s que se apoiam na lgica colonializante, conteudstica, bancria, de transferncia de conhecimentos, tendo o professor como nico detentor e depositrio dos saberes. Modelo este, ainda hegemnico, que se respalda numa perspectiva tcnicoinstrumental, com nfase na formao de professor(a) para adaptar-se e manter as demandas do mercado e as regras de mercantilizao, com toda a carga de excluso que a acompanha e a produz (FIGUEIREDO e SILVA, 2011, p. 118).
Cremos que o ideal seria que @s professor@s em formao inicial pudessem conhecer a Educao Dialgica Freireana no somente atravs do contato com a sua teoria, mas tambm atravs da prtica, pois, ambas, teoria e prtica, so indissociveis, pois, segundo Machado (2001, p. 226), dependendo de sua formao, ele ou ela podem reproduzir o sistema ou transgredi-lo, conscientemente, por meio de sua ao. Este autor afirma ainda que:
Um processo que tenha como objetivo a formao de um profissional do ensino no poderia mais estar ancorado exclusivamente na transmisso do conhecimento, nem estar inserido em uma relao verticalizada professor-aluno. Tal formao efetivaria um profissional fadado incapacidade de agir, de se locomover e de se adaptar s necessidades do mundo educacional atual. (op. cit., p. 219).
Sem essa prxis vivenciada durante o processo formador, torna-se difcil, embora de maneira nenhuma impossvel, refletir e romper com os processos opressores da educao tradicional. Com este pensamento, colabora Machado (op. cit., p. 224):
Como compreender, participar e atuar na sociedade, mais precisamente no espaopedaggico, se ambos os contextos no se encontram presentes na organizao curricular como tema-gerador, visto que ao longo do projeto curricular vislumbramos somente disciplinas (obrigatrias e optativas), sem nenhum vnculo com a realidade social?
Conceio (2006, p. 86) destaca que a necessidade de se trabalhar o currculo numa perspectiva dialgica apresenta-se como uma possibilidade de superao de problemas crnicos que se tm enfrentado nos sistemas de ensino tradicionais. Camargo (2001, p. 68) concorda com essa compreenso, quando afirma que h a [...] necessidade da formao de profissionais comprometidos com a conscientizao, com a humanizao e com a emancipao humana, necessidades essas que so bases do pensamento freireano. Este autor ainda assevera que Os cursos de Pedagogia merecem e precisam de Freire e de sua conscientizao autntica como compromisso, como transformao real da realidade (op. cit., p. 68). Continua e reafirma que:
205
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Os cursos de Pedagogia no podem prescindir da criao de profissionais que entendam a educao como um projeto poltico e que, ao mesmo tempo, rompam as mltiplas formas de dominao e ampliem os princpios e prticas de dignidade humana, liberdade e justia social (op. cit., p. 69).
Essas reflexes reforam a nossa compreenso da necessidade de verdadeira prxis dialgica freireana nos cursos de formao inicial de professoras. CONSIDERAES FINAIS Acreditamos que nos cursos de formao de professoras devem estar presentes o dilogo, a contextualizao, a escolha do contedo com e pelas educandas, a afetividade/amorosidade, a humildade, o respeito aos saberes que estas carregam, o estimula criticidade, ou seja, princpios essenciais apontados por Freire para uma educao transformadora, que possibilite o ser mais. E isto s pode ser acontecer se as graduandas vivenciarem, em sua formao, uma prxis dialgica na qual estejam inseridas efetivamente, como autoras dos processos de ensinar-pesquisar-aprender. Do contrrio, sua atuao pedaggica tender a ser reprodutora da educao dos processos de transferncia de conhecimento, de reproduo de contedos, ou seja, desumanizante, acrtica, bancria. Diante das contribuies trazidas por Paulo Freire e da necessidade de superao dos paradigmas educativos desumanizantes que ainda prevalecem, considera-se indispensvel que a Educao Dialgica Freireana estejam presentes durante a formao das educadoras. Como j o afirmamos anteriormente, para que seja possvel optar pela EDF, necessrio que os educandas e educadoras conheam-na, estudem-na, e a experienciem em sua trajetria, desde a formao inicial. REFERNCIAS CAMARGO, Fbio Manzini. A atualidade de Freire nos cursos de Pedagogia. In: FREIRE, Ana Maria Arajo (org.). A Pedagogia da libertao em Paulo Freire. So Paulo: UNESP, 2001. CONCEIO, Francisca Maria da. O dilogo como elemento fundante na construo de saberes. In: CONCEIO, Francisca Maria da. e MELO NETO, Jos Francisco de. Aprimorando-se com Paulo Freire em Dialogicidade. Recife: Edies Bagao, 2006. Coleo Paulo Rosas, volume V. FIGUEIREDO, J. B. A. Educao Ambiental Dialgica: a contextualizao do ensino numa leitura de Paulo Freire. In: Olinda, Erclia Maria Braga de (Org.). Formao humana e dialogicidade em Paulo Freire. Erclia Maria Braga de Olinda e Joo Batista de A. Figueiredo (Orgs.) et al. Fortaleza: Editora UFC, 2006. ______; SILVA. M. E. H. Formao d@ educador(a) ambiental numa perspectiva eco-relacional. In: MATOS. K. S. A. L. Educao ambiental e sustentabilidade III. Fortaleza: UFC, 2011. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 49 reimpresso. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. ______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessrios pratica educativa. 34 Edio. So Paulo: Paz e Terra, 1996. MACHADO, Roberto Luiz. Um olhar freireano sobre a universidade, a licenciatura e o currculo. In: FREIRE, Ana Maria Arajo (org.). A Pedagogia da libertao em Paulo Freire. So Paulo: UNESP, 2001.
206
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O COORDENADOR PEDAGGICO E A FORMAO DOCENTE: CONCEITOS E PRESSUPOSTOS
Ana Paula de Arajo Ribeiro Cavalcante110 Camila Almada Nunes111 Emanuelle Oliveira da Fonseca112
RESUMO A qualificao de professores uma exigncia que vem sendo enfatizada pela legislao, pois uma formao adequada garante uma melhor aprendizagem por parte dos alunos. Quando o professor assume a postura de um agente transformador consegue satisfazer as necessidades dos alunos de forma critica e consciente. Dessa forma, o objetivo principal dessa pesquisa compreender como se d a relao da coordenao pedaggica e dos professores no tocante gesto escolar. A relao entre gestor e professor viabilizou o processo de formao contnua. Adotamos como referencial terico metodolgico a abordagem qualitativa, por acreditar que ela age de forma critica e reflexiva no presente trabalho. O estudo contou com os fundamentos das concepes de Schn (1997), Freire (1999), Vieira (2001), Tardif (2002), Therrien e Loila (2003), Zabalza (2004), dentre outros que discutem, a reflexividade, os saberes, a dialogicidade, a autonomia e a emancipao docente. preciso que se estabelea um elo entre professores e a coordenao pedaggica na busca de um processo reflexivo, voltado para a realidade da escola. PALAVRAS-CHAVE: Coordenao pedaggica. Formao de professor. Gesto escolar. INTRODUO O papel do coordenador pedaggico na gesto escolar est ligado aos vrios elementos que determinam a dinmica do contexto escolar, dentre eles a formao dos professores numa perspectiva contnua. Da surgiu nossa problemtica: Qual o papel desempenhado pelo coordenador pedaggico na formao dos professores? Como forma de compreendermos a concepo sobre formao de professores e gesto escolar ser feito um estudo terico com os seguintes autores: Libneo (2006), Pimenta e Lima (2011) que centram suas ideias na gesto. Para ampliar o estudo, inserimos tambm os pensamentos de Tardif (2000), Therrien (2006), Schn (1997), Therrien e Loiola (2003) e Zabalza (2004). OBJETIVO GERAL
Graduada em Pedagogia pela Universidade de Fortaleza. Mestranda em Educao pela Universidade Estadual do Cear. 111 Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Cear. Mestranda em Educao pela Universidade Estadual do Cear. 112 Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Cear. Mestranda em Educao pela Universidade Estadual do Cear.
110
207
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
O objetivo da presente pesquisa compreender o papel do coordenador pedaggico na gesto escolar, tendo como foco a formao de professores. J que segundo Libneo et.at (2006) o coordenador pedaggico ou professor-coordenador que coordena, acompanha, assessora, apoiando e avaliando as atividades pedaggico-curriculares. Quando o coordenador assume uma postura de agente de transformao ele adquire um posicionamento consciente e crtico que lhe permitir encaminhar questes e incorporar conhecimentos necessrios na construo de um processo participativo que vai prevalecer a discusso das ideias e um dilogo aberto e verdadeiro, fortalecido pelo esprito de cooperao. METODOLOGIA Nosso estudo se adapta abordagem qualitativa, cujo referencial vai apontar as concepes de autores que estudam sobre formao de professores, coordenador pedaggico e saberes docentes. O levantamento bibliogrfico buscar compreender como o coordenador pedaggico contribui para a formao continuada de professores, j que esse uma das suas atribuies na gesto escolar. Dessa forma iremos buscar elementos necessrios compreenso da centralidade do trabalho. Esse levantamento servir como ponto de articulao entre a questo investigada e os eixos norteadores da pesquisa, buscando contribuir para o debate sobre a formao de professores. DISCUSSO DOS RESULTADOS Coordenador pedaggico: seu papel na gesto escolar O impacto das mudanas no campo educacional influencia na dinmica escolar. J que a crise na educao tambm percebida pelos protagonistas dentro da escola. Assim, nosso estudo voltou-se para um dos atores, no caso, o coordenador pedaggico. Uma vez que este faz parte da gesto e desempenha o papel de liderana que influencia cotidianamente na formao docente. A gesto escolar determina a organizao institucional, assim est ligada s normas e diretrizes externas e internas, bem como aes e procedimentos provenientes de uma racionalidade prpria. Entendemos como racionalidade a forma de pensar dos sujeitos, implicando em aes que advm a gesto escola. papel do diretor possibilitar os encaminhamentos para o uso dos recursos disponveis na escola, sejam humanos, materiais, financeiros e/ou intelectuais. Quanto coordenao, compreendemos que esta seja um agente que desempenha uma funo de acompanhamento do trabalho das pessoas e de formador da equipe docente. Para um melhor entendimento desses aspectos recorremos a Zabalza (2004, p.92) quando ele afirma que A liderana resulta sempre da unio entre o poder e a autoridade e, na maior parte das vezes, da capacidade de influenciar o desenrolar dos acontecimentos na organizao. As ideias do referido autor se assemelham com o pensamento de Libneo (2006, p.293) quando este afirma que coordenao e acompanhamento compreendem as aes e os procedimentos destinados a reunir, a articular e a integrar as atividades das pessoas que atuam na escola, para alcanar objetivos comuns.
208
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Portanto, coordenar significa assumir perante o grupo a responsabilidade de fazer a escola funcionar por meio de um trabalho conjunto. Para tanto, se faz necessrio que os coordenadores reflitam sobre sua prtica. Assim, a prtica reflexiva (SCHN, 1997) da coordenadora pedaggica permite aos professores um avano no processo de transformao na ao docente, tornando-os sujeitos crticos e participativos. Podemos compreender os fatos ocorridos no decorrer da pesquisa nos remetendo novamente a Zabalza (2004) quando ele se refere aprendizagem institucional. Conforme esse autor, o aprender nesse momento no se reduz mera adaptao s circunstncias, mas quando o grupo reconhece seus problemas iniciais, e em seguida decide intervir, gerando mudanas no cotidiano e a partir da, vo-se consolidando novas prticas, ou seja, h transformao na identidade e cultura escolar. Isso implica em mudanas que respondem via gesto institucional por meio da conscincia dos valores e significados que esto implcitos na prtica docente e na instituio. Os aportes tericos de Pimenta e Lima (2011) se assemelham com as ideias de Libneo (2006) e Zabalza (2004) quando afirmam que o principal objetivo da coordenao pedaggica se constitui por meio da relao entre elementos da prtica educativa, isto , entre o educando, o educador, o saber e os contextos em que ocorre essa interao. Assim a aprendizagem institucional (ZABALZA, 2004) refere-se ao desaprender, desconstruir se despindo de conceitos rgidos prprios da racionalidade tcnica e a transformao para um novo paradigma que contemple a intersubjetidade, a interao, o dilogo e a leitura de mundo dos sujeitos (FREIRE, 1999). Portanto, o coordenador pedaggico exerce o papel de catalizador porque faz a articulao com os professores, alunos, pais, funcionrios, enfim, com a comunidade escolar, procurando inclu-los no processo de organizao pedaggica, didtica e curricular da escola. O Projeto Poltico-Pedaggico (PPP) representa isso, j que o instrumento norteador das aes da escola na busca de uma aprendizagem de qualidade. Segundo Vieira e Albuquerque (2001), o PPP pode ser visto como um instrumento de ajuste, no sentido da aprendizagem institucional. Para (ZABALZA, 2004) isso delineado pelo processo de avaliao da escola que foi constitudo pela nova cultura escolar face s mudanas por meio da nova forma de pensar e de agir da coordenao pedaggica e dos docentes. Isso implicou na elaborao de um documento, o PPP, o qual representou a forma de pensar a educao como um espao de construo coletiva que objetiva a socializao do conhecimento e da aprendizagem. Entendemos que seja necessrio que a coordenao escolar articule o trabalho educativo para as finalidades sociais e polticas almejadas pelo grupo de educadores e o diretor proporcione um espao democrtico em que todos possam expressar suas opinies a fim de que as mudanas de que falamos de fato ocorram na escola. Reflexes acerca da formao de professores: contribuies da gesto Para formar professores crticos e autnomos, a gesto precisa levar em considerao a pluralidade de saberes. Dentre estes saberes est o que Tardif (2002) chama de saber ensinar, levando em considerao os pedaggicos e da experincia do docente. Quando o grupo discute
209
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
acerca das prprias prticas, surgem conflitos de ideias que levaram a uma analise coletiva e tomada de decises democrticas. Dessa forma o grupo pode trilhar pela emancipao e a autonomia do prprio trabalho valendo-se dos saberes e dos conhecimentos adquiridos em sua trajetria de vida. Partindo dessa concepo Pimenta e Lima (2011, p.77) acreditam que na formao de professor preciso enfocar que sua aprendizagem de ensinar ser boa se esta se basear em seu aprender a profisso, na construo de sua identidade, na valorizao social de sua profisso e na formao contnua. Formao esta que contribuir para uma construo de saberes mais slidos, permitindo ultrapassar os muros da mera reproduo das informaes e dos conhecimentos produzidos por outros, sem, contudo, deixar de considerar as opinies dos sujeitos. Cabe a gesto escolar proporcionar essa formao continuada, pois isso fortalecer a formao inicial dos mesmo, alm de gerar um ambiente favorvel a mobilizao de motivos, certezas, modelos, argumentos dos prprios saberes individuais. preciso que se estabelea um elo entre professores e a coordenao pedaggica formando um processo de reflexo e de compreenso voltado para a realidade da sala de aula. Assim a autonomia e a emancipao do grupo passam a fazer parte da concepo de ensino docente, bem como da gesto que assume uma forma participativa de administrar. Isso implica que tanto o coordenador pedaggico como o professor acionam saberes e conhecimentos adquiridos em sua trajetria para tomar decises, argumentar e mediar o seu trabalho, o que vai interferir diretamente na sua prtica. Os impactos das prticas docentes se revelaram em aes reflexivas (SCHN 1997), assim, se dar uma formao, cujos sujeitos envolvidos dividem responsabilidades e pensam no bem coletivo, construindo consensos. A prtica do dilogo rompe com o descompromisso, egosmo e isolamento dos sujeitos. CONSIDERAES FINAIS Podemos perceber a importncia da participao dos indivduos e de formao que propicie a construo de profissionais crticos e reflexivos, capazes de controlar o prprio trabalho, quando os sujeitos passam a sentirem-se autores e responsveis pelos resultados de suas aes, construindo, portanto, a emancipao e a autonomia. Acreditamos que a formao docente pressupe um processo contnuo de aprendizagens, e no uma forma fragmentada e desarticulada entre teoria e prtica. Assim, salientamos que preciso uma formao que contemple a dimenso pessoal e profissional, ou seja, contribui significativamente no trabalho da escola e na efetivao das propostas pelos gestores e professores. Quando a escola assume uma postura democrtica passa a cultivar a prtica do dilogo. Com isso, os assuntos passaram a ser debatidos, analisados e negociados a partir da multiplicidade de pensamentos, colocando-se na mesa os dissensos, que muitas vezes transformavam-se em consensos. Isso favorece a formao de profissionais mais comprometidos com seu papel de educador, seja numa funo administrativa ou de sala de aula.
210
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
REFERNCIAS FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessrios prtica educativa. So Paulo: Paz e Terra, 1996. LIBNEO, Carlos Jos, OLIVEIRA, Joo Ferreira, TOSCHI, Mirza Seabra. Educao escolar: polticas, estrutura e organizao. So Paulo, Cortez Editora, 2006. PIMENTA, S. G; LIMA, M. S. Estgio e Docncia. 6. Ed. So Paulo: Cortez, 2011. TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formao profissional. Petrpolis, RJ: Vozes, 2002. THERRIEN, Jacques. Os saberes da racionalidade pedaggica na sociedade contempornea. Revista Educativa. Goinia: UCG, V. 9, no 1, 2006, p.67-81. SCHN, D. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NVOA (org.). Os professores e sua formao. Lisboa. Dom Quixote. 1997. ______; LOIOLA, F.A Consideraes em torno da relao entre autonomia, saber de experincia e competncia docente no contexto da tica profissional. Trabalho completo. XVI EPENN. Aracaju, Se. CD-Rom. 2003. VIEIRA, S. L.; ALBUQUERQUE, M.G. Poltica e Planejamento Educacional. Fortaleza. Edies Demcrito Rocha, 2001 ZABALZA, Miguel A. O ensino universitrio : seu cenrio e seus protagonistas. Trad.Ernani Rosa. Porto Alegre : Artmed, 2004.
211
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
LEITURA DE IMAGENS: UMA POSSIBILIDADE NO PROCESSO DE FORMAO DE PROFESSORES
Elcimar Simo Martins113 RESUMO A arte literria considerada uma ferramenta para o favorecimento da troca de experincias, de reflexo, da liberdade criativa e de comunicao entre os professores. Nesse contexto, a formao docente no apenas um espao de aquisio de tcnica e conhecimentos, mas, sobretudo, o momento da socializao e da configurao profissional. Este trabalho trata de uma pesquisa ao realizada com professores de uma rede municipal de ensino, no Cear, e teve como questo principal: em que medida o texto literrio capaz de mediar o dilogo de professores acerca de sua profisso? Utilizamos a leitura de livros imagticos que mediaram a discusso acerca de diversas questes enfrentadas pelos educadores em seu trabalho pedaggico. Este trabalho objetiva, portanto, investigar a capacidade do texto imagtico de mediar o dilogo de professores acerca de sua profisso. Foram utilizados como aportes tericos os estudos de Arajo (2001), Manguel (2001), Freire (1989), Barthes (1997), Lajolo (1994), Imbernn (2010), Nvoa (1995), Pimenta (2009), dentre outros. A investigao evidencia uma grande inquietao dos professores relacionada transposio didtica, ou seja, articulao entre a teoria estudada nos encontros de formao e o desenvolvimento de prticas de leitura no contexto da sala de aula. O estudo considera, ainda, que a leitura de livros imagticos na formao de professores mostra-se vivel, pois favorece o enriquecimento cultural dos docentes e assinala a necessidade de se perceber a arte literria como mediao do dilogo, proporcionando uma participao crtica e um posicionamento reflexivo frente realidade da sociedade atual. PALAVRAS-CHAVE: Arte Literria. Leitura. Dilogo. Formao de Professores. INTRODUO As trs ltimas dcadas so marcadas mundialmente pelo movimento de valorizao da formao e da profissionalizao de professor. A formao docente no apenas um espao de aquisio de tcnica e conhecimentos, mas, sobretudo, o momento da socializao e da configurao profissional. Nesse sentido, importante que o professor atue como mediador da sua formao a partir das trocas de experincias com os pares, refletindo as prticas e a (re)construo permanente de sua prpria identidade docente. A leitura um dos pontos cruciais da prtica pedaggica dos docentes e, portanto, fundamental nas investigaes de formao de professores. Assim, torna-se necessria a apreenso de que uma das funes importantes da leitura, entre outras, intermediar a aprendizagem. Este estudo resultado de nosso trabalho como formador de professores dos anos finais do ensino fundamental. A convivncia com os professores em processo de formao provocaram algumas indagaes entre as quais destacamos: Como os professores compreendem, articulam e desenvolvem prticas de leitura na dinmica da sala de aula? Em que medida o texto literrio
113
Doutorando em Educao (UFC). Bolsista FUNCAP. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formao do Educador (GEPEFE-UECE).
212
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
capaz de mediar o dilogo de professores acerca de sua profisso? Quais os desafios e limites de utilizar o livro imagtico como instrumento de formao? Este trabalho tem como objetivo principal investigar a capacidade do texto imagtico de mediar o dilogo de professores acerca de sua profisso. Em virtude da complexidade do objeto de estudo, optamos pela pesquisa qualitativa, buscando compreender os fenmenos a partir dos prprios sujeitos envolvidos na pesquisa. Assim, trabalhamos com a pesquisa ao e desenvolvemos uma cultura de anlise das prticas em conjunto com os docentes (BOGDAN & BIKLEN, 1994). OBJETIVO GERAL Investigar a capacidade do texto imagtico de mediar o dilogo de professores acerca de sua profisso. METODOLOGIA Na dinmica do processo de formao continuada, participamos de uma pesquisa ao, quando desenvolvemos uma oficina com professores dos anos finais do ensino fundamental de uma rede municipal de ensino. Na oportunidade, trabalhamos com a leitura de livros imagticos. Para este artigo, relataremos as leituras do livro Catarina e Josefina, de Eva Furnari. Escaneamos o livro Catarina e Josefina e o apresentamos aos professores utilizando um projetor de mdia. A atividade iniciada com uma predio do ttulo da obra Catarina e Josefina. O mediador pergunta: Vocs conhecem alguma pessoa chamada Catarina?. Prontamente, uma das professoras responde: Conheo. Logo, o mediador pergunta: Como , Niza114, a Catarina que voc conhece?. A professora relata e, em seguida, o mediador pergunta: Algum conhece alguma Josefina? Josefa?. Logo, Susana responde. O mediador agradece e pergunta a outra professora: Meire, como que voc imagina Catarina e Josefina? O que ns vamos encontrar? Voc j leu esse livro? A professora responde: No. Eu acho que devem ser pessoas que residam no campo, pode ser [...] Eu observei a gravura e d a impresso de ser do campo, como uma coisa do campo (Meire). Com a atividade de predio, as professoras a partir de suas vivncias pessoais, comearam a envolver-se com a temtica da obra, ou seja, anteciparam possveis fatos que poderiam ser encontrados na narrativa. Dando continuidade, o mediador explicou que se tratava de um livro de imagens e que possivelmente cada leitor teria uma interpretao diferente. Pediu que prestassem ateno e fizessem uma atenta leitura. Ao passar as pginas, rapidamente Meire falou: aquilo que eu falei. Catarina trabalha no campo. A agora l vem a Josefina. Outra professora perguntou: A gente j pode ir dizendo?. O mediador pediu que nesse primeiro momento cada um fizesse uma leitura silenciosa. Percebemos que a arte literria encanta no apenas aos leitores mirins. As professoras, j adultas, envolveram-se com o prazer que a literatura proporciona e no atentaram para o comando
114
Os nomes das professoras foram substitudos por pseudnimos.
213
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
dado pelo mediador. Assim, as leitoras medida que as imagens apareciam na tela j faziam sua interpretao oral. As pginas foram sendo passadas e observamos que as professoras estavam atentas s imagens apresentadas. Em seguida, o mediador pediu que as educadoras escrevessem, em duplas, as compreenses que tiveram de Catarina e Josefina. Essa tarefa foi muito bem acolhida pelas docentes. Posteriormente, as professoras fizeram as leituras de suas produes. Algumas enfatizavam a questo da inveja que Josefina sentia de Catarina, outras a aproximao que se transformava em amizade ou que preciso fazer o bem, independente das circunstncias. DISCUSSO DOS RESULTADOS Toda leitura evoca outras experincias de leitura, propiciando o desenvolvimento da capacidade criativa e um melhor desempenho no apenas na escola, mas na vida, haja vista que o aluno leitor experimenta novas ideias, desenvolve o raciocnio lgico, a capacidade de argumentao alm de ampliar o conhecimento de sua cultura e da de outros povos. O interessante foi perceber que cada texto construdo pelas professoras tinha suas particularidades, seu estilo. A partir disso, foi lanado um desafio: relacionar a leitura de Catarina e Josefina ao trabalho desenvolvido pelas educadoras em suas escolas. Vejamos o que pensam as educadoras:
Assim, de Josefina tem muitas, mas tambm tem Catarinas. Mas no trabalho pedaggico, da escola, a gente sabe que tem aquelas meninas que so uma pedra no sapato [...] Eu sempre procuro fazer as coisas de maneira correta, saber onde estou pisando, pra pisar com firmeza e procuro sempre dialogar [...] E a gente procura dialogar e conversar e a pessoa s vezes est disposta a ouvir ou no, s vezes aceita, s vezes no aceita, mas a gente vai tentando, vai remando (Niza). comum assim, a gente sabe que a parbola da Josefina existe muito no dia-a-dia, na escola, principalmente. Mas isso importante pra gente se elevar. bom essa histria da Catarina, que essa questo de ser invejosa, mas de forma criativa[...]. Eu tava at vendo ontem uma passagem que dizia assim: o que no faz a diferena que muitos copiam o que os outros fazem. Que copiem, mas que copiem com criatividade, que dem uma moldura diferente ao negcio e se bom, que continuem copiando. E s vezes a gente sabe que tem aquele compromisso, tem aquela responsabilidade, mas bom de vez em quando ter algum pra questionar a gente, que a gente j sabe que tem que entrar naquela linha mesmo, que no pode fraquejar um pouquinho, que a gente est sempre sendo policiada mesmo, de forma direta ou indireta, e a onde a gente deve sempre ficar atenta, e isso bom pra ficar fazendo o nosso trabalho direitinho (Meire). Eu acho que de vez em quando a gente fica torcendo pra que seja tudo perfeito e ns vamos nos angustiar sempre, que a gente fica nessa espera que nunca vai ser. Eu acho que a individualidade de cada um, a diferena de cada um s traz vantagens ao trabalho enquanto escola porque se eu tenho professores e funcionrios que dizem amm, tudo bem em tudo, a que eu preciso me preocupar porque t errado, no t bem, no pode estar tudo ok e essas pedrinhas no sapato servem pra gente ficar sempre alertas pra como vai ficar, pra no se machucar, pra no machucar, mas tambm no deixar de fazer isso porque vai ferir algum, vai machucar algum, claro que eu no posso ser desumano, mas no vou me descompromissar porque tenho medo[...] (Lia).
214
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
No cotidiano escolar, muitos so os desafios que o docente enfrenta, exigindo uma nova identidade profissional para conviver com o diferente. Assim, sem uma adequada formao de professores, no h ensino de qualidade (NVOA, 1995). O professor reflexivo preocupado com o bom desenvolvimento de sua prtica precisa de uma comunho de saberes, de experincia e de reflexo que o oriente nas tomadas de deciso em classe. Vejamos mais excertos que trazem a relao da leitura de Catarina e Josefina com o trabalho docente:
Eu vi que a gente tem que fazer o seguinte, o melhor remdio pra gente seguir em frente[...] Quem quiser se incomodar que se incomode; o que disserem de voc no vai mudar, voc tem que preservar... Voc tem que levantar a sua cabea e seguir em frente. Porque o que fica o profissional da gente, o que realmente conta o profissional, quem realmente voc (Eva) Existem sim as Catarinas[...] A gente v alguns professores disputando[...] A gente escuta de vez em quando, quando a gente vai discutir algumas questes com o professor e ele: no, eu j sei, eu j sei e na verdade nem fez e nem sabe. Mas bom que tenha gente desse jeito, que faa a gente ser uma pedagoga muito preparada, ter sempre as respostas, que sempre pede reforo... E que isso faa crescer. Lgico que tem a questo da inveja, do individualismo... Mas tem tambm a questo da hombridade. Eu tenho muito cuidado nas minhas palavras quando me dirijo a uma pessoa e se eu achar que uma palavra no foi conveniente eu peo desculpas (Susana).
interessante verificar que a leitura do livro Catarina e Josefina aflorou vrios sentimentos que as educadoras guardavam. As imagens oportunizaram s professoras uma imerso em sua vida profissional e elas compartilharam sentimentos e reflexes sobre seu trabalho, sobre sua vida. Os excertos evidenciam, em grande medida, que nem sempre h nas escolas o respeito entre os pares. A competio faz com que a inveja aflore e prejudique o bom relacionamento entre os profissionais, conforme detalha uma das professoras:
Tem tambm uma coisa que a gente precisa entender: uma das piores caractersticas da globalizao a competio. Ento a gente v a competio o tempo todo[...] Eu vejo muito isso, que as pessoas esto competindo e se destruindo, elas esto ficando profundamente ss porque a competio vira fuxico, vira puxao de tapete, puxao de saco e vem o que h de pior das pessoas, tira toda a sua autoestima. O prprio fato de voc fazer um pouco mais, de voc estar fazendo o seu trabalho bem feito, s o fato de voc existir e existir bem, ser reconhecido como profissional, j agride algum (Susana).
Cabe ao docente ser sujeito de sua formao e estar apto a atender aos mais diversos pblicos, respeitando e acolhendo as diferenas, no apenas de seus pares, mas, sobretudo, dos estudantes. Tambm no precisamos ficar desconfiados de tudo ou de todos. s vezes uma ao inesperada de outro serve para que analisemos a maneira como estamos conduzindo as nossas atividades. Por outro lado, as professoras tambm ressaltam a importncia de ser um bom profissional, de estar preparado para atender s demandas do cotidiano. H aqueles estudantes que requerem maior ateno por parte do professor, seja porque tem dificuldade em compreender determinada matria ou porque fazem de tudo simplesmente para chamar a ateno.
215
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
O dilogo se mostra como fundamental para a resoluo de questes prprias da sala de aula ou da escola. preciso fazer um exerccio de escutar o outro e buscar muitas vezes de maneira imediata uma resposta para aquele determinado problema. O educador, segundo alguns relatos, no deve ter medo de enfrentar determinadas situaes. CONSIDERAES FINAIS Nas prticas de formao, interessante que se utilizem tcnicas participativas para que estas gerem um processo de ensino-aprendizagem libertador, de natureza coletiva, permeado pela discusso e pela reflexo, possibilitando a ampliao do conhecimento individual e coletivo. O trabalho com a arte literria favoreceu a troca de experincias entre os professores, desvelando vrias possibilidades de compreenso do texto lido, bem como os deixando livres para manifestarem suas opinies, o que configurou um momento de socializao profissional. A pesquisa evidencia que os professores sentiram-se motivados pela leitura de livros imagticos, relacionando-a com sua vida, com seu trabalho. A leitura aguou a curiosidade dos docentes e oportunizou uma imerso em seu eu interior, levando-os a exteriorizarem suas reflexes, seus sentimentos, seus anseios. O encantamento que os docentes mostraram pela arte literria no deve ficar apenas com eles ou restrito aos momentos de formao. Pelo contrrio, deve chegar s salas de aula para que os estudantes desfrutem da magia que a literatura proporciona. Para tanto, a criatividade precisa ser aguada, por meio de atividades que despertem no docente e no estudante o gosto pela leitura. REFERNCIAS ARAJO, M. A. L. Os sentidos da arte: coexistncia entre arte e educao. Cadernos de Educao, Feira de Santana, v. 1, n. 4, 2001. BARTHES, Roland. Aula. So Paulo: Cultrix, 1997. BOGDAN R. & BIKLEN, S. Investigao Qualitativa em Educao: uma introduo teoria e aos mtodos. Portugal: Porto Editora, 1994. FREIRE, Paulo. A importncia do ato de ler: em trs artigos que se completam. So Paulo: Autores Associados, 1989. FURNARI, Eva. Catarina e Josefina. Belo Horizonte: Formato Editorial, 1990. GHEDIN, E; ALMEIDA, M. I; LEITE, Y. U. F. Formao de professores: caminhos e descaminhos da prtica. Braslia: Liber Livro, 2008. LAJOLO, Marisa. O que literatura. So Paulo: Ed. Brasiliense, 1994. LIMA, M. S. L & SALES, J. O. C. B. Aprendiz da prtica docente: a didtica no exerccio do magistrio. Fortaleza: EdUECE, Demcrito Rocha, 2003. MANGUEL, Alberto. Lendo imagens: uma histria de amor e dio. So Paulo: Companhia das Letras, 2001. NVOA, Antonio. Os professores e sua formao. Lisboa: Dom Quixote, 1995. PIMENTA, S. G; LIMA, M. S. L. Estgio e docncia. So Paulo: Cortez, 2009.
216
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O ESTGIO SUPERVISIONADO COMO PAPEL FUNDAMENTAL NA FORMAO DE PROFESSORES.
Edvar Ferreira Baslio115 Marilha da Silva Bastos116
RESUMO Sendo o estgio supervisionado uma atividade prtica onde reflete toda a teoria estudada e pesquisada, torna-se essencial apresentar a sua grande relevncia nos currculos dos cursos de formao de professores, pois a partir dessa prtica que h uma formao integral dos alunos. O presente estudo tem como objetivos: analisar o conceito de estgio a partir de autores estudados e pesquisados, verificar como a disciplina de estgio vem sendo trabalhada no currculo do curso de Pedagogia e observar o papel que o estgio supervisionado vem desempenhando nos cursos de formao de professores. A pesquisa foi realizada atravs de um estudo de caso onde as informaes necessrias foram obtidas atravs de pesquisas bibliogrfica e de campo. Na pesquisa bibliogrfica, foram feitos pesquisas e estudos a partir dos autores: Barreiro, Lima, Pimenta, entre outros. Por meio da pesquisa de campo, foi utilizado como instrumento de investigao a aplicao de questionrios com dez alunos j formados do curso de Pedagogia de uma Universidade pblica do Cear. O objetivo da disciplina de estgio supervisionado no currculo do curso de Pedagogia proporcionar ao aluno a oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadmicos em situaes da prtica, criando a possibilidade do exerccio de suas habilidades. O estgio supervisionado uma disciplina insubstituvel nos currculos dos cursos de formao de professores. a partir dela que os alunos vo adquirir um melhor conhecimento e experincia profissional da rea que futuramente iro atuar. PALAVRAS-CHAVE: Estgio supervisionado. Currculo. Formao de professores. INTRODUO Sendo o estgio supervisionado uma atividade prtica onde reflete toda a teoria estudada e pesquisada, torna-se essencial apresentar a sua grande relevncia nos currculos dos cursos de formao de professores, pois a partir dessa prtica que h uma formao integral dos alunos. O estgio a prtica onde o futuro professor ter o seu primeiro contato com o seu futuro campo de atuao. A partir disso, ele pode ser considerado como o meio em que acontece um elo entre o conhecimento construdo e a experincia real que os discentes tero em sala de aula quando profissionais. De acordo com Pimenta e Lima (2012), o estgio como campo de conhecimentos e eixo curricular central nos cursos de formao de professores possibilita que sejam trabalhados aspectos indispensveis construo da identidade, dos saberes e das posturas especficas ao exerccio profissional, ou seja, aspectos da formao docente como um todo.
115
116
Especialista em Geografia: Educao ambiental- UECE e-mail: edvarbasilio@yahoo.com.br Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Cear UFC e-mail: marilhaba@yahoo.com.br
217
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
OBJETIVOS O presente estudo tem como objetivos: Analisar o conceito de estgio a partir de autores estudados e pesquisados; Verificar como a disciplina de estgio vem sendo trabalhada no currculo do curso de Pedagogia; Observar o papel que o estgio supervisionado vem desempenhando nos cursos de formao de professores.
METODOLOGIA A pesquisa foi realizada atravs de um estudo de caso onde as informaes necessrias foram obtidas atravs de pesquisas bibliogrfica e de campo. No que se refere pesquisa bibliogrfica, foram feitos pesquisas e estudos a partir dos autores: Barreiro, Lima, Pimenta, entre outros. Por meio da pesquisa de campo, foi utilizado como instrumento de investigao a aplicao de questionrios com dez alunos j formados do curso de Pedagogia de uma Universidade pblica do Cear. A anlise e a interpretao dos resultados foram feitas de acordo com os objetivos pretendidos na pesquisa. DISCUSSO DOS RESULTADOS Segundo Bianchi et al. (2005), o Estgio Supervisionado uma experincia em que o aluno mostra sua criatividade, independncia e carter. Essa etapa lhe proporciona uma oportunidade para perceber se a escolha profissional corresponde com sua aptido tcnica. De acordo com Oliveira e Cunha (2006), o estgio supervisionado uma atividade que propicia ao aluno adquirir a experincia profissional que relativamente importante para a sua insero no mercado de trabalho. Nas pesquisas e entrevistas realizadas vimos que: a disciplina de estgio uma disciplina e ao mesmo tempo atividade obrigatria que deve ser realizada pelos alunos de cursos de graduao em licenciatura. A mesma est inserida nos currculos j nos ltimos semestres, com o intuito de o aluno obter a prtica da sua profisso j na finalizao do curso. De acordo com as ementas da disciplina, nos primeiros encontros da disciplina de estgio supervisionado, so realizados estudos tericos onde definem o que o estgio e qual o seu sentido e significado. Mais adiante que os alunos vo para a prtica do estgio, cumprindo toda a carga horria exigida no currculo do curso. O objetivo da disciplina de estgio supervisionado no currculo do curso de Pedagogia proporcionar ao aluno a oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadmicos em situaes da prtica, criando a possibilidade do exerccio de suas habilidades . Podemos observar que o estgio supervisionado vem desempenhando um papel fundamental nos cursos de formao de professores em geral, pois ele realiza-se como um ensaio
218
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
de sua futura prtica profissional. Para Mafuani (2011), o estgio supervisionado baseia-se em um treinamento que possibilita aos estudantes vivenciarem o que aprenderam durante a graduao. Durante o estgio, por meio da observao, da participao e da regncia, o aluno poder construir futuras aes pedaggicas, por isso ele considerado um preparo para uma prtica docente de qualidade. De acordo com os alunos que responderam os questionrios, quando termina a disciplina (prtica) de estgio supervisionado, eles sentem-se um pouco mais seguros para enfrentarem o campo de trabalho, para realizarem suas atividades, pois a partir dessa prtica do estgio que eles conhecem a realidade do que vo encontrar em sua futura rea de atuao. CONSIDERAES FINAIS O estgio supervisionado uma disciplina insubstituvel nos currculos dos cursos de formao de professores. a partir dela que os alunos vo adquirir um melhor conhecimento e experincia profissional da rea que futuramente iro atuar. de grande importncia o estgio supervisionado para a aquisio da prtica profissional, pois durante esse perodo o aluno pode colocar em prtica todos os conhecimentos tericos que adquiriu durante a graduao. O estgio supervisionado visto como uma oportunidade de crescimento profissional, tendo em vista que: quanto maior a experincia do profissional, melhor ser desenvolvido o seu trabalho. O aluno que passa por uma completa e boa prtica de estgio supervisionado, tem a sua formao bem mais rica e uma prtica eficiente. REFERNCIAS BARREIRO, Irade Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou. Prtica de ensino e Estgio Supervisionado na formao de professores. So Paulo: Editora Avercamp, 2012. BIANCH, A. C. M; et al. Orientaes para o estgio em licenciatura. So Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. MAFUANI, F. Estgio e sua importncia para a formao do universitrio. Instituto de Ensino Superior de Bauru. 2011. Disponvel em: http: //www. iesbpreve.com.br/base.asp? pagnoticiaintegra. asp e IDN Notcia- 1259. Acesso em: 10 mai. 2013. OLIVEIRA, E. S. G; CUNHA, V. L. O estgio supervisionado na formao continuada docente distncia: desafios a vencer e construo de novas subjetividades. Revista de Educacin a distancia. Ano V, n. 14, 2006. Disponvel em http: //WWW.um.es/ead/red/14/. Acesso em 11 mai. 2013. PICONEZ, Stela C. B. A prtica de ensino e o estgio supervisionado. Campinas, SP: Papirus, 2012. PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estgio e docncia. So Paulo: Cortez, 2012- ( Coleo Docncia em formao- Srie saberes pedaggicos).
219
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
CONCEPO DE LICENCIANDOS EM CINCIAS BIOLGICAS DA FACED-UECE ACERCA DA INTERDISCIPLINARIDADE EM SUA FORMAO INICIAL.
Jos Ivo Pereira Jnior117 Maria Elismar da Silva Sousa118
RESUMO O presente trabalho apresenta a CONCEPO DE LICENCIANDOS EM CIENCIAS BIOLGICAS DA FACEDI-UECE ACERCA DA INTERDISCIPLINARIDADE EM SUA FORMAO INICIAL. O mesmo tem o objetivo de compreender e analisar a concepo desses licenciandos acerca da interdisciplinaridade. O presente trabalho foi realizado atravs de pesquisa qualitativa com alunos do curso de Cincias Biolgicas, foram selecionados aleatoriamente dez licenciandos do curso de cincias biolgicas da FACEDI-UECE. Os sujeitos da pesquisa responderam a um questionrio composto com quatro perguntas abertas. Os resultados obtidos com a anlise das similaridades das respostas indicaram que a interdisciplinaridade muito importante para na formao inicial de professores, pois leva o mesmo a compreender e futuramente trabalhar a mesma em sala de aula. Conclumos que o assunto abordado na pesquisa deve ter maior ateno nos cursos de licenciatura, isso devido sua complexidade e amplitude no que diz respeito as prticas educacionais onde a mesma deve ser tratada com maior rigor no mbito de ensino, pois os licenciandos necessitam desse contato com a interdisciplinaridade, uma vez que a mesma faz com que estes saiam da faculdade preparados para trabalhar diversas disciplinas interligadas a da sua rea de formao atingindo o que tanto cobrado no regimento educacional da escola. INTRODUO Na atualidade um dos assuntos que tem grandes discusses sobre a interdisciplinaridade. Assim, pode-se dizer que a interdisciplinaridade a interligao entre diversas reas do conhecimento. Embora esse assunto seja muito discutido, notrio que muitos profissionais sentem a necessidade de um melhor esclarecimento, para que os mesmos sintam-se capazes de trabalhar em sala de aula a interdisciplinaridade. A utilizao da interdisciplinaridade em sala de aula pode possibilitar o aluno a ter uma viso mais ampla do mundo ao seu redor e tambm identificar eixos de ligao entre diversas reas/disciplinas, como por exemplo, Biologia e Matemtica, ou Qumica e Portugus. Tanto que segundo (Thiesen, 2008) A discusso sobre a temtica da interdisciplinaridade tem sido tratada por dois grandes enfoques: o epistemolgico e o pedaggico, ambos abarcando conceitos diversos e muitas vezes complementares. No campo da epistemologia, toma-se como categorias para seu estudo o conhecimento em seus aspectos de produo, reconstruo e socializao; a cincia e seus paradigmas; e o mtodo como mediao entre o sujeito e a realidade.
117
118
Graduando em Cincias Biolgicas(FACEDI-UECE). ivo-2009@hotmail.com
Graduanda em Cincias Biolgicas(FACEDI-UECE). elismar.biologia@gmail.com
220
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
OBJETIVOS GERAIS O trabalho tem os seguintes objetivos: Analisar a concepo dos alunos que cursam o semestre vigente no perodo 2013.1 do curso de cincias biolgicas da FACEDI- UECE acerca da interdisciplinaridade em sua formao inicial; Identificar se os alunos do curso de cincias biolgicas da FACEDI UECE entendem o assunto interdisciplinaridade; Analisar a importncia da interdisciplinaridade em sua formao inicial e seu uso em sala de aula dentro da instituio que estudam e Verificar se estes alunos se sentem aptos a trabalhar a interdisciplinaridade em sala de aula seu futuro campo de atuao. METODOLOGIA A presente pesquisa baseou-se em uma abordagem qualitativa, onde foi aplicado um questionrio estruturado com quatro questes abertas para dez licenciandos do semestre vigente 2013.1. Metodologia esta que segundo Cervo e Bervian (1983), o questionrio a forma mais usada para coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatido o que se deseja. Para a realizao desse trabalho, apenas cinco dos dez licenciandos que receberam o questionrio responderam e nos entregaram para anlise. E estes mesmo so alunos do curso de cincias biolgicas da FACEDI - UECE. Ento para se obter os resultados, analisamos as similaridades entre as respostas dos sujeitos da pesquisa. Ressaltando que os sujeitos dessa pesquisa foram escolhidos aleatoriamente, obedecendo a regra de abranger um ou dois alunos de cada semestre vigente em 2013.1. Isso com o intuito de a partir da anlise destes dados, conseguirmos compreender a concepo desses licenciandos sobre o que eles entendem e da importncia da interdisciplinaridade em sua formao inicial. DISCUSSO DOS RESULTADOS Para analisar os dados, foi questionado o conhecimento dos licenciandos a respeito do tema em foco na pesquisa. E nas respostas desta questo verificou-se que todos tem um conhecimento prvio sobre o assunto. Todos do grupo amostral deste estudo concordam que sua formao inicial coloca em contato com a interdisciplinaridade e enfocaram que o assunto de melhor compreenso quando o professor faz a interligao de vrias disciplina e cada uma com sua particularidade influencia no aprendizado da outra. Desse modo percebemos a grande relevncia de se trabalhar com esse assunto, visto que esses esto sendo formados para serem professores e cada dia cobrado a interdisciplinaridade em sala de aula. Quando questionados acerca da importncia da interdisciplinaridade em sala de aula, todos responderam que importante, pois o assunto pode ser tratado com maior abrangncia facilitando o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Na concepo de trs sujeitos da pesquisa, mesmo com o conhecimento e com o contato com a interdisciplinaridade no seu processo de formao inicial, no esto aptos a trabalha-la em sala de aula. Significando assim que os demais enfocam a interdisciplinaridade como a aproximao dos mesmos com uma realidade mais ampla, auxiliando assim seus aprendizados na compreenso das complexas redes conceituais, possibilitando ao
221
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
mesmos um maior significado e sentido dos contedo aprendidos permitindo uma formao mais consistente e responsvel destes. CONSIDERAES FINAIS Desse modo conclumos que o assunto abordado na pesquisa deve ter maior ateno nos cursos de licenciatura, isso devido sua complexidade e amplitude no que diz respeito as prticas educacionais onde a mesma deve ser tratada com maior rigor no mbito de ensino, pois os licenciandos necessitam desse contato com a interdisciplinaridade, uma vez que a mesma faz com que estes saiam da faculdade preparados para trabalhar diversas disciplinas interligadas a da sua rea de formao atingindo o que tanto cobrado no regimento educacional da escola. Visando assim melhores resultados no ensino-aprendizagem de seus alunos. Enfim, muitas so as limitaes relacionada ao assunto abordado na pesquisa e todo esses problemas iniciam desde a formao e em muitas vezes continuam durante o processo de ensino. Portanto a interdisciplinaridade necessria e imprescindvel para o ensino, visto que com a interdisciplinaridade os licenciandos podero romper com algumas limitaes das tcnicas de ensino que influenciam na aprendizagem destes de forma negativa, no permitindo que estes visualizem as disciplinas como um todo, mantendo uma aprendizagem de forma fragmentada e descontextualizada com o meio que os cercam. REFERNCIAS CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia Cientfica: para uso dos estudantes universitrios. 3. ed. So Paulo, McGraw-hill do Brasil, 1983. THIESEN, Juares da Silva. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensino-aprendizagem. Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 39 set./dez. 2008.
222
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
INICIAO A DOCNCIA EM UMA ESCOLA NO INTERIOR DO CEAR: EXPERINCIAS DO PIBID-MATEMTICA-UVA
Mrcio Nascimento da Silva119 Suiane Virginia Pereira Loiola120
RESUMO Este artigo tem a finalidade de relatar as experincias adquiridas atravs das atividades desenvolvidas durante o semestre 2013.1 pelo PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciao a Docncia), subprojeto de Matemtica, da Universidade Estadual Vale do Acara UVA. Este programa prope articular o estudante de licenciatura com a educao bsica, promovendo a insero do acadmico na realidade das escolas pblicas ainda no perodo da graduao. Neste texto so apresentadas algumas reflexes sobre as vivncias em sala de aula em uma escola pblica municipal da Regio Norte do estado do Cear. Atravs da anlise das diversas situaes ocorridas na turma, constata-se que o PIBID tem se apresentado como um elemento importante para a formao docente, uma vez que ele proporciona aos estudantes bolsistas futuros professores uma dimenso do exerccio da profisso no contexto educacional atual. PALAVRAS-CHAVE: Docncia. PIBID. Formao. Matemtica. INTRODUO O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciao Docncia) prope articular o estudante de licenciatura com a educao bsica, promovendo a insero do acadmico na realidade das escolas pblicas. O subprojeto de Matemtica do PIBID da Universidade Estadual Vale do Acara UVA promove a realizao de atividades em busca de uma melhor formao para os bolsistas participantes. Pienta (2006, p.106) afirma que a iniciao docente uma fase crtica em relao s experincias anteriores e aos reajustes a serem feitos em funo da realidade do trabalho e do confronto inicial com a dura e complexa realidade do exerccio da profisso. Para que essa fase ocorra com uma menor dificuldade importante que a prtica em sala de aula ocorra ainda durante a graduao.
Mestre. Docente do Curso de Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara e Coordenador de rea do PIBIDMatemtica-UVA. Bolsista PIBID/CAPES. marcio@matematicauva.org 120 Graduanda. Discente do Curso de Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara. Bolsista PIBID/CAPES.
119
suianeloiola@hotmail.com
223
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
So vrias as atividades realizadas pelos bolsistas deste subprojeto: seminrios, observaes em sala de aula, intervenes, elaborao e aplicao de projetos, formaes, reunies, dentre outros. Os trabalhos so direcionados pelo coordenador de rea e os bolsistas so divididos em equipes que atuam em escolas parceiras, sob a superviso de professores das prprias escolas. Durante o primeiro semestre de 2013 foram realizadas diversas atividades, tanto no mbito escolar como no acadmico, de grande importncia e que certamente contriburam para uma formao mais adequada dos estudantes bolsistas. So para atividades no mbito escolar que os estudantes bolsistas usam a maior parte do tempo destinado ao projeto, em especial, o acompanhamento semanal em sala de aula. OBJETIVOS GERAIS Este trabalho tem a finalidade de fazer uma breve anlise dos resultados obtidos atravs das observaes e intervenes realizadas pelas bolsistas do PIBID do curso de Licenciatura em Matemtica da UVA nas turmas de 9 ano, do turno matutino, da Escola Maria do Carmo Carneiro, Massap Cear. As observaes so realizadas com o intuito de verificar as dificuldades dos alunos em relao aos contedos estudados e a partir disto planejar as intervenes com base nesses contedos, a fim de contribuir para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Alm disso, as observaes e intervenes destinam-se tambm para contribuir na formao do aluno bolsista, uma vez que ele passa a vivenciar mais intensamente as situaes em sala de aula, mantendo um contato mais prximo com a realidade, muitas vezes no vista em perodo apenas de estgio supervisionado. Esse contato obtido contribui na formao do professor pesquisador, como expe Garrido e Brzezinski:
A pesquisa na prtica ou reflexo sobre a reflexo na ao em que os professores envolvidos ressignificam suas prticas e propem novas estratgias de ao, torna o prprio processo de interveno objeto de pesquisa. A natureza processual marca a investigao reflexiva. O professor-pesquisador, ao intervir, muda a realidade que estuda. E ele prprio tambm se modifica: passa a ter outra compreenso da situao. (GARRIDO e BRZEZINSKI, 2006, p.619)
METODOLOGIA No primeiro semestre de 2013, o subgrupo de bolsistas do PIBID-Matemtica-UVA desenvolveu seu trabalho na Escola de Ensino Fundamental Maria do Carmo Carneiro, localizada em Massap Cear. Dentre as vrias atividades, observaes e intervenes foram realizadas nas salas de aula dos 9 ano A e 9 ano B, ambos manh. Semanalmente, as bolsistas devem acompanhar as aulas ministradas por um determinado professor observaes e auxiliar os alunos nas atividades e exerccios propostos, buscando tirar as dvidas sobre o contedo estudado. Alm disso, em alguns dias previamente combinados com o professor regente, as bolsistas devem assumir a aula intervenes como forma de iniciao a docncia.
224
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O primeiro contato com a escola em questo foi na turma do 9 ano A e ocorreu logo no primeiro dia letivo. Devido falta de professor de matemtica, houve a oportunidade de uma boa conversa com os alunos, expor os objetivos do PIBID, descrever as atividades que seriam realizadas com a turma, alm de aplicar atividades diagnsticas com o Tangram. A falta de professor ainda perdurou por duas semanas, o que adiou o trabalho de observao a ser realizado. Assim que as aulas de matemtica tiveram incio, comeou-se a fase de observaes das aulas do professor regente. Os contedos ministrados por ele foram potenciao e introduo estatstica. Suas aulas seguiam sempre a mesma ordem: explicao com resoluo de exemplos e exerccios para fixar o contedo estudado. Esse professor dominava o contedo e conseguia transmit-lo claramente para os alunos. Porm o mesmo havia assumido as aulas apenas temporariamente e mais uma vez as turmas do 9 ano ficaram sem professor de matemtica. Outro professor assumiu as aulas de matemtica das turmas em questo e o perodo de observao foi retomado. Os contedos de estatstica e potncias foram revistos e, posteriormente, passou-se a radiciao e equao do segundo grau. Percebeu-se uma certa semelhana entre as didticas dos dois professores. J com relao turma, percebeu-se que alguns alunos apresentam dificuldades e demonstram ter carncia em relao a contedos anteriores. Muitos perdem tempo copiando do quadro por no terem recebido o livro didtico, que insuficiente em quantidade e, alm disso, no o mesmo livro que o professor utiliza. Ainda, alguns apresentam desinteresse ou rotulam a matemtica como complicada e por isso no se empenham em aprend-la.
No trabalho escolar importante que o professor seja capaz de envolver os alunos em um leque de situaes didticas adequadas, isto , situaes que se colocam como problema e que, de algum modo, desafiam seus saberes anteriores, conduzindo a reflexo sobre novos significados e novos domnios de uso desses saberes. (MOREIRA, 2005, p.56)
Diante desta situao, as intervenes foram planejadas com o objetivo de se minimizar as dificuldades enfrentadas e reforar o contedo estudado. Procurou-se utilizar alguns mtodos e recursos diferentes dos quais o professor regente utilizava. Para cada interveno, um TD trabalho dirigido era elaborado e acompanhado de uma explicao resumida mas objetiva, alm de exerccios para reforar os contedos. A resoluo individual e s vezes em grupos era bastante incentivada e as bolsistas estavam sempre dispostas a tirar as dvidas enquanto os alunos praticavam as resolues. DISCUSSO DOS RESULTADOS As observaes e intervenes so uma excelente forma das bolsistas adquirirem experincia e conhecer a realidade de sala de aula. Para as turmas nas quais o PIBID est presente, ter bolsistas presentes mostrou-se vantajoso, pois os alunos podem ter um acompanhamento melhor, o que no seria possvel para o professor regente sozinho. Tambm ficou evidente que muitos alunos tem receio de tirar dvidas com o professor e sentem-se mais seguros em pedir ajuda s bolsistas.
225
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
J para os estudantes bolsistas, as observaes permitiram reconhecer as dificuldades enfrentadas pelos alunos e atravs das intervenes buscar desenvolver atividades que proporcionassem uma melhor compreenso dos assuntos estudados. Alm disso, o fato das bolsistas planejarem as intervenes auxiliou na formao docente, aumentando sua bagagem de conhecimento e gerando experincia. Tambm notrio que a observao da figura do professor regente, de como ele se posiciona em determinadas situaes no cotidiano de sala de aula e de como ele transmite seu conhecimento para os alunos contribui para a formao docente do estudante bolsista, pois a funo de ensinar, caracterizadora do profissional que somos, ou queramos ser, na minha perspectiva, consiste, diferentemente, em fazer com que outros adquiram saber, aprendam e se apropriem de alguma coisa. Roldo (2007, p.36) CONSIDERAES FINAIS Um dos grandes desafios do ensino da matemtica tornar a matria mais acessvel para os alunos que apresentam dificuldades. Para que isso acontea o professor deve fazer o uso de tcnicas inovadoras e/ou eficazes alm de estar em formao permanente. Essas caractersticas so proporcionadas aos futuros professores atravs do PIBID. O curso de Licenciatura em Matemtica da UVA j oferece disciplinas de Estgio Supervisionado, que ajudam a ter olhar crtico sobre a postura do professor, observando suas metodologias e sua prtica em sala de aula. Porm, os que participam do PIBID podem refletir sobre essas questes ao mesmo tempo em que colocam em prtica o que aprendem no decorrer da graduao; tem-se a possibilidade de manter contato com a realidade do ambiente escolar e de se desenvolver atividades que visam promover o ensino-aprendizagem. As demais atividades das quais os bolsistas do PIBID participam tambm so de grande importncia para a formao docente. Elas proporcionam aos estudantes bolsitas, como futuros professores, uma maior dimenso do exerccio da profisso no contexto educacional atual. REFERNCIAS GARRIDO, E.; BRZEZINSKI, I. A pesquisa na formao de professores. In: BARBOSA, R. L. L. (org). Formao de Educadores: artes e tcnicas, cincias e polticas. So Paulo: Editora UNESP, 2006. p.619. MOREIRA, P. C.; DAVID. M. M. M. S. A Formao Matemtica do Professor: Licenciatura e prtica docente escolar. Belo Horizonte: Autntica. 2005. p.56. PIENTA, Ana Cristina G. Aprendendo a ser professor: dilemas e dificuldades na construo da prxis pedaggica do professor iniciante. PUCPR, Curitiba, 2006. p.106. ROLDO, M. do C. Formar para a excelncia profissional pressupostos e rupturas nos nveis iniciais da docncia. So Paulo: Educao e linguagem. 2007. p.36.
226
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA NO CURRCULO ESCOLAR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA FORMAO DE PROFESSORES A PARTIR DA LEI 10.639/03
Fernanda Lcia de Santana Barros121 Henrique Cunha Jnior122
RESUMO O texto prope uma discusso e anlise dos efeitos da Lei 10.639/03, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional-LDB e seus reflexos nos ltimos dez anos, 2003-2013, com o intuito de discutir os dilemas enfrentados com a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira, como tambm os desafios e possibilidades que a implantao da lei trouxe no cenrio educacional brasileiro e no currculo escolar, principalmente na formao continuada de professores. Da anlise feita a partir da formao continuada de professores e obrigatoriedade da aplicabilidade da cultura africana e afro-brasileira, conclumos que existe muito a ser superado e que a base para uma aplicabilidade efetiva da lei no currculo escolar est na formao continuada de professores, para que os mesmos tenham elementos para intervir e contribuir na educao para as relaes tnico-raciais de crianas, jovens e adultos para que estes se reconheam sujeitos histricos, afirmando suas razes e identidade. A formao de professores na temtica das relaes tnico-raciais ainda uma lacuna histrica no cenrio educacional brasileiro, havendo a necessidade de formaes que fomente um ensino colaborativo para aplicabilidade e conhecimento da diversidade. Foi verificado que a formao continuada de agentes sociais e professores da rede pblica de Fortaleza e Caucaia no curso de extenso Afro Arte Matemtica, trouxeram grandes contribuies nas suas prticas-pedaggicas, aprendizado de leituras e linguagens da arte africana, das contribuies africana e afrodescendente no ensino da matemtica, superando os desafios, ampliando as possibilidades de discusses e intervenes no campo da memria cultural afro-brasileira. Palavras-Chave: Cultura africana, afro-brasileira, formao continuada. INTRODUO H dez anos a Lei n. 9394/96 de Diretrizes a Bases da Educao Nacional LDB, foi alterada pela Lei de n 10.639/03, que estabelece o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas pblicas e privada no pas. Muitos desafios foram impostos aos professores que no seu processo formativo no tiveram disciplinas que contemplasse a referida temtica, mesmo porque, uma srie fatores contribua para o desconhecimento da cultura africana, um desses desconhecimentos era justamente em ver um continente rico em diversidade como um pas,
Mestranda em Educao Brasileira da Universidade Federal do Cear UFC e-mail: nandafernandas@yahoo.com.br Professor do Programa de Ps-Graduao em Educao Brasileira na Universidade Federal do Cear UFC hcunha@ufc.br
122 121
227
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
marcado por guerras, fome, doenas e sem civilizao. O que para Cunha Jnior (2008), uma estratgia para que no sejam destacadas as riquezas culturais e conhecimento existente no continente africano. Existe omisso da historiografia e esse fator inegvel, mas por outro lado, o preconceito e a ignorncia fizeram e fazem com que um continente seja reduzido as ideias de como se fosse um pas. Isso ocorre por qu? Essa uma pergunta que gera muitas reflexes, pois sabemos que a mdia durante muito tempo reforou essa viso distorcida sobre a frica, fazer essa temtica chegar os bancos escolares um desafio no qual o professor ter que superar e rever seu papel enquanto profissional da educao, refazendo seu repertrio de informao e formao . As dificuldades so as barreiras mentais e no o conhecimento em si. No , e nem ser uma tarefa fcil superar com rapidez uma omisso histrica, mas a formao continuada de professores tem possibilitado grandes avanos para a aplicabilidade da cada vez mais da Lei de n10. 639/03 e sua complementao Lei de n11. 645/08. As leis estabeleceram novas diretrizes e bases da educao nacional, para incluir no currculo oficial a obrigatoriedade da temtica (MATHIAS, 2008, p. 108). Por esse motivo as formaes continuadas se fazem necessria porque dez anos depois de sancionada a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira nos deparamos com vises desfocadas do continente africano, principalmente reforado pela mdia e que infelizmente reflete na sala de aula e nos livros didticos. O Egito, por exemplo, deve ser reconhecido como pas pertencente do continente africano, ser ressaltado em sala de aula. Salientando suas diversidades culturais como parte da cultura africana. Egito, Nbia e Etipia foram um conjunto cultural importante para a histria africana e da humanidade. Esconderam que o Egito africano, porque faz parte de uma ideologia reforar que a frica era um pas sem civilizao e cultura, ao invs de afirmar sua beleza e pioneirismo nas tecnologias e principalmente nos avanos na rea da sade. A identidade negra, africana e afro-brasileira, se fortifica, se tonifica, vista e revista na frica, a partir e atravs da Lei 10.639/03 (FONSECA, 2011. p. 56). coma inteno de trazer questionamentos e reflexes que neste texto esto sendo discutidos os desafios e possibilidades a partir da Lei de n 10.639/03, que completa dez anos de sancionada, possibilitando uma nova viso de educao para as relaes tnico-raciais, principalmente buscando por uma interpretao da histria sob uma tica plural, estabelecendo um dilogo que preza pela diversidade brasileira, como exemplo, ressaltando as contribuies dos povos africanos para a formao da populao brasileira, destacando algumas iniciativas desenvolvidas no Cear, no municpio de Fortaleza e Regio Metropolitana com projetos que visam formao continuada de professores, para que estes possam intervir na omisso histrica, elencando no currculo escolar prticas que visem a promoo da diversidade no ensino da cultura africana e afro-brasileira. OBJETIVOS GERAIS O objetivo geral discutir a formao continuada de professores a partir da aplicabilidade de Lei 10.639.03, como tambm analisar os efeitos da alterao da Lei de Diretrizes a Bases da
228
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Educao Nacional - LDB h dez anos com o sancionamento da lei para a aplicabilidade da cultura africana e afro-brasileira no currculo escolar. METODOLOGIA A pesquisa qualitativa, bibliogrfica e documental, analisando os desafios e possibilidades da obrigatoriedade da aplicabilidade da cultura africana e afro-brasileira no currculo escolar, como tambm na formao de professores a partir Lei 10.639/03, onde as discusses apresentadas visam propiciar uma analise e reflexo dos mecanismos que tem possibilitado a formao de professores para atuar no ensino da temtica tnico-racial e sua trajetria nos ltimos dez anos (2003-2013), perodo em que a lei foi sancionada alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional-LDB. DISCUSSO DOS RESULTADOS Essas iniciativas de formao continuada de professores foram realizadas em nvel de extenso em um curso denominado Afro Arte Matemtica, que contou com o apoio da Secretaria de Educao Continuada SECAD, em que o curso tinha como um dos objetivos principais a formao continuada de professores de Fortaleza e do municpio de Caucaia. A educao permanente uma necessidade, o que para Freire (2002), a educao permanente na razo da necessidade do ser humano sempre saber mais. E sobre essa questo Freire tambm destaca que ensinar exige o reconhecimento e a assuno da identidade cultural (FREIRE, 2002. p. 41). Essas aes foi em cumprimento da determinao da obrigatoriedade da Lei 10.639, foi possvel nesses trabalhos motivar e estimular novos conhecimentos e possibilidades de aplicabilidade da cultura africana e afro-brasileira, nas realizaes de aulas prticas e tericas, nas realizaes de oficinas com professores com formao em relaes tnico-raciais. Foi possvel perceber a contribuio do referido curso para a aplicabilidade da afrodescendncia nas escolas de Fortaleza e Caucaia e principalmente por fomentar um trabalho de aprendizado colaborativo que priorizou por dar nfase aos conhecimentos no explorado pelo segmento formal de educao o que tornou a iniciativa de grande importncia e relevncia. O principal ponto de partida foi fazer os professores repensar seu papel enquanto educador e investir na sua prtica pedaggica e curricular. O que para Candau (2002), a incluso da temtica na formao de professores uma necessidade e promoo do tema no espao escolar uma tarefa de todos. A incluso do tema pluralidade cultural no processo educacional procura favorecer a mudana de mentalidades, superar o preconceito e combater atitudes discriminatrias (CANDAU, 2002, p. 138). A arte e a matemtica so dois componentes importantes da cultura africana. No entanto no so tratadas com tal importncia, assim a formao buscou pela mudana de mentalidades como, e tambm se configurou em uma iniciativa que visou a formao de professores, existindo a necessidade de mais cursos com os mesmos propsitos de modo a ampliar o nmero de professores com formao na temtica das relaes tnico-raciais para que seja possvel uma diminuir o desconhecimento sobre a temtica, como tambm uma necessidade a difuso do assunto em pauta.
229
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
CONSIDERAES FINAIS importante que a partir da obrigatoriedade da Lei de n10. 639/03 se faa valer de fato a sua aplicabilidade, que sejam criados mecanismos de incentivos que vise formaes continuada de professores e que tragam a educao e diversidade cultural como pauta e temas cada vez mais frequentes nos centros de discusses, sejam eles os movimentos sociais, acadmicos ou escolares, e que a sociedade civil passe a cobrar seus direitos aos setores pblicos com promoes e incentivos de politicas que fomentem a educao igualitria e de plenos direitos para todos os cidados e cidads brasileiros. A escola deve ser vista como um espao sociocultural, marcada por uma pluralidade significativa, em que a comunidade esteja presente, contribuindo na formao de seu alunado, contribuindo e tornando-os sujeitos histricos, ativos e crticos, principalmente reconhecendo sua identidade. Para Munanga (2000), a identidade um fator de extrema importncia para que os indivduos possa ter um alicerce e sobre tudo fonte de sentidos e experincias individuais e coletivas. Anterior a Lei de n 10.639/03, essas questes eram dadas por iniciativas isoladas de professores, que preocupados em atender a diversidade, faziam suas aes individuais, sem apoio dos demais, por conta do desconhecimento. Considerando esse desconhecimento, que hoje em pleno sculo XXI predomina, temos que pensar em formas de atenuar essas divergncias e diferenas, buscando por uma educao igualitria. E a formao continuada de professores tem possibilitado avanos significativos para a educao para as relaes tnico-raciais. Da anlise, conclumos que a Lei 10.639/03 sancionada h dez anos tem criado novos mecanismos para reparar uma omisso histrica, verificamos que existe a necessidade de projetos que vise formao continuada de professores, que as iniciativas atuais tm sortido efeitos trazendo novas possibilidades curriculares e informaes no tratadas. Os desafios esto em superar as desinformaes, os preconceitos e o desconhecimento sobre a temtica das relaes tnico-raciais que ainda persiste e precisam ser superados com novas iniciativas de formaes de professores. REFERNCIAS BRASIL. Presidncia da Repblica. Casa Civil. LEI n. 9394. Publicada em 20 de dezembro de 1996. BRASIL. Presidncia da Repblica. Casa Civil. Lei n.o 10.639. Publicada em 09 de janeiro de 2003. BRASIL. Presidncia da Repblica. Casa Civil. Lei n.o 11.645. Publicada em 10 de maro de 2008. CANDAU, Vera Maria. Sociedade, educao e culturas. Petrpolis: Rio de Janeiro: vozes, 2002. CUNHA JNIOR, Henrique. Metodologia Afrodescendente de Pesquisa. Ethnos Brasil. Cultura e Sociedade, Ano VI, n 1, Junho de 2008. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. So Paulo: Paz e Terra, 2002.
230
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
FONSECA, Dagoberto Jos. Os africanos e os afro-brasileiros: um novo reencontro-a importncia e o imaginrio em torno da Lei 10.639.03. In: LAIA, Maria Aparecida de. SILVEIRA, Maria Lcia da. SZMYHIEL, Adriana (Orgs). A universidade e a formao para o ensino de histria e cultura africana e indgena: desafios e reflexes. Srie Cadernos CONE, So Paulo, 2011. MATHIAS, Jos Ronaldo Alonso. Ensino da histria da cultura afro e indgena uma experincia contra o preconceito. In: LAIA, Maria Aparecida de. SILVEIRA, Maria Lcia da. SZMYHIEL, Adriana (Orgs). A universidade e a formao para o ensino de histria e cultura africana e indgena: desafios e reflexes. Srie Cadernos CONE, So Paulo, 2011. MUNANGA, Kabengele. O preconceito racial no sistema educativo brasileiro e seu impacto no processo de aprendizagem do alunado negro. In: Utopia e democracia na Escola Cidad. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do RGS, 2000.
231
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
AS TECNOLOGIAS DE INFORMAO E COMUNICAO - TIC'S COMO FONTES PARA A FORMAO DOCENTE
Denyse Maria Borges Paes Jos Borges da Silva Neto Maria Naires Alves de Souza
RESUMO Na sociedade contempornea evidenciam-se avanos tecnologicos e aumento no fluxo informacional, esta realidade gera deficiencias na qualidade do ensino e mudanas na formao docente so necessrias. Verificasse alteraes no perfil dos alunos e nos paradigmas de ensino e aprendizagem. Com isso, os professores passam a preocupar-se mais em utilizar-se das inovaes tecnolgicas. Assim esta pesquisa busca rretratar que na sociedade atual, os docentes precisam estar em constante processo de aprendizado e aperfeioamento. Apresenta como metodologia, uma reviso bibliogrfica, com aportes tericos de autores da rea, para melhor entender a temtica ora abordada. Objetiva apresentar a importncia da qualificao profissional, bem como a necessidade de se conhecer e utilizar as ferramentas disponveis para tal qualificao, a fim de que haja o aprimoramento do professor e melhoria em sua atuao profissional. Finaliza, apresentando essas ferramentas, elencando sua importncia. PALAVRAS-CHAVE: Formao Docente. Qualificao. Tecnologias da Informao e da Comunicao. INTRODUO No contexto de transformaes tecnolgicas, perceptvel que as Tecnologias da Informao e Comunicao (TICs), de maneira inevitvel, esto presentes em todos os segmentos da sociedade, seja no meio poltico, econmico ou social, e por sua vez, influi significativamente no cotidiano dos indivduos, seja de forma direta ou indireta. Desta maneira, dentre as formas atuais de progresso tecnolgico, salienta-se a rede mundial de computadores - Internet -, que interliga computadores, possibilitando a construo de ambientes de interao, produo de conhecimentos e que porventura possibilita novos mecanismos de ensino e aprendizagem. Segundo Lvy (1999, p. 92), este conjunto de redes digitais configurado como ciberespao (...) espao de comunicao aberto pela interconexo mundial dos computadores e das memrias dos computadores. Nessa perspectiva o ciberespao conforme afirma Arajo (2004), configura hoje uma nova era, a Era da Informtica, das mltiplas janelas, da hipertextualidade, do dirio digital, de uma
232
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
nova sociabilidade. Tornando-se, portanto inerente a todos os espaos da sociedade, inclusive para disseminao e preservao de documentos. Assim, a internet utilizada por milhes de pessoas diariamente, para os mais diversos fins, seja para o comrcio, o lazer, a pesquisa, a socializao de informaes, dentre outros. Sob o aspecto do ciberespao, compreendemos que com o advento das TICs, os setores da sociedade como um todo, foram afetados, o avano desta, resultou em grandes mudanas como, por exemplo, a telemedicina, o ensino distncia, o comrcio eletrnico, a digitalizao, a preservao digital, as interaes mediadas por uma tela de computador, enfim, no se pode ignorar que, essas ferramentas tecnolgicas possibilitaram alteraes significativas na forma de ver e perceber o meio a nossa volta. Com isso surgi necessidade de repensar a questo do ensino, como mecanismo propulsor de atualizao e engajamento do indivduo no contexto atual. A partir do que foi exposto, ressaltamos a relevncia de haverem estudos/pesquisas em torno desta temtica, visto que as ferramentas utilizadas na disponibilizao da informao e consequente aprimoramento do conhecimento, esto interligadas as TICs, por isso merecem um lugar de destaque nas discusses e estudos nas diversas reas do conhecimento. Na sociedade atual, as tecnologias da informao e da comunicao (TIC's), vem provocando constantes avanos que trazem mudanas ao universo informacional. Os docentes se veem desafiados a atuarem no mercado de trabalho em constante mutao, tendo que lidar com as TIC's e com o excesso de informao. Nesse contexto, se destaca a educao continuada, ferramenta capaz de possibilitar a atualizao, aprimoramento e desenvolvimento dos profissionais que dela se utilizam. Este trabalho apresenta-se com cunho bibliogrfico, que consiste numa investigao atravs do levantamento de produes cientficas publicadas sobre a temtica abordada, para tomarmos embasamento sobre o que se pesquisa a respeito. OBJETIVO GERAL Refletir sobre a importncia da educao a distncia para os professores e apresentar algumas ferramentas utilizadas para o aperfeioamento do mesmo nos dias atuais. METODOLOGIA Nossa metodologia baseia-se em uma pesquisa de cunho exploratrio, que segundo Gil (2007. p.43) objetiva proporcionar uma viso geral, do tipo aproximativo de um determinado fato. De natureza bibliogrfica, alavancando uma discusso terico-conceitual sobre a temtica, utilizando-se como recursos, artigos, livros etc. Teve uma abordagem quantitativa que para Rodrigues (2006, p. 89), est relacionada quantificao, anlise e interpretao dos dados obtidos mediante pesquisa, ou seja, formular generalizaes a partir da anlise objetiva dos dados. DISCUSSO DOS RESULTADOS A educao continuada de fundamental importncia para qualquer profissional que intencione atuar de forma produtiva no mercado de trabalho, uma vez que vivemos em uma
233
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
sociedade, conhecida como sociedade da informao, que vem exigir cada vez mais, um maior comprometimento dos indivduos, afinal, ela trouxe mudanas significativas ao mundo do trabalho, ao disponibilizar uma vasta e diversificada gama informacional. Dentro deste contexto nota-se que a disposio de instrumentos capazes de possibilitar a continuidade educacional, que permita ao profissional a eliminao de deficincias existentes, de forma que aprimore os seus conhecimentos, conhea as novas exigncias e se atualize, devem ser do conhecimento de todos. pensando desta forma, que iremos apresentar algumas ferramentas de qualificao, das quais podemos aqui citar: a leitura de livros e peridicos, a participao em palestras, reunies, cursos, seminrios, oficinas, treinamentos, cursos de ps-graduao, dentre outros. Sabe-se que a leitura proporciona ao leitor uma experincia rica ao facilitar o seu posicionamento na sociedade onde vive e atua, fazendo com que o mesmo conhea e se aproprie da informao, e utilize-a para se colocar diante de questes, a partir de suas leituras e experincias de vida. O indivduo assume uma postura crtica em relao realidade em que se situa (SANTOS, 2007, p. 20). A leitura de peridicos permite ao profissional o conhecimento e atualizao de temticas tratadas na atualidade, podendo desta forma compreender o novo e aprimorar a realizao de atividades, melhorando assim a sua atuao. Outro instrumento significante para a educao continuada de qualquer profissional so os eventos, onde o profissional poder ter acesso a palestras, vdeo conferencia, mesas redondas, discusses mediadas por pesquisadores. Ao participar de tais eventos o profissional poder ainda, divulgar pesquisas que vem realizando, atravs da exposio de trabalhos orais ou em formato de pster. Entendemos que a participao em congressos, cursos, palestras, seminrios e encontros so formas de educao continuada que podero ser utilizadas para o aperfeioamento profissional, uma vez que o mesmo se interesse pela sua qualificao e busque tais instrumentos para dar continuidade a sua formao, se aprimorando e se tornando consciente das exigncias e necessidades, e assim possa atuar de forma produtiva no mercado de trabalho. Guimares (1997 apud PROSDCIMO; OHIRA, 1999, p. 9) alerta para
a necessidade da educao continuada referindo-se a participao em cursos, seminrios, workshops e estgios que proporcionem novas experincias, de modo altamente interativo e que possa estimular e facilitar a criatividade entre os participantes.
Portanto, a educao continuada necessria para o aperfeioamento profissional, ela vem possibilitar a interao entre os profissionais, estingando uma demanda na preparao, formao e aperfeioamento profissional, evidenciando questes a serem dialogadas e discutidas atravs de encontros entre pesquisadores, e profissionais, formados em uma mesma rea, mas que, entretanto atuem em ambientes diferentes. Permitindo a divulgao de idias j formuladas, e incentivando a
234
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
produo de novas concepes que venham a acrescentar valor aos pensamentos j existentes, ou que sejam contrrios e vislumbrem novos horizontes. Algumas organizaes na tentativa de incentivar o aperfeioamento educacional do funcionrio vem implementando incentivos como: o aumento salarial, que estabelecido com base na ps-graduao concluda. importante salientar que os incentivos dados pela instituio e os demais instrumentos disponibilizados, por si s, no possibilitaro o aprimoramento do profissional, preciso uma conscientizao por parte dos indivduos para continuidade educacional, necessrio que os mesmos vislumbrem a importncia da continua formao como meio de seu autodesenvolvimento. importante ainda, chamar a ateno para as instituies educacionais, associaes e conselhos para que proporcionem a educao continuada, oferecendo eventos e cursos aos profissionais. CONSIDERAES FINAIS Os profissionais esto convictos de que as tecnologias da informao e comunicao tm contribudo com grandes mudanas e inovaes em suas reas de conhecimentos, provocando um esforo por atualizao, capacitao, adaptao e aperfeioamentos contnuos, como tambm tm exigido novas habilidades e atitudes comportamentais, imprescindveis aos profissionais que anseiem por qualidade e competitividade em seu desempenho profissional. No panorama atual impulsionado pela exploso da informao, os profissionais precisam buscar alternativas para ampliar suas qualificaes e competncias, sendo ele o principal responsvel e provocador pela demanda por educao continuada. Contudo, o que foi exposto aqui, que existem diferentes mecanismos para a qualificao profissional, e esperamos que este trabalho possa contribuir como referncia para aqueles que procuram por formaes alm de sua graduao. REFERNCIAS ARAJO, J.C. A conversa na Web: o estudo da transmutao em um gnero textual. In. MARCUSCHI, L.A. & XAVIER, A.C. (ORGS.) Hipertexto e gneros digitais: novas formas de construo de sentido. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. p. 91-109. RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia cientfica. So Paulo: Avercamp, 2006. GIL, Antonio Carlos. Mtodos e Tcnicas de Pesquisa Social. 5. ed. So Paulo: Atlas, 2007. LVY, Pierre. Cibercultura. So Paulo: Editora 34, 1999. OLIVEIRA, Marlene de (Coord.). Ciencia da informao e biblioteconomia: novos contedos e espaos de atuao. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005. SANTOS, Jussara Pereira. O Perfil do profissional bibliotecrio. In: VALENTIM, Marta Pomim (org.) Profissionais da informao: formao, perfil e atuao profissional. So Paulo: Polis, 2000. p. 107-117. SANTOS, Jussara Pereira (org.). A leitura como prtica pedaggica na formao do profissional da informao. 22. ed. Rio de Janeiro: Fundao Biblioteca Nacional, 2007.
235
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
RELAO ENTRE PESQUISA E TRABALHO DOCENTE NA INTEGRAO DA PRTICA PEDAGGICA
Bruna Krcia Sousa Lima123 Maria Luciete dos Santos 124 Carmen Virgnie Sampaio Avelino3
RESUMO Este trabalho apresenta como objetivo discutir a relao entre a pesquisa e o ensino, tendo como base a literatura referente a temtica em estudo. Para tanto, o estudo se concretizou a partir de um procedimento investigativo bibliogrfico de carter qualitativo. Assim, foram analisadas e discutidas escritas de alguns autores que abordam a relao entre pesquisa e o ensino, dentre essas escritas foram selecionadas obras literrias que so favorveis pesquisa do professor e outros que divergem desta ideia. Assim, percebeu-se, norteado por estudos anteriores que possvel afirmar que h muitas divergncias entre o ensino e atividade de pesquisa, onde apesar de muitos acreditarem que pesquisa e ensino devem caminhar juntos para que o processo de ensino e aprendizagem tenha xito, muitos tambm defendem que a pesquisa no deve nortear o trabalho docente. Portanto, o trabalho realizado deixa claro que nem todos os tericos da rea educao so adeptos 100% da ligao entre ensino e pesquisa na prtica do educador. PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa. Ensino. Reflexo INTRODUO Desde muitos anos se discute a respeito da relevncia da pesquisa no trabalho docente, sobretudo no ensino, destacando a ideia de que a pesquisa deve ser posta como uma fonte que articula este trabalho e incita o professor a desenvolver atividades investigativas que consequentemente implicam em novas descobertas mtodos que possa auxiliar o seu trabalho. O trabalho docente constitui-se de mudanas contnuas, imprevisveis, e muitas vezes imprescindveis, necessitando que tal profissional esteja aberto a essas possveis mudanas em sua prtica. Diante do pressuposto que as metodologias e prticas esto em constante transformao, assim como o prprio ambiente social em que o aluno est inserido, a formao contnua e o aperfeioamento do professor tornam-se indispensvel.
Licencianda em Cincias Biolgicas, pela Universidade Estadual do Cear (UECE). E-mail: brunakercia18@gmail.com Graduada em Cincias Biolgicas, pela Universidade Estadual do Cear (UECE). E-mail; lucieteramos61gmail.com Licencianda em Cincias Biolgicas, pela Universidade Estadual do Cear (UECE). E-mail: carmensampaio85@gmail.com
124 3
123
236
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
A pesquisa tem uma perspectiva investigativa, que tem por intuito apresentar respostas a um determinado questionamento. Dessa forma, o docente precisa se envolver na prtica da pesquisa realizando indagaes e procurando as possveis respostas, assim ele poder refletir sobre sua prpria prtica de ensino medida que encontra alteraes a serem postas. Severino (2008) reflete que alguns dos motivos pelos quais o professor precisa se inteirar a pesquisa: primeiro, para acompanhar o desenvolvimento histrico do conhecimento, segundo, porque o conhecimento s se realiza como construo de objetos. O autor ressalta ainda, que a prtica da pesquisa deve ser o caminho do processo de ensino e aprendizagem. Assim sendo, a pesquisa precisa ser fixada na prtica pedaggica, para que possa proporcionar uma consistente instituio do conhecimento, tanto por parte do professor que desperta seu prprio estimulo de pesquisador, bem como favorecer os alunos, aproximando-os da produo cientfica, estreitando a relao entre teoria e prtica. Considerando-se a realidade da execuo da pesquisa no cotidiano escolar, pode ser observado que alguns professores ainda desenvolvem suas atividades de ensino desconectadas das atividades de pesquisa, desvinculando a pesquisa dos contedos que lecionam, limitando a apropriao dos conhecimentos, interferindo de forma negativa no processo de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, no apresenta um esprito investigativo com inquietudes quanto algumas situaes no satisfatrias no ensino. Azevedo (2010) considera a pesquisa como instrumento de aprendizagem docente, quando objetiva uma maior apropriao do conhecimento atravs de reflexo, crtica, investigao e interveno, processos estes que devero ser integrados na docncia. Portanto, possvel que o professor aprenda por meio da pesquisa, mas desde que esta aprendizagem seja acompanhada da reflexo, fator este, muito importante no exerccio da docncia. Estudos realizados por Prez (1995) sobre a relao entre a atividade de pesquisa e o trabalho docente, advertem que a atividade do professor, assim como a sua preparao, so tarefas de extraordinria complexidade e riqueza, o que exige do profissional docente uma associao de maneira indissolvel da docncia e pesquisa. Desta maneira, percebe-se que os processos investigativos podem ser entendidos como importantes meios que fortalecem trabalho do educador. OBJETIVO GERAL Discutir a relao entre a pesquisa e ensino com base na literatura. METODOLOGIA O trabalho teve como procedimento de investigao bibliogrfica, apresentando carter qualitativo com base em textos de autores que abordam a relao entre pesquisa e o trabalho docente. O levantamento levou em considerao autores que advogam a eficcia da pesquisa no ensino, como tambm autores que afirmam impossibilidade do professor fazer pesquisa, onde foram analisadas e discutidas essas diferentes concepes, procurando desvendar possveis distines conceituosas a esse respeito, com o intuito de obter dados para o trabalho desenvolvido. Tornou-se necessrio para a excusso da investigao estudos aprofundados com base na literatura, os quais permitissem uma visualizao clara ao ponto de se estabelecer relaes com o objetivo do trabalho.
237
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
DISCUSSO DOS RESULTADOS Os procedimentos utilizados para a obteno dos dados se concretizaram a partir da anlise crtica das leituras realizadas de algumas obras de autores que constituem maior familiaridade com o objeto da pesquisa. Com a finalidade de instigar o objetivo do trabalho, buscaram-se, pela anlise de algumas bibliografias j construdas fundamentaes acerca do tema em estudo que permitissem dar partida para esse processo de investigao. A atividade de pesquisa se enquadra como importante meio que permite a construo do conhecimento, possibilitando respostas a diversos questionamentos. Prez (1995) enfatiza que todo conhecimento a resposta a uma questo e no se pode conceber uma pesquisa que no esteja ligada a problemas que interessem ou preocupem, isto , problemas que despertem uma inquietao. Prez (1995) ressalta ainda que a atividade do professor precisa se fundamentar alm do ato de ministrar aulas, exige um trabalho coletivo de inovao e pesquisa e orientar a aprendizagem como uma pesquisa insere mudanas intensas no papel do professor e novas cobranas formativas. Assim sendo, a atividade do professor pode ser entendida como uma imprescindvel associao docncia e pesquisa, vinculando-se desse modo em constante construo do conhecimento. Cabe ressaltar que atravs da atividade de pesquisa o profissional docente troca o carter de reprodutor do ensino onde apenas repassa o que j aprendeu anteriormente pelo carter de produtor do ensino, onde se coloca como pesquisador e fornecedor de conhecimentos buscados por si mesmo. Boavida (2004) diz que a pesquisa contribui para a prpria prtica e para o aperfeioamento da mesma, e consequentemente com a da docncia como um todo. Deste modo, o professor se torna capaz de examinar com sabedoria crtica e sistemtica a prpria prtica. No se trata de desvalorizar a profisso docente, nem to pouco valorizar a de pesquisar, mas sim instigar atitudes reflexivas por parte do professor. Assim a educao ganha com o resultado da pesquisa e a pesquisa contemplada com os saberes prticos dos professores. H grupos que afirmam que a proposta da atividade de pesquisa exige saberes especficos, distintos da atividade de ensinar. Foster (1999) considera que a pesquisa dos professores da educao bsica no tem relevncia para a prtica docente, bem como os mtodos empregados na pesquisa no apresenta fontes acreditveis de resultados. Torna-se provocante essa ideia que insiste em separar ensino e pesquisa, motivo que pode despertar certa inquietude por parte de quem consegue estabelecer essa relao e obter bons resultados com a mesma. Cabe concordar com Silva (2007) quando diz que as discusses em torno da formao do professor- pesquisador vem prosseguindo, permeados de polmicas e crticas e, ao que tudo indica, ho de continuar no se sabe at quando. Os trabalhos de Donald Schn (1983, 1987) advogam que o profissional reflexivo atua de forma to rgida quanto o profissional da pesquisa, uma vez que continuamente esto envolvidos na identificao de problemas e implementao de alternativas de soluo, para que seja registrado e analisado os dados que faz com que a atividade profissional deixe de ser distinta da atividade de
238
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
pesquisa. O autor destaca a relevncia da atividade reflexiva a fim de se efetivar a relao entre a atividade do professor e a pesquisa. Considera-se normal que no desenvolvimento de atividades profissionais o profissional faa uma reflexo sobre sua ao e baseada nela proponha mudana em sua prtica. nesse sentido que se defende a proposta de que o professor seja um agente de pesquisa, a fim de identificar problemas ligados ao ensino e nessas atividades de ensino e pesquisa a apreenso do conhecimento direo perseguida. CONSIDERAES FINAIS Ao final do trabalho realizado conclui-se que h muitas divergncias entre o ensino e a atividade de pesquisa. Embora haja uma srie de indagaes contrria pesquisa do professor da educao bsica, o mesmo no deve limitar-se a receber formulas prontas proposta por indivduos externos ao estabelecimento de ensino, muitas vezes fora do contexto social em que a escola est inserida. Entende-se atividade de pesquisa e o trabalho docente s estaro em uma mesma perspectiva quando o ensino for colocado como prioridade ao lado da pesquisa, dispensando aes criteriosas extremas, que dificultam a possibilidade do professor apresentar trabalhos comunidade cientfica, limitando produes de conhecimentos na rea do ensino. REFERNCIAS AZEVEDO, Maria Raquel de Carvalho. A docncia universitria face ao desafio de integrar ensino e pesquisa: reflexes sobre o aprender na prtica. Vozes da FACEDI: reflexes, experincias e perspectivas em educao. Fortaleza: EdUECE, 2010. FOSTER, Peter. Never mind the quality, feel the impact: A methodological assessment of teacher research sponsored by the Teacher Training Agency. British Journal of Educatinal Studies, n. 4, vol. 47, 1999, pp.380-398 GIL- PREZ, Daniel. Formao de professores Paulo:Cortez,1995.(Coleo questes da nossa poca: v.26). de cincias. 2.ed. So
PONTE, J.P.; BOAVIDA, A. Investigar a nossa prtica profissional: o percurso de um grupo de trabalho colaborativo. Educao e Matemtica, Lisboa, v. 77, p. 17-20, 2004. SEVERINO, Antnio J. Ensino e pesquisa na docncia universitria: caminhos para a integrao. Caderno de Pedagogia Universitria. So Paulo, Abril, 2008. SILVA, Silvina Pimentel. Ensino e formao docente no ensino superior. Formao e Prticas Docentes. Fortaleza: EdUECE, 2007. SCHN, Donald. The reflective practitioner: How professional think in action. Nova York: Basic Books, 1983. ________. Educating the practitioner. Londres: Jossey Bass Publishers, 1987.
239
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
FORMAO CONTINUADA DO PROFESSOR COORDENADOR PEDAGGICO NUMA ABORDAGEM REFLEXIVA
Emanuelle Oliveira da Fonseca125
RESUMO A figura do coordenador pedaggico fundamental na conduo de uma gesto eficaz, voltada para uma aprendizagem que busca suprir as necessidades dos alunos. Para tanto, esse gestor deve possuir conhecimentos que lhe proporcione condies de exercer a funo. Baseada nessa perspectiva, a pesquisa tem como objetivo analisar a formao do coordenador pedaggico e qual a sua concepo sobre gesto escolar. Para tanto, ser realizada uma pesquisa bibliogrfica baseada em autores que estudam sobre gesto pedaggica e formao docente, assim como uma pesquisa de campo em que ir apresentar uma entrevista com um coordenador pedaggico de uma escola estadual de Fortaleza. Os resultados apontam que a formao docente no deve estar limitada a formao inicial, mas deve ser uma formao continuada e que possibilite uma reflexo sobre a prtica. O entrevistado tambm apontou a importncia da formao proporcionada pelo governo como uma forma de capacitar os professores na dimenso pedaggica e acadmica. preciso considerar a ideia de que o professor seja um profissional ativo, que esteja em processo contnuo de formao e consciente de sua prtica educativa transformadora. Ao assumir a funo de coordenador pedaggico cabe ao professor buscar na natureza prpria da escola e dos objetivos que ela persegue os princpios, mtodos e tcnicas adequadas ao desenvolvimento de sua razo, com isso, haver uma constante reflexo sobre sua prtica. Palavras-chave: Coordenador Pedaggico. Formao docente. Prxis. INTRODUO O desafio da qualidade e de uma postura crtico-reflexiva diante das demandas da instituio e das polticas de educao sugere a necessidade de profissionais capazes de compreender a escola em seu contexto mais amplo na sociedade. Dentre essas atividades est a de coordenar a escola, tendo como prioridade proporcionar um ensino de qualidade, cujo foco principal a aprendizagem dos alunos. Nessa perspectiva, examinaremos a formao do coordenador escolar e o papel que desempenham no processo de aprendizagem dos alunos atravs de uma perspectiva critica e reflexiva. Partindo desse contexto foi que surgiu a nossa problemtica: qual a formao do coordenador pedaggico de uma escola estadual? E qual a concepo do mesmo sobre gesto escolar?
Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Cear. Mestranda em Educao pela Universidade Estadual do Cear. Email: emanuelle272@hotmail.com
125
240
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Em busca de responder nosso questionamento, temos como objetivo analisar a formao do coordenador pedaggico e como ela contribui para o desenvolvimento uma gesto comprometida em proporcionar um ensino-aprendizagem de qualidade. O objetivo da pesquisa compreender a concepo de gesto escolar e a formao continuada do coordenador como membro dessa gesto. Cabe a coordenao pedaggica trabalhar as questes didticas, devendo compartilhar os resultados, problemas e dvidas com a direo. Ela precisa ter a capacidade de analisar e discutir criticamente os contextos em que atua, bem como criar situaes de observao, investigao e reflexo, adquirindo a capacidade de movimentar e transformar os conhecimentos do coletivo. METODOLOGIA Para alcanarmos nossos objetivos iremos realizar uma pesquisa bibliografia atravs da concepo de tericos que estudam sobre gesto escolar e formao docente. Para tanto, usaremos uma de pesquisa se encaminha para a vertente qualitativa, pois acreditamos que esse enfoque retrata o pensamento reflexivo-investigativo do pesquisador durante todo o processo de pesquisa. Assim como um estudo de caso numa escola Estadual de Fortaleza, cujo sujeito da pesquisa foi um coordenador pedaggico, pois acreditamos que ele como membro da gesto pode contribuir significativamente para entendermos qual a concepo de gesto e que formao o mesmo possui para gerir uma escola. Como instrumento de colotas de dados realizamos uma entrevista semiestruturada com questionamentos relevantes ao nosso tema. DISCUSSO DOS RESULTADOS A formao do coordenador e suas contribuies para a gesto pedaggica Conforme Pimenta e Lima (2011, p.155) o objetivo do pedaggico se configura na relao entre elementos da prtica educativa: o sujeito que se educa, o educador, o saber e os contextos em que ocorre. A gesto que se compromete com a aprendizagem de seus alunos precisa valoriza o diagnstico dos desafios e das prioridades do ambiente escolar. Segundo Libneo et.al (2006, p.293) a organizao e a gesto diz respeito ao conjunto de normas e diretrizes, assim como de aes e procedimentos que asseguram uma racionalizao do uso dos recursos disponveis na escola, seja humanos, materiais, financeiros e intelectuais, compreendendo a coordenao e o acompanhamento do trabalho das pessoas. J por coordenao e acompanhamento compreendem-se as aes e os procedimentos destinados a reunir, a articular e a integrar as atividades das pessoas que atuam na escola, para alcanar objetivos comuns. Dessa forma, coordenar significa assumir perante o grupo a responsabilidade de fazer a escola funcionar atravs de um trabalho conjunto. Esse profissional passa a promover e estimular a conscincia critica e reflexiva dos professores, readequando e aperfeioando as medidas que foram tomadas atravs da participao dos docentes, tornando-os autores de sua prpria prtica. Para tanto, preciso saber organizar o tempo e a rotina de reflexo, desenvolvendo metodologias e habilidades que garanta uma maior comunicao entre os professores como forma de solucionar problemas e dificuldades.
241
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Conforme Libneo et.at (2006) o coordenador pedaggico ou professor-coordenador que coordena, acompanha, assessora, apoiando e avaliando as atividades pedaggico-curriculares. Uma das suas principais atribuies o relacionamento com os pais e com a comunidade, procurando inclu-los no processo de funcionamento pedaggico-curricular e didtico da escola, assim como nos mtodos de avaliaes dos alunos e interpretao que lhe so dadas. Formao continuada: conceito e pressupostos Conforme Lima (2001, p.30) a formao contnua a articulao entre o trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor, como possibilidade de postura reflexiva dinamizada pela prxis, ou seja, alicerada na reexo crtico-terica. A autora parte do pressuposto do trabalho como categoria fundante da vida humana e da prxis baseada num conhecimento em um determinado momento histrico de uma dada realidade. Muitas vezes as necessidades de formao dos professores no esto relacionadas ao desconhecimento sobre algo, mas da falta de informao que os profissionais tm a respeito de novas exigncias do trabalho profissional. Por isso, a necessidade de uma reflexo sobre a prtica como forma de questionar e aperfeioar a atividade docente. De acordo com Vsquez (1977) ao compreendermos a prxis devemos entender que a prtica no fala por si mesma, e por isso, deve sempre est ligada a uma teoria. Para que ele possa desempenhar seu papel de agente critico preciso que o docente reflita sobre seu trabalho de uma forma mais ampla, com isso ele estar agindo sobre a ao pedaggica que desenvolve. Esse espao de reflexividade deve ser dotado de uma autonomia, cabendo a gesto escolar subsidiar os meios necessrios para que o professor possa exercer sua prxis de forma transformadora e autnoma. O docente como agente de transformao, deve ter um posicionamento pessoal consciente e crtico que lhe permita encaminhar questes e incorporar conhecimentos necessrios na construo de um processo participativo que vai prevalecer a discusso das ideias, a aceitao de experincias vivenciadas pelos outros, baseado em um dilogo aberto e verdadeiro, fortalecido pelo esprito de cooperao. Conforme Vsquez (1977, p.248):
As exigncias da prtica contempornea (...) constituem uma poderosa fonte de desenvolvimento da teoria. A prtica em seu mais amplo sentido, e, particularmente, a produo, manifesta seu carter de fundamento da teoria na medida em que esta se encontra vinculada s necessidades prticas do homem social.
O desenvolvimento da teoria se d com base na prtica. A atividade terica s pode acontecer se estiver condizente com a realidade, sendo, portanto um objeto de interpretao e transformao que tem na sua prpria atividade prtica um fundamento inesgotvel. a prtica que vai servir de critrio de verdade e enriquecimento da teoria. preciso que o professor tenha clareza da sua funo social tanto na escola como na sociedade. Partindo desse pressuposto, podemos afirma que a forma de agir do homem no mundo exige um pensamento terico, ou seja, a prtica se torna fundamental para a teoria.
242
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Uma anlise da fala do sujeito Quando indagamos sobre o que seria gerir uma escola o coordenador afirmou que seria gerir interesses mltiplos e as vezes conflitantes, para tanto cabe aos professor ter pacincia e ser compreensivo, sabendo lhe dar com os conflitos. Ele caracterizou a gerencia de escola como sendo uma gerencia de pessoas. Essa concepo vai de acordo com o que Luck (2001, p.15) a credita quando afirma que o entendimento de gesto j pressupe, em si, a ideia de participao, isto , do trabalho associado de pessoas analisando situaes, decidindo sobre o encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto. Cabe gesto promover a redistribuio das responsabilidades como forma de aumentar a legitimidade do sistema escolar. Acreditamos que no precisa apenas lhe dar com os conflitos da comunidade escolar, mas tambm saber ouvir e compartilhar as decises, levando em considerao a opinio da mesma. Ao perguntarmos se acredita que sua formao suficiente para enfrentar as dificuldades encontradas em sua profisso, o mesmo afirmou que: suficiente, mas no significa uma acomodao, j que preciso estar sempre melhorando, seja por meio de cursos ou atm mesmo se atualizando atravs de revistas. Essa afirmao nos faz pensar a necessidade de uma formao continuada que possibilite os professores se atualizarem sobre os assuntos de sua rea de atuao e os tornem mais qualificados teoricamente para refletir sobre sua prtica. Ao indagarmos sobre a qualidade da formao oferecida pelo governo e quais suas contribuies para o exerccio da funo de gestor. O mesmo relatou que acredita que a escola pblica tem uma formao continuada mais eficiente do que na escola privada, j que o governo proporciona cursos dirigidos que permite uma capacitao pedaggica e acadmica eficaz, assim essa formao consegue proporcionar o conhecimento necessrio para o gestor. Com isso podemos perceber que os cursos de formao proporcionados pelas polticas pblicas exerce um papel fundamental na formao dos professores, seja no aspecto pedaggico ou na esfera administrativa. Todavia, o docente precisa buscar outros meios de qualificao, no devendo se limitar a uma formao aligeirada, ou que sirva pra cumpra apenas uma exigncia do governo. CONSIDERAES FINAIS A formao docente no pode se limitar a formao inicial tida na graduao, mas deve contemplar uma formao continuada, que possibilite os docentes estarem sempre se atualizando e adquirindo conhecimentos mais consistentes que iro auxiliar durante sua prtica, seja em sala de aula ou na gesto escolar. Como podemos perceber o sujeito entrevistado mostrou claramente a preocupao em se qualificar como forma de se manter atualizado e superar as dificuldades que a sua funo apresenta.
243
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Ao tomar conscincia da importncia de seu papel como agente formador o coordenador consegue desenvolver nos professores uma conscincia critica e reflexiva, estimulando o corpo docente a se qualificar de forma continua, no se limitando ao pragmatismo. Para tanto, preciso que o professor seja dotado de conhecimentos mltiplos, tornando-se um cidado de ideias crticas e comprometido com seus ideais de transformao. No entanto, a sua prtica no pode ser concebida de uma forma pragmtica, mas numa ao fundada em uma teoria atravs do processo ao-reflexo-ao, ou seja, na prxis. REFERNCIAS LIBNEO, J. C. OLIVEIRA, Joo Ferreira, TOSCHI, Mirza Seabra. Educao escolar: polticas, estrutura e organizao. So Paulo, Cortez Editora , 2006. LIMA, Maria Socorro Lucena. A formao contnua do professor nos caminhos e descaminhos do desenvolvimento profissional. (Tese de doutorado) So Paulo: Faculdade de Educao, USP, 2001. LCK, Helosa. et.al. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar. 5 Ed. So Paulo, 2001. PIMENTA, Selma G. LIMA, M. S. Estgio e Docncia. 6. Ed. So Paulo: Cortez, 2011. VSQUEZ, Adolfo Snchez (1977). Filosofia da Prxis. 2 ed. Rio e Janeiro, Paz e Terra, 1977.
244
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
CONTRIBUIES DO PIBID NA FORMAO DOCENTE
Fbio Gomes de Lima126
RESUMO O presente trabalho apresenta um relato das contribuies que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciao a Docncia PIBID, da Universidade Estadual Vale do Acara UVA, curso de Matemtica trazem aos acadmicos e futuros professores, baseado nas atividades realizadas ao longo do semestre 2013.1, levando-se em considerao as atividades desenvolvidas na Escola parceira, como tambm na Universidade. PALAVRAS-CHAVE: Contribuies. Atividades. Formao. INTRODUO Os cursos de licenciatura em geral, so baseados em uma longa e extensa carga horria terica, com a parte prtica ficando basicamente com os estgios, que nem sempre permitem uma fiel viso da profisso docente. Juntando-se a isso o desconhecimento da realidade do seio das escolas, bem como, das dificuldades e obstculos que o professor da contemporaneidade est submetido, esse somatrio pode ser fator determinante para o fracasso na docncia ou at mesmo para o abandono da profisso. Diante dessa realidade, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciao a Docncia PIBID vem proporcionando a um grande numero de universitrios dos cursos de licenciatura uma formao diferenciada e que tem como um dos objetivos aproximar os futuros professores da realidade e dos desafios das escolas, para que assim, possam refletir sobre todos os obstculos que encontraro no futuro e que ao invs de se chocarem com a realidade desafiadora ou at mesmo desistirem da profisso, possam iniciar suas atividades j contribuindo para a mudana e melhoria do atual quadro educacional. Se os professores em geral j enfrentam enormes dificuldades, o que dizer dos professores de matemtica que, sobetudo, enfrentam uma mitificao da disciplina. Aqui sero apresentadas e discutidas as atividades desenvolvidas pelo subprojeto de matemtica do PIBID/UVA ao longo do semestre 2013.1, com uma reflexo acerca das contribuies do programa para uma boa formao docente, bem como as contribuies alcanadas pelos bolsistas, para se tornarem bons professores de matemtica e saberem se comportar diante dos inmeros desafios que cercam a carreira docente.
Graduando. Estudando do curso de Licenciatura em Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara UVA. Bolsista PIBID/CAPES. fgomes41@yahoo.com.br
126
245
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
OBJETIVO GERAL Esse trabalho tem como objetivo apresentar as Contribuies do PIBID na formao docente, a partir das atividades desenvolvidas pelo subprojeto de Matemtica da Universidade Estadual Vale do Acara UVA. METODOLOGIA No decorrer do semestre 2013.1 os bolsistas do subprojeto de matemtica do PIBID/UVA, desenvolveram vrias atividades, sob a tutela e orientao da coordenao de rea. Algumas dessas so tradicionais e se repetem a cada perodo, como as observaes de aula semanalmente e as eventuais intervenes. A contribuio do PIBID na formao docente se d de vrios modos; a partir das mltiplas e diversificadas atividades, os bolsistas se deparam com os desafios e o mais importante: como super-los. As observaes em sala de aula levam a uma reflexo no apenas sobre o modo e a postura do ensinar e conduzir uma turma, mas tambm sobre o porqu do desinteresse dos alunos, que mal conseguem se concentrar ou apresentar interesse pelo contedo abordado. A escola parceira na qual o autor desse trabalho desenvolve suas atividades, a escola de ensino mdio Elza Goersch, est localizada na cidade de Forquilha, interior do Cear. Como antes mencionado, a falta de interesse dos alunos chama muito a ateno. A escola citada atende um grande nmero de alunos e assim as turmas so geralmente bem numerosas, o que pode ser um fator para tal problemtica. O desinteresse pelas as aulas de matemtica, para muitos, est relacionada abordagem que o professor faz a metodologia que utiliza e a pouca, ou nenhuma relao que os alunos fazem da matemtica com o seu dia a dia, pois geralmente os professores se atem muito aos livros didticos e no empregam aulas prticas e diversificadas. Afirma D Ambrsio (1989, p. 15), que na Educao Matemtica necessrio recorrer a metodologias diversificadas para a melhoria do ensino, pois hoje em dia, os alunos necessitam de estratgias que os faam quererem se engajar no movimento de aprender, pois muitos se tornam desinteressados ao ficar, na sala de aula, somente a ouvir o professor falar em aulas expositivas. Diante dessa discusso e da busca pela justificativa de tal desinteresse, o PIBID Matemtica UVA desenvolveu pela segunda vez um Projeto denominado Matemtica Concreta, que aborda o ensino de matemtica a partir de projetos de oficinas prticas. Nesse perodo, desenvolveu-se na escola acima citada um projeto de estudos de estatstica, intitulado: Variao de Custos da Cesta Bsica na Cidade de Forquilha. Uma percepo que pode ser retirada da aplicao de tal projeto a carncia que os alunos tm de aulas diferenciadas. O grande interesse dos alunos pela oficina deixa claro, que a forma da abordagem matemtica crucial para uma boa aprendizagem. Conforme sugere Tardif (2006), os saberes experienciais no so saberes como os demais; so, ao contrrio, formados de todos os demais, mas retraduzidos, polidos e submetidos s certezas construdas na prtica e na experincia. (p.54).
246
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Os bolsistas do subprojeto de Matemtica esto tendo a oportunidade de testar na prtica o que muitos tericos da educao relatam sobre o ensino, principalmente de matemtica. O xito das oficinas pode estar relacionado com a quantidade de alunos participantes e tambm ao modo prtico da abordagem dos contedos. O que leva a pensar como futuros professores, na insero de tais prticas nas aulas. Destacam Lorenzato (2006) e Moura (1999, 2007), que para a aquisio de conhecimentos matemticos por parte dos educandos. A utilizao de estratgias diversificadas (resoluo de problemas, modelagem matemtica, jogos, tecnologias informticas, o ldico, histria da matemtica, entre outras) pode favorecer significativamente a melhoria da prtica docente e o aprendizado dos alunos. A partir das experincias proporcionadas nas oficinas, coordenao de rea do PIBID Matemtica UVA, prope sempre a produo de artigos, relatando as experincias e contribuies docncia retiradas de tais oficinas, com isso, vem o aprendizado com relao escrita e o enriquecimento cultural com a leitura. Tem-se ainda, a oportunidade de participao em eventos para a divulgao do trabalho realizado. A apresentao de trabalhos produzidos pelos bolsistas, no se d apenas em eventos fora da UVA. Em janeiro desse ano, fora realizada uma semana de seminrios onde cada um dos bolsistas desenvolveu um artigo e o apresentou ao grupo, sobre temticas, antes selecionadas pela coordenao de rea. Foi um momento que possibilitou a conduo da apresentao de uma temtica explorada, dando a possibilidade de se ensaiar o falar em pblico, sendo que a apresentao de cada um foi filmada e depois repassada aos bolsistas para que eles mesmos pudessem se avaliar, principalmente com relao postura e os gestos corporais. sabido que a gesticulao corporal se bem empregada pelo professor, pode reforar a compreenso dos contedos. Pease (2005, p. 270) diz que as mais recentes pesquisas nos mostram e nos convence de que a linguagem corporal pode aumentar muitas coisas em nossas vidas. Podemos nos sentir mais confiantes no trabalho, convincentes e persuasivos. Outro evento, que foi parte significante das atividades desenvolvidas no programa em 2013.1, foi o primeiro ciclo de reflexes PIBID/UVA. Tal evento foi divido em quatro momentos, sendo cada um delegado a cada uma das equipes de bolsistas que atuam nas quatro escolas parceiras. Os temas selecionados pelo coordenador de rea formam temas polmicos e importantes, que proporcionaram discusses produtivas e que levou o grupo de bolsistas a refletir e trocar experincias com os graduandos que j esto exercendo a docncia e com professores do curso de Matemtica. Outro aspecto positivo do ciclo de reflexes foi o fato de ser aberto a todos os estudantes do curso e no apenas restrito aos bolsistas do PIBID/UVA. Como so perceptveis, as colaboraes do PIBID so muitas para uma formao docente mais completa. Um fator de grande aprendizado nesse evento acima citado, foi o desenvolvimento da capacidade de trabalho em equipe e de organizao de eventos, sendo que, o trabalho na escola exige essa capacidade. Para TARDIF (2011) o professor raramente atua sozinho. Ele se encontra em interaes com outras pessoas, a comear pelos alunos. De acordo com Giordan (1999), a formao de um esprito colaborativo de equipe contribui em um processo de contextualizao socialmente relevante.
247
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Com relao organizao de eventos, o PIBID nesse perodo em questo, nos proporcionou outro momento de grande aprendizado, onde fomos submetidos a organizarmos um evento em comemorao ao dia nacional da matemtica. Na escola do qual sou bolsista, encaramos o desafio de fazermos uma abordagem da histria da matemtica, tendo em vista ser um assunto pouco abordado em sala de aula. Da novamente vem a gama de aprendizados que retiramos desse evento, pois tivemos que estudar bastante o contedo a ser tratado, nos programarmos com relao distribuio do tempo e tambm a mobilizao da comunidade escolar a participar do evento. Alm das atividades propostas pela coordenao de rea, no semestre 2013.1, fomos levados a planejarmos um grande projeto interdisciplinar, proposto pela coordenao institucional, que ser executado na escola Elza Goersch no semestre posterior, esse projeto vem um grande planejamento encapado pelo grupo de estudos e pesquisas do curso de pedagogia GEPCJU/ UVA, em conjunto com todos os bolsistas da escola independentemente da rea de estudo. Com toda a viso que passamos a ter da educao matemtica, graas s oportunidades criadas pelo PIBID, passamos a questionar alguns fatores relacionados ao prprio curso de matemtica, que por ser o elemento primordial nessa formao inicial do docente, deixa algumas lacunas, que felizmente s vem a ser preenchidas a aqueles que tm a oportunidade de participar do PIBID, isso claro, para aqueles que realmente desejam seguir docncia. O problema maior em um curso de licenciatura como acima mencionado pouca pratica, o que pode ser determinante at mesmo no seguir ou no a profisso ps-formado e ao ter o primeiro contato com a sala de aula. CONSIDERAES FINAIS De certo modo os estudantes de licenciatura, principalmente de matemtica que tem a oportunidade de passar pelo PIBID ao chegarem sala de aula definitivamente para exercer a profisso, ter uma capacidade mais aguada e ter mais facilidade de lidar com os problemas desafiadores do universo escolar, bem como da sala de aula. O contato com a realidade escolar proporcionado pelo PIBID possibilita a reflexo sobre as praticas docentes e a realidade da nossa educao bsica, nos permite testar antecipadamente tcnicas docentes e nos formar baseado nessas experincias com uma capacidade de percepo das necessidades dos alunos, principalmente no que tange prender a ateno dos alunos e contribuir com seu aprendizado. Masetto (2011), em uma perspectiva mais ampla, assevera que necessrio colocar o aprendiz em contato com situaes reais, em locais prprios das atividades profissionais, pois alm de ser um agente motivador da aprendizagem, esse contato com a realidade capaz de dar significado s teorias estudadas. A partir das palavras de Masseto e das experincias proporcionadas pelo programa financiado pela CAPES no semestre 2013.1, como um todo, fica obvio a necessidade dessa relao direta entre teoria obtida na Universidade e a aplicao pratica executada nas escolas parceiras. O que nos torna futuros professores com uma viso mais ampla do conceito do profissional docente necessrio escola da atualidade, com toda a sua complexidade.
248
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
REFERNCIAS DAMBROSIO, Beatriz S. Como ensinar matemtica hoje? Temas e Debates. SBEM. Ano II. n. 2. Braslia. p. 15-19, 1989. GIORDAN, M. O papel da experimentao no Ensino de Cincias. Qumica nova na escola, n10, 1999, p. 43-49. LORENZATO, Sergio. Laboratrio de Ensino de Matemtica e Materiais Didticos Manipulveis. In: LORENZATO, Sergio (org.). O Laboratrio de ensino de Matemtica na formao de professores. Campinas, SP: Autores associados, 2006, p. 3 38. MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediao pedaggica. 19. ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.p.133-172. MOURA, Manoel Oriosvaldo de. et al.(org.) O estgio na formao compartilhada do professor: retratos de uma experincia. So Paulo, SP: Feusp, 1999, 140p. PEASE, Allan. Desvendando os segredos da linguagem corporal. Rio de Janeiro: editor sextante. (p.270, 2005). TARDIF, M. Saberes docentes e formao profissional. 6.ed. Petrpolis: editora vozes, 2006. TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formao profissional. 12. ed.- Petrpolis, RJ: Vozes, 2011.
249
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
CONDIES DE TRABALHO X DOCNCIA UNIVERSITRIA
Raquel Figueiredo Barretto127
RESUMO Introduo: Nos ltimos anos, o nmero de pesquisas que relacionam atividade docente e sofrimento profissional vem crescendo bastante. O docente do ensino superior se v diante de duas realizadas bem distintas: ora est em plena capacidade produtiva ora se v impossibilitado de trabalhar. Essa impossibilidade de trabalhar, por sua vez, se d por motivos de doena ou acidente de trabalho. Nos dois casos, certamente, a questo no ambiente de trabalho desse profissional deve ser investigada como uma possvel causa dessa impossibilidade. Objetivo: Este estudo teve como objetivo investigar as publicaes em torno das condies de trabalho dos docentes do ensino superior e os efeitos dessas condies sobre sua prtica profissional. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliogrfica do tipo exploratria com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2013. A busca pelo material deu-se em bases eletrnicas de dados. Resultados: Pesquisas revelam que as condies precrias de trabalho tm gerado um processo de desgaste fsico e mental categoria dos docentes. Nosso estudo identificou que as publicaes em torno das condies de trabalho dos professores centram-se em aspectos pontuais como condies do ambiente ou aspectos mais subjetivos como estresse. Concluso: Conclui-se com este estudo que muito j fora pesquisado sobre o tema, mas, dada importncia do trabalho docente e suas atuais circunstancias, h necessidade de acompanhamento das condies de trabalho docente e os reflexos dessas condies sobre a prtica pedaggica. PALAVRAS-CHAVES: Ambiente de trabalho. Ensino Superior. Trabalho docente INTRODUO A atividade de ensino j foi considerada funo de alto valor social, interpretada como um dom, um sacerdcio, valorizada por todos os cidados e assumida pela sociedade como uma atividade pblica. Como observamos em Esteve (1997, p. 7), J houve um tempo em que se considerava o magistrio, ou mais especificamente, o trabalho docente, um sacerdcio a que os abnegados profissionais da educao deviam se dedicar quase estoicamente. Hoje em dia, com as sociedades voltadas, cada vez mais, para ampliao dos modos de produo e acesso informao, a atividade docente perdeu este sentido. As modificaes capitalistas promovidas nos setores primrios e secundrios da economia foram semelhantes na prtica de ensino e os profissionais do magistrio foram equiparados, do ponto de vista do mercado, aos trabalhadores de outros setores: controle da produtividade, do ritmo do trabalho, do tipo de tarefa a ser executado, do tempo para sua execuo, da jornada e carga de trabalho a ser executada. Ou seja, a educao passou a ser
127
Mestre em Sade Coletiva. Faculdades Nordeste (FANOR) raquelfbarretto@gmail.com
250
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
vista como uma mercadoria lucrativa e os profissionais do magistrio como mo-de-obra qualquer. Conforme Sampaio e Maranho (2003, p.335), o trabalho docente produtivo, pois permite a acumulao indireta de capital, embora no ao trabalhador, e til, pois resulta em satisfao de necessidades humanas materiais e espirituais, do trabalhador e da sociedade. Vale ressaltar, entretanto, que a docncia, entendida, nas palavras de Libneo (1998) como o ensinar e o aprender, est presente em todas as prticas sociais em geral e no apenas nos espaos institucionalizados, como a escola e a universidade. Mas, sob a perspectiva da sociedade ocidental, temos uma sociedade pedaggica institucionalizada (BEILLEROT, 1985). Independente do lugar, em qualquer que seja a esfera, se o pesquisador/professor/profissional atuar, ele exercer uma ao eminentemente docente. H algum tempo o mundo globalizado provoca transformaes nos diversos segmentos sociais. No setor educacional, mais especificamente no ensino superior, essas transformaes so sentidas mais rapidamente: o numero de matriculas nos cursos superiores, o numero de cursos superiores, a condio de trabalho do professor do ensino superior. este cenrio que nos leva aos seguintes questionamentos: Quais as condies de trabalho dos professores do ensino superior Quais os efeitos dessas condies de trabalho na prtica pedaggica? Nossos questionamentos juntam-se aos de outros pesquisadores que tambm se preocupam com a docncia no ensino superior. Antes os estudos sobre o tema versavam sobre aspectos, meramente, tcnico-disciplinar, conforme Pimenta, Anastasiou e Cavallet (2003). A demanda hoje recai tambm, e principalmente sobre os campos dos saberes pedaggicos e polticos, ou seja, essa amplitude e aumento dos estudos indicam a importncia desses temas para o ensinar bem. Junta-se a isso, o fato de que a investigao sobre o ensino superior era quase centralizada no eixo centro-sul do Brasil, agora desloca-se tambm para a periferia do Brasil, uma vez que se percebeu, ao longo da ultima dcada, a descentralizao da oferta de educao superior brasileira. Segundo Pimenta (1999), o processo identitrio se constri a partir dos significados sociais da profisso, da reviso das tradies, pelo significado que cada professor como autor e ator confere atividade docente em seu cotidiano, pela discusso da questo do conhecimento como cincia e da construo dos saberes pedaggicos. Como bem nos lembra Oliveira e Freitas (2008), os professores continuam sem possuir, enquanto grupo ocupacional, autonomia, especialmente quando comparados com outras categorias profissionais que se autodeterminam, se autocontrolam e se autoforma (p. 53). OBJETIVO GERAL Este estudo teve como objetivo investigar as publicaes em torno das condies de trabalho dos docentes do ensino superior e os efeitos dessas condies sobre sua prtica profissional
251
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa bibliogrfica do tipo exploratria com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2013. A busca pelo material deu-se em bases eletrnicas de dados. DISCUSSO DOS RESULTADOS A concepo de docncia superior vem sofrendo fortes transformaes. Essas transformaes se devem a dois grandes fatores: processo de globalizao e panorama nacional. As exigncias que o docente universitrio tem que atender so de ordem da capacitao e da didtica. Em termos de capacitao, os parmetros nacionais so bem definidos. Em termos de didtica, a exigncia por um profissional capacitado que tenha noes de mercado de trabalho, que atenda as exigncias da academia, que domine as tecnologias educativas, que realize seu trabalho de forma integrada, que domine a linguagem corporal/gestual, que busque a participao ativa do seu alunado e que inspire os seus alunos. Ou seja, ensinar da Universidade, no ensino superior de um modo geral, exige do docente uma ao diferenciada. Nas palavras de Pimenta, Anastasiou e Cavallet (2003) o professor universitrio precisa atuar como profissional reflexivo, crtico e competente no mbito de sua disciplina, alm de capacitado a exercer a docncia e realizar atividades de investigao A partir da dcada de 90, o pas apresentou uma rpida expanso de matriculas no ensino superior Esse aumento crescente de ingressantes no 30 grau representa, necessariamente, um aumento no numero de cursos de ensino superior e o numero de docentes para neles atuar. O processo de trabalho docente. Para Marx (1987) o trabalho definido como ao transformadora e intencional do homem sobre a natureza para satisfao de suas necessidades. Mas a atividade laboral est diretamente ligada ao contexto social e econmico que circunda o trabalho. O trabalho docente, especificamente, tem, atualmente, sua organizao e administrao delimitadas pelo modo de produo capitalista. Oliveira (2004), em seu estudo sobre o trabalho dos professores das escolas pblicas brasileiras, apresenta a intensificao do labor docente, exigncia de polivalncia, desgaste e insatisfao, assim como flexibilizao e precarizao da profisso, como fatores relacionados a esse reflexo da profisso docente. Nesta perspectiva, as concepes de ambiente de trabalho, de contexto econmico-social e de sade no podem ser analisadas de forma dissociada da prtica docente. Legislaes da educao superior no Brasil A principal legislao brasileira acerca do ensino superior a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), lei n 9.394, sancionada pelo Presidente da Repblica em 20 de dezembro de 1996. De acordo com a LDB/96, temos dois tipos de Instituio de Ensino Superior, conforme a organizao acadmica: Universidades e No-Universidades. As no-universidades compreendem
252
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
os Centros Universitrios, Faculdades Integradas e Institutos ou Escolas Superiores. Conforme Morosini (2000, p. 14), dos 973 estabelecimentos de ensino superior, 153 so universidades e 820 no-universidades. De acordo com o Decreto 5.773/06, a instituies so credenciadas originalmente como faculdades. As universidades, por sua vez se caracterizam por trs pilares indissolutos: ensino, pesquisa e extenso e se caracterizam, conforme INEP (2010) por I - produo intelectual institucionalizada (...); II - um tero do corpo docente, pelo menos, com titulao acadmica de mestrado ou doutorado; III - um tero do corpo docente em regime de tempo integral. A criao de Universidades Federais uma pregorrativa do Poder Executivo atravs de projeto de lei encaminhado do Congresso Nacional. A criao de universidades particulares, por sua vez, se dar a partir da transformao de IES j existentes. Como as misses institucionais, as funes e as mantenedoras mudam, o exerccios da docncia, o tipo de atividade do professor, bem como as condies de trabalho, so tambm diferentes. Para a legislao educacional brasileira, a questo da formao do professor quase sempre remete ao professor da educao bsica, ou seja, a formao do professor do ensino superior tratada de forma pontual e superficial. Alm da LDB/96, h outras legislaes que evidenciam a qualidade e as condies de trabalho docente, como o Decreto n 2.026, de 20 de outubro de 1996, que define o Sistema de Avaliao do Sistema de Educao Brasileiro, SINAES. Este sistema se prope a avaliar as instituies, os cursos de graduao e os alunos no comeo e no final do curso Uma varivel avaliada pelo SINAES que apresenta reflexos sobre o desempenho do professor a avaliao institucional (anlise do conjunto de atividades desempenhadas pela instituio). O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), institudo em 2007, atravs da Portaria normativa n 40, integra o (SINAES) e tem como objetivo aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduao em relao aos contedos programticos, suas habilidades e competncias. De alguma forma, o ENADE tambm avalia o papel do docente uma vez que uma parte do desempenho do aluno pode ser atribuda ao desempenho do professor e da IES em que ele estuda. Avaliaes como as acima citadas sustentam-se na necessidade de comparaes e rankings buscando o controle da qualidade dos servios educacionais, de maneira semelhante ao que feito no mundo empresarial. No nos espanta, dessa maneira, que alm desse hbito mercantilista de rankear a educao, vocbulos do mesmo ambiente estejam impregnados nos discursos educacionais: produtividade, desempenho, metas.
253
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
CONSIDERAES FINAIS Conclui-se com este estudo que muito j fora pesquisado sobre o tema, mas, dada importncia do trabalho docente e suas atuais circunstancias, h necessidade de acompanhamento das condies de trabalho docente e de estudo sobre os impactos dessas condies laborais sobre a prtica pedaggica. REFERNCIAS BESSA, Denise. Trabalho docente no ensino superior sob o contexto das relaes sociais capitalistas. Disponvel em: http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT11-1979-Int.pdf. Acesso em: 01 de maio de 2012-05-01 BOSI, Antonio de Pdua. A precarizao do trabalho docente nas instituies de ensino superior do Brasil nesses ltimos 25 anos. Disponvel em: http://www.scielo.br/pdf/es/v28n101/a1228101.pdf. Acesso em: 23 de Maro de 2012 BRASIL. Decreto 2026 de 10 de Outubro de 1996. Estabelece procedimentos para o processo de avaliao dos cursos e instituies de ensino superior. Disponvel em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/d2026_96.htm. Acesso em: 27 de Abril de 2012 ______. Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educao Nacional. Sancionada em 12 de dezembro de 1996, pelo Presidente da Repblica Federativa do Brasil. ESTEVE, Jos Manoel. O mal-estar docente: a sala de aula e a sade dos professores. Traduo Durley de Carvalho Cavicchia. Bauru, SP: EDUSC, 1999. MARX, K. O Capital: a crtica da economia poltica. 11 ed. So Paulo: Difel, 1987. MOROSINI, Marilia Costa (org.). Professor do ensino superior: identidade, docncia e formao. Braslia : Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2000. OLIVEIRA, Dalila Andrade . A Reestruturao do Trabalho Docente: precarizao e flexibilizao. Educao & Sociedade, Campinas - SP, v. 25, n. 89, p. 1127-1144, 2004. Disponvel em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em 20 de maro de 2012. OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro; FREITAS, Maria Virgnia Teixeira Polticas Contemporneas para o Ensino Superior: precarizao do trabalho docente? In: Revista ExtraClasse N1 V2 Agosto 2008. Disponvel em: http://www.sinprominas.org.br/imagensDin/arquivos/480.pdf. Acesso em : 26 de Fevereiro de 2012 PIMENTA, S. G. Formao de professores: identidade e saberes da docncia. In:______ (Org.) Saberes pedaggicos e atividade docente. So Paulo: Cortez, 1999. PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, La das Graas Camargos; CAVALLET, Valdo Jose. Docncia no ensino superior: construindo caminhos. In: BARBOSA, Raquel Lazzari Leite (org). Formao de educadores: desafios e perspectivas So Paulo: Editora UNESP, 2003.
254
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
FORMAO PEDAGGICA UNIVERSITRIA, LIMITES E POSSIBILIDADES
Ana Paula Vasconcelos de Oliveira Tahim128 Gabrielle Silva Marinho129 Marcos Antonio Martins Lima130
RESUMO O presente estudo tem por objetivo apresentar e dialogar sobre questes relativas formao pedaggica universitria na realidade brasileira, com foco nos saberes necessrios docncia no ensino superior. Mediante as crticas dirigidas aos cursos superiores que dizem respeito didtica dos professores universitrios, emergentes na literatura especifica e no dialogo estabelecido no colegiado de professores, em diferentes tipos de instituies de ensino superior. Pode-se observar que a expanso do acesso ao ensino superior promove o aumento da demanda por professores para atuam neste nvel de ensino, e, por conseguinte emerge a preocupao com a formao para docncia em concomitncia com a prtica no ensino superior, proporcionado aumento das discusses e estudos a cerca do tema da formao e desenvolvimento profissional dos docentes universitrios, para alm de um saber simplesmente terico-disciplinar. Ento frente esta realidade, emerge os seguintes questionamentos: Em que consiste a pratica docente universitria? Quais os saberes pedaggicos necessrios? Qual a formao inicial e continuada adequada ao professor universitrio? Assim, mediante a problemtica destacada, o presente estudo, aborda-se a formao pedaggica universitria, contexto, e exigncias para atuao do professor no ensino superior. Palavras-chave: Formao Pedaggica. Atuao Docente. Ensino Superior. INTRODUO Comumente as crticas dirigidas aos cursos superiores dizem respeito didtica dos professores universitrios, tal fato pode ser constatado atravs da literatura especfica da rea, bem como, no dialogo com alunos de diversos cursos, em diferentes tipos de instituies de ensino superior. Em contra partida, a expanso do acesso ao ensino superior promove o aumento da demanda por professores para atuar neste nvel de ensino, e, por conseguinte emerge a
Pedagoga - UFC. Especialista em Coordenao Pedaggica - FA7. Mestre em Educao Brasileira - UFC. Professora e Assessora Pedaggica FCRS. anapaula_tahim@yahoo.com.br. 129 Mestre em Educao Brasileira pela UFC. Doutoranda Educao Brasileira pela UFC. Bolsista CAPES/DS. gabrielle_marinho@hotmail.com 130 Graduado em Economia UFC. Mestre em Administrao UECE. Doutor em Educao Brasileira UFC. Professor Adjunto FACED/UFC. marcos.a.lima@terra.com.br
128
255
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
preocupao com a formao para docncia no ensino superior, proporcionado aumento das discusses e estudos a cerca do tema da formao e desenvolvimento profissional dos professores universitrio, para alm de um saber simplesmente terico-disciplinar. Ento frente esta realidade, emerge os seguintes questionamentos: Em que consiste a pratica docente universitria? Quais os saberes pedaggicos necessrios? Qual a formao inicial e continuada adequada ao professor universitrio? Assim, mediante a problemtica destacada, o presente estudo, tem por objetivo apresentar e dialogar sobre questes relativas formao pedaggica universitria na realidade brasileira, com foco nos saberes necessrios docncia no ensino superior. Aborda-se a formao pedaggica universitria, contexto, e exigncias para atuao do professor no ensino superior. OBJETIVO GERAL Apresentar e dialogar sobre questes relativas formao pedaggica universitria na realidade brasileira, com foco nos saberes necessrios docncia no ensino superior. METODOLOGIA Para a elaborao deste estudo optou-se por uma pesquisa bibliogrfica como forma de trabalho inicial com fins de aprofundamento sobre os assuntos a serem debatidos. Desta forma, como segundo momento foi explicitado os saberes pedaggicos necessrios para o professor universitrio, por fim organizou-se coletivamente, pelos professores participantes, o perfil de competncias do Professor de uma Instituio de Ensino Superior do Serto Central Cearense. Assim, partindo da observao das discusses elaboradas foram realizadas as analises deste trabalho. DISCUSSO DE RESULTADOS Historicamente o ensino superior brasileiro passou por mudanas desde sua implantao. Nesse processo, destaca-se a dcada de 1960, pois, neste perodo o Brasil vivenciava a industrializao, e por esta razo, o modelo de ensino universitrio centrou-se no modelo tecnicista, ou seja, a nfase estava no aprender a tcnica, para o saber fazer, o aprender para por a tcnica em prtica (LIBNEO,1985), com o objetivo de formar profissionais que acompanhassem o desenvolvimento do pas. Nesta prtica de ensino, o professor universitrio se porta como detentor do saber, por esta razo, considerava o estudante como receptor e reprodutor do conhecimento (BEHRENS, 2003). Ainda na referida dcada houve a aprovao da Lei de Diretrizes e Bases LDB/1961, que em seu Art. 59, passou a exigir que o professor para o ensino mdio fosse formado em cursos de nvel superior, emerge a valorizao da formao universitria para os professores. Posteriormente, a Reforma Universitria, realizada em 1968 durante o Regime Militar, promoveu transformaes para o ensino superior, tendo como um dos objetivos explcitos a
256
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
modernizao e a expanso das instituies pblicas, sobretudo no mbito das universidades federais. No entanto, tal reforma instituiu o vestibular classificatrio, para acabar com os excedentes; deu universidade um modelo empresarial; organizou a universidade em unidades praticamente isoladas; multiplicou as vagas em escolas superiores particulares. Assim evidenciando sua motivao implcita, ou seja, impedir a organizao estudantil, o objetivo foi alado, mas alem disso importante reconhecer que essa reforma produziu efeitos dicotmicos (CUNHA, 2000). Essa dicotomia, por um lado, promoveu a modernizao de parte significativa das instituies de ensino superior (IES) tanto as instituies federais, bem como, algumas estaduais e confessionais, criando, assim, condies favorveis para que estas instituies passassem a articular as atividades de ensino e de pesquisa. Em contra partida, ocasionou um aumento significativo de instituies privadas de ensino superior, o que pautavam suas atividades na mera transmisso de conhecimentos, voltadas para a profissionalizao, o que acredita-se, sem a preocupao de contribuir para a formao de profissionais crticos e reflexivos e, portanto, autnomos. No entanto a educao no sculo XXI, frente intitulada a era do conhecimento exige dos profissionais mltiplas habilidades, o que acarreta em uma nova demanda dentro da rea de ensino superior. Tambm, Demo (2008) afirma que diante da sociedade intensiva de conhecimento, o ensino e extenso ainda pautados no instrucionismo, precisam atentar para a necessidade de construo e no reproduo no ensino. Por sua vez o ensino deve oportunizar o treinamento profissional. Sendo a pesquisa a nica dimenso que oportuniza o crescimento da aprendizagem integral aliado a conhecimento inovador e a cidadania, que nesta nova demanda emerge como obrigatoriedade do ensino (currculo) e no somente na extenso. Ante o exposto insurge a busca por profissionais com formao no campo dos saberes pedaggicos e polticos, o que indica um reconhecimento da importncia desses aspectos para a qualidade do ensino. Por essa razo professores e postulantes a docncia em cursos universitrios vem realizando cursos de Didtica do Ensino Superior, que so oferecidos com uma frequncia cada vez maior, em nvel de ps-graduao por instituies de Ensino Superior. Neste contexto, emerge os debates a cerca da formao de professores para a docncia do ensino superior. Evidencia-se que a formao exigida do professor universitrio tem sido limitada ao conhecimento aprofundado da disciplina a ser ensinada, sendo decorrente do exerccio e/ou pratica profissional, ou mesmo, mero conhecimento terico-disciplinar, resultante da vivncia acadmica. Em suma, a exigncia relacionada aos aspectos pedaggicos da formao para o exerccio da docncia universitria acontece de forma emblemtica. Na atualidade existe o entendimento de o professor universitrio, assim como de seus colegas professores atuantes na educao bsica, necessita no apenas de vasto conhecimento na rea em que pretende lecionar, como tambm, formao inicial e continuada que subsidie a competncia pedaggica suficiente para tornar o aprendizado mais eficaz.
257
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Importa compreender o sentido da docncia, assim fundamental conhecer o significado do termo que etimologicamente, a palavra docncia tem suas razes no termo em latim docere que significa ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender (ARAJO, 2004). Assim, ao considerar o significado do termo, evidencia-se que o exerccio da docncia etimologicamente ultrapassa a mera tarefa de regncia, instruir ou ministrar aulas. Tendo em vista a resignificao do ensino superior, ento entendido no sentido essencial da responsabilidade social, portanto com finalidade de produzir e socializar conhecimentos que tenham alm do mrito cientfico, valor formativo e social, em suma, conhecimentos importantes para o desenvolvimento econmico. Alm disso, concebe-se que o professor universitrio precisa necessariamente ter ampla viso de mundo, bem como, do ser humano, de cincia e de educao. Importa considerar tambm que o ensino universitrio consiste em uma estratgia adotada pela sociedade para formar os indivduos no sentido de transform-los em consumidores inteligentes e responsveis, motivados para a vida profissional, conscientes nas aes que realizam, mas principalmente, preparados para tomar decises e enfrentar situaes novas. Diante do exposto ampliam-se as implicaes para docncia no ensino superior. O estudioso Zabalza (2004) atribui trs funes aos professores universitrios, ou seja: o ensino, a pesquisa, e administrao em diversos ambitos na instituio de ensino superior. Sendo que o ensino aqui resultante da funo de regncia; a pesquisa no sentido da produo de conhecimentos, e; a administrao consistindo no exerccio de funes de direo, coordenao, assessoria no diversos setores da instituio de ensino superior. Em consonncia, a autora Veiga (2000) acrescenta ainda, a funo de orientao acadmica, presente no desenvolvimento de Trabalhos de Termino de Curso (TCC), monografias, dissertaes e teses. Assim, fica ntida a ampliao do campo da docncia universitria, o que desemboca em implicaes tanto no mbito da responsabilidade do professor, como tambm no mbito da instituio de ensino superior. Portanto ao professor universitrio exigi-se uma ampliao de sua formao para o magistrio superior, no somente centrada na preparao para a conduo de pesquisas, mas tambm na formao pedaggica, que valorize a atividade de regncia e produo de conhecimento junto ao aluno de graduao, com vistas almejada indissociabilidade do ensinopesquisa-extenso (PIMENTA, 2002, p. 89). Assim, emergem as exigncias para atuao positiva do professor: condies de trabalho adequadas; salrio digno pelo bom desempenho; capacidade de autoanlise e feedback; atualizao constante (contedos e contextos); relacionamento somado a formao pedaggica; capacidade de pesquisar e produzir; capacidade de atuar com base na teoria e na prtica, bem como, gerar reflexes em sala de aula. No tangente a formao pedaggica, entende-se como fundamental o conhecimento bsico dos saberes das cincias da educao, em destaque a Filosofia, a Didtica, a Sociologia, Psicologia e Poltica da Educao, posto que fundamentam as teorias e os processos de aprendizagem, bem
258
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
como, contexto e a complexidade dos conhecimentos que oferecem subsdios ao planejamento e atuao no exerccio efetivo do ensino. REFERNCIAS ARAJO, J.C.S. Docncia e tica: da dimenso interativa entre sujeitos ao envolvimento scio institucional. In: ROMANOWISKI, J.P.; MARTINS, R.D.O.; JUNQUEIRA, S.R. (Orgs.). Conhecimento local e conhecimento universal: prticas sociais, aulas, saberes e polticas. Curitiba: Champagnat, 2004. CUNHA, L. A. Ensino Superior e a universidade no Brasil. In: LOPES, Eliana Marta Teixeira, FARIA FILHO, Luciano Mendes VEIGA, Cynthia Greive.(orgs.) 500 anos de educao no Brasil. Belo Horizonte: Autntica, 2000. DEMO, P. Universidade, aprendizagem e avaliao: horizontes reconstrutivos. 2.ed. Porto Alegre: Mediao, 2008. LIBNEO, J. C. Democratizao da escola pblica. A pedagogia crtico social dos contedos. So Paulo: Loyola, 1985. PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, La das Graas Camargos. Docncia no Ensino Superior. So Paulo: Cortez, 2002. (coleo Docncia em Formao v. 1). VEIGA, I. P., CASTANHO, Maria Eugnia (org.). Pedagogia Universitria: a aula em foco. Campinas, SP: Papirus, 2000. ZABALZA, M.A. O ensino universitrio: seu cenrio e seus protagonistas. Porto Alegre: Artmed, 2004.
259
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
(IN)FORMAO PROFISSIONAL NO ENSINO SUPERIOR: ESTUDO SOBRE A REALIDADE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAU(UESPI)
Valdeney Lima da Costa131
RESUMO A formao profissional continuada de professores tem sido objeto de ateno de diversas pesquisas. No entanto, estas tem focalizado a formao para a docncia na educao bsica. Sendo assim, poucos estudos tem se debruado sobre o desenvolvimento profissional dos docentes para a educao superior. O presente estudo tem por finalidade discutir sobre aes da Universidade Estadual do Piau visando a formao continuada de seus professores em efetivo exerccio nos diversos campi da instituio espalhados por todo o estado do Piau. Para nortear o presente trabalho, defini como questo de estudo: Que aes so encaminhadas pela Universidade para o fortalecimento/desenvolvimento da formao continuada de seus professores? Para responder essas questes assim como para alcanar os objetivo traado, optei por uma pesquisa bibliogrfica e um estudo documental baseado na proposta de formao oferecida aos professores "novatos" na instituio. Os resultados desse estudo revelam a carncia de polticas e/ou aes efetivas por parte da UESPI no apoio ao desenvolvimento profissional de seus professores. Assim como acontece em outras Instituio de Ensino Superior(IES), a formao continuada dos professores universitrios se limita a um curso introdutrio ,preferencialmente, realizado nos primeiros meses de exerccio profissional dos professores recm -concursados. PALAVRAS-CHAVE: docncia. universidade. formao continuada. INTRODUO A formao profissional continuada de professores tem sido objeto de ateno de diversas pesquisas. No entanto, estas tem focalizado a formao para a docncia na educao bsica. Sendo assim, poucos estudos tem se debruado sobre o desenvolvimento profissional dos docentes para a educao superior
Muitos professores universitrios reconhecem a necessidade da formao pedaggica. Tambm autoridades educacionais. Tanto que os cursos de especializao, conhecidos como ps-graduao lato sensu, incluem obrigatoriamente disciplinas de formao pedaggica. E em algumas instituies de ensino universitrio j se nota a presena de assessores pedaggicos para auxiliar os professores em relao ao planejamento e conduo das atividades docentes.( GIL, 2009, p.16, grifos do autor).
Como se sabe, a formao dos professores universitrios inicia-se nos programas de mestrado e doutorado, que por sua vez, oferecem a titulao exigida para o exerccio da profisso, conforme recomenda a Lei 9.394/96132.
131 132
Mestre em Educao. Professor da Universidade Estadual do Piau. pedagogoney@yahoo.com.br A lei define que as universidades, entre outras recomendaes, se caracterizam por possuir " um tero do corpo docente, pelo menos, com titulao acadmica de mestrado ou doutorado" (BRASIL, Inciso II, Art.52).
260
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
na perspectiva de contribuir com reflexes acerca do tema formao docente no ensino superior que este propus desenvolver o presente trabalho acadmico. No entanto, dada a amplitude do assunto, tornou-se necessria sua delimitao. O recorte do estudo alm de atender a perspectiva da viabilidade e do aprofundamento terico-metodolgico, busca corresponder a experincia vivida pelo presente pesquisador, que exerce a funo de professor e coordenador do Curso de Pedagogia no campus Dom Jos Vsquez Diaz, na Universidade Estadual do Piau(UESPI). Assim, baseado nas leituras e na experincia vivida, questiono: Que aes so encaminhadas pela Universidade para o fortalecimento/desenvolvimento da formao continuada de seus professores? Com base nesse questionamento central, estabeleci os seguintes objetivos deste estudo: OBJETIVO GERAL Discutir sobre formao do professor universitrio, tendo como recorte de estudo a realidade da Universidade Estadual do Piau. Analisar a proposta do seminrio de educao superior promovida pela instituio destinada aos professores recm-concursados. Compreender a importncia da formao pedaggica para o professorado da UESPI.
METODOLOGIA O estudo ora proposto de natureza exploratria. Sua realizao foi ancorada numa pesquisa terico-bibliogrfica e em pesquisa documental. Na pesquisa bibliogrfica, feita ao longo da investigao, analisei livros e artigos que discutem de maneira direta, ou no, o tema aqui pesquisado com a finalidade de saber o que j foi produzido pelos autores e o que vem sendo discutido na atualidade. Este exerccio foi relevante porque permitiu o conhecimento do movimento das reflexes sobre o tema durante certo espao-temporal, o que possibilitar, tambm, a identificao das lacunas existentes na produo acadmica acerca do presente tema. O referencial terico que subsidiou a escrita deste artigo pauta-se nos estudos de Pimenta e Anastasiou(2002), Gil(2009), Imbernn(2010), Veiga(2012) , enquanto a investigao documental baseou-se em material impresso que destaca a proposta de formao dos professores recmconcursados da UESPI. Concludas essas duas pesquisas, em momento seguinte, realizei inferncias sobre os dados coletados luz do referencial terico utilizado. DISCUSSO DOS RESULTADOS Como se sabe, a formao inicial dos professores universitrios inicia-se a nvel de psgraduao, preferencialmente, nos cursos de mestrado e doutorado. Estando ciente de que em vrios cantes desse pas, existam professores da academia apenas com ttulo de graduado ou especialista, a perspectiva adotada nesse estudo defende a importncia da realizao de estudos a
261
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
nvel stricto sensu como requisito inicial para se exercer a docncia no espao da universidade, embora reconhea a limitao de alguns destes cursos. Acontece que a forma como so organizados os programas de ps-graduao no Brasil no oferece condies para formar pedagogicamente o profissional que vai exercer a docncia no magistrio superior. Quase sempre a formao para a pesquisa que obtm primazia na formao stricto sensu, relativizando a preparao para docncia universitria. Exemplo disso o chamado estgio-docncia, que em diversos programas assume carter no obrigatrio para mestrados e/ou doutorandos. Quando realizado, se restringe a uma disciplina de 60 horas em determinado semestre, preferencialmente, vivenciado na metade do curso acadmico e mesmo na rea de pesquisa de interesse do professor orientador do orientadoestagirio. Concludo o Curso de Mestrado, por exemplo, alguns mestres, quando no esto exercendo a profisso docente, mesmo com vnculo temporrio, buscam insero profissional em concursos para o magistrio superior em instituies pblicas ou privadas. Os que conseguem entrar na academia, por vezes se deparam com muitos obstculos que afrontam sua profissionalizao: carga horria intensiva, condies precrias de trabalho, isolamento relacional, inexistncia de espaos de formao e discusso no ambiente de trabalho, falta de apoio da instituio de ensino para a valorizao do trabalho docente, entre outros. Tais empecilhos na atividade profissional do professor universitrio pe em risco no apenas a qualidade do seu trabalho pedaggico, como tambm afeta seu desenvolvimento profissional. Sem desconsiderar o prejuzo causado a prpria instituio. A intensa carga horria de atividades de ensino , por exemplo, suga o tempo do professor, que ocupado com quatro e mesmo cinco disciplinas, em alguns casos, em diferentes cursos de graduao, no dispe de momento para o estudo, planejamento e a avaliao de seu prprio trabalho. Em relao as precrias condies de trabalho, alm da jornada intensiva em sala de aula, com sobrecarga de disciplinas a ministrar, a infraestrutura de algumas unidades universitrias situadas em cidades interioranas, compromete o trabalho docente no magistrio superior. possvel pensar, embora parea difcil de acreditar, na existncia de campis no interior de vrios estados, que no dispem de um sinal satisfatrio de internet ou mesmo que no dispe de uma biblioteca com acervo atualizado. Ademais, sem incentivo pesquisa e apoio a projetos de extenso, fica o professor universitrio de alguns unidades interioranas reduzido a um simples ministrador de aulas. Sobre essas adversidades, Imbernn( 2010) afirma que (...) o professor e as condies de trabalho em que exerce sua profisso so o ncleo fundamental na inovao nas instituies educativas; mas talvez o problema no esteja apenas nos sujeitos docentes, e sim nos processos polticos, sociais e polticos (p.21, grifos do autor). Esses dados acerca da precariedade das condies de trabalho de muitos professores da educao superior atuantes em vrias partes desse pas, parece revelar que o processo de
262
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
interiorizao da universidade pblica, em especial, a de carter estadual, no resultou na oferta de uma infraestrutura mnima e satisfatria para a populao acadmica. Outro aspecto consiste na insuficincia de espaos de formao e/ou discusso para o desenvolvimento profissional dos docentes. Quase sempre so nas reunies de colegiado de curso, conselho ou em semanas universitrias (quando essas existem ) que se visualizam oportunidades para a troca de experincias formativas. No entanto, a maioria desses encontros toca mais nas questes administrativas do que em assuntos relativos a formao pedaggica dos professores da instituio universitria. Sabe-se que "a docncia, portanto, uma atividade profissional complexa, pois requer saberes diversificados. Isso significa reconhecer que os saberes que do sustentao docncia exigem uma formao profissional numa perspectiva terica e prtica. (VEIGA, 2012, p.20). Falando em formao profissional, cabe ressaltar uma iniciativa concreta proposta pela UESPI destinada a professores iniciantes no quadro efetivo da instituio. Assim como ocorre em outras Instituio de Educao Superior(IES), foi ofertado o curso de docncia no ensino superior, com finalidade instrumental, ou seja, repassar informaes sobre a organizao e dinmica da prpria universidade. Denominado I Seminrio Docncia no Ensino Superior, a formao encaminhada pela UESPI tinha por objetivo
oportunizar aos novos docentes efetivos, atualizao e discusso acerca da organizao didtico-pedaggica do ensinar e aprender, da organizao administrativa e a acadmica da UESPI, visando o aprimoramento do fazer pedaggico e da gesto do ensino superior.(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAU, 2012)
Organizada para acontecer em dois seguidos em cinco campus da instituio ( as unidades sede deste evento localizaram-se nas cidades de Teresina, Oeiras, Floriano, Bom Jesus e Parnaba), o referido seminrio focalizou os professores efetivos aprovados no concurso pblico para magistrio superior realizado pela instituio no ano de 2011. Interessante saber que uma quantidade significativa desses professores j trabalhavam na prpria UESPI , em regime de contratao provisria. Por outro lado, h que se reconhecer o egresso de profissionais do magistrio superior vindos de outros estados brasileiros, iniciando portanto, a carreira nesta IES. De acordo com a programao expressa em folder, o primeiro dia do seminrio era dedicado a explanaes do reitor/ou vice reitor e dos representantes das Pr-Reitorias de Ensino e Graduao(PREG), de Pesquisa e Ps-Graduao (PROP), de Administrao(PRAD) e de Planejamento e Finanas(PROPLAN). Tambm estava prevista na abertura a palestra intitulada "A formao Docente e os desafios atuais para o Ensino Superior", proferida por uma professora " da casa". O tema da palestra de abertura , a meu ver, no poderia fugir do atual contexto vivido pela Universidade Estadual do Piau, que para continuar existindo legalmente enquanto tal, carecia de professores efetivos. Ademais, docentes estes, comprometidos fidedignamente instituio, da a
263
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
contratao significativa de profissionais com regime de dedicao exclusiva em vrias reas de conhecimento. J o segundo dia, considerado de carter "mais pedaggico", envolveu os participantes em trs oficinas temticas, com temas a saber: 1) Organizao do Trabalho pedaggico na Educao Superior; 2) Avaliao Institucional e dos cursos da graduao; 3)Uso das TIC'S nos Cursos de Graduao na modalidade regular. A primeira oficina abordaria os subtemas: a)Identidade do professor da Educao Superior( saberes da docncia); b) O planejamento didtico na Educao Superior; c)Elaborao do Plano de Curso; d)A sala de aula como espao de formao. segunda tinha como subtema: a) Sistema Nacional de Avaliao do Ensino Superior; b) Experincia de avaliao da UESPI; c)Sistema de avaliao dos cursos de graduao ENADE CONSIDERAES FINAIS Aqui cabe fazer uma reflexo: Se nas escolas de educao bsica costumeiramente acontecem as chamadas semanas pedaggicas, realizadas prioritariamente ao incio de um perodo letivo, por que no acontece o mesmo nas unidades universitrias? Conforme visto, o seminrio sobre docncia superior oferecida , em geral, ao professores iniciantes, muita das vezes, representa uma atividade isolada acabada, que no possui continuidade em outros momentos. Em verdade, o papel agora repassado para o professor, que com esforos prprios levado a buscar sua formao profissional continuada, seja em congressos, atividades de pesquisa e extenso, dentre outras iniciativas. A UESPI, enquanto instituio fundada em 1986, em que o curso de Pedagogia foi um dos cursos primeiros, a meu ver, carece de polticas e/ou aes efetivas promotoras do desenvolvimento profissional de seus professores, muitos destes com o diploma de bacharel. Compreendo a docncia universitria como atividade complexa, que requer a entrelaamento de vrios saberes, no mais unicamente os acadmicos. (PIMENTA & ANASTASCIOU). Nesse sentido, faz-se oportuna a formulao de uma poltica interna de formao e no de informao profissional dos docentes efetivos da instituio em estudo. REFERNCIAS BRASIL. Lei 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da Educao Nacional. Braslia, 1996. IMBERNN. Formao Docente e Profissional: formar-se para a mudana e a incerteza. 8 edio. So Paulo: Cortez Editora, 2010. (Coleo Questes da nossa poca, v.14). GIL, Antnio Carlos. Metodologia do Ensino Superior. So Paulo: Editora Atlas, 2009. PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, La das Graas Camargos. Docncia no Ensino Superior. 4. Edio. So Paulo: Cortez, 2010. (Coleo Docncia em Formao). VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Docncia como atividade profissional. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro; D'VILA, Cristina(orgs.) Profisso Docente: novos sentidos, novas perspectivas. 2 edio. Campinas, SP: Papirus, 2012. (Coleo Magistrio: Magistrio e Trabalho Pedaggico.
264
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
DOCNCIA NO ENSINO SUPERIOR: PROFISSO COM CONHECIMENTOS PEDAGGICOS ESPECFICOS
Charmnia Freitas de Stiro
133 134
Carmensita Matos Braga Passos
RESUMO Algumas pesquisas em mbito nacional revelam que no Brasil na maioria das instituies de ensino superior, pblicas e privadas, os professores so despreparados para lidar com os processos de ensino, seja por desconhecerem cientificamente os conhecimentos pedaggicos implicados na docncia ou por considerarem esses conhecimentos comuns a qualquer formao acadmica, inclusive so includos nessa amostra os docentes dos cursos de lic enciatura. Nesse estudo defendemos a necessidade de compreendermos a formao pedaggica e a Didtica como campo especfico da Pedagogia e indispensvel para a preparao para a docncia no Ensino Superior. Indagamos nesse estudo: Que conhecimentos especficos devem possuir os profissionais que atuam na docncia do Ensino Superior? Para responder esse questionamento aplicamos questionrios com cinco alunos do curso de especializao em educao de uma universidade pblica do Cear. Desses questionamentos, surgiu o interesse em dar continuidade o estudo sobre a formao do professor universitrio e para prosseguir iniciamos um estudo bibliogrfico ancorado nos seguintes autores: Almeida (2012), Freire (2011), Lima (2011), Imbernn (2006), entre outros. Da coleta de dados, juntamente com esse estudo chegamos at o momento a concluso de que a formao pedaggica dos professores do Ensino Superior indispensvel para que superem o reducionismo tcnico da profisso, e atuem no processo de ensino considerando todas as dimenses e saberes da docncia. PALAVRAS-CHAVE: Docncia. Ensino Superior. Conhecimentos Pedaggicos. INTRODUO A Lei de Diretrizes e Bases da Educao - 9394/96 em seu artigo 66 estipula a preparao para o exerccio do magistrio superior em nvel de ps-graduao, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Essa exigncia, no entanto, no determina que o docente nessa modalidade de ensino tenha acesso a algum conhecimento pedaggico. As pesquisas em mbito nacional na rea da educao, como por exemplo, o de Almeida (2012), revelam que no Brasil na maioria das instituies de ensino superior os professores so despreparados para lidar com os processos ensino e aprendizagem, ou seja, desconhecem cientificamente os conhecimentos pedaggicos.
Mestranda em Educao Brasileira da Universidade Federal do Cear. E-mail: charnia@hotmail.com 134 Doutora em Educao e professora da Universidade Federal do Cear. E-mail: carmensitapassos@yahoo.com.br
133
265
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Frente a essa realidade Almeida (2012) afirma que o ensino superior brasileiro tem vivenciado um crescimento considervel, o Censo da Educao Superior de 2007 revelou que foram criadas 1.387 novas escolas de nvel superior, porm esse crescimento ressaltado pela autora como sendo majoritariamente na Educao Superior Privada. Sabemos que a demanda intensa por qualificao, respeitando artigos estipulados em lei, faz com que ocorra o surgimento de cursos de diferentes nveis qualitativos, deixando vazios na formao desses profissionais, que chegaro prtica com limitaes que atingiram consideravelmente o processo ensino, j que a deficincia de muitos exatamente na formao pedaggica. Nesse contexto de formao dos docentes do Ensino Superior indagamos: Que conhecimentos especficos devem possuir os profissionais que atuam na docncia do Ensino Superior? Dessa indagao surge o objetivo geral desse estudo. OBJETIVO GERAL Compreender a viso dos discentes dos cursos de especializao em Educao sobre a importncia da formao pedaggica e da Didtica na preparao para a docncia no Ensino Superior. METODOLOGIA Para alcanarmos tal objetivo, aplicamos inicialmente questionrios com cinco alunos do curso de especializao em educao de uma universidade pblica do Cear. Desses questionrios, surgiu o interesse em dar continuidade o estudo sobre a formao do professor universitrio e para prosseguir iniciamos um estudo bibliogrfico ancorado nos seguintes autores: Freire (2011), Almeida (2012), Lima (2011), Imbernn (2006), entre outros. DISCUSSO DOS RESULTADOS OS DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR E SUA FORMAO PEDAGGICA ESPECFICA Nesse artigo defendemos a docncia como uma profisso, que possui saberes especficos, dentre eles o conhecimento pedaggico, dessa forma, exige de seus profissionais uma formao adequada para ser exercida de forma qualitativa. Por isso concordamos com Lima (2011, p. 98):
No fcil falar docncia como trabalho, como profisso. Essa uma atividade complexa que envolve o contexto social e poltico onde estamos inseridos. Nesse espao, tambm se situam a vida, a formao e a profisso do professor com suas relaes de trabalho e as conexes que se fazem nas contradies e possibilidades dessas interaes.
A discusso sobre a profissionalidade da docncia passa por esferas da vida pessoal e profissional do professor, suas interaes e as conexes que fazem politicamente. De acordo com Imbernn (2006) para enxergar o docente como um profissional necessrio dominar uma srie de capacidades e habilidades especializadas que o fazem ser competente em determinado trabalho, e que, alm disso, o ligam a um grupo profissional organizado e sujeito a controle. A docncia a nosso entender exige saberes que s atravs da Pedagogia possvel a sua construo. A maioria dos docentes do Ensino Superior no possuem conhecimentos pedaggicos
266
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
necessrios ao exerccio da docncia, em sua formao inicial no tiveram nenhuma disciplina que os aproximasse das dimenses do processo de ensino. Outros, mesmo com acesso a disciplina de Didtica no curso de licenciatura de sua formao inicial, supervalorizam ou reduzem a docncia a saberes tcnicos. Entendemos, nessa pesquisa, que a Didtica um campo de conhecimento que investiga o processo de ensino, uma rea de pesquisa que investiga as prticas educativas. No currculo dos cursos de licenciatura, um dos componentes curriculares, ou uma das disciplinas, que tem a preocupao de formar os futuros professores para a prtica pedaggica crtica, emancipatria e autnoma de ensino, com seus afazeres dirios, contemplando o que fazer ou ensinar, como fazer isso (dimenso tcnica), para quem ensinar e porque o fazer (dimenso poltica e social), considerando a diversidade do processo de ensino e aprendizagem (dimenso humana) e os contextos sociais e culturais em que o ensino est inserido. Um dos problemas que encontramos em nossa anlise que alguns cursos de PsGraduao possuem uma disciplina denominada, Docncia no Ensino Superior, mas muitas vezes, mesmo nos programas em Educao, no uma disciplina obrigatria. Ou seja, so formados professores para atuarem na docncia do Ensino Superior sem conhecimentos pedaggicos. Acreditamos nessa pesquisa que esses conhecimentos deveriam ser indispensveis para a docncia, e devem ser considerados insubstituveis em todos os nveis, principalmente nas licenciaturas da Educao Superior em que so formados novos professores. O QUE DIZEM AS ENTREVISTAS? Os alunos foram indagados nos questionrios com a seguinte pergunta: Que conhecimentos especficos devem possuir os profissionais que atuam na docncia do Ensino Superior? E todos revelaram que acreditam na indispensvel formao pedaggica dessa profisso.
Para realizar com eficcia a docncia o conhecimento pedaggico imprescindvel, conhecimento esse que exercido em sala de aula, isto , na prtica. A questo no somente saber, mas saber repassar. O conhecimento pedaggico nada mais que a sabedoria em saber transmitir claramente o conhecimento intelectual do professor e atrel-lo ao conhecimento prvio do aluno e seus conhecimentos de mundo. Para atingir com xito os objetivos docentes importante que o professor seja competente, isto , seja comprometido, interessado em elevar seu nvel e de seus alunos, alm de ser humilde para compartilhar suas experincias, ensinar e aprender no meio docente, em contato com seus colegas de profisso.
Sobre isso Almeida (2012) diferencia a expresso ser professor e saber ser professor, reafirmando sua concepo de que os professores so profissionais que possuem saberes especficos, e um dele exatamente o conhecimento pedaggico, ou o saber ensinar. Duas alunas fazem uma crtica ao reducionismo da docncia ao saber tcnico, reafirmando a importncia e imprescindvel presena dos outros saberes da docncia. Dos cinco alunos, trs citaram a dimenso social da docncia. Compreendendo-a como profisso, e reconhecendo sua funo na sociedade para alm da sala de aula.
267
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
O professor um profissional, no somente um transmissor de conhecimento intelectual, mas sim um filtrador do prprio conhecimento e da realidade na qual interage, um formador de opinio, fornece as ferramentas para que o aluno construa seu conhecimento. Essa ltima aluna trouxe ainda em sua fala, a necessidade de reflexo dos professores do Ensino Superior, quanto utilizao da metodologia dialtica em suas prticas, sendo essa to bem nos ensinada por Paulo Freire atravs do dilogo entre educando e educador. CONSIDERAES FINAIS O presente estudo revelou que na compreenso dos sujeitos pesquisados os conhecimentos pedaggicos so indispensveis na formao dos professores do Ensino Superior para que superem a viso reducionista da tcnica nas suas atividades docentes. A docncia do professor universitrio precisa cuidar da sua prtica educativa que de acordo com Freire (1978), corresponde, alm de saber o contedo a ser trabalhado a uma concepo dos seres humanos e do mundo, o que exige aes tericas e identidade com a profisso, o que inclui a existncia de um referencial de valores e de concepo de mundo. Quando o professor entra na realidade institucional tem que ser capaz de aliar a teoria trazida de sua formao com o cho da sala de aula, com tica e competncia, buscando caminhos de compreenso do universo educacional, na realidade dos educandos, por isso necessria uma reflexo permanente sobre sua prtica. Envolvendo todos os saberes implicados em sua formao, contemplando o que fazer ou ensinar, como fazer isso (dimenso tcnica), para quem ensinar e porque o fazer (dimenso poltica e social), considerando a diversidade do processo de ensino e aprendizagem (dimenso humana) e os contextos sociais e culturais em que o ensino est inserido. Para que isso seja possvel na docncia do Ensino Superior imprescindvel formao pedaggica desses profissionais para atuarem nos processos de ensino da universidade, superando o reducionismo tcnico da profisso. REFERNCIAS ALMEIDA, Maria Isabel. Formao do professor do Ensino Superior: desafios e polticas institucionais. So Paulo: Cortez, 2012. (Coleo docncia em formao: Ensino Superior/ Coordenao Selma Garrido Pimenta) BRASIL. Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educao nacional. Dirio Oficial da Unio. Braslia, DF, 23 dez. 1996, p.27894. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes implicados na formao docente. Paz e Terra: 2011. IMBERNN, Francisco. Formao docente e profissional: formar-se para a mudana e a incerteza. 6 ed So Paulo: Cortez, 2006. (Coleo Questes da Nossa poca, v. 77) LIMA, Maria Socorro Lucena. Qual o lugar da Didtica no trabalho do professor. Revista Eletrnica Pesquiseduca - v.3, n.5, jan.- jun. 2011.
268
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O MATERIAL DIDTICO DE CLCULO II NA OPINIO DO ALUNO: FORMAO DE PROFESSORES DE MATEMTICA DO CURSO SEMIPRESENCIAL DO IFCE
Marlia Maia Moreira135 Cassandra Ribeiro Joye136 RESUMO No Brasil, atualmente, h alguns programas e leis que apiam a formao de professores. E a Universidade Aberta do Brasil um programa do governo que atravs das universidades pblicas oferece ensino superior a distncia para a populao. Diante disso, sabe-se que o conhecimento, atualmente, difundido de diversas formas. Sejam na forma de livros, cadernos, apostilas, revistas, ou em material didtico. Assim, como tambm, atualmente, com a o advento da internet e com a propagao das Tecnologias de Informao e Comunicao, o conhecimento disseminado em folhas digitais, ou melhor, em material didtico online e impresso. Pretende-se, neste artigo, apresentar os resultados advindos da aplicao de um questionrio aplicado com alunos do curso de Licenciatura em Matemtica semipresencial do IFCE sobre o material didtico da disciplina de Clculo Diferencial e Integral II. Este trabalho pautado em uma pesquisa de campo, onde extramos dados advindos desse questionrio aplicado junto a esses alunos. Como resultados, os dados apontaram que o material didtico no trazia exerccios resolvidos e exemplos o suficiente para a prtica do conceito que estava sendo estudado em certa aula, e que o mesmo poderia ser melhorado. Como concluso, percebe-se que os pontos e crticas levantados pelos alunos oriundos do curso, pode-se ter um norte que aponta para uma preparao de material didtico com mais qualidade em que se perpetue a ideia de que o material tem que est centrado na aprendizagem do aluno. PALAVRAS CHAVE: Opinio do Aluno. Produto Final. Material Didtico de Clculo II. Formao de Professores de Matemtica. INTRODUO Polticas de Formao de Docente no Brasil No Brasil, atualmente, h alguns programas e leis que apiam a formao de professores, aos quais podemos listar: Plano Nacional de Formao dos Professores para a Educao Bsica PARFOR; Programa Institucional de Bolsa de Iniciao Docncia Pibid; Observatrio da Educao Obeduc; Programa de Consolidao das Licenciaturas Prodocncia; Programa de Licenciaturas Internacionais PLI; Universidade Aberta do Brasil UAB. Deter-nos-emos neste ltimo, ao qual se far uma pequena discusso. A Universidade Aberta do Brasil um programa do governo que atravs das universidades pblicas, que foi institudo pelo o Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, cujo objetivo principal
Marlia Maia Moreira graduada em Licenciatura em Matemtica (IFCE), Especialista em Ensino de Matemtica (UECE), e aluna do Mestrado da ps-graduao em Educao Brasileira da UFC. Email: marilia.maiamm@gmail.com 136 Cassandra Ribeiro Joye graduada em Pedagogia Licenciatura Plena (UFPE), Mestre em Engenharia de Produo (UFSC), e doutora em Engenharia de Produo (UFSC). Email: projetos.cassandra@gmail.com
135
269
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
oferecer a populao ensino de nvel superior para que tm dificuldade de acesso formao universitria, por meio da Educao a Distncia (EaD). Em geral, o pblico atendido, so professores que j atuam na educao bsica da rede de ensino pblico137. Diante disso, sabe-se que o conhecimento, atualmente, difundido de diversas formas. Sejam na forma de livros, cadernos, apostilas, revistas, ou em material didtico. Assim, como tambm, atualmente, com a o advento da internet e com a propagao das Tecnologias de Informao e Comunicao (TICs), o conhecimento disseminado em folhas digitais, ou melhor, em material didtico online e impresso. Com isso, pode-se falar sobre o material didtico para cursos online, o qual pode vim em formato digital e impresso. OBJETIVO GERAL Sendo assim, pretende-se apresentar neste artigo os resultados advindos da aplicao de um questionrio aplicado com alunos do curso de Licenciatura em Matemtica semipresencial do Instituto Federal do Cear (IFCE) sobre aspectos do material didtico (digital e impresso) da disciplina de Clculo Diferencial e Integral II. A metodologia pautada em uma pesquisa de campo, onde extramos dados advindos desse questionrio aplicado junto a esses alunos. METODOLOGIA Produo de material didtico para cursos online Na produo de Material Didtico para Educao a Distncia (EaD), uma caracterstica peculiar a forma como a equipe composta. Segundo Moreira (2012) e Guedes (2011), essa equipe chamada de multidisciplinar, pois h diversos tipos de profissionais que trabalham juntos para produzir o Material Didtico para dar suporte a aprendizagem do aluno que estuda a distncia. Os principais profissionais envolvidos so: o professor conteudista, o designer instrucional, e o revisor gramatical. O professor conteudista, nesse cenrio, quem lida com a elaborao do contedo a que deve ser destinado a um curso a distncia ou semipresencial. Sua formao essencialmente importante, pois ele precisa ser especialista no contedo ao qual est produzindo (MOREIRA, 2012). J o Designer Instrucional (DI) o profissional que planeja e acompanha a produo do material didtico que foi produzido pelo professor conteudista. Segundo Ramal (2003),
(...) [o] designer instrucional a pessoa ou grupo de profissionais que far o desenho didtico-pedaggico e o planejamento do processo de ensino aprendizagem, desde sua concepo, programao do curso s atividades e avaliao. (RAMAL, 2003, p. 188).
Na perspectiva de Guedes (2011, p. 50), o DI quem evidenciar a didtica e a pedagogia do material desenvolvido pelo conteudista.. Mas, para evitar que o material tenha erros textuais e gramaticais, o revisor gramatical entra nesse cenrio para examinar possveis erros ou, tambm, sugerir que ao professor conteudista, a construo inteligvel de alguma parte do texto que foi construdo (MOREIRA, 2012).
137
Para mais informaes ver o site: http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=18
270
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Diante do foi exposto, a equipe multidisciplinar de produo de Material Didtico tem uma tarefa primordial. No entanto, observa-se que, dependo do curso, o Material Didtico tem suas peculiaridades, como o caso de um material didtico de Matemtica para uma graduao semipresencial de formao de professor de Matemtica. O material didtico, segundo Guedes (2011) pode ser considerado como todo dado e toda informao convertida em documento acessvel, sob o formato impresso ou digital, que pode servir de material pedaggico para o trabalho intelectual. Sendo assim, o material didtico impresso, costuma ser caracterizado por manter um padro caracterstico esttico, uma vez que os meios de comunicao que veiculam esse tipo de material se do atravs de folhas impressas, seguindo padres de formatao e de identidade visual (MOREIRA, 2012). J o material didtico digital caracterizado por ser mais dinmico, pois se utiliza de recursos que o material impresso no dispe. Esses recursos muitas vezes facilitam e dinamizam a aprendizagem do aluno. A interatividade, a navegao, o tratamento da informao, vdeos e udios ajudam a compor o cenrio de recursos que uma aula online tem. Sendo assim, nessa perspectiva, fica o questionamento sobre o grau de satisfao que um aluno que estuda a distncia tem com relao ao material didtico que produzido por curso semipresencial. A seguir, se ver os resultados colhidos de um questionrio realizado com alunos dos cursos de Licenciatura em Matemtica semipresencial do IFCE, com relao a satisfao com o material didtico produzido pela Universidade Aberta do Brasil ligado a Diretoria de Educao a Distncia do IFCE. DISCUSSO DOS RESULTADOS Diante do que foi exposto at aqui, pode-se analisar os resultados advindos de um questionrio que foi aplicado junto aos alunos, ao quais foram escolhidos atravs do seu desempenho da realizao das atividades no ambiente virtual de aprendizagem Moodle do IFCE pelos participantes na poca em que eles cursaram essa disciplina. Foram escolhidos quatro alunos de cada polo que ofertava essa disciplina. Outro fator para escolha dos alunos foi o semestre recente da poca da aplicao do questionrio: o semestre 2011.2, por ser o mais recente. No incio, tinha-se mente aplicar o questionrio para quarenta e oitos alunos. No entanto, somente trinta seis foram selecionados para participar dessa amostra, pois alguns polos no estavam ofertando essa disciplina nesse perodo citado. Desses trinta e seis alunos que estavam ativos, somente dez responderam e nos retornaram com suas perspectivas advindas atravs das perguntas do questionrio. De um questionrio de quinze perguntas, foram extradas algumas sobre os quais se desejava saber sobre o nvel de satisfao do Material Didtico para o aluno. Como se pode perceber na Tabela 1, dos alunos que responderam sobre a perspectiva geral do Material Didtico da disciplina de Clculo Diferencial e Integral II, se esse material estava atendendo a suas expectativas de aprendizagem, quarenta por cento disseram que no, se igualando aqueles que disseram parcialmente. Pois, segundo eles, no material fornecido, haviam-se poucos exerccios
271
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
resolvidos, exemplos das definies e conceitos estudados, assim como esses poucos exerccios resolvidos e exemplos no estavam claros para seu entendimento. Tabela 1 Perspectiva geral do material didtico de Clculo II pelos alunos
Sim 20% No 40% Fonte: Moreira (2012, p. 52) Parcialmente 40%
Analisando a Tabela 2 que apresenta o resultado da pesquisa sobre as dificuldades de aprendizagem com o Material Didtico de Clculo II fornecido pela instituio, setenta por cento dos entrevistados afirmaram que tiveram dificuldades, pois o assunto abordado no estava claro, ora por ter definies ou teoremas que estavam com uma linguagem rebuscada ou formal com um nvel alto, ou, como j foi abordado, o material didtico no trazia exerccios resolvidos e exemplos o suficiente para a prtica do conceito que estava sendo estudado em certa aula. Mas, eles enfatizavam que o material poderia ser melhorado com base nos aspectos apontados por eles. Tabela 2 Dificuldade na aprendizagem de Clculo II com o material didtico fornecido
Sim 70% Fonte: Moreira (2012, p. 53) No 30% Parcialmente 0%
CONSIDERAES FINAIS Como foi visto o presente artigo tentou mostrar em quais aspectos do Material Didtico de Clculo II os alunos do curso de Licenciatura em Matemtica semipresencial do IFCE enfatizaram para que a qualidade de suas formaes fosse garantida. O material didtico de Clculo II ainda no est de acordo com o que se espera para um curso semipresencial de formao de professores de Matemtica. No entanto, com os pontos e crticas levantados pelos alunos oriundos do curso, pode-se ter um norte que aponta para uma preparao de material didtico com mais qualidade em que se perpetue a ideia de que o material tem que est centrado na aprendizagem do aluno.
REFERNCIAS GUEDES, J.F. Produo de material didtico para EaD no curso de licenciatura em matemtica: o caso da UAB/IFCE. Dissertao (Mestrado Acadmico em Educao) Universidade Federal do Cear. Fortaleza, 2011. MOREIRA, Marlia Maia. A viso dos materiais didticos na perspectiva do aluno: o caso da licenciatura em matemtica a distncia do IFCE. Monografia de especializao em Ensino de Matemtica, Universidade Estadual do Cear - UECE, 2012. RAMAL, Andrea Ceclia. Educao com tecnologias digitais: uma revoluo epistemolgica em mos do desenho instrucional. In: SILVA, Marco (org.). Educao online: teorias, prticas, legislao e formao corporativa. Edies Loyola: So Paulo, 2003. SILVA, Marco (org.). Educao online: teorias, prticas, legislao e formao corporativa. Edies Loyola: So Paulo, 2003.
272
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
PARTE VI: EIXO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAO
273
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
UMA ANLISE DA METODOLOGIA DO LABORATRIO DE PESQUISA MULTIMEIOS/FACED/UFC, UTILIZADA NA DISCIPLINA DE EDUCAO A DISTNCIA DO CURSO DE PEDAGOGIA.
Fernanda Cntia Costa Matos138
RESUMO O presente trabalho objetiva analisar a contribuio da abordagem metodolgica da disciplina de educao distncia do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educao (FACED/UFC) para o desenvolvimento do aprendizado discente. A disciplina faz parte da matriz curricular de disciplinas obrigatrias da Faculdade de Educao/UFC. Sua metodologia conta com quase 100% de aulas distncia, assistida por Tecnologias da Informao e Comunicao (TICs). Como objetivo principal, procuro identificar pontos positivos e negativos que essa metodologia pode contribuir para a formao dos alunos que cursam a disciplina. Como metodologia foi realizada questionrio com perguntas qualitativas e quantitativas com os alunos da disciplina, dos quais obtivemos 20 questionrios, o que significa quase 50% da turma. A partir dessas anlises, podemos perceber que os alunos reconhecem que a metodologia utilizada sim favorvel para o desenvolvimento de suas aprendizagens, e percebem ser um ponto positivo para a formao profissional. Porm, atravs dos relatos percebe-se que boa parte dos alunos, ainda tm dificuldades de utilizarem as TIC em uma perspectiva didtico-pedaggica. PALAVRAS-CHAVES: Educao distncia; Metodologia; Histria da EaD. INTRODUO A educao faz parte da vida, estando presente no cotidiano das pessoas, em seus atos e no modo como estes so vivenciados. Brando (1996, p. 7) reconhece que a educao se mistura com a vida. Portanto, no se pode definir um modelo nico, nem mesmo lugar e a forma onde existe educao. Brando ressalta: no h forma nica nem um nico modelo de educao; a escola no o nico lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar no a nica prtica e o professor profissional no o seu nico praticante (BRANDO, 1993, p. 9). Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo analisar a contribuio da abordagem metodolgica da disciplina Educao a Distncia da Faculdade de Educao (FACED/UFC) para o desenvolvimento do aprendizado discente.
Fernanda Cntia Costa Matos. Graduada em Pedagogia, pela Universidade Federal do Cear (UFC). fcintiacm@gmail.com
138
274
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
A disciplina tem oitenta por cento da sua carga horria a distncia e para sua realizao so usados os Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que so esses o Teleduc e o Moodle. formada por uma equipe formada por um professor e alguns formadores que acompanhar e do suporte aos alunos nas atividades. OBJETIVO GERAL Identificar pontos positivos e negativos que essa metodologia pode contribuir para a formao dos alunos que cursam a disciplina. METODOLOGIA O estudo realizado descritivo e exploratrio, de natureza quantitativa e qualitativa no qual se descreve toda a metodologia da disciplina de Educao a Distncia desenvolvida pelo Laboratrio de Pesquisa Multimeios (FACED/UFC). No primeiro momento, realizamos leituras de obras de diferentes autores que tratam do tema em questo, a partir das quais foram realizados fichamentos e anotaes acerca da temtica. O segundo momento constituiu-se no trabalho de campo, onde foram aplicados 20 questionrios com o fito de analisar em que medida a abordagem metodolgica da disciplina Educao a Distncia do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educao (FACED/UFC) contribui para o desenvolvimento do aprendizado discente. A coleta de dados ocorreu atravs da aplicao um questionrio contendo 10 perguntas, dentre elas objetivas e subjetivas. A turma era composta de 40 alunos, sendo que destes, 20 alunos responderam o questionrio, obtendo uma amostra de 50%. Para a estatstica e anlise dos dados foi utilizado o programa SPSS (StatisticalPackage for the Social Sciences) for Windows verso 15.0, que uma aplicao de tratamento estatstico de dados. Este programa permitiu apresentar uma anlise descritiva, contendo freqncia absoluta e relativa. DISCUSSO DOS RESULTADOS A partir desse momento, mostraremos o resultado desta pesquisa, com relatos descrito pelos alunos. Sobre o primeiro contato com ensino a distncia, por parte dos alunos, Percebeu-se que um nmero considervel j possua alguma experincia relacionada ao ensino a distncia. Entendemos que esse percentual ocorre em razo da grande oferta desses cursos atualmente. Como nos mostra o relato de (NOVA E ALVES, 2003. P. 5-27) So inmeros os cursos a distncia que criada e difundida diariamente, no mundo inteiro, utilizando a internet ou sistemas de rede similares como suporte da comunicao. Com relao a metodologia, 60% dos alunos responderam ser boa, por contribuir para autonomia discente. J 20% responderam no gostar, por no se identificarem com aulas a distncia. Percebemos nas respostas o quanto a autonomia importante para o aluno da EaD. Em relao questo da autonomia, Lopes ressalta: Quando se fala em autonomia, deve-se pensar em
275
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
uma formao contnua, uma formao que exija do ser humano a capacidade de governar por si mesmo o seu desenvolvimento pessoal e profissional (2003). Seguimos com o questionamento sobre as dificuldades encontradas pelos alunos dentro da disciplina. Percebe-se que um nmero considervel no utiliza com facilidade os ambientes virtuais e no consegue compreender uma metodologia de estudo a distncia. Isso nos direciona a compreendermos que os estudantes atuais, fazem uso das TICs, porm na verdade no sabem fazer uso pedaggico. Com relao ao acompanhamento discente a turma dividiu sua opinio onde 60% responderam que esse acompanhamento dos tutores e professor sim um diferencial. J 40% no afirmam ter diferena. Isso nos leva a compreender que o estar junto do aluno, acompanhando tirando dvidas, faz com que esse aluno, no venha a compreender a EaD como uma educao solitria. E que o acompanhamento direciona o aluno, a no abandonar o curso e ajudar a ter bons resultados. No processo de avaliao 55% responderam que diferencia das demais disciplinas, j 45% responderam que no diferencia das demais disciplinas. Nesse caso constatamos que as opinies se dividiram e isso significa que a disciplina faz uso de uma avaliao que sim aceita por muitos, porm algumas posies sobre a exigncia na avaliao devem ser revistas, como podemos constatar no relatado de um aluno que diz a avaliao criteriosa, muito exigente e precisa melhorar. Na metodologia, abordamos acercas das diferenas entre a presencial e a distncia se ela se diferencia das demais, a opinio dos alunos apresentou-se equilibrada, pois, 55% afirmam perceber essa diferena e j 45% no percebem a diferena. Compreendemos que algo dever ser repensado e estudado para que os alunos conheam melhor a metodologia aplicada disciplina, pois quase metade da turma no est fazendo tal compreenso. Percebemos que o acompanhamento dos discentes na disciplina um diferencial, constatada pela maioria dos alunos tendo em vista que 75% responderam que o acompanhamento diferencia das demais disciplinas e 25% que no deferncia. Sobre o material didtico em formato digital no se torna um diferencial na metodologia com relao s demais disciplinas, tendo um percentual de 60% que no acham que diferencia e 40% acham que diferencia. Com relao ao acesso a rede 55% afirma que no se diferencia das demais e 45% reconhecem que o acesso um diferencial. Apesar da disciplina, possuir um formato diferente, por ser realizada a distancia, utiliza ambientes virtuais de aprendizagem e outros, a maioria dos alunos afirma que a metodologia no diferenciada (ou percebida). Pois 95% dos alunos no perceberam diferena das demais metodologias utilizadas nas disciplinas e 5% afirmam ter sim diferena. Sobre a metodologia relataram ser favorvel para a formao do educador tendo em vista que, dos vinte questionados, dez responderam que a metodologia favorvel para a formao para
276
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
o trabalho com tecnologia. Dez afirmaram ser favorvel para a autonomia em seus estudos. Trs responderam outros pontos diversos. Entre a relao professor aluno, cinco responderam que avaliam a relao professoraluno dentro da disciplina positiva para a autonomia do aluno. Oito compreendem ser positivo o acompanhamento e a disponibilidade de comunicao. Um aluno respondeu ter pontos positivos na disciplina. Seis responderam outros pontos diversos. Esses dados vo muito ao encontro do que foi dito no ponto Q4, que fala da relevncia do acompanhamento, e o acesso ao professor na disciplina de EaD se mostra bem aberto, j que o aluno pode utilizar os ambientes para se comunicar, fazer alguma pergunta, interveno ou at mesmo tirar dvidas com o professor. Sobre a avaliao, seis avaliam como injusta a avaliao, pois os critrios no condizem com a prtica (pessoas que no participaram passaram), e que tambm a relatam que a avaliao compromete o processo de aprendizagem. Trs avaliam como muito criteriosa e exigente e que precisa melhorar. Oito avaliam como boa e aberta e que tambm clara e interessante. Trs responderam aleatoriamente. O processo avaliativo da disciplina est presente em todas as atividades propostas por ela, isso quer dizer que o aluno avaliado desde o momento que inicia at o final da disciplina. Porm diante dos dados expostos podemos constatar que boas partes dos alunos da disciplina so oriundas de processos avaliativos com poucos critrios e exigncias. Sendo que processo avaliativo da disciplina se d tanto pelos ambientes como pela prova presencial, entendido por Campos (2003) como processo de mltiplas facetas. E mesmo os que relatam ser boa, aberta e interessante, no citaram acerca do processo de aprendizagem que deve est relacionado com a avaliao. Para entendermos melhor seguimos o raciocnio de Campos, (2003, p. 124):
A avaliao um processo de mltiplas facetas, incluindo os aspectos afetivos e sociais envolvidos na aprendizagem. Logo, acreditamos que a avaliao no pode ser conduzida somente de forma eletrnica. Independentemente do ambiente de aprendizagem adotado, ou seja, sala de aula ou ambiente computacional, a avaliao do estudante uma tarefa do professor (CAMPOS et al, 2003, p.124).
De uma forma geral esta pesquisa nos chama ateno para a importncia da metodologia escolhida dentro de uma disciplina, pois ela compreendida por todos os passos que so realizados durante o processo. CONSIDERAES FINAIS O presente trabalho buscou identificar como a metodologia utilizada na disciplina de Educao a Distncia contribui para a formao dos discentes enquanto futuros educadores, verificando se a metodologia compreendida pelos mesmos como um diferencial em seu processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, a partir da realizao desse trabalho, podemos observar que para muitos alunos a disciplina no se trata de nenhuma novidade. Muitos afirmaram que j haviam passado por experincias com ensino a distncia.
277
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Percebe-se tambm que a metodologia utilizada na disciplina no est bem compreendida pelos alunos, pois grande nmero revela que a metodologia boa, porm desnecessria. J alguns relatam ser boa por exigir do aluno autonomia nos estudos, mais admitem ser muito cansativa. Verificamos que poucos alunos percebem a importncia do ensino a distncia para sua formao, relatam exigir muita dedicao e disciplina, mais que compreendem ser assim que se forma um bom profissional. Em geral conclumos que os alunos entendem que a metodologia da disciplina diferente das demais, por utilizar tecnologias e ser isso uma exigncia do mercado de trabalho para os futuros profissionais da educao. Por outro lado no compreendem sua didtica pedaggica. Isso se remete ao fato dos alunos ainda ser muito dependente da sala de aula presencial, a presena contnua com o professor. REFERNCIAS CHAGAS, A, T. R. O questionrio na pesquisa cientfica. Disponvel em; <http: /www.fecap.br/adm_online/art11/anival.htm>Acesso em:10 de fevereiro de 2013. BARROS, Veronica Altef. O trabalho do docente virtual: anlise jurdica das condies de trabalho decorrentes do sistema de educao a distncia. Belo Horizonte: UBC, 2008. BRANDO, Carlos Rodrigues. O que Educao. Ed. Brasiliense. So Paulo. 1993. CAMPOS, F. C. A. et al. Cooperao e aprendizagem on-line. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. Disponvel em: http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=559499>. Acesso em: 26 de janeiro de 2013.
278
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
QUALIDADE NA OFERTA DE ENSINO SUPERIOR A DISTNCIA NO BRASIL: UMA ANLISE DOS CURSOS A DISTNCIA DE UMA INSTITUIO DE ENSINO SUPERIOR DE FORTALEZA
Ana Cleide da Silva139 Gabriela de Aguiar Carvalho140
RESUMO Esta pesquisa foi desenvolvida durante a disciplina de Educao a Distncia ministrada na Universidade Federal do Cear, e tem como objetivos visitar uma Instituio de Ensino Superior de Fortaleza que oferte cursos a distncia e identificar se a Instituio est de acordo com os 8 critrios definidos pelo documento de referencias de qualidade para a Educao Superior a distncia, disponibilizado pela SEED/MEC. Como referencial terico utilizamos os conceitos de Alonso (2012) sobre as caractersticas da Educao a Distncia e o documento de referencias de qualidade para a Educao Superior a distncia (2007). Como metodologia, entrevistamos a secretria da informao da Instituio. Como resultados da pesquisa identificamos que a Instituio de Ensino Superior visitada est de acordo com os critrios propostos pelo documento de referencias de qualidade para a Educao Superior a distncia, favorecendo assim, em um Ensino Superior a distncia de qualidade. PALAVRAS-CHAVE: Educao a distncia. Autonomia. Qualitativa. INTRODUO Nos ltimos anos a Educao Superior a Distncia no Brasil tem aumentado de forma significativa. Isso se deve a alguns fatores, como por exemplo: a falta de oportunidade de ingressar no ensino superior presencial (alta concorrncia); Muitas pessoas trabalham e acabam no tendo tempo de frequentar uma Instituio de Ensino Superior presencial, j na Educao a Distncia, o educando faz o seu horrio, tem autonomia de organizar seus horrios de estudos. De acordo com Alonso (2010, p. 1326), a principal caracterstica da Educao a Distncia o fato de professores e alunos no estarem face a face durante todo o tempo da formao. Tal especificidade implicaria organizar o trabalho pedaggico diferentemente do ensino presencial. Desta forma, faz-se necessrio a elaborao de polticas pblicas que possam oferecer um Ensino Superior a Distncia de qualidade, buscando a formao de alunos de maneira qualitativa. Diante desta especificidade que o Ensino a Distncia apresenta (que o fato do curso ser ministrado a distncia), a SEED/ MEC (2007), apresentou um documento com os Referenciais de Qualidade para ofertar cursos de Ensino Superior distncia de forma qualitativa. Este documento delimita pontos em que todas as Instituies de Ensino Superior a Distncia deveriam seguir, com o objetivo de propiciar aos educandos um ensino de qualidade. Os oito critrios propostos no documento de Referenciais de Qualidade para Educao Superior a Distncia so: Concepo de Educao e currculo no processo de ensino e
139 140
Graduanda em Pedagogia pela UFC silvaana81@hotmail.com Graduanda em Pedagogia pela UFC. bibizinha119@hotmail.com
279
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
aprendizagem; Sistemas de Comunicao; Material Didtico; Avaliao; Equipe Multidisciplinar; Infra-estrutura de apoio; Gesto Acadmico-Administrativa; Sustentabilidade Financeira. OBJETIVOS GERAIS Este trabalho tem como objetivo visitar uma Instituio de Ensino Superior de Fortaleza que oferte cursos distncia e questionar se o Projeto Poltico Pedaggico da Instituio est de acordo com os critrios propostos no documento de referencias de qualidade para a Educao Superior a distncia, disponibilizado pela SEED/MEC. METODOLOGIA A pesquisa de campo foi realizada no ano de 2012, no perodo da tarde, em que visitamos uma Instituio de Ensino Superior de Fortaleza que oferta cursos a distncia. O instrumento utilizado na pesquisa foi a entrevista, contendo dezenove questes, baseada nos oito critrios propostos no documento dos Referenciais de Qualidade para Educao Superior a Distncia. Aps a finalizao da entrevista, foi feito uma anlise sobre as respostas obtidas na pesquisa de campo, em seguida foi realizada uma comparao com os resultados obtidos e os propostos no documento dos Referenciais de Qualidade para Educao Superior a Distncia. DISCUSSO DOS RESULTADOS Atualmente a Instituio visitada, oferece diversos cursos de Graduao e Especializao distncia, como por exemplo: Qumica, Matemtica, Informtica, Artes, Fsica, Biologia e Pedagogia (nas Licenciaturas) e em nvel de ps-graduao (Especializao) oferta os seguintes cursos: Gesto pblica, Gesto Pblica Municipal, Gesto Pblica em Sade e Administrao Pblica. A entrevista foi realizada com a Secretria da Informao, que segundo algumas informaes obtidas no local, ela estaria mais apta a responder as perguntas, devido a sua grande experincia com educao distncia. Incialmente, perguntamos sobre o Projeto Pedaggico dos cursos a distncia da Instituio. Segundo a secretria ele mais voltado para as licenciaturas. Percebemos que ela no tinha muito conhecimento em relao ao Projeto Pedaggico da Instituio. Em relao aos Sistemas de Comunicao, ela informou que o sistema utilizando o Moodle um ambiente virtual de aprendizagem. Os alunos tm uma disciplina especfica para manusear o sistema Moodle, ao iniciar o curso e que so disponibilizados os e-mails dos professores, tutores, coordenadores e responsveis pelo sistema, com o objetivo de se ter uma maior interao entre eles. Outra forma de comunicao entre eles atravs dos fruns realizados no ambiente virtual, onde eles tambm mantm um contato direto. O terceiro ponto abordado na entrevista foi com em relao ao Material Didtico. Segundo a entrevistada, as apostilas so elaboradas pela prpria Instituio, por professores conteudistas. As apostilas so elaboradas por disciplinas. O material disponibilizado para os alunos em pdf e impresso. Os materiais didticos utilizados nos cursos a distncia so: livros-texto, leituras complementares, vdeos e Webs-sites. No prprio material didtico os alunos obtm informaes sobre o currculo, ementas e etc. No ambiente (sistema) so disponibilizados os locais e datas de
280
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
provas e a Avaliao final. Eles possuem um calendrio semestral, onde contm todas essas informaes. Por semestre os alunos ofertado cinco disciplinas. O quarto ponto questionado foi a Avaliao da Aprendizagem, onde so realizadas de forma presencial. Outra avaliao que a Instituio faz na forma de ouvidoria, feito um questionrio em que alunos e professores participam. Alguns pontos abordados nesta avaliao so em relao ao desempenho dos professores e se o aluno tem alguma crtica em relao ao curso e etc. O quinto ponto analisado foi em relao Equipe Multidisciplinar, em que nos cursos a distncia da Instituio visitada, composta por: professores, tutores, secretrios, coordenadores, tcnicos do sistema, tcnicos de diagramao e suporte. O sexto ponto abordado na entrevista diz respeito Infra-estrutura de Apoio dos plos. A secretria da informtica respondeu que eles possuem: bibliotecas, laboratrio de informtica com acesso a internet banda larga, sala para secretaria, laboratrios de ensino, salas para exames presenciais e salas de tutoria. No que diz respeito Gesto-Acadmico Administrativa, os alunos de cursos distncia tm os mesmos direitos de alunos de cursos presenciais, como por exemplo: matrcula, inscries, acesso s informaes institucionais, secretarias e tesouraria. O ltimo ponto abordado foi em relao Sustentabilidade Financeira, tendo em vista que para manter um curso de educao superior de qualidade, envolve uma srie de investimentos, que vai desde a produo de materiais didticos capacitao da equipe de trabalho. Desta forma a Instituio deve apresentar uma planilha com os investimentos e custos com o Ensino a distncia, como tambm apresentar a evoluo da oferta de vagas ao longo do tempo. Frente a essa questo a secretria respondeu que essa planilha feita mensalmente, onde so contabilizadas as dirias dos professores, as bolsas ofertadas, a diminuio ou aumento do nmero de alunos e etc. CONSIDERAES FINAIS Com base na pesquisa realizada, podemos concluir que os cursos de Educao a Distncia oferecidos pela Instituio, esto de acordo com o que est sendo cobrado no documento dos Referenciais de Qualidade para Educao Superior a Distncia SEED/MEC. Dessa forma, os objetivos propostos neste trabalho foram realizados. Assim, consideramos que este trabalho foi de suma importncia para o nosso aprendizado, pois tive a oportunidade de conhecer uma Instituio de Ensino Superior que oferta essa modalidade de ensino e ao mesmo tempo podemos analisar se suas propostas esto de acordo com os Referenciais de Qualidade para Educao Superior distncia de forma qualitativa, garantindo assim, a qualidade no aprendizado dos alunos. REFERNCIAS ALONSO, Ktia Morosov. A Expanso do Ensino Superior no Brasil e a EaD: Dinmicas e Lugares. Disponvel em: http://www.scielo.br/pdf/es/v31n113/14.pdf. Acesso em: 22 de Abril de 2012. BRASIL. Ministrio da Educao Secretaria de Educao a Distncia. Referenciais de Qualidade para Educao Superior a Distncia Verso Preliminar. Braslia DF, 2007.
281
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA FORMAO INICIAL DE TUTORES
Msc. Andrea Moura da Costa Souza141 Dr. Marcos Antonio Martins Lima142
RESUMO Este trabalho objetiva apresentar o uso das tecnologias digitais na formao inicial de tutores, com o intuito de colocar o futuro tutor em uma situao parecida com a que ele ir vivenciar no dia a dia no AVA (ambiente virtual de aprendizagem). A formao de tutores parte de conhecimentos imediatos dos formandos, a fim de distinguir no fim da formao os modos de interveno essenciais. A formao oferece meios para que o tutor procure conceitos e modelos prprios para dar conta das diferentes abordagens e ferramentas sobre esse tema. A partir de uma pesquisa documental e bibliogrfica, conclumos que a evaso dos tutores em formao inicial significativa e que existe lacunas entre o discurso e a pratica sobre a integrao das tecnologias digitais na educao, desse modo um referencial de competncias foi proposto com o intuito de avaliar e buscar amenizar a evaso dos docentes em formao inicial de tutores. PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias digitais, tutor, formao inicial, pratica. INTRODUO H algumas dcadas, a literatura em educao defende a ligao entre a educao e a distncia. Alguns autores de varias nacionalidades contriburam na pesquisa sobre esse tema, assim que contriburam para o movimento de mudana da educao. Esta mudana ocorre no meio educativo e representativamente no ensino superior devido insistncia e crescimento dos atores sociais, como as empresas, o Ministrio da Educao e a ANDIFES que propuseram a Universidade Aberta distncia com o intuito de melhorar o acesso educao superior para a populao que concluiu o ensino mdio. Dando nfase a dimenso que educao distncia tomou, vemos nos trabalhos de Charlier B., J.Bonamy e M.Saunders (2002) que discutem os obstculos, papel e competncias do tutor. Outros autores como: Karsenti Thierry, Larose Franois, (2001), Thibault (2007), Glickman V.(2000), Jacquinot (1993) contriburam com seus estudos a traar as novas tendncias, estratgias, mediao e avaliao do ensino superior distncia.
141 142
Universidade Federal do Ceara/Faced Universidade Federal do Ceara/Faced
282
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
A contribuio desses autores levantam alguns questionamentos sobre a educao e a distncia, pois para Karsenti T., Larose.F. (2001) existe uma lacuna entre o discurso e a realidade do ensino a distncia, no que concerne a relao do tutor, do aluno e do espao, ou ainda, a relao do tempo sncrona e assncrona e a mudana do conceito de sala de aula. Todavia, a vontade de associar o ensino distncia e a estrutura educacional existente permanecem impulsionada pela necessidade que se manifesta a todos os nveis escolares de integrar as tecnologias digitais na educao, na vontade de tornar o conhecimento acessvel. Mas para que a educao distncia ocorra, a instituio, representativamente, UAB- Universidade Aberta do Brasil-Universidade Federal do Ceara (foco da nossa pesquisa) precisa de tutores e que esses participem da formao inicial e estejam aptos a mediar, avaliar e valorizar o aprendizado dos alunos durante a disciplina. O contexto Desde 2005 foi implantada a Universidade Aberta do Brasil, sendo a UFC uma das pioneiras a oferecer os cursos de graduao na modalidade semipresencial, desde ento formaes iniciais so oferecidas aos tutores das disciplinas ou atravs de chamada publica, ou seja, editais. Ao lanar um edital a instituio recruta novos tutores, tendo como critrios a graduao na rea do curso, a experincia como docente ou ainda que sejam alunos de ps-graduao Stricto Sensu. A formao inicial de tutores permite que os formandos estejam em contato direto com a plataforma SOLAR e com os instrumentos de avaliao e somente depois de alcanarem o nvel de competncia requerido para a obteno do diploma que podem atuar efetivamente no programa. A formao nas atividades profissionais de ensino implicadas no AVA permite definir as competncias necessrias e estabelecer um recrutamento de referncia (docente e/ou aluno de psgraduao) como comentamos anteriormente. Mas mesmo com esse cuidado no recrutamento, percebemos a evaso de tutores dos cursos de formao inicial em 2010.2, 28 entrantes e 22 concludentes e em 2012.2, 29 entrantes e 15 concludentes em Administrao de Empresas. Ento, dentro desse contexto propomos o uso de um modelo de avaliao de competncias com base no modelo sugerido por Guittet (1995,73). OBJETIVOS GERAIS demostrar o tipo de recrutamento feito pela UAB-UFC levantar as competncias para o ensino distancia Propor um modelo para avaliao
A hiptese inicial foi a seguinte: se os tutores foram recrutados para assegurar a responsabilidade do ensino semipresencial ou para intervir como mediador, quais competncias lhe seriam necessrias? METODOLOGIA Estudo bibliogrfico, documental e intervenes presenciais-virtuais na formao inicial de tutores em Administrao em 2012.2 na Universidade Federal do Ceara, onde 29 se inscreveram
283
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
na formao e somente 15 concluram a formao. Buscou-se propor um modelo de competncia e aumentar a discusso sobre a evaso dos docentes. DISCUSSO DOS RESULTADOS A competncia segundo Guittet (1995) implementao efetiva do saber e saber fazer para a realizao de uma tarefa. A competncia derivada da experincia profissional objetivamente observada a partir do local de trabalho e validada pelo desempenho profissional. Assim a competncia pode ser considerada como conhecimento declarativo cognitivo, conhecimento processual e atitudes ou ainda, comportamentos potenciais, s vezes afetivo, cognitivo e/ou psicomotor. Outros autores falam de saber, saber fazer, saber ser distinguindo o saber fazer o mtodo, saber fazer atitudes, saber fazer em relao ao relacionamento, este ultimo repartido em quatro nveis, so eles: reproduo, adaptao, maestria e expertise. Notamos que o preenchimento dessa avaliao de competncias na formao de tutores iniciais possvel para aqueles que esto acompanhando a formao, pois a presena de uma competncia somente pode ser observada quando o tutor em formao tem o seu comportamento observado efetivamente, sendo assim, o modelo consistente somente se a observao do cumprimento das tarefas for verificada para em seguida avaliar se o tutor tem ou no uma determinada competncia. CONSIDERAES FINAIS Este artigo fornece um exemplo de modelo de competncia, mas aumenta a discusso em torno da integrao das tecnologias digitais para a educao que implica uma reflexo da didtica e dos modos de recrutamento como meio de diminuir a continua evaso dos docentes. Sugerindo um melhor gerenciamento da diviso das tarefas, cursos, aulas e alunos, assim que a unio dos docentes dessa modalidade de ensino. REFERNCIAS Charlier B., J.Bonamy et M.Saunders (2002,) ; Apprivoiser linnovation. In Charlier B.et Peraya D.(orgs.). Technologieset innovation en pedagogie : dispositifs innovants de formation pour lenseignement superieur. Bruxelles : De Boeck. Glickman V.(2000) Fonction tuteur ? du vocabulaire aux modeles de mise en uvre. In Chantiers publics et mtiers de enseignement distance au seuil de lan 2000. Poitiers, CNED. Guittet, A. (1995). Dvelopper les comptences par une ingnierie de la formation. Paris : ESF. Jacquinot (1993) Apprivoiser la distance et supprimer labsence ? ou les dfis de la formation distance. Paris : Revue Franaise de Pdagogie. Karsenti T., Larose F., (2001) TicAu cur des pdagogies Universitaires : Diversit des enjeux pdagogiques et administratifs. Quebec : Presses de luniversit du Quebec. Thibault (2007) Enjeux de lenseignement distance pour luniversit franaise 1947-2004. Tese de doutorado en ciencias da informao e comunicao. Universit Paris XIII- Paris Nord (471 p).
284
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
EAD - EDUCAO A DISTNCIA E O PARADIGMA DA INTERAO E INTERATIVIDADE NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Neidimar Lopes Matias de Paula143
RESUMO A Educao a Distncia caracteriza-se como uma modalidade de ensino diferente pelo fato de sua mediao didtico-pedaggica acontecer no no espao da sala de aula, mas por meio do uso das tecnologias da informao e comunicao TIC atravs das quais, professores e alunos desenvolvem suas atividades em lugares e tempos diversos. O uso dessa modalidade educativa, cada vez mais em expanso, tem gerado diferentes opinies entre os pesquisadores da educao. O presente trabalho intitulado: EAD Educao a Distncia e o Paradigma da Interao e Interatividade no Processo de Ensino e Aprendizagem tem como objetivos principais refletir, a partir do pensamento de alguns autores, sobre o processo de ensino e aprendizagem na EaD e analisar o paradigma da interao e interatividade na educao online, ambos vistos como possibilidades condizentes com as exigncias educativas do mundo contemporneo. fruto de uma pesquisa de cunho exploratrio e bibliogrfico, cuja metodologia de trabalho envolveu basicamente a leitura em livros, artigos, peridicos e dissertaes de vrios pesquisadores. A escolha dos autores se deu pela convergncia e/ou proximidade de abordagem entre eles. Dentre os tericos consultados, tivemos uma aproximao maior com Lvy (1999 e2004), Belloni (2002) apud Dias e Leite (2007), R. Amorim, D. Amorim & Gomes in: Pesce & Oliveira (org) (2012), (NUNES & SILVEIRA, 2008), Capareli & Barros (2008), Dias (2006), Almeida (2000 e 2003). O estudo permitiu entender o desenvolvimento desse paradigma na educao contribui positivamente para a formao do sujeito que se deseja para o mundo contemporneo. PALAVRAS-CHAVE: Educao a Distncia. Interao e interatividade. Aprendizagem. INTRODUO A Educao a Distncia, modelo de ensino presente, hoje, no mundo inteiro, tem como caracterstica essencial a mediao professor-aluno-contedo por meio de alguma tecnologia e, por essa razo, distingue-se do ensino presencial clssico. Embora exista h mais de cem anos no Brasil, as opinies sobre esse modelo de ensino ainda so bastante divergentes, talvez por fora de duas razes: A primeira diz respeito cultura escolar construda ao longo da histria, na qual a aprendizagem formal deve ocorrer necessariamente no espao da sala de aula. A segunda, refere-se ao fato de ter sido pensada para garantir a expanso dos meios de produo do sistema capitalista a partir da formao tcnica do trabalhador e ter adquirido desde ento a sua marca principal de ser uma mera formao tcnica e, ainda mais agravante, uma formao considerada de qualidade inferior que aquela obtida no ensino presencial. No entanto, diante das rpidas mudanas, do mundo miditico e globalizado, urge a necessidade de uma pedagogia que atenda no s aos anseios de mercado, mas, sobretudo, aos
143
Mestranda em Educao pela Universidade Federal do Cear.
285
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
anseios humanos por uma sociedade mais justa e mais democrtica e, diante desse contexto, j no mais suficiente apenas o treinamento tcnico do trabalhador. So necessrias novas habilidades que a educao formal dever dar conta alm da preparao para o trabalho. O processo de ensino e aprendizagem na contemporaneidade, exige muito alm da memorizao de contedos acumulados. Entram em cena novas atividades, novas relaes sociais, novas estratgias de comunicao, mediadas pelas Tecnologias digitais enfim, novos modos de viver e conviver. Tal realidade incita a reflexo sobre os mecanismos adotados pela educao dos nossos dias para garantir a construo de um conhecimento capaz de promover o desenvolvimento integral dos indivduos a partir de suas aprendizagens nos diferentes espaos. e, nesse contexto de um mundo miditico e globalizado muitos pesquisadores apontam a EAD como uma possibilidade de novos caminhos na educao, embora reconhecendo que esta tambm apresenta desafios tanto quanto a educao presencial que parece no ter conseguido cumprir seu papel social. Assim, o presente texto visa responder algumas perguntas que vem permeando o nosso pensamento sobre a educao atual. Vejamos: A EAD pode contribuir para a construo de um conhecimento voltado para o atendimento das demandas sociais contemporneas? O paradigma da interao e interatividade pode realmente assegurar uma aprendizagem efetiva, independente de professores e alunos ocuparem os mesmos espaos de estudo? possvel pensar na formao de um aluno autnomo por meio da EAD? Assim o presente artigo trata de uma reviso de literatura sobre a Educao a Distncia e o Paradigma da Interao e interatividade no processo de ensino e aprendizagem, buscando refletir, luz do que apontam os tericos consultados, sobre a efetividade dessa modalidade de ensino, analisando o par interao/interatividade como uma possibilidade condizente com as exigncias educacionais do mundo contemporneo. OBJETIVO GERAL Refletir, a partir do referencial terico estudado, sobre o processo de ensino e aprendizagem na EaD e analisar o paradigma da interao e interatividade na educao online, como uma possibilidade condizente com as exigncias educacionais do mundo contemporneo. METODOLOGIA O trabalho fruto de uma pesquisa de cunho exploratrio e bibliogrfico. E partiu do interesse prprio em construir um pensamento mais consistente sobre o processo de ensino e aprendizagem na EAD. Aps algumas leituras em livros, artigos, peridicos e dissertaes de vrios pesquisadores, escolhemos aqueles que nos pareceram mais alinhados com as questes pedaggicas que, a nosso ver, permeiam o processo de ensino e aprendizagem na educao contempornea. DISCUSSO DOS RESULTADOS Tomando como referncia o pensamento de Dias (2006), quando afirma que a sala de aula tradicional o lcus da homogeneizao: alunos enfileirados, assistindo mesma aula, realizando
286
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
a mesma prova num mesmo tempo e espao e contrapondo ao que diz Lvy (2004) em uma crtica a esse modelo e, referindo escola tradicional como uma instituio que h cinco mil anos se baseia sobremaneira no falar/ditar do mestre (grifo nosso), necessito conceber a escola com estas caractersticas como algo que no atende as demandas formativas da atualidade. O exigvel no contexto atual um repensar a educao numa perspectiva dinmica e criativa, substituindo a ideia de transmisso para construo do conhecimento, pois assim esto configuradas as sociedades do mundo contemporneo e globalizado. No que se refere ao paradigma da interao e interatividade, Nunes & Silveira, 2008 lembram a utilizao do termo interao desde alguns anos atrs por Vygostsky, que compreende o desenvolvimento do sujeito a partir de um processo de apropriao dos significados culturais que o cercam. Nesse sentido, para as referidas autoras, o advento da internet e o desenvolvimento das tecnologias digitais encaminham a humanidade para o uso de novos espaos de aprendizagem, condicionando-a a novas formas de comunicao a partir de uma interconexo mundial que ocorre por meio do ciberespao. Ento, se estamos diante desta interconexo, as palavras de Nunes & Silveira (2008) quanto ao termo interao e interatividade, dando a este ltimo o tom de quase imperativo na educao dos nossos dias, uma vez que, atravs do uso da rede de computadores a Internet e de canais de comunicao cada vez mais interativos, o ensino-aprendizagem est se transformando. Tal fato nos leva a entender que faz-se necessria a emergncia de educadores que reinventem sua prtica docente, pois os espaos para uma prtica pedaggica que enfatize a transmisso do conhecimento j no devem existir mais. Discutindo sobre essa necessidade educacional emergente, concordamos com Capareli & Barros (2008) quando afirmam que todo professor precisa apropriar-se das tecnologias como um auxlio ao ensino, j que elas possibilitam criar as mais diversificadas situaes de aprendizagem. Essa afirmao nos leva a compreender que o uso pedaggico das TIC na educao pode de fato possibilitar a dinamizao do processo de ensino e aprendizagem e permitir que o aluno construa seu conhecimento de modo muito mais significativo, pois ele (o aluno) diferencia-se do professor nesse aspecto por ser considerado um nativo, a maioria dos professores so imigrantes digitais (DEMO, 2009). Assim, quando alunos e professores se encontram em espaos e tempos diferentes, como o caso da EAD, a interao e interatividade, proporcionada a partir do uso das ferramentas tecnolgicas, pode fazer grande diferena na construo do conhecimento. Sobre a formao de um aluno autnomo, conforme aponta Dias (2006), h ainda grande lacuna na oferta de professores competentemente habilitados para desenvolver um trabalho dessa natureza. Cremos que independente de ser educao a distncia ou presencial o professor no pode ser formado apenas numa dimenso pedaggica, nem tampouco buscar a acumulao de teorias e tcnicas. Trata-se de uma formao que articula a prtica, a reflexo, a investigao e os conhecimentos tericos requeridos para promover uma transformao na ao pedaggica (ALMEIDA, 2000, p. 111). Diante dessas reflexes possvel perceber que pela especificidade prpria da EAD, esse desenvolvimento da autonomia do aluno, de que falam vrios autores, pode ocorrer a partir da
287
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
mediao feita pelos demais agentes do processo: tutores, professores conteudistas, colegas de curso, material didtico, etc. Esta mediao , por conseguinte, a ponte entre o aluno e o conhecimento a ser construdo. Como na EAD, no h a figura do professor ocupando os mesmos espaos geogrficos e temporais do aluno, como ocorre no ensino presencial, essa autonomia vai sendo percebida, a princpio, na realizao dos trabalhos pelo aluno no momento em que considera adequado, respeitando, para tanto, as limitaes de tempo impostas pelo andamento das atividades do curso. Alm disso, o dilogo que constroi com os pares para a troca de informaes e o desenvolvimento de produes em colaborao (ALMEIDA, 2003, p.331) outro recurso importante que tambm possibilita desenvolver essa autonomia. CONSIDERAES FINAIS A abordagem terica de diversos autores acerca do processo de ensino e aprendizagem na EAD nos leva a pensar que, apesar das dificuldades144 que caracterizam essa modalidade educativa, ela apresenta algumas perspectivas favorveis construo do conhecimento na/para a contemporaneidade. O fato de exigir do educando mais compromisso com o contedo trabalhado e de estimular a criao e a colaborao no espao virtual pode contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da autorresponsabilidade e da sociabilidade do aluno. A relao que precisa ser estabelecida com as ferramentas tecnolgicas contribui para uma apropriao das TIC por todos os envolvidos no processo, possibilitando assim, o desenvolvimento de habilidades exigidas na formao do sujeito dos dias atuais, como exemplo: aprender a conhecer e aprender a fazer. Neste ponto, entendemos que ocorre efetivamente, o que vimos chamando no decorrer desse texto de interao e interatividade, pois utilizando a ferramenta tecnolgica para se conectar internet, o aluno no s l e analisa contedos, mas discute com os colegas, colabora, cria, e reflete sobre o que est embasando sua formao. Importante lembrar tambm uma questo que consideramos essencial nessa discusso: A formao profissional dos sujeitos mediadores do conhecimento na Educao a Distncia. Nesse sentido, estabelecemos a seguinte relao: Se na educao presencial vista pela maioria das pessoas como o modelo ideal existem grandes lacunas na formao do professor, imaginemos ento na EAD, que ainda fortemente marcada por um grande preconceito no que se refere qualidade do ensino. Portanto, negar a carncia evidente de formao adequada para os profissionais que fazem a mediao do conhecimento nessa modalidade seria incoerncia de nossa parte. Porm, entendemos que, diante das condies mnimas desejadas para o funcionamento da educao a distncia, o paradigma da interao e interatividade defendido nesse trabalho constitui-se uma possibilidade pedaggica condizente com a formao do aluno consciente, autnomo e competente, sendo este parte do perfil necessrio ao homem contemporneo.
Sobre essas dificuldades ver MERCADO, Lus Paulo Leopoldo. Dificuldades na educao a distncia online. Universidade Federal de Alagoas, 2007. Disponvel em: http://www.abed.org.br/congresso2007/tc/55200761718PM.pdf Acesso em : 10 de junho de 2013.
144
288
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
APRENDIZAGEM COLABORATIVA COM SUPORTE COMPUTACIONAL: UMA PROPOSTA PARA FORMAO DE PROFESSORES
Dennys Leite Maia
145 146
Jos Aires de Castro Filho
RESUMO Vrias polticas de informatizao das escolas foram criadas visando o desenvolvimento de uma nova cultura de integrao das tecnologias digitais na educao. Dentre essas polticas esto os Projeto Um Computador por Aluno (UCA) e Um tablet para cada professor, do Ministrio da Educao (MEC) e Um computador para cada professor da Secretaria Municipal de Educao (SME) de Fortaleza. Nos trs projetos as vantagens no so restritas aos alunos, mas para os professores. Estes projetos no modelo de informtica educativa 1:1 (um para um) abre possibilidades de interao com outras pessoas. Diante desse quadro, propomos a seguinte questo: A perspectiva de rede de aprendizagem pode ser pensada e desenvolvida, para que professores construam conhecimentos de forma colaborativa acerca da docncia? Desta feita, o objetivo geral deste trabalho apresentar uma elaborao terica acerca de prticas colaborativas formativas com suporte de TDIC entre professores da Educao Bsica. Para tanto procedemos a uma pesquisa bibliogrfica acerca de Formao de Professores; Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional e Cibercultura. Conclumos que as tecnologias digitais podem se constiturem em ferramentas favorveis a prticas colaborativas de professores. Para tanto, estes devem explorar as tecnologias digitais que dispem como fazem no contexto extraescola. PALAVRAS-CHAVE: Formao Computacional, Cibercultura. INTRODUO Desde sua implementao em 1997 o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) tem traado aes e metas para implantar e inserir tecnologias nas escolas pblicas brasileiras. A motivao desses projetos criar uma nova cultura na escola que integre as tecnologias na dinmica das aes pedaggicas. Nesse sentido, em 2007, foi lanado o Projeto Um Computador por Aluno (UCA) que previa, em sua fase piloto, a distribuio para cada aluno, professor e gestor de escolas pblicas, de um laptop educacional. Dentre as caractersticas dessa proposta esto a conectividade e a Docente, Aprendizagem Colaborativa com Suporte
145 Mestre em Educao; Aluno do doutorado em Educao brasileira da Universidade Federal do Cear (UFC) e professor substituto da Universidade Estadual do Cear (UECE); dennysleite@gmail.com; 146 Doutor em Educao Matemtica pela University of Austin at Texas; Professor associado I da UFC; Coordenador do Projeto UCA Cear; aires@virtual.ufc.br.
289
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
mobilidade desses equipamentos, que podem proporcionar novas experincias pedaggicas e desvelar novas possibilidades para a educao. Com o Projeto UCA pode-se dizer que se iniciou, oficialmente, no Brasil o modelo de informtica educativa na situao um para um (1:1), que prev um computador para cada usurio (WARSCHAUER, 2006). Nesse novo paradigma, os computadores fixos (desktops) so substitudos por dispositivos mveis (laptops, tablets, smartphones etc), com conexo internet, para serem utilizados em prticas educativas. Dessa maneira, o uso das tecnologias digitais deixa de ser um momento pontual, por vezes, raros nos laboratrios de informtica e previamente planejados, para tornar-se uma prtica corrente de sala de aula, nos diversos espaos da escola e, inclusive, fora dela. Com ideia similar proposta do Projeto UCA esto os projetos que preveem a disponibilizao de tablets a professores do Ensino Mdio, pelo Ministrio da Educao (MEC) e o programa Um computador para cada Professor, da Secretaria de Educao do Municpio (SME) de Fortaleza. Em ambos os projetos a inteno que esses novos equipamentos possam proporcionar a incluso digital dos professores, alm de propiciar aos docentes outras fontes e materiais para planejar suas aulas. Tanto os tablets quanto os notebooks foram formatados visando o uso educacional, desde o sistema operacional que fornece links para acesso rpido a portais e objetos de aprendizagem mantidos pelo MEC.No modelo de informtica educativa 1:1, as vantagens para o processo de ensino e aprendizagem podem ser vislumbradas a partir do momento que os sujeitos passem a utilizar os equipamentos visando a aquisio de informaes e a construo de conhecimentos. Para tanto necessrio que professores e alunos percebam que tais equipamentos podem ampliar seu acesso informao, desenvolver habilidades de produo, adquirir novos saberes, expandir a sua inteligncia e participar da construo coletiva do conhecimento (BRASIL, 2007, p. 12). Via de regra, essas vantagens das tecnologias digitais em educao, so relacionadas com os alunos. Todavia, os docentes devem ser vistos como sujeitos que tambm tm muito a aprender com esses novos recursos, pela possibilidade de acesso a diferentes fontes de informao e interao com diversas pessoas, inclusive, colegas de profisso. Esta uma caracterstica das redes de aprendizagem (VALENTE, 2008). A perspectiva de rede de aprendizagem pode ser pensada e desenvolvida, para que professores construam conhecimentos de forma colaborativa acerca da docncia. Equipamentos com potencial de conectividade proporcionam aos docentes interao com outros colegas, nos mais diversos lugares, para trocarem informaes e experincias podendo levar a superao de lacunas conceituais de contedos curriculares e didticos de algumas reas. Portanto, no que se refere ao professor, esses projetos de disponibilizao de tecnologias digitais podem ressignificar a cultura de formao docente. relevante conhecer se os professores tm utilizado tais equipamentos para o desenvolvimento de sua profisso. Como alerta Kenski (2013, p. 9) mesmo com a presena das tecnologias digitais nos espaos escolares disposio dos professores existe o problema do desencontro entre a formao do docente centrada na sua
290
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
atuao em espaos presenciais formais de escolarizao e as necessidades de habilidades, atitudes, valores e, sobretudo, conhecimentos que os novos espaos profissionais demandam. Considerando estes aspectos, o objetivo desse trabalho apresentar uma elaborao terica acerca de prticas colaborativas formativas com suporte de tecnologias digitais entre professores da Educao Bsica. Este trabalho de natureza qualitativa, classificado como pesquisa bibliogrfica. Tomou-se como referncia teorias ligadas formao de professores (LIMA, 2009; PIMENTA, 2011), aprendizagem colaborativa com suporte computacional (STAHL, KOSCHAMANN, SUTHERS, 2006) e ao fenmeno da cibercultura (LVY, 1999; LEMOS, 2010). Professores, Tecnologias Digitais e Colaborao: A formao de professores um tema de destaque no campo das pesquisas em Educao. Seja a formao inicial, os cursos de licenciatura ou a continuada, a que ocorre ao longo de toda a carreira docente, so elementos importantes e fundamentais Educao. Estes cursos instrumentalizam os professores com subsdios tericos e prticos para a docncia. A formao contnua possui destaque em funo da forma em que concebida e vinculada com a prtica do professor. Para Lima (2009, p. 2) a referida formao a articulao entre o trabalho docente, conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor, como possibilidade de postura reflexiva dinamizada pela prxis. Portanto, para a autora o processo de formao continuada tem como referncia o prprio trabalho docente. Como o ponto de partida e de chegada a prpria ao e reflexo sobre a prtica docente, evidencia-se um contnuo processo formativo. Na perspectiva que entende a formao docente como um processo continuum (PIMENTA, 2009), as tecnologias digitais podem favorecer a criao e ampliao de espaos de formao, pois possibilita essa reflexo compartilhada (NVOA, 1995). O processo de reflexo da prtica no deve mais ficar limitado ao professor solitrio, como a prtica da cultura escolar tradicional (KENSKI, 2013). Com o suporte das tecnologias digitais agora o professor pode compartilhar e discutir com seus colegas sua prtica, numa perspectiva formativa. Tais caractersticas colaborao e interao so marcas da cibercultura. Atravs do acesso internet, os professores podem buscar diversas fontes de informao, tais como sites, enciclopdias, bibliotecas e museus virtuais; alm de interagir com diversas pessoas, inclusive outros professores, dentro e fora da escola, com auxlio de redes sociais e comunidades virtuais de aprendizagem. O acesso e a apropriao de diversos bens culturais de forma livre por professores pode criar uma atmosfera favorvel a uma nova cultura docente, apoiada nas caractersticas da cibercultura (LVY, 1999). A internet, seus sites e redes sociais, j utilizados com muita frequncia pelos professores fora da escola, devem ser vistos e apropriados como ferramentas teis sua profisso. Lemos (2010, p. 239), observa que: A apropriao tem sempre uma dimenso tcnica (o treinamento tcnico, a destreza na utilizao do objeto) e uma outra simblica (uma descarga
291
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
subjetiva, o imaginrio). A apropriao assim, ao mesmo tempo, forma de utilizao, aprendizagem e domnio tcnico, mas tambm forma de desvio (desviance) em relao s instrues de uso, um espao completado pelo usurio na lacuna no programada pelo produtor/inventor, ou mesmo pelas finalidades previstas inicialmente pelas instituies. Nessa perspectiva, do desviance apontada por Lemos (2010), devem ser utilizadas as tecnologias digitais pelos professores. Estes devem entender tais equipamentos para alm do que est posto: a incluso digital dos alunos. A partir de usos que j fazem desses equipamentos para o seu dia a dia, atividades laborais ou mesmo de entretenimento, os docentes devem se apropriar de outras possibilidades que podem se servir desses artefatos, que talvez mesmo as instncias macros e superiores a eles no tenham clareza. compartilhar fatos de sua prtica nas redes sociais, em espaos onde seus pares podero ver, comentar e contribuir para uma discusso e reflexo. Essas experincias demandam, alm de dispositivos portteis como os laptops educacionais com conexo a internet, ambientes virtuais em que os sujeitos possam se comunicar e partilhar informaes e produes. A utilizao de ambientes colaborativos de aprendizagem favorece a criao das redes de aprendizagem. Alm das ferramentas da web 2.0, como blogs e wikis, existem ambientes criados especificamente para essa finalidade, como os ambientes virtuais de aprendizagem (VALENTE, 2008). Tais ferramentas tm desvelado a criao de ambientes colaborativos de aprendizagem, significativos para a constituio de prticas colaborativas (STAHL; KOSCHMAN; SUTHERS, 2006). Com o advento da internet, o que se desloca a informao, tanto no aspecto dos espaos fsicos, quanto pela velocidade de sua transformao. O espao fsico tem dado lugar ao desenvolvimento do ciberespao e constituio de redes de aprendizagem, onde as pessoas interagem, colaboram e aprendem juntos. (VALENTE, 2008). Esta perspectiva est alinhada ao conceito de aprendizagem colaborativa com suporte computacional (STAHL, KOSCHMANN, SUTHERS, 2006), apoiada no uso da web. Numa rede de aprendizagem colaborativa:
() os indivduos esto envolvidos como membros do grupo, mas as atividades nas quais eles esto engajados no so atividades de aprendizagem individual, mas sim nas interaes do grupo, como negociao e compartilhamento (STAHL, KOSCHMANN, SUTHERS, 2006, p. 3)
No documento que contm os princpios orientadores para o uso do laptop educacional do Projeto UCA (BRASIL, 2007, p. 10), um dos objetivos dessa tecnologia nas escolas o de possibilitar aprender pela interao em redes sociais e desenvolver novas competncias e habilidades exigidas pela sociedade atual, descortinando novos e promissores horizontes nas escolas. Acesso amplo a equipamentos como os laptops oportunizam ao professor a participao em ambientes colaborativos de aprendizagem. possvel que muitos professores j se sirvam disso, mas ainda so experincias isoladas e pouco difundidas. Estudos como os de Chagas (2002) apontam que, mesmo com disponibilidade dessas tecnologias, ainda h a dificuldade para a efetivao de redes de aprendizagem colaborativa, que vo alm de problemas tcnicos e operacionais, ao interesse, ou mesmo conhecimento, dos participantes em prticas dessa natureza.
292
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Segundo Kenski (2013) h uma forte cultura entre os professores, mesmo entre aqueles que atuam com ensino on-line para o trabalho de forma solitria. Como fatores preponderantes para o desenvolvimento dessa nova cultura de uso das tecnologias digitais a favor de experincias de aprendizagem colaborativa esto a maneira como os professores tm feito uso dos dispositivos mveis para aprender sobre a docncia; e as reais condies de trabalho e de formao desse grupo de professores para a criao de ambientes de aprendizagem colaborativa. A escola deve manter uma cultura de desenvolvimento desse trabalho colaborativo junto aos professores sem e com o uso das tecnologias digitais. Para que ocorra aprendizagem colaborativa todos os sujeitos devem se sentir motivados para construir o conhecimento juntos. A ideia de coletividade bastante evidente pois um indivduo ajuda o outro para que alcance um objetivo. Nas palavras de Stahl, Koschman e Suthers (2006, p. 3), na colaborao: os participantes no se isolam para realizar atividades individualmente, mas mantm-se engajados em uma tarefa compartilhada que construda e mantida pelo e para o grupo. Pesquisas no sentido de conhecer como efetivar tais prticas podem contribuir para efetivao dessas redes de aprendizagem colaborativa de professores, com suporte de tecnologias digitais. CONSIDERAES FINAIS: As tecnologias digitais podem constituir-se em ferramentas favorveis prticas colaborativas de professores desde que estes estejam aptos a viver essa possibilidade. Em favor disso, a escola deve oportunizar a socializao de conhecimentos e experincias entre os participantes numa relao sem hierarquias, mas com responsabilidades partilhadas. Para a vivncia de colaborao com tecnologias digitais os professores devem explor-las como fazem no contexto extra-escola. Trazer para sua profisso o uso que fazem em seu dia a dia e compartilhar com seus colegas favorece a constituio de redes de aprendizagem colaborativa. Explorar a conectividade dos laptops na escola, por exemplo, acessando outras fontes de informao e estabelecendo comunicao com outras pessoas dentro e fora da escola fomentar diferentes usos do recurso e influenciar o desenvolvimento de uma nova cultura docente. Cultura essa que prev uma formao num continuum e com seus prprios pares a partir de uma viso colaborativa. Com isto, a presena de equipamentos tecnolgicos no modelo 1:1 influenciar na forma como os professores constroem e reconstroem os conceitos necessrios sua prtica docente. REFERNCIAS BRASIL. Princpios orientadores para o uso pedaggico do laptop na educao escolar. Braslia: MEC, 2007. CHAGAS, I. Trabalho Colaborativo Condio Necessria para a Sustentabilidade das Redes de Aprendizagem. In: M. M. (Dir.). Redes de aprendizagem. Redes de conhecimento (p. 71-82). Lisboa: Conselho Nacional de Educao, 2002. KENSKI, V. M. Tecnologias e tempo docente. Campinas, SP: Papirus, 2013. - (Coleo Papirus Educao)
293
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
LEMOS, A. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contempornea. 5. Ed. 2010. LVY, P. Cibercultura. So Paulo: Editora 34, 1999. LIMA, M. S. L. A formao contnua como possibilidade de desenvolvimento profissional docente. Fortaleza: EdUECE, 2009. PIMENTA, S. G. Formao de professores: identidade e saberes da docncia. In: PIMENTA, S. G. (Org.). Saberes pedaggicos e atividade docente. 7a ed. So Paulo: Cortez, 2009. (Saberes da docncia). STAHL, G.; KOSCHMANN, T.; SUTHERS, D. Computer-supported collaborative learning: an historical perspective. In: R. K. Sawyer (Ed.), Cambridge handbook of the learning sciences (p. 409-426). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006. VALENTE, J. A. Educao a distncia: ampliando o leque de possibilidades pedaggicas. In: Fonte (Belo Horizonte), v. 5, p. 105-113, 2008. WARSCHAUER, M. Laptops and literary: learning in the wireless classroom. New York: Teachers College Press, 2006.
294
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
A IMPORTNCIA DA INFORMTICA EDUCATIVA NAS SRIES INICIAIS
Eimard Gomes Antunes do Nascimento147
RESUMO Este trabalho tem como finalidade realizar um estudo sobre o uso da informtica nas prticas pedaggicas nos anos iniciais do ensino fundamental; analisar a importncia do laboratrio de informtica na escola e o seu devido funcionamento; e identificar as dificuldades encontradas pelos professores no uso das tecnologias. Este tema ganha relevncia em nossa sociedade, tendo em vista a importncia do uso das novas tecnologias de informao e comunicao na valorizao e na melhoria da educao. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliogrfica, por meio do qual se buscou informaes em livros, artigos de peridicos e sites da internet. Sendo assim, verifica-se que a Informtica Educativa, vai muito alm de ensinar o aluno sobre competncias necessrias para utilizar o computador. Ele utiliza o computador como um recurso transformador no ambiente de aprendizagem, fazendo com que os alunos explorem caminhos de resoluo de forma rpida, integrada e motivante, rompendo barreiras entre os diferentes contedos do currculo escolar. Por sua vez, se faz necessrio que os educadores estejam preparados para interagir com as novas tecnologias no ambiente de trabalho. Para isto, a formao do professor deve prover condies para que ele construa conhecimento sobre as tcnicas computacionais, entenda por que e como integrar o computador na sua prtica pedaggica e seja capaz de superar barreiras de ordem administrativa e pedaggica. PALAVRAS-CHAVE: Informtica educativa. Formao do professor. Educao. INTRODUO Atualmente quase certo, quando falamos em educao citar o uso das novas tecnologias de informao e comunicao na valorizao e na melhoria do ensino e aprendizagem, considerando que estas tm tido sua insero demandada pelas prticas pedaggicas tornando-se cada vez mais necessrias as discusses e reflexes acerca dessa incluso. Em nosso tempo de globalizao, vivemos constantes mudanas tecnolgicas devido ao seu rpido avano, e com consequncia, cada vez mais cedo as crianas esto em contato com as tecnologias, fazendo com que os profissionais da educao se posicionem mais rapidamente a respeito de seu uso. J que a incluso digital tem se colocado como um recurso a servio do sistema educacional e, consequentemente, como parte do processo de ensino e aprendizagem uma vez que faz constantemente a mediao entre indivduo e conhecimento.
147
Mestre em Educao Brasileira pela Universidade Federal do Cear UFC e-mail : eimard@yahoo.com
295
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Lvy (1996) definiu a atual era das tecnologias das informaes e comunicao como uma era posterior da tecnologia da oralidade e da escrita. A era digital impe uma nova viso de existir no mundo, gerando outras formas culturais, que vm substituindo princpios, valores, processos, produtos e instrumentos tecnolgicos que medeiam ao do ser humano com o meio. Faz-se necessrio que o sistema educacional oferea a seus alunos os recursos tecnolgicos existentes na sociedade digital, a fim de que esses tenham a oportunidade de inseri-los em sua rotina de forma adequada e significativa a seu favor agregando essa experincia ao seu universo; universo em constante formao e dependente da instituio escolar para ser fomentada. Cabe a escola repensar suas prticas e adaptar-se para uma possvel insero nesse processo de construo do conhecimento por meios visuais, que vai alm do que a oralidade e a escrita, como tambm, de recursos tecnolgicos j utilizados como: giz/marcador para quadro branco, lousa e cartilha ou livro didtico. preciso desenvolver o conhecimento tecnolgico mediante a utilizao de novas tecnologias, como lousa digital, computadores (hardware e software), redes de computadores (internet), aplicativos (usuais e educacionais), dentre uma infinidade de opes capazes de favorecer a educao para hipermdias. O computador tem que ser visto como uma ferramenta de ensino e deve ser facilitador da aprendizagem, buscando fascinar o aluno para as novas descobertas. Segundo Tajra (2001):
A tecnologia um instrumento capaz de aumentar a motivao dos alunos, se a sua utilizao estiver inserida num ambiente de aprendizagem desafiador. No por si s um elemento motivador. Se a proposta de trabalho no for interessante, os alunos rapidamente perdem motivao.
Da a importncia do desenvolvimento de softwares educacionais de qualidade tcnica e pedaggica. preciso que os profissionais da rea educacional imponham uma pedagogia adequada, interessante, mais de acordo com a realidade do aluno e com o novo paradigma que est surgindo. Os educadores no devem deixar a responsabilidade da criao de material didtico s empresas. Para que o material instrucional seja efetivamente um aliado didtico preciso que o professor o use calcado em uma prtica pedaggica motivadora. A Informtica na Educao subsidia o dilogo entre os profissionais da rea tcnica, da Psicologia e da Educao o que possibilita a criao de materiais instrucionais de qualidade. Contudo, a introduo do computador na educao no est sedimentada num ponto de vista comum. Ao contrrio, embora se tratando de uma tendncia praticamente irreversvel, no existe consenso geral sobre esse assunto, identificado como "Informtica na Educao". Basta observar a variedade de formas como a informtica interpretada nos meios educacionais. Diante desse fato justificam-se a realizao desta pesquisa na rea de informtica na educao, visando utilizao do computador como ferramenta pedaggica e a iniciao dos alunos das sries iniciais do ensino fundamental no mundo da informtica. buscou Este trabalho foi realizado com respaldo em pesquisa bibliogrfica, por meio da qual se informaes em livros, artigos de peridicos e sites da internet.
296
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Segundo Chizzotti (1991, p. 127), a investigao que requer utilizar a bibliografia quer indicar que o pesquisador pode encontrar uma farta documentao para desenvolver a prpria pesquisa e resolver os problemas tericos e prticos que esse exigir. 1 CONCEITUANDO INFORMTICA EDUCATIVA Existe uma discusso muito grande sobre o que seria Informtica Educativa, e qual o papel que o computador deveria exercer nas escolas. O objetivo da Informtica Educativa1 utilizar o computador como recurso didtico para as prticas pedaggicas nos diversos componentes curriculares, incentivando a descoberta tanto do aluno quanto do professor e preocupando-se com quando, por qu e como usar a informtica para que a mesma contribua efetivamente para a construo do conhecimento. Segundo Tajra (2001), utilizar a informtica na rea educacional bem mais complexo que a utilizao de qualquer outro recurso didtico at ento conhecido. Ela se torna muito diferente em funo da diversidade dos recursos disponveis. Com ela possvel comunicar, pesquisar, criar desenhos, efetuar clculos, simular fenmenos, dentre muitas outras aes. Nenhum outro recurso didtico possui tantas oportunidades de utilizao e, alm do mais, a tecnologia que mais vem sendo utilizada no mercado de trabalho. Assim, a Informtica Educativa, vai muito alm de ensinar o aluno sobre competncias necessrias para utilizar o computador. Ela utiliza o computador como um recurso transformador no ambiente de aprendizagem, fazendo com que os alunos explorem caminhos de resoluo de forma rpida, integrada e motivante, rompendo barreiras entre os diferentes contedos do currculo escolar. A utilizao da Informtica Educativa em uma escola significa desenvolver o contedo das disciplinas curriculares por intermdio do computador, de uma forma interdisciplinar. Este processo no depende somente dos recursos fsicos, mas sim da conscientizao por parte de toda a escola, principalmente do professor, para que obtenha uma aprendizagem significativa e com qualidade. Deve agregar, portanto, a aprendizagem, a filosofia do conhecimento, domnio das tcnicas computacionais, prtica pedaggica, dentre outros, desenvolvendo a criatividade, acrtica, a autonomia e a cooperao entre seus alunos, tornando cada vez mais o aprendizado significativo. Segundo Valente (1996), na Informtica educativa, podemos utilizar o computador na escola, de quatro formas universalizadas: Instruo programada caracteriza-se por colocar a mquina como que ensinando o aluno; Simulaes uma atividade que coloca o aluno diante do computador como manipulador de situaes; Aprendizagem por Descoberta A Linguagem Logo - esta a forma que mais se tem disseminado nas escolas, no s por ter sido desenvolvida com objetivos educacionais, mas por trazer uma proposta filosfico-educacional; Pacotes Integrados no tem uma finalidade educacional, mas segundo os defensores da Informtica educativa, so de grande vantagens se forem utilizados no processo de ensino: Processadores de Textos, Planilhas Eletrnicas e Banco de Dados.
297
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Portanto, no ambiente escolar os profissionais devem refletir sobre sua prtica, entre o fazer e o pensar, buscar novas solues a partir de uma proposta pedaggica coerente e inovadora que contemplem todos os seus alunos e tracem alternativas no interior da escola para integrar a tecnologia sua prtica. Pois de suma importncia o uso da informtica na educao, principalmente nas primeiras sries do ensino fundamental permitindo o desenvolvimento de sua autonomia e ampliando sua capacidade. 2 UTILIZAO DA INFORMTICA NA EDUCAO Os PCNs para o Ensino Fundamental, adotados hoje nas escolas brasileiras, do destaque s tecnologias da informao serem inclusas nos currculos das matrias. Os Parmetros salientam que aprender a utilizar a tecnologia diz respeito a compreender e usar o conhecimento cientficotecnolgico. Alm disso, ressaltam que o uso da tecnologia na educao no deve ser encarado apenas como uma inovao pedaggica para o uso de novos meios e instrumentos. necessrio saber que os diferentes recursos tecnolgicos podem contribuir para a educao, identificando quando, por que e como a tecnologia pode mediar e auxiliar o ensino. Segundo os PCNs (BRASIL, 1997a, p. 67), destacam que: necessria e suficiente a utilizao da informtica como disciplina na Educao Bsica por que necessitam de conhecimentos em softwares para a vida no dia a dia. Com tanta modernidade tecnolgica, sentimos a grande necessidade de inserir a informtica no contexto educacional. O computador tem provocado uma revoluo na educao por causa de sua capacidade de "ensinar". Existem vrias possibilidades de implantao de novas tcnicas de ensino e contamos, hoje, com o custo financeiro relativamente baixo para implantar e manter laboratrios de computadores, cada vez mais exigido tanto por pais quanto por alunos. Desta forma, o computador mediante os softwares educativos utilizados como ferramentas auxiliares podem se tornar um instrumento de estmulo aos discentes e um desafio aos educadores, pois viabiliza a prtica docente. Valente (1998, p. 90) destaca a ideia da necessidade de uma educao para a compreenso, de qualidade e interativa, assim se expressa:
[...] a soluo para uma educao que prioriza a compreenso o uso de objetos e atividades estimulantes para que o aluno possa estar envolvido com o que faz. Tais alunos e objetos devem ser ricos em oportunidades, que permitam ao aluno explorlas e, ainda, possibilitar aberturas para o professor desafiar o aluno e, com isso, incrementar a qualidade da interao com o que est sendo feito.
No ambiente computacional que est sendo proposto, o computador assume o papel de ferramenta e no de mquina de ensinar. a ferramenta que permite ao aluno realizar uma srie de tarefas, das mais simples, como produzir uma carta, at as mais complexas, como a resoluo de problemas sofisticados em matemtica e cincias. Nesse sentido, o computador passa a ter uma funo maior do que simplesmente passar informao. Ele uma ferramenta que o aluno usa para realizar uma tarefa. Nessa situao o aluno descreve as suas ideias para a mquina (na forma de um programa), a mquina executa "essa ideia" e o resultado pode ser analisado. Se o resultado no o esperado, certamente o aluno ser instigado a refletir sobre o seu trabalho. Do mesmo modo, o
298
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
professor, atravs do trabalho do aluno, ter mais recursos para entender o que o aluno sabe e o que no sabe sobre um determinado assunto, conhecer o estilo de trabalho do aluno, bem como seus interesses, frustraes. (Valente, 1996) No construcionismo o computador requer certas aes efetivas no processamento da construo do conhecimento. Para "ensinar" o computador, o aluno deve utilizar contedos e estratgias (Valente, 1999) no caso do computador o aluno tem que combinar este contedo e estratgia a um programa que resolva este problema, como a linguagem Logo. CONSIDERAES FINAIS O trabalho realizado nesta pesquisa bibliogrfica procurou mostrar a importncia da informtica nas prticas pedaggicas nos anos iniciais do ensino fundamental, que a base da educao. Assim no decorrer deste estudo foi possvel adquirir alguns conhecimentos no que tange a utilizao de novas tecnologias no contexto educacional, visando a capacidade do computador como instrumento pedaggico para elaborao de atividades, que permite o aluno passar por um processo de construo do conhecimento. No entanto, isto no significa que o computador por si s basta para revolucionar a educao. Em se tratando da utilizao de novas tecnologias no contexto educacional, o que se percebe que o educador encontra-se inserido num emaranhado de conexes cujo centro mvel, pois a mudana frequente, esperada e, por vezes, extraordinria. No h uma tecnologia especfica a ser utilizada, nem uma forma nica de utilizao dos recursos tecnolgicos, mas um leque de oportunidades educativas que as diferentes tecnologias revelam, cabendo ao professor adequ-las s necessidades e especificidades da escola e do alunado com que atua. Entretanto, para que tais adaptaes possam se efetivar, necessrio domnio do professor quanto s possibilidades de uso da tecnologia na educao. A formao do professor deve prover condies para que ele construa conhecimento sobre as tcnicas computacionais, entenda por que e como integrar o computador na sua prtica pedaggica e seja capaz de superar barreiras de ordem administrativa e pedaggica. Finalmente, devem-se criar condies para que o professor saiba re-contextualizar tanto o aprendizado como as experincias vividas durante a sua formao para a sua realidade de sala de aula compatibilizando as necessidades de seus alunos aos objetivos pedaggicos a que se prope atingir. REFERNCIAS BRASIL. Ministrio da Educao. Secretaria de Educao Fundamental. Parmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e Quarto ciclos de Ensino Fundamental. Braslia: MEC, SEF, 1997/1998. CHIZZOTTI, A. A pesquisa em cincias humanas e sociais. So Paulo: Cortez, 1991. LVY, Pierre (1996). O Que Virtual? Rio: Editora 34. ______. As tecnologias da inteligncia. Editora 34, Nova Fronteira, RJ,1994 OLIVEIRA, R. Informtica Educativa. 7ed. Campinas: Papirus, 2002.
299
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
VALENTE, Jos Armando (org). O computador na Sociedade do Conhecimento. Campinas: UNICAMP/NIED, 1999. _______. Informtica na educao: a prtica e a formao do professor. In: Anais do IX ENDIPE (Encontro Nacional de Didtica e Prtica de Ensino), guas de Lindia,1998p. 1-1 _______. O Professor no Ambiente Logo: formao e atuao. Campinas: UNICAMP/NIED, 1996. TAJRA, S. F. (2001): Informtica na educao: novas ferramentas pedaggicas para o professor da atualidade, 3 ed. Rev.atual. e ampl. So Paulo: rica.
300
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
AVALIAO DA ACESSIBILIDADE DOS SOFTWARES EDUCATIVOS DO SISTEMA OPERACIONAL UBUNTUCA A PESSOAS COM DEFICINCIA VISUAL
Joo Bosco de Farias148 Dennys Leite Maia149
RESUMO As Tecnologias Digitais de Informao e Comunicao (TDIC) proporcionam benefcios s Pessoas com Deficincia Visual (PcDV), que possibilitam equiparar as potencialidades destas s pessoas sem deficincia. O Projeto Um Computador por Aluno (UCA) que visa promover a incluso digital por meio do modelo 1:1 (um para um), uma oportunidade de se efetivar esses benefcios, contribuindo assim para a real incluso dessas pessoas. Este trabalho um recorte da Monografia de concluso de curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Estadual do Cear (UECE), que avaliou a acessibilidade do hardware e software do laptop educacional utilizado pelo Projeto UCA, para o uso por PcDV. Este recorte apresenta a avaliao de acessibilidade para os softwares educativos presentes no sistema UbuntUCA, utilizado pela maioria das escolas participantes do projeto. A avaliao foi realizada com base no conhecimento e experincia de um destes autores, que PcDV, faz uso de computador com leitores de tela e atuam como professor de informtica educativa acessvel. Ressalta-se aqui a inacessibilidade de softwares educativos e a necessidade de desenvolvimento destes com acessibilidade para que possam ser ferramentas que promovam a incluso. PALAVRAS-CHAVE: Deficiencia visual, Acessibilidade, Projeto UCA, Computador. INTRODUO O computador uma ferramenta utilizada para viabilizar atividades rotineiras de locais de trabalho, escolas e lares, por meio de seus diversos aplicativos. O equipamento possibilita, atravs da conexo internet, acesso a um mundo digital - ciberespao - onde possvel encontrar informaes sobre assuntos variados, se comunicar com outras pessoas, publicar contedos, fazer compras, transaes bancrias, dentre outras aes. Tudo isso feito de forma interativa, por meio de informaes em diversas mdias, tais como: texto, imagem, udio e vdeo que fazem do computador, uma ferramenta multimiditica, e til para as atividades do mundo contemporneo. Dentre os beneficiados pelo uso do computador, tambm esto as pessoas com deficincia visual (PcDV), que com auxilio de tecnologias assistivas (TA) minimizam algumas das limitaes a que so submetidas. Estes recursos e servios contribuem para proporcionar ou ampliar
148 149 Pedagogo, Universidade Estadual do Cear (UECE), bosco_farias@yahoo.com.br Mestre em educao, Universidade Estadual do Cear (UECE), dennysleite@gmail.com
301
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
habilidades funcionais de pessoas com deficincia e, consequentemente, promover a elas vida independente e incluso. As TA so tambm definidas como uma ampla gama de equipamentos, servios, estratgias e prticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas encontrados pelos indivduos com deficincias (COOK; HUSSEY, 1995, p. ). As PcDV podem utilizar o computador para fazer suas atividades com o apoio de aplicativos ampliadores de tela (screen magnifiers) ou leitores de tela (screen readers). Estes recursos, respectivamente, ampliam o tamanho da fonte ou convertem o texto exibido na tela para voz sintetizada. Estas TA viabilizam a vida laboral, educacional e social das PcDV, pois tornam possvel e mais rpido o acesso informao em relao a outros recursos utilizados por essas pessoas para tal atividade. Alm disso, servem como uma ferramenta que auxilia no processo de ensino e aprendizagem, contribuindo de uma forma prtica e reflexiva, na compreenso de conceitos multidisciplinares que venham a enriquecer o conhecimento dos educandos com deficincia visual. Neste sentido, S, Campos e Silva (2007, p. 34) destacam que: Os laboratrios de informtica, os telecentros e os programas de incluso digital devem contar com meios informticos acessveis para pessoas cegas e com baixa viso, porque o uso de computadores e de outros recursos tecnolgicos so to fundamentais para elas quanto os olhos so para quem enxerga. A partir desse documento percebemos a ateno dada s tecnologias digitais da informao e comunicao (TDIC) como ferramentas teis ao desenvolvimento social e cognitivo de alunos com deficincia visual. Na perspectiva de tornar o uso do computador na escola uma prtica pedaggica, integrada ao currculo e de uso de intensivo (ALMEIDA; VALENTE, 2011), o Governo Federal, por meio do Ministrio da Educao (MEC), implanta o Projeto Um Aluno por Computador (UCA). Esta ao visa disponibilizar, em etapas posteriores, computadores portteis de custo reduzido com aplicativos de cdigo-fonte aberto, a todos alunos, professores e gestores das escolas da Educao Bsica, das redes pblicas municipais e estaduais para que se promova a incluso digital escolar. De acordo com o documento que regulamenta o projeto este tambm deve atentar para o atendimento a instituies de ensino que atendam alunos com deficincia (BRASIL, 2010). Na escola regular, o uso do computador, em especial no modelo 1:1 (um para um) (VALENTE, 2011), permitir a um aluno com deficincia visual algumas facilidades, dentre elas: I) amplo acesso ao material de estudo e complementar em formato digital; II) realizao de provas e atividades em diversos locais, dentro ou fora da escola, e em menor tempo, pois dispensa um ledor150; e III) acesso a outras fontes de informao disponibilizadas na internet. Portanto, o uso do computador por uma PcDV pode trazer-lhe ainda mais benefcios e vantagens, se
150 viso.
Pessoa que presta assistncia PcDV para atividades de leitura e escrita que requeiram o uso da
302
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
comparado a uma pessoa sem deficincia. Tais ferramentas no s oportunizam, mas viabilizam diversas atividades, em especial, no contexto escolar (FARIAS, PINHEIRO, MAIA, no prelo). necessrio, portanto, incentivar a polticas como a do Projeto UCA que visa a insero de TDIC no ensino regular, atravs de escolas inclusivas, ou mesmo em instituies de atendimento especializado. Entretanto, pesquisa efetuada por Farias (2012) no identificou nenhuma iniciativa oficial de promoo da utilizao das TDIC pelas PcDV em espaos educativos. Isso justificou a necessidade de avaliar a acessibilidade do laptop educacional do Projeto UCA. OBJETIVO GERAL Considerando que uma PcDV tem a possibilidade de utilizar um computador com o apoio de leitores ou ampliadores de tela, a criao do Projeto UCA e a importncia do uso do computador para o processo educacional, o objetivo deste trabalho avaliar a acessibilidade do laptop educacional disponibilizado pelo Projeto UCA para a utilizao de PcDV, a partir dos softwares educativos. Este trabalho um recorte da Monografia de concluso de curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Estadual do Cear (UECE), que avaliou todos os recursos do equipamento do referido Projeto (FARIAS, 2012). METODOLOGIA A metodologia aplicada neste trabalho foi a pesquisa qualitativa. A execuo se deu por meio de uma avaliao de acessibilidade realizada por este autor, que cego desde 2002, fazendo uso de TA em seu dia a dia. Alm disso, o autor trabalha como professor de informtica educativa acessvel PcDV na Associao de Cegos do Estado do Cear (ACEC). Tais experincias lhe proporcionaram saberes que auxiliaram nessa avaliao. A referida avaliao do laptop educacional foi possvel devido a disponibilizao de uma mquina pela equipe de formao UCA Cear, em maio de 2012. Os testes foram feitos durante o perodo de maio dezembro de 2012, por meio de contato direto e frequente deste autor com o equipamento, chegando a utiliz-lo nas suas rotinas de trabalho, estudo e lazer, inclusive nos momentos de produo deste texto. Foi avaliada a acessibilidade do hardware do Laptop Educacional Classmate PC CM52C, CCE Info, SEED\MEC - FNDE\MEC Projeto UCA, que apresenta processador Intel Atom, memria 512 megabytes (Mb) e armazenamento 4 gigabytes (Gb). No que diz respeito ao software, analisou-se o sistema operacional mais utilizado nas escolas UCA, a distribuio GNU/Linux UbuntUCA 3.2 e seus aplicativos. O UbuntUCA uma remasterizao da distribuio GNU/Linux Ubuntu, que vem preparado para ser instalado, especificamente, nos Laptops Educacionais do Projeto UCA. Foi desenvolvido pelo professor Gedimar Pereira, coordenador do Programa UCA na Escola de Ensino Fundamental Padre Theodoro Becker, Brusque (SC)151. Os programas do referido sistema operacional foram acessados conforme a ordem das sees de menu, quais sejam: I) Educativos, II) Escritrio, III) Internet, IV) Mdia e V) Jogos. A interao com o laptop e seus aplicativos foi mediada pelo leitor de telas Orca, verso 2.30.2. O
151 Pgina para download do sistema: http://sites.unifebe.edu.br/~ubuntuca/
303
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
referido software, livre e gratuito, o ampliador e leitor de tela padro de sistemas GNU/Linux, que utilizam como ambiente grfico o GNOME (BRASIL, 2009), como o caso do sistema UbuntUCA. Nesses testes foram utilizadas as teclas de atalho do ambiente grfico GNOME e do Orca. As teclas de atalho do GNOME so combinaes que permitem movimentar o foco do sistema, alternar entre controles, janelas, ativar e desativar menus. Enquanto as teclas de atalho do Orca so comandos de leitura e de movimento do seu cursor de reviso plana. Esse cursor de reviso plana um cursor exclusivo do Orca que permite navegar pela tela, onde o foco do sistema no consegue chegar, permitindo a leitura desse contedo e a ativao de elementos. Nos testes foi verificado a existncia de elementos que possibilitavam a interao do utilizador com os aplicativos, a possibilidade de navegao por seus controles utilizando o teclado,
APLICATIVO Gcompris J Fraction Lab Tux Math Tux Paint
ACESSO VIA TECLADO EM TODASAS FUNES No No Sim
LEITURA DO ORCA EM TODAS AS SUAS FUNES No No No
ACESSVEL No No No No
No No Quadro 01: Avaliao de acessibilidade para a seo educativos
se o Orca era capaz de ler seu contedo e se o objetivo da utilizao do aplicativo era alcanado. Quando era possvel fazer uso do aplicativo, alcanando seu objetivo proposto, este era considerado acessvel. Quando isso no era possvel, o aplicativo era considerado inacessvel. A seguir, apresenta-se a avaliao da acessibilidade tomando como referncia a seo educativos. Optou-se por esta seo por ser aquela que, a priori, possui carter pedaggico mais destacado. DISCUSSO DOS RESULTADOS A avaliao da acessibilidade a partir da seo Educativos Nesta seo esto reunidos os programas educativos presentes no sistema operacional UbuntUCA. Estes recursos so softwares que consistem em aplicar os conhecimentos escolares em atividades ldicas, objetivando a aprendizagem desses conhecimentos. Os aplicativos presentes nessa seo so: I) Gcompris, II) JFractionLab, III) TuxMath e IV) TuxPaint. O GCompris um pacote de aplicaes educacionais que aborda atividades 124 para crianas de 2 10 anos. Algumas das atividades so de orientao ldica, mas sempre com um carter educacional. O JFraction Lab um software livre para a prtica de clculos envolvendo fraes, mostrando cada passo do clculo facilitando a compreenso. O TuxMath um jogo
304
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
educativo, em que o pinguim Tux, mascote do Linux, tem que destruir os meteoros com sua arma de raios laser, que disparada pelas respostas certas de cada operao matemtica, assim, o objetivo do jogo ensinar Matemtica de uma forma criativa e divertida. O TuxPaint um editor de imagens de cdigo aberto para crianas. Este software explora a produo artstica dos educandos desde os primeiros anos escolares. A seguir, apresentado o Quadro 01 que resume os resultados da avaliao dos aplicativos da seo, bem como consideraes acerca destes. Os aplicativos GCompris, JFraction Lab e TuxPaint foram considerados totalmente inacessveis. So aplicativos predominantemente visuais, apresentando poucos sons, os quais so insuficientes para que uma PcDV possa compreender o que acontece. Tais softwares no permitem utilizao do teclado para a realizao de suas atividades, apenas o mouse que pode operar os aplicativos. Registra-se ainda que o Orca no foi capaz de ler as informaes exibidas na tela dos trs recursos, nem mesmo com seu cursor de reviso plana. Destaca-se a situao do Tux Math: Todas as suas funes so acessveis por meio do teclado. Todavia, o Orca no capaz de ler o contedo exibido e, portanto, permitir PcDV interao com este software educativo. Apesar disso, sua utilizao e possvel, desde que uma pessoa vidente verbalize os menus e as operaes exibidas no programa. Por se tratar de um software livre, possvel fazer alteraes para que o Orca possa realizar essas funes, ou que estes sejam verbalizados por gravaes inseridas no prprio aplicativo. Essas caractersticas de inacessibilidade so decorrentes da forma de exibio grfica dos aplicativos, o que em algumas ocasies dificulta o processamento dos Leitores de Tela. Para que o software possa executar a leitura, os desenvolvedores de leitores de tela utilizam duas principais tcnicas: Off-Screen Model (modelo fora da tela,) e Accessibility API (API de acessibilidade) (BALANSIN apud RAJ, 2011). O primeiro a criao de um modelo na memria, que representa o sistema e a interface grfica, monitorando as mensagens trocadas entre aplicativos e sistema. Por exemplo, ao interceptar uma mensagem para a exibio de um boto, o leitor consegue represent-lo na memria e quando necessrio ler o seu contedo. Esta tcnica desperdia muita memria, pois abriga a representao do contedo da tela, alm de monitorar os sistemas e suas aplicaes, a fim de fazer o mapeamento em memria das alteraes ocorridas (BALANSIN apud RAJ, 2011). Essa a funo do cursor de reviso do Orca, o qual no foi capaz de obter as informaes da tela para estes programas. O segundo, API de acessibilidade, a melhor soluo para o Leitor de Tela interagir com o sistema, a fim de obter as informaes em texto em relao a interface grfica. A API funciona como uma ponte entre o Leitor e o sistema e suas aplicaes. As informaes que o leitor necessita dos componentes grficos (menus, cones, botes e outros) esto disponveis na prpria API (BALANSIN apud RAJ, 2011). A questo que alguns desenvolvedores de softwares no pensam a acessibilidade ao criarem seus programas. Produzindo softwares que priorizam a informao visual, deixando a informao sonora em segundo plano, que no possuem API de acessibilidade, tm o mouse como perifrico preferencial para a insero de comandos, no permitindo a
305
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
utilizao e nem implementam atalhos de teclado. Caractersticas essas que impossibilitam a utilizao desses aplicativos por PcDV. CONSIDERAES FINAIS Quanto a seo educativos do sistema UbuntUCA, conclui-se que embora seja um sistema voltado para o meio educacional, no apresenta programas educativos que permitam que uma PcDV possa utiliz-los. O computador uma ferramenta que potencializa as capacidades das PcDV, desta forma, necessrio que sejam desenvolvidos aplicativos educativos acessveis, bem como jogos, sutes de escritrio, navegadores de internet, aplicativos em geral, que permitam sua ampla utilizao, indiscriminadamente, para que as PcDV possam fazer ainda um melhor aproveitamento do computador. Espera-se que com este trabalho possam surgir iniciativas por parte dos desenvolvedores de software de se criar aplicativos acessveis, e por parte dos governantes de se incluir PcDV por meio da utilizao de Laptops Educacionais. Pois se para as pessoas com viso o computador traz benefcios, para as PcDV esses benefcios so multiplicados. REFERNCIAS ALMEIDA, M. E. B. de.; VALENTE, J. A. Tecnologias e currculo: trajetrias convergentes ou divergentes? So Paulo: Paulus, 2011. BALANSIN, Cleiton Fiatkoski. Especificao e Implementao de um Leitor de Tela. Universidade Estadual do Oeste do Paran Centro de Cincias Exatas e Tecnolgicas Colegiado de Cincia da Computao Curso de Bacharelado em Cincia da Computao. Cascavel, SC: 2011. BRASIL. Leitores de tela: descrio e comparativo. Braslia: MP/MEC, 2009. _______. LEI N 12.249, de 11 de junho de 2010. 2010b. Disponvel em: <http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=261443>. Acesso em: 06 de dezembro de 2012. COOK, A. M., HUSSEY, S. M. Assistive Technologies: Principles and Practices. St Louis, Missouri, EUA. Mosby Year Book, Inc. 1995. FARIAS, J. B. de. Avaliao da acessibilidade do laptop educacional do Projeto Um Computador por Aluno a pessoas com deficincia visual. 2012. 91p. Monografia (Licenciatura em Pedagogia) Universidade Estadual do Cear, Fortaleza, 2012. FARIAS, J. B.; PINHEIRO, J. L. MAIA, D. L. Navegar preciso, ver no preciso: O laptop educacional acessvel a alunos com deficincia visual. In: CASTRO FILHO, J. A. Experincias do Projeto UCA-Cear (provisrio). Fortaleza, UFC, no prelo). S, E. D. de; CAMPOS, I. M. de; SILVA, M. B. C. Atendimento educacional especializado: deficincia visual. Braslia: SEESP/SEED/MEC, 2007. VALENTE, J. A. Um laptop para cada aluno: promessas e resultados. In: ALMEIDA, M. E. B. de; VALENTE, J. A. O computador porttil na escola: mudanas e desafios nos processos de aprendizagem, So Paulo, Avercamp, 2011.
306
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
EXPERIENCIANDO PRTICAS EDUCATIVAS NO LABORATRIO DE INFORMTICA
Aparecida Maria Costa de Albuquerque152 Rosimeire Rebouas Rodrigues Costa153
RESUMO Constata-se cada vez mais a insero das tecnologias de informao e comunicao (TIC) no contexto educacional. Diante dessa realidade, urge a necessidade de concentrar pesquisas que discutam as concepes pedaggicas que embasam uso destas tecnologias na escola pblica e sua integrao ao currculo escolar. Nesse sentido, a presente pesquisa investigou em uma escola pblica a integrao das TIC ao currculo escolar, a partir da utilizao do laboratrio de informtica (LI), analisando as possibilidades e dificuldades encontradas nas prticas educativas implementadas. A metodologia adotada apoiou-se em uma abordagem qualitativa, por meio da observao participante, utilizando-se alguns elementos da etnografia. Para a coleta de dados utilizamos o dirio de campo, checklist e entrevistas semi-estruturadas. Os sujeitos, um professor do laboratrio e um da sala de aula, foram selecionados a partir de critrios previamente estabelecidos. Os resultados da pesquisa apontam que o laboratrio vem sendo utilizado sistematicamente na escola, a partir de diferentes modalidades. Entretanto, ainda, so muitas as implicaes encontradas que impedem prticas mais integradas ao currculo escolar. PALAVRAS-CHAVE: Laboratrio de Informtica. Prticas Educativas. Processo Educativo. Currculo Escolar.
INTRODUO
A insero de tecnologias da informao e comunicao (TIC) na escola, seja por meio da implantao de laboratrios de informtica (LI) ou tecnologias mveis, nos remete diferentes discusses, entre elas, o uso e a integrao destas tecnologias ao currculo escolar e a possibilidade de mudanas significativas no processo educativo. Nesse sentido, com o intuito de revelarmos um pouco da realidade da escola pblica e oferecermos contribuies terico-metodolgicas aos professores que subsidiem suas prticas, o relato de experincia, recorte de pesquisa de mestrado, discute o uso das TIC no espao escolar, analisando suas possibilidades e implicaes na forma de aprender e ensinar. Nessa perspectiva, introduzimos a temtica apresentando o objetivo deste relato de experincia e descrevendo a metodologia adotada. Em seguida, apresentamos a anlise e sistematizao dos dados, pontuando o uso do LI na escola e sua relao com o currculo escolar. E, enfim, as consideraes finais.
152
153
Mestre em Educao Brasileira, Secretaria Municipal de Educao, aparecidaalbuquerque@yahoo.com.br Especialista em Mdias na Educao, Secretaria Municipal de Educao, roserogeral@yahoo.com.br
307
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
OBJETIVO GERAL Investigar em uma escola pblica o uso das TIC, por meio da implementao de atividades no LI, analisando, principalmente, suas implicaes e possibilidades para o processo educativo. METODOLOGIA A metodologia adotada neste relato de experincia apoiou-se em uma abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa envolve obteno de dados descritivos, analisados de forma indutiva, a partir do contato direto do pesquisador com a realidade investigada (BOGDAN & BIKLEN, 1994). Para uma maior compreenso da realidade utilizamos alguns elementos da etnografia, imerso na realidade, descrio de dados e fatos e compreenso do objeto investigado a partir do ponto de vista dos sujeitos e do contexto pesquisado (ANDR, 2000). Na coleta de dados empregamos as tcnicas da observao participante e da entrevista semi-estruturada. E utilizamos instrumentos auxiliares, como o dirio de campo e check-list. Sujeitos pesquisados Selecionamos dois sujeitos: professor do laboratrio de informtica (PLI) e o professor da sala de aula (PSA) e, indiretamente, sua respectiva turma de estudantes. Os critrios de escolha dos sujeitos obedeceram condio dos professores realizarem atividades curriculares com uso das TIC, participarem do planejamento pedaggico e terem disponibilidade e interesse em participarem da pesquisa. Para maior conhecimento apresentamos a caracterizao dos sujeitos no quadro 3.1 abaixo:
SUJEITOS FORMAO ACADMICA FORMAO EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL Cursos de extenso (totalizando uma carga horria de 420h) EXPERINCIA EM DOCNCIA EXPERINCIA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL 06 anos
PLI
Licenciatura em 22 anos Letras Especializao em Literatura inglesa PSA Pedagogia 24 anos ---Quadro 3.1 Caracterizao dos sujeitos: formao acadmica, formao em tecnologia educacional, experincia em docncia e experincia em tecnologia educacional.
O quadro apresenta que o PLI tem uma formao voltada para o uso de tecnologias na escola, o que pode contribuir muito com sua prtica pedaggica. Entretanto, PSA no possui nenhuma experincia e no tem formao especfica para prtica podendo dificultar o desenvolvimento de atividades educativas com o uso das TIC, o que veremos a seguir. DISCUSSES DOS RESULTADOS No podemos negar que, por meio de atividades desenvolvidas no LI, o uso das TIC foi incorporado por professores e estudantes na escola pesquisada, alterando assim suas prticas. No laboratrio foram utilizados sistematicamente aplicativos, softwares e recursos disponveis para explorar temticas ou contedos curriculares estabelecidos. O laboratrio de informtica firmou-
308
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
se como mais um espao, onde a aprendizagem pode acontecer de uma forma mais dinmica (PLI, Entrevista, 2010). O planejamento das atividades do LI, na maioria das vezes, ocorria nos intervalos ou corredores ou a partir de planejamentos informativos, caracterizados para Fusari (1988) como funcionais. Levando-nos a compreender que apesar da incorporao do uso das TIC nesta escola, ainda no assume o carter de catalisador do processo de ensino e aprendizagem que perpassa todos os elementos do planejamento (VOSGERAU, 2010, p. 28). A partir de iniciativas dos professores, os contedos explorados em sala de aula estabeleciam relao de complementaridade no LI. As atividades desenvolvidas apresentavam uma sequncia didtica, mostrando uma interrelao entre elas. Entretanto, em virtude da prpria lgica do laboratrio, presa a cronograma de atendimento, o intervalo de tempo entre estas atividades era considervel, e nem sempre elas eram exploradas na sua totalidade, tornando-as muitas vezes pontuais e desarticuladas. Em algumas atividades no LI, os aplicativos foram utilizados como recurso motivador, acessrio para ilustrar as aulas. No podemos desprezar o potencial desses aplicativos, tornando as atividades mais interessantes e atrativas para os estudantes. As questes do apelo das imagens, da cor, da prpria mquina, a capacidade que ela tem de seduzir, aumenta a capacidade de aprender, de memorizar (PLI, ENTREVISTA, 2012). No entanto, precisamos explorar as TIC para ampliar a possibilidade de interao e autonomia do estudante. Em relao ao uso do impress, aplicativo utilizado como editor de texto, para PLI, facilita a aprendizagem dos estudantes, digitou omenage, viu seu erro, perguntou, voltou a tecla e digitou corretamente a palavra homenagem (ENTREVISTA, 2010). A oportunidade dos estudantes entrarem em contato com seu prprio erro e a facilidade de corrigi-lo, faz com que eles sintam-se mais autnomos e independentes para expressarem suas ideias. Valente (1999) considera que editor de texto no disponibiliza ferramentas que auxiliam no processo de construo do conhecimento e a compreenso das ideias. No entanto, na medida em que os alunos elaboram seus textos coletivamente, vem e discutem seus erros, do cores as letras e formatos as linhas, quebrando a lgica do caderno, esto construindo novos conhecimentos. As produes dos estudantes podem ser consideradas registros digitais (ALMEIDA, 2008). Os registros digitais facilitam o professor acompanhar, analisar e avaliar o processo de aprendizagem, porque oferecem elementos pedaggicos que o subsidiam em seus planejamentos, no sentido que apresentam o resultado da sua prtica, a partir da lgica dos estudantes e do indcios de readequ-la. Para a autora
os registros fornecem indcios do modo de pensar dos alunos, das expectativas, necessidades e potencial de aprender dos alunos e auxiliam a atuao docente voltada ao desenvolvimento de um currculo que parte do universo de significados dos alunos. (p. 02).
309
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
As atividades com sites e software de simulao permite a aproximao dos estudantes com situaes que se assemelham realidade, possibilitando erros, acertos e elaboraes de estratgias, estimulando-os a pensarem sobre suas respostas, desenvolvendo a capacidade crtica e de autoria, buscando uma abordagem mais crtica. Para a PSA, colocar as coisas na prtica, d para eu perceber como eles esto compreendendo as coisas (ENTREVISTA, 2010). Na contextualizao das aulas no LI, PLI assumia ativamente a conduo das aulas, apresentando muito conhecimento tcnico e uma abordagem mais interacionista. Apesar da atuao de PSA se destacar entre as outras professoras de sala, ainda assumia um papel coadjuvante, resultado da ausncia de uma formao voltada para o uso pedaggico das TIC. Identificamos vrias dificuldades que impediram ou dificultaram um possvel processo de integrao do LI ao currculo escolar, como: ausncia de espaos de discusses das diferentes formas de utilizao das TIC na escola; ausncia do professor da sala de aula na contextualizao da aula no LI, quantidade de equipamento existentes no LI menor que o n de estudantes atendidos por sala, subordinando a necessidade pedaggica ao impedimento tcnico; ausncia de formao para os professores da sala de aula; lgica de atendimento do LI, com dias e horrios marcados, implementada para atender todos os alunos da escola, independente da especificidade de cada contedo curricular trabalhado, o que nos fez perceber os grandes desafios que a escola tem pela frente. CONSIDERAES FINAIS O uso das TIC uma prtica que vem sendo implementada e incorporada rotina da escola. Presenciamos diferentes formas de uso das TIC, por meio de utilizao do LI. No entanto, apesar da tentativa dos professores inserirem prticas mais inovadoras, a escola ainda presa a uma abordagem tradicional, resultado de um planejamento funcional e um currculo, que ainda organiza seus contedos por disciplinas, que, na maioria das vezes caminham isoladamente presa a tempos e espaos. A ausncia de uma discusso maior sobre o prprio currculo (SILVA, 2010) colabora para os professores compreenderem as diferentes tecnologias apenas como recursos inovadores, ferramentas mgicas no contemplando sua dimenso como ferramenta de aprendizagem, como linguagem, como fundamento. Para PLI Muitas vezes a prtica tradicional se reflete nas atividades realizadas com o uso do computador tornando-o, como foi dito, uma ferramenta modernosa. Mas, felizmente, existem excees (ENTREVISTA, 2010). H prticas mais inovadoras, partindo de uma concepo diferenciada de currculo, mas ainda so caracterizadas como exceo. O uso das TIC na escola sugere vrias mudanas, que passa por uma reestruturao que vai desde a reorganizao de estudantes at a reformulao do espao fsico (Kensky, 2003). Entretanto, defrontamos com uma estrutura rgida de concepo de escola, com um currculo preso a tempos e espaos e planejamento funcional que, na maioria das vezes, inviabilizava prticas mais inovadoras.
310
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
A experincia vivenciada nos fez entrar em contato com a escola pblica e refletir sobre suas prticas. E, principalmente, nos fez compreender que professores e estudantes, protagonistas da escola, experienciam os mais diferentes desafios na busca pela resignificao do processo educativo, que ultrapassam os aspectos meramente pedaggicos, pressupem uma discusso questo epistemolgica, de concepo, de educao, escola e currculo. REFERNCIAS ALMEIDA, Maria Elizabeth de. Tecnologias na educao: dos caminhos trilhados aos atuais desafios. Bolema, Rio Claro, So Paulo, ano 21, n.29, p. 99-129, 2008. ALMEIDA, Maria Elizabeth de Prado, M.E.B.B. A formao de educadores em servio com foco nas prticas escolares com o uso do laptop educacional em uma escola pblica. In: SIMPSIO BRASILEIRO DE INFORMTICA NA EDUCAO, 19., 2008, Fortaleza. Anais do SBIE: tecnologia e educao para todos. Fortaleza: Universidade Federal do Cear, 2008. ANDR, M. Etnografia da prtica escolar. 4.ed. Campinas: Papirus, 2000. BOGDAN; BIKLEN, S. Investigao qualitativa em educao: uma introduo teoria e aos mtodos. Porto-Portugal: Editora Porto, 1994. FUSARI, Jos Cerchi. O papel do planejamento na formao do educador. So Paulo: SE/CENP, 1988. KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distncia. Campinas-SP: Papirus, 2003. (Srie Prtica Pedaggica). SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introduo s teorias do currculo. 3.ed. 1. reimp. Belo Horizonte: Autntica, 2010. p.77-152. VOSGERAU, Dilmeire. Orientaes para a integrao dos recursos tecnolgicos proposta de trabalho do professor. Disponvel em: <http://wwww.diadia.pt.gov.br/ nre/ibaiti/arquivos/ File/Vosgerau.pdf>. Acesso em 05 ago. 2010.
311
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
A WEB 2.0 COMO AUXILIAR DA AO DOCENTE E DA APRENDIZAGEM
Alberto Alexandre Alves Guerra154 Marly dos Santos Alves155
RESUMO O presente trabalho tem como tema a web 2.0 como auxiliar da ao docente e da aprendizagem. O objetivo do trabalho fazer uma reflexo sobre o uso da ferramenta web 2.0 na escola e na sala de aula como instrumento auxiliar da ao docente no processo de aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, questiona-se o porqu da dificuldade de incluso das tecnologias na prtica docente. A metodologia que embasou o presente trabalho foi a pesquisa bibliografia, onde utilizou-se a reviso de literatura de autores como: Almeida e Prado (2005), Dowbor (2001), Demo (2012), Shank (2008), Mason e Rennie (2008). Podemos ao final desse estudo concluir ser necessrio que os docentes introduzam as tecnologias em suas aulas, aproveitando-os como recursos didticos til, rico e auxiliar de sua prtica. Palavras Chave: Aprendizagem. Ao docente. Web 2.0. INTRODUO A relao entre a escola e a tecnologia comeou com o uso de diferentes artefatos, tais como: lpis, papel, material impresso, rdio, telegrafo, gravador, televiso, vdeo e mais recentemente as novas tecnologias da informao e da comunicao. O uso de tecnologias na escola pblica brasileira iniciou-se timidamente, com projetos pilotos em escolas no final de 1980. Nesses projetos, algumas experincias ocorriam com o uso do computador em atividades disciplinares e muitas outras eram extracurriculares e ocorriam em horrios diferentes daqueles em que os alunos frequentavam a escola. Para Dowbor (2001) as tecnologias so importantes, mas apenas se soubermos utiliz-las. E saber utiliza-las no apenas um problema tcnico. Hoje, as tecnologias e as mdias ganham espaos no contexto educacional, as unidades escolares esto equipadas com bibliotecas, sala de DVD, equipamentos como vdeo, rdio, cmera digital, filmadora e computador. A escola lida o tempo todo com tecnologia, mas raramente se ocupa de produzi-la. O que as tecnologias digitais trazem de especial para a escola, a ampliao das possibilidades de produzir conhecimento, divulg-lo e compartilh-lo.
154 Pedagogo; Ps em Geografia e Historia; Professor da Faculdade Ratio e Universidade Estadual Vale do Acara/Cetrede. E-mail: alexandreguerraprofessor@gmail.com. 155 Pedagoga; Mestra em Educao; Professora da Universidade Estadual do Cear. E-mail: Alves.marly2010@gmail.com.
312
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O uso da tecnologia na educao requer um olhar mais abrangente, o envolvimento de novas formas de ensinar, aprender e de desenvolver um currculo condizente com a sociedade tecnolgica, que deve se caracterizar pela integrao, complexidade e convivncia com a diversidade de linguagens e formas de representar o conhecimento. OBJETIVO GERAL Este trabalho tem como objetivo fazer uma reflexo sobre o uso da ferramenta web 2.0 na escola e na sala de aula, como instrumento auxiliar da ao docente no processo de aprendizagem dos alunos. Na organizao desse estudo, busca-se apresentar algumas destas ferramentas que auxiliam o trabalho docente e a construo do conhecimento pelo aluno. DISCUSSO DOS RESULTADOS Nesse sentido, questiona-se o porqu da dificuldade de incluso das tecnologias na prtica docente. Tratar de tecnologias na escola engloba, na verdade, a compreenso dos processos de gesto de tecnologias, recursos, informaes e conhecimentos que abarcam relaes dinmicas e complexas entre parte e todo, elaborao e organizao, produo e manuteno (Almeida, 2005). O uso da tecnologia na escola, quando pautada em princpios que privilegiam a construo do conhecimento, o aprendizado significativo requer dos profissionais novas competncias e atitudes para desenvolver uma pedagogia voltada para a criao de estratgias e situaes de aprendizagem que possam tornar-se significativa para o aprendiz, sem perder de vista o foco da intencionalidade educacional (Almeida e Prado, 2005, p. 42). Criar ambientes de aprendizagem com a presena das tecnologias da informao e comunicao (TICs) pode indicar uma concepo da prtica pedaggica com base na informatizao do ensino e na transmisso de informaes. O professor que associa as TICs aos mtodos ativos de aprendizagem aquele que tambm busca desenvolver habilidade tcnica relacionada ao domnio da tecnologia e, sobretudo, esforase para assumir uma atitude de reflexo frequente e sistemtica sobre sua prtica, sobre o que seus pares falam da prpria prtica e sobre as teorias tratadas por autores de referncia. A introduo de ferramentas educacionais mediadas pelas tecnologias da web 2.0 nos remete ao enfrentamento de novos desafios sobre a educao e seus principais atores professores, escolas e alunos ocasionando profundas transformaes na ao educativa, com mudanas rpidas, abrangentes e at fora do controle. As tecnologias da web 2.0 esto mudando velhas plataformas de aprendizagem e capacitando novas, entre elas esto pesquisa, as transmisses em web, reviso de livros e curso e outros (Shank, 2008). Para que a utilizao da web 2.0 tenha um cunho pedaggico, elas precisam envolver os estudantes no processo de aprendizagem, fomentar habilidades de aprendizagem autnoma, coletiva, desenvolver habilidade de construo de conhecimento, motivar aprendizagem sem fim (Demo, 2009). Sendo assim, o desafio formativo a razo de ser.
313
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
Muitas so as ferramentas da web 2.0, existentes que podem contribuir para a aprendizagem dos alunos, tornando-se recursos acessveis a todos que buscam adquirir e ampliar conhecimentos. Mason e Rennie (2008) apresentam algumas ferramentas da web 2.0 que contribuem para a aprendizagem dos alunos, atravs do uso da Internet: Blogs; Wikis; Podcasting; E-Portflios; Social Networking tais como MySpace e Facebbok; Photo Sharing, Flickr; On line Foruns; Video Messaging; E-Books; Jogos e Simulaes; Mobile Learning (M-Learning); Video Clips e Youtube; Audiographics ou quadros brancos interativos/eletrnicos. Pedagogicamente a web 2.0 oferece modos de aprender em qualquer lugar e tempo, colocando o aprendiz como ponto de partida; possibilita o acesso a vasto leque de contedos, com estratgias seletivas e inteligentes; aumenta as oportunidades de interao professor aluno; possibilita estender aprendizagens aos portadores de necessidades especiais. Enfim, as tecnologias so hoje importantes e eficientes ferramentas de aprendizagem, que podem ser utilizadas na escola e nas comunidades sociais como um instrumento a servio da educao. CONSIDERAES FINAIS Os novos desafios requerem qualidade educacional dos autores, no entanto, as instituies educacionais, muitas vezes, so obstculo s mudanas. preciso que os educadores sejam os primeiros a incentivar e fazer uso das tecnologias em suas salas de aula. Espera-se que a qualidade e eficincia da aprendizagem mediada pelo uso de tecnologias, entre elas a web 2.0, seja um diferencial, j que ela exige maior intensidade de trabalho e mais recursos. Assim, esses novos recursos de aprendizagem podem e devem ser utilizados nas instituies educacionais pelos educadores e tende a contribuir significativamente para a melhoria da qualidade da educao ali praticada. Portanto, a internet pode ser bem e mal usada, como todos sabem, mas seria recomendvel comearmos a ver criticamente seu bom uso, porque escodem-se a oportunidades relevantes, tanto mais relevantes porque representam as habilidades do sculo XXI. O uso da tecnologia no design da aprendizagem deve superar distines estanques como cursos presenciais e no presenciais, porque mantm a expectativa instrucionista e disciplinar de professores. Conhecimento no se repassa, reproduz, mas se constri, reconstri, desconstri, o que permite distinguir conhecimento e informao. Aprendizagem tecnologicamente correta significa aquela que estabelece com tecnologia a relao adequada no sentido de aprimorar a oportunidade de aprender bem. Assim, urge a necessidade de mais ateno por parte dos professores na introduo das tecnologias na sala de aula, aproveitando os recursos da web 2.0 como recurso didtico til, rico e auxiliar da pratica docente.
314
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
REFERNCIAS ALMEIDA, M. E. Bianconcini. Gesto de tecnologias na escola: possibilidades de uma prtica democrtica. Boletim - Salto para o Futuro: Srie integrao de tecnologias, linguagens e representaes. Braslia: MEC, SEED, 2005. Disponvel em: http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2005.htm> Acesso em: 15 ago. 2012. ALMEIDA, M.E. Bianconcini; PRADO, M. E. B. Brito Apresentao da srie integrao de tecnologias com as mdias digitais. In: Boletim - Salto para o Futuro. Braslia: MEC, SEED, 2005. Acesso em 15 ago. 2012.. DEMO, Pedro. Educao hoje: novas tecnologias, presses e oportunidades. So Paulo: Atlas, 2009 DOWBOR, L. 2001. Artigo: Tecnologias do conhecimento: os desafios da educao. Disponvel em: http://dowbor.org/tecnconhec.asp. Acesso em: 15 ago. 2012. MASON, R. & RENNIE, F. E-learning and social networking handbook. London, UK: Routledge, 2008. SHANK, P. Thinking critically to move e-learning forward. In: CARLINER, S.;SHANK, P. (Eds). The e-learning handbook: past promises, present challenges. New York: Pfeiffer, 2008. P.15-28.
315
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
PROJETO UCA: DESAFIOS A FORMAO DOCENTE EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE FORTALEZA
Inara da Silva Flix156 Scarlett O'hara Costa Carvalho157
RESUMO Este trabalho tem como escopo compreender a implementao do projeto UCA em uma escola de ensino fundamental e mdio de Fortaleza com intuito de fomentar nossa formao docente, acerca das tecnologias digitais em educao, haja vista sua importncia na atualidade. Palavras-Chave: Projeto UCA. Tecnologias Digitais. Formao docente. INTRODUO Este relato de experincia fruto de um trabalho da disciplina Tecnologias Digitais em Educao, do curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Estadual do Cear (UECE), atravs de uma visita a uma Escola Estadual de Ensino Fundamental e Mdio em Fortaleza, que tinha como intuito a nota final da disciplina. A pesquisa foi desenvolvida em dois momentos. No primeiro, um estudo bibliogrfico sobre tecnologias digitais em educao, em especial acerca do Projeto Um Computador por Aluno (UCA) e do modelo de informtica educativa 1:1 (um para um). O UCA um programa de incluso digital pedaggica nas escolas, com repercusso na famlia, baseado em um laptop de baixo custo, apto ao enlace de conectividade sem fio (em rede mesh ou wireless), objetivando o conhecimento e tecnologias que oportunizam a inovao pedaggica nas escolas pblicas (Proposta de Avaliao UCA, 2010). No segundo momento, realizou-se uma pesquisa de campo onde as pesquisadoras visitaram uma escola, no primeiro semestre do ano corrente, registraram alguns dados e fizeram uma entrevista semiestruturada com a gesto. Em 2010 o governo federal implantou o Projeto UCA, que distribuiu 150.000 laptops educacionais para escolas pblicas brasileiras, com vistas a incluso digital escolar e melhoria da educao. No Cear, dez escolas foram contempladas, tendo sido a Escola visitada, uma delas. O
156
157
Sobre a autora: Bolsista do PIBID/CAPES (Programa Institucional de Bolsa de Iniciao Docncia)-(Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior) do subprojeto de Pedagogia/UECE, graduanda do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Faculdade de Educao da Universidade Estadual do Cear (UECE) campus do Itaperi. Endereo para contato por e-mail: inarafelixtm@gmail.com Sobre a autora: Bolsista do PIBID/CAPES (Programa Institucional de Bolsa de Iniciao Docncia)-(Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior) do subprojeto de Pedagogia/UECE, graduanda do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Faculdade de Educao da Universidade Estadual do Cear (UECE) campus do Itaperi. Endereo para contato por e-mail: scarlettoharacc@gmail.com
316
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
critrio para escolha da escola era ter cerca de 500 (quinhentos) alunos, possuir energia eltrica para carregamento dos laptops e armrios para armazenamento dos equipamentos. A escola escolhida para realizao da visita, conta com um contigente de 637 alunos no ano de 2013, que so distribudos em trs turnos. So 6 turmas de ensino fundamental, 7 de ensino mdio e ainda 2 turmas de Educao de Jovens e Adultos - EJA. Hoje h em cada sala, uma mdia de 35 alunos. A coordenadora informou que a mdia at 2011 era de 25 alunos por sala e atribui esse aumento implantao do referido projeto, onde muitos alunos de escola privada e de outras escolas se interessaram pelo novo recurso pedaggico, recurso este que se torna cada vez mais atrativo. A coordenao da escola ressalta que est atendendo a demanda da comunidade, e que a estrutura da mesma considerada boa, apesar de no ser muito ampla. O projeto Um Computador por Aluno chegou a escola em 2011 e desde ento vem trazendo capacitaes mensais aos professores e gestores da escola. Sempre que contratam novos professores proporcionada a capacitao. Isso um grande diferencial, tendo em vista que essa formao docente de suma importncia. Faz-se necessrio que os professores percebam a utilizao desse novo recurso como um apoio, um diferencial e um complemento das suas aulas, visando uma maior aprendizagem dos educandos. OBJETIVO GERAL Compreender a ao docente em meio a insero das tecnologias no ensino nesta escola de Fortaleza e os desafios da formao docente para desenvolver o trabalho, se apropriando das novas ferramentas de aprendizagem. METODOLOGIA No decorrer da disciplina de Tecnologias Digitais em Educao, tivemos acesso a vrios textos acerca da temtica, dentre os quais a temtica do Projeto UCA. Para concluso da disciplina nos foi solicitado que visitssemos uma escola cujo projeto foi implantado, visando compreender como esse processo est sendo efetivado. A escola possui como equipamentos disponveis para o trabalho pedaggico o LEI Laboratrio Escolar de Informtica (que conta com 16 mquinas), os laptops educacionais do UCA (tambm chamado carinhosamente pelos funcionrios de Uquinha), Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), biblioteca com um centro de multimeios, tablets (para uso dos professores), laboratrio de cincias (em fase de concluso) e projetores. H um projeto para a chegada da lousa digital na escola, mas ainda esto no aguardo. Iniciamos a visita escola pelo LEI, acompanhadas pela professora responsvel pelo laboratrio, que formada em histria. Conversamos sobre a proposta da escola, que sociointeracionista, e de como se d organizao do trabalho pedaggico com foco no uso das tecnologias digitais. No processo de implementao do LEI, foi relatado que logo no incio houve muita resistncia dos professores, por estes no serem, em sua grande maioria, nativos digitais, que so aqueles que nascem e crescem com as tecnologias digitais presentes em sua vivncia, e segundo
317
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
eles tinham medo de passar vergonha na frente dos alunos. A ideia que eles tinham era de que seriam aulas de informtica e que eles no saberiam explicar como mexer em um computador, tendo em vista que eles mesmos no dominavam ainda. Com as capacitaes esse medo foi diminuindo e eles foram conhecendo como poderiam inserir os recursos nos seus planejamentos, de forma que o recurso viesse a complementar e facilitar o ensino-aprendizagem e no ser apenas algo atrativo para os alunos. Nesse sentido, percebe-se a importncia das capacitaes para uma quebra do preconceito de alguns professores para lidar com esse recurso pedaggico.A partir dessess momentos de formao, o corpo docente vai trabalhando com novas metodologias e como dito anteriormente, vai perdendo esse receio. O planejamento na escola acontece em um dia na semana e dividido por rea, mas o que a professora do LEI informou que os professores acabam dividindo esse planejamento nos intervalos de suas aulas e assim somando a carga horria de um dia para o planejamento. Desse modo, muitos professores preferem fazer seus planejamentos do laboratrio de informtica, pois l contam com a orientao sobre os objetos de aprendizagem, softwares e j podem fazer o agendamento de suas aulas, que feito com a entrega do planejamento para a professora responsvel pelo laboratrio, que na medida do possvel tambm faz o acompanhamento. Pudemos observar que o Projeto UCA a menina dos olhos da escola, que trouxe muito benefcios e que os alunos so completamente fascinados e se interessam mais por aulas com o uso das tecnologias. Percebemos que h uma preocupao no planejamento e de como este ser inserido como um determinado recurso em sala de aula, devido as capacitaes que os professores participam constantemente. Embora tenha trazidos muitos benefcios, ainda tem algumas questes em que o projeto precisa melhorar, pois a internet da escola de 2 Megabytes e que s possvel uma sala utilizar a internet por vez, por causa do sinal que fica fraco com a utilizao. O sistema operacional dos computadores o UbuntUCA, gratuito e desenvolvido especialmente para o projeto, mas a capacidade de armazenamento dos computadores muito pequena e no permite trabalhar com mais de um software educativo, o que faz com que sejam utilizados em sala de aula apenas para o acesso a internet e alguns recursos de edio de texto bem simples. Ainda para a utilizao dos laptops necessrio o agendamento, pois todos precisam estar com a bateria carregada e os professores questionam o porque da Secretaria de Educao (SEDUC) no investir em criar softwares educativos especficos. O projeto tinha como pblico alvo os alunos do 6 ano apenas, segundo a coordenao informou, mas hoje abrange at o ensino mdio. DISCUSSO DOS RESULTADSOS A partir da visita compreendemos a relevncia da interdisciplinariedade nesse processo educacional, bem como observamos que as Tecnologias Digitais vm se fortalecendo no mbito escolar. Com efeito, imprescindvel que os educadores se apropriem das novas
318
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
tecnologias, com o intuito de se prepararem para ajudar os estudantes a promoverem a sua aprendizagem de forma reflexiva. Ao mesmo tempo, o educador um eterno aprendiz, que realiza uma leitura e uma reflexo sobre sua prpria prtica. O professor procura constantemente depurar a sua prtica, o seu conhecimento. A sua atitude transforma-se em um modelo para o educando, uma vez que vivencia e compartilha com os alunos a metodologia que est preconizando (Valente, 1994: 19). CONSIDERAES FINAIS Conclumos que as tecnologias esto cada vez mais presentes nas nossa vidas e no fazer docente. A escola em questo recebe capacitao para trabalhar com o projeto UCA e desenvolvlo de forma a obter o maior aprendizado possvel dos alunos, apesar das limitaes que o laptop traz, como pouco memria de armazenamento e da internet que hoje a escola possui. H na escola uma preocupao em haver o planejamento efetivo dos professores por rea. E o uso das ferramentas tecnolgicas no associado por ser meramente atrativa, a escolha amparada em critrios pedaggicos. REFERNCIAS ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de.: Informtica e Formao de Professores disponvel em <http://www.proinfo.mec.gov.br>Promotor: MEC/ SEED/ Proinfo - Braslia, 1999 VALENTE, J. A. Diferentes usos do computador na Educao, in Computadores e conhecimento: repensando a educao. Campinas, Grfica Central da Unicamp, 1993a. Blog da escola http://paranafortaleza.blogspot.com.br/ http://uca-ce.blogspot.com.br/ http://blogs.virtual.ufc.br/uca-ce2/?page_id=150
319
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
AS TECNOLOGIAS NA FORMAO DOCENTE NA EDUCAO SUPERIOR PRESENCIAL
Naola Paiva de Miranda158
RESUMO O paradigma emergente surgiu atravs da inovao tecnolgica que promoveu profundas mudanas intersubjetivas na forma de ver, sentir, pensar e viver do homem. As tecnologias na formao docente na educao superior presencial, objetiva conhecer a utilizao do blog. Especificamente compreender as suas funes, inserir no contexto da sala de aula presencial atividades pedaggicas com o seu uso e investigar o uso do blog na prtica docente. O trabalho foi desenvolvido em trs momentos. No primeiro momento criou-se o blog sob o endereo: http://fisica-sociedade.blogspot.com.br/. No segundo momento realizou-se o estudo das temticas da disciplina ao longo do semestre com os alunos e efetuou-se as postagens no blog. No terceiro momento a pesquisa desenvolveu-se na forma de ordem participante. Utilizou-se para a coleta de informaes com abordagem qualitativa um instrumento diagnstico, com 10 perguntas abertas Foram aplicados 11 instrumentos dentre os quais 6 foram analisados neste trabalho. Na anlise dos dados os sujeitos da pesquisa foram cognominados pela letra E. Aps analisar os dados da pesquisa, observou-se a grande contribuio que o blog deu na experincia prtica na formao docente dos licenciandos. Para o estgio do doutorado foi muito relevante, associar as tecnologias a formao docente, foi uma descoberta no sentido de poder ter uma nova viso da docncia, em no pensar s no ensinar mas se preocupar com o aprender. PALAVRAS CHAVE: Blog. Formao docente. Educao superior presencial INTRODUO O paradigma emergente surgiu atravs da inovao tecnolgica que promoveu profundas mudanas intersubjetivas na forma de ver, sentir, pensar e viver do homem, tanto no cenrio poltico, social, econmico assim como na educao em todos os nveis. Essas crescentes transformaes vieram como forma de desafios, ocasionadas pelo avano da tecnologia no que tange ao crescimento de provedores de internet, acesso de usurios. Com efeito, as tecnologias da informao e comunicao (TICs), propiciam a conectividade de tal modo que o conhecimento passou a ser construdo em rede em tempo real e virtual. De tal modo, que a colaborao substituiu a competio e o presencial foi acres Na educao essas mudanas aconteceram de fora para dentro em que como prtica social permitiram ao educador construir a sua prtica docente com novas formas de ensinar e aprender. Este estudo: As tecnologias na formao docente na educao superior presencial, relevante uma vez que o uso das tecnologias na educao superior obteve um novo olhar no que concerne em o docente adotar novas estratgias e metodologias de ensino e aprendizagem em sua prtica docente.
158
Doutoranda em Educao Brasileira Universidade Federal do Cear; email :naiolamiranda@gmail.com
320
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
A cada poca da histria as tecnologias tiveram o seu papel de auxiliar o homem, a usar ferramentas adequadas para as suas realizaes que se ampliaram do lpis, livro, giz, apagador, mquina de escrever, telefone, telex ao computador. Esse desenvolvimento tecnolgico trouxe novas ferramentas que com o planejamento e uso pedaggico adequado promovem aprendizagem colaborativa produzindo interao no ambiente virtual como fruns, listas de discusso,chat, google docs e o blog. OBJETIVO GERAL Ademais, o presente estudo tem como questo norteadora como utilizar o blog na formao docente na educao superior presencial? Para tal, objetiva-se conhecer a utilizao do blog. Especificamente compreender as funes do blog, inserir no contexto da sala de aula presencial atividades pedaggicas que utilizem o blog e investigar o uso do blog na prtica docente. METODOLOGIA Concepes sobre o Blog O blog uma abreviao da palavra Weblog: Web ( rede, teia) relacionada a pgina da internet e log (registro), portanto registro na web. Surgiu no final dos anos 1990, considerado um dirio virtual que as pessoas compartilham e registram suas escritas, por isso pode ser utilizado com o objetivo de registro familiar, pessoal, comunitrio e educacional. Sua utilizao gratuita a partir dos anos 1999, permite alm da postagem de textos, atualmente, outros aplicativos so possveis tais como postagens de udios, fotos e vdeos, denominando-se de audioblog, fotolog e videoblog respectivamente. Nesse estudo se considera o blog educativo uma vez que suas caractersticas potencializam o uso da escrita e da leitura, promove a aprendizagem colaborativa, permite a construo de redes sociais com afinidades entre os usurios a construo de novos saberes, permitindo aos usurios serem ao mesmo tempo participantes, autores das produes escritas, editores e pesquisadores que possibilita a aprendizagem significativa em um contexto que os conhecimentos prvios contribuem para novas aprendizagens. O blog como ferramenta assncrona, isto , o seu uso no acontece em tempo real, mas favorece aos seus usurios a ser autor, editor pesquisador e explorar as suas potencialidades, atravs de seus comentrios nas postagens, de forma em que professor e o aluno se inserem em um ciclo de interao, nos contedos que esto a disposio no blog. Nisto o uso do blog permite prtica docente a ao pedaggica ao se constituir de estratgias, metodologias que iro respaldar as intenes e realizaes de ensino no contedo planejado atravs do currculo. Pacheco (2005, p.33) define currculo como um projeto que resulta no s de um plano das intenes, bem como do plano da sua realizao [...]. importante ressaltar essa dicotomia curricular, a inteno e a realizao na formao docente, pois requer que as estratgias de ensino, ou estratgias didticas se construam a partir dessa viso que se tem do que o aluno precisa aprender, no mais o que o professor precisa ensinar. Formao docente e a mediao no Blog
321
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
O uso do blog na formao docente na educao superior se realiza atravs da mediao. Segundo Tebar (2011, p.77) A mediao a ao intermediadora entre as pessoas e a realidade. Dessa forma tanto os atores como os processos que so utilizados na mediao promovem interao entre pares de modo que a sincronia deve ser bem ajustada na construo do conhecimento para que haja aprendizagem . O autor destaca ainda trs elementos que integra a mediao educativa : o aluno e o saber, o aluno e o meio, o aluno e os seus colegas de sala de aula. So trs realidades que interferem na sua aprendizagem, e cabe ao educador mediar o contedo no que o aluno precisa aprender. O enfoque reside na aprendizagem. Na mediao no blog, o docente deve conhecer a fundamentao terica da ferramenta, o uso da ferramenta no ambiente virtual, dessa forma o mediador permite ao educando descobrir o significado e os objetivos de sua atividade em uma perspectiva colaborativ a. Coll e Monoreo (2010, p.211) explicita a perspectiva sciocultural de Vygotsky e conceitua que a aprendizagem colaborativa um processo de interao no qual (os sujeitos grifo nosso)se compartilham, negociam-se e constroem-se significados conjuntamente para solucionar, criar ou produzir algo. Dessa forma neste estudo utilizou-se o blog, esta ferramenta tecnolgica que est inserida na cultura, no cotidiano do homem e se apresenta com caractersticas que motivam o docente a criar em sua prtica docente uma nova viso do ensinar e aprender. O Estudo Realizou-se na Universidade Federal do Cear - Campus do Pici, com 14 alunos matriculados nos cursos de graduao em licenciatura plena, fsica, qumica, turno noturno, no semestre 2012.1, por ocasio do nosso Estgio em docncia para cumprir exigncia nessa disciplina do Programa de Ps-graduao no Doutorado em Educao. O estudo foi efetuado na disciplina Estudos scio histrico culturais em Educao. Com 64 horas sendo que 50 horas em aulas presenciais e 14 horas foram realizadas em atividades no ambiente virtual de aprendizagem. A utilizao dessa ferramenta vem atender a Portaria 4059/2004 que permite a insero e o uso das tecnologias da informao em 20% da carga horria das disciplinas dos cursos de graduao. Convm observar que no se deve utilizar esse aporte legal a revelia, mas com planejamento adequado. O trabalho foi desenvolvido em trs momentos. No primeiro momento criou-se o blog sob o endereo: http://fisica-sociedade.blogspot.com.br/. No segundo momento realizou-se o estudo das temticas da disciplina ao longo do semestre com os alunos e efetuando as postagens no blog. No terceiro momento a pesquisa desenvolveu-se na forma de ordem participante. Utilizou-se para a coleta de informaes com abordagem qualitativa um instrumento diagnstico, com 10 perguntas abertas com intuito de conhecer a utilizao do blog na formao docente na educao superior presencial. Foram aplicados 11 instrumentos Neste trabalho do foram analisados 6.Na pesquisa os sujeitos foram cognominados pela letra E, nesta anlise dos dados participaram os sujeitos E1,E2,E3,E4,E5,E6.
322
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
DISCUSSO DOS RESULTADOS No estudo quando perguntados aos licenciandos se j tinham participado de algum Blog ou na sua vida social ou com atividades em sala de aula. 3 alunos responderam no, e outro j tinha participado de um blog na rede social.O quadro revela o desconhecimento dessa ferramenta tecnolgica tanto em relao a vida social e muito mais ainda na utilizao como ferramenta na prtica educativa . Depois de se ter conversado sobre aprendizagem colaborativa no texto que foi abordado sobre blog, e, considerando que a aprendizagem colaborativa conduz o educando a fazer e a refletir o fazer e que o mesmo se torna responsvel pela sua aprendizagem e tambm pela do seu grupo, parceiros de estudo na sala de aula, perguntou-se em que momento o blog promoveu aprendizagem colaborativa. Os educandos responderam o seguinte: E1 - a partir do momento em que algum posta um arquivo ela est colaborando com a aprendizagem do outro. E3 - No momento que comentamos os textos dos outros e postamos nossos textos literalmente nessas aes, ns ensinamos e aprendemos com os nossos colegas. Ao observar essas declaraes reporta-se a Vygotsky j citado neste trabalho sobre a aprendizagem colaborativa, o blog d essa oportunidade em compartilhar saberes na construo do conhecimento de uns com os outros. O uso das tecnologias da informao e comunicao tem se apresentado como novo paradigma na educao, e o blog possibilita o acesso em ser usurio, autor e pesquisador, dada a experincia na disciplina cursada pediu-se aos educandos que explicassem o que aconteceu em cada momento E4 respondeu que: E4- Os usurios podem escolher apenas assistir, acompanhar o andamento de um blog. Assim como autor ele pode tambm postar textos, pensamentos em forma de textos, ele pode ali postar a sua criatividade suas obras, suas criaes.E todo o mundo pode acessar seu trabalho, atravs da internet. Como pesquisador, podemos estudar os comportamentos de outros usurios e blogs, tais como os tipos de postagens, seus destinatrios, a maneira que escrita entre muitos outros aspectos que podem revelar coisas importantes sobre quem posta. A experincia dos educandos ratificou Tbar(2011), a respeito da mediao educativa que resulta a mediao entre pares, aluno versus aluno, interagindo entre si os seus saberes. Observando a experincia que os educandos tiveram com o acesso ao blog, pediu-se as funes do blog. E3- A funo do blog prover certo conhecimento para pessoas interessadas, em tais assuntos. Uma vez que a internet foca a informao, o blog se diferencia por oferecer conhecimento, algo mais concreto e melhor do que informao. E6- O blog serve como espao livre para fluxos de ideias, onde se possvel publicar fotos, textos, resumos, dentre tantas outras coisas. O blog de fato uma ferramenta interativa e dinmica
323
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
As funes do blog foram bem delineadas nessas experincias dos alunos, como ferramenta interativa e dinmica, oferece, compartilha e promove, conhecimento aos seus leitores e usurios. Com as declaraes que os educandos tm feito acerca do blog, perguntou-se ainda quais os pontos positivos quanto ao uso do blog. E5- O blog promove interao, extenso e debates. E6- Alm de ser uma ferramenta dinmica e interativa, o blog se comporta como um ambiente de aprendizagem colaborativa e divertida, no sentido de promover o conhecimento. Aprofundando mais as discusses sobre o blog, solicitou-se aos educandos que comentassem a respeito dos pontos negativos do uso do blog. E1- No vejo nenhum ponto negativo E2- dificuldade para os alunos que no tm acesso a internet Considerando que as licenciaturas na universidade outorga o direito a exercerem o magistrio, perguntou-se aos educandos se utilizariam o blog em sua prtica docente. E1- Sim, pois eu consegui usar o blog como ferramenta de aprendizagem com certeza aplicaria essa ferramenta para meus alunos. E2-Sim. Por ser uma ferramenta educativa de muita relevncia na prtica docente. serve como uma ferramenta de aproximao professor-aluno e como uma extenso da sala de aula. E4- Sim, seria bastante interessante para os meus alunos verem seus trabalhos ali, n e que outras pessoas de fora da escola, da cidade de todos os lugares, podem v-los. E eu, como professor poder mostrar para companheiros o nosso trabalho, trabalho meu e dos meus alunos CONSIDERAES FINAIS Aps analisar os dados da pesquisa, observou-se a grande contribuio que o blog deu na experincia prtica na formao docente dos licenciandos. Para o estgio do doutorado foi muito relevante, associar as tecnologias a formao docente, foi uma descoberta no sentido de poder ter uma nova viso da docncia, em no pensar s no ensinar mas se preocupar com o aprender. REFERNCIAS BRASIL, Ministrio da Educao. Gabinete do Ministro. Portaria n 4.059, de 10 de dezembro. Disponvel em: <http://www.cmconsultoria.com.br/legislacao/portarias/2004/por_2004_4059_MEC.pdf> Acesso em: 28 mar. 2012. COLL, C. MONOREO,C. Psicologia da Educao Virtual: Aprender e ensinar com as tecnologias da informao e comunicao. Porto Alegre: Artmed,2010. PACHECO, Jos Augusto. Escritos Curriculares. So Paulo: Cortez, 2005. TBAR, Lorenzo. O Perfil do Professor Mediador. So Paulo:EditoraSenac,2011.
324
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO SUPERIOR
Denyse Maria Borges Paes159 Maria Naires Alves de Souza160
RESUMO As novas tecnologias esto cada vez mais presentes no cotidiano educacional, isso porque o avano tecnolgico cada vez mais imprescindvel para o desenvolvimento da humanidade. A sociedade informacional o espao mais promissor por onde trafegam as ferramentas das tecnologias digitais. A atuao dos docentes de suma importncia para que acontea a interface entre a informao e seus alunos na produo do conhecimento, visto que est envolvido em todos os seguimentos desse ciclo, desde a gerao at o uso, sendo necessrio que haja uma grande interlocuo entre todos os sujeitos envolvidos no processo de gerao, tratamento, disseminao, recuperao e uso das fontes informacionais, sejam elas analgicas (papel) ou digitais, eletrnicas. Em relao qualidade do ensino e as mudanas esperadas, faz-se necessrio que frente as alteraes no perfil dos alunos e as mudanas de paradigmas no ensino e aprendizagem que os professores ocupem-se das inovaes tecnolgicas.Objetiva-se, aqui, investigar a respeito das tecnologias digitais e seu uso na educao. Para a construo dos argumentos ora apresentados foi empreendida pesquisa bibliogrfica seguida de leituras e discusses em grupo. Evidenciou-se que pensar a educao na sociedade do conhecimento exige considerar um leque de aspectos relativos s tecnologias digitais, a comear pelo papel que elas desempenham na construo do ensinar e do aprender. PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Comunicao. Ensino Superior. INTRODUO Em todos os seguimentos da sociedade atual, a informao passou a ser elemento fundamental e flui em velocidade e quantidade inimaginveis. Do grande volume de informaes disponveis surgiu o paradoxo excesso de informao e dificuldade para acess-la. A exploso da informao gerou barreiras ao seu acesso: o custo elevado pela sua busca, nmero ilimitado de fontes de informao, desconhecimento de novas ferramentas informacionais e a falta de habilidade em lidar com tais ferramentas. Frente a essa dificuldade Dudziak (2001) nos diz que
Essas barreiras revelam a necessidade de preparar o ser humano para compreender: como definir suas necessidades informacionais; como buscar e acessar efetivamente a informao necessria, como avali-la, como organiz-la, como transform-la em conhecimento, como aprender a aprender e como aprender continuamente.
Digitais.
Educao.
Tecnologia
da
Informao
Nesse contexto a tecnologia da informao com suas ferramentas assinalam-se como um fator facilitador para que o indivduo melhor transite no universo informacional. Trata-se de um
159
Professora Substituta do Curso de Biblioteconomia no Departamento de Cincias da Informao pela Universidade Federal do Cear. Especialista em Tecnologias Aplicadas a gesto da Informao. Bacharel em Biblioteconomia. E-mail: denyse_mb@yahoo.com.br 160 Bibliotecria, Mestranda em Polticas Pblicas e Gesto da Educao Superior pela Universidade Federal do Cear, Fortaleza, Cear. E-mail: marianaires@yahoo.com.br
325
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
instrumento capaz de proporcionar: saber agir, integrar saberes mltiplos, saber aprender e ter uma melhor viso estratgica. Portanto, preciso que os indivduos que fazem uso da informao e a transmitem adquiram competncia para fazer uso eficiente dela e principalmente a transforme em conhecimentos. Nos tempos atuais vivenciamos uma revoluo da tecnologia, da comunicao e da informao, essa revoluo tem afetado, alm de outras esferas da vida social, a educao, a prtica docente, a formao do professor e consequentemente sua prtica pedaggica em sala de aula bem como seu relacionamento com os alunos. Com esse estudo objetiva-se investigar a importncia do uso das tecnologias digitais pelos docentes nas Instituies de Ensino Superior (IES).Com isso relacionamos com a problemtica de descobrir o quanto as ferramentas de Tecnologia da informao e comunicao poder ser um instrumental para a melhoria da qualidade da educao. OBJETIVO GERAL Objetiva-se, aqui, investigar a respeito das tecnologias digitais e seu uso na educao, notadamente na Educao superior. METODOLOGIA O delineamento da pesquisa, aqui tratada, tem carter exploratrio que, segundo Gil, tem como objetivo proporcionar uma maior familiaridade com o problema, com vistas a torn-lo mais explcito ou a construir hipteses. (2010, p. 27). Para a construo dos argumentos ora apresentados foi empreendida pesquisa bibliogrfica seguida de leituras e discusses em grupo. DISCUSSO DOS RESULTADOS Educao e conhecimento so itens importantes para o desenvolvimento social e econmico das naes. A educao o elemento-chave na edificao de uma sociedade baseada na informao, no conhecimento e no aprendizado. Pensar a educao na sociedade da informao exige considerar um leque de aspectos relativos s tecnologias de informao e comunicao, a comear pelo papel que elas desempenham na construo de uma sociedade que tenha a incluso e a justia social como uma das prioridades. A Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional (1996) traz em seu artigo 43 que uma das finalidades da Educao Superior incentivar o trabalho de pesquisa e investigao cientfica, visando o desenvolvimento da cincia e da tecnologia e da criao e difuso da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Sendo que a instituio universitria, ao associar ensino e pesquisa, contribui de maneira robusta e definitiva para a afirmao das identidades culturais, para a formao do capital humano e para o desenvolvimento de suas riquezas materiais. Segundo Dias Sobrinho (2004, p. 704), a educao superior tem sido considerada uma instituio que produz conhecimentos e forma cidados para as prticas da vida social e econmica, em benefcio da construo de naes livres e desenvolvidas.
326
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
O Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) da Organizao das Naes Unidas (ONU) em seu relatrio de 2001 apresenta importantes dados sobre o desenvolvimento tecnolgico no Brasil e nas IES brasileiras e j dizia que As tecnologias de informao e comunicao implicam inovaes na microelectrnica, na informtica(hardware e software), nas telecomunicaes e na optoelectrnica microprocessadores, semicondutores e fibras pticas. Estas inovaes permitem o processamento e armazenamento de enormes quantidades de informao, juntamente com a rpida distribuio da informao atravs de redes de comunicao. Indivduos famlias e organizaes esto ligados atravs do processamento e execuo de um enorme nmero de instrues, em perodos de tempo imperceptveis. Isto altera radicalmente o acesso informao e a estrutura da comunicao estendendo o alcance da rede a todos os cantos do mundo. (ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS, 2001) A mudana de paradigma na educao est em andamento em que as tecnologias podero ser usadas como facilitadores do processo educacional. A mdia interativa que requer uma aprendizagem com abordagens ativas , mas, antes de poder ser usada para facilitar a aprendizagem, exige primeiramente o domnio da prpria ferramenta. IES precisam desenvolver habilidades em seus docentes no uso de aplicaes eletrnicas que podem ser aplicada a empreendimentos educacionais (CURRAN, 2008). COSIDERAES FINAIS A sedimentao de uma educao de qualidade depende de mudanas profundas na sociedade, nos sistemas educacionais e na escola. Nesses dois ltimos, exigem-se: condies adequadas ao trabalho pedaggico; conhecimentos e habilidades relevantes; estratgias e tecnologias que favoream o ensinar e o aprender e colaborao de diferentes grupos e indivduos. Nesse sentido, as tecnologias de informao e comunicao podem proporcionar relevante contribuio para que os programas de educao ganhem maior eficcia. Para tanto, contudo, indispensvel que a capacitao pedaggica e tecnolgica de educadores elemento indispensvel para a adequada utilizao do potencial didtico dos novos meios e fator de multiplicao das competncias seja empreendida e tenha paralelo ao desenvolvimento de contedo pedaggico utilizado em sala de aula. REFERNCIAS BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional. Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educao nacional. Braslia, 1996. CURRAN, C. R. Faculty development initiatives for the integration of informatics competencies and point-of-care techonologies in undergraduate nursing education. Nurs Clin N Am, v. 43, p.523533, 2008. DIAS SOBRINHO, Jos. Avaliao e transformaes da educao superior brasileira (19952009): do provo ao Sinaes. Avaliao, Campinas, SP, v.15, n.1, p.195-224, mar. 2010. DUDZIAK, Elisabeth Adriana. A information Literacy e o papel educacional das bibliotecas. 2001. 187 f. Dissertao (Mestrado em Cincias da Comunicao)-Escola de Comunicao e Artes da Universidade So Paulo, So Paulo, 2001.
327
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
GIL, A. C. Mtodos e Tcnicas de pesquisa social. 5. ed. So Paulo: Atlas, 2010. ORGANIZAO DAS NAES HUMANAS. Transformaes tecnolgicas actuais criao da era das redes. In: Relatrio do Desenvolvimento Humano 2001: fazendo as novas tecnologias trabalharem para o desenvolvimento humano. Disponvel em: <http://www.pnud.org.br/HDR/Relatorios-Desenvolvimento-HumanoGlobais.aspx?indiceAccordion=2&li=li_RDHGlobais#2001>. Acesso em: jun. 2013. RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia cientfica. So Paulo: Avercamp, 2006.
328
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
TCNOLOGIAS DIGITAIS E O CURRCULO: UMA PESPECTIVA ETINOGRFICA DA FACED COM O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS
Odmir Fortes Menezes Caldas Filho161
RESUMO Vivemos numa sociedade imersa em tecnologias digitais, e nessa perspectiva, torna-se interessante discutir os elementos das mesmas inseridas no contexto da educao. Esse trabalho, vem atravs do relato parcial de um trabalho etnogrfico, trabalhar a perspectiva dessa tecnologias inseridas no currculo da educao, em especial, situando o trabalho no contexto da Faculdade de Educao da Universidade Federal do Cear. Dentro desse contexto, essa pesquisa se justifica como elemento de motivao a discusses sobre como essas tecnologias afetam o currculo da educao. Dentro dela, contem-se um breve relato sobre as entrevistas realizadas com o professores Luis Botelho e Herminio Borges, acerca desse impacto das tecnologias no currculo, e como se deu os primeiros trabalhos envolvendo as tecnologias na UFC. PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias. Currculo. Entrevistas. INTRODUO Nunca se viu em toda a histria da humanidade um perodo de tamanha velocidade na comunicao e desenvolvimento em quase todos os aspectos da sociedade. Em pouco mais de duas dcadas, houve uma massificao na produo e distribuio de artefatos tecnolgicos que em diversos aspectos transformaram a viso de mundo do homem. Preceitos e tradies antigas em muitos lugares j foram substitudos ou adequados nova realidade e convenincia, tudo isso decorrente da popularizao dessas novas mdias digitais. Indstria, comercio e sociedade sofreram um forte impacto e vem mudando aos poucos para se adequar a essa nova realidade, a era da informao e interao. As mudanas contemporneas advindas do uso das redes transformaram as relaes com o saber. As pessoas precisam atualizar seus conhecimentos e competncias periodicamente, para que possam manter qualidade em seu desempenho profissional. (KENSKI. 2007. P.47). E com a escola no tem sido diferente, se percebendo aos poucos, mudanas sutis na mesma. OBJETIVO GERAL A pesquisa realizada aqui tem por objetivo exibir resultados preliminares, de um estudo etnogrfico realizado durante o perodo, e fomentar discusses sobre a utilizao das tecnologias digitais de comunicao e informao (TDICS) no currculo dos cursos da Faculdade de Educao
161
Mestrando em Educao pela Universidade Federal do Cear. Graduado em Sistemas de Informao pela Faculdade 7 de Setembro. Colaborador do laboratrio Multimeios. odmirfilho@hotmail.com
329
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
(FACED) da Universidade Federal do Cear(UFC). Nesta pesquisa, foi-se trabalhada a perspectiva etnogrfica, utilizando levantamento bibliogrfico para situar o mesmo, e seu contexto. Alm de entrevistas, com os professores da linha de Pesquisa de Educao, Curriculo e Ensino: prof. Dr. Lus Botelho Albuquerque, sobre o impacto das tecnologias no currculo, e o prof. Dr. Herminio Borges Neto, em relao ao processo de entrada das TDICS na UFC. Originalmente, foi-se pensado em trabalhar com a perspectiva da Faculdade de Educao da UFC, em relao ao uso das tecnologias digitais na educao a distancia, contudo, devido as circunstancias e respostas dadas pela reviso textual e entrevistas, houve alguns ajustes na mesma. Sendo assim, o foco passou a ser como essas tecnologias se relacionam ao currculo e as praticas curriculares na educao. A Universidade Federal do Ceara, possui diversos projetos relacionados ao uso da tecnologia na educao, mas em especial, a FACED, a Faculdade de Educao, tem, dentro de si, um dos laboratrios pioneiros nesse trabalho, e onde parte importante dessa pesquisa se desenrola. O laboratrio Multimeios, criado com recursos da CAPES e da prpria UFC, trabalha com o uso de tecnologias digirais na educao, realizado atravs do Programa de Apoio Integrao Graduao/Ps-graducao (PROIN, apud HELENA, BORGES, MARIA, P.428), em 1997. Desde ento, tem trabalhado com diversos programas, principalmente relativos a Educao a Distancia. Desde seus primrdios, o laboratrio associou pesquisa, formao, formao do professor a escola publica e de integras tecnologias digitais, educao e produo do conhecimento articulados a proposta e projetos formativos e as politicas pblicas(...)(HELENA, BORGES, MARIA, 2012, P.432). E, descobrir como foi realizado este processo, tornou-se uma dos principais objetivos desse estudo. METODOLOGIA
Entrevista Professor Lus Botelho Pergunta
Como o senhor v o uso das tecnologias na educao? Como na sua viso, se da a relao das novas tecnologias e o currculo? Voc as utiliza de alguma forma em sala de aula?
Objetivo
Observar a viso do professor sobre o uso das tecnologias no processo educacional. Descobrir a relao entre Educao, tecnologia, currculo, e praticas curriculares Perceber como o professor, que no da rea de tecnologias, utiliza-as em meio ao seu processo de trabalho.
Para a realizao deste trabalho foram necessrios a utilizaes de uma metodologia qualitativa e etnogrfica, composta por entrevistas a profissionais de educao, envolvidos com o uso das tecnologias nas praticas curriculares. A pesquisa foi realizada atravs de um levantamento
330
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
bibliogrfico da historia, e de como se deu o processo de adoo e construo do uso de tecnologias na educao na Faculdade de Educao da UFC Como esse trabalho pioneiro se desenrolou, e avanou. Inicialmente foram elaboradas cerca de trs questes bsicas para cada um dos entrevistados, abordando temas pertinentes ao foco da pesquisa. A relao das tecnologias com o ensino, o currculo e as praticas curriculares, com o professor Lus Botelho, e sobre o processo de entrada das tecnologias digitais na FACED para o professor Hermnio Borges. Abaixo seguem as perguntas, e em seguida, os objetivos que intencionalmente deveriam ser adquiridos com elas: Entrevista Professor Hermnio Borges Pergunta Objetivo
Como surgiu o interesse pela rea da tecnologia? Como pensou no seu uso na educao e formao? E como foi o processo de trazer isso para a Faculdade de Educao? E como foi criar o laboratrio Multimeios Descobrir, os motivos que, levaram o professor, que originalmente era da rea de matemtica a interessar-se por esse outro nicho de conhecimento. Revelar os modelos utilizados na formao dos alunos Revelar a trajetria por traz do processo de trazer algo novo, como o uso das tecnologias na educao para a UFC. Descobrir o processo e motivaes por traz da criao do MM.
Devido a limitao de espao, ns tpicos a seguir, ser condensado os principais elementos deste trabalho. DISCUSSO DOS RESULTADOS Comeamos a nossa entrevista com o professor Luis Botelho Albuquerque. Ao iniciarmos as mesmas, foi-se apresentado o contexto da pesquisa, e em especial, que a sua entrevista era principalmente envolvida com o a questo das tecnologias digitais e sua relao com o currculo e a educao especificamente. Num primeiro momento, pediu-se para que ele apresenta-se a sua pessoa e fala-se de sua trajetria como profissional, neste momento, ele acabou incluindo contedos que, dentro de sua participao, refletiram em vrios aspectos das outras questes aqui abordadas, tornando-se desnecessrio algumas das perguntas aqui propostas, j que a maioria foi contemplada por sua explanao inicial. Dessa sua entrevista, no foi possvel transcrever em suas palavras, o que foi dito, pois, em cerca de quase 1 (uma) hora de relatos, algumas informaes repetiram-se e outras ocupavam demasiado espao para caberem neste resumo. Em sua explanao, o professor aponta para diversas vantagens e desvantagens em relao ao uso das tecnologias nas praticas curriculares e no currculo. Entre suas principais contribuies, para com o trabalho esto definies sobre o que o currculo, sobre como trabalhado e feito o recorte no leque de conhecimentos existentes afim de form-lo (BOTELHO, 2013). Inclusive, ele aponta em direo a uma forte mudana no modo como vemos a escola em geral. Pois, a
331
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
tecnologia hoje garante o acesso rpido ao conhecimento, que a tempos atrs era impossvel de obter-se sem o acesso atravs de uma instituio: a escola. Contudo, surge com isso uma preocupao sobre como o estudante apresentado a essas informaes, e que critrios ele usa em suas buscas e o principal, como ele utiliza essas informaes. Pois, mesmo que tenha acesso a qualquer contedo, ele mesmo, por si s, raramente tem direcionamento para o que estudar, e principalmente, disposio a estudar aquilo, sem que algum esteja mandando que o faa. Falta foco para que o aluno possa ser um estudante autnomo. No segundo momento deste trabalho, tivemos uma entrevista com o professor dr. Herminio Borges Nego. Que em suas palavras, falou sobre seu trabalho e interesse em unir a tecnologia com a educao. E dentro deste processo, o surgimento do laboratrio de pesquisa Multimeios, e seu impacto para a Faculdade de Educao da UFC, com o trabalho pioneiro em utilizar as TDICs na educao. Nele, relatada a dificuldade para mostrar que o uso de Tecnologias na Educao era eficaz e traria avanos para a universidade, e para os alunos. Dificuldades essas, que com um grande esforo, foram aos poucos sendo superadas, e substitudas pela solidez do trabalho de quem passou pelo laboratrio Multimeios(BORGES, 2013). O professor tambm aponta para as enormes dificuldades dos profissionais em enxergarem e desenvolverem uma habilidade com as tecnologias digitais, de informao e comunicao. Essas dificuldades de utilizao e validao fazem parte intrnseca da dificuldade se atrelar as tecnologias ao conhecimento de forma sustentvel, e que para o seu bom funcionamento torna-se necessrio adaptaes fortes no modelo de ensino. Pois muitos professores tem dificuldades de adequar-se a tecnologias, que muitas vezes eles no conhecem ou no tem qualquer interesse em trabalhar. CONSIDERAES FINAIS Este trabalho, tentou, dentro do presente corpo, retratar os principais elementos do trabalho etnogrficos realizado. Contudo, devido ao limite de espao, no tornou-se possvel, retratar as respostas, tais quais foram captadas. Mas espera-se realizar um estudo futuro, onde possa publicar as mesmas em sua integra, e ser possvel um estudo aprofundado sobre as questes das TDICS no Currculo e Prticas Curriculares. Foi tentado realizar o melhor recorte possvel das entrevistas, esperando fomentar discusses a cerca do uso de tecnologias na educao. Ainda existe uma resistncia da Academia, que no geral, discute superficialmente esse tema. Devido a diversos fatores, como desconhecimento da rea de trabalho, desinteresse como supracitado, e outros elementos administrativos e pedaggicos. Contudo, no podemos esquecer, que a prpria Universidade Federal do Cear, tem um papel de pioneirismo, com a utilizao das TDICS na Educao. E, diversos estudos vem sendo realizados por vrios membros de seu corpo Docente, e discente. REFERNCIAS
332
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
1.CASTELLS, M. A era da informao: economia, sociedade e cultura. So Paulo: Paz e Terra, 1999 (Volume 1). Prlogo e Captulo 1. 2.KENSKI, V. M. Educao e tecnologias: o novo ritmo da informtica. Campinas: Papirus, 2007 3. TADEU da Silva, T. Documentos de identidade: uma introduo s teorias de currculo. Belo Horizonte: Autntica, 2003. 4. BORGES Neto, H. Uma classificao sobre a utilizao do Computador pela escola. Verso reelaborada a partir do trabalho apresentado no Simpsio "Novas abordagens da comunicao pela escola: a sala de ala adequada como processo comunicacional" ao XI ENDIPE. Disponvel em: <http://www.multimeios.ufc.br/arquivos/pc/pre-print/Uma_classificacao.pdf>. Acesso em 24/01/2013. 5. BORGES Neto, H.; SANTOS Junqueira Rodrigues, E. O que incluso digital? Um novo referencial terico. Linhas Crticas, vol. 15, nm. 29, pp. 345-362 Universidade de Braslia- Brasil. 2009. 6. ANTUNES, V. A Cultura tecnolgica e a escola. Site Farias Brito. 2012 Disponvel em: http://www.fariabrito.com.br/artigos/a-cultura-tecnologica-e-a-escola. Acesso em: 17 de janeiro de 2013. 7. HELENA, B.O.M.M., BORGES, H.N., MARIA, S. C. B. Uma breve historia do Laboratrio Multimeios: Seu Percuso Formatico e Princpios Teriocos-metodolgicos. 427439. Coleo Historia da Educao. Fortaleza. Edies UFC. 2012. 8. ROMANELLI, G. org: Dilogos Metodolgicos sobre pratica de pesquisa/ Org. Geraldo Romanelli Zlia M. Biasoli-Alves. Ribeiro Preto: 178p. il; 22cm 9. BORGES Neto, H. . Em entrevistas gravadas ao autor do trabalho.(2013) 10. BOTELHO Albuquerque, L. Em entrevistas gravadas ao autor do trabalho.(2013)
333
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
PRTICAS PEDAGGICAS UTILIZADAS PELO PROFESSOR TUTOR EM CURSO DE ESPECIALIZAO DISTNCIA
Ana Paula Pinto Bastos
162
RESUMO Esta anlise fruto de uma pesquisa sobre o trabalho do professor tutor. Seu trabalho virtual realizado nos cursos de Graduao e Especializao de fundamental importncia para a mediao e interao, com o aluno que chamado de cursista na Educao e Ensino Distncia. Sua participao sempre prxima do Professor elaborador dos contedos da disciplina chamado em algumas instituies de Professor Conteudista. Devido velocidade com que as informaes acontecem, cada vez mais surge a necessidade da sociedade se adequar s necessidades da empregabilidade. E assim sendo, o ensino distncia veio para auxiliar o aluno que no teve maiores oportunidade de um curso presencial e ainda a superao da distncia que s vezes torna-se empecilho para parte da populao. A anlise traz uma reflexo sobre a fundamental importncia das prticas pedaggicas do professor tutor na realizao da interao e mediao no curso de Especializao em Gesto Pblica Municipal da UNILAB/ Universidade da Integrao Internacional da Lusofonia Afro-brasileira em Redeno-Cear. Palavras chaves: Ensino Distncia. Professor Tutor. Tecnologia. INTRODUO Com a nova LDB-Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional, 9.394/96, a EaD, Educao Distncia passou a ser mais conhecida, com um avano no ensino e com novas modalidades, entre elas, cursos semipresenciais e distncia, de graduao e ps-graduao ofertados por diversas instituies pblicas e privadas. A sociedade pode ser caracterizada pela rapidez e abrangncia de informaes, onde a realidade do mundo atual exige um novo perfil de profissional e de cidado que coloca para a educao ou para a escola, novos desafios. Nesse contexto, a internet (rede mundial de comunicao via computadores), pode oferecer um grande nmero de possibilidades de uso, sobretudo no campo da educao distncia. Assim sendo, o objeto de estudo refere-se s prticas pedaggicas utilizadas pelo professor tutor em curso de Especializao Distncia. A anlise tem como questo norteadora o seguinte questionamento: A prtica pedaggica utilizada pelo professor envolve que tipo de saber? Surgindo a partir da, outros questionamentos como: Ser que o saber do professor tutor contribui para a aprendizagem do Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente/UFC, Especialista em Gesto Escolar/UECE, Coordenadora de Tutoria no curso de Especializao em Gesto Pblica Municipal/UNILAB e Professora da Rede Estadual na rea de Cincias Humanas. E-mail: anapaula_326@hotmail.com
162
334
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
cursista da Educao Distncia? O trabalho justifica-se pela experincia prpria vivenciada como tutora distncia na UFC-Universidade Federal do Cear em dois cursos de Especializao: Gesto Escolar (Polo de Itapipoca) e Coordenao Pedaggica (Polo de Santa Quitria). E tambm devido importncia fundamental da figura do professor tutor como mediador entre o aluno (cursista) e o professor conteudista, assim chamado por alguns autores. Apresentamos algumas categorias consideradas importantes relativas ao trabalho do tutor de um curso de Especializao distncia: ensino distncia; professor tutor e domnio da tecnologia. No que se refere ao ensino distncia, este possui particularidades que o diferencia do ensino presencial e envolve, alm do professor, outros agentes que desempenham papel relevante no processo de ensino, tais como o tutor (SARMENTO e FOSTER, 2006). O papel do professor tutor muito importante na educao distncia. Ele um facilitador da aprendizagem, um elemento chave no acompanhamento do desenvolvimento do trabalho do professor, nas atividades individuais e coletivas do curso. Sua principal tarefa orientar e motivar cada aluno . Mediar, acompanhar, apoiar, manter, estabelecer, colaborar e participar so aes que devem fazer parte do trabalho desse profissional. Ainda podemos dizer que o trabalho do professor tutor viabiliza o dilogo fundamental entre as guias de estudos e seus alunos. Apesar dessas guias elaboradas pelos especialistas, para estabelecer uma ligao prxima e agradvel entre contedos e professores, sobretudo perpassa pela mediao do tutor, que se d uma interlocuo capaz de desfazer uma possvel ideia de impessoalidade.
164 163
A tecnologia considerada por Andr Lemos (2002), fruto de incmodo pessoal que se traduz pela necessidade de se compreender o fenmeno tcnico. Este incmodo vem da mistura de medo e fascinao que as novas tecnologias exercem sob as pessoas. O autor analisa os impactos desses processos na sociedade contempornea atravs da descrio da nova cultura planetria que segundo o autor chama-se cibercultura. A internet j hoje um fenmeno hegemnico que vem ganhando cada vez mais espao no cotidiano e na noo das esferas sociopolticas. Entrando na cibercultura, surge o ciberespao...
, enquanto forma tcnica, ao mesmo tempo, limite e potncia dessa estrutura social de conexes tcteis que so as comunidades virtuais (chats, muds e outras agregaes eletrnicas). Em um mundo saturado de objetos tcnicos ser nessa forma tcnica que a vida social vai impor o seu vitalismo e reestrutur-la. As diversas manifestaes contemporneas da cibercultura podem ser vistas como a expresso quotidiana dessa vida "tecnicizada" que se rebela contra as formas institudas e cristalizadas. (LEMOS, 1983)
A temtica da anlise importante, pois traz realidade do ensino, reflexes sobre o papel do professor tutor como mediador do processo de ensino distncia. E ainda poder proporcionar ao sujeito pesquisado a apropriao das mudanas que podem surgir como significao ou resignificaes de mundo.
UNITINS Fundao Universitria do Tocantins. Endereo: www.unitins.br/artigo visualizar aluno.aspx?id=NAAxADIANO=&cod=388 164 TVE http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt4c.htm
163
335
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
OBJETIVO GERAL Este artigo tem como objetivo geral, analisar as prticas utilizadas pelo professor tutor distncia no acompanhamento pedaggico no curso de Especializao em Gesto Pblica Municipal da UNILAB-Universidade da Integrao Internacional da Lusofonia Afro-brasileira em Redeno Cear. De maneira especfica procura identificar os saberes do professor tutor distncia em seu trabalho online e observar sua mediao com relao disponibilidade e acompanhamento s atividades do aluno (cursista). METODOLOGIA A pesquisa faz uma investigao do perfil de desempenho da prtica pedaggica do tutor que est inserido no curso de Especializao em Gesto Municipal da Unilab em Redeno-Cear. Inicialmente buscou-se identificar a formao de cada tutor, onde encontramos uma diversificao entre elas: geografia, direito, professores, assistente social, administrao e arquitetura. Os sujeitos investigados foram oito (08) do curso vigente de Especializao citado anteriormente. Assim sendo, foi realizado inicialmente um estudo bibliogrfico e uma pesquisa de campo de cunho qualitativo para uma apreciao sobre ensino distncia, tutoria e tecnologia. Conforme destaca Ldke e Andr (1986 p. 123), a pesquisa qualitativa abrange a aquisio de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador e situao estudada, consequentemente ressalta mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos partcipes. Foram aplicados os questionrios de forma online e depois impressos, levando em considerao que os tutores esto em plena atividade de tutoria no curso supracitado (podendo a pesquisa ser considerada como pesquisa-ao). Recorrendo s palavras de Ghedin (2002, pg 141), sobre pesquisa ao, o que fazemos no se explica pelo como fazemos: possui sentido diante dos significados que lhe so atribudos. Por isso, podemos dizer que a pesquisa ao um processo que procura transformaes e ressignificaes ao que fazemos. Esse trabalho de campo envolveu oito questionrios aplicados a oito tutores, um do sexo masculino e sete do sexo feminino entre 30 e 57 anos de idade. Os sujeitos esto inseridos em polos diferentes como Redeno, Limoeiro do Norte, Aracoiaba e So Francisco do Conde no Estado da Bahia. O instrumental aplicado foi um questionrio com seis perguntas quatro com opes de livre escolha e duas com sugesto de respostas subjetivas. DISCUSSO DOS RESULTADOS No que se refere formao dos sujeitos envolvidos, consideramos importante apresentar algumas caractersticas especficas como a formao de cada um. A tutora de nmero 1 graduada em Servio Social, Especialista em Organizaes do Terceiro Setor (polo de Redeno-Ce), a de nmero 2, Mestre em Arquitetura e Urbanismo (polo de So Fc do Conde-Ba), a de nmero3, Gegrafa e Especialista em Metodologia do Ensino (polo de Redeno-Ce), a de nmero 4, graduada em Secretariado Executivo (polo de Redeno-Ce), a de Nmero 5, Especialista em Gesto Educacional (polo de So Fc do Conde-Ba), a de nmero... 6, graduada em Geografia (polo de Redeno-Ce), a de nmero 7, graduada em letras (polo Aracoiaba-Ce) e por ltimo o de mero 8, afirmou ser advogado (polo de Limoeiro do Norte-Ce).
336
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
Com relao s caractersticas de um bom professor tutor, segue a contribuio de alguns sujeitos envolvidos na pesquisa, onde podemos destacar as mais significativas. Vale ressaltar que a numerao apresentada abaixo fidedigna sequncia de cada sujeito do questionrio respondido, abordado na metodologia. O tutor 1- considera que
Um bom tutor deve estar disponvel para atender os estudantes nas suas necessidades, com agilidade, segurana e educao, utilizando uma linguagem apropriada e respeitando as diferenas de opinies e os questionamentos dos alunos. fundamental que o tutor seja tico, tenha compromisso com a instituio e com o curso, tenha facilidade de expresso e saiba se relacionar e se comunicar com todos os envolvidos.
O tutor 2- afirma ser importante
Disponibilidade de tempo para avaliar as atividades e o aprendizado; capacidade de entendimento das dificuldades de aprendizagem particulares a cada aluno; polidez no trato com o aluno e boa capacidade de comunicao utilizando-se dos maios prprios da EaD.
O tutor 3- concorda em
Assumir compromisso/ser comprometido com o trabalho. A motivao permite que o tutor desempenhe melhor o papel ou seja, o tutor trabalha com mais entusiasmo.
O tutor 4- lembra que preciso ter
Disposio para ajudar, pois a maioria dos alunos nunca estudou pela plataforma e necessita de muita ajuda. Manter-se motivado de extrema importncia, pois podemos envolver os alunos no processo de aprendizagem com maior fluidez.
A contribuio do tutor 7- refere-se s prticas realizadas pelo professor tutor e afirma que importante
Ser comunicativo, estar atento s solicitaes dos alunos, tentar ajud-los nas suas dificuldades, ser justo na correo das tarefas e ter conhecimento mnimo das Disciplinas. Estar motivado uma condio essencial, gostar do que faz, e passar segurana para os cursistas.
No que concerne qualidade na interao entre professor tutor e aluno, foi considerado pelos sujeitos em sua maioria, participar ativamente dos cursos de formao para o aprofundamento terico relativo aos contedos trabalhados nas diferentes reas, bem como participar tambm dos encontros presenciais. Isso denota o grau de preocupao por parte deles, com essa questo crucial no desenvolvimento do trabalho virtual. Percebemos que alm do grande interesse pelo aprendizado do aluno, o tutor deve criar mecanismos ou subsdios de monitoramento do seu desempenho, principalmente para evitar negligenciamento por parte desse aluno no cumprimento das atividades. Confirmando-se a pressuposio de que um bom professor tutor consegue manter o interesse do aluno da educao distncia apresentando um nmero nfimo de perdas e desistncias. Dessa forma, criar meios de correspondncias atravs de pequenos fruns, chats, utilizao de ferramenta wiks, informar aos alunos seu desempenho atravs de planilhas, grficos, etc. Esses exemplos configuram um monitoramento adequado com avaliao do processo
337
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
que possibilitam ao tutor a confirmao ou tranquilidade de seu dever cumprido com esforo e empenho mximo nas tentativas de evaso e abandono por parte de alguns cursistas (alunos). CONSIDERAES FINAIS Com as mudanas culturais, cientficas e tecnolgicas no podemos prever quais sero os conhecimentos acumulados e necessrios para viver em sociedade dentro do mundo do trabalho em tempos futuros. Percebe-se que com os estudos realizados, o trabalho do professor tutor no ambiente virtual de aprendizagem vai sendo cada vez mais utilizado nos cursos e a busca para a melhoria do trabalho de mediao procura uma maior qualidade atravs do enfoque nos saberes desse profissional. Numa reflexo permanente sobre a ao, podemos dizer que esse aspecto um processo coletivo que envolve para o professor tutor e seus saberes: instrumentos de reflexo, de autoformao, potencializaes do desempenho individual e coletivo. E aps toda a discusso, anlise, e reflexo, se caminha para a contextualizao e construo dos saberes, num processo dialtico com transformao dos agentes envolvidos. REFERNCIAS BARBIER, R. A pesquisa ao. Braslia; Plano, 2002. Educao e Pesquisa. So Paulo. V. 31, n 3, p 483-502, set-dez, 2005. ELLIOT, J. Recolocando a pesquisa-ao em seu lugar original e prprio, In: Geraldi, C.M.G. & Fiorentini, D. & Pereira, E. M. A. (orgs). Cartografia do Trabalho docente. Campinas: Mercado das letras, 1998, p. 137 -152. GEDHIN, E. Professor reflexivo: da alienao, da tcnica autonomia da crtica. In: PIMENTA. S. G. e GHEDIN, E. (orgs). Professor Reflexivo no Brasil: gnese e crtica de um conceito. So Paulo: Cortez, 2002, p 129 -149. LEMOs, A., La Culture Cyberpunk, Le Cauchemar de la Modernit., in Congrs International de Sociologie, Paris, Sorbonne, 1993. LUDKE, Menga & Andr, Marli. Pesquisa em Educao: Abordagens qualitativas. So Paulo: EPU, 1986. SARMENTO, Vera L. P. & FOSTER, J. Diretrizes para a qualidade do desempenho em tutoria distncia. Manual do tutor, UFA, Janeiro/2006. TVE http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt4c.htm http://mail-attachment.googleusercontent.com/atta UNITINS Fundao Universitria do aluno.aspx?id=NAAxADIANO=&cod=388 Tocantins. www.unitins.br/artigo visualizar
338
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
FORMAO INICIAL DE PROFESSORES PARA UTILIZAO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAO E COMUNICAO (TDIC) NO ENSINO: ALGUNS DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE
Jaiza Helena Moiss Fernandes
165
RESUMO Este artigo objetiva refletir sobre os desafios da formao inicial de professores para insero das TDIC na educao diante das demandas educacionais emergentes luz de tericos da educao que advogam em favor do uso dessas tecnologias no ensino. A metodologia que norteou o estudo, a pesquisa exploratria bibliogrfica. As polticas pblicas de informatizao das escolas no apresentaram os resultados esperados, sobretudo, por conta da falta de formao de professores. Levy (1999) advoga em favor do uso da internet, pois ela amplia os processos cognitivos, a percepo, a imaginao, a memria, o raciocnio e etc. Moraes (1997) e Valente (2005) pontuam que o uso das tecnologias e suas redes interativas rompem com prticas de ensino cartesianas, fragmentadas. Dias (2012) e Passos (2012) abordam projetos de incentivo a docncia sem perderem de vista os saberes mltiplos necessrios construo da identidade e da autonomia do professor. Enfatiza-se a importncia do Programa LIFE, como uma proposta inovadora que coaduna com as demandas de formao para uso das TDIC no ensino contemporneo. Por fim, ressalta-se a relevncia da ampliao das polticas de formao, visto que, as atuais atendem a um nmero reduzido de professores na formao inicial. PALAVRAS-CHAVE: Formao inicial, Tecnologias digitais, polticas de formao. INTRODUO O desenvolvimento tecnolgico ampliou os avanos das Tecnologias Digitais da Informao e Comunicao (TDIC), especialmente, o computador e a internet. A internet e sua rpida expanso a partir dos anos de 1995 revolucionou o mundo, criando novas formas de comunicao e interao. A sociedade transforma-se, torna-se cada vez mais digital, criando novas formas de gerar, produzir e distribuir informao e conhecimento. Para Canclini (2008), as tecnologias digitais, a internet, traz baila a figura do internauta, agente multimdia que l, ouve e combina recursos diversos e que essa integrao de linguagens redefiniu o papel e a autonomia da escola no campo educacional. E mais, a escola v reduzir-se sua influncia, pois as mdias de massa, a comunicao digital e eletrnica ampliaram os espaos de acesso aos saberes e a formao cultural. Os jovens adquirem nas telas extracurriculares uma Mestranda em Educao Brasileira (LECE/UFC), graduada em Pedagogia (UECE) e Linguagens e Cdigos (UFC/Portugus-Ingls), especialista em Planejamento Educacional (UNIVERSO) e Mdias na Educao (UFC Virtual), professora da rede estadual e municipal de ensino de Fortaleza. E-mail: jahmfernandes@yahoo.com.br
165
339
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
formao mais ampla em que conhecimento e entretenimento se combinam. Tambm se aprende a ler e a ser espectador sendo telespectador e internauta. (p. 24). Percebe-se que essas mudanas apontam na direo da escola, espao de aquisio do conhecimento, exigindo dela e do professor mudanas no sentido de integrar as tecnologias da informao s atividades de sala de aula. Contudo, as polticas educacionais de informatizao das escolas brasileiras, como o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) implantado em 1997; reformulado em 2007, o PROINFO Integrado no deram conta de inserir as TDIC no ensino como esperado. O no sucesso desses programas est associado falta de acompanhamento tcnico e pedaggico dessas polticas e, sobretudo, a no formao dos professores. Essa afirmao se baseia em nosso acompanhamento cotidiano, enquanto professora da rede pblica inserida nesse processo e em resultados de pesquisas apresentadas por pesquisadores do Brasil e do mundo, cujas prticas no so muito diferenciadas. Fantin e Rivoltella (2012) ao realizarem pesquisas com professores em Milo e Florianpolis sobre o uso das mdias no ensino, concluram que os recursos digitais estavam nas escolas, mas os professores no os utilizavam no ensino de forma sistemtica. Esses professores apontaram como dificuldades para o no uso, nos dois contextos, questes relacionadas falta de conhecimentos especficos para trabalhar as mdias com os alunos. Em Fortaleza, Gomes (2007) ao realizar pesquisas com professores da educao bsica que tinham laboratrios de informtica instalados em suas escolas, com computadores conectados a internet, percebeu que esses recursos eram subutilizados na escola tambm pela falta de formao dos professores. Se um dos grandes problemas identificados no cenrio escolar para insero das tecnologias no ensino a questo da formao de seus docentes entendemos que a formao para o uso das TDIC na escola deve ocorrer na formao inicial. A partir dessa problemtica, elaboramos o seguinte questionamento: Quais so os desafios da formao inicial de professores para uso das Tecnologias Digitais da Informao e Comunicao no ensino contemporneo? OBJETIVO GERAL Refletir sobre os desafios da formao inicial de professores para insero das TDIC na educao diante das demandas sociais e educacionais emergentes luz de tericos da educao que pesquisam e advogam em favor do uso dessas tecnologias digitais no ensino. METODOLOGIA A metodologia que norteou este estudo, a pesquisa exploratria bibliogrfica, subsidiada por livros e artigos publicados em Anais de eventos cientficos. Tambm foi significativo, visitas ao portal da Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior (CAPES) e Associao Nacional de Ps-graduao e Pesquisa em Educao (ANPED) visando identificar estudos e pesquisas sobre a formao inicial de professores para utilizao das TDIC no ensino. DISCUSSO DOS RESULTADOS Consideramos que as reflexes acerca da formao inicial de professores para o uso das TDIC no ensino para uma melhor compreenso da problemtica por parte dos professores, alunos
340
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
e academia so relevantes, uma vez que, estudos cientficos acerca dessa formao so necessrios. Como vimos os projetos de informatizao das escolas no corresponderam ao esperado por conta da m formao inicial dos professores e no investimentos na formao continuada. Os professores acabam reproduzindo em sala de aula a formao recebida, embora no discurso reconheam a importncia das TDIC no ensino. Levy (1999) um grande pesquisador da relevncia do uso da internet, o ciberespao, no ensino e assim se posiciona:
O ciberespao suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funes cognitivas humanas: memria (bancos de dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de todo o tipo), imaginao (simulaes), percepo (sensores digitais, telepresena, realidades virtuais), raciocnios (inteligncia artificial, modelizao de fenmenos complexos). (LEVY, p.157)
Levy, portanto, nos apresenta uma multiplicidade de aspectos significativos da formao humana que podem ser desenvolvidos quando o professor utiliza a internet de forma interativa, desafiadora, integrativa, colaborativa e criativa. Estas so prticas que coadunam com a realidade emergente, na qual professores e alunos esto inseridos, exigindo-lhes novas formas de ser, conhecer, conviver, pensar, fazer e estar no mundo. Nessa perspectiva, Valente (2005) afirma que o uso do computador deve ser inserido de forma planejada, tanto no currculo de formao do professor, como na matriz curricular do aluno. Para o autor, o computador contribui para o processo de transio de um sistema de ensino fragmentado para uma abordagem integradora de contedo e voltada para a resoluo de problemas. Da mesma forma, Moraes (1997) enfatiza que o grande desafio que se coloca para a formao do professor a proposio de um ensino integrador, interdisciplinar em detrimento do ensino fragmentado e sem uma prtica dialgica. Moraes, em consonncia com os outros autores, aponta o conhecimento distribudo em rede como uma das caractersticas fundamentais do paradigma emergente. Para que a integrao das TDIC acontea na escola, conforme as demandas da sociedade, a escola precisa assimilar as mudanas culturais que a sociedade vivencia com o uso do computador e da internet. A escola, portanto, desafiada a fazer uso de ferramentas de interao e produo que corroboram para a construo do conhecimento de forma autoral, uma vez, que os alunos j conhecem, utilizam e se identificam com os recursos digitais. Os professores precisam de uma formao que contemple, dentre muitos outros saberes, os conhecimentos didticos, pedaggicos e tecnolgicos. (Valente, 2005). Ampliando as discusses, Dias (2012) ao abordar a questo do ser professor e das polticas de formao docente no ensino superior, enfatiza a importncia das contribuies do exerccio da monitoria como uma prtica de iniciao a docncia a partir de sua estreita relao com o Projeto Poltico-Pedaggico. Para a autora, a docncia uma atividade bem mais complexa porque envolve o conhecimento sobre a relao professor-aluno, sobre questes metodolgicas, sobre planejamento (de aulas, de cursos), sobre a utilizao de novas tecnologias no ensino, sobre avaliao. (P. 9). E mais: Ser professor exige saberes, conhecimentos, competncias e habilidades que prescindem de uma formao especfica.. (p. 11). Passos (2012), por sua vez, apresenta a importncia do Programa Institucional de Iniciao Docncia (PIBID) para a aproximao da universidade da realidade da escola,
341
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
permitindo aos bolsistas prticas que contribuem para a formao crtica e reflexiva dos professores em formao. Ressalta ainda, a relevncia da prtica reflexiva e crtica do professor de forma contextualizada para o desenvolvimento de sua identidade e autonomia. Dentre as polticas pblicas de formao inicial de professores, tendo em vista a valorizao do magistrio, o fomento a projetos de estudos, pesquisas e extenso tem sido ampliados, a exemplo, a monitoria na docncia do ensino superior foi abordada por Dias. Dentre outros programas de incentivo a docncia, o governo federal por intermdio da CAPES est financiando 74 projetos em Universidades de todo pas para implantao de Laboratrios Interdisciplinares de Formao de Educadores (LIFE). O Objetivo do projeto promover a interao, colaborao, trabalho coletivo e interdisciplinar com alunos de diversas licenciaturas para o desenvolvimento de metodologias e recursos didticos com o uso das TIC para serem implementados no ensino da educao bsica de maneira inovadora. (CAPES, 2012). Percebe-se que os projetos de formao inicial abordados como forma de valorizao do magistrio e oferta de uma formao que coaduna com os desafios da complexidade da contemporaneidade so bastante relevantes e, certamente, rompem com o ensino cartesiano, linear, fragmentado, sem reflexo e sem exerccio da criatividade e da autoria. Contudo, essas polticas de incentivo docncia so pontuais, contemplam um nmero reduzido de licenciandos. CONSIDERAES FINAIS As reflexes tecidas neste texto atravs da pesquisa e do dilogo com os autores em torno da formao inicial de professores para utilizao das TDIC no processo de formao e de ensino apontam como desafios para essa formao, prticas que considerem o mundo em mudanas e as mudanas no paradigma educacional, que demandam uma formao aberta, flexvel, interdisciplinar, interativa, crtica e criativa. Certamente, uma formao de professores com essas caractersticas reificaro na sala de aula prticas inovadoras e eficazes. Destarte, se torna indispensvel utilizao das TDIC na formao inicial do professor e no ensino bsico, visto que, o uso das TDIC parte da cultura social. Avanos j esto acontecendo com programas de incentivo docncia no mbito da formao inicial, como por exemplo, o Programa LIFE. Contudo, programas desse porte so polticas que demandam ampliao de forma que sejam extensivos a todos os professores no contexto da formao inicial. REFERNCIAS CANCLINI, N. G. Leitores, espectadores e internautas; traduo Ana Goldberger. So Paulo: Iluminuras, 2008. DIAS, A. M. I. Ser Professor (a) Universitrio (a): monitoria, poltica e programas institucionais de formao docente. XVI ENDIPE, UNICAMP, Campinas, 2012. http://www2.unimep.br/endipe/2088b.pdf Acessado 13/07/2013
FANTIN, M; RIVOLTELLA, P.C. Cultura Digital e formao de professores: usos da mdia, prticas culturais e desafios educativos. In: FANTIN, M; RIVOLTELLA (Orgs.), Cultura Digital e escola: Pesquisa e formao de professores. Campinas, SP: papiros, 2012.
342
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
GOMES, R. O. A. Aprendizagem e ensino com software livre: pesquisa e interveno na formao de professores. Dissertao. Fortaleza, UECE, 2007. http://www.uece.br/ppge/documentos/dissertacoes/turma2005/dissertacao_turma2005_olimpia.pdf Acesso 20/03/2013 LVY, Pierre. Cibercultura. 34 ed. So Paulo, 1999. MORAES, M. C. O Paradigma Educacional Emergente. Campinas, SP: Papirus, 1997. PASSOS, C. M. B. Contribuies do PIDIB para a formao docente. XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didtica e Prticas de Ensino, UNICAMP, Campinas, 2012 http://www2.unimep.br/endipe/2088c.pdf Acesso 12/07/2013. VALENTE, A. Educao a distncia via Internet. Campinas, So Paulo: AverCamp Editora, 2005. SITES: http://www.anped.org.br/ http://www.capes.gov.br/
343
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
EDUCAO A DISTNCIA NO CONTEXTO DAS FORAS ARMADAS E DAS INSTITUIES DE SEGURANA PBLICA
Cassandra Ribeiro Joye
166 167
Lourdes Losane Rocha de Sousa Marilia Maia Moreira
168
RESUMO O artigo pretende abordar as perspectivas atuais de formao do profissional das reas militares no Brasil e mais especificamente da segurana pblica a partir da modalidade de educao a distncia notadamente no contexto da Polcia Militar do Piau. A investigao permitiu identificar numa primeira etapa que h uma capilarizao dessa modalidade de educao no mbito das foras armadas e das instituies de segurana pblica tanto a nvel nacional, quanto atravs de inciativas formativas das instituies estaduais de segurana pblica dos diversos estados da federao. Que os cursos oferecidos de forma regular totalmente online ou semi-presenciais direcionam-se mais especificamente para o processo de formao continuada e que a concentrao dos contedos curriculares abrangem reas tericas que fundamentam as prticas desses profissionais. Palavras-chave: formao profissional, educao a distncia, segurana pblica, foras armadas. INTRODUO A modalidade de educao a distncia tem sido amplamente discutida no mbito das pesquisas nos diversos nveis e modalidades de ensino do sistema educacional brasileiro. Porm, no que diz respeito aos desmembramentos, abrangncia, influncia no contexto da formao profissional as lacunas so considerveis. H que se destacar que essa modalidade atualmente tem se ampliado para as mais diversas reas: sade, educao, corporativa, formao para preveno s drogas, formao superior, justia, entre outras. Essa ampliao se d em especial pelos avanos em relao s tecnologias da informao e da comunicao principalmente com o advento da internet. Santom (2013, p. 22) nos indica as possibilidades dessa modalidade de ensino ao afirmar que:
166 Doutora em Educao pela UFSC, Diretora de Educao a Distncia do IFCE, Professora do Programa de ps-graduao em Educao Brasileira da Universidade Federal do Cear. Email: Cassandra@ifce.edu.br. 167 Doutoranda em Educao Brasileira pela UFC, Mestre em Educao pelo programa de Ps-graduao em Educao da Universidade Federal e Cear. Linha Educao, currculo e ensino. Eixo: Tecnologias digitais na Educao; Email: lourdesousa@yahoo.com.br 168 Graduada em Licenciatura em Matemtica (IFCE), Especialista em Ensino de Matemtica (UECE), e aluna do Mestrado da ps-graduao em Educao Brasileira da UFC. Email: marilia.maiamm@gmail.com
344
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
As plataformas interativas possibilitam trabalhar com modelos de ensino e aprendizagem colaborativos, ao mesmo tempo em que permitem aos alunos o acesso a um ambiente mais rico e variado de materiais informativos e didticos. Elas tambm contribuem para que cada estudante possa trabalhar no seu ritmo e nos momentos do dia que preferir; interagir com seus colegas e professores com maior flexibilidade horria, etc.
A preocupao com o processo de formao profissional se estende as mais variadas reas quer nas instituies pblicas ou privadas, esse espectro de possibilidades que o modelo da EAD possibilita enquanto espao formativo tem sido considerado tambm como caminho possvel no mbito dessas instituies. A imagem que comumente se forma no imaginrio social da formao policial esta bem representada nas cenas do filme Tropa de elite, marcado pela verbalizao com aes de presso psicolgica e com excessiva realizao de exerccios fsicos. Que outras possibilidades poderiam estar sendo desenvolvidas para alm dessa sala ou dessa escola formativa que caracteriza de forma to significativa a formao desses profissionais? Que modelos formativos vm sendo desenhados e realizados nesse contexto j que uma rea que exige uma formao prtica dadas as peculiaridades inerentes aos cargos que sero exercidos por seus agentes: tiro policial, abordagem policial, identificao veicular, entre outros? Como as instituies que integram as foras armadas: Marinha, Exrcito e Aeronutica e a Segurana Pblica (Polcia Militar, Polcia Civil e Corpo de Bombeiros) tem recorrido a essa modalidade de educao? Essas so algumas das questes preliminares que nortearam a pesquisa, ainda em curso e a elaborao dessa primeira etapa investigativa que se pretende ampliar na busca de construir um quadro analtico da modalidade de educao a distncia no contexto das foras armadas e das instituies de segurana pblica a fim de compreender suas possibilidades educativas para alm do cenrio da formao em outras reas e das demais formaes voltadas para o cenrio corporativo. OBJETIVOS GERAIS O objetivo do estudo consistiu em identificar as perspectivas atuais de formao do profissional das reas militares no Brasil e mais especificamente da segurana pblica a partir da modalidade de educao a distncia notadamente no contexto da Polcia Militar do Piau a fim de compreender como tem se dado esse movimento de formao desses agentes com suporte na modalidade de EaD. METODOLOGIA DE PESQUISA Como percurso metodolgico do estudo optou-se por desenvolver um estudo de natureza terica. Como primeira etapa metodolgica realizou-se uma investigao nos principais sites das Foras Armadas brasileiras e da Secretaria Nacional de Segurana Pblica (SENAP) a fim de identificar nas pginas eletrnicas dessas instituies referncias quanto a oferta de cursos, a existncia de centros de EaD ou ainda de parcerias para sua oferta com instituies pblicas ou privadas. Paralelamente foi realizada uma busca nos principais repositrios de peridicos, bancos
345
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
de teses e dissertaes na busca de identificar produes acadmicas e cientficas (artigos cientficos, teses e/ou dissertaes) relacionadas ao tema. A partir dos resultados relativos a essas duas primeiras etapas nos foi possvel desenvolver preliminarmente um anlise dos resultados encontrados a partir das consideraes dos tericos da rea. DISCUSSO DOS RESULTADOS O levantamento nos sites da Marinha, Exrcito e Aeronutica revelou que as trs instituies ofertam formao continuada com auxlio da modalidade de educao a distncia. No mbito da Marinha do Brasil o atual Centro de Ensino a Distncia, foi implantado em 1995 como Ncleo de Educao a Distncia (NEaD) vinculado ao Departamento de Ensino Nutico ofertando poca seus cursos por correspondncia. Atualmente houve uma ampliao de Ncleo para Centro, Centro de Ensino a Distncia, no site constam 18 cursos ofertados dentre eles: Aperfeioamento para martimos seo convs, Curso Expedito de atendimento ao pblico externo, Curso especial de segurana em operaes de carga em navios Petroleiros. Os fundamentos apresentados por esta instituio para disporem da EaD como modalidade de ensino no processo de formao dos profissionais a Marinha o Brasil pode ser compreendida a partir do que consta no prprio site da Corporao: o propsito de oferecer aos aquavirios a oportunidade de acesso ao conhecimento, sem prejuzo ou desnivelamento no aprendizado. Percebe-se que esse movimento interno nos quadros de formao do efetivo que integra a instituio utilizando a EaD no algo que surgiu recente segundo Carvalho (2013, p. 224) em quadro elaborado sobre a cronologia da EaD nas foras Armadas em 1939 a Marinha j havia criado um curso por correspondncia como preparao ao Curso de Comando. O centro de Educao a distncia da Marinha possui uma estrutura organizacional administrativa e tcnica estruturada da seguinte maneira: Direo, Secretaria, Departamento de Cursos a Distncia composto por trs divises: diviso de produo de cursos, diviso de aplicao de cursos e diviso multimdia) e um departamento de apoio a EaD estruturado em duas divises, diviso de sistemas e diviso de manuteno e controle. A equipe de profissionais formada por Analista e sistemas, pedagogos, administradores e web designers. No que pertine ao Exrcito Brasileiro, o mesmo autor afirma que em 1963 no Exrcito, criado por correspondncia o Curso Preparatrio (C Prep) para o Curso de Aperfeioamento de Oficiais. A Portaria n 30/DEP, de 25 de setembro de 1995, aprova as normas para funcionamento do sistema de ensino a distncia (Sead) no Exrcito brasileiro. J as diretrizes gerais para o sistema de ensino a distncia o Exrcito esto previstas na Portaria n13-EME, de 27 de abril e 1999, na mesma ficam explcitos ainda entre outros objetivos o de
ampliar a capacidade do Sistema de ensino do Exrcito, apoiando seus componentes, particularmente no que se refere Linha de Ensino Militar Blico, inclusive instruo Militar, Linha de Ensino Militar Cientifico e Tcnolgico, ao Ensino Preparatrio e a Assistencial Social e Educao de Jovens e Adultos (CARVALHO, 2012, p. 230)
346
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
J em relao Aeronatica a EaD passa a integrar suas escolas de formao em 1989 quando Normatiza (Portaria DEPENS n.049/E-1 de 11 de julho de 1989) a implementao do EAD na Universidade na Universidade da Fora Area (Unifa), na Escola de Comando e Estado Maior (Ecemar), na Escola de Aperfeioamento de Oficiais (EAOAR) e no Centro de Instruo Especializada da Aeronutica (Ciear). No mbito dessa fora a Educao a distncia ainda esta em processo de desenvolvimento, havendo segundo Cahoeira apud Carvalho (2012, p. 231) ainda h uma certa resistncia em relao a essa modalidade de educao mas j existindo previso em seu organograma da Subdiviso de Educao a distncia (SEaD) e da realizao de cursos para os profissionais da aeronutica. Em relao a EaD no mbitos dessas instituies Carvalho (2012, p. 224) aponta que:
Desde os seus primrdios, as trs foras Marinha, Exrcito e Aeronutica tm suas academias militares baseadas no ensino presencial. O natural desenvolvimento da tecnologia propiciou a nova modalidade de educao a distncia (EaD): o advento do correio inicialmente por mensageiros e, depois, com o uso da tecnologia, por meio rodovirio, ferrovirio, martimo e areo e, mais recentemente, do microcomputador, das multimdias, do hipertexto, e da internet foi o marco histrico gerador de todo o processo.
Acompanhando essa mesma transformao do ensino nas foras armadas a Secretaria Nacional de Segurana Pblica vai criar em 2005 a escola virtual de aprendizagem denominada Rede EaD/SENASP com abrangncia de oferta de cursos aos policiais civis, militares e bombeiros militares dos vinte sete estados da nao. A rede foi criada atravs de uma parceria com a Agncia Nacional e Polcia (ANP) com o objetivo de favorecer o processo de formao continuada dos profissionais de segurana pblica nos diferentes estados da nao, atravs de cursos de capacitao oferecidos online, em trs ciclos anuais para policiais civis, militares e bombeiros militares que direcionam-se para a realidade plural que integra a segurana pblica, so cursos de abrangncia das trs reas (por exemplo, investigao policial, abordagem policial, pronto socorrismo), e cursos afins s trs instituies como o caso do curso Direitos Humanos, Gerenciamento de Crise, Ingls. CONSIDERAES FINAIS A pesquisa realizada quanto modalidade de educao a distncia no mbito das instituies que integram as foras armadas e as instituies de segurana pblica atravs da rede EAD/SENASP nos permitiu identificar que semelhante ao que vem ocorrendo no mbito das instituies pblicas e privadas quanto ao movimento de expanso da oferta de cursos a distncia para formao inicial e continuada de civis esse tambm vem se delineando no intramuros dos quartis, das escolas de formao e nas academias dessas instituies na busca da formao de homens e mulheres para o exerccio das atividades de segurana nacional, segurana pblica e defesa social. Vale ressaltar que por outro lado, assim como identificado na segunda etapa da pesquisa ainda so tmidas as iniciativas de pesquisa cientfica quanto a essa modalidade de ensino nessas instituies, sendo, portanto, um campo de estudos a ser explorado no mbito das pesquisas educacionais com vistas a indicar suas peculiaridades, resultados, convergncias e divergncias em
347
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
relao s inmeras pesquisas que vem sendo desenvolvidas sobre EaD nas demais reas e que as resistncias a essa modalidade de ensino no se do apenas nas instituies de ensino civis elas tambm permeiam as demais reas, como as instituies de formao profissional. Assim, a partir desse breve estudo, que se pretende ampliar para investigar questes mais amplas quanto a modalidade de EaD no mbito dessas instituies possvel, a partir da constatao de que no to recente o uso da modalidade para formao desses agentes estatais questionar: que modelo de educao a distncia estrutura os cursos ofertados por essas instituies? Que material didtico-pedaggico? Quais as representaes que os discentes/docentes dessas corporaes constroem em torno dessa modalidade de educao? Em que aspectos a modalidade se diferencia dos cursos oferecidos no mbito civil? A formao ofertada tem dado conta de contribuir para a construo de conhecimentos e saberes necessrios ao exerccio das atividades inerentes aos cargos exercidos por seus integrantes? O trajeto investigativo percorrido at aqui nos conduz a esses e tantos outros questionamentos e revela que na direo do que vem ocorrendo no contexto social as foras armadas e as instituies de Segurana Pblica tambm esto dispondo dos recursos da tecnologia da informao e da comunicao, principalmente atravs da internet para formao profissional do seu efetivo com vistas a execuo das atribuies legais que lhe so delegadas constitucionalmente. Atribuies essas complexas, que envolvem tomadas de deciso em relao ao uso da fora, a preservao da vida e que, portanto exige nos seus quadros profissionais com formao humana, tcnica e tica que lhes d condies de desenvolver aes profissionais qualitativas, eficazes, eficientes e efetivas. O processo de capilarizao dessa modalidade no para por ai as escolas e academias de formao em mbito estadual da Polcia militar, Polcia Civil e Corpo de Bombeiros j vem delineando a formao dos seus efetivos. No estado o Piau recentemente, 2013, a Polcia Militar criou seu prprio Ncleo de Educao a Distncia e ofertou o Curso de Aperfeioamento de Sargentos (CAS) na modalidade semi-presencial, outras instituies de Segurana pblica das unidades da federao como a Polcia Militar do Maranho e o Corpo de Bombeiros do mesmo estado j oferecem essa modalidade de ensino a nvel estadual para formao do seu efetivo. Os desdobramentos futuros suscitam a nosso ver o desejo de investigar os modelos pedaggicos de EAD que norteiam as propostas pedaggicas de educao a distncia dessas instituies, se h processos de avaliao dos docentes, discentes e equipe tcnica e para onde sinalizam seus resultados, as limitaes e dificuldades dessa modalidade formativa para seus profissionais, as tenses e conflitos inerentes a sala de aula virtual no contexto desse processo formativo, as diferenas e semelhanas entre elas. REFERENCIAS CARVALHO, Daniel Duarte de. As foras armadas e a EAD. In: Educao a distncia o estado da arte. Volume 2. LITTO, Frederic Michael; FORMIGA, Marcos. So Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012;
348
SABERES DA DOCENCIA CURRCULO E ENSINO
CENTRO DE ENSINO A DISTNCIA DA MARINHA DO BRASIL. Disponvel em: Disponvel em: http://www.mar.mil.br/ciaga/ead/site/home.html. Acesso em: 16 de julho 2013. DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONUTICA. Disponvel http://www.fab.mil.br/portal/capa/index.php?page=depens. Acesso em: 14 de julho 2013. em:
SANTOM, Jurjo Torres. Sculo XXI: revolues do presente e conhecimentos necessrios paraentender a sociedade a partir dela. In: Curriculo escolar e justia social: o cavalo de tria da educao. Porto Alegre: Penso, 2013, p.; PORTAL DE ENSINO DO EXRCITO BRASILEIRO. Disponvel http://www.ensino.eb.br/portaledu/quem_somos.htm. Acesso em: 12 de julho de 2013. em:
349
ENCONTRO DA LINHA DE EDUCAO, CURRCULO E ENSINO UFC
350
Você também pode gostar
- Coletânea Interdisciplinar em Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - vol. 2: Humanidades e LetrasNo EverandColetânea Interdisciplinar em Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - vol. 2: Humanidades e LetrasAinda não há avaliações
- Anais Meduc 2019 Versao Com Ficha CatalograficaDocumento366 páginasAnais Meduc 2019 Versao Com Ficha CatalograficaNila VOAinda não há avaliações
- Actas-ENEC-2007-Contributos para A Qualidade Educativa No Ensino Das Ciências Do Pré-Escolar Ao SuperiorDocumento684 páginasActas-ENEC-2007-Contributos para A Qualidade Educativa No Ensino Das Ciências Do Pré-Escolar Ao SuperiorLeonel MorgadoAinda não há avaliações
- Projeto Pibid em FocoDocumento115 páginasProjeto Pibid em FocoRafael Lucena100% (2)
- Conexões 2 - EbookDocumento375 páginasConexões 2 - EbookAderlan SAinda não há avaliações
- Causalidade Estética: Um Estado MentalDocumento45 páginasCausalidade Estética: Um Estado MentalAderlan SAinda não há avaliações
- Relatos de Práticas - A Voz Dos Actores Da Educação em Ciência em PortugalDocumento145 páginasRelatos de Práticas - A Voz Dos Actores Da Educação em Ciência em PortugalLeonel MorgadoAinda não há avaliações
- Anais Do I Colóquio Docência e Diversidade Na Educação Básica - Eixo 1Documento658 páginasAnais Do I Colóquio Docência e Diversidade Na Educação Básica - Eixo 1Silvano Sulzarty0% (1)
- Livro Ensinar FinalizadoDocumento537 páginasLivro Ensinar FinalizadoEmmanuel De Almeida Farias Júnior100% (1)
- 1 Curriculo Paulista Ens MedDocumento44 páginas1 Curriculo Paulista Ens MedAmandaRibeiroAinda não há avaliações
- Histórico, Classificão e Análise de Centros de EA No BrasilDocumento209 páginasHistórico, Classificão e Análise de Centros de EA No Brasilitalo.mossiAinda não há avaliações
- Curriculo - Avaliação - Formação e Tecnologias EducativasDocumento942 páginasCurriculo - Avaliação - Formação e Tecnologias EducativasWaldisley MendesAinda não há avaliações
- Semana de Educação Afro-BrasileiraDocumento137 páginasSemana de Educação Afro-BrasileiradiasalmAinda não há avaliações
- Xii Congreso Tolereancia InterculturalidadDocumento364 páginasXii Congreso Tolereancia InterculturalidadAndrés G. OsorioAinda não há avaliações
- Um Pe de Historia Estudos Sobre Aprendizagem Historica PDFDocumento576 páginasUm Pe de Historia Estudos Sobre Aprendizagem Historica PDFRegina Ribeiro100% (1)
- 1 Curriculo Paulista - Ens FundDocumento52 páginas1 Curriculo Paulista - Ens FundAmandaRibeiroAinda não há avaliações
- Anais 9º Simposio PDFDocumento344 páginasAnais 9º Simposio PDFDouglas PoffAinda não há avaliações
- Didactica de Historia IDocumento179 páginasDidactica de Historia IMigosta Graphics ilustradorAinda não há avaliações
- DiogoDocumento418 páginasDiogoMarta GamaAinda não há avaliações
- Aquino, J. E. F. Cultura e Culpa em Benjamin e BatailleDocumento19 páginasAquino, J. E. F. Cultura e Culpa em Benjamin e BatailleEmiliano AquinoAinda não há avaliações
- Resolução 215 - Aprova A Revisão Do Projeto Pedagógico Licenciatura em Filosofia Da UFABC - (Anexo - )Documento121 páginasResolução 215 - Aprova A Revisão Do Projeto Pedagógico Licenciatura em Filosofia Da UFABC - (Anexo - )Fabi CatarseAinda não há avaliações
- Seer Anais 2108 PDFDocumento302 páginasSeer Anais 2108 PDFCristhian LimaAinda não há avaliações
- Ebook-Inclusao Educacao PsicologiaDocumento588 páginasEbook-Inclusao Educacao PsicologiaSILVIA JANAINA De Oliveira PimentelAinda não há avaliações
- II Coloquio Caboverdiano Da Educacao - PDocumento381 páginasII Coloquio Caboverdiano Da Educacao - POctavio FranciscaAinda não há avaliações
- Educação Infantil Livro - Processos-Educativos-Na-Educacao-Infantil-210885Documento248 páginasEducação Infantil Livro - Processos-Educativos-Na-Educacao-Infantil-210885Mayam de Andrade BezerraAinda não há avaliações
- Cap 1 - Metodologias de Pesquisas Pós-Críticas em Educação-Marlucy e Dagmar-1-23Documento23 páginasCap 1 - Metodologias de Pesquisas Pós-Críticas em Educação-Marlucy e Dagmar-1-23Nara Margo Mesquita GarciaAinda não há avaliações
- Metodologias de Pesquisas Pós Críticas em Educação - DagmarDocumento157 páginasMetodologias de Pesquisas Pós Críticas em Educação - DagmarTharyn Batalha80% (10)
- Contrib Arte EdDocumento156 páginasContrib Arte Edsly。Ainda não há avaliações
- Práticas Interdisciplinares Na EducaçãoDocumento210 páginasPráticas Interdisciplinares Na EducaçãoVinícius Fagundes100% (4)
- Proposta Curricular Geral - EJADocumento243 páginasProposta Curricular Geral - EJANicole Mieko100% (5)
- Colóquio Docência e Diversidade Na Educação Básica - Eixo 2Documento207 páginasColóquio Docência e Diversidade Na Educação Básica - Eixo 2Silvano SulzartyAinda não há avaliações
- Fotografia e Ensino - Uso e Aplicação Da Fotografia No Processo de Aprendizagem No Ensino de História e Educação PatrimonialDocumento114 páginasFotografia e Ensino - Uso e Aplicação Da Fotografia No Processo de Aprendizagem No Ensino de História e Educação PatrimonialAna Kelly MeiraAinda não há avaliações
- PPC Licmat Cubato VF 11 15Documento140 páginasPPC Licmat Cubato VF 11 15marcosrobertode8024Ainda não há avaliações
- CIIE IIICAFTe LivroResumos 2021 VF PDFDocumento303 páginasCIIE IIICAFTe LivroResumos 2021 VF PDFgustavoAinda não há avaliações
- Anais Seer 2017 PDFDocumento300 páginasAnais Seer 2017 PDFCristhian LimaAinda não há avaliações
- Etnografia Da EducaçãoDocumento174 páginasEtnografia Da EducaçãospampeklerAinda não há avaliações
- EduDocumento417 páginasEduNelson DelgadoAinda não há avaliações
- Metodologias AtivasDocumento175 páginasMetodologias AtivasEfraim Fernandes MarquesAinda não há avaliações
- PPC MUSICA OFICIAL 2018 Versão FINAL PROGRADDocumento226 páginasPPC MUSICA OFICIAL 2018 Versão FINAL PROGRADAlteiper AlteiperAinda não há avaliações
- Anais I Seminario Internacional e IV Seminario Nacional de Estudos e Pesquisas Sobre Educacao Do CampoDocumento928 páginasAnais I Seminario Internacional e IV Seminario Nacional de Estudos e Pesquisas Sobre Educacao Do CampoJailson Souza De JesusAinda não há avaliações
- Anais Xvi Sefoper01Documento865 páginasAnais Xvi Sefoper01romuloluizAinda não há avaliações
- Atas IIENJIE 17Documento400 páginasAtas IIENJIE 17Bartolomeu DiasAinda não há avaliações
- Como Fazer Um Trabalho EscritoDocumento76 páginasComo Fazer Um Trabalho EscritoWilliam SilvaAinda não há avaliações
- Ebook II Seminrio 4 PDFDocumento319 páginasEbook II Seminrio 4 PDFPris SousaAinda não há avaliações
- Helyom Viana Teles - Profhistória UnebDocumento129 páginasHelyom Viana Teles - Profhistória UnebVictor BatistaAinda não há avaliações
- Práticas, Pesquisas e ReflexõesDocumento345 páginasPráticas, Pesquisas e ReflexõesElaine PereiraAinda não há avaliações
- Anais IV CONEXDocumento90 páginasAnais IV CONEXSilier Andrade Cardoso BorgesAinda não há avaliações
- Ensino, Pesquisa e Extensão No Brasil Uma Abordagem PluralistaDocumento622 páginasEnsino, Pesquisa e Extensão No Brasil Uma Abordagem PluralistaCarla Gonçalves Távora100% (1)
- Pesquisa em Politicas EducacionaisDocumento264 páginasPesquisa em Politicas EducacionaisKatia Cilene CostaAinda não há avaliações
- Livro Ecologia de Populacoes e ComunidadesDocumento125 páginasLivro Ecologia de Populacoes e ComunidadesPaloma GomesAinda não há avaliações
- A natureza e a Geografia no ensino das temáticas físico-naturais no território brasileiroNo EverandA natureza e a Geografia no ensino das temáticas físico-naturais no território brasileiroAinda não há avaliações
- Geografia E Ensino:No EverandGeografia E Ensino:Ainda não há avaliações
- La internacionalización de la educación superior: prácticas y reflexiones de Brasil y AustraliaNo EverandLa internacionalización de la educación superior: prácticas y reflexiones de Brasil y AustraliaAinda não há avaliações
- Aplicabilidade Da Sala De Aula Invertida Para O Curso Profissionalizante De Nível Técnico Em Enfermagem Na Etec Doutor Renato Cordeiro De Birigui, São PauloNo EverandAplicabilidade Da Sala De Aula Invertida Para O Curso Profissionalizante De Nível Técnico Em Enfermagem Na Etec Doutor Renato Cordeiro De Birigui, São PauloAinda não há avaliações
- Emufrn - Teoria Da Msica e Educao Distncia - EadDocumento4 páginasEmufrn - Teoria Da Msica e Educao Distncia - EadPatricia Rocha0% (1)
- Relações Entre Pedagogia e Esferas Política, Cultural e Econômica Da Vida SocialDocumento26 páginasRelações Entre Pedagogia e Esferas Política, Cultural e Econômica Da Vida Socialadrianamegume0% (1)
- Arte Da Tradição Séc XV Ao XixDocumento3 páginasArte Da Tradição Séc XV Ao XixPatricia RochaAinda não há avaliações
- Demonstração Literatura JudaicaDocumento20 páginasDemonstração Literatura JudaicaPatricia RochaAinda não há avaliações
- Amostra Sidur SefarditaDocumento14 páginasAmostra Sidur SefarditaPatricia Rocha40% (5)
- UnescoDocumento29 páginasUnescoPatricia RochaAinda não há avaliações
- Savianidermeval Escolaedemocracia PDFDocumento50 páginasSavianidermeval Escolaedemocracia PDFvenancio ichinguinhecaAinda não há avaliações
- FOUCAULT, Michel. A Ordem Do Discurso (Fiel Ao Impresso)Documento39 páginasFOUCAULT, Michel. A Ordem Do Discurso (Fiel Ao Impresso)Prometheoz100% (14)
- História Das UniversidadesDocumento10 páginasHistória Das UniversidadesPatricia RochaAinda não há avaliações
- Atividade Complementar - 6º Ano - 1º BimestreDocumento19 páginasAtividade Complementar - 6º Ano - 1º BimestreFernanda De Souza Alves De JesusAinda não há avaliações
- Atividades Não Presenciais 3 Ano - 1 A 5 de FevDocumento7 páginasAtividades Não Presenciais 3 Ano - 1 A 5 de FevFabiolla PiresAinda não há avaliações
- N 0111Documento41 páginasN 0111Carlosjr83Ainda não há avaliações
- 2268 8062 1 PB PDFDocumento19 páginas2268 8062 1 PB PDFCícero FilhoAinda não há avaliações
- Nit Dicla 16 - 01Documento10 páginasNit Dicla 16 - 01Marcus HugenneyerAinda não há avaliações
- Homeopatia Cura Tumores - Um Cam - John ClarkeDocumento62 páginasHomeopatia Cura Tumores - Um Cam - John ClarkeTaniamp SilvaAinda não há avaliações
- Despacho 19-07-2022 Abre Vistas Proposta para Próximas Parcelas 0001413-79.2014.5.06.0191 AlusaDocumento4 páginasDespacho 19-07-2022 Abre Vistas Proposta para Próximas Parcelas 0001413-79.2014.5.06.0191 AlusaMarcelo AraujoAinda não há avaliações
- INTRODUÇÃO Processsos - FluxogramasDocumento11 páginasINTRODUÇÃO Processsos - FluxogramasVinicius MilaniAinda não há avaliações
- Atelier de Projeto de Arquitetura I - Simulado IDocumento4 páginasAtelier de Projeto de Arquitetura I - Simulado ImarcleimvsAinda não há avaliações
- Entrevista: Ricardo Darín - Entrevista - PlayboyDocumento8 páginasEntrevista: Ricardo Darín - Entrevista - PlayboyClarIssaAinda não há avaliações
- Atividade de Nota PromissóriaDocumento4 páginasAtividade de Nota PromissóriaMARLON Bruno BarbosaAinda não há avaliações
- A Erótica e o FemininoDocumento186 páginasA Erótica e o FemininoMatheus HenriqueAinda não há avaliações
- Modelo Receituário Especial para ImpressãoDocumento1 páginaModelo Receituário Especial para ImpressãoLetícia Melo100% (1)
- Novas Práticas para o Ensino Médio PortuguêsDocumento389 páginasNovas Práticas para o Ensino Médio Portuguêsana100% (1)
- Obscura Imposição Do Comunismo Com Apoio Católico - Decálogo de Lenin - o Verdadeiro Golpe!Documento1 páginaObscura Imposição Do Comunismo Com Apoio Católico - Decálogo de Lenin - o Verdadeiro Golpe!alexpaesfernandessAinda não há avaliações
- A Escrita Da História de São BorjaDocumento19 páginasA Escrita Da História de São BorjaAnderson Pereira CorrêaAinda não há avaliações
- Script de Vendas MVC PromotoraDocumento2 páginasScript de Vendas MVC PromotoraMatheus Pongeluppe100% (2)
- BOM - Roteiro 001 (Semana 29 A 05maio)Documento17 páginasBOM - Roteiro 001 (Semana 29 A 05maio)Daniel Braga100% (1)
- Desenho Técnico MecânicoDocumento328 páginasDesenho Técnico Mecânicopissini-1Ainda não há avaliações
- Manual Seneca 2Documento251 páginasManual Seneca 2Marcos ViniciusAinda não há avaliações
- Relatividade A Passagem Do Enfoque Galileano para A Visão de EinsteinDocumento68 páginasRelatividade A Passagem Do Enfoque Galileano para A Visão de EinsteinPedro MateusAinda não há avaliações
- Caso Clínico Po SupraespinhosoDocumento27 páginasCaso Clínico Po SupraespinhosoCristina CardosoAinda não há avaliações
- 1 Barbara Brito e Antonio SilveiraDocumento22 páginas1 Barbara Brito e Antonio SilveiraLaura CarneiroAinda não há avaliações
- Contentores Carga Trasera 120D PorDocumento2 páginasContentores Carga Trasera 120D Portiago calderAinda não há avaliações
- Psicopatologia - Mapas Mentais-1626464781-8Documento1 páginaPsicopatologia - Mapas Mentais-1626464781-8Laura GonçalvesAinda não há avaliações
- Folder Estagio SocialDocumento2 páginasFolder Estagio Socialroberta estefanyAinda não há avaliações
- Susan Trombley Iriduan Test Subjects 01 The Scorpion's MateDocumento474 páginasSusan Trombley Iriduan Test Subjects 01 The Scorpion's MateBella FerreiraAinda não há avaliações
- Projeto LiteraturaDocumento6 páginasProjeto LiteraturaFernando RodriguesAinda não há avaliações
- Itaucard - 4078 - Fatura - 2024-04Documento4 páginasItaucard - 4078 - Fatura - 2024-04EL Gráfica SolutionAinda não há avaliações
- Plano de Curso 2018 - Matemática - Fundamental VDocumento4 páginasPlano de Curso 2018 - Matemática - Fundamental VIsrael Farraz de SouzaAinda não há avaliações