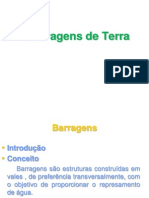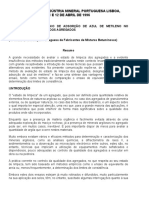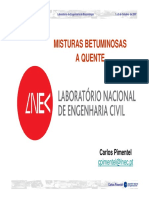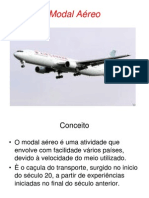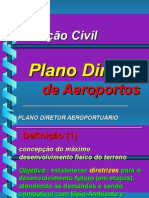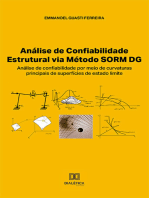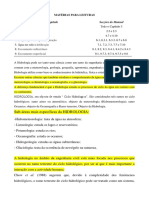Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aguas de Superficie
Aguas de Superficie
Enviado por
José António GomesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aguas de Superficie
Aguas de Superficie
Enviado por
José António GomesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Centro Federal de Educao Tecnolgica de Santa Catarina
Unidade de Florianpolis
Departamento Acadmico da Construo Civil
Curso Tcnico de Geomensura
Unidade Curricular: Geocincias
Extrado do livro: Geologia de Engenharia, ABGE, CNPq e FAPESP, 1998, Antonio
Manoel dos Santos Oliveira & Srgio Nertan Alves de Brito, cap. 7, Francisco Nogueira de
Jorge e Kokei Uehara
GUAS DE SUPERFCIE
SUMRIO
1 - guas de Superfcie ...................................................................................... 2
2 - Ciclo Hidrolgico............................................................................................ 3
3 - Balano Hdrico ............................................................................................. 3
3.1 Escoamento superficial ............................................................................. 3
3.2 Infiltrao................................................................................................... 5
3.3 Evapotranspirao .................................................................................... 5
4 - O papel da cobertura vegetal ........................................................................ 6
5 - Vazo ............................................................................................................ 7
6 - Bacias Hidrogrficas...................................................................................... 9
6.1 Caractersticas morfolgicas................................................................... 10
6.2 Sistemas de classificao dos rios.......................................................... 12
7 - Dinmica Fluvial .......................................................................................... 15
7.1 Eroso, transporte e deposio de sedimentos. ..................................... 15
7.2 Morfologia Fluvial .................................................................................... 17
7.3 Leito dos rios........................................................................................... 18
7.4 Perfil Longitudinal.................................................................................... 18
Bibliografia........................................................................................................ 20
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
2
1 - GUAS DE SUPERFCIE
As guas de superfcie so formadas pelo conjunto de rios e lagoas, em
seus variados tamanhos, e ainda as massas de gelo e neve, nas suas diversas
formas de ocorrncia, representam apenas 0,0002% do volume de gua do
Planeta.
Entretanto, muito importante estudar o seu comportamento, pois so as
guas de superfcie que realizam o trabalho mais intenso de desgaste das formas
de relevo, alm do trabalho de transportes e deposio de sedimentos, originando
deltas, plancies aluviais, etc. O seu aproveitamento permita gerao de energia
eltrica, o abastecimento de gua potvel, a irrigao de reas agricultveis, etc.,
estando, portanto, diretamente relacionado aos vrios aspectos de interesse
Geologia de engenharia.
O enfretamento de problemas de engenharia, que envolvem o
comportamento das guas de superfcie, normalmente objeto de Hidrologia,
Hidrulica ou Engenharia de Recursos Hdricos, pode ter maior eficincia quando
leva em conta a anlise desse comportamento pela Geologia de Engenharia.
Assim, os dados hidrolgicos disponveis podem ser mais bem compreendidos,
regionalizados, extrapolados, etc., quando utilizam, como referenciais, a
caracterizao pertinente do meio fsico. E, na falta daqueles dados, a Geologia
de Engenharia pode proporcionar a abordagem do problema por meio da
observao objetiva do meio fsico, desvendando indicadores do comportamento
as guas da superfcie.
A principal fonte de mtodos e de conhecimentos teis para essa
abordagem encontra-se na Geomorfologia, quando devidamente utilizados com
vistas resoluo dos problemas de engenharia. A Geologia de Engenharia
coloca-se, portanto, frente a esses problemas, como ferramenta de interpretao
das caractersticas geomorfolgicas, para fins de engenharia.
Nessa atividade destaca-se o exerccio da observao objetiva ou anlise
do meio fsico, direta (campo) ou indiretamente (fotos areas, cartas topogrficas,
etc.) para fins de caracterizao do comportamento das guas de superfcie. Esta
anlise permite, por exemplo, distinguir regies com maior ou menor capacidade
de infiltrao, com base na anlise da densidade da rede de drenagem. Vrios
outros exemplos podem ser considerados.
Anlise deste tipo no podem deixar de contemplar os fatores atrpicos
que alteram significativamente o comportamento das guas de superfcie. Atravs
das diversas formas de uso do solo. Analisar essas formas e interpretar seu papel
de infiltrao e no escoamento uma tarefa fundamental para o estudo do
comportamento das guas de superfcie das bacias hidrogrficas.
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
3
2 - CICLO HIDROLGICO
As relaes entre as vrias formas de ocorrncia de gua se processam
dentro de um sistema fechado denominado ciclo hidrolgico (figura 1.1).
O ciclo da gua na natureza inicia-se com a evaporao que ocorre nos
mares, rios e lagos. O vapor dagua, alcanando a atmosfera, distribudo pelos
ventos e se precipita quando atinge temperaturas mais baixas. Quando chove
sobre a superfcie da terra, uma parte da gua se evapora e retorna atmosfera:
outra se desloca por sobre a superfcie, constituindo as guas de escoamento
superficial (rios e lagos). Parte da gua da chuva infiltra-se no solo, formando as
guas subterrneas. Alm disso, uma pequena parcela absorvida pelos animais
e plantas, sendo utilizada no seu metabolismo.
3 - BALANO HDRICO
Um balano hdrico, efetuado num sistema definido, em geral uma bacia
hidrogrfica, unidade bsica dos estudos hidrolgicos, corresponde a uma analise
comparativas e as quantidades de gua que entram e saem do sistema, levando-
se em conta as variaes das reservas hdricas, superficiais e subterrneas,
durante certo perodo de tempo adotado, frequentemente anual.
Esse balano envolve de um lado, como entrada, a precipitao,
apresentada Clima e Relevo e, de outro lado, o escoamento superficial, a
infiltrao e a evapotranspirao, apresentados a seguir.
3.1 Escoamento superficial
O escoamento superficial ou deflvio corresponde a parcela da gua
precipitada que permanece na superfcie do terreno, sujeita a ao da gravidade
que a conduz para cotas mais baixas. O conhecimento de sua ocorrncia e de
seu comportamento, na superfcie da terra, importante para o dimensionamento
de obras hidrulicas, como barragem para fins de abastecimento de gua potvel,
gerao de energia eltrica, irrigao, controle de cheias, navegao, lazer e
tantas outras (Garcez, 1967; Pinto et al., 1973: Linsley e Franzini 1978). Conforme
as caractersticas do seu deslocamento, as guas superficiais podem provocar a
eroso dos solos, inundaes de vrzeas, etc.
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
4
Fig. 1.1 O ciclo
hidrolgico (Johnson
Division, 1972 em
Albuquerque Filho,
1995).
O escoamento superficial depende das caractersticas hidrulicas dos solos
e das rochas, da cobertura vegetal e das estruturas biolgicas, assim como da
forma da bacia de drenagem, da declividade de sua superfcie e do teor da
umidade dos seus terrenos. Nas regies ocupadas pelo homem, deve-se ainda
considerar as diversas formas de uso do solo que intensificam ou atenuam o
escoamento superficial.
O coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de deflvio
corresponde a razo entre o volume de gua de chuva que provocou o deflvio.
Alguns valores tpicos de coeficiente de escoamento so apresentados na tabela
1.1.
Caractersticas das Bacias C(%)
Superfcies impermeveis 90-95
Terreno estril montanhoso: material rochoso ou geralmente no
poroso,
Com reduzida ou nenhuma vegetao e altas declividades
80-90
Terreno estril ondulado: material rochoso ou geralmente no
poroso, com reduzida ou nenhuma vegetao em relevo ondulado
e com declividades moderadas
60-80
Terreno estril plano: material rochoso ou geralmente no poroso,
com reduzida ou nenhuma vegetao e baixas declividades
50-70
reas de declividades moderadas (terreno ondulado), grandes
pores de gramados, flores silvestres ou bosques, sobre um
manto fino de material poroso que cobre o material no poroso
40-65
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
5
Matas e florestas de rvores decduas em terreno de declividades
variadas
35-60
Florestas e matas de rvores de folhagem permanente em
terreno de declividades variadas
5-50
Pomares: plantaes de rvores frutferas com reas abertas
cultivadas ou livres de qualquer planta, a no ser gramas
15-40
Terrenos cultivados em plantaes de cereais ou legumes, em
zonas altas (fora de zonas baixas e vrzeas)
15-40
Terrenos cultivados em plantaes de cereais ou legumes,
localizadas em zonas baixas e vrzeas
10-30
3.2 Infiltrao
A infiltrao a passagem de gua da superfcie para o interior do terreno.
um processo que depende da disponibilidade da gua, da natureza do terreno,
do estado de sua superfcie, da sua cobertura vegetal e do seu teor de umidade.
A capacidade de infiltrao de um solo definida como sendo a taxa
mxima pela qual a gua pode ser absorvida pelo solo. Em geral, os solos e as
rochas mais permeveis apresentam maior capacidade de infiltrao, favorecendo
a rpida percolao da gua para o lenol subterrneo, reduzindo o escoamento
superficial direto.
A infiltrao influi nas caractersticas hidrolgicas dos cursos dagua. Os
rios permanentes, que apresentam fluxo relativamente constante durante todo
ano, mesmo durante os perodos de tempo seco, so mantidos pelas descargas
de guas subterrneas armazenada no aqfero. Aqueles que fluem somente em
perodos de chuvas, os denominados rios intermitentes ou peridicos, esto
geralmente drenando gua que permaneceu na superfcie e no se infiltrou,
apresentando assim fluxo muito varivel, com grandes cheias ou pequenas
vazes.
3.3 Evapotranspirao
Um outro componente do ciclo hidrolgico que a evapotranspirao, que
corresponde perda de gua por evaporao a partir do solo e transpirao das
plantas. Os fatores que influenciam a evapotranspirao de uma bacia
hidrogrfica podem ser estimados atravs do balano hdrico, medindo-se as
precipitaes na bacia e vazes na seo em estudo.
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
6
4 - O PAPEL DA COBERTURA VEGETAL
A cobertura vegetal tanto pode ser natural, como a vegetao da serra do
mar, quanto artificial ou cultural, como as plantaes. Entretanto, a vegetao
cultural pode ser primitiva, virgem, quando no tocada pelo homem, ou
secundaria, quando alterada pela ao antrpica.
Em todos os casos, o solo dispe de uma certa cobertura que exerce uma
ao, maior ou menor, contra a ao de intempries. Entretanto pode-se
considerar que as relaes de equilbrio, entre a vegetao primitiva e o solo,
adquiridas ao longo de centenas ou mesmo milhares de anos, apontam este tipo
de cobertura vegetal como a de maior ao de proteo.
A figura 1.2 apresenta a influencia de cobertura vegetal na distribuio da
gua de chuva pelos fenmenos de interceptao, escoamento pelos troncos e
reteno na serrapilheira, a cobertura de restos orgnicos que cobre o solo. A
parcela que atinge o solo, ou precipitao terminal, a que se infiltra. A gua
retida acima do solo, no edifcio e na serrapilheira sofre evaporao, enquanto
que, da parcela infiltrada, parte ser extrada pelas razes, atravs do fenmeno
da transpirao e parte poder atingir o lenol fretico.
Prandini et al. (1976, 1982) admitem que o escoamento superficial seja, de
fato, desprezvel nas condies de florestas densas que a cobertura vegetal
tambm dificulta a penetrao profunda na gua do macio. Entretanto, no se
deve generalizar tal comportamento, dado que os fatores intervenientes, solo,
relevo, substrato geolgico, clima, flora, e fauna, so muitos e variveis, no
espao e no tempo. Assim, o papel da cobertura vegetal, na distribuio das
guas fluviais, deve ser estudado, especificamente em cada regio.
De qualquer modo, o desmatamento considerado uma alterao drstica
no equilbrio do balano hdrico de uma regio, proporcionando um aumento
significativo do escoamento superficial e da infiltrao, j que mais gua atinge
diretamente o solo. provvel que, com o tempo, infiltrao sofra reduo, tendo
em vista a perda da serrapilheira e dos horizontes superficiais, mais porosos,
dos solos, o que acabaria por se refletir num aumento ainda mais notvel do
escoamento superficial.
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
7
Fig. 1.2 O papel da
cobertura vegetal
(Prandini et. Al.)
5 - VAZO
Vazo o volume de gua escoado na unidade de tempo, em uma
determinada seo do curso dagua. , geralmente, expressa em metros cbicos
por segundo (m/s) ou em litros por segundo (1/s).
Devido ao comportamento sazonal das chuvas, a vazo de um rio muito
varivel ao longo do ano, mas tambm varia de ano pra ano.
Chama-se freqncia de uma vazo (Q), em uma seo de um curso de
gua, o nmero de ocorrncias da mesma em um dado intervalo de tempo. Nas
aplicaes prticas, a freqncia , em geral, expressa em termo de perodo de
retorno ou perodo ou tempo de recorrncia (T): na seo considerada de um
rio, ocorrero valores iguais ou superiores ao valor Q apenas uma vez a cada T
anos (Pinto et al. 1973).
A variao das vazes pode ser de tal forma importante que determina
perodos em que os rios chegam a secar, caracterizando-os como rios
intermitentes, como se comportam os rios nas demais regies, os rios so
permanentes.
As vazes podem ser classificadas em vazes normais e vazes de
cheia. As vazes normais so as que escoam comumente no curso da gua,
enquanto as vazes de cheias so as que, ultrapassando um valor limite,
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
8
excedem a capacidade normal das sees de escoamento dos cursos dagua,
configurando as cheias. O fenmeno das cheias pode provocar inundaes, ou
seja, danos mais ou menos importantes ocupao do solo.
As vazes normais e as de cheia podem ser referidas a um instante dado
ou aos valores mximo, mdio ou mnimo de um determinado intervalo de tempo
(dia, ms ou ano).
O conhecimento das vazes mnimas, medias (dirias, mensais ou anuais)
e mximas utilizado no dimensionamento dos projetos de irrigao,
abastecimento de gua potvel, navegao, usinas hidreltricas, na determinao
de volume til de um reservatrio a ser construdo em um curso d`gua e no
dimensionamento de obras hidrulicas, tais como vertedouros de barragens,
obras contra inundaes, etc. ( Uehara et al., 1979,1980).
As vazes esto relacionadas s formas das calhas dos rios, funo do
regime fluvial. A probabilidade de uma determinada cheia ocorrer (P) ou ser
ultrapassada num ano qualquer o inverso do tempo de recorrncia (T):
T
P
1
=
(1.1)
E a de no Ocorrer (p)
P P = 1
(1.2)
Para um perodo de n anos a probabilidade (J) de que uma cheia seja igualada ou
ultrapassada de (Pinto et al., 1973):
n
1 p J =
(1.3)
Considerando-se as equaes 7.1 e 7.2, esta probabilidade J, em relao ao
tempo de recorrncia T, ser de:
n
T
J
=
1
1 1
(1.4)
O nvel de risco admissvel para determinado projeto definido ento
como a probabilidade de ocorrncia de uma determinada cheia, durante a vida til
do projeto (n anos).
Vrios mtodos empricos so utilizados na previso de vazes de cheia,
podendo-se citar os mtodos Racional, do Hidrograma Unitrio do Soil
Conservation Service, de Clark, etc. O mtodo Racional s serve para bacias bem
pequenas (inferiores a 1,5 km), sendo muito til para o dimensionamento de
pequenas galerias de guas pluviais.
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
9
A correlao entre o nvel dgua do rio e a vazo correspondente, em
uma determinada seo de medida, denominada curva-chave ou curva cota-
descarga. A curva-chave fornece o hidrograma de um determinado rio em uma
determinada seo.
O Hidrograma o grfico de vazes em funo do tempo. O grfico das
leituras de nveis dagua em funo do tempo denomina-se fluviograma. Com a
ajuda da curva chave pode se transformar o fluviograma em hidrograma. O
hietograma o grfico da altura da precipitao pluviomtrica em funo do
tempo (figura 7.3). A integral de um hidrograma corresponde ao diagrama de
massas. Esse diagrama possibilita o clculo do volume de um reservatrio, para
uma retirada constante ou no (Villela e Mattos, 1975).
Para se utilizar os inmeros modelos de transformao chuva-vazo,
atualmente disponveis, importante definir valores de parmetros que possam
representar as caractersticas fsicas e funcionais da bacia hidrogrfica.
6 - BACIAS HIDROGRFICAS
Bacia hidrogrfica ou bacia de drenagem de um rio at a seo
considerada, ou exutrio, a rea de drenagem que contm o conjunto de
cursos dagua que convergem para esse rio, ate a seo considerada, sendo,
portanto, limitada em superfcie montante, pelos divisores de gua, que
correspondem aos pontos mais elevados do terreno e que separam bacias
adjacentes. O conjunto de curso dgua, denominada rede de drenagem, est
estruturado, com todos seus canais, para conduzir a gua e os detritos que lhe
so fornecidos pelos terrenos da bacia de drenagem.
A quantidade de gua que atinge os rios est na dependncia das
caractersticas fsicas de sua bacia hidrogrfica, da precipitao total e deu seu
regime, bem como das perdas devidas evapotranspirao e infiltrao.
Fig. 1.3 Hietograma e
Hidrograma (Villela e Mattos,
1975)
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
10
As caractersticas fsicas so definidas pelas caractersticas morfolgicas,
representadas pelo tipo de relevo, forma, orientao e declividade da bacia de
drenagem e pelos aspectos geolgicos, representados pelas estruturas, tipos
litolgicos, mantos de intemperismo e os solos. Alm destes aspectos, a
cobertura vegetal e o tipo de ocupao da bacia exercem tambm uma influencia
importante nas relaes entre infiltrao e escoamento superficial em uma bacia
de drenagem.
6.1 Caractersticas morfolgicas
Vrias caractersticas morfolgicas de uma bacia podem ser mensuradas.
Aqui so apresentadas algumas medidas de forma, de relevo e de padro de
drenagem (Christofoletti, 1988).
6.1.1 Forma
A forma superficial de uma bacia hidrogrfica importante devido ao tempo
de concentrao, devido como o tempo, a partir do incio da precipitao, que
uma gota dagua de chuva leva para percorrer a distncia entre o ponto mais
afastado da bacia e o seu exutrio.
Existem vrios ndices utilizados para determinar a forma de bacias, procurando
relacion-las com formas geomtricas conhecidas e que, entre outras coisas, so
indicativos de uma maior ou menos tendncia para a ocorrncia de enchentes
destas bacias: coeficiente de compacidade e fator de forma.
Coeficiente de compacidade (K
c
): a relao entre o permetro da bacia
(P, em km) e a rea (A, em km) de um circulo com a rea igual a da bacia.
A
P
K
c
28 , 0 =
(1.5)
Este coeficiente um nmero adimensional que varia com a forma de
bacia, independentemente do seu tamanho; quanto mais irregular for a bacia,
tanto maior ser o coeficiente de compacidade. Um coeficiente igual unidade
corresponderia a uma bacia circular. Quanto mais prximo da unidade for o valor
desse coeficiente, mais acentuada ser a tendncia para maiores enchentes.
Fator de forma (K
f
): a relao entre a largura mdia e o comprimento
axial da bacia. A largura mdia obtida pela diviso da rea da bacia (A, em km)
pelo seu comprimento (L, em km). O comprimento da bacia corresponde
extenso do curso dagua mais longo, desde a desembocadura at a cabeceira
mais distancia da bacia.
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
11
2
L
A
K
f
=
(1.6)
Uma bacia com um fator de forma baixo (por exemplo, estreita e longa)
menos sujeita a enchentes que outra de mesmo tamanho porem com maior fator
de forma (por exemplo, circular).
6.1.2 Relevo
O relevo de uma bacia hidrogrfica e, principalmente, a declividade dos
seus terrenos, exerce grande influencia sobre a velocidade do escoamento
superficial, afetando, portanto, o tempo em que gua da chuva leva para
concentrar-se nos leitos fluviais, constituintes da rede de drenagem das bacias.
O conhecimento de declividade e das curvas hipsomtricas da bacia so
teis para o seu zoneamento quanto ao uso e ocupao do solo, estudo dos
processos erosivos, etc.
A curva hipsomtricas a representao grfica do relevo mdio de uma
bacia e constitui o estudo da variao da elevao dos vrios terrenos da bacia,
com referencia ao nvel do mar.
A organizao espacial dos rios influenciada e controlada pelas
caractersticas geomorfolgicas e estruturas geolgicas de bacia de drenagem. A
altitudes das camadas, bem como outras estruturas geolgicas, influem tanto na
topografia e forma de bacia, como tambm no padro da drenagem.
6.1.3 Padro de drenagem
O padro de drenagem constitui o arranjo, em planta, dos rios e cursos
dagua dentro de uma bacia hidrogrfica. O conhecimento das ramificaes e do
desenvolvimento do sistema de drenagem permite avaliar a velocidade com que a
gua deixa a bacia hidrogrfica.
Na analise da rede de drenagem costuma-se hierarquizar os curso dagua
de uma bacia, desde os afluentes menores, de cabeceira, at o curso principal.
Uma das classificaes mais utilizadas a do Horton (Christofeletti, 1988): os
cursos dagua da primeira ordem, de cabeceira, so os que no recebem
afluentes; os de segunda ordem s recebem afluentes da primeira ordem; os de
terceira recebem o de segunda, e assim sucessivamente.
Os padres de drenagem so indicativos da permeabilidade relativa do
terreno e dos controles exercidos pelas estruturas e pelos tipos de rocha pela
infiltrao e os movimentos da gua subterrnea. Conhecendo-se a tipologia dos
padres, pode-se fazer algumas interpretaes sobre a natureza dos terrenos, a
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
12
disposio das camadas, as linhas de falhamento e os processos fluviais e
climticos predominantes.
A densidade da drenagem constitui um dos parmetros mais simples que
representam os padres de uma bacia, sendo definida por:
A
d
|
=
(1.7)
Onde:
d = densidade de drenagem
| = somatrio de todos os comprimentos (1) de cursos dagua contidos na
bacia;
A = rea da bacia
Em geral, terrenos relativamente impermeveis apresentam densa rede de
drenagem, enquanto que os mais permeveis possuem densidade menor.
6.2 Sistemas de classificao dos rios
Podem ser consideradas duas classificaes, uma gentica e uma
geomtrica.
Fig. 1.4 Classificao gentica baseada na disposio dos rios em relao atitude das camadas
geolgicas (Suguio e Bigarella 1990)
6.2.1 Classificao gentica
Com base na sua disposio em relao a sua altitude das camadas
geolgicas, os rios podem ser classificados, conforme mostra a figura 1.4, em:
Rios conseqentes: so aqueles cujo curso foi determinado pela
declividade do terreno, coincidindo em geral, com o mergulho das camadas
geolgicas. Estes rios formas cursos retilneos e paralelos, podendo-se citar,
como exemplos, os rios Tiet, Paranapanema e Iguau, na Bacia do Paran:
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
13
Rios subseqentes: so os rios cujo sentindo de fluxo controlado pela
estrutura rochosa, acompanhado sempre zonas de franqueza, tais como falhas,
diclasamento, rochas menos resistentes, etc. Geralmente so perpendiculares
aos rios conseqentes:
Rios obseqentes: so os rios que correm em sentido inverso ao
mergulho regional das camadas geolgicas, isto , em sentido oposto aos rios
conseqentes. Em geral, possuem pequena extenso, descendo de escarpas e
terminando nos rios subseqentes;
Rios insequentes: so aqueles que no apresentam qualquer controle
geolgico e estrutural visvel na disposio espacial da drenagem e, por esta
razo, tais rios tendem a se desenvolver sobre rochas homogneas,
representadas tanto por sedimentos horizontais, como por rochas gneas.
6.2.2 Classificao Geomtrica
Com base no critrio geomtrico da disposio espacial dos rios e seus
afluentes, sem qualquer conotao gentica, os tipos fundamentais dos padres
de drenagem e suas ocorrncias podem ser classificadas, conforme mostra a
figura 1.5, em:
Drenagem dendritica ou absorscente: ocorre tipicamente sobre rochas de
resistncia uniforme ou em rochas estratificadas horizontais.
Os rios que constituem este padro de drenagem confluem em ngulos
relativamente agudo, o que permite identificar o sentindo geral da drenagem, pela
observao do prolongamento da confluncia.
Drenagem regular: este padro de drenagem conseqncia do controle
estrutural exercido pelas falhas ou sistemas de diclasamento. Encontra-se nas
regies onde diaclases ou falhas cruzam-se em ngulo reto.
Drenagem paralela: caracteriza reas onde h presena de vertentes
com declividades acentuadas ou onde existam controles estruturais. O padro de
drenagem paralela revela a presena de declividade unidirecional, constituda por
camadas resistentes de inclinao uniforme;
Drenagem radial: pode ser do tipo centrifuga, quando os rios divergem a
partir de uma centro mais elevado, como os padres de drenagem desenvolvidos
em reas de domos, cones vulcnicos, relevos residuais situados acima do nvel
geral da superfcie de eroso, morros isolados, etc. e do tipo centrpeto, onde os
rios convergem para um ponto central mais baixo, como as drenagens de crateras
vulcnicas, depresses topogrficas, etc.
Drenagem anelar: tpica de reas dmicas profundamente entalhadas
em estruturas formadas por camadas moles e duras.
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
14
Alm destes padres, apresentados na figura 1.5, h a drenagem irregular
quem ocorre em reas de soerguimento ou sedimentao recentes, nas quais a
drenagem ainda no alcanou um padro definido.
Fig. 1.5 Classificao geomtrica da disposio espacial dos rios e seus afluentes
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
15
7 - DINMICA FLUVIAL
Uma corrente encontra-se em equilbrio fluvial quando no se verifica, em
qualquer ponto de seu curso, eroso ou deposio de material. O perfil de
equilbrio de um rio influenciado por muitos fatores, como volume e carga da
corrente, tamanho peso de carga, declividade, etc. Nos pontos em que a
velocidade aumenta, ocorre eroso. J, onde h decrscimo de velocidade, tem
lugar a sedimentao.
A velocidade das guas de um rio depende basicamente da declividade,
do volume das guas, da forma da seo e da rugosidade do leito. Qualquer
alterao destas variveis modifica a velocidade das guas e, consequentemente,
as condies de transporte, deposio ou eroso (Christofoletti, 1988).
7.1 Eroso, transporte e deposio de sedimentos.
Eroso, transporte e deposio de sedimentos so processos
interdependentes, que se alteram, com o tempo, de acordo com a velocidade do
fluxo da gua e da carga existente.
Se a energia disponvel para o transporte de carga slida for suficiente, o
leito do rio mantm-se em condies estveis. Se existir um excedente de
energia, esta ser usada para erodir os lados e o fundo do canal, bem como
transportar o material slido que lhe fornecido, contribuindo para um aumento
de carga para jusante. Se a energia for menor do que aquela capaz de transportar
toda carga, parte ser depositada, diminuindo o total da carga. O trabalho total de
um rio medido pela quantidade de material que ele capaz de erodir,
transportar e depositar.
7.1.1 Eroso Fluvial
A eroso fluvial realizada pelo processo de abraso, corroso e
cavitao. As guas correntes provocam eroso no s pelo impacto hidrulico,
mas tambm por aes abrasivas e corrosivas.
Na abraso, o impacto das partculas carregadas pelas guas, sobre as
rochas e outras partculas, provoca um desgaste pelo atrito mecnico. J a
corroso compreende todo e qualquer processo de reao qumica que se verifica
entre a gua e as rochas que esto em contato, resultando na dissoluo de
material solvel pela percolao da gua. A cavitao ocorre somente sob
condies da alta velocidade da gua, quando as variaes de presso, sobre as
paredes do canal fluvial, facilitam a fragmentao das rochas. um fenmeno
que se manifesta em vertedouros de barragens e outra obras hidrulicas onde a
velocidade de gua elevada.
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
16
7.1.2 Transporte e deposio de sedimentos
Durante o processo de transporte de partculas pelas guas correntes, elas
podem se depositar de forma diferenciada, dependendo de sua granulometria,
forma e densidade, fenmeno conhecido por transporte seletivo. Para uma
determinada granulometria, sabe-se que as esferas decantam mais rapidamente
do que os discos, bem como os minerais pesados assentam-se antes dos
minerais leves. Dessa forma, as partculas mais achatadas e mais leves so
favorecidas pelo processo de transporte em suspenso. Por outro lado, durante o
transporte por arraste ou trao pelo fundo, as esferas rolam mais facilmente e
vo deixando para trs as partculas mais achatadas.
O transporte dos sedimentos pelas correntes fluviais pode, portanto, ser
agrupado nas trs categorias seguintes (Carvalho, 1994).
Transporte por arraste: relaciona-se aos esforos tangenciais ao longo do
fundo da corrente, provocados pela gua em movimento, cujo efeito reforado
pelas foras ascensionais devidas ao fluxo turbulento. O transporte por arraste ou
por trao tambm funo da forma, tamanho e densidade das partculas que
constituem a carga. Quando as condies de fluxos so alteradas, por uma
reduo na velocidade media da corrente ou da intensidade de turbulncia, as
partculas maiores, mais densas e de menor esfericidade so deixadas para trs.
O movimento das partculas por arraste, pelo fato de est restrito ao leito fluvial,
mais limitado e sensvel s condies de variao da velocidade e de turbulncia
do que o transporte por suspenso;
Transporte por suspenso: ocorre quando a intensidade de turbulncia
maior que a velocidade de deposio das partculas movimentadas pelos esforos
tangenciais e pelas foras de ascenso. Neste caso, as partculas so carregadas
de forma completamente independente do leito fluvial.
Transporte por saltao: o deslocamento das partculas ao longo do leito
fluvial se d por uma srie de saltos curtos. O movimento por saltao pode ser
considerado como uma fase intermediria entre o transporte por trao e por
suspenso. As partculas, que no so suficientemente grande para se manterem
sobre o leito, sofrendo arraste, suficientemente pequenas para serem
transportadas em suspenso, podem ser momentaneamente levantadas,
movendo-se para diante, em uma serie de saltos e avanos sucessivos.
Uma vez indica a movimentao de uma partcula, os processos envolvidos
no seu transporte e deposio, dependem fundamentalmente de sua velocidade
de decantao. Esta depende dos fatores inerentes partcula em decantao,
tais como tamanho, forma e peso especifico, alm de fatores ligados ao meio
fluido como, por exemplo, viscosidade, peso especifico, etc.
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
17
7.2 Morfologia Fluvial
Como resultado do ajuste do seu canal a seo transversal, os rios podem
adquirir varias formas, em funo da carga sedimentar transportada, descarga
liquida e declividade do canal. As formas so geralmente descritas como retilnea
anastomosada ou meandrante (figura 1.6) e todas podem ocorrer associadas com
uma mesma bacia de drenagem.
Canais retilneos: possuem sinuosidade desprezvel em relao a largura,
caracterizando-se pelo baixo volume de carga de fundo, alto volume de carga
suspensa e declividade acentuada baixa. A eroso ocorre ao longo das margens
mais profundas e a deposio nas barras dos sedimentos. Desenvolveram-se em
plancies deltaicas de deltas construtivos, sendo de ocorrncia relativamente
pouco freqente na natureza;
Canais anastomosados: caracterizam-se por sucessivas ramificaes e
posteriores reencontros de seus corpos, separando ilhas assimtricas de barras
arenosas. Apresentam canais largos, no muito profundo, rpido transporte de
sedimentos e contnuas migraes laterais, associadas s flutuaes na vazo
lquidas (descarga) dos rios. Apresentam grande volume de carga de fundo e
desenvolvem-se, normalmente, associadas a leques aluviais, leques deltaicos,
ambientes semi-ridos e plancies de lavagem de deposito glaciais;
Canais meandrantes: so canais sinuosos, constituindo um padro
caracterstico de rios com gradiente moderadamente baixo, cujas cargas em
suspenso e de fundo encontra-se em quantidades mais ou menos equivalentes.
Caracterizam-se por fluxo continuo e regular, possuindo, em geral, um nico canal
que transborda as suas guas no perodo das chuvas. Os canais meandrantes
possuem competncia e capacidade de transporte mais baixas e uniformes do
que os canais anastomados, transportando materiais de granulometria mais fina e
mais selecionada. So comuns a quase todos os setores de plancies fluviais de
regies tropicais e subtropicais midas. No Brasil ocorrem vrios modelos
regionais de drenagem mendricas, como do mdio Vale do Rio Paraba do Sul, o
do Pantanal mato-grossense e do Amazonas.
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
18
Fig. 1.6 Canal anastomosado
(a) e meandrante (b) (Ab
Saber. 1975).
7.3 Leito dos rios
Os tipos de leitos fluviais, menor e maior, esto associados aos regimes
dos rios, cujo comportamento determina a freqncia e intensidade das cheias,
importantes para a manifestao de fenmenos inundao.
7.4 Perfil Longitudinal
O perfil longitudinal de um rio indica sua declividade ou gradiente,
constituindo-se na representao visual da relao entre a diferena total de
elevao do seu leito e a extenso horizontal (comprimento) de seu curso dagua
para os diversos pontos situados entre a nascente e a foz.
A velocidade de escoamento de um rio depende da declividade dos canais
fluviais: quanto maior a declividade, maior a velocidade de escoamento.
A inclinao do perfil de uma drenagem determinada pelas condies
impostas a partir de montante e pelo seu nvel de base de jusante. Nvel de base
de um rio o ponto mais baixo a que o rio pode chegar, sem prejudicar o
escoamento de suas guas. Corresponde ao ponto, abaixo do qual, a eroso
pelas guas correntes no pode atuar. O nvel de base geral de todos os rios o
nvel do mar em que suas guas chegam.
O perfil longitudinal, em toda sua extenso, resulta do trabalho que o rio
executa para manter o equilbrio entre a capacidade e a competncia de um lado,
com a quantidade e a granulometria da carga detrtica, de outro. O perfil
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
19
longitudinal elaborado, de forma progressiva, da foz para montante, atravs de
processos erosivos remontantes.
O perfil longitudinal de equilbrio da corrente apresenta forma cncava
contnua, com declividade suficiente para transportar a carga do rio. As
declividades do perfil so maiores em direo s cabeceiras e seus valores cada
vez mais suaves medida que o rio se aproxima da foz.
Curso Tcnico de Geomensura Geocincias
CEFET-SC
20
BIBLIOGRAFIA
Carvalho, N.O. 1994. Hidrossedimentologia prtica. Rio de
Janeiro: CPRM. 372p.
Christofoletti, A. 1988. Geomorfologia Fluvial. So Paulo:
Edgard Blucher/Edusp.
Leopold, L.B; Wolman, M.G. e Miller, J.P. 1964. Fluvial process
in geomorphology. San Francisco: V.W. Freeman. 552.p
Linsley, R.K. e Franzini, J.B. 1978. Engenharia de recursos
hdricos. So Paulo: Edusp/McGraw-Hill.
Setzer, J e Porto, R.L.L. 1979. Tentativa de avaliao de escoamento superficial
de acordo com o solo e o seu recobrimento vegetal nas condies do
Estado de So Paulo. Bol. Tc. DAEE, So Paulo, v.2, n.2, p.82-135,
maio/ago.
Suguio, K. e Bigarella, J.J. 1990. Ambientes Fluviais. 2.ed. Florianpolis:
UFSC/UFPR. 183p.
Você também pode gostar
- Folha HoleriteDocumento1 páginaFolha HoleriteGustavo CorbilianoAinda não há avaliações
- Manual Gps Garmim 76csxDocumento118 páginasManual Gps Garmim 76csxBio_manaAinda não há avaliações
- Geometalurgia No Planejamento de Lavra de Carvão-MoatizeDocumento131 páginasGeometalurgia No Planejamento de Lavra de Carvão-MoatizeAnivaldo ChevaneAinda não há avaliações
- Resumo - 50 Lições de Liderança - Tom PetersDocumento10 páginasResumo - 50 Lições de Liderança - Tom PetersMonica SantosAinda não há avaliações
- Barragens de TerraDocumento35 páginasBarragens de TerraDaniel Filardi Montanha100% (1)
- Barragens de Terra - Drenagem InternaDocumento96 páginasBarragens de Terra - Drenagem InternaDaniel MartinsAinda não há avaliações
- Dimensionamento de AeroportosDocumento65 páginasDimensionamento de Aeroportositalo santosAinda não há avaliações
- Intensificação Dos Ciclones Tropicais: Trabalho de Licenciatura em MeteorologiaDocumento26 páginasIntensificação Dos Ciclones Tropicais: Trabalho de Licenciatura em MeteorologiaAli Afonso ChaleAinda não há avaliações
- Solos Da Cidade Da Beira e Da Provincia de SofalaDocumento14 páginasSolos Da Cidade Da Beira e Da Provincia de SofalaAnilza100% (6)
- Barragem de Terra de Pequeno Porte PDFDocumento67 páginasBarragem de Terra de Pequeno Porte PDFTomaz TurcarelliAinda não há avaliações
- Construção de Barragens de TerraDocumento33 páginasConstrução de Barragens de TerraAndyara DuarteAinda não há avaliações
- Ensaio de Azul de MetilenoDocumento6 páginasEnsaio de Azul de MetilenoRuben Araoz BalderramaAinda não há avaliações
- Aula 11 - Avaliação Estrutural e Mecanística Dos Pavimentos FlexíveisDocumento20 páginasAula 11 - Avaliação Estrutural e Mecanística Dos Pavimentos FlexíveisRossana ValadaresAinda não há avaliações
- Barragens 2009 - AULA10Documento8 páginasBarragens 2009 - AULA10Gustavo CorbilianoAinda não há avaliações
- Aula BarragensDocumento41 páginasAula BarragensAlejandro Mattos100% (1)
- Misturas Betuminosas A QuenteDocumento59 páginasMisturas Betuminosas A QuenteMichaluk AbdulaAinda não há avaliações
- Aula BarragensDocumento120 páginasAula BarragensMarilia AlineAinda não há avaliações
- Cap14 00 - Controlo de Qualidade - FevDocumento96 páginasCap14 00 - Controlo de Qualidade - Fevpedro_r_l_silva7530Ainda não há avaliações
- Maria José - Introdução Ao Estudo Das Barragens de Terra Parte 1 PDFDocumento28 páginasMaria José - Introdução Ao Estudo Das Barragens de Terra Parte 1 PDFJaelAinda não há avaliações
- Apostila Barragens 05-2003Documento180 páginasApostila Barragens 05-2003Herbert de SousaAinda não há avaliações
- Análise Do Dimensionamento Terminal de Passageiros Aeroporto Internacional Hercílio LuzDocumento107 páginasAnálise Do Dimensionamento Terminal de Passageiros Aeroporto Internacional Hercílio LuzJustino TiagoAinda não há avaliações
- Cap 8 Escoamento SuperficialDocumento38 páginasCap 8 Escoamento Superficialmillapires0% (1)
- Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis de Aeroportos Aplicações Do Método Da FaaDocumento91 páginasDimensionamento de Pavimentos Flexíveis de Aeroportos Aplicações Do Método Da FaaAlexandre LeocadioAinda não há avaliações
- Roteiro Projeto de Barragem - Hidraulica - P3 - BarragensDeTerra-IDocumento3 páginasRoteiro Projeto de Barragem - Hidraulica - P3 - BarragensDeTerra-IMaxuel BesteteAinda não há avaliações
- Sistemas de Drenagem Interna em Barragens de TerraDocumento21 páginasSistemas de Drenagem Interna em Barragens de TerraAnonymous AkEMJEAinda não há avaliações
- Regulamento ACN PCN 2012Documento32 páginasRegulamento ACN PCN 2012Francisco Isaac LucenaAinda não há avaliações
- Notas Aula AeroportosDocumento54 páginasNotas Aula AeroportosOmar BarrosAinda não há avaliações
- Liquefação EspontâneaDocumento28 páginasLiquefação EspontâneaJoão InácioAinda não há avaliações
- Análises de Percolação e Estabilidade de Taludes em Uma Barragem de Terra Homogênea Sob A Perspectiva de Segurança de BarragensDocumento21 páginasAnálises de Percolação e Estabilidade de Taludes em Uma Barragem de Terra Homogênea Sob A Perspectiva de Segurança de BarragensDéboraRibeiroAinda não há avaliações
- Controlo de TerraplenagensDocumento60 páginasControlo de TerraplenagensMichaluk AbdulaAinda não há avaliações
- Apostila AeroportosDocumento15 páginasApostila AeroportosMunira Tsuruda100% (1)
- VertedoresDocumento9 páginasVertedoresYukon DenaliAinda não há avaliações
- Aula de Modal AereoDocumento20 páginasAula de Modal AereoElnatã OliveiraAinda não há avaliações
- 327 - Apostila Mecanica Dos SolosDocumento136 páginas327 - Apostila Mecanica Dos Solosbrasil_filho100% (4)
- Classificação Técnica Das RodoviasDocumento20 páginasClassificação Técnica Das RodoviasEduardo MonteiroAinda não há avaliações
- Dimensionamento Drenagem AbtcDocumento40 páginasDimensionamento Drenagem AbtcKunio Kanno100% (1)
- CPRM - Avaliação Geológico - Geotécnica Da Cidade de Rio Branco - AcreDocumento57 páginasCPRM - Avaliação Geológico - Geotécnica Da Cidade de Rio Branco - AcreLucas Espíndola100% (1)
- Trabalho Sobre Canais e Hidrovias IndiceDocumento28 páginasTrabalho Sobre Canais e Hidrovias IndiceDeletado0% (1)
- Obras de Normalizaçã0 e Regularização Do LeitoDocumento13 páginasObras de Normalizaçã0 e Regularização Do LeitoGerson BarbosaAinda não há avaliações
- Aula Barragens PDFDocumento47 páginasAula Barragens PDFdafina427575% (4)
- Resumo BarragensDocumento23 páginasResumo BarragensRicardo Brandão100% (1)
- Medição de Vazão ApostilaDocumento67 páginasMedição de Vazão ApostilaJonatas Monteiro AvelinoAinda não há avaliações
- 11a. Aula - Plano DiretorDocumento27 páginas11a. Aula - Plano DiretorLucasAreaLeaoBarretoAinda não há avaliações
- Livro U1Documento51 páginasLivro U1Isabella Elias Coelho100% (2)
- Ressalto Hidraulico e Escoamento em AquedutosDocumento22 páginasRessalto Hidraulico e Escoamento em AquedutosWalter GuityAinda não há avaliações
- Aula+9+-+Aterros+Sobre+Solos+Moles+e+BarragensDocumento136 páginasAula+9+-+Aterros+Sobre+Solos+Moles+e+BarragensJULIANA DA ROCHAAinda não há avaliações
- Projeto Estradas 2 (Grupo 15)Documento53 páginasProjeto Estradas 2 (Grupo 15)Ricardo BrandãoAinda não há avaliações
- ABNT NBR 16416 Pavimentos Permeáveis de ConcretoDocumento43 páginasABNT NBR 16416 Pavimentos Permeáveis de ConcretoLila Feiber BabiukAinda não há avaliações
- Aulas 2 PDFDocumento62 páginasAulas 2 PDFHenriqueAinda não há avaliações
- Cap 8 - Evapotranspiração PDFDocumento16 páginasCap 8 - Evapotranspiração PDFVanessa CarneiroAinda não há avaliações
- TCC - Parede de ConcretoDocumento113 páginasTCC - Parede de ConcretoMarciel MarquesAinda não há avaliações
- A contratualização do risco geológico nas obras públicas subterrâneasNo EverandA contratualização do risco geológico nas obras públicas subterrâneasAinda não há avaliações
- Análise de confiabilidade estrutural via método SORM DG: análise de confiabilidade por meio de curvaturas principais de superfícies de estado limiteNo EverandAnálise de confiabilidade estrutural via método SORM DG: análise de confiabilidade por meio de curvaturas principais de superfícies de estado limiteAinda não há avaliações
- Apontamento HidrologiaDocumento14 páginasApontamento HidrologiaEvanildo MVAinda não há avaliações
- Vulnerabilidade de Aquíferos1Documento21 páginasVulnerabilidade de Aquíferos1rtxx09Ainda não há avaliações
- Maneio de Bacias 2Documento16 páginasManeio de Bacias 2Atumane UsseneAinda não há avaliações
- Agua SubterraneaDocumento24 páginasAgua SubterraneaGustavo CorbilianoAinda não há avaliações
- 28736-Texto Do Artigo-105853-1-10-20161201Documento9 páginas28736-Texto Do Artigo-105853-1-10-20161201Barbara SilvaAinda não há avaliações
- ENR5405 HidrologiaDocumento4 páginasENR5405 HidrologiaAndre CorreaAinda não há avaliações
- HidrlogiaDocumento12 páginasHidrlogiaDeográcio Possiano TalegalAinda não há avaliações
- Livro Escoamento DEADocumento88 páginasLivro Escoamento DEAGlênio Benvindo OliveiraAinda não há avaliações
- Ebook Hidrologia AquaFluxusDocumento69 páginasEbook Hidrologia AquaFluxusAna Paula C. SampaioAinda não há avaliações
- Os EDODocumento6 páginasOs EDOZoio Bonomar BonomarAinda não há avaliações
- Como Instalar WindowsDocumento8 páginasComo Instalar WindowsGustavo CorbilianoAinda não há avaliações
- Modelo HoleriteDocumento1 páginaModelo HoleriteGustavo Corbiliano100% (1)
- Barragens Ha 08 BarragensDocumento25 páginasBarragens Ha 08 BarragensGustavo Corbiliano100% (1)
- Barragens 2009 - AULA10Documento8 páginasBarragens 2009 - AULA10Gustavo CorbilianoAinda não há avaliações
- Agua SubterraneaDocumento24 páginasAgua SubterraneaGustavo CorbilianoAinda não há avaliações
- ÁguaDocumento23 páginasÁguaMaria DinisAinda não há avaliações
- Mapa Das Unidades de Conservacao Do Estado Do CearaDocumento1 páginaMapa Das Unidades de Conservacao Do Estado Do CearaLeo RodriguesAinda não há avaliações
- Geografia 10C 1EP2011Documento2 páginasGeografia 10C 1EP2011Frederico Bruno Fredson MarsLanganeAinda não há avaliações
- Ae Nvt5 Ficha2 NeeDocumento5 páginasAe Nvt5 Ficha2 NeecarlaloboAinda não há avaliações
- Geo1 Lista Aulas 19 e 20Documento7 páginasGeo1 Lista Aulas 19 e 20gabrielsstudiesAinda não há avaliações
- Resumo América LatinaDocumento10 páginasResumo América Latinacudoairo17Ainda não há avaliações
- PDFDocumento194 páginasPDFeduardoAinda não há avaliações
- 8º Ano - América Do SulDocumento106 páginas8º Ano - América Do SulJhony Clares LopesAinda não há avaliações
- Métodos de Estudo Do Interior Da TerraDocumento12 páginasMétodos de Estudo Do Interior Da TerraDina Bártolo100% (1)
- Planejamento Est Amazonicos 2019Documento10 páginasPlanejamento Est Amazonicos 2019Roni MagnoAinda não há avaliações
- Quarta Extinção em MassaDocumento13 páginasQuarta Extinção em MassaDelito LopesAinda não há avaliações
- Danos Estruturais Erosao Cheias Fundacoes Aterros Acesso Pontes Rodoviarias PDFDocumento10 páginasDanos Estruturais Erosao Cheias Fundacoes Aterros Acesso Pontes Rodoviarias PDFHevêncio Henrique DiasAinda não há avaliações
- Erosão PDFDocumento4 páginasErosão PDFMaira GhisleniAinda não há avaliações
- Análise Multicritério - BaciasDocumento15 páginasAnálise Multicritério - BaciasTatiane Duarte Silva OliveiraAinda não há avaliações
- DetergenteDocumento1 páginaDetergenteKellen Castro AlmeidaAinda não há avaliações
- Aula 08 - Representacao CartograficaDocumento30 páginasAula 08 - Representacao CartograficaBianca MonfardiniAinda não há avaliações
- Africa AustralDocumento7 páginasAfrica AustralDario RendecaoAinda não há avaliações
- VULCANISMODocumento8 páginasVULCANISMODouglas JesusAinda não há avaliações
- Estudo Ambientais IDocumento15 páginasEstudo Ambientais INelson José JoséAinda não há avaliações
- Jardim de PiranhasDocumento21 páginasJardim de PiranhasmarcobeijaflorAinda não há avaliações
- Aula 04 - Recursos HidricosDocumento3 páginasAula 04 - Recursos HidricosPedro DiasAinda não há avaliações
- Gestao Integrada de Aguas UrbanasDocumento12 páginasGestao Integrada de Aguas UrbanasDavi Lemos PedrosoAinda não há avaliações
- Degradação e Conservação Do Cerrado - Uma História Ambiental Do Estado de Goiás PDFDocumento211 páginasDegradação e Conservação Do Cerrado - Uma História Ambiental Do Estado de Goiás PDFGustavo MalagutiAinda não há avaliações
- Atividade Ciências 6° Ano - CláudiaDocumento3 páginasAtividade Ciências 6° Ano - CláudiaLuciana Ohi100% (3)
- VulcãoDocumento12 páginasVulcãoEdson FernandesAinda não há avaliações
- 3030-Parâmetros Físicos Do SoloDocumento7 páginas3030-Parâmetros Físicos Do SoloDaniel Vitor SilvaAinda não há avaliações
- Conclusão Seres Vivos EtcDocumento1 páginaConclusão Seres Vivos EtccwataubateAinda não há avaliações