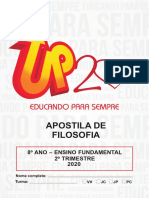Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aulas Teóricas História Das Relações Internacionais
Aulas Teóricas História Das Relações Internacionais
Enviado por
Ana Mafalda Lameira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
48 visualizações134 páginasTítulo original
Aulas Teóricas História Das Relações Internacionais (1)
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
48 visualizações134 páginasAulas Teóricas História Das Relações Internacionais
Aulas Teóricas História Das Relações Internacionais
Enviado por
Ana Mafalda LameiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 134
FACULDADE DE DIREITO
Aulas Tericas de Histria das Relaes
Internacionais
Hugo H. Arajo
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 1
Lisboa, 23 de Setembro de 2009
Vamos falar dos conceitos de: Estado; Soberania; Razo de Estado; Equilbrio de
poderes; etc.
Vamos comear pelo sculo XVI, isto porqu, porque na verdade ns em regra
iniciamos a Histria das relaes internacionais moderna pelo que se chama a Paz de
Vesteflia (com a guerra dos 30 anos).
Entende-se que, com a Paz de Vesteflia em 1648 que inicia-se verdadeiramente a
historia das relaes internacionais moderna, porque nesta altura nos temos a
proliferao de vrios estados decorrentes das guerras de religio e nesta altura, nos
finais do sculo XVII, e aqui que surge a conceptologia do Estado, quer a nvel interno
quer a nvel externo, claro que um conceito que se conhece da prpria cincia poltica
e direito constitucional.
Nos podemos definir Estado como uma associao poltica de indivduos, de homens
livres que se renem sobre a mesma autoridade e obedecem mesma lei.
Ora temos como principais elementos de um Estado:
Uma comunidade de homens, um conjunto de homens;
Tem uma existncia independente, a independncia, o Estado superior na
ordem interna, independente na ordem externa, ou seja o Estado no tem
superior interno, nem externo e portanto dois dos grandes elementos do Estado
comungam desta realidade da importncia interna e externa
Capacidade de dirigir a sociedade (Governo prprio).
Estes trs grandes elementos que compe o Estado, a comunidade humana, a sua
independncia e a direco, o Estado como entidade capaz de dirigir para um
determinado fim, portanto quando nos falamos no sculo XVI, quando estudamos este
sculo, diz-se que o fim do Estado a bem aventurana eterna, porque o Estado tinha
um fim metafsico. Quando chegamos ao sculo XVII j no falamos em aventurana
Hugo H. Arajo 2
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
eterna, e comeamos a falar em bem comum, e comeamos a dizer que o fim do Estado
o bem comum.
O bem comum tem a ver com o prprio destino do homem. O prprio aparecimento do
Estado faz com que a finalidade, o fim do Estado se laicize. Enquanto at Idade Mdia
(sc. XV) tnhamos unidades territoriais com finalidade meramente religiosa passamos a
ter a partir do sculo XVII, passamos a ter como finalidade do Estado meramente
humana, o bem comum do homem a utilidade de todos, o Estado tem de tentar
alcanar a felicidade terrena do homem e da vem a prpria riqueza, da o Adam Smith
no sc. XVIII escrever a Riqueza das Naes, a necessidade de crescer
patrimonialmente de forma a sustentar todas as pessoas da entidade estadual.
S que no mbito do Estado, uma ideias que para ns hoje inata que a da
personalizao do Estado. O que isto?
a concepo do Estado como pessoa jurdica, como pessoa colectiva, influenciada
quer pelos titulares dos rgos num determinado momento quer da prpria comunidade,
ou seja essencial para a compreenso da realidade Estado que ns tenhamos uma
diferenciao entre os titulares dos rgos, os rgos e o prprio Estado.
O rgo mantm-se, faz parte do Estado, o titular do mesmo, eleito nomeado,
efmero.
Dai houve uma necessidade de fazer essa distino e essa distino vai levar
concepo da personalidade do Estado.
Ora quem que fez a teorizao do Estado, no sculo XIX, e apenas neste sculo foi
J ellinek, contudo preciso lembrar que no sculo XVI e XVII distingue-se bem entre
Estado e os seus titulares, mas apenas J ellinek que vai teorizar a despersonalizao do
Estado, fazendo o contraponto com a Idade Mdia.
importante fazer-se a distino entre o Estado moderno e a Idade Mdia porque na
Idade Mdia tinha uma:
Concepo patrimonial do poder poltico, o territrio era coisa prpria do rei;
Hugo H. Arajo 3
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Concepo orgnica da sociedade, uma estruturao da sociedade como se de
um corpo se tratasse, com cabea, tronco e membros, sendo a cabea o rei que
dirige todo o resto da sociedade, depois uma estratificao.
Por outro lado, havia uma concepo paternalista do poder poltico, o rei era o pai do rei
dos sbditos tinha um funo da o objectivo da sociedade ser metafsico era o rei que
simbolizava a imagem de um pastor que tinha de levar a sua comunidade para a
salvao. E esta concepo religiosa de Estado que se altera no sculo XVII com o
Estado Moderno, isto deixa de existir. E com esta realidade vai fazer com que tenhamos
que distinguir duas situaes o poder politico e o poltico legislativo e de facto a ideias
da despersonalizao do Estado como pessoa colectiva diversa dos seus titulares.
E isto de facto que nos leva despersonificao, o rei do poder poltico servente,
servidor do Estado e como servidor, tal como todos ns, ele tem de obedecer s leis do
prprio Estado.
Este um avano tremendo do mbito da concepo poltica do sculo XVI.
Haver aqui uma distino a fazer.
Por exemplo o rei constitucional obedece s prprias leis que so elaboradas pelas
Cortes ou pelo governo e no sculo XVI tambm h uma distino entre poder poltico e
Estado, o sculo XVIII tambm tem uma personalizao do Estado, mas ter o sculo
XVIII uma total independncia ou uma total submisso do monarca ao prprio Estado?
Aqui j no totalmente, temos na teoria, mas j no temos na prtica e de facto
importante ter isto presente, porque isto acaba por se transpor para as prprias relaes
internacionais.
Ora muito bem, quando ns olhamos para o sculo XVIII, para o poder absoluto, para o
absolutismo o que que ns temos:
Quem que elabora as leis? O rei
Quem que manda aplicar as leis? O rei
Quem que nomeia os juzes? O rei
Hugo H. Arajo 4
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Tudo esta a ser tratado em torno do rei ento pergunta-se e o rei deve obedecer s
prprias leis que elabora?
Se ele que elabora a lei, se ele que manda aplicar a lei, ter ou no que se sujeitar
prpria lei?
Na teoria a resposta tambm bvia, sim em conscincia, mas no h ningum que o
obrigue. E isto uma realidade para o direito internacional que , o Estado participa ou
na construo de uma comunidade internacional sim ou no?
Sim! O Estado quer criar regras comuns para todos e se algum deles no cumprir, o que
que se faz?
Ou se entra em guerra ou simplesmente no se faz nada. Simplesmente esta concepo
setecentista acaba por estar muito presente ainda no pensamento internacional quer do
sculo XVIII, quer do sculo XIX e mesmo no sculo XX, porque isso que se deu a
sociedade das naes, a organizao das naes unidas foi a incapacidade dos Estados
em criar condies de autolimitarem-se a sua prpria conduta e de facto temos aqui uma
herana normal para o mundo moderno, porque o Estado foi construdo e a prpria
organizao internacional imagem da sua organizao interna e portanto as
deficincias que encontramos a nvel interno tambm encontramos a nvel internacional.
Mas para alm da figura do Estado, e constituindo a essncia do Estado nos temos a
figura da Soberania.
A soberania aquilo que permite reconhecer que um Estado no tem superior nem na
ordem interna nem na ordem externa.
A soberania o poder de reconhecer que um Estado no tem superior nem na ordem
interna nem na ordem externa, ou seja, que independente prpria ideia de soberania
est a total independncia da comunidade poltica e portanto um Estado que soberano
um Estado que a nvel interno pode fazer:
Pode legislar;
Escolher o seu sistema de governo, inerente sua ordem interna, independncia
interna;
Hugo H. Arajo 5
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Fazer a guerra/ celebrar a paz, reduto de soberania;
Cunhar moeda, que essencial;
Nomear representantes noutros Estados, o direito de representao, nomear e
receber;
Fazer a justia;
Direito de clemncia, o direito de graa.
Estes vrios requisitos, caractersticas da soberania foram teorizadas por J ean Bodin,
nos seus seis livros da Repblica, vem dizer onde esta a soberania interna, isto no sculo
XVI.
Se nos passarmos do sculo XVI e andarmos at ao sculo XVIII, encontramos
Montesquieu, e todas estas caractersticas que caracterizam a soberania interna que eram
vertidas em trs grandes reas:
Poder legislativo
Poder executivo
Poder judicial
isto que marca a soberania interna, o Estado, poder, lei, criar condies para as
aplicar e aplic-las coactivamente.
E na ordem internacional a soberania caracterizada pela ideia da independncia
territorial, o Estado soberano aquele que igual na ordem internacional,
independentemente do seu prprio tamanho, tanto faz que o Estado tenha 10 ou 100 mil
habitantes tenham 500 mil km quadrados tenha 300 mil km quadrados totalmente
indiferente.
Desde que ele se comporte igual na ordem interna, no depende de ningum para
organizar enquanto Estado para atingir os seus fins, ento estamos perante um Estado
soberano na soberania internacional.
Hugo H. Arajo 6
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
E de facto a caracterstica da independncia externa do Estado conhece 3 reas:
Ius tractatum (celebrar tratados);
Ius legationes (enviar/receber embaixadores);
Ius belli (fazer a guerra e declarar a paz), o reduto de soberania.
importante notar que se o Estado abdica destas realidades deixa de ser independente
na ordem politica externa.
Um exemplo de Estados, que o so mas que, no tm estas prerrogativas internacionais.
No ano de 1992/1994 quando houve o conflito em Timor, Portugal teve um grande
desenvolvimento com a tomada de posio na Organizao das Naes Unidas com o
objectivo de se ver o reconhecimento internacional de Timor, e tal objectivo criou-nos
grande oposio, da Indonsia com o seu ministro dos negcios estrangeiros que se
opunha a perder uma parte do seu territrio.
Por outro lado tivemos a situao da Austrlia, que queria manter Timor na Indonsia,
assim, a Austrlia aproveitou a redefinio e retirou o seu embaixador de Portugal,
tendo ficado Portugal dependente do seu embaixador em Paris, porque entenderam que
no haviam condies para manter presena diplomtica em Portugal. Isto demonstra o
impacto do prprio reduto do Estado fazer isto, no houve declarao de guerra, porque
na realidade fizeram um tratado com o embaixador de Paris, mas a representao
diplomtica deixamos de a ter de um momento para o outro.
Mas temos Estados que tm uma independncia interna ou uma autonomia interna que
so os Estados federados, os EUA so compostos por 52 Estados, eles tm ou, no tm
poderes internos, eles aplicam os seus prprios impostos, mas h uma coisa que j no
podem fazer definir a poltica internacional, pois esto dependentes das decises do
Estado Federal, ou seja os vrios Estados federados tm independncia na ordem
interna, j no tm independncia na ordem internacional, ou seja eles no tm a
capacidade de celebrar tratados, de enviar misses diplomticas e declarar a guerra.
Hugo H. Arajo 7
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Questo que levou a muitas dvidas quer no sculo XVII, quer no sculo XVIII: ser
que celebrado internacional, um tratado com outro Estado fico limitado
soberania interna no meu poder soberano?
A resposta no, porque o tratado depende da vontade soberana do Estado. O tratado
a manifestao do poder soberano, do poder poltico do Estado, como tal o Estado pode
contratar com outrem.
Diz Vicente Ferrr: se os homens se organizarem em sociedade civil para se
desenvolverem e crescerem, ento esta caracterstica aplica-se s Naes. E portanto, as
naes entre elas tambm se unem com objectivo de encontrar solues para os
problemas dos povos que possa por em causa a manuteno da paz.
A grande tendncia na construo do direito das relaes internacionais, que a lei
natural se aplicava sociedade civil, tambm se aplicaria s sociedades dos Estados,
isto para dizer que as, relaes internacionais, o direito internacional pblico so
construdos imagem e semelhana dos direitos nacionais do direito internacional,
nomeadamente o direito comum, que o direito romano, que vai construir o direito das
relaes internacionais.
Hugo H. Arajo 8
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 2
Lisboa, 28 de Setembro de 2009
Ainda no mbito do Estado falaremos da questo relativa ao territrio e a questo sobre
os mares.
Em relao ao territrio ele o elemento fsico do Estado. tambm no territrio que o
Estado exerce de forma plena e exclusiva os seus direitos de soberania.
Essencial para a existncia do Estado o territrio: h Estado sem territrio.
Exemplo: ordem de malta
Como h Naes que so maiores que o seu prprio Estado. Como por exemplo a
Nao J udaica, que uma nao que tem uma comunho de objectivos de religio
comuns.
Mas em regra um Estado deve coincidir com um determinado territrio, at porque
nesse territrio que o Estado vai exercer toda a jurisdio: poder executivo, legislativo e
judicial.
Isto significa tambm que necessrio no mbito das relaes internacionais, definir ou
delimitar as fronteiras do Estado.
E de facto as fronteiras do Estado podem ser delimitadas de duas formas:
Modo natural aproveitar todos os acidentes naturais para fazer a delimitao
territorial (montanhas, rios, precipcios).
Forma convencional fronteiras dos Estados podem ser definidas atravs de
tratados internacionais entre os Estados limtrofes.
Foi devido s fronteiras, na necessidade de delimitar fronteiras que muitos dos conflitos
internacionais surgiram.
Hugo H. Arajo 9
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Sendo Portugal considerado um Estado que tem fronteiras com Espanha desde o
Tratado internacional de delimitao de fronteiras no reinado de D. Dinis, o tratado de
Alcanices, e com este se vai definir as fronteiras portuguesas at aos finais do sculo
XVIII. No sculo XIX vai surgir problemas com Olivena devido s invases
napolenicas.
A delimitao de fronteiras essencial: para delimitar o territrio para exercer a
jurisdio.
Mas no apenas na crosta terrestre que o Estado vai exercer a jurisdio, exerce
tambm sobre os rios e sobre o mar.
O mar um dos grandes problemas em termos de delimitao de fronteiras.
Em termos terrestre e martimos, o Estado na actualidade exerce jurisdio total e
exclusiva no chamado mar territorial e tambm na chamada zona econmica exclusiva
(+/- 100 milhas da costa).
Enquanto no mar territorial o Estado exerce jurisdio total e exclusiva como em terra,
na zona econmica e exclusiva, nos temos capacidade de proteco das faunas e floras
marinhas bem como bvio poder retirar proveitos econmicos que advenham dessas
plataformas continentais.
Por isso que Portugal tem, com os arquiplagos da Madeira e dos Aores uma das
maiores zonas econmicas exclusivas da Unio Europeia, que a rea da Madeira e dos
Aores e do prprio continente quase que cobre o tamanho da Rssia mas no sculo
XVI, nada do que estamos a falar existia.
E de facto sabia-se que havia uma rea onde o Estado exercia funes de total
jurisdio, por dois motivos, por um lado proteco, era necessrio ter uma distncia
entre a costa e um determinado ponto que permitisse ao Estado defender-se de ataques
externos, como tambm era necessrio essa mesma zona para fazer a recolha dos bens
que o prprio mar d, a pesca.
Hugo H. Arajo 10
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
O problema que se coloca aqui saber qual a distncia, at onde que isto vai, e aqui
os autores do sculo XVI, XVII, XVIII, apesar de haver uma linha comum de
pensamento, essa linha comum dizer que vai at 3 milhas da costa, portanto desde a
costa e uma distncia de 3 milhas o Estado detm total jurisdio sobre aquelas guas,
em que se entendia que 3 milhas era a distncia de um tiro de canho, ai estava a
medio o tiro de canho, como distncia de proteco. At onde o tiro de canho vai
aqui o limite da minha jurisdio total do mar, porque a partir da eu j no consigo de
terra defend-lo.
Mas depois disto havia uma outra faixa martima de 100 milhas onde o Estado no
exercendo jurisdio exercia proteco, nessas milhas ele tinha capacidade de proteger,
proteger nomeadamente delineando rotas martimas, poder proibir navios de navegarem
nessa faixa.
Houve um autor francs do sculo XVIII, Rayreval defende que a delimitao deve ser
feita at ao ponto de vista humano da costa, quanto que isto , impossvel de saber,
quanto mais andamos maior o horizonte como bvio, sendo esta posio minoritria,
apenas s dele prprio, por ser difcil de demonstrar qual a verdadeira distncia.
Bom antes de vermos ainda os mares, uma palavra sobre os rios.
Os rios, at ao Congresso de Viena, em 1815 no eram regulados. E portanto se o rio
nasce e tem a foz no prprio Estado no h problema nenhum.
O problema como bvio so os rios internacionais, rios que atravessam vrios Estados
e s a partir de 1815 com o Congresso de Viena, o congresso que pe fim organizao
napolenica, tendo sido necessrio restabelecer a organizao poltica na Europa, para
isso que serviu o Congresso de Viena, vai-se definir as regras que devem vigorar nos
rios que atravessam vrios Estados. Esses rios na altura eram o Danbio e Escala.
Posteriormente essas regras vo ser aproveitadas para o Reno e tambm sero utilizadas
na Amrica do Sul, para os rios que atravessavam vrios Estados e as colnias
espanholas.
Hugo H. Arajo 11
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Estas regras foram necessrias e estabeleceu-se quem que manda em qu, dentro de
um Estado a jurisdio desse Estado, contudo rios que atravessassem vrios Estados
eram necessrio criar regras de navegao nesses rios nos troos navegveis entre a foz
e at ao limite onde j no era possvel navegar mais.
E para isso como em muitos casos se atravessavam muitos Estados criaram-se
comisses internacionais, compostas por todos os representantes dos Estados por onde
esse rio atravessava para criar as regras de gesto das partes do rio e de facto isto
demonstra, que tendo nos vindo a falar da soberania interna em que o Estado exerce a
jurisdio quer terrestre quer fluvial a criao das comisses internacionais do sculo
XIX vem ser uma limitao voluntria ao prprio direito soberano do prprio Estado.
O Estado admite autolimitar-se para que os leitos navegveis dos rios sejam utilizados
por todos os Estados banhados por esse rio.
Estas regras criadas para os rios europeus, depois transpostas para os rios americanos,
foram tambm utilizadas em frica para o rio Zaire.
Relativamente aos mares, nomeadamente ao mar territorial (de 3 milhas e s outras de
dimenso de 100 milhas), esta questo da navegabilidade do mar criou problemas a
Portugal no sculo XVII, porqu, so as chamadas teses do:
Mar clausum
Mare liberum
O mar clausum (mar fechado), era defendido pelos portugueses e pelos espanhis, onde
o mar que unia a metrpole aos territrios descobertos era um mar restrito navegao
do pas descobridor ou de quem ele autorizasse.
Isto porque diziam os portugueses e espanhis que eles tinham iniciado os
descobrimentos, que eles tinham descoberto novos percursos martimos para chegar a
territrios desconhecidos, ou territrios que se conheciam por terra mas no por mar,
como o caso da ndia, ento eles tinham:
Hugo H. Arajo 12
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Prioridade da descoberta, sendo prioridade no s do territrio mas tambm do caminho
para l chegarem e privilgio de navegar;
Tinham ocupado esses territrios;
Autorizao papal para colonizarem territrios e navegarem at l.
A tese do mar clausum defendida por Selden (quis defender os mares que
circundavam a Gr-Bretanha e nomeadamente o Canal da Mancha, considerado como
territrio ingls e no como francs) e pelo Frei Serafim de Freitas (portugus).
Tese contrria, do Mare liberum foi defendida por Grcio. Grcio vai basear-se nos
princpios do Direito Romano e vai dizer, nem pensar, o mar no aproprivel, o mar
uma coisa pertencente a todos (res communis omnium), no passvel de ser
apropriado por ningum, quer por mar, quer pelo ar (martimo e areo).
Diz Grcio, ateno que esta tese eram defendida pelos prprios romanos em relao ao
mar mediterrneo, que banhava a totalidade do imprio romano, entendiam os romanos
que as costas, as praias e a prpria gua do mar no era aproprivel, pertenciam a todos,
e portanto baseando-se neste princpio Grcio vai dizer, Portugueses e Espanhis no
podem reivindicar o mar dos territrios descobertos, porque o mar inaproprivel, salvo
questes de proteco/segurana. E aqui Grcio destacando as razes de segurana
defendia o mar territorial, referindo-se s 3 milhas, s quais como vimos o Estado tem
jurisdio total. A partir das 3 milhas o alto mar pertence a todos e ao pertencer a todos
s em situaes de extrema justificao, nomeadamente a guerra que poderiam levar a
que se aceitasse que algum Estado controlasse o mar.
Esta tese do Mar liberum tem por objectivo contestar a proibio que os portugueses e
espanhis deram aos navios holandeses de navegarem nos mares da ndia.
Aqui surge um problema, seno vejamos: em bom rigor quem mandava eram os
espanhis. Porque a tese do Mar clausum, foi uma tese defendida enquanto Portugal
Hugo H. Arajo 13
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
teve em unio dinstica com Espanha, ou seja uma tese defendida ps 1580. De facto
quem criou este problema foram os espanhis que fazem guerra com os holandeses.
Para quem no sabe cabe distinguir no sculo XVI: rei espanhol, rei dos pases baixos e
imperador do Sacro Imprio Romano-Germnico.
Quando morre Carlos V h um problema de diviso do Imprio pelos vrios filhos de
Carlos V e entendia-se que Espanha, reinado de Filipe II, e este queria tambm reinar os
Pases Baixos, a Holanda, mas os holandeses revoltaram-se contra Filipe II, tentando
uma emancipao, uma independncia do rei espanhol, e nesta sequencia e aps a unio
dinstica entre Filipe II e Portugal com a morte de D. Sebastio os espanhis vo
estender a sua poltica contra a Holanda e vo proibir que os holandeses naveguem nos
mares dos portugueses e espanhis, nomeadamente os holandeses tinham-se instalado
na regio onde hoje a Indonsia, nas ilhas que compem o arquiplago da Indonsia,
que para chegarem l tinham de passar pelo mar da ndia, e os espanhis diziam que o
mar da ndia era dos portugueses e portanto estava fechado e ao estar fechado eles
proibiam que eles navegassem e nesta sequncia Grcio vai dizer nem pensar que o mar
est aberto porque ele coisa prpria da humanidade, no propriedade de ningum.
Relativamente a esta questo fundamental, os contraditores de Grcio vm dizer est
bem, temos as descobertas, temos a posse e temos uma outra coisa as bulas pontifcias,
o Papa concedeu direitos de colonizar e desenvolver as regies descobertas pelos
portugueses e espanhis para isso, os mares tm de estar preparados para a navegao
dos espanhis e dos portugueses, para alm disso acresce que os prprios portugueses e
espanhis fizeram a diviso do mundo no Tratado de Tordesilhas, em que uma parte era
portuguesa outra era espanhola e o Papa veio ratificar este tratado. Portanto se o Papa
ratificou este tratado porque ele concorda com ele, logo a autoridade mxima e se o
Papa a autoridade mxima logo os restantes povos no podem navegar sem a
autorizao dos espanhis nem portugueses.
Esta tese era muito bonita se nos ainda estivssemos na Respublica Christiana, mas na
realidade no sculo XVII a seguir Reforma Protestante o Papa perdeu o seu poder, ao
perder todo o poder, e ainda por cima a Holanda tinha ficado pelo protestantismo, tinha
emancipado do ponto de vista religioso o papado, vai dizer uma coisa muito simples
pela voz de Grcio: se o Papa ratificou o tratado entre Portugal e Espanha, o tratado no
tem eficcia erga omnes (perante terceiros para os outros Estados, at porque os outros
Hugo H. Arajo 14
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Estados j no so subservientes a Roma e portanto a tese de que as Bulas pontifcias
fechavam os mares uma tese errnea, porque ns holandeses j no estamos regidos
pela entidade Papal.
Hugo H. Arajo 15
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 3
Lisboa, 30 de Setembro de 2009
Na ltima aula vimos a relao das teorias do mar liberum e do mar clausum, tudo isto
relativo liberdade do mar, que importante nas relaes internacionais,
nomeadamente na forma convencional da celebrao de tratados de delimitao de
fronteiras.
Para se terminar a matria do captulo Estado, falemos umas breves palavras sobre a
Razo de Estado.
A partir do sculo XVII, com a teoria do equilbrio do poder, ou seja com a necessidade
de que os Estados podiam equilibrar a sua poltica equidistante e ao mesmo tempo
equilibrada nas relaes entre eles, ou seja s podamos ter Estados soberanos ou
potncias mdias ou pequenas para evitar a guerra e a rivalidade.
A partir do momento em que ns temos o conceito de Estado temos a teorizao da
Razo de Estado pela primeira vez com Giovani Botero (sc. XVII), defendendo a
Razo de Estado como sendo: os meios disposio do Estado para fundar, conservar e
para engrandecer (para aumentar o seu poder territorial e econmico) o prprio Estado.
E baseando-se nestas ideias que homens como o Cardeal Masarini em Frana, o prprio
Cardeal Richelieu tambm em Frana, primeiro com Lus XIII, depois Lus XIV, o
celebre rei sol vo desenvolver uma ideia poltica de crescimento estadual. Isto da
Razo de Estado desenvolvida no s do ponto de vista da poltica, da diplomacia e,
como do ponto de vista econmico.
Esta tripla vertente:
1. Poltica;
2. Diplomacia.
3. Economia;
So factores vitais para a Razo de Estado.
Hugo H. Arajo 16
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
1. Poltica
Do ponto de vista poltico interessa criar as condies e manter o Estado. E isto faz-se
com base na preservao e desenvolvimento das Leis Fundamentais. importante ao
Estado terem leis fundamentais, ao que hoje chamaramos uma Constituio. Lei
fundamental essa que vai permitir a sua estruturao poltica.
Para alm disso importante criar o funcionalismo do Estado. Pela primeira vez
passamos a ter a figura do Secretrio de Estado (figura da Razo de Estado, aparece no
sculo XVII), algum que est ao servio do Estado na gesto da coisa pblica. J no
o rei directamente com os seus conselheiros, mas o rei delega competncias em homens
que esto preparados e o rei s tem uma misso que governar o reino e da termos o
secretrio de Estado do reino, secretrio de Estado para a guerra ou para os negcios
externos, para as relaes diplomticas.
Estas duas figuras so essenciais, mas para alm dos secretrios de Estado que tm o
sentido de oficias temos depois toda a construo do Estado administrativo, que passa
pela criao de cargos pblicos em favor do Estado (reino), para administrar o Estado
(reino), na funo jurisdicional, os juzes com a justia.
Com a Razo de Estado criamos a concepo elptica de poder, tudo comea com o
Estado e termina com ele.
Relativamente figura da Lei Fundamental, o terico da Razo de Estado diz que a
histria do Pas a histria passa a ser um instrumento essencial na defesa do Estado
porque a preservao da tradio e aqui que surge a figura da Lei Fundamental.
A Lei Fundamental que aparece no sculo XVII em todos os Estados europeus no era
mais do que a lei que deveria prescrever os direitos do rei, direitos e deveres dos
sbditos e regras sucessrias.
No podemos esquecer que estamos a falar de Estados monrquicos, e o essencial para a
defesa do regime monrquico a definio das regras de sucesso ao trono, para que
no haja vacatura.
Hugo H. Arajo 17
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Se h vacatura, pode criar-se instabilidade poltica, podendo dar origem guerra e
revolta, da ser fundamental que a Lei Fundamental definam as regras de sucesso ao
trono.
E estas Leis fundamentais vo ser criadas em quase todos os reinos europeus: em
Frana com a Lei Slica, em Portugal com as Cortes de Lamego, as Leis Fundamentais
que vo exprimir a construo da Razo de Estado so as Cortes de Lamego
As Cortes de Lamego:
Nunca existiram, um diploma apcrifo, mas vigorou durante 300 anos. Em 1640
temos a restaurao da independncia aps 60 anos de unio dinstica com Espanha,
com uma guerra civil, os portugueses aclamam rei D. J oo IV, que para o legitimar era
necessrio dizer que D. J oo IV era rei legtimo e que os Filipes eram ilegtimos, que
tinham usurpado o poder.
Descobre-se que D. Afonso Henriques, nas Cortes de Lamego tinha acordado com as
classes sociais (povo, clero e nobreza) e nessas actas acordaram as regras de sucesso ao
trono, concluindo que os Filipes eram usurpadores.
Quem descobriu essas actas foi o Frei Antnio Brando, mas este s tinha visto uma
cpia e no sabia onde.
Contudo, estudos de Alexandre Herculano, provaram a falsidade e a inexistncia das
Cortes de Lamego, nem mesmo D. Afonso Henriques esteve em Lamego.
Durante muitos anos pensou-se que tinham sido os espanhis que tivessem roubado as
actas.
As ltimas Cortes Portuguesas em 1625, deliberam uma alterao, um aditamento s
Actas das Cortes de Lamego, apesar de terem carcter consultivo as Cortes em matrias
fundamentais tinham carcter deliberativo.
Aqui estamos perante um diploma fundamental, funda e justifica a Razo de Estado.
Mas a Razo de Estado acaba por ser incorporada por outros elementos e estes
elementos so a prpria poltica externa e nesta a teoria da Razo de Estado vai basear-
se sempre em dois grandes princpios:
Hugo H. Arajo 18
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Independncia;
Igualdade.
Estes princpios fundam a Razo de Estado. Porqu?
O prncipe soberano na ordem interna (porque no tem superior a no ser Deus) e
independente na ordem externa isso a definio da Razo de Estado. E essa
independncia na ordem externa vai fazer com que os princpios da Razo de Estado
possam declinar ou recusar a assinatura de um tratado internacional sempre que esse
tratado possa colocar em causa a grandeza do Estado.
A independncia vista a um ponto tal, que sempre que se entenda que pode estar sob
pena de um tratado por em causa a independncia ou a grandeza do Estado o prncipe da
Razo de Estado no assina esses tratados internacionais, est liberto.
Para justificar e para fundar essa mesma independncia que um outro elemento
coadjuvante ao desenvolvimento da razo de Estado a diplomacia.
A diplomacia essencial porque vai ser necessrio criar um corpo de profissionais,
habilitados, competentes, preparados para servirem noutro pas os interesses do seu
Estado.
Lendo alguns livros de diplomacia, descobriremos as construes ardilosas das relaes
diplomticas nos sculos XVII e XVIII.
O embaixador contrariamente ao sculo XIX, em que o embaixador um oficial do
Estado, a partir do sculo XIX, a partir de 1836, o embaixador como hoje um
funcionrio do Estado, so especialistas tm uma carreira prpria, a carreira
diplomtica, mas integra os oficiais do Estado.
Nos sculos XVII e XVIII, o embaixador no era uma carreira. O embaixador era
escolhido por trs caractersticas:
Tradio familiar;
Mrito;
Hugo H. Arajo 19
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Prudncia, o embaixador devia ter a capacidade de discernir o que era til e
nefasto para a poltica do seu pas.
No sculo XVII temos muitos tratados de prudncia no s com embaixador como para
o prprio prncipe.
Os Espelhos dos Prncipes so a cartelizao da ideia da Razo de Estado, no ensino de
como deve ser um prncipe e a base do ensino centrava-se em dois conceitos:
Prudncia (ideia medieval, a capacidade de discernir o verdadeiro do falso);
J ustia (prncipe devia ter uma conduta recta, baseada na justia).
O papel do embaixador crucial no sculo XVII e XVIII, tendo trs funes
fundamentais:
Negociador de casamentos rgios (tratados), competia-lhes avaliarem que
princesas existiam na Europa e qual o interesse estratgico-poltico em celebrar
o casamento dessas princesas com o rei de Portugal. um dos assuntos mais
importantes, porque teria que haver o cuidado de com a poltica de casamentos
com Espanha, que era uma tendncia de se correr novamente o risco de uma
unio dinstica entre Portugal e Espanha. Olhando para a historia, apesar de D.
J oo IV ser casado com uma espanhola, com D. Lusa de Gusmo que ter dito
Antes rainha um dia, que duquesa a vida inteira, isto explica a fora poltica
que em determinado momento, e ela vai ser a defensora da insistncia do no
casamento dos seus filhos com princesas espanholas e so os embaixadores que
vo ter esse papel de procurarem e negociarem e de facto o que vai acontecer,
que a ns, pas pequeno e em 1640, quando h necessidade de casar os prncipes,
visto que at a apenas se procurou, perguntaram embaixadores quais so os
reinos que estrategicamente nos podem ajudar a defender a nossa independncia
e por isso vo casar a filha com o rei de Inglaterra, D. Catarina vai casar com
Carlos II de Inglaterra, para se sedimentarem relaes portuguesas e inglesas, e
portanto no caso de haver invaso espanhola, Portugal ter o apoio dos ingleses, e
vai-se casar o prncipe herdeiro com uma francesa, para se manter a
Hugo H. Arajo 20
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
equidistncia de foras no continente e na parte insular. Se Espanha invadisse
Portugal nos teramos como ajuda os ingleses e os franceses, porque uma
princesa francesa era casada com o rei portugus e porque a rainha inglesa era
portuguesa. Isto til Razo de Estado
Mediadores de delimitao de fronteiras
Declarao de guerra e declarao de paz, era atravs do embaixador que a
guerra era declarada, e de facto a guerra era iniciada de uma forma simblica, o
embaixador era chamado para o seu pas, portanto a retirada, a sada
intempestiva de um determinado pas era sinal de que iria ser declarada uma
guerra.
Econmico
Razo de Estado tambm tem caractersticas especficas, e estas tm um objectivo que
o engrandecimento econmico, da riqueza da nao. o caso da obra de Adam Smith
A Riqueza das Naes do sculo XVIII. Conceito que ter importncia no sculo
XVIII e XIX, o conceito de utilidade.
til, tudo aquilo que for conveniente para o aumento da riqueza da Nao.
Com base neste conceito de utilidade que se desenvolvem as razoes econmicas nos
vrios Estados no sculo XVII e XVIII, e passa por onde:
Incremento agricultura;
Incremento da indstria;
Incremento do comrcio criao das companhias privilegiadas ou majestticas,
sendo exemplo em Portugal a companhia de Pernambuco, na Holanda a
companhias das ndias.
Nestas companhias mantinham-se relaes com outras companhias.
Preocupao Social
Hugo H. Arajo 21
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Necessidade de ser dada a todo o povo (todos os grupos sociais) aquilo que eles no
tinham capacidade de aceder por nascimento e portanto a preocupao social
nomeadamente no desenvolvimento da pera, das touradas, do teatro.
aquela ideia tpica de J lio Csar: Vamos-lhes dar po que o desenvolvimento
econmico, vamos-lhes dar circo que a manifestao cultural.
No campo ainda da poltica surge-nos uma questo de saber se o Rei ou no obrigado
a cumprir a sua lei?
Os Tratados da prudncia dizem que sim, por uma questo de exemplo para seu prprio
povo, mas ele pode ou no cumprir sem penalizao.
Aqui h limitao, pode o Rei no cumprir sem penalizao, as leis que elabora, mas j
no pode deixar de cumprir as Leis Fundamentais, e caso no cumpra pode colocar em
causa a prpria existncia do reino, tambm obrigado a cumprir o direito natural e o
direito divino.
Os tericos da Razo de Estado colocam aqui uma delimitao ao incumprimento do
rei, numa trplice obrigacional:
Leis fundamentais;
Direito natural;
Direito divino.
Por uma razo muito simples, porque o prprio direito natural a fonte do prprio
poder do rei. Se o rei no cumpre o direito natural, ele no est a cumprir o prprio
direito que o permite manter-se frente do reino, pois o direito natural que o permite.
Estas ideias da Razo de Estado no so especficas de Portugal. Em todos os reinos
(sculos XVII e XVIII), seguem o mesmo pensamento poltico e econmico, fazendo
assim o equilbrio dos Estados, evitando assim as guerras.
Hugo H. Arajo 22
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 4
Lisboa, 07 de Outubro de 2009
Abordemos o tema da Guerra, um tema forte das Relaes Internacionais.
Um Estado soberano tem capacidade de fazer a guerra e celebrar a paz, sendo este o fim
da sociedade.
A guerra do ponto do ponto de vista patolgico deve ser entendida como o ltimo
recurso para atingir a paz.
A paz na ideia de justia, como na Idade Mdia e no seguimento de S. Antnio, a paz
como uma virtude. Como j dissemos, a paz o fim da sociedade.
A guerra legtima s se tiver justa causa.
Guerra justa se invadirem o nosso territrio, se esgotarmos os meios diplomticos.
Contra o infiel da religio Guerra Peninsular contra os rabes.
Na Republica Cristiana o Papa e o Imperador diziam se era a guerra justa ou injusta.
Contudo no basta esgotar os meios diplomticos, necessrio esgotar meios
internacionais (Papa e Imperador), segundo a escola dos Glosadores e dos
Comentadores.
Nos sculos XVI e XVII, a guerra no do ponto de vista ideolgico, vista como
forma de conduo do Estado. No por questes religiosas, mas para a sobrevivncia do
Estado, para a independncia do Estado.
A guerra era olhada para manter a paz internacional. Assim a guerra deve ser justa
quanto aos fins e aos meios que utiliza.
A guerra justa pode no ser guerra humanizada, era o vale tudo, porque a guerra j
estava legitimada.
Hugo H. Arajo 23
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Da era necessrio criar regras para as guerras, limites para a guerra. A guerra como
engrandecimento da Razo de Estado.
Para os economistas do sculo XVIII e XIX, mais propriamente Adam Smith e
Montesquieu, a guerra um obstculo economia, circulao de bens pelos Estados,
pe em causa o crescimento do Estado.
A guerra o limite que tem de se evitar.
Mas como evitar a guerra (meios de resoluo pacifica, composio)
Bons ofcios
Mediao
Arbitragem
Bons ofcios so o uso que um Governo faz da sua autoridade, influncia e amizade
para reaproximar Estados desavindos, aconselhando e propondo meios de resoluo.
de livre disponibilidade do terceiro Estado, que se oferece para aconselhar, afim de
evitar a guerra.
No so obrigatrios, e mesmo a deciso no obrigatria, um simples
aconselhamento.
Mediao Estado presta o seu auxlio para resolver questes internacionais pendentes
entre 2 ou mais Estados.
Vai mais longe, os Estados desavindos convidam Estados mediadores. Este, de forma
imparcial tem de resolver o conflito internacional.
Os Estados em conflito podem no seguir a posio do Estado mediador, da se conclui
que no obrigatria. uma tentativa de resoluo.
Hugo H. Arajo 24
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Arbitragem obrigatria. o recurso por um/ mais Estados a uma terceira entidade
que vai resolver de forma definitiva o conflito entre eles, ou seja, entre os desavindos.
Na arbitragem, fica disposio dos Estados em conflitos o arbtrio que pode ser outro
Estado, um jurista internacional, ou qualquer instituio que os Estados acordem que
seja capaz de resolver o conflito. Conceito nasce no sculo XVIII, e cresce no sculo
XIX.
Esta uma forma substitutiva de recorrer a Tribunais tendo o mesmo valor que deciso
judicial.
Vantagem a de poder escolher o Direito aplicado, parte os Estados podem recorrer
por exemplo, equidade, recorrendo o arbtrio equidade para resoluo do conflito.
Na deciso judicial isso no pode acontecer.
Contudo aps a escolha do Direito tudo se resolve como se de um Tribunal se tratasse.
A deciso irrecorrvel, sendo a deciso do rbitro a soluo para o conflito.
Solues pacficas (soluo medieval):
Recurso figura das represlias
Represlias - possibilidade que um individuo de um determinado Estado que se sinta
lesado pela prtica de determinado acto por outro Estado ou um individuo do Estado,
fazer justia sobre uma pessoa do Estado que cometeu o delito.
Exemplo: um portugus cumpre a parte do contrato com um espanhol para entrega de
azeite.
O portugus cumpre a parte do contrato, mas o espanhol no lhe paga porque o azeite
no da qualidade que tinha pedido.
A recorremos ao tribunal espanhol para obrigar a cumprir o contrato.
O tribunal espanhol conivente com o seu patriota no decide, ou decide no aplicar a
justia.
Hugo H. Arajo 25
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
A o portugus sente-se lesado e na Idade Mdia podia recorrer ao rei, pedindo a este
que fizesse justia, obrigando um espanhol em territrio portugus a fazer o pagamento
do azeite.
Quando posso ter represlias:
Requerendo a autorizao do Prncipe (rei);
J usta causa negao de justia como o exemplo acima;
Inteno concreta que justifique a represlia.
As represlias eram aceites na Idade Mdia, no campo da justia, pois esta uma forma
de reconstruir a paz, no entrando em guerra.
Na concepo orgnica da sociedade, se um visa o outro, consideram-se todos visados.
No caso do exemplo, se um portugus foi lesado, considera-se que todos os portugueses
foram lesados.
Antes de haver represlias, devem recorrer para a justia papal para que o Papa resolva
o conflito.
Contudo nem todas as pessoas podiam ter represlias:
Mulheres;
Cleros;
Estudantes;
Peregrinos;
Testemunhos de processos;
Mercadores;
Barcos;
Marinheiros;
Hugo H. Arajo 26
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Enviados diplomticos;
Embaixadores.
A obteno da paz no foi apenas objectivo da Razo de Estado para engrandecimento
do Estado.
A paz a longo da filosofia foi idealizada a Paz Perptua, ou seja, criar condies para
evitar a guerra.
No sculo XX, com a ONU tenta-se criar uma instncia internacional que tentasse
resolver conflitos entre vrios Estados, tentando evitar a guerra entre os Estados.
Hugo H. Arajo 27
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 5
Lisboa, 12 de Outubro de 2009
Kant foi um dos grandes pensadores dos finais do sculo XVIII, teve influncia no
pensamento europeu no sculo XIX.
Kant apresenta uma proposta para a construo do sistema da paz perptua, baseado na
ideia da Racionalidade do Estado, ou seja prope Kant a criao de uma Federao de
Estados iguais, ligados por um contrato, e isto pensando que estamos no mbito da tese
contratualista, e Kant um contratualista, ou seja baseia-se na ideia de um contrato, em
que nesta Federao no h supremacia de um Estado perante outros, e portanto a
federao de Estados com igual poder, teria a funo de manter a paz na Europa.
Kant vai mais longe e diz que a nica forma da Federao ser bem sucedida era atravs
da transformao de todos os Estados existentes na Europa em Repblica. Portanto, ele
ab-rogava que o sistema poltico ideal para a Federao de Estados era a Repblica. E
s havendo Repblicas que era possvel constituir uma Federao com rgo de
superviso para manter a paz na Europa.
Outra proposta de manuteno da paz perptua ou de criao de paz perptua, foi
defendida por Bentham. E Bentham escreve um pequeno ensaio, intitulado: Ensaio
filosfico acerca da paz perptua (1795).
E Bentham tambm prope a criao de uma estrutura supranacional para manter a paz
no continente europeu. E essa estrutura uma Confederao de Estados, com poder:
legislativo, executivo e judicial. Ou seja, Bentham olhando para o modelo estadual vai
propor uma estrutura supranacional, semelhante quela que conhecia do Estado.
Para melhor se sedimentar a carta das naes prope Bentham que sistema judicial no
deva funcionar apenas como tribunal mas tambm como sistema de arbitragem e
portanto ele entendia que sempre que fosse necessrio dirimir conflitos entre Estados
confederados, estes no deviam entrar em guerra mas sim recorrer entidade judicial
Hugo H. Arajo 28
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
que teria funes recprocas no mbito da Confederao, funes essencialmente de
arbitro nos conflitos entre os vrios Estados.
Posto isto, vamos ver a questo, no mbito da guerra, a questo relativa guerra justa.
Porqu?
Fala-se em guerra, falamos em luta armada, falamos em conflitos entre Estados
soberanos.
Para que haja guerra necessrio saber se ela lcita ou ilcita. E mesmo dentro da
guerra lcita necessrio saber se ela justa ou injusta. A guerra pode ser lcita, pode
no ir contra os ditames do Direito internacional, mas podemos estar a falar de guerras
no justas.
E a guerra era justa quando, dizia-nos a Idade Mdia, a guerra assentava na clemncia e
misericrdia, isto porque a preocupao medieval era assente na divinizao da
sociedade. Estamos perante uma organizao csmica da sociedade e da o ser
importante basear os princpios da guerra nos princpios da teologia crist.
E tendo trabalhado estas duas virtudes teolgicas o Cardeal Hostiense vem delimitar as
trs situaes em que a guerra justa:
Quando autorizada pelo poder judicial (guerra judicial);
Quando aprovada por uma autoridade com competncia para o fazer (guerra
autorizada pelo prncipe nica entidade que na Idade Mdia podia autorizar a
guerra), isto significa uma tentativa por parte dos reis de proibirem que outros
senhores, que no eles, pudessem ditar o incio ou o termo de uma guerra. A
guerra s justa quando autorizada pelo rei. S nestes casos que a guerra
lcita;
Guerra necessria guerra feita contra os infiis para proteco contra o prprio
Estado, e portanto estamos aqui a falar de uma guerra de proteco estadual. O
Estado entra em guerra para se proteger, ao faz-lo uma guerra necessria.
Hugo H. Arajo 29
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
So Toms de Aquino vem tambm ele trabalhar a ideia da guerra justa, e vem
considerar que ns podemos ter guerra justa, em trs situaes e usamos trs vocbulos.
A guerra justa se:
Autorizada;
Prosseguir a justia;
Honesta.
Isto quer dizer que a guerra justa se:
Se autorizada pela entidade competente para a fazer (o rei);
Se for adequada, havendo aqui uma ideia de proporcionalidade, eu no consigo
ter o fim que pretendo, a no ser atravs da declarao de guerra. Dito de outra
maneira, a nica forma que eu tenho de me impor perante terceiros a guerra,
porque j esgotei os outros meios minha disposio, neste caso a guerra
justa;
Se for honesta, ou seja, aqui a honestidade no a forma como eu fao a guerra,
aqui a honestidade para S. Toms de Aquino aquilo que me leva a declarar a
guerra. No pode ser um motivo ftil, tem de ser um motivo justificativo,
porque se no houver um motivo justificativo, eu no tenho uma guerra honesta.
Vejamos, portanto que na ideia medieval a justia, a honestidade a proporcionalidade,
so essenciais para a justia da guerra. Tal como eram para a prpria lei. A lei justa se
for equitativa, a lei justa se for proporcional, a lei justa se for necessria, portanto, os
requisitos que usamos para a figura da lei, so tambm utilizados para a figura da
guerra. E aqui essencial uma adequao dos meios necessrios, aos fins.
Falamos em guerra justa, falamos em guerra injusta.
A guerra injusta aquela que:
Hugo H. Arajo 30
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
No foi declarada pela autoridade adequada, com competncia para o efeito;
Se desonesta;
Se no forem usados outros meios para evitar a guerra.
Ns falamos muito na ideia da guerra e normalmente vem-nos cabea, as guerras
internacionais entre Estados e as guerras civis.
S uma nota: em Histria das Relaes Internacionais, ns trabalhamos o conceito de
guerra entre Estados, no trabalhamos o conceito de guerra civil. A guerra civil no
tratada pelos internacionalistas, que uma guerra intra-fronteiras, diz respeito ao Estado
enquanto tal e s pessoas desse Estado, no tem a ver com a posio do Estado para com
outras entidades. E portanto os conceitos que estamos a dar no so adequados para a
guerra civil. Os internacionalistas no trabalharam a guerra civil.
Passando da Idade Mdia para a poca do racionalismo e do iluminismo, vamos ver que
a conceptologia relativa guerra justa desaparece, outra. E outra porque para o
homem do iluminismo, para o homem da razo de Estado, a guerra justa:
Quando se atinge o bem do Estado, ou quando serve o bem do Estado;
Quando se preocupa com o bem comum dos cidados.
Vejam como as coisas mudam. A concepo jus-filosfica da Idade Mdia, para a poca
racionalista, uma concepo diversa. Ns perdemos o substrato cogens, ns perdemos
o substrato teolgico ou teocntrico. J no so as virtudes telogas: a clemncia e a
misericrdia, que j no so o substrato da guerra justa.
Agora o bem comum, a felicidade dos povos, a riqueza das naes, isto que dita a
guerra, ser justa ou injusta. Bem como saber os motivos que podem ou no levar
guerra: a necessidade de manter unido o Estado, e a necessidade tambm de atingir a
riqueza dos povos.
Um dos autores portugueses, que se debruou sobre a guerra e sobre a guerra justa foi
Domingo Antunes Portugal, autor dos finais do sculo XVII, XVIII. E Domingos
Hugo H. Arajo 31
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Antunes Portugal, vai pegar na tnica de S. Toms de Aquino do termo autoridade, e
vai dizer: a guerra justa quando autorizada pelo Prncipe.
Portanto, apesar dos conceitos do pensamento tomista e telogal, tendo sido
abandonados, no significa o desenvolvimento que esse pensamento teve, tenha sido
posto de lado, ou seja, o conceito e a tnica de S. Toms de Aquino colocou, na ideia de
que a guerra s justa se for autorizada, vai manter-se ao longo dos sculos, at
actualidade.
No h guerras que no sejam autorizadas. Porqu? Porque depois coloca-se uma outra
questo, se a guerra no autorizada temos que perguntar: lcito sbditos daquele rei
participar nela? Ou no lcito, e estamos perante uma guerra ilcita?
A questo coloca-se. Se eu autorizo a guerra evidente que eu estou a legitimar a
participao de todos nela. Se eu no autorizo a guerra, mas ela se faz, pode haver ou
no resistncia guerra?
Uma guerra no autorizada uma guerra no querida, logo se uma guerra no querida,
eu no sou obrigado a faz-la. O mesmo se coloca se a guerra ilcita, se os meios
utilizados pelo prncipe no so os meios adequados para atingir o fim, ou se o prncipe
no faz uma guerra para atingir o bem comum do reino, mas faz uma guerra para atingir
os seus bens prprios, eu posso ou no resistir? H ou no direito de resistncia quanto
guerra injusta? O mesmo vimos relativamente lei. Sendo uma lei injusta podemos ou
no resistir a ela? Podemos ou no podemos recusar ao seu cumprimento? Se o prncipe
for um tirano, ou seja no tiver em ateno o bem comum, o interesse de todos, mas o
interesse prprio, eu posso ou no posso oferecer direito de resistncia contra ele? At
onde vai esse direito de resistncia?
As questes que se colocam para o Direito civil, e que se colocam perante a lei, e que
so situaes muito complexas. Na nossa prpria Constituio vemos regulados tais
factos. Logicamente que eu no posso resistir contra o poder, mas eu posso ou no
posso exercer direitos que me permitam a no aplicao da lei? Por exemplo o caso da
objeco de conscincia pode ou no pode exercer-se? Objeces de conscincia em
matrias morais uma forma de resistncia lei. Ora isto que se passa hoje, quando
temos direito de petio Assembleia da Republica, enquanto cidados, para nos
Hugo H. Arajo 32
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
opormos aprovao de leis, estamos a fazer aquilo que a Idade Mdia nos ensinou.
Estamos a fazer aquilo que a prpria poca do racionalismo nos ensinou.
E por isso a importncia da guerra ser injusta, porque se ela no justa eu posso exercer
o meu direito de resistncia participao na mesma.
E como que eu ultrapassava isto? Era muito simples ela tinha de ser autorizada. Se o
rei no autorizasse era sinnimo que os prprios sbditos no eram obrigados a
participar na guerra. Estvamos perante a injustia da guerra.
Ora a guerra ao ser autorizada pelo rei como diz Domingos Antunes Portugal, vai
obrigar em trs grandes reas os sbditos:
Por um lado a guerra est declarada, e ao estar declarada todos tm de participar;
Guerra autorizada, uma guerra onde se pode obrigar os sbditos a participar na
mesma. Eu posso obrigar os nacionais a servirem-na. Ns s temos direito de
resistncia quando a guerra injusta. Ora eu legitimo a guerra pela autorizao.
Ao autorizar eu corto o vnculo da ilegitimidade;
Direito de impor tributos. Se eu autorizo a guerra eu posso aumentar impostos
para sustentar a mquina de guerra. E aqui a grande surpresa da Idade Mdia
para a actualidade. que na Idade Mdia, quem que suportava a guerra? Os
senhores, a nobreza, porque numa concepo orgnica de sociedade, a nobreza e
o clero, no lhes impunha iseno tributria, no pagavam impostos. Quem
pagava impostos era o povo. No existe injustia, antes pelo contrrio assim
que se prossegue a justia, porque eles no pagavam impostos directos, mas a
nobreza tinha que sustentar a mquina de guerra. No competia ao rei faz-lo.
Era a contrapartida da nobreza no ter impostos. O clero, no pagava porque tem
de administrar a educao e prover da sade, ou seja, as escolas foram criadas
pelo clero e suportadas pelo clero, o rei no facultava um tosto. Os primeiros
hospitais que aparecem so do clero. Tinham obrigao de acudir a todos sem
lhes pagar. a contrapartida de uma sociedade orgnica. De uma sociedade tida
como um corpo que trabalha em comum. Dos direitos tm de ter uma faculdade
recproca com os deveres. Ora quando passamos de uma sociedade orgnica para
Hugo H. Arajo 33
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
uma sociedade estratificada, em que o rei a cabea e o rei centraliza todos os
poderes do reino, o rei acaba logo com a ideia da nobreza de fazer a guerra, ou
seja se ela pode fazer contra os inimigos tambm pode fazer contra mim. Se ela
tem capacidade para armar exrcitos contra o Estado vizinho, tambm tem
capacidade para organizar guerra contra a minha prpria pessoa e isso eu no
posso admitir, tenho que acabar com os exrcitos privados e criar um exrcito
nacional. Ora esse exrcito nacional vai ter que ser sustentado atravs dos
impostos e daqui o sculo XVII teorizar que preciso ter uma guerra autorizada
para ter impostos.
Para termos uma guerra necessrio declar-la. Como que eu declaro a guerra?
Bom, em regra, a guerra era declarada, atravs de uma acto solene, normalmente uma
carta, um comunicado, no caso de guerra internacional, o rei mandava um imediato seu,
com estatuto de diplomata, ao reino vizinho a informar da declarao de guerra.
E este imediato, tinha um estatuto de inviolabilidade tal que no podia ser preso nem
ficar retido no reino a quem se declarava a guerra. De facto importante, o nncio, que
ia declarar a guerra tinha um tratamento semelhante ao de embaixador.
A nvel nacional era necessrio declarar a guerra, informar os sbditos que a guerra
tinha sido declarada.
E assim ns temos trs tipos de editais atravs do qual se declarava a guerra:
Edital inibitrio aquele que probe quaisquer relaes dum nacional do Estado
com o Estado inimigo ou seus sbditos;
Edital avocatrio aquele atravs do qual se chama os indivduos a prestar
servio militar, nomeadamente, se chama aqueles que estavam a prestar servios
a exrcitos terceiros;
Edital exortatrio aquele a que se interdita qual relao comercial com o
Estado inimigo.
Hugo H. Arajo 34
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Lus Molina, foi um dos autores do sculo XVI, espanhol que vai debruar-se sobre a
conduta a ter na guerra, o tal comportamento que devemos ter na guerra.
De facto este um dos aspectos importantes, porque ns vamos precisar de chegar ao
sculo XIX para que a verdadeira corrente da humanizao da guerra, se venha a impor.
O sculo XIX, o sculo dos pacifismos e esses pacifismos vo ter especial nfase, na
disciplina da guerra. No significa que at ao sculo XIX tivesse valido a politica do
vale tudo. No de facto essa orientao. E a partir do sculo XVI, os telogos, sim,
porque a humanizao da guerra saiu sempre da Igreja, tentaram criar condies para
que a guerra fosse o menos brutal possvel.
E Lus Molina vai enunciar algumas das situaes de bom comportamento na guerra:
A guerra justa e lcita quando se fizer aquilo que estritamente necessrio para
segurana do rei e para atingir o seu bem comum. Claro que o conceito de
necessidade um conceito amplo, onde cabe muita coisa. Pode ser necessrio,
tomar como refns soldados inimigos, mas j no privados. E aqui Molina j
vem fazer uma distino. Uma coisa aprisionar militares, prisioneiros de
guerra, outra coisa aprisionar particulares, isso proibido; pode ser necessrio
e lcito, por exemplo, tomar cidades, fortalezas, castelos que no devem ser
destrudos e restitudos ao inimigo aps o fim da guerra; pode ser lcito
apropriar bens inimigos, fazer pilhagens, apenas em casos de fome. Quando est
em causa a fome tudo se legitima, contudo nada impede que aps o tratado de
paz no possa haver indemnizaes por pilhagens, mas durante a guerra, a
pilhagem admitida se for justificada pela fome. Os prisioneiros de guerra,
devem ser alimentados, tratados e mantidos vivos. No admitida numa guerra
justa a morte dos prisioneiros de guerra. Portanto o conceito de prisioneiro de
guerra deve ser morto termina, deve ser bem tratado para ser restitudo ao
inimigo aps o termo da guerra.
Conexo com o conceito de guerra temos o conceito de neutralidade. A Idade Mdia no
admitia o conceito de neutralidade, porque vem dizer: ser neutro no estar em parte
nenhuma.
Hugo H. Arajo 35
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
E se a guerra justa, significa que uma parte est dentro da razo e a outra no est.
Portanto, os Estados no podem ser neutros, a justia s est de um lado, no est nos
dois, e o Estado neutro devia estar do lado da justia.
de facto uma concepo muito telogal, da ideia de guerra, que a ideia de que a
guerra justo somente de um lado, s lcita de um lado, s prossegue os ideais do
Direito Natural de um lado e desse lado que devem estar todos os Estados, seno
estaro do lado do mal.
Claro que a partir do sculo XVII e XVIII, a figura da neutralidade comeou a ser
tratada pelos internacionalistas. E a neutralidade vem dizer uma coisa muito simples:
que o Estado neutro aquele que mantm relaes comerciais de amizade com os
beligerantes. No toma partido, no por ser neutro que vai vender armas a um e armas
a outro, para ter mais riqueza. Portugal fez isso na II Guerra Mundial com o Volfrmio,
vendemos ao Eixo e vendemos aos Aliados, ramos neutros, mas era uma concepo de
neutralidade do deixa-me ver onde que eu posso tirar maior partido. Contudo no
isto o conceito de neutralidade. O neutro no tem relaes com o beligerante, ou se tem,
tem do ponto de vista humanitrio. Ele mantm-se equidistante. Mais o neutro deve ter
a funo de ser o mediador entre os Estados desavindos, de tentar exercer os bons
ofcios, para tentar apaziguar os inimigos. Esta uma grande funo dos neutros.
Bem como o Estado neutro deve salvaguardar, no campo nomeadamente do comrcio
martimo, as embarcaes e proteg-las dos Estados beligerantes, que transportando
material de no de guerra atravessem as suas guas. E isto muito importante.
No caso portugus isto deu-nos um grande problema, que levou a uma arbitragem, que
felizmente ganhamos contra os EUA, porque o Estado neutro, um Estado que concede
a sua neutralidade aos seus portos, s suas guas. O mar que banhar um Estado neutro,
neutro, a quem? A todos. No se pode fazer guerra nesse espao, nem como se deve
autorizar que navios de ambas as partes transportem mercadoria no de guerra, possa
atravessar as guas.
Mas se o Estado neutro desconfia que as embarcaes que atravessam os seus mares,
levam munies de guerra, ou vo servir alimentos para sustentar uma mquina de
guerra, o Estado neutro pode apreender durante a guerra as embarcaes. Porqu?
Porque nas suas guas no podem passar.
Hugo H. Arajo 36
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
H aqui de facto, direitos e obrigaes, que so muito importantes, porque a
neutralidade dos portos, do Estado neutro, deve ser respeitada pelo prprio Estado como
pelas partes beligerantes. Elas no podem criar nenhuma circunstncia que ponha em
causa a neutralidade do pas que atravessam, ou mesmo que possam pr em situao
desagradvel, o Estado que neutro.
Um exemplo que aconteceu em Portugal, em 1814, havia uma guerra entre a Inglaterra e
os Estados Unidos, e Portugal era neutro, tnhamos declarado a neutralidade. E no porto
do Faial, estavam ancorados, um navio ingls e um navio norte-americano. O navio
ingls bombardeia o norte-americano, e o norte-americano responde, mas o navio ingls
leva a melhor, tendo sido completamente destrudo o navio norte-americano.
O que que os EUA vieram pedir? Veio pedir a Portugal uma indemnizao pela
destruio do navio, americano. Isto demorou cerca de 40 anos a ser resolvido, porque
durante este tempo sucedia-se correspondncia diplomtica entre Portugal e os EUA.
Decide-se levar isto a arbitragem internacional, na qual Portugal ganha pois foi violado
o espao neutro. Sendo um Estado neutro os Estados beligerantes tm de respeitar e no
podem exercer nenhum acto de guerra, no territrio neutro.
E portanto os EUA, vai ser obrigado a indemnizar os ingleses, e no Portugal a
indemnizar os EUA, foi violado um esprito de paz.
E de facto a ideia de neutralidade uma ideia sagrada. Isto leva-nos a pensar na paz das
feiras. Isto era, nas feiras, mercados, desde o dia anterior ao inicio da feira, at ao dia
posterior ao inicio da feira, ao fim da feira, era estipulado, ao rei o perodo de paz de
feira, e a paz de feira dizia que todo e qualquer mendigo que comete-se um crime,
nomeadamente um roubo, homicdio, durante o perodo em que vigorava a paz da feira,
era condenado forca automaticamente, pois era equiparado ao crime leja majestade,
porque o rei tinha imposto um perodo de paz para se desenvolverem os mercados, para
desenvolver o comrcio, e portanto, quem no cumprisse a paz da feira estava a violar
uma regra do rei, portanto a pena era automtica, sem julgamento. A neutralidade a
mesma no se pode violar a paz que vem do Estado neutro. Quem viola deve ser
punido.
Um Estado neutro, um Estado que no entra nas guerras. E a neutralidade pode ser de
dois tipos:
Hugo H. Arajo 37
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Neutralidade momentnea neutralidade que tomada pelo Estado para um
conflito armado especfico.
Neutralidade perptua em todos os conflitos armados o Estado declara-se
neutro. Por exemplo, o caso da Sua. E tivemos durante todo o sculo XIX o
caso da Blgica.
Hugo H. Arajo 38
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 6
Lisboa, 14 de Outubro de 2009
Vamos abordar os conceitos de Nao e de Nacionalismo.
O sculo XIX ficou conhecido para a histria como o sculo dos movimentos nacionais,
o sculo do nacionalismo. E a ideia de nao bem como a ideia de movimento
nacional, marcou a evoluo tendencial, bem como a caracterizao que ns possamos
fazer, da histria das relaes internacionais.
Os movimentos nacionalistas nascem, ou desenvolvem-se com a Revoluo Francesa.
Segundo o Mestre Pedro Caridade de Freitas, no podemos dizer que os movimentos
nacionalistas nascem com a Revoluo Francesa, isso seria uma injustia para o prprio
continente americano, e para a independncia dos Estados que compunham e compe os
Estados Unidos da Amrica. Porque se repararmos, a independncia americana d-se no
perodo anterior Revoluo Francesa. E so tambm movimentos nacionais, com uma
determinada expectativa de uma determinada comunidade humana de se tornar
autnoma, que caracteriza a independncia dos Estados Unidos da Amrica. Lado a
lado, como bvio prpria poltica, alfandegaria, aduaneira, que a Inglaterra tinha
sobre os Estados Unidos, de facto fez com que movimentos nacionalistas se
desenvolvessem de forma mais clara e que levasse independncia dos Estados Unidos.
O foco principal de desenvolvimento ou de proliferao das teses nacionalistas no
continente europeu foi a Revoluo Francesa, com a ideia de que todos os povos de
alcanar a independncia.
E com a tese nacionalista, desenvolve-se uma tese muito importante que a tese da
autodeterminao dos povos, o princpio da autodeterminao dos povos um princpio
que um princpio de Direito Internacional, que emerge essencialmente, no sculo XIX
e que vai perdurar at actualidade.
Foi um princpio muito decorrente da Revoluo Francesa e da Revoluo Americana e
foi tido como importante para o desenvolvimento das relaes internacionais.
Reparem que diz-se, pois vem da Idade Mdia que o Direito Natural, o Direito das
Gentes era constitudo por dois tipos de princpios:
Hugo H. Arajo 39
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Princpios primrios aqueles que eram comuns e evidentes a todos os homens,
ensina-nos S. Toms de Aquino;
Princpios secundrios aqueles que no eram comuns, nem evidentes a todos
os homens.
Francisco Surez no sculo XVI, pegando nos ensinamentos de S. Toms de Aquino,
vai dizer que os primrios so os que no decorrem da sociabilidade humana, os que
decorrem da prpria natureza das coisas, por serem comuns a todos os homens; os
secundrios so os que decorrem da sociabilidade humana, ou seja necessrio que o
homem interaja com outros homens, necessrio que a sociedade assuma que estamos
perante um princpio que comum quela sociedade.
Como exemplo disto temos a bigamia. A bigamia no um princpio de direito natural,
mas um princpio de comportamento social de determinada sociedade, no na
sociedade ocidental mas noutras sociedades e no por isso que deixa de ser menos
importante para essa sociedade. No o facto de ser querido na Europa que no deve ou
que no constitui um princpio organizador da sociedade no mundo islmico ou em
algumas tribos. Ora estamos perante um princpio, um princpio secundrio, temos a
ideia de que ele normal, decorre da vivencia societria de uma determinada sociedade
e no decorre para outra. Temos a distino de princpios que so secundrios, e que so
princpios de uma determinada comunidade e que no so de outra.
O mesmo no se passa com o princpio da autodeterminao dos povos. O princpio da
autodeterminao dos povos nasce como princpio secundrio, o Direito das Gentes.
Porqu? Porque no era comum a todas as naes a todos os Estados, a todos os povos,
o princpio de que todos eles tinham direito autodeterminao ou tinham direito
independncia. No se entendia assim. Entendia-se que haviam povos que almejavam a
independncia enquanto outros, no. Porqu? Porque estavam em situao evolucional
diversa, e o sculo XIX, nomeadamente o fim do sculo XIX, com as teorias
Darwinistas, que no s olhava para a evoluo do homem, mas tambm para a
evoluo da sociedade, marcaram muito a concepo do princpio da autodeterminao.
Haviam povos que tinham avanado tanto, ao ponto de poderem desejarem a
independncia. Haviam outros que estavam num grau civilizacional anterior que tinham
de ser guiados e orientados.
Hugo H. Arajo 40
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Portanto, o princpio da autodeterminao dos povos um princpio secundrio, era
comum a determinadas sociedades, no era comum a outras sociedades.
Hoje est assente na comunidade internacional, que o princpio da autodeterminao dos
povos um princpio geral do Direito Internacional Pblico. Todos os povos tm direito
sua autodeterminao, desde que tenha condies para isso. E de facto as ltimas das
resolues das Naes Unidas, quer no caso de Timor, quer no caso da Bsnia, quer no
caso do Kosovo, demonstra a importncia do princpio da autodeterminao tem hoje, e
ele nasce no sculo XIX, desenvolve-se no sculo XIX.
E desenvolve-se por fora da corrente do nacionalismo. corrente do nacionalismo vai
opor-se a corrente do bem comum. A legitimidade que vai ser defendida pela Santa
Aliana, enquanto organizao que sai do Congresso de Viena, e composta pela ustria,
Rssia e Prssia, vai defender que os reinos devem manter a sua organizao interna,
quer poltica quer territorial. O princpio da legitimidade no mais do que um
princpio que j existia, que do ponto de vista poltico e portanto a restaurao dos
tronos das casas legitimistas, quer a reposio das fronteiras territoriais da Europa e
noutros locais onde tenha sido usurpada. O princpio da legitimidade, combate a
soberania, desagrega os Estados territoriais no sculo XIX, nomeadamente a ustria
com o Imprio Austro-hngaro e a Rssia, so os grandes Estados territoriais que em si
tm uma pluralidade de funes. E portanto um foco perfeito para o desenvolvimento
das teses das correntes nacionalistas.
A clebre imperatriz Elisabete da ustria, foi assassinada em Sarajevo, por um
nacionalista Srvio, que queria a independncia da Srvia, do Imprio Austro-hngaro,
e como sinal de revolta esse nacionalista apunha-la a imperatriz Elisabete. Isto
demonstra muito bem o que um movimento nacionalista e o que a importncia
destes movimentos no seio da Europa do sculo XIX.
Para se perceber o que so os movimentos nacionalistas compete saber o que isto da
Nao.
Nao pode ser definida como um conjunto de pessoas, com uma relao de
nascimento, origem, numa comunho de raa, lngua, costumes independentemente de
viverem ou no no mesmo territrio nacional, ou no mesmo territrio soberano. Porqu?
Porque ns sabemos que h naes eu extravasam as fronteiras do prprio Estado.
Hugo H. Arajo 41
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Como exemplo paradigmtico os J udeus, estes so uma nao. O povo judaico uma
nao. Tem por acaso um Estado que o Estado de Israel, mas a nao judaica est em
todos os stios onde se encontrem judeus. Se calhar o mesmo tnhamos com os ciganos,
so uma etnia um se calhar uma nao, pois com o expansionismo no sculo XVI, acaba
por se desenvolver tradies especficas, mas so tambm eles uma nao ou vrias
naes integradas em vrios Estados soberanos.
A ideia de nao, apresenta caractersticas muito especficas, nomeadamente para
termos uma nao devemos essencialmente ter:
Lao de sangue entre os membros da comunidade
Uma concepo ampla de terra a terra equivale ptria, e a ptria pode no se
subsumir num conceito de Estado.
De facto estas duas ideias so essenciais: o sangue, a ptria e a lngua. So os trs
grandes conceitos, que acompanham aquilo que se entende pelo conceito de nao ao
longo dos sculos.
O sangue os laos comunitrios; a terra a identidade do solo, mas a terra sendo num
sentido ficcionado, no o pelo facto de dar o Estado onde exerce a sua soberania, no
mais do que isso para a nao a terra equivale ideia da ptria, mesmo que a ideia da
ptria seja uma ideia utpica.
E de facto aqui os judeus do-nos um ensinamento extraordinrio. A paz evolutiva em
Israel J erusalm, nos seus limites territoriais, no. Onde quer que eles se mantenham,
porque h uma identidade to grande lingustica, cultural, histrica, literria, religiosa,
que a ptria o stio onde cada um deles se encontra. E de facto a ideia de nao
extravasa a ideia de fronteira territorial soberana do Estado. E depois temos a lngua, a
comunho da lngua de facto essencial para que haja uma identidade, cultural.
O sculo XIX vai olhar para o conceito de Nao, pegando nas lies de Ccero.
Ccero vem considerar no conceito de nao algumas ideias e so elas:
A nao tem um corpo poltico
Hugo H. Arajo 42
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
uma sociedade de homens que esto unidos para assegurarem a sua segurana
e vantagens mtuas em funo da combinao de foras.
Desta noo temos vrias ideias a primeira delas, um conjunto de homens unidos (a
unio faz-se pela lngua, pela historia, pela raa, a ideia de necessidade) para assegurar
a segurana e obter vantagens mtuas.
Portanto no conceito de nao so includas as ideias de utilidade e de necessidade que
caracterizam o pensamento do sculo XIX. Aquilo que era necessrio e aquilo que era
til sociedade.
A ideia de nacionalismo marcou de facto os autores do sculo XIX, nomeadamente os
autores alemes e italianos. em Itlia e na Alemanha que vamos ter maior fervor e
maior desenvolvimento dos princpios nacionalistas. Tambm porque a que h uma
proliferao de naes e onde se vai acentuar a necessidade de congregao dessas
naes nuns Estados Unidos.
Para alm da Alemanha e da Itlia tivemos tambm desenvolvimento dos ideais
nacionais, a partir dos anos 70/80 do sculo XIX, na regio leste da Europa, na regio
Eslava, na regio dos Balcs, e a esta corrente o elogio do Estado nacional eslavo
chama-se Pan-eslavismo.
Pensando ainda na primeira parte do sculo XIX, na Itlia e na Alemanha, e pegando
nas palavras do Prof. Martim de Albuquerque, nacionalismo o acordo comum num
solo, ou a qualquer, o desejo de independncia, um principio de que a nao um
fim em si mesmo, a que um individuo se deve dotar exclusivamente, a ideia de nao
como nao superior.
H aqui de facto ideias nestas frases chave do Prof. Martim de Albuquerque que so
interessantes o amor ao solo, o amor ptria, a independncia, e a ideia de que a
nao um princpio, ou seja preciso servir a nao para que ela se fortalea.
Hugo H. Arajo 43
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Portugal, no viveu este movimento nacionalista com fervor como os alemes e os
italianos.
Somos um estado-nao desde a Idade Mdia, de facto estas questes acabam por se
diluir nos problemas da Europa do sculo XIX. No entanto parece que podemos isolar
trs momentos do sculo XIX, em Portugal os movimentos nacionais que tiveram
alguma fora e alguma evoluo, no no sentido de criar um Estado.
Esses trs momentos so:
Independncia do Brasil;
Tentativa de unio ibrica;
Ultimato ingls (1890).
Independncia do Brasil a primeira machadada na coeso nacional. H um sentimento
nacional de perda. H gritos de oposio por parte dos portugueses que chegam a pensar
vamo-nos armar e vamos para o Brasil e tentar recuperar aquilo que perdemos. Claro
que no era possvel, Portugal estava empobrecido as guerras napolenicas tinham-nos
retirado o poder, e mesmo a sada da corte para o Brasil com o tesouro nacional.
Unio ibrica, era uma espada na cabea de Portugal. Ou seja desde a independncia ou
da restaurao da independncia em 1640, Portugal tinha um pavor da unio ibrica. E
sempre que se falava em unio ibrica levantavam-se os movimentos nacionais. E
quando se coloca a questo nos anos 50 e 60 do sculo XIX e coloca-se no pelo lado de
Portugal mas de Espanha, Espanha estava no perodo da vacatura do trono com a
deposio da rainha Isabel II e o problema de saber qual a soluo e a soluo podia
passar pela unio ibrica. Quando se fala nisto a intelectualidade portuguesa actua e h
um elogio da nao, ou seja ns no nos podemos unir a Espanha porque ns somos um
povo diferente, e este povo no se compagina com outro povo que Espanha.
O terceiro momento um momento complicado, um momento triste na histria
portuguesa recente, que o Ultimato de 1890. O Ultimato no mais do que uma
medida soberana de Inglaterra contra Portugal, a dizer ou sais do territrio africano que
nosso ou ns invadimos e bombardeamos Lisboa e o resto das cidades do territrio
Hugo H. Arajo 44
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
ultramarino. a ameaa, eles no dizem directamente que bombardeiam mas se este
acordo no for cumprido nas prximas horas h uma base de guerra em Vigo, e essa
base de guerra vai para Lisboa. E tambm estava uma base de guerra na entrada do mar
mediterrneo que facilmente iria para Cabo Verde. Cabo Verde era um dos ex-lbris das
colnias portuguesas e portanto invadir e conquistar Cabo Verde, era um rude golpe
para Portugal. E Portugal sente-se ameaado, ameaado porque ele acha que tem razo
do ponto de vista poltico, ele acha que tem direito aos territrios africanos, mas do
ponto de vista poltico-militar sabe que no pode comparar-se nem responder a
Inglaterra. E portanto tem de fazer uma coisa muito simples, aceitar as condies. E este
aceitar das condies originou a queda do governo, mas mais importante foi o grande
momento do nacionalismo, o grande momento em que Portugal se uniu, se esqueceram
as rivalidades polticas, as diferenas entre progressistas e regeneradores, entre
monarcas e republicanos, e formam um movimento nacional uno. E pela primeira vez
no sculo XIX que se v coisas to formidveis quanto:
Manifestaes na rua em defesa dos nacionalistas;
Cria-se A Portuguesa, o hino nacional adoptado pela Repblica, no mais do
que o hino contra a Inglaterra por isso que se diz que ele utpico, no h
nenhum hino real que seja contra os canhes marchar, utopia pura, mas tem
uma razo era contra a Inglaterra o poema em si de tentativa de chamar a
ateno do povo contra os ingleses e depois vai ser adoptado para hino nacional,
porque era o hino do nacionalismo, tinha sido o hino criado pelo movimento
nacionalista. Como tambm, por exemplo, D. Carlos, tinha sido empossado na
Ordem da Jarreteira (em ingls Order of the Garter), a mais importante Ordem
Inglesa e recusou-a. Todos aqueles que tinham sido condecorados com a Ordem
de Inglaterra entregaram as medalhas na embaixada inglesa que foi devidamente
apedrejada;
Faz-se uma subveno nacional para comprar barcos de guerra, para se
desenvolver as foras armadas e ir contra os ingleses, eles no nos podem fazer
o que nos esto a fazer.
Ora isto um movimento nacional, cortam-se relaes, as famlias inglesas da regio do
Porto viram os seus mercados diminurem, nomeadamente na exportao do vinho do
Hugo H. Arajo 45
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Porto, ningum queria relaes com os ingleses, cortaram-se as importaes inglesas,
etc., etc.
Voltando ao cerne da questo o nacionalismo. No so estes trs momentos que
permitem dizer que Portugal teve um movimento nacionalista, de maneira nenhuma. Os
movimentos nacionalistas so cirurgicamente encontrados e tm motivos que apenas
conduzem a questes poltico-sociais.
O mesmo no se passa nos restantes pases. A Alemanha e a Itlia so dois dos pases
que maior contributo deram para a teorizao do nacionalismo. E a Alemanha, na
pessoa do prprio Bismark vai defender que o nacionalismo caracterizado por
princpios e tradies histricas. Para Bismark eu tenho uma nao quando as tradies
histricas e tnicas so comuns, no mais do que pensarmos que a etnia germnica e
as tradies histricas aquelas que eram comuns a todos os pequenos Estados alemes.
E portanto a unificao alem vai fazer-se com base nestas duas ideias: na ideia da
tradio histrica e na ideia da etnia comum. Vamos unir todos os germnicos num s
Estado mas aqueles que aqueles que tm a mesma tradio histrica. Se, eu Bismark
defendesse apenas os elementos tnicos eu tinha que considerar a ustria, dentro dos
povos germnicos. No podemos introduzir a ustria na unificao alem, porque a
ustria no tem a mesma tradio histrica, e portanto ns inclumos uma outra
variante para permitir a unificao alem excluindo a ideia dos povos germnicos.
Para alm disso temos vrios autores que foram estudando as ideias do nacionalismo e
que foram apresentando vrias caractersticas para os nacionalistas.
Reneu, que um publicista francs vai considerar que a nao se caracteriza pela
comunho de lngua literria, no apenas a lngua pois essa j Bismark dizia. Reneu
vai dizer que para alm da histria da lngua tambm necessria uma comunho de
lngua literria.
J lio de Viena vai dizer que no, o que caracteriza a nao a raa. A raa comum
caracteriza ou individualiza as naes umas das outras. Este autor diz isso numa obra
intitulada: As raas histricas na Pennsula e a sua influncia no direito portugus.
Hugo H. Arajo 46
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Claro que a raa em si um elemento fraco, porque eu posso ter numa nao com
identidade lingustica e cultural com uma pluralidade de raas, sem que seja a prpria
ideia de raa que individualize a nao. Mas tenhamos ideia de uma coisa que a ideia
da raa uma ideia muito tpica do sculo XIX, o desenvolvimento da evoluo da
espcie, Darwin vai individualizar as raas mais avanadas das menos avanadas e as
mais avanadas eram as europeias, logo uma unidade nacional, porque a congregao
das mesmas raas permite a individualizao das vrias naes.
Actualmente isto no verdade uma nao pode ser formada por variadssimas raas.
Um autor espanhol e italiano, vo defender a ideia da sntese histrica e da autonomia
nacional, ou seja a nao caracterizada por ter um mesmo passado histrico. E esse
passado histrico que d conscincia da possibilidade de se transformar em Estado
europeu. No basta ter um passado histrico, esse passado histrico que permite ao
povo ter conscincia da sua capacidade em se tornar independente e em criar um
Estado.
Claro que parece que estas ideias so s por si falaciosas, porque eu no posso dizer que
os nacionalismos so exclusivamente por um ou outro elemento, ou no posso dizer que
tenho uma nao pela comunho lingustica ou por um passado histrico ou eu no
posso ter uma nao pela individualidade nacional ou seja uma conscincia da nao.
No basta para uma comunidade humana integrada num Estado-territrio possa aspirar
independncia como nao autnoma necessrio a convergncia de vrios elementos
se calhar todos os elementos que mencionamos. necessrio de facto, conveniente
uma raa comum, uma literatura (houve uma senhora que nos finais do sculo XVIII
disse que a literatura une os povos e os povos com literatura comum so uma nao,
porque a literatura espelha a identidade nacional da comunidade, e comunidade sem
literatura no nao, da o elogio aos 400 anos de Cames, com os Lusadas quem no
a ler no patriota. O mesmo aconteceu em Espanha com Dom Quixote de la Mancha e
Miguel de Cervantes. necessrio se calhar a religio e a convergncia jurdica a
unidade jurdica permite aos povos unirem-se em Estado.
Portanto no basta pensar isolar um ou outro elemento que s por si basta para
individualizar uma nao, tem de ser todos estes elementos que permitem que os
movimentos nacionalistas se tenham desenvolvido no sculo XIX. Foi a convergncia
das teorias da raa, da religio da literatura, etc.
Hugo H. Arajo 47
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Acresce a isto tudo a vontade de sair de se tornar independente no Estado.
O movimento Pan-eslavista vai centrar-se na tradio literria dos eslavos, no tanto a
lngua mas a literatura, mas nos finais do sculo XIX, o ressurgir dos poetas do sculo
XV e XVI, h aqui um ressurgir desta literatura que os caracterizava como povo
independente para demonstrar uma densidade cultural da austro-hngara e do prprio
pas.
Hugo H. Arajo 48
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 7
Lisboa, 19 de Outubro de 2009
Falemos da matria relativa s Colnias e Partilha de frica para terminarmos os
grandes movimentos do sculo XIX.
As relaes internacionais e o direito internacional pblico na segunda metade do sculo
XIX, vai centrar-se na problemtica colonial.
O prprio direito colonial enquanto prprio ramo do direito que estudava as relaes
entre a metrpole e os territrios ultramarinos vai desenvolver-se, inicialmente a partir
dos anos 70 do sculo XIX e surge ai, nos incios do sculo XX, os estudos na
universidade de Coimbra a disciplina de Dt colonial que se manteve, no caso portugus
at 1974, 1975. Com a descolonizao deixou de se estudar o Dt Colonial e o Dt
Ultramarino.
Mas este ramo de direito tinha como especial referencia o estudo das colnias.
No caso portugus, quando nos referimos questo africana. Como sabemos, frica o
continente por excelncia da explorao econmica e populacional da segunda metade
do sculo XIX.
Uma vez perdidas todas as aspiraes ao continente americano e dada a impossibilidade
de colonizar como se colonizavam outros territrios o continente asitico a ateno das
potencias europeias vai centrar-se em frica, e com ela a necessidade de desenvolver,
civilizacionar e partilhar o continente africano.
O continente africano estava ocupado na rea costeira, nos dois oceanos mas no no
interior do continente. E nos oceanos, na costa oriental e ocidental o continente era
ocupado essencialmente por ingleses, portugueses e a partir dos anos 70, 80 por alemes
e na zona da Guin alguns interesses franceses.
O problema das colnias africanas, o problema africano um problema essencialmente
territorial e jurdico.
Hugo H. Arajo 49
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
J urdico porque com frica vai haver um impulso ao desenvolvimento do direito
internacional. Esse impulso surge com a necessidade de se impor novas regras de
ocupao. E essas novas regras de ocupao vo de facto matar o que se tinha como
direitos adquiridos.
A colonizao africana no tem apenas interesse para o direito internacional pblico
pela ocupao de um territrio. Ou no tem apenas interesse porque na realidade vamos
ter desenvolvimentos.
Tem interesse, porque com frica acaba um direito internacional e comea outro direito
internacional. Lgico que tem alguma continuidade, mas acaba no que concerne a
direitos de ocupao territorial.
At meados do sculo XIX tinha-se como assente no campo do direito internacional
pblico que a soberania sobre territrios desocupados, os territrios nullius. Como eram
ocupados?
Bom bastava ter inteno de ocupar, animus, no necessrio que houvesse colonos.
Estes eram entendidos como a alternativa. Eu podia exercer sobre determinado territrio
uma ocupao efectiva, material, administrativa, politica, judicial, mas tambm podia
exercer uma ocupao intencional ocupao, essa que no passavam de planos. Eu
posso ter interesse em ocupar aquele territrio, ento aquele territrio meu.
E este era o pensamento geral da poca, pensamento esse que estavam tambm anexado
a outras duas ideias:
Prioridade da descoberta;
Ocupao subsequente, que mais uma vez no tinha que ser totalmente
efectuada, bastava ser intencional.
E por isso mesmo, na ideia do Estado bastava o corte de rvores uma vez por ano, para
permitir o fabrico de barcos, bastava o corte de rvores para se saber que a zona estava
ocupada, bastava manter relaes comerciais com povos desses mesmos lugares, para
que a soberania estar estabelecida.
Isto bastava at ao sculo XVI. Contudo deixa de bastar quando a Europa se vira para o
continente africano e ao se virar, vai quer encontrar os locais mais produtivos do ponto
de vista mineral entre outros.
Hugo H. Arajo 50
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
E a partir desse momento e tambm com a maior capacidade econmica, Portugal,
Inglaterra e depois a Alemanha, investiram em colonizar.
E essa investida de colonizar vai por em causa a mera inteno de possuir. Ora lado a
lado com a necessidade da Inglaterra e a Alemanha de ocuparem efectivamente, do
ponto de vista populacional, era preciso gente, do ponto de vista comercial era
necessrios instrumentos, era preciso procurar aquilo que faria desenvolver o seu
territrio. E ao desenvolverem os seus territrios vai lanar um novo principio do direito
internacional.
E esse novo princpio do direito internacional, que depois ser devidamente ratificado
no Congresso de Berlim de 1885, o princpio da ocupao efectiva. A partir da
segunda metade do sculo XIX, nomeadamente com Berlim em 1885, a ocupao
efectiva passa a constituir um princpio de direito internacional pblico no campo da
ocupao territorial. Ou seja, no bastava a inteno de ocupar, era necessria a
ocupao.
E de facto, aquilo que se vai verificar que as potncias europeias vo exigir que seja
feita uma ocupao real dos territrios africanos. E essa ocupao real implica a
construo de estruturas: criar cidades, povoaes, criar a funo pblica, a funo
militar, ou seja desenvolver uma populao.
De facto necessrio delimitar efectivamente o que pertencia a cada um, tem que se
dividir. Mas na realidade nem sempre, nomeadamente com os chamados direitos
histricos de Portugal se conseguia perceber se estvamos perante ou no um territrio
desocupado.
Como podemos imaginar ns o que em frica ainda no est ocupado, o que est
desocupado?
Contudo, tudo, ou quase tudo so direitos histricos nossos. Mas os ingleses e os
alemes vo dizer mas ocupam, ou no ocupam? Criaram, ou no criaram
comunidades? Desenvolveram, ou no desenvolveram o territrio? Tem meios, ou no
tem meios de defesa?
Hugo H. Arajo 51
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
No?! Ento se no est ocupado, ocupa-se. E ao ocupar-se, preciso fazer-se outra
coisa, que determinar se a ocupao efectiva deve ser notificada s potncias, para que
se faa o direito oposio.
A conferncia de Berlim tem como objectivo, para alm de definir o direito para frica
(dt colonial) vai consagrar pela primeira vez um tratado internacional do princpio da
ocupao efectiva, que no se cinge a uma real ocupao do territrio, mas tambm a
uma notificao s potncias signatrias do tratado, para que no haja dvida de quem
o real detentor do territrio.
E para que aquelas potncias possam ter direito sobre o territrio e que possam ocupar.
Ora isto quer dizer que de facto no campo do direito internacional pblico as regras de
ocupao dos territrios alterou-se de forma total.
E no direito histrico da descoberta da ocupao com padres dos descobrimentos ou
outro objecto, evoluiu-se necessidade de desenvolver e ocupar o territrio.
E essa vai ser de facto a diferena.
Lado a lado com isto, com este princpio da ocupao africana, surge um outro, tambm
em frica.
E surge um outro que imposto pela Inglaterra e pela Alemanha, so as chamadas
esferas de influncia.
As esferas de influncia a possibilidade de uma potncia colonial que tenha um
territrio ocupado efectivamente, poder, tambm mediante o tratado, ocupar territrios
limtrofes, sem que essa ocupao tenha de ser efectiva. Ou seja, estender o seu domnio
a outros territrios limtrofes de colnias desenvolvidas e ocupadas, mas sem que
tenham a necessidade de ocupar efectivamente esse territrio. Tem, uma inteno de
vir no futuro a ocupar esse territrio. Porqu e para qu?
A poltica da ocupao efectiva tinha um destinatrio. Teve um defensor esse defensor
foi a Inglaterra, teve dois grandes apoiantes, que se chamavam Bismarck e Leopoldo II,
sendo o destinatrio Portugal.
Se Portugal se arrogava de ter um dos maiores territrios em frica, dos mais ricos do
ponto de vista natural e no ocupava, mas dizia-se a coberto de direito, ento
Hugo H. Arajo 52
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
necessrio criar um outro direito, um outro princpio, vamos firm-lo e levar as
potncias a aceit-lo e a consider-lo para que se consiga tirar territrio do Estado. Mas
elas prprias, as potncias ao fazerem isso apercebem-se de uma outra coisa, elas
tambm no tinham.
E de facto o princpio da ocupao efectiva uma faca de dois gumes se muito
interessante para tirar territrio colonial s potncias dos descobrimentos, deixa de ter
garra quando vai dar s novas potencias a ter que ocupar e desenvolver os territrios sob
pena de no poderem considerar-se detentora do territrio.
Ento, necessria a ocupao efectiva, mas tambm necessria criar uma soluo
que d volta ao facilitismo e que no exija ocupao efectiva.
E essa soluo s os chefes da potencia. Quer dizer, no, no necessrio ocupar tudo,
vamos ocupar o que importante, depois se h volta reas que ns temos inteno de
estender os nossos domnios e pudemos dizer nessas regies.
Esta foi a forma que as signatrias da Conferncia de Berlim tiveram de dar a volta
ocupao efectiva. S eram necessria ocupao efectiva para umas situaes, no era
necessria para outras. E ao no ser necessria para outras possvel manifestar a
inteno de vir a ocupar outros territrios em frica.
Como bvio isto no se aplicava s a Inglaterra ou Alemanha, mas tambm a
Portugal. E Portugal vai utilizar esta estratgia.
Defendendo a teoria da esfera de influncia que ao defender o territrio interior do
continente, vou alargar o territrio.
Aps a Conferncia de Berlim, Portugal vai querer delimitar as suas esferas de
influncia. No s o seu territrio colonial, ocupado, mas como as suas esferas jurdicas,
e para isso vai celebrar tratados, com a Frana, com a Alemanha e posteriormente com a
Inglaterra, para delimitar o que cada potncia poder ter na sua esfera de influncia.
E isto ir dar lugar ao mapa cor-de-rosa. O mapa cor-de-rosa nasce daqui, no
nenhuma inveno.
Porque as potncias aps a conferncia de Berlim percebem que podem ocupar
directamente territrios e isso Portugal ocupa efectivamente Guin, Angola e
Hugo H. Arajo 53
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Moambique, assim e de acordo com a conferncia, vamos delimitar com a Inglaterra
com a Frana e com a Alemanha, at onde elas querem ir.
Contudo sempre tivemos conflitos em Loureno Marques ou no Congo, sendo esses
conflitos resolvidos atravs de arbitragens.
O ltimo tratado foi para delimitar interesses portugueses e ingleses no Congo. O
tratado celebrado em 1884, no foi ratificado, no foram conhecidos pelos parlamentos
dos dois pases.
Portugal entendeu que devia delimitar os seus territrios com a Inglaterra. A zona do
Congo era s portuguesa e inglesa. A Alemanha no estava interessada nas colnias,
mentira! A Frana, estava em guerra no norte e no queria nada do sul, mentira. A
organizao internacional, de direito privado, no sendo Estado no podia exercer
direito de soberania sobre um territrio.
Assim elabora-se um tratado bilateral que quando concludo contestado pelo senhor
Bismarck, dizendo que nem pensar, pois o Congo a entrada por excelncia em frica.
Em termos comerciais o porto mais importante de frica, ora ns tambm temos a
interesses e queremos participar nisso. Os franceses seguem o mesmo caminho. A
sociedade internacional, vem dizer que tm a margem direita toda.
Face a isto, a Inglaterra que no queria problemas com a Frana, deixa cair o tratado
ficando Portugal sozinho.
E daqui d-se a Conferncia de Berlim de 1885 foi convocada para se resolver o
problema do Congo, mas lado a lado resolvem-se todos os problemas.
A conferncia inicia-se em Outubro de 1884 e finda em 1885, convocada por Bismarck
o Imperador, com a participao:
Frana
Inglaterra
Portugal
Blgica
EUA
Associao internacional
Rssia
Hugo H. Arajo 54
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Itlia
ustria
Hungria
Holanda
Santa S (como observador)
Todos estes pases participam e as decises da Conferncia so:
Ocupao efectiva;
Esfera de influncia;
Neutralizao do Congo Portugal e Inglaterra tinham tentado dividir a regio
do Congo para os dois. No conseguiram como vimos. Com isto conclui-se:
jamais autorizado o rio Congo seja controlado por Ingleses e Portugueses.
Portugal, porque um pas que impe sempre impostos altssimos na fiscalizao; no
tem pessoas capazes para essa fiscalizao, so corruptos;
A Inglaterra nem pensar pois ia aumentar o poder ingls em frica.
Portanto o rio Congo passa a ser regio neutral no pertencendo a nenhuma potncia,
mas pertencendo a todas as potncias. Vai ser administrada por uma comisso
internacional formada por todos os que tm interesses.
Assim vemos que se transpe o que tinha sido criado para os rios europeus, o princpio
que saiu do Congresso de Viena de 1815 que vai internacionalizar os rios vai ser
transposto para frica.
E desta forma evitava-se qualquer discurso posterior entre Inglaterra e Portugal.
Portanto estas so as trs grandes regras que saem da conferncia de Berlim.
O que se vai neutralizar a bacia comercial do Congo, assim neutralizou-se todo o rio
da nascente foz, todo ele era possvel a navegao comercial. O que no era possvel
navegar foi construda paralelamente ao rio uma linha frrea.
Desde a costa oriental costa ocidental estava toda ela neutralizada.
No mbito da conferncia de Berlim vamos ter um facto espantoso, nico na histria.
Aquela associao que tinha entrado como observadora, associao de mbito privado,
Hugo H. Arajo 55
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
com scios que eram pessoas individuais, vai com o alto patrocnio do rei da Blgica,
vai por fora dos vrios tratados que consegue celebrar por influncia norte-americana
vai dizer que a associao internacional pode ser equiparada a Estado. Por fora dito e
por presses primeiramente americanas depois alems, a associao internacional vai
em Maro ser considerada um Estado independente. Tendo aqueles territrios, que
enquanto associao privada tinha aqui e onde ela se vai situar ser a margem direita do
rio Congo. Isto coloca em causa o prprio conceito de soberania! Sendo a primeira vez
que uma sociedade civil que se regia pelo cdigo comercial da Blgica vai ser
considerada um Estado. Assim, vai-se considerar o territrio do Congo como neutro, ou
seja qualquer potncia podia desenvolver em torno daquele Estado. Contudo ele vai
assinar tratados com todas as potncias de forma a manter relaes de reciprocidade
comerciais.
Esta situao de neutralidade do Congo vai-se manter at I Guerra Mundial, uma vez
que com esta, vai-se quebrar a neutralidade, pois a I Guerra no s aconteceu na Europa
mas tambm em frica.
Aps a I Guerra Mundial o Congo vai ter um presidente honorrio, o rei da Blgica,
mas no integra o territrio Belga, sendo regido por uma associao internacional.
Quando havia problemas oramentais no Congo era a Blgica que cobria tais
problemas.
Aps a Conferncia de Berlim de 1885, e aps a ocupao real e efectiva dos territrios
africanos comeam a delimitar-se as fronteiras com a esfera de influncia vo dar
origem a uma repartio do territrio sem que na realidade estejamos perante uma
ocupao real territorial.
Hugo H. Arajo 56
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 8
Lisboa, 21 de Outubro de 2009
Ainda sobre a partilha de frica, cabe-nos agora referir as arbitragens internacionais
para delimitao do territrio nas fronteiras.
Numa das aulas passadas vimos o que era a arbitragem, e vimos na altura que o sistema
de arbitragem, que era um sistema de submisso de determinado conflito deciso de
uma terceira entidade, deciso essa que partida teria que ser definitiva, uma vez que o
recurso no se encontrava previsto para as arbitragens internacionais, da a deciso ser
definitiva. Tinha de provir das potncias o submeter os seus conflitos apreciao de
uma terceira entidade.
Portugal recorreu em vrias situaes arbitragem internacional. E essas situaes no
foram apenas para a delimitao de fronteiras, foram tambm em mbitos da
responsabilidade civil do Estado.
No mbito da responsabilidade civil do Estado podemos ter duas situaes de resoluo:
Se recorria arbitragem internacional para que o rbitro decidisse se havia ou no dano
provocado por um determinado Estado e se esse dano teria que ser indemnizado, e
portanto a arbitragem neste caso tinha como funo a aferio da existncia de
responsabilidade civil. Por exemplo um caso que ocorreu, uma deciso de um barco
Sueco que vinha do porto de Npoles para o porto da Praia, em Cabo Verde, sada do
porto de Npoles constatada a existncia de uma epidemia, epidemia que podia
culminar a que o barco ficasse de quarentena no porto de destino. Este porto de destino
no era a cidade da Praia em cabo verde mas era a argentina. Quando o barco chega ao
porto de Praia o delegado de sade cabo verdiano decreta a quarentena do barco Sueco.
Aps o perodo de quarentena o barco parte para a argentina. Eis quando volta de novo
para o porto de Praia o delegado de sade volta a colocar o barco de quarentena, quando
ele j estado. Autorizam apenas o desembarque de algumas quantidades de trigo.
Moral da histria, os portugueses estando a cumprir leis nacionais, so ou no
responsveis pelo que aconteceu mercadoria.
Hugo H. Arajo 57
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
A primeira questo saber se isto uma questo internacional. partida no, se o
armador se sentir lesado vai para tribunal nacional, e se houve nexo de causalidade ou
no entre o facto e o dano.
S que de facto o armador sueco recorreu a arbitragem, a fim de apurar a
responsabilidade civil do Estado, neste caso o portugus.
O arbitro teve primeiro que verificar se houve ou no responsabilidade por parte do
Estado, e se houve qual o valor da indemnizao.
Outro tipo de arbitragem no campo da responsabilidade civil aquela pelo qual o
Estado j se assume como responsvel necessrio definir qual montante
indemnizatrio. O Estado j sabe que responsvel, s resta saber o montante dos
prejuzos, ou seja a indemnizao.
Portugal foi submetendo vrias situaes arbitragem, no s no tocante delimitao
de fronteiras, mas tambm no mbito da responsabilidade civil.
Relativamente s arbitragens da delimitao de fronteiras tivemos:
1. 13 de J aneiro de 1869 deciso em 1870 (Portugal-Inglaterra) relativamente
Ilha de Gulana era portuguesa ou inglesa;
2. Baa de Loureno Marques 11 de Setembro 1872 deciso 24 de J ulho 1875
(Portugal-Inglaterra), de quem era a posse da baa, sendo o porto mais
importante da frica oriental;
3. Questo de Manica 7 de J aneiro de 1895 deciso 30 de J aneiro 1897
(Portugal-Inglaterra), para definio dos territrios a norte de Moambique;
4. Questo de Barots 12 de Agosto 1903 deciso 30 de Maio de 1905 (Portugal-
Inglaterra), para delimitao de fronteiras a sudeste de Angola;
5. Questo de Timor 3 de Abril de 1913 deciso 5 J unho de 1914 (Portugal-
Holanda), funo delimitar o territrio portugus e holandeses. Timor leste e
Timor ocidental.
Destas arbitragens falemos de duas delas:
Questo de Gulana;
Hugo H. Arajo 58
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Questo de Loureno Marques.
Questo de Gulana foi uma arbitragem submetida ao Presidente da Repblica norte-
americano, Grant, que na sua deciso arbitral decide a favor de Portugal;
Questo de Loureno Marques foi uma arbitragem submetida ao Presidente da
Repblica Francs, que decide a favor de Portugal.
A histria das duas arbitragens muito semelhante porque a invocao sobre Gulana ou
sobre Loureno Marques baseada nos mesmos direitos.
A Inglaterra reivindicava a ilha de Gulana, bem como vem a reivindicar a baa de
Loureno Marques, ambas eram dois portos estratgicos para os ingleses. Loureno
Marques porque era uma porta aberta cujo percurso era feito por terra sendo mais perto,
e Gulana era um posto fronteirio da Bissau, para quem quisesse dominar aquela costa
era essencial a posse das ilhas como meio de defesa.
A reivindicao inglesa vai ser sempre a mesma:
1. Celebraram tratados com os chefes indgenas, chefes esses que lhes tinham dado
concesses territoriais;
2. Portugal no ocupava, no havia ocupao efectiva, sendo possvel outros
Estados ocuparem-no, at porque a doutrina entendia assim.
Em suma so sempre estes os argumentos, mas lado a lado com estes argumentos a
Inglaterra usava outros meios que era no s colocar os indgenas contra os portugueses
como recorria aos seus barcos de guerra para invadir as praias, que estavam muito mal
protegidas. Era este o percurso usado pelos ingleses.
Portugal usava tambm os mesmos argumentos:
1. Prioridade da descoberta;
2. A ocupao;
3. A lngua que os indgenas entendiam.
Hugo H. Arajo 59
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
4. Reconhecimento da soberania portuguesa por parte dos indgenas que faziam
acordos de protectorado.
So estes os meios de defesa do direito portugus.
So estes direitos ingleses e portugus que no eram capazes de serem inimigos a nvel
diplomtico uma vez que no caso de Gulana inicia-se por volta de 1820 e s vai ser
resolvido nos anos 60. Com Loureno Marques que se inicia por volta da mesma altura
e s vais ser resolvido nos anos 70, portanto cinquenta anos de conflitos e troca de
correspondncia. O ideal era recorrer arbitragem internacional.
Claro que os rbitros nestes casos eram os Chefes de Estado, porque tinham maior
percepo de questes territoriais, e essa percepo poderia ser favorvel aos interesses
portugueses, por isso Portugal propunha sempre aos Chefes de Estado, ao ser Chefe de
Estado existia maior soberania para a delimitao territorial.
As duas arbitragens vo fazer-se em regime normal. As partes apresentavam os seus
argumentos, as suas teses onde relatavam as suas pretenses e juntavam e organizavam
os documentos (cartas cartogrficas, tratados com indgenas) a apresentar aos rbitros.
O rbitro concedia outra parte um prazo razovel para contrariar/refutar os argumentos
do outro e portanto o contraditrio que essencial em direito. O rbitro, podia ouvir
testemunhas ou peritos caso decidisse. E aqui est a vantagem da arbitragem.
A deciso arbitral no tem de ser estritamente legalista, o rbitro no tem de estar preso
letra da lei. O rbitro poderia decidir, se as partes assim o quisessem e isto teria de
estar definido no chamado compromisso arbitral que d origem arbitragem, teria de
prever, como previa sempre o recurso aos juzos de equidade, por uma razo: na
realidade quando estamos aqui a falar de territrios no possvel aplicar de forma
estrita a lei. No Direito internacional no h cdigo, embora a corrente positivista no
sculo XIX lutou pela codificao do Direito Internacional.
Em matria territorial era aconselhvel que o rbitro decidisse conforme juzos de
equidade.
Aos olhos do positivismo a equidade no era forma de exercer o direito. Apenas se
poderia aplicar o que estava escrito, se no est escrito, no uma questo jurdica.
Hugo H. Arajo 60
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
O facto de haver uma rea do direito, o Direito Internacional e o facto de os Estados
aceitarem o recurso a juzos de equidade, que vm humanizar o Direito, de facto uma
evoluo grande no sentido do direito internacional no ser um direito escrito.
O presidente americano e o presidente francs decidem ambos a favor de Portugal
porque:
Reconhecem a importncia dos direitos histricos, a importncia dos
descobrimentos, mas mais que isso vo reconhecer que Portugal ocupou de
forma efectiva os territrios que eram contestados.
Esta de facto a grande deciso da arbitragem. Assim ambos os rbitros vo reconhecer
que os direitos histricos no esto caducos desde que acompanhados de ocupao
efectiva. Ou seja os direitos histricos so levados nesta arbitragem como indiciadores
da existncia da ocupao efectiva. Isto para se mostrar que Portugal foi beneficiado.
Assim, vemos que para delimitao das fronteiras nos territrios de Angola e
Moambique, Portugal recorreu sempre a arbitragem contra a Inglaterra.
O Direito Internacional no sculo XIX foi um direito marcadamente Europeu. Esse
direito marcadamente europeu sofre uma evoluo a partir do Tratado de Paris de 1856,
que coloca o fim Guerra da Crimeia e vai consagrar, pela primeira vez, a possibilidade
da Turquia entrar no seio das potncias europeias.
Com a Guerra da Crimeia, uma guerra do Oriente, e uma guerra muito centrada na
defesa da Terra Santa, J erusalm, contra o Imprio Romano. E o tratado de Paz que pe
fim guerra que o Tratado de Paris vai reconhecer a Turquia como potncia europeia.
A Turquia demasiado importante do ponto de vista estratgico, devendo entrar para as
potncias a fim de conseguirmos controlar.
Nada melhor do que chamar a Turquia s Conferncias europeias, a partir de 1856,
passando esta a participar.
Este Ius Europeu vai tender no fim do sculo para um Ius Universal, universal porque
se passa tambm a ter no seio dos participantes das Conferencias Internacionais, os
reinos do Oriente: J apo, a China, Prsia e a Rssia.
Hugo H. Arajo 61
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Isto para dizer que a paz de facto o principal objectivo das relaes internacional ou a
manuteno da paz e a necessidade de criar mecanismos para que esta permanea.
J tivemos oportunidade de ver que Vesteflia foi um tratado de paz que criou o sistema
de equilbrio na Europa que de facto a Europa conseguiu viver com algum pacifismo
entre Estados.
Depois a Conferencia de Viena, estando tambm ela subjacente com o objectivo da paz
atravs do principio da legitimidade. Este no mais do que a tentativa de manuteno
da paz com base nos princpios de equilbrio europeu de Vesteflia.
Os nacionalismos, eram focos de guerra, e tambm no bastava o simples facto de se
tentar, atravs de construes jurdicas, tentar construir um sistema de paz perptua,
como alis j vimos.
O sculo XIX vai encontrar um outro sistema, tambm com o objectivo de desenvolver
relaes pacficas entre Estado, apesar o sculo o XIX o princpio da Guerra da Crimeia
e da Guerra do Oriente e no facto do incio da guerra da Crimeia tinha-se constitudo a
Cruz Vermelha Internacional, porque depois dos milhares de mortos em outras guerras,
necessrio criar-se mecanismos como a Cruz Vermelha.
O sistema que vai adoptar e desenvolver no sculo XIX o sistema das Conferncias
Internacionais, de facto a segunda metade do sculo XIX a actividade especfica a das
Conferncias Internacionais.
E estas Conferncias Internacionais vo ter importncia para o desenvolvimento do
Direito Internacional e para as Relaes Diplomticas actual.
Porqu?
Porque contrariamente ao que se possa pensar, a base de muitos dos ramos de Direito da
altura, nasceu nas Conferncias Internacionais.
As Conferncias Internacionais no tiveram apenas a funo de estabelecer a paz. As
conferncias tiveram outras funes.
Por exemplo:
Criar um sistema intelectual e de Direitos de autor;
Hugo H. Arajo 62
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
O sistema de patentes;
Uniformizao dos pesos e medidas;
Sistema de correios europeu Telgrafos e sistema postal
Questo da guerra, conferencias para definir meios mais humanos para a guerra,
as designadas conferncias de paz, como fazer a guerra, que tipos de materiais se
usaram na guerra.
So as Conferncias que abordaremos na prxima aula:
- Conferncia de Haia de 1899;
- Conferncia de Haia de 1907.
Estas Conferncias tiveram funo de criar a Cruz Vermelha e tambm para criar regras
bsicas de sade pblica, para vigorar em todos os Estados signatrios.
As relaes internacionais na segunda metade do sculo XIX deixam de ser relaes
bilaterais. Deixamos de ter relaes bilaterais. O mundo j no esta fechado, j no
apenas a celebrao de tratados de comrcio entre Portugal e Inglaterra, as relaes
diplomticas no so apenas para delimitao de fronteiras entre Portugal e Espanha.
H um salto, a chamada Universalizao do Direito. E a universalizao do Direito faz-
se exclusivamente atravs das Conferncias internacionais.
E agora cabe distinguir conferncias de congressos:
Congressos - aqueles em que o Chefe de Estado participa, ele pode participar;
Conferncias a representao feita por embaixadores, plenipotencirios,
representantes dos Estados, etc.
A segunda metade do sculo XIX vai ser marcado pelas Conferncias porque de facto,
cada vez mais o assunto a discutir um assunto tcnico, j no se trata das questes da
paz, que era uma questo poltica.
Hugo H. Arajo 63
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
As Conferncias so conferncias tcnicas e portanto no o chefe de Estado que deve
participar, mas sim o embaixador.
As conferncias vinculavam os Estados signatrios, mas no com a assinatura do
tratado. E de facto aqui, no bastava para que um Estado se vinculasse s decises da
conferncia no bastaria que houvesse uma mera assinatura do documento, era
necessrio que houvesse uma ratificao do Tratado. E portanto a ratificao de um
tratado internacional o instrumento atravs do qual o Estado se vincula ao teor do
tratado. A ratificao podia ser feita pelo Chefe de Estado (dependendo dos
ordenamentos constitucionais) ou pelos Parlamentos. No caso portugus a ratificao do
tratado tinha de ser submetido s Cortes. Portanto no era o Chefe de Estado, que
ratificava, apenas reconhecendo a validade do tratado, s que primeiro tinha que haver
uma aprovao efectiva. e em Cortes o que se autorizava? Autoriza-se o Rei a ratificar o
tratado tal ou a conveno tal.
O Chefe de Estado tinha poderes para assinar, mas no eram poderes s dele, eram
poderes mediante a avaliao das Cortes.
E o funcionamento das Cortes primeiro tinha de ir Cmara dos Deputados e Cmara
Pares e s do acordo das cmaras que o Chefe de Estado Estava autorizado a assinar o
tratado.
Outro caso gravssimo, como o tratado de Inglaterra de 1884, o tratado no ratificado
pelas Cortes. As Cortes recusam-se a discutir o tratado que foi assinado por considerar
que o Governo no acautelou os direitos do Estado. E portanto o tratado no tendo sido
discutido teve que se comunicar a Inglaterra temos pena, mas aquilo que ns acordamos
no vai entrar em vigor, porque as Cortes no do autorizao para ratificao. Claro
que esta situao dramtica. E esta situao o limite o que pe em causa os poderes
de negociao. quando nos estamos perante um tratado que discutido por
embaixadores ou pelos plenipotencirios, ns no vamos partir do pressuposto, que o
tratado, quando negociado que o Governo fosse ausente do assunto, bem pelo
contrrio, todos os artigos eram antes de se lhe dar o assentimento final eram aprovados
pelo Governo. Isto mostra que de facto no mbito das relaes internacionais a
dependncia Governo, o embaixador e as Cortes nem sempre existia, fazia com que o
Governos quando estavam a negociar um tratado, evidenciando segredo de Estado no
podendo divulgar s Cortes, as Cortes quando o viam depois de assinado no
Hugo H. Arajo 64
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
autorizavam a ratificao. Ora este um dos grandes problemas que ainda hoje as
relaes internacionais ainda se deparam com a ratificao dos tratados.
Hugo H. Arajo 65
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 9
Lisboa, 26 de Outubro de 2009
Falemos hoje das Conferncias Internacionais, nomeadamente:
Conferncia de Haia de 1889;
Conferncia de Haia de 1907.
Conferncia de Haia de 1889:
Apesar de ter sido realizada em Haia (Pases Baixos), esta foi proposta pelo Czar
Nicolau II, tendo participado nesta 26 Estados soberanos.
No podemos considerar que estamos perante uma Conferncia Universal, uma vez que
a Santa S e as Republicas Sul Americanas e Africanas no foram convidadas,
excepo do Brasil, mas este no se fez representar.
Nesta Conferncia foram reunidos Estados Europeus e Orientais, nomeadamente a
China, J apo, Prsia.
Conveno de Haia assinada em 29 de J ulho de 1899, Portugal apenas em 25 de
Agosto de 1900 a ratifica, tendo sido depositado em Haia esse instrumento de
ratificao em 1900.
Os trabalhos foram organizados em trs comisses criadas para:
1 - Funo de analisar as questes de marinha e guerra (oramentos militares);
2 Funo de analisar a extenso das decises da Conveno de Genebra e Bruxelas
para a Guerra martima;
3 Analisar e propor uma comisso de arbitragem obrigatria, esta por sua vez criou e
definiu um sistema de resoluo de conflitos internacionais: a arbitragem obrigatria.
Hugo H. Arajo 66
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
O Estado tinha ao seu dispor 3 instrumentos:
Bons ofcios;
Mediao;
Arbitragem.
No tocante:
Bons ofcios e mediao no tinham carcter obrigatrio. Possibilidade de um
determinado Estado mediar/interceder por determinado conflito.
Arbitragem cria-se um sistema de arbitragem obrigatrio. (de notar que at 1899 a
arbitragem era um acto voluntrio dos Estados).
Assim, todos os Estados signatrios obrigam-se arbitragem obrigatria para resoluo
de conflitos internacionais (somente para com os restantes Estados signatrios).
Pode-se submeter arbitragem:
Interpretao de normas do tratado;
Resoluo de conflitos de matria de tratados incumprimento de tratados
(desde que no coloque em causa a soberania nacional), da surge a restrio
relativamente a questes que colocassem em causa a soberania dos Estados.
Cria-se um Tribunal Permanente de Arbitragem, com sede em Haia, contudo este
Tribunal no uma criao fsica, mas cria-se uma lista de rbitros a quem o Estado
podia recorrer em caso de resoluo de conflitos.
Este tribunal vai estar apetrechado de funcionrios, para quando for necessrio tramitar
qualquer processo em outro Estado, este tribunal poder funcionar em qualquer Estado.
O Tribunal Permanente de arbitragem era composto por:
Hugo H. Arajo 67
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Conselho internacional composto por todos os Estados signatrios;
Secretaria para receber processos de arbitragem.
A tramitao da arbitragem voluntria inspira-se nestas regras.
Assim:
1. Compromisso arbitral onde se definia/determinava o objecto do litigio e se
determinava os poderes atribudos aos rbitros: 2 rbitros para as partes, e 1
rbitro presidente independente, escolhido por aqueles dois.
2. Peas processuais as partes tinham a faculdade de instituir peas processuais:
- argumentos em defesa da sua causa;
- solicitar audies de testemunhas e peritos.
3. O rbitro proferia a sentena tomada pela maioria dos votos devia ser
escrita e a a sentena deveria ser definitiva, no era possvel recurso da deciso
do Tribunal Arbitral.
O recurso j no era novidade, sendo que j existia nos processos de arbitragem
voluntria.
No sculo XIX, a doutrina dizia que no era o recurso compatvel com a arbitragem,
porque isso perduraria o conflito, e que a arbitragem deveria ser definitiva e executria.
Mas a doutrina internacionalista vem dizer que no assim, caso esteja em causa um
facto novo e no conhecido, pois se este no fosse novo e desconhecido j poderia ter
influenciado a sentena.
Assim, era possvel apresentar-se recurso da sentena arbitrria se fosse descoberto um
facto novo que pudesse mudar a deciso do rbitro. O recurso teria de ser indicado para
o mesmo tribunal que tinha proferido a sentena, porque no falmos de um recurso
tpico de mrito do decisor. um recurso em sentido imprprio.
Hugo H. Arajo 68
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aqui notamos uma configurao da Conferncia de Haia.
A deciso da resoluo por arbitragem no tinha eficcia erga omnes: apenas vinculava,
de forma obrigatria as partes envolvidas, ou seja as partes em litgio. No h decises
com fora obrigatria igual.
Exemplos de tratados de arbitragens obrigatrias:
- 1904 Espanha, Inglaterra e Holanda;
- 1905 Alemanha, Itlia e Sua;
- 1906 Frana e Austro-Hungria;
- 1908 EUA e Noruega;
- 1909 Brasil;
- 1913 Sucia;
- 1918 Uruguai.
Conferncia de Haia de 1907:
a primeira Conferncia Universal, estando representados 44 Estados e presentes 175
delegados.
Estados no presentes: Marrocos, Honduras, Costa Rica, Abissnia. Portugal fez-se
representar.
Esta Conferncia marca a universalizao do Direito Internacional.
Missao/Objecto da Conferencia:
Estabelecer normas de convvio internacional para soluo pacfica de conflitos;
Questes relativas guerra terrestre e martima.
Hugo H. Arajo 69
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Contrariamente Conferncia de 1899, esta no ter o sucesso mas mesmo assim so
elaborados 13 acrdos desta Conferncia:
1. Soluo pacfica de conflitos internacionais;
2. Delimitao do uso da fora para cobrana de dvidas contratuais;
3. Abertura das hostilidades;
4. Leis e costumes de guerra terrestre
5. Direitos e deveres das potncias e das pessoas neutras em guerra terrestre;
6. Regime de navios mercantes inimigos, no comeo das hostilidades;
7. Transformao de navios mercantes em bases de guerra;
8. Colocao de minas submarinas automticas;
9. Bombardeamentos com foras navais em tempo de jura;
10. Adaptao guerra martima os princpios da Conveno de Viena;
11. Restries ao exerccio de direito de captura em guerra martima;
12. Munies e lanamentos de bombas;
13. Direitos e deveres das potencias neutras em guerras martimas.
Em 1899, existia o Direito da Igualdade dos Estados;
Em 1907, sobrepe-se a esse principio, o principio de uns Estados serem mais iguais
que outros.
Na Conferncia de 1907 e margem do tribunal criado em 1899, surge o Tribunal
Internacional de J ustia, composto por 17 juzes/jurisconsultos da seguinte forma:
Hugo H. Arajo 70
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
50% - representavam as grandes potncias (juzes permanentes, no existe prazo
para nomeao dos juzes);
50 % - representavam os pequenos Estados (juzes nomeados, com existncia de
prazo para exercer o cargo).
Aqui colocava-se um problema: as grandes potncias tinham juzes com cargo ilimitado
juzes permanentes, ao passo que os pequenos Estados no tinham juzes com cargo
limitado, sendo eleitos por um perodo.
Conclua-se assim que esta proposta somente valorizava as potencias, e nessa medida
no foi aceite, no tendo, como se disse esta Conveno o sucesso da de 1899, somente
se os Estados chegassem acordo, o que no aconteceu.
O processo de arbitragem comum tinha sofrido uma alterao: no tocante existncia
de um processo sumrio de arbitragem, apenas era escrito, no havendo audio oral de
testemunhas tendo apenas como fim a resoluo clere dos conflitos.
Isto constitua uma novidade, consequncia da Conferencia de Haia de 1907.
Como concluso:
Conferncia: resolvem questes que podero levar o Estado guerra. impossvel dizer
que o sistema de Conferencias resolve todas as questes. Assim as Conferencias tinham
como principais objectivos:
- por fim a um conflito;
- antecipar os prprios conflitos.
Uma questo:
1. O Sistema de Congressos pe fim ao sistema usado na Razo de Estado?
Hugo H. Arajo 71
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
A razo de Estado do sculo XVII e XVIII, no se mantm ou desaparece no sculo
XIX. O Estado no est sozinho a nvel internacional, este aceita discutir matrias com
outros Estados para criar uma poltica comum. Existe uma importncia das pessoas
nomeadas para a Conferncia.
Breves consideraes sobre as Conferncias de Haia:
Entre 1898/99, ocorreu a I Conferncia de Haia, o primeiro grande esforo mundial de
construo de uma ordem mundial baseada na paz, e no na tutela de uma, ou algumas,
grandes potncias quaisquer. No discurso inaugural, o Baro de Staal afirmou que [...]
A diplomacia tem a misso de evitar ou aplainar os conflitos entre as potncias, atenuar
as rivalidades, harmonizar os interesses, dissipar os equvocos e fazer substituir a
concrdia discrdia.(7) Neste contexto, a Conferncia de Paz trilhava a criao de
um foro internacional uma corte de arbitragem com o objectivo de mediar os
conflitos entre os Estados, evitando, desastres, que estes resolvessem as disputas por
meio das armas.
Devido evoluo do cenrio de hostilidades e da belicosidade alem, no ano de 1907,
se realizou a II Conferncia de Paz, em Haia, buscando um acordo de desarmamento das
potncias. Inicialmente proposta pelo Czar Nicolau II, neste encontro aprofunda-se a
ideia da criao de uma Corte Internacional de J ustia. A arbitragem surgia, ento,
como a melhor forma de soluo pacfica dos conflitos internacionais.
Na I Conferncia de Paz, dos 26 Estados que haviam participado, apenas um (Mxico)
provinha da Amrica Latina; na II Conferncia de Paz, oito anos depois, dos 44 Estados
participantes, 18 eram latino-americanos. Essa expressiva evoluo da participao
latino-americana se explica pelo contexto regional, conforme Canado Trindade: [...]
[pela] srie de Conferncias Internacionais dos Estados Americanos [que] teve incio
em 1889 [...] E entre as duas Conferncias de Paz da Haia (de 1899 e 1907), nas duas
Conferncias dos Estados Americanos realizadas, respectivamente, na Cidade do
Mxico em 1901 e no Rio de J aneiro em 1906, os pases de nossa regio endossaram os
resultados da II Conferncia [...] e inclusive os levaram adiante, sobretudo no tocante ao
recurso arbitragem e ao no-uso da fora [...](8).
Hugo H. Arajo 72
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Assim, em 1907, os Estados latino-americanos tinham conquistado, por seus prprios
mritos, seu espao no concerto universal das naes. E, ao longo da II Conferncia da
Haia (que se estendeu de 15 de J unho a 18 de Outubro de 1907), imprimiram aos
trabalhos da mesma seu esprito de universalidade (quanto sua participao em bloco,
assim como quanto sua viso do futuro do Direito Internacional). As contribuies dos
Estados latino-americanos aos trabalhos da II Conferncia de Paz, e aos
desenvolvimentos subsequentes, concentraram-se particularmente em quatro temas, a
saber: o recurso arbitragem e o no-uso da fora, a igualdade jurdica dos Estados, o
fortalecimento da jurisdio internacional e o acesso directo dos indivduos justia
internacional.
No que se refere ao primeiro item, a Conveno Drago-Porter contou com o apoio dos
Estados latino-americanos, e alguns deles formularam reservas inclusive ao recurso
residual fora em caso de falha no recurso arbitragem. Abriram, assim, caminho para
o Pacto Briand-Kellogg, de 1928, o Pacto Saavedra Lamas de 1933, e o artigo 2(4) da
Carta das Naes Unidas. Continua Canado Trindade, quanto ao segundo item:
[...] o mais eloquente defensor da igualdade jurdica dos
Estados foi o delegado brasileiro Ruy Barbosa, como consta das
Atas da Conferncia e segundo o testemunho dos prprios
colegas de delegaes de outros pases. A firme defesa de Ruy
Barbosa do referido princpio (formulada ante as propostas de
nomeao de juzes para as projectadas Corte de J ustia
Arbitral permanente e Corte Internacional de Presas) contou
com o apoio dos pases latino-americanos e abriu caminho para
a adopo, dcadas depois, do artigo 2(1) da Carta das Naes
Unidas. (IDEM, 2007, s/p)
Hugo H. Arajo 73
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 10
Lisboa, 28 de Outubro de 2009
Vamos hoje falar sobre diplomacia, carreira diplomtica e, na vertente quer de
embaixadas quer de consulados.
O Estado soberano, como nao soberana, ou no mbito da sua prpria soberania, a
competncia do Direito de se fazer representar de forma:
Activa o direito que se tem de enviar embaixadas;
Passiva o direito de receber embaixadas.
Por isso, partindo destes dois conceitos a diplomacia pode ser definida como complexo
de conhecimentos e princpios necessrios para dirigir negcios pblicos entre os
Estados.
O desenvolvimento do sistema de embaixadas, era consequncia do princpio do
equilbrio europeu decorrente de Vesteflia.
De facto, foi a partir do momento em que os Estados estabeleceram regras, ou tratados
de reajustamento de fronteiras, de sucesso aos tronos, de casamentos e alianas entre
os Estados reinantes que se desenvolveu o sistema de embaixadas.
De entre os vrios tipos e agentes diplomticos ns podemos individualizar a partir do
congresso de Viena de 1815 as seguintes figuras:
Embaixadores;
Enviado extraordinrio;
Ministro plenipotencirio;
Ministro residente;
Encarregado de negcios.
Apesar de ter sido com a paz de Vesteflia que se desenvolve o sistema, tendente
criao de embaixadas, at porque era necessrio para estabelecer o equilbrio entre
Hugo H. Arajo 74
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
potncias e uma relao de equidistncia entre potncias, o primeira grande momento
internacional que vai regular a disciplina da diplomacia o Congresso de Viena, o
acto geral do Congresso de Viena.
E no Congresso de Viena, mais propriamente no anexo XVII que se vo definir quais
os agentes diplomticos e qual a sua hierarquia.
E assim temos que:
1. Embaixadores, os delegados e os nncios.
Embaixadores e os delegados representantes dos Estados soberanos;
Nncios representante do Papa, embaixador do Papa.
2. Enviados, ministros e outros agentes acreditados juntos dos soberanos
estrangeiros;
3. Encarregados dos negcios acreditados junto dos ministros dos negcios
estrangeiros.
Qual a razo de ser desta hierarquia?
Por um motivo os primeiros eram entendidos como os representantes do soberano, fosse
civil ou eclesistico (o Papa). Os segundos e os terceiros eram tidos como
representantes dos governos.
Da a sua diferena hierrquica.
Quanto ao papel desempenhado por todos os agentes diplomticos: podemos dizer que o
agente diplomtico tinha funes em tempo de guerra e em tempo de paz.
Em tempo de paz eram chamados a estabelecer/fortificar boas relaes entre as duas
naes: nomeadamente a nvel poltico, econmico e cultural.
O embaixador, servia s de representante do seu soberano s nas cerimnias pblicas do
outro Estado como tinha de ser criador e mediador das relaes econmicos do Estado e
elemento facilitador das relaes econmicas e estabelecer o intercmbio cultural entre
os dois Estados. Este era portanto, o fundamental, at porque o embaixador era os olhos
Hugo H. Arajo 75
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
e os ouvidos do seu Estado no local onde se encontrava. No s do ponto de vista
politico para se perceber o que poder pr em causa a soberania e a independncia do
seu prprio Estado como tambm o desenvolvimento da cincia e da tecnologia.
Competia ao embaixador comunicar todas as intervenes que pudesse colocar em
causa a independncia do Estado ou das vrias vertentes a desenvolver para o
desenvolvimento do Estado.
Este era o papel do Embaixador.
E por ele ser o representante do soberano, o Embaixador tinha um Estatuto de
inviolabilidade, ou seja ele considerado como a personificao do Estado presente no
pas onde se encontra, bem como a sua residncia tida como territrio nacional do seu
prprio Estado. O Estatuto da inviolabilidade um Estatuto de imunidade, porque o
Embaixador no podia ser preso nem julgado em tribunais no pas onde se encontrava,
uma vez que havia uma imunidade judicial na pessoa do embaixador. Essa imunidade
estendia-se sua famlia e aos funcionrios da embaixada.
Em tempo de guerra - o embaixador, o nncio tinha funes mais complexas,
nomeadamente estavam incumbidos de tentar apaziguar os nimos dos Estados
beligerantes e tentar de alguma forma, da que tivesse sua disposio estabelecer a paz
entre os dois Estados. E vejam que o papel do Embaixador to importante que um
papel de se declarar a guerra a um Estado era mandar os embaixadores e funcionrios se
retirassem do Estado onde se encontravam. A sada intempestiva do embaixador sem ser
por mudana normal de cargo, era tido como uma declarao de guerra. Como exemplo
sobejamente conhecido, o caso do Ultimato Ingls a Portugal em 1890, com a eventual
mudana intempestiva da sada do embaixador ingls do nosso territrio. Portanto este
acto de afastamento do embaixador do pas onde se encontrava no mais do que uma
demonstrao de que a Inglaterra consideraria como declarao de guerra a no
aceitao do Ultimato e ao ser uma declarao de guerra a consequncia imediata era a
sada do Embaixador.
Estas funes em paz e guerra dos embaixadores podem ser resumidas eu reunidas em
trs ciclos de funes:
Polticas;
Hugo H. Arajo 76
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Comerciais;
Relacionadas como os seus concidados (funes civis).
Funes polticas so aquelas que se relacionam com a independncia e segurana do
Estado. O embaixador deve reportar tudo aquilo de que tenha conhecimento. E ausncia
desse porte pode ser prejudicial para o Estado. E da a necessidade de o embaixador
estar bem preparado, bem informado e bem relacionado.
Como exemplo: no mbito da partilha de frica e que levaram Conferncia de Berlim,
a questo que foi discutida em 1885, a questo do Congo, Congo esse que se pretendia
ver dividido entre os ingleses e os portugueses. Inglaterra e Portugal celebraram um
tratado em 1884, era um tratado bilateral. E a dada altura, como se sabia que a zona do
Congo, onde havia vrias feitorias internacionais a Inglaterra coloca a questo de se
saber se haveria ou no oposio dos outros Estados Europeus com interesses em frica
celebrao do tratado. Aqui o papel essencial dos embaixadores. A secretaria de
estado dos negcios estrangeiros vai pedir aos seus embaixadores, na Alemanha, na
ustria em Frana, na Blgica em Itlia que tentem sondar o ministro dos negcios
estrangeiros e que informem Lisboa sobre qual a percepo, o sentido do estado onde
eles se encontram sobre a concluso do tratado entre Portugal e Inglaterra. E todos os
embaixadores fazem esse trabalho. Um trabalho de informao de relacionamento.
Curiosamente h um embaixador que falha a anlise, que o embaixador da Alemanha,
o Marqus de Penalva, e falha a anlise porque informa o governo portugus que os
alemes no tm interesse em frica, que no h qualquer interesse por parte do
chanceler alemo Bismark quanto a esse territrio. Era verdade, ele teria falado com o
secretrio de estado dos negcios estrangeiros e de facto a posio oficial do chanceler
alemo no estar interessado.
Mas no a informao oficial e a informao oficial no pode escapar ao embaixador.
O embaixador dever-se-ia ter apercebido que o movimento paralelo ao governo, vem
dizer uma coisa muito simples, que formou um movimento de comerciantes alem com
interesses em frica para iniciarem expedies a frica. Ora isto significa que a
desvalorizao desde o conhecimento de uma comisso internacional, ou uma comisso
alem com interesses em frica, devia te sido um alerta para o embaixador porque uma
Hugo H. Arajo 77
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
coisa no querer outra ter um reposicionamento da sociedade civil, e esse o
problema. Ora o embaixador comunica secretaria de Estado e desvaloriza a
constituio desta associao e vai ser ela a primeira a opor-se ao tratado de 1884 e
obrigar Bismark a dizer que Portugal e Inglaterra no podem fazer aquele tratado que
eles no vo autorizar. H aqui de facto um papel essencial do embaixador na percepo
da poltica nacional. Claro que isso importante, como hoje, ate porque o embaixador
no tinha s um papel, contrariamente ao perodo anterior a Vesteflia, j no s o
embaixador o detentor da informao, j no s ele que gravita volta do governo e
das Cortes. H um outro elemento que se impe em todo o sculo XIX e que merece a
ateno diplomtica que a comunicao social que so os jornais. Quando o
embaixador ia para um determinado Pas era necessrio conhecer o jornal do governo e
qual o representante do Governo e da Oposio. Da a referncia caixa ou correio
diplomtico que est cheia de recortes de jornais com resumos feitos pelos
embaixadores das noticias mais importantes desse mesmo pas com interesse para
Portugal.
Funo econmica e comercial no mais do que prover para o desenvolvimento
comercial do Estado. E aqui temos uma nuance o embaixador vai atender s questes da
macroeconomia, ou seja, s questes econmicas de interesse geral. No vai ter o papel
de proteger, salvaguardar os interesses dos pequenos mercadores, dos pequenos
comerciantes porque esse papel caber ao cnsul. O papel do embaixador geral, ele
como que um interface econmico para desenvolvimento econmico de Portugal em
outros pases.
Funes civis, so funo de proteco dos seus concidados. O embaixador deve
desenvolver esforos para proteger os seus concidados em pases onde ele est em
representao. Bem como tem a funo de emitir passaportes, certides declarar e
atestar bitos, assentos de casamento, nascimentos, acabando a embaixada por exercer o
papel de uma conservatria do registo civil.
Isto significa que para o embaixador exercer satisfatoriamente as funes a que est
nomeado deve em primeiro lugar estar bem preparado. E essa uma nota especfica
Hugo H. Arajo 78
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
para o sculo XIX. At meados do sculo XIX nos tnhamos que o embaixador era uma
carreira muito de cariz aristocrtico, eram embaixadores os filhos dos embaixadores, no
sentido em que os filhos primognitos no herdavam os morgadios (conjunto do
patrimnio que esta vinculado a uma determinada casa, e no pode ser repartido aos
sucessores, s pode ser entregue na totalidade ao filho varo primognito, em
detrimento dos outros filhos primognitos), isto para dizer que s o filho primognito
varo herdava os bens, e os restantes tinham que fazer pela vida, ou casar com herdeira
de uma casa nobre, ou abraar a vida religiosa.
Era uma carreira ligada aristocracia. J no assim em meados do sculo XIX, sucede-
se, nomeadamente depois do desenvolvimento do sistema de Congressos, que o Estado
escolhe como embaixador algum com formao especfica para o ser. Era o caso do
curso de 3 anos de Diplomacia, com formao especfica de letras e lnguas. A carreira
comeou por ser uma carreira evolutiva, comeavam como funcionrios, adidos e
passavam a embaixadores. Para ser embaixador necessrio que esteja preparado. E
essa preparao prpria da universidade.
Para alm disso o embaixador estava dependente para o desenvolvimento das suas
funes com ele prprio, porque no pensemos que o embaixador actua conforme as
suas ideias. O embaixador recebia informaes/comunicaes dirias do Ministrio dos
Negcios Estrangeiros, bem como instrues de actuao, nomeadamente quando
estavam em causa interesses vitais para Portugal. Sempre que era assim o embaixador
apenas actuava conforme as informaes que recebia.
O embaixador portugus negociava o tratado em 1884 sobre o Congo, a negociao o
acordo e tem de haver uma cedncia de vontade de ambas as partes. O embaixador s
pode ceder se tiver autorizao do Governo. E portanto essencial uma diria
comunicao entre o embaixador e Governo para que haja sucesso nas relaes
diplomticas.
Isto sobre os embaixadores e as embaixadas.
Para alm das embaixadas temos os consulados. Os consulados acabam por constituir
essencialmente uma delegao comercial de um determinado Estado num outro Estado.
Hugo H. Arajo 79
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Como que nascem os consulados?
O Consulado nasce na Idade Mdia como a eleio de um representante de um
comerciante por parte de comerciantes de um Estado.
Na Idade Mdia, ns tnhamos, em Lisboa vrias colnias, inglesas, flamengas,
irlandesas, francesas que estavam c a desenvolver as necessidades comerciais. Esses
comerciantes tinham e porque o sistema judicial que vigorava na Idade Mdia era de
cariz social e no patrimonial tinham direitos prprios, nomeadamente tinham o direito
de ser reconhecido pelo reino portugus que no caso de haver conflitos entre
comerciantes da mesma nacionalidade, aplicava-se a lei da sua prpria nacionalidade.
Ora quem aplicava a lei, nestes casos era o comerciante eleito pelos restantes
comerciantes que se encontrassem nesse territrio. desta necessidade que os
comerciantes tinham de escolher um representante que aplicasse a sua prpria lei mas
apenas entre eles que nasce, o Cnsul. O Cnsul da Idade Mdia, era um nacional de um
Estado que representava num outro o seu prprio Estado onde se encontrava.
Claro que com a evoluo dos Estados, com a criao do Estado moderno, e com o fim
da pessoalidade da lei, uma vez que passa a vigorar o princpio da territorialidade, ou
seja quem se encontrar num determinado Estado, est obrigado a cumprir as leis desse
determinado Estado e ser julgado por essas mesmas leis, a figura do cnsul altera-se e
deixa de ser visto como um representante do Estado para ser visto como um agente
econmico e comercial de um Estado em outro Estado. O cnsul era portanto um
representante econmico e comercial de Portugal em pases onde houve-se interesses
econmicos. esta a funo do Cnsul, uma funo essencialmente econmica.
E o Cnsul, a partir do sculo XVII com a criao do Estado moderno, passa a ser visto
tambm como um funcionrio do Estado. J o Estado que decide enviar o seu
representante comercial, tem um outro carcter e aqui o carcter j essencialmente
econmico ele no representa o Estado nem a soberania, ele representa o Estado apenas
no ponto de vista econmico. Portanto ele tem funes mais reduzidas mais diminutas
em relao aos embaixadores.
De qualquer modo, ao cnsul no estavam apenas incumbidas funes comerciais,
podia estar tambm funes de defesa social, aos seus concidados, ou ser tambm
representante de civis. Por exemplo, no era a embaixada de Washington que tinha de
Hugo H. Arajo 80
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
ter a funo de decidir tudo, portanto, acaba por delegar essas funes nos vrios
consulados dada a extenso territorial.
Hugo H. Arajo 81
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 11
Lisboa, 2 de Novembro de 2009
Comeamos na ltima aula a falar dos consulados. Hoje continuamos hoje com o tema e
depois passaremos para a celebrao de tratados e com isto terminaremos a matria
relativa ao sculo XIX.
Tnhamos visto na ltima aula que a funo dos consulados era uma funo
essencialmente comercial, de defesa dos interesses comerciais dos cidados num
determinado Estado. Em termos evolutivos, convm esquematizar em trs grandes
etapas evolutivas do consulado:
Sculo XI ao sculo XVI e caracteriza-se pela eleio do cnsul pelos nacionais, de um
determinado pas residente num territrio desse Estado e nesta eleio dos cnsules, ou
seja, estamos a discutir o cnsul de um Estado eleito noutro Estado pelos nacionais do
seu pas de origem, imaginemos a comunidade inglesa em Portugal vai eleger o seu
prprio cnsul de entre os membros da sua prpria comunidade que residam em
Portugal. Porque a existncia de um cnsul. Porque a necessidade dos nacionais
elegerem o seu representante. Porque durante estes sculos at ao sculo XVI era o
princpio da pessoalidade, ou seja aos ingleses em Portugal era aplicado em termos civis
o direito ingls e no portugus, com excepo ao Direito Penal, na Idade Mdia, o
princpio da pessoalidade no se aplicava ao Direito Penal. Excepo, essa que salvo se
a pratica no fosse penalmente eliminada no seu estado de origem, ai no vigorava o
Direito penal desse pas. A o cnsul teria que defender e aplicar o Direito do seu pas
de origem, ou do pas de recepo.
Com o aparecimento do Estado Moderno, e o aparecimento do princpio da
territorialidade, ou seja a aplicao do direito do prprio estado em todo o seu territrio,
se aplica o direito do soberano. Assim, o cnsul a partir do sculo XVI passa a ter um
grande papel enquanto defensor dos interesses mercantis e comerciais no Estado de
recepo. Esta modificao vai culminar no sculo XVIII o cnsul deixa de ter funes
jurisdicionais e passa a ter funes meramente comerciais. E esta evoluo ps sculo
XVIII que nos vamos centrar.
Hugo H. Arajo 82
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
A evoluo para o sculo XIX vai tambm, marcar uma nova etapa no Consulado. Os
Estados entenderam que a funo do cnsul devia ser transposta para diploma consular
onde toda a disciplina consular fosse codificada.
O primeiro diploma portugus que vem regular questes de mbito consular e no s o
Decreto de 23 de Novembro de 1836, este decreto assinado pelo Visconde S da
Bandeira, vai definir a organizao do corpo diplomtico e consular, bem como se vai
organizar os servios da secretaria de estado dos negcios estrangeiros.
E assim vai entender-se que as misses ao estrangeiro, podiam ter carcter permanente
ou carcter excepcional e dentro das embaixadas de carcter permanente nos
poderamos encontrar os ministros plenipotencirios, os ministros residentes, o
encarregado de negcio, os secretrios de misso, o primeiro adido ao cnsul geral e o
segundo adido ao cnsul geral. Para alm destas misses eram depois misses
extraordinrias criadas aquando da representao em conferncias ou congressos
internacionais. Isto para dizer que havia j desde 1836 uma incorporao consular nos
servios diplomticos do Ministrio dos negcios estrangeiros. Portanto com o tempo a
carreira consular passa a estar dependente quer do ponto de vista orgnico quer do ponto
de vista funcional e estabilizador do Ministrio dos Negcios Estrangeiros.
O primeiro grande diploma foi o decreto de 26 de Novembro de 1851, e este decreto vai
apenas disciplinar a funo do cnsul e vai vigorar cerca de cinquenta anos.
O cnsul neste diploma continua a ser um funcionrio do Estado que exercia funes
num outro Estado, com quem se mantivessem relaes econmicas e desde que, nesse
estado de recepo existissem colnias de comerciantes. Portanto o cnsul no s um
representante do Estado para funes econmicas ou comerciais, como tambm um
representante do Estado no meio das colnias.
As funes dos cnsules grosso modo no diploma de 1852, funes econmicas,
comerciais, e judiciais, podia decidir conflitos da comunidade emigrante naquele
Estado, mesmo que os motivos fossem apenas comercial, e portanto a funo judicial do
cnsul acentuada no diploma de 1851.
Qual ento a grande diferena entre a funo consular e a funo dos embaixadores?
Hugo H. Arajo 83
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Os embaixadores, so representantes do poder poltico, so os representantes do Chefe
de Estado, corporizam a extenso do Chefe de Estado no local onde exeram funes e
por isso tem funo de aplicao geral no pas.
O cnsul no tem necessariamente de estar acreditado no governo do pas uma vez que,
como os embaixadores, uma vez que muitas vezes o cnsul estava acreditado junto das
autoridades administrativas, ou das autoridades regies, frequente existirem
consulados em provncias ou Estados federados, portanto a funo do cnsul no era a
funo de representar o governo geral, mas nos vrios Estados (exemplo de Frana, o
embaixador est em Paris, mas existiam cnsules em Marselha, etc, onde se
encontravam grandes comunidades de emigrantes os cnsules eram a colocados).
Os cnsules dividiam-se em quatro grandes categorias:
Cnsules;
Vice-cnsules;
Cnsules de 2 Classe;
Cnsules Honorrios.
E a atribuio desta designao (com excepo do cnsul honorrio) dependia da
grandeza populacional e econmica dos distritos consulares onde se encontravam,
porque o cnsul apesar de ser uma subveno estatal era diminuda e as receitas dos
cnsules, eram normalmente provenientes, das receitas dos prprios consulados. Os
consulados viviam em lamentvel estado de sobrevivncia pois o Estado portugus no
tinha grande capacidade para financiar os consulados.
O cnsul honorrio nem sempre era um nacional, do pas representado, era comum
figura do consulado ser uma pessoa do pas de recepo mas, face importncia que
tinha tido, nas relaes econmicas com um determinado Estado, este era nomeado
cnsul honorrio, ou seja, imaginemos um ingls que tenha tido um papel importante
nas relaes econmicas entre Portugal e Inglaterra, pode ser nomeado cnsul honorrio
por Portugal numa determinada cidade inglesa.
Hugo H. Arajo 84
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Posto isto, e visto grosso modo a figura do consulado, e das embaixadas, vamos
desenvolver, o tema dos tratados.
O Tratado um acordo celebrado entre Estados com o objectivo de introduzir efeitos de
direito.
No sculo XIX, disciplina do tratado aplicava-se a disciplina do contrato. E esta uma
nota importante, pois o Direito Internacional Pblico foi muito desenvolvido tendo
como base o Direito Civil, fosse ele direito romano ou direito nacionais. Portanto
quando ns olhamos, para a figura do tratado, temos de ter em ateno que alguns dos
requisitos para a validade dos contratos, ou mesmo para a validade dos actos jurdicos,
so valorizados na disciplina do tratado.
At ao sculo XIX defendeu-se que as regras relativas aos vcios da vontade,
nomeadamente o erro, o dolo, a coaco na declarao da vontade, eram valorizadas na
disciplina dos tratados.
E portanto se um Estado fosse, coagido a celebrar o tratado, por coaco fsica ou
moral, se um Estado celebrasse um tratado, em erro, se um Estado fosse de forma
dolosa celebrar um tratado, esse mesmo tratado poderia ser anulado.
Mas se estas premissas que so premissas decorrentes do direito romano e premissas
decorrentes da teoria geral do direito para os tratados, acaba por ter pouca validade para
os tratados para os juristas do sculo XIX porque os juristas do sculo XIX impem
uma interrogao que a seguinte: Se um tratado negociado durante um acto temporal
bastante longo. Se os tratados no so assinados sem que haja um acordo de vontades
entre o plenipotencirio e o prprio Governo que mandata, ento o tempo que h entre a
celebrao do tratado, as prprias negociaes at ao termo deste no justifica que os
Estados hajam em erro ou justifica que haja dolo ou qualquer tipo de coaco.
Ora entendiam os juristas do sculo XIX que o prprio processo de negociao do
tratado e a morosidade de negociao do tratado era um possvel factor determinante
para garantir a declarao de vontade de ambos os Estados e um factor de segurana.
Razo pela qual vm muitos deles, considerar que, quer o erro, quer o dolo, no so
considerados factos que originem a nulidade, no podem ser uma extrapolao directa
da disciplina do direito civil, para o direito internacional.
Hugo H. Arajo 85
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Por outro lado, a outra questo que se coloca e que faz com que os juristas se
interroguem da validade da existncia de dolo de erro, e se houver, o que difcil, o
Estado se duvidar de alguma coisa no assina, mas e se assinar e se vier a provar que
agiu em erro o que se faz? Acontece e claro que no mbito internacional todo ele
construdo imagem e semelhana do Estado, a questo onde que est o tribunal
internacional onde se possa ir anular um tratado, porque ele foi celebrado com base em
erro ou dolo. E aqui a resposta bvia, no h. Mais uma razo para que esses
elementos no sejam valorizveis, no Direito Internacional Pblico. Isto quanto ao erro
e ao dolo.
Quanto outra figura tpica dos tratados que a ratificao.
Durante muito, nomeadamente no tempo de Grcio, sculo XVI e sc. XVII
considerava-se que um ministro plenipotencirio, um negociador aquele que negociava
com outra parte com um mandato escrito do seu pas, vinculava de forma imediata e
directa o Estado representado a partir do momento em que assinava o tratado. No se
justificava a existncia de ratificao uma vez que a negociao do tratado era
devidamente supervisionada por um representante do Estado, que tinha um mandato
escrito sobre o que se iria tratar. Logo no era necessrio mais nenhum passo adicional.
E o que se entendia que o Estado mandatava de forma detalhada o seu representante e
portanto o plenipotencirio que sabia o objecto e at onde poderia ir. Claro que esta
orientao do sculo XVI e XVII, no vai perdurar no sculo XVIII.
No vai lograr porque o prprio Estado que criado, e o prprio sistema de soberania
no vo permitir que um determinado tratado se vincule ao Estado sem poder do
soberano s ser aplicado e vinculado quando o soberano d o seu abalo.
De facto o abalo (em linguagem imprpria) que o soberano d ao tratado a ratificao.
A partir de finais do sculo XVIII a ratificao passa a ser exigida para todos os tratados
internacionais. E a ratificao que lhe confere que os torna obrigatrios, e definitivos.
Se o Estado pode ratificar tambm o Estado pode no ratificar.
A no ratificao tem consequncias, porque apesar de se entender que toda a
negociao do tratado devidamente acautelada pelo interesse nacional, h um controlo
sobre aquilo que escrito, pode no limite o Estado entender que os resultados obtidos
na negociao do tratado no justificam a sua ratificao.
Hugo H. Arajo 86
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
O tratado de 1884, entre Portugal e a Inglaterra sobre o Congo, apesar de ter sido
assinado pelos ministros plenipotencirios portugueses e ingleses, o tratado para entrar
em vigor na ordem constitucional portuguesa e luz da Carta Constitucional portuguesa
tinha de ser ratificado. E a ratificao no operou, Portugal no ratificou. Ao no se
ratificar o tratado deixa de ter validade. E no se ratifica porque entende que apesar de o
Governo ter dado ordens especficas, ao negociador para negociar o tratado, nos termos
que ele Governo entendia, e no era prejudicial aos interesses portugueses, as Cortes,
entenderam que o tratado era prejudicial para os interesses dos portugueses e o Governo
no tinha sabido acautelar esses interesses. Claro que o Governo nem sequer tenta
discutir o tratado. Quando o Governo tenta sondar as Cortes, sobre a possibilidade de
ratificao, h uma oposio total a essa ratificao, o Governo recua, o tratado cai por
terra. Isto para dizer que a ratificao tornou-se ou por coeso nacional ou por
imposio constitucional, um elemento essencial para que os tratados entrassem em
vigor.
Quem ratificava? O Rei.
Como? Acontecia era que o Governo apresentava nas duas Cmaras: dos Deputados e
na Baixa um projecto de lei a ser votado nas cmaras a autorizar o governo entregar
para ratificao o diploma. Portanto autorizava-se o rei a ratificar o tratado
internacional.
Porque razo intervm o Governo e as Cmaras? Para que houvesse uma sindicncia
por parte das Cmaras actividade internacional do Governo. Isto porque, como
podemos imaginar a disciplina internacional, nas relaes internacionais, os Estados,
eram questes de mbito secreto. Porque haviam questes que poderiam pr em causa a
independncia, a soberania a individualidade do territrio. Por outro lado, se haveria
negociaes iniciadas com outros Estados, negociaes essas que o Estado queria como
secretas, para no serem divulgadas para no haver a hiptese das negociaes serem
prejudicadas por terceiros, razo pela qual nem sempre havia interesse, em apresentar
estas questes s Cortes, antes delas se conclurem. Portanto havia em razes para que o
Governo no submetesse as questes internacionais s Cortes, a no ser quando era para
pedir a ratificao do diploma.
Hugo H. Arajo 87
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Quando se submetia a matria s Cortes para que estas ratificassem o tratado em regra
juntamente com o projecto do tratado era entregue uma compilao com a
correspondncia existente no Ministrio dos Negcios Estrangeiros sobre esse tratado.
Neste domnio em Portugal temos o Livro Branco, do Ministrio dos Negcios
Estrangeiros compilava sobre determinada matria ou sobre cada ano, as relaes
diplomticas do Pas. Claro que no Livro Branco elaborado pelo Ministrio dos
Negcios Estrangeiros e a correspondncia confidencial, no se encontra nos livros
brancos por uma razo: a colocao de correspondncia confidencial nos livros brancos,
tenderia a que todos os deputados vissem e tenderia a ferir a susceptibilidade do Estado
parceiro do tratado e portanto, era matria que ficava restrita ao Chefe de Governo e ao
Ministro dos Negcios Estrangeiros.
Claro que estes diplomas, confidenciais encontram-se actualmente arquivados no
Ministrio dos Negcios Estrangeiros.
Mas era com base nos Livros Brancos que as Cortes argumentavam para ratificar os
tratados.
Autores que defendem que o negociador era o mandatrio do Estado e portanto agia nos
estritos limites do mandato, vincula o Estado a partir da assinatura. H a exigncia
constitucional de ratificao mas o tratado entra em vigor data em que assinado.
Aqueles que consideram que a ratificao um elemento constitutivo, do tratado,
porque ela quem vai admitir a total e integral vinculao do Estado vo dizer que o
tratado, mesmo que o negociador tenha extravasado um milmetro que seja, o tratado s
vai entrar em vigor aps a ratificao.
Com isto temos os dois traos preponderantes da ratificao. Aqueles que a entendem
essencial, constitutiva como factor que vai permitir a validade do tratado que s aps a
ratificao o tratado entra em vigor. E aqueles que a consideram como mais um
elemento por imposio constitucional mas que o peso dado validade do tratado deve
ser dado pelo mandato, vo entender que aps a ratificao, o tratado retroage data da
assinatura do tratado pelo representante do tratado.
Assim se termina a matria relativa ao sculo XIX.
Hugo H. Arajo 88
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
O sculo XX vem dividido em dois momentos. O primeiro momento as relaes
internacionais que levaram I Guerra Mundial, e aps isso o Tratado de Versalhes bem
como a constituio da Sociedade das Naes.
Aps isto veremos os motivos que levaram II Guerra Mundial e ps II Guerra
Mundial, vamos ver as Naes Unidas.
E por fim veremos a actualidade, e a Globalizao.
Assim h trs grandes momentos:
I Guerra Mundial - Sociedade das Naes;
II Guerra Mundial - Naes Unidas;
Politica das Relaes Internacionais e a Globalizao.
Hugo H. Arajo 89
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 12
Lisboa, 4 de Novembro de 2009
Hoje vamos abordar relaes internacionais do ponto de vista lato sensu.
E, vamos ver como os Estados Europeus se vo comportar no final do sculo XIX
incios do sculo XX.
Como vimos numa aula anterior, os principais Estados Europeus vo comportar-se de
uma forma uniforme ao longo do tempo (sculo XIX e XX).
Ou seja:
Inglaterra;
Frana;
Alemanha;
Itlia;
ustria;
Rssia;
Turquia.
Tm ao longo de todo o sculo XIX incio do sculo XX a mesma linha poltica.
A Frana como potencia continental que queria ser vai tentar aumentar o seu poderio na
Europa, e quando no consegue vai procurar a soluo para o seu problema nas
chamadas colnias, nomeadamente em frica e na ustria.
A Inglaterra, no se tinha como potncia colonial era essencialmente uma potncia
ultramarina, e a sua grande preocupao era como controlar os objectivos
expansionistas dos restantes pases, nomeadamente, alem, francesa e mais tarde
italiana.
Hugo H. Arajo 90
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
A Alemanha um novo pas. A partir de 1870 tem um objectivo, sedimentar-se no
continente europeu, transformar-se na primeira grande potncia continental, essa a
poltica de Bismark. E essa politica de Bismark vai ser realizada atravs do
desenvolvimento econmico e blico, vai ser demonstrado na I Guerra Mundial, vamos
ter uma Alemanha devidamente militarizada, s que para alm de interesses
continentais, a Alemanha a partir da segunda metade dos anos 80 vai querer
desenvolver/ocupar espaos em frica e na sia, com o objectivo no s de aumentar o
seu poder territorial mas controlar e por vezes impedir o desenvolvimento da Inglaterra.
Esta em regra a posio alem.
A Rssia, tem uma poltica diversa, uma potncia europeia com interesses no na
Europa do Ocidente. A Rssia, vai canalizar os seus principais objectivos, no Leste
Europeu, na sia Menor e em toda a sia. Porque? Vejam que estamos a falar talvez do
maior imprio da Europa. E a Rssia, que vai da Europa ao Pacifico vai ter como
vizinhos para alem da china e do J apo a Inglaterra, nas regies do Paquisto da ndia e
do Afeganisto, o iro. E depois o que interessa essencialmente, a Rssia tinha nas suas
fronteiras o Imprio Austro-hngaro e os novos Estados sados da independncia
Eslava. Faziam em termos do mapa europeu, a fronteira entre a Rssia.
A Rssia sabia que para ela ter acesso sia Menor, ao Mar Negro, s riquezas que
vinham das grandes caravanas comerciais da china da ndia, do Paquisto do
Afeganisto teria que descer at ao Mar Negro. Ora para o fazer ela tinha de controlar
os movimentos Eslavos. Os movimentos eslavos eram de facto um factor de eventual
destabilizao para os interesses russos. Porqu? Porque a Rssia pela sua dimenso
abrangia tambm regies de comunidades eslavas e portanto era necessrio controlar os
movimentos para que no houvesse movimentos independentes dentro do seu prprio
territrio.
S que, se por um lado, a se a Rssia queria controlar os movimentos eslavos, por outro
lado precisava de os fomentar, para com isso diminuir o poderio do Imprio Austro-
hngaro. E por isso a poltica russa uma poltica dupla, de uma dupla face. Incentiva o
Pan-eslavismo dos pases que faziam parte da ustria-Hungria e ao mesmo tempo tenta
aniquilar, o Pan-eslavismo dos pases que faziam parte do seu prprio Imprio,
nomeadamente a Polnia, portanto naquilo que lhe interessava ela era incentivadora,
naquilo que pusesse em causa a manuteno do seu imprio ela era repressora. Reprimia
Hugo H. Arajo 91
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
a Polnia, incentivava a Servia, o Monte Negro, a Bulgria e a Romnia. Portanto,
temos aqui o posicionamento Russo.
A ustria comete um problema. Inicia o sculo com o maior Imprio Europeu e termina
o sculo em derrocada total. Porqu? Antes de terminar o sculo XIX a ustria v-se
desagregada. Recordem-se no mbito da unificao Italiana, perdeu a Srvia e a Bsnia-
Esgovina. A Srvia tinha-se tornado independente, a Bsnia-Esgovina esta numa
posio de protectorado, ou seja ela tinha adquirido a independncia mas mantinha-se
sob esfera de proteco do Imprio Austro-hngaro. A Romnia era independente, a
Bulgria tinha atingido a independncia, ou seja tudo isto eram pases ou tinham feito,
parte da ustria ou tinham feito parte da Turquia. E portanto o aparecimento dos
chamados Estados Eslavos, tinha sido uma demonstrao de fraqueza da ustria. J ia
longe o princpio da legitimidade.
A Itlia, surge-nos com outras condies. Estava unificada, e a unificao italiana tinha
permitido que ela tentasse a construo de um imprio colonial e vira-se para o que
estava mais perto - Norte de frica. Cria uma colnia na Tunsia, tenta atingir alguma
posio na Libria que era Estado europeu e como vai tentar alguns interesses no
Egipto, mas ai vai-se dar mal porque o Egipto era protectorado ingls.
Bom, este o Estado das potncias.
Portugal e Espanha tm uma situao muito pior.
Espanha est em derrocada total. Perdeu no final do sculo XIX, Cuba e as Filipinas.
Perde Cuba, porque Cuba torna-se independente, perde as Filipinas para a Inglaterra e,
perde-as em Guerra, Espanha faz uma guerra nas ltimas dcadas do sculo XIX e
perde de facto estas duas colnias. No s o perder, mas o perder a guerra aliada
dificuldade econmica e financeira espanhola, fragilidade do poder poltico espanhol,
vai fazer com que Espanha entre no sculo XX como uma potncia de terceira
categoria, Espanha est totalmente defraudada. No considerada no espectro europeu e
de facto vai ter de esperar at dcada de 20, onde Espanha se vai reposicionar na
comunidade internacional.
Hugo H. Arajo 92
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Portugal, no est numa posio muito m, porque comea o sculo XX com um
imprio imenso, perde o Brasil (que se torna independente), por fora da Conferncia de
Berlim perde o territrio na margem direita do Congo e no perde mais nada. No
ganha, certo, o que quis aumentar em frica no conseguir os territrios entre
Moambique e Angola, mas tambm no perdeu mais.
Portanto termina o sculo como quarto imprio mundial. Se chamamos a isto uma
derrocada de Portugal, segundo o Mestre Pedro Caridade de Freitas esquisito.
certo que, a nvel interno Portugal comea o sculo a recuperar da banca rota,
conseguiu evitar a banca rota mas tambm no perde os seus territrios. Durante 20/30
anos falou-se em venda. Venda-se Moambique que no interessa para nada, venda-se a
Guin, venda-se Timor e vendeu-se metade de Timor, para Portugal pagar uma divida
aos Holandeses. No se venda S. Tom e Prncipe que era uma colnia agrcola. Mas se
olharmos para a poltica nacional, o mote venda-se tudo aquilo que no interessa nas
colnias, cobrir o dfice oramental, tal como actualmente o Estado vende patrimnio
para cobrir dvidas pblicas.
Portugal at chega com uma situao financeira melhorada. E portanto perante todas as
dificuldades e perante todas as presses internacionais, apesar do comportamento das
potncias com Portugal, na tentativa de nos retirarem territrios, acabmos o sculo
mais ou menos como comeamos, portanto no de parecer que acabamos to mal.
E acabamos com uma coisa que no tnhamos comeado, prestigio, ns comeamos o
sculo XIX considerados como protectorado ingls. ramos uma potncia olhada como
que gravitava volta de Inglaterra. Portugal no era um Estado totalmente
independente, falvamos pela voz de Inglaterra.
Isso no acontece no sculo XIX, ns damos a volta quando nos sentamos numa
cadeirinha prpria com voz prpria na Conferncia de Berlim em 1885 a que se d a
reviravolta. Ns chegamos l numa posio fragilizada, certo, entramos l com todos
os Estados a quererem aniquilar Portugal, tudo era mau. Acontece todos vo precisar de
Portugal para negociar. A diplomacia portuguesa consegue dar a volta, consegue
mostrar que apesar de pequenos temos um grande imprio. Portanto os outros precisam
de ns, e de facto a diplomacia portuguesa foi crescendo nos finais do sculo XIX, e
quando chegamos ao sculo XX visto, ouvido, isto curioso porque Portugal na
Hugo H. Arajo 93
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
primeira dcada do sculo XX vai receber chefes de Governo, o rei Eduardo VII, a
resposta foi o Imperador alemo e depois Guilherme II. Porqu? Ser pelo prestgio do
rei de Portugal, certamente, D. Carlos apesar de ser um rei pouco conhecido
internamente conhecido com um prestgio a nvel internacional, muito considerado.
Basta dizer que no conflito entre Brasil e Inglaterra, os bons ofcios do rei D. Carlos,
mostra o seu prprio prestgio.
Mas vinha a Portugal, porque a Alemanha tinha fronteiras coloniais com Portugal,
porque a Inglaterra tinha fronteiras coloniais com Portugal e portanto para evitar
acordos secretos entre Portugal e Inglaterra a Alemanha posiciona-se, ora isto mostra
que passmos a ser considerados.
Todas as grandes potncias coloniais intensificam as relaes diplomticas com
Portugal. Isto de facto mostra a importncia que a diplomacia portuguesa assume na
ltima dcada do sculo XIX, e na primeira dcada do sculo XX.
Uma pequena nota sobre a banca rota.
importante por uma questo: Portugal em 1891/1893 condenado por uma arbitragem
a pagar uma quantia avultada de uma indemnizao aos EUA e Inglaterra, no aos
Estados mas aos cidados desses Estados, por incumprimento de um contrato de
construo de uma linha de caminhos-de-ferro de Moambique. Quando se decidiu
fazer uma linha de caminhos-de-ferro em Moambique de norte a sul Portugal cria uma
companhia e o que vai acontecer que Portugal vai negociar com empresrios e
ingleses e norte americanos. Entretanto, Portugal no cumpre. O diferendo andou de um
lado para o outro e uma arbitragem, arbitragem essa que vai decidir pelo
incumprimento contratual imputado a Portugal e Portugal teria que indemnizar os EUA
e Inglaterra, ou os seus cidados. Contudo Portugal no tinha dinheiro para pagar a
indemnizao e portanto s havia uma alternativa, Portugal tinha que recorrer a bancos
internacionais para se financiar. E aqui que Inglaterra, esta oferecesse para ajudar
Portugal para pagamento da indemnizao e para saldar as suas contas, mas ao mesmo
tempo faz um acordo secreto com a Alemanha em 1898, acordo esse que definia se
Portugal incumprisse o pagamento das prestaes fazer-se-ia o ressarcimento atravs
das colnias, ou seja a Inglaterra ia exigir a Portugal que se este no cumprisse, haveria
a diviso das colnias portuguesas para a Alemanha e para a Inglaterra. Claro que
Hugo H. Arajo 94
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Portugal no tem acesso ao acordo secreto, mas aqui a diplomacia faz uma coisa certa e
Portugal teve conhecimento. Tanto teve conhecimento do que se passava que Portugal
informa a Inglaterra que no quer celebrar o contrato com ela, porque a Frana tinha-lhe
proposto um outro emprstimo, mais favorvel aos interesses dos portugueses. E assim
vai salvaguardar a outra grande diviso do imprio colonial portugus na ltima dcada
do sculo XIX, so os acordos secretos anglo-germnicos. S que de facto apesar de
Portugal decidir no ir pela Inglaterra, mas sim pela Frana no impede uma outra
situao de surgir que a Guerra do Transval (na frica do sul, fronteira com
Moambique). O Transval era uma guerra entre os ingleses contra os descendentes
holandeses. E nesta guerra que se inicia a Inglaterra precisa de um aliado e o aliado
natural o aliado que tem fronteiras com o Transval, e quem tem fronteiras com o
Transval Portugal. Ora se a Inglaterra mantm um tratado secreto com a Alemanha,
Portugal no vai abrir mo dos seus territrios para Inglaterra. Mais Portugal tinha
desde a dcada de 70 um acordo com o Transval. Portanto, aquilo que se podia fazer era
impedir que Inglaterra entrasse pela costa oriental de frica e os seus territrios da
frica do sul, ou seja impedisse que as armas entrassem por mar para a dita guerra.
Com isto a Inglaterra deixava de ter entrada para o local a no ser pela cidade do Cabo,
mas essa cidade ficava longe do palco de guerra e Portugal impe ou Inglaterra acabava
com os tratados secretos ou Portugal no apoiava Inglaterra e a vai-se celebrar o tratado
de Windsor, um tratado anglo-portugus, tratado esse que vai por fim aos tratados
secretos entre Inglaterra e Alemanha.
E este tratado de Windsor vai reafirmar a Aliana entre Inglaterra e Portugal e vai
reafirmar a politica inglesa de proteco dos territrios coloniais portugueses, que
existia desde o casamento de D. Catarina de Bragana filha de D. J oo IV com o rei D.
Carlos II, de Inglaterra e portanto desde 1648 que havia um tratado que estipulava que a
Inglaterra comprometia-se a auxiliar Portugal na defesa das suas colnias. Este tratado
vai ser reafirmado pelo tratado de Windsor em 1899.
Paralelamente a isto, Portugal ento aqui apoia a Inglaterra, no impedindo que
Inglaterra usasse o seu territrio para transportar armas para a dita guerra.
A guerra Transval uma guerra totalmente mortfera que decorre entre 1899 a 1902
uma guerra que viola a Conveno de Haia de 1899.
Hugo H. Arajo 95
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Como vimos esta Conveno tinha definido regras para a guerra terrestre,
nomeadamente na definio do tipo de armamento que podia ser utilizado, nada foi
cumprido. A Conveno de Haia de 1899 foi totalmente violada pela Inglaterra o que
faz a urgncia, a necessidade de criar novas regras para a guerra e esse , como vimos a
Conferencia de Haia de 1907.
Temos por outro lado, outros oscilamentos dos outros Estados que vo fazer vrias
tentativas de acordos entre eles com o objectivo de tentar equilibrar o poder nos finais
do sculo XIX.
Entre essas tentativas temos a Trplice Aliana. Esta vai juntar a Alemanha, a ustria e
a Itlia. Poderamos pensar que estamos a falar na ltima dcada do sculo XIX, porque
o juntar destas potncias?
E juntam-se essencialmente contra a Inglaterra.
Qual o objectivo da trplice aliana?
Bem, a Alemanha que tinha como potncia colonial percebe que deve expandir o seu
territrio para Leste e para as colnias.
A ustria, por outro lado queria garantir ter ajuda para controlar o oriente europeu,
nomeadamente precisava do apoio alemo para poder controlar os arganelos, um povo
hindu, a ustria que queria ter acesso livre ao arganelo precisava de fazer guerra
Turquia e essa guerra Turquia teria que ter o apoio alemo porque a ustria sozinha
no o conseguia.
A Itlia entrou na trplice aliana porque queria dominar a parte oriental do
Mediterrneo, este era dominada pela Inglaterra, e precisava do apoio das outras
potncias, nomeadamente alem e austraca.
Claro que para se conseguir isto era necessrio o apoio de uma outra potncia e por isso
mesmo a trplice aliana vai perceber que os seus objectivos s conseguiriam ser
atingidos se se juntassem Frana. A nica forma de controlar o mediterrneo, a nica
forma de controlar os arganelos, a nica forma de se expandir para Leste, contra os
Ingleses era s com a ajuda de uma outra potncia.
Hugo H. Arajo 96
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
E portanto estes pases, e nomeadamente a Alemanha que tanto mal tinha feito Frana,
e que era a grande rival francesa no continente europeu, vo fazer uma aproximao a
Frana para que ela consiga de alguma maneira para que ela adira trplice aliana.
Claro que isto no vai acontecer, a Frana no se vai aliar trplice aliana e no se vai
aliar Alemanha por dois motivos: no se esqueceu de ter sido espoliada da Alscia e
da Lorena pela Alemanha e recordando-se do que se passou com Versalhes;
A Frana no se aliando Alemanha vai-se aliar Rssia no final do sculo XIX.
Portanto cria-se uma outra frente, que Frana e Rssia.
Isto porque, com a Rssia que no tinha os mesmos interesses que da Frana, Frana
sente-se que conseguir aumentar o seu poderio colonial, uma vez que a Rssia no
tinha interesses em frica.
E com base no fracasso da Trplice aliana que vai demonstrar a no capacidade da
Itlia em se aumentar, que vai demonstrar que a ustria um imprio moribundo, e um
imprio moribundo que , no vai sequer ter aspiraes para conseguir atingir/controlar
o Mar Negro e que mostra que a Alemanha no era, ainda, to gigante como se
pensava.
Com a entrada no sculo XX, muda a Inglaterra o rei, morre a rainha Vitoria em 1902 e
sobe ao trono Eduardo VII, que era tio de Guilherme II, imperador da Alemanha.
Contudo Eduardo VII odiava o tio e portanto percebe para alm de que era tio, tinha um
problema, era autoritrio e defenda a militarizao integral da Alemanha, ou seja a
diplomacia inglesa e francesa tero como objectivo o isolamento da Alemanha.
Eduardo VII vai perceber que a nica forma de controlar o sobrinho, atravs da
tentativa de estabelecer um acordo com o grande rival do sobrinho, ou seja Frana. Ora
a Inglaterra atravs da diplomacia de Eduardo VII, com a ajuda de um senhor chamado
D. Carlos, Rei de Portugal e amigo intimo de Eduardo VII, vai fazer uma aproximao,
Frana, e com ela formou-se a chamada Entante Cordeale.
Hugo H. Arajo 97
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
A Entente Cordeale o acordo de no agresso, e de equilbrio europeu, entre a
Inglaterra e a Frana, celebrado na primeira metade do sculo XX, no ano de 1905 e
com esta Entente Cordeale h uma coisa que se percebe, a diplomacia francesa e a
diplomacia inglesa, vai trabalhar com o objectivo de isolar a Alemanha. A Alemanha
militarizada por Guilherme II vista como uma grande ameaa e paralelamente a
Alemanha percebe que est a ser isolada cada vez mais pela Frana e a nica soluo
para aumentar o poderio alemo declarar uma grande guerra Frana. E essa grande
guerra vai ser feita em 1914.
Portanto vejam que a primeira dcada do sculo XX feita com a tentativa das
potncias em encontrarem os seus aliados naturais, de forma a tentar isolar aquelas
potncias que tm como possvel ameaa e essa ameaa na primeira dcada do sculo
XX a Alemanha.
Hugo H. Arajo 98
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 13
Lisboa, 9 de Novembro de 2009
Na ltima aula abordamos o tema da trplice aliana bem como da entente cordeale e
agora abordaremos o conceito de trplice entente.
Nos finais do sculo XIX e incios do sculo XX, o tema das relaes internacionais
estava concentrado num conjunto ou em dois grandes blocos de Estados que so
protagonistas das relaes internacionais.
Esses blocos uniam-se na trplice aliana ou na entente cordeale que depois d origem
trplice cordeale.
E so estes dois blocos de Estados, que j vamos ver quais so, esses dois blocos vo ser
protagonistas nas relaes internacionais, nas questes polticas do incio do sculo XX
bem como vo ser eles tambm os responsveis do deflagrar da I Guerra Mundial. Os
blocos criados no final do sculo XIX, incios do sculo XX, so os que se vo manter
durante a I Guerra Mundial.
E que blocos so esses?
Vimos que na:
Trplice aliana: Alemanha, ustria e Itlia;
Trplice entente: Frana, Inglaterra e Rssia. E so estes trs pases, a Frana com a
Inglaterra com o acordo europeu e a entente cordeale, e com a entrada da Rssia em
1907, que se vai chamar a trplice entente.
E constituem estes dois blocos, os principais intervenientes na I Guerra Mundial.
O que faz com que estes pases se agrupem? O que vai por em risco a unidade europeia,
bem como a paz europeia.
Antes de mais preciso ter em ateno que a I Guerra Mundial, foi um conflito de
dimenses escala global, escala planetria. Nele vo entrar pases to distantes,
como a Austrlia a Nova Zelndia, o Canad. Isto significa que em cima da mesa das
Hugo H. Arajo 99
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
relaes internacionais nos primeiros anos do sculo XX no tiveram apenas o caso de
questes continentais, mas sim questes de mbito colonial. E de facto so
essencialmente conflitos coloniais que vo dar origem a um desentendimento, entre as
potncias europeias.
Em primeiro lugar, a celebre questo da Manchria, esta questo uma questo que vai
envolver a Rssia e o J apo.
A Rssia e o J apo vo entrar, por volta de 1905 em guerra, em guerra por domnios
territoriais no extremo pacfico do continente asitico. E nessa guerra, entre o gigante
continental e o imprio lipnico, a Rssia vai sair perdedora. A Rssia perde a guerra e
ao perder a guerra, vai aperceber-se do seguinte:
Por um lado no foi apoiada pela Inglaterra. A Inglaterra teria interesses
comerciais, com o J apo e era o principal interlocutor, ocidental junto do J apo
no apoia a Rssia.
Por outro lado percebe-se que esta proteco muito tomada pelo prprio
governo alemo, a Rssia est fragilizada, porque perder uma guerra, fazem
originar revoltas nacionais nas suas colnias. talvez o inicio do fim do imprio
russo e isto porque a dinastia Romanov, do imprio russo, estava a ser
contestado desde os finais do sculo XIX. O sistema de governo absolutista que
ainda perdurava na Rssia, a centralizao do poder imperial, bem como os
fracassos, que a Rssia teve a nvel militar, ditaram a criar uma onda de
contestao russa. Quer no prprio imprio russo, que nas regies onde a Rssia
dominava, nomeadamente, na regio balcnica onde os povos tentaram se
revoltar.
A Alemanha que era um dos grandes opositores europeus da Rssia, vai aproveitar este
momento de fraqueza poltico militar da Rssia, para tentar de alguma maneira
salvaguardar os seus interesses nas colnias bem como nos Balcs.
E no nos esqueamos que a Polnia encontrava-se dividida em duas partes:
Uma pertena Alemanha;
Outra pertena Rssia.
Hugo H. Arajo 100
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
E de facto a Rssia est fragilizada na Polnia, e de facto, a Rssia est fragilizada nos
Balcs, era muito simples, o imperador alemo tentar reconquistar territrios, Rssia.
Lado a lado e aproveitando a fraqueza russa e aproveitando, o no auxilio da Gr-
Bretanha Rssia, na guerra com o J apo o imperador alemo entende que chegou o
momento de aumentar os seus territrios coloniais. J no lhe bastava aquilo que ele
prprio tinha conseguido na sequncia do Congresso de Berlim de 1885, em frica quer
da costa oriental quer da costa ocidental, a actual Tanznia e o territrio dos Camares,
territrios que depois veio a perder com o fim da I Guerra Mundial como pena pela
guerra. O imperador vai aproveitar para tentar uma expanso no Norte de frica.
O norte de frica tinha interesses franceses, a Frana foi sempre vista pelo imperador
como um inimigo a temer no continente europeu mas com pouca relevncia a nvel
colonial. Mas entendia Guilherme II que facilmente se conseguiria vencer a Frana fora
do seu prprio territrio.
Por outro lado o norte de frica estava tambm ele dominado pela Espanha. Espanha
que gravitava volta da Frana encontrava-se nas primeiras dcadas do sculo XX
muito fragilizada. Aps a regenerao de Isabel II, o governo que sucedeu Afonso XII,
e o governo de 1911 e 1912 com Afonso XIII no eram governos fortes. Espanha estava
dividida e fragilizada. Tinha perdido Cuba e as Filipinas, e portanto s lhe restava do
seu imprio colonial as praas do norte de frica. Tambm, por isto, ela est uma
potncia facilmente vencvel aos olhos de Guilherme II.
Falta uma terceira potncia, a Gr-Bretanha. E quanto Gr-Bretanha, apesar de no ter
interesses territoriais directo, tinha um em especial, o estreito de entrada no mar
mediterrneo. Isto para dizer, que o facto de apesar de a Gr-Bretanha no ter interesse
nenhum em Marrocos era condio para se entender que a Gr-Bretanha no auxiliaria a
Frana e a Espanha. Contudo o pensamento de Guilherme II foi um mau entendimento,
m ponderao das circunstncias.
Guilherme II entendeu que a Gr-Bretanha no tendo interesse no apoiaria a Rssia, a
Espanha e a Frana se alguma coisa acontecesse.
E o que vai acontecer que Guilherme II vai aproveitar em 1905 uma expedio ao
norte de frica, e fazer um acordo de apoio ao Sulto de Marrocos, apoio esse caso a
Frana pretendesse colonizar definitivamente Marrocos.
Hugo H. Arajo 101
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Marrocos estava um Estado independente, mas Frana tinha um protectorado sobre esse
Estado e queria fazer dele uma colnia.
Porque vejam havia uma figura jurdica de Direito Internacional que as questes de
poltica internacional no cabiam ao Sulto de Marrocos mas a Frana o que parte disso
que o protectorado no mais do que a hiptese que um Estado com maior eficincia a
nvel internacional e a nvel militar defender outro Estado to s troca com benefcios
comerciais e alfandegrios. Frana cria o protectorado com Marrocos e ao faz-lo queria
ir mais longe e queria estabelecer em Marrocos uma colnia.
O que Guilherme II vai dizer em 1905 no, ns estamos aqui para ajudar o Sulto de
Marrocos e se por acaso Frana pretender criar aqui uma colnia as armas alems
estaro disposio do sulto marroquino. Como bvio o que se pretendia com isto
eram duas coisas:
Por um lado criam uma colnia no norte de frica;
Por outro vencer o seu inimigo e tentar reduzi-lo ao seu Estado continental
europeu.
De facto Guilherme II no mediu convenientemente a situao, porque se esqueceu que
se a Inglaterra no tinha interesses comerciais directos em Marrocos, tinha interesse em
Gibraltar e tinha interesses nos estreitos que ligava o Mar mediterrneo ao Mar do norte.
Pensemos que a grande potncia naval mediterrnea era a Gr-Bretanha e portanto a
Gr-Bretanha jamais poderia admitir que o estreito que separa o continente europeu do
continente africano pudesse ser virado a uma potncia alem. E vai posicionar-se e vai
enviar uma armada para o mar do norte com o objectivo demonstrar o poderio militar
naval. Queria demonstrar Alemanha que caso ela decidisse apoiar Marrocos contra a
Frana e fazer uma guerra em Marrocos contra Frana, a Inglaterra invadiria a
Alemanha e portanto situava-se j uma armada no mar do norte pronta a invadir
territrio alemo.
A Alemanha teria de fazer duas coisas, uma em Marrocos outro em territrio alemo.
Ora surpreendido com a situao o imperador vai actuar e vai tentar celebrar um tratado
amizade com a Inglaterra. Nomeadamente para salvaguardar os seus interesses a nvel
Hugo H. Arajo 102
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
territorial. A Alemanha percebe que ainda no estava preparada para uma guerra contra
a Inglaterra. A situao de Marrocos resolve-se a contento.
Aps esta situao percebe-se perfeitamente como que est a Europa.
Se virmos de facto por um lado temos a Alemanha, a ustria e a Itlia, do outro lado
temos a Inglaterra e a Frana e lado a lado com a Inglaterra e Frana surgem dois pases
pequenos mas com grande interesse do ponto de vista colonial, nomeadamente do ponto
de vista estratgico, Espanha que apoiava Frana e Portugal que apoiava Inglaterra.
este jogo de xadrez de facto estava preparado, mas faltava uma potncia a Rssia. A
Rssia tem um dilema: o que fazer com as relaes inglesas? e porque:
Rssia no se vai aliar Alemanha que sua inimiga na Polnia, a Rssia queria
os territrios polacos e a Alemanha tambm;
Rssia no se vai aliar ustria porque sua inimiga nos Balcs, e durante anos
o imprio austro-hngaro e o imprio russo gladiaram-se pelos territrios nos
Balcs;
Rssia sozinha pouco poderia fazer, era um imprio vasto, tinha que dispersar os
seus exrcitos por uma rea territorial muito grande e portanto no haveria aqui
grandes hipteses de a Rssia ter capacidade por si s de enfrentar a ustria e a
Alemanha uma guerra europeia.
Surge a Inglaterra e o que dizer?
A Rssia opositora da Inglaterra no Oriente, na regio da Hiroshima a Rssia e a
Inglaterra tentavam ocupar o territrio. A Inglaterra estava na ndia, no Paquisto e a
Rssia tambm. Ambas pretendiam o norte da China.
A Rssia precisava de apoios e portanto era necessrio ceder aos interesses ingleses no
oriente e recuar para as fronteiras para norte da china. Ou no ter o apoio ingls em
qualquer Balc. E de facto a Rssia vai preferir perder os seus interesses territoriais no
oriente e prefere ter o apoio ingls na questo balcnica.
E aps esta deciso, Russa que se d a grande aproximao da Rssia Gr-Bretanha e
como obvio prpria Frana. E forma-se assim em 1907 a trplice entente.
Hugo H. Arajo 103
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
E esto os blocos todos eles formados.
So estes dois blocos:
- ustria, Alemanha e Itlia
- Frana, Inglaterra e Rssia
Que vo preparar-se para a Guerra Mundial. Esta guerra, acaba tambm por ser
desencadeada por fora das circunstncias das questes balcnicas.
Nos finais do sculo XIX, temos a regio Balc dividida em vrios Estados liderados
pela Srvia que era um Estado dominante mais forte militarmente, mas para alm desta
temos a Romnia, Bulgria, a Grcia. Bom, os Estados balcnicos decidem, estes quatro
fazerem uma guerra Turquia, com o objectivo de expulsar de forma definitiva o
imprio otomano das fronteiras europeias e com esta guerra reaparecem as principais
potncias europeias a ustria, Alemanha e Itlia, no se vo meter, vo apenas assistir
ao conflito e aps esta guerra vai ser realizada uma Conferencia. Conferencia essa que
vai ter lugar em Londres em 1912 e esta conferncia vai ter uma grande importncia,
nela vai reunir a Turquia (derrotada da guerra), e vejam que de facto a servia, a
Bulgria, a Romnia e a Grcia saem vencedoras, tanto que conseguem diminuir e
conquistar o territrio turco em solo europeu e a Turquia s mantm a cidade de
Constantinopla. E participaram a Turquia, os quatro Estados balcnicos (Romnia,
Bulgria, Srvia e Grcia) e as grandes potencia, no participaram na guerra mas
queriam participar na delimitao dos territrios, porque da forma que fosse feita a
delimitao territorial dos Balcs assim se poderia redefinir um novo equilbrio.
E se a Servia ganhou a guerra, esta no ganhou na discusso territorial porque a Servia
queria ficar com territrios que permitisse aceder ao mar adritico, queria ter uma
entrada terrestre para o mar adritico. O mesmo se diga da Bulgria, que queria ficar
com entrada terrestre ao mar jnico. Ora entre o mar jnico da Bulgria e o mar
adritico da Srvia, nenhuma delas obtm esses benefcios. E porqu, porque isso
implicaria que a Alemanha e o Monte Negro deixassem de ser. Ora para se contentar os
interesses da Srvia, a Srvia teria que incorporar a Alemanha. Para se contentar os
interesses da Bulgria teria que incorporar o Monte Negro e as potncias presentes na
Conferncia de Londres de 1912 entenderam que era isto que isto tinha de ser discutir
porque ia desequilibrar o poder balcnico e por outro lado ia possibilitar a criao de
Hugo H. Arajo 104
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
uma nova potncia naval junto ao mar adritico e no mar jnico e quem dominava estes
mares era a Inglaterra.
A Inglaterra jamais ia admitir que duas novas potncias locais, regionais nascessem
naquela regio. E por isso manteve-se independente a Alemanha e o Monte Negro.
A Macednia o nico territrio no independente no vai atingir o topo que pretendia
vai ser incorporado no territrio grego.
Bom, a Turquia e o seu desaire de guerra apoiado pela Alemanha. A Alemanha ficou
muito mal, nesta guerra at porque era importante para a Alemanha. De facto a
Alemanha estava sempre a tentar manter relaes diplomticas com os Estados que de
alguma forma, contrariassem os interesses ingleses, franceses e russos.
Tudo isto para dizer que a guerra dos Balcs o ltimo grande conflito antes da I
Guerra Mundial.
A I Guerra Mundial, acaba por deflagrar muita coisa:
A Frana estava a crescer, politica, militar e diplomaticamente ou seja a Frana tinha
conseguido ressurgir politicamente como uma Repblica e tinha conseguido celebrara
tratados com as principais potncias europeias, tratados esses que beneficiavam a
Frana. A Frana era apoiada pela Rssia, pela Inglaterra e pelos pases que apoiavam
ambas.
Por outro lado a Alemanha sentia cada vez uma ameaa de Frana. E sentia que o
governo francs atravs da sua diplomacia estava a tentar isolar cada vez mais a
diplomacia alem. Isto comprovou-se nas prprias pretenses alems. A Alemanha no
conseguiu vencer a questo da Turquia, e no conseguiu aumentar o territrio africano
subsariano, nomeadamente na costa oriental e na costa ocidental. Por muito que fizesse,
a Frana tinha conseguido sempre destruir as intenes alems e a chegamos porta da
I Guerra Mundial.
A I Guerra Mundial, deflagra com a declarao de guerra da ustria Srvia e esse o
grande momento da I Guerra Mundial. O sobrinho do imperador Francisco J os morto
por um estudante srvio e aps isso a ustria declara guerra Servia. Contudo de notar
Hugo H. Arajo 105
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
que a ustria no inicio, tenta chegar a um acordo com a servia, acordo que se resumia: a
Srvia punia o homicida e alm disso a Srvia autorizava que a ustria participasse dos
rebeldes srvios. E portanto de alguma forma se ambas as pretenses se concretizassem,
a Srvia e a ustria no entrariam em guerra. A Srvia aceita num primeiro momento,
mas logo a seguir sobre presso alem a ustria no vai acatar o acordo da Srvia e vai
declarar guerra a esta.
Se a ustria vai declarar guerra Srvia, por maioria de razo, declaram guerra Srvia
os outros trs pases da trplice aliana (ustria, Alemanha e Itlia).
E teramos uma guerra circunscrita rea Balcnica. Era uma guerra entre a Srvia, a
ustria a Alemanha e a Itlia. Mas para a Alemanha j que havia uma guerra, era
preciso ter mais e ter uma guerra com o seu principal inimigo, a Frana. O que pode
trazer a Frana para a guerra, de alguma forma pode-se trazer a Frana para a guerra se
se conseguir que entre a Rssia ou a Inglaterra. Por outro lado se se conseguir que a
Frana entre para a guerra entraram a Rssia e a Inglaterra.
Isto vai-se ser feito: a Alemanha juntamente com a ustria vo conseguir que a Rssia
entre na guerra para defender os seus limites, e isto porque havendo uma guerra
localizada naquele local essa guerra iria por em causa os limites da Rssia e esta poderia
ficar afastada. Para a Rssia entrar, basta ou fazer constar que os seus interesses dos
Balcs estavam em causa.
Era necessrio aproveitar este ensejo da entrada da Rssia, para tambm a entrada da
Frana. A Alemanha vai pressionar a Frana a declarar a neutralidade no conflito. A
coisa mais difcil era fazer com que o governo francs dissesse se a Rssia entrasse em
guerra ela teria os seus prprios acordos com a Frana e a Inglaterra e estas teriam de
vir em auxlio da Rssia. Ora era impossvel para a Frana declarar a neutralidade, e a
Frana no o faz. Quando exigida a declarao de neutralidade a Frana entra no
conflito.
Era tambm necessrio que entrasse a Inglaterra, e quanto a esta contrariamente
Frana, para que esta entrasse era necessrio, alm do acordo, dar motivos reais para
que ela entrasse na guerra de cariz continental.
E para que entrasse em guerra a Alemanha percebe que a melhor forma de atacar
directamente a Frana e de trazer a Inglaterra para o palco da guerra atravs da
Hugo H. Arajo 106
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
invaso, e esta invade a Blgica, para chegar rapidamente ao governo francs e com a
invaso da Blgica a Inglaterra sente-se na obrigao de tambm ajudar os pases da
trplice entente e tambm ela entrar no conflito.
Desta forma todos os pases europeus entram em guerra.
Espanha entra em guerra no pela ameaa do seu territrio nacional, mas sim pela
ameaa do seu territrio ultramarino. E aqui de facto que esta guerra tem a sua
importncia, no apenas e s apenas uma guerra europeia. No foi apenas uma guerra
balcnica, ela faz parte dos Balcs ela inicia-se numa tentativa da ustria de preservar o
seu territrio, mas na realidade a guerra vai ser transportada para todo o globo onde as
potncias europeias tivessem colnias tivessem territrio, ou seja em frica.
J se disse que a Alemanha tinha territrios em frica. Ora as tropas alems num
estdio de guerra aproveitavam a degradao dos pases da trplice entente, que no
conseguiam fazer frente Alemanha organizada Itlia organizada e ustria
organizada, e a Alemanha vai tentar aproveitar para alargar os seus territrios em
frica. Invadem Angola. Ora Portugal vai ser obrigado a intervir para salvaguardar os
seus territrios em frica. Da a necessidade que coube de mudar o palco de guerra para
tentar evitar o desenvolvimento alemo em frica.
No vamos detalhar a I Guerra Mundial, a guerra de facto parecia aumentar, e o que
salvou a guerra foi a interveno dos EUA.
Os EUA vo demorar muito a decidir entrar neste conflito. E apenas o vo fazer no
limite do seu termo por volta de 1917, e de facto esta interveno decisiva em todos os
nveis:
Decisiva porque pe fim ao conflito internacional;
Decisiva porque alterou a poltica mundial.
E isso que importante para as relaes internacionais.
E com isto, recordam-se desde a declarao do secretrio de estado Roosevelt ficou bem
claro a poltica internacional dos EUA. Defendia o continente americano e o seu prprio
territrio continental, no defendiam questes que dissessem respeito aos outros
territrios.
Hugo H. Arajo 107
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Quando chegamos ao fim da I guerra mundial o presidente Wilson vai alter-la. Os
EUA passam a ter capacidade para intervir a nvel mundial, no s capacidade como
interesse.
o inicio da universalizao internacional dos EUA aps a I Guerra Mundial, vai ser
celebrado o tratado de paz (Tratado de Versalhes) em 1918. E neste tratado vai ficar
acordado, para alm da delimitao de fronteiras e tudo o resto vai ficar acordado:
Criao da sociedade das Naes;
Criao da Organizao Internacional do Trabalho
Criao do Tribunal Permanente de J ustia internacional
Portanto trs importantes instituies vo ser criadas pelo Tratado de Versalhes.
Hugo H. Arajo 108
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 14
Lisboa, 11 de Novembro de 2009
Hoje vamos abordar sobre a Sociedade das Naes e o Fracasso da Sociedade das
Naes e a II Guerra Mundial.
A Sociedade das Naes foi criada ps-primeira guerra mundial atravs do instrumento
jurdico que foi o Pacto da Sociedade das Naes.
Qual o objectivo desta Sociedade:
Garantir a paz e a segurana;
Desenvolver a cooperao entre as naes;
No recorrer guerra;
Manter relaes internacionais baseadas na justia e na honra;
Estabelecer o predomnio da justia.
A Sociedade das Naes era composta por dois tipos de membros:
Membros natos: aquelas que eram os signatrios do Pacto;
Membros aderentes: aqueles que aderiam ao Pacto nos dois meses
subsequentes entrada em vigor do Pacto.
Em termos orgnicos como que funcionou a Sociedade das Naes. Esta apresentava
trs rgos:
Assembleia: composta por todos os representantes membros da sociedade e cada
membro no podia ter na assembleia-geral mais que trs representantes. Cada membro
tinha um voto nico, portanto, a igualdade dos Estados encontrava-se contemplada na
Hugo H. Arajo 109
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
assembleia da Sociedade das Naes e a Sociedade reunia em reunies fixadas ou
sempre que as circunstancias mostrassem necessidade de reunir a assembleia.
Conselho: rgo executivo. Era composto pelos representantes das principais potncias
aliadas e associadas na Sociedade. Estas principais potncias, em que se englobavam as
principais potncias vencedoras da guerra (Inglaterra, Frana e Rssia e mais tarde em
1926 a Alemanha) formavam o ncleo central dos elementos do conselho. Alm das
potncias era ainda alargado a quatro outros membros que eram eleitos pela assembleia-
geral anualmente. E esses quatro membros, os primeiros quatro membros que
compuseram o conselho no permanente foi a Blgica, Espanha, Brasil e Grcia. O
conselho reunia anualmente pelo menos e as suas reunies eram em Genebra. Genebra
era o local de sede da Sociedade das Naes. O conselho era auxiliado por uma
comisso permanente de que faziam parte outros rgos de gesto da Sociedade das
Naes que era o secretariado
Secretariado: composto por um secretrio-geral, por vrios secretrios e por pessoal
administrativo.
E tinha a funo de gerir a Sociedade das Naes, de receber as queixas e tentar dirimir
os conflitos entre as potncias membros da Sociedade das Naes.
A questo que se pode colocar relativamente Sociedade das Naes : qual a natureza
jurdica. Esta questo mais pertinente se virmos todo o perodo que vai desde a Paz de
Vesteflia at ao inicio do sculo XX, o nico sujeito internacional era o Estado. Surge-
nos agora uma organizao supra estadual com poderes internacionais especficos.
De facto a Sociedade das Naes uma pessoa colectiva diferenciada das outras
pessoas colectivas com os seus membros com direitos e deveres especficos e que
actuava em igualdade de circunstncia do prprio Estado.
Ora a Sociedade das Naes ns deparamo-nos que para alm do Estado como sujeitos
do Direito Internacional, comeam a surgir instituies composta pelo Estado e que tm
algumas delas direitos a nvel internacional, tm capacidade jurdica a nvel
internacional.
Hugo H. Arajo 110
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Qual seria a natureza jurdica desta Sociedade, no se conseguiu chegar a um consenso.
Houve autores que disseram que estvamos perante uma federao de Estados em
tempo dos Estados Unidos da Amrica, constata-se tambm com o tratado uma vez que
os Estados federados e o Estado federal tinham deveres prprios. O Estado federado
delega no Estado federal as funes de representao internacional. A representao
internacional daquele Estado a sociedade. Eles acordam em constituir uma sociedade
jurdica para tentar manter a paz a nvel mundial.
Tambm no era, como outros vieram dizer, um super-Estado, porque para ser um
super-Estado teria que ter as caractersticas de um Estado, que no tem. No h um
chefe de estado, no h uma convergncia da poltica interna ou externa.
Outros vieram dizer que estvamos perante uma aliana entre Estados. A aliana foi
sempre vista em Direito internacional numa viso puramente militar e de facto a
Sociedade das Naes no uma organizao militar, no tem s interesses militares.
Por fim outros diziam que estaramos perante uma cooperao de Estados, mas mais
uma vez o Direito Internacional delegava o tema cooperao para o cariz econmico do
Estado. A Sociedade das Naes no era uma sociedade econmica, era uma sociedade
livre e pacfica.
A posio que acolheu maior apoio foi a de entender que estamos perante uma
Federao de Estados.
Essa Federao de Estados Independentes, de facto sendo os Estados federados
independentes, ultrapassvel a crtica feita prpria Federao.
Se so Estados federados independentes detm toda a sua soberania interna, toda a sua
independncia internacional. E da no haver problema em qualifica-los como
independentes.
Independente do modo como qualifiquemos a Sociedade das Naes, uma coisa certa,
ela era uma pessoa colectiva, de Direito Internacional diferente dos Estados com
direitos e deveres.
Hugo H. Arajo 111
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Mestre Pedro Caridade de Freitas pensa que independentemente de todas as designaes
que possamos encontrar, aquela que nos interessa mais a fico jurdica. ficcionada
uma pessoa colectiva, no Direito Internacional e no Direito dos seus prprios Estados.
Independentemente da forma como se trata, esta a sua natureza jurdica. E isto que
importa perceber, porque com Sociedade das Naes que o sistema internacional das
organizaes internacionais vai crescer.
A Sociedade das Naes foi um fracasso, por dois motivos:
Os Estados Unidos no aderiram. Os EUA, com o presidente Wilson, foram os
grandes impulsionadores da Sociedade das Naes, foram os grandes
construtores da ideia da unio de Estados, da ideia da criao de uma entidade
supra-estatal, que constituda imagem e semelhana do prprio Estado, tal
como a confederao que deram origem aos EUA. Mas qual era o problema? E
este era um problema crnico dos EUA. Esse problema j se tinha verificado em
1885 com a Conferncia de Berlim, que como nos recordamos, em que participa
os EUA, chegamos ao fim e os EUA no aderem ao acto geral. No aderem ao
acto geral, porque luz da Constituio dos EUA, os Estados Unidos no
podiam vincular-se em Organizaes ou em Instrumentos Internacionais que
limitassem o mbito de actuao do Estado. Os EUA no podiam aderir a
instrumentos internacionais que limitassem a vontade do Estado, de se vincular e
comportar em Direito internacional como bem entendesse. Esta a ideia mxima
de que o Estado o nico sujeito do Direito Internacional, e no mais do que a
mxima de que o Direito Internacional existe, porque os Estados querem que ele
exista. A nica entidade internacional a fazer Direito Internacional era o Estado.
Com a Sociedade das Naes acontece algo similar, aps os EUA aderirem
Sociedade das Naes ele iria abdicar de alguma da sua parcela de soberania
para tentar concertar a sua poltica. Ora desiste da Sociedade das Naes. Ora
aquela Sociedade que via nos Estados Unidos como pas rbitro, como pas fiel
que iria tentar equilibrar os conflitos entre as naes, tentar evitar guerra.
Sociedade das Naes feita e desenhada como modelo Estadual. Temos
uma Assembleia-geral, temos um conselho, temos um secretrio, desenha-se
num modelo com poder executivo, legislativo e ainda temos o poder judicial, o
Hugo H. Arajo 112
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
tribunal permanente que criado ao lado da Sociedade das naes. O que que
lhes falta? Falta-lhes o poder coactivo e o poder sancionatrio, no h porque a
Sociedade das Naes correspondem vontade dos Estados e para haver poder
sancionatrio, tinha que se transferir para a Sociedade das Naes esses mesmos
poderes, ou instrumentos para que esse poder se efectivasse, tinham de ter
tropas, que no tinham. Sempre que a Sociedade das Naes quisesse intervir
em algum conflito teria que pedir aos Estados que mandassem homens, e tropas
para esses mesmos conflitos. Por outro lado, e se a Sociedade das Naes
quisesse aplicar uma sano, que no tinha, como impe? Porque para impor
uma sano sero uns Estados a impor ao outro Estado.
E isto fragiliza a Sociedade das Naes. E o que ainda fragiliza mais a Sociedade das
Naes o surgimento de vrios conflitos que vo surgir ao longo da dcada de 20, vo
fazer com que alguns Estados membros da Sociedade das Naes se afastem.
Exemplos:
Alemanha em 1926, sai em 1936 sai porque chamada ateno sobre a crescente
militarizao. A Alemanha est a aumentar o seu arsenal blico havia uma conveno
para a limitao das armas utilizadas em campo de batalha. A Alemanha abandona a
Sociedade das Naes.
Japo em 1933, invade Manchria na China, a Sociedade das Naes reage e chama
ateno do J apo, e o J apo tem de recuar, mas este ignora e sai da Sociedade das
Naes.
Paraguai, faz guerra Bolvia, a Sociedade das Naes chama ateno, no pode ser
a guerra tem de terminar. O Paraguai invade a Bolvia, a Sociedade chama ateno o
Paraguai ignora e abandona a Sociedade das Naes.
Brasil, em 1938 abandona a Sociedade das Naes.
Itlia em 1936, e este foi o ltimo grande golpe da Sociedade das Naes, conquista a
Etipia, a Sociedade das Naes ope-se, a Itlia ignora e abandona a Sociedade das
Naes.
Sociedade das Naes faltava a imposio, a fora e a convergncia de vontades, no
basta ser apenas uma membro de uma instituio/organizao, necessrio mais, e esse
Hugo H. Arajo 113
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
mais a adeso integral aos princpios que pautavam a Sociedade das Naes. E aqui o
que se v que os Estados ainda esto muito agarrados ideia do Direito Internacional
Estadual.
De facto a Sociedade das Naes um passo em frente, para uma modernizao para
uma outra poltica internacional, para uma outra viso da sociedade internacional. Mas
tenro , os Estados no tm ainda maturidade suficiente para entender que a partir do
momento em que aderem a uma instituio supra-estadual, vo ter que limitar a prpria
esfera de proteco, vo ter que aderir s regras que a prpria Sociedade das Naes
definir. Os Estados no esto para isso, os Estados olhavam para a Sociedade das
Naes como um pacto, um acordo entre eles. E verdade, um acordo, e conforme eu
celebro um contrato, posso denunciar, resoluo, so figuras diferentes um contrato a
denuncia e a resoluo. E eu posso celebrar um contrato, posso denunci-lo ou posso
resolv-lo.
Ora de facto era o movimento civilista que os Estados entenderam. Como um pacto que
, eu conforme a minha vontade, tanto posso participar como tambm posso denunciar a
minha participao.
Na sequncia da Sociedade das Naes, surge-nos uma outra figura, que o Tribunal
Permanente de J ustia Internacional (reparemos que este Tribunal Permanente foi um
dos grandes objectivos da Conferncia de Haia de 1907). No se constituiu porque no
houve entendimento quanto gesto do Tribunal.
O tribunal permanente criado na sequncia ou no termo da I Guerra Mundial, vai tentar
superar as dificuldades das Convenes de Haia, principalmente a de 1907 e o seu
principal objectivo, a sua funo era conhecer todos os conflitos de carcter
internacional que as partes entendessem resolver. Uma outra funo de dar pareceres. O
tribunal poderia dar pareceres sobre questes internacionais se lhe fosse proposto pelos
membros da Sociedade das Naes.
Qual a diference entre este Tribunal permanente e os Tribunais de arbitragem das
Convenes de Haia de 1899 e 1907?
Hugo H. Arajo 114
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
1. Estamos perante um Tribunal sria, j no como o tribunal de Haia de 1899,
que se constitua onde as partes quisessem, porque as partes tinham que nomear
rbitros e o tribunal constitua-se onde os rbitros quisessem. Agora estamos
perante um tribunal com sede fixa.
2. um rgo permanente de jurisdio, o das Convenes no era, porque era um
rgo de arbitragem.
3. As partes no vo ter capacidade de escolher os rbitros ou o juiz, enquanto na
Conferencia de 1899 e de 1907, as partes podiam escolher os rbitros e a escolha
do juiz tambm era por ambas as partes. Agora compete Sociedade das Naes
nomear o juiz para resoluo de um dado conflito.
4. Era definido um processo prprio, portanto o Direito objectivo subjacente, para
resolver determinado conflito. Nas arbitragens de 1899 e 1907, apesar de estar
delimitado o processo judicial, este era supletivo, se as partes o entendessem,
poderiam afastar aquela tramitao processual. Neste momento, as partes tm
que se submeter tramitao processual.
Em comum temos:
As partes no podem pedir recurso ao Tribunal permanente, porque estamos perante a
questo mais complexa: o que pode ser admitido ao Tribunal. E um problema, porque
os Estados no viam com bons olhos, submeter questes de ordem poltica, mas apenas
jurdicas. As questes polticas deviam ser dirimidas pela via diplomtica, e as questes
jurdicas deviam ser submetidas lei.
Por isso mesmo e para precaver a hiptese de alguns Estados poderem discutir em
Tribunal questes polticas, foi fixada uma obrigatoriedade ao Tribunal. O que se levava
a este Tribunal era:
Interpretao de tratados, era matria submetida a este tribunal;
Qualquer violao de Direito Internacional;
Violao de compromissos/ acordos internacionais;
Hugo H. Arajo 115
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Consequncias do incumprimento do compromisso arbitral.
Claro que esta submisso, desta ltima rea pode ser ser subsumida pela anterior porque
acaba por ser uma violao do acordo arbitral.
Que tipo de Direito aplicava o Tribunal Permanente:
Convenes internacionais;
Costume internacional;
Doutrina internacional e decises dos tribunais;
Princpios gerais de Direito internacional;
Equidade era necessrio que as partes acordassem na autorizao levada ao
tribunal para que decidissem luz dos juzos de equidade.
Portanto enquanto as convenes internacionais, o costume internacional os princpios
gerais de direito, so de aplicao oficiosa, no era preciso autorizao de ningum, o
mesmo no se diga da equidade era necessrio este acordar das partes.
Na sequncia da criao da Sociedade das Naes, vamos ter a criao de uma nova
figura, uma outra figura, prpria desta poca, com importncia, que foi a figura dos
mandatos pblicos. Esta figura no teve uma aplicao global mas restrita aos
territrios, coloniais retirados s potncias vencidas na I Guerra Mundial. E as potncias
vencidas com territrios coloniais foram: a Alemanha e a Turquia. E portanto a questo
que se colocou Sociedade das Naes foi o que fazer com os territrios ultramarinos,
coloniais da Alemanha e da Turquia.
No podiam ser confiados Inglaterra, no podiam ser entregues s potncias
vencedoras. No podia ser assim, porque muitos destes territrios, nomeadamente
aqueles que estavam na esfera jurdica da Turquia tinham j assumido um tal
desenvolvimento que seria um retrocesso em termos evolutivos ser entregue a outra
potncia.
Hugo H. Arajo 116
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Ento criou-se esta figura que s se aplicava s colnias alems e turcas e mais
nenhuma, a figura dos mandatos.
O mandato, vai-se escolher uma determinada potncia que vai ajudar a administrar os
territrios coloniais da Alemanha e da Turquia. Ora, estamos ento a utilizar um recurso
das potncias mais desenvolvidas que por um sistema baseado nos princpios do
desenvolvimento dos povos, vo contribuir com a sua evoluo de pensamentos e sua
estrutura para a gesto e afirmao desses territrios coloniais.
Vai-se confiar a tutela destes territrios coloniais s potncias. Com uma ressalva as
potncias territoriais no vo administrar os territrios da Turquia e da Alemanha em
nome prprio mas em nome da Sociedade das Naes, a Sociedade das Naes que
assume a obrigao de administrar estes territrios, que assume a obrigao de criar as
condies de desenvolvimento destes povos, s que como no o pode fazer vai delegar a
uma outra entidade essa obrigao. O mandante a Sociedade das Naes e o
mandatrio os Estados das Sociedades das Naes, para administrar os territrios
coloniais.
So criados trs tipos de mandatos:
Aplicado a comunidades pertencentes ao antigo imprio turco que atingiram um
grau de civilizao tal que podem ser reconhecidos como naes independentes,
desde que se guiem por um mandatrio at se sentirem capazes de se governar
por si, essa potncia era a Inglaterra. Exemplo: Iro.
Aplicado essencialmente s colnias alems da frica central, so territrios em
fase de desenvolvimento que exigiam uma interveno directa do mandatrio
que podia administrar o territrio dada a incapacidade dos povos desse mesmo
territrio. E portanto competia ao mandatrio impor a ordem pblica e os bons
costumes. Exemplo: s regies a norte de Moambique, a sul de Angola, que
competia ora a Frana ora a Inglaterra apesar de no ser uma figura de colnia
porque na realidade o territrio no pertena do mandatrio na prtica o
mandatrio vai administrar o territrio como se tratasse de uma colnia, mas no
, porque o mandatrio est a agir segundo ordem do mandante e o mandante a
Sociedade das Naes. Portanto uma figura curiosa, os povos so livres, e
Hugo H. Arajo 117
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
esto sob administrao directa da Sociedade das Naes, como a Sociedade no
tem capacidade de administrar directamente vai pedir ajuda s potncias, impor
a fora e o direito de fazer justia;
A figura que vai dar origem a outro sistema colonial. E so territrios
essencialmente do Pacfico que eram da Alemanha, que tm um nvel
civilizacional to diminudo e rudimentar, que devem ser administradas pelo
mandatrio e integradas no seu prprio territrio. Estamos a falar essencialmente
de dois pases que o vo fazer: Inglaterra e J apo. E uma coisa curiosa, o J apo
recebe algumas Ilhas do Pacifico para administrar, administrar e incorporar no
seu territrio, s que esta incorporao no uma incorporao definitiva uma
incorporao transitria, porque o J apo est l como mandatrio s ordens da
Sociedade das Naes que o mandante. O que aconteceu foi que quando o
J apo na sequncia da questo da Manchria em 1933 abandona a Sociedade das
Naes, o bvio era tinha que revogar o mandato colonial e entregar os
territrios Sociedade das Naes para que eles fossem administrados por outra
potncia. Claro que o J apo, abandona a Sociedade das Naes, ignora o
mandato colonial e fica com os territrios para ele. Vejam que esta ltima
dificuldade esta muito perto da prpria colonizao.
A organizao internacional, as relaes internacionais nestes 20 anos que rodeiam o
fim da I Guerra Mundial e o incio da II Guerra Mundial so 20 anos de grandes
dificuldades a nvel mundial: dificuldades econmicas, metade dos pases ficaram
destrudos, houve muitos encargos de guerra, a Alemanha ficou onerada na declarao
de paz, houve uma tentativa de unio de Estados que no resulta porque os Estados
quiseram apenas salvaguardar os seus interesses e toda esta orgnica vai dar origem II
Guerra Mundial e a Sociedade das Naes quando inicia a II Guerra Mundial no vai ter
capacidade para evitar a II Guerra Mundial at que os restantes Estados vo abandonar a
Sociedade das Naes que acaba. J nem sequer os Estados que tinham ficado
obedeciam s ordens das Sociedades das Naes.
Durante este perodo os sistemas coloniais mantm-se nas suas colnias, a
descolonizao s vai ocorrer aps a II Guerra Mundial com a excepo para as
colnias do Imprio Turco e Alemo.
Hugo H. Arajo 118
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Com isto terminamos o perodo entre a I Guerra e a II Guerra Mundial, e entraremos na
matria da II Guerra Mundial e subsequente Organizao das Naes Unidas, que
trataremos na prxima aula.
Hugo H. Arajo 119
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 15
Lisboa, 16 de Novembro de 2009
Vamos hoje abordar a matria relativa Organizao das Naes Unidas e sua
organizao, bem como os desenvolvimentos posteriores a esta organizao.
A experincia da Sociedade das Naes no foi a melhor. E a estrutura criada para
Sociedade das Naes apresentou-se de uma forma pouco eficaz e com falta de poderes.
A criao de uma nova organizao exigiria que estes dois factores fossem reavaliados:
uma maior eficcia nomeadamente a nvel dos rgos autnomos e maior concentrao
de poder para tornar mais eficaz a Organizao das Naes Unidas.
A primeira vez que se fala na necessidade de criar uma Organizao das Naes Unidas
foi em 1941, num encontro que teve lugar entre o Presidente dos Estados Unidos e o
Primeiro-Ministro do Reino Unido em 14 de Agosto e neste encontro foram assinados a
chamada Carta do Atlntico, composta por 8 artigos. Esta carta vai resumir-se aos
seguintes aspectos:
1. Consignar o direito do povo, a escolher a sua forma de governo;
2. Igualdade dos Estados, nomeadamente no acesso matria colonial, no
esquecer vivamos ainda num regime de colonizao, nomeadamente no
continente africano;
3. Necessidades de os Estados colaborarem, uns com os outros para o progresso
econmico e social;
4. A liberdade dos mares;
5. Desarmamento;
6. Manuteno da paz e da segurana a nvel mundial.
Hugo H. Arajo 120
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Carta do Atlntico teve desenvolvimentos no ano seguinte, portanto no dia 1 de J aneiro
de 1942, foi assinada a adeso dos pases que compunham os aliados Carta do
Atlntico. A esta adeso vai designar-se por Declarao das Naes Unidas.
Em 1944 d-se o avano para a concretizao das Naes Unidas. E esse avano vai
ocorrer com as Conferncias de Bretton Woods que tiveram como fim criar instituies
de mbito universal nomeadamente no campo econmico e financeiro.
Em Bretton Woods foram assim definidos:
Fundo monetrio internacional (FMI);
Banco Internacional de reconstruo e desenvolvimento.
Duas instituies importantes para se fazer a universalizao da rea econmica e
financeira. Recordando, quer o FMI quer o Banco de reconstruo e desenvolvimento,
vo ter um papel muito importante na Europa Ps-Segunda Guerra mundial,
nomeadamente at aos anos 80 com intervenes constantes em vrios pases.
Ainda em 1944, d-se a Conferncia de Chicago, que vai aprovar uma Conveno sobre
aviao civil internacional de modo a criar tambm uma estrutura uniforme aos vrios
pases membros da Declarao das Naes Unidas.
A Conferncia de Bretton Woods vai ter como finalidade, elaborar o projecto de Carta
das Naes Unidas. Esta Conferncia, juntamente com a Conferncia de Ialta em 1945,
no mais que as ltimas etapas na concretizao das ONU.
Se a Conferncia de Woods teve uma funo muito simples que foi de desenhar a Carta,
a Conferncia de Ialta, em Fevereiro de 1945, teve a funo de repartir entre as
potncias vencedoras da Guerra (Unio Sovitica, EUA e o Reino Unido), as esferas de
influncia no ps-guerra.
E nesta Conferencia de Ialta que se consagra tambm, o direito de veto, no Conselho
de Segurana. Portanto, antes da assinatura da Carta das Naes Unidas, os trs
principais Estados (Unio Sovitica, EUA e Reino Unido), vo definir as regras, atravs
das quais o Conselho de Segurana poder ou no decidir as Convenes.
Em 26 de J ulho de 1945, na Conferncia de S. Francisco, d-se a assinatura do texto da
Carta das Naes Unidas, nasce objectivamente a Organizao das Naes Unidas.
Hugo H. Arajo 121
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Quais so os objectivos da ONU?
a paz e a segurana internacionais;
desenvolvimento de relaes cordiais e amistosas entre os Estados ;
incremento de uma relao internacional com vista resoluo de problemas
econmicos, sociais e culturais e humanitrios;
respeito pelos direitos da pessoa humana;
universalizao dos Estados no seio da ONU.
Art.1 da Carta da Organizao das Naes Unidas
Os objectivos das Naes Unidas so:
1. Manter a paz e a segurana internacionais e para esse fim: tomar medidas colectivas
eficazes para prevenir e afastar ameaas paz e reprimir os actos de agresso, ou outra
qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacficos, e em conformidade com os
princpios da justia e do direito internacional, a um ajustamento ou soluo das
controvrsias ou situaes internacionais que possam levar a uma perturbao da paz;
2. Desenvolver relaes de amizade entre as naes baseadas no respeito do princpio da
igualdade de direitos e da autodeterminao dos povos, e tomar outras medidas
apropriadas ao fortalecimento da paz universal;
3. Realizar a cooperao internacional, resolvendo os problemas internacionais de
carcter econmico, social, cultural ou humanitrio, promovendo e estimulando o
respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais para todos, sem
distino de raa, sexo, lngua ou religio;
4. Ser um centro destinado a harmonizar a aco das naes para a consecuo desses
objectivos comuns.
Portanto significa que a ONU constitui desta forma um corpo de todos os Estados
membros.
O artigo 2 consagra os princpios gerais da organizao. E entre os princpios gerais
cabe destacar:
Igualdade soberana dos Estados; quanto a este aspecto importante fazermos
aqui um parnteses. De facto a Sociedade das Naes tambm se tinha pautado
por um princpio da igualdade e alguns tratadistas, tinham considerado que a
igualdade tinha bloqueado as decises, no mbito da Sociedade das Naes. A
ONU vai envergar por um caminho, mas no a nvel global. Ou seja o princpio
Hugo H. Arajo 122
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
da igualdade s vai concretizado na Assembleia-geral. na Assembleia geral
que todos os Estados so todos iguais e tm o mesmo direito de voto. O mesmo
se passa no rgo do Conselho de Segurana, enquanto rgo em si. No
Conselho de Segurana h direito de veto, por um Estado, podem paralisar as
decises a nvel da ONU.
Boa f nas relaes entre os Estados membros;
Soluo pacfica dos conflitos entre os Estados
Renuncia do recurso fora;
Respeito pela integridade territorial e independncia poltica dos Estados;
Manuteno da paz e da segurana internacional;
Universalidade da organizao.
So estes os objectivos gerais da ONU que esto consagrados no artigo 2 da Carta.
Art.2 da Carta da Organizao das Naes Unidas
A Organizao e os seus membros, para a realizao dos objectivos mencionados no
Art.1, agiro de acordo com os seguintes princpios:
1. A Organizao baseada no princpio da igualdade soberana de todos os seus
membros;
2. Os membros da Organizao, a fim de assegurarem a todos em geral os direitos e
vantagens resultantes da sua qualidade de membros, devero cumprir de boa f as
obrigaes por eles assumidas em conformidade com a presente Carta;
3. Os membros da Organizao devero resolver as suas controvrsias internacionais
por meios pacficos, de modo a que a paz e a segurana internacionais, bem como a
justia, no sejam ameaadas;
4. Os membros devero abster-se nas suas relaes internacionais de recorrer ameaa
ou ao uso da fora, quer seja contra a integridade territorial ou a independncia poltica
de um Estado, quer seja de qualquer outro modo incompatvel com os objectivos das
Naes Unidas;
5. Os membros da Organizao dar-lhe-o toda a assistncia em qualquer aco que ela
empreender em conformidade com a presente Carta e abster-se-o de dar assistncia a
qualquer Estado contra o qual ela agir de modo preventivo ou coercitivo;
6. A Organizao far com que os Estados que no so membros das Naes Unidas
ajam de acordo com esses princpios em tudo quanto for necessrio manuteno da
paz e da segurana internacionais;
7. Nenhuma disposio da presente Carta autorizar as Naes Unidas a intervir em
assuntos que dependam essencialmente da jurisdio interna de qualquer Estado, ou
obrigar os membros a submeterem tais assuntos a uma soluo, nos termos da presente
Carta; este princpio, porm, no prejudicar a aplicao das medidas coercitivas
constantes do captulo VII.
Hugo H. Arajo 123
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
H tambm na ONU dois tipos de membros:
Membros originrios aqueles que participaram na Conferncia de S.
Francisco em 1945.
Membros admitidos aqueles que tm aderido posteriormente ONU,
mediante a aceitao da Assembleia Geral. Para serem admitidos, como Estados
na Organizao das Naes Unidas, os Estados tm que cumprir dois requisitos:
- prosseguir a paz;
- cumprir as estipulaes da Carta;
Relativamente a estes dois requisitos, que fazer uma pequena referencia que a
seguinte: alguns internacionalistas tm reivindicado que os actuais membros, ou melhor
que alguns dos actuais membros, da ONU, desvirtuam o esprito da prpria Carta, do
tipo, porque apesar de serem, Estados que prosseguem com interesse a paz, no
conseguem pela sua exigibilidade cumprir os requisitos e as obrigaes decorrentes da
prpria Carta. o caso por exemplo do Lichtenstein, Ilha de S. Marino do Principado
do Mnaco. Independentemente de estarmos perante Estados muito exguos, de
sabermos que no tm grandes condies para cumprir alguns requisitos que se
encontram, nomeadamente no texto das Foras Armadas, o que certo que a
Assembleia-Geral das Naes Unidas aceitou e hoje so membros de pleno direito.
Uma nota apenas para referir que os actuais pases mundiais, ou a maior parte deles ou
quase a totalidade deles so membros da ONU ainda com a excepo da Sua mantm-
se afastada da organizao, por entender que a sua adeso ONU poderia por em causa
a sua clebre e tradicional neutralidade, da tem-se mantido sempre margem da
organizao.
Portugal entrou ou aderiu ONU em 1955. No que no tenha querido em aderir mais
cedo, o que se passou foi que aps o inicio da Guerra Fria, em que se divide o mundo
num Bloco de Leste chefiado por pela URSS e o Bloco Ocidental chefiado pelos EUA,
deixaram de entrar membros na ONU, porque todas as entradas eram bloqueadas pelo
Conselho de Segurana. Apesar de a Assembleia-Geral ter a ltima palavra na adeso,
aos membros da ONU, tem de haver uma recomendao favorvel, pelo Conselho de
Segurana. O que se passou com o inicio da Guerra Fria foi que todos os pases que
Hugo H. Arajo 124
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
pudessem estar aliados com o Bloco Ocidental a URSS vetavam a sua entrada. Todos os
pases que estivessem ligados ao Bloco de Leste, os EUA, o Reino Unido e a Frana
vetavam a sua adeso e da ter de se esperar que Estaline morresse para que novas
entradas comeassem a ocorrer uma vez que pelo lado dos Estados Unidos como houve
uma ligeira abertura da URSS e com essa abertura desbloqueia-se a entrada de novos
pases e o primeiro grande bloco de pases a entrarem depois da Guerra Fria foi em
1955, com a entrada de 16 pases entre eles Portugal.
A Organizao tem seis rgos:
1. Assembleia Geral;
2. Conselho de Segurana;
3. Conselho Econmico e Social;
4. Conselho de Tutela;
5. Tribunal Internacional de J ustia;
6. Secretariado.
Assembleia-Geral - aquela que composta por todos os membros da organizao.
Rene em sesso ordinria anualmente e em sesses extraordinrias sempre que haja
necessidade disso e desde que convocadas pelo Secretrio-Geral. Tanto funciona em
plenrio como em comisses. Delibera por maioria simples dos membros presentes e
votantes, no se contam nem se consideram as abstenes e portanto s os votos
efectivamente expressos que contam para a maioria simples. esta a redaco do
texto da carta. a nica que tem competncia exclusivamente genrica.
No mbito da sua competncia a Assembleia-Geral apresenta algumas limitaes como:
- no pode emitir recomendaes sobre matrias que se encontrem pendentes no
Conselho de Segurana. A no ser que seja o prprio Conselho de Segurana a solicit-
las. (art.12/1 da Carta).
Hugo H. Arajo 125
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
De entre as competncias a Assembleia Geral tem competncias:
Genricas Assembleia pode apenas emitir recomendaes, que no so
vinculativas;
Especficas as deliberaes da Assembleia Geral so obrigatrias.
Conforme os artigos 15 a 18 da Carta das Naes Unidas.
Em 1950, uma recomendao vem alterar o entendimento em cerne de competncias da
Assembleia Geral e do Conselho de Segurana, e a resoluo 337, que na altura sob a
interveno dos EUA na Coreia. Porqu? Porque se baseava que os EUA queriam
invadir a Coreia porque entendiam que estava em causa a paz mundial e porque poderia
deflagrar uma guerra, uma outra guerra de cariz mundial e o Conselho de Segurana
vetava a interveno dos Estados Unidos atravs da URSS e da China, e havia um
impasse, a ONU no resolvia o problema. Neste caso ento decidiu-se, a Assembleia-
Geral decidiu, fez uma recomendao em que determinava que em matria de
competncia genrica, sempre que estivesse em causa um conflito que pudesse levar
ruptura da paz e o Conselho de Segurana tivesse bloqueado, ento a Assembleia Geral
poderia resolver a situao atravs de uma recomendao.
Estamos aqui perante uma situao extraordinria, em que a Assembleia-Geral tem
capacidade para avocar o processo ou a situao ao Conselho de Segurana, e decidir
por si. Isto no significa que haja uma transferncia de competncias do Conselho de
Segurana para a Assembleia Geral. No h, apenas e s em estado excepcional a
Assembleia Geral se substitui ao Conselho de Segurana, quando ele no consegue
superar a crise interna e desde que em causa esteja a paz a nvel mundial.
Conselho de Segurana composto desde 1965 por 15 membros, antigamente eram
s 11.
Desses 15 membros, 5 so permanentes (China, Rssia, Frana, o Reino Unido e os
EUA) e os restantes 10 so eleitos pela Assembleia-Geral para um mandato de 2 anos.
Os membros no permanentes, so escolhidos de entre quatro grupos:
Hugo H. Arajo 126
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Europa Ocidental e outros Estados;
Europa Oriental;
Amrica Latina;
frica e a sia.
Portanto tenhamos em ateno que de entre estes 10 apenas 1 lugar est atribudo
Europa Ocidental sendo que a maior parte dos lugares dos 10 so atribudos frica e
sia.
Neste momento no Conselho de Segurana a preponderncia de Estados Africanos e
Asiticos.
Qual o problema do Conselho de Segurana neste momento?
O problema centra-se nos membros permanentes, porque se repararmos, estamos a falar
da China, da Rssia (que sucedeu antiga URSS), do Reino Unido e dos EUA e Frana,
os pases vencedores da II Guerra Mundial. S que no h aqui, no Conselho de
Segurana uma transposio da realidade actual, em termos de pases e vrios pases em
termos de representao a nvel do Conselho de Segurana.
Por exemplo a Alemanha h muito tempo que manifesta a inteno de participar no
Conselho de Segurana, como membro permanente, igual vontade tem sido manifestada
pelo J apo. Consideram-se como duas grandes potncias e razo pela qual no
entendem a razo presente de no haver uma reforma nas Naes Unidas uma reforma
da casa, de modo a que eles possam entrar, como membros permanentes.
Para alm destes dois pases h uma terceira entidade que hoje em dia discute a sua
participao no Conselho de Segurana como membro permanente que a Unio
Europeia.
Tambm ela, a Unio Europeia quer ter assento nas Naes Unidas. Claro que daqui
vemos, as Naes Unidas so uma organizao de Estados e s Estados, por outro lado
o facto de a Unio Europeia querer ser membro permanente do Conselho de Segurana
colocava aqui outra questo: que j h dois membros da Unio Europeia, que tambm
Hugo H. Arajo 127
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
so eles mesmo membros do Conselho de Segurana: o Reino Unido e a Frana. E se a
Alemanha entrasse, seriam trs e poderia pr em causa o equilbrio do prprio Conselho
de Segurana. De qualquer modo s possvel esta situao se houver uma Reforma da
Carta das Naes Unidas e eventualmente a participao da Unio Europeia deixaria de
ser de voto, mas seria de veto.
Tudo isto so questes que esto em aberto neste momento.
Depois h pases que tambm eles manifestam os interesses de participarem no
Conselho de Segurana por se considerarem potncias emergentes, e por entenderem
que podem ter uma palavra a dizer no prximo diploma so:
ndia;
Brasil;
Mxico;
Canad;
Austrlia.
De qualquer modo, tudo isto s tem manifestaes de vontade, valem o que valem, e
como bvio s podia verificar, se houvesse uma alterao muito grande na Carta das
Naes Unidas. E para haver uma alterao teria que ser votado na Assembleia Geral e
ter que haver interveno do prprio Conselho de Segurana e portanto h sempre a
hiptese de algum dos Estados puderem vetar as alteraes Carta e ficarem sem efeito
as alteraes.
O Conselho de Segurana delibera por maioria qualificada, sendo que nessa matriz
qualificada so necessrios 9 votos. Claro que se algum dos pases, do conselho
permanente vetar, deixa de haver essa possibilidade de passar. Apesar de tudo vejamos,
o facto de direito de veto vem permitir a reprovao de uma actuao do Conselho de
Segurana, at porque se o direito de veto na ONU, significava que os membros no
permanentes (que so 10) facilmente fariam passar qualquer deliberao sem
Hugo H. Arajo 128
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
necessidade de ter do seu lado uma potncia. Da que importante, que os membros
permanentes no abdiquem do direito de veto. Como bvio para ditar as regras da
ONU, e por isso mesmo se diz que condicionam a alterao Carta.
Quais os fins do Conselho de Segurana? (artigo 24 da Carta)
Assegurar a paz internacional;
Assegurar a segurana internacional.
O Conselho de Segurana pode dirigir recomendaes aos Estados em litgio, e pode
elaborar uma soluo pacfica nos conflitos internacionais, pode em caso de ameaa da
paz de um acto de agresso de um pas para o outro a ONU pode usar o emprego da
fora para resolver essa questo.
E aqui, pela utilizao da fora que se coloca outra das grandes questes ONU. E
essa grande questo prende-se com a inexistncia de fora prpria da prpria ONU.
Vejamos que a ONU pode, mas apenas intervm se os Estados disponibilizarem foras
militares, caso no o faam a ONU, fica incapacitada de intervir.
Por isso mesmo alguns internacionalistas tm defendido que a Organizao das Naes
Unidas deveria ter, pelo menos um pequeno exrcito para se concretizar em caso de
conflitos, para no estar sempre dependente, da vontade, da participao dos seus
Estados membros, isso por um lado.
Por outro lado, ter um exrcito custa dinheiro e esse outro dos problemas da ONU, a
falta de dinheiro. Hoje em dia sabe-se que muito dos membros da ONU, no paga a sua
cota anual e tambm nada lhes acontece. Nada lhes acontece, porque se regra para a
admisso do Estado, no h regra para expulso por no cumprimento das suas
obrigaes, ou seja o Estado que no pague as suas quotas no pode ser expulso da
ONU e por isso tambm no h uma capacidade por parte da ONU, em ter exrcito
prprio que possa intervir em conflitos armados.
Da as grandes crticas que tm sido feitas ONU a nvel mundial, se h quem entenda
que a ONU fez muito bem ao actuar na guerra do Golfo, h quem diga que ao invs, na
Hugo H. Arajo 129
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
actual guerra da Bosnia-Esgovina, foi mais desastroso. Ela no soube, responder s suas
obrigaes e aos seus princpios. Claro que isto se explica pela dependncia que a ONU
tem dos Estados que lhe so membros, e portanto ela actua sempre que os Estados que
lhe so membros contribuem, nomeadamente a nvel militar, com as suas foras dos
vrios campos de interveno da ONU.
Conselho Econmico e Social composto por 54 membros, eleitos pela Assembleia-
Geral, por um perodo de 3 anos.
Este tem competncia na rea econmica, social, cultural, educacional e dos Dts do
Homem.
De entre as suas funes, cabe-lhe dirigir recomendaes Assembleia-Geral e aos
Estados-membros.
Conselho de Tutela este rgo praticamente caiu em desuso, porque era um rgo
nomeado para superintender a administrao dos territrios que se encontravam sob
tutela das Naes Unidas. Portanto estamos aqui a falar, daqueles territrios herdados da
Sociedade das Naes, e que estavam sob mandato colonial. Esses territrios sob
mandato territorial no mbito da Sociedade das Naes, passam para a esfera jurdica da
ONU e so administrados por este Conselho de Tutela. Claro que os administradores
directos, so Estados membros da ONU, mandatados que em nome da ONU
administram o territrio. Mas h uma cristalizao mais firme e mais fechada
relativamente aos gestores territoriais dos Estados sob tutela.
Claro que com a independncia da maior parte das colnias a nvel colonial, este
Conselho de tutela ficou praticamente sem objecto.
Tribunal Internacional de Justia composto por 15 juzes, que so magistrados
independentes que so eleitos de entre pessoas com carcter moral e aptido cientifica,
adequada e tenham qualificao para exercer funes judiciais.
Ao Tribunal Internacional de J ustia apenas podem recorrer os Estados. A pessoa
individual, no tem acesso ao Tribunal Internacional de J ustia. Em regra, todos os
Hugo H. Arajo 130
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
membros da ONU fazem parte do Tribunal de J ustia, mas o Tribunal Internacional de
J ustia, pode ter como seus membros pases que no sejam membros da ONU. o caso
da Sua. A Sua no membro da ONU, mas membro do Tribunal Internacional de
J ustia, vincula-se s decises deste Tribunal.
O Tribunal Internacional de J ustia tem competncia a nvel oficioso, para anlise de
processos dos Estados, bem como a nvel de competncia consultiva, pode emitir
pareceres, tambm eles a solicitao de um Estado.
Em regra a participao no Tribunal Internacional de J ustia, os Estados no so
obrigados a participar no Tribunal Internacional de J ustia, nem submeter-se s suas
decises.
Excepo: encontra-se prevista no artigo 36, n 2 do Estatuto do Tribunal Internacional
de J ustia, e este artigo prev a possibilidade de os Estados consignarem na sua adeso
ao Tribunal, podem consagrar uma clausula de jurisdio obrigatria, ou seja se os
Estados membros da ONU, aderem ao Tribunal Internacional de J ustia, quiserem de
forma voluntria consignar a clausula de jurisdio obrigatria, as decises do Tribunal
e o recurso ao Tribunal em caso conflito que ponha em causa a paz e a segurana a nvel
mundial, devem os Estados obrigatoriamente submeter-se jurisdio do Tribunal. De
qualquer modo, hoje em dia o nmero de Estados que assinou esta clusula diminuto,
na maior parte deles mantm uma jurisdio voluntaria, isto porque os Estados
entendem que alguns dos conflitos que tm com outros Estados so de nvel interno,
devem ser resolvidos por via poltico-diplomtica e no pelo Tribunal Internacional de
J ustia.
Estes so os rgos da Organizao das Naes Unidas.
E a ONU tem tido um trabalho muito grande em algumas reas que so aquelas que
sero dadas nas prximas aulas:
Descolonizao;
Direitos do Homem;
Globalizao;
Hugo H. Arajo 131
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Terrorismo.
So essas matrias que veremos nas prximas aulas tericas. De qualquer modo e em
termos de balana o que dizer:
Apesar de a ONU ser um rgo/instituio diferente da Sociedade das Naes, com
reforo de poderes, apesar de haver Estados com maior poder que outros, portanto no
mais do que uma viso aristocrtica da prpria sociedade internacional, reparem que
temos 5 Estados que podem condicionar a actuao de todos os outros, no sentido que
h uns Estados mais iguais que outros, e no obstante, a isto, certo que a ONU tem
tido ao longo da sua existncia tem tido um papel preponderante: Guerra Fria,
Descolonizao dos Povos, a autodeterminao dos povos, que almejaram a
independncia, no obstante ter sido grandes defensores dos Direitos do Homem, da
Declarao dos Direitos dos Homens parece que houve um desempenho da ONU muito
virada oscilante com a prpria poltica mundial e esta Organizao por estar dependente
dos meios dos Estados membros, por ter direito de veto internacional, nem sempre
consegue ser uma instituio equidistante e apartada dos Estados-membros.
De qualquer modo, parece que a haver uma reforma das Naes Unidas, essa reforma se
iria centrar em trs grandes reas:
Nos Estados que so membros, nomeadamente pensar-se na ponderao de
votos, no mbito da Assembleia Geral, Estados to grandes como a China, tm
o mesmo peso que as Maldivas e as Ilhas Fiji; claro que o princpio da
igualdade assim o exige, no sei se se podia ou no em algumas circunstncias
revogar-se esse princpio de igualdade e criar-se um sistema de voto atendendo
sua prpria dimenso e interveno a nvel mundial, a China pode intervir na
cena mundial com milhes de seres humanos;
A nvel do Conselho de Segurana, existir um alargamento, nomeadamente dos
membros permanentes, se se vai manter o direito de veto ou no;
Rever o Tribunal Internacional, nomeadamente, transformar ou tornar a
jurisdio obrigatria, no estamos a falar a questes a nvel internacional de
Hugo H. Arajo 132
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
conflitos Estados que possam pr em causa a paz e a segurana a nvel
internacional, ou mundial ou regional.
De qualquer modo, era conveniente que se pensasse numa futura reviso na ponderao
da hiptese de tornar a jurisdio do Tribunal Internacional como obrigatria.
Hugo H. Arajo 133
Histria das Relaes Internacionais 2009/2010
Aula terica de Histria das Relaes Internacionais
Aula n 16
Lisboa, 18 de Novembro de 2009
ltima aula terica, da ter sido leccionada pelo Prof. Doutor Antnio Pedro Barbas
Homem.
Abordou-se temas como a Economia Mundial actual e a Grave Crise Econmica
Mundial.
Agradecimentos finais e ponderaes para o exerccio escrito de Histria das Relaes
Internacionais.
Hugo H. Arajo 134
Você também pode gostar
- Direito Das Sociedades Comerciais - ResumosDocumento21 páginasDireito Das Sociedades Comerciais - ResumosGeu Imbuzeiro Gonçalo82% (11)
- Questionário 1 Unidade 1 Direitos Da Criança, Adolescente e IdosoDocumento3 páginasQuestionário 1 Unidade 1 Direitos Da Criança, Adolescente e IdosoLaraBergamin100% (2)
- TOLEDO, Caio Navarro De. ISEB Fábrica de IdeologiasDocumento30 páginasTOLEDO, Caio Navarro De. ISEB Fábrica de IdeologiasNara Roberta100% (1)
- Ementa Eletiva Foco No Presente - Sucesso No FuturoDocumento3 páginasEmenta Eletiva Foco No Presente - Sucesso No FuturoKarla Cristina Alves100% (3)
- Casos Praticos Reais ResolvidosDocumento3 páginasCasos Praticos Reais Resolvidoshugo-advgo-100% (2)
- Direito Internacional Privado - ResumosDocumento102 páginasDireito Internacional Privado - ResumosAna Carolina Fernandes100% (1)
- Ineptidão Da PIDocumento2 páginasIneptidão Da PIAna CCAinda não há avaliações
- O Princípio Da Tributação Do Rendimento Real e A Lei Geral Tributária - Xavier de BastoDocumento17 páginasO Princípio Da Tributação Do Rendimento Real e A Lei Geral Tributária - Xavier de BastoAna CCAinda não há avaliações
- Direito FiscalDocumento9 páginasDireito FiscalAna CCAinda não há avaliações
- Direito Comercial ApontamentosDocumento31 páginasDireito Comercial ApontamentosVania Furtado91% (11)
- Principios Dos Direitos ReaisDocumento4 páginasPrincipios Dos Direitos ReaisAna CCAinda não há avaliações
- Aulas Direito Penal IIDocumento13 páginasAulas Direito Penal IIAna CCAinda não há avaliações
- Perguntas Frequentes de Direitos ReaisDocumento5 páginasPerguntas Frequentes de Direitos ReaisAna CCAinda não há avaliações
- Perturbações Típicas Do Contrato de Compra e VendaDocumento11 páginasPerturbações Típicas Do Contrato de Compra e VendaAna CC100% (1)
- Abertura de ContaDocumento22 páginasAbertura de ContaAna CCAinda não há avaliações
- Contrato EmpreitadaDocumento23 páginasContrato EmpreitadaAna CCAinda não há avaliações
- Atendimento FamiliarDocumento59 páginasAtendimento FamiliarElaine BedinAinda não há avaliações
- Prova Escrita Objetiva Tipo A DelegadoDocumento27 páginasProva Escrita Objetiva Tipo A DelegadoRayara Matos Fontineles GuedesAinda não há avaliações
- Perspectivas Geopolíticas - Ricardo Luigi & Charles PennaforteDocumento195 páginasPerspectivas Geopolíticas - Ricardo Luigi & Charles PennaforteLuigi LugAinda não há avaliações
- Contributo Socoeconomico Da Actividade Turistica em Mussuril 2015-2019Documento21 páginasContributo Socoeconomico Da Actividade Turistica em Mussuril 2015-2019Virginia Varyny Naprimo Luante LuanteAinda não há avaliações
- Vitruvius Arquitextos 178 03 Habita o SocialDocumento14 páginasVitruvius Arquitextos 178 03 Habita o SocialMariana GarciaAinda não há avaliações
- Ava 3 Doutrinas Do Positivismo Jurídico e Ordenamento Juridico Como SistemaDocumento24 páginasAva 3 Doutrinas Do Positivismo Jurídico e Ordenamento Juridico Como SistemaElivaldo RamosAinda não há avaliações
- Exercícios de Fixação - Módulo VIDocumento4 páginasExercícios de Fixação - Módulo VIDavis ToledoAinda não há avaliações
- Mobilidade APDocumento48 páginasMobilidade APCésar Santos SilvaAinda não há avaliações
- VAZ, Adriana Maria Saura - Ensino Filosofia Educação de SiDocumento124 páginasVAZ, Adriana Maria Saura - Ensino Filosofia Educação de SiWiltonAinda não há avaliações
- 2020 Apostila Filosofia 8ano 2triDocumento21 páginas2020 Apostila Filosofia 8ano 2triBolidezioAinda não há avaliações
- Impacto Socioecónomico Das Políticas Das Instituições de Bretton Woods em Moçambique (1984 - 2019) : o Caso Do Setor Do CajuDocumento180 páginasImpacto Socioecónomico Das Políticas Das Instituições de Bretton Woods em Moçambique (1984 - 2019) : o Caso Do Setor Do CajuAlberto ComéAinda não há avaliações
- Pollock Capitalismo de EstadoDocumento30 páginasPollock Capitalismo de EstadoHelber TavaresAinda não há avaliações
- Por Terra e Território 001-037Documento37 páginasPor Terra e Território 001-037wagner Bernardo da SilvaAinda não há avaliações
- Questão Social e Meio AmbienteDocumento12 páginasQuestão Social e Meio AmbienteRenato VeronezeAinda não há avaliações
- 01 - Rel Rio de JaneiroDocumento184 páginas01 - Rel Rio de JaneiroMariana PereiraAinda não há avaliações
- Teoria Geral Do Direito - Dir 1a 2012 1Documento80 páginasTeoria Geral Do Direito - Dir 1a 2012 1Victória FlorentinoAinda não há avaliações
- MANUAL EMPRESA E PRODUÇÃO - Ufcd0623 ScribdDocumento15 páginasMANUAL EMPRESA E PRODUÇÃO - Ufcd0623 ScribdSusana RainhoAinda não há avaliações
- CHUVA, Marcia. Os Arquitetos Da MemóriaDocumento56 páginasCHUVA, Marcia. Os Arquitetos Da MemóriaFlávia Cavalheiro100% (1)
- Lei Do Ordenamento Do Territorio e Do Urbanismo Lei No 304 de 25 de Junho 2020 07-28-01!58!11 004Documento17 páginasLei Do Ordenamento Do Territorio e Do Urbanismo Lei No 304 de 25 de Junho 2020 07-28-01!58!11 004Nelson FernandoAinda não há avaliações
- Apostila - Seguranca PublicaDocumento41 páginasApostila - Seguranca PublicaAledson MartinsAinda não há avaliações
- A História Da Cidadania No BrasilDocumento12 páginasA História Da Cidadania No BrasilGenivaldo SantosAinda não há avaliações
- Sistema Administrativo de Tipo Francês Ou de Administração ExecutivaDocumento1 páginaSistema Administrativo de Tipo Francês Ou de Administração Executivaznuno_6100% (1)
- As Feiras Livres em BelémDocumento20 páginasAs Feiras Livres em BelémAndrea CarolinoAinda não há avaliações
- Direito Penal Geral 20132Documento93 páginasDireito Penal Geral 20132Juliano RibasAinda não há avaliações
- Lista1b PDFDocumento3 páginasLista1b PDFRicardo de AlmeidaAinda não há avaliações
- Uberização A Era Do Trabalhador Just-In-TimeDocumento16 páginasUberização A Era Do Trabalhador Just-In-Timejubbvivi17Ainda não há avaliações