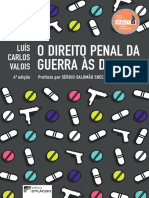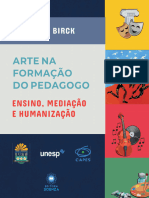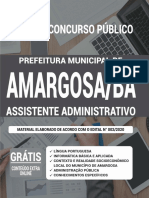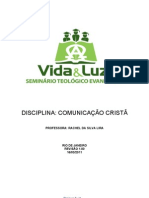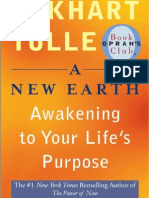Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Iniciação À Bioética CREMESP
Iniciação À Bioética CREMESP
Enviado por
jploginTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Iniciação À Bioética CREMESP
Iniciação À Bioética CREMESP
Enviado por
jploginDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
Iniciao Biotica
Publicao do Conselho Federal de Medicina
SGAS 915 Lote 72
70390-150 Braslia-DF
Fone: (061)346-9800
Fax: (061)346-0231
http://www.cfm.org.br
cfm@rudah.com.br
Organizadores
Srgio Ibiapina Ferreira Costa
Volnei Garrafa
Gabriel Oselka
Equipe Tcnica
Eliane Maria Medeiros Silva
Sulaima Leise da Silva
Projeto Grfico
Tereza Hezim
Capa
Fernando Secchin
Copidesque/revisor
Napoleo Marcos de Aquino
Editorao Eletrnica
CMJ On Line
Tiragem
10.000 exemplares
Copyright @ 1998 Conselho Federal de Medicina
Ficha Catalogrfica
Iniciao biotica / Sergio Ibiapina Ferreira
Costa, Gabriel Oselka, Volnei Garrafa,
coordenadores. Braslia : Conselho
Federal de Medicina, 1998.
pp. 302
ISBN 85-87077-02-3
1 - Biotica. I - Costa, Sergio Ibiapina Fereira.
II - Oselka, Gabriel. III - Garrafa, Volnei.
CDD 174.2
Conselheiros CFM
Gesto 1994/1999
Antnio Henrique Pedrosa Neto (AL)
Arnaldo Pineschi de Azeredo (RJ)
Carlos Alberto de Souza Martins (MA)
Edilberto Parigot de Souza Filho (AC)
Edson de Oliveira Andrade (AM)
Floriano Rodrigues Riva Filho (RO)
Jaci Silvrio de Oliveira (TO)
Jocy Furtado de Oliveira (AP)
Jos Abelardo Garcia de Menezes (BA)
Jos Ricardo de Hollanda Cavalcanti (PB)
Jlio Czar Meirelles Gomes (DF)
Lo Meyer Coutinho (SC)
Lino Antnio Cavalcanti Holanda (CE)
Lcio Mrio da Cruz Bulhes (MS)
Luiz Carlos Sobania (PR)
Marco Antnio Becker (RS)
Maria Hormecinda Almeida de Souza Cruz (RR)
Moacir Soprani (ES)
Nei Moreira da Silva (MT)
Oswaldo de Souza (SE)
Paulo Eduardo Behrens (MG)
Philemon Xavier de Oliveira (GO)
Rubens dos Santos Silva (RN)
Regina Ribeiro Parizi Carvalho (SP)
Srgio Ibiapina Ferreira Costa (PI)
Silo Tadeu Silveira de Holanda Cavalcanti (PE)
Waldir Paiva Mesquita (PA)
Cludio Balduno Souto Franzen (AMB)
Organizadores
Srgio Ibiapina Ferreira Costa
Mdico; Professor de tica da Faculdade de Medicina da Universidade do
Piau; Vice-presidente do Conselho Federal de Medicina; Membro do Con-
selho Editorial do Jornal Medicina Conselho Federal de Medicina; Editor
da revista Biotica Conselho Federal de Medicina
Volnei Garrafa
Cirurgio dentista; Professor Titular do Departamento de Sade Coletiva;
Coordenador do Ncleo de Estudos e Pesquisas em Biotica da Universi-
dade de Braslia UnB; Ps-doutorado em Biotica pela Universidade de
Roma; Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Biotica; Editor associ-
ado da revista Biotica Conselho Federal de Medicina
Gabriel Oselka
Mdico; Professor associado do Departamento de Pediatria da Faculdade
de Medicina da Universidade de So Paulo USP; Editor associado da
revista Biotica Conselho Federal de Medicina
Colaboradores
Antnio Henrique Pedrosa Neto
Mdico; Ginecologista e Obstetra; Professor auxiliar do Departamento de
Ginecologia e Obstetrcia da Escola de Cincias Mdicas de Alagoas;
Secretrio-Geral do Conselho Federal de Medicina
Antonio Ozrio Leme de Barros
Mdico e Bacharel em Direito; Promotor de Justia de Acidentes do
Trabalho do Ministrio Pblico do Estado de So Paulo
Carlos Fernando Francisconi
Mdico; Professor adjunto do Departamento de Medicina Interna da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, RS
Christian de Paul Barchifontaine
Enfermeiro; Mestre em Administrao Hospitalar e de Sade; Doutoran-
do em Cincias da Religio; Reitor do Centro Universitrio So Camilo,
So Paulo, SP
Cludio Cohen
Mdico; Professor Livre Docente do Departamento de Medicina Legal,
tica Mdica e do Trabalho da Faculdade de Medicina da Universidade
de So Paulo USP, So Paulo, SP
Corina Bontempo D. Freitas
Mdica; Assessora do Conselho Nacional de Sade; Secretria Executi-
va da Comisso Nacional de tica em Pesquisa CONEP CNS/MS
Dalmo de Abreu Dallari
Advogado; Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de
So Paulo USP, So Paulo, SP
Daniel Romero Muoz
Mdico; Professor responsvel pela disciplina de Medicina Legal da
Faculdade de Medicina da Universidade de So Paulo; Professor de
Medicina Legal e tica Mdica da Faculdade de Cincias Mdicas da
Santa Casa/SP e das Faculdades de Medicina do ABC Santo Andr e
da Universidade de Santo Amaro, So Paulo, SP
Dbora Diniz
Antroploga; Pesquisadora do Ncleo de Estudos e Pesquisas em
Biotica, Universidade de Braslia UnB, Braslia, DF
Dlio Jos Kipper
Mdico; Mestre em Pediatria pela Pontifcia Universidade Catlica do Rio
Grande do Sul PUCRS; Professor de Pediatria na graduao da Facul-
dade de Medicina PUCRS; Coordenador do Comit de tica em Pes-
quisa da PUCRS, Porto Alegre, RS
Eliane S. Azevdo
Mdica; Ncleo de Biotica, Departamento de Cincias Biolgicas,
Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, BA
Fermin Roland Schramm
Filsofo; Mestre em Semitica e doutor em Cincias; Pesquisador
adjunto do Departamento de Cincias Sociais da Escola Nacional de
Sade Pblica da Fundao Oswaldo Cruz - ENSP/FIOCRUZ, Rio de
Janeiro, RJ
Franklin Leopoldo e Silva
Filsofo; Professor do Departamento de Filosofia, Faculdade de Filo-
sofia, Letras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo-USP,
So Paulo, SP
Genival Veloso de Frana
Mdico e Advogado; ex-Professor Titular de Medicina Legal da Universi-
dade Federal da Paraba UFPB, Joo Pessoa, PB; Professor convidado
dos cursos de graduao e ps-graduao do Instituto Mdico-Legal de
Coimbra, Portugal
Guido Carlos Levi
Mdico; Diretor Tcnico do Instituto de Infectologia Emlio Ribas, So
Paulo, SP
Joaquim Clotet
Filsofo; Ph. D. (Universidade de Barcelona); Professor de Biotica nos
programas de ps-graduao em Medicina da Pontifcia Universidade
Catlica do Rio Grande do Sul PUCRS, Porto Alegre, RS
Jos Eduardo de Siqueira
Mdico; Doutor em Medicina; Mestre em Biotica; Professor de Clnica
Mdica e Biotica da Universidade Estadual de Londrina, Paran, PR
Jos Gonalves Franco Jnior
Mdico; Diretor do Centro de Reproduo Humana da Fundao Mater-
nidade Sinh Junqueira, Ribeiro Preto, SP
Jos Roberto Goldim
Bilogo do Grupo de Pesquisa e Ps-graduao do Hospital de Clnicas
de Porto Alegre, RS
Jlio Czar Meirelles Gomes
Mdico; Hospital Universitrio de Braslia, Braslia, DF; 1 Secretrio do
Conselho Federal de Medicina
Lo Pessini
Telogo; Ps-graduado em Educao Pastoral Clnica, com especializa-
o em Biotica no St. Lukes Medical Center, Estados Unidos; Vice-
reitor do Centro Universitrio So Camilo, So Paulo, SP
Leonard M. Martin
Redentorista; Diretor do Instituto Teolgico-Pastoral do Cear; Professor
de Teologia Moral e Biotica no Instituto Teolgico-Pastoral do Cear;
Presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Moral, Fortaleza, CE
Marcos de Almeida
Mdico; Professor Titular de Medicina Legal e Biotica da Universidade
Federal de So Paulo Escola Paulista de Medicina - UFSP-EPM; Livre-
docente em tica Mdica pela Faculdade de Medicina da Universidade
de So Paulo USP, So Paulo, SP
Marco Segre
Mdico; Professor Titular do Departamento de Medicina Legal, tica
Mdica, Medicina Social e do Trabalho da Faculdade de Medicina da
Universidade de So Paulo USP, So Paulo, SP
Nei Moreira da Silva
Mdico; Professor-adjunto de Clnica Neurolgica da Faculdade de
Cincias Mdicas da Universidade Federal de Mato Grosso; Diretor do
Conselho Federal de Medicina
Paulo Antonio Carvalho Fortes
Mdico; Professor responsvel pelas disciplinas de tica da Sade Pbli-
ca e tica Aplicada Administrao do Servio de Sade, Faculdade de
Sade Pblica da Universidade de So Paulo USP, So Paulo, SP
Regina Ribeiro Parizi
Mdica Sanitarista do Hospital do Servidor Pblico Estadual Francisco
Monteiro de Oliveira - HSPE-FMO, So Paulo, SP; Mestre em
Epidemiologia; Vice-presidente do Conselho Federal de Medicina
Srgio Danilo J. Pena
Mdico; Presidente do Ncleo de Gentica Mdica de Minas Gerais;
Professor Titular do Departamento de Bioqumica e Imunologia, Instituto
de Cincias Biolgicas, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG,
Belo Horizonte, MG
Sueli Gandolfi Dallari
Advogada; Professora Titular da Faculdade de Sade Pblica da Univer-
sidade de So Paulo; Livre-docente em Direito Sanitrio, Universidade
de So Paulo USP, So Paulo, SP
Volnei Garrafa
Cirurgio dentista; Professor Titular do Departamento de Sade Coletiva;
Coordenador do Ncleo de Estudos e Pesquisas em Biotica da Universi-
dade de Braslia UnB, Braslia,DF; Ps-doutorado em Biotica pela
Universidade de Roma; Vice-presidente da Sociedade Brasileira de
Biotica
William Saad Hossne
Mdico; Professor Emrito da Faculdade de Medicina da Universidade
Estadual Paulista UNESP, Botucatu, So Paulo, SP; Presidente de
honra da Sociedade Brasileira de Biotica; Coordenador da Comisso
Nacional de tica em Pesquisa CONEP CNS/MS
Prefcio 13
Parte I - Introduo
Apresentando a Biotica 15
Srgio Ibiapina Ferreira Costa, Volnei Garrafa e Gabriel Oselka
Parte II - Conceitos Bsicos
Da tica Filosfica tica em Sade 19
Franklin Leopoldo e Silva
Princpios da Beneficncia e No-maleficncia 37
Dlio Jos Kipper e Joaquim Clotet
O Princpio da Autonomia e o Consentimento Livre e Esclarecido 53
Daniel Romero Muoz e Paulo Antonio Carvalho Fortes
O Princpio da Justia 71
Jos Eduardo de Siqueira
Biotica: do Principialismo Busca de uma Perspectiva
Latino-Americana 81
Lo Pessini e Christian de Paul Barchifontaine
Parte III Temas Especficos
Biotica e Cincia At onde Avanar sem Agredir 99
Volnei Garrafa
Reproduo Assistida 111
Antnio Henrique Pedrosa Neto e Jos Gonalves Franco Jnior
Biotica e Aborto 125
Dbora Diniz e Marcos de Almeida
Sumrio
12
O Projeto Genoma Humano e a Medicina Preditiva: Avanos
Tcnicos e Dilemas ticos 139
Srgio Danilo J. Pena e Eliane S. Azevdo
Transplantes 157
Regina Ribeiro Parizi e Nei Moreira da Silva
Eutansia e Distansia 171
Leonard M. Martin
Pesquisa com Seres Humanos 193
Corina Bontempo D. Freitas e William Saad Hossne
A Biotica e a Sade Pblica 205
Sueli Gandolfi Dallari
Biotica e Biossegurana 217
Fermin Roland Schramm
Biotica e Direitos Humanos 231
Dalmo de Abreu Dallari
Parte IV Biotica Clnica
Erro Mdico 243
Jlio Czar Meirelles Gomes e Genival Veloso de Frana
Biotica e Medicina Legal 257
Marco Segre e Cladio Cohen
Aspectos Bioticos da Confidencialidade e Privacidade 269
Carlos Fernando Francisconi e Jos Roberto Goldim
tica Clnica: a AIDS como Paradigma 285
Guido Carlos Levi e Antonio Ozrio Leme de Barros
Parte V - Posfcio
A Biotica no Sculo XXI 295
Srgio Ibiapina Ferreira Costa, Volnei Garrafa e Gabriel Oselka
ndice Remissivo 303
13
Prefcio
A discusso e o aprofundamento nas questes da Biotica , hoje mais
que nunca, uma necessidade premente para todos os que lidam com os proble-
mas que atingem a sociedade e cada ser humano em particular. Em 1993, o
Conselho Federal de Medicina criou a revista Biotica, de circulao semestral,
com um Conselho Editorial prprio, visando incentivar o debate de questes
doutrinrias, temas emergentes e daqueles considerados pertinentes a essa rea.
O sucesso da publicao deveu-se principalmente ao fato de, nela, todas
as tendncias poderem ser contempladas, admitindo-se como princpio o
pluralismo moral, sinnimo de diversidade na discusso de qualquer tema.
Durante os cinco anos de sua existncia, notou-se a necessidade de tornar a
Biotica compreensvel a um universo maior de mdicos, muitos dos quais no
esto familiarizados com as vrias abordagens dessa disciplina. Com esse sen-
tido, o Conselho Federal de Medicina decidiu elaborar este compndio.
Desde as primeiras reunies que trataram da publicao desta obra, a
preocupao bsica foi a produo de textos acessveis, que analisassem os
fundamentos da Biotica em suas vrias vertentes e permitissem, tanto aos prin-
cipiantes quanto aos especialistas, despertar e ou aprimorar a ateno para
esse importante tema.
Consideramos que esse objetivo foi atingido. Nos seus captulos, Iniciao
Biotica contempla as diversas reas temticas de grande interesse para o
dia-a-dia do mdico, em linguagem clara e objetiva.
Hoje, o Conselho Federal de Medicina tem o orgulho de apresentar esta
publicao que, temos certeza, vai contribuir sobremaneira e criativamente para
o debate tico de nossa sociedade como um todo e da comunidade mdica em
particular.
Como palavra final, importante lembrar que este livro no seria possvel
sem o zelo, o desprendimento e o entusiasmo dos organizadores, autores, cola-
boradores, equipe tcnica e corpo de conselheiros e funcionrios do CFM.
A todos, nosso mais sincero agradecimento.
Waldir Paiva Mesquita
Presidente
14
15
Apresentando a Biotica
Parte I - Introduo
Srgio Ibiapina Ferreira Costa
Volnei Garrafa
Gabriel Oselka
Na totalidade do contexto cient-
fico e tecnolgico poucas reas
evoluram com tanta rapidez quanto a
biotica. Se imaginarmos que apenas
em 1971 o cancerologista norte-ame-
ricano Van Rensselaer Potter publi-
cou a obra que referenciou histori-
camente a rea Bioethics: a Bridge
to the Future , os avanos conquis-
tados nestes 27 anos podem ser con-
siderados extraordinrios. Atualmen-
te, enorme o nmero de publica-
es peridicas e de novos livros que
surgem diariamente tratando dos
mais variados enfoques sobre o tema,
alm de incontvel a quantidade de
eventos acadmicos oferecidos sobre
biotica em praticamente todas as
partes do mundo, dirigidas as mais
diferentes especialidades interessa-
das no assunto.
Nem o prprio Potter poderia ima-
ginar a velocidade como as coisas
transcorreriam. oportuno mencionar
que sua viso original da biotica fo-
calizava-a como uma questo ou um
compromisso mais global frente ao
equilbrio e preservao da relao dos
seres humanos com o ecossistema e a
prpria vida do planeta, diferente
daquela que acabou difundindo-se
e sedimentando-se nos meios cien-
tficos a partir da publicao do li-
vro The Principles of Bioethics, es-
crito por Beauchamp e Childress, em
1979.
A obra destes dois autores prati-
camente pautou a biotica dos anos
70 e incio dos anos 80, sob uma linha
que, posteriormente, veio a ser cunha-
da como principialismo, ou seja, o
desenvolvimento da biotica a partir
de quatro princpios bsicos, dois de-
les de carter deontolgico (no-
maleficncia e justia) e os outros dois
de carter teleolgico (beneficncia e
autonomia). Apesar de no serem ab-
solutos sob o prisma filosfico, estes
princpios foram rapidamente assimi-
lados, passando a constituir a ferra-
menta mais utilizada pelos bioeticistas
na mediao e/ou resoluo dos con-
flitos morais pertinentes temtica
biotica. importante definir para os
leitores da presente publicao, desde
j, que o principialismo apenas um
16
dos vrios dialetos (ou formas espec-
ficas de expresso) do chamado idi-
oma ou linguagem biotica. Ape-
sar de este ser o dialeto mais utiliza-
do e, hoje, quase hegemnico, deve
haver o cuidado para que o mesmo
no seja confundido com o prprio
idioma (1).
Atualmente, j so mais de dez
diferentes linhas ou dialetos utiliza-
dos pela biotica no seu desenvolvimen-
to, como o contextualismo, o feminis-
mo, o contratualismo, o naturalismo,
entre outras (2). Destas, merece des-
taque, sem dvida, o contextualismo,
que defende a idia de que cada caso
deve ser analisado individualmente,
dentro dos seus especficos contextos
social, econmico e cultural. Esta vi-
so, por exemplo, faz com que a cultu-
ra japonesa se defina no como con-
trria ao princpio da autonomia, prin-
cpio este simplesmente inexistente na
cultura oriental. A anlise da ques-
to da autonomia para os ndios
ianomamis ou terenas pode, tambm,
ser enfocada dentro desse mesmo con-
texto.
Toda essa exposio tem o intui-
to no de confundir o leitor, mas, pelo
contrrio, deixar claro que hoje nos
encaminhamos em direo busca de
uma biotica mais global, a qual, no
prescindindo dos instrumentos tericos
e prticos que at aqui a caracteriza-
ram (os princpios), dever avanar
em direo a uma viso mais
globalizada, e ao mesmo tempo mais
especfica, do mundo e do contexto
atuais. Ou, no dizer de Campbell: ...a
idia da abertura de uma nova viso
do que possa significar o ser humano,
ouvindo a surpreendente diversidade
de vozes culturais que procuram fazer-
se ouvir, medida que a biotica se
expande do Ocidente para outras cul-
turas (3).
exatamente sob essa tica que
se insere a busca da construo de
uma original biotica brasileira, se
assim podemos dizer, capacitada a
enfrentar, mediar e, se possvel, dar
respostas aos conflitos morais ema-
nados das di f erent es quest es
bioticas relacionadas com os cos-
tumes (mores) vigentes na nossa so-
ciedade.
Nesse sentido, para a elabora-
o deste livro houve um especial cui-
dado tanto na seleo dos temas e
seu ordenamento como nos diversos
autores/pesquisadores convidados
para escrever os diferentes captulos.
Assim, em seqncia a esta introdu-
o (parte I), a parte II da obra apre-
senta os Conceitos bsicos da
biotica. A abertura cabe ao profes-
sor de filosofia da Universidade de
So Paulo, Franklin Leopoldo e Sil-
va, que aborda o tema Da tica fi-
losfica tica em sade. Em conti-
nuidade, os princpios bsicos da
biotica so apresentados na seguinte
ordem: Princpios da beneficncia e
no-maleficncia (professores Dlio
Jos Kipper e Joaquim Clotet, ambos
da Pontifcia Universidade Catlica
do Rio Grande do Sul); O princpio
da autonomia e o consentimento li-
vre e esclarecido (Daniel Romero
Muoz e Paulo Antonio Carvalho For-
tes, ambos da Universidade de So
Paulo); e O princpio da justia
(Jos Eduardo de Siqueira, da Uni-
versidade Estadual de Londrina). Os
padres camilianos Lo Pessini e
Christian de Paul Barchifontaine, do
Centro Universitrio So Camilo,
17
So Paul o, f echam est a part e
enfocando Biotica: do princi-
pialismo busca de uma perspectiva
latino-americana.
A parte III a mais longa de to-
das, dando espao a grande diversi-
dade dos temas especficos que di-
zem respeito biotica. Ela aberta
com o texto Biotica e cincia at
onde avanar sem agredir (Volnei
Garraf a, da Uni versi dade de
Braslia). Entre os temas seguintes,
esto alguns dos mais polmicos en-
frentados pela biotica, quais sejam:
Reproduo assistida (Antnio
Henrique Pedrosa Neto, secretrio-
geral do Conselho Federal de Medi-
cina e Jos Gonalves Franco Jnior,
Diretor do Centro de Reproduo
Humana da Fundao Maternidade
Sinh Junqueira, Ribeiro Preto,
SP); Biotica e aborto (Dbora
Diniz, pesquisadora do Ncleo de
Estudos e Pesquisas em Biotica da
Universidade de Braslia, e Marcos
de Almeida, da Escola Paulista de
Medicina); O projeto genoma huma-
no e a medicina preditiva: avanos
t cni cos e di l emas t i cos (do
geneticista mineiro Srgio D. J. Pena
e Eliane S. Azevdo, da Universida-
de Estadual de Feira de Santana);
Transplantes (Regina Ribeiro Parizi
e Nei Moreira da Silva, diretores do
Conselho Federal de Medicina); Eu-
tansia e distansia (padre Leonard
M. Martin, Diretor do Instituto Teol-
gico-Pastoral do Cear); Pesquisa
com seres humanos (Cori na
Bontempo D. Freitas e William Saad
Hossne, respectivamente, secretria
executiva e coordenador da Comis-
so Nacional de tica em Pesquisa,
do Ministrio da Sade); A Biotica
e a sade pblica (sob a responsa-
bilidade da advogada e professora da
Universidade de So Paulo, Sueli
Gandol f i Dal l ari ); Bi ot i ca e
biossegurana (do professor da Esco-
l a Nacional de Sade Pbl ica/
FIOCRUZ, Fermin Roland Schramm);
Biotica e direitos humanos (abor-
dado pelo especialista no assunto e
professor de Direito da Universida-
de de So Paulo, Dalmo de Abreu
Dallari).
Os captulos subseqentes di-
zem mais respeito a temas de inte-
resse mdico, embora guardem rela-
o direta com a prpria biotica, de
um modo geral: Erro mdico (Jlio
Czar Meirelles Gomes, diretor do
Conselho Federal de Medicina, e
Genival Veloso de Frana, da Univer-
sidade Federal da Paraba); Biotica
e medicina legal (Marco Segre e
Cludio Cohen, da Universidade de
So Paulo); Aspectos bioticos da
confidencialidade e privacidade
(prof essores Carl os Fer nando
Francisconi e Jos Roberto Goldim,
da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul); e, finalmente, ti-
ca clnica: a AIDS como paradigma
(de autoria de Guido Carlos Levi, do
Hospital Emlio Ribas, e Antonio
Ozrio Leme de Barros, do Minist-
rio Pblico de So Paulo).
Ao final, elaboramos um breve
posfcio (parte IV) onde feita uma
anlise sobre o desafiante tema A
biotica no sculo XXI.
18
Referncias bibliogrficas
1. Garrafa, V, Diniz D, Guilheem D. The
bioethic language, its dialects and
idiolects. Cadernos de Sade Pblica.
(em publicao).
2. Anjos MF dos. Biotica: abrangncia e
di nami smo. O mundo da sade
1997;21(1):4-12.
3. Campbell A. The Presidents Column.
IAB News 1998;(7):1-2.
19
Parte II - Conceitos Bsicos
Franklin Leopoldo e Silva
Da tica Filosfica tica
em Sade
tica e conhecimento
Quando pretendemos situar a ti-
ca no contexto das dimenses culturais,
encontramos de pronto um primeiro pro-
blema. Como separ-la de outras mani-
festaes como, por exemplo, o conhe-
cimento e a religio? Ser possvel uma
separao tal que a tica se constitua
como uma instncia autnoma da cul-
tura, claramente definida na sua
especificidade? A relevncia da tica nos
leva naturalmente a assinalar para
ela um campo prprio, a partir do
qual possamos reconhecer um modo
singular de existir, em primeiro lugar
caracterstico do ser humano e, em
seguida, delimitado com nitidez en-
tre as dimenses da existncia. Po-
demos partir deste pressuposto, mas
quando vamos entender concreta-
ment e est a separao e est a
especificidade as dificuldades se mul-
tiplicam.
Elas aparecem quando tentamos,
por exemplo, fazer a distino entre
tica e conhecimento. Podemos dizer
que quando descrevemos o mundo e
procuramos compreend-lo efetuamos
juzos que nos permitem assimilar a
verdade dos fatos; para compreender
estes fatos efetuamos outros juzos,
mais abstratos, acerca da ligao en-
tre eles e das razes que sustentam tais
conexes. Conhecer as coisas
descrev-las e apreender racionalmen-
te as relaes que interligam os fen-
menos. Dizemos que a encontram-se
juzos porque se trata de uma ativida-
de que inclui no apenas a mera des-
crio, mas julgamentos acerca da
validade e da necessidade das cone-
xes que pouco a pouco vamos conhe-
cendo. So tais julgamentos que nos
permitem enunciar leis cientficas. Es-
tas no se encontram dadas simples-
mente naquilo que percebemos, mas
a partir do que percebemos e observa-
mos que nos julgamos autorizados a
20
formul-las, atingindo assim conheci-
mentos que superam os fatos parti-
culares, embora digam respeito a eles.
Isto significa que a observao da re-
alidade com vistas ao conhecimento
nos leva a julgamentos acerca desta
prpria realidade. claro que quando
falamos em julgamentos, nesse senti-
do, queremos dizer apenas que a ob-
servao nos autoriza a avaliar de for-
ma mais ampla e mais geral o com-
portamento dos fenmenos, o que nos
libera do particular e nos abre o vasto
horizonte da legislao da natureza:
sabemos no apenas como os fenme-
nos se comportam, mas tambm como
eles devem se comportar, pois as leis
gerais valem para todos os fenmenos
dentro das condies determinadas
pelos critrios da experincia.
evidente que assim alcanamos
regras de generalidade e de universali-
dade que ultrapassam o mero plano
dos fatos estritamente considerados.
Atribumos natureza um grau de ne-
cessidade que nenhuma observao
particular poderia em si mesma justi-
ficar. E quando representamos a natu-
reza desta maneira, entendemos que
possuimos acerca dela um conheci-
mento muito superior quele que nos
forneceria a percepo atomizada de
fatos isolados. Julgamos que o conhe-
cimento progride quando empregamos
procedimentos intelectuais de ordena-
o, para por meio deles justamente
inferir a ordem dos fatos.
Ora, uma das distines que se
costuma fazer para separar conheci-
mento e moral considerar que os
juzos que a cincia emite esto na
ordem do ser e os juzos propriamente
morais na ordem do dever ser. Com
isto, se quer dizer que a cincia trata
da realidade como ela , e a moral da
realidade como ela deve ser. A cincia
elaboraria juzos de realidade e a mo-
ral juzos dependentes de
normatividade. Mas j vimos que a
cincia atinge justamente os graus
mais elevados de conhecimento quan-
do apreende as regras de conexo res-
ponsveis pela produo dos fenme-
nos. J Aristteles reconhecia que o
saber acerca das coisas inclui neces-
sariamente o conhecimento das cau-
sas de seu aparecimento e de seu modo
de ser. E as epistemologias modernas
enfatizam a constncia das relaes
causais como um dos mais importan-
tes requisitos de conhecimento. Reme-
ter desta maneira fatos a outros fatos
para apreender no apenas relaes
especficas mas a estrutura dos fen-
menos j , certamente, avaliar a na-
tureza, se no no sentido de qualific-
la pelo menos na tentativa de compre-
ender na maior generalidade possvel
a trama tecida pelos fatos.
preciso lembrar, ainda, que al-
gumas teorias do conhecimento da
antiguidade como a de Aristteles
e da modernidade como a de Leibniz
incluam na compreenso desta tra-
ma no apenas a eficincia causal da
produo fenomnica como tambm
a finalidade a que cada parte est sub-
metida na arquitetnica da totalidade.
No bastaria entender como os fatos
se produzem, mas seria preciso com-
preender a funo de cada um no con-
junto e as razes da ordem esta-
bel ecida. Embora muitas vezes
criticada na histria das epistemo-
logias modernas, a causalidade fi-
nal indica que o esforo de conheci-
mento solicita, como que natural-
mente, completar-se na formulao
21
das indagaes relativas ao porqu dos
fenmenos descritos na estrutura da
realidade. E certamente este tipo de
resposta, se fosse possvel, permitiria
um tipo de conhecimento que no se-
ria somente mais abrangente, mas
mais avaliativo, isto , possibilitaria
julgamentos mais seguros acerca da
totalidade, pois nos faria ver talvez
com mais clareza o sentido das par-
tes e do todo, a razo da posio de
cada elemento na articulao geral e
o modo pelo qual convergem, na
sintonia e na diferena. No se pode-
ria dizer a partir da que inferiramos,
ao menos parcialmente, algo como as
normas que governam o real tanto no
sentido do ser quanto no sentido do
dever ser?
E, contudo, estaramos ainda no
plano dos juzos de realidade, no sen-
tido em que os entendemos quando
dizemos que a cincia os produz para
descrever compreensivamente os seus
objetos, articulando as percepes e
sistematizando a experincia. Mas tal-
vez no fiquemos apenas nisto. Por um
misto de ingenuidade e pretenso,
muitas vezes emitimos juzos que qua-
lificam a realidade. Dizemos no ape-
nas que as coisas so desta ou daque-
la maneira, mas tambm que bom
que sejam assim, ou que mau, ou que
poderiam ser de outra maneira. Talvez,
de maneira implcita, isto ocorra sem-
pre, sendo impossvel olhar as coisas
sem atribuir a elas um valor, embora a
disciplina da atitude cientfica nos leve
a recalcar este modo de julgamento.
Talvez persista na mentalidade do sen-
so comum, e naquilo que o cientista
tem de homem comum, algo do
animismo da relao primitiva com o
mundo, que fazia com que todas as
coisas aparecessem como propcias ou
malficas, extravasando poderes que
interferiam na vida e nas aes huma-
nas. Conhecer, neste caso, era tambm
saber como aproveitar o carter ben-
fico e propiciatrio ou conjurar o mal
que as coisas poderiam causar. A ci-
ncia eliminou esta valorao primei-
ramente pelo conhecimento das cau-
sas materiais que regem o comporta-
mento dos seres naturais e, em segun-
do lugar, estabelecendo leis gerais e ne-
cessrias que nos permitem prever este
comportamento para, desta forma,
domin-lo. O mundo deixa de ser enig-
ma quando o conhecimento se torna
sinnimo de determinao necessria.
Critrios ticos
Quando pela primeira vez se ten-
tou ligar conhecimento e tica, o pro-
blema que surgiu foi justamente o da
determinao necessria, isto , a di-
ficuldade de estabelecer parmetros de
necessidade para as aes e, princi-
palmente, para os critrios pelos quais
conferimos s aes este ou aquele
valor. possvel estabelecer condies
gerais e necessrias a partir das quais
possamos determinar o valor tico das
aes? Aristteles pensava que no.
Aquele que julga eticamente no o faz
a partir das mesmas condies daquele
que conhece os objetos fsicos. Aquele
que age moralmente no o faz da mes-
ma maneira pela qual avalia a causa-
lidade necessariamente presente na li-
gao entre os fenmenos. Isto ocorre
porque o universo das aes humanas
no regido pela necessidade. O co-
nhecimento eventualmente presente na
22
esfera da moral pode, portanto, no ser
tambm necessrio. conhecida a in-
terrogao socrtica acerca da possi-
bilidade de se ensinar a virtude. Ensi-
nar alguma coisa supe saber com
certeza o que esta coisa para poder
transmiti-la com clareza quele que vai
aprender. O homem de bem sabe com
absoluta segurana terica o que o
Bem? A prtica do bem supe este
saber? possvel saber, ensinar e
aprender em moral como sabemos,
aprendemos e ensinamos geometria?
A resposta no, e a razo disto
a diferena que existe entre conheci-
mento terico e conhecimento prtico.
O conhecimento terico se constitui
como saber acerca do que necess-
rio. O conhecimento prtico se consti-
tui como saber acerca do que con-
tingente. O saber das coisas humanas
pertence a este segundo tipo. Da as
dificuldades e as oscilaes que carac-
terizam os juzos morais. Da a inter-
ferncia, nestes juzos, de fatores que
no conhecimento terico tm pouca ou
nenhuma influncia. Por que nos jul-
gamentos que envolvem decises mo-
rais as pessoas so sensveis persu-
aso derivada da eloqncia e da ha-
bilidade retrica daquele que defende
determinada causa? Por que a influ-
ncia das emoes nestes casos pode
ser determinante? e os advogados sa-
bem muito bem utilizar isto, j que se
exercitam em influir nas emoes da-
queles que vo dar o veredicto. por-
que nestes assuntos no possvel a
demonstrao, ao menos no mesmo
sentido em que ela pode ser efetuada
nas cincias tericas. O bem e o mal
no aparecem com a mesma imediatez
e o mesmo carter coercitivo da ver-
dade e do erro; no chego ao que
certo em moral da mesma forma que
chego concluso de um teorema.
E no entanto existe o Bem, assim
como existe a Verdade. So critrios
que em ltima instncia servem de prin-
cpios para tudo que bom e para tudo
que verdadeiro. Mas no se passa do
Bem ao bom da mesma forma que se
passa da Verdade ao verdadeiro. Me-
lhor dizendo: no encontramos o Bem
na contingncia dos fatos humanos da
mesma forma que encontramos a Ver-
dade refletida na demonstrao das
conexes necessrias da cincia. En-
tre o que necessrio e o que contin-
gente a diferena est na impossibili-
dade de demonstrao; da a aparen-
te relatividade das coisas humanas e
do que se pode conhecer acerca de-
las. A Poltica, assim como a tica,
participa deste carter. Mas isto no
significa um relativismo total, que re-
sultaria na impossibilidade de critri-
os que no fossem puramente circuns-
tanciais e subjetivos. A dificuldade da
tica consiste justamente em introdu-
zir normatividade na contingncia,
pois est fora de dvida que quem age
moralmente o faz a partir de normas
que no so apenas relativas pessoa
e ao momento.
Dizer que as coisas humanas so
relativas o mesmo que compar-las
a um absoluto que as transcende. Este
absoluto nunca se far presente no
universo das aes, de maneira dire-
ta, mas constituir sempre uma refe-
rncia, pois agir bem significa realizar
o bem no plano da contingncia, isto
, agir em vista de um Bem que trans-
cende a desordem humana. O fato de
que no existem regras tericas para
isto no afasta inteiramente a ao do
conhecimento do Bem. Podemos dizer
23
que quem age moralmente conhece de
certa maneira o Bem, pois o traduz,
por assim dizer, na particularidade de
sua conduta. A extraordinria dificul-
dade que a tica tem que superar o
reconhecimento das mediaes que se
interpem entre o Bem absoluto e as
aes particulares e contingentes. Nes-
ta mediao est contido o
discernimento, que a distino entre
o bem e o mal sem qualquer regra te-
rica de identificao. Pois as aes
humanas acontecem sempre numa
confluncia complexa de circunstnci-
as, no meio das quais preciso
discernir o modo correto de agir. s-
bio aquel e que possui este
discernimento. Trata-se de um saber
bem diferente do saber terico, pois
consiste essencialmente em discernir o
verdadeiro em meio contingncia,
que no a ordem ideal das conexes
necessrias da cincia.
Teoria e prtica
a este saber que denominamos
prtico. No significa que ele seja uma
aplicao da teoria, mas sim um ou-
tro saber que versa sobre um objeto
especfico: a ao. Esta separao en-
tre o terico e o prtico pode dar a
entender que a tica est irremedia-
velmente relegada a um grau menor de
certeza, sendo portanto um tipo de sa-
ber inferior. Na verdade, esta distino
faz aparecer a autonomia e a
especificidade da tica. Pois justamen-
te mostra que ela no uma teoria de
segundo grau, uma cincia incomple-
ta ou um tipo de certeza flutuante. Tra-
ta-se de um saber de outra natureza,
com um perfil absolutamente prprio.
Tambm a praxis humana ganha, as-
sim, um estatuto especfico, j que
definida no apenas em relao aos
objetos da cincia terica, como algu-
ma coisa menor ou mais pobre, mas
como um domnio singular, afetado por
extrema complexidade, sendo a con-
tingncia de que se reveste um sinal
desta singularidade complexa. Esta
diferena de objeto e de procedimento
enfatiza de alguma maneira as proprie-
dades singulares do universo humano,
mostrando que ele diferente do mun-
do natural, muito embora o homem
esteja, por muitos outros aspectos, in-
serido na natureza. O que distingue
assim to fortemente o universo huma-
no do mundo natural o valor, e por
isto a tica o domnio dos juzos de
valor.
Isto nos leva ao problema da ori-
gem e da especificidade destes juzos.
Em geral, pode-se dizer que um juzo
sempre a subordinao de um parti-
cular a um universal. Quando dizemos
que a gua uma substncia, estamos
referindo um elemento particular do
mundo fsico a uma categoria que,
enquanto conceito geral, subordina o
particular e o define. O mesmo se po-
deria tambm dizer da subordinao
da espcie ao gnero (o cavalo um
animal). Tais relaes servem para or-
denar o real e agrupar os objetos par-
ticulares, ressaltando a estrutura e o
teor sistemtico do conhecimento.
possvel notar que os conceitos gerais
subordinam particulares empricos,
mas relaes do mesmo tipo podem ser
estabelecidas entre entes abstratos, na
matemtica e na lgica, como quan-
do dizemos que seis um nmero par
ou que a substncia uma categoria.
24
A questo saber se h um procedi-
mento rigorosamente paralelo quando
dizemos que Pedro generoso ou que
a pobreza uma forma de opresso,
ou que a mentira um vcio.
Para que um juzo seja coerente,
deve haver concordncia entre os ter-
mos empregados. Esta concordncia
aparece na viso da compatibilidade
entre o sujeito e o predicado, para to-
marmos o juzo na sua forma mais sim-
ples. Assim, quando dizemos que a
gua uma substncia ou que o ca-
valo um animal, a relao de subor-
dinao est corretamente estabe-
lecida porque, nestes casos, h uma
relao necessria entre os termos, o
que faz com que o juzo exprima um
conhecimento. Aquele elemento que
liga cavalo a animal ou gua subs-
tncia de tal ordem que no permite
a afirmao contrria como expresso
de conhecimento. fcil notar que esta
relao de necessidade no existe en-
tre os termos da proposio Pedro
generoso. Certamente, podemos dizer
que quando a formulamos exprimimos
que o indivduo Pedro pode ser inclu-
do no conjunto dos indivduos gene-
rosos; mas isto no corresponde exa-
tamente incluso do cavalo no con-
junto dos animais. Pois o que faz com
que Pedro seja generoso diverso da-
quilo que faz com que o cavalo seja
um animal. No podemos entender
que cavalo no seja animal, mas po-
demos entender que Pedro eventual-
mente fosse mesquinho, ao invs de
generoso. Isto significa que no ne-
cessrio que Pedro seja generoso, da
mesma forma que necessrio que o
cavalo seja um animal.
O que liga Pedro generosidade,
no sendo da ordem da necessidade,
impediria que a afirmao da generosi-
dade de Pedro tivesse um carter
terico. O que faz com que Pedro seja
generoso passa por uma incrvel com-
plexidade de fatores, entre os quais
est um que particularmente impor-
tante para avaliarmos o significado do
que atribumos a Pedro. Este fator a
vontade. Ainda que esta vontade este-
ja mesclada com mil outros fatores, tais
como a educao e a influncia do
meio, os interesses de Pedro e o con-
texto das suas aes, h sempre um
nvel em que a atribuio do predicado
moral supe que o sujeito quis possu-
lo, decidiu algo a respeito de si, optou
por uma determinada maneira de agir
e de posicionar-se diante de si e dos
outros. Ainda que a vontade esteja
mais ou menos determinada por ml-
tiplos fatores, ela se exerce, e o sujeito
projeta-se diante de si mesmo de uma
certa maneira, a qual depende das es-
colhas que faz. este elemento, no
submetido a uma necessidade estrita,
que confere generosidade de Pedro
o carter moral atribudo a este
predicado. Suponhamos que Pedro fos-
se um ser estritamente determinado a
agir generosamente, da mesma forma
que os corpos pesados esto determi-
nados a cair se algo no os sustenta.
No haveria, neste caso, moralidade na
generosidade de Pedro moralidade
supe vontade e escolha.
Mas supe, ento, da mesma
maneira, que possamos apontar o ser
que capaz de escolher a partir da
vontade, isto , o ser no submetido
necessidade. A tendncia a respon-
der imediatamente que os seres hu-
manos so dotados de tal capaci-
dade no , de maneira alguma,
to bvia quanto se poderia pensar.
25
O homem no um ser que se defi-
na apenas por um aspecto. A expres-
so animal racional, a mais antiga
definio terica do homem, mostra
por si mesma a dualidade de aspec-
tos. Enquanto animal, o homem tem
algo que o vincula aos seres puramen-
te naturais. Enquanto racional, tem
algo que o distingue. Se permanece-
mos no mbito da sensao e da per-
cepo, estamos falando de modali-
dades de representao que, embo-
ra eventualmente mais aperfeioadas
no homem, no diferem essencial-
mente do que acontece no caso dos
animais, que so capazes no ape-
nas de sentir e perceber como tam-
bm de estabelecer relaes de con-
secuo, como o co que foge quan-
do seu dono pega um basto, se aca-
so aconteceu de j ter sido espanca-
do. No entanto, apenas o homem
pode emitir juzos, isto , relacionar
um caso particular com uma idia
geral, por definio no imediata-
mente presente na situao emprica
dada. A origem destas idias gerais,
mesmo no que se refere ao mundo
natural, problema que foi resolvido
de diversas formas na histria do pen-
samento. Mesmo assim no h como
explicar o juzo sem este tipo de
vinculao. A questo que se coloca
no caso da tica : a que espcie de
generalidade vinculamos o particular
quando formulamos juzos morais?
Como j sabemos que na tica for-
mulamos juzos de valor, responder-
amos que a valores que remete-
mos os termos dos juzos morais.
E dizendo isto abrimos uma outra
questo, que a da generalidade
dos valores e do fundamento desta
universalidade.
A questo dos fundamentos
da tica
Assim como os juzos acerca de
fatos, os juzos de valor tambm se re-
metem generalidade. Quando dize-
mos que Pedro generoso, e ainda o
admiramos por isto, o que queremos
dizer que Pedro adota, como diretriz
de suas aes, um valor dotado de su-
perioridade em relao aos indivduos
particulares. Ainda mais: assim fazen-
do, Pedro se coloca como um exemplo
da possibilidade de as aes humanas
particulares encarnarem valores gerais
que as transcendem. Quando julgamos
Pedro por sua generosidade, estamos
implicitamente entendendo que o
mundo seria melhor se todos fossem
como ele. Pois se todos os valores re-
metem ao Bem, aquele cujas aes
encarnam algum valor est contribu-
indo para a realizao do Bem no
mundo humano. Pedro seria aquele
sbio, de que se falou antes, que sabe
como situar-se no mundo, discernindo
entre o bem e o mal, e escolhendo
a partir deste conhecimento prti-
co que seria algo como um senso
moral. O sentido da apreenso de
valores um saber prtico, que
muitos filsofos chamaram de sa-
bedoria.
No se adquire a sabedoria da
mesma forma como se adquire o sa-
ber terico. Por vezes se concebeu que
as duas coisas se opem. No incio do
Cristianismo, So Paulo ope a cin-
cia mundana, fruto do orgulho da ra-
zo, sabedoria da cruz, fruto da hu-
mildade. Por isto, a sabedoria crist
aparece como loucura para os no-
cristos. Santo Agostinho, em perspec-
26
tiva semelhante, difere cincia de sa-
pincia para mostrar que a atitude te-
rica, mesmo que atinja alturas ele-
vadas de contemplao da verdade,
como aconteceu com alguns filsofos
gregos, no permite a posse e a fruio
do objeto mais desejado em termos de
um saber absoluto, que seria Deus. Pelo
contrrio, a aceitao da f e do mis-
trio da mediao de Cristo na rela-
o com Deus que possibilitaria pos-
suir a verdade. A hierarquia que o Cris-
tianismo estabelece entre a alma e o
mundo redunda numa separao das
duas instncias, o que no ocorria
entre os gregos, para quem o homem
e sua alma eram parte do mundo. A
separao crist, propondo o despre-
zo pelas coisas do mundo, concebe a
alma como peregrina, isto , como no
integrada ao cosmos no qual ela pro-
visoriamente se encontra, j que o seu
destino deve se realizar em outra di-
menso. O homem estaria sozinho na
imensido do universo, no fra o con-
tato com Deus, e por isto Deus deve
ser o nico objeto de aspirao. Isto
significa que nada, a no ser Deus,
determina como a alma deve agir no
itinerrio de purificao moral. Deter-
minar-se por qualquer objeto sensvel
ou natural renunciar condio so-
brenatural que constitui a natureza da
alma. Portanto, somente valores sobre-
naturais so dignos de orientar o homem;
tomar qualquer outro objeto como
valor ou como critrio de ao re-
baixar a alma. Com isto, a solido e o
estranhamento da alma num mundo a
que ela no pertence tornam-se ocasio
para a afirmao da autonomia, isto ,
a liberdade da alma perante as coisas.
Assim como a vontade, a auto-
nomia constitui tambm noo central
na tica. A moral propriamente crist
v esta autonomia da vontade como
subordinao a Deus, entendida como
livre aceitao da condio de criatu-
ra e dos desgnios de Deus. A
modernidade vai entender a autono-
mia como autonomia da razo, e isto
certamente repercutir nas teorias ti-
cas. Mesmo assumindo a finitude e as
limitaes humanas, Descartes, no s-
culo XVII, no admitir como critrio
de verdade em qualquer mbito seno
a demonstrao racional. A autonomia
da razo consuma assim a sua sepa-
rao da natureza. Esta menos a to-
talidade na qual o homem est inseri-
do e muito mais algo que ele deve do-
minar para seu proveito atravs do
poder que lhe confere o pensamento,
traduzido nos procedimentos racionais
da cincia e da tcnica. Por isto, a no-
o crist de sabedoria modificada:
considera-se agora que sabedoria a
perfeita integrao da teoria e da pr-
tica com a finalidade de conseguir para
o homem a felicidade, isto , o gozo
dos bens que podem advir do saber e
do domnio racional da natureza. Esta
perfeita integrao, numa perpectiva
racionalista, se transforma rapidamen-
te numa subordinao da prtica
teoria, na medida em que se concebe
uma continuidade entre a cincia e a
tecnologia. Neste imprio da razo, a
tica s pode ser concebida a partir
de uma perspectiva terica e
racionalista. Este o motivo pelo qual
a moral aparece em Descartes como
um ramo do saber que depende, para
a sua constituio, das cincias mais
fundamentais que a precederiam,
como a metafsica, a fsica e a mate-
mtica. De direito no haveria dife-
rena, a no ser em termos de grau
27
hierrquico, entre a moral e as outras
cincias.
Assim se perde aquela diferena
entre o terico e o prtico, estabelecida
por Aristteles. O prtico passa a ser
concebido como o domnio de aplica-
o do terico, maneira como ainda
hoje o entendemos. As conseqncias
desta mudana so de largo alcance.
O que a se afirma a unidade de uma
racionalidade que doravante deve go-
vernar todas as instncias do mundo
humano. Esta racionalidade tem um
paradigma e uma finalidade. O
paradigma a exatido do saber ma-
temtico, que a razo clssica consi-
dera como critrio por excelncia de
conhecimento e de obteno de certe-
za. A finalidade o domnio racional
que se traduzir concretamente na su-
bordinao da natureza s necessida-
des humanas e na expanso da tcni-
ca como extenso da cincia, que deve
realizar praticamente o domnio do
homem sobre o mundo. A prerrogati-
va do sujeito intelectual que desta ma-
neira se estabelece contribuir para
obscurecer a especificidade da praxis,
j que esta deve forosamente se sub-
meter aos critrios da racionalidade
tcnica. De modo que a predominn-
cia de uma perspectiva em princpio
humanista, posto que afirmadora da
autonomia da razo, traz consigo esta
ambigidade, ou pelo menos esta
questo: ter a racionalidade tcnica
alcance suficiente para cobrir todos os
aspectos da vida humana, sobretudo
os aspectos ticos? Submeter a totali-
dade do mundo e a totalidade da vida
a tais critrios no implicaria em re-
duzir o mundo humano perspectiva
decorrente dos princpios metafsicos
e metdicos de uma razo auto-sufici-
ente mas talvez confinada a um dom-
nio restrito?
A afirmao da autonomia racio-
nal constitui o que ficou conhecido na
histria por Iluminismo. Kant o define
como a maioridade do gnero humano,
isto , a capacidade de utilizao plena
da razo, sem a submisso a dogmas
ou a autoridades; portanto, o exerccio
maduro da liberdade. Mas como definir
a liberdade? Se analisarmos o que ocor-
re na cincia, verificaremos que a
racionalidade da experincia consiste
justamente em compreender a necessi-
dade que, a partir de princpios lgicos
do entendimento, governa a natureza.
Isto significa que no mbito da experi-
ncia de conhecimento, que o dom-
nio da razo terica, no se pode falar
em liberdade pois tudo a que temos
acesso a uma conexo de fenmenos
logicamente sistematizada, mas carac-
terizada justamente pela insepara-
bilidade de causa e efeito, condio e
condicionado. Sempre haver, na ordem
da experincia, que a ordem da teoria,
fenmenos condicionados, por mais lon-
ge que formos na cadeia dos eventos
naturais. Isto faz parte do determinismo
da natureza e o que possibilita a cin-
cia, no rigor das suas explicaes. As-
sim, a liberdade ter que ser procurada
fora do campo da experincia e da ra-
zo terica. Kant institui, ento, o dom-
nio da razo prtica em que possvel
pensar a liberdade e reivindic-la para
o sujeito moral, mas nunca para um
objeto natural. Esta separao permite
que se fale como que de dois mundos:
um em que as coisas esto estritamente
determinadas, pois no existe efeito sem
causa; outro em que o sujeito moral, no
plano das decises ticas que nada tem
a ver com o plano dos eventos empricos,
28
pode escolher e optar, atuando assim
como causa livre, isto , como aquele
tipo de causa que nunca se encontra no
universo dos fenmenos. Com isto as
aes humanas podem ser remetidas
liberdade do sujeito, quer dizer, a algo
que no atua determinadamente, mas
que pode iniciar absolutamente uma s-
rie de aes.
A esta liberdade corresponde a
autonomia de que deve ser dotado o
sujeito nas suas decises morais, au-
tonomia que para Kant deve ser abso-
luta, ou seja, nenhum motivo de qual-
quer ordem pode interferir na deciso
do sujeito, sob pena de contaminar a
vontade com elementos que a tornari-
am dependente de outra coisa que no
ela mesma. Mas, ento, qual o critrio
para a deciso moral, se absolutamente
nada pode interferir? O critrio a for-
ma da universalidade que deve orien-
tar a ao. Somente a forma atinge a
pureza que o ato moral deve revestir.
Qualquer contedo, por mais geral que
seja, constituir uma motivao
extrnseca e comprometer a autono-
mia do ato moral. Quando estamos
diante de uma deciso moral devemos
perguntar: o que ocorreria se esta ao
fosse adotada universalmente? Deve-
mos agir como se o critrio de nossa
ao devesse estender-se universal-
mente. Qualquer ato que no seja sus-
ceptvel de universal izao se
autocontradiz em termos morais. O que
se percebe o esforo de Kant para
encontrar o critrio universal que de-
veria pautar o juzo moral . A
radicalidade com que ele concebe este
critrio o faz encontr-lo somente na
esfera do formal. Assim, o que Kant
chama de prtico no corresponde
esfera da contingncia, mas a um mun-
do intel igvel no qual a pura
racionalidade da norma universal ga-
rante a moralidade do ato. Por isto o
prprio Kant nos diz que, dentro de tais
parmetros, jamais houve um s ato
moral praticado pela humanidade.
Porm isto no o impede de formular
o que o ato moral deve ser, na coern-
cia lgica que teria de caracteriz-lo,
independentemente das condies con-
cretas de realizao.
Fundamento e experincia
moral
O que sobretudo impressiona nes-
ta concepo formalista da moral a
separao drstica entre os planos do
ser e o do dever ser. No se trata ape-
nas de separar o conhecimento teri-
co ou cientfico da moral, mas de se-
parar todos os aspectos da vida con-
creta da realizao tica. Independen-
te da apreciao que possamos fazer
da teoria kantiana, o importante per-
guntar o que isto significa no processo
histrico da civilizao moderna. No
limiar da contemporaneidade, numa
poca em que a cincia calcada no
modelo newtoniano alcana a plenitu-
de de suas possibilidades, o homem
separado como que em dois sujeitos:
o terico, que realiza o ideal de certe-
za absoluta no interior dos limites do
conhecimento cientfico, e o moral, que
para compreender-se na esfera de sua
liberdade obrigado a colocar esta li-
berdade numa altura transcendental
em que ela se situa distante do plano
da experincia. Talvez possamos ver
nesta soluo a que chega a filosofia
crtica uma espcie de consolidao
29
do caminho tomado pela moder-
nidade. O que Kant percebe que, na
continuidade do teor unitrio da
racionalidade, institudo por Descar-
tes, no seria possvel dar conta da
moral pois a racionalidade cientfica
no atinge o plano dos requisitos do
ato moral, autonomia e liberdade. Isto
o levou a conceber uma outra esfera
de racionalidade na qual os critrios
de determinao terica no teriam
vigncia. E com isto separou o conhe-
cimento da ao, ao menos naquilo
que a ao comporta de deciso mo-
ral. Podemos medir o alcance deste
acontecimento lembrando que, no caso
do saber prtico preconizado por
Aristteles, o sujeito discernia no seio
da contingncia o meio de realizar a
ao que guardasse alguma correspon-
dncia com o Bem absoluto. Em Kant
este um princpio formal, que a ra-
zo pensa de maneira isolada do mun-
do concreto, que vai decidir acerca da
moralidade, isto , da conformidade
da ao moral. Isto significa a tenta-
tiva de vincular a universalidade for-
mal ao. Ora, o mundo da contin-
gncia se distingue de um universo
logicamente necessrio como o da
cincia exatamente devido impossi-
bilidade desta vinculao. Por isto a
moralidade kantiana acaba sendo
muito mais um ideal de que devemos
nos aproximar do que um critrio de
discernimento para a experincia mo-
ral concreta.
A poca contempornea sentiu
mais de perto o impacto da experin-
cia moral concreta. Talvez a drama-
ticidade da histria deste sculo tenha
manifestado de forma mais intensa
certas contradies entre elementos da
ao moral, com que antes as teorias
trabalhavam de maneira pacfica. O
Existencialismo seguramente a cor-
rente de pensamento em que estes pro-
blemas apareceram de forma mais
aguda. Pois nele, pela primeira vez, a
liberdade vista como o exerccio do-
loroso da constante inveno de si
mesma. Nas teorias clssicas, a liber-
dade aparece como uma sbia confor-
mao necessidade. Existe um Deus,
existe um mundo transcendente de
valores, existe uma teleologia histri-
ca, existem referncias que do senti-
do ao mundo e aos homens. Claro,
existe a insensatez, o erro, o pecado, a
desordem, a contingncia, enfim, mas
tudo isto tem causas e explicaes que
so fornecidas pela razo e mesmo pela
f. H uma ordem previamente dada.
Quando me insiro nela de maneira
harmnica, sintonizo com o universo
e com os seus princpios. Quando se
torna mais difcil descobrir esta ori-
gem e esta finalidade, como em Kant,
tenho ainda o recurso da forma, que
tambm um princpio a que posso
tentar conformar minhas aes.
Quando no me ponho em sintonia
com a totalidade, no de todo mi-
nha culpa, antes algo derivado da
finitude que afeta irremediavelmente
o ser humano. Enfim, h essncia,
que posso realizar de maneira mais
ou menos completa, mas que consti-
tui referncia prvia minha exis-
tncia. Mesmo quando sinto o uni-
verso imenso e estranho, e Deus
afastado, posso contar ainda com
a esperana.
Mas quando no h mais Deus
nem valores transcendentes, quando
no h um plano a realizar, que sen-
tido atribuir s contradies, de-
sordem dentro e fora do homem, e
30
misria histrica? O Existencialismo
coloca da maneira mais crua a ques-
to da imanncia, isto , nada existe
acima do humano com que o homem
possa contar para ordenar o seu mun-
do e para orientar as suas aes.
apenas diante de si mesmo que ele
dever construir seus critrios e suas
justificaes. A liberdade no uma
forma de Deus testar o homem, a
forma de o homem existir, o dado
primeiro, no h critrios anteriores de
como utiliz-la, ela se faz na continui-
dade dos atos que a exprimem, cada
vez que o homem se projeta na cons-
truo de si mesmo. A liberdade um
fardo, como foi o destino para o ho-
mem antigo. isto o que significa di-
zer que a existncia vem antes da es-
sncia e que o homem est condena-
do a ser livre. A histria da humanida-
de e a histria de minha vida me colo-
cam diante de opes. Como enfrent-
l as sem critrios absol utos de
discernimento e de escolha? Tenho de
inventar, para cada ato, o valor a par-
tir do qual eu o escolho, no encontro
este valor, ainda que outro mo apre-
sente, tenho que torn-lo meu. Cada
um aquilo que se torna, aquilo que
faz de si em cada momento da exis-
tncia. Uma tica com um nico crit-
rio, que se confunde com um dado
irredutvel de realidade: a liberdade.
Assumi-la lucidez e autenticidade;
neg-la m-f.
O Existencialismo est na verten-
te das ticas que partem de uma pro-
funda meditao acerca da situao
humana, tal como a reflexo a apre-
senta. Procura ento uma maneira de
proporcionar o encontro do homem
consigo prprio e com a histria a par-
tir da conscincia, entendida agora no
mais como essncia, mas como proje-
to. Mas h uma outra vertente que faz
da exterioridade a matriz do pensamen-
to tico, e nesta linha esto as ticas
utilitaristas. Partem, por exemplo, de
uma concepo da evoluo dos con-
ceitos ticos para estabelecer a origem
prtica e utilitria destes conceitos. O
bom teria sido, na origem, o til, isto
, a ao benfica para o indivduo e,
principalmente, para o grupo. M se-
ria a ao prejudicial. Com o passar
do tempo e com o progresso da civili-
zao esta utilidade imediata deixou
de aparecer claramente como critrio,
mas se manteve a distino, que foi aos
poucos tornada abstrata e resultou nos
valores Bem e Mal. Esta posio pro-
cura buscar a origem dos valores por
meio de uma reflexo histrica e psi-
colgica acerca da evoluo da huma-
nidade, e utiliza critrios de uma lgi-
ca imanente ao desenvolvimento das
necessidades humanas. Em ltima ins-
tncia, seria a sobrevivncia do grupo
a origem dos valores, que so ento
estabelecidos para manter obrigaes
morais que assegurem a sociabilida-
de, a cooperao e a coeso necess-
rias estabilidade da sociedade. Nes-
ta vertente, a liberdade importa menos
do que a adaptao do indivduo a
esquemas de conduta que ele j encon-
tra prontos e aos quais coagido a
aceitar. A relatividade cultural dos va-
lores aparece, assim, de forma mais
ntida, pois a perspectiva histri-
co-sociolgica que procura dar con-
ta do estabelecimento e das mudan-
as dos critrios morais. Existe uma
racionalidade na prescrio dos valo-
res, mas ela est a servio da coeso
social. Trata-se de uma figura da
racionalidade tcnica que se estrutura
31
por parmetros exclusivamente utilit-
rios.
tica e progresso da razo
A modernidade se caracteriza pela
hegemonia da razo, o que se traduz
no triunfo do seu mais eminente pro-
duto, a cincia e os seus prolongamen-
tos tcnicos. Na verdade, esta
hegemonia nunca deixou de ser con-
testada, quase desde o seu apareci-
mento. Mas o sculo XX assiste a uma
crtica procedente de fundamentos his-
toricamente concretos, que derivam de
uma reflexo acerca da relao entre
meios e fins nas realizaes da razo.
Trata-se de um problema tico, mas de
certa forma colocado de maneira mais
abrangente. O que se questiona se
as promessas de emancipao conti-
das no iderio iluminista foram cum-
pridas ou esto efetivamente se reali-
zando. E um olhar crtico sobre a his-
tria da modernidade mostra que no.
A expectativa de que haveria a unio
entre a teoria e a praxis, que deveria
corresponder a uma proporcionalidade
entre o progresso cientfico-tcnico e
o aumento da felicidade, no se con-
firmou. Isto pode ser constatado de
vrias maneiras no plano do desenvol-
vimento histrico. O homem da
modernidade no mais se encontra
submetido a injunes que caracteri-
zavam, por exemplo, a ligao do ho-
mem medieval com as instncias do
sagrado, concretamente representadas
pela imposio dos dogmas e da au-
toridade religiosa. Tampouco se encon-
tra submetido s foras naturais, que
a cincia explicou e dominou. Mas o
progresso da razo gerou novas formas
de dominao ideolgica, que se mani-
festam nos campos social, poltico, eco-
nmico e que somente so possveis num
mundo em que domina a produo, es-
sencialmente vinculada ao aperfeioa-
mento dos meios tcnicos de transfor-
mao da natureza. O que se questiona
se, num mundo governado pela razo
liberada das amarras que a prendiam em
pocas passadas, o homem pode viver
efetivamente de maneira emancipada,
isto , realizar a autonomia enquanto
condio da vida tica. A profunda re-
flexo de Marx a propsito das relaes
entre racionalidade e ideologia serviu,
pelo menos, para estabelecer srias d-
vidas acerca da vinculao iluminista
entre progresso e liberdade.
O que se nota que a emancipa-
o no se realizou porque as exign-
cias do progresso tcnico fizeram com
que as instncias de controle em to-
dos os aspectos da vida se tornassem
autnomas, o que trouxe como conse-
qncia a submisso do indivduo a
tais mecanismos num mundo totalmen-
te administrado. Tais instncias de con-
trole no pesam sobre o indivduo
como a fatalidade das foras naturais
ou a autoridade eclesistica. Elas fo-
ram estabelecidas como mecanismos
racionais absolutamente necessrios
num mundo regido pelo progresso tc-
nico. Isto significa que foram
introjetadas na conscincia do homem
moderno como parmetros naturais de
relacionamento com os outros e com
o mundo. Esta autonomizao dos cri-
trios de racionalidade provocou uma
inverso entre os meios e os fins: o que
redundou na dificul dade de se
dimensionar, no mundo contempor-
neo, a capacidade de discernir os fins
32
possibilidade de mobilizar os meios.
Nunca se disps de tantos meios, e
nunca eles estiveram to distanciados
dos fins a que deveriam servir. Ora, es-
tabelecer a relao entre meios e fins
problema tico. A caracterstica da
contemporaneidade a incapacidade
de estabelecer esta relao pensando
o prtico, ou seja, o universo da reali-
zao humana, como finalidade do
progresso tcnico. O que se observa,
ento, a constante reposio das con-
dies do progresso tcnico como se
este fosse uma finalidade em si mes-
mo. A racionalizao do social, do
poltico, do econmico e at da instn-
cia cultural significa a administrao
de todos os aspectos da vida atravs
de parmetros de objetividade tcni-
ca, o que se traduz principalmente na
hegemonia da tecnocracia.
O que evidencia a profundidade da
crise que afeta o mundo contemporneo
que, do ponto de vista tico, a
tecnocracia uma contradio em ter-
mos. A tcnica se caracteriza como a
produo de meios. Se ela mesma coor-
dena a aplicao dos meios s finalida-
des, esta relao acaba se estabelecen-
do no interior da prpria tcnica. Esta
a razo pela qual a planificao
tecnocrtica no produz efeitos fora do
prprio mbito tcnico. Vistas as coisas
no limite, o que caracteriza uma tal cul-
tura a recusa da tica. Vivemos num
mundo tcnica e administrativamente or-
denado, de modo unilateral, pela
alternncia entre progresso tcnico e sa-
tisfao de necessidades criadas na pr-
pria esfera da produo. Nesse sentido,
o consumo no a finalidade da produ-
o, mas a sua necessria contrapartida
tecnolgica. O que caracteriza a situa-
o presente e torna difcil a busca de
solues que a crise da tica provm
de um desdobramento de atributos e
conseqncias inerentes prpria
racionalidade tcnica e ao progresso ci-
entfico e tecnolgico ocorrido a partir
dela. Por isto, para aqueles que conside-
ram a inevitabilidade dos rumos da his-
tria da razo na modernidade, a situa-
o que estamos vivendo deve ser acei-
ta como conseqncia necessria, mes-
mo porque seria insensato pensar em
solues que representassem retrocesso
em relao ao j conquistado pela cin-
cia moderna. A dependncia da civili-
zao em relao aos produtos da cin-
cia e da tcnica afasta do horizonte his-
trico este tipo de hiptese.
Crise da razo e tica
aplicadas
O surgimento das ticas aplicadas,
entre as quais est a tica da sade, res-
ponde a uma dupla necessidade: de um
lado, tenta-se diminuir a distncia que
se abriu, na modernidade, entre tica e
conhecimento; de outro, procura-se ins-
trumentos para recolocar questes per-
tinentes relao entre cincia e valor,
relao esgarada por conjunturas his-
tricas sobretudo contemporneas, que
contriburam para o aparecimento de
dvidas profundas acerca do significa-
do e alcance do progresso cientfico.
H nisto al go como uma
constatao impl cita de que a
hegemonia da racionalidade tcnica j
no permite que o pensamento acerca
da vida prtica, que os antigos deno-
minavam discernimento, realize-se numa
instncia autnoma, gerando par-
metros de conduta tais que resultassem
33
numa manuteno da densidade do
espao pblico, isto , o plano das re-
laes sociais e da ao poltica. A
esfera da vida prtica esvaziou-se na
medida em que a liberdade, nas socie-
dades capitalistas modernas, passou
a ser considerada simples possibilida-
de de decidir individualmente sobre
assuntos privados. Mas as causas que
contriburam para isto tambm susci-
taram um tipo de reao que consiste
em tentativas de adaptar a reflexo ti-
ca diversidade dos domnios das es-
pecializaes. claro que o pano de
fundo destas tentativas uma reflexo
mais abrangente sobre a relao entre
cincia e valor; mas a impossibilidade
de levar a cabo esta reflexo na sua
generalidade, bem como a urgncia
histrica de restabelecer pelo menos
alguma parcela da dimenso tica do
conhecimento, levaram constituio
de campos delimitados de reflexo,
sobretudo a partir de reas que se
mostraram especialmente problemti-
cas. No se pode deixar de dizer que,
no fundo, trata-se de uma subordina-
o da tica ao processo de especiali-
zao e de fragmentao do saber. A
outra face desta atitude nos mostra, no
entanto, um esforo para recompor,
dentro de certos limites, o interesse
tico que deve fazer parte da atuao
do pesquisador e do profissional, prin-
cipalmente quando os fatos indicam
que a ausncia de preocupao tica
ocasiona a transgresso das fronteiras
que separam o humano do inumano.
Foi devido a razes como essas
que a Biotica surgiu a partir da pres-
so de fatos histricos, reveladores de
prticas de pesquisa das quais estava
ausente qualquer parmetro de consi-
derao da dignidade do ser humano.
Aps a Segunda Guerra tomou-se co-
nhecimento de prticas experimentais
em seres humanos, conduzidas sob o
nazismo por mdicos e cientistas, que
ultrapassavam qualquer expectativa
imaginvel de degradao. A primeira
manifestao de carter mais sistem-
tico e normativo a respeito do assunto
consta do Cdigo de Nuremberg, que
estabelece regras a serem observadas
quanto experimentao com seres
humanos. Dentre os preceitos formu-
lados destacam-se: a necessidade de
consentimento daqueles que sero sub-
metidos ao experimento; o consenti-
mento deve ser dado livremente, por
pessoas que estejam em plena capaci-
dade de deciso e s quais devem ser
explicadas com absoluta clareza todas
as condies do experimento, quais se-
jam, natureza, durao, objetivos, m-
todos, riscos, efeitos e inconvenientes.
No se deve optar por experimentos
em seres humanos quando houver ou-
tros procedimentos compatveis com os
resultados esperados. Os experimentos
em seres humanos, quando absoluta-
mente essenciais, devem ser precedi-
dos de experincias com animais, de
modo a prover o pesquisador de um
razovel conhecimento acerca do pro-
blema estudado. Deve-se reduzir ao m-
nimo os incmodos decorridos do ex-
perimento, e este no deve ser condu-
zido se houver risco razovel de dano
grave e permanente. O paciente e o
sujeito de pesquisa humana devem ser
protegidos por meio de cuidados es-
peciais, sob a responsabilidade do pes-
quisador, que deve suspender de ime-
diato os procedimentos se houver situ-
ao indicadora de risco grave. O su-
jeito do experimento deve poder reti-
rar-se dele a qualquer momento, por
34
livre deciso. Os riscos devem ser pro-
porcionais aos benefcios para o indi-
vduo e para a sociedade.
O que estes preceitos indicam
um esforo para estabelecer uma rela-
o adequada entre meios e fins. Su-
pe-se que h uma medida humana
para avaliar-se os custos do progresso
cientfico, e isto, por sua vez, pressu-
pe que o destinatrio deste progresso
o homem, o que torna contraditrio
que ele seja visto nica e exclusivamen-
te como meio. Um dos preceitos fun-
damentais da tica kantiana diz que
nenhum ser humano ser visto como
meio para a obteno de qualquer fi-
nalidade, porque a dignidade huma-
na impe que o homem seja conside-
rado somente como fim. Nesse senti-
do a Declarao de Helsinque bem
mais explcita, mormente na sua segun-
da formulao, ao dizer claramente
que os interesses do indivduo devem
prevalecer sobre os interesses da cin-
cia e da sociedade. Uma maneira de
compatibilizar esta hierarquia com a
necessidade de experincias com se-
res humanos uma avaliao cuida-
dosa da relao entre riscos e benef-
cios, bem como uma antecipao
criteriosa dos possveis efeitos resultan-
tes. Tudo isto decorre de uma concep-
o bsica: h direitos humanos, que
se situam acima de qualquer outro in-
teresse. Nada justifica a exposio de
qualquer ser humano a situaes que
possam configurar crueldade ou degra-
dao. Este restabelecimento da preo-
cupao tica no planejamento e de-
senvolvimento do experimento cient-
fico responde urgncia histrica de
coibir os abusos cometidos pelos na-
zistas em nome da cincia. Apesar de
tratar-se de cdigos, isto , de conjun-
tos de normas que disciplinam proce-
dimentos, os mesmos devem ser vistos
a partir de uma questo mais
abrangente, que apenas se explicitou
em conseqncias assustadoras.
Na verdade, e por mais que nos
seja difcil reconhec-lo, planejar politi-
camente o extermnio de pessoas em
grande escala, organizar os meios racio-
nais, isto , administrativos e cientficos
para que o extermnio seja eficiente, apli-
car tais mtodos de forma sistemtica
e calculada, utilizar pessoas como co-
baias, tudo isto est em continuidade
com o predomnio da racionalidade tc-
nica desde que esta seja concebida como
absolutamente hegemnica, quer dizer,
sem qualquer parmetro externo com o
qual tenha de se confrontar. No contex-
to de tal situao no h incoerncia no
fato de que seres humanos sejam vistos
como simples cobaias, mormente se se
trata de um determinado grupo que se
quer excluir da categoria da humanida-
de. Certamente estamos, neste caso, di-
ante de uma anomalia, caracterizada
pela situao de barbrie a que os indi-
vduos so conduzidos sob um regime
totalitrio. A tendncia recuar ante o
horror, mas considerar que foi apenas
um episdio, terrivelmente incompre-
ensvel, na escalada histrica em que
afinal predomina o progresso da civili-
zao. Mas possvel pensar, tambm,
que os totalitarismos, com tudo o que
trazem de violncia e desumanidade, no
so interregnos malignos que uma com-
preenso abrangente poderia ajustar
totalidade da histria. So, em grande
parte, conseqncias de virtualidades re-
gressivas que o progresso traz entranha-
das em seu percurso.
Esta viso, que pode parecer pessi-
mista, auxilia-nos a compreender as
35
ambigidades do progresso e a prevenir
as monstruosidades que ele pode dar
luz. nesta direo que podemos enten-
der as preocupaes ticas que se ex-
pressam nos cdigos de conduta e em
outros conjuntos de normas aplicadas s
pesquisas e s profisses. A Biotica
a tica da vida, quer dizer, de todas as
cincias e derivaes tcnicas que
pesquisam, manipulam e curam os se-
res vivos. A tica da sade ocupa lugar
proeminente neste conjunto, uma vez
que se ocupa de questes que tm a ver
com a manuteno da vida no caso dos
seres humanos. Sendo a vida o primeiro
de todos os direitos, a tica da sade
enraza-se profundamente no solo dos
direitos humanos, e no seu estudo va-
mos encontrar, como regras de
normatizao, alguns dos grandes prin-
cpios que vimos aparecer no percurso
da tica filosfica. A autonomia, quer
dizer, o direito liberdade, o respeito ao
ser humano considerado como fim (que
em Biotica recebe o nome de benefi-
cncia) e a justia, isto , a eqidade de
todos os indivduos inscritos no reino da
humanidade. Considerados como prin-
cpios absolutos no se pode dizer que
qualquer um deles tenha sido plenamen-
te realizado em qualquer poca ou cir-
cunstncia histrica. Ou so proposies
da tica filosfica ou so ideais presen-
tes nas grandes transformaes polticas,
por exemplo, nas grandes revolues da
era moderna, que entretanto os traram
no prprio ato de tentar realiz-los,
como ocorreu na Revoluo America-
na, na Revoluo Francesa e na Re-
voluo Russa. Dir-se-ia que no es-
to dentro das possibilidades humanas,
embora sejam o motor do progresso
civilizatrio e das transformaes his-
tricas.
Talvez por isto, na contempo-
raneidade, tentamos realiz-los na es-
cala reduzida de certos aspectos im-
portantes da vida humana, e a sade
certamente est entre eles, quando con-
siderada com suficiente abrangncia.
Na verdade, esta reduo de princ-
pios absolutos visa traduzi-los nas con-
dies concretas da vida histrica e
das determinaes sociopolticas e
econmicas. Exemplo deste objetivo
a definio de sade que consta do
Relatrio Final da VIII Conferncia
Nacional de Sade, realizada em 1986:
Em seu sentido mais abrangente, a
sade a resultante das condies de
alimentao, habitao, renda, meio
ambiente, trabalho, transporte, empre-
go, lazer, liberdade, acesso e posse da
terra e acesso a servios de sade.
Esta enumerao de condies soci-
ais implica na recusa de um conceito
abstrato de sade e na afirmao das
responsabilidades, em todos os nveis,
inerentes consecuo de um esta-
do de sade, em conformidade com
a Declarao de Alma-Ata, que define
a sade como estado de completo
bem-estar fsico, mental e social e no
apenas a ausncia de doena ou en-
fermidade, enfatizando o seu carter
de direito fundamental.
Assim, tambm, a tica da sade
deve guiar-se por princpios concretos.
Isto significa que a preservao dos ide-
ais ticos propostos historicamente pe-
las filosofias implica menos na procla-
mao de idias do que no compromis-
so com a realizao histrica de valores
que encarnem nas condies determina-
das de situaes sociais e polticas dife-
renciadas o direito de que todo ser hu-
mano deveria primordialmente usu-
fruir. Este compromisso se fundamenta
36
principalmente no estado de carncia de
grande parte da humanidade. Nesse sen-
tido, a atitude justificacionista, isto , a
tentativa de simplesmente explicar e com-
preender as desigualdades que resultam
na carncia da sade, profundamente
antitica, mesmo e sobretudo quando
assumida por filsofos e eticistas. pre-
ciso conhecer a realidade e as situaes
sobre as quais se vai exercer o juzo ti-
co; mas fazer com que este juzo traduza
uma mera justificao do que existe
propriamente renunciar tica.
Bibliografia
Adorno T, Horkheimer M. Dialtica do
esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1986.
Arendt H. As origens do totalitarismo.
So Paulo: Companhia das Letras, 1997.
Aristteles. tica Nicomaquia. In:
________. Obras Completas. Madri:
Aguillar, 1960.
Berlinguer G. tica da sade. So Pau-
lo: Hucitec, 1996.
Descartes R. Obra escolhida. So Paulo:
DIFEL, 1962.
Frankena W. Ethics. Englewood Cliff:
Prentice Hall, 1973.
Gracia D. Fundamentos de biotica. Ma-
dri: Eudema, 1989.
Heinnemann F. A filosofia contempor-
nea. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1983.
Kant E. Crtica da razo prtica. Buenos
Aires: Losada, 1965.
Pessini L; Barchifontaine CP. Biotica e
sade. So Paulo: CEDAS, 1989.
Robin L. A moral antiga. Porto: Desper-
tar, s.d.
Sartre JP. O existencialismo um
humanismo. Lisboa: Presena, 1969.
37
Caso
Este caso parte do relato de dois
mdicos sobre suas interaes com um
paciente e sua famlia e servir para
ilustrar o presente tema.
Em meados de 1989 foi-nos en-
caminhado o menino E.M., ento com
um ano e dois meses de vida e histria
de infeces de repetio. O casal ti-
nha, tambm, uma filha saudvel de
trs anos. O pai era engenheiro, inven-
tor de novos utilitrios domsticos. A
me, professora, aparentava ter como
objetivo maior dedicar-se aos filhos e
ao marido. Durante a gestao, nasci-
mento e primeiros dois meses de vida
de E.M. no houve quaisquer anorma-
lidades. A partir de ento, comeou a
apresentar infeces de repetio. Foi
alimentado no seio at os nove meses,
quando teve que ser desmamado por-
que a me submeteu-se mastectomia
por tumor mamrio maligno.
Princpios da Beneficncia e
No-maleficncia
Dlio Jos Kipper
Joaquim Clotet
Nesta poca, afastamos AIDS e
constatamos nveis sricos baixos de
imunoglobulinas IgA e IgG e normais
de IgM e IgE. Nesta primeira internao
percebemos muito claramente a preo-
cupao da me com a possibilidade
de haver alguma relao entre a doen-
a do filho e o fato de este haver ma-
mado no seu seio, j com cncer. Ten-
tamos, de todas as maneiras, demover
essas idias de sua cabea e a estimu-
lamos a continuar o acompanhamen-
to com seu mdico assistente, apesar
dos problemas com seu filho.
A partir de ento, vivemos uma
intensa relao mdico-paciente-fam-
lia, com altos e baixos, que culminou
com a morte de E.M., nas vsperas do
Natal de 1994.
Em novembro de 1989, fechamos
o diagnstico de hipogamaglo-
bulinemia, doena congnita que evo-
lui com infeces de repetio. O des-
fecho natural dessa doena, naquele
momento, era o bito por infeco ou
38
neoplasia. No havia tratamento
curativo disponvel, mas as infeces
poderiam ser atenuadas com a infu-
so de imunoglobulinas (ainda mui-
to caras e raramente disponveis
poca).
O pai viabilizou a vinda das
imunoglobulinas, bem como o acesso
rede internacional de informaes
mdicas, onde encontramos a possi-
bilidade do uso de colostro de vaca,
que foi conseguido; a roxitromicina
para o tratamento de infestao por
criptosporidium; as viagens para ava-
liao com especialistas em So Pau-
lo; os medicamentos experimentais do
exterior; tudo sem resultados satis-
fatrios, exceto, talvez, o transplante de
mdula ssea.
Eis que neste nterim a me
engravida e aparecem novos dramas:
esta doena tem carter gentico ou
familiar? Os pais, aps muito bem in-
formados, decidiram ter o filho, alis
uma filha, sadia. Ainda estimulados
com a possibilidade de transplante de
mdula ssea, fizemos os testes de
histocompatibilidade: as meninas
eram compatveis entre si, mas no
com o irmo.
Por longo perodo E.M. ficou com
cateter semi-implantado para alimenta-
o parenteral domiciliar e sonda
nasogstrica, que ficava permanente-
mente em seu nariz. Nunca aceitou
gastrostomia e o respeitamos. Gostava
muito de roupas coloridas, de passear
pelo ptio do hospital e de fazer com-
pras em sua lojinha. Fazamos tudo para
que pudesse desfrutar destes prazeres.
Quando possvel, suas irms estavam
com ele e tentvamos no fazer procedi-
mentos ou intern-lo quando o time do
seu corao jogava.
Mas, de repente, E.M. desapare-
ceu. Seus pais no entravam mais em
contato conosco e, aparentemente, no
estavam em acompanhamento com
outro mdico. Preocupado com os
melhores interesses do paciente, por
meio de um amigo comum contac-
tamos a famlia. Eis a surpresa: os
pais, sentindo-se cansados e
desesperanados, haviam decidido
entregar o filho nas mos de Deus e
no fazer mais nada. Eram muito religi-
osos, rezavam muito e tinham f de que
Deus faria o melhor por seu filho. Aps
vrias tentativas e com muito constran-
gimento tivemos que amea-los com a
possibilidade de denncia ao Conselho
Tutelar por maus-tratos, caso no voltas-
sem a procurar ajuda para seu filho.
E.M. voltou desnutrido, com infec-
o severa na perna direita, trombo-
se, arterite e necrose do p. Aps to-
das as tentativas, constatamos que no
havia condies de manter aquele p
necrosado, porque estava trazendo
grande risco de morte para E.M. Pro-
pomos, ento, a amputao. Foi peno-
so para ns e para os pais, mas era a
nica chance, e os pais concordaram
com a amputao.
As infeces se repetiam. Em de-
zembro de 1994, sobreveio a falncia
de mltiplos rgos. No dia 20 de de-
zembro, pela manh, constatamos que
o quadro era irreversvel. Mesmo com
a ventilao mecnica, a gasometria
era pssima. No urinava mais. Esta-
va muito ictrico. As arritmias eram
freqentes, seu pulso dbil e a perfuso
perifrica comprometida. As pupilas
estavam midriticas e no reagiam luz.
Ao aspirar suas vias areas, junto com
as secrees veio parte de sua mucosa,
necrosada. Os pais, segurando as mos
39
de seu filho, olharam para ns. Foram
momentos de silncio, de reflexo e de
reavaliao que no esqueceremos.
Aps alguns segundos, que pareciam
sculos, perguntamo-lhes: Chega? A
resposta veio rpida e segura: che-
ga. Nos vinte minutos seguintes fo-
ram suspensas as medicaes e a
ventilao mecnica. Os pais, com
um choro suave e abraados, acom-
panharam os ltimos batimentos car-
dacos de seu filho.
Introduo
Jean Bernard, hematologista, pre-
sidente da Academia de Cincias e
tambm do Comit Nacional Consul-
tivo de tica para as Cincias da Vida
e da Sade, da Frana, afirma que a
pessoa uma individualidade biolgi-
ca, um ser de relaes psicossociais,
um indivduo para os juristas. Contu-
do, ela transcende essas definies
analticas. Ela aparece como um va-
lor. (...) Nos problemas ticos decor-
rentes do processo das pesquisas bio-
lgicas e mdicas devem ser respeita-
dos todos os homens e o homem todo
(1). O ser humano, na apreciao des-
se eminente cientista, merece respeito.
Este um tema relevante na histria
do pensamento tico. No sculo XVIII,
Immanuel Kant, destacado filsofo da
moral, fez uma afirmao parecida:
Os seres racionais so chamados de
pessoas porque a sua natureza os di-
ferencia como fins em si mesmos, quer
dizer, como algo que no pode ser usa-
do somente como meio e, portanto, li-
mita nesse sentido todo capricho e
um objeto de respeito (2). O mesmo
autor fala na pessoa como possuidora
de dignidade e valor interno (3).
J nos primrdios da civilizao
e do pensamento ocidental h sinais
desse interesse pelo valor do ser hu-
mano e pelo respeito a ele devido. Con-
tudo, as excees a essa constatao,
ao longo da histria da humanidade,
foram e continuam sendo, infelizmen-
te, muitas. No Corpus Hippocraticum
denominao dada ao conjunto dos
escritos da tradio hipocrtica, j que
hoje se sabe que Hipcrates no foi o
nico autor dos mesmos manifesto
o interesse por no lesar ou danificar
as pessoas, de forma geral, e as pesso-
as enfermas, de modo particular. No
causar prejuzo ou dano foi a primeira
grande norma da conduta eticamente
correta dos profissionais de medicina
e do cuidado da sade.
O interesse em conhecer o que
bom, o bem, e os seus opostos, o que
mau e o mal, com os princpios e ar-
gumentos que os fundamentam, justi-
ficam e diferenciam, o contedo ge-
ral da tica terica. Com toda razo,
George Edward Moore afirma na sua
obra Principia Ethica: O que bom?
E o que mau? Dou o nome de tica
discusso dessa questo (4) e a per-
gunta sobre como deve definir-se bom
a questo mais importante de toda a
tica (5).
O estudo que se ocupa das aes
das pessoas, se o seu agir pode ser
qualificado de bom ou de mau, o
contedo da tica prtica. A esse res-
peito, diz Aristteles na tica a
Nicmaco: No pesquisamos para
saber o que a virtude, mas para ser-
mos bons (6). Essa afirmao escla-
rece que o interesse de Aristteles nes-
sa obra basicamente prtico.
40
As teorias ticas ou as escolas ti-
cas que apresentam a sua doutrina
como uma srie de normas para agir
bem ou de modo correto so chama-
das de ticas normativas. Dentre os
diversos tipos de ticas normativas
cabe destacar a teoria do dever vin-
culado ao imperativo categrico de
Immanuel Kant, e a teoria dos deveres
num primeiro momento ou deveres
numa primeira considerao (prima
facie duties), de William David Ross.
Essa ltima teoria tem grande influn-
cia na teoria conhecida como o
principialismo, a qual aludiremos pos-
teriormente.
No seu dia-a-dia, muitos profis-
sionais, includos os do cuidado sa-
de, pautam o seu agir profissional por
normas ou regras provenientes dos
chamados cdigos deontolgicos de
uma determinada profisso ou, tam-
bm, embora no seja a melhor deno-
minao, cdigos de tica ou cdigos
de tica profissional. O interesse pelos
aspectos que concernem boa condu-
ta ou m conduta no exerccio de
uma profisso foi expresso, ao longo
da histria, sob a forma de oraes,
juramentos e cdigos. Convm obser-
var que a maioria dos cdigos
deontolgicos profissionais pretendi-
am, originariamente, manter e prote-
ger o prestgio dos seus profissionais
perante a sociedade. Da a conveni-
ncia de punir e excluir aqueles que,
na sua conduta, desprestigiavam a
imagem da profisso. Ora, expresses
como punir, disciplinar, fiscalizar, fa-
zer denncia, freqentes nos cdigos
profissionais, tm pouco a ver com o
linguajar da tica propriamente dita, e
muito a ver com assuntos do Cdigo
Penal. Por outro lado, no exerccio pro-
fissional da medicina, da odontologia,
da enfermagem e da psicologia torna-
se impossvel pautar a conduta ape-
nas pelas normas do cdigo profissio-
nal, pois alguns dos problemas que
podem se apresentar sequer foram con-
templados nos mesmos. A reflexo so-
bre um conflito moral no exerccio da
profisso, realizada apenas sob o
referencial do cdigo deontolgico,
ser, provavelmente, uma viso mo-
pe e muito restrita da problemtica ti-
ca nele contida.
Como foi colocado, a tica
normativa e a tica deontolgica tm
a ver com a tica prtica. Devido aos
avanos da tecnologia nos mais diver-
sos campos, faz-se necessria a dis-
cusso sobre a convenincia, uso ade-
quado, riscos e ameaas da mesma
para a humanidade, tanto de forma
geral como para o indivduo em parti-
cular. Hans Jonas situa muito bem esse
problema ao afirmar que estamos preci-
sando de um tratado tecnolgico-tico
(tractatus technologico-ethicus) para
nossa civilizao (7). Os princpios da
tica sobre a conduta boa ou m, cer-
ta ou errada, justa ou injusta aplicam-
se, na poca atual, a problemas novos
decorrentes do progresso tecnolgico
e da nova sensibilidade tica da civili-
zao e cultura contemporneas. As-
sim, por exemplo, podemos nos pergun-
tar: recomendaramos a fecundao
assistida para uma senhora de 60 anos
ou mais? Podem os animais ser usa-
dos indiscrimina-damente para qual-
quer tipo de experimentao? Devem
ser colocados limites ao uso de mate-
riais que poluem as guas, as florestas
e a atmosfera, ameaando a sade das
geraes futuras? Essas e outras per-
guntas semelhantes so prprias da
41
tica aplicada, que tem uma pluralidade
de formas, por exemplo, entre ou-
tras muitas, a Biotica e a Ecotica.
Peter Singer caracteriza esses tipos
de ticas como o raciocnio tico
aplicado a problemas concretos do
dia-a-dia (8).
Conforme afirmamos, a biotica
integraliza ou completa a tica prtica
que se ocupa do agir correto ou
bem-fazer, por oposio tica te-
rica ocupada em conhecer, definir e
explicitar e abrange os problemas re-
lacionados com a vida e a sade, con-
figurando-se, portanto, como uma ti-
ca aplicada. Esse seria o significado
aqui dado ao vocbulo biotica, que
presentemente o de maior uso e acei-
tao, estreitamente relacionado com
as cincias da sade. O mesmo termo
poderia ser usado num sentido bem
mais amplo, a conotao da palavra
vida, de forma geral, que estender-se-
ia aos reinos mineral, vegetal e animal;
contudo, no esse o significado utili-
zado no presente captulo.
A biotica, como reflexo de ca-
rter transdisciplinar, focalizada
prioritariamente no fenmeno vida
humana ligada aos grandes avanos
da tecnologia, das cincias biomdicas
e do cuidado sade de todas as pes-
soas que dela precisam, independen-
temente de sua condio social, ,
hoje, objeto de ateno e dilogo nos
mais diversos mbitos. O pluralismo
tico ou a diversidade de valores mo-
rais dominantes, inclusive nas pes-
soas de um mesmo pas e o Brasil
exempl o tpico de diversidade
axiolgica , torna difcil a busca de
solues harmnicas e generalizadas
no que se refere a problemas sobre
doao de rgos, transplantes,
laqueadura de trompas, aborto, deci-
ses sobre o momento oportuno da
morte e tantos outros. O pluralismo
tico dominante e a necessidade de
uma teoria acessvel e prtica para a
soluo de conflitos de carter tico fez
desabrochar o principialismo como
ensinamento e mtodo mais difundi-
do e aceito para o estudo e soluo
dos problemas ticos de carter
biomdico. O principialismo, de acor-
do com a verso mais conhecida que
a de Beauchamp e Childress, em sua
obra Principles of Biomedical Ethics (9)
apresenta quatro princpios ou mo-
delos basilares: o princpio do respeito
autonomia, o princpio da no-
maleficncia, o princpio da beneficn-
cia e o princpio da justia. Ocupar-
nos-emos a seguir dos princpios da
beneficncia e do princpio da no-
maleficncia.
Convm relembrar que bem e bom,
mal e mau so conceitos pivotais da ti-
ca terica. Alm disso, agir bem, agir de
forma correta ou, usando as palavras de
Aristteles acima mencionadas, ser
bons tarefa da tica prtica. Ser um
bom profissional significa, antes de mais
nada, saber interagir com o paciente,
quer dizer, trat-lo dignamente no seu
corpo e respeitar os seus valores, cren-
as e desejos, o que torna o exerccio
profissional do cuidado sade uma ta-
refa difcil e s vezes conflitante. O pro-
fissional de sade faz juzos prognsti-
cos, juzos diagnsticos, juzos
teraputicos e no pode tambm se exi-
mir de fazer juzos morais. Os problemas
humanos no so nunca exclusivamen-
te biolgicos, mas tambm morais.
Quando o mdico que relatou o caso
recomendou me que continuasse o
tratamento para seu cncer de mama,
42
alm de isto ser necessrio e bom para
ela, o fez porque, prevendo a evoluo
da doena de seu paciente, o conside-
rou na sua totalidade e sabia que a pre-
sena de sua me, com sade, seria
muito importante, e fez isto porque seria
bom, o que nessa situao o tema da
tica. Ao estimular o uso de suas roupas
coloridas, suas idas lojinha e ao ptio
do hospital, ao no intern-lo durante jo-
gos do seu time e ao se preocupar com o
desconforto perante os colegas pela pre-
sena visvel da sonda nasogstrica, o
fez considerando-o uma pessoa doen-
te. Assim, o dentista, o mdico, a enfer-
meira e a psicloga no tratam apenas
de uma doena, mas sim de uma pes-
soa adoentada, com as suas crenas e
valores, que no podem ser ignorados.
Este o significado e referencial de ho-
mem todo, citado por Jean Bernard no
incio desta seo, e tambm do respei-
to mencionado por Immanuel Kant. No
exerccio correto ou adequado da medi-
cina, odontologia, enfermagem e psico-
logia, portanto, indispensvel a dimen-
so tica. Como veremos em continua-
o, a beneficincia e a no-male-
ficncia esto na base da mesma.
Beneficncia e no-
maleficncia como princpios
Beneficncia, no seu significado
filosfico moral, quer dizer fazer o bem.
A beneficncia, conforme alguns dos
autores representativos da filosofia
moral que usaram o termo, uma ma-
nifestao da benevolncia. Benevoln-
cia tem sido, porm, um conceito bem
mais utilizado. Os moralistas britni-
cos dos sculos XVIII e XIX debrua-
ram-se especialmente sobre o mesmo,
entre eles cabe mencionar Shaftesbury,
Joseph Butler, Francis Hutcheson,
David Hume e Jeremy Bentham.
Butler, por exemplo, diz que existe no
homem, de forma prioritria, um prin-
cpio natural de benevolncia ou da
procura e realizao do bem dos ou-
tros e que, do mesmo modo, temos pro-
penso a cuidar da nossa prpria vida,
sade e bens particulares (10). O
posicionamento desses autores uma
crtica teoria de Thomas Hobbes,
que apresentava a natureza humana
dominada pelas foras do egosmo, da
autoconservao e da competio
(11). Ora, o egosmo no o nico
dinamismo natural do ser humano,
pois toda pessoa normal tem sentimen-
tos para com os outros seres que com
ela convivem, por exemplo, simpatia,
gratido, generosidade e benevolncia,
que impulsionam a prtica do que
bom para os outros e para o bem p-
blico. Essa teoria denominada por
Shaftesbury como senso moral ou sen-
tido moral. Plato, Aristteles e Kant
outorgam um papel secundrio be-
nevolncia, pois eles priorizam nas res-
pectivas teorias ticas o papel da ra-
zo; a benevolncia, vinculada ao sen-
timento e s paixes, tem para todos
eles um protagonismo menor. Hume
estuda, com as caractersticas que lhe
so peculiares, a virtude natural da be-
nevolncia nas suas obras morais. Para
ele, trata-se de uma tendncia que pro-
move os interesses dos homens e pro-
cura a felicidade da sociedade (12). De
forma geral, a benevolncia, forma
genrica da beneficncia, de acordo
com os autores citados, tem as seguin-
tes caractersticas: 1) uma disposi-
o emotiva que tenta fazer bem aos
43
outros; 2) uma qualidade boa do
carter das pessoas, uma virtude; 3)
uma disposio para agir de forma
correta; 4) de forma geral, todos os
seres humanos normais a possuem.
William David Ross, nas trs pri-
meiras dcadas do sculo XX, desen-
volve uma tica normativa conhecida
como a tica dos deveres num primei-
ro momento ou numa primeira consi-
derao (prima facie duties). A tica
normativa de Ross traz uma lista de
deveres que tm a particularidade de
serem independentes uns dos outros.
So os deveres da fidelidade, repara-
o, gratido, justia, beneficncia,
aperfeioamento pessoal , no-
maleficncia (13). O mesmo autor afir-
ma que usa a palavra beneficncia
preferindo-a a benevolncia, pois, em
sua opinio, aquela exprime melhor o
carter de dever. O dever num primei-
ro momento ou numa primeira consi-
derao no um dever absoluto, mas
sim condicional. Trata-se de um dever
evidente e incontestvel. Entretanto,
pode algum, de repente, encontrar-se
diante de dois deveres num primeiro
momento ou numa primeira conside-
rao ao mesmo tempo. Diante do di-
lema, ter que decidir-se por um dos
dois. Por esse motivo pode-se afirmar
que o dever num primeiro momento ou
numa primeira considerao, ainda
que muito importante ou incontest-
vel, no tem o carter de absoluto. Esse
dever refere-se a uma situao moral
determinada, um dever que deve ser
cumprido, a no ser que entre em con-
flito com um dever igual ou mais forte.
O mesmo caso ou problema em ques-
to poderia ser tambm considerado
sob a influncia ou condicionamento
de um outro tipo de dever. Assim, quan-
do os pais do menino no procuraram
mais o mdico, este, mesmo reconhe-
cendo que a autonomia do paciente,
representada neste caso pelos pais,
deveria ser respeitada, priorizou a be-
neficncia, que considerou seu dever
primeiro, mesmo tendo que ameaar
com a fora da lei. Outra situao
descrita no momento da amputao.
Sempre devemos, numa primeira con-
siderao, no causar mal ao pacien-
te, como mutil-lo. Mas, nesta situa-
o, o dever mais importante foi man-
ter a vida, mesmo que com qualidade
inferior.
William K. Frankena, destaca-
do filsofo da moral desde o fim da
Segunda Guerra Mundial at a d-
cada dos anos 80, representante do
normativismo e da metatica, o
que no muito comum (14), sus-
tenta que h pelo menos dois prin-
cpios de moralidade, bsicos e in-
dependentes: o da beneficncia e
o da justia (15).
Depois de todo o exposto, pode-
mos afirmar que temos os elementos
constitutivos para a compreenso do
principialismo, de forma geral, e dos
seus princpios de beneficncia e no-
maleficncia. Sintetizando, vale a pena
destacar: a beneficncia, sob o nome
de benevolncia, um dos elemen-
tos exponenciais da filosofia moral
britnica dos sculos XVIII e XIX e
de grande repercusso na biotica
principialista. Beneficncia e no-
maleficncia so deveres independen-
tes e condicionais (ou no-absolutos),
conforme a classificao de Ross. Be-
neficncia e justia so princpios da
tica, fundamentais e independentes,
de acordo com a exposio de
Frankena.
44
Todas estas teorias entram na ges-
tao do denominado principialismo.
Passemos agora ao seu nascimento. Os
anos de 1978 e 1979 so inesquec-
veis no tema que nos ocupa. Neles so
publicados o Relatrio Belmont
(Bel mont Report) e o l ivro de
Beauchamp e Childress (Principles of
Biomedical Ethics). O Relatrio
Belmont apresenta os princpios bsi-
cos que podem ajudar na soluo dos
problemas ticos surgidos na pesqui-
sa com seres humanos. Esse relatrio
foi elaborado por onze profissionais de
reas e disciplinas diversas, que na
poca, nos Estados Unidos, eram mem-
bros da Comisso Nacional para a
Proteo dos Sujeitos Humanos da
Pesquisa Biomdica. Os princpios
elencados so: 1) o princpio do res-
peito s pessoas; 2) o princpio da be-
neficncia; 3) o princpio da justia.
Por outro lado, Beauchamp e Childress
tentam apresentar uma teoria de prin-
cpios bsicos da moral alicerada no:
1) princpio do respeito da autonomia;
2) princpio da no-maleficncia; 3)
princpio da beneficncia; 4) princ-
pio da justia. A obra tem como pano
de fundo as teorias apresentadas an-
teriormente, s quais devem acrescen-
tar-se o utilitarismo e o deontologismo
moral kantiano. O principialismo ou
biotica dos princpios tenta buscar
solues para os dilemas ticos a par-
tir de uma perspectiva aceitvel pelo
conjunto das pessoas envolvidas no
processo por meio dos princpios sele-
cionados. O principialismo uma ti-
ca que no vai se adaptar a todas as
teorias ticas nem ao modo de apreci-
ar o que bom e ruim de cada uma
das pessoas de nossa sociedade. Todo
princpio apresenta uma perspectiva
vlida, porm parcial, das responsa-
bilidades das pessoas que o utilizam.
Cabe destacar que o principialismo foi
pensado e desenvolvido numa socie-
dade caracterizada pelo pluralismo
moral e para a soluo de problemas
concretos. No h, portanto, uma
metafsica ou ontologia especficas
permeando todos os princpios dessa
teoria. Essa tem sido uma das crticas
mais comuns feitas teoria
principialista. No principialismo as te-
orias e regras formuladas tm o car-
ter de normas num primeiro momento
ou numa primeira considerao, o que
abre espao para outros princpios e
solues, omitindo o termo dever usa-
do por Ross e substituindo-o por obri-
gao. O principialismo poder forne-
cer razes e normas para agir que fa-
cilmente iro alm dos sentimentos
morais individuais do profissional de
sade. Nenhum dos princpios, porm,
tem o peso suficiente para decidir
prioritariamente em todos os conflitos
morais.
O princpio da beneficncia tem
como regra norteadora da prtica m-
dica, odontolgica, psicolgica e da
enfermagem, entre outras, o bem do
paciente, o seu bem-estar e os seus
interesses, de acordo com os critrios
do bem fornecidos pela medicina,
odontologia, psicologia e enfermagem.
Fundamenta-se nesse princpio a ima-
gem que perdurou do mdico ao lon-
go da histria, e que est fundada na
tradio hipocrtica j aludida: usa-
rei o tratamento para o bem dos enfer-
mos, segundo minha capacidade e
juzo, mas nunca para fazer o mal e a
injustia (16). Num contexto diferen-
te, Epicuro, filsofo da moral dos s-
culos IV e III a.C., afirma: no presta
45
a palavra do filsofo que no serve
para curar as doenas da alma (17).
Cabe esclarecer que o termo filsofo
refere-se aqui ao homem culto ou s-
bio. A frase poderia, hoje, aplicar-se,
de forma restrita, aos profissionais que
utilizam a palavra como arte e instru-
mento de terapia e, de forma ampla, a
toda pessoa medianamente educada
cuja palavra, no seu relacionamento
com pessoas afetadas por um proble-
ma psquico ou somtico, deveria mi-
nimamente aliviar ou suavizar os trans-
tornos que facilmente traumatizam ou
desequilibram no dia-a-dia. A histria
da tica, que tem acompanhado a pr-
tica mdica ao longo dos sculos, em
alguma medida exerccio da beneficn-
cia. Edmund Pellegrino e David
Thomasma no ocultam essa marca
nem sequer na medicina contempor-
nea e identificam, portanto, a prtica
mdica e o princpio da beneficncia:
a medicina como atividade humana
por necessidade uma forma de be-
neficncia (18). O princpio da bene-
ficncia tenta, num primeiro momen-
to, a promoo da sade e a preven-
o da doena e, em segundo lugar,
pesa os bens e os males buscando a
prevalncia dos primeiros. O exerccio
profissional das pessoas aqui j nome-
adas tem uma finalidade moral, impl-
cita em todo o seu agir, entendida prin-
cipalmente em termos de beneficncia.
Esses profissionais procuram o bem do
paciente conforme o que a medicina,
a odontologia, a enfermagem e a psi-
cologia entendem que pode ser bom no
caso ou situao apresentada.
Bernard ratifica esse posicionamento
dizendo: todo ato teraputico, toda
deciso, tem como nico alvo propor-
cionar um auxlio eficaz a uma pessoa
enferma em perigo (19). Isso confir-
ma mais uma vez, no exerccio das pro-
fisses em questo, a afirmao de
Francis Bacon sobre a disposio ou
esforo ativo para promover a felici-
dade e bem-estar daqueles que nos
rodeiam (20), caracterstica geral de
todo ser humano normal.
A beneficncia no seu sentido es-
trito deve ser entendida, conforme o
Relatrio Belmont, como uma dupla
obrigao, primeiramente a de no
causar danos e, em segundo lugar, a
de maximizar o nmero de possveis
benefcios e minimizar os prejuzos
(21). No que diz respeito primeira
obrigao, o tema ser tratado mais
adiante. importante frisar, aqui, uma
divergncia no principialismo. No Re-
latrio Belmont, no causar danos in-
tegra o princpio da beneficncia, en-
quanto que para Beauchamp e
Childress, seguindo o modelo de Ross,
no causar danos um princpio dife-
rente do princpio da beneficncia.
Cabe observar a influncia da tica
utilitarista, tambm chamada de arit-
mtica moral, na exposio da segun-
da obrigao. No Relatrio Belmont,
focalizado na proteo dos seres hu-
manos na pesquisa mdica e na pes-
quisa sobre a conduta, as obrigaes
de beneficncia so prprias dos pes-
quisadores em particular e da socie-
dade de forma geral, pois esta deve
zelar sobre os riscos e benefcios de-
correntes das pesquisas sobre a huma-
nidade.
evidente que o mdico e demais
profissionais de sade no podem
exercer o princpio da beneficncia de
modo absoluto. A beneficncia tem
tambm os seus limites o primeiro
dos quais seria a dignidade individual
46
intrnseca a todo ser humano. Nos mo-
mentos finais do caso relatado, o m-
dico e os pais, vendo que inexistiam
quaisquer possibilidades de recupera-
o ou manuteno da vida do paci-
ente, por inteis e fteis, decidiram por
suspend-las. Assim, a deciso ferre-
nha de manter viva uma pessoa por
todos os meios cabveis, quando os
seus parmetros vitais demonstram a
inutilidade e futilidade do tratamento,
pois no existem possibilidades de
melhora ou de recuperao, mostrou-
se correta. Da mesma forma, o bem
geral da humanidade no deveria ser
aduzido como justificativa de uma pes-
quisa que desrespeitasse ou abusasse
de uma vida humana, como poderia
acontecer num paciente terminal ou
num feto. O transplante de medula para
E.M., que vinha se encaminhando ao
estado de paciente terminal, mesmo
com poucas possibilidades teraputi-
cas e curativas, poderia ter sido consi-
derado pelos pais, pelo mdico, sem-
pre procura de novos recursos, como
uma contribuio sociedade, ofere-
cendo o menino como sujeito de pes-
quisa. Entretanto, no o fizeram por-
que, para ele, os riscos seriam muito
maiores do que os possveis benefcios,
com custos muito elevados para a fa-
mlia, e decidiram respeit-lo como
pessoa humana e no apenas como
objeto de pesquisa. difcil poder
mostrar onde fica o limite entre a be-
neficncia como obrigao ou dever e
a beneficincia como ideal tico que
deve animar a conscincia moral de
qualquer profissional. Alm disso, ain-
da que o princpio da beneficncia seja
importantssimo, ele prprio torna-se
incapaz de demonstrar que a deciso
do mdico ou do profissional de sa-
de deva sempre anular a deciso do
paciente, sendo essa uma das carac-
tersticas dos deveres num primeiro
momento ou deveres numa primeira
considerao. Essa uma das razes
pelas quais foi afirmado que eles no
so absolutos, mas sim condicionais
ou dependentes da situao ou ponto
de vista com que so afirmados.
No foi fcil para o mdico de-
cidir o que deveria ser feito em cada
uma das situaes apresentadas.
E.M. nunca ouviu de seu mdico que
iria morrer logo; se o tivesse ouvido,
isso no lhe traria nenhum benefcio,
nem a ele nem sua famlia, e certa-
mente isto o teria deixado muito tris-
te. preciso aprender a tomar deci-
ses de carter profissional e moral
em situaes de incerteza. H uma
srie de situaes na prtica mdica
nas quais o princpio da beneficn-
cia deve ser aplicado com cautela
para no prejudicar o paciente ou as
pessoas com ele relacionadas. Assim:
no caso de um tratamento paliativo,
quando e como dizer a verdade? At
quando aliviar o sofrimento? Em que
medida a autonomia do paciente est
sendo respeitada? No caso da recusa
do tratamento pelo paciente, deve o
mdico intervir quando as conseq-
ncias sero mortais para o pacien-
te, como na necessidade de transfu-
so de uma Testemunha de Jeov?
O que fazer perante um paciente
adulto e incapaz? E no caso de um
menor acompanhado pelos pais? A
beneficncia, nesses casos, deveria
tentar esgotar todos os recursos, en-
tre outros a troca de mdico e o uso
de outras medidas teraputicas; no
caso de terapias gnicas seria acon-
selhvel o uso de uma terapia que
47
comporta riscos desconhecidos e pro-
vavelmente desproporcionados com
respeito aos benefcios esperados?
Qual seria a responsabilidade com as
geraes futuras? Deveriam ser as-
sumidos os riscos no caso do trata-
mento de uma doena grave? Cabe
observar, porm, que o princpio da
beneficncia pode motivar e justifi-
car o uso do screening gentico em
benefcio de uma determinada comuni-
dade, ou de pessoas de uma determina-
da regio ou pas. Dizer a verdade ao
paciente ou aos seus familiares constitui
uma ameaa ou uma ajuda autono-
mia do paciente? Sob o aspecto da be-
neficncia, de forma geral, dizer a ver-
dade contribuiria para uma tomada de
decises devidamente fundamentada no
que se refere ao tratamento, adminis-
trao dos bens, s relaes humanas,
ao sentido da vida e possveis crenas
religiosas. G. Hottois e M. H. Parizeau,
na sua obra Les Mots de la Biothique
(22), so mais prolixos na exemplificao
de casos e situaes sobre esse tema que
poderia prolongar-se quase indefinida-
mente.
O princpio da no-
maleficncia
As origens desse princpio remon-
tam tambm tradio hipocrtica:
cria o hbito de duas coisas: socor-
rer ou, ao menos, no causar danos
(23). Esse texto no diz: primeiramen-
te ou acima de tudo no causar danos
(primum non nocere), que a tradu-
o da forma latina posterior. Segun-
do Frankena, o princpio da beneficn-
cia requer no causar danos, prevenir
danos e retirar os danos ocasionados.
Beauchamp e Childress adotam os ele-
mentos de Frankena e os reclassificam
na forma a seguir: no-maleficncia ou
a obrigao de no causar danos, e
beneficncia ou a obrigao de preve-
nir danos, retirar danos e promover o
bem. As exigncias mais comuns da
lei e da moralidade no consistem na
prestao de servios seno em restri-
es, expressas geralmente de forma ne-
gativa, por exemplo, no roubar. No
mais das vezes, o princpio de no-
maleficncia envolve absteno, enquan-
to o princpio da beneficncia requer
ao. O princpio de no-maleficncia
devido a todas as pessoas, enquanto que
o princpio da beneficncia, na prtica,
menos abrangente.
Nem sempre o princpio da no-
maleficncia entendido correta-
mente pois a sua prioridade pode ser
questionada. Conforme Raanan
Gillon (24), a prtica da medicina
pode, s vezes, causar danos para a
obteno de um benefcio maior. Os
prprios pacientes seriam os primei-
ros a questionar a prioridade moral
da beneficncia. E.M. teve o p am-
putado para salvar-lhe a vida. Um
paciente com melanoma numa das
mos poder perder o brao para
salvar a vida. Uma paciente com
doena de Hodgkin dever subme-
ter-se a diversos riscos, incluindo
possivelmente a esterilidade, para ter
uma chance razovel de sobrevivn-
cia. evidente que o interesse prin-
cipal no nem cortar o brao nem
a esterilidade, mas a sade geral.
Esses so casos tpicos da denomi-
nada teoria moral do duplo efeito.
Recomenda-se, portanto, nos diver-
sos casos, examinar conjuntamente
48
os princpios da beneficncia e da
no-maleficncia. No sendo assim,
os mdicos recusar-se-iam a intervir
sempre que houvesse um risco ame-
aador grave. O nosso objetivo no
minimizar a importncia do prin-
cpio da no-maleficncia. Apenas,
como j foi observado quando da
exposio do princpio da beneficn-
cia, indicar que o princpio da no-
maleficncia no tem carter abso-
luto e que, conseqentemente, nem
sempre ter prioridade em todos os
conflitos.
No caso de ter que tirar dvidas
ou ter que esclarecer o princpio de
no-maleficncia, seria bom conside-
rar o princpio do respeito devido a
todo ser humano, como sublinhvamos
no incio deste captulo. A dor ou dano
causado a uma vida humana s pode-
ria ser justificado, pelo profissional de
sade, no caso de ser o prprio paciente
a primeira pessoa a ser beneficiada.
Devem passar a segundo ou terceiro
lugar os benefcios para outros, como
a famlia, outros pacientes ou a socie-
dade de forma geral.
Convm observar que o princpio
no causar danos nem sempre tem sido
interpretado da mesma forma, mudan-
do de acordo com as circunstncias his-
tricas e as instituies. Tem aconteci-
do, s vezes, que o interesse primeiro dos
profissionais de sade tem sido no cau-
sar danos profisso para manter a boa
imagem da mesma perante a socieda-
de, conforme citado anteriormente, ao
falarmos dos cdigos deontolgicos ou
cdigos de tica de uma determinada
profisso (25). Alm disso, no despre-
zvel a indicao do Cdigo de tica
Mdica de 1847, da Associao Mdica
Americana, que proibia criticar o traba-
lho de colegas inferiores ou incompeten-
tes, mesmo que o bem-estar dos poss-
veis pacientes o exigisse.
O paternalismo
Tratando do princpio da benefi-
cncia e dos seus limites, afirmvamos
que o profissional de sade no deve-
ria exercer o princpio da beneficn-
cia de modo absoluto, pois esse tipo
de conduta aniquilaria a manifestao
da vontade, dos desejos e dos senti-
mentos do paciente. Como tambm foi
colocado, o verdadeiro ato mdico
resultado da interao entre o mdico
e o paciente. Ora, a tica mdica tra-
dicional tem pautado seu agir pelos tri-
lhos da beneficncia e com alguma fre-
qncia tem sido chamada de
paternalista. O paternalismo no uma
exclusividade da medicina. possvel
falar tambm de um paternalismo eco-
nmico, governamental, jurdico,
laboralista, familiar e pedaggico, en-
tre outros. Evitando aqui qualquer co-
mentrio sobre a propriedade ou im-
propriedade do termo em questo sob
o aspecto do gnero, devemos convir
que o paternalismo manifesta em to-
dos esses tipos mencionados algumas
caractersticas comuns: superproteo,
autoritarismo, inibio, infantilismo,
conduzindo todas elas a uma situao
anormal. Franklin Leopoldo e Silva (26)
fala no paternalismo como resultado
do carter assimtrico da relao m-
dico-paciente, caracterizada pela fra-
gilidade do paciente e pela fora do
mdico. Nessa relao desproporcio-
nada, o cuidado prestado anula a pes-
soa que objeto do mesmo, dando-se
49
uma passagem desapercebida do sa-
ber ao poder, de conseqncias lamen-
tveis, pois a pessoa chega a ser apa-
gada como individualidade singular.
Conforme Beauchamp e Childress,
possvel distinguir entre um
paternalismo forte exercido sobre pes-
soas autnomas, passando por cima
de sua autonomia e, conseqentemen-
te, desconsiderando-as, e um
paternalismo fraco exercido sobre pes-
soas incapazes sob o ponto de vista
jurdico ou pessoas incompetentes sob
o ponto de vista moral. A verdade
que difcil traar uma linha divisria
entre os dois tipos mencionados. A
sociedade brasileira, devido ao consi-
dervel nmero de pessoas com nvel
de educao insuficiente ou baixo, fa-
cilita e at certo ponto justifica a prti-
ca do paternalismo no cuidado sa-
de. Eliane Azevdo diz acertadamente
nesse sentido: Como levar a idia de
autonomia e de integridade a quem
nunca teve a oportunidade de sentir-
se um ser com autonomia para admi-
tir sequer sua prpria fome? (27).
H casos em que o paternalismo
justificvel e, por incrvel que pare-
a, a nica forma de atendimento, pr-
prio ou caracterstico de uma socieda-
de em vias de desenvolvimento.
O paternalismo deve ser contem-
plado e avaliado por meio da luz irra-
diada pelos princpios da beneficncia
e da autonomia; aceitar um s desses
princpios produz ofuscao.
Friedrich Nietzsche diz que toda
ajuda um insulto. No concordamos
com o enunciado desse filsofo. O in-
sulto dar-se-ia no caso de ajudar ou
assistir um paciente autnomo, contra-
riando sua vontade e desejos. Confor-
me a teoria moral kantiana, no pos-
so favorecer ningum, excetuando as
crianas e os incompetentes, de acor-
do com o meu conceito de felicidade,
mas de acordo com o conceito de feli-
cidade daquele a quem tento benefici-
ar. O problema, na nossa sociedade
brasileira, como vamos h pouco,
que h pessoas com enorme dificulda-
de para poder discernir sobre o seu
bem e a sua sade. Sem interesses
paternalistas, mas sim de solidarieda-
de, o verdadeiro profissional de sade
no pode deixar de ajudar as pessoas
menos favorecidas, contribuindo assim
para o bom exerccio da cidadania e
da profisso.
Concluso
Se a pessoa est inclinada a fa-
zer o que bom e a promover o bem-
estar dos outros, ela mesma deveria
tentar garantir essa sua capacidade de
agir corretamente. Fazer uma boa op-
o pressupe conhecer o que certo
e realiz-lo. Saber o que certo e agir
de acordo com esse princpio um ideal
para todo ser humano. Ter essa dispo-
sio de saber o que bom e lev-lo
prtica possuir a virtude que
Aristteles chama de Phronesis (28) e
que os autores latinos traduziram por
Prudncia. A Prudncia, no seu signi-
ficado verdadeiro e originrio, a vir-
tude que facilita a escolha dos meios
certos para um bom resultado. A
Phronesis ou Prudncia pauta o agir
pelo princpio da busca do que bom
e pela recusa do que mau. Fazer
juzos de carter moral uma tarefa
que no escapa ao profissional de sa-
de. Um juzo clnico , antes de mais
50
nada, um exerccio da Phronesis (29),
quer dizer, o modo eticamente correto
de exercer a profisso buscando o bem
do paciente. Isso requer o respeito da
sua dignidade, o reconhecimento dos
seus valores e sentimentos morais e re-
ligiosos. Beneficncia e no-malefi-
cncia so dois princpios que podem
pautar a conduta do profissional de
sade e ajud-lo em situaes de con-
flito. Contudo, nenhum desses princ-
pios tem carter absoluto. A aplicao
eticamente correta dos princpios da
beneficncia e da no-maleficncia
o resultado do exerccio da Phronesis
ou Prudncia, que sempre deveria
acompanhar toda atividade e deciso
do profissional de sade.
O princpio da beneficncia
numa sociedade em vias de desenvol-
vimento ser, provavelmente, o prin-
cpio que vai orientar as atividades e
decises do profissional de sade como
cidado ciente do seu papel e realiza-
o pessoal e social.
Referncias bibliogrficas
Bernard J. La bi othi que. Pari s:
Dominos Flamarion, 1994: 80.
Kant I. Grundlegung zur metaphysik der
sitten. Hamburg: Verlag von Felix Meiner,
1965: 51
Kant I. Grundlegung zur metaphysik der
sitten. Hamburg: Verlag von Felix Meiner,
1965: 58
Moore GE. Principia ethica. Cambridge:
Cambridge University Press, 1971: 3.
Moore GE. Principia ethica. Cambridge:
Cambridge University Press, 1971: 5.
Aristotelis. Ethica Nicomachea. Oxford:
Oxford University Press, 1979: 1103b.
Jonas H. El pr i nci pi o de
responsabilidad: ensayo de una ti-
ca para la civilizacin tecnolgica.
Barcelona: Herder, 1995: 17.
Singer P. A companion to ethics.
Cambridge, Mass.: Blackwell, 1991: xii.
Beauchamp TL, Childress JF. Principles
of biomedical ethics. 4rd.ed. New York:
Oxford University Press, 1994.
Butler J. Upon the social nature of man.
In: Raphael DD, editor. British moralists
1650-1800. Indianapolis: Hackett
Publishing Company, 1991. v.1: 338.
Hobbes T. Leviatn. Madrid: Editora
Nacional, 1983: 223-7.
Hume D. Enqui ri es: an enqui ry
concerning the principles of morals.
Oxford: Clarendon Press, 1989: 181.
Ross WD. Lo correcto y lo bueno.
Salamanca: Ediciones Sgueme, 1994: 36.
Darwall S. Learning from Frankena: a
philosophical remembrance. Ethics
1997;107:685-705.
Frankena WK. tica. Rio de Janeiro:
Zahar, 1969: 56.
Hippocrates. Hippocrates I: the oath.
Cambridge: Harvard University Press;
London: William Heinemann, 1984:
298-9
Epicuro. Fragmentos y testimonios
escogidos. In: Garca-Gual C, Acosta E.
tica de Epicuro. Barcelona: Barral,
1974: 143.
Pellegrino E, Thomasma D. For the
patients good: the restoration of
beneficence in health care. New York:
Oxford University Press, 1988: 32
1.
2.
5.
4.
3.
13.
14.
15.
16.
11.
10.
17.
12.
9.
8.
7.
6.
51
Bernard J. De la biologie lthique.
Paris: Buchet/Chastel, 1990: 71.
Bacon F. Essays of goodness and
goodness of nature. London: Blackie and
Son, 1937: 40.
The National Commission for the
Protection of Human Subjects of
Biomedical and Behavioral Research.
The Belmont Report. Washington:
Government Printing Office, 1979: 4
Hottois G, Parizeau MH. Les mots de la
bi othi que. Bruxel l es: De Boeck
Universit, 1993: 89,122,205.
Hippocrates. Hippocrates I: epidemics.
Cambridge: Harvard University Press;
London: William Heinemann, 1984:
164-5.
Gillon R. Primum non nocere and the
principle of non-maleficence. BMJ
1985;291:130-1.
Sharpe VA. Why do no harm. In:
Thomasma DC, editor. The influence of
Edmund D. Pellegrinos philosophy of
medicine. Dordrecht: Kluwer Academic
Publishers, 1997: 197.
Silva FL. Beneficncia e paternalismo.
Medicina (CFM) 1997;(88):8-9
Azevdo E. Debate sobre biotica deve
abranger efeito da misria. Folha de S.
Paulo 1994 out 16:5.
Aristotelis. Ethica Nicomachea. Oxford:
Oxford University Press, 1979: 1140a.
Pellegrino ED, Thomasma DC. The
virtues in medical practice. New York:
Oxford University Press, 1993: 86.
25.
26.
27.
28.
23.
22.
24.
21.
20.
19.
18.
52
53
Daniel Romero Muoz
Paulo Antonio Carvalho Fortes
O Princpio da Autonomia
e o Consentimento Livre
e Esclarecido
Quem deve decidir?
Um problema fundamental na re-
lao mdico-paciente o da tomada
de deciso, principalmente no que se
refere aos procedimentos diagnsticos
e teraputicos a serem adotados. O di-
lema que geralmente se impe nas v-
rias situaes : a deciso deve ser do
mdico, preparado na arte de curar e
que melhor conhece os convenientes e
os inconvenientes de cada conduta, ou
seja, aquele que sabe mais? Ou do pa-
ciente, porque o dono do seu prprio
destino e, portanto, deve decidir o que
quer para si ?
Este ponto crucial das discusses
bioticas implica na formulao de ou-
tras questes: qual deve ser a postura
do mdico no que tange ao esclareci-
mento do paciente? Deve contar-lhe,
com detalhes, o diagnstico e o prog-
nstico, bem como as condutas
diagnsticas e teraputicas? Deve,
sempre, obter dele o consentimento
para realizar essas condutas?
A postura tradicional do
mdico na relao mdico-
paciente
O Juramento de Hipcrates, pri-
morosa obra do saber humano, forne-
ce-nos a postura tradicional do mdi-
co na relao mdico-paciente. uma
postura virtuosa, daquele que busca o
bem-estar do prximo, s vezes s cus-
tas do seu prprio, ou seja, coloca
como regra bsica o princpio da be-
neficncia. Esse juramento continua,
ainda hoje, a ser a expresso dos ide-
ais da Medicina e o alicerce da postu-
ra tica do mdico.
54
H nele, entretanto, uma lacuna
no que se refere ao livre arbtrio do
paciente para decidir. O texto no con-
templa, em momento algum, os direi-
tos da contraparte nesse relacionamen-
to: a vontade do paciente no men-
cionada.
Pode parecer estranho, primei-
ra vista, que essa obra grega, to bela
e profunda surgida em uma poca e
em uma civilizao cujo povo uniu-se
na defesa de ideais de liberdade e de-
mocracia (1) contivesse um vazio to
gritante.
Ocorre que o Juramento espelha
a moral mdica no apogeu do perodo
clssico da cultura grega na Antigui-
dade (final do sculo V e sculo IV
a.C.), tendo sido feito por mdicos e
para os mdicos.
Herana da medicina sacerdotal,
devendo ser prestado por todos que
desejassem ingressar na Irmandade,
ele continha, entre outras, a obrigao
solene de guardar segredo da doutri-
na. Simboliza a idia religiosa de duas
sries distintas de homens, separadas
pela divisria rigorosa de uma cincia
oculta e acessvel apenas a alguns. Essa
distino entre o profissional e o leigo,
o iniciado e o no-iniciado est ex-
pressa nas formosas palavras finais do
Nomos hipocrtico: As coisas con-
sagradas s devem ser reveladas aos
homens consagrados; vedado revel-
las aos profanos, uma vez que no esto
iniciados nos mistrios do saber (2).
Nessa poca, porm, um novo
tipo de mdico estava surgindo na
Grcia: o profissional que exercia a
medicina-cincia em contraposio
aos que se dedicavam de cunho reli-
gioso . Na verdade, a nova cincia m-
dica que sob a ao da filosofia
jnica da Natureza converteu a medi-
cina grega em uma arte consciente e
metdica, na qual as hipteses eram
construdas a partir de fatos e no de
concepes religiosas ou filosficas
apriorsticas sentia como um proble-
ma a posio isolada, ainda que
elevadssima, que ocupava na comu-
nidade. Esse novo mdico, apesar de
basear-se em um saber especial que o
diferenciava do profano, se esfora
conscientemente para comunicar seus
conhecimentos e encontrar os meios e
os caminhos necessrios para tornar-
se inteligvel. Seguindo as pistas dos
sofistas, expe em pblico seus proble-
mas, por meio de conferncias ou de
discursos escritos. Surge assim uma
literatura mdica destinada s pessoas
estranhas a essa profisso. Com essa
divulgao do conhecimento mdico
nasce tambm um novo tipo de inte-
lectual, o homem culto em Medicina,
isto , o homem que consagrava aos
problemas desta cincia um interesse
especial ainda que no profissional e
cujos juzos em matria mdica se dis-
tinguiam da ignorncia da grande
massa (2).
A melhor ocasio para transmitir
ao leigo o pensamento mdico era,
certamente, durante o relacionamento
com o paciente. Plato (nas leis) nos
mostra que essa relao era muito
diversa no que tange ao esclareci-
mento do paciente, dependendo do
tipo de mdico: o mdico dos escra-
vos ou o mdico dedicado a essa
medicina-cincia que tratava dos ho-
mens livres. O primeiro tratava seus
pacientes sem falar, sua conduta era a
de um verdadeiro tirano; o segundo,
expunha detalhadamente ao pacien-
te a enfermidade e as concepes
55
que tinha sobre sua origem, apoian-
do-se no que se pensava sobre a natu-
reza de todos os corpos. Plato comen-
ta que se um destes mdicos (de es-
cravos) ouvisse um mdico livre falar
com pacientes livres, em termos muitos
semelhantes aos das conferncias cien-
tficas (...), certamente se poria a rir e
diria o que a maioria dos mdicos diz
nesse caso: O que fazes, nscio, no
curar teu paciente, mas ensin-lo, como
se a tua misso no fosse a de devolver-
lhe a sade mas a de convert-lo em m-
dico. Ele (Plato), porm, v nessa con-
duta mdica, baseada no esclarecimen-
to detalhado do paciente, o ideal da te-
raputica cientfica (2).
Os relatos supracitados indicam
que o profissional dedicado recm-
criada cincia mdica, no perodo cls-
sico da cultura grega, j buscava uma
relao mais harmoniosa com o paci-
ente atravs do esclarecimento deste,
apesar da tica hipocrtica ainda no
ter se libertado da influncia do
autoritarismo da medicina sacerdotal.
Frise-se, entretanto, que essa pos-
tura do mdico no era a norma geral
e no se dirigia grande massa, mas
apenas aos homens livres, isto ,
parcela da populao grega que se
constitua na classe social de maior
discernimento e que detinha o poder.
Destaque-se ainda que o esclarecimen-
to visava aproximar o mdico do seu
paciente, harmonizando esse relacio-
namento; no era uma conduta ado-
tada porque o paciente tinha direito
informao. Na Grcia Clssica a
idia de democracia no inclua o que,
mais tarde, veio a ser denominado di-
reitos humanos (3).
Esses ideais da cincia mdica
grega, mergulhados no absolutismo que
se seguiu democracia grega e no
obscurantismo da Idade Mdia, fene-
ceram no seu nascedouro e a conduta
autoritria e paternalista do mdico
para com o paciente continuou a pre-
ponderar na relao. Pior, durante o
perodo medieval a filosofia grega da
ordem natural foi cristianizada pelos
telogos e a tica mdica passou a ser
formulada pelos moralistas e aplicada
pelos confessores; ao mdico era dado
tudo pronto, pedindo-se ou exigindo-
se que a cumprisse (4).
A Revoluo Francesa chega
medicina
Com o Renascimento, a
redescoberta do esprito da Grcia
Clssica traz novas luzes ao conheci-
mento humano. A arte a primeira a
ressurgir, seguida pela filosofia e pela
cincia. O pensamento humano come-
a a ressuscitar os ideais da cultura
grega e os anseios de liberdade e de-
mocracia renascem.
Nesse ressurgimento, porm, o
grande adicional trazido a essas idias
na modernidade foram os direitos hu-
manos. Os gregos no pensavam os
direitos humanos como pertencentes
democracia. Eles pensavam a demo-
cracia como pertencente ao povo. No
sculo XVIII, quando a democracia
ressurge, ela no apenas o poder do
povo, mas tambm uma srie de direi-
tos de cada um. O direito ao voto, o
direito livre expresso, o direito
propriedade e outros (3).
Na verdade, basta acompanhar
as declaraes fundamentais de di-
reitos da humanidade para que se
56
verifique como foram se definindo e
concretizando, desde a Magna Carta
outorgada pelo Rei Joo Sem Terra, em
1215, passando pela Grande Carta de
Henrique III, de 11/2/1225, pelo Bill of
Rights, de 1689, pela Declarao de
Direitos da Virgnia, de 12/6/1776,
pela Declarao dos Direitos do Ho-
mem e do Cidado, de 2/10/1789,
pela Declarao dos Direitos do Ho-
mem e do Cidado, de 1793, at a
Declarao Universal dos Direitos
do Homem, aprovada pela ONU
em 10/12/1948 (5).
Todas as revolues democrticas
ocorridas no mundo ocidental a partir
do sculo XVIII tiveram por base de-
fender estes princpios. O mais curio-
so que este movimento pluralista e
democrtico, que se instalou na vida
civil das sociedades ocidentais, s che-
gou medicina recentemente. Na re-
lao mdico-paciente, este (paciente)
continuou a ser considerado no s
como incompetente fsico mas tambm
moral; por isso, devia ser conduzido em
ambos os campos por seu mdico.
Desse modo, a relao mdico-paci-
ente tem sido tradicionalmente
paternalista e absolutista (6).
Em 1969, nos Estados Unidos,
por um acordo entre um grupo de as-
sociaes de consumidores e usurios
e a Comisso Americana de Creden-
ciamento de Hospitais (JCAH), surgiu
um documento que considerado a
primeira carta de Direitos do Paciente,
da perspectiva do usurio de hospitais.
Em 1973, o Departamento de Sade,
Educao e Bem-Estar recomenda aos
hospitais e outras entidades de sade
que adotassem e distribussem decla-
raes de direitos dos pacientes. Nes-
se mesmo ano, a Associao Ameri-
cana dos Hospitais (AHA) aprovou
uma Carta de Direitos do Paciente.
Outros pases passaram a adotar a
mesma medida (7).
Note-se que o movimento pelos di-
reitos do paciente, nos Estados Unidos,
no se originou de uma luta social pela
liberdade, mas pelos direitos do consu-
midor, isto , quem paga pelo servio tem
direito sobre a qualidade do atendimen-
to. Entretanto, medida que essa idia
se divulgou, o seu carter sofreu altera-
es e os seus limites se ampliaram.
Concomitantemente, ocorreu um ou-
tro fenmeno: os avanos tecnolgicos
criaram grandes dilemas morais, propi-
ciando o nascimento da Biotica ou
melhor, da reflexo biotica, que propor-
ciona um marco filosfico e moral para
resolver estas questes de forma ordena-
da e justa, respeitando e tolerando a tica e
as diversas crenas profissionais e pesso-
ais (8).
Visualizando-se, atualmente, esses
fenmenos dentro da perspectiva his-
trica, as Declaraes de Direitos do
Paciente, somadas aos questio-
namentos de ordem tica surgidos com
os avanos tecnolgicos e ao apareci-
mento da Biotica, provocaram ou
esto provocando, na tica dos profis-
sionais de sade, uma verdadeira re-
voluo que poderia ser enfocada
como a chegada da Revoluo Fran-
cesa na Medicina, ou melhor dito, nas
cincias da sade.
Apesar de transcorridos dois s-
culos da convulso social ocorrida na
Frana para consagrar os seus ideais,
o processo de sua implantao conti-
nua sendo o foco das principais lutas
na sociedade atual. Pouco a pouco,
porm, eles esto sendo assimilados
pelas pessoas, integrando-se cultura.
57
A medicina e as demais cincias da
sade esto agora sentindo o seu im-
pacto e incorporando-os subcultura
mdica.
A Revoluo Francesa estabele-
ceu trs princpios bsicos para a exis-
tncia de uma sociedade humana jus-
ta, onde os homens possam viver com
dignidade: liberdade, igualdade e
fraternidade.
Em biotica, a relao mdico-
paciente pode reduzir-se a trs tipos
de agentes: o mdico, o paciente e a
sociedade. Cada um com um signifi-
cado moral especfico: o paciente atua
guiado pelo princpio da autonomia, o
mdico pelo da beneficncia e a socie-
dade pelo da justia.
A autonomia corresponde, nesse
sentido, ao princpio de liberdade, a
beneficncia ao de fraternidade e a
justia ao de igualdade.
Conceito de autonomia
Autonomia um termo derivado
do grego auto (prprio) e nomos
(l ei, regra, norma). Significa
autogoverno, autodeterminao da
pessoa de tomar decises que afetem
sua vida, sua sade, sua integridade
fsico-psquica, suas relaes sociais.
Refere-se capacidade de o ser hu-
mano decidir o que bom, ou o que
seu bem-estar.
A pessoa autnoma aquela que
tem liberdade de pensamento, livre
de coaes internas ou externas para
escolher entre as alternativas que lhe
so apresentadas. Para que exista uma
ao autnoma (liberdade de decidir,
de optar) tambm necessria a exis-
tncia de alternativas de ao ou que
seja possvel que o agente as crie, pois
se existe apenas um nico caminho a
ser seguido, uma nica forma de algo
ser realizado, no h propriamente o
exerccio da autonomia. Alm da liber-
dade de opo, o ato autnomo tam-
bm pressupe haver liberdade de
ao, requer que a pessoa seja capaz
de agir conforme as escolhas feitas e
as decises tomadas.
Logo, quando no h liberdade
de pensamento, nem de opes, quan-
do se tem apenas uma alternativa de
escolha, ou ainda quando no exista
liberdade de agir conforme a alterna-
tiva ou opo desejada, a ao em-
preendida no pode ser julgada au-
tnoma (9).
Evoluo histrica do respeito
autonomia
A conquista do respeito autono-
mia um fenmeno histrico bastante
recente, que vem deslocando pouco a
pouco os princpios da beneficncia e
da no-maleficncia como prevalentes
nas aes de assistncia sade. A par-
tir dos anos 60, movimentos de defesa
dos direitos fundamentais da cidada-
nia e, especificamente, dos reivin-
dicativos do direito sade e
humanizao dos servios de sade
vm ampliando a conscincia dos indi-
vduos acerca de sua condio de agen-
tes autnomos (6,10)
No Brasil, desde a dcada de 80,
cdigos de tica profissional vm ten-
tando estabelecer uma relao dos pro-
fissionais com seus pacientes, na qual
o princpio da autonomia tenda a ser
58
ampliado. Em nosso pas, cresce a dis-
cusso e a elaborao de normas
deontolgicas sobre as questes que
envolvem as relaes da assistncia
sade, contendo os direitos fundamen-
tais que devem reger a vida do ser hu-
mano. Tal compreenso encontrada
no artigo 46 do Cdigo de tica Mdi-
ca, que veda ao mdico efetuar qual-
quer procedimento mdico sem o es-
clarecimento e o consentimento prvios
do paciente ou de seu representante
legal, salvo em iminente perigo de
vida. Por sua vez, os artigos 56 e 59
reforam o direito de o paciente deci-
dir livremente sobre a execuo de pr-
ticas diagnsticas e teraputicas, e o
seu direito informao sobre o diag-
nstico, o prognstico, os riscos e ob-
jetivos do tratamento. Os profissionais
so, ainda, interditados de limitar o
direito dos pacientes decidirem livre-
mente sobre sua pessoa ou sobre seu
bem-estar (art.48), princpio que, com
relao s pesquisas mdicas, refor-
ado pelos artigos 123 e 124.
Fundamentos da autonomia
O princpio da autonomia no
deve ser confundido com o princpio
do respeito da autonomia de outra
pessoa. Respeitar a autonomia re-
conhecer que ao indivduo cabe pos-
suir certos pontos de vista e que ele
quem deve deliberar e tomar decises
segundo seu prprio plano de vida e
ao, embasado em crenas, aspira-
es e valores prprios, mesmo quan-
do divirjam daqueles dominantes na
sociedade ou daqueles aceitos pelos
profissionais de sade. O respeito
autonomia requer que se tolerem cren-
as inusuais e escolhas das pessoas
desde que no constituam ameaa a
outras pessoas ou coletividade. Afi-
nal, cabe sempre lembrar que o corpo,
a dor, o sofrimento, a doena so da
prpria pessoa.
O respeito pela autonomia da
pessoa conjuga-se com o princpio da
dignidade da natureza humana, acei-
tando que o ser humano um fim em
si mesmo, no somente um meio de
satisfao de interesses de terceiros,
comerciais, industriais, ou dos prprios
profissionais e servios de sade. Res-
peitar a pessoa autnoma pressupe
a aceitao do pluralismo tico-soci-
al, caracterstico de nosso tempo.
A autonomia expressa-se como
princpio de liberdade moral, que pode
ser assim formulado: todo ser humano
agente moral autnomo e como tal
deve ser respeitado por todos os que
mantm posies morais distintas (...)
nenhuma moral pode impor-se aos se-
res humanos contra os ditames de sua
conscincia (4).
Certamente que no se espera que
a autonomia individual seja total, com-
pleta. Autonomia completa um ideal.
Longe de se imaginar que a liberdade
individual possa ser total, que no exis-
tam nas relaes sociais forte grau de
controle, de condicionantes e restri-
es ao individual. Mas, se o
homem no um ser totalmente au-
tnomo isto necessariamente no sig-
nifica que sua vida esteja totalmente
determinada por emoes, fatores
econmicos e sociais ou influncias
rel i gi osas. Apesar de todos os
condicionantes, o ser humano pode
se mover dentro de uma margem pr-
pria de deciso e ao.
59
Como afirma Chaui (11), a deli-
berao, no campo da tica, se faz
dentro do possvel. Se, por vezes,
no podemos escolher o que nos
acontece, podemos escolher o que
fazer diante da situao que nos foi
apresentada.
Enquanto Immanuel Kant aceita
a autonomia como manifestao da
vontade, John Stuart Mill, um dos pais
da corrente tica utilitarista, preferia
consider-la como ao e pensamen-
to. Argumentava que o controle social
e poltico sobre as pessoas seria per-
missvel e defensvel quando fosse ne-
cessrio prevenir danos a outros in-
divduos ou coletividade. Aos cida-
dos permitido que desenvolvam seu
potencial de acordo com as suas con-
vices, desde que no interfiram com
a liberdade dos outros.
O ser humano no nasce autno-
mo, torna-se autnomo, e para isto
contribuem variveis estruturais biol-
gicas, psquicas e socioculturais. Po-
rm, existem pessoas que, de forma
transitria ou permanente, tm sua
autonomia reduzida, como as crianas,
os deficientes mentais, as pessoas em
estado de agudizao de transtornos
mentais, indivduos sob intoxicao
exgena, sob efeito de drogas, em es-
tado de coma, etc.
Uma pessoa autnoma pode agir
no-autonomamente em determinadas
circunstncias. Por isso, a avaliao de
sua livre manifestao decisria uma
das mais complexas questes ticas
impostas aos profissionais de sade.
Desordens emocionais ou mentais, e
mesmo alteraes fsicas, podem redu-
zir a autonomia do paciente, podendo
comprometer a apreciao e a
racionalidade das decises a serem
tomadas. Nas situaes de autonomia
reduzida cabe a terceiros, familiares ou
mesmo aos profissionais de sade de-
cidirem pela pessoa no-autnoma.
O conceito legal de competncia
intimamente relacionado ao concei-
to de autonomia. No costumamos
questionar a competncia de deciso
de um paciente quando sua deciso
concorda com nossas escolhas. Ao
contrrio, somente quando a sua de-
ciso conflita com a nossa, como no
caso de recusa a se submeter a um
procedimento que indicamos, que a
questo da validade da deciso ques-
tionada. O julgamento de competn-
cia-incompetncia de uma pessoa
deve ser dirigido a cada ao parti-
cular e no a todas as decises que a
pessoa deva tomar em sua vida, mes-
mo com aqueles indivduos legalmente
considerados como incompetentes.
Concordamos com Culver (12), ao afir-
mar que todos os pacientes devem ser
julgados capazes at prova de sua in-
competncia, de que sua autonomia
est reduzida.
A pessoa acometida por transtor-
nos mentais, assim como os indivdu-
os retidos em estabelecimentos hospi-
talares ou de custdia, no devem ser
vistos como totalmente afetados em
sua capacidade decisional. O simples
fato da existncia do diagnstico de
uma doena mental no implica que
ocorra incapacidade do indivduo
para todas as decises a serem toma-
das com respeito sua sade ou vida.
No mbito legal, presume-se que um
adulto competente at que o Poder
Judicirio o considere incompetente
e restrinja seus direitos civis, mas no
campo da tica raramente se julga uma
pessoa incompetente com respeito a
60
todas as esferas de sua vida. Mesmo
os indivduos considerados incapa-
zes para certas decises ou campos
de atuao, so competentes para de-
cidir em outras situaes (13).
Os grupos socioeconomicamente
vulnerveis, os mais desprovidos de re-
cursos, tm menos alternativas de esco-
lha em suas vidas, o que afeta o desen-
volvimento de seu potencial de ampla
autonomia mas no significa que devam
ser vistos como pessoas que no podem
decidir autonomamente, que os mdicos
devam decidir por eles.
Cabe particularizar a situao da
autonomia dos adolescentes. O Cdi-
go de tica dos mdicos incorporou a
noo da maioridade sanitria, sem
pronunci-la expressamente, pois pos-
sibilita aos profissionais ocultarem
informaes a respeito de pacientes
menores de idade, a seus pais ou res-
ponsveis legais, quando julgarem que
os adolescentes tenham competncia
para decidir a partir de uma avalia-
o adequada de seus problemas de
sade. Diz o art. 103 do CEM: ve-
dado ao mdico revelar segredo pro-
fissional referente a paciente menor de
idade, inclusive a seus pais ou respon-
sveis legais, desde que o menor te-
nha capacidade de avaliar seu proble-
ma e de conduzir-se por seus prprios
meios para solucion-lo, salvo quan-
do a no revelao possa acarretar
danos ao paciente.
Limites autonomia
H um temor que a absolu-
tizao da autonomia individual gere
um culto ao privativismo moral, um
incentivo ao individualismo que seja
insensvel aos outros seres humanos,
dificultando a existncia de solidarie-
dade entre as pessoas. Autonomia
no significa individualismo, pois o
homem vive em sociedade e a pr-
pria tica um dos mecanismos de
regulao das relaes entre os seres
humanos que visa garantir a coeso
social e harmonizar interesses indi-
viduais e coletivos. A socializao do
homem, desde a infncia, lhe d
condicionantes morais, mas uma so-
ciedade livre estimula que as auto-
nomias individuais sejam desenvol-
vidas, que se possa escolher entre as
diversas morais existentes em cada
momento histrico vivido.
A autonomia no deve ser con-
vertida em direito absoluto; seus limi-
tes devem ser dados pelo respeito
dignidade e liberdade dos outros e
da coletividade. A deciso ou ao de
pessoa, mesmo que autnoma, que
possa causar dano a outra(s) pessoa(s)
ou sade pblica poder no ser
validada eticamente.
Se a garantia do princpio da au-
tonomia requer o respeito a padres
morais que no sejam convencionais,
padres que no so majoritrios na
sociedade, isto no significa a defesa
de uma tica sem limites. A opo ti-
ca para ser validada deve, segundo
Singer (14), ter justificativas que de-
monstrem que ela no exclusivamen-
te pessoal. necessrio que os princ-
pios defendidos estejam em conformi-
dade com princpios mais amplos, que
tendam a ser universalizveis. Se a ti-
ca que defendemos fundamenta-se no
indivduo, sua liberdade deve ter como
fronteiras a dignidade e a liberdade
dos outros seres humanos.
61
Deve-se ainda salientar que a
autonomia do paciente, no sendo um
direito moral absoluto, poder vir a se
confrontar com a do profissional de
sade. Este pode, por razes ticas, a
denominada clusula de conscincia,
se opor aos desejos do paciente de
realizar certos procedimentos, tais
como tcnicas de reproduo assisti-
da, eutansia ou aborto, mesmo que
haja amparo legal ou deontolgico
para tais aes.
A Constituio brasileira asse-
gura o direito autonomia a todos
os cidados ao incluir a determina-
o de que ningum pode ser obri-
gado a fazer ou a deixar de fazer al-
guma coisa seno em virtude de lei.
E o Cdigo Penal Brasileiro exige o
respeito a esse direito ao punir, em
seu artigo 146, aquele que constran-
ger outrem a fazer o que a lei no
manda ou a deixar de fazer o que a
lei manda. Essa nossa legislao pe-
nal coloca, porm, uma exceo
autonomia: quando se tratar de caso
de iminente perigo de vida ou para
evitar suicdio, o constrangimento da
vtima deixa de ser crime. Em outras
palavras, a nossa legislao garante
ao cidado o direito vida, mas no
sobre a vida; ele tem plena autono-
mia para viver, mas no para mor-
rer.
Paternalismo
Pode-se conceituar paternalismo
como a interferncia do profissional de
sade sobre a vontade de pessoa au-
tnoma, mediante ao justificada por
razes referidas, exclusivamente, ao
bem-estar, alegria, necessidades, inte-
resses ou valores da pessoa que est
sendo tratada. O paternalismo existen-
te na interao mdico-paciente con-
cebido como sendo uma caractersti-
ca relacional bsica, que alis distin-
gue o contrato mdico de outras rela-
es contratuais. Por vezes, o
paternalismo mdico reconhecido
sob a denominao de privilgio
teraputico.
As condutas paternalistas na pr-
tica mdica originam-se dos fundamen-
tos hipocrticos, para quem o mdico
deveria aplicar os regimes para o bem
dos doentes, segundo seu saber e ra-
zo (...), no concedendo lugar au-
tonomia da pessoa que tratava. A
ao seria feita com base na opinio
exclusiva do mdico e no da vontade
autnoma do paciente. Fundamenta-
se na tese do predomnio, em determi-
nadas circunstncias, avaliadas e con-
sideradas pelo prprio mdico, do prin-
cpio de no causar dano, que em ca-
sos especficos sobrepuja e pode mes-
mo se opor ao princpio da autonomia
do indivduo.
Segundo Culver & Gert (15), para
que um comportamento seja adequa-
do noo de privilgio teraputico
necessrio que se guie por certas pre-
missas, que se evidenciam no relacio-
namento mdico-paciente. O mdico
deve acreditar que sua ao benfi-
ca a outra pessoa e no a ele prprio
ou terceiros e que sua ao no en-
volva uma violao de regra moral.
Dever, tambm, no ter no passado,
no presente ou mesmo em futuro pr-
ximo o consentimento da outra pessoa
que deve ser competente para tomar
decises. Esta forma de ver a relao
profissional de sade-paciente legiti-
62
ma, por exemplo, que se maneje qua-
litativa ou quantitativamente as infor-
maes a serem dadas ao doente so-
bre seu diagnstico e prognstico, por
vezes isentando-o da obrigao de
revel-las quando considere que pos-
sam conduzir a uma deteriorao do
estado fsico ou psquico do paciente.
O paternalismo defendido como
ao necessria empreendida pelo
mdico no interesse daquele a quem
trata. Konrad (16) considera que a
conduta paternalista acabaria por ter
um fim restaurador da autonomia in-
dividual, de condies adequadas de
compreenso, deliberao e tomada
de deciso. Logo, o ato paternalista
seria uma resposta a incapacidades,
e no uma negao dos direitos das
pessoas.
O Cdigo de tica Mdica brasi-
l eiro, apesar de dispor sobre a
obrigatoriedade do recolhimento do
consentimento para validar o ato m-
dico, de certa maneira aceita atos
paternalistas pois permite que, em al-
gumas circustncias, sejam ocultadas
informaes que possam provocar da-
nos psicolgicos ao paciente, apesar
de observar ser mandatrio que seja
comunicado seu responsvel legal
(CEM, art.59).
Temos posio contrria prepon-
derncia, em nosso meio, da utiliza-
o de condutas paternalistas que
muitas vezes no tm nada de
paternalistas, no ocorrem no interes-
se da pessoa assistida, mas so fruto
do autoritarismo de nossa sociedade,
expresso nas relaes do sistema de
sade. Entendemos que em situaes
em que a autonomia est reduzida
devam prevalecer os princpios da be-
neficncia e da no-maleficncia, pois
a pessoa no tem condies de mani-
festar livre e esclarecidamente sua von-
tade autnoma. Porm, somos contr-
rios a que os mdicos decidam, diante
de uma pessoa autnoma, o que bom
para ela, o que dever ser seu bem-
estar, sua qualidade de vida, fundamen-
tados em seus prprios valores (dos
profissionais). preciso no esquecer
que, muitas vezes, mdicos e pacien-
tes provm de classes sociais distintas,
com distintos valores socioculturais,
valores esses que podem entrar em
choque nas relaes estabelecidas en-
tre as duas partes.
A medicina compartilhada
A postura do mdico na relao
com o paciente, dentro dos princpios
bioticos, a de consultor, conselhei-
ro, parceiro, companheiro e amigo,
com maior ou menor predomnio de
um desses papis na dependncia das
caractersticas de personalidade do
paciente e do prprio mdico. um
relacionamento muito similar ao do
advogado e seu cliente: o mdico o
profissional que eu chamo, para estar
ao meu lado e me defender, quando
me sinto ameaado em minha sade.
Como consultor, pelos seus conheci-
mentos pode esclarecer-me sobre as
ameaas minha sade, sobre os
modos possveis de combat-las, os
riscos e benefcios esperados. Como
conselheiro e profissional capaz, sei
que indicar e aplicar os recursos e
tcnicas mais adequados e, como co-
nhecedor que dos avanos da cin-
cia mdica, poder instruir-me sobre
a melhor estratgia que, em sua opi-
63
nio, deveria ser adotada. Como par-
ceiro, se dispor a agir (por exemplo,
realizar uma cirurgia ou outro proce-
dimento) ou a indicar o profissional ou
servio capaz de faz-lo. Como com-
panheiro, sei que posso contar com seu
auxlio sempre que precisar. Mas, como
herdeiro da cultura latina, gostaria
mesmo era de ter nele um amigo! Um
amigo que desse o melhor de seu co-
nhecimento, experincia e dedicao
ao assistir-me nas decises a serem
tomadas, mas respeitasse minha au-
tonomia para decidir o que melhor
para mim; o papel do amigo de estar
junto e no de abandonar o paciente,
na solido do seu sofrimento, para que
decida sozinho. E l no fundo de meu
ser ainda esperaria dele algo mais: que,
no momento da minha aflio, quan-
do a dor turvar meu pensamento e a
desesperana me furtar o desejo de
agir, no tivesse de seus lbios apenas
uma sentena fria a massacrar meu
anseio de vida, mas encontrasse um
artista sensvel, experiente na arte de
curar, que saberia sedar meu sofrimen-
to com aquele remedinho verde, da
cor da Medicina, que s o mdico
com todas as letras maisculas sabe
aplicar (17).
H ainda um detalhe importante
a ser lembrado: alguns profissionais
aderem to intensamente ao princpio
da autonomia que no aceitam que o
paciente diga: Doutor, eu fao o que
o senhor achar melhor! E acabam im-
pondo a ele, tiranicamente, a auto-
nomia que ele no deseja, isto , as
decises que ele se recusa a tomar.
A nosso ver, se o paciente foi es-
clarecido pelo mdico e opta pela pos-
tura de no escolher nenhuma das al-
ternativas propostas, mas sim a de
adotar aquela que o mdico achar
mais adequada, ele j decidiu e por-
tanto est exercendo sua autonomia;
for-lo a tomar qualquer deciso di-
ferente da que escolheu significa
constrang-lo e agir com autoritarismo.
Em outras palavras, renunciar auto-
nomia tambm exercer seu direito
autonomia e impor a autonomia ao
paciente autoritarismo.
Consentimento livre e
esclarecido
A pessoa autnoma tem o direito
de consentir ou recusar propostas de
carter preventivo, diagnstico ou
teraputico que afetem ou venham a
afetar sua integridade fsico-psquica
ou social.
A noo do consentimento na
atividade mdica fruto de posies
filosficas relativas autonomia do
ser humano quando de decises to-
madas em tribunais. Na esfera jur-
dica, a primeira deciso que tratou
da questo parece ter sido o caso
Slater versus Baker & Staplenton,
julgado em 1767 na Inglaterra: dois
mdicos foram considerados culpa-
dos por no terem obtido o consenti-
mento do paciente quando da reali-
zao de cirurgia de membro inferi-
or que resultou em amputao. Deve-
se lembrar que naquela poca o con-
sentimento j era demandado no s
por motivos ticos e legais mas tam-
bm pela necessidade da cooperao
do paciente na realizao do ato ci-
rrgico, pois ainda no eram sufici-
entemente desenvolvidas as prticas
anestsicas.
64
O processo Schloendorff versus
Society of New York Hospitals, do in-
cio deste sculo, foi o responsvel pelo
desenvolvimento da reflexo doutrin-
ria nos meios jurdicos norte-america-
nos. Refere-se senhora que, em 1908,
dirigindo-se ao New York Hospital,
com queixas abdominais, foi examina-
da por mdico que diagnosticou a exis-
tncia de tumor benigno instalado no
tero, para o qual indicou ser neces-
sria a realizao de procedimento ci-
rrgico. A paciente submeteu-se ci-
rurgia, tendo seu tero extirpado. Mas
pouco tempo aps a realizao do ato,
acusa o mdico e o hospital perante
os tribunais alegando ter sido engana-
da e operada sem que houvesse dado
seu consentimento. Afirmava somente
ter autorizado ser anestesiada para
procedimentos diagnsticos, e no ci-
rrgicos. O caso chegou Corte Su-
prema do Estado de New York, que
sentenciou favoravelmente queixosa.
Ocasio em que o juiz Cardozo se ex-
pressa: Todo ser humano na vida
adulta e com a mente s tem o direito
de determinar o que deve ser feito com
seu prprio corpo.
Porm, somente em 1957, que
aparece a expresso informed consent,
cunhada pela corte californiana
julgadora do caso Salgo versus Leland
Stanford Jr., University of Trustees.
Este caso se referia a um homem que
fra submetido a uma aortografia
transtorcica realizada devido sus-
peita de obstruo da aorta abdomi-
nal; posteriormente ao procedimento,
o paciente sofrera paralisia dos mem-
bros inferiores, complicao dada
como rara para a tcnica utilizada na
poca. Os magistrados do caso julga-
ram que houve conduta culposa por
parte dos operadores, porque no ha-
viam revelado ao enfermo as possibi-
lidades de riscos da tcnica emprega-
da, e por isso cabia a sano
indenizatria (18).
Porm, deve-se ressaltar que do
ponto de vista tico a noo do con-
sentimento esclarecido pode diferir da
forma adotada pelos tribunais. No Bra-
sil, o no recolhimento do consentimen-
to da pessoa tipificado como ilcito
penal apenas quando for ocasionado
por uma conduta dolosa, de acordo
com o art.146, 3, I, do Cdigo Pe-
nal. A norma penal requer somente um
consentimento simples, significando o
direito recusa. O atendimento do
princpio tico do respeito autono-
mia da pessoa requer mais, no se li-
mita ao simples direito recusa ou ao
consentimento simples, requer um con-
sentimento livre, esclarecido, renovvel
e revogvel. O consentimento deve ser
dado livremente, conscientemente, sem
ser obtido mediante prticas de coa-
o fsica, psquica ou moral ou por
meio de simulao ou prticas enga-
nosas, ou quaisquer outras formas de
manipulao impeditivas da livre ma-
nifestao da vontade pessoal. Livre
de restries internas, causadas por
distrbios psicolgicos, e livre de co-
eres externas, por presso de fa-
miliares, amigos e principalmente dos
profissionais de sade. O consentimen-
to livre requer que o paciente seja esti-
mulado a perguntar, a manifestar suas
expectativas e preferncias aos profis-
sionais de sade (19).
Aceita-se que o profissional exer-
a ao persuasiva, mas no a coa-
o ou a manipulao de fatos ou da-
dos. A persuaso entendida como a
tentativa de induzir a deciso de outra
65
pessoa por meio de apelos razo
validada eticamente. Porm, a mani-
pulao, tentativa de fazer com que a
pessoa realize o que o manipulador
pretende, sem que o manipulado sai-
ba o que ele intenta, deve ser eticamen-
te rejeitada.
Para Hewlett, o consentimento s
moralmente aceitvel quando est
fundamentado em quatro elementos:
informao, competncia, entendimen-
to e voluntariedade (20).
A informao a base das deci-
ses autnomas do paciente, necess-
ria para que ele possa consentir ou re-
cusar as medidas ou procedimentos de
sade que lhe foram propostos. O con-
sentimento esclarecido requer adequa-
das informaes, compreendidas pe-
los pacientes. A pessoa pode ser infor-
mada, mas isto no significa que este-
ja esclarecida, caso ela no compre-
enda o sentido das informaes
fornecidas, principalmente quando as
informaes no forem adaptadas s
suas circunstncias culturais e psico-
lgicas. No necessrio que os pro-
fissionais de sade apresentem as in-
formaes utilizando linguajar tcnico-
cientfico. Basta que elas sejam sim-
ples, aproximativas, inteligveis, leais
e respeitosas, ou seja, fornecidas den-
tro de padres acessveis ao nvel inte-
lectual e cultural do paciente, pois
quando indevidas e mal organizadas
resultam em baixo potencial informa-
tivo, em desinformao.
O paciente tem o direito moral de
ser esclarecido sobre a natureza e os
objetivos dos procedimentos diagns-
ticos, preventivos ou teraputicos; ser
informado de sua invasibilidade, da
durao dos tratamentos, dos benef-
cios, provveis desconfortos, inconve-
nientes e possveis riscos fsicos, ps-
quicos, econmicos e sociais que pos-
sa ter. O mdico deve esclarecer, quan-
do for o caso, sobre as controvrsias
quanto as possveis alternativas tera-
puticas existentes. A pessoa deve ser
informada da eficcia presumida das
medidas propostas, sobre as probabi-
lidades de alterao das condies de
dor, sofrimento e de suas condies
patolgicas, ou seja, deve ser esclare-
cido em tudo aquilo que possa funda-
mentar suas decises. Quanto aos ris-
cos, devem compreender sua nature-
za, magnitude, probabilidade e a
iminncia de sua materializao. A
informao a ser fornecida deve con-
ter os riscos normalmente previsveis
em funo da experincia habitual e
dos dados estatsticos, no sendo pre-
ciso que sejam informados de riscos
excepcionais ou raros.
Na prtica dos profissionais de
sade comumente se apresentam trs
padres de informao. O primeiro
o padro da prtica profissional,
onde o profissional de sade revela
aquilo que um colega consciencioso e
razovel teria informado em iguais ou
similares circunstncias. Nesta padro-
nizao, a revelao das informaes
a determinada pelas regras habitu-
ais e prticas tradicionais de cada pro-
fisso. o profissional que estabelece
o balano entre as vantagens e os
inconvenientes da informao, assim
como os tpicos a serem discutidos
e a magnitude de informao a ser
revelada em cada um deles (21).
A nosso ver, este padro de infor-
mao negligencia o princpio tico da
autonomia do paciente, pois o profis-
sional se utiliza de parmetros j esta-
belecidos por sua categoria, no adap-
66
tando ou individualizando as informa-
es aos reais interesses de cada indi-
vduo.
O segundo padro encontrado
o da pessoa razovel, que se funda-
menta sobre as informaes que uma
hipottica pessoa razovel, mediana,
necessitaria saber sobre determinadas
condies de sade e propostas tera-
puticas ou preventivas a lhe serem
apresentadas. Esse modelo se baseia
numa abstrao do que seria uma pes-
soa razovel, um ser considerado como
representao da mdia de uma de-
terminada comunidade e cultura. No
se requer que o profissional se dispo-
nha a revelar informaes que julgue
estar fora dos limites traados pela fi-
gura hipottica da pessoa razovel. O
profissional, ao utilizar tal modelo, con-
tinua a decidir o que ser ou no reve-
lado. Tambm, em nosso entender, o
padro da pessoa razovel tende a
negligenciar o princpio tico da auto-
nomia do paciente.
A utilizao de formulrios padro-
nizados sobre os procedimentos a se-
rem realizados em determinadas pato-
logias, cirurgias e agravos sade se-
gue freqentemente este padro de in-
formaes. Geralmente, essas frmu-
las padronizadas, se bem que tendo sua
importncia na disseminao de co-
nhecimentos sobre os eventos de sa-
de, no so suficientes para garantir
adequada informao, que deve ser
personalizada para obedecer aos prin-
cpios ticos apresentados. Muitas ve-
zes, informaes por escrito consistem
em mero rito legal e administrativo, por
isso no devem ser fontes exclusivas
de esclarecimento da pessoa assistida.
O terceiro padro o denomina-
do orientado ao paciente ou padro
subjetivo. Utilizando-o, o profissional
procura uma abordagem informativa
apropriada a cada pessoa, personali-
zada, passando as informaes a con-
templarem as expectativas, os interes-
ses e valores de cada paciente, obser-
vados em sua individualidade. Advo-
gamos a utilizao deste padro de
informaes, pois requer do profissio-
nal descobrir, baseado nos conheci-
mentos e na arte de sua prtica, e ob-
servando as condies emocionais do
paciente e fatores sociais e culturais a
ele relacionados, o que realmente cada
indivduo gostaria de conhecer e o
quanto gostaria de participar das de-
cises.
Do ponto de vista tico, a infor-
mao a ser transmitida ao paciente
mais ampla do que exigem as normas
legais e as decises dos tribunais que
tendem a acatar a validade dos dois
primeiros padres de informao an-
teriormente citados (22).
Enfaticamente, devemos discor-
dar dos que consideram que para a
maioria dos pacientes em nosso meio
praticamente impossvel estabelecer
condies para a utilizao cotidiana
do padro subjetivo devido ao bai-
xo nvel intelectual e sociocultural dos
pacientes que freqentam as institui-
es. Consideramos insatisfatrias as
explicaes que argumentam que boa
parte dos pacientes de instituio hos-
pitalar no compreende as informa-
es que lhes so reveladas. Tais afir-
mativas trazem consigo, disfarados ou
inconscientes, preconceitos tnicos ou
de classe social. Muitas vezes, se os
pacientes no compreendem as infor-
maes a causa est na inadequao
da informao e no na pretensa in-
capacidade de compreenso (23).
67
Certamente, no defendemos o
modo norte-americano de informar.
Independentemente do padro de in-
formao utilizado, o profissional de
sade, principalmente os mdicos, in-
formam ao paciente, mesmo sobre
prognsticos graves, quase sempre
imediatamente aps terem se certifica-
do do diagnstico. Isso ocorre pelo re-
ceio de promoo de sua responsabi-
lidade jurdica, atravs de vultosas
aes indenizatrias. Este tipo de con-
duta no atende conjuno dos prin-
cpios ticos aqui dispostos, a autono-
mia, a beneficncia e a no-malefi-
cncia, pois se preocupa apenas com
requisitos legais.
A pessoa autnoma tambm tem
o direito de no ser informada. Ser
informado um direito e no uma obri-
gao para o paciente. Ele tem o di-
reito de recusar ser informado. Nestes
casos, os profissionais de sade devem
question-lo sobre quais parentes ou
amigos quer que sirvam como canais
das informaes. certo que o indiv-
duo capaz tem o direito de no ser in-
formado, quando assim for sua vonta-
de expressa. O respeito ao princpio
da autonomia orienta que se aceite a
vontade pessoal, impedindo os profis-
sionais de sade de lhe fornecerem in-
formaes desagradveis e autorizan-
do que estes ltimos tomem decises
nas situaes concernentes ao seu es-
tado de sade, ou, ainda, que devam
preliminarmente consultar parentes ou
amigos do paciente.
Para validar-se tal direito, o paci-
ente deve ter clara compreenso que
dever do mdico inform-lo sobre os
procedimentos propostos, que tem o
direito moral e legal de tomar decises
sobre seu prprio tratamento. Deve
tambm compreender que os profissio-
nais no podem iniciar um procedi-
mento sem sua autorizao, exceto nos
casos de iminente perigo de vida. E,
finalmente, que o direito de deciso
inclui o de consentir ou de recusar a
se submeter a determinado procedi-
mento. A partir do preenchimento des-
ses pressupostos, o paciente pode es-
colher no querer ser informado ou,
alternativamente, que as informaes
sejam dadas a terceiros, ou ainda que-
rer emitir seu consentimento sem re-
ceber determinadas informaes.
Alm de livre e esclarecido o con-
sentimento deve ser renovvel quando
ocorram significativas modificaes
no panorama do caso, que se diferen-
ciem daquele em que foi obtido o con-
sentimento inicial. Quando preliminar-
mente recolhido, o foi dentro de deter-
minada situao, sendo assim, quan-
do ocorrerem alteraes significantes
no estado de sade inicial ou da cau-
sa para a qual foi dado, o consenti-
mento dever ser necessariamente re-
novado. A esse propsito, deve-se pon-
derar sobre a prtica comum adota-
da, principalmente nos ambientes hos-
pitalares, a respeito do denominado
termo de responsabilidade. Quando
o consentimento inicial, na entrada ao
ambiente hospitalar, tido como per-
manente e imutvel, mesmo que ocor-
ram modificaes importantes no es-
tado de sade, pode se estar violando
a vontade autnoma da pessoa.
como comprar algo e assinar, apesar
das letras midas, sem realmente sa-
ber com o que se est concordando.
ainda importante salientar que
o consentimento dado anteriormente
no imutvel, pode ser modificado ou
mesmo revogado a qualquer instante,
68
por deciso livre e esclarecida da pes-
soa assistida, sem que a ela devam ser
contrapostas objees e sanes mo-
rais ou administrativas.
Cabe tambm fazer-se distino
entre o consentimento esclarecido,
que consiste em um processo para
contribuir na tomada de deciso, pelo
paciente, do termo de consentimen-
to, que um documento legal, assi-
nado pelo paciente ou por seus res-
ponsveis com o intuito de respaldar
juridicamente a ao dos profissio-
nais e dos estabelecimentos hospita-
lares. Este ltimo tem pouca valida-
de tica quando no contempla os
fundamentos do processo de mani-
festao autnoma da vontade do
paciente. As decises envolvendo
procedimentos diagnsticos ou
teraputicos infreqentemente se es-
gotam em uma nica ocasio, ao
contrrio, ocorrem no transcorrer de
toda a relao mdico-paciente. No
ambiente hospitalar as decises tam-
bm no se restringem somente aos
mdicos, mas envolvem diversos pro-
fissionais de sade que participam na
assistncia ao paciente.
No queremos minimizar a evi-
dente limitao ao direito do pacien-
te informao imposta pelas con-
dies de atendimento em prontos-
socorros e servios de emergncia. O
tempo de contato entre os profissio-
nais e pacientes nessas condies
aqum do desejvel, e isto evidente-
mente impossibilita o estabelecimen-
to de uma adequada e necessria co-
municao.
A ao dos profissionais de sa-
de nas situaes de emergncia, em
que os indivduos no conseguem ex-
primir suas preferncias ou dar seu
consentimento, fundamentam-se no
princpio da beneficncia, assumindo
o papel de protetor natural do pacien-
te por meio de aes positivas em fa-
vor da vida e da sade. Nas situaes
de emergncia aceita-se a noo da
existncia de consentimento presumi-
do ou implcito, pelo qual supe-se que
a pessoa, se estivesse de posse de sua
real autonomia e capacidade, se ma-
nifestaria favorvel s tentativas de
resolver causas e/ou conseqncias de
suas condies de sade. Alis, a ina-
o nas circunstncias de grave e imi-
nente perigo de vida contraria o dever
de solidariedade imposto pelo acata-
mento ao princpio de beneficncia,
podendo consubstanciar situao de
omisso de socorro.
A compreenso jurdica
prevalente e as normas de tica profis-
sional dos mdicos e dos profissionais
de enfermagem apontam que no caso
de iminente perigo de vida o valor da
vida humana possa se sobrepor ao re-
querimento do consentimento e do es-
clarecimento do paciente (CEM, arts.
46 e 56). A sonegao de informaes
nessas situaes justificada pragma-
ticamente pela premncia da necessi-
dade de agir, confrontando-se com as
dificuldades de ser estabelecida ade-
quada comunicao.
Contudo, deve-se realar que o
iminente perigo no pode ser de modo
que resulte em sonegao de informa-
o/esclarecimento/direito de deciso,
em ocasies em que no existem justifi-
cativas ticas para desrespeitar a auto-
nomia das pessoas. O Cdigo de tica
Mdica prev que o proceder nas situa-
es de iminente perigo de vida seja ori-
entado pelos princpios ticos da be-
neficncia e da no-maleficncia, na
69
proteo do bem-estar do paciente, as-
sumindo o profissional o papel de prote-
tor natural do mesmo. Porm, preciso
observar que nas prprias situaes de
exceo eticamente desejvel que de-
cises verdadeiramente autnomas dos
pacientes ou de seus responsveis se-
jam respeitadas, e que as normas dos
cdigos de tica profissional no se-
jam utilizadas, como freqentemente
acontece, contra os valores e objetivos
de vida do paciente.
O termo de consentimento
livre e esclarecido
Fornecer um texto padro de con-
sentimento livre e esclarecido para ser
seguido, em nossa opinio, no ade-
quado. Alguns requisitos, entretanto,
so bsicos e no devem ser esque-
cidos quando da redao desse do-
cumento. Esses elementos essenciais de
um termo de consentimento livre e es-
cl arecido poderiam ser assim
sumarizados:
1) Ser feito em linguagem aces-
svel;
2) Conter: a) os procedimentos ou
teraputicas que sero utilizados,
bem como seus objetivos e justifi-
cativas; b) desconfortos e riscos
possveis e os benefcios esperados;
c) mtodos alternativos existentes;
d) liberdade do paciente recusar ou
retirar seu consentimento, sem
qualquer penalizao e/ou pre-
juzo sua assistncia; e) assina-
tura ou identificao dactilos-
cpica do paciente ou de seu re-
presentante legal.
A conduta tica na prtica
mdica atual
A prtica mdica atual exige rup-
turas com o sistema tico tradicional?
A tica hipocrtica baseia-se, fun-
damentalmente, nos princpios da
beneficincia, no-maleficincia, res-
peito vida, privacidade e
confidencialidade.
Como regra geral, esses princpios
tradicionais continuam vlidos e ade-
quados para nortearem a prtica m-
dica; o que deve, entretanto, ser acres-
centado o princpio do respeito
autonomia do paciente.
manifestao autnoma da sua
vontade, devidamente esclarecida pelo
profissional de sade, cabe a deciso
final em cada procedimento. Ressalve-
se que todos esses princpios no so
absolutos e, portanto, admitem condu-
tas de exceo.
Referncias bibliogrficas
Dias CV. Literatura grega. In: Enciclo-
pdia Barsa. Rio de Janeiro: Enciclop-
dia Britnica do Brasil Publicaes,
1966.
Jaeger W. Paideia: los ideales de la cul-
tura griega. Mxico: F.C. Economica,
1967.
Ribeiro RJ. USP debate os direitos hu-
manos. Calendrio Cultural, USP, abril,
1997.
Gracia D. Introduccin. La biotica m-
dica. Bol Of Sanit Panam 1990;108(5-
6):374-8.
4.
2.
1.
3.
70
Chaves A. Direito ao prprio corpo. Rev
Med 1977;6(11):21-4.
Gracia D. La biotica mdica. In:
Organizacin Panamericana de la Salud.
Biotica: temas y perspectivas. Washing-
ton: OPAS, 1990: 3-7.
Pueyo VM, Rojo J, Guevara LL. Los
derechos del enfermo. Rev Esp Med Leg
1983;36-37:7-44.
Macedo CG. Biotica. Bol Of Sanit
Panam 1990;108(5-6):1.
Pessini L, Barchifontaine P. Problemas
atuais de biotica. 4 ed. So Paulo:
Loyola, 1997.
Pellegrino ED. La relacin entre la au-
tonomia y la integridad en la tica m-
dica. In: Organizacin Panamericana de
la Salud. Biotica: temas y perspecti-
vas. Washington: OPAS, 1990: 8-17.
Chaui M. Convite filosofia. 5 ed. So
Paulo: tica, 1995.
Culver CM. Competncia do pacien-
t e. I n: Segre M, Cohen C,
organizadores. Biotica. So Paulo:
EDUSP, 1995: 63-73.
Harris J. The value of life: an introduction
to medical ethics. London: Routledge and
Kegan Paul, 1985: 197-8.
Singer P. tica prtica. So Paulo:
Martins Fontes, 1994: 18.
Culver CM, Gert B. Philosophy in
medicine. New York: Oxford Press, 1982.
Konrad MS. A defense of medical
paternal ism maximizing patients
autonomy. In: Edwards RB, Graber GC.
Bioethics. San Diego: Hacourt Brace
Jovanovich Publishers, 1988: 141-50.
Muoz DR. A biotica e a relao mdi-
co-paciente. In: Biotica clnica: curso
de extenso universitria. So Paulo: Fa-
culdade de Cincias Mdicas da Santa
Casa de So Paulo, 1997.
Fortes PAC. O consentimento informa-
do na atividade mdica e a resposta dos
tribunais. Rev Justia Democracia
1996;1(2):185-97.
Fortes PAC. Reflexes sobre a biotica
e o consentimento esclarecido. Biotica
1995;2:129-35.
Hewlett S. Consent to clinical research:
adequately voluntary or substancially
i nf l uenced? J Med Et hi cs 1996;
22:232-7.
Beauchamp TL, McCullough LB. The
management of medical information:
legal and moral requeriments of informed
voluntary consent. In: Edwards RB,
Graber GC. Bioethics. San Diego:
Hacourt Brace Jovanovich Publishers,
1988: 130-41.
Fortes PAC. A responsabilidade mdica
nos tribunais [tese]. So Paulo: Univer-
sidade de So Paulo, Faculdade de Sa-
de Pblica, 1994.
Cassileth BR, Zupkis RV, Sutton-Smith
K, March V. Informed consent: why are
its goals imperfectly realized? N Engl J
Med 1980;302:896-900.
23.
22.
20.
12.
21.
11.
19.
18.
17.
10.
16.
9.
15.
14.
13.
8.
7.
6.
5.
71
Introduo
Giovanni Berlinguer, em seu lti-
mo livro tica de la Salud, fala de uma
biotica de justificativa e retoma a
crtica apresentada pela prestigiosa
revista Hastings Center Report. Alerta
Berlinguer que essa nova tendncia
pode ser considerada como o retorno
a um deserto moral. Diz textualmente:
Ontem a tica tratava de Justia, do
acesso aos servios de sade, dos di-
reitos dos enfermos; hoje, fala-se uni-
camente da racionalizao dos trata-
mentos mdicos.
Essa nova viso deformada da
biotica pretende legitimar algumas
decises polticas fortemente restritivas
aplicao de recursos na rea da
sade.
Jos Eduardo de Siqueira
O Princpio da Justia
A distribuio natural dos bens no justa ou injusta; nem
injusto que os homens nasam em algumas condies parti-
culares dentro da sociedade. Estes so simplesmente fatos
naturais. O que justo ou injusto o modo como as institui-
es sociais tratam destes fatos.
JOHN RAWLS - Theory of Justice
Cifras do Banco Mundial mostram
que caso a mortalidade infantil regis-
trada nos pases pobres fosse reduzi-
da ao nvel observado nos pases ri-
cos, onze milhes de crianas pode-
riam deixar de morrer anualmente.
Esses registros iniciais nos pare-
cem oportunos para introduzir o tema
do princpio da justia, j que a possi-
bilidade do retorno ao deserto
moraldeve no somente nos provocar
indignao como, tambm, o desejo de
resgatar o enunciado kantiano de que
o ser humano h de ter sempre digni-
dade e no preo, como querem alguns
financistas.
Com freqncia, as autoridades
que estabelecem as polticas de aten-
o sade amparam-se em diferen-
tes teorias da justia para defender
72
suas decises. Seria equivocado, po-
rm, pensar que somente proposies
filosficas sobre a justia determi-
nam concretamente medidas gover-
namentais. Entretanto, elas no s as
influenciam como, tambm, do sus-
tentao s argumentaes de seus
formuladores.
Imperioso, portanto, conhecer
um pouco das principais correntes de
pensamento sobre o princpio da jus-
tia propostas ao longo da histria da
filosofia poltica.
A justia amparada na
metafsica
A teoria da justia formulada pe-
los pensadores gregos que se mante-
ve vigente no mundo ocidental desde
o sculo VI a.C. at o sculo XVII de
nossa era entendia a justia como
uma propriedade natural das coisas.
Ao ser humano caberia apenas
conhec-las e respeit-las. Havendo
uma lei natural imutvel, tudo teria o
seu lugar no plano csmico ou mesmo
no das relaes humanas. Plato des-
creve uma sociedade naturalmente or-
denada e estabelece, em seu livro A
Repblica, a categoria de homens in-
feriores, os artesos, ao lado de outros
que naturalmente seriam forjados para
o comando poltico, os governantes. Os
indivduos inferiores prestariam per-
manente obedincia aos governantes,
a mesma que habitualmente se devo-
tava aos pais. Este o fundamento do
paternalismo deste modelo filosfico.
Assim, na cidade justa descrita por
Plato, da mesma maneira que o sdi-
to devia obedincia ao soberano, tam-
bm o enfermo a deveria aos mdicos.
A medicina era tida como uma esp-
cie de sacerdcio e o mdico, de al-
gum modo, o mediador entre os deu-
ses e os homens. Os servios mdicos
eram considerados de tal maneira su-
periores que, em realidade, no pode-
riam ser pagos conforme os preceitos
habituais de troca, seno com a incor-
porao obrigatria de um tributo de
honra (honor), o que deu origem ao
termo honorrio.
Na cultura grega identificava-se
uma clara superioridade do bem co-
mum sobre o individual. Aristteles, por
exemplo, considerava que a polis se-
ria, por natureza, anterior ao indviduo
porque o todo necessariamente an-
terior parte e por ser somente ela
(polis) auto-suficiente em si mesma. Na
ordem da justia isto significava que o
bem comum necessariamente ante-
rior ao bem individual. Fundamental,
porm, ter claro o sentido preciso do
que se entendia por bem comum.
Esse enunciado aristotlico ganha em
S. Toms de Aquino os contornos de
doutrina religiosa. Assim, baseado no
livro do Gnesis, toda a espcie hu-
mana procederia de um nico homem
Ado. Todos os homens tomariam
parte em uma comunidade natural.
Essa concepo metafsica que unia
os homens a uma entidade atemporal
persiste ainda hoje na doutrina catli-
ca quando aponta para uma Jerusa-
lm Celeste unida a uma Jerusalm Ter-
restre ou Padecente, esta ltima repre-
sentada por toda a comunidade de cren-
tes vivos. O mundo sobrenatural unido
ao natural em plena harmonia, tudo re-
gido por uma lei imutvel. Dentro dessa
tica os atos individuais seriam consi-
derados bons se respeitassem essa
73
ordem natural. Do mesmo modo, a
perfeio moral s poderia ser
alcanada de maneira completa na fi-
gura do governante. Todos deveriam
estar unidos ao soberano pelo vnculo
ilimitado da obedincia. A figura do
mdico, nessa sociedade, apresentava-
se tal qual a do soberano. Quando
Aristteles e S. Toms de Aquino fala-
vam da perfeio moral do rei, para
quem os sditos deveriam demonstrar
incondicional obedincia, se reconhe-
ce de imediato o mesmo modelo na
relao mdico-paciente. O mdico,
tanto quanto o rei e o sacerdote, re-
presentava o bem comum e, portanto,
a perfeio moral. Por isso, a nica vir-
tude que se esperava de um enfermo
era a obedincia. S. Antonio de Flo-
rena escreveu em 1459: Se um ho-
mem enfermo recusa os medicamen-
tos prescritos por um mdico chama-
do por ele ou por seus parentes, pode
ser tratado contra sua prpria vontade,
do mesmo modo que um homem pode
ser retirado contra sua vontade de uma
casa que est prestes a ruir.
Nessa sociedade cabia aos legis-
ladores implantar leis que expressas-
sem este ideal de justia. A justia
como proporcionalidade natural. O
escravo era atendido por um mdico
escravo, o arteso era sempre impos-
sibilitado de receber tratamentos
dispendiosos, somente o cidado rico
teria completo acesso aos bens da sa-
de. Estas diferentes atenes mdicas
eram consideradas justas, pois eram
consensualmente aceitas como propor-
cionais e atenderiam aos princpios da
justia distributiva na sociedade regida
por uma lei natural, transcendente e
imutvel. Nesse modelo de justia os
pacientes eram destitudos de autono-
mia e recebiam uma parcela de aten-
dimento mdico proporcional sua
categoria social e todo esse universo
estratificado era justificado por um
princpio metafsico.
A justia contemplando o
indivduo
Por um largo perodo da histria
prevaleceu a idia da lei natural como
norma de relaes entre os homens.
Somente na modernidade a justia
deixou de ser concebida como condi-
o natural para transformar-se em
deciso moral. Evoluiu-se no entendi-
mento da justia como valor intrnse-
co de uma lei natural para um bem
decidido em termos de um contrato
social. Este novo pacto passou a ditar
normas de relao entre o sdito e o
soberano no mais pela submisso,
mas sim por uma deciso livre. O ho-
mem comum agora desconsiderava a
lei natural como fonte autntica de
poder e impunha sua deciso moral
como nica e exclusiva norma de jus-
tia. No final do sculo XVII, John
Locke descreveu como direitos prim-
rios de todo ser humano o direito
vida, sade, integridade fsica,
liberdade e propriedade.
No incio do renascimento, o tema
da justia foi tratado por Jean Bodino
em seu livro Repblica, onde prope
uma monarquia harmnica na qual os
sditos no seriam tratados como cri-
anas, numa clara referncia ao mo-
delo grego, mas sim como adultos, do-
tados de liberdade, e condena a idia
dos monarcas abusarem das pessoas
livres, bem como dos escravos e dos
74
bens dos sditos como se fossem seus.
Disse Bodino: Entendo por justia a
reta distribuio das recompensas e das
penas e do que pertence a cada um de
acordo com o direito (...) Dita distri-
buio s pode realizar-se pela aplica-
o conjunta dos princpios da igual-
dade e da semelhana, o que cabalmen-
te constitui a proporo harmnica(...)
Nenhum autor grego ou latino referiu-
se justia harmnica seja para sua
distribuio, seja para o governo da Re-
pblica. No obstante, se trata da for-
ma de justia mais divina e mais
excelsa...
Entre Bodino e Locke houve um
pensador muito importante, Espinoza,
que em seu Tratado Teolgico-Poltico
defende a idia de que a soberania
autntica do regime poltico perfeito
deve residir exclusivamente no direito
de todos os homens em uma comuni-
dade democrtica. Condenando o ab-
solutismo, Espinoza considera como
antinatural o poder de um monarca
sobre seus sditos e prope, como mais
ajustado natureza, que cada cida-
do transfira seus direitos em favor da
maioria da sociedade. Espinoza enten-
dia a justia como obra da razo e
construda dentro de um pacto demo-
crtico.
O Tractatus Theologico-Politicus
de Espinoza de 1670. Em 1690, John
Locke publica Two Treatises on Civil
Government, a carta magna do libera-
lismo contratualista. O autor categ-
rico em afirmar que quando as leis no
respeitam os direitos de cada cidado
o Estado excede os limites de suas fun-
es e torna-se injusto. Para Locke, a
verdadeira justia erigia-se em um con-
trato social que obrigatoriamente ema-
nava do exerccio da liberdade indivi-
dual. Segundo o pensamento liberal,
h uma concepo minimalista do Es-
tado que teria simplesmente a misso
de permitir o exerccio dos direitos
naturais de cada cidado: o direito
vida, sade, liberdade e proprie-
dade. Estabelecia-se a prevalncia dos
direitos individuais sobre o poder do
Estado; a plena liberdade do contrato
substitua o velho ajuste natural.
No campo da sade este novo
enfoque trouxe mudanas substanciais.
Se no antigo modelo o indivduo era um
elemento passivo e considerava-se imo-
ral a desobedincia s decises mdi-
cas, no pensamento liberal a justia sa-
nitria incorpora-se nova realidade do
mercado e transacionada segundo as
leis livres do comrcio, sem qualquer in-
terveno de terceiros. Desta corrente de
pensamento surgiram os princpios da
medicina liberal que estabeleceu regras
no relacionamento mdico-paciente aco-
modadas s leis de mercado, afastado o
Estado de qualquer tipo de interveno.
Qualquer intermediao era considera-
da prejudicial. As associaes mdicas
emergentes no sculo XIX condenavam
em seus cdigos deontolgicos os pro-
fissionais que recebiam salrios. A as-
sistncia mdica era regida por um con-
trato particular entre mdico e pacien-
te, com regras de comum acordo entre
as partes, sem nenhum tipo de contro-
le externo.
Segundo este modelo, instituiu-
se no sculo XIX trs tipos bem di-
ferenciados de assistncia mdica. As
famlias ricas, que dispunham de re-
cursos financeiros suficientes para ce-
lebrar qualquer contrato, pagavam os
honorrios arbitrados pelos mdicos.
Havia, tambm, um amplo estrato da
populao que se valia de um seguro
75
privado para conseguir saldar os com-
promissos com intervenes mdicas
e internaes hospitalares. Finalmen-
te, estava a maioria das pessoas po-
bres que no tinham recursos para
acesso ao sistema sanitrio. Para aten-
der a esse enorme contingente de
despossudos foram criadas as entida-
des beneficentes, que se pautavam pelo
sentimento cristo de misericrdia e
caridade. Assim, surgiram no Ociden-
te as Santas Casas de Misericrdia,
invariavelmente dirigidas por irmanda-
des de freiras catlicas. Muitos dos
enfermos atendidos nessas entidades
o foram na condio de indigentes. Se
recorrermos ao Dicionrio de Aurlio
Buarque de Holanda vamos encontrar
o termo indigncia como a falta do
necessrio para viver, pobreza extre-
ma, penria, misria. A realidade
destes pacientes bem conhecida de
mdicos formados at a dcada de
sessenta de nosso sculo e que, por
serem recentes, mostram uma outra
face da misericrdia, que a misria
que imperava no atendimento a esses
indivduos. Em alguns hospitais podia-
se l er, af i xados s port as, os
versculos iniciais do Salmo 51, cha-
mado Misere e que diz:Tem pieda-
de de mim, Deus, por teu amor!
Apaga minhas trangresses, por tua
grande compaixo!.
A indigncia roubava dessas pes-
soas o direito a qualquer reivindica-
o sobre justia e as tornava prota-
gonistas do que Virglio descrevia como
muta ars. A prtica mdica exercida
como a arte muda de deuses que es-
palhavam suas benesses a pacientes
que absolutamente obedientes as re-
cebiam com extrema e comovida gra-
tido. A teoria liberal nada tinha a ofe-
recer a essa multido de indigentes que
no podia exercer o que seriam, se-
gundo Locke, os direitos naturais de
qualquer cidado pelo mero fato de ser
pessoa humana. O Estado minimalista
de Locke era muito frgil e destitudo
de poder para intervir em benefcio de
quem quer que fosse. As leis do mer-
cado liberal pressupunham para o ple-
no exerccio da cidadania o domnio
do poder econmico para celebrar con-
tratos que possibilitassem acesso aos
cuidados de sade. Fora desse mbi-
to, s restava a esmola, a misericr-
dia. E foi exatamente a bvia injustia
deste Estado minimalista que gerou o
Estado maximalista proposto por
Marx.
A justia contemplando o
coletivo
Karl Marx e Friedrich Engels pro-
puseram como alternativa para as in-
justias da sociedade liberal o regime
socialista como nico caminho para a
construo de uma sociedade huma-
na autenticamente igualitria e justa.
Argumentavam que a justia distri-
butiva jamais poderia prosperar no li-
beralismo que se prendia a uma ban-
deira dos direitos civis e polticos sem
considerar os direitos econmicos, so-
ciais e culturais. Ambos ridiculariza-
vam a teoria dos direitos humanos,
dizendo que os liberais a defendiam
como estratgia para se atingir a ver-
dadeira meta dos interesses burgueses,
que era o de controle da propriedade
privada sobre os meios de produo.
Atacava, portanto, o socialismo a tese
central dos regimes liberais que se
76
apoiavam no respeito irrestrito pro-
priedade privada. Marx dizia que s
se conseguiria a justia social anulan-
do-se qualquer vestgio da proprieda-
de privada, transformando-a em pro-
priedade coletiva. O Estado liberal,
para os socialistas, era uma superes-
trutura edificada sobre uma infra-es-
trutura desigual e que apenas fazia
institucionalizar a injustia. Entendia
Marx que o liberalismo apenas trans-
ferira de mos o poder dos senhores
feudais para a burguesia. A proprie-
dade privada empregava o proletrio
que na condio de assalariado fazia
crescer o poder da burguesia sem re-
ceber em troca qualquer parcela do
poder. S haveria uma maneira de se
construir a sociedade justa, que era
tornando propriedades comuns os bens
de produo. Marx foi mais longe ain-
da, ao dizer que se o capital permane-
cesse como patrimnio pessoal de al-
guns da resultaria que seus propriet-
rios imporiam suas personalidades e
iniciativas, enquanto os trabalhadores
careceriam de ambas e, conseqente-
mente, perderiam tambm sua prpria
liberdade. Por considerar essa estrutu-
ra injusta, Marx declara que a socie-
dade humana deveria aspirar a um Es-
tado no qual fossem abolidas a per-
sonalidade, a independncia e a liber-
dade burguesas. Interpretava o ho-
mem gerado pelo liberalismo como um
indivduo fechado em si mesmo, em
seus interesses particulares e aparta-
do da comunidade, enfim, um verda-
deiro predador dos mais nobres va-
lores da sociedade humana. Os ni-
cos vnculos que o manteria unido
sociedade seriam suas necessidades e
interesses na preservao de sua pro-
priedade, ou seja, de seus interesses
egostas. A injustia, portanto, era vis-
ta como intrnseca ao sistema liberal e
capitalista, no cabendo outra alterna-
tiva seno a completa transformao
do mesmo. Embora tivesse existido
uma corrente de pensadores socialis-
tas que vislumbravam a possibilidade
de uma humanizao do sistema libe-
ral, contemplando os operrios com
maiores direitos no campo econmi-
co e social, acabaram, finalmente, por
prevalecer as teses de Marx. Para ele,
os filsofos idealistas teriam criado
uma grande falcia ao identificar a
pessoa humana com o conceito de
moral (Kant) ou a uma realidade espi-
ritual (Hegel), esquecendo que o ho-
mem real inseparvel de suas condi-
es materiais de vida e de suas rela-
es de produo. Desconhecer essa
evidncia seria condenar a sociedade
a um idealismo puro, sem propostas
racionais para os problemas da im-
plantao da justia entre os homens.
Na sociedade comunista a sade
teria que ser, portanto, um servio p-
blico que obrigatoriamente seria ofe-
recido a todos segundo suas necessi-
dades. Advogou Marx a famosa tese
a cada um exigir-se segundo sua ca-
pacidade e dar-se segundo sua neces-
sidade. No havendo lugar para a
prtica liberal da medicina, o Estado
passa a oferecer a todo cidado, de
modo integral e gratuito, a assistncia
sanitria segundo suas necessidades.
Dessa maneira se alcanaria a verda-
deira justia no campo da sade. As-
sim foi feito na ex-Unio Sovitica
aps a Revoluo de 1917, e se faz at
hoje em Cuba.
Um problema que permaneceu
sem soluo no socialismo clssico foi o
do tratamento desigual dos diferentes
77
nveis de liberdade humana. A liber-
dade de e a liberdade para, considera-
das pelos socialistas, respectivamente,
como formal e real. Consagrou-se
como essencial as liberdades para tra-
balhar, formar famlia, educar os filhos,
todas atendidas pelos direitos econ-
micos, sociais e culturais. Considera-
das suprfluas as liberdades de expres-
so, de culto religioso, de produo
intelectual, o que recentemente moti-
vou os seguintes comentrios do ex-
primeiro ministro russo Gorbachev,
quando da queda do comunismo na
Unio Sovitica: O que morreu para
sempre foi o modelo criado por Stalin,
que desde o primeiro momento foi uma
aventura, um regime que ignorava por
completo a democracia, os direitos
humanos (...)
Em busca da justia
no sculo XX
Dois autores marcaram a dca-
da de setenta de nosso sculo com
novas propostas para a justia: Robert
Nozick e John Rawls. O primeiro pu-
blicou, em 1974, Anarchy, State and
Utopia, estabelecendo que somente
poderia ser considerado justo o Esta-
do que se limitasse proteo dos di-
reitos individuais das pessoas. Reto-
ma a tese do Estado Mnimo argu-
mentando que o Estado Maior vio-
lava os direitos dos cidados. Na in-
troduo de sua mencionada obra,
assim expe seu conceito de Estado:
Nossa concluso principal a propsi-
to do Estado que est justificado um
Estado mnimo, limitado s estritas fun-
es de proteo contra a violncia, o
furto, a fraude no cumprimento dos
contratos. O Estado no pode usar
seu poder de coao com a finalida-
de de obrigar alguns cidados a aju-
dar outros (...)
Mais influente que Nozick foi, sem
dvida, Rawls, que em 1971 publicou
A Theory of Justice, onde procura es-
tabelecer a justia como eqidade.
Muito prximo a algumas idias fun-
damentais da tica kantiana, Rawls
parte da pessoa como um absoluto
moral. Quer com isto dizer que todo
ser humano, uma vez alcanada a ida-
de da razo, autonmo e tem um
perfeito senso de justia. Estabelece
uma ponte entre os conceitos de pes-
soa moral e sociedade bem-ordena-
da. Para que ocorra o perfeito
entrosamento entre as duas variveis,
pessoa e sociedade, estabelece como
imprescindveis alguns direitos indivi-
duais e sociais primrios, que seriam:
1) Liberdades bsicas de pensa-
mento e de conscincia que ca-
pacitariam o indivduo para to-
mar decises e buscar a implan-
tao do bem e da justia;
2) Liberdade de movimento e de
livre escolha de ocupaes;
3) Liberdade de rendas e rique-
zas;
4) Condies sociais para o res-
peito a todo indviduo como pes-
soa moral.
Rawls considera que uma socie-
dade somente ser justa se todos os
valores sociais liberdade e oportuni-
dades, ingressos e riquezas, assim como
as bases sociais e o respeito a si mes-
mo forem distribudos de maneira
78
igual, a menos que uma distribuio
desigual de algum ou de todos esses
valores redunde em benefcio para to-
dos, em especial para os mais necessi-
tados.
Partindo do imperativo categ-
rico da razo kantiana, Rawls esta-
belece uma teoria de justia social
que busca integrar as liberdades ci-
vis e polticas com os direitos econ-
micos, sociais e culturais. Transfor-
ma-se em modelo para os projetos
social-democratas que passaram a
imperar no mundo ocidental. Entre
o liberalismo extremo e o socialismo
ortodoxo prope uma tese interme-
diria que denomina de justia como
eqidade. Talvez seja a teoria que
mais repercusses teve na socieda-
de ocidental moderna. Mesmo na
medicina sua influncia foi profun-
da. Assim, inmeros so os autores
que basearam-se em Rawls para ela-
borar engenhosas propostas para os
temas de justia sanitria, como, por
exemplo, Norman Daniels e Robert
Veatch. Este ltimo publicou em 1986
o livro The Foundations of Justice,
onde, baseado em princpios da mo-
ral judaico-crist, formula uma teo-
ria de justia igualitria em que pro-
pe igualdade nos valores morais, nas
oportunidades e nas conseqncias
sociais. Outro autor que recebeu in-
fluncia de Rawls e fez importantes
contribuies ao tema da justia
sanitria foi Charles Fried, que con-
sidera como obrigao do Estado
prestar assistncia aos mais neces-
sitados at um mnimo bastante
elevado e muito acima do propos-
to por Nozick.
A ttulo de concluso e por
uma justia sanitria digna no
Brasil
A receita do Estado Mnimo faz
parte do iderio neoconservador ou
neoliberal que prope um modelo
elitista de democracia frente ao
participativo. Estabelece limites
drsticos ao papel do Estado, que
se ocuparia to-somente de obras e da
ordem pblica, ou seja, garantir a co-
modidade e a segurana dos cidados,
ao invs de intervir para assegurar a
liberdade e a eqidade. bvio que,
nesse modelo, a aplicao do princ-
pio da justia ficou tributria da tica
utilitarista que responde s leis do mer-
cado. Os que defendem uma democra-
cia participativa entendem a sade
como um bem to fundamental que
para ser eticamente aceitvel deve ser
oferecida para todos, e no para a
maioria. Pretendem substituir o con-
ceito de Jeremy Bentham de o maior
bem para o maior nmero para o mais
equnime um adequado nvel de as-
sistncia sade para todos.
Na dcada de setenta, a Organi-
zao Mundial da Sade (OMS) lan-
ou a campanha Sade para todos
no ano 2000. Esse projeto contava
com o empenho de vrios governos
para que, no final deste milnio, fos-
sem reduzidas as diferenas nos indi-
cadores de sade das populaes po-
bres e ricas em pelo menos 25%, o que
significaria melhora sensvel em favor
dos pases mais carentes. A dois anos
do ano 2000, o ndice de 25% prova-
velmente ser atingido, porm em sen-
tido oposto, ou seja, mais se acentuou
a diferena dos indicadores de sade
79
do Primeiro para o Terceiro Mundo.
Lamentavelmente, constata-se que o
mote da campanha da OMS est se
transformando em Sade para pou-
cos no ano 2000.
Os pases pobres apresentam
uma expectativa de vida mdia 20 anos
menor que a dos pases ricos, e a morta-
lidade infantil 10 a 15 vezes maior.
Quando se analisa os indicadores de
sade das classes altas dos pases do
Terceiro Mundo, verifica-se que os
mesmos so comparveis aos obser-
vados nos pases do Primeiro Mundo.
Este fato deu margem a que fosse iro-
nicamente proposto um nome mais
apropriado para o nosso pas, que
passaria a ser conhecido como
Belndia. Pequena parte da populao
vivendo nas condies da rica Blgica
e a grande maioria na pobre ndia.
Josu de Castro, em seu livro Geogra-
fia da Fome, identificou nesse contras-
te uma imensa populao de insones.
Alguns que no dormiriam de fome e
outros que no dormiriam com medo
daqueles que tm fome.
No Brasil j passada a hora de
definirmos se desejamos a sade apre-
sentada no balco de negcios e me-
diada pelas leis de mercado, onde os
detentores dos recursos econmicos
compram a melhor assistncia mdi-
ca a qualquer preo, ou a sade ofere-
cida a todos como um direito univer-
sal. Nossa Constituio, ao menos,
estabelece no artigo 192 que a Sa-
de um direito de todos e um dever do
Estado.
Infelizmente, vemos o Estado fu-
gir de seu compromisso constitucional
e entregar recursos a hospitais priva-
dos, esquecendo as unidades pblicas
de sade. Num artigo publicado na
revista Biotica do Conselho Federal de
Medicina, o deputado federal e ex-se-
cretrio da Sade do Estado de So
Paulo, Jos Aristodemo Pinotti, faz a
seguinte afirmao: A realidade que,
nestes ltimos cinco anos, terceirizou-
se caoticamente a sade e, hoje, o se-
tor privado contratado, que absorve
cerca de 50% dos recursos da rea,
mal remunerado, mal controlado, frau-
da com freqncia e atende sem efici-
ncia ou eficcia.
A Biotica, como foro privilegia-
do por sempre expressar reflexes
oriundas de saberes multidisciplinares,
percebe que a assistncia mdica
centrada no hospital e calcada nos l-
timos avanos tecnolgicos extrema-
mente onerosa e pouco eficiente. No
Brasil, gasta-se 30% dos recursos do
Sistema nico de Sade com mtodos
de investigao que envolvem alta
tecnologia para o atendimento da
estreitssima faixa de 3% da popula-
o. Por outro lado, a regio Sudeste,
a mais rica de nosso pas, recebeu em
1990, do Ministrio da Sade, aproxi-
madamente 60% dos recursos para a
prestao de atendimento ambula-
torial. Em 1993, o Sistema nico de
Sade gastou, no atendimento
ambulatorial de pacientes, US$ 25,71
por habitante em So Paulo e apenas
US$ 14,43 na Paraba, sabidamente
muito mais carente. Se considersse-
mos os postulados de Rawls devera-
mos inverter estas dotaes fazendo,
verdadeiramente, uma discriminao
positiva para a Paraba.
Nossas ltimas linhas, pesarosa-
mente, so para registrar que vivemos
a triste realidade de uma Sade dos
trs i: ineficiente, inqua e injusta.
Resta-nos o alento de saber que h
80
muito o que fazer e que nossa respon-
sabilidade grande em buscar implan-
tar princpios de justia que transfor-
mem nossa sade em uma prtica efi-
ciente, equnime e justa. Afinal, pre-
ciso construir o Brasil sobre a Belndia
para que, sem medo, todos possamos
dormir em paz.
Bibliografia
Banco Mundial. Invertir en salud: infor-
me sobre el desarrollo mundial. Wa-
shington: Oxford Univ.Press, 1993.
Bentham J. Fragmentos sobre el
gobierno. Sarpe: Madrid, 1985.
Berlinguer G. tica de la salud. Buenos
Aires: Lugar Editorial, 1996.
Berlinguer G. Questes de vida. So Pau-
lo: HUCITEC/CEBES, 1993.
Camps V. El malestar de la vida pbli-
ca. Barcelona: Grijalbo, 1996.
Colomer E. El pensamiento alemn de
Kant a Heidegger. Barcelona: Herder,
1995.
Cortina A. tica sin moral. Madrid:
Tecnos, 1995.
Daniels N. Just health care. Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1985.
Gracia D. Fundamentos de biotica.
Madrid: Eudema, 1989.
Gracia D. Procedimientos de decisin en
tica clnica. Madrid: Eudema, 1991.
Habermas J. Escritos sobre moralidad y
eticidad. Barcelona: Paids, 1991.
Locke J. Dos ensayos sobre el gobierno
civil. Madrid: Aguilar, 1969.
Mendes EV. Uma agenda para a sade.
So Paulo: Hucitec, 1996.
Nozick R. Anarchy, state and utopia.
New York: Basic Books, 1974.
Pinotti JA. Prioridade x escassez em sa-
de: viso poltica. Biotica (CFM)
1997:5:53-66.
Rawls J. Teoria de la justicia. Madrid:
Fondo de Cultura Econmica, 1979.
Veatch RM, Branson R. Ethics and
health policy. Cambridge: Ballinger,
1976.
81
Lo Pessini
Christian de Paul de Barchifontaine
Introduo
Nosso trabalho contextualizado
na rememorao histrica dos fatos e
acontecimentos fundamentais, dos do-
cumentos e protagonistas que deram
origem reflexo biotica princi-
pialista: o Relatrio Belmont, da Co-
misso Nacional Para a Proteo
dos Seres Humanos da Pesquisa
Biomdica e Comportamental (1978);
uma descrio rpida do contedo dos
princpios apontados pela Comisso e a
obra clssica, Principles of Biomedical
Ethics, de T. L. Beauchamp e J. F.
Childress (parte I). A seguir, nos pergun-
tamos porque a biotica tornou-se
principialista (parte II).
Nossa reflexo apresenta uma
anlise comparativa, tentando traar
Biotica: do Principialismo
Busca de uma Perspectiva
Latino-Americana
o perfil de uma biotica made in
USA e europia (parte III), bem
como a fisionomia de uma biotica
latino-americana (parte IV). Finaliza-
mos apontando, para alm da lingua-
gem dos princpios, a existncia de
outras linguagens alternativas que
ajudam a captar a riqueza da expe-
rincia tica, inesgotvel numa de-
t ermi nada vi so reduci oni st a.
Alertamos para a necessidade de ela-
borao de uma biotica latino-ame-
ricana aderente vida destes povos,
que ao honrar seus valores histri-
cos, culturais, religiosos e sociais,
obrigatoriamente na sua agenda
temtica contextual, ter encontro
marcado com a excluso social e
pontualizar valores tais como co-
munidade, eqidade, justia e so-
lidariedade.
82
Gnese do paradigma
principialista da biotica made
in USA
Para melhor entendermos e fazer-
mos uma avaliao crtica pertinente
do paradigma biotico principialista,
precisamos mergulhar nas origens do
surgimento da reflexo biotica e des-
tacar dois fatos de fundamental impor-
tncia, quais sejam, o Relatrio
Belmont e a obra citada de
Beauchamp e Childress, Principles of
Biomedical Ethics.
a) O Relatrio Belmont (1)
importante ressaltar que na ori-
gem da reflexo tica principialista
norte-americana est a preocupao
pblica com o controle social da pes-
quisa em seres humanos. Em parti-
cular, trs casos notveis mobilizaram
a opinio pblica e exigiram regula-
mentao tica. So eles: 1) Em 1963,
no Hospital Israelita de doenas cr-
nicas, em Nova York, foram injetadas
clulas cancerosas vivas em idosos
doentes; 2) Entre 1950 a 1970, no hos-
pital estatal de Willowbrook (NY) inje-
taram o vrus da hepatite em crianas
retardadas mentais e 3) Desde os anos
30, mas divulgado apenas em 1972,
no caso de Tuskegee study, no estado
do Alabama, 400 negros sifilticos fo-
ram deixados sem tratamento para a
realizao de uma pesquisa da hist-
ria natural da doena. A pesquisa con-
tinuou at 1972, apesar do descobri-
mento da penicilina. Em 1996, o go-
verno norte-americano pediu descul-
pas pblicas a esta comunidade negra,
pelo que foi feito.
Reagindo a estes escndalos, o
governo e o Congresso norte-america-
no constituram, em 1974, a National
Commission for the Protection of
Human Subjects of Biomedical and
Behavioral Research (Comisso Na-
cional para a Proteo dos Seres Hu-
manos em Pesquisa Biomdica e
Comportamental), com o objetivo de
levar a cabo uma pesquisa e estudo
completo, que identificasse os princ-
pios ticos bsicos que deveriam
nortear a experimentao em seres hu-
manos nas cincias do comportamen-
to e na biomedicina. O Congresso
solicitou, tambm, que a Comisso ela-
borasse num prazo de quatro meses
um relatrio de pesquisa envolvendo
fetos humanos. Inicialmente, os mem-
bros da Comisso deram ateno to-
tal para esta questo, considerada mais
urgente, e deixaram a tarefa de identi-
ficar os princpios ticos bsicos
para mais tarde. medida que os tra-
balhos em questes especficas avan-
avam, tais como pesquisa com crian-
as, prisioneiros e doentes mentais, fi-
lsofos e telogos foram convidados
para prestar ajuda na tarefa e identifi-
car os princpios ticos bsicos na
pesquisa com seres humanos.
Esta Comisso levou quatro anos
para publicar o que ficou conhecido
como o Relatrio Belmont (Belmont
Report), por ter sido realizado no Cen-
tro de Convenes Belmont, em
Elkridge, no estado de Maryland. Nes-
te espao de tempo, os membros da
Comisso acharam oportuno publicar
algumas recomendaes a respeito de
como enfocar e resolver os conflitos
ticos levantados pelas cincias
biomdicas. Para eles, os cdigos, no
obstante sua utilidade, no eram
83
operativos, pois suas regras so com
freqncia inadequadas em casos de
situaes complexas. Alm disso, os
cdigos apontam para a utilizao de
normas que em casos concretos podem
conflitar, resultando, na prtica, como
difceis de interpretar e de aplicar.
claro que a Comisso dispunha de
documentos tais como o Cdigo de
Nuremberg (1947) e a Declarao de
Helsinque (1964), entre outros, mas
considerou o caminho apontado pelos
cdigos e declaraes de difcil
operacionalizao.
Aps quatro anos de trabalhos, a
Comisso prope um mtodo comple-
mentar, baseado na aceitao de que
trs princpios ticos mais globais de-
veriam prover as bases sobre as quais
formular, criticar e interpretar algumas
regras especficas. A Comisso reco-
nhecia que outros princpios poderiam
tambm ser relevantes, e trs foram
identificados como fundamentais. Se-
gundo Albert R. Jonsen, um dos 12
membros da Comisso, aps muita
discusso fixaram-se em trs princpi-
os por estarem profundamente enrai-
zados nas tradies morais da civiliza-
o ocidental, implicados em muitos
cdigos e normas a respeito de experi-
mentao humana que tinham sido
publicadas anteriormente, e alm dis-
so refletiam as decises dos membros
da Comisso que trabalhavam em
questes particulares de pesquisa com
fetos, crianas, prisioneiros e assim por
diante.
O Relatrio Belmont foi oficial-
mente divulgado em 1978 e causou
grande impacto. Tornou-se a declara-
o principialista clssica, no somente
para a tica ligada pesquisa com
seres humanos, j que acabou sendo
tambm utilizada para a reflexo
biotica em geral. Pela sua importn-
cia, vejamos como a Comisso enten-
dia os princpios identificados.
b) Os princpios ticos no enten-
der da comisso governamental
Os trs princpios identificados
pelo Relatrio Belmont foram o res-
peito pelas pessoas (autonomia), a
beneficncia e a justia. Vejamos ra-
pidamente em que, na viso da Co-
misso, consistia cada um destes
princpios.
O respeito pelas pessoas incorpo-
ra pelo menos duas convices ticas:
1) as pessoas deveriam ser tratadas
com autonomia; 2) as pessoas cuja
autonomia est diminuda devem ser
protegidas. Por pessoa autnoma, o
Relatrio entendia o indivduo capaz
de deliberar sobre seus objetivos pes-
soais e agir sob a orientao desta
deliberao. A autonomia entendida
num sentido muito concreto, como a
capacidade de atuar com conhecimen-
to de causa e sem coao externa. O
conceito de autonomia da Comisso
no o kantiano, o homem como ser
autolegislador, mas outro muito mais
emprico, segundo o qual uma ao se
torna autnoma quando passou pelo
trmite do consentimento informado.
Deste princpio derivam procedimen-
tos prticos: um a exigncia do con-
sentimento informado e o outro o de
como tomar decises de substituio,
quando uma pessoa incompetente
ou incapaz, isto , quando no tem
autonomia suficiente para realizar a
ao de que se trate.
No princpio da beneficncia, o
Relatrio Belmont rechaa claramente a
84
idia clssica da beneficncia como
caridade e diz que a considera de uma
forma mais radical, como uma obri-
gao. Nesse sentido, so formuladas
duas regras como expresses comple-
mentares dos atos de beneficncia: a)
no causar dano e b) maximizar os
benefcios e minimizar os possveis ris-
cos. No distingue entre beneficncia
e no-maleficncia, o que ser poste-
riormente realizado por Beauchamp e
Childress.
No terceiro princpio, o da justi-
a, os membros da Comisso enten-
dem justia como sendo a imparcia-
lidade na distribuio dos riscos e be-
nefcios. Outra maneira de entender
o princpio de justia dizer que os
iguais devem ser tratados igualmen-
te. O problema est em saber quem
so os iguais. Entre os homens exis-
tem diferenas de todo tipo e muitas
delas devem ser respeitadas em virtu-
de do princpio de justia, por exem-
plo, ideal de vida, sistema de valores,
crenas religiosas, etc. No obstante,
existe um outro nvel em que todos
devemos ser considerados iguais, de
tal modo que as diferenas nesse n-
vel devem ser consideradas injusti-
as neste particular a Comisso no
deixou nada claro.
O Relatrio Belmont, um do-
cumento brevssimo por sinal, inaugu-
rou um novo estilo tico de abordagem
metodolgica dos problemas envolvi-
dos na pesquisa em seres humanos.
Desde o mesmo no se analisa mais a
partir da letra dos cdigos e juramentos,
mas a partir destes trs princpios, com
os procedimentos prticos deles conse-
qentes. Neste contexto, o trabalho de
Beauchamp e Childress, considerados
os pais da reflexo principialista, vai
ter grande impacto, importncia e su-
cesso nos anos seguintes.
c) A obra clssica de Beauchamp
e Childress (2)
importante notar que o Relat-
rio Belmont referia-se somente s ques-
tes ticas levantadas pela pesquisa
em seres humanos. Estava fora de seu
horizonte de preocupao todo o cam-
po da prtica clnica e assistencial.
Beauchamp e Childress, com sua fa-
mosa obra Principles of Biomedical
Ethics, aplicam para a rea clnico-
assistencial o sistema de princpios
e procuram, assim, livr-la do velho
enfoque prprio dos cdigos e jura-
mentos. Esta obra transformou-se na
principal fundamentao terica do
novo campo da tica biomdica. Foi
publicada inicialmente em 1979 (em
1994 saiu a quarta edio, revista e
ampliada), um ano aps o Relatrio
Belmont. Um dos autores, Beauchamp,
era membro da Comisso que redigiu
o Relatrio Belmont e se beneficiou de
todo o processo. Beauchamp e
Childress retrabalharam os trs princ-
pios em quatro, distinguindo bene-
ficncia e no-maleficncia. Alm
disso, para sua obra, basearam-se na
teoria de um grande eticista ingls do
incio do sculo, David Ross, que es-
creveu em 1930 um famoso livro
intitulado The Right and the Good, em
que fala dos deveres atuais e prima
facie (prima facie duties e actual
duties).
Beauchamp e Childress, no pre-
fcio de sua obra, procuram analisar
sistematicamente os princpios morais
que devem ser aplicados na biome-
dicina. Trata-se pois de um enfoque
85
claramente principialista: entendem a
tica biomdica como uma tica apli-
cada, no sentido de que a sua
especificidade aplicar os princpios
ticos gerais aos problemas da prtica
mdico-assistencial.
conveniente assinalar que
Beauchamp e Childress so pessoas
com convices filosficas e ticas bem
distintas. Beauchamp um utilitarista,
enquanto que Childress claramente
um deontologista. Suas teorias ticas
so portanto distintas e dificilmente
conciliveis na hora de justificar ou
fundamentar os citados princpios.
Mas ao invs de verem-se frente a um
abismo, os autores consideram isso
uma vantagem. As discrepncias te-
ricas no devem impedir o acordo so-
bre normas, isto , sobre princpios e
procedimentos. Dizem eles que o
utilitarismo e o deontologismo chegam
a formular normas similares ou idnti-
cas. Todos, tanto os teleologistas
como os deontologistas, podem acei-
tar o sistema de princpios e chegar
a decises idnticas em casos con-
cretos, no obstante suas discrepn-
cias em relao aos aspectos teri-
cos da tica.
Nos ltimos 20 anos, a opinio
de Beauchamp e Childress, a de que
os princpios e as normas so consi-
derados obrigatrios prima facie e es-
to no mesmo nvel, ganhou aceitao
de renomados bioeticistas e somente
as circunstncias e conseqncias po-
dem orden-los em caso de conflito.
Mas a discusso continua. Por exem-
plo, na perspectiva de Diego Gracia
deve-se priorizar a no-maleficncia
sobre a beneficncia. Ele divide os
quatro princpios em dois nveis, a sa-
ber, o privado (autonomia e beneficn-
cia) e o pblico (no-maleficncia e
justia). Em caso de conflito entre de-
veres destes dois nveis, os deveres no
nvel pblico sempre tm prioridade
sobre os deveres individuais.
O paradigma da biotica
principialista (3)
Os princpios ticos bsicos,
quer sejam os trs do Relatrio
Belmont ou os quatro de Beauchamp
e Childress, propiciaram para os es-
tudiosos de tica algo que sua pr-
pria tradio acadmico-disciplinar
no lhes forneceu: um esquema cla-
ro para uma tica normativa que ti-
nha de ser prtica e produtiva.
Segundo Albert Jonsen, um dos
pioneiros da biotica, os princpios
deram destaque para as reflexes mais
abrangentes, vagas e menos opera-
cionais dos filsofos e telogos da po-
ca. Em sua simplicidade e objetivida-
de, forneceram uma linguagem para
falar com um novo pblico, formado
por mdicos, enfermeiros e outros pro-
fissionais da rea de sade(4).
A biotica tornou-se ento
principialista, por vrias razes, entre
outras:
1) Os primeiros bioeticistas en-
contraram na tica normativa de
seu tempo, no estilo dos princ-
pios, a via media entre a terra
rida da metatica ou metafsica
e as riquezas das vises da ti-
ca teolgica, geralmente inaces-
sveis;
2) O Relatrio Belmont foi o docu-
mento fundamental que respondeu
86
necessidade dos responsveis
pela elaborao de normas pbli-
cas, uma declarao simples e cla-
ra das bases ticas necessrias
para regulamentar a pesquisa;
3) A nova audincia, composta
por mdicos e estudantes de me-
dicina, entre outros profissionais
da rea de sade, foi introduzida
nos dilemas ticos da poca atra-
vs da linguagem dos princpios,
que mais do que tornar complexa
na verdade ajudou a entender,
cl arear e chegar a acordos
procedurais em questes extrema-
mente difceis e pol micas
trazidas pela tecnocincia;
4) O sucesso do model o
principialista devido sua ado-
o pelos clnicos. Os princpios
deram a eles um vocabulrio, ca-
tegorias lgicas para percepes
e sentimentos morais no
verbalizados anteriormente, bem
como meios para resolver os dile-
mas morais num determinado
caso, no processo de compreen-
so das razes e tomada de deci-
so.
A fonte de abusos do princi-
pialismo est na necessidade humana
de segurana moral e de certezas num
mundo de incertezas. Nesse senti-
do, o principialismo foi o porto
seguro para os mdicos durante o
perodo de profundas mudanas na
compreenso tica dos cuidados
clnicos assistenciais nos Estados
Unidos.
Tudo isso levou ao fortalecimento
do assim chamado principialismo,
que sem dvida teve grandes mritos
e alcanou muito sucesso. Em grande
parte, o que a biotica nestes pou-
cos anos de existncia (30 anos) re-
sulta principalmente do trabalho de
bioeticistas na perspectiva princi-
pialista. Hoje, fala-se que o princi-
pialismo est doente, alguns crticos
vo mais longe e at dizem que um
paciente terminal, mas chega-se ao
quase consenso de que no pode ser
visto como um procedimento
dogmtico infalvel na resoluo de
conflitos ticos. No uma ortodoxia,
mas uma abreviao utilitria da filo-
sofia moral e da teologia, que serviu
muito bem aos pioneiros da biotica e
continua, em muitas circunstncias, a
ser til ainda hoje. A biotica no pode
ser reduzida a uma tica da eficincia
aplicada predominantemente em nvel
individual. Nascem vrias perspecti-
vas de abordagem biotica para alm
dos princpios, que somente elencamos
para conhecimento. Temos o modelo
da casustica (Albert Jonsen e Stephen
Toulmin), das virtudes (Edmund
Pellegrino e David Thomasma), do
cuidado (Carol Gilligan), do direito
natural (John Finnis) e apostando no
valor central da autonomia e do indi-
vduo, o modelo liberal autonomista
(Tristam Engelhardt), o modelo
contratualista (Robert Veatch), o mo-
delo antropolgico personalista (E.
Sgreccia, D. Tettamanzi, S. Spinsanti)
e o modelo de libertao (a partir da
Amrica Latina, com a contribuio
da teologia da libertao), s para
mencionar algumas perspectivas mais
em evidncia (5).
bom lembrar que Beauchamp
e Childress, principialistas notrios,
tornam-se casustas quando examinam
os casos. Na quarta edio de sua fa-
mosa obra, Principles of Biomedical
87
Ethics, aps a argumentao e refle-
xo sobre os princpios ao longo de sete
captulos, o captulo oitavo (ltimo)
todo dedicado s virtudes e ideais na
vida profissional. Vale a pena regis-
trar o que dizem esses autores na con-
cluso de sua obra: Neste captulo fi-
nal fomos alm dos princpios, regras,
obrigaes e direitos. Virtudes, ideais
e aspiraes por excelncia moral,
apiam e enriquecem o esquema mo-
ral desenvolvido nos captulos ante-
riores. Os ideais transcendem as obri-
gaes e direitos e muitas virtudes le-
vam as pessoas a agir de acordo com
princpios e normas bem como seus ide-
ais.(...) Quase todas as grandes teorias
ticas convergem na concluso que o
mais importante ingrediente na vida
moral da pessoa o desenvolvimen-
to de carter que cria a motivao n-
tima e a fora para fazer o que certo
e bom (6).
Indcio claro de que estes autores,
notrios principialistas, apresentam
um horizonte tico que vai alm do
mero principialismo absolutista, to
duramente criticado hoje pelos
bioeticistas. Fica evidente que nesta
nova verso de sua obra Beauchamp
e Childress incorporaram as inmeras
observaes crticas que receberam ao
longo dos anos desde o surgimento da
mesma.
O bom-senso aconselha ver os
princpios como instrumentos para in-
terpretar determinadas facetas morais
de situaes e como guias para a ao.
Abusos de princpios ocorrem quando
modelamos as circunstncias para
aplicar um princpio preferido e aca-
ba-se caindo no ismo, e no se per-
cebe mais que existem limites no pro-
cedimento principialista considerado
como infalvel na resoluo dos confli-
tos ticos.
Ao fazer uma avaliao dos
princpios na biotica, que surgiram
um pouco como a tbua de salva-
o dos dez mandamentos, Hubert
Lepargneur aponta entre outras ob-
servaes a respeito dos limites dos
princpios que na implementao
sempre est implicada uma casustica
(anlise de casos clnicos). Alm dis-
so, no horizonte biotico, para alm dos
princpios surge como tarefa para a
biotica colocar no seu devido lugar a
prudncia como sabedoria prtica, que
vem desde a tradio aristotlica
tomista e que foi esquecida na refle-
xo biotica hodierna. A sabedoria
prtica da prudncia phronesis
domina a tica e, portanto, a vivncia
da moralidade, porque vincula, numa
sntese, o agente (com seu condicio-
namento prprio e inteno), o con-
texto da ao, a natureza da mesma
ao e o seu resultado previsvel. A fi-
gura de proa da tica a phronesis,
que forma as regras da ao e sabe
implement-las (7, 8).
A obra de maior colaborao
inter e multidisciplinar produzida at
o presente momento na rea de
biotica, Encyclopedia of Bioethics, ao
definir o que biotica muda signifi-
cativamente sua conceituao entre a
primeira (1978) e segunda edio
(1995), justamente na questo ligada
aos princpios. Na primeira edio a
biotica definida como sendo o es-
tudo sistemtico da conduta humana
no campo das cincias da vida e da
sade, enquanto examinada luz dos
valores e princpios morais (o desta-
que em itlico nosso). Independen-
temente das diversas teorias ticas que
88
pudessem estar por trs destes princ-
pios e da interpretao dos mesmos,
eles so o referencial fundamental. Na
segunda edio a definio do que
biotica j no faz mais referncia aos
valores e princpios morais que ori-
entam a conduta humana no estudo
das cincias da vida e do cuidado da
sade, mas s diversas metodologias
ticas e numa perspectiva de aborda-
gem multidisciplinar. A biotica defi-
nida como sendo o estudo sistemti-
co das dimenses morais incluindo
viso, deciso e normas morais das
cincias da vida e do cuidado da sa-
de, utilizando uma variedade de
metodologias ticas num contexto
multidisciplinar (o destaque em itli-
co nosso). Evita-se os termos valo-
res e princpios num esforo para
se adaptar ao pluralismo tico atual na
rea da biotica. Este um sintoma
evidente de que o panorama biotico,
claramente principialista no incio da
biotica (dcada de 70), j no mais
o mesmo em meados da dcada de 90;
houve uma evoluo (9).
Aps termos delineado alguns as-
pectos da evoluo da biotica de um
paradigma hegemnico principialista
nas suas origens para uma busca plu-
ral mul ti e interdiscipl inar de
paradigmas, vejamos a seguir algumas
caractersticas de duas tradies de
biotica, especificamente a norte-ame-
ricana e a europia.
Biotica made in USA e
biotica europia (10)
Pelo exposto at o momento, per-
cebemos que a biotica principialista
um produto tpico da cultura norte-
americana. Existe uma profunda influ-
ncia do pragmatismo filosfico anglo-
saxo em trs aspectos fundamentais:
nos casos, nos procedimentos e no pro-
cesso de tomada de decises. Os prin-
cpios de autonomia, beneficncia,
no-maleficncia e justia so utiliza-
dos, porm no geral so considerados
mais como mximas de atuao
prudencial, no como princpios no
sentido estrito. Fala-se mais de proce-
dimentos e estabelecimentos de normas
de regulao. Por exemplo, no h
muita preocupao em definir o con-
ceito de autonomia, mas em estabele-
cer os procedimentos de anlise da
capacidade ou competncia (consen-
timento informado). Buscam-se os ca-
minhos de ao mais adequados, isto
, resolver problemas tomando deci-
ses a respeito de procedimentos con-
cretos.
Diego Gracia, bioeticista espanhol,
defende a tese de que no possvel re-
solver os problemas de procedimento
sem abordar as questes de fundamen-
tao. Fundamentos e procedimentos
so, na verdade, duas facetas da mes-
ma moeda, inseparveis. Pobre o pro-
cedimento que no est bem fundamen-
tado e pobre o fundamento que no
d como resultado um procedimento gil
e correto (11).
Nada mais til do que uma boa
fundamentao e nada mais funda-
mental que um bom procedimento, so
convices de grande parte de
bioeticistas europeus. A filosofia na
Europa sempre se preocupou muito
com os temas de fundamentao, tal-
vez at exageradamente, dizem alguns.
Por outro lado, o pragmatismo norte-
americano ensinou a cuidar dos pro-
89
cedimentos. Nesse sentido, pergunta-
se se a integrao das duas tradies
no seria algo a ser perseguido.
Duas tradies distintas pos-
svel dialogar e integrar?
Numa perspectiva dialogal entre
as tradies da biotica norte-ameri-
cana e da europia interessante ou-
vir o bioeticista James Drane, estu-
dioso de tica clnica e que se tem pre-
ocupado com a biotica na dimenso
transcultural. Para ele, a tica europia
mais terica e se preocupa com ques-
tes de fundamentao ltima e de
consistncia filosfica. Diz: ao estar
na Europa e ao identificar-me com o
horizonte mental e com as preocupa-
es de meus colegas, observo o car-
ter pragmtico e casustico de nosso
estilo de proceder a partir de vossa
perspectiva. Certamente, nossa forma
de fazer tica no a correta e as ou-
tras so erradas. De fato, estou conven-
cido de que todos ns temos de apren-
der uns com os outros (12).
Existe nos Estados Unidos uma
forte corrente pragmtica, ligada
maneira como os norte-americanos li-
dam com os dilemas ticos. Tal estilo
influenciado por John Dewey (1859-
1952), considerado o pai do
pragmatismo, que aplicou os mtodos
da cincia na resoluo de problemas
ticos. Pragmatismo que se desenvol-
ve como corolrio do empirismo de
Francis Bacon e do utilitarismo de
Jeremy Bentham e John Stuart Mill
que mais tarde avanar para o
positivismo lgico. Dewey pensava
que a tica e as outras disciplinas
humanistas progrediam muito pouco
porque empregavam metodologias
envelhecidas. Criticou a perspectiva
clssica grega, segundo a qual os ho-
mens so espectadores de um mundo
invarivel em que a verdade absolu-
ta e eterna. Dewey elaborou uma ti-
ca objetiva, utilizando o mtodo cien-
tfico na filosofia. Para ele, a determi-
nao do bem ou do mal era uma for-
ma de resolver os problemas prticos
empregando os mtodos prprios das
cincias, para chegar a respostas que
sejam funcionais na prtica. A tendn-
cia de assumir uma perspectiva
conseqencial ista com critrio
utilitarista. No podemos esquecer que
como reao a esta orientao domi-
nante surge John Rawls e sua reflexo
sobre a justia como eqidade.
Drane critica a perspectiva da
biotica made in USA, que no leva
em conta o carter, as virtudes, mas
fica pura e simplesmente polarizada
numa reflexo racional sobre as aes
humanas. Sem dvida, este enfoque
parcial. A tica no trata somente de
aes, mas tambm de hbitos (virtu-
des) e de atitudes (carter). Nesse sen-
tido, o enfoque tico europeu, fortemen-
te marcado pela idia de virtude e ca-
rter, pode ser complementar ao nor-
te-americano. A tica mdica dos Es-
tados Unidos se desenvolveu num con-
texto relativista e pluralista, porm se
inspira na cincia e se apia no pos-
tulado cientfico que exige submeter
toda proposta sua operacionalidade
na vida real.
Segundo Drane, por mais impor-
tantes sejam as questes crticas so-
bre fundamentao, no seria impres-
cindvel resolv-las antes que se possa
progredir. De fato, comear a partir da
vida real (fatos e casos de uma deter-
minada situao clnica) tem muita
vantagem sobre o procedimento no
sentido inverso, no caso o mtodo de-
90
dutivo baseado em elegantes teorias.
Na viso deste bioeticista norte ame-
ricano um dos aspectos mais inespe-
rados e gratificantes da experincia
americana em tica mdica ver os in-
meros acordos conseguidos em proble-
mas mdicos de grande complexidade,
numa cultura pluralista, quando o pro-
cesso comea com elementos reais e
trata de encontrar uma soluo prtica
e provvel, mais que uma resposta
certa e teoricamente correta (13).
Outro aspecto importante
enfatizado por Drane quando ele
afirma que a tica mdica salvou a ti-
ca, enquanto refletiu seriamente so-
bre o lcito e o ilcito em contato com
os problemas reais. Colocou novamen-
te a tica em contato com a vida.
Stephen Toulmin fala do renascimento
da filosofia moral em sua obra Como
a tica Mdica Salvou a Vida da Filo-
sofia Moral. A filosofia moral reencon-
trou o mundo da ao e a teologia
moral libertou-se do moralismo.
A contribuio da tica teolgica
neste contexto foi importante e no
deve ser esquecida. Ela nunca se afas-
tou da realidade e foi capaz de tomar
a iniciativa quando a ateno voltou-
se para os problemas mdicos. Pouco
a pouco, tambm os especialistas lei-
gos de tica se incorporaram neste
movimento. Muitos dos problemas
com os quais a tica teolgica se
preocupava, por exemplo, as questes
relacionadas com o incio e fim da
vida, procriao e morte, procediam
do campo mdico. A tica foi forada
pela medicina a entrar em contato com
o mundo real.
Anteriormente, os tratados de ti-
ca no eram documentrios sobre te-
mas de interesse das pessoas comuns,
mas escritos refinados e ininteligveis
sobre o significado dos conceitos mo-
rais. A tica se tornara inacessvel, ex-
cetuando-se os refinados especialistas
em lingstica, e praticamente no di-
zia nada a respeito dos problemas do
dia-a-dia do cidado comum.
A perspectiva anglo-americana
mais individualista do que a europia,
privilegiando a autonomia da pessoa.
Est prioritariamente voltada para
microproblemas, buscando soluo
imediata e decisiva das questes para
um indivduo. A perspectiva europia
privilegia a dimenso social do ser
humano, com prioridade para o senti-
do da justia e eqidade, preferencial-
mente aos direitos individuais. A
biotica de tradio filosfica anglo-
americana desenvolve uma normativa
de ao que, enquanto conjunto de
regras que conduzem a uma boa ao,
caracterizam uma moral. A biotica de
tradio europia avana numa bus-
ca sobre o fundamento do agir huma-
no. Para alm da normatividade da
ao, em campo de extrema comple-
xidade, entreve-se a exigncia da sua
fundamentao metafsica (14).
Aps esta exposio, ainda que
introdutria, de duas vises fundamen-
tais de biotica, das quais dependemos
muito e que sem dvida so fontes de
inspirao para uma perspectiva
biotica tpica da Amrica Latina,
necessrio tecer algumas considera-
es a respeito de onde nos situamos
frente a todo este cenrio. Considera-
do como sendo o continente da espe-
rana quando se olha prospec-
tivamente, mas que, infelizmente, no
presente marcado pela excluso, mor-
te e marginalizao crescente em todos
os mbitos da vida, nos perguntamos
91
se a biotica no teria um papel crti-
co transformador desta realidade.
Biotica latino-americana e
biotica made in USA
A biotica, no seu incio, defron-
tou-se com os dilemas ticos criados
pelo desenvolvimento da medicina.
Pesquisa em seres humanos, o uso
humano da tecnologia, perguntas so-
bre a morte e o morrer so algumas
reas sensveis nos anos 90. As ques-
tes originais da biotica se expandi-
ram para problemas relacionados com
os valores nas diversas profisses da
sade, tais como enfermagem, sade
pblica, sade mental, etc. Grande
nmero de temas sociais foram intro-
duzidos na abrangncia temtica da
biotica, tais como sade pblica,
alocao de recursos em sade, sa-
de da mulher, questo populacional e
ecologia, para lembrar alguns.
dito que a tecnologia mdica
impulsiona o desenvolvimento da
biotica clnica. Isto vale tanto na
Amrica Latina como nos Estados
Unidos. No incio, as perguntas que se
faziam com maior freqncia eram em
torno do uso humano de uma nova
tecnologia: o uso ou retirada de apa-
relhos, a aceitao ou no do consen-
timento informado.
Em alguns pases da Amrica
Latina, a simples existncia de alta
tecnologia e centros de cuidados m-
dicos avanados levanta questes em
torno da discriminao e injustia na
assistncia mdica. As interrogaes
mais difceis nesta regio giram em
t orno no de como se usa a
tecnologia mdica, mas quem tem
acesso a ela. Um forte saber social
qualifica a biotica latino-america-
na. Conceitos culturalmente fortes,
como justia, eqidade e solidarie-
dade, devero ocupar na biotica
latino-americana um lugar similar ao
princpio da autonomia nos Estados
Unidos.
Segundo Drane, os latino-ameri-
canos no so to individualistas e
certamente esto menos inclinados ao
consumismo em suas relaes com o
pessoal mdico do que os norte-ame-
ricanos. Seria um erro pensar que o
consentimento informado e tudo o
que com ele se relaciona no fosse
importante para os latino-americanos.
O desafio aprender dos Estados Uni-
dos e dos europeus sem cair no
imitacionismo ingnuo de importar
seus programas (13).
a) Ampliar a reflexo tica do n-
vel micro para o nvel macro
O grande desafio desenvolver
uma biotica latino-americana que
corrija os exageros das outras perspec-
tivas e resgate e valorize a cultura lati-
na no que lhe nico e singular, uma
viso verdadeiramente alternativa que
possa enriquecer o dil ogo
multicultural. No podemos esquecer
que na Amrica-Latina a biotica tem
o encontro obrigatrio com a pobreza
e a excluso social. Elaborar uma
biotica somente em nvel micro de
estudos de casos, de sabor apenas
deontolgico, sem levar em conta esta
realidade, no responderia aos anseios
e necessidades por mais vida digna.
No estamos questionando o valor in-
comensurvel de toda e qualquer vida
92
que deve ser salva, cuidada e protegi-
da. Temos, sim, que no perder a vi-
so global da realidade excludente la-
tino-americana na qual a vida se inse-
re (15, 16).
medida que a medicina moder-
na torna-se para as culturas de hoje o
que a religio era na Idade Mdia, as
questes com as quais a biotica se
defronta tornam-se sempre mais cen-
trais e geram um crescente interesse
pblico. No limiar das controvrsias
bioticas, significados bsicos esto
mudando em todos os quadrantes do
planeta: o significado da vida e morte,
famlia, doena, quem pai ou me.
Maior comunicao e dilogo mtuo
entre os povos com diferentes perspec-
tivas ser imensamente proveitoso no
sentido de trazer uma compreenso
mais profunda de cada cultura e solu-
es melhores para problemas crticos
similares. As pessoas de diferentes re-
gies e culturas podem trabalhar para
integrar as diferenas sociolgicas, his-
tricas e filosficas e, algum dia quem
sabe, gerar um conjunto de padres
bioticos respeitoso e coerente, em que
as pessoas religiosas e seculares po-
dem igualmente partilhar.
No pensamento de J.A. Mainetti,
a Amrica Latina pode oferecer uma
perspectiva biotica distinta e diferen-
te da norte-americana por causa da
tradio mdica humanista e pelas
condies sociais de pases perifricos.
Para este bioeticista argentino, a dis-
ciplina europia de filosofia geral
com trs ramos principais (antropolo-
gia mdica, epistemologia e axiologia)
pode ser melhor equipada para trans-
formar a medicina cientfica e acad-
mica num novo paradigma biomdico
humanista. Tal abordagem evitaria
acusaes freqentemente dirigidas
biotica norte-americana e europia,
de que o discurso da biotica somente
surge para humanizar a medicina en-
quanto esquece ou no aborda a real
desumanizao do sistema. Por exem-
plo, o discurso biotico da autonomia
pode esconder a despersonalizao dos
cuidados mdicos e seus riscos de
iatrogenia, a explorao do corpo e
alienao da sade. Como resposta ao
desenvolvimento da biomedicina numa
era tecnolgica, a biotica deve ser
menos complacente ou otimista em
relao ao progresso e ser capaz de
exercer um papel crtico frente a este
contexto (17).
A realidade da biotica latino-
americana, da biotica em tempos de
clera, AIDS e sarampo exige uma
perspectiva de tica social com preo-
cupao com o bem comum, justia e
eqidade, antes que em direitos indi-
viduais e virtudes pessoais. Uma
macrotica de sade pblica pode
ser proposta como uma alternativa
para a tradio anglo-americana da
microtica ou tica clnica. Nestes
pases pobres, a maior necessida-
de de eqidade na alocao de
recursos e distribuio de servios
de sade (18,19).
Na perspectiva da biotica na
Amrica Latina, diz Diego Gracia: Os
latinos sentem-se profundamente
inconfortveis com direitos e princ-
pios. Eles acostumaram-se a julgar as
coisas e atos como bons ou ruins, ao
invs de certo ou errado. Eles preferem
a benevolncia justia, a amizade ao
respeito mtuo, a excelncia ao direi-
to. (...) Os latinos buscam a virtude e a
excelncia. No penso que eles rejei-
tam ou desprezam os princpios (...).
93
Uma vez que as culturas latinas tradi-
cionalmente foram orientadas pela ti-
ca das virtudes, a abordagem
principialista pode ser de grande ajuda
em evitar alguns defeitos tradicionais
de nossa vida moral, tais como o
paternalismo, a falta de respeito pela
lei e a tolerncia. Na busca da virtude
e excelncia, os pases latinos tradici-
onalmente tm sido intolerantes. A to-
lerncia no foi includa como uma vir-
tude no velho catlogo das virtudes la-
tinas. A virtude real era a intolerncia,
a tolerncia era considerada um vcio.
(...) A tolerncia como uma virtude foi
descoberta pelos anglo-saxes no s-
culo XVII. Esta talvez a mais impor-
tante diferena com as outras culturas.
A questo moral mais importante no
a linguagem que usamos para expres-
sar nossos sentimentos morais, mas o
respeito pela diversidade moral, a es-
colha entre pluralismo ou fanatismo. O
fanatismo afirma que os valores so
completamente absolutos e objetivos e
devem ser impostos aos outros pela
fora, enquanto que a tolerncia defen-
de a autonomia moral e a liberdade de
todos os seres humanos e a busca de
um acordo moral pelo consenso (20).
O desenvolvimento da biotica
mundial vem ultimamente privilegi-
ando preocupaes ticas tpicas de
pases tais como os da Amrica Lati-
na e Caribe. Daniel Wikler, na pales-
tra conclusiva do III Congresso Mun-
dial de Biotica, realizada em So
Francisco, EUA, em 1996, intitulada
Bioethics and social responsibility,
diz que ao olharmos o nascimento e
desenvolvimento da biotica temos j
claramente delineadas quatro fases: a)
primeira fase: temos os cdigos de con-
duta dos profissionais. A biotica pra-
ticamente entendida como sendo ti-
ca mdica; b) segunda fase: entra em
cena o relacionamento mdico-pacien-
te. Questiona-se o paternalismo, come-
a-se a falar dos direitos dos pacientes
(autonomia, liberdade, verdade, etc.);
c) terceira fase: questionamentos a res-
peito do sistema de sade, incluindo
organizao e estrutura, financiamen-
to e gesto. Os bioeticistas tm que es-
tudar economia e poltica de sade
(Callahan - 1980) e d) quarta fase: a
que estamos entrando, neste final da
dcada de 90. A biotica, priorita-
riamente, vai lidar com a sade da po-
pulao, com a adio, entre outros
temas candentes, das cincias soci-
ais, humanidades, sade pblica, di-
reitos humanos e a questo da eqi-
dade e alocao de recursos (21). Esta
agenda programtica tem tudo a ver
com o momento tico da Amrica
Latina.
b) O desafio de desenvolver uma
mstica para a biotica
Estaria incompleta nossa reflexo
se no apontssemos a necessidade
desafiante de se desenvolver uma ms-
tica para a biotica. Pode at parecer
estranho para um pensamento marca-
do pelo pragmatismo e pelo culto da
eficincia sugerir que a biotica neces-
site de uma mstica. A biotica neces-
sita de um horizonte de sentido, no
importa o quanto estreito ou amplo
seja, para desenvolver suas reflexes e
propostas. Ao mesmo tempo, no po-
demos fazer biotica sem optar no
mundo das relaes humanas. Isto em
si mesmo uma indicao da neces-
sidade de alguma forma de mstica,
ou de um conjunto de significados
94
fundamentais que aceitamos e a par-
tir dos quais cultivamos nossos idea-
lismos, fazemos nossas opes e orga-
nizamos nossas prticas.
No fcil definir em poucas
palavras uma mstica libertadora para
a biotica. Ela necessariamente inclui-
ria a convico da transcendncia da
vida que rejeita a noo de doena,
sofrimento e morte como absolutos in-
tolerveis. Incluiria a percepo dos
outros como parceiros capazes de vi-
ver a vida em sol idariedade e
compreend-la e aceit-la como um
dom. Esta mstica seria, sem dvida,
testemunha no sentido de no deixar
os interesses individuais egostas se
sobreporem e calarem a voz dos ou-
tros (excludos) e esconderem suas
necessidades. Esta mstica proclama-
ria, frente a todas as conquistas das
cincias da vida e do cuidado sa-
de, que o imperativo tcnico-cientfi-
co, posso fazer, passa obrigatoriamen-
te pelo discernimento de outro impe-
rativo tico, logo devo fazer? Ainda
mais, encorajaria as pessoas, grupos
dos mais diferentes contextos scio-
poltico-econmico-culturais, a unir-se
na empreitada de garantir uma vida
digna para todos, na construo de um
paradigma econmico e tcnico-cien-
tfico que aceita ser guiado pelas exi-
gncias da solidariedade humana (22).
Algumas notas conclusivas
1 - O modelo de anlise terica
(paradigma) principialista iniciado
com o Relatrio Belmont e implemen-
tado por Beauchamp e Childress uma
linguagem entre outras linguagens ti-
cas. No a nica exclusiva. A expe-
rincia tica pode ser expressa em di-
ferentes linguagens, paradigmas ou
modelos tericos, tais como os da vir-
tudes e excelncia, o casustico, o
contratual, o liberal autonomista, o do
cuidado, o antropolgico humanista,
o de libertao, s para lembrar alguns.
Obviamente, a convivncia com esse
pluralismo de modelos tericos exige
dilogo respeitoso pelas diferenas em
que a tolerncia um dado impres-
cindvel. Todos esses modelos ou lin-
guagens esto intrinsecamente inter-re-
lacionados, mas cada um em si in-
completo e limitado. Um modelo pode
lidar bem com um determinado aspecto
da vida moral, mas ao mesmo tempo
no com os outros. No podemos
consider-los como sendo exclusivos,
mas complementares. As dimenses
morais da experincia humana no
podem ser capturadas numa nica
abordagem. Isto no surpreende, pois
a amplido e a riqueza da profundi-
dade da experincia humana sempre
esto alm do alcance de qualquer sis-
tema filosfico ou teolgico. esta
humildade da sabedoria que nos dei-
xar livres do vrus dos ismos que
so verdades parciais que tomam uma
particularidade de uma realidade
como sendo o todo.
2 - Os problemas bioticos mais
importantes da Amrica Latina e
Caribe so aqueles que se relacionam
com a justia, eqidade e alocao de
recursos na rea da sade. Em amplos
setores da populao ainda no chegou
a alta tecnologia mdica e muito menos
o to almejado processo de emancipa-
o dos doentes. Ainda impera, via be-
neficncia, o paternalismo. Ao princ-
pio da autonomia, to importante na
95
perspectiva anglo-americana, precisa-
mos justapor o princpio da justia,
eqidade e solidariedade (23, 24).
A biotica elaborada no mundo
desenvolvido (Estados Unidos e Euro-
pa) na maioria das vezes ignorou as
questes bsicas que milhes de ex-
cludos enfrentam neste continente e
enfocou questes que para eles so
marginais ou simplesmente no exis-
tem. Por exemplo, fala-se muito de
morrer com dignidade no mundo de-
senvolvido. Aqui, somos impelidos a
proclamar a dignidade humana que
garante primeiramente um viver com
dignidade e no simplesmente uma
sobrevivncia aviltante, antes que um
morrer digno. Entre ns, a morte pre-
coce e injusta, ceifa milhares de vidas
desde a infncia, enquanto que no Pri-
meiro Mundo se morre depois de se ter
vivido muito e desfrutado a vida com
elegncia at na velhice. Um sobrevi-
ver sofrido garantiria a dignidade no
adeus vida?
3 - Caracterstica tpica de toda a
regio da Amrica Latina e Caribe a
profunda religiosidade crist catlica,
que hoje sofre um profundo impacto
com seitas fundamentalistas via mdia
eletrnica. O processo de seculariza-
o atingiu a burguesia culta, porm
no a grande massa do povo. A moral
dessa sociedade continua a ser funda-
mentalmente confessional, religiosa.
Esta sociedade no conheceu o
pluralismo caracterstico da cultura
norte-americana. Nasce aqui, sem
dvida, um desafio de dilogo,
biotica-teologia, entre esta biotica
secular, civil, pluralista, autnoma e
racional com este universo religioso.
Thomasma e Pellegrino, notveis
pioneiros da Biotica, levantam trs
questes que a biotica ter de enfren-
tar no futuro: a primeira como resolver
a diversidade de opinies sobre o que
biotica e qual o seu campo!; a segun-
da como relacionar os vrios modelos
de tica e biotica, uns com os outros; a
terceira justamente o lugar da religio
e a biotica teolgica nos debates pbli-
cos sobre aborto, eutansia, cuidado
gerenciado (managed care) e assim por
diante. At agora, a biotica religiosa fi-
cou na penumbra da biotica filosfica.
medida que nossa conscincia de
diversidade cultural aumenta, prevejo
que os valores religiosos que embasam
o dilogo pblico viro tona. No mo-
mento, no existe uma metodologia para
lidar com a crescente polarizao que
convices autnticas trazem para os de-
bates. De alguma forma, devemos ser ca-
pazes de viver e trabalhar juntos mesmo
quando nossas convices filosficas e
religiosas a respeito do certo e do errado
estejam freqentemente em conflito e por
vezes at incompatveis (25).
4 - Uma macrobiotica (socieda-
de) precisa ser proposta como alterna-
tiva tradio anglo-americana de
uma microbiotica (soluo de casos
clnicos). Na Amrica Latina, a
biotica sumarizada num bios de alta
tecnologia e num ethos individualis-
ta (privacidade, autonomia, consenti-
mento informado) precisa ser
compl ementada por um bios
humanista e um ethos comunitrio
(solidariedade, eqidade, o outro).
Refletindo prospectivamente com
Alastair V. Campbell, presidente da
Associao Internacional de Biotica
(1996-1998), a respeito da biotica do
futuro, uma questo-chave a ser en-
frentada a justia na sade e nos
cuidados de sade. Maior esforo de
96
pesquisa no sentido de construo da
teoria biotica faz-se necessrio junto
com esta questo. A biotica no pode
tornar-se uma espcie de capelo na
corte real da cincia, perdendo seu
papel crtico em relao ao progresso
tcnico-cientfico (26).
5 - preciso cultivar uma sabe-
doria que desafie profeticamente o
imperialismo tico daqueles que usam
a fora para impor aos outros, como
nica verdade, sua verdade moral par-
ticular, bem como o fundamentalismo
tico daqueles que recusam entrar num
dilogo aberto e sincero com os de-
mais, num contexto sempre mais se-
cular e pluralista. Quem sabe, a intui-
o pioneira de Potter (1971) ao cu-
nhar a biotica como sendo uma pon-
te para o futuro da humanidade (27)
necessita ser repensada neste limiar de
um novo milnio, tambm como uma
ponte de dilogo multi e transcultural
(28) entre os diferentes povos e cultu-
ras, no qual possamos recuperar no
apenas nossa tradio humanista
como tambm o sentido e o respeito
pela transcendncia da vida na sua
magnitude mxima (csmico-ecolgi-
ca) e desfrut-la como dom e con-
quista, de forma digna e solidria.
Referncias
The Belmont Report: ethical principles and
guidelines for the protection of human
subjects of research. National Commission
for the Protection of Human Subjects of
Biomedical and Behavioral Research
1979. In: Reich WT, editors. Encyclopedia
of Bioethics. revised edition. New York:
Macmillan, c1995: 2767-73.
Beauchamp TL, Childress JF. Principles
of biomedical ethics. Fourth Edition.
New York: Oxford University Press, 1994.
Dubose ER, Hamel RP, OConnell LJ,
editors. A matter of principles? ferment
in U.S. bioethics. Pennsylvania: Trinity
Press International, 1994. Esta a me-
lhor obra disponvel no momento atual
para uma compreenso histrico cultu-
ral da gnese dos princpios bioticos bem
como uma profunda anlise crtica e
proposta de alternativas. fruto de um
encontro mul ti di sci pl i nar (case
conference) realizado em Chicago (Es-
tados Unidos- 1992) sob os auspcios do
Park Ridge Center, do qual participa-
ram especialistas em biotica das mais
diferentes partes do planeta. Represen-
tando a perspectiva latino-americana,
Mrcio Fabri dos Anjos, telogo brasi-
leiro, apresentou uma contribuio na
perspectiva da teologia da libertao
que publicada nesta obra com o t-
tulo Bioethics in a liberationist key.
p.130-47.
Jonsen AR. Foreword. In: Dubose ER,
Hamel RP, OConnell LJ, editors. A
matter of principles: ferment in U.S.
bioethics. Pensylvania: Trinity Press
International, 1994: ix-xvii.
Para um aprofundamento crtico do
principialismo a partir dos protagonis-
tas norte-americanos da biotica, ver o
nmero monogrfico Theories and
methods in bioethics: principlism and its
critics. Kennedy Institute of Ethics
Journal 1995;5(3). Destacamos:
Beauchamp TL. Principlism and its
alleged competitors. p.181-98; Veatch
RM. Resolving conflicts among principles:
ranking, balancing and specifying, p.199-
218; Cluser KD. Common morality as
an alternative to principlism, p.219-36;
Jonsen AR. Casuistry: an alternative or
complement to principles?, p.237-51;
Pellegrino EP. Toward a virtue-based
normati ve ethi cs for the heal th
professions, p.253-77.
1.
5.
4.
2.
3.
97
Beauchamp TL, Childress JF. Op. Cit.
1994: 502. Ezekiel Emanuel ao fazer seu
comentrio da quarta edio da obra
clssica de Beauchamp e Childress no
prestigioso peridico Hastings Center
Report 1995;25(4):37-8 intitulou seu tra-
balho The beginning of the end of
principlism. Este autor lembra que a
4
edio muito diferente das anterio-
res e pode at nem ser mai s
principialista, uma vez que os autores,
nesta edio, apelam para um funda-
mento na moralidade comum e isto,
segundo E. Emanuel, constitui uma
mudana radical e anuncia o fim do
principialismo. Outros crticos da pers-
pectiva principialista merecem ser lem-
brados: Gert B, Culver CM, Clouser KD.
Bioethics: a return to fundamentals.
Oxford : Oxford University Press, 1997,
especi al mente o cap tul o quatro
intitulado Principlism, p. 71-92. Ver
tambm o trabalho de Closer D, Gert
B. A critique of principlism. J Med Philos
1990;15:219-36.
Lepargneur H. Fora e fraqueza dos prin-
cpios da biotica. Biotica (CFM)
1996;4:131-43.
Lepargneur H. Biotica, novo conceito:
a caminho do consenso. So Paulo:
Loyola/CEDAS, 1996.
Reich WT, editors. Encyclopedia of
bioethics. Revised edition. New York:
Macmillan, 1995. Ver especialmente in-
troduo, vol. 1, p. XXI.
Pessini L, Barchifontaine CP, organiza-
dores. Fundamentos da biotica. So
Paulo: Paulus, 1996.
Gracia D. Procedimientos de decisin en
tica clnica. Madrid: Eudema, 1991.
Drane JF. Preparacin de un programa
de biotica: consideraciones bsicas
para el Programa Regional de Biotica
de la OPS. Biotica (CFM) 1995;1:7-
18.
Drane JF. Bioethical perspectives
f rom ibero-america. J Med Philos
1996:21:557-69.
Patro Neves MC. A fundamentao
antropolgica da biotica. Biotica
(CFM) 1996;4:7-16.
Anjos MF dos. Medical ethics in the
developing world: a liberation theology
perspect i ve. J Med Phi l os
1996;21:629-37.
Anjos MF dos. Bioethics in a liberationist
key. In: Dubose ER, Hamel RP,
OConnell LJ, editors. A matter of
principles: ferment in US bioethics.
Valley Forge, Pennsylvania: Trinity Press
International, 1994: 130-47.
Mainetti J. History of medical ethics:
the americas and Latin America. In:
Reich WT, editors. Encyclopedia of
bioethics. revised edition. New York:
Macmillan, c 1995. vol 5: 1639-44.
Garrafa V, Oselka G, Diniz D. Sade
pblica, biotica e eqidade. Biotica
(CFM) 1997;5:27-33.
Leisinger KM. Bioethics in USA and in poor
countries. Cambridge Quarterly of
Healthcare Ethics 1993;2:5-8. Este autor
fala de poltica de sade como uma rami-
ficao da biotica, sendo esta ainda uma
disciplina nascente. Ao constatar o enor-
me fosso que separa a realidade de sade
norte-americana em comparao com os
outros pases em desenvolvimento, vale
registrar: Enquanto ns comeamos a
enfrentar alguns de nossos complexos pro-
blemas de sade com a engenharia genti-
ca, centenas de milhes de pessoas nos
pases em desenvolvimento sofrem de
malria, filariose, esquistossomose, doen-
a de Chagas ou mal de Hansen. Nenhu-
ma dessas doenas que so perfeitamen-
te prevenveis e/ou curveis est sendo
controlada de uma forma satisfatria e,
para algumas delas, a situao est em fran-
ca deteriorao. A biotica, na viso deste
autor, deveria considerar a poltica de de-
senvolvimento nos pases pobres. Um de-
9.
7.
8.
6.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
98
senvolvimento que satisfaa as necessida-
des humanas mais bsicas da populao.
Conseqentemente, proviso de comida,
educao bsica, gua potvel, educao
e facilidades sanitrias, habitao e cui-
dados de sade bsicos devem ser
priorizados.
Gracia D. Hard times, hard choices:
founding bioethics today. Bioethics
1995;9:192-206.
Wi kl er D. Bi oethi cs and soci al
responsibility. Bioethics 1997;11:185-6.
Anjos MF dos. Op.Cit. 1994:145.
Pessini L, Barchifontaine CP. Problemas
atuais de biotica. 4
ed.rev.ampl. So
Paulo: Loyola, 1997. (Cf. Especialmen-
te o captulo Biotica na Amrica Lati-
na e Caribe, p. 59-72)
Garrafa V. A dimenso da tica em sa-
de pblica. So Paulo, Faculdade de
Sade Pblica, USP/Kellogg Foundation,
1995.
Thomasma DC, Pellegrino ED. The
future of bioethics. Cambridge Quarterly
of Health Care Ethics 1997;6:373-5.
Campbell AV. A biotica no sculo XXI.
Sade Helipolis 1998;abr/maio:9-11.
Potter VR. Bioethics: bridge to the future.
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-
Hall, 1971.
Esforos nesse sentido j esto em cur-
so. Digna de nota a atuao do Con-
selho de Organizaes Internacionais de
Ci nci as Mdi cas (CI OMS). Em
1994, esta organizao internacio-
nal, em cooperao com a Organiza-
o Mundial da Sade, Unesco e Go-
verno do Mxico, na sua XXVIII Assem-
blia, realizada em Ixtapa (Mxico, 17-
20 de abril), abordou a candente pro-
blemtica: Pobreza, vulnerabilidade,
valor da vida humana e emergncia da
biotica. Como resultado deste even-
to, ao propor uma agenda global para a
biotica a declarao de IXTAPA afir-
ma: luz do fato que a biotica se de-
senvolveu primordialmente, mas no de
forma exclusiva, na maioria dos pases
desenvolvidos, existe a necessidade pre-
mente para a elucidao e adoo uni-
versal dos princpios bsicos da biotica,
de uma forma que reconhea as dife-
rentes perspectivas em nvel mundial
relacionadas com moral, cultura, prio-
ridades e valores. Um passo significati-
vo em direo a este objetivo seria esta-
belecer ligaes bilaterais e multilaterais,
tais como cooperao tcnica, intercm-
bio e informao entre instituies e
sociedades profissionais que trabalham
com biotica nos pases industrializados
e nos pases em desenvolvimento. Tais
associaes seriam mutuamente benfi-
cas. Cf. Bankowski Z, Bryant JH,
editors. Poverty, vulnerability, and the
value of human Life: a global agenda
for bioethics. Geneva: CIOMS, 1994.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
99
Parte III - Temas Especficos
Volnei Garrafa
Biotica e Cincia - At onde
Avanar sem Agredir
Os avanos alcanados pelo de-
senvolvimento cientfico e tecnolgico
nos campos da biologia e da sade,
principalmente nos ltimos trinta anos,
tm colocado a humanidade frente a
situaes at pouco tempo inima-
ginveis. So praticamente dirias as
notcias provenientes das mais diferen-
tes partes do mundo relatando a utili-
zao de novos mtodos investigativos
e/ou de tcnicas desconhecidas, a des-
coberta de medicamentos mais efica-
zes, o controle de doenas tidas at
agora como fora de controle. Se, por
um lado, todas estas conquistas trazem
na sua esteira renovadas esperanas
de melhoria da qualidade de vida, por
outro criam uma srie de contradies
que necessitam ser analisadas respon-
savelmente com vistas ao equilbrio e
bem-estar futuro da espcie humana e
da prpria vida no planeta.
Hans Jonas (1) foi um dos pes-
quisadores que se debruou com mais
propriedade sobre este tema, ressaltan-
do a impotncia da tica e da filosofia
contemporneas frente ao homem
tecnolgico, que possui tantos poderes
no s para desorganizar como tam-
bm para mudar radicalmente os fun-
damentos da vida, de criar e destruir a
si prprio. Paradoxalmente, ao mesmo
tempo que gera novos seres humanos
atravs do domnio das complexas tc-
nicas de fecundao assistida, agride
diariamente o meio ambiente do qual
depende a manuteno futura da es-
pcie. O surgimento de novas doen-
as infectocontagiosas e de diversos
tipos de cncer, assim como a des-
truio da camada de oznio, a de-
vastao de florestas e a persistn-
cia de velhos problemas relacionados
com a sade dos trabalhadores
(como a silicose) so invenes
deste mesmo homem tecnolgico,
que oscila suas aes entre a cria-
o de novos benefcios extraordin-
rios e a inslita destruio de si mes-
mo e da natureza.
100
Ao contrrio do que muitos pen-
sam, a atual pauta biotica interna-
cional no diz respeito somente s si-
tuaes emergentes proporcionadas
por avanos como aqueles alcanados
no campo da engenharia gentica e
seus desdobramentos (projeto genoma
humano, clonagem, etc.), mas tambm
s situaes persistentes, relacio-
nadas principalmente com a falta de
universalidade no acesso das pessoas
aos bens de consumo sanitrio e uti-
lizao eqnime desses benefcios por
todos os cidados indistintamente (2).
Considerando estas duas situaes,
portanto, a humanidade se v atualmen-
te s voltas no apenas com alguns ve-
lhos dilemas ticos que persistem teimo-
samente desde a antigidade como tam-
bm com os novos conflitos decorrentes
da marcha acelerada do progresso. Jun-
tamente com seus inquestionveis bene-
fcios, a biotecnocincia, para utilizar um
neologismo proposto por Schramm (3),
pode, contraditoriamente, proporcionar
a ampliao dos problemas de excluso
social hoje constatados. Como impedir,
por exemplo, que os conhecimentos re-
centemente alcanados sobre as proba-
bilidades de uma pessoa vir a desenvol-
ver determinada doena no futuro, devi-
da a uma falha em seu cdigo gentico
(como nos casos da doena de
Huntington), no sejam transformados
em novas formas de discriminao por
parte das companhias seguradoras res-
ponsveis pelos chamados planos de
sade? (4)
Tudo isso se torna ainda mais dra-
mtico quando se sabe que o perfil
populacional mundial tem sofrido trans-
formaes profundas a partir da eleva-
o da esperana de vida ao nascer (em
anos), aliada ao fenmeno da
globalizao econmica que produz
uma crescente e inslita concentrao
da renda mundial nas mos de poucas
naes, empresas e pessoas privilegia-
das. Dentro deste complexo contexto
merecem meno, ainda, o aumento dos
custos sanitrios atravs da criao e
expanso de tecnologias de ponta que
possibilitam novas formas de diagnsti-
co e de tratamento, o recrudescimento
de algumas doenas que j estiveram sob
controle (como a tuberculose, febre ama-
rela, dengue, malria e outras), o
surgimento de novas enfermidades
(como a AIDS).
Segundo o presidente da
International Association of Bioethics,
Alastair Campbell, em visita que fez ao
Brasil em 1998, o maior desafio para a
biotica ser encontrar uma forma mais
adequada de justa distribuio de recur-
sos de sade, numa situao crescente
de competitividade. Para ele, indis-
pensvel fugirmos do debate
reducionista voltado exclusivamente
para os direitos individuais, preocupan-
do-nos, alm do problema mais bsico
da excluso social aos novos benefcios,
com o resgate de conceitos mais abrangen-
tes relacionados dignidade da vida
humana, sua durao, o valor da di-
versidade na sociedade humana e, es-
pecialmente, necessidade de se evitar
formas de determinismo gentico (...) (5).
Moral, tica e pesquisa
cientfica
Alguns dos principais bioeticistas
que tm se dedicado a estudar a tica
e a moral, bem como suas relaes
com situaes que envolvem a vida
101
no planeta, de uma forma geral procu-
ram consider-las como sinnimos
(6,7,8). Mesmo assim, nas disciplinas
e cursos de biotica que venho minis-
trando na Universidade de Braslia e
em outras universidades de 1994 para
c, tenho utilizado, para fins didticos,
alguns parmetros diferenciais entre as
duas. Esta diferenciao se revelou til
no sentido de uma melhor compreen-
so de alguns temas mais conflitivos e
fronteirios da anlise biotica, prin-
cipalmente quando os interlocutores
so alunos dos cursos de graduao.
Assim sendo, inicialmente indis-
pensvel comentar que o termo tica
vem do grego ethos e quer dizer modo
de ser ou carter, no sentido simi-
l ar ao do forma(s) de vida(s)
adquirida(s) pelo homem. A palavra
moral, por sua vez, deriva etimolo-
gicamente do latim mos ou mores
(costume ou costumes) e quer di-
zer alguma coisa que seja habitual
para um povo. Ambas, portanto, tm
significado similar. Contudo, foi a par-
tir do latim que estabeleceram-se as
bases do direito romano. Na Roma
Antiga que criou-se, historicamente,
o que se entende hoje por justia, no
seu sentido formal, atravs de leis que
foram sendo adaptadas durante os s-
culos subseqentes e que at os dias
atuais estabelecem as diferentes formas
de relao e regem os destinos de pes-
soas, povos e naes.
Como os romanos no encontra-
ram uma traduo que lhes fosse in-
teiramente satisfatria para o ethos,
passaram a utilizar de forma generali-
zada o mores, que em portugus tra-
duzido por MORAL. Desta forma, a
boa ou correta normatizao pas-
sou a ser entendida como aquela le-
gislao que interpretasse e manifes-
tasse as situaes concretas que acon-
teciam, de modo mais aproximado aos
costumes ou s formas habituais dos
cidados e das comunidades procede-
rem nas suas vidas societrias quoti-
dianas.
Em resumo, se por um lado o sig-
nificado etimolgico de tica e moral
similar, por outro existe uma diferen-
a historicamente determinada entre
ambas. Como vimos acima, a moral
romana uma espcie de traduo
latina de tica, mas que acabou ad-
quirindo uma conotao formal e im-
perativa que direciona ao aspecto ju-
rdico e no ao natural, a partir da
antiga polarizao secularmente
verificada, e especialmente forte na-
quela poca, entre o bem e o mal,
o certo e o errado, o justo e o
injusto (9). Para os gregos, o ethos
indicava o conjunto de comportamen-
tos e hbitos constitutivos de uma ver-
dadeira segunda natureza do ho-
mem. Na tica a Nicmaco, Aristteles
interpretava a tica como a reflexo
filosfica sobre o agir humano e suas
finalidades (10). E a partir da inter-
pretao aristotlica que a tica pas-
sou, posteriormente, a ser referida
como uma espcie de cincia da
moral. Na prtica, no entanto, a dis-
cusso persiste at hoje. Os cdigos
de tica profissional, por exemplo, con-
sistem em manifestaes maniquestas
e formais (e muito bem estruturadas,
sob o ponto de vista corporativo...)
daquilo que os romanos entendiam
por moral. As legislaes, de modo
geral, tambm obedecem conotao
semelhante.
Dentre as muitas discusses en-
contradas na literatura sobre as dife-
102
renas ou semelhanas entre moral e
tica, merecem destaque as posies
de Joseph Fletcher, de acordo com o
qual no deveramos sentir-nos obri-
gados por qualquer regra moral intan-
gvel: s o contexto e as conseqn-
cias teis ou prejudiciais das nossas
escolhas deveriam determinar-nos
(11). Segundo Lucien Sve (12), que
analisa as posies de Fletcher, nume-
rosos mdicos o apoiaram tomando a
defesa deste repdio dos absolutos
morais em defesa de um
contextualismo de esprito utilitarista,
a partir da expresso tica de situa-
es. Assim, estabeleceu-se uma dis-
tino, que passou a ser corrente em
alguns meios, entre moral e tica, que
recobre o conflito entre a exigibilidade
das condutas prescritas por normas
universais e a flexibilidade das decises
adequadas em cada caso singular.
Transportando o foco da discusso
para o tema das investigaes cientfi-
cas, que o objeto do nosso assunto,
indispensvel assinalar que as regras
e as leis que dispem sobre o desen-
volvimento cientfico e tecnolgico
devem ser cuidadosamente elaboradas
para, por um lado, prevenir abusos e,
pelo outro, evitar limitaes e proibi-
es descabidas. Segundo o filsofo
italiano Eugenio Lecaldano (13), exis-
te um ncleo de questes que precisam
ser reconduzidas dentro de regras de
carter moral, e no sancionadas juri-
dicamente; e um outro no qual estas
questes devam ser rigidamente san-
cionadas e, portanto, codificadas. O
primeiro aspecto se refere ao
pluralismo, tolerncia e solidarie-
dade, prevalecendo a idia de legiti-
midade (moral). O segundo diz mais
respeito ao direito formal e justia,
onde prevalece a idia de legalidade
(tica). Desta forma, dentro do
pluralismo moral constatado nos dias
atuais, parece-nos prefervel confiar
mais no transculturalismo (nas singu-
laridades culturais e nas diferenas de
moralidades verificadas entre pesso-
as e povos) do que em certas ver-
dades universais e normas jurdicas
inflexveis.
Vou ilustrar a diferenciao que
percebo entre tica e moral com um
exemplo situado na zona de limites (do
que chamo de biotica forte ou
biotica dura) para a tomada de
decises. Uma menina de rua com
apenas doze anos de idade, sem fam-
lia, prostituta desde os oito anos, na-
tural de grande capital de uma regio
pobre do Brasil, procura um mdico
para auxili-la na realizao do abor-
to. Um detalhe: a menina HIV positi-
va. Apesar de ser catlico e saber que
no Brasil o aborto, nestes casos, proi-
bido, o mdico decide efetivar o ato,
dizendo, nessa circunstncia, estar
tranqilo por no ter pecado contra seu
Deus nem infringido o cdigo de tica
mdica ou a legislao do pas. Esta
situao pode ser caracterizada entre
aquelas que Adela Cortina denomina
de tica sem moral (14). Ou seja,
apesar de existir formalmente uma
transgresso legal (tica), pela infrao
aos mandamentos catlicos, cdigo
profissional e legislao brasileira, o
mdico tomou partido por uma deci-
so legtima pautada na sua prpria
moralidade, que o impediu de deixar
uma situao de limites como esta se-
guir adiante. Neste caso, a essncia da
discusso no deve incidir na deciso
especfica e individual do mdico,
mas na anlise mais globalizada da
103
responsabilidade pblica do Estado
com relao sociedade que o man-
tm e a quadros dramticos de inad-
missvel abandono e injustia social.
A manipulao da vida e o
tema dos limites
A questo da manipulao da
vida pode ser contemplada a partir de
variados ngulos: biotecnocientfico,
poltico, econmico, social, jurdico,
moral... Em respeito liberdade indivi-
dual e coletiva conquistada pela huma-
nidade atravs dos tempos, a pluralidade
constatada neste final do sculo XX re-
quer que o estudo biotico do assunto
contemple, na medida do possvel e de
forma multidisciplinar, todas estas pos-
sibilidades.
Com relao vida futura do pla-
neta, no devero ser regras rgidas ou
limites exatos que estabelecero at
onde o ser humano poder ou dever
chegar. Para justificar esta posio,
vale a pena levar em considerao al-
guns argumentos de Morin sobre os
sistemas dinmicos complexos. Para
ele, o paradigma clssico baseado na
suposio de que a complexidade do
mundo dos fenmenos devia ser resol-
vida a partir de princpios simples e leis
gerais no mais suficiente para con-
siderar, por exemplo, a complexidade
da partcula subatmica, a realidade
csmica ou os progressos tcnicos e
cientficos da rea biolgica (15). En-
quanto a cincia clssica dissolvia a
complexidade aparente dos fenmenos
e fixava-se na simplicidade das leis
imutveis da natureza, o pensamento
complexo surgiu para enfrentar a
complexidade do real, confrontando-
se com os paradoxos da ordem e de-
sordem, do singular e do geral, da
parte e do todo. De certa forma, in-
corpora o acaso e o particular como
componentes da anlise cientfica e
coloca-se diante do tempo e dos fe-
nmenos.
Segundo Hans Jonas, o tema da
liberdade da cincia ocupa posio
nica no contexto da humanidade,
no limitada pelo possvel conflito com
outros direitos (16). Para ele, no en-
tanto, o observador mais atento perce-
be uma contradio secreta entre as
duas metades dessa afirmao, porque
a posio especial alcanada no mun-
do graas liberdade da cincia signi-
fica uma posio exterior de poder e
de posse, enquanto a pretenso de
incondicionalidade da liberdade da in-
vestigao tem que apoiar-se precisa-
mente em que a atividade de investi-
gar, juntamente com o conhecimento,
esteja separada da esfera da ao. Por-
que, naturalmente, na hora da ao
toda liberdade tem suas barreiras na
responsabilidade, nas leis e conside-
raes sociais. De qualquer maneira,
ainda de acordo com Jonas, sendo til
ou intil a liberdade da cincia um
direito supremo em si, inclusive uma
obrigao, estando livre de toda e qual-
quer barreira.
Abordando o tema da tica para
a era tecnolgica, Casals diz que tra-
ta-se de atingir o equilbrio entre o
extremo poder da tecnologia e a
conscincia de cada um, bem como
da sociedade em seu conjunto: Os
avanos tecnolgicos nos remetem
sempre responsabilidade individual,
bem como ao questionamento tico dos
envolvidos no debate, especialmente
104
aqueles que protagonizam as tomadas
de decises(16).
De acordo com o que j foi colo-
cado anteriormente, para as pessoas
que defendem o desenvolvimento livre
da cincia, embora de forma respon-
svel e participativa, difcil conviver
pacificamente com expresses que es-
tabeleam ou signifiquem limites
para a mesma. O tema, contudo, de
difcil abordagem e soluo. Por isso,
enquanto no encontrar uma expres-
so (ou iluminao moral suficiente...)
que se adeque mais s minhas exatas
intenes prefiro utilizar a palavra li-
mites entre aspas, procurando, com
esse artifcio, certamente frgil, expres-
sar minha dificuldade sem abdicar de
minhas posies.
Assim sendo, necessrio que se
passe a discutir sobre princpios mais
amplos que, sem serem quantitativos
ou limtrofes na sua essncia, pos-
sam proporcionar contribuies
conceituais e tambm prticas no que
se refere ao respeito ao equilbrio
multicultural e ao bem-estar futuro da
espcie. Nesse sentido, parece-nos in-
dispensvel agregar discusso alguns
temas que tangenciam as fronteiras do
desenvolvimento, sem limit-lo: a
pluralidade e a tolerncia, a participa-
o e a responsabilidade; a eqidade
e a justia distributiva dos benefcios
(18, 19).
Diversos setores da sociedade,
principalmente aqueles religiosos e
mais dogmticos, tm traado uma
viso perturbadora, pessimista e
apocalptica da relao entre a cin-
cia e a vida humana neste final de s-
culo. Um dos documentos mais respei-
tveis surgidos nos ltimos anos e que
contempla a discusso biotica a
Encclica Evangelium Vitae, do Papa
Joo Paulo II desenvolve esta linha
de pensamento (20). A relao de te-
mas abordados pela Encclica papal
abrange tudo aquilo que se ope de
forma direta vida, como a fome e as
doenas endmicas, guerras, homic-
dios, genocdios, aborto, eutansia;
tudo aquilo que viole a integridade da
pessoa, como as mutilaes e torturas;
tudo aquilo que ofenda a dignidade
humana, como as condies subhu-
manas de vida, prises arbitrrias, es-
cravido, deportao, prostituio, tr-
fico de mulheres e menores, condies
indignas de trabalho. A partir desta
realidade incontestvel o Papa chega
a definir o sculo XX como uma po-
ca de ataques massivos contra a vida,
como o reino do culto morte. A ve-
racidade destes fatos, no entanto,
maculada pela unilateralidade do jul-
gamento sobre o presente e pela es-
curido apontada para o futuro.
A insistncia nos aspectos nega-
tivos da realidade obstaculiza uma vi-
so mais precisa e articulada deste
sculo. Sem cair na posio oposta,
deve-se reconhecer que o sculo XX,
apesar das guerras e crimes e de estar
se encaminhando para seu final em
clima de incerteza, foi tambm o s-
culo da vida. Foi o sculo no qual
aprofundou-se o conhecimento cient-
fico sobre a prpria vida que, sem d-
vida, melhorou em termos de qualida-
de para a maioria da espcie huma-
na. Foi o sculo no qual, pela primeira
vez na histria, a durao mdia da
vida aproximou-se aos anos indicados
como destino normal da nossa es-
pcie; no qual a sade dos trabalha-
dores foi defendida e sua dignidade
reconhecida em muitos pases; onde
105
vimos emergir os direitos vitais, jurdi-
cos e culturais das mulheres, que nos
sculos anteriores foram sempre des-
prezados; em que existiu uma substan-
cial valorizao do corpo; onde as ci-
ncias biolgicas e a medicina chega-
ram a descobertas fantsticas, benefi-
ciando indivduos e populaes. O
grande desafio de hoje, portanto,
construir o processo de incluso de
todas as pessoas e povos como
beneficirios deste progresso.
A fora da cincia e da tcnica
est, exatamente, em apresentar-se
como uma lgica utpica de liberta-
o que pode levar-nos a sonhar para
o futuro inclusive com a imortalidade.
Tudo isso deveria, pois, desaconselhar
as tentativas de impor uma tica auto-
ritria, alheia ao progresso tcnico-ci-
entfico. Deveria, alm disso, induzir-
nos a evitar formulaes de regras ju-
rdicas estabelecidas sobre proibies.
prefervel que os vnculos e os limi-
tes das leis sejam declinados positi-
vamente e que seja estimulada uma
moral autgena, no imposta mas ine-
rente. Em outras palavras, necess-
rio que entre os sujeitos tico-jurdicos
no seja desprezada a contribuio
daqueles que vivem a dinmica pr-
pria da cincia e da tcnica (os cien-
tistas), sem chegar, todavia, a delegar
somente a estes decises que dizem
respeito a todos.
Nesse sentido, necessrio que
ocorram mudanas nos antigos
paradigmas biotecnocientficos, o que
no significa obrigatoriamente a dis-
soluo dos valores j existentes, mas
sua transformao: deve-se avanar
de uma cincia eticamente livre para
outra eticamente responsvel; de uma
tecnocracia que domine o homem
para uma tecnologia a servio da hu-
manidade do prprio homem (...) de
uma democracia jurdico-formal a
uma democracia real, que concilie li-
berdade e justia (21). Trata-se, por-
tanto, de estimular o desenvolvimento
da cincia dentro de suas fronteiras
humanas e, ao mesmo tempo, de
desestimul-lo quando essa passa a
avanar na direo de limites desu-
manos.
Endeusamento versus
demonizao da cincia
Com rel ao s cincias
biomdicas, as reflexes morais ema-
nadas de diferentes setores da socie-
dade mostram hoje duas tendncias
antagnicas. De um lado, existe uma
radical biotica racional e justificativa,
atravs da qual tudo aquilo que pode
ser feito, deve ser feito. No extremo
oposto, cresce uma tendncia conser-
vadora baseada no medo de que nosso
futuro seja invadido por tecnologias
ameaadoras, levando seus defensores
procura de um culpado, erroneamen-
te identificado na matriz das novas
tcnicas, na prpria cincia. Neste
quadro complexo, a biotica pode vir
a ser usada por alguns como instru-
mento para afirmar doutrinas
anticientficas e, por outros, ser consi-
derada como um obstculo impertinen-
te ao trabalho dos cientistas e ao de-
senvolvimento bioindustrial; ou ain-
da como um instrumento para negar
o valor da cincia (ou como valida-
o de posies anticientficas) ou,
ento, para justific-la a qualquer
custo (22).
106
Orientar-se entre estas duas teses
opostas no tarefa fcil. A novidade
e a complexidade so caractersticas
inerentes maioria dos temas bioticos
atuais, dos transplantes s pesquisas
com seres humanos e animais, do pro-
jeto genoma reproduo assistida.
Sobre muitos destes problemas ainda
no foram formuladas regulamenta-
es que em outros campos e em po-
cas passadas conduziram a compor-
tamentos mais ou menos homogneos
e se constituram no fundamento de leis
cujo objetivo, mais do que evitar ou
punir qualquer conduta censurvel, era
o de manter um certo equilbrio na so-
ciedade. Nos dias atuais, o desenvol-
vimento da cincia est sujeito a cho-
ques com diversas doutrinas e crenas
existentes, ao mesmo tempo em que as
opinies pessoais tambm oscilam
entre sentimentos e orientaes diver-
sas. Por outro lado, linhas de pesquisa
se alargaro no futuro, alcanando re-
sultados ainda imprevisveis, enquan-
to diversos conhecimentos j adquiri-
dos (como a clonagem) esto hoje ape-
nas na fase inicial de sua aplicao
prtica.
De acordo com esta ordem pola-
rizada de coisas, o mundo moderno
poder desaguar em uma crescente
confuso diablica, ou na resoluo
de todos os problemas da espcie hu-
mana atravs do progresso cientfico.
As duas hipteses incorrem no risco
de alimentar na esfera cultural o
dogmatismo, e na esfera prtica a pas-
sividade. Se por um lado so inme-
ros os caminhos a serem escolhidos
para que a terra se transforme num
verdadeiro inferno, so tambm infi-
nitas as possibilidades de utilizao
positiva das descobertas cientficas.
O embate entre valores e interesses so-
bre cada uma das opes um dado
real, inextinguvel e construtivo sob
muitos aspectos. A adoo de normas
e comportamentos moralmente aceit-
veis e praticamente teis requer, por
todas as razes j expostas, tanto o
confronto quanto a convergncia das
vrias tendncias e exigncias (23).
Pluralidade e tolerncia,
participao e responsabilidade,
eqidade e justia distributiva
Enfim, toda esta desorganizao
de idias e prticas comprometem di-
retamente a prpria espcie humana,
que se tornou interdependente em re-
lao aos fatos, ainda que por sorte se
mantenha diversificada em termos de
histria, leis e cultura. A relao entre
interdependncia, diversidade e liber-
dade poder tornar-se um fator positi-
vo somente no caso das escolhas pr-
ticas e das orientaes bioticas terem
reforadas suas tendncias ao
pluralismo e tolerncia.
A intolerncia e a unilateralidade,
porm, so fenmenos freqentes tan-
to nos comportamentos relacionados
s situaes persistentes quanto nas
atitudes que se referem aos problemas
emergentes surgidos mais recentemente
e que crescem todos os dias. Quanto
aos comportamentos, no que se refere
aos problemas persistentes, pode-se
citar, por exemplo, o ressurgimento do
racismo na Europa e em outras partes
do mundo e cujas bases culturais es-
to exatamente em negar o fato de que
as etnias pertencem ao domnio comum
da espcie humana e em confundir o
107
conceito de diferena com o de infe-
rioridade. Para as atitudes com rela-
o aos problemas emergentes,
pode-se recordar a deciso do presi-
dente norte-americano Bill Clinton de
proibir as pesquisas de clonagem com
seres humanos e cortar todo possvel
auxlio governamental para as mes-
mas, contrariando as sugestes da
comisso nacional de biotica por ele
convocada.
O desenvolvimento da cincia
pode percorrer caminhos diversos, uti-
lizar diferentes mtodos. O conheci-
mento por si s um valor, mas a de-
ciso sobre quais conhecimentos a
sociedade ou os cientistas devem con-
centrar seus esforos implica na con-
siderao de outros valores. Da mes-
ma forma, no se pode deixar de con-
siderar o papel do cientista ou da ati-
vidade que ele exerce. Sua responsa-
bilidade tica deve ser avaliada no s
pelo exerccio das suas pesquisas em
si mas, principalmente, pelas conseq-
ncias sociais decorrentes das mes-
mas. Enquanto a cincia, no sendo
ideolgica por sua estrutura, pode es-
tar a servio ou dos fins mais nobres
ou dos mais prejudiciais para o gne-
ro humano, o cientista no pode per-
manecer indiferente aos desdobramen-
tos sociais do seu trabalho. Se a cin-
cia como tal no pode ser tica ou
moralmente qualificada, pode s-la, no
entanto, a utilizao que dela se faa,
os interesses a que serve e as conse-
qncias sociais de sua aplicao.
Est ainda inserido nessa pauta o
tema da democratizao do acesso
para todas as pessoas, indistinta e
eqanimemente, aos benefcios do
desenvolvimento cientfico e tecnol-
gico (s descobertas), uma vez que
a espcie humana o nico e real sen-
tido e meta para esse mesmo desen-
volvimento.
Dentro ainda do tema da demo-
cracia e desenvolvimento da cincia,
no se poder deixar de abordar a ques-
to do controle social sobre qualquer
atividade que seja de interesse coleti-
vo e/ou pblico. Mesmo em temas
complexos como o projeto genoma
humano ou a doao e os transplan-
tes de rgos e tecidos humanos, a
pluriparticipao indispensvel para
a garantia de que os direitos humanos
e a cidadania sejam respeitados. O
controle social, atravs do pluralismo
participativo, dever prevenir o dif-
ci l probl ema de um progresso
biotecnocientfico que reduz o cidado
a sdito ao invs de emancip-lo. O
sdito o vassalo, aquele que est sem-
pre sob as ordens e vontades de ou-
tros, seja do rei, seja dos seus
opositores. Esta peculiaridade abso-
lutamente indesejvel em um proces-
so no qual se pretende que a partici-
pao consciente da sociedade mun-
dial adquira um papel de relevo. A ti-
ca um dos melhores antdotos con-
tra qualquer forma de autoritarismo e
de tentativas esprias de manipula-
es.
Ainda no que diz respeito tole-
rncia, Mary Warnock destacou o prin-
cpio segundo o qual a nica razo
vlida para no se tolerar um com-
portamento que este cause danos a
outras pessoas, alm de quem o adota
(24). O exemplo ao que ela se refere
a legislao sobre embries, que foi
discutida na Inglaterra durante anos.
Com relao ao aborto, oportuno
recordar, na mesma linha de idias j
abordada em tpico anterior, que existe
108
uma diferena entre seu enfoque legal
e moral. Sobre a legalidade, vrios
pases o reconheceram, objetivando
evitar que ele permanecesse como um
fenmeno clandestino, por isto mesmo
agravado e impossvel de prevenir.
Quanto moralidade, ele , de qual-
quer modo, um ato interruptivo de um
processo vital, ao qual setores da so-
ciedade atribuem significado negativo
e outros no. De qualquer forma, ques-
tes complexas como o aborto no
encontram respostas satisfatrias uni-
camente no mbito exclusivo do
pluralismo e da tolerncia, devendo ser
integradas a outros conceitos como a
responsabilidade (da mulher, da soci-
edade e do Estado) e a eqidade no
seu mais amplo sentido.
Consideraes finais
sempre prefervel confiar mais
no progresso e nos avanos culturais e
morais do que em certas normas jur-
dicas. Existem, de fato, zonas de fron-
teira nas aplicaes da cincia. Levan-
do em considerao a velocidade do
progresso biotecnocientfico , contu-
do, impossvel reconstruir rapidamen-
te certas referncias ou valores que
possam vir a ser compartilhados por
todos, a menos que se insista na alter-
nativa da imposio autoritria e uni-
lateral de valores. A soluo est, en-
to, em verificarmos se possvel tra-
balhar para a definio de um conjun-
to de condies de compatibilidade
entre pontos de vista que permanece-
ro diferentes, mas cuja diversidade
no implique necessariamente em um
conflito catastrfico ou em uma radi-
cal incompatibilidade (25). oportu-
no levantar neste ponto o importante
papel formador desempenhado pela
mdia (virtual, impressa, falada e
televisionada), que deve avanar do
patamar do simples entretenimento em
direo abertura de debates pbli-
cos relacionados e comprometidos
com temas de interesse comum.
O grande n relacionado com a
questo da manipulao da vida huma-
na no est na utilizao em si de novas
tecnologias ainda no assimiladas mo-
ralmente pela sociedade, mas no seu
controle. E esse controle deve ocorrer em
patamar diferente ao dos planos cient-
ficos e tecnolgicos: o controle tico.
prudente lembrar que a tica sobrevive
sem a cincia e a tcnica; sua existncia
no depende delas. A cincia e a tcni-
ca, no entanto, no podem prescindir da
tica, sob pena de, unilateralmente, se
transformarem em armas desastrosas
para o futuro da humanidade, nas mos
de ditadores ou de minorias poderosas
e/ou mal-intencionadas.
O xis do problema, portanto,
est no fato de que dentro de uma es-
cala hipottica de valores vitais para a
humanidade a tica ocupa posio
diferenciada em comparao com a
pura cincia e a tcnica. Nem anterior,
nem superior, mas simplesmente dife-
renciada. Alm de sua importncia
qualitativa no caso, a tica serve como
instrumento preventivo contra abusos
atuais e futuros que venham a trazer
lucros e poderes abusivos para poucos,
em detrimento do alijamento e sofri-
mento de grande parte da populao
mundial e do prprio equilbrio
biossociopoltico do planeta.
Para que a manipulao da vida
se faa dentro do marco referencial da
109
cidadania, com preservao da liber-
dade da cincia a partir do paradigma
tico da responsabilidade, existem dois
caminhos. O primeiro, por meio de le-
gisl aes que devero ser
(re)construdas democraticamente pe-
los diferentes pases, levando-se em
considerao os indicadores acima
mencionados e no sentido da preser-
vao de referenciais ticos estabele-
cidos em consonncia com o progres-
so moral verificado nas respectivas
sociedades. No que diz respeito a esse
tpico, vale a pena recordar o fracas-
so representado pela nova legislao
brasileira com relao doao pre-
sumida de rgos para transplantes.
Aps a promulgao da lei nos ltimos
meses de 1997, a qual em momento
algum foi discutida coletivamente e
muito menos aceita pela sociedade do
pas, o nmero de doadores mortos
passou a diminuir progressivamente,
ms aps ms, at que em agosto de
1998 o Ministrio da Sade decidiu
por solicitar ao Congresso Nacional
novas discusses objetivando sua al-
terao.
O segundo, por meio da constru-
o democrtica, participativa e soli-
dria pela comunidade internacio-
nal de naes de uma verso atuali-
zada da Declarao Universal dos Di-
reitos Humanos, pautada no em proi-
bies, mas na busca afirmativa da
incluso social, de sade, bem-estar e
felicidade. Uma espcie de Estatuto da
Vida, que possa vir a servir de guia
para as questes conflitivas j consta-
tadas atualmente e para aquelas no-
vas situaes que certamente surgi-
ro no transcorrer dos prximos anos
como conseqncia do desenvolvimen-
to.
Referncias bibliogrficas
Jonas H . Il principio responsabilit.
Unetica per la civilt tecnologica. Tu-
rim: Einaudi Editore, 1990.
Garrafa V. Reflexes bioticas sobre ci-
ncia, sade e cidadania. Biotica
(CFM) 1998;6(2). (no prelo)
Schramm FR. Paradigma biotecnocien-
tfico e paradigma biotico. In: Oda LM.
Biosafety of transgenic organisms in
human health products. Rio de Janeiro:
Fundao Oswaldo Cruz, 1996:109-27.
Morelli T. Genetic testing will lead to
discrimination. In: Bener D, Leone B,
organizadores. Biomedical ethics:
opposing viewpoints. San Diego:
Greennhaven, 1994: 287-92.
Campbell A. A biotica no sculo XXI.
Sade Helipolis 1998;3(9):9-11.
Engelhardt HT Jr.. Fundamentos da
biotica. So Paulo: Ed. Loyola, 1998.
Mori M. A biotica: sua natureza e hist-
ria. Humanidades (UnB) 1994,34:332-41.
Singer P. tica prtica. So Paulo:
Martins Fontes, 1994: 01-23.
Garrafa V. Dimenso da tica em sa-
de pblica. So Paulo: Faculdade de
Sade Pblica USP/Kellogg Foundation,
1995: 20-4.
Aristteles. tica a Nicmaco. 3.ed.
Braslia: Editora UnB, 1992.
Fletcher J. citado por Sve L. Para uma
crtica da razo biotica. Lisboa: Insti-
tuto Piaget, 1994:138-9.
Sve L. Para uma crtica da razo
biotica. Lisboa: Instituto Piaget,
1994:138-9.
6.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
5.
4.
3.
2.
1.
110
Lecaldano E. Assise Internazionale di
Bioetica; 1992 Maio 28-30; Roma. No-
tas preparatrias ao Encontro, cujo con-
tedo completo foi publicado por Rodot
S, organizador. Questioni di bioetica.
Roma-Bari: Sagittari Laterza, 1993.
Cortina A. tica sin moral. Madrid:
Tecnos, 1990.
Morin E. Cincia com conscincia. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
Jonas H. Tcnica, medicina y tica.
Barcelona: Paids, 1997: 67-5.
Casals JME. Una tica para la era
tecnologica. Cuadernos del Programa
Regional de Biotica (OPS/OMS)
1997;5:65-84.
Berlinguer G. Questes de vida: tica,
cincia e sade. So Paulo: APCE/
Hucitec/CEBES, 1993: 19-37.
Berlinguer G, Garrafa V. La merce uomo.
MicroMega (Roma) 1993; (1):217-34.
20.Joo Paulo II. Evangelium vitae.
Lettera enci cl i ca sul val ore e
linviolabilit della vita umana. Bolonha:
Edizione Dehoniane, 1995.
Kng H. Projeto de uma tica mundial.
So Paulo: Paulinas, 1994.
Berlinguer G, Garrafa V. O mercado
humano: estudo biotico da compra e
venda de partes do corpo. Braslia: Edi-
tora UnB, 1996.
Garrafa V, Berlinguer G. A manipula-
o da vida. Folha de S. Paulo 1996
Dez 01;Caderno Mais:5.
Warnock M. I limiti della tolleranza. In:
Mendus S, Edwards D. Saggi sulla
tol l eranza. Mi l o: I1 Saggi atori /
Mondadori, 1990: 169.
Rodot S. Questioni di bioetica. Roma-
Bari: Sagittari Laterza, 1993:IX.
25.
22.
24.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
23.
111
A Igreja Catlica e a reprodu-
o assistida
Sem dvida, dentre os assuntos
que mais provocam debates situam-se
aqueles referentes reproduo huma-
na, em vista do forte componente reli-
gioso, moral e tico que envolve a
questo. O dogmatismo da Igreja Ca-
tlica sobre o tema, desde o incio da
era crist, dando uma conotao divi-
na reproduo humana, tornou,
durante quase dois mil anos, essa dis-
cusso proibida. Ou, pelo menos, res-
trita a grupos de pensadores e filso-
fos que ousaram desafiar os dogmas
estabelecidos. No Novo Testamento,
no Evangelho segundo S. Joo, l-se:
Os quais no nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da von-
tade do varo, mas de Deus por si
s esta assero impe um silncio
sobre a questo da reproduo e no
admite discusso.
A influncia de diversas religies,
principalmente da catlica, impedindo
a livre manifestao do pensamento
Antnio Henrique Pedrosa Neto
Jos Gonalves Franco Jnior
Reproduo Assistida
sobre o assunto, levou aceitao de
que a reproduo humana era uma
manifestao exclusiva da vontade
de Deus e, portanto, seria inadmiss-
vel sua discusso pelo homem. A
interferncia humana no processo
reprodutivo constitua uma agresso
vontade de Deus. Esse dogma perdu-
rou durante sculos, mantendo a hu-
manidade sob a doutrina de uma reli-
gio que impunha seus conceitos a
todos, religiosos ou no, em uma ati-
tude claramente coercitiva que no
reconhecia a diversidade do pensa-
mento humano.
Um dia, a espcie humana deci-
frou os mistrios da reproduo. Co-
nheceu o poder de trazer uma nova
vida ao mundo, no mais submeten-
do-se ao simples acaso da natureza.
Corrigindo uma falha desta, permitiu
que o homem e a mulher pudessem
desenvolver o privilgio da reproduo.
Devolveu ao homem e a mulher o di-
reito descendncia. Devolveu mu-
lher sua funo biolgica de conceber
uma nova vida. No quis o homem
tornar-se Criador. As sementes da vida
112
so Sua criao. O homem apenas
juntou as sementes para que dessem
origem a um novo ser. Sob essa lgi-
ca, no se pode falar de desvios reli-
giosos, morais ou ticos.
A respeito da inseminao artifi-
cial, Pio XII manifestou-se contraria-
mente, pois o esperma do marido no
podia ser obtido atravs da
masturbao e a fecundao ser reali-
zada sem qualquer contato sexual.
Sobre a questo, D. Ivo Lorscheider
afirmou: Todas essas experincias de
se fazer nens artificiais, bebs de pro-
veta, so condenveis. Isso vai ter uma
repercusso terrvel sobre a humani-
dade, porque toda procriao tem
como fundamento o amor entre a es-
posa e o esposo. Quando o amor no
existe mais, qual o significado dessa
criana?.
Nesse sentido, a Igreja coloca a
questo do amor, do sexo e da repro-
duo dentro de sua lgica dogmtica:
de que a unio do homem e da mu-
lher, atravs do matrimnio, tem como
objetivo nico a reproduo, no im-
portando os equvocos da natureza e
a satisfao do casal. O cardeal
Joseph Ratzinger, a respeito do do-
cumento O pecado maternal, divul-
gado pela Santa S, ao ser questiona-
do sobre como ficaria o casal que pre-
tendendo ter filhos no os pudesse ter,
por algum problema de esterilidade, res-
pondeu: As pessoas nessas condies
devem se resignar com a sorte.
A respeito da questo, as palavras
do padre Guareschi encerram a pol-
mica quando coloca o amor e a reali-
zao do ser humano, inclusive dentro
dos princpios cristos, acima dos
dogmas estabelecidos pela Sagrada
Congregao para a doutrina da F.
O princpio que d sentido famlia
que ela, semelhana da Trindade
(...), procura a real izao e
complementao mtua de dois ou
mais seres, atravs do amor. (...) Cos-
tuma-se dizer que os filhos so fruto
deste amor. Se formos aplicar essas
reflexes ao problema da inseminao
artificial (in vitro) poderamos dizer que
essa ao, quando contm em si esse
princpio fundamental de amor, rea-
lizao e complementao mtua, se
coloca muito bem dentro dos princ-
pios cristos. A experincia nos mos-
tra que casais chegam a gastar fortu-
nas, fazem sacrifcios ingentes para
poderem ter um filho que vai ser o
fruto de seu amor. Pode-se reduzir o
amor relao sexual normal? No
poderiam existir outros caminhos
para que eles cheguem realizao e
complementao de suas vidas, atra-
vs do amor?.
Finalmente, a Igreja Protestante
apresenta um pensamento mais libe-
ral a respeito das tcnicas de reprodu-
o assistida (RA). O pastor Andr
Dumas assim manifestou-se sobre o
assunto: Eu sou favorvel a
inseminao artificial humana, mesmo
com esperma de doador, pois uma
possibilidade obtida pela cincia, de
superar a esterilidade, mas ela deve ser
praticada com a concordncia do
marido e da mulher. ( ... ) Atualmente,
intervm-se, cada vez mais, nos pro-
cessos biolgicos. A natureza um
mito. legtimo para o homem inter-
vir nos processos da natureza. O pro-
blema da doao de esperma deve
ser considerado como um problema
de transplante, no plano da doao
de rgos. A semente deve ser
dessacralizada. Evidentemente, a
113
gentica representa um papel na per-
sonalidade da criana, mas a cultura
e a educao tambm.
Portanto, o determinismo biolgi-
co da reproduo e a satisfao do
casal com a chegada de um filho jus-
tifica plenamente a utilizao das tc-
nicas de reproduo assistida. A pro-
cura do casal em corrigir uma imper-
feio da natureza encontra na cin-
cia a soluo dos seus problemas.
justo negar esse direito ao Homem?
No possvel concordar com o car-
deal Joseph Ratzinger quando afirma
que as pessoas que no podem con-
ceber um filho devem resignar-se com
a sorte.
Por fim, no seria justificvel o
enorme esforo da humanidade em
desenvolver o conhecimento cientfico
se no fosse para coloc-lo a servio
do Homem. No podemos, por
dogmas ou crenas religiosas, retornar
ao primitivismo da humanidade. Se a
medicina pode intervir sobre a repro-
duo humana, dentro de princpios
morais e ticos perfeitamente estabe-
lecidos, porque impedir essa interven-
o? perfeitamente legtima a pro-
cura do homem pela sua realizao e
satisfao plenas. E a cincia, coloca-
da sua disposio, deve ser um ins-
trumento dessa realizao.
Problemas ticos envolvidos,
seus conflitos
A medicina, desde tempos
imemoriais, sempre exigiu um debate
permanente sobre as questes ticas
que envolvem sua prtica e o desen-
volvimento de novos conhecimentos.
O marco inicial, sem dvida, foi fixa-
do quando Hipcrates, em 460 A.C.,
estabeleceu os primeiros postulados
ticos da medicina que atravessa-
ram sculos, chegando ao terceiro
milnio como uma referncia indel-
vel que tem norteado a medicina at
os dias atuais.
A curiosidade cientfica e a bus-
ca incansvel de novas descobertas
nas cincias da sade sempre preo-
cupou a humanidade. Da, a neces-
sidade de estabelecer limites precisos
no desenvolvimento da cincia
biomdica. O conhecimento biom-
dico, acumulado ao longo do tempo,
buscou essencialmente o benefcio da
espcie humana. No entanto, em nome
desse desenvolvimento, regras bsicas
de comportamento tico foram desres-
peitadas. Cabe sociedade, portanto,
controlar a cincia, evitando desvios.
O desenvolvimento do conheci-
mento baseou-se durante sculos no
empirismo e na observao pura e sim-
ples das manifestaes naturais e biol-
gicas. No havia, poca, conhecimen-
tos suficientes que dessem suporte cien-
tfico para sua comprovao. Da mes-
ma forma, no existia uma reflexo so-
bre as questes ticas desse desenvolvi-
mento emprico. A partir do momento em
que o desenvolvimento cientfico retirou
a cincia do empirismo, a humanidade
passou a refletir com mais profundidade
sobre as questes ticas que envolvem
seu desenvolvimento e sua aplicabilidade
sobre os seres humanos.
Mesmo nos tempos atuais, onde
a sociedade exerce um papel
controlador mais efetivo, o desenvol-
vimento cientfico muitas vezes enco-
bre violaes de princpios ticos, e
no raro humanitrios, em nome da
114
high-tech na cincia biomdica. No
entanto, cada vez mais cresce a dis-
cusso sobre a questo e a Biotica
a qual busca estabelecer com a socie-
dade, em todo o mundo, um dilogo
conseqente propicia uma vigilncia
mais efetiva do rpido e contundente
avano cientfico e tecnolgico.
Desde sua gnese, a humanida-
de sempre demonstrou grande preo-
cupao com a fecundidade. Envolven-
do aspectos religiosos, morais, ticos
e culturais a humanidade debateu-se
durante sculos sobre o problema. Prin-
cipalmente por encerrar questes deli-
cadas como a sexualidade, o matrim-
nio e a reproduo esse tema ainda
hoje permanece, e com maior nfase,
como um dos dilemas ticos mais atu-
ais da humanidade. A primordial dis-
cusso sobre a sacralidade do incio
da vida e da concepo sempre colo-
cou em permanente debate a questo
da reproduo humana.
Desde as mais remotas pocas
sempre coube mulher a responsabi-
lidade pela concepo inclusive pela
anticoncepo. A ela caberia receber
a semente do homem e procriar. A
infertilidade feminina era vista como
uma grave deformidade biolgica e
tambm considerada uma repreenso
divina, j que a mulher no era mere-
cedora da beno da procriao.
Durante sculos, no admitiu-se
a esterilidade masculina. A esterilida-
de ou a infertilidade sempre colocou a
mulher em uma condio de inferiori-
dade, submetendo-a a forte discrimi-
nao. Ao contrrio, a fertilidade e a
chegada de um filho sempre foi feste-
jada e abenoada. A unio entre um
homem e uma mulher sempre enseja
uma pergunta: quando chega o beb?
a presso da sociedade sobre o ca-
sal e principalmente sobre a mulher, a
respeito da funo reprodutiva. A es-
terilidade ou infertilidade, vista como
um defeito biolgico, leva discri-
minao que alimenta o sentimento de
inferioridade e de culpa na mulher.
A famlia, como tradicionalmen-
te conceituada, constitui-se da unio
de um homem e de uma mulher e de
sua prole. A ausncia de filhos fragiliza
a estrutura familiar e influi na relao
entre os cnjuges. comum as sepa-
raes de casais que no podem con-
ceber. E cada um dos participantes
procura acreditar que o defeito do
outro, em uma busca desesperada para
livrar-se da maldio da esterilidade.
Segundo Cabau e Senarclens,
grande o nmero de fatores subcons-
cientes que determina o desejo por um
filho. O filho sempre existiu, de uma
forma ou de outra, nas fantasias do
homem e da mulher. Por isso mesmo
torna-se insignificante determinar se a
infertilidade causada pelo homem ou
pela mulher; a descoberta atinge a
ambos e afeta o equilbrio do casal.
Ainda segundo os autores: Este o
primeiro sentimento expresso numa
sociedade onde a anticoncepo
ampla, a fertilidade aceita como cer-
ta e o nico problema control-la.
Para aqueles que tm o hbito de ven-
cer todos os obstculos, essa situao,
na qual a sua vontade est impedida,
pode parecer intolervel. E esta
intolerabilidade, segundo estudos rea-
lizados pelos cientistas com base nas
pesquisas de Menning, se manifesta
em progressiva ascenso que passa
por seis fases consecutivas: recusa,
raiva, sensao de isolamento, culpa,
obsesso, angstia e depresso.
115
Sem dvida, o desenvolvimento
das tcnicas de reproduo assistida
trouxe uma possibilidade real aos ca-
sais com problemas de infertilidade,
auxiliando-os a realizar um dos mais
primitivos desejos humanos: a repro-
duo. A partir do conhecimento ad-
quirido com a experimentao animal
e a evoluo do conhecimento cient-
fico na rea reprodutiva humana, evo-
luiu-se da inseminao artificial (IA)
s atuais tcnicas de fertilizao in
vitro com transferncia de embrio
(FIV). No entanto, ao lado dos benef-
cios trazidos com o desenvolvimento
dessas tcnicas, surgiram preocupa-
es e questionamentos de ordem tc-
nica, moral, religiosa, jurdica e, prin-
cipalmente, de natureza tica.
Uma das questes amplamente
discutidas e que encerra um forte com-
ponente social diz respeito ao direito
de um casal investir importantes recur-
sos financeiros e submeter-se a riscos,
sua prpria vida e de sua descen-
dncia, para ter um filho. sua volta,
legies de crianas abandonadas ou
vivendo em misria absoluta. No se-
ria mais tica e socialmente mais jus-
ta a adoo? A adoo seria mais jus-
ta do ponto de vista social, principal-
mente em um pas como o Brasil. A
convivncia com uma criana, mesmo
que no contenha a carga gentica de
um ou de ambos os cnjuges, quando
integrada ao convvio familiar, desen-
volve rapidamente a afetividade.
No entanto, a autodeterminao
de cada indivduo deve ser respeita-
da, pois cada um tem o direito de ver
satisfeitas as suas aspiraes interio-
res. E se a cincia dispe dos meios
que permitam essa satisfao, qual o
impedimento de coloca-l disposio
daqueles que a necessitam? Ou seria
um egosmo exacerbado, por parte da
mulher ou do casal, a procura de um
filho que contenha seus componentes
genticos? Ou o desejo de vivenciar a
fantstica experincia da gravidez e do
parto? No acreditamos que seja esse
o sentimento envolvido. O sentimento,
nico que envolve essa procura por um
filho sem dvida o amor, de tal inten-
sidade que o casal renuncia intimi-
dade da concepo e sua privacida-
de quando admite a participao de
um terceiro, nos casos de fertilizao
heterloga.
No mundo inteiro, os pases que
dominam as tcnicas de reproduo
assistida tm procurado criar protoco-
los e normas que impeam desvios e
distores no desenvolvimento dessa
nova tecnologia. A velocidade da evo-
luo do conhecimento na rea da re-
produo humana tem exigido das so-
ciedades e dos governos envolvidos
uma permanente vigilncia a respeito
da questo.
Aps o nascimento de Louise
Brown, o primeiro beb de proveta, em
1978, na Inglaterra, o mundo, perple-
xo, viu-se diante de um dilema tico
at ento s existente na fico cient-
fica. A realidade, inesperada, provo-
cou uma reao imediata dos pases
desenvolvidos. Os Estados Unidos cri-
aram as Comisses Nacionais Gover-
namentais. A Inglaterra constituiu a
Comisso Warnock. A Sucia criou
comisses especializadas sobre o as-
sunto. A Frana, o Comit Consultivo
Nacional de tica para as Cincias da
Vida e da Sade. Na Itlia, o Comit
Nacional de Biotica, em dezembro de
1994, excluiu das possibilidades de
utilizao das tcnicas de reproduo
116
assistida a doao de vulos e
espermatozides em mulheres fora da
idade reprodutiva, em casais do mes-
mo sexo, em mulher solteira, aps morte
de um dos cnjuges e em casais que
no proporcionem garantias adequa-
das de estabilidade afetiva para criar
e educar uma criana.
No mesmo sentido, o Colgio M-
dico Italiano interviu ampliando a proi-
bio de todas as formas de gravidez de
substituio, em mulheres em menopau-
sa no-precoce, sob inspirao racial ou
socioeconmica e a explorao comer-
cial, publicitria ou industrial de gametas,
embries ou tecidos embrionrios. En-
fim, os pases industrializados procura-
ram intervir sobre o problema. No para
impedir o desenvolvimento e o progres-
so cientfico dessa nova tecnologia
reprodutiva, mas para estabelecer limi-
tes ticos e morais para sua utilizao.
Na Amrica Latina e nos pases
em desenvolvimento, praticamente
no h regulamentao ou legislao
sobre o assunto. Porm, com a cres-
cente preocupao mundial a respeito
dessa nova tecnologia, que desenvol-
ve-se numa velocidade espantosa, a
tendncia de todos os pases que j
dominam as tcnicas de RA regula-
mentar e controlar suas aplicaes so-
bre o ser humano. Regulamentao
essa que tem como objetivo estabele-
cer os limites de sua utilizao e nun-
ca obstaculizar ou impedir seu desen-
volvimento cientfico. Da mesma for-
ma, busca delimitar seu campo de apli-
cao para no cair no terreno peri-
goso da tcnica pel a tcnica,
desumanizando e artificializando o
processo da reproduo humana.
No Brasil, o domnio das tcni-
cas de FIV teve incio em 1984, quan-
do nasceu a primeira criana atravs
de fertilizao in vitro com transfern-
cia embrionria. At o momento, no
h nenhuma regul amentao
legislativa sobre o assunto. Trami-
ta no Congresso Nacional o Proje-
to de Lei n 3.638, de 1993, de
autoria do deputado Luiz Moreira,
que regulamenta a utilizao das
tcnicas de RA.
O Conselho Federal de Medicina
(CFM), antecipando-se a qualquer ini-
ciativa governamental ou legislativa,
regulamentou, com uma viso mais
atual e liberal, em 1992, a utilizao
das tcnicas de RA atravs da Resolu-
o CFM n 1.358/92, a qual estabele-
ce os critrios tcnicos e ticos a se-
rem seguidos por todos os mdicos
brasileiros que utilizam o procedi-
mento. importante registrar dois
fatos. Primeiro, o projeto de lei ora
em tramitao no Congresso Nacio-
nal contempla, em sua ntegra, a
Resoluo CFM n 1.358/92. Segun-
do, preocupado com sua atualizao,
aps cinco anos da edio, o CFM
promoveu a sua reviso. No foi ne-
cessria nenhuma alterao, visto
manter-se atualizada, cientifica e eti-
camente, com o desenvolvimento al-
canado pelas referidas tcnicas.
Principais conflitos ticos
envolvidos na Resoluo CFM
n 1.358/92
1. Necessidade de vnculo matri-
monial
Em geral, aceita-se o casamen-
to como a instituio que melhor
117
representa a famlia. Entretanto, deve-
se reconhecer que o casamento no
constitui aval para a estabilidade con-
jugal, nem garante a harmonia famili-
ar necessria para o desenvolvimento
de uma criana. Desta forma, deve-se
considerar, para efeito de aplicao
das tcnicas de RA, a estabilidade e a
afetividade do casal, que ser o supor-
te emocional que permitir o cresci-
mento saudvel da criana, e no a
formalidade dessa unio. At porque
na Amrica Latina, e particularmente
no Brasil, freqente a unio informal
de casais, o que no exclui a existn-
cia de uma famlia. Assim sendo,
deve-se fazer a distino entre fam-
lia e casamento.
No existe impedimento legal
para que casais unidos informalmen-
te venham a constituir sua descen-
dncia. Ao contrrio, a Constituio
Brasileira garante, em seu artigo 226,
pargrafo 3: Para efeito da prote-
o do Estado, reconhecida a unio
estvel entre o homem e a mulher
como entidade familiar, devendo a lei
facilitar sua converso em casamen-
to. Em seu pargrafo 4 l-se: En-
tende-se, tambm, como entidade fa-
miliar a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus descenden-
tes. Neste particular a lei procurou
regular a natureza civil da descen-
dncia, dando-lhe a proteo do
Estado.
Portanto, exigir o vnculo matri-
monial para os casais que necessitam
do uso dessa metodologia reprodutiva
constitui, sem dvida, alm de uma
discriminao inaceitvel, uma viola-
o constitucional, muito embora pa-
ses como a ustria, Egito, Japo,
Coria, Lbano, Singapura e frica do
Sul exigam a unio formal do casal
para a realizao das tcnicas de re-
produo assistida. A Resoluo CFM
n 1.358/92, no entanto, exige para a
sua aplicao a concordncia livre e
consciente em documento de consen-
timento informado, e a anuncia for-
mal do cnjuge ou companheiro.
H, tambm, o entendimento de
que as tcnicas de RA no devam ser
utilizadas como uma alternativa de
substituio da reproduo natural
atravs do ato sexual. As tcnicas de
RA so aceitveis apenas com o obje-
tivo de corrigir os problemas de
infertilidade ou esterilidade do homem,
da mulher ou do casal. Do mesmo
modo, a referida resoluo probe a
utilizao de tcnicas de RA com o
objetivo de selecionar o sexo ou qual-
quer outra caracterstica biolgica do
futuro filho, exceto quando se trate de
evitar doenas genticas ligadas ao
sexo. Probe a experimentao sobre os
embries obtidos e a reduo embrio-
nria em casos de gravidez mltipla.
2. Doao de gametas
A doao de gametas est
indicada nos casos em que um ou
ambos os componentes do casal no
possuem gametas, ou nos casos em
que uma doena gentica pode ser
transmitida com alta freqncia para
seus descendentes. A paternidade, a
maternidade e a famlia podem ser
estabelecidas, legal e eticamente, sem
nenhum vnculo gentico. O exemplo
maior para essa afirmao o institu-
to da adoo, garantida pela lei e pela
Constituio Federal.
A Resoluo CFM n 1.358/92
estabelece a gratuidade da doao e o
118
anonimato dos doadores e receptores
de gametas e pr-embries. Estabele-
ce, ainda, que em situaes especiais
ditadas por necessidade mdica as in-
formaes clnicas do doador podem
ser fornecidas, resguardando-se, no
entanto, sua identidade. Para tanto, os
centros ou servios responsveis pela
doao devem manter, permanente-
mente, o registro de dados clnicos de
carter geral, caractersticas fenotpi-
cas e amostragem de material celular
dos doadores. Estabelece, ainda, que
a escolha dos doadores de inteira res-
ponsabilidade da unidade prestadora
dos servios, devendo garantir a mai-
or semelhana fenotpica e imunol-
gica com a receptora.
A manuteno do anonimato en-
tre doadores e receptores de funda-
mental importncia no sentido de evi-
tar-se, no futuro, complexas situaes
emocionais e legais entre doadores e
receptores, com repercusses no desen-
volvimento psicolgico das crianas
nascidas atravs desse procedimento.
Sob essa tica, alguns especialistas
acreditam que a manuteno do ano-
nimato torna possvel aos pais exerce-
rem uma maior influncia de suas iden-
tidades sobre os filhos. Entretanto, ou-
tros afirmam que as crianas com des-
conhecimento de sua origem gentica
poderiam apresentar incompleta per-
cepo de sua identidade, com graves
repercusses psicolgicas. Segundo
Wood (1994), isso muito difcil de
provar, estabelecendo uma relao de
causa e efeito.
Por outro lado, em diversos pa-
ses onde o anonimato dos doadores
no obrigatrio, persistem dvidas
quanto a revelar ou no a origem ge-
ntica das crianas. Na Austrlia,
Munro e cols. (1992) avaliaram 36
casais e as crianas nascidas atravs
de um programa de doao de
ocitos, verificando que 37,5% dos
casais que obtiveram filhos por doa-
o annima e 56% dos casais com
filhos de doadores conhecidos iriam
revelar para os filhos, no futuro, sua
origem. Nessa mesma pesquisa, 37,5%
dos casais com doao annima e
33% com doao conhecida no re-
velariam sua origem atravs de proce-
dimentos de reproduo assistida.
Apenas 19% dos casais revelariam a
utilizao do procedimento se isso fos-
se justificvel do ponto de vista mdi-
co. No houve consenso em 6% dos
casais com doao annima e em
11% dos com doao conhecida quan-
to a revelar ou no a identidade dos
doadores,.
Da mesma forma, h divergncias
entre os especialistas em reproduo
humana sobre o aconselhamento aos
pais em revelar para a criana sua ori-
gem, identificando o doador. Na lite-
ratura atual, os dados so insuficien-
tes para uma anlise precisa das re-
percusses sobre o desenvolvimento psi-
colgico de crianas que conhecem, e
foram criadas, em estreita relao com
seus doadores genticos.
A perda do anonimato preconi-
zada por alguns autores poderia criar
situaes anmalas, onde os doado-
res de gametas poderiam ser um dos
filhos do casal infrtil (filha doando
vulos para a me, por exemplo), au-
mentando, sobremaneira, os riscos de
problemas emocionais para os envol-
vidos. A ocorrncia de complicaes
obsttricas ou o nascimento de crian-
as com incapacidades fsicas ou men-
tais, morte da receptora ou do
119
concepto, poderiam criar para os do-
adores importantes problemas psico-
lgicos, como sentimento de culpa e
de perda. Independentemente da ida-
de cronolgica do doador, como nem
sempre possvel determinar com pre-
ciso sua capacidade de suportar ou
superar tenses emocionais, a doao
de gametas por filhos de casal infrtil
deveria ser considerada de alto risco
para o desenvolvimento de problemas
psquicos, sendo fundamental evitar
esse tipo de doao.
A idade da receptora, nos casos
de FIV ps-menopausa, representa um
problema especial que deve ser consi-
derado. Define-se menopausa como
uma parte do ciclo natural da vida da
mulher. Portanto, aquelas que desejam
expressar sua maternidade nessa fase
da vida, poderiam faz-lo desde que
apresentem condies clnicas ade-
quadas. O estabelecimento de um li-
mite etrio para a gravidez na ps-
menopausa assunto polmico e con-
troverso.
A contaminao da discusso
por conceitos e preconceitos, pessoais
ou coletivos, impede uma definio
mais objetiva da questo. Alm, evi-
dentemente, do perigo de introduzir-se,
camuflado sob mantos diversos, o pre-
conceito contra a mulher. No h ne-
nhuma discusso ou restrio etria
para a reproduo masculina. claro
que antes havia uma restrio natural
para a reproduo feminina: a prpria
menopausa. Hoje, a cincia permite
contornar com relativa segurana esse
obstculo natural. Como, ento, esta-
belecer limite de idade para a repro-
duo feminina? Se a cincia deve
estar a servio do ser humano na bus-
ca de sua satisfao plena, ela deve
ser um instrumento dessa satisfao,
respeitados os limites da tica, da se-
gurana e do bom-senso.
Final mente, a doao de
espermatozides no permitida para
sua utilizao nos procedimentos de
FIV na ustria, Egito, Japo, Lbano,
Noruega e Sucia. No mesmo sentido,
a doao de vulos proibida na us-
tria, Egito, Japo, Alemanha, Norue-
ga e Sucia. No Lbano, a doao de
vulos permitida, desde que usada
pelo prprio marido da doadora para
uma outra esposa, j que a tradio e
a legislao permitem ao homem pos-
suir mais de uma esposa. Entretanto,
a doao de espermatozides proi-
bida em qualquer hiptese.
3. Nmero de embries transfe-
ridos
No existe uniformidade entre as
normas existentes nos diversos pases
sobre o nmero ideal de embries a
serem transferidos. Em Singapura, por
exemplo, admite-se a transferncia de
quatro embries em mulheres acima de
35 anos, com dois insucessos em
procedimentos anteriores. O nme-
ro ideal considerado na Itlia de trs
embries transferidos, porm admite-
se quatro em mulheres acima de 36
anos. Na Coria do Sul, transfere-se
entre quatro e seis pr-embries, en-
quanto na Grcia o nmero varia en-
tre cinco e sete.
No Brasil, a Resoluo CFM n
1.358/92 limitou a transferncia de at
quatro embries por cada procedimen-
to, com o intuito de impedir a transfe-
rncia de um nmero cada vez maior
de embries visando obter sucesso de
gravidez, porm aumentando ainda
120
mais os riscos existentes de gestaes
mltiplas.
Atualmente, a tendncia mundial
transferir apenas dois embries, fato
que evitaria a obteno de gestaes
triplas ou de nmero superior. Isso
deve-se, com certeza, ao aprimoramen-
to das tcnicas de FIV, com resultados
mais satisfatrios na obteno de gra-
videz por tentativa de transferncia.
4. Criopreservao de gametas e
embries
O estgio atual do desenvolvimen-
to da criobiologia permite a preserva-
o de clulas por tempo prolongado,
mantendo suas propriedades biol-
gicas aps o descongelamento. A im-
pl antao de um programa de
criopreservao de embries em um
centro de reproduo assistida traz
vantagens, porm alguns problemas
podem resultar da estocagem de em-
bries humanos. Uma das principais
vantagens seria o aumento das possi-
bilidades de gestao por um nico
ciclo de puno folicular, determinada
pela transferncia dos embries exce-
dentes criopreservados, aps transfe-
rncia a fresco. Ao mesmo tempo, per-
mite a diminuio do nmero de em-
bries transferidos, minimizando o gra-
ve problema das gestaes mltiplas.
Embora a criopreservao de
embries excedentes constitua rotina
em diversos centros ou unidades de
reproduo humana, este procedimen-
to deve ser considerado de risco pelos
problemas ticos, legais e econmicos
que encerra. No Brasil, a Resoluo
CFM n 1.358/92 regulamenta que os
embries excedentes obtidos atravs de
FIV, aps transferncia a fresco, no
podem ser descartados. Autoriza sua
criopreservao, para posterior trans-
ferncia em caso de insucesso, desejo
da mulher ou do casal de ter uma nova
gravidez ou mesmo para doao.
Como no possvel determinar
quantos vulos sero fecundados em
cada ciclo de puno folicular, e con-
siderando-se o fato de a transferncia
estar limitada a quatro embries, a
soluo foi a criopreservao, deven-
do o casal conhecer o nmero de em-
bries a ser congelados e expressar, por
escrito, o destino dos mesmos em caso
de divrcio, doena grave ou morte de
um ou ambos os membros do casal.
O problema agravado por fato-
res adicionais como o alto ndice de
casais que abandonam o tratamento
devido a diversos problemas, inclusi-
ve econmicos, aps uma ou duas fa-
lhas no programa de FIV, ou porque
consideram ideal o nmero de filhos
obtidos aps o emprego das tcnicas
de reproduo assistida. Outro fator
agravante para o problema pratica-
mente a ausncia de casais interes-
sados em receber esses embries em
doao, pois no haver nenhum vn-
culo gentico entre eles. Nesses casos,
a deciso do casal geralmente recai
pela adoo de uma criana.
A mesma resoluo probe a uti-
lizao de embries humanos para
fins de pesquisa, permitindo a interven-
o com fins de diagnstico ou de tra-
tamento de doenas genticas ou he-
reditrias quando houver garantias re-
ais de sucesso da interveno, sendo
obrigatrio o consentimento informa-
do do casal sobre todos os procedimen-
tos a serem utilizados.
Por fim, limita a 14 dias aps
a fertilizao o tempo mximo de
121
desenvolvimento embrionrio in vitro.
A referida resoluo adotou a tendn-
cia mundial de no permitir o desen-
volvimento in vitro alm desse prazo,
quando comea, ento, a formao do
tubo neural, dando incio formao
do sistema nervoso central.
5. Diagnstico gentico in vitro
O diagnstico gentico realizado
durante a fase embrionria in vitro
permite identificar al teraes
cromossmicas nos embries antes de
os mesmos serem transferidos para a
cavidade uterina. O avano
tecnolgico permite a realizao do
procedimento com segurana para o
desenvolvimento da futura criana.
importante destacar que, nesta fase de
desenvolvimento embrionrio, cada
blastmero pode originar um novo
embrio.
Atualmente, em todo o mundo, o
diagnstico gentico pr-implantao
uterina ainda considerado um pro-
cedimento experimental. Desta forma,
mesmo constituindo-se uma terapu-
tica gentica, deve ser considerado de
carter experimental, devendo perma-
necer como um procedimento de inves-
tigao.
A Resoluo CFM n 1.358/92
regula que as tcnicas de RA podem
ser utilizadas no diagnstico e trata-
mento de doenas hereditrias e ge-
nticas, quando perfeitamente
indicadas e com suficientes garantias
de sucesso. Fica evidente que a preo-
cupao do legislador foi impedir a
manipulao e a experimentao em-
brionria sem a necessria objetivida-
de cientfica, evitando-se desvios ti-
cos e bloqueando-se a especulao
cientfica. A nica finalidade admiti-
da a avaliao da viabilidade em-
brionria ou o diagnstico e tratamen-
to de doenas genticas e/ou heredit-
rias de alta prevalncia.
6. A gravidez de substituio
O desenvolvimento da medicina
reprodutiva criou uma nova realidade
ao permitir que casais, antes sem pos-
sibilidades de constituir sua prole com
seus elementos genticos, pudessem
satisfazer esse desejo natural do ser
humano. A gravidez de substituio, no
entanto, ao permitir essa possibilida-
de, criou perplexidade e suscitou um
grande debate sobre as fronteiras da
tica e do progresso cientfico. Uma
das questes colocadas nesse debate
diz respeito ao poder, ou ao limite que
deve ser imposto ao homem, de inter-
ferir nos processos biolgicos da repro-
duo humana. A interposio de um
terceiro elemento, visvel e conhecido,
na vida afetiva e familiar do casal in-
troduz na questo, sem dvida, um for-
te componente emocional, tico e jur-
dico.
Com o domnio do homem sobre
a reproduo humana e a manipula-
o gentica atravs da bioengenharia,
assiste-se a uma crescente demanda
por regulamentaes que garantam a
proteo dos valores fundamentais da
pessoa; no entanto, essa proteo tem
se mostrado totalmente inadequada e
insuficiente. No mesmo sentido, surge
uma significativa preocupao, mun-
dial, com os desafios jurdicos que o
tema encerra. So muitas as questes
colocadas aos juristas: desde a defini-
o de um estatuto do embrio at a
proteo de bens essenciais como a
122
unidade familiar, a salvaguarda do
valor da procriao e a licitude dos
meios e dos fins que caracterizam suas
aplicaes no campo cientfico.
As legislaes de diversos pases,
em um primeiro momento, adquiriram
uma certa uniformidade de orientao
no sentido de considerar de nulidade
absoluta os contratos sobre materni-
dade de substituio, portanto sem
efeitos jurdicos. A inteno dos legis-
ladores foi a de evitar e prevenir a ex-
plorao comercial, inclusive estabe-
lecendo sanes penais publicidade,
incitao e intermediao levada a
cabo por pessoas ou instituies.
A primeira tentativa de estabele-
cer uma legislao sobre o assunto,
proposta pelos Estados Unidos, ado-
tou como requisito principal a presen-
a de vnculo gentico da criana com
um dos componentes do casal, de tal
maneira que se encontre na famlia
uma referncia gentica segura. Se-
guindo o mesmo princpio, o Reino
Unido admitiu em sua legislao a
maternidade de substituio, no entan-
to incorporou a interveno da autori-
dade judicial para controlar os requi-
sitos do contrato consensual e a
legitimao do recm-nascido.
Na Itlia, a Cmara de Deputa-
dos comprometeu o Governo a corro-
borar, com o necessrio apoio
legislativo, as funes do Comit Na-
cional para a Biotica, afirmando o
princpio da no-comercializao do
corpo humano e de seus produtos,
excluindo toda forma de apropriao
privada, bem como empreender inicia-
tivas legislativas que considerem a ori-
entao comunitria e o compromis-
so da Itlia com o Projeto Genoma
Humano, com referncia particular s
novas biotecnologias e mtodos de fe-
cundao humana assistida.
Toda essa preocupao demons-
tra a importncia e complexidade que
o assunto encerra. Os limites entre a
autodeterminao da pessoa e a sua
plena satisfao, o desenvolvimento
cientfico na rea da reproduo as-
sistida e a tica da interveno nos
processos biolgicos da reproduo
humana, cada vez tornam-se mais es-
treitos, exigindo uma pronta resposta
social para cont-los.
A interveno do homem nos pro-
cessos reprodutivos, rompendo com as
relaes biolgicas entre os seres huma-
nos, exige uma permanente e severa vi-
gilncia no sentido de impedir a genera-
lizao e a banalizao da procriao
tecnolgica. A rpida transferncia de
conhecimentos, associada ao fantstico
desenvolvimento da biotecnologia, leva
imperiosa necessidade de elaborao
de legislaes que controlem e conte-
nham esse desenvolvimento, colocando-
o dentro de um contexto tico, moral e
jurdico que garanta a autodetermina-
o do indivduo porm assegurando
o respeito dos valores fundamentais da
pessoa humana, a proteo do embrio
e a garantia de um desenvolvimento sau-
dvel da criana.
No Brasil, a Resoluo CFM n
1.358/92 permite a utilizao da gra-
videz de substituio, desde que exista
impedimento fsico ou clnico para que
a mulher, doadora gentica, possa le-
var a termo uma gravidez. Essa condi-
o impede a vulgarizao do proce-
dimento, restringindo sua utilizao a
indicaes mdicas absolutas. Em con-
formidade com a tendncia internacio-
nal, restringe a receptora biolgica ao
ambiente familiar, permitindo que a
123
volvimento psquico da criana. As
conseqncias jurdicas, psicolgicas
e ticas advindas dessa relao so
perfeitamente previsveis. A afetividade
passa a ser estabelecida entre a me
substituta, biolgica, e o filho que ge-
neticamente no lhe pertence. A rela-
o econmica, fria e impessoal, no
encerra o amor e o sentimento
humanstico da doao.
Finalmente, a interveno na re-
produo humana atravs da cincia
e da tecnologia tica e moralmente
admissvel, desde que respeite os va-
lores fundamentais do ser humano, a
unidade familiar, a salvaguarda dos
valores da reproduo, a licitude dos
meios e dos fins e a utilizao tica
desses conhecimentos em benefcio da
humanidade.
Bibliografia
Anjos MF dos. Biotica; abrangncia e
di nami smo. O Mundo da Sade
1997;21(1):4-12.
APUD Pio XII
Brasil. Constituio 1988. Constituio
da Repblica Federativa do Brasil.
Braslia: Imprensa Nacional, 1989.
Cabau A, Senarclens M. Aspectos psi-
colgicos da infertilidade. So Paulo:
Manole, 1992.
Caporale M. Aspectos civiles y penales
de la maternidad por encargo. Medicina
e tica 1996;7(3):305-25.
del Castillo BPF. Aspectos jurdicos y ti-
cos de la procreacin asistida. Medici-
na e tica 1994;5(4):443-56.
gestao acontea dentro da famlia,
criando os laos de afetividade neces-
srios para o desenvolvimento saud-
vel da futura criana. No mesmo sen-
tido, impede qualquer carter lucrati-
vo ou comercial na rel ao
estabelecida.
Mesmo consciente das possveis
complicaes jurdicas que possam
futuramente advir de utilizao desses
procedimentos, importante que se
estenda o direito da utilizao das re-
feridas tcnicas a todos os casais com
distrbios da reproduo. De outra for-
ma, seria uma imperdovel discrimi-
nao mulher portadora de uma in-
capacidade fsica ou clnica que a im-
pea de desenvolver uma gravidez. A
inviolabilidade da autodeterminao
do indivduo deve ser respeitada, des-
de que a tecnologia disponvel permi-
ta atuar em seu benefcio e que princ-
pios morais e ticos sejam preserva-
dos. A preocupao basilar deve ser
focada na preservao dos direitos do
embrio e da criana, garantindo-lhes
um desenvolvimento saudvel dentro
da famlia.
A me gentica, doadora, e a me
biolgica, receptora, devem estar liga-
das por l aos famil iares e de
afetividade para que a criana nasci-
da dessa relao encontre o ambiente
propcio para um desenvolvimento
biopsquico-social desejvel. A parti-
cipao de um terceiro elemento, no
caso a me biolgica, criando um pe-
rigoso tringulo reprodutivo, fica bas-
tante minimizada quando a gravidez
ocorre dentro do ambiente familiar.
Essa relao, quando estabelecida atra-
vs de interesses econmicos, anula a
afetividade e rompe o vnculo familiar,
com graves repercusses para o desen-
124
Conselho Federal de Medicina (Brasil).
Parecer CFM n 23, de 11 de setembro
de 1996. A Resoluo CFM n 1358/
92, que adota normas ticas para a uti-
lizao de tcnicas de reproduo assis-
tida, probe o descarte ou destruio de
pr-embrio criopreservado. Porm, ne-
cessrio se faz que o CFM promova tra-
balhos com o objetivo de aprofundar es-
tudos sobre a necessidade de atualiza-
o das referidas normas sobre este e
outros questionamentos a respeito.
Relator: Antnio Henrique Pedrosa Neto.
Franco JG Jr. Donor anonymity and
donation betweem family members.
Hum Reprod 1995;10:1333.
Franco JG Jr. Frozen embryos in Brazil.
Hum Reprod 1995;10:3082-3.
Leite EO. Procriaes artificiais e o di-
reito. So Paulo: Ed. Revista dos Tribu-
nais, 1995.
Munro J, Leeton J, Horsfal l T.
Psychosocial folow up pf families from
a donor oocyte programme: an
exploratory study. Reprod Fertil Dev
1992;4:725-30.
Pessini L, Barchifontaine CP. Problemas
atuais de biotica. So Paulo: Loyola,
1994.
LaVertu DS, Parada AML. Analisis de
la nuevas tecnicas de reproduccin
asistida: una perspectiva de genero. In:
Gmez EG, editora. Genero, mujer y
salud en las americas. Washington:
OMS/OPS, 1993: 232-41. (Publicacin
cientifica, 541)
Wood EC. Oocyte donation: recents
trends and concerns. Med J Aust
1994;160:282-4.
125
Dbora Diniz
Marcos de Almeida
Introduo
O tema do aborto , dentre a to-
talidade das situaes analisadas pela
Biotica, aquele sobre o qual mais se
tem escrito, debatido e realizado con-
gressos cientficos e discusses pbli-
cas. Isso no significa, no entanto, que
tenham ocorrido avanos substanciais
sobre a questo nestes ltimos anos ou
mesmo que se tenham alcanado al-
guns consensos morais democrticos,
ainda que temporrios, para o proble-
ma. Ao contrrio. A problemtica do
aborto um exemplo ntido tanto da
dificuldade de se estabelecer dilogos
sociais frente a posies morais dis-
tintas quanto do obstculo em se criar
um discurso acadmico independente
sobre a questo, uma vez que a pai-
xo argumentativa a tnica dos es-
critos sobre o mesmo. Para um no-
iniciado, a maior dificuldade ao ser
apresentado literatura relativa ao
aborto discernir quais so os argu-
mentos filosficos e cientficos con-
sistentes dentre a infinidade de ma-
Biotica e Aborto
nipulaes retricas que visam ape-
nas arrebatar multides para o cam-
po de batalha travado sobre o abor-
to.
Nesse contexto, no tarefa fcil
apresentar um panorama dos estudos
bioticos pertinentes ao assunto. Mis-
turam-se textos acadmicos, polticos
e religiosos, e selecionar quais os mais
significativos para o debate parece ser
sempre uma tarefa injusta. E, em al-
guma medida, o . Entretanto, no foi
preocupao deste captulo contem-
plar todos os pesquisadores que escre-
veram sobre o tema. Selecionamos al-
guns escritos pontuais que marcaram
o debate contemporneo e, a partir dos
argumentos de seus autores, traamos
um panorama biotico acerca do
aborto.
O captulo est dividido em trs
partes, assim distribudas: na primeira,
esclarecemos a terminologia e os princi-
pais tipos de aborto; em seguida, apre-
sentamos dados sobre legislao com-
parada, para, na terceira parte, nos
centrarmos no debate biotico propria-
mente dito sobre o tema.
126
Terminologia e tipos de
aborto
Uma avaliao semntica dos
conceitos utilizados pelos pesquisado-
res que escreveram (e escrevem) so-
bre o aborto seria de extrema valia para
os estudos bioticos. A variedade
conceitual proporcional ao impacto
social causado pela escolha de cada
termo. Infelizmente, e isso claro para
qualquer pesquisador interessado no
tema, no se escolhem os conceitos
impunemente. Cada categoria possui
sua fora na guerrilha lingstica, al-
gumas vezes sutil, que est por trs das
definies selecionadas. Fala-se de
aborto teraputico como sendo abor-
to eugnico, deste como aborto seleti-
vo ou racista, numa cadeia de defini-
es interminveis que gera uma con-
fuso semntica aparentemente
intransponvel ao pesquisador. No en-
tanto, ao invs de se deixar abalar pela
diversidade conceitual, o primeiro pas-
so de uma pesquisa sobre o aborto
desvendar quais pressupostos morais
esto por trs das escolhas. H uma
certa regularidade moral na seleo de
cada conceito.
Para este captulo, utilizaremos a
nomenclatura mais prxima do discur-
so mdico oficial, por consider-la a
que mais justamente representa as pr-
ticas a que se refere. Basicamente,
pode-se reduzir as situaes de aborto
a quatro grandes tipos:
1. Interrupo eugnica da gesta-
o (IEG): so os casos de abor-
to ocorridos em nome de prticas
eugnicas, isto , situaes em
que se interrompe a gestao por
valores racistas, sexistas, tnicos,
etc. Comumente, sugere-se o pra-
ticado pela medicina nazista
como exemplo de IEG quando
mulheres foram obrigadas a abor-
tar por serem judias, ciganas ou
negras (1). Regra geral, a IEG pro-
cessa-se contra a vontade da ges-
tante, sendo esta obrigada a abor-
tar;
2. Interrupo teraputica da ges-
tao (ITG): so os casos de abor-
to ocorridos em nome da sade
materna, isto , situaes em que
se interrompe a gestao para
salvar a vida da gestante. Hoje em
dia, em face do avano cientfico
e tecnolgico ocorrido na medi-
cina, os casos de ITG so cada
vez em menor nmero, sendo ra-
ras as situaes teraputicas que
exigem tal procedimento;
3. Interrupo seletiva da gesta-
o (ISG): so os casos de abor-
to ocorridos em nome de anoma-
lias fetais, isto , situaes em que
se interrompe a gestao pela
constatao de leses fetais. Em
geral, os casos que justificam as
solicitaes de ISG so de pato-
logias incompatveis com a vida
extra-uterina, sendo o exemplo
clssico o da anencefalia (2);
4. Interrupo voluntria da ges-
tao (IVG): so os casos de
aborto ocorridos em nome da
autonomia reprodutiva da gestan-
te ou do casal, isto , situaes
em que se interrompe a gestao
porque a mulher ou o casal no
mais deseja a gravidez, seja ela
fruto de um estupro ou de uma
relao consensual. Muitas vezes,
127
as legislaes que permitem a IVG
impem limites gestacionais
prtica.
Com exceo da IEG, todas as
outras formas de aborto, por princpio,
levam em considerao a vontade da
gestante ou do casal em manter a gra-
videz. Para a maioria dos bioeticistas,
esta uma diferena fundamental en-
tre as prticas, uma vez que o valor-
autonomia da paciente um dos pila-
res da teoria principialista, hoje a mais
difundida na Biotica (3). Assim, no
que concerne terminologia, tratare-
mos mais especificamente dos trs l-
timos tipos de aborto, por serem os que
mais diretamente esto em pauta na
discusso biotica.
Em geral, ISG tambm denomi-
nada por ITG, sendo esta a justaposi-
o de termos mais comum. Na ver-
dade, muitos pesquisadores utilizam
ITG como um conceito agregador para
o que subdividimos em ISG e ITG.
Esta uma tradio semntica herda-
da, principalmente, de pases onde a
legislao permite ambos os tipos de
aborto, no sendo necessria, assim,
uma diferenciao entre as prticas.
No entanto, consideramos que, mes-
mo para estes pases onde o conceito
ITG mais adequado, em alguma me-
dida ele ainda pode gerar confuses,
uma vez que h limites gestacionais
diferenciados para os casos em que se
interrompe a gestao em nome da
sade materna ou de anomalias fetais
Alm disso, o alvo das atenes dife-
rente nos casos de ISG e ITG: no pri-
meiro, a sade do feto a razo do
aborto; no segundo, a sade materna.
O outro motivo que nos fez diferenciar
a sade materna da sade fetal para a
escolha da terminologia a ser adotada
foi o fato de vrios escritores denomi-
narem a ISG de IEG. Este um exem-
plo interessante do que denominamos
terminologia de guerra. O termo se-
letivo, para ns, remete diretamente
prtica a que se refere: aquele feto
que, devido a malformao fetal, faz
com que a gestante no deseje o pros-
seguimento da gestao. Houve, cla-
ro, uma seleo, s que em nome da
possibilidade da vida extra-uterina ou
da qualidade de vida do feto aps o
nascimento. Tratar, no entanto, o abor-
to seletivo como eugnico nitidamen-
te confundir as prticas. Especialmen-
te porque a ideologia eugnica ficou
conhecida por no respeitar a vonta-
de do indivduo. A diferena fundamen-
tal entre a prtica do aborto seletivo e
a do aborto eugnico que no h a
obrigatoriedade de se interromper a
gestao em nome de alguma ideolo-
gia de extermnio de indesejveis,
como fez a medicina nazista. A ISG
ocorre por opo da paciente.
Muitos autores, especialmente
aqueles vinculados a movimentos so-
ciais, tais como o movimento de mu-
lheres, preferem falar em autonomia
reprodutiva ao invs de IVG (4). Na
verdade, entre ambos os conceitos h
uma relao de dependncia e no
de excluso. Apesar de o valor que
rege a IVG ser o da autonomia
reprodutiva, consideramos que auto-
nomia reprodutiva um conceito
guarda-chuva que abarca no ape-
nas a questo do aborto, mas tudo o
que concerce sade reprodutiva. Na
verdade, como j foi dito, o princpio
do respeito autonomia o pano-de-
fundo de boa parte das discusses con-
temporneas em Biotica.
128
Alm da variedade conceitual,
outro ponto interessante, no tocante
ao estilo dos artigos sobre o aborto,
a escolha dos adjetivos utilizados
pelos autores para se referirem a seus
oponentes morais. No raro, encon-
tram-se artigos que chamam os pro-
fissionais de sade que executam
aborto como aborteiros, homici-
das, assassinos ou carniceiros
(5). Na verdade, h relatos de casos
de clnicas de aborto que foram
incendiadas e os profissionais que
nelas trabalhavam agredidos por gru-
pos contrrios ao aborto grupos
defensores da vida, como se
autodenominam. Fala-se do feto
abortado como vtima inocente ou
mesmo criana inocente. Adjetivos
como hipcrita ou criminoso va-
lem para ambos os lados, sejam os
proponentes ou oponentes da prti-
ca. Nem mesmo sobre o resultado de
um aborto h consenso: as denomi-
naes variam desde embrioe
feto at criana, no-nascido,
pessoa ou indivduo (6,7).
Um exemplo clssico, porm
pontual, desta retrica sedutora e vio-
lenta que a tnica do debate sobre
o aborto o vdeo Grito Silencioso,
editado por grupos contrrios pr-
tica do aborto. O filme mostra as re-
aes de um feto de 12 semanas
(tempo mximo permitido por vrias
legislaes para a IVG) durante um
aborto. Vale a pena conferir um tre-
cho da narrao em que o especta-
dor convidado a identificar-se com
o feto: Esta pequena pessoa, com
12 semanas, um ser humano com-
pletamente formado e absolutamen-
te identificvel. Tem apresentado on-
das cerebrais desde as seis sema-
nas... (8). No preciso recorrer a
argumentos baseados nas recentes
descobert as da neurof i si o-
embriologia, como fizeram alguns
autores na inteno de provar a im-
possibilidade de um feto de 12 sema-
nas sentir dor (9,10), para analisar o
objetivo de um vdeo como este. A
idia era provocar, no espectador,
a compaixo pela suposta dor do
feto durante o aborto e, conse-
quentemente, sustentar o princpio
do direito vida desde a fecundao
que, como veremos mais adiante,
um dos pilares da argumentao con-
trria ao aborto. No entanto, preci-
samente esse tipo de discurso que
gera uma das maiores dificuldades na
seleo da literatura sobre o aborto:
misturam-se argumentos cientficos e
crenas morais com a mesma facili-
dade com que se combinam ingredi-
entes em uma receita de bolo. E esta
uma prtica comum tanto entre pro-
ponentes quanto oponentes da ques-
to. A dosagem de delrio varia na
intensidade da paixo.
Legislao comparada
A Conferncia Internacional sobre
Populao e Desenvolvimento ocorri-
da no Cairo, em 1994, considerada
um marco para as legislaes e as po-
lticas internacionais e nacionais acer-
ca do aborto. Considera-se que, at
antes da conferncia do Cairo, o tema
do aborto no compunha a agenda de
sade pblica de inmeros pases (11).
Segundo Kulczycki et al, ...em Cairo,
pel a primeira vez, um frum
interministerial reconheceu que as
129
complicaes do aborto apresentam
ameaas srias sade pblica e re-
comendam que, onde o acesso ao
aborto no contra a lei, ele deve
ser efetuado em condies segu-
ras...(11).
O aborto, juntamente prtica
do coito interrompido, tem sido du-
rante os sculos XIX e XX o mtodo
de controle de natalidade mais utili-
zado e difundido (12). Em nome dis-
so, as taxas mundiais de aborto so
bastante elevadas, tendo como recor-
distas alguns pases da Amrica La-
ti na e fri ca. Apesar de di f ci l
mensurao, uma vez que o aborto
considerado crime em inmeros pa-
ses, calcula-se que a taxa mundial de
abortos por ano esteja entre 32 e 46
abortos por 1000 mulheres na idade
de 15 a 44 anos, havendo uma enor-
me variao entre os pases, a de-
pender da prevalncia dos mtodos
anticonceptivos, de sua eficcia e das
leis e polticas relativas ao aborto
(11). Nos pases ocidentais, o pico
etrio do aborto ocorre entre as mu-
lheres de 20 anos, como, por exem-
plo, na Inglaterra, onde 56% dos
abortos so praticados por mulheres
com menos de 25 anos, ao passo que
nos Estados Unidos este nmero de
61% na mesma faixa etria.
Segundo dados do Instituto Alan
Guttmacher sobre o aborto na Am-
rica Latina, h uma correlao acen-
tuada entre renda e acesso ao abor-
to praticado por mdicos. Enquanto
apenas 5% das mulheres pobres ru-
rais tm acesso ao aborto mdico,
este nmero de 19% entre as mu-
lheres pobres urbanas e de 79% en-
tre as mulheres urbanas de renda
superior (13). No Brasil, para o ano
de 1991, estimou-se que o total de
abortos induzidos foi de 1.443.350,
constituindo uma taxa anual, por 100
mulheres de 15 a 49 anos, de 3,65.
Nos Estados Unidos, por exemplo,
esta taxa de 2,73 (13).
Se, por um lado, o levantamen-
to demogrfico acerca do nmero de
abortos praticados no mundo con-
testvel, uma vez que se lida com es-
timativas ante a ilegalidade da prti-
ca, o estudo das legislaes com-
paradas se mostra mais confivel.
O melhor estudo sobre o assunto o
realizado por Rahman et al que vem
fazendo um acompanhamento da le-
gislao mundial desde 1985, oca-
sio da publicao do primeiro rela-
trio comparativo, sendo que o lti-
mo levantamento foi publicado em
junho de 1998, com dados relativos
at janeiro do mesmo ano (14). Se-
gundo dados do relatrio, 61% da
populao mundial vive em pases
onde o aborto induzido (IVG) per-
mitido por algumas razes especfi-
cas ou no apresenta restries, ao
passo que 25% da populao reside
em pases onde o aborto radical-
mente proibido (14). Os autores do
relatrio argumentam, ainda, que
comparando dados da primeira pes-
quisa de 1985 com os levanta-
dos no ltimo estudo h um direcio-
namento mundial para a liberali-
zao do aborto. Dos vinte pases que
modificaram suas legislaes des-
de o primeiro estudo, 19 o fizeram
para legislaes mais abertas para
a prtica. Vale a pena conferir a
disposio legal mundial acerca do
aborto:
130
7 9 9 1 - o i g e r a m o c o d r o c a e d , o t r o b a e d s i e l s a n o i r t s e r a l e p , s e s a P
o a o i r t s e R
o t r o b A
s a c i r m A s A
e b i r a C o e
l a r t n e C a i s A
e t s e L a i d M
a d e t r o N e
a c i r f
l u S e e t s e L
o e a i s a d
o c i f c a P
a p o r u E a r a a S - b u S a c i r f
r a v l a s a r a P
a d a d i v a
r e h l u m
- l i s a r B E o t s i n a g e f A h s e d a l g n a B a d n a l r I a l o g n A r a c s a g a d a M
- e l i h C D N - o t i g E A S a i s n o d n I n i n e B i l a M
a i b m l o C r I s o a L
. p e R
- o r t n e C
a n a c i r f A
a i n t i r u a M
a c i l b p e R
a n a c i n i m o D
o n a b L n e m e i M
e d a h C
o g n o C
s u i t i r u a M
r o d a v l a S l E
D N
- a i b L A P l a p e N ) e l l i v a z z a r B ( r e g i N
a l a m e t a u G
a i r S n a m O
A P - S A
a v o N a u p a P
n i u G
o d a t s o C
m i f r a M
a i r g i N
i t i a H
s o d a r i m E
s e b a r
A P - A S
s a n i p i l i F
m e D . p e R
o g n o C o d
F
l a g e n e S
s a r u d n o H I n e m a k n a L i r S o b a G a i l m o S
- o c i x M E o g o T - o d u S E
a u g r a c i N
A P - P S
u a s s i B - n i u G
A P - A S
T a i n a z n
a m n a P
F - E - A P
a i n u Q
i a u g a r a P o t o s e L a d n a g U
a l e u z e n e V
e d a S
a c i s F
- a n i t n e g r A
E ) o d a t i m i l (
t i a w u K
F - A P - A S
o t s i u q a P
a i n l o P
F - I - E
a n i k r u B
- o s s a F E
- i w a l a M A S
a i v l o B
I - E
- s o c o r r a M
A S
a d . p e R
a i e r C
F - I - E - A S
i d n u r u B e u q i b m a o M
a c i R a t s o C
a i b a r A
a t i d u a S
A P - A S
- a i d n l i a T E
s e r a m a C
F - I - E
a d n a u R
r o d a u q E
I - E
) o d a t i m i l (
r t i r E a
b m i Z e u b
E
u r e P i t E a i p
- i a u g u r U E n i u G u a s s i B -
e d a S
l a t n e M
a c i a m a J
A P
a i r g l A a i l r t s u A
o d a d n a l r I
e t r o N
s t o B u a n a
I - E - F
b i L a i r
I - E - F
& d a d i n i r T
o g a b o T
e u q a r I
I - E - F - S
g n o K g n o H
I - E - F
l a g u t r o P
E - F - A P
G a i b m
m a N a i b
I - E - F
l e a r s I
I - E - F
a i s l a M
a h n a p s E
E - F
a n a G
I - E - F
a i n d r o J
a v o N
a i d n l e Z
I - F
a u S o e L a r r e S a
s e t s e u Q
- o c e o i c o S
s a c i m n
a i d n
F - E - A P
- o p a J A S
n a w i a T
F - I - A P - A S
131
* - limite gestacional de 12 semanas
Y - limite gestacional de 14 semanas
y - limite gestacional de 24 semanas
# - limite gestacional de 90 dias
** - limite gestacional de 18 semanas
NOTAS: para os limites gestacionais durante a
gravidez, calcula-se a partir da ltima menstruao,
a qual geralmente considera-se ter ocorrido duas
semanas antes da concepo. Por isso, os limites
gestacionais cal cul ados a partir da data da
concepo devem ser estendidos em duas semanas.
ND - defesa de necessidade duvidosa
SA - autorizao do marido exigida
PA - autorizao dos pais exigida
E - aborto permitido em casos de estupro
I - aborto permitido em casos de incesto
F - aborto permitido em casos de anomalia fetal
L - a lei no indica limites gestacionais
PV - a lei no limita previamente o aborto
Fonte: (14)
m e S
s e i r t s e r
o v i t o m e d
a b u C * - A P a i n m r A *
a i j o b m a C
A P - Y
a i n b l A * l u S o d a c i r f *
s o d a t s E
s o d i n U - V P
o t s i a b r e z A *
a n i h C
L - A P
- a i r t s A Y
o c i R o t r o P
V P
a i g r o e G * a i l g n o M * - s u r a l e B Y
- d a n a C L t s i u q a z a K o*
o d a i r o C
- e t r o N L
- e z r e H - a i n s B
a n i v o g * - A P
. p e R
y g r y K * z
a r u p a g n i S a i r g l u B *
o t s i u q i j a T * n t e i V - L a i c o r C * - A P
a i s i n u T *
a k e h c T . p e R *
A P
a i u q r u T *
P - A S
a c r a m a n i D *
A P
o t s i n e m k r u T * a i n t s E *
o t s i u q e b z U * a n a r F * - A P
- a h n a m e l A Y
a i c r G * - A P
- a i r g n u H Y
- # a i l t I A P
a i v t a L *
a i n u t i L *
a i n d e c a M *
A P
a i v o d l o M *
- a d n a l o H V P
a g e u r o N *
A P
- a i n m o R Y
d e F a i s s R *
a i u q v o l S
p e R * - A P
a i n v o l S *
A P
a i c u S * *
a i n r c U *
a i v l s o g u Y *
A P
132
Debate biotico
Caso fosse possvel estabelecer
uma escala onde os extremos morais
sobre o aborto estivessem nas pontas,
a representao seria algo do tipo:
O quadro acima, apesar de ser
uma reduo grosseira da realidade
linguagem grfica, possui o mrito de
facilitar a compreenso e localizao
das idias sobre o aborto. Entre os ex-
tremos morais representados, h uma
infinidade de pequenas varincias que,
aparentemente, so incoerentes aos
princpios maiores, sejam eles o da
heteronomia ou o da autonomia. Eis
alguns exemplos: certos grupos defen-
sores da heteronomia da vida so, es-
pecificamente no que se refere ao abor-
to, defensores da tangibilidade da vida.
O exemplo mais conhecido desta com-
binao o grupo chamado Catli-
cas Pelo Direito de Decidir. Este mo-
vimento composto por catlicas, se-
guidoras da doutrina crist, que defen-
dem o direito de a mulher decidir so-
bre a reproduo. Pelo vnculo religio-
so, estas mulheres encontram-se sob o
ideal da heteronomia (a vida um dom
divino e, portanto, no lhes pertence),
porm, ao mesmo tempo, so adeptas
de um movimento social que defende
a autonomia. Outro exemplo so al-
guns lderes polticos reconhecidamen-
te defensores da liberdade do indiv-
duo e, conseqentemente, defensores
da autonomia individual, porm adep-
tos do princpio da heteronomia da
vida no que concerne ao aborto (no
Brasil, h o exemplo de um deputado
federal de esquerda com um projeto de
lei contrrio a qualquer forma de
descriminalizao do aborto). Isto
ocorre basicamente porque, no cam-
po da moral, com raras excees,
as pessoas no se comportam com
a coerncia lgica comum aos trata-
dos de filosofia moral. As escolhas
morais processam-se de inmeras
maneiras com influncias da fam-
lia, do matrimnio, da escola, dos mei-
os de comunicao em massa, etc.
o que acaba por mesclar princpios e
crenas inicialmente inconciliveis. Na
verdade, grande parte da populao
encontra-se confusa entre os extremos
morais acima representados. Poucos
so os grupos ou movimentos sociais
e religiosos que se identificariam com
os mesmos.
No entanto, a eficcia do grfico
est na propriedade de resumir o ob-
jeto de conflito entre os bioeticistas.
Grande parte dos escritos sobre o abor-
to gira em torno dos princpios da
heteronomia e da autonomia. Assim,
para fins deste captulo, chamaremos
os defensores da heteronomia da vida
e os defensores da autonomia
reprodutiva, respectivamente, como
Heteronomia da vida _____________________ Autonomia reprodutiva
Santidade da vida _____________________ Tangibilidade da vida
Aborto crime _____________________ Aborto
moralmente neutro
133
oponentes e proponentes da questo
do aborto. Esta apenas uma manei-
ra de agregar as diferenas entre os
grupos com o intuito de esclarecer por
onde se conduz, hoje, o debate sobre
o aborto em Biotica. Alm disso, os
extremos morais, exatamente por sua
radicalidade, possuem propriedades
heursticas na anlise da questo.
O argumento principal dos defen-
sores da legalizao ou descrimi-
nalizao do aborto o do respeito
autonomia reprodutiva da mulher e/ou
do casal, baseado no princpio da li-
berdade individual, herdeiro da tradi-
o filosfica anglo-sax cujo pai foi
Stuart Mill (15). Na Biotica, o aborto
no tema exclusivo de mulheres ou
de militantes de movimentos sociais;
a idia de autonomia do indivduo
possui uma penetrao imensa na
Biotica laica, especialmente para os
autores simpatizantes da linha norte-
americana. em torno do princpio do
respeito autonomia reprodutiva que
os proponentes da questo do aborto
agregam-se. E, talvez, o que melhor re-
presente a idia de autonomia
reprodutiva para os proponentes seja
a anal ogia feita em 1971, por
Thomson, no artigo A Defense of
Abortion, entre a mulher que no de-
seja o prosseguimento da gestao e a
mulher presa, involuntariamente, a um
violinista famoso (16). Vale conferir um
pequeno trecho da fantstica histria
de Thomson:
...Voc acorda no meio da ma-
nh e se v, lado a lado, na cama com
um violinista inconsciente. Um famo-
so violinista inconsciente. Ele desco-
briu que tinha uma doena renal fatal
e a Sociedade dos Amantes da Msi-
ca, aps avaliar todos os recursos
mdicos disponveis, descobriu que
voc era a nica que tinha exatamen-
te o tipo sangneo capaz de socorr-
lo. Eles tinham, ento, lhe sequestrado
e, na noite anterior, o sistema circula-
trio do violinista fora ligado ao seu,
de forma que seus rins poderiam ser
usados para extrair as impurezas do
sangue dele bem como as do seu san-
gue. Neste momento, o diretor do hos-
pital lhe diz: Entenda, ns nos senti-
mos mal pelo que a Sociedade dos
Amantes da Msica fizeram com voc
ns jamais permitiramos, se sou-
bssemos antes. Mas agora eles j o
fizeram, e o violinista est ligado a
voc. Para deslig-lo, ele morrer. Mas
no se desespere, ser apenas por nove
meses. Depois disso, ele ir recuperar-
se com alimentao prpria e poder
ser desligado de voc a salvo...(16).
Esta histria provocou uma ver-
dadeira onda de discusses e debates,
tendo aqueles que argumentavam que
o exemplo de Thomson serviria ape-
nas para casos onde a gestao foi fru-
to de violncia sexual e outros que sus-
tentavam que o respeito ao princpio
da autonomia era a questo-chave do
relato.
J os oponentes do aborto tm
como n a heteronomia, isto , a idia
de que a vida humana sagrada por
princpio (17). Na Biotica, os oponen-
tes do aborto no so apenas aqueles
vinculados a crenas religiosas, sendo,
ao contrrio, esta uma idia bastante
difundida at mesmo entre os
bioeticistas laicos (esta aceitao da
idia da intocabilidade da vida huma-
na entre os bioeticistas laicos fez com
que Singer falasse em especismo do
Homo sapiens, ou seja, um discurso
religioso baseado nos pressupostos
134
cientficos da evoluo da espcie e na
superioridade humana) (18). Na ver-
dade, o princpio da heteronomia da
vida est to arraigado na formao
dos profissionais de sade que temas
como a eutansia e a clonagem no
so bem-vindos. A crena em um sen-
tido para a vida humana alm da
organicidade muito difundida no
mundo ocidental cristo (6).
Se, por um lado, os proponentes
da legalizao do aborto encontram
abrigo no princpio da autonomia
reprodutiva e, por outro, os oponentes
no princpio da heteronomia da vida
humana, as diferenas entre os dois
grupos se acentuam ainda mais nos
desdobramentos argumentativos des-
tes princpios. Enquanto os proponen-
tes se unem em torno do valor-auto-
nomia, os oponentes esforam-se por
desdobrar o princpio da heteronomia
em peas de retrica que iro deter-
minar, de uma vez por todas, o debate
sobre o aborto. A partir do instante em
que os desdobramentos argumen-
tativos dos oponentes passaram a fa-
zer parte do discurso biotico em tor-
no do aborto, a discusso tomou ru-
mos jamais imaginados. Desde ento,
os oponentes se fazem presentes com
um discurso ativo, ao passo que os pro-
ponentes se caracterizam por ter assu-
mido um posicionamento reativo aos
argumentos contrrios ao aborto. Ve-
jamos o que isto significa.
Uma vez aceito o princpio da
heteronomia da vida humana, os te-
ricos preocupados em sustent-lo par-
tem constantemente ao encontro de
argumentos filosficos, morais ou ci-
entficos para mant-lo. Alguns j se
tornaram clssicos ao debate sobre o
aborto. Iremos analisar dois deles que,
de alguma maneira, encontram-se to
interligados que impossvel sua an-
lise em separado. O primeiro a cren-
a de que o feto pessoa humana des-
de a fecundao; o segundo, a defesa
da potencialidade do feto em tornar-
se pessoa humana.
Sustentar a idia de que o feto
pessoa humana desde a fecundao
transferir para o feto os direitos e con-
quistas sociais considerados restritos
aos seres humanos, em detrimento dos
outros animais. O principal direito e
o mais alardeado pelos oponentes da
questo do aborto o direito vida.
Todas as implicaes jurdicas e antro-
polgicas do status de pessoa humana
seriam, com isso, reconhecidas no feto.
E, para os mais extremistas, sendo o
feto uma pessoa humana torna-se im-
possvel qualquer dispositivo legal que
permita o aborto. Finnis pode ser con-
siderado um exemplo interessante deste
posicionamento extremo, diz ele:
...Sustento que o nico argumen-
to razovel que o no-nascido j
pessoa humana (...) Todo ser huma-
no individual deve ser visto como
uma pessoa (...) Uma lei justa e ti-
ca mdica decente que impea a
morte dos no-nascidos no pode
admitir a exceo para salvar a vida
da me(7).
J a segunda idia, a de que o
feto uma pessoa humana em poten-
cial, tem ainda maior nmero de de-
fensores do que a que concede o status
de pessoa ao feto desde a fecundao.
A teoria da potencialidade sugere que
o feto humano representa a possi-
bilidade de uma pessoa humana e,
portanto, no pode ser eliminado.
Para os representantes da teoria da
potencialidade, de feto para pessoa
135
humana completa apenas uma ques-
to de tempo e, claro, de evoluo.
Assim, em nome da futura transforma-
o do feto em criana, sendo o gran-
de marco o nascimento, o aborto no
pode ser permitido (7). Tanto para os
defensores da teoria da potencialidade
quanto para os defensores da idia de
que o feto j pessoa humana desde
a fecundao, o aborto possui o signi-
ficado moral e jurdico de um assassi-
nato e desta maneira que seus
expoentes se referem prtica.
Diante de argumentos como es-
tes os proponentes da legalidade do
aborto assumem, ento, uma argumen-
tao reativa. Com algumas excees,
como os escritos de Singer (18,19), os
bioeticistas defensores do aborto rara-
mente utilizam uma positividade no
discurso. Em geral, quando os argu-
mentos favorveis ao aborto se afas-
tam do princpio da autonomia
reprodutiva, o alvo desconstruir a re-
trica contrria ao aborto, especial-
mente as duas teorias acima expostas.
Frente defesa de que o feto pessoa
humana desde a fecundao, os
bioeticistas proponentes argumentam
que a idia de pessoa humana
antes um conceito antropolgico que
jurdico e necessita, portanto, da re-
lao social para fazer sentido. O
status de pessoa no mera conces-
so, mas sobretudo uma conquista
atravs da interao social. Por ou-
tro lado, h escritores que argumen-
tam que, caso o feto seja mesmo pes-
soa, a me e/ou o casal que deseja a
interrupo da gestao ainda mais
pessoa do que o feto. Por isso, seus
interesses (me/casal) devem preva-
lecer sobre os supostos interesses do
feto (20).
A teoria da potencialidade, assim
como entre os oponentes, tambm
apresenta maior simpatia dos propo-
nentes do aborto e isso pode ser visto
na enorme discusso quanto aos limi-
tes gestacionais em que um aborto se-
ria moralmente aceitvel. Em geral, os
limites estabelecidos baseiam-se em
argumentaes cientficas tais como:
quando o feto comea a sentir dor,
quando iniciam os movimentos fetais,
quando h a possibilidade de vida ex-
tra-uterina, etc. No entanto, no so
os dados evolutivos da fisiologia fetal
que decidem quando se pode ou no
abortar, mas sim os valores sociais
concedidos a cada conquista orgni-
ca do feto. Sentir ou no dor, ter ou
no conscincia, assim como a mobi-
lidade, so valores sociais que, trans-
feridos para o feto, estruturam os limi-
tes entre o que pode e o que no pode
ser feito. Alguns autores extremistas
consideram que no h diferena mo-
ral entre um embrio, um feto ou um
recm-nascido e que qualquer imposi-
o de limites gestacionais (nmero de
meses) para a execuo do aborto faz
parte de um exerccio cabalstico (20).
Vale a pena conferir o que Harris diz
sobre isso:
...Eu espero que tenhamos alcan-
ado o ponto no qual ficar claro que
os recm-nascidos, os bebs, os
neonatos tm, qual seja, o status mo-
ral dos fetos, embries e zigotos. Se o
aborto justificvel, tambm o o
infanticdio (...) (20).
Por outro lado, o argumento da
potencialidade pode permitir que se
afirme que as clulas sexuais do ser
humano so potencialmente uma pes-
soa, o que enfraqueceria seu poder de
convencimento. No entanto, a maioria
136
dos bioeticistas defensores do aborto
argumentam que necessria a impo-
sio de limites gestacionais, sendo o
nascimento um divisor de guas, es-
tando assim o infanticdio fora das
possibilidades (21).
Apesar das diferenas entre pro-
ponentes e oponentes no-extremistas,
h alguns pontos em que o dilogo tor-
na-se possvel. Existe, como sugeriu
Mori, uma maior simpatia tanto do
pensamento cientfico quanto do sen-
so comum na aceitao do aborto
quando fruto de estupro, de riscos
sade materna ou de anomalias fetais
incompatveis com a vida (6). As di-
vergncias entre as partes voltam a
acentuar-se quando preciso definir
os limites gestacionais a cada prtica.
De fato, o grande centro das diferen-
as est na possibilidade da mulher/
casal decidir sobre a reproduo. O
interessante deste problema que al-
guns pases, tais como a Rssia, en-
frentam dilemas radicalmente opostos.
Em um artigo chamado The Moral
Status of Fetuses in Russia,
Tichtchenko e Yudin, aps apresenta-
rem o que denominam de cultura do
aborto (tamanha a facilidade e a
tranqilidade com que se executam
abortos no pas), clamam pelo reco-
nhecimento de alguma moralidade no
feto (22).
Assim, apesar de bastante difun-
dido, o problema da moralidade do
aborto histrica e contextualmente
localizado e qualquer tentativa de
solucion-lo tem que levar em consi-
derao a diversidade moral e cultural
das populaes atingidas. Como pode
ser constatado, seja pela diversidade
legal acerca da temtica quanto pela
multiplicidade argumentativa do debate
biotico, o aborto uma das questes
paradigmticas da biotica exatamen-
te porque nele reside a essncia trgi-
ca dos dilemas morais que, por sua
vez, so o nconflitivo da Biotica.
Para certos dilemas morais no exis-
tem solues imediatas. Os dilemas-
limite, os teyku, segundo Engelhardt,
dos quais, talvez, o aborto componha
um de seus melhores exemplos, so si-
tuaes que desafiam os inimigos mo-
rais coexistncia pacfica (23).
Referncias bibliogrficas
Mller-Hill B. Cincia assassina: como
cientistas alemes contriburam para a
eliminao de judeus, ciganos e outras
minorias durante o nazismo. Rio de Ja-
neiro: Xenon, 1993.
Diniz D. O aborto seletivo no Brasil e os
alvars judiciais. Biotica 1997;5:19-24.
Beauchamps T, Chi l dress J. The
principles of biomedical ethics. 4 ed. New
York: Oxford University Press, 1994.
Lloyd L. Abortion and health care ethics
III. In: Gillon R, editor. Principles of
health care ethics. Chichester, Englnd:
John Wiley and Sons, 1994: 559-76.
Crianas filhas do estupro. Correio
Braziliense 1997 Out.
Mori M. Abortion and health care ethics
I: a cri ti cal anal ysi s of the mai n
arguments. In: Gillon R, editor. Principles
of health care ethics. Chichester: John
Wiley and Sons, 1994: 531-46.
Finnis J. Abortion and health care ethics
II. In: Gillon R, editor. Principles of
health care ethics. Chichester: John
Wiley and Sons, 1994: 547-57.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
7.
137
Vdeo O Grito Silencioso.
Linnas RR. The working of the brain:
development, memory and perception.
New York: WH Freeman, 1990.
Dworki n R. Li fes domi ni on: an
argument about abortion, euthanasia
and individual freedom. New York:
Vintage Books, 1994.
Kulczycki, Andrzej; Potts, Malcom &
Rosenfield, Allan. Abortion and Fertility
Regulation. Vol. 347 (9016), June 15,
1996, pp. 1663-1668.
Wrigley, E. A Population and history.
London. Weidenfeld and Nicolson.
1969.
The Alan Guttmacher Institute, 1994,
Aborto clandestino: uma realidade lati-
no-americana. Nova-Yorque. The Alan
Guttmacher Institute.
Rahman, Anika; Katzive, Laura &
Henshaw, Stanley K. A Global Review
of Laws on Induced Abortion, 1985-
1997. Vol. 24, no 2, June 1998, 56-64.
Mill JS. Sobre a liberdade. Petrpolis:
Vozes, 1986.
Thomson JJ. A defense of abortion.
Phi l osophy and Publ i c Affai rs
1971;1:47-66.
Frana GV. Aborto: breves reflexes so-
bre o direito de viver. Biotica 1994;2:29-
35.
Singer P. tica prtica. So Paulo:
Martins Fontes, 1993.
Kuhse H, Singer P. Should the baby live?
Oxford: Oxford Press, 1985.
Harris J. Not all babies should be kept
alive as long as possible. In: Gillon R,
editor. Principles of health care ethics.
Chichester: John Wiley and Sons, 1994:
644-55.
Bermdez JL. The moral significance of
birth. Ethics 1996;106:378-403.
Tichtchenko P, Yudin B. The moral
status of fetuses in Russia. Cambridge
Quarterl y of Heal thcare Ethi cs
1997;6:31-8.
Engelhardt TH. Los fundamentos de la
biotica. Barcelona: Paids, 1995.
As citaes originalmente escritas em ln-
gua inglesa foram traduzidas pelos autores
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
138
139
Srgio Danilo J. Pena
Eliane S. Azevdo
O Projeto Genoma Humano
e a Medicina Preditiva:
Avanos Tcnicos e
Dilemas ticos
O Projeto Genoma Humano -
PGH
Na histria da civilizao ociden-
tal, os avanos tecnolgicos freqen-
te-mente trazem como conseqncia
verdadeiras revolues sociais e eco-
nmicas. Isto ocorreu, por exemplo,
com o desenvolvimento da agricultu-
ra, que permitiu a sedentarizao das
sociedades nmades; com a inveno
da bssola, que permitiu as grandes
navegaes e, mais recentemente, com
os desenvolvimentos da eletricidade,
fsica nuclear, microeletrnica e
informtica. Sem dvida alguma, a
emergncia da biotecnologia moderna
representa um avano tcnico de igual
magnitude: o potencial de progresso
fantstico e certamente haver impac-
tos mltiplos da nova tecnologia em
nossa vida quotidiana e em nossas
rel aes humanas. Para ns, a
biotecnologia inquietante porque
manipula a prpria vida. E torna-se
mais inquietante ainda quando volta
a sua ateno para a prpria pessoa
humana. o caso do Projeto Genoma
Humano PGH.
O genoma humano consiste de 3
bilhes de pares de base de DNA dis-
tribudos em 23 pares de cromossomos
e contendo de 70.000 a 100.000 genes.
Cada cromossomo constitudo por
uma nica e muito longa molcula de
DNA, a qual, por sua vez, o cons-
tituinte qumico dos genes. O DNA
composto por seqncias de unida-
des chamadas nucleotdeos ou bases.
140
H quatro bases diferentes, A
(ademina), T (timina), G (guamina) e
C (citosina). A ordem das quatro ba-
ses na fita de DNA determina o con-
tedo informacional de um determina-
do gene ou segmento. Os genes dife-
rem em tamanho, desde 2.000 bases
at 2 milhes de bases. Fica claro, en-
to, que os genes estruturais, que con-
tm a mensagem gentica propriamen-
te dita, perfazem apenas aproximada-
mente 3% do DNA de todo o genoma.
O restante constitudo de seqncias
controladoras e, principalmente, de
regies espaadoras, muitas das quais
geneticamente inertes. O PGH prope
o mapeamento completo de todos os
genes humanos e o seqenciamento
completo das 3 bilhes de bases do
genoma humano. Mapeamento o pro-
cesso de determinao da posio e
espaamento dos genes nos
cromossomos. Seqenciamento o
processo de determinao da ordem
das bases em uma molcula de DNA.
A projeo que o projeto esteja com-
pleto no ano 2005, a um custo total de
trs a cinco bilhes de dlares.
O PGH tem avanado em veloci-
dade surpreendente. Genes expressos
de centenas de tecidos humanos j fo-
ram parcialmente seqenciados aps
cpia do RNA mensageiro em biblio-
tecas de DNA complementar (cDNA).
Mais de 800.000 destas seqncias
parciais, chamadas ESTs (etiquetas de
seqncias transcritas), j esto dispo-
nveis em bancos de dados pblicos
(dbEST, 1998) (1), representando cer-
ca de 40.000 a 50.000 genes huma-
nos de um total estimado em 70.000-
100.000. J temos um mapa gentico.
O mapeamento destes genes e de
marcadores de vrios tipos no genoma
humano j est virtualmente completo
em baixa e mdia resoluo (2,3,4).
O seqenciamento em grande escala
dos trs bilhes de pares de base que
constituem o genoma humano come-
ou h menos de um ano. Apenas 60
milhes de pares de base j foram ana-
lisados at agora. Entretanto, so ex-
celentes as perspectivas de que o
seqenciamento esteja completo em
2005, como planejado originalmente
(5). O PGH tem sido comparado com
o projeto de envio do homem lua.
Porm, como salientado por Sidney
Brenner, aps enviar o homem lua o
mais difcil traz-l o de vol ta.
Anal ogamente, compl etar o
seqenciamento no ser o fim do
PGH, pois teremos, ento, apenas o
conhecimento anatmico. O mais di-
fcil ser o longo processo de entendi-
mento da fisiologia, patologia e farma-
cologia do genoma.
Por que o tema do PGH rele-
vante para ns, no Brasil? Afinal, no
so os nossos problemas e carncias
to bsicos que tal empreitada parece
alienada da nossa realidade? Mltiplos
argumentos tm de ser aqui analisa-
dos. Em primeiro lugar, o genoma hu-
mano um patrimnio da humanida-
de. Assim, o Projeto Genoma reveste-
se de um significado simblico univer-
sal muito importante. Em nosso
genoma est registrada toda nossa his-
tria como espcie e projetada a nos-
sa potencialidade evolutiva. Se
visualizarmos a cincia como uma ten-
tativa de compreender o mundo que
nos cerca e de entender o
posicionamento do homem neste uni-
verso, o Projeto Genoma vai fundo: o
homem compreendendo-se em seu n-
vel mais essencial. Em segundo lugar,
141
temos de nos interessar por todo o
enorme ganho prtico e conflitos ti-
cos pertinentes que certamente resul-
taro do PGH (6). Este ganho ser
mais palpvel na inveno de novas
tcnicas de estudo e no desenvolvimen-
to de novos mtodos diagnsticos e
teraputicos em medicina. Os confli-
tos ticos, cujo surgimento est interli-
gado aos avanos tcnicos, medida
que surgem vo revelando o quanto a
moral prevalente nas sociedades mo-
dernas e pluralistas acata ou questio-
na determinados avanos. Inquestio-
navelmente, tm especial importncia
para todos ns os aspectos sociais e
morais do conhecimento gerado pelo
projeto. Na mesma medida em que o
que aprendermos nos permita conquis-
tar novas liberdades, no traro a re-
boque ameaas s liberdades j exis-
tentes? A resposta a essa indagao
exige uma reflexo tica profunda
que deve cercar todo o Projeto
Genoma, e da qual toda a sociedade
deve participar.
A Biotica e o PGH
Por sua prpria natureza, o PGH
cerca-se de incertezas ticas, legais e
sociais (ELSI). Reconhecendo isto, o
PGH dedicou 10% de seu oramento
total discusso destes temas. Trs
itens se destacam na agenda ELSI: 1)
privacidade da informao gentica;
2) segurana e eficcia da medicina
gentica e 3) justia no uso da infor-
mao gentica (7). Subjacentes a es-
tes itens h cinco princpios bsicos
sobre os quais est sendo construdo
o edifcio tico consensual do PGH:
autonomia, privacidade, justia, igual-
dade e qualidade (8). O princpio da
autonomia estabelece que os testes
devero ser estritamente voluntrios,
aps aconselhamento apropriado, e
que a informao deles resultante
absolutamente pessoal. Reconhece-se,
todavia, que para que haja um
aconselhamento apropriado indis-
pensvel que o mdico tenha conheci-
mentos suficientes sobre gentica. La-
mentavelmente, mesmo nos Estados
Unidos, a falta de uma compreenso
clara e segura sobre o significado dos
percentuais de risco est se constituin-
do em grave problema tico no dilo-
go entre a maioria dos mdicos e seus
pacientes (9). O princpio da privaci-
dade determina que os resultados dos
testes genticos de um indivduo no
podero ser comunicados a nenhuma
outra pessoa sem seu consentimento
expresso, exceto talvez a familiares com
elevado risco gentico e, mesmo assim,
aps falha de todos os esforos para
obter a permisso do probando. O
DNA de cada pessoa representa um
tipo especial de propriedade por con-
ter uma informao diferente de todos
os outros tipos de informao pessoal.
Mais que um relatrio de exame clni-
co de rotina cujos resultados podem
ser transitrios e passveis de variao
com dieta ou medicao, o resultado
do exame de DNA no muda: est pre-
sente durante toda a vida da pessoa e
representa sua programao biolgi-
ca no passado, no presente e no futu-
ro. O princpio da justia garante pro-
teo aos direitos de populaes vul-
nerveis, tais como crianas, pessoas
com retardo mental ou problemas psi-
quitricos e culturais especiais. No
apenas em nvel pessoal mas tambm
142
populacional, em casos especficos de
populaes indgenas ou similares. O
princpio da igualdade rege o acesso
igual aos testes, independente de ori-
gem geogrfica, raa, etnia e classe
socioeconmica. Para ns, brasileiros,
fortemente marcados por tradicionais
desigualdades de acesso aos bens de
sade, o princpio da igualdade cons-
titui uma pgina especial de conflitos
ticos que exige reflexes e aes tam-
bm especiais. Finalmente, o princpio
da qualidade assegura que todos os
testes oferecidos tero especificidade
e sensibilidade adequados e sero re-
alizados em laboratrios capacitados
com adequada monitoragem profis-
sional e tica. A questo importante
que no h maneiras legais de garan-
tir que estes princpios ticos sero
aceitos e provavelmente haver
presses enormes, principalmente
de interesses econmicos, para a
implementao de testes genticos
sem adeso a eles. Compete, pois, aos
bioeticistas e aos cientistas moralmen-
te motivados trazerem estas reflexes
ticas para a sociedade. Aqui, sobre-
modo, prevalece o reconhecimento
da responsabilidade moral de produ-
zir o conhecimento favorecendo seus
bons efeitos e limitando seus efeitos
perversos (10).
Em ltima anlise, toda a proble-
mtica ELSI vai convergir na interao
social de trs elementos: a comunida-
de cientfica do PGH, que vai gerar o
novo conhecimento, indiferente ou no
a seus aspectos ticos; a comunidade
empresarial, que vai transformar este
conhecimento em produtos e oferec-
los populao e, finalmente, socie-
dade como um todo, que vai absorver
e incorporar o novo conhecimento em
sua viso de mundo e suas prticas
sociais, alm de consumir os novos
produtos. Que as comunidades cient-
fica e empresarial esto devidamente
estruturadas para exercer suas fun-
es, ningum tem qualquer dvida.
Mas a quem, afinal, compete a respon-
sabilidade maior de esclarecer os con-
sumidores? Diferentemente de outros
tipos de consumo, as pessoas tero na
oferta destes produtos conseqncias
de ordem pessoal, moral, psicolgica
e afetiva. Alm disso, a interao en-
tre cientistas, empresrios e sociedade
ser transparadigmtica, ou seja, de-
pender fundamentalmente dos dife-
rentes paradigmas especficos que re-
gem a maneira pela qual os trs ele-
mentos percebem e expressam a im-
portncia relativa da gentica e do am-
biente na determinao do comporta-
mento e da sade humana.
Regulamentao biotica
do PGH
Aps o lanamento do PGH nos
Estados Unidos, em 1989, grande
nmero de out ros programas
genmicos emergiu em nvel nacio-
nal e internacional. H, atualmente,
programas no Reino Unido, Frana,
Itlia, Canad, Japo, Austrlia,
Rssia, Dinamarca, Sucia, Holanda
e Comunidade Europia. Para a co-
ordenao internacional destes esfor-
os foi criada a Organizao do
Genoma Humano (Human Genome
Organization HUGO). A HUGO
t em escri t ri os em Londres,
Bethesda, Moscou e Tquio. No Bra-
sil, o escritrio da HUGO funciona
143
no Ncleo de Gentica Mdica, em
Belo Horizonte. A misso da HUGO
promover a colaborao internacio-
nal na iniciativa genmica humana
e assistir na coordenao da pesqui-
sa. A HUGO tem vrios comits, in-
cluindo: mapeamento, bioinfor-
mtica, propriedade intelectual e
biotica. Do ponto de vista de pro-
pri edade i nt el ect ual , a HUGO
tem tido uma posio firme contra o
patenteamento de ESTs que, como j
explicado acima, so fragmentos cur-
tos de DNA seqenciados aleatoria-
mente de genes codificadores de pro-
tenas de funo desconhecida (11).
Por outro lado, a HUGO, embora es-
timulando a publicao rpida e dis-
ponibilidade livre de informao so-
bre seqncias genmicas, contra
qualquer proibio do patenteamento
de genes completos com funo co-
nhecida (12). O Comit de Biotica
tem estado principalmente preocupa-
do em normatizar a participao de
indivduos e populaes em estudos
genmicos, especialmente com a
questo do consentimento informa-
do. Recentemente, este comit enun-
ciou quatro princpios que devem
nortear toda a pesquisa sobre o
genoma humano (13): (1) reconhe-
cimento de que o genoma humano
parte do patrimnio da humanidade;
(2) aderncia a normas internacio-
nais de direitos humanos; (3) respei-
to pelos valores, tradies, cultura
e integridade dos participantes nos
estudos; (4) aceitao e defesa da
dignidade humana e da liberdade.
A UNESCO tambm tem tido um
papel importante na coordenao in-
ternacional do PGH, principalmente
como mediadora do dilogo Sul-Nor-
te neste contexto (14,15). Mais recen-
temente, o Comit Internacional de
Biotica da UNESCO aprovou uma
importante Declarao Universal do
Genoma Humano, cuja cpia est
integralmente transcrita no Apndice
anexo.
O diagnstico pr-sintomti-
co e a medicina preditiva
Qual a relao entre o genoma e
as caractersticas fsicas e mentais?
Como vimos acima, o genoma
humano contm aproximadamente
50.000 a 100.000 genes. Um gene
uma unidade funcional que geralmen-
te corresponde a um segmento de
DNA que codifica a seqncia de
aminocidos de uma determinada
protena. Os produtos gnicos as
protenas integram, coordenam e
participam dos processos enorme-
mente complexos do nosso desenvol-
vimento embrionrio e do nosso me-
tabolismo. O produto final destes pro-
cessos de desenvolvimento e metabo-
lismo o ser humano. As caracters-
ticas observveis deste ser humano,
ou seja, sua aparncia fsica, seu es-
tado de sade, suas emoes, cons-
tituem o seu fentipo. Ao contrrio
do genoma (gentipo) que permane-
ce constante por toda a vida, o
fentipo dinmico e muda constan-
temente ao longo de toda a existn-
cia do indivduo, registrando, assim,
a sua histria de vida. O gentipo
no determina o fentipo; ele deter-
mina uma gama de fentipos poss-
veis, uma norma de reao. A norma
144
de reao todo o repertrio de vias
alternativas de desenvolvimento e
metabolismo que podem ocorrer nos
portadores de um dado gentipo em
todos os ambientes possveis, favo-
rveis e desfavorveis, naturais ou
artificiais. Em resumo, nosso genoma
no determina um fentipo, mas es-
tabelece uma gama de possibilida-
des. Qual fentipo se concretizar vai
depender do ambiente e de suas
interaes com o gentipo. Para com-
plicar ainda mais, a maior parte das
caractersticas fenotpicas so com-
plexas e sujeitas ao de vrios
genes em interao com mltiplos
determinantes ambientais. Assim, o
mero conhecimento da seqncia de
bases do genoma humano no pode
ser traduzido diretamente em termos
fenotpicos, exceto os mais simples.
Um conceito fundamental que
emerge da discusso acima que
no existem intrinsecamente genes
bons nem genes maus. O genoma
humano muito varivel se com-
pararmos os genomas de dois indi-
vduos vamos encontrar, em mdia,
uma di f erena em cada 500
nucleotdeos, ou seja, h 6 milhes
de posies diferentes em dois
genomas humanos. O que precisa-
mos saber qual o efeito que estas
variaes exercem sobre o fentipo.
Ao nvel apenas do DNA no pode-
mos fazer julgamentos de valor. Para
saber se uma determinada mutao
ter efeito fenotpico temos, em pri-
meiro lugar, de saber se ela est em
um segmento transcrito (em RNA
mensageiro) e traduzido (em prote-
na) do genoma, em outras palavras,
se esta mutao acarretar uma mu-
dana em uma protena. Temos tam-
bm de saber qual o tipo de altera-
o na protena, o grau de robustez
estrutural da mesma (uma nica tro-
ca de aminocidos pode abolir sua
funo?) e o papel fisiolgico da pro-
tena ( uma enzima, um canal
inico, um receptor, etc.?). Quando
mutaes em um nico gene so ca-
pazes de, sozinhas, causar uma do-
ena gentica, falamos de um gene
de grande efeito e a doena cha-
mada monognica, podendo ter
herana autossmica dominante,
autossmica recessiva ou ligada ao
sexo. Por outro lado, a maioria das
doenas comuns do homem (cncer,
diabetes, arteriosclerose, hiperten-
so, etc.) so multifatoriais, depen-
dendo de uma interao complexa de
mltiplos genes de pequeno efeito
(doenas polignicas) com o ambi-
ente.
O que se pode conseguir com a
medicina preditiva?
A essnci a da medi ci na
preditiva, como o prprio nome in-
dica, a capacidade de fazer predi-
es quanto possibilidade de que
o paciente venha a desenvolver al-
guma doena (nvel fenotpico) com
base em testes laboratoriais em DNA
(nvel genotpico). Assim, a capaci-
dade preditiva do teste vai depender
do nvel de relacionamento do gene
testado com a doena. Por exemplo,
imaginemos a situao de um indi-
vduo jovem, filho de uma senhora
na qual foi diagnosticada a coria de
Huntington, uma doena neurode-
generativa autossmica dominante
causada por um gene de grande efei-
to localizado em 4p16.3 (isto , na
145
banda 16.3 do cromossomo n 4). A
deteco neste indivduo jovem de
uma mutao (mutaes neste caso
so causadas por expanses patol-
gicas de uma regio repetitiva) per-
mitir a afirmao de que inevitavel-
mente ele vir a desenvolver, no fu-
turo, a mesma doena que sua me,
independente de qualquer medida
que possa tomar (obviamente, se vi-
ver por tempo suficiente, j que a do-
ena geralmente manifesta-se na
maturidade). Neste caso, ento, te-
mos um diagnstico pr-sintomtico.
Por outro lado, imaginemos um ou-
tro indivduo jovem no qual foi feito
um teste de polimorfismo gentico da
enzima conversora da angiotensina
(ECA). Foi inicialmente relatado na
literatura que o gentipo DD em um
polimorfismo deste gene estaria as-
sociado com um risco de infarto do
miocrdio duas vezes maior que o de
indivduos com gentipo II (16), em-
bora estudos posteriores no tenham
podido evidenciar um risco to claro
(17,18). O infarto do miocrdio
causado pel a coronari opat i a
aterosclertica, uma doena noto-
riamente multifatorial, na qual fato-
res genticos polignicos e fatores
ambientais (dieta, fumo, atividade f-
si ca, etc.) i nteragem. Assi m, o
polimorfismo da ECA apenas um
dos inmeros polimorfismos genti-
cos envolvidos no estabelecimento de
um ri sco, como, por exempl o,
polimorfismos de genes do metabo-
lismo do colesterol, polimorfismos de
genes dos fatores da coagulao e da
fibrinlise, polimorfismos de genes da
superf ci e das pl aquet as, do
endotlio, do controle de proliferao
da musculatura lisa das artrias, etc.
Portanto, o valor do diagnstico
laboratorial do gentipo DD extre-
mamente limitado como medicina
preditiva (s escolhemos este exem-
plo porque este teste especfico j
est sendo oferecido em So Paulo
com marketing direto ao consumi-
dor; com a contrapartida de que
seria muito fcil contrabalanar
qualquer aumento de risco genti-
co por meio de controle ambiental
(ex., parar de fumar, emagrecer,
fazer exerccio aerbico, etc.) (19).
Assim, podemos definir a gama
da medicina preditiva. Por um lado,
temos o diagnstico pr-sintomtico
de doenas gnicas, situao em que
h grande previsibilidade mas baixa
possibilidade de modificao do ris-
co de desenvolvimento da doena.
Por outro, temos doenas multifa-
toriais polignicas em que um nico
teste gentico tem baixa previsi-
bilidade, mas as chances de se ma-
nipular o ambiente para tentar
evitar o desenvolvimento da doena
so grandes (Figura 1).
A maior parte das doenas com
etiologia gentica fica entre estes ex-
tremos so raras as doenas
puramente monognicas (na grande
maioria das enfermidades genticas
monognicas h influncia de outros
genes e de fatores ambientais na de-
terminao da penetrncia e do
grau de expressividade da doena)
Figura 1 Previsibilidade dos testes genticos
146
e tambm so raras as doenas pura-
mente polignicas (na grande maioria
das doenas polignicas h alguns
genes com efeito mais importante que
outros, que so chamados genes mai-
ores). Como exemplo, vamos exami-
nar a situao de algumas sndromes
genticas de cncer.
Exemplo de medicina preditiva:
cncer familial de mama
Aps a clonagem de alguns genes
de predisposio ao cncer na ltima
dcada, testes preditivos tm sido ofe-
recidos a indivduos com risco genti-
co. Por exemplo, em famlias com ml-
tiplos casos de carcinoma medular da
tireide ou com a sndrome de
neoplasias endcrinas mltiplas tipo
2a, a deteco de mutaes no proto-
oncogene RET em uma criana pode
permitir a tireoidectomia profiltica
el iminando o risco de cncer
tireoidiano que pode ser fatal. Outro
exemplo a polipose familial do colo,
onde mutaes no gene APC determi-
nam elevadssimo risco de desenvolvi-
mento de tumores colorretais malignos.
Testes deste gene indicaro quais in-
divduos da famlia necessitaro de
monitoragem por exames de reto-
sigmoidoscopia e quais no tero de
se preocupar. A situao mais com-
plexa nos casos de cncer familial de
mama causados por mutaes nos
genes BRCA1 ou BRCA2, porque, in-
felizmente, no h uma vantagem ine-
quvoca de uma pessoa saber se pos-
sui ou no mutaes nesses genes. Exa-
minemos a situao de uma jovem
cuja me teve cncer de mama e tem
uma mutao em BRCA1. Esta jovem
tem 50% de chance de ter herdado o
gene mutante e 50% de ter herdado o
gene normal. Se ela herdou o gene
normal, pode se tranqilizar, j que seu
risco de cncer de mama ser exata-
mente o mesmo da populao geral,
ou seja, aproximadamente 10%. Por
outro lado, se herdou o gene mutante
ela tem 85% de probabilidade de de-
senvolver um cncer de mama antes
dos 70 anos de idade e uma probabili-
dade de 50% de desenvolver um cn-
cer de ovrio. Imaginemos, agora, que
ela fez um teste de BRCA1 e este reve-
lou que ela herdou o gene mutante. O
que ela deve fazer? Um programa de
exames regulares com mamografia ou
uma mastectomia profiltica e/ou uma
ooforectomia profiltica? No h res-
postas absolutas.
O fato do cncer de mama ser
uma doena comum traz baila a nova
possibilidade de que testes genticos
sejam feitos em indivduos sadios da
populao, sem qualquer histria
familial de cncer de mama. Vrias
complicaes devem ser aqui discuti-
das com relao a esta triagem
populacional. Para melhor entendi-
mento, ser essencial fazer uma peque-
na digresso sobre gentica molecular.
Tanto o BRCA1 quanto o BRCA2 so
genes muito grandes e centenas de
mutaes diferentes nos mesmos po-
dem causar anormalidades nas pro-
tenas codificadas, que esto envolvi-
das no reparo de danos causados no
DNA por radiao. A procura de uma
mutao em BRCA1 e BRCA2 um
procedimento complexo e muito
dispendioso, que depende do seqen-
ciamento completo dos genes. Este pro-
cedimento justifica-se no caso de uma
famlia com vrios casos de cncer de
mama, pois aps a identificao da
147
mutao exata em uma das afetadas
fcil, pela reao em cadeia da
polimerase (PCR), desenhar um exa-
me especfico para esta mutao, que
pode ento, de maneira simples e pou-
co dispendiosa, ser oferecido a todas
as mulheres com risco gentico na fa-
mlia. Por outro lado, na triagem
populacional necessrio testar todas
as mutaes em todas as candidatas,
com vrias conseqncias: (i) a ausn-
cia de mutaes detectveis no ga-
rante que nenhuma mutao esteja
presente; (ii) algumas alteraes da
seqncia normal de BRCA1 e BRCA2
so variantes normais (polimorfismos),
ou seja, no representam um risco ele-
vado de cncer; (iii) algumas muta-
es, mesmo patolgicas, podem es-
tar associadas com riscos de cncer
muito menores que os 85% at os 70
anos citados acima (por exemplo, a
mutao mais comum em judias
askenazitas confere um risco de 56%
de cncer de mama e 16% de cncer
de ovrio); (iv) a percepo de
inevitabilidade do risco tem um fator
temporal importante, ou seja, embora
os riscos sejam para toda a vida, o
horizonte de preocupao da pacien-
te com os prximos 10 anos; e (v) os
efeitos dos genes de predisposio po-
dem ser modificados por outros genes
polimrficos e por fatores ambientais
e estilos de vida, tais como a idade da
menarca, gravidez, uso de plula anti-
concepcional, etc. (20). Certamente, a
avaliao ponderada de todos estes
elementos est muito alm do que po-
deria ser esperada da maioria das
mulheres da populao e talvez mes-
mo de seus mdicos. Desta maneira,
a triagem populacional est sempre
cercada de incertezas e sua eficcia
ainda no foi estabelecida; vrias so-
ciedades mdicas e cientficas j se
manifestaram contra o seu uso clni-
co rotineiro (American Society of
Human Genetics, 1994; National
Advisory Council for Human Genome
Research, 1994; National Action
Pl an on Breast Cancer, 1996)
(21,22,23).
A medicina preditiva pode ser
nociva?
A medicina preditiva carrega con-
sigo um potencial iatrognico impor-
tante. tico fazer o diagnstico pr-
sintomtico de doenas que no tm
cura? Quo confiveis so os testes
genticos preditivos? Quais so as con-
seqncias de indivduos sadios fica-
rem sabendo do seu destino mdico?
A regulamentao de laboratrios que
oferecem testes preditivos suficiente-
mente confivel para evitar erros de-
vastadores? Como podem os indivdu-
os sadios ser protegidos de discrimi-
nao por seguradoras e empregado-
res potenciais? Quais so os verdadei-
ros prs e contras dos testes preditivos?
As pessoas, em geral, no percebem
com clareza que entre ser portador de
um gene alterado e apresentar a doen-
a relacionada a este gene existe uma
probabilidade e no uma certeza. Sem
esta percepo h a vulnerabilidade
a falsos alarmes ou a fantasiosas eu-
forias. A desinformao gentica po-
der, s vezes, ter conseqncias mais
malficas do que o prprio gene
mutante. Um tpico importante sa-
ber se o conhecimento gerado pelos
testes preditivos pode salvar vidas. Para
doenas neurodegenerativas, a respos-
ta no. Para cnceres familiares, a
148
resposta ainda no est clara. Temos
de determinar se as medidas preventi-
vas que funcionam para a populao ge-
ral (mamografia, retossigmoidoscopia,
etc.) aplicam-se tambm aos cnceres
familiares. Por outro lado, como visto
acima, o valor de um resultado nor-
mal inegvel quando o exame foi fei-
to com inquestionvel competncia e
credibilidade.
Para o paciente, haver proble-
mas psicolgicos, porque o diagnsti-
co pr-sintomtico antecipa a passa-
gem do indivduo do estado de sadio
para o de doente. Haver, tambm, o
problema da estigmatizao social e o
do preconceito. Ele poder sofrer dis-
criminao de vrios tipos. possvel
que os empregadores venham a exigir
testes genticos dos candidatos a em-
prego e recusar a admisso dos afe-
tados. E a companhia de seguros?
Teria ela o direito de pedir testes gen-
ticos para o indivduo que tem predis-
posio para cncer? Ter ela acesso
a ficha mdica dessa pessoa?
Recentemente, no New York Ti-
mes (24), foi relatado o caso de uma
jovem com forte histria familial de
cncer de mama, cujo teste gentico
mostrou a presena de uma mutao
em BRCA1. Informada do risco de
85% de desenvolvimento de cncer de
mama at os 70 anos, a paciente op-
tou por fazer uma mastectomia preven-
tiva. Para tal, pediu a autorizao do
seu plano de sade, sem revelar o re-
sultado do teste gentico, mas relatan-
do sua forte histria familial. O plano
de sade negou o pedido, argumentan-
do que no pagaria por medicina pre-
ventiva. A paciente, ento, apresentou
o resultado do teste de BRCA1. A com-
panhia novamente negou, agora argu-
mentando que a paciente tinha uma
doena preexistente, um defeito ge-
ntico, quando ingressou no plano
e que no estaria ento coberta. A
paciente pagou pela cirurgia com
recursos prprios e no estudo
anatomopatolgico foi constatada a
presena de um tumor canceroso que
no havia sido detectado pel a
mamografia.
Uma outra problemtica que deve
ser discutida a leitura exagerada do
papel da gentica na determinao de
traos comportamentais e psquicos, o
que tem sido chamado por Rose (25)
de determinismo neurogentico. O
determinismo neurogentico proclama
ser capaz de explicar tudo pela genti-
ca, da violncia urbana orientao
sexual. Por exemplo, em 1994 a revis-
ta Time (15/8/1994) publicou uma re-
portagem de capa intitulada Infidelity
It may be in our genes. Independen-
te da argumentao falha do artigo,
que no vamos nos dar ao trabalho de
discutir, a tentativa de responsabilizar
o genoma pelo comportamento formal-
mente reprovvel de algumas pesso-
as bastante sintomtica de uma pro-
penso da nossa sociedade a assumir
paradigmas deterministas para abdi-
car de responsabilidade social. No
surpreendentemente, no ano passado
a revista brasileira VIP-Exame (julho de
1997) publicou uma reportagem de
capa no mesmo teor: Porque voc trai
No se sinta um canalha. A cincia
diz que a culpa do DNA. A questo
de livre arbtrio versus determinismo
to velha quanto a humanidade. Com
as reformas Luterana e Calvinista fir-
mou-se a teoria determinista da
predestinao, que estabeleceu os ali-
cerces culturais de pases protestantes
149
como os Estados Unidos e grande par-
te da Europa e que, conseqentemen-
te, tm influncia em todo o pensamen-
to ocidental. Este determinismo tem
contrapartidas igualmente fortes no
hindusmo (conceito do karma) e no
islamismo [a prpria palavra islame
vem do rabe resignao ( vonta-
de de Deus)]. Embora de certo modo
assustador, pela impossibilidade de es-
cape, este determinismo por outro
lado conveniente, pois o peso da res-
ponsabilidade criada pelo livre arbtrio
talvez seja mais apavorante ainda. De
qualquer maneira, com a diminuio
da importncia social da religio nas
ltimas dcadas, quem vai determinar
nosso destino? Nada mais tentador que
resignar-nos aos desgnios do nosso
genoma. Assim, tenta-se explicar que
uma pessoa homossexual porque tem
genes de homossexualidade; embria-
ga-se porque tem genes do alcoolismo;
comete crimes porque tem genes cri-
minosos, etc. Este reducionismo est
profundamente incrustado na cultura
da nossa sociedade e vai influenciar
fundamentalmente a receptividade aos
frutos do PGH (26). Talvez, com um
programa de educao pblica vigo-
roso, possamos gerar uma desejvel
mudana deste paradigma, que permi-
tiria, ento, a implantao de progra-
mas de testes genticos dentro dos al-
tos ideais ticos de autonomia, priva-
cidade, justia, igualdade e qualidade
defendidos pelo PGH.
Qual deve ser a nossa conduta
com relao medicina preditiva?
Por um lado, temos o diagnstico
pr-sintomtico de doenas gnicas,
situao em que h grande previ-
sibilidade mas baixa possibilidade de
modificao do risco de desenvolvi-
mento da doena, e por outro temos
doenas multifatoriais polignicas em
que um nico teste gentico tem baixa
previsibilidade, mas grandes chances
de se manipular o ambiente para evi-
tar o desenvolvimento da doena. Es-
tas ltimas incluem as vrias formas
de cncer, diabetes, coronariopatias,
hipertenso, doena de Alzheimer, ar-
trite reumatide, colite ulcerativa,
esclerose lateral amiotrfica, esclerose
ml tipl a e as grandes psicoses
(esquizofrenia e psicose manaco-
depressiva). Em conjunto, estas doen-
as acometem ou viro a acometer
grande parte da populao. Todas elas
tm em sua etiologia componentes ge-
nticos importantes e a identificao
dos genes envolvidos abrir novas
oportunidades para a interveno m-
dica. Assim, poderamos usar testes de
DNA em indivduos sadios, digamos
aos 18 anos, para determinar as suas
propenses genticas para doenas,
estabelecendo, dessa forma, um mapa
individual de predisposies. A partir
deste conhecimento o indivduo pode-
ria, com o aconselhamento e acompa-
nhamento apropriados, fazer as modi-
ficaes ambientais necessrias (die-
ta, estilo de vida, escolha de profisso,
etc.) para evitar o aparecimento das
doenas.
Nem todas as doenas so boas
candidatas para fazer parte da medi-
cina preditiva. As condies que con-
sideramos indispensveis so: (i) um
gene de efeito maior deve estar entre
os que predispem a doena; (ii) deve
haver um teste gentico simples para
estabelecer a presena de mutaes
neste gene; (iii) o teste preditivo deve
150
gerar conhecimento til para a preven-
o da doena; e (iv) devem ser bem
conhecidos os efeitos da informao
dos vrios possveis resultados dos tes-
tes sobre o bem-estar psicolgico e
social do indivduo testado. Assim, a
nossa conduta com relao medici-
na preditiva deve ser de um otimismo
cauteloso. Acreditamos que, por en-
quanto, a prtica dos testes preditivos
ainda deve ser restrita esfera dos cen-
tros de pesquisa universitrios. A ge-
neralizao da sua prtica deve ser
acompanhada de cuidadosa regula-
mentao.
Nos Estados Unidos, esta regula-
mentao j foi iniciada. Criou-se no
seio do PGH um Comit (Task For-
ce) de Testes Genticos para avaliar
o estado da arte dos testes preditivos e
emitir recomendaes quando neces-
srio para garantir: (i) o desenvolvi-
mento de testes genticos seguros e efi-
cientes; (ii) o controle da qualidade dos
laboratrios que oferecem estes testes;
(iii) o uso apropriado dos testes pela
comunidade mdica e pelos consumi-
dores; e (iv) o estmulo ao desenvolvi-
mento de novos testes (27). Em 1997,
foi aprovada legislao nos Estados
Unidos garantindo que caso um indi-
vduo esteja em um plano de sade h
pelo menos um ano, e caso tenha uma
doena gentica diagnosticada nos l-
timos seis meses, esta informao no
pode ser usada para cancelar ou limi-
tar a cobertura do plano. Tambm ile-
gal, nos Estados Unidos, negar seguro
de vida ou seguro de sade com base
em resultados de testes preditivos. Vinte
dos 50 estados americanos j tm le-
gislao impedindo o aumento do pre-
o de planos de seguro mdico por
causa de presena de mutaes gen-
ticas (24). Alm disso, o governo ame-
ricano iniciou medidas para impedir
a discriminao com base em testes
genticos na contratao ou promoo
de trabalhadores nas empresas (28).
Efetivamente, a legislao proibir aos
empregadores requisitar um teste ge-
ntico ou informao gentica como
condio para o emprego, bem como
utilizar informao gentica para limi-
tar as oportunidades de trabalho, en-
tretanto permitir o uso de testes ge-
nticos em algumas situaes, visan-
do garantir a sade e segurana dos
trabalhadores. Paralelamente, temos de
levar em conta que todas estas regula-
mentaes podem vir a ter efeitos drs-
ticos na estrutura dos seguros de sa-
de e seguros de vida (29).
H dois componentes importan-
tes na medicina preditiva: a comu-
nidade mdico-cientfica, que conhe-
ce os testes e quer empreg-los, e a
comunidade do consumidor, que o
paciente em potencial. Infelizmente,
est surgindo um terceiro componen-
te: as empresas de biotecnologia, nas
quais est envolvida a indstria far-
macutica. Essas empresas esto in-
vestindo pesadamente no PGH. H
a expectativa de que a medicina
preditiva abra mercados potencial-
mente enormes, de bilhes de dla-
res, o que tem atrado as empresas
farmacuticas e de biotecnologia
para esta rea de atividade (30). Es-
tima-se que at 1996 estas empresas,
conjuntamente, j haviam investido
mais de um bilho de dlares no
PGH. Assim, vo entrar na relao
mdico-paciente como um coringa.
Elas, certamente, vo querer induzir
o mdico a fazer os testes genticos
que elas mesmas desenvolveram e/ou
151
esto comercializando, e no tero o
prurido tico de tentar distinguir o que
bom, ou no, para o paciente. Tere-
mos o trinmio mdico-paciente-inds-
tria biotecnolgica. Isso j existe, de
certa maneira, com a indstria farma-
cutica. Portanto, um desafio imediato
fazer com que os profissionais de sade
e o pblico em geral compreendam o que
est em jogo e tornem-se consumidores
bem informados e alertas.
Referncias bibliogrficas
dbEST (1998). O banco de dados de
ESTs pode ser acessado atravs do ser-
vidor BLAST no National Center for
Biotechnology Information (NCBI)
no endereo de Internet http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/.
Hudson TJ, Stein LD, Gerety SS, Ma J,
Castle AB, Silva J, Slonin DK et al. Na
STS-based map of the human genome.
Science 1995;270:1945-4.
Dib C, Faure S, Fizames C, Samson D,
Drowat N, Vi gnal A et al . A
comprehensive genetic map of the
human genome based on 5,264
microsatellites. Nature 1996;380:152-4.
Schuler GD, Boguski MS, Stewart EA,
Stein LD, Gyapay G, Rice K et al. A
gene map of the human genome.
Science 1996;274:540-6.
Rowen L, Mahai ras G, Hood L.
Sequencing the human genome. Science
1997;278:605-7.
Pena SDJ. Third world participation in
genome proj ects. Trends i n
Biotechnology 1996;14:74-7.
Collins F, Galas D. A new five-year plan
for the U.S. human genome project.
Science 1993;262:43-9.
Knoppers BM, Chadwick R. The human
genome project: under an international
ethical microscope. Science 1994;
265:2035-6.
Opitz MJ. O que normal considerado
no contexto da genetizao da civilizao
ocidental? Biotica (CFM) 1997;5:131-43.
Bernard J. Da Biologia tica. Biotica:
novos poderes da cincia, novos deve-
res do homem. Campinas: Editorial Psy,
1994.
Caskey CT. HUGO and gene patents.
Nature 1995;375:351.
HUGO warning over broad patents on
gene sequences [news]. Nature
1997;387:326.
Dickson D. HUGO approves ethics code
for genomics. Nature 1996;380:279.
Grisolia S. UNESCO Program for the
human genome project. Genomics
1991;9: 404-5.
Pena SDJ. First South-North Human
Genome Conference. Gene
1992;120:327-8.
Cambien F, Poirier O, Lecerf L, Evans
A, Cambou JP, Arveiler D et al. Deletion
pol ymorphi sm i n the gene for
angiotensin-converting enzyme is a
potent risk factor for myocardial
infraction. Nature 1992;359:641-4.
Lindpainter K, Pfeffer MA, Kreutz R,
Stampfer MJ, Grodstein F, La Motte F
et al. A prospective evaluation of na
angiotensin-converting-enzyme gene
polymorphism and the risk of ischemic
heart di sease. New Engl J Med
1995;332:706-11.
Samani NJ, Thompson JR, OToole L,
Channer K, Woods KL. A meta-analysis
of the association of the deletion allele
of the angiotensin-converting enzyme
gene wi th myocardi al i nfracti on.
Circulation 1996;94:708-12.
19.Giannini D, Almeida AO. A bola de cris-
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
152
tal da medicina. Folha de S. Paulo 1997
abr 20;Revista da Folha.
20.Ponder B. Genetic testing for cancer risk.
Science 1997;278:1050-4.
21.American Society of Human Genetics.
Statement on genetic testing for breast
and ovarian cancer predisposition. Am
J Hum Genet 1994;55:i-iv.
22.National Advisory Council for Human
Genome Research. Statement on use of
DNA testi ng for presymptomati c
identification of cancer risk. J Am Med
Ass 1994;271:785.
23.National Action Plan on Breast Cancer.
Commentary on the ASCO statement
on geneti c testi ng for cancer
suscepti bi l i ty. J Cl i n Oncol
1996;14:1738-40.
24.Kolata G. Advent of testing for breast
cancer genes leads to fears of disclosure
and discrimination. New York Times 1997
Feb 4.
25.Rose S. A perturbadora ascenso do
determinismo neurogentico. Cincia
Hoje 1997;21:18-27.
26.Pena SDJ. Conflitos paradigmticos e a
tica do projeto genoma humano. Re-
vista USP 1994;24:68-73.
27.Holtzman NA, Murphy PD, Watson MS,
Barr PA. Predictive genetic testing: from
basic research to clinical practice.
Science 1997;278:602-5.
28.Page S. (1998) White House wants ban
on genetic bias. USA Today 1998 Jan
21.
29.Pokorski RJ. Genetic information and life
insurance. Nature 1995;376:13-14.
30.Cohen J. The genomics gamble. Science
1997;275:767-81.
Apndice
Comit de Biotica da UNESCO:
Declarao Universal do Genoma Hu-
mano e dos Direitos Humanos
O Comit de Especialistas Governa-
mentais, convocado em julho de 1997 para
a concluso de um projeto de declarao
sobre o genoma humano, examinou o es-
boo preliminar revisto e redigido pelo Co-
mit Internacional de Biotica. Ao trmino
de suas deliberaes, em 25 de julho de
1997, o Comit de Especialistas Governa-
mentais, no qual mais de 80 Estados esti-
veram representados, adotou por consenso
o projeto de uma Declarao Universal do
Genoma Humano e dos Direitos Humanos,
que foi apresentado para adoo na 29
a
sesso da Conferncia Geral da Unesco (de
21 de outubro a 12 de novembro de 1997).
Esta declarao foi publicada pela Folha de
S. Paulo em 15 de novembro de 1997 e
est integralmente transcrita abaixo.
A. Dignidade Humana e o Genoma
Humano
Artigo 1
o
O genoma humano subjaz unidade
fundamental de todos os membros da
famlia humana e tambm ao reco-
nhecimento de sua dignidade e diver-
sidade inerentes. Num sentido simb-
lico, a herana da humanidade.
Artigo 2
o
a) Todos tm direito ao respeito por
sua dignidade e seus direitos huma-
nos, independentemente de suas ca-
ractersticas genticas.
b) Essa dignidade faz com que seja
imperativo no reduzir os indivdu-
os a suas caractersticas genticas
e respeitar sua singularidade e di-
versidade.
Artigo 3
o
O genoma humano, que evolui por sua
prpria natureza, sujeito a muta-
es. Ele contm potencialidades que
153
so expressas de maneira diferente
segundo o ambiente natural e social
de cada indivduo, incluindo o estado
de sade do indivduo, suas condies
de vida, nutrio e educao.
Artigo 4
o
O genoma humano em seu estado
natural no deve dar lugar a ganhos
financeiros.
B. Direitos das Pessoas Envolvidas
Artigo 5
o
a) Pesquisas, tratamentos ou diagns-
ticos que afetem o genoma de um in-
divduo devem ser empreendidas so-
mente aps a rigorosa avaliao pr-
via dos potenciais riscos e benefcios
a serem incorridos, e em conformida-
de com quaisquer outras exigncias da
legislao nacional.
b) Em todos os casos, obrigatrio o
consentimento prvio, livre e informa-
do da pessoa envolvida. Se esta no
se encontrar em condies de consen-
tir, o consentimento ou autorizao
deve ser obtido na maneira prevista
pela lei, orientada pelo melhor inte-
resse da pessoa.
c) Ser respeitado o direito de cada
indivduo de decidir se ser ou no in-
formado dos resultados de seus exa-
mes genticos e das conseqncias
resultantes.
d) No caso de pesquisas, os protoco-
los sero, alm disso, submetidos a
uma reviso prvia em conformidade
com padres ou diretrizes nacionais e
internacionais relevantes relativos a
pesquisas.
e) Se, de acordo com a lei, uma pes-
soa no tiver a capacidade de con-
sentir, as pesquisas relativas a seu
genoma s podero ser empreendidas
com vistas a beneficiar sua prpria
sade, sujeitas autorizao e s con-
dies protetoras descritas pela lei. As
pesquisas que no previrem um bene-
fcio direto sade somente podero
ser empreendidas a ttulo de exceo,
com restries mximas, expondo a
pessoa apenas a riscos e nus mni-
mos e se as pesquisas visarem contri-
buir para o benefcio da sade de ou-
tras pessoas que se enquadram na
mesma categoria de idade ou que te-
nham as mesmas condies genti-
cas, sujeitas s condies previstas em
lei, desde que tais pesquisas sejam
compatveis com a proteo dos di-
reitos humanos do indivduo.
Artigo 6
o
Ningum ser sujeito discriminao
baseada em caractersticas genticas
que vise infringir ou exera o efeito de
infringir os direitos humanos, as liber-
dades fundamentais ou a dignidade
humana.
Artigo 7
o
Quaisquer dados genticos associados
a uma pessoa identificvel e armaze-
nados ou processados para fins de
pesquisa ou para qualquer outra fina-
lidade devem ser mantidos em sigilo,
nas condies previstas em lei.
Artigo 8
o
Todo indivduo ter o direito, segundo
a lei internacional e nacional, justa
reparao por danos sofridos em con-
seqncia direta e determinante de
uma interveno que tenha afetado
seu genoma.
Artigo 9
o
Com o objetivo de proteger os direitos
humanos e as liberdades fundamen-
tais, as limitaes aos princpios do
consentimento e do sigilo s podero
ser prescritas por lei, por razes de
fora maior, dentro dos limites da le-
gislao pblica internacional e da lei
internacional dos direitos humanos.
C. Pesquisas com o Genoma
Humano
Artigo 10
Nenhuma pesquisa ou aplicao de
pesquisa relativa ao genoma huma-
154
no, em especial nos campos da biolo-
gia, gentica e medicina, deve preva-
lecer sobre o respeito aos direitos hu-
manos, s liberdades fundamentais e
dignidade humana dos indivduos
ou, quando for o caso, de grupos de
pessoas.
Artigo 11
No sero permitidas prticas contr-
rias dignidade humana, tais como
a clonagem reprodutiva de seres hu-
manos. Os Estados e as organizaes
internacionais competentes so con-
vidados a cooperar na identificao
de tais prticas e a determinar, nos
nveis nacional ou internacional, as
medidas apropriadas a serem toma-
das para assegurar princpios expos-
tos nesta Declarao.
Artigo 12
a) Os benefcios decorrentes dos avan-
os em biologia, gentica e medicina,
relativos ao genoma humano, deve-
ro ser colocados disposio de to-
dos, com a devida ateno para a dig-
nidade e os direitos humanos de cada
indivduo.
b) A liberdade de pesquisa, que ne-
cessria para o progresso do conheci-
mento, faz parte da liberdade de pen-
samento. As aplicaes das pesquisas
com o genoma humano, incluindo
aquelas em biologia, gentica e medi-
cina, buscaro aliviar o sofrimento e
melhorar a sade dos indivduos e da
humanidade como um todo.
D. Condies para o Exerccio da
Atividade Cientfica
Artigo 13
As responsabilidades inerentes s ati-
vidades dos pesquisadores, incluindo
o cuidado, a cautela, a honestidade
intelectual e a integridade na realiza-
o de suas pesquisas e tambm na
apresentao e na utilizao de suas
descobertas, devem ser objeto de aten-
o especial no quadro das pesquisas
com o genoma humano, devido a suas
implicaes ticas e sociais. Os res-
ponsveis pelas polticas cientficas,
em mbito pblico e privado, tambm
incorrem em responsabilidades espe-
ciais a esse respeito.
Artigo 14
Os Estados devem tomar medidas
apropriadas para fomentar as condi-
es intelectuais e materiais favor-
veis liberdade na realizao de pes-
quisas sobre o genoma humano e para
levar em conta as implicaes ticas,
legais, sociais e econmicas de tais
pesquisas, com base nos princpios ex-
postos nesta Declarao.
Artigo 15
Os Estados devem tomar as medidas
necessrias para prover estruturas para
o livre exerccio das pesquisas com o
genoma humano, levando devidamen-
te em conta os princpios expostos nes-
ta Declarao, para salvaguardar o
respeito aos direitos humanos, s li-
berdades fundamentais e dignidade
humana e para proteger a sade p-
blica. Eles devem buscar assegurar que
os resultados das pesquisas no se-
jam utilizados para fins no-pacficos.
Artigo 16
Os Estados devem reconhecer a im-
portncia de promover, nos diversos
nveis apropriados, a criao de co-
mi ts de ti ca i ndependentes,
multidisciplinares e pluralistas, para
avaliar as questes ticas, legais e so-
ciais levantadas pelas pesquisas com
o genoma humano e as aplicaes das
mesmas.
E. Solidariedade e Cooperao
Internacional
Artigo 17
Os Estados devem respeitar e promo-
ver a prtica da solidariedade com os
indivduos, as famlias e os grupos
populacionais que so particularmente
vulnerveis a, ou afetados por, doen-
as ou deficincias de carter genti-
155
co. Eles devem fomentar pesquisas
inter alia sobre a identificao, pre-
veno e tratamento de doenas de
fundo gentico e de influncia genti-
ca, em particular as doenas raras e
as endmicas, que afetam grande
parte da populao mundial.
Artigo 18
Os Estados devem envidar todos os
esforos, levando devidamente em
conta os princpios expostos nesta
Declarao, para continuar fomentan-
do a disseminao internacional do
conhecimento cientfico relativo ao
genoma humano, a diversidade huma-
na e as pesquisas genticas e, a esse
respeito, para fomentar a cooperao
cientfica e cultural especialmente en-
tre os pases industrializados e os pa-
ses em desenvolvimento.
Artigo 19
a) No quadro da cooperao interna-
cional com os pases em desenvolvi-
mento, os Estados devem procurar
encorajar:
1. que seja garantida a avaliao dos
riscos e benefcios das pesquisas com
o genoma humano, e que sejam im-
pedidos os abusos;
2. que seja desenvolvida e fortalecida
a capacidade dos pases em desen-
volvimento de promover pesquisas
sobre biologia e gentica humana, le-
vando em considerao os problemas
especficos desses pases;
3. que os pases em desenvolvimen-
to possam se beneficiar das conquis-
tas da pesqui sa ci ent fi ca e
tecnolgica, para que sua utilizao
em favor do progresso econmico e
social possa ser feita de modo a be-
neficiar todos;
4. que seja promovido o livre inter-
cmbio de conhecimentos e informa-
es cientficas nas reas de biologia,
gentica e medicina.
b) As organizaes internacionais re-
levantes devem apoiar e promover as
medidas tomadas pelos Estados para
as finalidades acima mencionadas.
F. Promoo dos Princpios
Expostos na Declarao
Artigo 20
Os Estados devem tomar medidas
apropriadas para promover os princ-
pios expostos nesta Declarao, por
meios educativos e relevantes, inclu-
sive, inter alia, por meio da realiza-
o de pesquisas e treinamento em
campos interdisciplinares e da promo-
o da educao em biotica, em to-
dos os nveis, dirigida em especial aos
responsveis pelas polticas cientficas.
Artigo 21
Os Estados devem tomar medidas
apropriadas para encorajar outras for-
mas de pesquisa, treinamento e dis-
seminao de informaes, meios es-
tes que conduzam conscientizao
da sociedade e de todos os seus mem-
bros quanto s suas responsabilida-
des com relao as questes funda-
mentais relacionadas defesa da dig-
nidade humana que possam ser levan-
tadas pelas pesquisas em biologia, ge-
ntica e medicina e s aplicaes des-
sas pesquisas. Tambm devem se pro-
por a facilitar a discusso internacio-
nal aberta desse tema, assegurando a
livre expresso das diversas opinies
socioculturais, religiosas e filosficas.
G. Implementao da Declarao
Artigo 22
Os Estados devem envidar todos os
esforos para promover os princpios
expostos nesta Declarao e devem
promover sua implementao por
meio de todas as medidas apropria-
das.
Artigo 23
Os Estados devem tomar as medidas
apropriadas para promover, por meio
da educao, da formao e da dis-
seminao da informao, o respeito
156
pelos princpios acima mencionados
e para fomentar seu reconhecimento
e sua aplicao efetiva. Os Estados
tambm devem incentivar os inter-
cmbios e as redes entre comits ti-
cos independentes, medida que fo-
rem criados, com vistas a fomentar
uma cooperao integral entre eles.
Artigo 24
O Comit Internacional de Biotica
da Unesco deve contribuir para a dis-
seminao dos princpios expostos
nesta Declarao e para fomentar o
estudo detalhado das questes levan-
tadas por suas aplicaes e pela evo-
luo das tecnologias em questo.
Deve organizar consultas apropriadas
com as partes envolvidas, tais como
os grupos vulnerveis. Deve fazer re-
comendaes, de acordo com os pro-
cedimentos estatutrios da Unesco,
dirigidas Conferncia Geral, e emi-
tir conselhos relativos implementao
desta Declarao, relativos especial-
mente identificao de prticas que
possam ser contrrias dignidade hu-
mana, tais como intervenes nas c-
lulas germinativas.
Artigo 25
Nada do que est contido nesta De-
clarao pode ser interpretado como
uma possvel justificativa para que
qualquer Estado, grupo ou pessoa se
engaje em qualquer atividade ou rea-
lize qualquer ato contrrio aos direi-
tos humanos e s liberdades funda-
mentais, incluindo, inter alia, os prin-
cpios expostos nesta Declarao.
157
Regina Ribeiro Parizi
Nei Moreira da Silva
Os transplantes
Desde tempos imemoriais, os so-
nhos de eterna juventude e imortalida-
de sempre acompanharam a humani-
dade e alimentaram lendas e mitos.
Assim, quando os primeiros transplan-
tes de rgos obtiveram sucesso, o
imaginrio pareceu tornar-se real. En-
tretanto, ainda que essa tcnica se
constitua numa das mais admirveis
conquistas da cincia, muitas so ain-
da as dificuldades a vencer.
Os transplantes de rgos, hoje
corriqueiros, representam o
coroamento de sculos de aperfeioa-
mento da cirurgia especialmente a
partir do desenvolvimento das tcnicas
de anastomoses vasculares, por Carrez
e Gouthrie, em 1902 e da imunologia
com o conhecimento dos mecanis-
mos de rejeio e o desenvolvimento
de drogas imunossupressoras, culmi-
nando com a introduo da ciclosporina,
por Borel, em 1976.
Uma das primeiras experincias
ocorreu, em 1954, quando David
Transplantes
Hume, no Peter Brent Brigham Hos-
pital, em Boston, obteve sucesso com
um transplante renal, aps uma fracas-
sada tentativa, 7 anos antes, de trans-
plante heterotpico (fora do stio
anatmico normal) de rim. No entan-
to, os transplantes somente adquiriram
grande destaque na mdia quando
Barnard, em dezembro de 1967, na
cidade do Cabo, realizou o primeiro
transplante cardaco, feito esse repeti-
do no Brasil seis meses depois, em So
Paulo, por Zerbini. Nessa poca, em
apenas 15 meses foram realizados 118
transplantes e, para decepo geral,
todos os pacientes estavam mortos em
dezembro de 1969. Houve ento uma
significativa reduo de cirurgias at
que critrios mais rgidos de seleo
de pacientes e o avano obtido nas
tcnicas de cuidados ps-operatrios
intensivos permitissem maior seguran-
a nos transplantes.
Hoje, a demanda mundial por
transplantes est muito acima de sua
capacidade de realizao. Para se ter
uma pequena amostra dessa realida-
de, existem aproximadamente 25 mil
158
pacientes em hemodilise, dos quais
pelo menos 15 mil tm indicao de
transplante. No Brasil, so cerca de 5
mil aguardando por um rim. Em So
Paulo, so 2.600 aguardando por rims,
419 por fgado e 144 por um corao.
Por outro lado, existem no pas 176
instituies realizando transplantes,
concentradas nas regies Sul e Sudes-
te. No ano de 1997 (at setembro in-
clusive) foram realizados 1.456 trans-
plantes de rgos slidos, sendo 1.247
de rim, 49 de corao, 150 de fgado,
1 de pncreas, 8 de pncreas/rim e 1
de pulmo. Quanto aos transplantes de
tecidos, foram 842 no total, sendo 650
de crnea, 185 de medula ssea e 7
de ossos.
Outro fator a ser considerado so
os custos, que j chegaram a at 200
mil dlares para um transplante
cardaco e 400 mil dlares para um
de fgado. Alm disso, no seguimento
aps a cirurgia, os gastos com
ciclosporina podem ficar em torno de
6 mil dlares ano/paciente.
Legislao brasileira
A Lei n 9.434, de 4 de fevereiro de
1997, bem como seu respectivo Decreto
n 2.268, de 30 de junho de 1997, vie-
ram substituir a Lei n 8.489, de 18 de
novembro de 1992 e o Decreto n 879,
de 22 de julho de 1993, introduzindo
modificaes nas normas relativas aos
transplantes, em particular doao pre-
sumida a qual tem provocado um in-
tenso debate tanto na esfera da biotica
quanto na sociedade.
Diversos aspectos relacionados
aos transplantes esto contidos na le-
gislao atual; assim, ela disciplina a
gratuidade da doao, o creden-
ciamento das instituies junto ao
Sistema nico de Sade (SUS) e cri-
trios para a seleo do doador, entre
outros.
A doao de tecidos, rgos e
partes do corpo humano passa a ser
realizada post mortem mediante o
diagnstico de morte enceflica regu-
lamentado pela Resoluo n 1.480/
97, do Conselho Federal de Medicina
(CFM), e o Decreto n 2.268/97, o qual
considera doador toda pessoa que no
manifestou em vida vontade contrria,
devendo gravar em sua Carteira de
Identidade ou Carteira Nacional de
Habilitao a expresso No Doa-
dor de rgos e Tecidos para ga-
rantir efetivamente a sua condio de
no-doador.
A doao em vida, por outro lado,
sofre alteraes na ampliao de seus
critrios pois na legislao anterior (Lei
n 8.489/92) a doao s poderia
ocorrer em caso de parentesco muito
prximo ou com autorizao judicial,
enquanto na lei atualmente em vigor
permitida a qualquer pessoa juridica-
mente capaz, desde que se trate de r-
gos duplos ou partes do corpo huma-
no que no coloquem em risco a vida
ou representem grave comprometimen-
to de sua funes vitais.
vedada a publicidade sobre di-
versos aspectos relacionados aos trans-
plantes de rgos, bem como a pro-
moo de instituies que realizem tal
procedimento, a arrecadao de fun-
dos em benefcio de particulares e o
apelo pblico de doao para deter-
minada pessoa.
As instituies ficam obrigadas
a not i f i car os casos de mort e
159
enceflica s centrais de notificao
existentes em cada unidade da Fede-
rao. Por sua vez, o Decreto n
2.268/97, visando desenvolver o pro-
cesso de captao e distribuio de
tecidos, rgos e partes do corpo
humano, organizando para tanto a
lista nica nacional de receptores,
cria o Sistema Nacional de Trans-
plante SNT, regulamentando as re-
laes e atribuies do Ministrio da
Sade, secretarias estaduais e mu-
nicipais de Sade, instituies hos-
pitalares e redes de servios.
Aos infratores a lei prev, de for-
ma minuciosa, sanes penais e ad-
ministrativas que vo desde o
descredenciamento at a multa e re-
cluso.
O Cdigo de tica Mdica e os
transplantes
O atual Cdigo de tica Mdica,
vigente desde 1988, j possui um ca-
ptulo com quatro artigos disciplinan-
do a questo. Tais artigos vedam ao
mdico, quando pertencente equipe
de transplantes, participar da verifica-
o de morte enceflica, bem como
retirar rgos de interditos ou incapa-
zes. Probem, ainda, ao mdico dei-
xar de esclarecer o doador e o recep-
tor acerca dos riscos envolvidos nos
procedimentos, bem como a comercia-
lizao de rgos humanos. Garante-
se, assim, tanto a iseno do processo
de constatao da morte enceflica
como o esclarecimento necessrio para
o consentimento por parte do doador
e receptor, com respeito autonomia
de cada um.
Perspectivas futuras
A legislao brasileira referente
aos transplantes pode ser considerada
bastante atualizada, tendo em vista
princpios fundamentais que vm
norteando internacionalmente os pa-
ses que realizam tais procedimentos.
No entanto, encerra questes polmi-
cas, tanto do ponto de vista tico como
tcnico.
O principal debate, sem dvida, tem
sido em torno da doao presumida, pois
embora tal medida venha sendo aplica-
da em diversos pases como Austrlia,
Blgica, Frana, Espanha e outros mui-
tos aspectos tm sido motivo de contro-
vrsias, originadas pelas diferenas cul-
turais e de condies estruturais dos sis-
temas e servios de sade de cada loca-
lidade.
No Brasil, tanto a comunidade
cientfica como a opinio pblica di-
videm-se em considerar doador uma
pessoa que no manifestou, de manei-
ra expressa, posio contrria em vida.
Defende-se que a doao sobretudo
um ato de solidariedade e como tal
pressupe informao e conscien-
tizao, com a conseqente sensibi-
lizao para ser efetivada verdadeira-
mente, requisitos esses bastante
questionveis no contexto atual em vis-
ta do grande contingente de analfabe-
tos e semi-alfabetizados na populao
brasileira, que sequer tm acesso aos
registros civis do pas.
A perspectiva que vem se deline-
ando quanto doao que dificil-
mente, sem a anuncia da famlia do
paciente,os profissionais de sade
procedero retirada de rgos e/ou
outros tecidos de pessoa que no se
160
manifestou contrria, mesmo porque
o Brasil tem uma cultura preponderan-
temente crist, onde o ncleo familiar
extremamente valorizado e em cuja
opinio normalmente baseada a con-
duta do profissional, principalmente
diante da falta de autonomia do paci-
ente.
A questo estrutural do sistema de
sade outro fator relevante do deba-
te, uma vez que haver falta de recur-
sos humanos e materiais tanto para o
diagnstico e sustentao da morte
enceflica quanto para a captao,
distribuio e realizao do transplan-
te. Sem dvida, questes estratgicas
vm sendo discutidas: a precariedade
dos servios pblicos e do atendimen-
to de emergncia, a frgil articulao
entre o setor pblico e privado, a bai-
xa remunerao dos honorrios e pro-
cedimentos. Todos esses aspectos, con-
juntamente, podem ser apontados
como os principais responsveis pelo
baixo nmero de transplantes.
Os dados da Associao Brasi-
leira de Transplantes de rgos
ABTO corroboram a tese de que, hoje,
o maior problema dos transplantes no
Brasil est vinculado a uma rede defi-
citria de servios.
A maior disponibilidade de rgos,
portanto, no significar necessariamen-
te um incremento no nmero de trans-
plantes, como ocorreu em outros pases,
e pode, inclusive, resultar em maiores
conflitos ticos j que mesmo se dispon-
do das condies de doador e receptor
no se conseguir efetuar os transplan-
tes porque seu nmero ultrapassa a ca-
pacidade operacional dos centros
transplantadores. Assim, para que real-
mente ocorram mudanas no panora-
ma atual, a aplicao da lei deve ser
efetivada com uma poltica de finan-
ciamento e capacitao de novos cen-
tros.
J no Decreto n 2.268/97 obser-
vamos algumas impropriedades. Inici-
almente, restringir a confirmao da
morte enceflica apenas aos neurolo-
gistas configura-se flagrantemente ile-
gal, pois no pode um decreto limitar
o que a lei no limitou. Ademais do
aspecto jurdico, qual a lgica de no
permitir aos neurocirurgies ou neu-
rologistas infantis, intensivistas,
traumatologistas, etc., igualmente ha-
bituados a lidar com tais situaes, a
confirmao da morte enceflica? Res-
salte-se o fato de que na legislao bra-
sileira um mdico legalmente habilita-
do para o exerccio da profisso pode
executar qualquer ato mdico, respon-
dendo tica, civil e penalmente pelo
que faz, o que caracteriza ainda mais
a incongruncia de se restringir deter-
minado ato a uma nica especialida-
de. Observe-se tambm o reduzido
nmero de neurologistas existentes em
nosso pas (apenas 1.893, segundo
pesquisa realizada pelo CFM), 80% dos
quais radicados na regio Sudeste.
Outro ponto negativo a previ-
so de que o receptor poder assumir
os riscos de receber um rgo doente.
Ou seja, a um paciente angustiado pelo
sofrimento, aguardando ansiosamente
por um rgo sadio, ser oferecida a
hiptese de aceitar um rgo de um
doador com doena transmissvel,
como, por exemplo, AIDS, sfilis, do-
ena de Chagas, etc. Com que auto-
nomia este paciente poder decidir?
luz de que liberdade ele escolher en-
tre uma ou outra doena? Com que
conhecimento decidir se melhor
morrer desta ou daquela doena?
161
Por outro lado, os mdicos tm seus atos
regidos por princpios bioticos, deven-
do observar sobremodo os da
beneficincia e da no-maleficincia, ou
seja, seus atos devem produzir o bem e
no o mal aos seus pacientes. Sob tal
enfoque, como poderia um mdico fa-
zer semelhante oferta a seu paciente ?
A maior liberalidade na doao
intervivos tem tambm suscitado pol-
mica, pois se acredita que a
comercializao de rgos tornar-se-
incontrolvel. Hoje, pela Internet, j
possvel verificar organizaes interna-
cionais fazendo apelos aos centros
transplantadores que disponham de r-
gos para atender aos seus receptores.
Portanto, o cuidado deve ser extremo,
pois estaremos comercializando o direi-
to de vida e morte, embora acreditemos
que essa questo deva ficar dificultada
em funo dos critrios de compatibili-
dade que sero exigidos, os quais res-
tringiro bastante a condio de doa-
dor.
No entanto, h que preponderar
o bom-senso. No futuro, a carncia de
rgos tambm poder ser em parte
sanada pela utilizao de rgos de
origem animal, j havendo promisso-
ras pesquisas com a utilizao de f-
gados e rins de porcos. Recorde-se a
tentativa da utilizao do corao de
babuno em um recm-nascido (Baby
Fae). Considerando-se os rpidos
avanos da Medicina, dentro em pou-
co tal discusso pode estar superada
tanto por causa do Projeto Genoma
como pelo desenvolvimento da com-
patibilidade com rgos provenientes
de animais experincias essas que
sempre trouxeram desafios na rea da
biotica, que por sua vez tem procura-
do no confrontar e sim compatibilizar
princpios fundamentais como os da
autonomia e da solidariedade. Outra
possibilidade ser o emprego de dis-
positivos mecnicos tipo corao ar-
tificial e/ou equipamentos miniatu-
rizados de hemodilise, os quais segu-
ramente sero aperfeioados nos pr-
ximos anos.
Direito comparado
Um nmero considervel de pa-
ses dos diversos continentes apresen-
tam legislao, normas e/ou cdigos
referentes aos transplantes de rgos,
tecidos ou partes do corpo humano,
sendo que a maioria possui regulamen-
tao respeitando os princpios funda-
mentais sobre transplantes humanos,
publicados em 1991 pela Organizao
Mundial da Sade (OMS).
Verifica-se, assim, que grande
parte do continente americano, quase
a totalidade da Europa, parte da fri-
ca e as regies do Mediterrneo Ori-
ental, Pacfico Ocidental e sia
Sudoriental adotaram medidas proibin-
do a comercializao de rgos huma-
nos. Tambm vedada, em boa parte
desses pases, qualquer publicidade
que envolva financiamento, instituies
ou receptores para transplantes, bem
como a participao simultnea de
equipes mdicas no processo de cap-
tao, distribuio e realizao de
transplantes.
A doao intervivos tambm
apresenta uma legislao bastante ho-
mognea entre os pases que permitem
tal procedimento. Nesses, est previs-
ta a doao preferencial entre pa-
rentes prximos ou geneticamente
162
compatveis, como est se adotando
no Brasil. O doador deve receber, do
mdico, todas as informaes sobre
os riscos e benefcios, dando pos-
teriormente seu consentimento ex-
presso.
Em alguns pases, como a Tur-
quia, o consentimento tambm pode
ser verbal, desde que atestado pela
equipe mdica, mas a regra faz-lo
por escrito, desde que maior de 18
anos. As doaes de rgos de crian-
as vivas so autorizadas apenas em
situaes excepcionais nos transplan-
tes de tecidos regenerveis.
A doao post mortem apresenta
uma situao diversa entre os pases,
podendo ser dividida em dois grandes
blocos. Num, esto os pases que exi-
gem uma manifestao expressa em
vida, ou de seus familiares, da condi-
o de doador, como os Estados Uni-
dos, Alemanha, Sucia, Portugal e Tur-
quia, entre outros. Noutro, os pases
que adotam o consentimento presumi-
do, ou seja, doador todo aquele que
no manifestou vontade contrria em
vida, fazem parte dos quais a maioria
dos pases membros do Mercado Co-
mum Europeu, Colmbia e, agora, o
Brasil, entre outros.
Existem variaes na legislao
quanto vontade ser expressa ou no,
tanto na condio de doador como na
de no-doador, mas na maioria dos
pases, em ambas as situaes, a ma-
nifestao da famlia considerada,
podendo inclusive ser determinante,
como o caso da Irlanda. O que se
verifica que mesmo nos pases onde
a legislao no prev consulta fa-
mlia como ustria, Brasil e outros
a tendncia que a equipe mdica a
consulte.
rgos dos vivos ou rgos
dos mortos?
Os transplantes podem ser reali-
zados com rgos de doadores mor-
tos ou vivos, sendo nestes ltimos li-
mitados rgos duplos, sem ameaa
de dano sade do doador. No entan-
to, as duas situaes so palco para
inmeras discusses.
Idealmente, no deveramos utili-
zar rgos de pessoas vivas pois, sem
dvida, a retirada de um rgo hgido
de uma pessoa saudvel no lhe traz
nenhum benefcio. Pelo contrrio, dei-
xa-a numa situao vulnervel, de pas-
sar a dispor de apenas um rgo, que
se lesado no mais ter seu par para
suprir-lhe a funo, ainda que parcial-
mente.
A doao intervivos exige infor-
mao clara ao doador sobre todos os
riscos imediatos e tardios do processo
de doao, a fim de que ele possa exer-
cer sua autonomia de forma
esclarecida. Dessa forma, livre de qual-
quer constrangimento, poder prestar
um gesto de solidariedade de valor in-
calculvel para um seu semelhante, que
no dispe de qualquer outra alterna-
tiva para viver. Essas so as duas ques-
tes fundamentais em relao ao doa-
dor vivo a autonomia e a motivao.
No que diz respeito autono-
mia, h que se discutir a possibilida-
de da utilizao de rgos de deter-
minados grupos populacionais com
reduo da sua autonomia, tais
como menores, prisioneiros, incapa-
zes e recm-natos portadores de
malformaes neurolgicas incom-
patveis com a sobrevida, como o
caso dos anenceflicos.
163
A utilizao de rgos de crian-
as, geralmente em benefcio de irmos
ou outros parentes muito prximos
aceita sem muitas controvrsias pela
sociedade , condicionada ao con-
sentimento dos pais e, em vrios pa-
ses, autorizao judicial. No entan-
to, ser justo que os pais possam dis-
por dos rgos de um filho em benef-
cio de outro? A doao de rgos
um ato irreversvel, sem possibilidade
de arrependimentos ou revises, dife-
rentemente, por exemplo, de uma op-
o religiosa feita pelos pais, que po-
der mais tarde ser modificada pelo
filho. Ao atingir a capacidade de
discernimento este filho poder repu-
diar uma religio e converter-se a ou-
tra, mas nunca poder pleitear a de-
voluo do seu rim doado h mui-
tos anos.
Em relao aos prisioneiros de
qualquer natureza, igualmente no
tico e moralmente justificvel a con-
cesso de benefcios de reduo de
pena e abrandamento das condies
carcerrias como recompensa pela
doao de rgos. Recorde-se que
houveram propostas nesse sentido
quando da regulamentao da ques-
to em nosso pas.
Tal possibilidade nos parece tam-
bm inadequada, pois, em tese, a pena
imposta pela sociedade aos crimino-
sos tem carter educativo, objetivando
tornar aquele cidado ajustado ao con-
vvio social. No pode, portanto, ser
trocada por um rgo, pois assim
estaria a sociedade admitindo o retor-
no ao seu convvio de algum que de-
veria ter sido reeducado e no o foi.
Outro ponto a discutir quanto
utilizao de rgos de fetos
inviveis como, por exemplo, na
anencefalia, uma malformao con-
gnita do sistema nervoso central em
que no se desenvolvem os hemisf-
rios cerebrais, mas na qual o pacien-
te permanece com tronco cerebral
funcionante, mantendo, portanto,
suas funes vitais por dias e at se-
manas. Podemos compar-los a adul-
tos com leso grave dos hemisfrios
cerebrais, sem capacidade de qual-
quer contato com o meio exterior,
mas capazes de regul ar sua
homeostasia graas a persistncia do
funcionamento adequado do tronco
cerebral. Ou seja, adultos em que no
se caracterizando a morte enceflica
no podemos dispor de seus rgos
para tranplantes. Dessa forma, no po-
deramos igualmente dispor dos rgos
dos anenceflicos. Por outro lado, no
tendo se formado nos anenceflicos a
crtex cerebral no teriam eles desen-
volvido nenhuma forma de percep-
o que viesse a propiciar qualquer
atividade consciente? No teriam
tido, em nenhum momento, vida
cerebral? Poderiam, ento, ser
considerados apenas meros bancos
de rgos ?
Um gesto de altrusmo pode
ser pago?
No que diz respeito motivao,
ao lado da solidariedade e do altrus-
mo, h que se discutir a remunerao
ou oferta de vantagens de vrias natu-
rezas aos doadores.
Patel, em 1987, defendeu a re-
munerao dos doadores como um
incentivo quilo que chamou de
presentes de vida. Em 1989, Daar
164
props uma classificao das doa-
es de rgos, incluindo as doaes
remuneradas e as doaes comerciais.
Hoje, em todo o mundo, o comrcio
claro ou velado de rgos uma re-
alidade. Anunciam-se rgos aberta-
mente ou de forma cifrada, num co-
mrcio de partes de seres humanos,
lembrando a escravido onde, po-
rm, as pessoas eram vendidas intei-
ras e no fragmentadas. Em todo o
mundo os pobres vendem rgos
para os ricos, visando minorar sua
misria.
A maioria dos pases probe rigo-
rosamente a venda de rgos, sendo,
no entanto, relativa a eficcia destas
proibies legais. Pensamos que a
maneira mais eficaz de se evitar tal
prtica seja limit-la a parentes prxi-
mos e apenas mediante autorizao
judicial. Poderamos, assim, restringin-
do-a a pessoas com um envolvimento
afetivo, preservar o altrusmo e reduzir
os riscos de comercializao. A legis-
lao brasileira atual (Lei n 9.434, de
fevereiro de 1997, e o Decreto n
2.268, de junho de 1997) suprimiu esta
exigncia, o que, sem dvidas, far
recrudescer entre ns a compra e ven-
da de rgos.
Devem-se mencionar, tambm, as
denncias de obteno de rgos atra-
vs de prticas criminosas, inclusive de
seqestros de crianas e de adultos,
adoes de menores e, mesmo, da exe-
cuo de prisioneiros pr-selecionados.
Tais fatos, dos quais no temos com-
provao, assumem caractersticas to
ignominiosas que no podemos ima-
ginar mdicos envolvidos em tais pr-
ticas.
Quanto aos transplantes a partir
de doadores cadveres, h que se dis-
cutir os critrios empregados na com-
provao da morte e o tipo de consen-
timento para utilizao dos rgos: se
mediante autorizao prvia do doa-
dor, atravs de diversos mecanismos;
se obtida dos familiares, quando da
morte; ou se mediante o consenti-
mento presumido, ou seja, na ausn-
cia em vida de manifestao contr-
ria doao.
A morte enceflica
Hoje, o conceito de morte
enceflica mundialmente aceito pela
comunidade cientfica. Ou seja, ao
invs de se aguardar a parada
cardiorrespiratria e a conseqente
autlise dos orgos, deve-se verificar
a ocorrncia de dano enceflico de
natureza irreversvel que impossibilite
a manuteno das funes vitais; e
quanto ao emprego de recursos de te-
rapia intensiva, garantir a perfuso dos
demais rgos durante um perodo que
possibilite sua utilizao em transplan-
tes. Tais critrios, estabelecidos a par-
tir da dcada de 60, envolvem
parmetros clnicos e, em alguns pa-
ses, inclusive o Brasil, a realizao de
exames complementares que demons-
trem, durante um determinado inter-
valo de tempo, de forma inequvoca, a
parada da circulao ou da atividade
bioeltrica enceflica, situaes que
caracterizam a irreversibilidade do
quadro. Tal matria disciplinada pela
Resoluo CFM n 1.480/97, confor-
me determina a Lei n 9.434/97, que
exige a participao de dois mdicos
no pertencentes equipe de transplan-
tes. Tal exigncia fundamental para
165
que no se exera nenhuma forma de
influncia dos transplantadores sobre
os que verificam a condio que pro-
piciar a retirada dos rgos. A ocor-
rncia de morte enceflica de notifi-
cao compulsria e deve ser feita em
carter de urgncia aos rgos com-
petentes, a fim de possibilitar agilida-
de aos procedimentos, garantindo-se
assim uma maior viabilidade dos r-
gos utilizados.
A doao presumida
realmente uma doao?
Quanto ao carter da doao, a
atual legislao brasileira introduziu o
princpio da doao presumida, pelo
qual, no havendo manifestao em
documentos legais da deciso de no
doar, todos os indivduos so doado-
res. Ou seja, inverte-se o significado
altrusta da doao e passa a vigorar
o princpio da ausncia de negativa
como sinnimo de consentimento. A
doao passa a ser simplesmente a
conseqncia da no renovao de
um documento ou at mesmo do total
desconhecimento da necessidade de
manifestar-se sobre a disponibilidade
ou no dos seus rgos, bem distinta,
portanto, do que vem a ser um gesto
de solidariedade.
Vigente em pases de cultura
anglo-saxnica com viso e costu-
mes diferentes dos nossos, pensa-
mos que o princpio da doao
presumida choca-se com nossa
alma latina, por assemelhar-se
obrigao, o que possivelmente
trar, ao menos de incio, reduo
no nmero de doadores.
A opo pela doao expressa
ou presumida, segundo Veatch e Pitt,
em 1995, est subordinada viso
predominante que a comunidade tem
sobre o direito individual e coletivo e
o papel do Estado. Assim, verifica-se
que nos pases com forte tradio
doutrinria fundamentada no direi-
to propriedade e na individualida-
de do cidado, como nos Estados
Unidos, a doao (propriedade de
dispor ou no de seu corpo) tem que
ser expressa, para que o Estado pos-
sa garantir a vontade ou o direito do
cidado.
Por outro lado, nos pases que
adotaram a doao presumida, euro-
peus principalmente, h predominn-
cia da tese de que os direitos individu-
ais e de propriedade do cidado de-
vem ser preservados desde que no fi-
ram os interesses da coletividade, nos
quais o Estado deve intervir para fazer
prevalecer. No entanto, mesmo nesses
pases h a tendncia de buscar con-
ciliar esses interesses quando se obser-
va a preocupao em certificar-se da
opinio da famlia.
A justificativa para a adoo do
princpio da doao presumida foi
exatamente o baixo ndice de doaes,
com conseqente carncia de rgos
para transplantes ocasionando gran-
des filas de pacientes que aguardam
desesperados por rgos que nunca
chegam, gerando, inclusive, privilegia-
mento dos pacientes mais ricos.
Pensamos que no so estas nem
as verdadeiras causas da insuficincia
de transplantes em nosso meio nem a
melhor soluo para o problema. Na
verdade, a baixa oferta de transplan-
tes em nosso pas apenas uma parti-
cularidade da ineficincia do sistema
166
de sade em atender s necessidades
da populao, desde os cuidados b-
sicos at os procedimentos de maior
complexidade e alto custo, como o caso
de quimioterapia para cncer, trata-
mento da AIDS, exames sofisticados e
os transplantes. Assim, sem que se re-
solva essa questo estrutural do siste-
ma, nada funcionar adequadamente
na sade no pas, at mesmo a polti-
ca de transplantes, qualquer que seja
a natureza da doao preconizada em
lei. A experincia de outros pases, in-
clusive de culturas bastante diferentes
da nossa, demonstram que uma
melhoria dos ndices de transplantes
depende mais de uma adequada es-
trutura do que de uma ilusria
superoferta de rgos almejada pela
doao presumida. Na prtica, conti-
nuam os mdicos a procurar obter al-
gum tipo de autorizao familiar para
a retirada dos rgos.
Defendemos o princpio da doa-
o consentida (haver outra manei-
ra de doar algo que no com o con-
sentimento expresso?) associado a
grandes e permanentes campanhas de
divulgao junto populao, ao lado
da reestruturao do sistema de sa-
de, adequando-o s necessidades da
populao brasileira. necessrio que
o governo federal assuma suas respon-
sabilidades de grande financiador da
sade (pois o grande arrecadador de
impostos) e viabil ize a efetiva
implementao do SUS dentro dos
princpios constitucionais e das leis
regulamentadoras, vigentes j h qua-
se uma dcada e, na prtica, ignora-
das pelos governantes.
Bibliografia
Argentina. Decree n 512 of 10 April
1995, laying down regulations for the
implementation of law n 24193 of 24
March 1993 on the transplantation of
organs and anatomical materials.
Boletin Oficial de la Repblica Argenti-
na, Secti on 1, 17 Apri l 1995.
International Digest of Health Legislation
1996;47:461-2.
Bailey L. Organ transplantation: a
paradigm oh medical progress. Hastings
Cent Rep 1990;20(1):24-8.
Brasil. Decreto n 879, de 22 de julho de
1993. Regulamenta a Lei n 8.489, de 18
de novembro de 1992, que dispe sobre
a retirada e o transplante de tecidos, r-
gos e partes do corpo humano, com fins
teraputicos, cientficos e humanitrios.
Dirio Oficial da Unio, Braslia, n. 139,
p. 10298, 23 jul 1993. Seo 1.
Brasil. Decreto n 2.268, de 30 de ju-
nho de 1997. Regulamenta a Lei n
9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que
dispe sobre a remoo de rgos, teci-
dos e partes do corpo humano para fins
de transplante e tratamento, e d ou-
tras providncias. Dirio Oficial da
Unio, Braslia, n. 123, p. 13739, 1 jul
1997. Seo 1.
Brasil. Lei n 8.489, de 18 de novem-
bro de 1992. Dispe sobre a retirada e
transplante de tecidos, rgos e partes
do corpo humano com fins teraputicos
e cientficos, e d outras providncias.
Dirio Oficial da Unio, Braslia, n. 223,
20 nov 1992. Seo 1.
Brasil. Lei n 9.434, de 4 de fevereiro de
1997. Dispe sobre a remoo de rgos,
tecidos e partes do corpo humano para
fins de transplante, e d outras providn-
cias. Dirio Oficial da Unio, Braslia, n.
25, p. 2191-3, 5 fev 1997. Seo 1.
Cabrol C. Transplantes y donacin de
rganos. Foro Mundial de la Salud
1995;16:210-211.
167
Canada. Manitoba. The human tissue
act, chapter 39. Date to assent: 17 July
1987. Acts of the Legisl ature od
Manitoba, 1987-88, pp. 345-357.
International Digest of Health Legislation
1990;41:251-5.
Canada. New Brunswick. An act,
chapter 44, to amend the human tissue
act. Date to assent: 18 June 1986. Acts
of New Brunswi ck, 1986, 2 pp.
International Digest of Health Legislation
1990;41:255.
Chaves A. Direito vida e ao prprio
corpo. So Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1986.
Counci l of Europe. Organ
transplantation. Conference of European
Health Ministers; 1987 Nov 16-17; Pa-
ris. Strasbourg: Council of Europe,
1987.
Denmark. Law n 402 of 13 June 1990
on the examination of cadavers, autop-
sies and transplantation. Lovtidende,
1990, 14 June 1990, n 63, pp. 1331-
1334. International Digest of Health
Legislation 1991;42:30-2.
Dickens BM. Tendencias actuales de la
biotica en el Canad. Bol Of Sanit
Panam 1990;108:524-30.
Finland. Law n 780 of 25 August 1994
amending section 11 of the law on the
removal of human organs and tissues
for medi cal purposes. Fi nl ands
Frfattningssamting, 31 August 1994, n
780-788, p. 2383. International Digest
of Health Legislation 1995;46:33.
Fluss SS. Comercio de rganos huma-
nos: reaccin internacional. Foro Mun-
dial de la Salud 1991;12:325-8.
France. Decree n 90.845 of 24
September 1990 on activities realting to
organ transplantation that require
immunosuppressive treatment. Journal
Officiel de la Rpublique Franaise, Lois
et Dcrets, 25 September 1990, n 222,
pp. 11607-11608. International Digest
of Health Legislation. 1991;42:650-1.
France. Decree n 94.870 of 10 October
1994 on the french transplantation
establishment, and amending the public
health code, second part: decrees made
after conculting the Conseil dtat.
Journal Officiel de la Rpublique
Franaise, Lois et Dcrets, 11 October
1994, n 236, pp. 14375-14379.
International Digest of Health Legislation
1995;46:33-4.
France. Decree n 96.327 of 16 April
1996 on the import and export of
organs, tissues, and cells of human body,
with the exception of gametes and
amending the public health cade.
Second part: decrees made after
consulting the Conseil dtat. Journal
Officiel de la Rpublique Franaise, Lois
et Dcrets, 18 April 1996, n 92, pp.
5954-5957. International Digest of
Health Legislation 1996;47:331-7.
France. Law n 94.654 of 29 July 1994
on the donation and use of elements and
products of the human body, medically
assisted procreation, and prenatal
di agnosi s. Journal Offi ci el de l a
Rpublique Franaise, Lois et Dcrets,
30 July 1994, n 175, pp. 1160-1168.
International Digest of Health Legislation
1994;45:473-82.
France. Order of 24 September 1990 on
the contents of the dossier for applying
for an authorization to undertale organ
transplantations. Journal Officiel de la
Rpublique Franaise, Lois et Dcrets,
25 September 1990, n 222, p. 11608.
International Digest of Health Legislation
1991;42:652.
France. Order of 24 September 1990 on
the management aand financing of the
list of patient awaiting transplantation.
Journal Officiel de la Rpublique
Franaise, Lois et Dcrets, 25 September
1990, n 222, p. 11610. International
Di gest of Heal th Legi sl ati on
1991,42:653.
France. Order of 24 September 1990 on
the procedures for the evaluation of
organ transplantation activities. Journal
Officiel de la Rpublique Franaise, Lois
168
et Dcrets, 25 September 1990, n 222,
pp. 11608-11609. International Digest
of Health Legislation 1991,42:652.
Garrafa V, Berlinguer G. A ltima mer-
cadoria: a compra, a venda e o aluguel
de partes do corpo humano. Humani-
dades 1993;8:315-27.
Garrafa V. O mercado de estruturas hu-
manas; A soft human market. Biotica
1993;1:115-23.
Garrafa V. Resposta ao mercado huma-
no. Rev Ass Med Brasil 1995;41(1):67-76
Garrafa V. Usos e abusos do corpo hu-
mano. Sade em Debate 1992;36:24-9.
India. An act, n 42 of 1994, to provide
for the regulation of removal, storage and
transplantation of human organs for
therapeutic purposes and for the
prevetion of commercial dealings in
human organs and for matters connected
therewic or incidental thereto. Date of
assent by the president: 8 July 1994. The
transplantation of human organs act,
1994. International Digest of Health
Legislation 1995;1:34-8.
Italy. Basilicata. Regional law n 5 of
10 February 1992 promul gati ng
measures for the promotion of organ
transplantation in Italy. Bollettino
Ufficiale della Basilicata, 16 February
1992, n 7; La Legislazione Italiana, 1992,
vol. 49, p. 194. International Digest of
Health Legislation 1994; 45:320.
Italy. Decree n 694 of 9 November 1994
of the Presi dent of the Republ i c
promulgating regulations laying down
provisions governing the simplification of
the authori zati on procedure for
transplants. Gazzetta Ufficiale della
Republica Italiana, 21 December 1994,
n 297. International Digest of Health
Legislation 1995;46:477-8.
Italy. Law n 198 of 13 July 1990
regulating the removal of parts of
cadavers for purposes of therapeutic
transplantation. Gazzetta Ufficiale della
Republica Italiana, part I, 25 July 1990,
n 172, p. 3. International Digest of
Health Legislation 1991;42:448-449.
Italy. Law n 301 of 12 August 1993
promulgating rules on the removal and
transplantation of corneas. Gazzetta
Ufficiale della Republique Italiana, 17
August 1993, n 192, p.3. International
Di gest of Heal th Legi sl ati on
1994;45:319.
Italy. Sardina. Regional Law n 8 of 3
February 1993 laying down provisions
supplementing regional law n 3 of 8
January 1988 regulating the removal
and transplatation of human organs and
tissues. Ragiusan, April 1993, n 107,
pp. 162-164. International Digest of
Health Legislation 1994;45:320.
Lienhar A, Luciani J, Maroudy D,
Haer tig A, Frantz Ph, Kuss R et all.
Incidence de la loi caillavet sur les
prlvements d organes. Le Concours
Mdical; 9(03085):107-10.
Mexico. Decree of 11 June 1991
amendi ng and repeal i ng vari ous
provisions of the general law on health.
Diario Oficial de la Federacin, 14 June
1991, n 11, pp. 27-40; corrigendum,
i bi d., 12 Jul y 1991, pp. 18-19.
International Digest of Health Legislation
1992;43:704-12.
Mexico. Technical rules n 323 of 8
November 1988 on the donation of
humanorgans and tissues for therapeutic
purposes. Di ari o Ofi ci al de l a
Federacin, 14 November 1988, n 10,
pp. 35-40. International Digest of Health
Legislation 1994;45:320.
Portugal. Decree-Law n 244/94 of 26
September 1994. Dirio da Repblica,
part I-A, 26 September 1994, o. 223,
pp. 5780-5782. International Digest of
Health Legislation 1995;46:38-9.
Russian Federation. Law of 22 December
1992 of the russian federation on the
transplantation of human organs and/
or tissues. Dated 22 December 1992.
International Digest of Health Legislation
1993;44:239-42.
169
Russian Federation. Resolution of 22
December 1992 of the supreme soviete
of the russian federation on the entry into
force of the law of the russian federation
on the transplantation of human organs
and/or tissues. International Digest of
Health Legislation 1993;44:243.
Spain. Murcia. Order of 20 March 1991
of the office of the councellor for health
on the authorization of centres for
reneval and transplation opf human
organs and tissues in the autonomous
community of the region of murcia.
Boletn Oficial del Ministerio de Sanidad
y Consumo, April-June 1991, n 34, pp.
1126-7.
Spinsanti S. tica biomdica. So Pau-
lo: Edies Paulinas, 1990.
Sweden. Law n 831 of June 1995 on
transpl antati on, etc. Svenk
frfattningssamling, 1995, 22 June
1995, 4pp. International Digest of
Health Legislation 1996;47:28-30.
Swi tzerl and. Geneva. Law of 16
September 1988 on the determination
of death and interventions on human
cadavers. Recueil authentique des lois
et actes du governement de l a
Rpublique et canton de Gneve,
November 1988, n 11, pp. 864-870.
International Digest of Health Legislation
1990;41:68
United Kingdon. An act, chapter 31, to
prohibit commercial dealings in human
intended for transplanting; to restrict the
transplanting to such organs between
persons who are not genetically reealted;
and for suppl ementary purposes
connected with those matters. Date to
assent: 27 July 1989. The Human Organ
Transplant Act 1989. International Digest
of Health Legislation 1989;40:840-1.
United Kingdon. General Medical
Counci l i ssues statement on
transplantation of organs from live
donors. International Digest of Health
Legislation 1993;44:370-6.
United Kingdon. Isle of Man. An act,
chapter n 3, to prohibit commercial
dealings in human organs intended for
transpl antati ng; to prohi bi t the
transplantating of such organs between
persons who are not genetically realted;
and for connected purposes. Dated 16
March 1993. The human organs
transplants acts 1993. International
Di gest of Heal th Legi sl ati on
1996;47:169-70.
United States of America. California.
The uniform anatomical gift act. Wests
Annotated California Codes, Health and
Safety Code, vol. 39, sections 4600 to
9999 (1991 Cumulative Pocket part), pp.
55-64. International Digest of Health
Legislation 1992;43:52-9.
United States. Public law 98-507:
national organ transplant act. In:
Mathiev D, editor. Organ substitution
techonology: ethical, legal and public
policy issues. Boulder: Westview, c1988:
309-16.
Veatch RM, Pitt JB. The myth of
presumed consent: ethical problems in
new organ procurement strategies.
Transpl Proc 1995;27:1888-92.
World Health Organization. Human organ
transplantation: a report on developments
under the auspices of WHO 1987-1991.
Geneva: WHO, 1991.
170
171
Leonard M. Martin, C.Ss.R
Eutansia e Distansia
Introduo
O compromisso com a defesa da
dignidade da vida humana, na grande
maioria dos casos, parece ser a preo-
cupao comum que une as pessoas
situadas nos diversos lados da dis-
cusso sobre eutansia e distansia.
Este fato importante porque indica
que as discordncias ocorrem mais em
relao aos meios a utilizar do que em
relao ao fim desejado. Isto no sig-
nifica que h consenso sobre o que se
entende por compromisso com a de-
fesa da dignidade da vida humana,
mas possuir clareza sobre a tarefa em
mos seja esclarecimento dos fins al-
mejados, seja esclarecimento dos meios
s pode ajudar na busca de uma ti-
ca que respeite a verdade da condi-
o humana e aquilo que bom e cor-
reto nos momentos concretos da vida
e da morte.
Neste captulo, portanto, nosso
objetivo modesto. No pretendemos
resolver todos os problemas que a di-
nmica da tenso entre a eutansia e
a distansia levanta. Pretendemos,
sim, contribuir para um maior escla-
recimento sobre o que significa falar
acerca de uma morte digna e sobre os
meios ticos necessrios para alcan-
ar este fim. Nesta busca de compre-
enso, o grande instrumento a nosso
dispor a linguagem e a identificao
de palavras cujas referncias so apro-
priadas nos contextos onde so utili-
zadas. Assim, podemos descobrir com
mais segurana aquilo que bom,
compreender melhor aquilo que fra-
queza e desmascarar sem medo aqui-
lo que maldade humana.
A estratgia que propomos seguir
em nossa reflexo , primeiro, tentar
identificar os problemas que a eutan-
sia e a distansia querem resolver. O
sofrimento no fim da vida um dos
grandes desafios, que assume novos
contornos neste fim de milnio diante
da medicalizao da morte e do poder
que as novas tecnologias do profis-
so mdica para abreviar ou prolongar
o processo de morrer. Qualidade e quan-
tidade de vida na fase terminal da exis-
tncia humana assumem conotaes
172
insuspeitadas h cinqenta ou cem
anos. Esta situao complica-se ain-
da mais diante das mudanas
verificadas no estilo de praticar a me-
dicina. No Brasil, pode-se detectar pelo
menos trs paradigmas da prtica m-
dica: o paradigma tecnocientfico, o
paradigma comercial-empresarial e o
paradigma da benignidade humanit-
ria e solidria, cada qual com suas
prioridades e estratgias diante do do-
ente terminal e da problemtica do seu
sofrimento.
O segundo ponto que pretende-
mos abordar a situao muitas ve-
zes chamada de eutansia social. Su-
gerimos que este conjunto de situaes
melhor caracterizado pelo termo
mistansia, a morte miservel, fora e
antes da hora. A eutansia, pelo me-
nos em sua inteno, quer ser uma
morte boa, suave, indolor, enquanto a
situao chamada eutansia social
nada tem de boa, suave ou indolor.
Dentro da grande categoria de
mistansia quero focalizar trs situa-
es: primeiro, a grande massa de do-
entes e deficientes que, por motivos
polticos, sociais e econmicos, no
chegam a ser pacientes, pois no con-
seguem ingressar efetivamente no sis-
tema de atendimento mdico; segun-
do, os doentes que conseguem ser pa-
cientes para, em seguida, se tornar v-
timas de erro mdico e, terceiro, os pa-
cientes que acabam sendo vtimas de
m-prtica por motivos econmicos,
cientficos ou sociopol ticos. A
mistansia uma categoria que nos
permite levar a srio o fenmeno da
maldade humana.
O terceiro ponto que queremos
aprofundar a eutansia propriamen-
te dita, um ato mdico que tem por fi-
nalidade acabar com a dor e a indig-
nidade na doena crnica e no mor-
rer, eliminando o portador da dor. O
debate sobre o sentido deste termo
gera, s vezes, mais calor que ilumi-
nao mas importante que as pesso-
as percebam com clareza o que esto
aprovando e o que esto condenando.
Nosso quarto ponto um esfor-
o para mostrar que rejeitar a euta-
nsia no significa necessariamente
cair no outro extremo, a distansia,
onde a tecnologia mdica usada
para prolongar penosa e inutilmente
o processo de agonizar e morrer.
Mais uma vez, neste caso, a clareza
terminolgica indispensvel para
fundamentar juzos ticos consisten-
tes.
Nosso quinto ponto, trabalhando
com o conceito de sade como bem-
estar, procura mostrar que no preci-
samos apelar nem para a eutansia
nem para a distansia para garantir a
dignidade no morrer. Nossa tese final
ser que a ortotansia, que procura
respeitar o bem-estar global da pessoa,
abre pistas para as pessoas de boa
vontade garantirem, para todos, dig-
nidade no seu viver e no seu morrer.
Os problemas que a eutansia
e a distansia querem resolver
A eutansia e a distansia, como
procedimentos mdicos, tm em co-
mum a preocupao com a morte do
ser humano e a maneira mais adequa-
da de lidar com isso. Enquanto a euta-
nsia se preocupa prioritariamente com
a qualidade da vida humana na sua fase
final eliminando o sofrimento , a
173
distansia se dedica a prolongar ao m-
ximo a quantidade de vida humana,
combatendo a morte como o grande e
ltimo inimigo.
Estas caracterizaes iniciais da
eutansia e da distansia, apontando
para os valores que querem proteger,
podem servir de ponto de partida para
nossa discusso.
A primeira grande questo para
ambas a morte do ser humano e o
sentido que esta morte apresenta, prin-
cipalmente quando acompanhada de
fortes dores e sofrimento psquico e
espiritual. At um momento relativa-
mente recente na histria da humani-
dade, a chamada morte natural por
velhice ou doena simplesmente fazia
parte da vida e, em grande parte, fu-
gia do nosso controle. A morte violen-
ta, por outro lado, vem sendo aperfei-
oada pela maldade humana durante
sculos e j alcanou requintes de per-
versidade e capacidade de mortanda-
de em massa jamais sonhados no pas-
sado. Muitos dos receios que surgem
na discusso sobre eutansia e
distansia refletem a conscincia que
se tem de tanta violncia e, no contex-
to da medicalizao da morte, so re-
sultado do crescente poder moderno
sobre os processos ligados com a cha-
mada morte natural e o espectro da
mo curadora do mdico se transfor-
mar em mo assassina.
Diante destas ambigidades, para
maior clareza na discusso, parece-me
oportuno distinguir entre a morte
provocada que acontece num contex-
to teraputico sob a superviso de pes-
soal mdico devidamente habilitado e
todas as outras formas de morte vio-
lenta, sejam acidentais, sejam propo-
sitais. Esta distino nos proporciona-
r uma maior preciso terminolgica
e maior segurana nas decises que
precisam ser tomadas, seja como mem-
bro da equipe mdica, seja como pa-
ciente, familiar ou responsvel legal.
No perodo pr-moderno, o m-
dico e a sociedade estavam bastante
conscientes de suas limitaes diante
das doenas graves e da morte. Mui-
tas vezes, o papel do mdico no era
curar, mas sim acompanhar o pacien-
te nas fases avanadas de sua enfer-
midade, aliviando-lhe a dor e tornan-
do o mais confortvel possvel a
vivncia dos seus ltimos dias. De
modo geral, o mdico era uma figura
paterna, um profissional liberal, num
relacionamento personalizado com seu
paciente, muitas vezes um velho co-
nhecido. Os ritos mdicos foram acom-
panhados de ritos religiosos e tanto o
mdico como o padre tornaram-se
parceiros na tarefa de garantir para a
pessoa uma morte tranqila e feliz.
Com a modernizao da medici-
na, novos estilos de praticar a cincia
e novas atitudes e abordagens diante
da morte e do doente terminal emergi-
ram. O paradigma tecnocientfico da
medicina se orgulha, com bastante ra-
zo, diante dos significativos avanos
obtidos nos ltimos cem anos nas ci-
ncias e na tecnologia biomdica. Atu-
almente, doenas e feridas antigamen-
te letais so curveis desde que tenham
tratamento adequado. O orgulho, po-
rm, facilmente se transforma em ar-
rogncia e a morte, ao invs de ser o
desfecho natural da vida, transforma-
se num inimigo a ser vencido ou numa
presena incmoda a ser escondida.
Outro paradigma da moder-
nidade, bastante ligado aos desenvol-
vimentos tecnolgico e cientfico, o
174
paradigma comercial-empresarial. O
advent o da t ecnol ogi a, novos
frmacos e equipamentos sofistica-
dos tem um preo, e s vezes bem
alto. Este fato deu margem para a
evoluo de um estilo de medicina
onde o mdico deixa de ser um pro-
fissional liberal e se torna um funcio-
nrio, nem sempre bem pago, que
atua no contexto de uma empresa
hospitalar. Principalmente no setor
privado, a capacidade do doente ter-
minal pagar a conta, e no o diag-
nstico, o que determina sua ad-
misso como paciente e o tratamen-
to a ser subseqentemente emprega-
do. J que, nesta perspectiva, o fator
econmico predomina, o poder
aquisitivo do fregus, mais que a sa-
bedoria mdica, que determina o
procedimento teraputico a infiltra-
o desta mentalidade nota-se mes-
mo nos grandes centros de atendi-
mento mdico mantidos pelos cofres
pblicos.
Um terceiro paradigma da me-
dicina, o paradigma da benignidade
humanitria e solidria, reconhecen-
do os benefcios da tecnologia e da
cincia e a necessidade de uma boa
administrao econmica dos servi-
os de sade, procura resistir aos ex-
cessos dos outros dois paradigmas e
colocar o ser humano como o valor
fundamental e central na sua viso
da medicina a servio da sade, des-
de a concepo at a morte. Este
paradigma rejeita a mistansia em
todas as formas, questiona os que
apel am para a eut ansi a e a
distansia e, num esprito de benig-
nidade humanitria e solidria,
procura promover nas suas prti-
cas j unt o ao mor i bundo a
ortotansia, a morte digna e huma-
na na hora certa.
Um outro problema que tem um
grande peso na discusso sobre euta-
nsia e distansia a definio do
momento da morte. Em muitos casos,
no h nenhuma dvida sobre o bito
do paciente e o fato aceito sem con-
testao tanto pela equipe mdica
como pela famlia. H outros casos,
porm, bastante polmicos. A utiliza-
o de tecnologia sofisticada que per-
mite suporte avanado da vida levan-
ta a questo de quando iniciar e quan-
do interromper o uso de tal recurso. A
crescente aceitao da constatao de
morte enceflica como critrio para
declarar uma pessoa morta decisiva
no somente em casos onde se preci-
sa liberar o corpo para enterro, mas,
tambm, para liber-lo como fonte de
rgos para transplante.
A mistansia: a eutansia
social
Uma frase freqentemente utiliza-
da eutansia social. No entanto, con-
sidero ser este um uso totalmente
inapropriado da palavra eutansia e,
assim, deve ser substitudo pelo uso do
termo mistansia: a morte miservel
fora e antes do seu tempo. A eutan-
sia, tanto em sua origem etimolgica
(boa morte) como em sua inteno,
quer ser um ato de misericrdia, quer
propiciar ao doente que est sofrendo
uma morte boa, suave e indolor. As
situaes a que se referem os termos
eutansia social e mistansia, porm,
no tm nada de boas, suaves nem
indolores.
175
Mistansia em doentes e deficien-
tes que no chegam a ser pacientes
Na Amrica Latina, de modo ge-
ral , a forma mais comum de
mistansia a omisso de socorro es-
trutural que atinge milhes de doentes
durante sua vida inteira e no apenas
nas fases avanadas e terminais de
suas enfermidades. A ausncia ou a
precariedade de servios de atendi-
mento mdico, em muitos lugares, ga-
rante que pessoas com deficincias f-
sicas ou mentais ou com doenas que
poderiam ser tratadas morram antes da
hora, padecendo enquanto vivem do-
res e sofrimentos em princpio evit-
veis.
Fatores geogrficos, sociais, pol-
ticos e econmicos juntam-se para es-
palhar pelo nosso continente a morte
miservel e precoce de crianas, jo-
vens, adultos e ancios: a chamada
eutansia social, mais corretamente
denominada mistansia. A fome, con-
dies de moradia precrias, falta de
gua limpa, desemprego ou condies
de trabalho massacrantes, entre outros
fatores, contribuem para espalhar a
falta de sade e uma cultura excludente
e mortfera.
precisamente a complexidade
das causas desta situao que gera na
sociedade um certo sentimento de im-
potncia propcio propagao da
mentalidade salve-se quem puder.
Planos de sade particulares para
quem tem condies de pagar e o ape-
lo s medicinas alternativas tradicio-
nais e novas por parte do rico e do
pobre, igualmente, so dados sintom-
ticos de um mal-estar na sociedade
diante da ausncia de servios de sa-
de em muitos l ugares e do
sucateamento dos servios pblicos e
da elitizao dos servios particulares
em outros. Numa sociedade onde re-
cursos financeiros considerveis no
conseguem garantir qualidade no aten-
dimento, a grande e mais urgente ques-
to tica que se levanta diante do do-
ente pobre na fase avanada de sua
enfermidade no a eutansia, nem a
distansia, destinos reservados para
doentes que conseguem quebrar as
barreiras de excluso e tornar-se paci-
entes, mas, sim, a mistansia, destino
reservado para os jogados nos quar-
tos escuros e apertados das favelas ou
nos espaos mais arejados, embora
no necessariamente menos poludos,
embaixo das pontes das nossas gran-
des cidades.
Mistansia por omisso , sem
dvida, a forma de mistansia mais
espalhada no chamado Terceiro Mun-
do. H, porm, formas de mistansia
ativa que merecem breve comentrio
tanto por causa de sua importncia
histrica como da tendncia de con-
fundi-las com eutansia.
A poltica nazista de purificao
racial , baseada numa cincia
ideologizada, um bom exemplo da
aliana entre a poltica e as cincias
biomdicas a servio da mistansia.
Pessoas consideradas defeituosas ou
indesejveis foram sistematicamente
eliminadas: doentes mentais, homos-
sexuais, ciganos, judeus. Pessoas en-
quadradas nestas categorias no pre-
cisavam ser doentes terminais para
serem consideradas candidatas ao ex-
termnio. Pode-se argumentar, tam-
bm, que o uso de injeo letal em exe-
cues nos Estados Unidos, principal-
mente se a aplicao for feita por pes-
soal mdico qualificado, um abuso
176
da cincia mdica que constitui
mistansia e, de fato, um tipo de m
prtica condenado pelo Cdigo [Bra-
sileiro] de tica Mdica (elaborado em
1988), no seu artigo 54.
Os campos de concentrao, com
grande quantidade de cobaias huma-
nas disposio, favoreceram outro tipo
de mistansia ativa. Em nome da cin-
cia, foram realizadas experincias em
seres humanos que em nada respeita-
vam nem a integridade fsica nem o
direito vida dos participantes. Assim,
seres humanos foram transformados
em cobaias descartveis.
O Brasil no est margem da
forte reao mundial a este tipo de
comportamento. A Resoluo n 196/
96, do Conselho Nacional de Sade,
adota uma srie de medidas para ga-
rantir a integridade e a dignidade de
seres humanos que participam em ex-
perincias cientficas. A resoluo exi-
ge, nesta situao, cuidados especiais
para defender os interesses de grupos
vulnerveis. O Cdigo de tica Mdi-
ca comunga com esta mesma preo-
cupao quando, atentando para um
grupo vulnervel especfico, o paciente
crnico ou terminal, probe explicitamen-
te, em seu artigo 130, experincias sem
utilidade para o mesmo, com a inteno
de no lhe impor sofrimentos adicionais.
Mistansia em pacientes vtimas de
erro mdico
Um outro tipo de situao
mistansica que nos preocupa aquela
dos doentes que conseguem ser admi-
tidos como pacientes, seja em consul-
trios particulares, em postos de sa-
de ou em hospitais, para, em seguida,
se tornarem vtimas de erro mdico.
O Cdigo de tica Mdica (1988)
fala de trs tipos de erro mdico: de
impercia, de imprudncia e de negli-
gncia (artigo 29). Nossa inteno aqui
apenas apontar alguns destes erros
que surgem no caso do paciente cr-
nico ou terminal e que constituem
mistansia.
Um exemplo de mistansia por
impercia quando o mdico deixa de
diagnosticar em tempo uma doena
que poderia ter sido tratada e curada
porque ele descuidou da sua atualiza-
o e da sua formao continuada
(conforme o art. 5 do Cdigo). A im-
percia do mdico por desatualizao
condena o paciente a uma morte do-
lorosa e precoce.
Outra forma de mistansia por
impercia a equipe mdica deixar
de tratar adequadamente a dor do
paciente crnico ou terminal por fal-
ta de conhecimento dos avanos na
rea de analgesia e cuidado da dor,
principalmente quando este conhe-
cimento for de acesso relativamente
fcil. A falta de habilidade nesta rea
pode significar, para o paciente, uma
morte desfigurada por dor desneces-
sria.
A mistansia como resultado da
imprudncia mdica pode ser aponta-
da em vrios casos.
Principalmente quando o mdico
for adepto da medicina curativa e no
v muito sentido em perder tempo com
pacientes desenganados, ele pode cor-
rer o risco de prescrever tratamento ou
outros procedimentos sem exame di-
reto do paciente (postura condenada
pelo artigo 62 do Cdigo). Esta atitu-
de talvez poupe o tempo do mdico,
mas expe o doente a risco de terapia
paliativa inadequada e sofrimento des-
177
necessrio, ambos caractersticas tpi-
cas da mistansia.
Outra forma de imprudncia que
pode levar a resultados mistansicos
o profissional de sade efetuar qual-
quer procedimento mdico sem o es-
clarecimento e o consentimento prvi-
os do paciente, s porque crnico ou
terminal. Deixando de lado os casos
previstos nos artigos 46 e 56 do Cdi-
go (apelo ao responsvel legal e imi-
nente perigo de vida), a imprudncia
em desconsiderar a autonomia do pa-
ciente crnico e terminal pode provo-
car um mal-estar mental e espiritual
devido perda sensvel de controle
sobre sua vida, tornando miservel e
mistansico o processo de morrer. O
direito de saber e o direito de decidir
no so direitos absolutos, mas o res-
peito por eles no contexto de parceria
entre o doente e a equipe mdica certa-
mente elemento fundamental na pro-
moo do bem-estar global do paciente
em fase avanada ou terminal de sua do-
ena.
Mistansia por negligncia tam-
bm surge para ameaar o doente que
consegue se transformar em paciente.
Sem levar em considerao os
casos de mistansia que atingem os
doentes que no tm acesso a servi-
os de atendimento mdico e que mor-
rem antes da hora devido omisso
de socorro estrutural, queremos aqui
apontar a mistansia provocada por
omisso de socorro na relao mdi-
co-paciente j estabelecida ou pelo
abandono do paciente.
verdade que casos de neglign-
cia que provocam danos ao paciente
crnico ou terminal, aumentando seu
sofrimento e tornando mais miservel
sua morte, podem ser fruto de pregui-
a ou desinteresse por parte do mdi-
co e tais casos, certamente, so repro-
vveis. No seria justo, porm, jogar a
culpa por toda a negligncia nas cos-
tas do mdico como indivduo, j que
muitas vezes a negligncia fruto de
cansao e sobrecarga de servios de-
vido s condies de trabalho impos-
tas a muitos profissionais em hospitais
e postos de sade.
Sem desmerecer estas considera-
es, importante apontar duas for-
mas de mistansia por negligncia
onde o mdico precisa se responsabi-
lizar e que o atual Cdigo de tica
Mdica procura evitar: a omisso de
tratamento e o abandono do paciente
crnico ou terminal sem motivo justo.
No se contesta que o mdico tem,
at certo ponto, o direito de escolher
seus pacientes e ele no obrigado a
atender a qualquer um, indiscrimi-
nadamente (conforme o artigo 7 do
Cdigo). Este direito, porm, como tan-
tos outros, no absoluto. limitado
pela clusula, no mesmo artigo, salvo
na ausncia de outro mdico, em ca-
sos de urgncia, ou quando sua nega-
tiva possa trazer danos irreversveis ao
paciente. O princpio de beneficncia
e o apelo solidariedade humana neste
caso pesam mais que o princpio da
autonomia do mdico. O Cdigo re-
fora esta posio no artigo 58 quan-
do veda ao mdico deixar de atender
paciente que procure seus cuidados
profissionais em caso de urgncia,
quando no haja outro mdico ou ser-
vio mdico em condies de faz-lo.
O mdico que na ausncia de outro se
omite em casos de urgncia ou que,
pela inrcia, causa danos irreversveis
ao paciente, precipitando uma morte
precoce e/ou dolorosa, responsvel
178
por uma negligncia que constitui no
apenas um erro culposo mas, tambm,
uma situao mistansica.
Se esta posio vlida para os
pacientes de modo geral, aplica-se de
modo especial ao paciente crnico e
terminal e o Cdigo se esfora para
indicar precisamente isso quando tra-
ta especificamente do problema do
abandono do paciente.
Alm dos artigos 36 e 37 que ve-
dam ao mdico abandonar planto e
pacientes de modo geral, h um artigo
que trata especificamente da proble-
mtica do abandono do paciente cr-
nico e terminal, o artigo 61. A posio
fundamental assumida que veda-
do ao mdico abandonar paciente
sob seus cuidados. As excees so
regulamentadas por dois pargrafos
explicativos. O 1 estabelece o pro-
cedimento a seguir quando o mdico
considera que no h mais condies
para continuar dando assistncia:
Ocorrendo fatos que, a seu critrio,
prejudiquem o bom relacionamento
com o paciente ou o pleno desempe-
nho profissional, o mdico tem o di-
reito de renunciar ao atendimento, des-
de que comunique previamente ao pa-
ciente ou seu responsvel legal, asse-
gurando-se da continuidade dos cui-
dados e fornecendo todas as informa-
es necessrias ao mdico que lhe su-
ceder. O 2 insiste que o fato de o
paciente ser portador de molstia cr-
nica ou incurvel no motivo sufici-
ente para abandon-lo, salvo por justa
causa, comunicada ao paciente ou a
seus familiares, o mdico no pode
abandonar o paciente por ser este por-
tador de molstia crnica ou incur-
vel, mas deve continuar a assisti-lo ain-
da que apenas para mitigar o sofrimen-
to fsico ou psquico. interessante
notar que nos cdigos de 1929 e de
1931, em artigos com a mesma nu-
merao, o abandono do paciente
crnico ou terminal categoricamen-
te proibido. De acordo com o artigo
8/1929 (pouco modificado em 1931):
0 mdico no dever abandonar
nunca os casos chroni cos ou
incuraveis e nos difficeis e prolonga-
dos ser conveniente e ainda neces-
srio provocar conferencias com ou-
tros collegas.
O abandono do paciente crnico
ou terminal que implica na recusa de
continuar a assisti-lo ainda que apenas
para mitigar o sofrimento fsico ou ps-
quico constitui, pois, por causa das suas
conseqncias, uma forma de
mistansia rejeitada pela profisso m-
dica no Brasil desde os primrdios da
sua tradio codificada.
Mistansia em pacientes vtimas de
m prtica
A grande diferena entre a
mistansia por erro mdico e a
mistansia por m prtica reside na
diferena entre a fraqueza humana e
a maldade. O erro, mesmo culposo por
causa da presena dos fatores imper-
cia, imprudncia ou negligncia, fru-
to da fragilidade e da fraqueza huma-
na e no de uma inteno proposital
de prejudicar algum. A m prtica,
porm, fruto da maldade e a
mistansia por m prtica ocorre
quando o mdico e/ou seus associa-
dos, livremente e de propsito, usam a
medicina para atentar contra os direi-
tos humanos de uma pessoa, em be-
nefcio prprio ou no, prejudicando
direta ou indiretamente o doente ao
179
ponto de menosprezar sua dignidade
e provocar uma morte dolorosa e/ou
precoce.
Fundamental para esta anlise
a convico de que o foco de ateno
para a profisso mdica deve ser a
sade do ser humano, convico for-
mulada claramente no artigo 2 do
Cdigo de 1988: O alvo de toda a
ateno do mdico a sade do ser
humano, em beneficio da qual dever
agir com o mximo de zelo e o melhor
de sua capacidade profissional. O
desvio deste alvo levanta srias preo-
cupaes de ordem tica. J grave
quando se usa a medicina para mal-
tratar qualquer pessoa, como, por
exemplo, na prtica de tortura ou na
comercializao de rgos para trans-
plante, principalmente quando retira-
dos de doador pobre, vulnervel por
causa de sua situao econmica.
Quando se usa a medicina para mal-
tratar o paciente, a gravidade mais
complexa ainda por violar um rela-
cionamento especial de confiana e
de vulnerabilidade estabelecido entre
a pessoa doente e o profissional de
sade.
A malcia, aqui, consiste no uso
maldoso da medicina contra o ser hu-
mano ou para tirar proveito dele, em
lugar de us-la para promover seu bem-
estar.
No pretendemos demorar muito
neste ponto, mas vale a pena indicar
algumas situaes tpicas para ilustrar
melhor esta forma de mistansia.
Um primeiro exempl o de
mistansia por m prtica pode surgir
no caso de idosos internados em hos-
pitais ou hospcios onde no se ofere-
cem alimentao e acompanhamento
adequados, provocando assim uma
morte precoce, miservel e sem digni-
dade. No h dvida que tal situao
constitui mistansia, a nica dvida
de que tipo? preciso distinguir entre
a mistansia que, por exemplo, ocorre
numa cidadezinha pobre do interior,
num abrigo para idosos abandonados
mantido a duras penas por pessoas de
boa vontade e com poucos recursos, e
a mistansia por m prtica que surge
numa empresa hospitalar quando a
verba destinada alimentao e
acompanhamento dos idosos for des-
viada para beneficiar financeiramen-
te donos, administradores ou funcio-
nrios da instituio, deixando os pa-
cientes numa situao de misria, pro-
vocando-lhes uma morte indigna e
antes da hora.
Outro exemplo de mistansia
por m prtica, muitas vezes confun-
dido com eutansia por causa da mo-
tivao do responsvel pelo ato,
quando profissionais de sade, mui-
tas vezes enfermeiros que tm dificul-
dades pessoais em conviver por lon-
gos perodos com pacientes termi-
nais, por conta prpria se tornam
anjos da morte, administrando
medicamentos aos seus pacientes
idosos, crnicos ou terminais, visan-
do apressar o bito. O fato de ser
motivado por compaixo no justifi-
ca esta atitude autoritria que, alm
de ferir o direito vida dessas pes-
soas confiadas aos seus cuidados,
fere tambm outros direitos ligados
autonomia do paciente crnico ou
terminal: o direito de saber qual o tra-
tamento proposto pela equipe mdi-
ca e o direito de decidir sobre proce-
dimentos teraputicos que o afetam,
ou pessoalmente ou por meio do seu
responsvel legal.
180
Claro que a m prtica se torna
muito mais grave se procedimentos
para abreviar a vida de pacientes ido-
sos, crnicos ou terminais, especial-
mente sem sua anuncia, for poltica
assumida pela administrao do hos-
pital ou hospice e no apenas iniciati-
va de profissionais isolados.
Um ltimo exemplo de mistansia
por m prtica retirar um rgo vi-
tal, para transplante, antes de a pes-
soa ter morrido. O Cdigo de tica
Mdica de 1988 procura evitar esta
prtica proibindo ao mdico que cui-
da do paciente potencial doador e
responsvel pela declarao de bito
participar da equipe de transplante.
Alm da dimenso tica que pede res-
peito pelo direito vida da pessoa,
mesmo nos seus ltimos momentos, h
uma dimenso pragmtica ligada com
esta proibio. Se pessoas desconfiam
que possam ser mortas para fornecer
rgos para outros, bem possvel que
o nmero de pessoas recusando ser
doador aumente significativamente.
Resumindo, podemos dizer que as
situaes de mistansia provocada por
erro so graves mas, de modo geral,
so fruto da fraqueza e fragilidade da
condio humana. No devem ser
julgadas com a mesma severidade com
que se julgam situaes mistansicas
onde as pessoas se tornam vtimas de
m prtica por motivos econmicos,
cientficos ou sociopolticos, ou de ou-
tra forma de m prtica qualquer fruto
da maldade humana.
Estas distines todas que acaba-
mos de ver so importantes porque nos
permitem distinguir entre situaes de
impotncia devido s macroestruturas
sociais e s situaes de responsabili-
dade individual ou comunitria
marcadas pela fraqueza e a maldade
humana.
Com esta anlise das diversas for-
mas de mistansia, preparamos o ter-
reno para tentar esclarecer melhor o
sentido dos termos eutansia, distansia
e ortotansia.
A eutansia
A detal hada discusso da
mistansia que acabamos de apresen-
tar importante, em primeiro lugar,
para explicar o que se entende por
mistansia e, em segundo lugar, para
ajudar-nos a entender melhor aquilo
que a eutansia no . No meio de
tanta confuso terminolgica, a abor-
dagem do tema pela via negativa faci-
lita o processo de esclarecimento pelo
qual um determinado tipo de compor-
tamento se identifica corretamente
como sendo eutansia, o que indis-
pensvel para poder emitir com sere-
nidade um juzo tico fundamentado.
pouco provvel que os comporta-
mentos que acabamos de caracterizar
como mistansia tenham seus defen-
sores do ponto de vista da tica, mas
a eutansia, para muita gente, conti-
nua uma questo aberta. justamen-
te por isso que queremos examinar a
eutansia levando em considerao o
resultado que provoca, a inteno ou
motivao que se tem para praticar o
ato, a natureza do ato e as circunstn-
cias. Tambm, precisamos distinguir
entre o valor moral, considerado obje-
tivamente, que se pode atribuir a um
ato eutansico e a culpa tica ou jur-
dica que se pode atribuir num deter-
minado caso.
181
Uma das grandes diferenas en-
tre a mistansia e a eutansia o re-
sultado. Enquanto a mistansia provo-
ca a morte antes da hora de uma
maneira dolorosa e miservel , a eu-
tansia provoca a morte antes da hora
de uma maneira suave e sem dor.
justamente este resultado que torna a
eutansia to atraente para tantas pes-
soas.
A grande preocupao dos parti-
drios da eutansia justamente tirar
da morte o sofrimento e a dor e a gran-
de crtica que eles fazem aos que rejei-
tam a eutansia que estes so desu-
manos, dispostos a sacrificar seres
humanos no altar de sistemas morais
autoritrios que valorizam mais prin-
cpios frios e restritivos que a autono-
mia das pessoas e a liberdade que as
dignificam.
No h dvida que, aqui, existem
elementos ticos de peso: o direito do
doente crnico ou terminal ter sua dor
tratada e, quando possvel, aliviada; a
preocupao em salvaguardar, ao
mximo, a autonomia da pessoa e sua
dignidade na presena de enfermida-
des que provocam dependncia pro-
gressiva e a perda de controle sobre a
vida e sobre as funes biolgicas; e o
prprio sentido que se d ao fim da
vida e morte.
Resta, porm, a questo: se a eu-
tansia to desejvel como seus de-
fensores afirmam, por que h tanta
resistncia, durante tanto tempo, por
parte da tica mdica codificada e por
parte da teologia moral?
Pelo menos uma parte da respos-
ta reside no prprio resultado que a
eutansia traz. O grande objetivo
proteger a dignidade da pessoa, elimi-
nando o sofrimento e a dor. A dificul-
dade, do ponto de vista da tica mdi-
ca codificada e da teologia moral,
que, na eutansia, se elimina a dor eli-
minando o portador da dor.
O Cdigo de Deontologia Mdi-
ca de 1931 expressa bem este dilema
no seu artigo 16. Primeiro, afirma que
o mdico no aconselhar nem prati-
car, em caso algum, a eutansia. Em
seguida, afirma que o mdico tem o
direito e o dever de aliviar o sofrimen-
to, mas esse alvio no pode ser leva-
do ao extremo de dar a morte por pie-
dade. A postura adotada sedar, sim;
matar, no. A partir do Cdigo de
Deontologia Mdica de 1945 (artigo 4.
5) os cdigos brasileiros de tica m-
dica no mais utilizam o termo euta-
nsia, porm a reprovao da morte
proposital por mo de mdico perma-
nece firme.
No atual Cdigo, de 1988, o arti-
go 6 d continuidade a esta tradio
afirmando claramente a preocupao
com o valor da vida humana quando
diz: O mdico deve guardar absoluto
respeito pela vida humana, atuando
sempre em benefcio do paciente. Ja-
mais utilizar seus conhecimentos para
gerar sofrimento fsico ou moral, para
o extermnio do ser humano ou para
permitir e acobertar tentativa contra
sua dignidade e integridade. Esta for-
mulao vai muito alm de qualquer
concepo biologista do ser humano,
afirmando que o tratamento deve ser
em benefcio do paciente, que no se
deve usar a medicina para gerar sofri-
mento, nem para ofender a dignidade
e integridade das pessoas e, menos
ainda, para o extermnio do ser huma-
no. Como complemento desta afirma-
o de princpios, dentro da grande
tradio da benignidade humanitria,
182
o Cdigo veda ao mdico: Utilizar, em
qualquer caso, meios destinados a
abreviar a vida do paciente, ainda que
a pedido deste ou de seu responsvel
legal (artigo 66).
A moral catlica, nos seus textos
oficiais, adota uma postura semelhan-
te quando declara moralmente repro-
vvel a eutansia, entendida como
uma ao ou omisso que, por sua
natureza ou nas intenes, provoca a
morte a fim de eliminar toda a dor.
Esta afirmao da Sagrada Congrega-
o para a Doutrina da F reforada
pelas palavras do Papa Joo Paulo II,
na sua Carta Encclica Evangelium
Vitae n 65, quando confirma que a
eutansia uma violao grave da lei
de Deus, enquanto morte deliberada,
moralmente inaceitvel de uma pessoa
humana.
Resumindo, podemos perceber no
resultado da eutansia dois elementos:
a eliminao da dor e a morte do por-
tador da dor como meio para alcan-
ar este fim. A tica mdica codifica-
da e a teologia moral acolhem o pri-
meiro elemento, o tratamento e a eli-
minao da dor, e recusam o segundo
elemento, a morte direta e proposital
do portador da dor. Quando se con-
dena a eutansia, no o controle da
dor, nem a defesa da dignidade da
pessoa humana doente ou moribunda
que se condena, mas, sim, aquela par-
te do resultado que acaba matando a
pessoa a fim de matar sua dor. O de-
safio como defender e promover os
valores positivos da eutansia (quem
no queria uma boa morte, suave e sem
dor?) sem cair no extremo de matar a
pessoa depositria da dignidade hu-
mana que fundamenta todos os outros
direitos.
Outra grande diferena entre a
mistansia e a eutansia a inteno
ou motivao que se tem para prati-
car o ato. Em certas formas de
mistansia, especialmente por m pr-
tica, existe a inteno de usar a medi-
cina para prejudicar o doente crnico
ou terminal, retirando vantagem desta
situao. Para um comportamento se
caracterizar como eutansia, porm,
importante que a motivao e a in-
teno visem beneficiar o doente.
Apressar o bito de um doente termi-
nal com a inteno de ganhar mais
rapidamente a herana seria
mistansia, se no simplesmente as-
sassinato. Apressar o bito deste mes-
mo doente terminal, motivado por com-
paixo e com a inteno de mitigar seu
sofrimento, seria eutansia.
Boas intenes no levam, neces-
sariamente, a bons resultados. Com-
paixo por aquele que sofre , sem
dvida, um sentimento que enobrece
a pessoa. Quando esta compaixo
tem como resultado o alvio da dor e
a criao de estruturas de apoio que
melhorem o bem-estar do doente ter-
minal, estamos diante de uma postura
eticamente louvvel. Quando, porm,
esta compaixo leva a um ato mdico
que diretamente mata o paciente, aca-
ba-se tirando da pessoa no apenas a
possibilidade de sentir dor mas, tam-
bm, qualquer outra possibilidade exis-
tencial.
Na administrao de analgsicos
aos pacientes em fase avanada da sua
doena, a questo de inteno pode
assumir uma importncia muito gran-
de na avaliao tica do procedimen-
to. Quando, por compaixo, se aplica
o analgsico com a finalidade de abre-
viar a vida, estamos diante de um caso
183
de eutansia. Quando, porm, se apli-
ca o analgsico com a finalidade de
aliviar a dor e mitigar o sofrimento, em
doses no-letais, mesmo se com isso
pode haver como efeito colateral um
certo encurtamento da vida, estamos
diante de uma situao diferente. No
primeiro caso, um ato tem como seu
principal efeito algo mau (matar dire-
tamente algum) e um efeito secund-
rio bom (eliminar a dor), enquanto no
segundo caso o ato tem como seu prin-
cipal efeito algo bom (eliminar a dor)
e um efeito secundrio mau (indireta-
mente, apressar a morte de algum).
No segundo caso, pode-se ver que a
diferena reside precisamente na inten-
o: fazer o bem, aliviando a dor; e na
natureza do ato que tambm bom:
sedar para promover o bem-estar do
paciente. O procedimento se justifica
pelo princpio do duplo efeito pelo qual
se pode fazer algo bom (sedar), com
inteno reta (aliviar a dor), mesmo se
isso tiver um efeito secundrio negati-
vo (apressar o processo de morrer num
caso onde a terminalidade irreversi-
velmente se instalou).
A distino entre ao direta e
resultados secundrios aqui percebida
no pode ser transformada em critrio
de aplicao mecnica, mas pode ser
de grande utilidade mais adiante, na
discusso sobre a distansia e o senti-
do de prolongar indefinidamente a vida
humana em certas circunstncias.
Para ajudar na cl arificao
terminolgica, nesta fase da discusso,
sugerimos que o termo eutansia seja
reservado apenas para a ao ou omis-
so que, por compaixo, abrevia dire-
tamente a vida do paciente com a in-
teno de eliminar a dor e que outros
procedimentos sejam identificados
como sendo expresses de mistansia,
distansia ou ortotansia, conforme
seus resultados, intencionalidade, na-
tureza e circunstncias.
Dentro desta perspectiva que
estamos desenvolvendo, ainda falta
considerar um pouco mais a fundo a
natureza do ato eutansico e as cir-
cunstncias em que se realiza.
Uma ambigidade que freqen-
temente surge em relao natureza
da eutansia se ela exclusivamente
um ato mdico ou no. Se os fatores
decisivos na definio da eutansia
so o resultado (morte provocada, eli-
minao da dor) e a motivao (com-
paixo), a palavra pode continuar ten-
do uma conotao bastante ampla.
Nesta acepo da palavra, o ato de um
marido atirar e matar sua esposa que
est morrendo de cncer, porque no
agenta mais ouvir suas splicas para
acabar com tanto sofrimento, poderia
ser caracterizado como eutansia. Se,
porm, se acrescenta outro fator, a
natureza do ato e a eutansia for defini-
da como ato de natureza mdica, de re-
pente a situao descrita no mais
eutansica.
J que o uso que consagra o
sentido das palavras, minha sugesto
que o ato descrito seja caracterizado
como homicdio por misericrdia ou,
quando muito, suicdio assistido, de-
pendendo da participao da vtima
no processo. Mais ainda, proponho
que se reserve a palavra eutansia ex-
clusivamente para denotar atos mdi-
cos que, motivados por compaixo,
provocam precoce e diretamente a
morte a fim de eliminar a dor.
Acolhida ou no esta sugesto,
importante, na anlise de casos
concretos, notar a diferena entre
184
um homicdio por misericrdia,
culposo ou no, praticado por um pa-
rente ou amigo, e um ato mdico que
mata intencionalmente o doente a fim
de aliviar sua dor.
Independentemente desta dis-
cusso sobre a abrangncia do termo, a
eutansia como ato mdico merece ain-
da um pequeno comentrio. Do ponto
de vista tico, importante distinguir
entre eutansia praticada em pessoas
que esto sofrendo fsica ou psicologi-
camente, mas cuja condio no tal
que ameace imediatamente a vida (life-
threatening), e pessoas cuja enfermida-
de j entrou numa fase terminal, com
sinais de comprometimento progressivo
de mltiplos rgos.
Em ambos os casos, seria empo-
brecer muito a discusso reduzir a pro-
blemtica tica simples questo de
autonomia e ao direito da pessoa de-
cidir se quer continuar vivendo ou no.
Mesmo na perspectiva da tica de prin-
cpios, alm da autonomia, preciso
levar em conta os princpios da bene-
ficncia, da no-maleficncia e da jus-
tia. Se alargarmos mais ainda o hori-
zonte para dialogarmos com as pers-
pectivas da tica baseada num
positivismo jurdico ou da tica da vir-
tude, novas indagaes e novas res-
postas aparecero. Diante desta reali-
dade do pluralismo tico, um conceito
adequado de sade pode ajudar a
redimensionar a questo de conflito
entre valores e procedimentos e ofere-
cer outras pistas a no ser a morte pre-
coce da pessoa.
Analisando, especificamente, o
caso da pessoa que est sofrendo fsi-
ca ou psicologicamente, mas cuja con-
dio no ameaa imediatamente sua
vida, podemos tecer as seguintes con-
sideraes. perfeitamente compreen-
svel que uma pessoa tetraplgica,
consciente, lcida e angustiada pea
a morte para pr fim ao seu sofrimen-
to. Se a sade significa a ausncia
de doena e de enfermidades
incapacitantes e se a autonomia sig-
nifica que a pessoa tem liberdade de
morrer quando e como quiser, faltan-
do outros elementos difcil encontrar
argumentos para negar este pedido. Se,
porm, a sade tem outra conotao
e se a autonomia se enquadra numa
rede de sentidos e no um critrio de
ao isolado, opes alternativas po-
dem ser cogitadas.
Na situao onde se define a sa-
de como ausncia de doena ou de
incapacidade psicomotora, no existe
muito sentido falar da sade do doen-
te tetraplgico com pouca perspectiva
de cura. Quando, porm, se entende a
sade como o bem-estar fsico, men-
tal, social e espiritual da pessoa, abre-
se todo um leque de possibilidades
para falar na sade do doente crnico
e para promover seu bem-estar. O
bem-estar fsico da pessoa tetraplgica
se promove, em primeiro lugar, cuidan-
do de sua higiene, conforto e tratando
infeces ou molstias que possam pr
em risco sua vida. Um quarto limpo,
com cores alegres e temperatura agra-
dvel, onde no apenas o doente mas
tambm os outros que entram se sen-
tem vontade, contribui muito. No
basta, porm, cuidar apenas do bem-
estar fsico. A promoo do bem-estar
mental de fundamental importncia
para poder descobrir junto com o do-
ente, exercitando justamente uma au-
tonomia co-responsvel, outras sadas
para lidar com sua situao a no ser
a morte precoce. A reconquista de
185
autoestima e a descoberta das possi-
bilidades existenciais dentro das novas
limitaes impostas pela sua condio
fsica so todos caminhos para promo-
ver no apenas o bem-estar mental do
doente mas, tambm, no sentido am-
plo do termo, sua sade. A reconquis-
ta da auto-estima acontece, de modo
especial, no mundo das relaes hu-
manas e difcil divorciar a promo-
o do bem-estar mental da promoo
do bem-estar social. Isolamento da
convivncia com pessoas significativas
uma das grandes fontes de misria
para o doente crnico. Reverter este
isolamento, recriando redes de rela-
cionamento e construindo novo senti-
do para viver um caminho alternati-
vo que leva o doente a esquecer seu
pedido de morte e a investir novamen-
te na vida. Nesta fase de construo
de novos sentidos, a preocupao com
o bem-estar espiritual pode ser um fa-
tor decisivo na promoo da sade glo-
bal da pessoa.
luz desta reflexo, pode-se ar-
gumentar que nesta situao onde a
angstia provocada por uma condi-
o que no ameaa diretamente a
vida, a eutansia um procedimento
inapropriado do ponto de vista da ti-
ca. O que a situao requer no in-
vestimento na morte mas, sim, investi-
mento no resgate da vida e do seu sen-
tido.
No caso onde a terminalidade j
se instalou e o comprometimento
irreversvel do organismo est em fase
avanada, novamente o conceito de
sade com que se trabalha decisi-
vo para poder dialogar com a pro-
posta eutansica. Enquanto no caso
anterior o procedimento apropriado foi
investir na vida, neste caso o procedi-
mento apropriado investir na morte.
A questo , que tipo de morte?
Se a sade significa a ausncia de
doena e se o doente est com dores atro-
zes e numa situao onde no h mni-
mas condies de efetuar uma cura,
parece no ter sentido falar da sade do
paciente terminal e a eutansia pode se
apresentar como uma proposta razo-
vel. Se, porm, se entende a sade como
o bem-estar fsico, mental, social e es-
piritual da pessoa podemos comear a
pensar no apenas na sade do doente
crnico mas, tambm, em termos da
sade do doente em fase avanada da
sua doena e com ndices claros de
terminalidade.
Nesta perspectiva, a promoo do
bem-estar fsico do doente terminal,
claro, no consiste na sua cura, mas
nos cuidados necessrios para asse-
gurar seu conforto e o controle da sua
dor. Garantir este bem-estar fsico um
primeiro passo para manter sua sa-
de enquanto morre. Mas bem-estar f-
sico apenas no basta. Muitas vezes,
o mal-estar mental que leva o doente
terminal a pedir a morte antes da hora.
Por isso, uma estratgia importante
para permitir a pessoa repensar seu
pedido de eutansia ajud-la a re-
criar seu equilbrio e bem-estar men-
tal. O sentir-se bem mental e emocio-
nalmente componente fundamental
na sade do doente terminal. Da mes-
ma forma, o bem-estar social e espiri-
tual agregam s outras formas de bem-
estar uma condio que permita pes-
soa aguardar com tranqilidade a
morte e viver plenamente dentro de
suas possibilidades enquanto ela no
vem.
Para concluir esta parte da nossa
reflexo sobre a eutansia e os dile-
186
mas ticos que levanta, precisamos
distinguir entre o valor moral, consi-
derado objetivamente, que se pode atri-
buir a um ato eutansico e a culpa ti-
ca ou jurdica que se pode atribuir num
determinado caso.
Trabalhando com a definio de
eutansia que ns mesmos propomos:
atos mdicos que, motivados por com-
paixo, provocam precoce e direta-
mente a morte a fim de eliminar a dor,
precisamos traar alguns parmetros
para a valorao da eutansia em ca-
sos concretos.
Na tradio jurdica ocidental e
na tradio da tica mdica codifica-
da e da teologia moral no h dvida
que a eutansia, nos termos traados,
considerada objetivamente como
sendo um mal. Isto no significa, po-
rm, que estas tradies desconsiderem
o elemento subjetivo e tratem unifor-
memente todos os casos onde h ho-
micdio por misericrdia ou onde h
eutansia no sentido mais restrito por
ns proposto. As distines que exis-
tem no direito entre crime e pena e na
teologia moral entre o mal, o pecado e
a culpa podem ajudar nos casos con-
cretos onde a pessoa pratica o que
objetivamente um mal, segundo os cri-
trios dos sistemas jurdicos e ticos,
mas onde ela considera que est pro-
cedendo corretamente.
Em relao problemtica jur-
dica, um sistema de leis pode, perfei-
tamente, continuar acenando no sen-
tido de que a eutansia um mal ob-
jetivo, prejudicial sociedade, carac-
terizando-a como crime e, ao mesmo
tempo, incorporar na legislao meca-
nismos pelos quais no se prevem
penas para pessoas que praticam tais
atos movidas por fortes emoes,
como, por exemplo, compaixo diante
de grande sofrimento, ou por retas in-
tenes, como, por exemplo, aliviar a
dor. O ato continua sendo crime, mas
as pessoas que o praticam, em deter-
minadas circunstncias especificadas,
no so punidas, no porque a euta-
nsia em si no seja um mal, mas por-
que outros fatores entram na elabora-
o do juzo tico-jurdico.
Na teologia moral, algo semelhan-
te existe na distino que se faz entre
o mal objetivo e o pecado, entre a
maldade praticada e a culpa pessoal.
Para caracterizar um pecado grave
no basta uma pessoa cometer um ato
objetivamente mal, como matar uma
pessoa inocente. Precisa, tambm, ter
conhecimento claro e pleno que aqui-
lo que se faz est errado e ter plena
liberdade para agir. Em relao eu-
tansia, em determinados casos pos-
svel juntar estes trs elementos: mat-
ria grave, clara conscincia e plena
liberdade; nesta circunstncia, o ato
eutansico seria um pecado. Porm,
no dia-a-dia dos doentes terminais,
quando se praticam atos eutansicos,
muitas vezes por causa das presses
emocionais, familiares ou sociais, fal-
tam os elementos de clareza de cons-
cincia ou de liberdade. Nestes casos,
o prprio documento do Vaticano que
versa sobre a eutansia (de 1980) re-
conhece que pode haver diminuio
ou at ausncia total de culpa.
A distansia
A mistansia e a eutansia tm
em comum o fato de provocarem a
morte antes da hora. A distansia erra
187
por outro lado, no conseguindo
discernir quando intervenes terapu-
ticas so inteis e quando se deve dei-
xar a pessoa abraar em paz a morte
como desfecho natural de sua vida.
Neste comportamento, o grande valor
que se procura proteger a vida hu-
mana. Enquanto na eutansia a preo-
cupao maior com a qualidade da
vida remanescente, na distansia a
tendncia de se fixar na quantida-
de desta vida e de investir todos os
recursos possveis em prolong-la ao
mximo.
A distansia, que tambm ca-
racterizada como encarniamento
teraputico ou obstinao ou futilida-
de teraputica, uma postura ligada
especial mente aos paradigmas
tecnocientfico e comercial-empresarial
da medicina.
Ajuda-nos a entender melhor a
problemtica da distansia situ-la
na transio da medicina como arte,
nas suas expresses pr-modernas,
para a medicina como tcnica e ci-
ncia, na sua expresso mais moder-
na. Os avanos tecnolgicos e cien-
tficos e os sucessos no tratamento
de tantas doenas e deficincias hu-
manas levaram a medicina a se pre-
ocupar cada vez mais com a cura de
patologias e a colocar em segundo
plano as preocupaes mais tra-
dicionais com o cuidado do porta-
dor das patologias. A sade se defi-
ne em termos de ausncia de doena
e o grande inimigo a derrotar a
morte. O importante prolongar ao
mximo a durao da vida humana;
a qualidade desta vida, um conceito
de difcil mediao para a cincia e
a tecnologia, passa para segundo pla-
no.
A questo tcnica, nesta tica,
como prolongar os sinais vitais de uma
pessoa em fase avanada de sua do-
ena e cuja terminalidade se constata
a partir de critrios objetivos como, por
exemplo, a falncia progressiva e ml-
tipla de rgos. A questo tica : at
quando se deve investir neste empre-
endimento? Que sentido este investi-
mento tem?
No Brasil, na tradio da tica
mdica codificada, durante certo tem-
po havia uma tendncia a respaldar
um comportamento distansico. O
motivo apresentado pelo Cdigo de
1931 para reprovar a eutansia por-
que um dos propsitos mais sublimes
da medicina sempre conservar e pro-
longar a vida (artigo 16). Se aceitar-
mos que a finalidade da medicina
sempre conservar e prolongar a vida
estamos claramente deitando as razes
da justificao da distansia com seu
conjunto de tratamentos que no dei-
xam o moribundo morrer em paz. No
atual Cdigo de tica Mdica notamos
uma importante mudana de nfase.
O objetivo da medicina no apenas
prolongar ao mximo o tempo de vida
da pessoa. O alvo da ateno do m-
dico a sade da pessoa e o critrio
para avaliar seus procedimentos se
eles vo benefici-la ou no (artigo 2).
O compromisso com a sade, princi-
palmente se for entendida como bem-
estar global da pessoa e no apenas
ausncia de doena, abre a possibili-
dade de se preocupar com questes
outras no tratamento do doente termi-
nal que apenas questes curativas.
Mesmo assim, continua firme a con-
vico, encontrada em cdigos ante-
riores, de que o mdico deve guardar
absoluto respeito pela vida humana
188
(artigo 6). Esta tenso entre benefici-
ar o paciente com tratamentos paliati-
vos que talvez abreviem sua vida mas
que promovem seu bem-estar fsico e
mental e a absolutizao do valor da
vida humana no seu sentido biolgico
gera um dilema que alguns mdicos
preferem resolver a favor do prolonga-
mento da vida.
Dentro da perspectiva do
paradigma tecnocientfico, a justifica-
o do esforo para prolongar indefi-
nidamente os sinais vitais o valor
absoluto que se atribui vida huma-
na. Dentro da tica do paradigma co-
mercial-empresarial da medicina, a
obstinao teraputica segue outra
racionalidade. Aqui, ela tem sentido na
medida em que gera lucro para a em-
presa hospitalar e os profissionais nela
envolvidos. Havendo um plano de sa-
de ou uma famlia ou instituio dis-
postos a investir neste procedimento,
os tratamentos continuam enquanto o
paciente no morrer ou os recursos
no acabarem. Dentro de um sistema
de valores capitalistas, onde o lucro
o valor primordial, esta explorao da
fragilidade do doente terminal e dos
seus amigos e familiares tem sua pr-
pria lgica. Uma lgica sedutora por-
que, alm de garantir lucro para a
empresa, parece defender um dos gran-
des valores da tica humanitria, o
valor da vida humana. Porm, a pre-
cariedade do compromisso com o va-
lor da vida humana, nesta perspecti-
va, se manifesta logo que comecem a
faltar recursos para pagar as contas.
Uma tecnologia de ponta que parecia
to desejvel de repente retirada e
tratamentos mais em conta, do ponto
de vista financeiro, so sugeridos.
O paradigma mdico da benigni-
dade solidria e humanitria e a teo-
logia moral procuram outras aborda-
gens na tentativa de resolver o dilema
entre tratar em excesso ou deixar de
tratar o suficiente o doente terminal.
Procuram mostrar que atribuir grande
valor vida humana no significa uma
opo por uma frieza cruel diante do
sofrimento e da dor do paciente termi-
nal. A medicina tecnocientfica tende
a resolver o dilema caindo em um dos
dois extremos. Ou escolhe a eutansia
reconhecendo sua impotncia e, nes-
te caso, opta por abreviar o sofrimen-
to, abreviando a vida, alegando que j
que no pode mais curar a pessoa no
h sentido em prolongar a agonia ou
escolhe a distansia ofendida no seu
brio, optando por resistir morte at
as ltimas conseqncias, mostrando
uma obstinao teraputica que vai
alm de qualquer esperana de bene-
ficiar o doente ou promover seu bem-
estar global. A medicina que atua den-
tro do paradigma da benignidade hu-
manitria e solidria e que opera com
o conceito de sade como bem-estar
tende a optar por um meio termo que
nem mata nem prolonga exagera-
damente o processo de morrer, mas
que procura favorecer pessoa uma
morte sem dor, uma morte digna na
hora certa, rodeada de amor.
A teologia moral procura abordar
a questo afirmando que a vida e a
sade so bens fundamentais que per-
mitem a conquista de tantos outros
bens, mas que no so bens absolu-
tos. A vida nesta terra finita e a mor-
te um fenmeno natural que pode ser
domado mas no evitado. O sentido
que se d ao viver e ao morrer que
importante. A tradio crist reconhe-
ce que h circunstncias em que a
189
pessoa pode, legitimamente, sacrificar
sua sade e sua vida por exemplo,
para salvar a vida de outra pessoa.
Reconhece, tambm, que h momen-
tos quando se deve lutar para afastar
a morte e momentos quando se deve
parar e abra-la.
J em meados do sculo XX, o
papa Pio XII, preocupado em
humanizar a situao do paciente ter-
minal, falou da distino entre meios
ordinrios e meios extraordinrios em
relao ao direito e dever de empregar
os cuidados necessrios para conser-
var a vida e a sade. Enquanto con-
denava claramente a eutansia, ele
rechaou a distansia afirmando que
ningum obrigado a usar meios ex-
traordinrios para manter a vida. Ele
estabelece como princpio bsico o
direito e dever de empregar os cuida-
dos necessrios para conservar a vida
e a sade. Somente obrigao, po-
rm, usar meios ordinrios que no
impem nenhum nus extraordinrio
para si mesmo ou para outros. Nesta
perspectiva, determinadas cirurgias ou
tratamentos caros no exterior podem
ser legitimamente recusados. O fato de
no ser obrigado a fazer algo no tira
a liberdade de faz-lo e isto a tercei-
ra considerao que Pio XII apresen-
ta. permitido apelar para meios ex-
traordinrios, com a condio de no
faltar com deveres mais graves.
Em 1980, com a Declarao so-
bre a Eutansia, a posio da Igreja foi
aperfeioada um pouco mais. Diante
das dificuldades de se definir, em ca-
sos concretos, quais os meios ordin-
rios e extraordinrios, a Declarao
adota a terminologia de meios propor-
cionados e meios no proporcionados.
Por esta distino se entende que h
um dever bsico de cuidar da sade,
mas deve existir uma proporciona-
lidade entre os meios usados para isto
e os resultados previsveis. Principal-
mente quando no h mais possibili-
dade de se recuperar de uma doena
e quando j se iniciou o processo de
morrer lcito, em conscincia, to-
mar a deciso de renunciar a tratamen-
tos que dariam somente um prolonga-
mento precrio e penoso da vida sem,
contudo, interromper os cuidados nor-
mais devidos ao doente em casos se-
melhantes.
O que abre horizontes para pro-
cedimentos ticos que evitam a
distansia a distino entre terapia
e cuidados normais. Cuidar do asseio
do paciente, do seu conforto e de sua
alimentao na medida em que essa
pode ser tolerada por via oral consti-
tuem, sem dvida, cuidados normais.
A obrigao tica de recorrer a qual-
quer outro procedimento que constitui
ato mdico ou teraputico, incluindo,
a meu ver, alimentao artificial, pre-
cisa ser avaliada luz da propor-
cionalidade entre o nus para o paci-
ente e para os responsveis pelo seu
bem-estar e os benefcios que razoa-
velmente possam ser previstos. No h
nenhuma obrigao de iniciar ou con-
tinuar uma interveno teraputica
quando o sofrimento ou o esforo gas-
to so desproporcionais aos benefcios
reais antecipados. Neste caso, no a
interrupo da terapia que provoca a
morte da pessoa, mas a patologia previ-
amente existente.
Na perspectiva da benignidade
humanitria e solidria, o importante
viver com dignidade e, quando che-
gar a hora certa, morrer com dignida-
de tambm.
190
A ortotansia
Estas reflexes nos levam a per-
ceber que, para os que favorecem uma
medicina tecnocientfica ou comerci-
al-empresarial, uma mudana de
paradigma se impe se quiserem evi-
tar os excessos da eutansia e da
distansia. Enquanto o referencial for
a medicina predominantemente cura-
tiva, difcil encontrar caminho que
no parea desumano, por um lado, ou
descomprometido com o valor da vida
humana, por outro. Uma luz importan-
te advm da mudana de compreen-
so do que realmente significa sade,
que vem sendo impulsionada pela
redefinio deste termo pela Organi-
zao Mundial da Sade, para a qual
j chamamos a ateno. Em lugar de
ser entendida como a mera ausncia
de doena, prope-se uma compreen-
so da sade como bem-estar global
da pessoa: bem-estar fsico, mental e
social. Quando a estes trs elementos
se acrescenta tambm a preocupao
com o bem-estar espiritual, cria-se uma
estrutura de pensamento que permite
uma revoluo em termos da aborda-
gem ao doente crnico ou terminal.
Dentro do horizonte da medicina
curativa que entende a sade, primor-
dialmente, como a ausncia de doen-
a, absurdo falar da sade do doen-
te crnico ou terminal porque, por de-
finio ele no tem nem pode ter sa-
de. Porm, se redimensionamos nosso
conceito de sade para focalizar suas
dimenses positivas, reinterpretando-
a como sendo um estado de bem-es-
tar, descobrimos formas de discurso
nas quais existe sentido em se falar da
sade do doente crnico ou terminal,
j que nos referimos a seu bem-estar
fsico, mental, social e espiritual, mes-
mo quando no h mnima perspecti-
va de cura, e isto faz sentido.
O compromisso com a promoo
do bem-estar do doente crnico e ter-
minal permite-nos no somente falar
de sua sade mas, tambm, de desen-
volver um conceito de ortotansia, a
arte de bem morrer, que rejeita toda
forma de mistansia sem, no entanto,
cair nas ciladas da eutansia nem da
distansia.
A ortotansia permite ao doente
que j entrou na fase final de sua do-
ena, e queles que o cercam, enfren-
tar seu destino com certa tranqilida-
de porque, nesta perspectiva, a morte
no uma doena a curar, mas sim
algo que faz parte da vida. Uma vez
aceito este fato que a cultura ocidental
moderna tende a esconder e a ne-
gar, abre-se a possibilidade de tra-
balhar com as pessoas a distino
entre curar e cuidar, entre manter a
vida quando isto for o procedimento
correto e permitir que a pessoa mor-
ra quando sua hora chegou.
Neste processo o componente ti-
co to importante quanto o compo-
nente tcnico. O ideal realizar a
integrao do conhecimento cientfico,
habilidade tcnica e sensibilidade ti-
ca numa nica abordagem. Quando
se entende que a cincia, a tcnica e a
economia tm sua razo de ser no ser-
vio pessoa humana individual, co-
munitria e socialmente, descobre-se
no doente crnico e terminal um valor
at ento escondido ou esquecido.
Respeito pela sua autonomia: ele tem
o direito de saber e o direito de deci-
dir; direito de no ser abandonado;
direito a tratamento paliativo para
191
amenizar seu sofrimento e dor; direito
de no ser tratado como mero objeto
cuja vida pode ser encurtada ou pro-
longada segundo as convenincias da
famlia ou da equipe mdica so to-
das exigncias ticas que procuram
promover o bem-estar global do doen-
te terminal e, conseqentemente, sua
sade enquanto no morre. No fundo,
ortotansia morrer saudavelmente,
cercado de amor e carinho, amando e
sendo amado enquanto se prepara
para o mergulho final no Amor que no
tem medida e que no tem fim.
Concluso
Em nosso esforo para esclarecer
os termos eutansia e distansia intro-
duzimos na discusso mais dois ter-
mos: mistansia e ortotansia. Agin-
do assim, esperamos tanto ter aperfei-
oado os instrumentos lingsticos a
nosso dispor como ter permitido um
pequeno avano na promoo do
bem-estar e sade do doente crnico
e terminal.
Uma convico bsica que nos
sustentou nesta reflexo que o rosto do
doente cuja vida chega ao fim no pode
ser escondido em toda esta discusso,
nem seu nome esquecido. quando se
esconde o rosto e se esquece o nome que
mais fcil despersonalizar o caso e tra-
tar o corpo objeto dos nossos cuida-
dos como um objeto desprovido das
complicaes inerentes no trato da me,
do filho ou do av de algum querido.
No h dvida que mais fcil
tratar a morte como um fenmeno pu-
ramente biolgico. A dificuldade que
a morte de seres humanos recusa sim-
plificaes desta natureza. Aspectos
jurdicos, sociais, psicolgicos, cultu-
rais, religiosos insistem em se intro-
meter e complicar a situao. O
objeto biolgico constantemente se
transforma num sujeito pessoal reivin-
dicando direitos, dignidade e respeito.
Nesta insistncia do eu em incomo-
dar o objetivo cientfico, surgem os
parmetros ticos e as questes vitais
que procuramos identificar dentro das
categorias de mistansia, eutansia,
distansia e ortotansia.
Bibliografia
Anjos MF. Eutansia em chave de liber-
tao. Bol eti m do ICAPS, 1989
jun;7(57):6.
Bizatto JI. Eutansia e responsabilida-
de mdica. Porto Alegre: Sagra, 1990.
Comisso Episcopal Espanhola. Comis-
so Episcopal para a Defesa da Vida. A
eutansia: 100 perguntas e respostas so-
bre a defesa da vida humana e a atitu-
de dos catlicos. Lisboa: Edies So
Paulo, 1994.
Conselho Federal de Medicina (Brasil). C-
digo de tica Mdica. Resoluo CFM n
1.246/88. Rio de Janeiro: CFM, 1988.
Gafo J. La eutanasia: el derecho a una
muerte humana. Madrid: Ediciones Te-
mas de Hoy, 1989.
Gafo J, editors. La eutanasia e el arte
de morir. Madrid: Universidad Pontificia
Comillas, 1990. (Dilemas ticos de la
medicina actual, 4).
Hring B. Medicina e moral no sculo
XX. Lisboa: Editorial Verbo, 1974.
192
Joo Paulo II. Evangelium vitae: carta
encclica sobre o valor e a inviolabilidade
da vida humana. So Paulo: Paulinas,
1995.
Kbler-Ross E. Sobre a morte e o mor-
rer. So Paulo: Martins Fontes, 1989.
Martin LM. A tica mdica diante do
paciente terminal: leitura tico-teolgi-
ca da relao mdico-paciente terminal
nos cdigos brasileiros de tica mdica.
Aparecido, SP: Santurio, 1993.
Martin LM. O cdigo brasileiro de tica
mdica e os direitos do doente na fase
fi nal da AIDS. In: Pessi ni L,
Barchifontaine CP, organizadores. So
Paulo: Paulus, 1996.
Marti n LM. Evangel i zar e ser
evangelizado pelo doente terminal. In:
Pessini L. Vida, esperana e solidarie-
dade: subsdio para profissionais e
agentes de Pastoral da Sade e dos
enfermos, para o trabalho domiciliar,
hospitalar e comunitrio. Aparecida,
SP: Santurio, 1992: 136-44.
Martin LM. Os limites da vida: questes
ticas nos cuidados do paciente termi-
nal. Fragmentos de Cultura: revista do
Instituto de Filosofia e Teologia de Gois
1997 jun;(24):21-36.
Martin LM. O paciente terminal nos c-
digos brasileiros de tica mdica I. Re-
vista Ecl esistica Brasil eira 1993
Mar;53:72-86.
Martin LM. O paciente terminal nos c-
digos brasileiros de tica mdica II. Re-
vista Ecl esistica Brasil eira 1993
Jun;53:349-73.
Martin LM. Sade e biotica: a arte de
acolher e conquistar o bem-estar. O
Mundo da Sade 1996 nov./
dez.;20(10):368-73.
Pessini L. Distansia: at quando inves-
tir sem agredir? Biotica 1996;4:31-43.
Pessini L. Eutansia e Amrica Latina:
questes tico-teolgicas. Aparecida,
SP: Santurio, 1990.
Pessini L. Morrer com dignidade: at
quando manter a vida artificialmente?
Aparecida, SP: Santurio, 1990.
Sagrada Congregao para a Doutrina
da F. Declarao sobre a eutansia.
SEDOC 1980 Set., col. 173.
Vidal M. Eutansia: um desafio para a
conscincia. Aparecida, SP: Santurio,
1996.
Vidal M. Moral da pessoa e biotica te-
olgica. In: ______. Moral de atitudes.
4.ed.rev.atual. Aparecida, SP: Santu-
rio, 1997. vol 2, t.1.
193
Introduo
Admite-se que as cincias expe-
rimentais, a partir das quais se desen-
volveram os outros ramos da cincia,
tm como marco inicial simblico as
contribuies e, sobretudo, a postura
de Galileu no sculo XVI.
Desde ento os avanos cientfi-
cos se fizeram de tal forma que, ao fi-
nal de dois sculos, configurou-se e
consolidou-se a chamada Revoluo
Cientfica.
No sculo XX, a evoluo cient-
fica e tecnolgica apresentou ritmo to
vertiginoso a ponto de se poder falar
em mais duas revolues, no mesmo
sculo: a revoluo atmica, na primei-
ra metade do sculo, e a revoluo
molecular, a partir da dcada de 50 e
cujo auge est sendo vivenciado nos
dias de hoje.
Por outro lado, desde Galileu o
nmero de cientistas vivos vem dupli-
cando a cada 10 a 15 anos; estima-se
que, hoje, o mundo dispe de um n-
mero de cientistas maior, talvez, que o
Corina Bontempo D. Freitas
William Saad Hossne
Pesquisa com Seres Humanos
nmero total de cientistas que o mun-
do j teve e morreram. E, caso a curva
do crescimento no sofra inflexo, da-
qui a 10 15 anos teremos o dobro de
cientistas em relao aos dias atuais.
Essas duas consideraes, a re-
voluo cientfica e o nmero de cien-
tistas em ao, merecem pequena re-
flexo dentro de nosso tema. Ambos
os fatos significam, em ltima anlise,
a gerao constante e crescente de
novos conhecimentos e novas
tecnologias, os quais se destinam ao
homem e iro atingi-lo de modo direto
e indireto. E a primeira aplicao do
conhecimento ou da tecnologia no ser
humano , no fundo, uma experimen-
tao. Assim, lcito assumir o con-
ceito de que, cada vez mais, estar
aumentando o nmero de experimen-
taes em seres humanos.
Em geral, quando se pensa no
assunto, o foco se concentra nas pes-
quisas na rea mdica, no mximo na
biomdica ou na sade. Compreende-
se, at certo ponto, que assim seja. As
pesquisas na rea das profisses da
sade so, em geral, mais visveis, com
194
conseqncias imediatas; alm do
mais, principalmente na rea mdica,
onde existe uma tradio tica de vin-
te e cinco sculos, h constante preo-
cupao com esse aspecto.
Contudo, na verdade, a experi-
mentao com seres humanos ocorreu
e vem ocorrendo em muitas outras
reas, muitas vezes sem a devida pre-
ocupao com os aspectos ticos.
Faz-se experimentao com seres
humanos no setor da educao, da fi-
sioterapia, da terapia ocupacional, da
educao fsica, da sociologia, etc. e
at na economia (nem sempre com as
devidas premissas cientficas ou bsi-
cas e, no geral, atingindo coletivida-
des).
O ser humano pode tambm es-
tar sendo objeto (e no sujeito) de pes-
quisa, sem que o saiba; podem ocor-
rer situaes em que s a posteriori os
cientistas e o ser humano submetido
experimentao tomam conhecimento
de que houve uma experimentao
humana.
Foi o caso dos linfomas detecta-
dos em prevalncia maior nas locali-
dades (na Europa) em que as crian-
as conviveram constantemente com
redes de alta tenso. Foi o caso, tam-
bm, das leucemias diagnosticadas em
operadores (e em seus descendentes)
de radar por longo perodo, durante a
II Guerra.
Vale lembrar que, do ponto de vis-
ta biolgico, em animais, est bem de-
monstrada a ocorrncia de alteraes
sangneas, eletroencefalogrficas,
cromossmicas, oculares e testiculares,
decorrentes da emisso de energias de
alta freqncia. Convm, a propsito,
no esquecer a alta poluio nos gran-
des centros, ocasionada pela elevada
concentrao de torres de emisso de
energia.
Nos dias de hoje, o ser humano
tem o poder, graas nova biologia,
de interferir e at dominar setores ou
reas de importncia vital (ou mortal):
poder sobre a reproduo (at mesmo
a concepo sem sexo), sobre a here-
ditariedade (teraputicas gnicas,
transgenicidade), sobre as neurocin-
cias (transplante de clulas nervosas,
condicionamentos psico-farmacol-
gicos), clonagem.
A possibilidade da aplicao
indevida dos conhecimentos, da cin-
cia e da tecnologia, podendo levar at
destruio da humanidade, foi
um dos fatores que deram origem
ao neologismo proposto h vinte e
cinco anos por Potter Biotica ,
o qual tem, hoje, na verdade, uma ou-
tra conotao, mais ampla.
Todas essas consideraes apon-
tam para a oportunidade e necessida-
de premente de se discutir a questo
da experimentao com seres huma-
nos, de modo a permitir os avanos da
cincia e da tecnologia em benefcio
da humanidade, tendo, contudo, como
centro de preocupao, o respeito pela
dignidade do ser humano.
Quanto pesquisa propriamente
dita, so de estarrecer o nmero, a di-
versidade e as circunstncias em que
se cometeram abusos, dentro e fora
dos campos de concentrao, durante
a II Grande Guerra. Abusos que, s
vezes, tiveram a participao de pes-
soas de alto prestgio cientfico e com
amparo de rgos de apoio pesqui-
sa e de outros cuja funo seria a de
cuidar da sade da populao.
Inoculao experimental de sfilis
em adolescentes, o no tratamento
195
deliberado de pacientes sifilticos ou de
mulheres com leses pr-cancerosas
do colo do tero, com objetivo de curi-
osidade cientfica, a inoculao pro-
posital do vrus da febre amarela, da
dengue, da hepatite, sem o devido res-
paldo tico, so exemplos clssicos
sem falar das experincias realizadas
com prisioneiros de guerra, em estu-
dos sobre congelamento, ao de ve-
nenos ou radiaes.
Com este pano de fundo, no dei-
xa de ser surpreendente o fato de que
somente em 1947 a humanidade deci-
diu estabelecer as primeiras normas
reguladoras da pesquisa em seres hu-
manos. Normas que surgiram quando
do julgamento dos crimes de guerra
dos nazistas, ao se tomar conhecimento
(alis, na verdade, parte j era conhe-
cida) das situaes abusivas da expe-
rimentao, que foram denominadas
como crimes contra a humanidade.
Surge, ento, o Cdigo de Nremberg
estabelecendo normas bsicas de pes-
quisas em seres humanos, prevendo a
indispensabilidade do consentimento
voluntrio, a necessidade de estudos
prvios em laboratrios e em animais,
a anlise de riscos e benefcios da in-
vestigao proposta, a liberdade do
sujeito da pesquisa em se retirar do
projeto, a adequada qualificao ci-
entfica do pesquisador, entre outros
pontos.
O princpio da autonomia, reco-
nhecidamente um dos referenciais b-
sicos da Biotica, se enuncia, assim,
no Cdigo de Nremberg. Vale lembrar,
pois, que esta autonomia (autodeter-
minao) se firma na regulamentao
da pesquisa e que, somente muitos
anos depois, se incorpora nos Cdi-
gos de tica (melhor dizendo, de
Deontologia) dos profissionais de
sade.
No obstante a dramaticidade do
contexto em que surge o Cdigo de
Nuremberg, os abusos continuaram a
ocorrer. J na dcada de 60, Beecher
chamava a ateno para o grande n-
mero de pesquisas de experimentao
humana conduzidas de forma etica-
mente inadequada e publicadas em
revistas mdicas de renome.
Em 1964, na 18 Assemblia da
Associao Mdica Mundial foi revis-
to o Cdigo de Nremberg e aprovada
a Declarao de Helsinque, introdu-
zindo a necessidade de reviso dos
protocolos por comit independente, a
qual, revista na dcada de 70 (Tquio)
e de 80 (Veneza e Hong Kong) e, por
ltimo, em 1996 na 48 Assemblia
Geral realizada em Somerset West, Re-
pblica da frica do Sul, continuou
porm conhecida com o nome de De-
clarao de Helsinque. Nesta declara-
o se estabelecem tambm as normas
para a pesquisa mdica sem fins
teraputicos.
Na dcada de 80, o Council for
International Organizations of Medical
Sciences (CIOMS), juntamente com a
Organizao Mundial da Sade
(OMS), elaboraram um documento
mais detalhado sobre o assunto esti-
pulando as Diretrizes internacionais
para a pesquisa biomdica em seres
humanos, traduzida para a lngua
portuguesa pelo Ministrio da Sade.
O documento foi reavalizado e pu-
blicado em nova verso em 1993,
traduzido e publicado pela revista
Biotica, do Conselho Federal de
Medicina (CFM).
Na dcada de 90, o CIOMS lana
o primeiro documento especificamente
196
voltado para a pesquisa em estudos de
coletividade (estudos epidemiolgicos):
International Guidelines for Ethical
Review of Epidemiological Studies.
Normas no Brasil: a
Resoluo CNS n196/96
No Brasil, merece destaque a Re-
soluo CNS n 1, de 13 de junho de
1988, do Conselho Nacional de Sa-
de o primeiro documento oficial
brasileiro que procurou regulamentar
as normas da pesquisa em sade.
Todos os documentos at aqui ci-
tados levam em conta referenciais (ou
princpios) bsicos da Biotica: a
no-maleficncia, a beneficncia (ris-
cos e benefcios), a justia e, sobretu-
do, a autonomia (autodeterminao),
respeitando-se o sigilo, a privacidade,
a auto-estima. Vieira e Hossne (1987)
analisam os principais aspectos conti-
dos em tais documentos.
Em 1995, sete anos aps a apli-
cao da Resoluo CNS n 1/88, o
Conselho Nacional de Sade (CNS)
decidiu pela reviso da mesma, com o
objetivo de atualiz-la e preencher la-
cunas geradas pelo desenvolvimento
cientfico. Um Grupo Executivo de Tra-
balho (GET), integrado por represen-
tantes de diversas reas sociais e pro-
fissionais, contando com o apoio de
mdicos, telogos, juristas, bilogos,
engenheiros biomdicos, empresrios
e representantes de usurios elaborou
uma nova resoluo (CNS n 196/96)
que estabelece as normas de pesquisa
envolvendo seres humanos.
Alguns pontos dessa resoluo
merecem destaque:
a incluso, no prembulo, de
disposies legais que do respal-
do resoluo;
a necessidade de reviso peri-
dica das normas;
a incorporao dos referenciais
bsicos da Biotica (no-
maleficncia, beneficncia, auto-
nomia, justia, eqidade, sigilo,
privacidade);
a ampla abrangncia, aplican-
do-se as normas a toda e qual-
quer pesquisa (todas as reas do
conhecimento e no s a
biomedicina) que, individual ou
coletivamente (estudos de comu-
nidades, pesquisas epidemiol-
gicas), envolva o ser humano, de
forma direta ou indireta, em sua
totalidade ou partes dele, incluin-
do o manejo de informaes ou
materiais;
a proibio de qualquer forma de
remunerao, cabendo, porm, o
ressarcimento de despesas e inde-
nizao (direito indeclinvel) aos
sujeitos da pesquisa;
a conceituao de risco como
sendo a possibilidade de danos
dimenso fsica, psquica, moral,
intelectual, social, cultural ou es-
piritual do ser humano;
a considerao de que todo pro-
cedimento (de qualquer natureza)
cuja aceitao no esteja consa-
grada na literatura ser tido como
pesquisa em ser humano;
o respeito total dignidade do
ser humano e a necessidade de
se obter o consentimento livre e
esclarecido dos indivduos-alvo e
197
a proteo a grupos vulnerveis,
excluindo-se as possibilidades de
dependncia, subordinao, coa-
o ou intimidao;
o respeito vulnerabilidade,
sem, porm, excluso, isto , pre-
servao do direito de deciso;
a exigncia de condies (recur-
sos humanos e materiais) adequa-
das execuo do projeto;
a proteo imagem, a no-
estigmatizao, o direito
confidencialidade e privacida-
de, nas pesquisas em coletivida-
de, bem como o respeito aos va-
lores culturais;
a adequao da metodologia
cientfica s exigncias bsicas
nos casos de randomizao;
a necessidade de justificativa
para a dispensa de obteno do
consentimento;
a necessidade de justificativa
para o uso do placebo;
o planejamento das medidas
para o acompanhamento, trata-
mento ou orientao, conforme o
caso, nas pesquisas de rastrea-
mento, com a demonstrao da
preponderncia de benefcios so-
bre os riscos e custos;
o compromisso de retorno de van-
tagens para o pas, nos casos de
pesquisas conduzidas no exterior;
a utilizao de material biolgi-
co e dos dados obtidos na pes-
quisa exclusivamente para a fina-
lidade prevista no protocolo;
a recomendao quanto par-
ticipao do pesquisador na fase
de delineamento da pesquisa, nos
estudos multicntricos;
a necessidade de comunicao
aos Comits de tica, nos casos
de descontinuidade do projeto de
pesquisa;
a necessidade de retorno de be-
nefcios coletividade pesquisada,
bem como a obrigatoriedade de
acesso dos sujeitos s vantagens da
pesquisa;
a importncia e a relevncia do
consentimento livre e esclareci-
do, atestada pela presena de
um captulo (captulo IV) no cor-
po da resoluo; enfatiza-se a
obrigatoriedade de todos os escla-
recimentos ao sujeito da pesqui-
sa (em linguagem acessvel), res-
guardando-se o direito recusa e
o direito de ter cpia do termo as-
sinado;
a incluso de normas para a
pesquisa em pessoas com diag-
nstico de morte enceflica e em
comunidades culturalmente dife-
renciadas;
a obrigatoriedade de anlise de
riscos e benefcios, cuja relevn-
cia mereceu captulo especial (ca-
ptulo V);
a exigncia de apresentao do
projeto de pesquisa, por parte do
pesquisador responsvel, contendo,
entre outros, os seguintes dados: de-
finies de atribuies, anteceden-
tes cientficos, metodologia, anli-
se crtica de riscos e benefcios,
durao do projeto, critrios de in-
cluso e de excluso dos sujeitos, o
compromisso de tornar pblicos os
resultados, a previso de riscos, a
198
qualificao do pesquisador, o or-
amento detalhado;
a obrigatoriedade de apresenta-
o do projeto ao Comit de ti-
ca em Pesquisa (CEP) da institui-
o, para apreciao;
a caracterstica multidisciplinar
da composio do CEP (no mais
do que a metade dos membros
pertencentes a mesma profisso),
incluindo, obrigatoriamente, um
representante dos usurios;
as atribuies do CEP, prevendo
atividades de carter educativo,
consultivo e deliberativo;
a possibilidade do CEP poder
contar com assessoria especi-
alizada, ad hoc;
a competncia para solicitar,
administrao, a instaurao de
sindicncia;
a competncia para interromper
o projeto de pesquisa, quando
julgar indicado;
a obrigatoriedade de acompa-
nhamento da execuo da pesqui-
sa na instituio, mediante rela-
trios;
a co-responsabilidade do CEP
ao aprovar os projetos a ele sub-
metidos;
a total independncia em rela-
o direo da instituio;
a criao da Comisso Nacional
de tica em Pesquisa (CONEP),
rgo mximo na rea, ligado ao
Conselho Nacional de Sade Mi-
nistrio da Sade;
a responsabilidade da Comisso
Nacional na criao (e acompa-
nhamento) de um banco de da-
dos referente s pesquisas em se-
res humanos, aprovadas pelos
CEPs;
a elaborao, por parte da
CONEP, de normas complemen-
tares nas reas temticas: repro-
duo humana, gentica huma-
na, pesquisas em indgenas, pes-
quisas que envolvam questes de
biossegurana, pesquisas
conduzidas do exterior, pesquisas
com novos equipamentos. As nor-
mas para pesquisa na rea
temtica de novos frmacos, me-
dicamentos e vacinas j foram
aprovadas (Resoluo CNS n
251/97);
a responsabilidade da CONEP
em instaurar sindicncias e inter-
romper pesquisas em andamen-
to, se necessrio;
a composio da CONEP, cons-
tituda por treze membros titula-
res e respectivos suplentes, esco-
lhidos pelo Conselho Nacional de
Sade dentre nomes indicados
pelos CEPs.
Destaque especial dado, no
momento, aos Comits de tica em
Pesquisa, considerando-se o papel re-
levante que lhes atribudo pela Reso-
luo CNS n 196/96.
Os Comits de tica em
Pesquisa
A anlise da validade tica das
pesquisas se concretiza nos Comits de
199
tica em Pesquisa CEP das institui-
es.
A clara caracterizao de proje-
tos e estudos como pesquisas e, con-
seqentemente, a anlise de sua vali-
dade e aceitabilidade, embasada em
conhecimentos prvios que apontem
para o benefcio, e o acompanhamen-
to controlado de seus resultados, de
forma sistemtica e universal (cobrin-
do todos os protocolos), pode trazer
ganhos enormes tais como a diminui-
o do nmero de pessoas desneces-
sariamente expostas a procedimentos
inteis ou danosos e, acima de tudo, a
clara compreenso da utilidade (rela-
o risco/benefcio) dos procedimen-
tos.
Dessa forma, toda pesquisa en-
volvendo seres humanos deve ser sub-
metida a uma reflexo tica no senti-
do de assegurar o respeito pela identi-
dade, integridade e dignidade da pes-
soa humana e a prtica da solidarie-
dade e justia social.
A partir de 1975, na reviso da
Declarao de Helsinque, se admitiu
a necessidade de analisar os proble-
mas morais que surgem nas pesquisas,
e se estabeleceu: o desenho e o desen-
volvimento de cada procedimento ex-
perimental envolvendo o ser humano
devem ser claramente formulados em
um protocolo de pesquisa, o qual de-
ver ser submetido considerao,
discusso e orientao de um comit
especialmente designado, independen-
te do investigador e do patrocinador.
Estes comits desempenham um papel
central, no permitindo que nem pes-
quisadores nem patrocinadores sejam
os nicos a julgar se seus projetos es-
to de acordo com as orientaes acei-
tas. Dessa forma, seu objetivo prote-
ger as pessoas, sujeito das pesquisas,
de possveis danos, preservando seus
direitos e assegurando sociedade que
a pesquisa vem sendo feita de forma
eticamente correta.
Na segunda metade deste sculo,
o grande desenvolvimento das cinci-
as biomdicas tem possibilitado enor-
me poder de interveno sobre a vida
humana. Alm disso, tem se tornado
mais e mais difcil distinguir a pesquisa
de suas aplicaes, o que coloca a cin-
cia estreitamente ligada indstria e
economia. Inseridas num mundo capi-
talista, onde os investimentos exigem
retorno rpido, as pesquisas tambm
sofrem as presses de mercado. Tais
fatos, associados expanso do setor
de comunicaes e busca de consoli-
dao dos direitos sociais a partir do
princpio da cidadania plena, trazem
tona dilemas ticos para os envolvidos
com a cincia e, mais ainda, para a
sociedade como um todo.
Torna-se, portanto, cada vez mais
relevante e imprescindvel a avaliao
do projeto de pesquisa por uma ter-
ceira parte, independente, consideran-
do-se princpios ticos minimamente
consensuais.
Noelle Lenoir, presidente da Co-
misso de tica da UNESCO, ressalta
que o movimento de preocupao com
a tica , sem dvida, o maior fenme-
no deste fim de sculo e que, equivoca-
damente, muitas vezes se pede a cientis-
tas (mdicos, bilogos e outros) que di-
tem os parmetros ticos para a socie-
dade. Enfatizando que no se pode ser
juiz e parte ao mesmo tempo, remete a
responsabilidade para a sociedade
como um todo.
Assim, os Comits de tica em
Pesquisa no devem se restringir a uma
200
instncia burocrtica, mas constituir-se
em espaos de reflexo e monitorizao
de condutas ticas, de explicitao de
conflitos e de desenvolvimento da com-
petncia tica da sociedade.
Nas ltimas dcadas, os Comits
de tica Mdica vinham desenvolvendo
um papel importante nesse sentido,
aportando uma experincia e tradio
de reflexo tica desde Hipcrates. Po-
rm, alm da necessidade de afastamen-
to de posies corporativistas, a experi-
mentao com seres humanos, cada vez
maior com o progresso da cincia, vai
alm dos limites de qualquer categoria
profissional, envolvendo novas catego-
rias como fisil ogos, bil ogos,
geneticistas, socilogos, psiclogos,
nutricionistas, farmacuticos, odont-
logos, enfermeiros, fisioterapeutas, alm
de pedagogos, professores, cientistas
sociais, entre outros. A experimentao
em seres humanos deve, portanto, ser
discutida abertamente por esses profis-
sionais e, mais ainda, com profissionais
de outras reas do conhecimento, como
direito, filosofia, cincias polticas, teo-
logia, comunicao, etc. Indo mais
alm, a sociedade precisa assumir este
debate e participar com responsabili-
dade das decises. O fato que a tc-
nica, hoje, pode fazer muitas coisas
resta saber o que a sociedade quer que
seja feito.
Os CEPs, alm de frum especfi-
co para avaliao de cada pesquisa,
estaro identificando e ampliando os
debates e contribuindo para a
melhoria da regulamentao sobre o
tema. Daniel Winkler, ex-presidente da
Associao Internacional de Biotica,
colocou como indicador de funcio-
namento dos Comits a chegada das
discusses s mesas das famlias. Amy
Gutmann, professora de Cincias Po-
lticas da Universidade de Princeton,
autora do livro Democracy and
Disagreement, ressalta que os Comits
de tica em Pesquisa, bem constitu-
dos, transcendem o seu papel especfico
pois contribuem para a efetivao da
democracia deliberativa, concepo
contempornea mais promissora de evo-
luo democrtica.
A metodologia de trabalho dos
CEPs deve procurar a representao de
todos os interessados, tambm dos in-
divduos considerados leigos na cin-
cia mdica ou biolgica, isto , dos
pacientes, seus familiares, representan-
tes da opinio pblica. Se no for pos-
svel que todos os interessados estejam
presentes, uma participao mnima
deve ser assegurada para levar a uma
adequada apresentao e considera-
o dos interesses de todos os envolvi-
dos. Se os critrios para tomada de
decises so realmente ticos, ento os
leigos no so menos capacitados que
os cientistas. A presena de usurios
nos CEPs constitui o elemento novo,
trazendo a perspectiva da alteridade e
propiciando o surgimento do dilogo.
Baseado nessas reflexes, poca
da elaborao da Resoluo CNS
n 196/96 consolidou-se a idia de que
os CEPs deveriam ser constitudos de for-
ma a favorecer o aporte dos pontos de
vista de todos os envolvidos, bem como
permitir a incluso dos diversos interes-
ses, seja de pesquisadores, patrocinado-
res, sujeitos da pesquisa e da comuni-
dade. Por meio de uma composio
multidisciplinar com contribuio de
vrias reas do conhecimento, de par-
ticipao de pesquisadores e de usu-
rios, se buscar levar em conta a
considerao de todos os interesses,
201
inclusive dos envolvidos mas no parti-
cipantes, como, por exemplo, dos sujei-
tos da pesquisa em situao de
vulnerabilidade, como das crianas, in-
capacitados mentais, dos ainda no
nascidos, entre outros.
Assim, a resoluo cria os Comits
de tica nas instituies e estabelece os
critrios para a sua formao. A carac-
terstica de independncia deve ser
construda atravs de uma composio
adequada e da adoo de procedimen-
tos transparentes. A disposio ao di-
logo e transparncia o que pode le-
var ao respeito dignidade da pessoa,
prtica consciente dos profissionais e
justia social.
No Brasil, a receptividade da nor-
ma foi tal que, a despeito das dificul-
dades de implantao de procedimen-
tos novos, com um salto para um pa-
tamar de organizao social mais
avanado, no primeiro ano de implan-
tao da Resoluo CNS n 196/96 (de
outubro de 1996 a outubro de 1997)
foram criados cerca de 150 CEPs nas
instituies de destaque na pesquisa
no pas. Em mdia, foram constitudos
por 11 membros, destacando-se a par-
ticipao, alm dos profissionais de
sade, de profissionais do direito, filo-
sofia e teologia. A participao de pelo
menos um membro representante de
usurios da instituio se concretizou
em grande esforo de identificao e
aproximao de representantes de pa-
cientes e de militantes de grupos orga-
nizados da sociedade, desde associa-
es de portadores de patologias a as-
sociaes de voluntrios, de represen-
tantes em conselhos municipais a ve-
readores. Evidenciou-se grande avan-
o em relao a 1995 quando se cons-
tatou a existncia de to-somente um
CEP constitudo conforme a norma vi-
gente poca (Resoluo CNS n 1/88),
dentre instituies universitrias de
pesquisa em sade.
Cumprida a etapa de criao e
constituio dos CEPs, emerge como
desafio o seu funcionamento de forma
responsvel e eficaz, tanto no que diz
respeito anlise dos projetos de pes-
quisa e acompanhamento de sua exe-
cuo quanto na proposio de alter-
nativas viveis para possveis confli-
tos ticos encontrados. Alm disso, es-
pera-se adequado desenvolvimento no
sentido de sua funo educativa, re-
sultando em maior sensibilidade dos
pesquisadores e da comunidade aos
problemas ticos.
O trabalho dos Comits de ti-
ca em Pesquisa depende de duas
condies essenciais: legitimidade e
infra-estrutura adequada, esta ltima
incluindo equipe preparada, facilida-
des operacionais, organizacionais (re-
gimento interno, controle de prazos) e
oramento. Tambm devem ser previs-
tos mecanismos de avaliao do im-
pacto das suas aes, com medio da
adeso s normas, da repercusso e
sensibilizao para o tema, como por
exemplo atravs da introduo do tema
em seminrios e nas conversas na orga-
nizao, da publicao das recomenda-
es, da evoluo do nmero de consul-
tas ao Comit, da evoluo da qualida-
de cientfica e tica dos protocolos, etc.
A credibilidade do grupo vai se
estabelecendo por meio de delibera-
es cuidadosas, pronto acesso a con-
sultas e agilidade nas respostas. No
se espera que haja sempre consenso
entre os membros, o que se procura so
deliberaes mais inclusivas no sentido
de considerao dos vrios interesses,
202
com ampl a compreenso das
discordncias e do dilema, com m-
tuo respeito. Desta forma, certamente
se estar contribuindo para a sade de
nossa sociedade.
Os membros dos Comits esto
geralmente conscientes do seu papel,
mas sabem que andam sobre uma fina
linha entre trabalhar no interesse dos
sujeitos da pesquisa e trabalhar no in-
teresse das instituies e patrocinado-
res. No resta dvida de que esto sob
enorme presso para no retardar ou
interromper as pesquisas, numa po-
ca em que as instituies esto ansio-
sas pelos aportes financeiros trazidos
pelas mesmas.
A Comisso Nacional de tica
em Pesquisa
A Comisso Nacional de tica em
Pesquisa foi criada pela Resoluo CNS
n 196/96, rgo de controle social, para
desenvolver a regulamentao sobre pro-
teo dos sujeitos da pesquisa e para
constituir um nvel de recursos dispon-
veis a qualquer dos envolvidos em pes-
quisas com seres humanos. Tem tambm
um papel coordenador da rede de Co-
mits institucionais, alm de se consti-
tuir em rgo consultor na rea de tica
em pesquisas. Num primeiro momento,
tem ainda a atribuio de apreciar os
projetos de pesquisa de reas temticas
especiais, enviados pelos CEPs, ou seja,
projetos que contemplam reas com
maiores dilemas ticos e grande reper-
cusso social, at que se acumulem ex-
perincias para a elaborao de nor-
mas especficas, complementares s
existentes.
Algumas situaes concretas
Nos projetos apresentados para
avaliao dos CEPs, os pontos que
com maior freqncia so considera-
dos eticamente incorretos so os rela-
tivos ao consentimento livre e esclare-
cido, ao uso de placebo e participa-
o de pessoas em situao de
vulnerabilidade.
Consentimento livre e esclareci-
do os modelos de termo de consenti-
mento tm sido, freqentemente, moti-
vo de no aprovao dos projetos por
conterem informao insuficiente; ou-
tras vezes por serem indutores da par-
ticipao ou por no estarem em lin-
guagem acessvel ao paciente. Por ou-
tro lado, termos de consentimentos lon-
gos demais, traduzidos que so de ou-
tros pases, mais confundem que es-
clarecem, estando tambm muitas ve-
zes inadequados nossa cultura, por
serem frios e diretos.
A preocupao, muitas vezes ex-
pressa, acerca da incapacidade dos
sujeitos da pesquisa compreenderem
do termo pode ser enfrentada com o
interesse e a capacitao dos pesqui-
sadores para informarem adequada-
mente, num esforo de dilogo com a
sociedade.
Joo de Freitas chama a ateno
para o uso do termo de consentimento
como instrumento de proteo dos pes-
quisadores e estratgia de permissibi-
lidade de procedimentos que ferem a
dignidade do sujeito da pesquisa, o que
no o esprito da Resoluo CNS n
196/96. Vale, portanto, salientar: o
objetivo fundamental do termo de con-
sentimento a proteo da liberdade
e dignidade dos sujeitos da pesquisa,
203
e no dos pesquisadores ou patroci-
nadores.
Uso de placebo principalmente
em estudos de novos medicamentos e
visando evitar interferncia psicognica,
em alguns casos justifica-se a compa-
rao entre o tratamento com a nova
droga e o tratamento onde se usa um
pl acebo (substncia sem efeito
farmacolgico). No entanto, existindo
tratamento minimamente eficaz para
a doena no eticamente correto dei-
xar um grupo de pacientes sem tera-
pia, sendo que o experimento deveria
comparar, ento, o novo tratamento
com o tratamento existente ou padro.
Tm sido identificados problemas nes-
sa rea, pois no interesse de
comercializao de novos produtos,
num mercado de grande concorrncia,
usa-se a demonstrao da eficcia da
droga (frente ao placebo) e no a sua
superioridade sobre o medicamento j
existente. Muitas vezes, esse subterf-
gio no percebido e colocam-se pes-
soas em situao de risco sua sa-
de, sem nenhum possvel benefcio, a
no ser para a contabilidade das in-
dstrias.
Vulnerabilidade situaes em
que no existem as condies para o
consentimento livre, sem coaes ou
presses, devem ser cuidadosamente
analisadas, como propostas de pesqui-
sas em soldados, servidores, funcion-
rios de laboratrios e alunos. Por ou-
tro lado, preocupante a situao da
maioria dos sujeitos de pesquisa neste
pas, que sem acesso assegurado as-
sistncia sade muitas vezes buscam
a participao na pesquisa como for-
ma de obter acesso a algum tratamen-
to ou a melhor acompanhamento.
Para crianas e pessoas em situao
de discernimento prejudicado, como
portadores de doena mental, deve ser
requisitado o consentimento de seus
responsveis legais; alm disso, devem
ser informadas de acordo com a sua
capacidade e consideradas suas deci-
ses.
Exemplos de incorrees ticas
mais graves, se bem que raros, podem
ser enumerados como alertadores para
os participantes de Comits. Uma pes-
quisa com proposta de induo de pro-
blema respiratrio em crianas, seguida
de tratamento para um grupo e de
placebo para outro (controle), no pde
ser aceita, assim como outro projeto em
que se propunha o uso de um novo me-
dicamento, controlado com grupo rece-
bendo placebo, para pacientes com in-
suficincia cardaca congestiva, doena
grave e com tratamento disponvel. Um
outro estudo tinha como objetivo encon-
trar formas de superar barreiras ticas
e legais para uso de determinado pro-
cedimento! Enfim, estes so casos que
demonstram a relevncia da proposta de
avaliao tica dos projetos de pesqui-
sa e a responsabilidade dos Comits na
apreciao dos projetos e no desempe-
nho de seu papel educativo com relao
aos sujeitos da pesquisa, comunidade
cientfica e sociedade como um todo.
Bibliografia
Annas GJ. Will the real bioethics
(commission) please stand up? Hastings
Center Report 1994;24(1):19-21
Beecker HK. Ethics and clinical research.
New Engl. J. Med, 1966;274:1340-60.
204
Bertomeu MJ. Implicaes filosficas na
reflexo, discurso e ao dos comits de
tica. Biotica 1996;3:21-7.
Conselho Nacional de Sade (Brasil).
Resoluo n 196, de 10 de outubro de
1996. Aprova diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisas envol-
vendo seres humanos. Dirio Oficial da
Unio, Braslia, n. 201, p. 21082, 16
Out. 1996. Seo 1.
Conselho para Organizaes Internaci-
onais de Cincias Mdicas (CIOMS). Or-
ganizao Mundial da Sade (OMS). Di-
retrizes ticas internacionais para pes-
quisas biomdicas envolvendo seres hu-
manos. Biotica 1995;3:95-133.
Edgard H, Rothman DJ. The
institutional review board and beyond:
future challenges to the ethics of human
experimentation. Milbank Q 1995,73:4.
Francisconi CF, Kipper DJ, Oselka G, Clotet
J, Goldim JR. Comits de tica em pes-
quisa: levantamento de 26 hospitais bra-
sileiros. Biotica (CFM) 1995;3:61-67.
Freitas CBD. tica comum. Medicina
(CFM) 1997 Mar;10(79):6.
Freitas J. O consentimento na relao
mdico-paciente: experimentao in ani-
ma nobili. In: ________. Biotica. Belo
Horizonte: Jurdica Interlivros,1995:
103-16.
Levine RJ. Ethics and regulation of
clinical research. Baltimore: Urban and
Schwarzenberg, 1996: 332-61.
Neves MCP. As comisses de tica hos-
pitalares e a institucionalizao da
biotica em Por tugal. Biotica (CFM)
1996;3:29-35.
Royal College of Physicians of London.
Guidelines on the practice of ethics
commitees in medical research involving
human subjects. London: Royal College
of Physicians,1996.
Vieira S, Hossne WS. Experimentao
com seres humanos. So Paulo: Moder-
na, 1987.
Wells F. Research ethics committees. In:
Luscombe D, Stonier PD, editors.
Clinical research manual supplement 2.
Londres: Euromed Communication,
1996: s2.1
205
Sueli Gandolfi Dallari
A Biotica e a Sade Pblica
A evoluo do conceito
de sade
Durante a histria da humanida-
de, muito j se escreveu a respeito da
conceituao de sade. Entretanto, o
reconhecimento de que a sade de
uma populao est relacionada s
suas condies de vida e de que os
comportamentos humanos podem
constituir-se em ameaa sade do
povo e, conseqentemente, seguran-
a do Estado, presente j no comeo
do sculo XIX, fica claramente estabe-
lecido ao trmino da II Guerra Mundi-
al. Sem dvida, a experincia de uma
guerra apenas vinte anos aps a ante-
rior, provocada pelas mesmas causas
que haviam originado a predecessora
e, especialmente, com capacidade de
destruio vrias vezes multiplicada,
forjou um consenso. Carente de recur-
sos econmicos, destruda sua crena
na forma de organizao social, alijada
de seus lderes, a sociedade que sobre-
viveu a 1945 sentiu a necessidade
ineludvel de promover um novo pac-
to, personificado na Organizao das
Naes Unidas. Esse organismo incen-
tivou a criao de rgos especiais des-
tinados a promover a garantia de al-
guns direitos considerados essenciais
aos homens. A sade passou, ento, a
ser objeto da Organizao Mundial da
Sade (OMS), que considerou sua pro-
teo com o primeiro princpio bsico
para a felicidade, as relaes harmo-
niosas e a segurana de todos os po-
vos (1). No prembulo de sua Consti-
tuio, assinada em 26 de julho de
1946, apresentado o conceito de sa-
de adotado: Sade o completo bem-
estar fsico, mental e social e no ape-
nas a ausncia de doena. Observa-
se, portanto, para essa conceituao,
o reconhecimento da essencialidade
do equilbrio interno e do homem com
o ambiente (bem-estar fsico, mental e
social), recuperando a experincia pre-
dominante na histria da humanida-
de, de que so reflexos os trabalhos de
Hipcrates, Paracelso e Engels, por
exemplo.
O conceito de sade acordado em
1946 no teve fcil aceitao. Diz-se
206
que corresponde definio de felici-
dade, que tal estado de completo bem-
estar impossvel de alcanar-se e que,
alm disso, no operacional. Vrios
pesquisadores procuraram, ento,
enunciar de modo diferente o concei-
to de sade. Assim, apenas como
exemplo, para Seppilli sade a
condio harmoniosa de equilbrio
funcional, fsico e psquico do indiv-
duo integrado dinamicamente no seu
ambiente natural e social (2); para
Last sade um estado de equilbrio
entre o ser humano e seu ambiente,
permitindo o completo funcionamento
da pessoa (3); e para Dejours, con-
vencido de que no existe o estado de
completo bem-estar, a sade deve ser
entendida como a busca constante de
tal estado (4). Essas exemplificaes
parecem evidenciar que, embora se
reconhea sua difcil operaciona-
lizao, qualquer enunciado do concei-
to de sade que ignore a necessidade
do equilbrio interno do homem e des-
se com o ambiente o deformar irre-
mediavelmente.
O Estado e a sade pblica
interessante notar que a preo-
cupao com a sade nas civiliza-
es conhecidas contempornea ao
aparecimento da sociedade e do Esta-
do. E mais esclarecedor perceber que
tal preocupao revela-se ao pesqui-
sador hodierno no exame de textos
normativos das mais antigas civiliza-
es. Para explicar a existncia dessa
contemporaneidade Sieghart (5) cons-
tri uma interessante alegoria, que
pode ser assim resumida:
Supondo-se pacfica a afirmao
de que os Estados contemporneos
sejam fundados no consentimento de
seus membros, que concordam sobre
as regras mnimas que devem gover-
nar seus prprios comportamentos
para o bem-comum, e supondo-se que
isso sempre foi assim, observa-se a
necessidade do ar, da gua, do alimen-
to e do abrigo para que Ado sobrevi-
vesse. A formao da famlia e da pe-
quena comunidade dela decorrente
Adolndia percebe, ento, que al-
gumas atividades seriam mais bem
realizadas se o fossem em conjunto,
reconhece diferentes habilidades em
diversos indivduos e desenvolve uma
estrutura onde os membros exercem
funes tpicas. Enquanto vivendo no
paraso no havia qualquer conflito.
Entretanto, vindo um perodo de escas-
sez apresentam-se duas opes: com-
petio ou cooperao (6). Supondo-
se que os cidados de Adolndia
tenham decidido cooperar sob o ar-
gumento de que dividindo amplamen-
te o sofrimento sua quantidade total
pode ser reduzida e que ao voltar a
prosperidade tenham proposto uma
srie de regras para a distribuio de
qualquer bem que no futuro se tornas-
se escasso, tais regras seriam
vinculantes para todos os membros da
comunidade. Novos problemas se
apresentam em Adolndia: o crime
de Caim, a chegada de novos habitan-
tes, provocando decises tais como:
fixar uma reparao para o crime e,
no sendo ela realizada, expulsar Caim
da comunidade por no ter respeitado
as leis; reconhecer e respeitar os direi-
tos de todos os recm-chegados desde
que eles se comprometessem a aceitar
as leis de Adolndia.
207
Ora, a conquista e a preservao
da sade pressupem limitaes s
condutas nocivas para a vida social.
Isso explica porque documentos da
Antigidade possuem, entremeadas
com preceitos morais e religiosos, re-
gras que implicam o reconhecimento
da sade como indispensvel digni-
dade humana. Existem, por exemplo,
normas relativas ao zelo exigido do
profissional que cuida da doena no
Cdigo de Hamurabi direito
babilnico , e no Cdigo de Manu
direito hindu (7). Durante a Idade M-
dia, com o predomnio da religio, foi
estabelecida a obrigao da caridade.
A Igreja mantinha a responsabilidade
principal de ajuda aos desafortunados
e desempenhava um papel preponde-
rante no desenvolvimento dos estabe-
lecimentos que lhes eram destinados.
Tratava-se, entretanto, de obrigao
moral. Nos ltimos sculos desse lon-
go perodo histrico comea-se a ob-
servar uma lenta infiltrao do poder
comunal no funcionamento da assis-
tncia pblica aos desfavorecidos,
que objetiva, tambm, a defesa social,
iniciando o processo de transformao
da obrigao moral em dever legal.
A confluncia dos ideais revolu-
cionrios do liberalismo, em suas ver-
tentes poltica e econmica, com o
racionalismo como fundamento e m-
todo, propulsores da Revoluo Indus-
trial, alterou radicalmente o compor-
tamento social em relao sade.
Um olhar sobre esse perodo pode ex-
plicar, assim, a construo do direito
sade: a urbanizao, conseqncia
imediata da industrializao no sculo
XIX, foi, juntamente com o prprio
desenvolvimento do processo industri-
al, causa da assuno, pelo Estado, da
responsabilidade pela sade do povo.
De fato, inestimvel o papel da pro-
ximidade espacial na organizao das
reivindicaes operrias. Vivendo nas
cidades, relativamente prximos, por-
tanto, dos industriais, os operrios pas-
sam a almejar padro de vida seme-
lhante. Conscientes de sua fora po-
tencial, devida sua quantidade e im-
portncia para a produo, organizam-
se para reivindicar tal padro. Entre-
tanto, cedo o empresariado percebeu
que precisava manter os operrios
saudveis para que sua linha de mon-
tagem no sofresse interrupo. Per-
cebeu, tambm, que devido proxi-
midade espacial das habitaes
operrias ele poderia ser contamina-
do pelas doenas de seus empregados.
Tais concluses induziram outra: o
Estado deve se responsabilizar pela
sade do povo. claro que para ele
empresrio o povo era apenas os
operrios, uma vez que os cuidados
individuais de sade eram facilmente
financiados pelos industriais. Por ou-
tro lado, eles tambm faziam parte do
povo quando exigiam que o Estado
garantisse a ausncia de doenas
contaminantes em seu meio ambien-
te. E, como o Estado liberal era ostensi-
vamente instrumento do empresariado
nessa fase da sociedade industrial, foi
relativamente fcil, aos empresrios,
transferir para o Estado as reivindica-
es operrias de melhores cuidados
sanitrios. O processo contnuo de or-
ganizao do operariado promovido a
partir da conscientizao de suas con-
dies de trabalho e facilitado pelo de-
senvolvimento dos meios de comuni-
cao levou-o a reivindicar que o Es-
tado, idealmente acima dos interesses
dos industriais, se responsabilizasse
208
pela fiscalizao das condies de sa-
de no trabalho.
Outro olhar pode, contudo, expli-
car a construo do direito sade,
pela grande influncia das idias re-
volucionrias do liberalismo poltico
vigente no final do sculo XVIII. Como
afirma Ligneau, os filsofos desse s-
culo persuadiram os dirigentes revo-
lucionrios que apenas a caridade fa-
cultativa para com os infelizes um
sistema humilhante e aleatrio que no
estava mais de acordo com as neces-
sidades e o esprito dos tempos mo-
dernos (8). Assim, a discusso na As-
semblia Constituinte francesa de 1791
apresentou concluses muito prximas
do conceito hodierno de direito sade.
O individualismo permaneceu a
caracterstica dominante nas socieda-
des reais ou histricas que sucederam
quelas diretamente forjadas nas re-
volues burguesas. Nem mesmo o so-
cialismo ou as chamadas sociedades
do bem-estar eliminaram a predomi-
nncia do individualismo, uma vez que
so indivduos os titulares dos direitos
coletivos, tais como a sade ou a edu-
cao. Justifica-se a reivindicao en-
cetada pelos marginalizados, de seus
direitos humanos frente coletivida-
de, porque os bens por ela acumula-
dos derivaram do trabalho de todos os
seus membros. Os indivduos tm, por-
tanto, direitos de crdito em relao ao
Estado representante jurdico da so-
ciedade poltica. Assim, embora o in-
dividualismo permanea como princi-
pal caracterstica dos direitos huma-
nos enquanto direitos subjetivos, so
estabelecidos diferentes papis para o
Estado, derivados da opo poltica
pelo liberalismo ou socialismo. De fato,
para a doutrina liberal o poder do Es-
tado deve ser nitidamente limitado, ha-
vendo clara separao entre as funes
do Estado e o papel reservado aos in-
divduos. Tradicionalmente, as funes
tpicas do Estado restringiam-se pre-
servao da ordem, da moralidade e
da sade pblicas (9). J o socialis-
mo, impressionado com os efeitos so-
ciais da implementao do Estado li-
beral e do egosmo capitalista que
lhe serviu de corolrio , magistralmen-
te apresentados por Dickens (10), por
exemplo, reivindicava para o Estado
papel radicalmente oposto. Com efei-
to, os socialistas do sculo XIX luta-
vam para que o Estado interviesse ati-
vamente na sociedade, para terminar
com as injustias econmicas e soci-
ais. Entretanto, nem mesmo os socia-
listas ignoraram o valor das liberdades
clssicas, do respeito aos direitos in-
dividuais declarados na Constituio.
O mundo contemporneo vive
procura do difcil equilbrio entre tais
papis heterogneos, hoje, indubita-
velmente, exigncia do Estado demo-
crtico. Todavia, o processo de
internacionalizao da vida social
acrescentou mais uma dificuldade
consecuo dessa estabilidade: os di-
reitos cujo sujeito no mais apenas
um indivduo ou um pequeno conjun-
to de indivduos, mas todo um grupo
humano ou a prpria humanidade.
Bons exemplos de tais direitos de
titularidade coletiva so o direito ao
desenvolvimento (11) e o direito ao
meioambiente sadio (12). Ora, a pos-
sibilidade de conflito entre os direitos
de uma determinada pessoa e os di-
reitos pertencentes ao conjunto da
coletividade pode ser imediatamente evi-
denciada e, talvez, os totalitarismos do
sculo XX, supostamente privilegiando
209
os direitos de um povo e, nesse nome,
ignorando os direitos dos indivduos,
sejam o melhor exemplo de uma das
faces da moeda. A outra face pode ser
retratada na destruio irreparvel dos
recursos naturais necessrios sadia
qualidade de vida humana, decorren-
te do predomnio do absoluto direito
individual propriedade.
A biotica reintroduzindo a
preocupao tica no comporta-
mento dos sistemas de sade
A prevalncia do individualismo
ainda que matizado em poca ca-
racterizada pela rpida e crescente
internacionalizao da vida social pro-
vocou a supervalorizao do cresci-
mento econmico, visto como o nico
caminho para a conquista da felicida-
de humana. De fato, naquele mesmo
cenrio de reconstruo do perodo
imediatamente aps a II Grande Guer-
ra, a ajuda dita humanitria pres-
tada s sociedades mais atingidas pelo
conflito blico visava ao fornecimen-
to, e o estmulo para a produo, dos
bens econmicos que o benfeitor con-
siderava indispensveis para a manu-
teno de um adequado padro de
vida. Assim, tanto as sociedades que
haviam experimentado a revoluo in-
dustrial no sculo anterior quanto
aquelas que sob jugo colonial man-
tinham uma agricultura de subsistn-
cia adotaram o mesmo modo de pro-
duo, procurando objetos semelhan-
tes para a satisfao de suas necessi-
dades. E, apesar das vrias
intercorrncias com reflexos fundamen-
talmente econmicos, foi clara a cons-
tante tendncia identificao
prioritria de tais necessidades com
bens materiais, menosprezando-se as
necessidades espirituais.
O desenvolvimento cientfico e
tecnolgico, corolrio dessa evoluo,
comea a partir da segunda metade
dos anos sessenta do sculo XX a
introduzir questes que o prprio de-
senvolvimento no consegue respon-
der. curioso, ento, observar que
para evitar qualquer ameaa ordem
socioeconmica e poltica estabelecida
a liderana poltica e intelectual das
sociedades contemporneas encontra
a resposta na reintroduo da preocu-
pao tica. Com efeito, pode-se en-
contrar a partir daquele perodo ini-
cialmente nas sociedades de economia
mais avanada, mas em breve atingin-
do, tambm, os Estados ditos em de-
senvolvimento movimentos, eventos,
documentos, e publicaes tendo por
tema a tica aplicada ao exerccio pro-
fissional, ao comrcio, ao governo, s
relaes internacionais, s situaes
biomdicas, etc.
Pode-se afirmar que a biotica ou
a tica aplicada aos sistemas de sa-
de foi, sem dvida, o ramo da tica
aplicada que mais se desenvolveu, con-
siderando-se o nmero de eventos,
publicaes, documentos internacio-
nais e disciplinas acadmicas a ela
dedicados. importante, mesmo, no-
tar que a propagao do uso do termo
biotica revela, de certo modo, a ex-
panso dessa tica aplicada. De fato,
cunhado para traduzir a importncia
crescente das cincias biolgicas na
determinao da qualidade de vida
(13), o termo tem-se prestado a uma
querela em busca de sua definio, em
diversas sociedades (14). Entretanto,
210
talvez o nico princpio, j agora tra-
dicionalmente aceito como bsico
para a discusso biotica, que no se
encontra esboado no juramento
hipocrtico, seja aquele da autono-
mia. E isso pode ser facilmente com-
preendido quando se percebe que ele
se refere, prioritariamente, autono-
mia das pessoas, conceito de impos-
svel estipulao na democracia gre-
ga da antigidade, onde a harmo-
nia entre o homem e a totalidade do
cosmos permaneceu como critrio
tico (15).
inegvel, contudo, que a reper-
cusso da biotica provocou uma nova
leitura dos princpios hipocrticos,
adaptando-os s situaes postas pelo
avano da cincia e da tecnologia na
rea da sade. A simples referncia,
por exemplo, justia pelo seu contr-
rio (16) d origem aplicao da teo-
ria da eqidade na distribuio dos
bens e benefcios decorrentes do co-
nhecimento biomdico no campo da
sade. E, quando se pretende exami-
nar os princpos bioticos luz de sua
implicao com a sade pblica, tor-
na-se evidente a necessidade dessa
nova l eitura, uma vez que a
prevalncia do individualismo num
ambiente de contestao vem provo-
cando, inclusive, uma redefinio do
papel do Estado na promoo da sa-
de pblica.
Com efeito, a constatao da re-
lativa ineficincia, seja do setor pbli-
co, seja da poltica regulatria em sa-
de, tem fomentado um ambiente cul-
tural de desvalorizao da sade p-
blica que vem contaminando os pr-
prios sanitaristas. Muitos deles pro-
pem, ento, que as reformas do setor
caminhem no sentido de valorizar op-
es sociais e econmicas que promo-
vam agresses sade pblica. Assim,
o mercado visto como virtualmente
sempre o melhor protetor da sade
(17) e se esquece que muitas vezes a
doena no resulta apenas de um
subproduto mas sim do produto mes-
mo do mercado, como comprovam
aquelas decorrentes da afluncia (die-
tas hipergordurosas, carros velozes) ou
da tenso social (drogas, violncia).
Por outro lado, cresce o nmero dos
que acreditam que a doena seja as-
sunto pessoal (deciso de fumar, usar
capacete e cinto de segurana) e m-
dico (a melhora do estado de sade
depende do acesso aos cuidados m-
dicos) e que, portanto, as escolhas
efetuadas so responsabilidade indivi-
dual. Eles procuram ignorar que a sa-
de pblica deve necessariamente
adotar uma postura ecolgica, uma vez
que o prprio conceito de sade en-
volve aspectos sociais e culturais, alm
dos estritamente fsicos, biolgicos e
geogrficos. Da decorre que a deci-
so de fumar, por exemplo, no confi-
gura uma escolha puramente pessoal
mas, principalmente, um condiciona-
mento cultural. O mesmo ocorre no que
concerne opo individual. H quem
acredite que, por exemplo, a deciso
de fumar ainda que sabidamente
prejudicial sade deva ser sem-
pre respeitada, uma vez que suas con-
seqncias recaem no prprio indiv-
duo fumante e que, portanto, a liber-
dade individual no deve ser limitada.
Mais uma vez se esquece que a satis-
fao pessoal usada como indicador
de sade pblica induz ao aumento de
gastos que resultam apenas na maior
sensao individual de segurana (nos
Estados Unidos da Amrica, 95% de
211
todo o dinheiro que a sociedade gasta
com sade vai para a ateno mdi-
ca) (18) e provoca, tambm, o para-
doxo preventivo definido por Burris
(19) como uma medida preventiva
que traz grande benefcio para a po-
pulao mas oferece pouco para cada
membro individualmente.
Verifica-se, conseqentemente,
que o mesmo raciocnio empregado
para explicar a reintroduo da tica
no mundo atual justifica sobremanei-
ra sua especial valorizao pelos pro-
fissionais de sade pblica que vm
aceitando a mudana conceitual im-
posta pelo individualismo predominan-
te. Essa constatao necessria no
para menosprezar a preocupao ti-
ca reinstalada no campo da sade
pblica mas principalmente para
que se tenha claro, na avaliao das
situaes submetidas ao crivo tico,
que as alternativas correntemente
apresentadas representam apenas
uma parte aquela decorrente da
aceitao inquestionada do individu-
alismo do leque das alternativas
possveis.
A solidariedade como base da
construo de um sistema de
sade justo
Ao reorganizar o Estado, os bur-
gueses revolucionrios do sculo
XVIII decidiram na Frana que a
solidariedade era um valor to impor-
tante quanto a igualdade e a liberdade
para fundamentar a nova organizao.
Essa a razo pela qual Liberdade,
Igualdade e Fraternidade so os ter-
mos da divisa republicana de 1792.
A incorporao pelo discurso poltico
e jurdico dos conceitos ali expressos
conseqncia do predomnio da fi-
l osofia jusnatural ista e do
racionalismo decorreu da noo de
que todos os homens esto, e devem
estar, ligados entre si como irmos.
Portanto, fraternidade, durante o per-
odo revolucionrio, significava a
fraternidade universal (20). Apresenta-
da como o resultado e a expresso
desse novo elo entre o povo, a noo
de fraternidade estava
indissoluvelmente ligada reivindica-
o da liberdade e da igualdade. Con-
tudo, somente a conquista poltica des-
ses valores permitiu que a noo de
fraternidade passasse a abrigar a ela-
borao de leis e decretos sobre assis-
tncia social e solidariedade. Com efei-
to, como j se observou, a partir do
fim do sculo XIX a maioria dos fil-
sofos considera a interveno das au-
toridades pblicas na assistncia so-
cial no apenas necessria mas parte
das funes do Estado. Frente ao cres-
cente aumento da pobreza o Estado
deveria intervir e responsabilizar-se
pela organizao da assistncia social
porque se a assistncia for bem
dirigida, dever-se- contabiliz-la me-
nos como uma despesa para o Tesou-
ro pblico que como um emprstimo
que trar grande benefcio para a Na-
o (21).
De fato, a idia de fraternidade que
inspirou os revolucionrios do sculo
XVIII foi suplantada pela noo de soli-
dariedade, considerada mais operativa
pelos revolucionrios do sculo seguin-
te. Recuperava-se, ento, a compreen-
so de que o pacto social tinha por ori-
gem e por conseqncia a solidarieda-
de: a motivao que levava os homens
212
a associarem-se seria a oportunidade de
se beneficiarem da solidariedade do gru-
po, justificando a existncia de obriga-
es e direitos sociais. Assim, tambm,
reafirmava-se ser a solidariedade tradu-
o de um direito natural (22),
contrapartida do direito de propriedade
(23) ou necessidade da vida em socie-
dade, para aumentar o rendimento so-
cial, preservando o capital produtivo, e
para manter a ordem pblica. O que se
buscava, assim, na segunda metade do
sculo XIX, era construir uma doutrina
que permitisse a imediata operacio-
nalizao de direitos derivados do reco-
nhecimento do princpio da solidarieda-
de. Para tanto, o desenvolvimento da fi-
losofia positiva de Auguste Comte ofere-
ceu um ponto de partida ao declarar ser
seu objeto ressaltar a ligao de cada
um a todos (...) de modo a tornar
involuntariamente familiar o sentimento
ntimo da solidariedade social, conveni-
entemente aplicvel a todos os tempos e
a todos os lugares (24) e sublinhar a
importncia do princpio da diviso do
trabalho como constitutivo da solidarie-
dade. E Renouvier fez decorrer do prin-
cpio da solidariedade conseqncias
jurdicas precisas: a instituio de um
imposto progressivo e a criao de um
sistema geral de garantias visando ofe-
recer aos indivduos, alm dos direitos
clssicos (trabalho, educao e assistn-
cia), a previso contra todos os riscos
sociais susceptveis de ameaar sua pes-
soa ou seus bens, por meio da tcnica
do seguro (25) que precederam a for-
mulao do solidarismo de Bourgeois.
Buscava-se, ento, estabelecer uma
base slida e incontestvel para o dever
de solidariedade, que no mais deveria
repousar sobre a caridade e o amor
sentimentos subjetivos mas sobre um
princpio cientfico e racional que pudes-
se justificar a interveno do Estado. Ou,
na precisa traduo de Borghetto, o sen-
tido profundo e o ensinamento essencial
da doutrina deve residir, em ltima an-
lise, nesta nica ambio: alargar o cr-
culo das obrigaes morais susceptveis
de serem sancionadas pelo Direito dan-
do a esse alargamento o carter de uma
necessidade tanto mais confivel e sli-
da quanto apoiada numa lei revelada
pela cincia e num fato observado por
todos: a lei e o fato da interdependncia
e da solidariedade social (26).
O solidarismo no foi imple-
mentado como opo poltica; entre-
tanto, a idia de solidariedade trans-
formou o direito pblico positivo, sen-
do suas principais conseqncias jur-
dicas a adoo de um sistema de as-
sistncia e de previdncia social e a
implementao de uma poltica de so-
cializao dos riscos. Esse direito p-
blico definiu uma fase histrica da vida
sociopoltica e econmica que o ex-
secretrio de planejamento do gover-
no francs, Michel Albert (27), chama
de capitalismo enquadrado pelo Esta-
do, em que o Estado, por meio de leis,
decretos e por convenes coletivas,
sob presso das lutas operrias, se
dedica a humanizar os rigores do ca-
pitalismo primitivo. E que ele conside-
ra suplantada, aps a vitria dos Es-
tados Unidos na Guerra do Golfo
(1991), pela instaurao da nova fase
chamada do capitalismo no lugar do
Estado. Trata-se, ento, de reduzir o
campo de competncia do Estado a um
mnimo, de substitu-lo pelas foras do
mercado, proposta que vinha confi-
gurando a nova ideologia do capitalis-
mo o mercado bom/o Estado ruim;
a fiscalidade desencoraja os mais din-
213
micos e arrojados; a previdncia social
estimula a preguia desde os gover-
nos Thatcher, na Inglaterra, e Reagan,
nos Estados Unidos e que, somada
ao sucesso econmico estadunidense
aps aquela guerra, passa a parecer
imbatvel. Contudo, o que Rosanvallon
revela com preciso que existe, na
atualidade, uma crise do paradigma
assegurador no Estado-providncia,
pois ao assumir a socializao dos ris-
cos por meio do seguro a sociedade
torna secundria a avaliao das fal-
tas pessoais e das atitudes individuais.
A seguridade instaura a idia de uma
justia puramente contratual (o regime
de indenizaes), deixando de ser ne-
cessrio o recurso argumentao ju-
rdica ou moral para fundamentar as
polticas sociais. Assim, o seguro so-
cial funciona como a mo invisvel pro-
duzindo segurana e solidariedade
sem que intervenha a boa vontade dos
homens (28). E tal resultado, compat-
vel com uma sociedade poltica e so-
cialmente mais homognea como
aquela do final do sculo XIX, ina-
dequado sociedade contempor-
nea onde, em matria social, o con-
ceito central muito mais o de pre-
cariedade ou de vulnerabilidade do
que o de risco.
Com efeito, a organizao social
atual no mais estimula a manuteno
de um sistema de seguridade social
como reflexo da solidariedade que de-
corre do conceito de justia, que de
acordo com Rawls apenas pode ser
estabelecido sob o vu da ignorncia.
Assim, para que a virtude da justia
opere necessrio que as partes no
saibam como as vrias alternativas
iro afetar seu caso particular e que
elas sejam obrigadas a avaliar os prin-
cpios baseadas somente em conside-
raes gerais (29). Ora, num contex-
to de desemprego em massa e de cres-
cimento da excluso social a possibili-
dade tcnica de se identificar compor-
tamentos individuais que causam pre-
juzos aos prprios indivduos e so-
ciedade tende a ser empregada sem-
pre que a solidariedade esteja em dis-
cusso, rasgando o vu da ignorncia,
que antes havia permitido a instaura-
o do seguro social.
A mesma inadequao revelada
pelo mecanismo assegurador na socie-
dade atual parece caracterizar a ordem
jurdica que, para atender a demanda
de regulao de sujeitos complexos e
de setores de funcionamento autno-
mo, sobrecarrega o legislador. De fato,
no Estado-providncia contemporneo
os problemas de sujeio lei e de se-
gurana jurdica se agudizam. Eles so
assim descritos por Habermas: De um
lado, as normas de preveno defini-
das pelo legislador so apenas parci-
al mente capazes de regul ar
normativamente e incluir no processo
democrtico os programas de ao
complexos, concebidos em funo de
um futuro longnquo e de prognsticos
incertos que requerem uma constante
autocorreo e so, de fato, dinmi-
cos. De outro lado, constata-se a der-
rota dos meios de regulao impera-
tivos de preveno clssicos, conce-
bidos mais em funo dos riscos ma-
teriais que de riscos atingindo po-
tencialmente um nmero importante de
pessoas. (30). Acrescente-se, ainda,
que os direitos sociais concebidos como
direito compensador de uma disfuno
passageira so inadaptados e terminam
por originar uma espiral de autodes-
truio da solidariedade.
214
Contudo, apenas com a rein-
troduo da solidariedade na vida soci-
al se poder construir um sistema de sa-
de pblica justo e, portanto, conforme ao
pretendido pela biotica. Trata-se, ento,
de repensar a solidariedade sabendo cla-
ramente qual a situao e quais as opor-
tunidades de cada um. Assim, conven-
cidos de que o vu da ignorncia foi ir-
remediavelmente rompido, os homens
do final do sculo XX buscam encontrar
um caminho comum entre as prefern-
cias individuais, as escalas de valores e
os conceitos para construir a solidarie-
dade, valorizando a cidadania social. A
partir da constatao de que o seguro
uma tcnica, enquanto a solidariedade
um valor, eles consideram que o segu-
ro pode ser um modo de produo da
solidariedade mas no evitam a conclu-
so de que o imposto deve ser parte do
financiamento do sistema de solidarie-
dade a ser instalado no Estado contem-
porneo, lembrando que o imposto de
solidariedade ser tanto melhor aceito
quanto mais esteja indexado a fatores
objetivos: solidariedade entre deficientes
e normais, jovens e velhos, empregados
e desempregados, pois se a solidarieda-
de consiste em organizar a segurana de
todos ela implica compensar as
disparidades de status. Para tanto, vem
desenvolvendo mecanismos de distribui-
o vertical entre classes no interior
dos sistemas de seguridade social e,
mesmo, criando novos tipos de direito
social, compreendidos entre o direito e
o contrato, tendo por fundamento ex-
presso o princpio da solidariedade (31).
Tem-se claro que o direito pode
assegurar a coeso de sociedades com-
plexas. Entretanto, para que permita a
construo de um sistema de sade jus-
to, conforme aos princpios da biotica
contempornea, indispensvel que as
condies procedimentais do processo
democrtico sejam protegidas. Isto ,
torna-se necessrio garantir que as dis-
cusses relativas aplicao do direito
sejam completadas por aquelas referen-
tes aos fundamentos do direito. Assim,
indispensvel a criao de um espao
jurdico pblico, suplantando a cultura
existente dos peritos e suficientemente
sensvel para submeter ao debate pbli-
co as decises sobre princpios como
o da solidariedade social que trazem
os problemas(32). Ainda na lio de
Habermas, a chave para a gnese de-
mocrtica do direito encontra-se na
combinao e mediao recproca en-
tre a soberania do povo juridicamente
institucionalizada e a soberania do povo
no institucionalizada. Tal equilbrio im-
plica a preservao de espaos pbli-
cos autnomos, a extenso da partici-
pao dos cidados, a domesticao do
poder das media e a funo mediado-
ra dos partidos polticos no estatiza-
dos (33). Assim, por exemplo, a par-
ticipao popular na administrao
deve ser considerada um procedimen-
to eficiente ex ante para legitimar as
decises que apreciadas conforme
seu contedo normativo atuam como
atos legislativos ou judicirios.
Conclui-se que a aplicao da
biotica na sade pblica implica a cons-
truo de uma sociedade solidria que,
necessariamente, deve estar refletida no
direito de gnese democrtica. Ora, ape-
nas a produo da solidariedade, agora
sob o sol do conhecimento, e a manu-
teno do espao jurdico pblico per-
mitem superar a velha oposio entre
direitos formais e reais, direitos polticos
e sociais, e mesmo a diferena entre a
idia de democracia e a de socialismo,
215
uma vez que no seio de uma teoria
ampliada de democracia que os di-
reitos sociais podem ser repensados
e os direitos polticos aprofundados
ao mesmo tempo. E somente uma
sociedade assim constituda pode
gerar um sistema de sade justo,
onde o respeito pela autonomia das
pessoas e a busca constante de seu
maior benefcio integraro o compor-
t ament o que o def i ni r como
bioeticamente adequado.
Referncias
1. Constituio da Organizao Mundial
da Sade, adotada pela Conferncia In-
ternacional da Sade, realizada em New
York de 19 a 22 de julho de 1946.
2. Seppilli A. citado por Berlinguer G. A
doena. So Paulo: HUCITEC/CEBES,
1988: 34.
3. Last JM. Heal th: a dictionary of
epidemiol ogy. New York: Oxford
University Press, 1983.
4. Dejours C. Por um novo conceito de
sade. Rev Bras Sade Ocup
1986;14(54):7-11.
5. Sieghart P. The lawful rights of mankind.
Oxford: Oxford University Press, 1986: 3-11.
6. Questo magistralmente apresentada
por Machado de Assis, em Quincas
Borba, que popularizou a expresso ao
vencedor as batatas.
7. Veja-se os artigos 218 e 219 do Cdigo
de Hamurabi e o artigo 695 do Cdigo
de Manu.
8. Ligneau P. Droit de la protection
sanitaire et sociale. Paris: Berger-
Levrault, 1980: 69.
9. Funes do Estado-polcia, enumeradas
no art.356 da Constituio francesa de
1795 (termidoriana, de 5 frutidor, ano III).
10.Como em Oliver Twist.
11.Objeto da Declarao sobre o direito ao
desenvolvimento, adotada pela Assem-
blia Geral da ONU em 4 de dezembro
de 1986.
12.Objeto da Declarao do Rio de Janei-
ro de 1992, da ONU.
13.Por tter VR. Bioethics: bridge to the
future. Englewood Cliffs: Prentice-Hall,
1971.
14.Veja-se, por exemplo, a tentativa de con-
senso representada na elaborao da
Encyclopedia of Bioethics [Reich WT,
editor. New York: Macmillan, 1978]: o
estudo sistemtico da conduta humana
na rea das cincias da vida e dos cui-
dados de sade, na medida em que essa
conduta examinada luz dos valores
e princpios morais; ou a longa argu-
mentao empregada por Guy
Bourgeault. Lthique et le droit: face aux
nouvelles technologies bio-mdicales.
Bruxelles: De Boeck-Wesmael, 1990,
para justificar seu estudo: um novo
modo de aproximao, orientado pela
tomada de deciso, dos desafios ticos
l igados util izao crescente de
tecnologias que interferem diretamente
com a vida humana e a sade.
15.Silva FL. Breve panorama histrico da
tica. Biotica (CFM) 1993;1: 7-11.
16.(...) e me absterei de todo o mal e de
toda a i nj usti a (...) Corpus
Hippocratique, Serment. Traduction E.
Litr IV p. 629-43.
17.Burris S. The invisibility of public health:
population-level measures in a politics
of market individualism. Am J Public
Health 1997;87:1607-10.
18.McGinnisJM, FoegeW. Actual causes of
death in the United States. JAMA
1993:270:2207-12.
216
19.Burris S. Op.cit. 1987:1609.
20.Veja-se, por exemplo, o que demanda-
va o Terceiro Estado da cidade de Vienne
em seu cahier de dolance: Os France-
ses tero uma ptria comum, no sero
mais que um s povo, uma grande fa-
mlia onde os mais velhos empregaro
a superioridade de sua inteligncia e de
suas foras apenas para a felicidade de
seus irmos (Recueil complet des dbats
lgislatifs et politiques des Chambres
franaises de 1787 1860. Achives Par-
lamentares, t.2:83).
21.Condorcet. Essai sur la constitution et
les fonctions des assembles provin-
ciales, 2me partie, article IV.
22.Veja-se, j nesse mesmo sentido, o pro-
jeto de declarao de direitos apresen-
tado por Robespierre em abril de 1793:
art.1- O objetivo de toda associao po-
ltica a manuteno dos direitos natu-
rais e imprescritveis do homem e o de-
senvolvimento de todas as suas facul-
dades.
art.10- A sociedade obrigada a prover a
subsistncia de todos os seus membros,
seja fornecendo-lhes trabalho, seja as-
segurando os meios de subsistncia
queles que no tm condies de tra-
balhar (Recueil complet des dbats
lgislatifs et politiques des Chambres
franaises de 1787 1860, seo de 24
de abril de 1793. Archives Parlamenta-
res; t.36:198-9.).
23.Conforme se deduz do projeto apresen-
tado Assemblia Legislativa por
Bernard dAiry, em nome do Comit des
Secours Publics, na seo de 13 de ju-
nho de 1792: ... a propriedade do rico
e a existncia do pobre, que sua pro-
priedade, devem ser igualmente coloca-
das sob a proteo da f pblica
(Recueil complet des dbats lgislatifs et
politiques des Chambres franaises de
1787 1860. Archives Parlamentaires,
t.45: 138).
24.Comte A. Discours sur lesprit positive.
Paris: Vrin, 1983: 118 citado em
Borghetto M. La notion de fraternit en
droit public franais. Paris: L.G.D.J,
1993: 354.
25.Renouvier C. Science de la morale. Pa-
ris: Alcan, 1908 citado em Borghetto M.
Op.cit. 1993: 358.
26.Borghetto M. Op.cit. 1993: 378.
27.Al bert M. Capi tal i sme contre
capitalisme. Paris: Seuil, 1991.
28.Rosanvalon P. La nouvelle question
sociale. Paris: Seuil, 1995: 26.
29.Rawls J. A theory of justice. Cambridge:
Harward University Press, 1971: 136-7.
30.Habermas J. Droit et dmocratie: entre
faits et normes. Paris: Gallimar, 1996:
461.
31.Veja-se o exemplo francs, onde, a par-
tir de 1982, os funcionrios pblicos re-
colhem 1% de seu salrio para financi-
ar o seguro-desemprego, embora no
estejam sujeitos a esse risco; e onde foi
criada por meio de uma lei de 1 de
dezembro de 1988 a renda mnima de
insero social-RMI, que, usando o im-
posto sobre a fortuna recolhido pelos
mais favorecidos, oferece uma ajuda
financeira para os mais desfavorecidos,
que se engajam pessoalmente a pro-
curar uma insero social.
32.Habermas J.Op.cit. 1996: 469.
33.Habermas J. Op.cit 1996: 471.
217
Introduo
O humano enfrenta seu estado de
necessidade e precariedade de vrias
maneiras, inclusive com o saber-fazer
racional e operacional da tecnocincia.
Ademais, neste sculo adquiriu a com-
petncia biotecnocientfica, que visa
transformar e reprogramar o ambien-
te natural, os outros seres vivos e a si
mesmo em funo de seus projetos e
desejos, fato que se torna, cada vez
mais, motivo de grandes esperanas e
angstias, consensos e conflitos, em
particular do tipo moral.
Antes da poca Moderna, que viu
surgir a cincia experimental, a cultu-
ra dos direitos humanos e o Estado
de direito, as fontes de legitimidade
do agir eram, de regra, de tipo trans-
cendente (mticas, religiosas ou na-
turais), mas aos poucos foram sendo
desconstrudas at serem substitudas
por princpios seculares, imanentes ao
imaginrio social, s foras polticas,
econmicas e tecnocientficas vigentes
na sociedade.
Fermin Roland Schramm
Biotica e Biossegurana
Hoje, este processo de seculari-
zao da sociedade parece irreversvel,
apesar da persistncia de vrias for-
mas de transcendncia em seu mbi-
to, e o bem-estar humano parece de-
pender, prevalentemente, dos progres-
sos da biotecnocincia. Esta situao
configura uma nova condio antro-
polgica que no se d sem conflitos e
controvrsias acerca do que bem,
bom e razovel, devido existncia de
uma pluralidade de concepes perti-
nentes, legtimas, e no necessariamen-
te comensurveis, sobre o Bem, o Jus-
to e o Verdadeiro (1).
Por transformar nossas concep-
es mais arraigadas acerca da vida e
da morte, sade e doena, bem-estar
e precariedade, assim como dos limi-
tes que podemos, ou no, ultrapassar,
a competncia biotecnocientfica
considerada por alguns um progres-
so; por outros, um perigo. Uma an-
l i se imparcial da moralidade da
biotecnocincia deve, portanto, con-
siderar que esta motivo de fascnio
e espanto (2), mas deve tambm sub-
meter tais sentimentos luz da razo,
218
analisando a cogncia (cogency) dos
argumentos pr e contra os fatos da
biotecnocincia, evitando seja o
niil ismo progressista seja o
fundamentalismo conservador, optan-
do por uma ponderao prudencial de
riscos e benefcios.
Deve-se encarar, por exemplo, os
argumentos de que no existiriam limi-
tes a priori ao know how tecnocientfico,
que os limites considerados outrora in-
superveis podem tornar-se rapidamen-
te obsoletos e que em cincia nunca
deve-se dizer nunca (3), razo pela
qual doenas, molstias, incapacida-
des e outros transtornos, que causam
mal -estar, podero um dia ser
minimizados ou vencidos.
Mas existem tambm argumentos
contrrios, como aquele de que existi-
riam riscos inerentes prtica
tecnocientfica e biotecnocientfica,
tais como: 1) os riscos biolgicos as-
sociados biologia molecular e en-
genharia gentica, s prticas
laboratoriais de manipulao de agen-
tes patognicos e, sobretudo, aos Or-
ganismos Geneticamente Modificados
(OGMs), que podem estar na origem,
por exemplo, do surgimento de novas
doenas virais ou do ressurgimento de
antigas doenas infecciosas mais vi-
rulentas, por um lado, e 2) os riscos
ecolgicos resultantes da introduo de
OGMs no meio ambiente ou da redu-
o da biodiversidade, por outro.
Ambos os tipos de argumentos
so pertinentes mas, provavelmente,
no so totalmente novos. Com efeito,
o homem adapta e transforma seu
meio natural h milhares de anos, ten-
do aprendido a domesticar, selecionar,
cruzar animais e plantas e a utilizar
microorganismos para fabricar alimen-
tos e roupas. Parece, portanto, que hoje
s estaramos continuando prticas
imemoriais que, em si, no deveriam
ser motivo de apreenso particular pois
delas que dependeram as condies
de vida passadas e dependem, ainda,
as presentes. Porm, a praxis do ho-
mem contemporneo mudou de esca-
la, atingindo patamares nunca vistos
antes: ela j no se limita reforma
do mundo externo, mas alcana as pr-
prias estruturas da matria e da vida,
inclusive a estrutura da vida humana.
Por isso, o know how biotecnocientfico
atual levanta questes que, para mui-
tos, so inditas, tais como a seguran-
a biolgica e a transmutao dos va-
lores morais.
A biossegurana, enquanto nova
disciplina cientfica, e a biotica, en-
quanto nova disciplina filosfica, se
preocupam com esta situao (aparen-
temente) indita, tentando ponderar os
prs e os contras e, se for o caso, pro-
por leis, normas e diretrizes com o in-
tento de minimizar riscos, abusos, con-
flitos e controvrsias, sem prejudicar,
entretanto, os avanos biotecnocien-
tficos. Nesse sentido, a biossegurana
e a biotica parecem ter o mesmo tipo
de objetivo ou vocao.
Mas cada disciplina opera tambm
a partir de seus pontos de vista especfi-
cos e com suas ferramentas prprias e
legtimas, em princpio diferentes. Isto no
impede que, respeitando determinadas
condies, exista uma cooperao inter
e transdisciplinar entre as duas discipli-
nas, sobretudo se consideramos que
existem preocupaes comuns, tais como
a qualidade do bem-estar presente e
futuro dos seres humanos e no-huma-
nos; o grau de aceitabilidade das vri-
as formas de risco; a legitimidade de
219
intervir no dinamismo intrnseco dos
processos biolgicos em geral e da vida
humana em particular, etc. Tais pro-
blemas so complexos e polmicos e
parece que nenhuma disciplina, sozi-
nha, possa dar conta deles.
Mas, mesmo aceitando esta argu-
mentao no plano dos fins, biotica
e biossegurana devem ter, cada uma,
suas ferramentas especficas, condio
necessria para uma autntica coope-
rao interdisciplinar. Em suma,
ambas se preocupam com uma srie
de referentes comuns (a probabilida-
de dos riscos e de degradao da qua-
lidade de vida de indivduos e popula-
es) e legtimos (a aceitabilidade das
novas prticas), mas a biossegurana
o faz quantificando e ponderando ris-
cos e benefcios, ao passo que a
biotica analisa os argumentos racio-
nais que justificam ou no tais riscos.
Em nossa apresentao aborda-
remos, de forma introdutria, duas
questes: 1) a emergncia do
paradigma biotecnocientfico e o
surgimento das biotecnologias moder-
nas, responsveis pela evoluo do
conceito de biossegurana; 2) os dife-
rentes papis de biossegurana e
biotica na avaliao de riscos e be-
nefcios da biotecnocincia.
Paradigma biotecnocientfico,
biotecnologias e biossegurana
O paradigma biotecnocientfico
emerge, progressivamente, a partir da
segunda metade do sculo XX, graas
aos espetaculares avanos na compe-
tncia em analisar e manipular a in-
formao gentica de praticamente
todas as espcies de seres vivos, inclu-
sive da espcie humana.
Esta competncia recente e ain-
da rodeada por incertezas, mas pode-
se razoavelmente supor que veio para
ficar. Por isso, ela hoje objeto de es-
peranas, temores e controvrsias
morais.
Historicamente, as razes do
paradigma biotecnocientfico se encon-
tram na segunda metade do sculo
XIX, quando surgiram a teoria da evo-
luo de Darwin (4) e a teoria genti-
ca de Mendel (5). De fato, existem
razes mais antigas: as da cincia ex-
perimental ou Moderna do sculo XVII,
nascida da aliana entre o saber raci-
onal da epistme e o fazer operacional
da tchne que, dos Gregos at Re-
nascena, haviam sido rigorosamen-
te separadas devido a um profundo
preconceito contra os arteses, con-
siderados com desdm tanto por
Plato e Aristteles quanto pelos
Escolsticos (6).
Entretanto, somente aps a Se-
gunda Revoluo Biolgica, ocorrida
com a descoberta da estrutura do DNA
por Watson e Crick (1953)(7), e a con-
seqente aplicao prtica operada
pela engenharia gentica dos anos oi-
tenta, que se pode falar em emergn-
cia stricto sensu do paradigma
biotecnocientfico. Com efeito, a partir
deste momento que se criam as condi-
es para que a forma de saber-fazer
racional e tcnico dos engenheiros no
se limitasse mais aos objetos fsicos e
qumicos, mas fosse tambm aplicado
aos organismos biolgicos com o ob-
jetivo de reprogram-los de acordo
com projetos de melhoria do bem-estar
humano. Em outros termos, com a Se-
gunda Revoluo Biolgica torna-se
220
possvel uma aliana entre o saber-fa-
zer dos engenheiros e aquele dos bi-
logos, e ento que surge o biotecno-
logista e a biotecnocincia se torna um
paradigma cientfico (8).
A vigncia deste paradigma am-
plia quantitativa e qualitativamente o
poder humano de atuao, logo tam-
bm a probabilidade dos riscos liga-
dos a suas prticas. Com isso, trans-
forma-se tambm a responsabilidade
humana em pelo menos dois sentidos:
a) porque o saber-fazer do
biotecnologista afeta a prpria identi-
dade do homem, ou sua natureza,
graas interveno programada nos
seus genes ou programa; b) porque
transforma-se a prpria autocom-
preenso que o humano tem de si, de
suas prticas e de sua posio no mun-
do. Assim, o novo know how torna-se
objeto das mais variadas especulaes
e motivo de controvrsias morais.
Este o caso, por exemplo, da
engenharia gentica (9), que consiste
na transformao da composio ge-
ntica de um organismo, resultante da
introduo direta de material gentico
de um outro organismo, ou construdo
em laboratrio (10) e que torna com-
petente um organismo em fazer arti-
ficialmente o que um outro organis-
mo sabe fazer naturalmente (por
exemplo, uma protena como a insuli-
na). Isso objeto de preocupaes tan-
to por parte de leigos quanto por parte
dos especialistas, sobretudo tendo em
conta que se esta tecnologia foi inici-
almente aplicada a microrganismos e
plantas hoje aplicada a animais su-
periores (como foi o caso recente das
duas ovelhas transgnicas produtoras
do Fator IX, uma protena utilizada no
combate contra a hemofilia) (11) e
pode, em princpio, ser aplicada aos
humanos.
Eis a razo porque crescem os
temores acerca dos novos poderes e de
eventuais abusos que a engenharia
gentica tornaria possveis e que se-
gundo alguns quase certamente se
realizaro, a menos que renunciemos
a ela, por consenso ou por lei.
Em particular, cresce a suspeita
acerca da incapacidade dos humanos
em controlar seus efeitos daninhos,
que seriam cumulativos, irreversveis,
de longo alcance e em escala planet-
ria. Neste caso, utiliza-se o assim cha-
mado argumento do possvel deslize
(slippery slope argument), segundo o
qual deveramos renunciar a fazer algo
mesmo que isso fosse, em determina-
das circunstncias, positivo, porque
seria o primeiro passo rumo a um pos-
svel dano futuro.
Preocupao e suspeita so leg-
timas, pelo menos se considerarmos
em conta aquilo que muitos especia-
listas consideram um gap crescente
entre a competncia biotecnocientfica
e a competncia moral, sendo que esta
seria incapaz (pelo menos nas suas
formas tradicionais) de dar conta dos
novos desafios. Esta perplexidade foi
sintetizada por Hans Jonas com a ex-
presso vazi o t i co (et hi cal
vacuum), resultante do fato de a ci-
ncia contempornea ser essencial-
mente reducionista, mecanicista e
despreocupada com os anseios atu-
ais acerca do futuro da vida sobre a
Terra (12).
Mas porque utilizar o termo
biotecnocincia e no o sinnimo
biotecnologias? O que que os distin-
gue? Afinal de contas, a biotecnologia
a aplicao da biologia para fins
221
humanos, que implica em utilizar or-
ganismos para prover aos humanos
alimentos roupas, medicamentos, e
outros produtos (13).
De fato, embora sinnimos, os
dois termos tm um sentido tcnico
diferente, sendo que o termo
biotecnocincia indica a vigncia de
um paradigma cientfico, ao passo que
o termo biotecnologias indica o con-
junto de prticas e produtos que o
paradigma torna possveis, tais como
a engenharia gentica ou a repro-
duo artificial, por um lado, e os
OGMs ou clones, por outro. Em
outras palavras, trata-se de concei-
tos de ordens lgicas diferentes, pois
as biotecnologias e seus produtos so
objetos conceituais de primeira ordem,
ao passo que a biotecnocincia um
objeto de segunda ordem que define o
espao conceitual da anl ise
epistemolgica de tais cincias e tc-
nicas. Os problemas abordados nos
dois casos so diferentes: a descrio
e compreenso dos fenmenos, assim
como seu campo de aplicabilidade, por
um lado; a consistncia e a fidedigni-
dade dos conceitos e mtodos adotados
pelas primeiras, por outro.
Esta distino importante no
s para o filsofo da cincia, que lida
com objetos de segunda ordem, isto ,
com paradigmas, mas tambm para o
filsofo moral, que distingue um obje-
to de primeira ordem como a moral e
um objeto de segunda ordem como a
tica (ou biotica), sendo que a moral
o conjunto de cdigos de valores e
princpios vigentes num momento his-
trico determinado, ao passo que a
tica analisa a consistncia dos argu-
mentos morais, quer dizer, objetos de
primeira ordem (14). No caso espec-
fico da anlise biotica, a distino
entre primeira e segunda ordem im-
portante porque evita, por exemplo, a
confuso entre os sentimentos e valo-
res morais intuitivos do senso comum
(que todos ns temos na medida em
que possumos uma moral) e a anlise
racional e imparcial da consistncia
dos argumentos em jogo numa dispu-
ta moral (que em princpio s um pro-
fissional da anlise moral, filsofo ou
no, possui).
Feita esta distino, consideremos
as biotecnologias. Com este termo
indicam-se tanto as tecnologias biol-
gicas da engenharia gentica
(tecnologia do DNA recombinante,
clonagem, fertilizao in vitro, dentre
outras) quanto tecnologias biolgicas
mais antigas ou tradicionais (que
remontam a milhares de anos a.C.),
tais como a seleo, a criao e o cru-
zamento de animais e plantas, a utili-
zao de microrganismos para produ-
zir po, vinho, cerveja, iogurte e quei-
jo, razo pela qual poder-se-ia afirmar
que a prpria gentica provavelmen-
te uma cincia muito mais antiga do
que se pense (15).
Um argumento a favor desta afir-
mao que as biotecnologias tradi-
cionais certamente implicaram na
transferncia de genes que alteraram
o patrimnio gentico de determina-
das espcies, e que provavelmente no
teria ocorrido naturalmente. Este foi o
caso do trigo que, atualmente, contm
aproximadamente trs vezes mais
genes que o trigo cultivado no Oriente
Mdio h dez mil anos.
Mas, embora a seleo e o cruza-
mento possam ter sido, em alguns ca-
sos, conscientes e racionais, mais
provvel que fossem baseados na
222
experincia prtica sem uma teoria ra-
cional abrangente, que s se tornar
possvel a partir da gentica e da bio-
logia molecular. Por isso, correto fa-
zer a distino entre biotecnologias tra-
dicionais e biotecnologias modernas,
sendo que estas s se tornaram de fato
possveis nas ltimas dcadas, quan-
do surgiram prticas disciplinares tais
como a cultura de clulas, de micror-
ganismos, de tecidos e, em princpio,
de rgos e organismos inteiros; a
transferncia de embries; a engenha-
ria gentica e, recentemente, a
clonagem. Nesse sentido, somente as
biotecnologias modernas seriam,
estritamente falando, biotecnologias
como as entendemos hoje, quer dizer,
resultantes da vigncia do paradigma
biotecnocientfico.
Biotecnologias tradicionais e mo-
dernas se distinguem em pelo menos
trs aspectos:
a) o cruzamento efetuado pelas
primeiras acontecia entre espci-
es prximas, ao passo que as se-
gundas permitem que seja feito
em princpio entre qualquer tipo
de espcie, independentemente
de sua distncia gentica;
b) o tempo necessrio para a atu-
ao das primeiras era muito mais
longo (em geral numa escala de
anos), ao passo que o tempo ne-
cessrio s segundas muito me-
nor (podendo chegar a poucas
semanas);
c) o campo de aplicao das pri-
meiras era bastante reduzido, ao
passo que a biotecnologia mo-
derna muito mais ambiciosa
(15), pois pretende controlar a
poluio ambiental, criar novos
frmacos, novos organismos e
reprogramar o prprio patrimnio
gentico humano em vista de uma
melhor adaptao a condies
adversas futuras e da preveno
de doenas e incapacidades de
origem gentica.
A magnitude do know how
biotecnolgico moderno tem, portan-
to, um significado importante para a
anlise moral, como veremos apresen-
tando os diferentes papis de
biossegurana e biotica.
Biossegurana e biotica:
limites e argumentos
Antes de apresentar os diferentes
papis de biossegurana e biotica,
preciso lembrar que os artefatos das
biotecnologias modernas so objeto de
preocupao de ambas as disciplinas,
tanto os artefatos j produzidos, como
OGMs e clones animais, quanto os
ainda no produzidos, mas virtualmen-
te possveis, como os clones humanos.
O carter atual ou virtual de tais
artefatos no relevante para a pon-
derao de seus riscos e benefcios,
pois estes sempre sero computados
em termos de probabilidades.
Por outro lado, os enfoques de
biossegurana e biotica so diferen-
tes, sendo que a biotica se preocupa
com os argumentos morais a favor ou
contra, e a biossegurana visa estabe-
lecer os padres aceitveis de seguran-
a no manejo de tcnicas e produtos
biolgicos. A biossegurana , portan-
to, o conjunto de aes voltadas para
a preveno, minimizao ou elimina-
o de riscos inerentes s atividades
223
de pesquisa, produo, ensino, desen-
volvimento tecnolgico e prestao de
servios, riscos que podem comprome-
ter a sade do homem, dos animais,
do meio ambiente ou a qualidade dos
trabalhos desenvolvidos (16). Em
suma, seu objeto a segurana, que
deve ser entendida tanto em sentido
objetivo, isto , associada probabili-
dade aceitvel do risco que pode ser
medida ou inferida, quanto em senti-
do subjetivo, quer dizer, associada ao
sentimento (feeling) de bem-estar. Os
dois sentidos, embora logicamente dis-
tintos, no devem ser dissociados pois
ambos so necessrios para uma po-
ltica de segurana legtima e eficaz.
Em outros termos, biotica e
biossegurana se preocupam com a
legitimidade, ou no, de se utilizar as
novas tecnologias desenvolvidas pela
engenharia gentica para transformar
a qualidade de vida das pessoas. Mas
a natureza e a qualidade dos objetos
e dos argumentos de cada disciplina
so diferentes: a biotica preocupan-
do-se com a anlise imparcial dos
argumentos morais acerca dos fatos
da biotecnocincia; a biossegurana
ocupando-se dos limites e da seguran-
a com relao aos produtos e tcni-
cas biolgicas.
A nova competncia representada
pela biotecnocincia encarada, mui-
tas vezes, como tendo um poder pelo
menos ambguo, seno daninho, que
precisa portanto ser considerado caute-
losamente, ou at rejeitado. O argumen-
to utilizado de que este poder estaria
interferindo na assim chamada ordem
natural das coisas ou na ordem divi-
na das mesmas, como indica a met-
fora brincar de Deus (playing God),
utilizada desde a Conferncia de
Asilomar (Califrnia, 1975) (17) mas
que, desde ento, deve ser considerada
um mero clich moral, em substituio
a um pensamento moral srio (18).
Em Asilomar discutiu-se a legiti-
midade da utilizao da tecnologia do
DNA recombinante e foi proposta a
elaborao de normas para o novo
campo de atividades, o que de fato
aconteceu em 1976, quando o
National Institute of Health (NIH) nor-
te-americano promulgou as primeiras
diretrizes de biossegurana. Contudo,
tais diretrizes referiam-se unicamente
segurana laboratorial e a agentes
patognicos para os humanos, e com
esse esprito que a iniciativa norte-
americana repercutiu em outros pa-
ses como o Reino Unido, Frana, Ale-
manha e Japo (19,20,21,22). Assim
sendo, a concepo sobre o papel da
biossegurana era bastante limitada,
devido essencialmente ao conceito,
muito restrito, de risco, utilizado para
implementar as normas e polticas de
preveno.
Desde ento, o conceito de risco
tornou-se mais complexo e abrangente,
graas sobretudo s anlises da
epidemiologia e das demais cincias
da Sade, vindo a ser concebido como
uma verdadeira caracterstica estrutu-
ral das sociedades ps-industriais (23).
Esta transformao do conceito de ris-
co afetou a prpria concepo do pa-
pel da biossegurana, que veio incluir,
inicialmente, a segurana contra ou-
tros riscos presentes nas atividades de
laboratrio, tais como riscos fsicos,
qumicos, radioativos, ergonmicos e
outros, e em seguida integrou os ris-
cos ambientais, o desenvolvimento
sustentado, a preservao da biodiver-
sidade e a avaliao dos provveis
224
impactos advindos da introduo de
OGMs no meio ambiente. Pode-se
assim dizer que, desde ento, consti-
tui-se uma nova l gica [da]
biossegurana [que] passa a ser uma
das premissas que aliceram os Pro-
gramas de Gesto da Qualidade, ra-
zo pela qual a biossegurana sai de
uma discusso apenas no contexto
laboratorial, onde medidas preventivas
buscavam preservar a segurana do tra-
balhador e a qualidade do trabalho, para
uma necessidade mais complexa de pre-
servar as espcies do planeta(24).
Paralelamente complexificao
do conceito de risco e ampliao do
campo de aplicao da preveno dos
riscos (abordadas pel a biosse-
gurana), houve tambm um recrudes-
cimento dos sentimentos morais impli-
cados pelas novas biotecnologias. Um
claro exemplo desse clima so as
reaes que acompanham as experi-
ncias de clonagem animal, motivo de
fascnio para alguns, de espanto para
outros, porque estariam supostamen-
te abrindo o caminho para a clonagem
do homem como um todo, quer dizer,
no s de rgos e tecidos (como pa-
rece provvel e desejvel) mas tambm
de inteiros organismos humanos (que
poderiam servir de reservatrios de
rgos e tecidos) e at de sua perso-
nalidade (o que impossvel, pouco
rentvel e no desejvel) (25,26).
Assim sendo, do ponto de vista
moral delineiam-se claramente dois
campos antagnicos:
a) para os defensores da nova
biotecnologia esta seria certamen-
te legtima desde que fosse em
prol de uma melhoria do bem-es-
tar humano, propiciando, por
exemplo, uma competncia
reprodutiva impossvel por outros
meios e, evidentemente, aps pon-
derao dos riscos e benefcios;
b) para seus detratores esta im-
plicaria em riscos praticamente
imponderveis, tais como a
eugenia positiva e a discrimina-
o, razo pela qual dever-se-ia
conforme a lgica do slippery
slope argument impor uma pru-
dente moratria, seno uma proi-
bio tout court. Em outros ter-
mos, a possibilidade de abusos
seria razo suficiente para a proi-
bio da nova tecnol ogia
reprodutiva mesmo que esta, em
alguns casos, pudesse ser consi-
derada como um bem para deter-
minadas pessoas como, por
exemplo, casais no frteis ou
portadores, atuais ou potenciais,
de doenas e incapacidades de
origem gentica.
Mas o slippery slope argument,
muito utilizado em situaes de rpi-
das transformaes (como o caso da
engenharia gentica), deve ser
logicamente distinguido de outros tipos
de argumentos, como os de tipo
probabilstico, que ponderam os efei-
tos a mdio e longo prazo de determi-
nadas prticas, ou aqueles sobre seus
efeitos colaterais. Com efeito, os argu-
mentos probabilsticos so em princ-
pio de tipo racional, ao passo que os
primeiros no so muito racionais,
mas expresso de sentimentos de in-
quietao acerca de tendncias exis-
tentes na sociedade, apesar de serem
muito utilizados em debates pblicos
graas a seu poder retrico, mais do
que argumentativo, acerca de aspec-
225
tos controvertidos da realidade e de
possveis desdobramentos futuros (27).
Existem tambm outros tipos de
perplexidades e crticas, como aque-
las de matriz foucaultiana que es-
tigmatizam a medicalizao da vida e
o assim chamado biopoder, pois este
estaria transformando as pessoas em
objetos de polticas eugnicas, racistas e
autoritrias, ou aquela de tipo
neodarwiniano acerca da ameaa
variabilidade gentica, ou biodiversidade,
indispensvel para que os sistemas vi-
vos continuem evoluindo dentro dos
parmetros estabelecidos pelas assim
chamadas leis naturais.
Existe ainda uma crtica vinda
dos defensores dos Direitos Humanos.
Neste caso argumenta-se a pessoa
humana se tornaria um mero instru-
mento em mos de terceiros, contra-
dizendo o princpio de benevolncia
kantiano que estabelece que a pessoa
nunca pode ser considerada como
mero meio mas deve ser considerada
tambm como fim em si. Em outros
termos, a engenharia gentica seria
uma potencial ameaa aos Direitos
Humanos porque poderia vir a ser um
potente fator de limitao da autono-
mia pessoal e da eqidade na alocao
de recursos, aprofundando assim as
desigualdades sociais j existentes.
Tais argumentos so em parte
pertinentes, visto que seria ingnuo
acreditar que as multinacionais que
controlam hoje o desenvolvimento das
biotecnologias queiram promover, de
forma voluntria, o bem-estar geral e
a justia global, e que os prprios
biotecnologistas no tenham interesses
pessoais envolvidos (prestgio acad-
mico, recursos, etc.), razo pela qual
um certo pessimismo seria mais do que
justificado (28). Mas pode-se perguntar,
tambm, se tais receios no estariam,
de fato, reconfigurando o campo das
lutas ideolgicas e polticas, agora di-
vidido entre defensores do progres-
so biotecnocientfico (ou progressis-
tas) e seus detratores (ou tradiciona-
listas). Se isso for verdade, estaramos
reproduzindo o tipo de atitude que
sempre acompanhou as revolues ci-
entficas desde o sculo XVII e que, em
muitos casos, atrasou o desenvolvimen-
to cientfico de muitas naes.
Seja como for, biotica e biosse-
gurana devero assumir papel de des-
taque neste debate, pois ambas tm um
forte componente normativo que as
aproxima, apesar de suas diferenas.
Ou seja, tanto uma como outra dizem
respeito s prticas da engenharia ge-
ntica, mas a biotica as enfoca a par-
tir do mtodo da anlise racional e
imparcial dos argumentos morais pr
e contra a aplicao de tais discipli-
nas, e tentando caracterizar quais so
os bons argumentos, ao passo que
a biossegurana refere-se s medidas
prticas que visam ao controle dos ris-
cos de tais disciplinas, impondo-lhes,
quando necessrio, limites no tocante
ao controle e minimizao. Assim sen-
do, seria um erro pretender que a
biotica deva impor l imites
tecnocincia e biotecnocincia pois,
neste caso, atribuir-se-ia biotica
uma tarefa que, de fato, da biosse-
gurana.
Em outros termos, entre as duas
disciplinas existem pontos em comum,
como o carter normativo e prescritivo
de suas concluses e a ponderao
entre riscos e benefcios provveis, mas
cada uma tem seu mtodo especfico,
condio sine qua non da cooperao
226
entre os especialistas das duas disci-
plinas.
Por outro lado, quando se afirma
que a biotica a anlise racional e
imparcial dos argumentos pr e con-
tra os fatos da biotecnologia, pode-se
entender dois tipos de argumentos di-
ferentes: os intrnsecos e os extrnsecos.
Os argumentos intrnsecos dizem
respeito quilo que, em princpio,
bom ou mau em si, ou seja, referem-
se natureza da ao ou ao carter
do agente; os extrnsecos, ao contr-
rio, referem-se s conseqncias, boas
ou ms, da ao. Se, por exemplo, afir-
mo que uma coisa ou uma ao boa
ou m em si, no existem, em princ-
pio, outras consideraes morais per-
tinentes, e nada poder reverter meu
primeiro julgamento.
Argumentos intrnsecos e
extrnsecos tm uma estrutura lgica
diferente e configuram, portanto, teo-
rias morais diferentes: as deontolgi-
cas, por um lado, as teleolgicas ou
conseqencialistas, por outro. No caso
dos argumentos deontolgicos as con-
seqncias no so pertinentes, ao
passo que no caso de argumentos
teleolgicos sim, visto que os argumen-
tos deontolgicos lidam com obriga-
es (do grego deon, obrigao,
dever) que devem, em princpio, ser
obedecidas sem ter em conta as
conseqncias, ao passo que os argu-
mentos teleolgicos (do grego telos,
fim, finalidade) lidam com acon-
tecimentos ou probabilidades de acon-
tecimentos, tendo em vista suas con-
seqncias ou resultados.
Porm, no caso das conseqn-
cias consideradas boas ou um
bem deve-se, ainda, estabelecer o
que pode ser considerado como um
bem, mas isso s distingue as vrias
teorias conseqencialistas entre si, tais
como as utilitaristas (que consideram
um bem a felicidade ou o bem-estar
da maioria); o conseqencialismo
hedonista (que considera um bem o
prazer pessoal independente das con-
seqncias para a coletividade); o
conseqencialismo altrusta (uma va-
riante do utilitarismo que considera um
bem sacrificar os interesses pesso-
ais em nome dos interesses da coleti-
vidade), e outros (29). Mas estas so
distines internas ao prprio campo
conseqencialista.
Em outros termos, se utilizo argu-
mentos do tipo extrnseco, uma ao
boa ou m dependendo das suas con-
seqncias, fato que ser avaliado por
algum (em princpio um espectador
imparcial) que ter a sua concepo
sobre aquilo que deve ser considerado
um bem. No caso de riscos biolgi-
cos, o bem ser minimizar a proba-
bilidade dos riscos e dos danos poss-
veis. O papel do observador consisti-
r, assim, em avaliar no a priori mas
por assim dizer a posteriori qual das
previses tem mais probabilidade de
se realizar, ou qual a relao entre os
riscos e os benefcios que efetivamen-
te se realizaro. Em suma, contraria-
mente aos argumentos intrnsecos
que valem ou no em si e por si os
argumentos extrnsecos valem por com-
parao.
Acredito que no caso da engenha-
ria gentica, e considerando que vive-
mos num mundo prevalentemente se-
cular, onde existe uma pluralidade de
bens legtimos, somente os argumen-
tos de tipo conseqencialista sejam
pertinentes. Este , alis, um possvel
ponto de convergncia entre
227
biossegurana e biotica, visto que a
biossegurana lida com a relao entre
riscos e benefcios (amplamente enten-
didos) e a biotica com argumentos
morais acerca das conseqncias po-
sitivas ou negativas.
Em particular, a biossegurana
ocupa-se atualmente com a pondera-
o de riscos e benefcios referentes aos
OGMs. Para tanto, alguns pases,
como o Brasil, dotaram-se de instru-
mentos legais especficos, interditando
por exemplo sua produo industrial e
liberao no meio ambiente (30). Con-
tudo, no entraremos no mrito deste
aspecto legal, tarefa que caberia a um
especialista em biodireito. O que nos
interessa aqui destacar so os argu-
mentos morais. Vejamos.
Um dos argumentos mais co-
muns contra a Engenharia Gentica
(EG) em geral e os OGMs em particu-
lar que tais prticas seriam necessa-
riamente de risco, como bem mostra-
riam as catstrofes ecolgicas j ocor-
ridas neste sculo XX.
Um outro argumento que a ma-
nipulao gentica, sendo no natural,
seria tambm prejudicial preservao
da biodiversidade, necessria para que
continue o processo evolutivo dos orga-
nismos e meios biolgicos. Em outros
termos, a EG seria uma ecological
roulette (31) que, como a roleta russa,
teria uma chance mnima de no aca-
bar numa catstrofe, resultante da redu-
o da biodiversidade. Este argumento
de tipo intuitivo, no demonstrativo,
portanto frgil, e sua fragilidade reside
na utilizao do prprio conceito princi-
pal da biossegurana: o conceito de
biodiversidade.
Com efeito, quando se utiliza o
argumento da biodiversidade supe-se
que toda a diversidade biolgica tenha
a mesma importncia funcional para
a evoluo dos sistemas vivos, a pre-
servao da sade humana e de seu
meio. Entretanto, esta uma suposi-
o inferida a partir de alguns indci-
os, que no prova sua validade, como
bem demostrou Popper na sua crtica
ao indutivismo (32). Ademais, num
estudo recente questiona-se a prpria
consistncia do conceito de
biodiversidade e deixa-se entender que
nem todas as espcies teriam a mes-
ma importncia funcional para a pre-
servao dos delicados equilbrios
ambientais e, conseqentemente, para
o bem-estar presente e futuro dos hu-
manos. Existiria, de fato, uma
biodiversidade boa e necessria
para o bem-estar humano e a sade
do planeta, e uma outra que seria
irrelevante (33). Esta hiptese dever,
evidentemente, ser testada pelos espe-
cialistas que trabalham neste campo,
pois sempre possvel que aquilo que
hoje considerado como irrelevante se
torne relevante mais tarde. Mas, mes-
mo no podendo dirimir esta questo,
podemos, no entanto, analisar a consis-
tncia dos argumentos morais racionais
a favor e contra utilizados nas discus-
ses da biossegurana.
Existe ainda o argumento dos Di-
reitos Humanos, baseado na possibi-
lidade da engenharia gentica vir a ser
o primeiro passo para o eugenismo
universal, devido instrumentalizao
e coisificao do humano. Como j
alertava Rifkin, se continuarmos nes-
te caminho, podemos acabar por re-
duzir a espcie humana a um produto
tecnologicamente projetado (34). Este
argumento ainda muito utilizado hoje,
mas, contra ele, pode-se argumentar que
228
numa sociedade de risco estrutural,
como a sociedade contempornea,
de fato impossvel provar que um
evento seja 100% seguro. Em suma, o
risco sempre fez parte da condio
humana do passado, quando o poder
do homem sobre a natureza era
irrelevante, e ele continua a fazer par-
te mutatis mutandis da condio hu-
mana atual, s que por causas parci-
almente diferentes, ou seja, no mais
somente devido impossibilidade de
controlar a totalidade complexa das
interaes entre seres vivos e meio
ambiente, mas tambm pela interfern-
cia biotecnolgica na dinmica inter-
na desta complexidade. Mas, neste
caso pode-se perguntar a
biotecnocincia no constituiria de
fato um aumento da complexidade dos
sistemas vivos, ao invs de sua redu-
o? Esta pergunta justifica-se se con-
siderarmos que a prtica humana sem-
pre interferiu nos processos naturais e,
na maioria das vezes, com sucesso,
melhorando as prprias condies
naturais nas quais os humanos vive-
ram e vivem ainda.
Com isso no se quer dizer que a
existncia atual do risco estrutural re-
duza a responsabilidade com o bem-
estar de indivduos e populaes hu-
manas, inclusive preservando as con-
dies das geraes futuras. Em parti-
cular, a existncia de fato do risco no
desresponsabiliza quem trabalha com
OGMs. Ao contrrio, s aumenta tal
responsabilidade e, de uma certa ma-
neira, a define melhor.
Em sntese, a responsabilidade do
cientista dupla e diz respeito :
1) reduo da probabilidade do
risco e ao aumento da probabili-
dade dos benefcios esperados,
sabendo, no entanto, que o risco,
mesmo reduzido, sempre estar
presente e que surgiro outros ris-
cos, resultantes da interferncia
nos processos naturais;
2) defesa de seu trabalho profis-
sional contra interferncias e res-
tries no relacionadas s ativi-
dades de pesquisa, pois estas so
necessrias para sua sobrevivn-
cia num mundo competitivo e vi-
tais para a prpria espcie huma-
na.
Concluindo, para reduzir um ris-
co atual preciso, muitas vezes, correr
novos riscos, que tentar-se- reduzir
novamente, criando outros riscos e
assim por diante. A conscincia deste
fato j um passo importante na abor-
dagem do risco de viver num mundo
natural em permanente transformao,
que muda no s devido sua
processualidade intrnseca mas tam-
bm contnua e necessria interven-
o humana, quer dizer, devido sua
transformao biotecnocientfica e
biotecnolgica. Em suma, uma exces-
siva prudncia no elimina necessaria-
mente o risco de catstrofes futuras
(35) e a prudncia excessiva e conser-
vadora pode eliminar a possibilidade
de nos protegermos contra ameaas
futuras, inclusive contra catstrofes
naturais de grande magnitude.
A anlise moral racional e impar-
cial, propiciada pela teoria
conseqencialista, pode ajudar a pon-
derar, com responsabilidade e prudn-
cia, e dentro das condies objetivas
existentes, as solues que tenham a
melhor (ou a menos ruim) relao entre
custos e benefcios para o bem-estar de
229
indivduos e populaes, dentro dos
valores e princpios vigentes, sobre os
quais no existe necessariamente con-
senso.
Referncias
1. Engelhardt HT Jr. The foundations of
bioethics. 2nd ver.ed. London: Oxford
University Press, 1996. Ttulo em portu-
gus: Os fundamentos da biotica. So
Paulo:Loyola, 1998.
2. Schramm FR. Eugenia, eugentica e o
espectro do eugenismo: consideraes
atuais sobre biotecnocincia e biotica.
Biotica 1997;5:203-20.
3. Bloom FE. Breakthroughs 1997. Science
1998;278:2029.
4. Darwin C. On the origin of species by
means of natural selection or the
preservation of favored races in the
struggle for life. London: Murray, 1859.
5. Mendel G. Versuche ber Pflanzen-
hybriden. Verh. Natur. Vereins Brnn
1866;4(1865):3-57.
6. Hottois G. Le paradigme biothique:
une thique pour la technoscience.
Bruxelles: De Boeck-Wesmael, 1990.
Ttulo em portugus: O paradigma
biotico: uma tica para a tecnocincia.
Lisboa: Salamandra.
7. Watson JD, Crick FHC. Molecular
structure of nucleic acids: a structure for
deoxyribose nucleic acid. Nature
1953;171:737-8.
8. Schramm FR. Paradigma biotecnocien-
tfico e paradigma biotico. In: Oda LM,
editor. Biosafety of transgenic organisms
in human health products. Rio de Ja-
neiro: FIOCRUZ, 1996: 109-27.
9. A engenharia gentica conhecida tam-
bm como biotecnologia moderna,
manipulao gentica, modificao
gentica e, com sentido mais restrito e
especfico, de tecnologia do DNA
recombinante.
10.Reiss MJ, Straughan R. Improving
nature? the science and ethics of genetic
engineering. Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 1996.
11.Schniecke AE, Kind AJ, Ritchie WA,
Mycock K, Scott AR, Ritchie M et al.
Human factor IX transgenic sheep
produced by transfer of nuclei from
transfected fetal fibroblasts. Science
1997;278:2130-33.
12.Jonas H. The i mperati ve of
responsability. Chicago: University of
Chicago Press, 1984.
13.Reiss M. Biotecnology. In: Chadwick R,
editor. Encyclopedia of Applied Ethics.
San Diego, CA: Academic Press, 1998.
v.1: 319-33.
14.Alguns autores utilizam a expresso ci-
ncia da moral quando referem-se
tica, mas preferimos no utiliz-la pela
confuso que introduz entre anlise fi-
losfica e anlise cientfica.
15.Reiss M. Op.cit. 1998: 320.
16.Comisso de Biossegurana da Funda-
o Oswaldo Cruz, citado em Teixeira
P, Val l e S, organi zadores. 1996.
Bi ossegurana: uma abordagem
multidisciplinar. Rio de Janeiro: Ed.
Fiocruz, 1996: 13.
17.Howard T, Rifkin J. Who should play
god? the artificial creation of live and
what it means for the future of the
human race. New York: Delacorte, 1977.
18.Grey W. Playing god. In: Chadwick R,
editor. Encyclopedia of Applied Ethics.
San Diego, CA: Academic Press, 1998.
v.3: 525-30.
230
19.Organization for Economic Cooperation
and Development. (OECD). Biotechno-
l ogy: i nternati onal trends and
perspectives. Paris: OECD Publ, 1982.
20.Organization for Economic Cooperation
and Development. (OECD). Safety
considerations for recombinant DNA.
Paris: OECD Publ, 1986.
21.Organization for Economic Cooperation
and Development. (OECD). Safety
considerations for biotechnology. Paris:
OECD Publ, 1992.
22.Organization for Economic Cooperation
and Development. (OECD). Safety
evaluation of food derived by modern
biotechnology. Paris: OECD Publ, 1993.
23.Beck U. Risk society: towards a new
modernity. London: Sage Publ., 1992.
24.Oda LM. Biossegurana: alguns dados
para a reflexo da CTBio-Fiocruz. Rio
de Janeiro: Fundao Oswaldo Cruz,
1997. (mimeo)
25.Schramm FR. O fantasma da clonagem
humana: reflexes cientficas e morais
sobre o caso Dolly. Cincia Hoje
1997;22(127):36-42.
26.Schramm FR. O fantasma Dolly e o
fr maco Pol l y. Cincia Hoj e
1997;22(132):58-60.
27.Van Der Burg W. Sl ipper y sl ope
arguments. In: Chadwick R, editor.
Encyclopedia of Applied Ethics. San
Diego, CA: Academic Press, 1998. v.4:
129-142.
28.Hyry M, Hyry H. Genetic engineering.
In: Chadwick R, editor. Encyclopedia of
Appl i ed Ethi cs. San Di ego, CA:
Academic Press, 1998. v.2: 407-17.
29.Hallgarth MW. 1998. Consequencialism
and deontology. In: Chadwick R, editor.
Encyclopedia of Applied Ethics. San
Diego, Academic Press, 1998. v.1: 609-
21.
30.Brasil. Leis, Decretos. Lei n 8.974, de
5 de janeiro de 1995. Normas para o
uso das tcnicas de engenharia gentica
e liberao no meio ambiente de or-
ganismos geneticamente modificados.
Dirio Oficial da Unio, Braslia, v.
403, n. 5, p. 337-9, 6 de janeiro 1995.
Seo 1.
31.Rifkin J. Declaration of a heretic.
London: Routledge and Kegan Paul,
1985.
32.Popper KR. Conjectures and refutations.
London: Routledge and Kegan Paul,
1963.
33.Grime JP. Biodiversity and ecosystem
function: the debate deepens. Science
1997;277:1260-1.
34.Rifkin J. Op.cit. 1985: 71.
35.Reiss MJ, Straughan R. Op.cit. 1996: 57.
231
A vida humana como valor
tico
Qualquer ao humana que tenha
algum reflexo sobre as pessoas e seu
ambiente deve implicar o reconheci-
mento de valores e uma avaliao de
como estes podero ser afetados. O
primeiro desses valores a prpria
pessoa, com as peculiaridades que so
inerentes sua natureza, inclusive suas
necessidades materiais, psquicas e
espirituais. Ignorar essa valorao ao
praticar atos que produzam algum efei-
to sobre a pessoa humana, seja dire-
tamente sobre ela ou atravs de modi-
ficaes do meio em que a pessoa exis-
te, reduzir a pessoa condio de
coisa, retirando dela sua dignidade.
Isto vale tanto para as aes de gover-
no, para as atividades que afetem a
natureza, para empreendimentos eco-
nmicos, para aes individuais ou
coletivas, como tambm para a cria-
o e aplicao de tecnologia ou para
qualquer atividade no campo da cin-
cia.
Biotica e Direitos Humanos
Dalmo de Abreu Dallari
Entre os valores inerentes con-
dio humana est a vida. Embora a
sua origem permanea um mistrio,
tendo-se conseguido, no mximo, as-
sociar elementos que a produzem ou
saber que em certas condies ela se
produz, o que se tem como certo que
sem ela a pessoa humana no existe
como tal, razo pela qual de primor-
dial importncia para a humanidade
o respeito origem, conservao e
extino da vida.
O que hoje pode ser afirmado
com argumentos sofisticados, aps
milnios de reflexes e discusses filo-
sficas, foi pensado ou intudo pela
humanidade h milhes de anos e con-
tinua presente no modo de ser de to-
dos os grupos humanos, tanto naque-
les que se consideram mais avanados
como nos que vivem em condies
julgadas mais rudimentares, como os
grupos indgenas que ainda vivem iso-
lados nas selvas. Como foi assinalado
por Aristteles e por muitos outros pen-
sadores, e as modernas cincias que
se ocupam do ser humano e de seu
comportamento o confirmam, o ser
232
humano associativo por natureza. Por
necessidade material, psquica (aqui
includas as necessidades intelectuais
e afetivas), espiritual, todo ser huma-
no depende de outros para viver, para
desenvolver sua vida e para sobrevi-
ver. A percepo desse fato que faz
da vida um valor, tanto nas socieda-
des que se consideram mais evoludas
e complexas quanto naquelas julgadas
mais simples e rudimentares.
Desse modo, reconhecida a vida
como um valor, foi que se chegou ao
costume de respeit-la, incorporando-
a ao ethos de todos os povos, embora
com algumas variaes decorrentes de
peculiaridades culturais. Assim, inde-
pendentemente de crenas religiosas ou
de convices filosficas ou polticas,
a vida um valor tico. Na convivn-
cia necessria com outros seres huma-
nos cada pessoa condicionada por
esse valor e pelo dever de respeit-lo,
tenha ou no conscincia do mesmo.
A par disso, oportuno lembrar que
tanto a Declarao Universal dos Di-
reitos Humanos, editada pela ONU em
1948, quanto os Pactos de Direitos
Humanos que ela aprovou em 1966
proclamam a existncia de uma digni-
dade essencial e intrnseca, inerente
condio humana. Portanto, a vida hu-
mana mais do que a simples sobre-
vivncia fsica, a vida com dignida-
de, sendo esse o alcance da exigncia
tica de respeito vida, que, como ob-
serva Cranston, por corresponder, en-
tre outras coisas, ao desejo humano
de sobrevivncia, est presente na ti-
ca de todas as sociedades humanas
(1).
A tica de um povo ou de um gru-
po social um conjunto de costumes
consagrados, informados por valores.
A partir desses costumes que se es-
tabelece um sistema de normas de
comportamento cuja obedincia ge-
ralmente reconhecida como necess-
ria ou conveniente para todos os inte-
grantes do corpo social. Se algum, por
convenincia ou convico pessoal,
procura contrariar ou efetivamente
contraria uma dessas normas tem com-
portamento antitico, presumivelmente
prejudicial a outras pessoas ou a todo
o grupo, quando no a todos os seres
humanos. Assim, fica sujeito s san-
es ticas previstas para a desobedi-
ncia, podendo, pura e simplesmente,
ser impedido de prosseguir na prtica
antitica ou, conforme as circunstn-
cias, ser punido pelos danos que te-
nha causado ou ser obrigado a repar-
los. Todos estes fatorem tm aplicao
proteo da vida no plano da tica,
sem prejuzo da proteo resultante de
seu reconhecimento como valor jur-
dico.
Cincia, tecnologia e Biotica
Recentes avanos tecnolgicos,
como tambm alguns progressos cient-
ficos, criaram possibilidades novas de
interferncia na vida humana, que po-
dem representar uma vantagem ou, con-
trariamente, um risco ou mesmo um gra-
ve prejuzo. Pelo fato de que a vida ge-
ralmente reconhecida como um valor
humano ou social, muitos sentiram a
necessidade de refletir sobre essas ino-
vaes e seus efeitos, de prever ou, pelo
menos, tentar prever, suas conseqn-
cias provveis, benficas ou malficas e,
finalmente, de avaliar tais possibilidades
luz de consideraes de ordem tica.
233
A primeira advertncia formal
sobre os riscos inerentes ao progresso
cientfico e tecnolgico foi feita pela
ONU, em 10 de novembro de 1975,
quando proclamou a Declarao so-
bre a Utilizao do Progresso Cientfi-
co e Tecnolgico no Interesse da Paz e
em Benefcio da Humanidade. Entre
as consideraes preliminares, esse
documento contm o reconhecimento
de que o progresso cientfico e
tecnolgico, ao mesmo tempo em que
cria possibilidades cada vez maiores
de melhorar as condies de vida dos
povos e das naes, pode, em certos
casos, dar lugar a problemas sociais,
bem como ameaar os direitos huma-
nos e as liberdades fundamentais do
indivduo. O artigo 6 dessa Declara-
o bem expressivo como advertn-
cia, tendo a seguinte redao: Todos
os Estados adotaro medidas tenden-
tes a estender a todos os estratos da
populao os benefcios da cincia e
da tecnologia e a proteg-los, tanto nos
aspectos sociais quanto materiais, das
possveis conseqncias negativas do
uso indevido do progresso cientfico e
tecnolgico, inclusive sua utilizao
indevida para infringir os direitos do
indivduo ou do grupo, em particular
relativamente ao respeito vida priva-
da e proteo da pessoa humana e de
sua integridade fsica e intelectual.
Nessa mesma linha de preocupa-
es tem-se desenvolvido nos ltimos
anos a Biotica, expresso de novas
preocupaes relacionadas com a vida
e seu significado tico. No ano de
1993, ao ser implantado o Comit In-
ternacional de Biotica, por iniciativa
da UNESCO, foi assinalado que ele
tinha sido criado em decorrncia das
preocupaes ticas suscitadas pelos
progressos cientficos e tecnolgicos
relacionados com a vida, sobretudo no
mbito da gentica. Entretanto, a con-
siderao da vida humana em si mes-
ma e das relaes dos seres humanos
com outros seres vivos e com a natu-
reza circundante tem ampliado rapi-
damente a extenso e a diversidade da
abrangncia da Biotica, medida que
cada reflexo ou discusso revela a
necessidade de considerao de novos
aspectos, como tambm, segundo a
feliz expresso de Miguel Reale, a ne-
cessidade de repensar o pensado.
Vem a propsito lembrar a identifica-
o da Biotica feita por Clotet: Com
o termo Biotica tenta-se focalizar a
reflexo tica no fenmeno da vida.
Constata-se que existem formas diver-
sas de vida e modos diferentes de con-
siderao dos aspectos ticos com elas
relacionados. Multiplicaram-se as reas
diferenciadas da Biotica e os modos
de serem abordadas. A tica
ambiental, os deveres para com os
animais, a tica do desenvolvimento e
a tica da vida humana relacionada
com o uso adequado e o abuso das
diversas biotecnologias aplicadas
medicina so exemplos dessa diversi-
ficao (2). Essa enorme amplitude
reveladora da conscincia de que a
procura de avanos cientficos e
tecnolgicos, bem como os seus efei-
tos, esperados ou no, colocam pro-
blemas ticos e exigem reflexo para a
defesa do ser humano, de sua vida e
de sua dignidade.
Outro sinal de alerta formal e so-
lene, que tambm pode ser conside-
rado um passo importante no senti-
do da fixao de parmetros para a
aplicao de novos conhecimentos e
novas possibilidades nas reas da
234
biologia e da medicina, a Conven-
o sobre Di rei tos Humanos e
Biomedicina, adotada em 19 de no-
vembro de 1996 pelo Conselho de
Ministros do Conselho da Europa.
Entre as consideraes constantes do
Prembulo, est a advertncia de que
o mau uso da biologia e da medici-
na pode conduzir prtica de atos
que ponham em risco a dignidade
humana. Isso sem deixar de reconhe-
cer, em outro considerando, que o
progresso na biologia e na medicina
pode ser usado para o benefcio da
gerao presente e das futuras.
So particularmente expressi-
vos, para as questes aqui aborda-
das, os artigos 2 e 4 dessa Conven-
o. De acordo com o artigo 2, os
interesses e o bem estar do ser hu-
mano devem prevalecer sobre o in-
teresse isolado da sociedade ou da
cincia. Segundo o artigo 4 qual-
quer interveno no campo da sa-
de, incluindo a pesquisa, deve ser
conduzida de acordo com obrigaes
e padres profissionais de maior re-
levncia. Como fica evidente, no
se pretende criar obstculos ou opor
barreiras ao desenvolvimento cien-
tfico e tecnolgico nos campos da
biologia e da medicina, impedindo os
avanos para que sejam preservados
padres ticos ideais. O que se exige
que toda experincia ou aplicao
de novos conhecimentos cientficos
e novas possibilidades tecnolgicas
ocorra com o mais absoluto respeito
pessoa humana, pois, alm de tudo,
seria contraditrio agredir a dignida-
de de seres humanos ou desrespeitar
a vida humana sob o pretexto de bus-
car novos benefcios para a humani-
dade.
Um fato que no se pode igno-
rar que, sobretudo em campos mais
sof i st i cados, como a bi ol ogi a
molecular e a engenharia gentica, as
inovaes freqentemente so apre-
sentadas de modo espetacular, com
o anncio de resultados fantsticos,
que muitas vezes no se confirmam
mas que, misturando fantasia e rea-
lidade, do ensejo mistificao,
aquisio de autoridade cientfica
injustificada e, tambm, explora-
o econmica. A par disso, o fasc-
nio de penetrar no desconhecido e de
desvendar mistrios que desafiam a
humanidade h sculos ou milnios
pode eliminar escrpulos e produzir
resultados desastrosos, eticamente
injustificveis.
Sinal evidente desse risco de-
monstrado por Schramm quando, ex-
pondo o pensamento de G. Hottois,
registra a emergncia de um
paradigma biotico, um paradigma
moral constitudo pela coexistncia de
princpios e teorias em conflito e, mui-
tas vezes, inconciliveis, embasados
numa pluralidade de cosmovises e de
concepes do Bem e do Mal (3). Na
realidade, essa aparente coexistncia
de princpios significa, inevitavelmen-
te, que nenhum deles levado em con-
ta, pois sendo inconciliveis sero neu-
tralizados uns pelos outros. E o
paradigma biotico acaba resultan-
do, em ltima anlise, na ausncia de
paradigma tico.
Aqui entra a necessidade de con-
siderao jurdica dos mesmos valo-
res de que se ocupa a Biotica, pois
so valores humanos fundamentais,
que precisam ser tutelados em benef-
cio de cada ser humano e de toda a
humanidade.
235
A vida humana como valor
jurdico
Para a considerao da vida
como valor jurdico, um ponto de par-
tida adequado a observao, ainda
que sucinta, do tratamento dispensa-
do pessoa humana e suas caracte-
rsticas essenciais ao longo dos tem-
pos. O exame dos documentos mais
antigos, inclusive dos mais remotos
textos legislativos, mostra que se per-
de na origem dos tempos o reconheci-
mento de que os seres humanos so
criaturas especiais, que nascem com
certas peculiaridades. Com o avano
dos conhecimentos humanos foi ha-
vendo maior preciso, esclarecendo-se
que h certas necessidades bsicas, de
natureza material, psicolgica e espi-
ritual, que so as mesmas para todas
as pessoas. Entre as peculiaridades da
condio humana encontra-se a possi-
bilidade de se desenvolver interiormen-
te, de transformar a natureza e de esta-
belecer novas formas de convivncia.
Essa evoluo levou concluso
de que o ser humano dotado de es-
pecial dignidade, bem como de que
imperativo que todos recebam prote-
o e apoio tanto para a satisfao de
suas necessidades bsicas como para
o pleno uso e desenvolvimento de suas
possibilidades fsicas e intelectuais. Em
decorrncia de todos esses fatores, foi
sendo definido um conjunto de facul-
dades naturais necessitadas de apoio
e estmulo social, que hoje se externam
como direitos fundamentais da pessoa
humana. Nos textos da antiguidade se
confundem preceitos religiosos, polti-
cos e jurdicos, mas j se percebe a
existncia de regras de comportamen-
to social impostas obedincia de to-
dos e com a possibilidade de puni-
o para os que desobedecerem. Em
vrios casos a punio vai alm da
sano moral e uma autoridade pbli-
ca pode impor castigos ou restries a
direitos.
A est a origem humana e social
dos direitos, inclusive do direito vida,
que atravs dos sculos ser reconhe-
cido e protegido como um valor jurdi-
co. Conforme observam muitos auto-
res, durante sculos a proteo da vida
como direito se deu por via reflexa.
No havia a declarao formal do di-
reito vida, mas era punido com se-
veridade quem atentasse contra ela.
Isso chegou at os nossos dias, sendo
interessante assinalar que no Brasil o
direito vida s foi expresso na Cons-
tituio de 1988, embora desde 1830
a legislao brasileira j previsse a
punio do homicida.
Existem divergncias quanto
ao momento e local em que surgi-
ram as primeiras normas que, luz
das concepes atuais, podem ser
identificadas como de direitos huma-
nos. Mas em autores da Grcia anti-
ga, assim como em documentos de di-
ferentes pocas e que hoje recebem a
qualificao de monumentos legisla-
tivos da humanidade, encontram-se
afirmaes e dispositivos que corres-
pondem ao que atualmente denomina-
mos normas de direitos humanos. A
partir do sculo V da era crist, no in-
cio da Idade Mdia, a humanidade
passou por transformaes profundas,
incluindo grandes movimentos migra-
trios, aquisio de novos conheci-
mentos que passariam a influenciar
consideravelmente a vida e a convivn-
cia das pessoas, inveno de novas
236
formas de organizao poltica e mui-
tas outras descobertas que mudariam
substancialmente os rumos da histria
humana.
Nesse ambiente surgiram graves
confrontos de valores e de objetivos
temporais imediatos ou permanentes,
favorecendo a formao de grupos
sociais privilegiados, fundados na
acumulao dos poderes militar, pol-
tico e econmico. Como parte desse
processo, foi-se definindo tambm uma
situao de submisso de indivduos
e de coletividades, fragilizados por no
terem participao nos instrumentos de
poder. E como sempre acontece quan-
do h grupos sociais com o privilgio
de uso do poder, os direitos fundamen-
tais daquelas pessoas e coletividades
mais fracas foram sendo anulados pela
vontade e pel os interesses dos
dominadores, a tal ponto que nem
mesmo a dignidade inerente sua con-
dio humana foi respeitada.
Assim nasceu a moderna diferen-
ciao entre nobres e plebeus, entre os
ricos proprietrios, sempre participan-
tes diretos ou indiretos do poder polti-
co, e os outros, incluindo pequenos
proprietrios e tambm muitas pesso-
as pobres ou miserveis que s tendo
a fora de seu corpo e de sua mente
viviam, como vivem ainda hoje, em
situao de sujeio, sendo forados,
mediante coao expressa ou
disfarada, a contribuir para a pros-
peridade dos primeiros.
Durante essa fase histrica, que
ir durar alguns sculos, os chefes que
dispunham de mais fora assumiram
poderes absolutos, exercendo, inclusi-
ve, o poder de julgar e de impor penas
escolhidas segundo seu arbtrio, o que
inclua a pena de morte, muitas vezes
aplicada para eliminar um inimigo ou
competidor, como tambm para servir
de exemplo e fator de intimidao, pre-
venindo eventuais rebelies. Na segun-
da metade da Idade Mdia, com o au-
mento do nmero de cidades e o cres-
cimento de suas populaes, vai-se
definir e desenvolver a figura do co-
merciante e emprestador de dinheiro
o qual, muitas vezes, ser tambm vi-
timado pelo poder absoluto dos
governantes que sob diversos pretex-
tos eliminavam os credores e confis-
cavam seu patrimnio.
O excesso de agresses vida,
integridade fsica e dignidade da pes-
soa humana, em decorrncia do ego-
smo, da insacivel voracidade, da in-
sensibilidade moral dos dominadores,
acabaria por despertar reaes tanto
no plano das idias quanto no mbito
da ao material. Desse modo, surgi-
ram teorias e movimentos revolucio-
nrios que foram contribuindo para
que um nmero cada vez maior de se-
res humanos tomasse conscincia de
sua dignidade essencial e dos direitos
a ela inerentes.
Os direitos humanos: defesa
da pessoa e da vida
No final da Idade Mdia, no s-
culo XIII, aparece a grande figura de
Santo Toms de Aquino, que ter gran-
de importncia para a recuperao
do reconhecimento da dignidade
essencial da pessoa humana. Embora
sendo um pensador cristo, Santo To-
ms de Aquino retomou Aristteles,
sob muitos aspectos, e procurou fixar
conceitos universais. De seus estudos,
237
pondo-se de parte alguns pontos de
suas idias que se apiam em dogmas
de f, resultam noes fundamentais
que foram e podem ser acolhidas mes-
mo por quem no aceite os princpios
cristos. Tomando a vontade de Deus
como fundamento dos direitos huma-
nos, Santo Toms condena as violn-
cias e discriminaes dizendo que o
ser humano tem Direitos Naturais que
devem ser sempre respeitados, chegan-
do a afirmar o direito de rebelio dos
que forem submetidos a condies in-
dignas. Nessa mesma poca nasce a
burguesia, uma nova fora social,
composta por plebeus que foram acu-
mulando riqueza mas continuavam
excludos do exerccio do poder polti-
co e, por isso, eram tambm vtimas
de violncias, discriminaes e ofen-
sas sua dignidade.
Durante alguns sculos foram ain-
da mantidos os privilgios da nobre-
za, que, associada Igreja Catlica,
tornara-se uma considervel fora po-
ltica e usava a fundamentao teol-
gica dos direitos humanos para sus-
tentar que os direitos dos reis e dos no-
bres decorriam da vontade de Deus. E
assim estariam justificadas as discri-
minaes e injustias sociais. Os s-
culos XVII e XVIII trouxeram elemen-
tos novos, que acabaram pondo fim
aos antigos privilgios. No campo das
idias surgem grandes filsofos polti-
cos, que reafirmam a existncia dos
direitos fundamentais da pessoa huma-
na, sobretudo os direitos liberdade e
igualdade, mas dando como funda-
mento desses direitos a prpria natu-
reza humana, descoberta e dirigida
pela razo.
Isso favoreceu a ecloso de mo-
vimentos revolucionrios que, associ-
ando a burguesia e a plebe, ambas in-
teressadas na destruio dos secula-
res privilgios, levaram derrocada do
antigo regime e abriram caminho para
a ascenso poltica da burguesia. Os
pontos culminantes dessa fase revolu-
cionria foram a independncia das
colnias inglesas da Amrica do Nor-
te, em 1776, e a Revoluo Francesa,
que obteve a vitria em 1789. A nova
situao criada a partir da foi intei-
ramente favorvel burguesia, mas
adiantou muito pouco para os que no
eram grandes proprietrios. Em 1789
foi publicada a Declarao dos Direi-
tos do Homem e do Cidado, onde se
afirmava, no artigo primeiro, que to-
dos os homens nascem e permanecem
livres e iguais em direitos, mas, ao
mesmo tempo, admitia distines so-
ciais, as quais, conforme a Declara-
o, deveriam ter fundamento na uti-
lidade comum.
Logo foram achados os pretextos
para essas distines, instaurando-se,
desse modo, um novo tipo de socieda-
de discriminatria, com novas classes
de privilegiados, estabelecendo-se
enorme distncia entre as camadas
mais ricas da populao, pouco nume-
rosas, e a grande massa dos mais po-
bres. Sob o pretexto de garantir o di-
reito liberdade, e esquecendo com-
pletamente a igualdade, foram cria-
das novas formas polticas que pas-
saram a caracterizar o Estado libe-
ral-burgus: o mnimo possvel de in-
terferncia nas atividades econmicas
e sociais; supremacia dos objetivos do
capitalismo, com plena liberdade
contratual, garantia da propriedade
como direito absoluto, sem responsa-
bilidade social; e ocupao dos cargos
e das funes pblicas mais relevantes
238
apenas por pessoas do sexo masculi-
no e com independncia econmica.
As injustias acumuladas, as dis-
criminaes formalmente legalizadas, o
uso dos rgos do Estado para susten-
tao dos privilgios dos mais ricos e de
seus serviais acarretaram sofrimentos,
misria, violncias e inevitveis revoltas,
agravadas pelas disputas, sobretudo de
natureza econmica, entre os partici-
pantes dos grupos sociais mais favore-
cidos, em mbito nacional e internacio-
nal. Essa produo de injustias teve
como conseqncia a perda da paz, com
duas guerras mundiais no sculo XX,
chegando-se a extremos, jamais imagi-
nados, de violncia contra a vida e a dig-
nidade da pessoa humana.
Um aspecto paradoxal da histria
dos direitos humanos que, apesar de
serem direitos de todos os seres huma-
nos, o que deveria levar concluso l-
gica de que nenhuma pessoa contra
os insumos, pois no razovel que al-
gum se posicione contra seus prprios
direitos, no isso o que se tem verifica-
do. H pessoas que colocam suas am-
bies pessoais, busca de poder, prest-
gio e riqueza acima dos valores huma-
nos, sem perceber que desse modo eli-
minam qualquer barreira tica e semei-
am a violncia, criando insegurana
para si prprias e para seu patrimnio.
Isso explica as violncias da Idade M-
dia, com o estabelecimento dos privil-
gios da nobreza e a servido dos traba-
lhadores. Essa , tambm, a raiz das
agresses sofridas pelos ndios da Am-
rica Latina com a chegada dos europeus,
estando a, igualmente, o nascedouro das
violncias contra a pessoa humana ins-
piradas nos valores do capitalismo, que
tenta renovar agora sua imagem
desgastada, propondo a farsa da
globalizao. A esto pessoas que so
contra os direitos humanos.
Assinale-se tambm que existem
pessoas ingnuas, mal informadas ou
excessivamente temerosas, que no
chegam a perceber o jogo malicioso
dos dominadores, feito especialmente
atravs dos meios de comunicao de
massa. A defesa dos direitos humanos
apresentada como um risco para a
sociedade, uma subverso dos direi-
tos, especial mente dos direitos
patrimoniais, aterrorizando-se essas
pessoas com a afirmao de que a
defesa dos mais pobres significa uma
caminhada para a pobreza generaliza-
da, pois no h bens suficientes para
serem distribudos. Outros, igualmen-
te ingnuos, mal informados ou exces-
sivamente temerosos, aceitam o argu-
mento malicioso de que protestar con-
tra a tortura, exigir que a pessoa sus-
peita, acusada ou condenada tenha
respeitada a dignidade inerente sua
condio humana fazer a defesa do
crime. A est outra espcie de pesso-
as que pensa ser contra os direitos
humanos, por no perceberem que es-
ses so os seus direitos fundamentais,
que deveriam defender ardorosamente.
So tambm contra os direitos
humanos os que, em nome do progres-
so cientfico e de um futuro e incerto
benefcio da humanidade, ou alegan-
do atitude piedosa em defesa da dig-
nidade humana, pregam ou aceitam
com facilidade a inexistncia de limi-
tes ticos para as experincias cient-
ficas ou o uso dos conhecimentos m-
dicos para apressar a morte de uma
pessoa. E assim estes ltimos defendem
a eutansia e o suicdio assistido, que
so formas de homicdio, atitudes que
levam antecipao da extino da
239
vida, que nenhuma norma de direitos
humanos autoriza. H hipteses em
que s resta uma aparncia de vida e,
neste caso, tomadas todas as cautelas
para a eliminao de dvidas quanto
ao verdadeiro estado do paciente e
obtida a autorizao livre e conscien-
te de quem pode decidir pela pessoa
que, na realidade, j deixou de viver
a sim possvel deixar de prolongar a
vida aparente e optar pela ortotansia,
em nome da dignidade humana. Isso
compatvel com os direitos humanos.
Um dado importante que, por
meio da experincia, da reflexo e, mui-
tas vezes, do sofrimento, muitas pessoas
de boa f, que se julgavam contrrias
aos direitos humanos, adquiriram cons-
cincia de sua contradio e mudaram
de atitude. necessrio e oportuno res-
saltar que, embora sem a rapidez que
seria ideal, vem aumentando sempre o
nmero de pessoas conscientizadas, sen-
do necessrio um trabalho constante de
esclarecimento e estmulo para que se
acelere a ampliao do nmero de de-
fensores dos direitos humanos.
Os direitos humanos no sculo
XX: avanos e resistncias
A segunda metade do sculo XX
ficar marcada na histria da huma-
nidade como a abertura de um novo
perodo, caracterizado pelos avanos dos
direitos humanos. Terminada a II Guer-
ra Mundial, estando ainda abertas as
feridas da grande tragdia causada pelo
egosmo, pelo excesso de ambies ma-
teriais, pela arrogncia dos poderosos e
pela desordem social resultante, iniciou-
se um trabalho visando a criao de um
novo tipo de sociedade, informada por
valores ticos e tendo a proteo e pro-
moo da pessoa humana como seus
principais objetivos. Foi instituda, ento,
a ONU, com o objetivo de trabalhar
permanentemente pela paz. Demons-
trando estarem conscientes de que esse
objetivo s poder ser atingido medi-
ante a eliminao das injustias e a
promoo dos direitos fundamentais
da pessoa humana, os integrantes da
Assemblia Geral da ONU aprovaram,
em 1948, a Declarao Universal dos
Direitos Humanos.
Embora no tenha a eficcia jur-
dica de um tratado ou de uma Consti-
tuio, a Declarao Universal um
marco histrico, no s pela amplitude
das adeses obtidas mas, sobretudo,
pelos princpios que proclamou, recupe-
rando a noo de direitos humanos e
fundando uma nova concepo de con-
vivncia humana, vinculada pela solida-
riedade. importante assinalar, tambm,
que a partir da Declarao e com base
nos princpios que ela contm j foram
assinados muitos pactos, tratados e con-
venes tratando de problemas e situa-
es particulares relacionados com os
direitos humanos. Estes documentos im-
plicam obrigaes jurdicas e o
descumprimento dos compromissos ne-
les registrados acarreta sanes de vri-
as espcies, como o fechamento do aces-
so a fontes internacionais de financia-
mento e aos servios de organismos in-
ternacionais, alm de outras conse-
qncias de ordem moral e material.
Um exemplo muito significativo dos
avanos obtidos a partir da Declarao
Universal a generalizao da proibi-
o de discriminaes contra a mulher.
A partir da proclamao da igualdade
de todos os seres humanos, em direitos
240
e dignidade, como est expresso no arti-
go primeiro da Declarao Universal,
vrios pactos e tratados dispuseram so-
bre situaes especficas em que a igual-
dade vinha sendo negada, fixando re-
gras e estabelecendo responsabilidades.
E essa mesma diretriz, tanto no caso dos
direitos das mulheres como em outros
de igual magnitude, j penetrou nas
Constituies, o que significa um refor-
o, de ordem prtica, da eficcia das nor-
mas, bem como facilidade maior para
seu conhecimento e aplicao.
Todos estes fatores que marcam
a existncia de uma nova mentalida-
de, caracterizada pela valorizao da
tica e pelo reconhecimento dos direi-
tos humanos, no foram feitos e no
ocorrem sem resistncias. Os que
pem acima de tudo a consecuo de
objetivos econmicos tm aliados
numa intelectualidade que usa argu-
mentos sofisticados, chamando de
idealistas utpicos os defensores dos
direitos humanos. O deslumbramento
com os avanos no mundo da cincia
e da tecnologia tambm cria resisten-
tes, estando entre estes os que se
opem Biotica ou que tentam
manipul-la, propondo o estabeleci-
mento de padres de comportamen-
to que, aparentando uma nova ti-
ca, so de tal modo flexveis que equi-
valem negao da tica. E por esse
caminho negam tambm os direitos
humanos.
Direitos humanos e Biotica:
conjugao necessria
Os direitos humanos e a Biotica
andam necessariamente juntos.
Qualquer interveno sobre a pes-
soa humana, suas caractersticas fun-
damentais, sua vida, integridade fsi-
ca e sade mental deve subordinar-se
a preceitos ticos. As prticas e os
avanos nas reas das cincias biol-
gicas e da medicina, que podem pro-
porcionar grandes benefcios huma-
nidade, tm riscos potenciais muito
graves, o que exige permanente vigi-
lncia dos prprios agentes e de toda
a sociedade para que se mantenham
dentro dos limites ticos impostos pelo
respeito pessoa humana, sua vida
e sua dignidade. Na prtica, a verifi-
cao desses limites facilitada quan-
do se levam em conta os direitos hu-
manos, como tm sido enunciados e
clarificados em grande nmero de do-
cumentos bsicos, incluindo a Decla-
rao Universal dos Direitos Humanos
e os pactos, as convenes e todos os
acordos internacionais, de carter
amplo ou visando a objetivos especfi-
cos, que compem o acervo normativo
dos direitos humanos.
O que se pode concluir disso tudo
que a Declarao Universal dos Di-
reitos Humanos marca o incio de um
novo perodo na histria da humani-
dade. E a Biotica est inserida no
amplo movimento de recuperao dos
valores humanos que ela desencadeou.
Os que procuram a preservao ou a
conquista de privilgios, os que bus-
cam vantagens materiais e posies de
superioridade poltica e social, sem
qualquer considerao de ordem ti-
ca, os que pretendem que seus inte-
resses tenham prioridade sobre a dig-
nidade da pessoa humana, os que
supervalorizam a capacidade da inte-
ligncia e se arrogam poderes divinos,
pretendendo o controle irresponsvel
241
da vida e da morte, esses resistem
implantao das normas inspiradas
nos princpios da Declarao Univer-
sal.
Apesar das injustias e da violn-
cia muito presentes no mundo contem-
porneo, o exame atento da realida-
de, atravs das grandes linhas das
aes humanas e num perodo de tem-
po mais amplo, mostra um avano con-
sidervel na conscientizao das pes-
soas e dos povos. Existem razes ob-
jetivas para se acreditar que a histria
da humanidade est caminhando no sen-
tido da criao de uma nova socieda-
de, na qual cada pessoa, cada grupo
social, cada povo, ter reconhecidos e
respeitados seus direitos humanos fun-
damentais. O que refora essa crena
a constatao de que vem aumen-
tando incessantemente o nmero dos
que j tomaram conscincia de que,
para superar as resistncias, cada um
dever ser um defensor ativo de seus
prprios direitos humanos. A par dis-
so, verifica-se que j no possvel ig-
norar as normas fundamentais de di-
reitos humanos ou sustentar sua im-
portncia secundria sob o pretexto de
que isso necessrio para o progresso
econmico e social ou para o desen-
volvimento das cincias.
O significado atual dos direitos
humanos e sua importncia prtica
para toda a humanidade e, em con-
jugao com esta, a imperativa obe-
dincia aos seus preceitos, foram sin-
tetizados de modo magistral num do-
cumento da UNESCO em que foram
fixadas diretrizes para estudiosos de to-
das as reas:
Os direitos humanos no so
uma nova moral nem uma religio lei-
ga, mas so muito mais do que um
idioma comum para toda a humani-
dade. So requisitos que o pesquisa-
dor deve estudar e integrar em seus
conhecimentos utilizando as normas e
os mtodos de sua cincia, seja esta a
filosofia, as humanidades, as cincias
naturais, a sociologia, o direito, a his-
tria ou a geografia (4).
A conscincia dos direitos huma-
nos uma conquista fundamental da
humanidade. A Biotica est inserida
nessa conquista e, longe de ser opor a
ela ou de existir numa rea autnoma
que no a considera, instrumento
valioso para dar efetividade aos seus
preceitos numa esfera dos conhecimen-
tos e das aes humanas diretamente
relacionada com a vida, valor e direi-
to fundamental da pessoa humana.
Referncias bibliogrficas
1. Cranston M. O que so os direitos hu-
manos? So Paulo: DIFEL, 1979: 25-
27.
2. Clotet J. Biotica como tica aplicada e
gentica. Biotica (CFM) 1997;5:173-83.
3. Schramm FR. Eugenia, eugentica e o
espectro do eugenismo: consideraes
atuais sobre biotecnocincia e biotica.
Biotica (CFM) 1997;5:203-20.
4. UNESCO. Medium-term plan 1977-
1982. Genebra: UNESCO, 1977: 7,
pargrafo 1122. (Documento 19 C/4).
242
243
Parte IV - Biotica Clnica
Introduo
O presente captulo tem como
preocupao central estudar a natureza
do erro mdico, estimar seus
determinantes essenciais e buscar os
meios de conjur-los, se no reduzi-los
expresso mnima. Em segundo lugar,
pretende avaliar a atitude dos Conselhos
comos rgos fiscalizadores e julgadores
da classe mdica, no sentido de averi-
guar sua tolerncia na fiscalizao e
punio do erro mdico; particularmen-
te, aferir se os Conselhos punem com ri-
gor os desvios de conduta do mdico que
resultam em danos para o paciente. E
em que medida isto contribui para a
profilaxia do erro mdico.
O ltimo desafio enseja um natu-
ral aprofundamento das reflexes ofe-
recidas com base em estatsticas de
Conselhos de Medicina e, sobretudo,
numa recente pesquisa de cunho cien-
tfico sobre o perfil do mdico no Bra-
sil, a qual oferece elementos tcnicos
consistentes para uma avaliao rigo-
rosa e desapaixonada do erro mdico,
Jlio Czar Meirelles Gomes
Genival Veloso de Frana
Erro Mdico
alm de estudar o prprio mdico
como agente exclusivo do ato mdico,
do seu universo de trabalho e da sua
eventual propenso para erros e acer-
tos na profisso, crime, castigo, glria
e misria.
A segunda questo, de natureza
judicante/punitiva, em princpio, pare-
ce mal situada quando considera a
formulao sobre o maior ou menor
rigor das punies. Essa formulao
oferece nuances da suspeio pela to-
lerncia, ou seja, que os Conselhos no
atuariam com rigor mximo, ungidos
de um esprito repressivo marcial. Ri-
gor no presente caso deve ser conside-
rado como severidade mxima ou sen-
tena desproporcional infrao (para
mais, claro). Esse tipo de indagao
advm quase sempre da imprensa lei-
ga, isto , da mdia, e traduz uma pro-
vocao e oferece a presuno da cul-
pa mdica sem pena, pouco apenada
ou no apenada.
Basta ferir um destes artigos,
como se v no grfico abaixo, se no
dois ou mais artigos combinados ou
seqenciais para alcanar o ncleo do
244
algoritmo que configura o erro/dano.
possvel, ainda, admitir a dupla ao
por paralelismo ou ento composio
mista para o erro mdico.
Definio
Erro mdico o dano provocado
no paciente pela ao ou inao do
mdico, no exerccio da profisso, e
sem a inteno de comet-lo. H trs
possibilidades de suscitar o dano e
alcanar o erro: imprudncia, imper-
cia e negligncia. Esta, a negligncia,
consiste em no fazer o que deveria
ser feito; a imprudncia consiste em
fazer o que no deveria ser feito e a
impercia em fazer mal o que deveria
ser bem feito. Isto traduzido em lingua-
gem mais simples.
A negligncia ocorre quase sem-
pre por omisso. dita de carter
omissivo, enquanto a imprudncia e a
impercia ocorrem por comisso.
O mal provocado pelo mdico no
exerccio da sua profisso, quando
involuntrio, considerado culposo,
posto no ter havido a inteno de
comet-lo. Diverso, por natureza, dos
delitos praticados contra a pessoa hu-
mana, se a inteno ferir, provocar o
sofrimento com dano psicolgico e/ou
fsico para negociar a supresso do
mal pela maldade pretendida.
A Medicina presume um compro-
misso de meios, portanto o erro mdi-
co deve ser separado do resultado ad-
verso quando o mdico empregou to-
dos os recursos disponveis sem obter
o sucesso pretendido ou, ainda,
diferenci-lo do acidente imprevisvel.
O que assusta no chamado erro mdi-
co a dramtica inverso de expecta-
tiva de quem vai procura de um bem
e alcana o mal. O resultado danoso
por sua vez visvel, imediato na mai-
oria dos casos, irreparvel quase sem-
pre e revestido de sofrimento singular
para a natureza humana. Muitos ou-
tros erros, de outras profisses, passam
despercebidos. Menos os erros dos
mdicos.
Erro mdico definio e
distino
Erro mdico a conduta pro-
fissional inadequada que supe uma
inobservncia tcnica capaz de produ-
zir um dano vida ou sade de ou-
trem, caracterizada por impercia, im-
prudncia ou negligncia.
Cabe diferenciar erro mdico
oriundo do acidente imprevisvel e do
resultado incontrolvel. Acidente
imprevisvel o resultado lesivo,
245
adviado de caso fortuito ou fora mai-
or, incapaz de ser previsto ou evitado,
qualquer que seja o autor em idnti-
cas circunstncias. Por outro lado, o
resultado incontrolvel aquele decor-
rente de situao incontornvel, de
curso inexorvel, prprio da evoluo
do caso quando, at o momento da
ocorrncia, a cincia e a competncia
profissional no dispem de soluo.
Um pouco da histria do erro
mdico
O Cdigo de Hamurabi (2400
a.C.) j estabelecia que: O mdico que
mata algum livre no tratamento ou
que cega um cidado livre ter suas
mos cortadas; se morre o escravo
paga seu preo, se ficar cego, a meta-
de do preo. Entre os povos antigos
h notcias de que Visigodos e
Ostrogodos entregavam o mdico
famlia do doente falecido por suposta
impercia para que o justiassem como
bem entendessem. Outros cdigos anti-
gos, como o livro dos Vedas, o Levtico,
j estabeleciam penas para os mdi-
cos que no aplicassem com rigor a
medicina da poca. Assim, eles pode-
riam ter as mos decepadas ou perder
a prpria vida se o paciente ficasse
cego ou viesse a falecer, quando este
fosse um cidado e, se escravo fosse,
indenizariam o senhor com outro ser-
vo. Entre os egpcios havia a tradio
de punir o mdico quando este se afas-
tava do cumprimento das normas, e
ainda que o doente se salvasse estava
o mdico sujeito a penas vrias, inclu-
sive a morte. Entre os gregos havia tam-
bm um tratamento rigoroso do supos-
to erro mdico. Conta-se que a man-
do de Alexandre Magno foi crucifica-
do Clauco, mdico de Efsio, por ha-
ver este sucumbido em conseqncia
de uma infrao diettica enquanto o
mdico se encontrava num teatro. Em
Roma, poca do Imprio, os mdi-
cos pagavam indenizao pela morte
de um escravo e com a pena capital a
morte de um cidado quando consi-
derados culpados por impercia (Lei
Aqulia). Na Idade Mdia, a rainha
Astrogilda exigiu do rei, seu marido,
que fossem com ela enterrados os dois
mdicos que a trataram, aos quais atri-
bua o insucesso no tratamento.
Hoje pode-se descobrir os erros
de ontem e amanh obter talvez nova
luz sobre aquilo que se pensa ter certe-
za. Este pensamento do mdico ju-
deu espanhol Maimonides reflete a
preocupao em evitar o erro e apren-
der com sua ocorrncia. Em suma, a
existncia de sanes inscritas nos li-
vros sagrados ou nas constituies pri-
mitivas denota a ateno dispensada
ao erro mdico desde os primrdios da
Medicina.
A viso da mdia
O erro mdico tem sido mal
focado pela mdia, que busca no rol
dos eventos sociais a exceo, a ocor-
rncia extravagante com forte fascnio
e forte apelo comercial; a mdia vai em
busca da verso factual da atitude hu-
mana com o duplo interesse da denn-
cia e da promoo de venda da not-
cia. Despreza em regra as causas
concorrentes mais expressivas, como a
m formao profissional, o ambiente
246
adverso ao ato mdico, a demanda as-
sustadora aos rgos de assistncia
mdica, os baixos e tenebrosos pa-
dres de sade pblica, etc.
H, sim, uma ateno especial
sobre o erro mdico por parte das en-
tidades fiscalizadoras e no apenas
essas, como tambm por parte das
entidades associativas responsveis
pelo aprimoramento tcnico no exer-
ccio tico-profissional, bem como te-
mos, ainda, a convico de um
percentual expressivo de punio que
recai sobre o mdico, maior do que
em outras profisses. Punies nem
sempre tornadas pblicas para no in-
fundir descrdito sobre uma profisso
que fundamenta-se na estreita relao
de confiana entre mdico e paciente,
alm da discrio prpria dos tribunais
de discernimento mdico. Vale citar
Dioclcio Campos Jnior em seu livro
Crise e Hipocrisia, onde dispe:
Pretende-se que ao mdico no
assista o direito de errar porque a me-
dicina lida diretamente com a vida.
Mas, a vida no apenas a anttese
da morte. Sua plenitude depende igual-
mente da economia, da moradia, da
alimentao, do direito, da educao,
do lazer, da imprensa, da polcia, da
poltica, do transporte, da ecologia.
Os erros cometidos pelos profis-
sionais de qualquer uma destas reas
atentam conseqentemente contra a
vida humana. Embora sejam freqen-
tes e graves, no tm merecido a mes-
ma indignao, nem o mesmo desta-
que que os meios de comunicao de-
dicam s incorrees de mdicos.
E sintetiza:
Em concluso, o problema da
sociedade brasileira no o erro m-
dico, mas o erro.
Quanto ao fiscalizadora e
punitiva dos Conselhos de Medicina
no existe rigor na acepo leiga do
termo, h sim uma justia singular,
educativa, sbia, pluralista, que tem
como objetivo fundamental a reabili-
tao do profissional e como tal no
pode se restringir simples punio.
H quem postule na reforma da lei
dos Conselhos a prerrogativa de instituir
programas de treinamento para reabili-
tao tcnica do mdico, quando seu
erro advm de impercia, inabilidade ou
conhecimentos insatisfatrios. A leitura
obrigatria de um tratado de medicina
interna educa mais o mdico relapso do
que trs anos de castigos corporais.
Mais do que a classe mdica, ca-
rece a sociedade como um todo de
uma reforma tica e estrutural, profun-
da e vigorosa, sobre a qual deve bro-
tar a nova medicina como flor de rara
beleza, furando o asfalto, o tdio, o
nojo e erguendo-se pura e radiosa,
meio cincia, meio arte, mas inteira na
sua vocao do bem.
Pontos fundamentais na preven-
o do erro mdico: um roteiro crtico
para a formao e modelagem do pro-
fissional mdico, conforme avaliao
da Comisso Interinstitucional Nacio-
nal de Avaliao do Ensino Mdico
CINAEM (Associao Brasileira de
Educao Mdica; Associao Mdi-
ca Brasileira; Associao Nacional dos
Mdicos Residentes; Conselho de Rei-
tores das Universidades Brasileiras;
Conselho Federal de Medicina; Conse-
lho Regional de Medicina do Estado de
So Paulo; Conselho Regional de Me-
dicina do Estado do Rio de Janei-
ro; Direo Executiva Nacional dos
Estudantes de Medicina; Federao
247
Nacional dos Mdicos; Sindicato Na-
cional dos Docentes das Instituies
de Ensino Superior). A CINAEM foi
criada a partir de 1989 como uma res-
posta crise da medicina no fim da
dcada de 80 por iniciativa, sobretu-
do, do CFM e da Associao Brasilei-
ra de Ensino Mdico ABEM.
O que se prope:
- graduao voltada ao SUS;
terminativa;
- residncia / necessidades sociais;
- no ao sistema hospitalo-
cntrico;
- educao continuada;
- condies adequadas de traba-
lho;
- forte relao mdico-paciente;
- justia salarial;
- estabelecimentos de objetivos;
- estmulo ao vnculo nico;
- cdigo de tica nos servios;
- saneamento tico dos congres-
sos;
- atuao efetiva dos CRMs e do
CFM;
- avaliao das escolas mdicas.
O que se pretende obter:
- integrao das escolas com o
SUS e a comunidade;
- poltica educacional do pas fa-
vorecendo as universidades;
- modelo pedaggico integrando
os ciclos bsico e profissional e
apresentando currculo interdisci-
plinar adequado realidade so-
cial, orientando-se por critrios
epidemiolgicos;
- infra-estrutura adequada s ati-
vidades das escolas mdicas, com
programa de manuteno eficaz
e racionalizao do uso dos equi-
pamentos;
- gesto autnoma, participativa
e com perspectiva estratgica,
enfatizando a avaliao contnua
e global das escolas mdicas;
- comunidade acadmica motiva-
da e participativa, atuando ativa-
mente nos programas de forma-
o e gesto das escolas mdicas;
- tecnologias incorporadas de for-
ma adequada;
- dotaes oramentrias sufici-
entes;
- profissionais capacitados, con-
tratados criteriosamente e remu-
nerados condignamente por meio
de um plano de cargos, carreiras
e salrios.
A razo mais essencial do erro
O mdico representa o ser huma-
no investido da prerrogativa sobre-hu-
mana de amenizar a dor, mitigar o so-
frimento e adiar a morte do semelhan-
te. Por isto, o seu erro assume propor-
es dramticas, representa a negao
do bem, mas nunca a inteno do mal.
No entanto, a repercusso do erro so-
bre o paciente depende do grau de
parceria estabelecido no binmio m-
dico-paciente, no mago dessa relao
complexa e melindrosa voltada para a
busca do bem. Quando h uma par-
248
ceria ativa, bilateral, marcada pelo res-
peito, pela afeio e pela transparn-
cia e consumada sob os auspcios da
autonomia, essa relao alcana um
elevado e primoroso grau de compre-
enso e tolerncia mtuas. No a pon-
to de consentir erros de parte a parte,
mas de tornar as falhas compreens-
veis e ensejar o exerccio do perdo
na parte ofendida ou pelo menos uma
respeitosa tolerncia. O que mais irri-
ta o paciente e sua famlia a arro-
gncia do mdico apoiada sua con-
cepo de excelncia tcnica. A ar-
rogncia, unilateral e de cima para
baixo incompatvel com a boa re-
lao mdico-paciente. O mago
dessa relao depende do respeito
bilateral, da ateno ao paciente
como um ser humano subtrado de
seu ambiente familiar e do seu con-
vvio social de origem, refm de uma
instituio no prazerosa, alm da
ameaa de estranhas enfermidades,
dolorosas ou humilhantes.
preciso prestar ateno ao ser
humano que se esconde no estado de
paciente. Para tanto, vale a pena co-
nhecer a ilustrao potica do profes-
sor de Pneumologia Gerson Pomp, hoje
beletrista de elevada estirpe e refinado
saber:
EU SOU UMA PESSOA, cuja
sntese :
Dona Enfermeira, Seu Doutor
o que me magoa,
quero confessar,
que me tratam como caso
mas, por favor,
eu sou uma pessoa
No h como afirmar que uma boa
relao mdico-paciente possa inibir a
denncia ou fomentar no paciente um
sentimento de resignao pelo prejuzo
orgnico ou funcional. No! Mas segu-
ramente a boa relao mdico-paciente
um estmulo subjetivo para o acerto de
atitudes e um espao adequado ao en-
tendimento das partes, sobrevindo um
dilogo mais rico e proveitoso onde o
mdico, mais a vontade, formula pergun-
tas acertadas e capricha no exame fsi-
co; nesse ponto sobrevm o prazer do
toque que presume amizade e no rejei-
o. O paciente, por sua vez, mostra-se
mais relaxado, mais disposto a informar
e aceitar testes diagnsticos.Uma primo-
rosa sentena de Leterneau: a melhor
maneira de evitar ao por responsabi-
lidade mdica estabelecer e manter
uma boa relao mdico-paciente.
Por fim, em nossa experincia de
tantos anos em Conselhos Regional e
Federal de Medicina temos visto uma
significativa reduo da denncia
como represlia diante do erro mdi-
co e, s vezes, at mesmo a sua rever-
so quando as partes superam o mo-
mento agudo de insatisfao. Longe de
ns admitir que uma boa relao m-
dico-paciente possa ser usada para
abafar o erro mdico, mas com cer-
teza os erros mdicos levados ao co-
nhecimento dos Conselhos tm sempre
na sua origem uma relao mdico-
paciente adversa, spera.
A questo mais crucial: como
avaliar os deveres de conduta
do mdico?
Os deveres de conduta do mdi-
co constituem predicados essenciais na
249
construo das virtudes inerentes
qualidade do ato mdico. Se observa-
dos a contento, e mais do que isto, se
estimulados e desenvolvidos, contribu-
em de forma primorosa para ameni-
zar ou reduzir ao mnimo a possibili-
dade do erro mdico. Da porque en-
tendemos sua insero neste captulo
que trata do erro mdico, em suas pos-
sibilidades e matizes, como fator pre-
ventivo.
Qualquer que seja a forma de
avaliar a responsabilidade de um pro-
fissional em determinado ato mdico,
no mbito tico ou legal, imprescin-
dvel que se levem em conta seus de-
veres de conduta.
Entende-se por responsabilidade
a obrigao de reparar prejuzo decor-
rente de uma ao onde se culpado.
E por dever de conduta, no exerccio
da medicina, um elenco de obrigaes
a que est sujeito o mdico, e cujo no
cumprimento pode lev-lo a sofrer as
conseqncias previstas normati-
vamente.
Desse modo, responsabilidade
o conhecimento do que justo e ne-
cessrio por imposio de um sistema
de obrigaes e deveres em virtude de
dano causado a outrem.
Discute-se muito se o mdico res-
ponde por erro de diagnstico ou por
erro de conduta. A maioria tem se pro-
nunciado admitindo que o erro de diag-
nstico no culpvel, desde que no
tenha sido provocado por manifesta
negligncia; que o mdico no tenha
examinado seu paciente ou omitido as
regras e tcnicas atuais e disponveis;
que no tenha levado em conta as an-
lises e resultados durante a emisso do
diagnstico, valendo-se do chamado
olho clnico, ou que tenha optado por
uma hiptese remota ou absurda.
Mais discutida ainda a possibi-
lidade do mdico responder por erro
de prognstico. claro que no se
pode exigir dele o conhecimento de
tudo o que venha a acontecer em
imponderveis desdobramentos. O que
se exige prudncia e reflexo.
J os erros de conduta podem
ocorrer e so os mais comuns , mas
convm que sejam analisados criterio-
samente pois, nesse sentido, h
discordncias sobre a validade de cada
mtodo e conduta.
Enfim, para a caracterizao da
responsabilidade mdica basta a
voluntariedade de conduta e que ela
seja contrria s regras vigentes e
adotadas pela prudncia e pelos cui-
dados habituais, que exista o nexo de
causalidade e que o dano esteja bem
evidente. As regras de conduta
argdas na avaliao da responsabi-
lidade mdica so relativas aos deve-
res de informao, de atualizao, de
vigilncia e de absteno de abuso.
Dever de informao
So todos os esclarecimentos na
relao mdico-paciente que se con-
sideram como incondicionais e obri-
gatrios, tais como:
a) informao ao paciente. fun-
damental que o paciente seja in-
formado pelo mdico sobre a ne-
cessidade de determinadas con-
dutas ou intervenes e sobre os
seus riscos ou conseqncias.
Mesmo que o paciente seja me-
nor de idade ou incapaz, e que
seus pais ou responsveis tenham
250
tal conhecimento, ele tem o direi-
to de ser informado e esclarecido,
principalmente a respeito das pre-
caues essenciais. O ato mdi-
co no implica num poder excep-
cional sobre a vida ou a sade do
paciente. O dever de informar
imperativo como requisito prvio
para o consentimento. O consen-
timento pleno e a informao bem
assimilada pelo paciente configu-
ram numa parceria slida e leal
sobre o ato mdico praticado.
Com o avano cada dia mais elo-
qente dos direitos humanos, o ato
mdico s alcana sua verdadeira di-
menso e seu incontestvel destino
com a obteno do consentimento do
paciente ou dos seus responsveis le-
gais. Isso atende ao princpio da auto-
nomia ou da liberdade, onde todo in-
divduo tem por consagrado o direito
de ser autor do seu prprio destino e
de optar pelo rumo que quer dar a sua
vida.
Se o paciente no pode falar por
si ou incapaz de entender o ato que
se vai executar, estar o facultativo
obrigado a obter o consentimento de
seus responsveis legais (consenti-
mento substituto). Mesmo assim
importante saber o que represen-
tante legal, pois nem toda espcie de
parentesco qualifica um indivduo
como tal; importante saber tambm
o que se pode e o que no se pode
consentir.
Deve-se considerar, ainda, que a
capacidade do indivduo consentir no
reflete as mesmas propores entre a
tica e a lei. O entendimento sob o pris-
ma tico no tem a mesma inflexibili-
dade da lei, pois certas decises, em-
bora de indivduos considerados civil-
mente incapazes, devem ser respeita-
das principalmente quando se avaliam
situaes mais delicadas. Assim, por
exemplo, os portadores de transtornos
mentais, mesmo legalmente incapazes,
no devem ser isentos de sua capaci-
dade moral de decidir.
Sempre que houver mudanas
significativas nos procedimentos
teraputicos deve-se obter o consenti-
mento continuado, pois a permisso
dada anteriormente tinha tempo e atos
definidos (princpio da temporalidade).
Admite-se, tambm, que em qualquer
momento da relao profissional, o
paciente tem o direito de no mais
consentir uma certa prtica ou condu-
ta, mesmo j consentida por escrito,
revogando assim a permisso outorga-
da (princpio da revogabilidade). O
consentimento no um ato inexorvel
e permanente.
b) Informaes sobre as condies
precrias de trabalho. Ningum
desconhece que muitos dos maus
resultados na prtica mdica so
originados pelas pssimas e pre-
crias condies de trabalho,
mesmo que se tenha avanado
tanto em termos propeduticos.
Nesse cenrio perverso, que
pode parecer desproposital e
alarmista, fcil entender o que
pode acontecer em certos locais
de trabalho mdico onde se
multiplicam os danos e as vti-
mas, e onde o mais fcil cul-
par os mdicos.
Por tais razes, no se pode ex-
cluir dos deveres do mdico o de in-
formar as condies precrias de tra-
balho, registrando-as em locais prprios e
251
at omitindo-se de exercer alguns atos
eletivos da prtica profissional, tendo,
no entanto, o cuidado de conduzir-se
com prudncia nas situaes de urgn-
cia e emergncia.
Deve o mdico manifestar-se sem-
pre sobre as condies dos seus ins-
trumentos de trabalho, para no ser
rotulado como negligente tendo em
conta a teoria subjetiva da guarda da
coisa inanimada, principalmente se o
dano verificou-se em decorrncia da
m utilizao ou de conhecidos defei-
tos apresentados pelos equipamentos.
c) informaes registradas no
pronturio. Uma das primeiras
fontes de consulta e informao
sobre um procedimento mdico
contestado o pronturio do pa-
ciente. Por isso, muito importan-
te que ali estejam registradas to-
das as informaes pertinentes e
oriundas da prtica profissional.
Infelizmente, por questo de h-
bito ou de alegada economia de
tempo, os mdicos tm se preo-
cupado muito pouco com a do-
cumentao do paciente, com
destaque para a elaborao mais
cuidadosa do pronturio.
Entende-se por pronturio m-
di co no apenas o regi stro da
anamnese do paciente, mas todo
acervo documental ordenado e con-
ciso, referente s anotaes e cui-
dados mdicos prestados e aos do-
cumentos anexos. Consta do exame
clnico do paciente, com suas fichas
de ocorrncias e de prescrio tera-
putica, dos relatrios da enferma-
gem, da anestesia e da cirurgia, da
ficha de registro dos resultados de
exames complementares e, at mes-
mo, das cpias de atestados e das so-
licitaes de prticas subsidirias de
diagnstico.
d) informaes aos outros profis-
sionais. Em princpio, o mdico
no pode atuar sozinho. Muitas
so as oportunidades em que a
participao de outros profissio-
nais de sade imprescindvel.
Para que essa interao transcorra
de forma proveitosa para o paci-
ente, necessrio no existir so-
negao de informaes conside-
radas pertinentes.
Essa exigncia no representa
apenas simples cortesia entre colegas,
nem requisito de carter burocrtico.
So prticas recomendadas em favor
dos alienveis interesses do paciente.
Deixar de enviar informaes sobre o
tratamento e meios complementares de
diagnstico uma forma de deslize
grave nos deveres de conduta do m-
dico.
O censurvel, no entanto, a
omisso de informaes julgadas im-
portantes em determinado quadro cl-
nico e cuja no revelao possa trazer
irreparveis danos ao paciente, pois o
alvo de toda ateno do mdico a
sade e o bem-estar do ser humano.
Muitas vezes essas informaes so
sonegadas por simples capricho do
profissional, que no se conforma em
ter seu paciente transferido para outro
colega.
Outro fato, nesta mesma linha de
raciocnio, a falta de informaes aos
substitutos do planto sobre pacientes
internados, principalmente os mais gra-
ves, seja de forma verbal ou atravs
do registro circunstanciado em livros
de ocorrncias.
252
Dever de atualizao
O regular exerccio profissional
do mdico no requer apenas uma
habilitao legal. Implica tambm no
aprimoramento continuado, adquirido
por meio dos conhecimentos mais re-
centes de sua profisso, no que se re-
fere s tcnicas de exame e aos meios
de tratamento, seja nas publicaes
especializadas, congressos, cursos de
especializao ou estgios em centros
hospitalares de referncia. A capaci-
dade profissional sempre ajuizada
toda vez que se discute uma responsa-
bilidade mdica.
No fundo, mesmo, o que se quer
saber se naquele discutido ato pro-
fissional pode-se admitir a impercia,
se o dano deveu-se inobservncia de
normas tcnicas ou despreparo profis-
sional, em face da inadequao de
conhecimentos cientficos e prticos da
profisso. Os erros de tcnica so dif-
ceis de ser apurados e, por isso, os
magistrados devem se omitir dessa
avaliao valendo-se da experincia
dos peritos, pois os mtodos utilizados
na prtica mdica so discutveis e s
vezes controversos. Por sua vez, a cul-
pa ordinria no difcil de compro-
vao, como, por exemplo, a do mdi-
co que se ausenta do planto e um
paciente vem a sofrer dano pela sua
omisso. A culpa profissional, esta no,
traz um certo grau de dificuldade na
sua apreciao, pois nem sempre h
consenso na utilidade e na indicao
de uma tcnica ou conduta.
O que se procura em tais avalia-
es saber se o facultativo portou-se
com falta de conhecimento e habilida-
des exigidos minimamente aos que
exercem a profisso. Ou seja, se ele
no se credenciou para o que ordina-
riamente se sabe na profisso, ou se
poderia ter evitado o dano caso no
lhe faltasse o mnimo conhecimento
para exercer suas atividades.
Dever de vigilncia
O ato mdico, quando avaliado
na sua integridade e licitude, deve es-
tar isento de qualquer tipo de omisso
que venha a ser caracterizada como
inrcia, passividade ou descaso. Essa
omisso tanto pode ser por abandono
do paciente como por restrio do tra-
tamento ou retardo no encaminhamen-
to necessrio.
omisso do dever de vigilncia o
mdico que inobserva os reclamos de
cada circunstncia, concorrendo para
a no realizao do tratamento neces-
srio, a troca de medicamento por le-
tra indecifrvel e o esquecimento de
certos objetos em cirurgias. omisso
do dever de vigilncia o profissional que
permanece em salas de repouso limitan-
do-se a prescrever sem ver o paciente,
medicar por telefone sem depois confir-
mar o diagnstico ou deixar de solicitar
os exames necessrios.
A forma mais comum de negli-
gncia a do abandono do pacien-
te. Uma vez estabelecida a relao
contratual mdico-paciente, a obri-
gao de continuidade do tratamen-
to absoluta, a no ser em situaes
especiais como no acordo mtuo ou
por motivo de fora maior. O conceito
de abandono deve ficar bem claro,
como no caso em que o mdico
certificado de que o paciente ainda
253
necessita de assistncia e, mesmo
assim, deixa de atend-lo.
Pode o mdico faltar com o dever
de vigilncia pela omisso de outro
mdico? Algum j chamou isso de
negligncia vicariante. Isto , quando
certas tarefas exclusivas de um profis-
sional so repassadas a outro, e o re-
sultado no satisfeito. Exemplo: um
mdico, confiando no colega, deixa o
planto na certeza de pontualidade
deste, o que no vem a se verificar. Em
conseqncia, um paciente sofre da-
nos pela ausncia do profissional na-
quele local de trabalho. Pergunta-se:
qual dos dois faltou com o dever de
vigilncia. O Cdigo de tica Mdica
considera que ambos so infratores. O
mesmo no pode ser dito quando um
mdico substitudo por um colega, a
seu pedido, e este age negligentemen-
te. Seria injusto que o primeiro mdi-
co respondesse pelo descaso do outro,
quando este poderia atender o paci-
ente de maneira cuidadosa. O mdico
indicado para substituir um outro no
pode ser considerado como preposto
dele. A condio de profissional libe-
ral habilitado legal e profissionalmen-
te afasta a possibilidade de preposio,
cabendo-lhe responder por seus pr-
prios atos. patente que tal substitui-
o deva ser realizada por outro pro-
fissional que tenha a devida qualifica-
o, baseada no princpio da confi-
ana, no qual algum acredita que o
outro venha atuar de forma correta,
sempre que as circunstncias o permi-
tam. Isto tambm se verifica quando
se analisa a responsabilidade do mem-
bro de uma equipe, desde que qualifi-
cado para exercer aquele tipo de tare-
fa. No se deve responsabilizar um
chefe de equipe se um dos seus mem-
bros faltou com o dever de vigilncia
para aquilo que de sua competncia.
Compreende-se tambm como
falta do cumprimento do dever de vi-
gilncia a displicncia que favorece re-
sultados inidneos de exames com-
plementares, capazes de comprome-
ter o diagnstico e a teraputica dos
doentes, em laboratrios de anato-
mia patolgica, patologia clnica,
radioistopos, citologia, imunologia,
hematologia e servios de radiodia-
gnstico. Os responsveis pelos resul-
tados dos exames subsidirios execu-
tados por centros complementares de
diagnstico so seus diretores, cuja
presena imperiosa na elaborao
dos laudos, mesmo que tecnicamente
o exame possa ser feito sob sua super-
viso. O radiologista que avalia erra-
damente uma fratura, o patologista
que se equivoca no diagnstico de um
tumor e o hematologista que troca o
resultado de um exame, vindo tais ati-
tudes causarem dano, faltaram com o
dever de cuidado, dentro dos padres
exigidos na prtica profissional.
Dever de absteno de abuso
Quando da avaliao do dano pro-
duzido por um ato mdico, deve ficar cla-
ro, entre outros, se o profissional agiu
com a cautela devida e, portanto,
descaracterizada de precipitao,
inoportunismo ou insensatez. Isso por-
que a norma penal relativa aos atos
culposos exige das pessoas o cumprimen-
to de certas regras cuja finalidade evi-
tar danos aos bens jurdicos protegidos.
Exceder-se na teraputica ou nos
meios propeduticos mais arriscados
254
uma forma de desvio de poder e, se
o dano deveu-se a isso, no h porque
negar a responsabilidade profissional.
Ainda que esses meios no sejam
invasivos ou de grande porte, basta fi-
car patente sua desnecessidade. Bas-
ta que o autor assuma o risco excessi-
vo, ultrapasse uma conduta no per-
mitida e que no momento da ao ele
conhea, nela, um risco para o bem
tutel ado. Essa capacidade de
previsibilidade de dano em um indiv-
duo de boa qualificao profissional
o que se chama de dever subjetivo de
cuidado e tem um grau mais elevado
de responsabilidade. No dever subjeti-
vo de cuidado avalia-se em cada caso
o que deveria ser concretamente segui-
do, exigindo-se do autor um mnimo
de capacidade para o exerccio daquele
ato e a certeza de que outro profissional
em seu lugar teria condio de prever
o mesmo dano se seguiu as regras
tcnicas naquele procedimento, conhe-
cidas como lex artis, ou seja, se no se
desviou dos cuidados e das tcnicas
normalmente exigidos.
Qualquer ato profissional mais
ousado ou inovador, fora do consenti-
mento esclarecido do paciente ou de
seu representante legal, tem de ser jus-
tificado e legitimado pela imperiosa
necessidade de intervir. Nisso, fun-
damental o respeito vontade do pa-
ciente, consagrada pelo princpio da
autonomia. Quando isso no for pos-
svel, em face do desespero da morte
iminente, que se faa com sprit de
finesse.
Falta com o dever de absteno
de abuso o mdico que opera pelo re-
lgio, que dispensa a devida partici-
pao do anestesista ou que delega cer-
tas prticas mdicas a pessoal tcnico
ou a estudantes de medicina, sem sua
superviso e instruo. Nesse ltimo
caso, mesmo sendo comprovada a
imprudncia ou negligncia deles, no
se exclui a responsabilidade do mdi-
co por culpa in vigilando.
Constitui abuso ou desvio de po-
der o mdico fazer experincias em seu
paciente, sem necessidade teraputi-
ca, pondo em risco sua vida e sua sa-
de. Isso no quer dizer que se excluam
da necessidade do homem do futuro
as vantagens do progresso da cincia
e a efetiva participao do pesquisa-
dor. preciso que ele no contribua
com o ultraje dignidade humana e
entenda que a pretenso da pesquisa
avanar em favor dos interesses da
sociedade. Tambm no se pode jul-
gar como insensato ou intempestivo o
risco assumido em favor do paciente,
superior ao habitual, o qual se pode-
ria chamar de risco permitido ou risco
proveito.
Sugestes para preveno do
erro mdico:
1. Trabalhar com a sociedade
para que ela tome parte na luta
pela melhoria das condies dos
nveis de vida e de sade;
2. Entender, o mdico, que seu
ato profissional antes de tudo
um ato poltico;
3. Lutar pela reviso das propos-
tas do aparelho formador;
4. Melhorar a relao mdico-pa-
ciente;
5. Promover a atualizao e o
aperfeioamento dos profissionais
255
por meio do ensino mdico con-
tinuado;
6. Exigir dos rgos de fiscaliza-
o profissional um enfoque par-
ticular com relao doutrinao
e ao pedaggica.
Concluses
A despeito de tudo, de uma re-
lao mdico-paciente que se apro-
xima da tragdia e de um nmero as-
sustador de demandas judiciais, os
que exercem criteriosamente a me-
dicina prefeririam estar prximos de
seus assistidos por compromissos
morais, gravados na conscincia de
cada um pelo mais tradicional de
seus documentos O Juramento de
Hipcrates. Por sua vez, a sociedade
espera do profissional o respeito
dignidade humana como forma de
manter uma tradio que consagrou
a medicina como patrimnio da hu-
mani dade, desde os t empos
imemoriais.
Com o passar dos anos, os im-
perativos de ordem pblica foram
pouco a pouco se impondo como
conquista da organizao social. Foi-
se vendo que a simples razo de o
mdico ter um diploma no o exime
de sua responsabilidade. Por outro
lado, o fato de se considerar o mdi-
co, algumas vezes, como infrator, di-
ante de uma ou outra conduta
desabonada pela lex artis, no quer
dizer que o prestgio da medicina est
comprometido.
O pior de tudo que as possibi-
lidades de queixas, cada vez mais
crescentes, comeam a perturbar
emocionalmente o mdico, e na prti-
ca isto vai redundar no aumento do
custo financeiro para o profissional
e para o paciente. Alm disso, tam-
bm se comea a notar, entre outros
fatores, a aposentadoria mdica pre-
coce, o exagero dos pedidos de exa-
mes complementares sofisticados e a
recusa em procedimentos de maior
risco, contribuindo, assim, para a
consolidao de uma medicina de-
fensiva. Essa posio tmida do
mdico, alm de constituir um fator
de diminuio na assistncia aos
pacientes de risco, o expe a uma
srie de efeitos secundrios ou a um
agravamento da sade e dos nveis
de vida do conjunto da sociedade. Se
no houver, desde logo, um trabalho
bem articulado, os mdicos, num fu-
turo no muito distante, vo traba-
lhar pressionados por uma mentali-
dade de inclinao litigiosa, voltada
para a compensao, toda vez que
os resultados no forem, pelo menos
sob aquela tica, absolutamente per-
feitos.
Finalmente, deve-se conscientizar
a sociedade mostrando que alm do
erro mdico existem outras causas que
favorecem o mau resultado, como as
pssimas condies de trabalho e a
penria dos meios indispensveis no
tratamento das pessoas. Afinal de con-
tas, muitos dos pacientes no esto
morrendo nas mos dos mdicos, mas
nas filas dos hospitais, a caminho dos
ambulatrios, nos ambientes miser-
veis onde moram e na iniqidade da
vida que levam. Desse modo, ignoran-
do tais realidades o mais simples sem-
pre condenar os mdicos.
256
Bibliografia
Alcntara HR. Responsabilidade mdi-
ca. Rio: Jos Ronnfino Editores, 1971.
Bandeira MA, Pereira LA. Manual de
medicina defensiva. Porto Alegre:
AMERIGS, 1997.
Buchanan AE. What is ethics. In:
Iserson KV, Sandres AB, Mathieu D,
editors. Ethics in emergency medicine.
2.ed. Tucson, Arizona: Galen Press,
c1995: 31-7.
Campos D Jr. Sade, crise e hipocrisia.
Braslia: Ed. Autor, 1996: 123-24.
Conselho Federal de Medicina (Brasil). Re-
soluo CFM n 1.246, de 8 de janeiro de
1988. Aprova o Cdigo de tica Mdica.
Dirio Oficial da Unio, Braslia, p. 1574-
6, 26 jan. 1988, Seo I.
Dria A. Responsabilidade profissional
mdica. In: tica mdica. Rio de Janei-
ro: Conselho Regional de Medicina do
Estado da Guanabara, 1974: 253-68.
Fvero F. Deontologia mdica e medici-
na profi ssi onal . s.l .: Bi bl i otheca
Scientfica Brasileira, 1930.
Frana GV. Comentrios ao cdigo de
tica mdica. 2.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1997.
Frana GV. Direito mdico. 6.ed. So
Paulo: BYK, 1995: 241-2.
Frana GV. Medicina legal. 5.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1988
Gomes JCM. Erro mdico: reflexes.
Biotica (CFM) 1994;2:139-46.
Gordon R. A assustadora histria da me-
dicina. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995.
Gullo C, Vitria G. Medicina: at os
deuses erram. Isto 1995 Jul
26;(1347):86-91.
Kfouri Neto M. Responsabilidade civil do
mdico. So Paulo: Revista dos Tribu-
nais,1995.
Leopoldo Neto LS. O erro diagnstico.
BsB Braslia Mdica 1997;34(1/2):44-6.
Moraes IN. Erro mdico. 2.ed. So Pau-
lo: Santos-Maltese, 1991: 35-49.
Negligncia, impercia ou imprudncia.
Especial seguros 1996 Set 30;(3):3.
Penneu J. La responsabilit mdicale.
Paris: Ed. Sirey, 1977.
Pomp G. Eu sou uma pessoa. In:
___________. Hoje quem joga o desti-
no. Rio de Janeiro: Eduerj, 1996: 27-8.
Segre M. O mdico e a justia. Rev AMB
1985;31(5/6):106-8.
Silva WM. Responsabilidade sem culpa.
2 ed. So Paulo: Saraiva, 1974.
Stoco R. Responsabilidade civil e sua in-
terpretao jurisprudencial. 2.ed. So
Paulo: RT, 1995.
Uchoa AC. Erro mdico: de senhor da
vida a senhor da morte. ARS 1993
Ago.:111-6.
Wambier LR. Liquidao do dano. Por-
to Alegre: Fabris, 1988.
Zapieri S Jr., Moreira A. Erro mdico:
semiologia e implicaes legais. JBM
1995;69(1):116-20.
257
Marco Segre
Cludio Cohen
Biotica e Medicina Legal
H efetiva ligao entre a Biotica
e a Medicina Legal. Nossos mestres da
cincia forense diziam que a
Deontologia Mdica a outra mo de
direo da Medicina Legal: enquan-
to esta consiste na contribuio das
cincias mdico-biolgicas para a
aplicao e elaborao das leis,
aquela seria a contribuio do Direi-
to para a normatizao do exerccio
profissional do mdico. Ou, de for-
ma mais ampla, as deontologias (m-
dica, odontolgica, dos psiclogos,
dos enfermeiros, enfim de todos os
profissionais de sade), sendo elas
embasadas em cdigos de deveres
(deontos, em grego, significa dever),
so instrumentos jurdicos, emana-
dos portanto do Direito.
Por isso, tradicionalmente, por es-
tarem ambas a Medicina Legal e a
Deontologia Mdica com um p fin-
cado na Medicina (ou nas cincias m-
dico-biolgicas, de maneira mais
abrangente, conforme postulava
Flamnio Fvero) e outro no Direito,
elas so ministradas em conjunto nos
Departamentos ou nas disciplinas de
Medicina Legal (e Deontologia Mdi-
ca) das universidades.
Essa l igao, conceitual e
institucional, da Medicina Legal com
a Deontologia Mdica est presente no
Brasil e nos outros pases latino-ame-
ricanos, tendo sua origem na tradio
europia (italiana e francesa, princi-
palmente).
Pretende-se, aqui, para enfocar a
tica (e, mais especificamente, a
Biotica), revendo os conceitos de
Medicina Legal e, principalmente,
transpondo o limite entre a moralista e
cartorria Deontologia, mostrar que a
ligao entre as duas reas de conhe-
cimento continua existindo, embora, a
nosso ver, ela possa ser concebida de
uma forma mais abrangente e profun-
da do que a exposta pelos nossos pro-
fessores.
Ainda hoje, muitos vem a Medi-
cina Legal como uma simples aplica-
o de conhecimentos mdicos (ou
mdico-biolgicos) prtica forense.
Quando se pensa a Medicina Legal,
a idia mais presente, mesmo na men-
te dos profissionais de sade, a do
258
especialista realizando necrpsias para
fins de esclarecimento de crimes. Para
os que cursaram Medicina a viso da
especialidade um pouco mais ampla:
conseguem agregar, a essa rea do
conhecimento, o exame genital para
constatao de estupro, a identificao
de ossadas humanas e, no mximo, o
exame de corpo de delito visando ao
registro de leses corporais. H gran-
de desinformao, por exemplo, quan-
to existncia de uma Psicopatologia
Forense, que preferimos denominar
Sade Mental e Justia, uma das
reas de atuao da Medicina Legal.
Com relao a esse aspecto, podemos
afirmar que no h Medicina puramen-
te biolgica sem nfase na psych hu-
mana, assim, como j vimos, no ha-
ver Medicina Legal apenas corpo-
ral: o estudo do psicopatolgico e da
sexologia so partes integrantes da ci-
ncia forense.
Nossa compreenso da psych
no est reduzida a uma viso neuro-
lgica ou neuroqumica, mas sim como
o ponto de integrao entre a alma e
o corpo; nunca poderemos reduzir o
desejo humano a uma simples descar-
ga de enzimas, embora estejamos sem-
pre investigando o seu registro
anatmico.
O estudo do DNA permite-nos
reconhecer tanto as vtimas de aciden-
tes areos que no poderiam ser
identificadas de outro modo, como um
estuprador atravs da anlise de seu
esperma; mas, supomos, o DNA nun-
ca revelar as emoes que levam um
estuprador a cometer tal crime, ou os
sentimentos das vtimas desses crimes.
E, ainda, no poderemos mais
pensar no criminoso nato como que-
ria Lombroso, mas sim no indivduo
que no entende (ou no aceita) o ca-
rter ilcito de seu ato.
Entretanto, mesmo com relao
importncia atualmente dada aos
avanos da pesquisa gentica, ao
DNA criando-se uma verdadeira
DNAlatria (nova evidncia de
positivismo exacerbado, que nos colo-
ca, a cada um de ns seres humanos,
como mero resultado das diferentes
combinaes de DNA) , foge ao co-
nhecimento de muitos que a utilizao
das tcnicas da biologia molecular
para o reconhecimento, por exemplo,
do vnculo entre pais e filhos tambm
Medicina Legal. Fato semelhante
ocorre com a imunohematologia, tam-
bm empregada para fins clnicos, que
acerca de duas dcadas tem valor re-
levante na percia de investigao de
paternidade.
Ao pouco conhecimento sobre ri-
queza conceitual da Medicina Legal
aliam-se, como agravantes, as carac-
tersticas desabonadoras da carreira
dos mdicos legistas na maioria dos
estados brasileiros, aos quais no se
do sequer condies razoveis de
desenvolvimento e atuao profissio-
nal.
Com isso, a especialidade mdi-
co-legal quase sempre a segunda ou
a terceira opo do mdico, que an-
tes cirurgio, clnico ou de qualquer
outra especialidade, no sendo insti-
gado a interessar-se academicamente
pela Medicina Legal.
Vem-nos da Medicina Legal euro-
pia a tradio de uma cincia forense
abrangente, com doutrina e mtodo pr-
prios, que no se atm to somente
aplicao de tcnicas para fins judici-
ais, mas que se presta decisivamente
para a estruturao das prprias leis.
259
Transcreveremos um trecho de tra-
balho anterior (Segre), apresentado por
ocasio da II Jornada Oscar Freire:
A Medicina Legal, como queria
Flamnio Fvero, abrange a contribui-
o das cincias mdicas e biolgicas
para a elaborao e aplicao das leis,
de cujo conhecimento elas, as leis, ne-
cessitam.
Percebeu o prof. Flamnio, ali-
nhando-se com o pensamento expos-
to por Canuto e Tovo da escola mdi-
co-legal de Torino (Itlia), que a con-
tribuio das cincias da vida (bio-
lgicas, lato sensu) era necessria para
orientar os legisladores na elaborao
das regras, e os magistrados, na sua
aplicao.
Essas mesmas regras, que a so-
ciedade humana teve que redigir, des-
de sempre, para permitir o convvio
entre os seus componentes, no podi-
am prescindir dos fundamentos biol-
gicos da vida que elas pretendiam
organizar.
Faz-se uma biologizao da lei,
por exemplo, quando se procura
conceituar o que seja um louco de
todo gnero, nos termos do Cdigo
Civil projetado em 1916 por Clvis
Bevil acqua. Biol ogiza-se, ou
medicaliza-se a lei, outro exemplo,
quando se procuram caracterizar os
conceitos de semi-imputabilidade e de
inimputabil idade. Os conceitos
atualizados de morte enceflica, outro
exemplo, foram atualmente utilizados
para a elaborao da recente Lei dos
Transplantes de rgos.
Mais adiante, diramos, naquela
ocasio: No se pode mais falar, to
somente, em Medicina Legal. melhor
referirmo-nos s cincias biolgicas
(como j intua Flamnio Fvero) e a
Medicina no uma cincia biolgi-
ca? , s cincias biolgicas, portan-
to, auxiliares do Direito na elaborao
das leis (como queria Flamnio) e em
sua aplicao. No ser o conheci-
mento da vida o norteador da prpria
filosofia do Direito, a partir do instan-
te em que o Direito regulamenta o con-
vvio entre os homens?
Entendemos que at a abran-
gncia da biologia esteja superada, se
observarmos a messe das contribuies
que a cincia da vida pode dar ao
Direito.
Um exemplo a psicanlise, tam-
bm cincia da vida, que, tendo vis-
lumbrado a estrutura da afetividade
humana e estabelecido um fio condu-
tor, lgico, para a compreenso dos
comportamentos, transcende o fen-
meno biolgico estudando o psiquismo
como algo autnomo.
Como balizaremos, ento, esse
campo ampliado das cincias do co-
nhecimento da vida, que indispen-
svel para a estruturao do Direito?
Cremos firmemente que no preci-
samos baliz-lo, eis que os princpios do
Direito, constituindo a sua filosofia, j
so por si mesmos embasados no co-
nhecimento da vida. Logo, as cinci-
as da vida e o Direito esto vincula-
dos, as primeiras indispensveis ao
segundo, sendo despicienda uma deli-
mitao precisa de suas reas.
Queremos dizer que o prprio
conhecimento da etiologia do crime
transcende a Medicina e a Biologia. O
crime apenas existe porque se estabe-
leceu a regra, e a regra foi criada vi-
sando um objetivo pragmtico, espe-
cfico. E a percepo desses aspectos,
j na rea da Sociologia Criminal, no
ela tambm fundamento do Direito?
260
estamos falando de Criminologia, na
qual a Medicina Legal se prolonga.
William Saad Hssne, em 1993,
apresentou na Conferncia de Abertu-
ra da I Jornada Oscar Freire uma
viso iluminista do que ele considera
deva ser a Medicina em geral, e a Me-
dicina Legal em especial.
Iluminista, porque bem nos mol-
des do movimento que se difundiu na
Europa no sculo XVIII, dirigiu suas
luzes para o mago do ser humano.
Fez-nos ele muito bem sentir, e com-
partilhamos esse pensamento, que
Medicina (e, conseqentemente, tam-
bm Medicina Legal) no cabe o r-
tulo de cincia biolgica. A menos que
se queira incl uir no bios, o
abrangente (e riqussimo) contedo
humano que no pode ser dissociado
de qualquer prtica de sade. A Medi-
cina o cerne de uma integrao en-
tre cincias biolgicas e humanas. De
nossa parte, afirmamos, ainda, que
no h Medicina sem a nfase na
psych humana, entendida no sentido
anmico que os gregos lhe atribuam, e
no apenas de mera decorrncia da
descarga de dopaminas, ou outras
substncias, emanadas da funo de
determinadas clulas nervosas, como
pretendem os psicobiologistas.
Esperamos que tenha ficado cla-
ra, aps todas essas consideraes, a
extraordinria abrangncia que
atribuimos expresso Medicina Le-
gal (que preferimos entender como
Cincia da Vida aplicada ao Direi-
to), abrangncia essa que tambm
nossos mestres lhe concediam, embo-
ra, talvez, nem sempre a tenham
explicitado.
Quanto biotica, parte da tica
que se volta para as questes da vida
(e, portanto, tambm da morte) e sa-
de humanas, reportar-nos-emos ao tre-
cho de um captulo por ns escrito no
livro Biotica.
J vimos que nosso conceito de
tica situa esse ramo da filosofia a
partir de uma viso to autnomica
quanto possvel de cada ser humano,
visando a uma situao terica de
descentramento (proposto pelos filso-
fos da ilustrao sc. XVIII, movi-
mento iluminista). Isto significa a tenta-
tiva (terica, conforme j se mencionou)
de cada ser humano posicionar-se in-
dividual mente com rel ao s
mais variadas situaes passveis de
estudo tico, como poderiam ser a pena
de morte, a dependncia de drogas, o
aborto, a engenharia gentica, etc.
Fizemos consideraes quanto ao
fato desse descentramento s poder ser
tentado (produzindo certa capacidade
individual de abstrao quanto s in-
fluncias afetivas do ambiente em que
se vive, e cultura prevalecente) atra-
vs da experincia psicanaltica me-
diante a qual se obtm acesso s emo-
es, oferecendo-se a possibilidade de,
percebendo-as, valor-las (hierarqui-
zando-as, portanto, pelo seu peso
social) e estabelecendo-se para cada
indivduo uma tica ou tica resultan-
te do desenvolvimento do ego.
Esse conceito de tica contra-
pe-se ao que chamamos de moral,
conforme j se exps em captulo an-
terior, que resulta de juzos de valores
impostos (pela famlia, pela socieda-
de, pela religio, pelos cdigos, escri-
tos ou no) e que exclui a autonomia
(crtica) do indivduo, trazendo embuti-
da a idia de prmio (pelo ato bom)
ou de castigo (pelo ato mau). A moral
resultado da obedincia (o oposto da
261
autonomia), sendo representada, na
pessoa, essencialmente pelo super-
ego. Assim, podemos observar que
um indivduo poder agir de forma ile-
gal sem deixar de ser coerente com sua
tica, tomando como paradigma a si-
tuao de Robin Hood, que rouba-
va dos ricos, distribuindo os seus bens
aos pobres; ainda poderemos ver uma
pessoa agindo moralmente de forma
correta (no se ajustando, entretan-
to, aos nossos valores), por exemplo,
quando sob o jugo de um regime au-
toritrio se submete autoridade para
realizar atos com os quais ela mesmo
no concorda.
A utilizao da teoria e da
vivncia psicanaltica para a nossa
conceituao de tica pretende ofere-
cer um instrumental psquico, a cada
pessoa, para discutir, questionar e
mesmo contestar todo ordenamento
moral ou legal vigente, com o fim de se
obter uma dinamizao, na socieda-
de, do julgamento de valores das dife-
rentes situaes. Sem o que, confor-
me tem ocorrido em muitas comuni-
dades, a moral torna-se imutvel, es-
tanque, calcificada.
Tentando explicar melhor esta vi-
so do tico, no se trata de moldar o
que lcito ou no evoluo da cin-
cia e da tecnologia, mas, isto sim,
luz dos novos conhecimentos, trazer
perspectivas inimaginveis para o fu-
turo da espcie humana e das novas
experincias de vida (quantas experi-
ncias, por exemplo, trouxe-nos o
genocdio de milhes de seres huma-
nos, em pocas recentes), permite-nos
os valores tradicionalmente atribudos
vida, morte, sade e liberdade.
Reforando-se o esclarecimento
dessa self-tica, poderamos tambm
denominar tica da liberdade, veja-
se como exemplo o posicionamento
com relao discriminao do abor-
to, a pedido da paciente. No desejan-
do, aqui, tomar uma posio quanto
ao problema, a reflexo tica sobre ele
deve fincar-se na percepo, individu-
al, de dois sentimentos conflitantes
entre si, que esto provavelmente pre-
sentes em toda pessoa. Um deles o
respeito pela vida do embrio, com o
qual, ser humano em formao, h
uma identificao de cada um de ns:
fere-nos, magoa-nos, a produo da
morte de um organismo em desenvol-
vimento, semelhante ao nosso. A cau-
sa desse sentimento de empatia com o
feto, que ser tanto maior quanto mais
avanada estiver a idade gestacional
(o que no tem explicao racional,
uma vez que, com dois ou seis meses
de gestao, se tratar, sempre, de um
ser humano em desenvolvimento), po-
der ser inerente a uma pulso genu-
na de amor (e de solidariedade) com
o irmo-feto ou, ento, resultado de
um sentimento de culpa, super-egico,
decorrente da condenao (castigo)
extino da vida (s humana?). Pode-
r estar tambm presente nesse confli-
to com relao realizao do aborto
a pedido da me (porque, para ns,
apenas essa situao autnoma da
paciente merece ser agora considera-
da) a empatia com o desejo de sua
auto-determinao, que no quer, por
razes prprias, dar prosseguimento
gravidez. A resposta questo pode
a me dispor da vida do feto?, que
para alguns um prolongamento da
me e, para outros, algo independen-
te, sobre o qual ela no tem poder de
deciso, decisiva para a reflexo ti-
ca. Simplificando, a pessoa poder
262
posicionar-se francamente contra o
aborto se, na reflexo, predominar a
repulsa pelo feticdio, ou ento poder
pender para um juzo favorvel, se pre-
valecer a sintonia com a vontade da
me. Nesse jogo pela me ou pelo
feto podero influir, na deciso, outros
valores. Muitos esto a favor da inter-
rupo da gravidez ante uma grave
anomalia fetal, ou em situaes em que
a maternidade possa trazer um grave
distrbio na vida psicossocial da pa-
ciente, ou quando a gravidez tiver re-
sultado de estupro (situao, alis, pre-
vista pela lei penal vigente).
Fica assim clara, atravs do exem-
plo acima referido, a nossa defesa de
um posicionamento tico individual
to descentrado quanto possvel dos
valores morais de um determinado gru-
po ou sociedade, e que vai interagir
com esse grupo ou sociedade.
Idealmente, se toda pessoa tiver a con-
dio intrnseca de poder escolher en-
tre o construtivo e o destrutivo, o efi-
caz e o ineficaz (rejeitamos, proposi-
talmente, os termos bom e mau,
certo e errado porque os considera-
mos valores consolidados, emanados
de um juzo externo ao indivduo),
existir um contnuo questionamento
dos valores anteriormente estabeleci-
dos, com maior liberdade no ajuste das
regras s novas situaes.
Inserida no contexto mais
abrangente de tica, assim como ns
a concebemos, vemos que a Biotica
deve ser livre, considerando o mrito
de cada uma das questes inerentes
vida e sade humana, valendo-se da
metodologia psicanaltica e posicio-
nando-se altaneiramente em face dos
avanos das cincias biomdicas. Est
claro que por ser basicamente livre
inadmissvel o estabelecimento de uma
doutrina biotica vlida para determi-
nados grupos sociais, comunidades,
naes ou conjuntos de pases.
O que ora se prope uma estra-
tgia de abordagem, esta sim poden-
do ser comum, dos problemas ineren-
tes vida e sade humana.
Faremos agora um parntese
para, assim como realizamos com a
Medicina Legal ao enfocarmos alguns
aspectos de seu exerccio lanar uma
viso crtica sobre a atuao dos
bioeticistas. Atuam eles nas universi-
dades, provindo de reas como Medi-
cina, Biologia, Psicologia, Sade Co-
letiva, Filosofia, Direito, etc., nos hos-
pitais (Comisses de tica, Biotica,
tica em Pesquisa), em Conselhos de
tica das diferentes profisses, em en-
tidades governamentais e em ONGs.
A Biotica abrange as mais va-
riadas linhas de pensamento, confron-
tando tendncias por vezes absoluta-
mente opostas, sendo paradigmtico o
exemplo Biotica sacra x Biotica
laica, a primeira heternoma (de for-
ma clara ou disfarada), tendo como
pressuposta a existncia de uma ordem
anterior (religiosa, ou natural); e a se-
gunda autnoma, tendo como pr-re-
quisito exclusivo a capacidade de pen-
sar e de sentir do ser humano.
imperioso enfatizar que Biotica
uma rea de discusso sobre valo-
res, no podendo precipitar-se para a
vala comum dos positivismos (busca
da verdade), sendo portanto nada
mais do que um espelho do relativismo
tico do qual, ainda que possamos
desejar, nunca escaparemos.
Aps este parntese, creio poder-
mos agora pairar, nas asas da fanta-
sia, num mundo supostamente sem
263
regras, sem padres anteriormente es-
tabelecidos (sem cultura anterior, sem
religio, etc), imaginando-nos os pri-
meiros seres humanos ensaiando, s
custas de suas novssimas experin-
cias, um convvio comunitrio. Esta
abstrao necessria para que nos
possamos situar (ainda que ficticia-
mente) num mundo onde a caracteri-
zao do certo e do errado depen-
der somente de ns, antes da moral,
antes da religio, antes das leis ape-
nas assim conseguiremos utilizar nos-
so senso crtico com relao ao que a
est, valendo-nos, para isso, da
integrao entre nossos sentimentos e
nossa razo. No seremos mais obje-
tos (para fins deste raciocnio), de
dogmas, tabus e prescries ditadas
por outras pessoas, mas sim sujei-
tos de uma ordem absolutamente
fincada em nossos valores humanos,
que erigiremos e modificaremos tan-
tas vezes quantas considerarmos ne-
cessrio.
Nesse mundo fantstico, cada um
de ns ama, odeia, sente inveja, quer
proteger e busca proteo, palco,
enfim, desse caleidoscpio que a su-
cesso dos sentimentos humanos.
Mas, tambm, cada um de ns perce-
be que o grupo social necessita de al-
guma forma de normatizao, no po-
dendo esse convvio estar apenas su-
jeito materializao das emoes de
cada um, em cada momento, sob pena
de destruio do prprio grupo social.
Surge ento a necessidade de estabe-
lecermos o que lcito e o que no o ,
buscando-se a definio da moralidade
e do crime.
Desnecessrio repetir que o ato
moral e o crime so conceitos por
si mesmos absolutamente vazios, uma
vez que requerem um delineamento
anterior da normalidade de licitude e
ilicitude legal. E esse delineamento
poder ser totalmente diverso em mo-
mentos e geografias diferentes.
nesse terreno, por irreal que
parea, que no propriamente do
Direito, mas da filosofia do Direito, que
no da Moral (constituda), mas sim
da tica (ou meta-tica?), entendida
enquanto busca de cada indivduo, de
uma hierarquizao de seus prprios
valores (leia-se, para melhor enten-
dimento, o Breve discurso sobre valo-
res, tica, eticidade e moral, Cohen C.,
Segre M., Biotica, 1994; 2(1):19-24) ,
terreno que no apenas da Medicina
e da Biologia, mas que tambm o que
transcende a essas cincias, partindo
da viso holstica do ser humano
justamente a que vamos encontrar a
confluncia entre a Biotica e a Medi-
cina Legal.
Para melhor explicitar essas colo-
caes tericas vamos nos valer de al-
guns exemplos.
Tomemos o caso da reproduo
assistida: j se consegue, nos dias
atuais, a gemelaridade induzida. J se
pratica a fecundao in vitro, bem
como o desenvolvimento do embrio
fora do tero materno. Realiza-se, tam-
bm, a implantao do embrio em
outro tero, que no o da me biolgi-
ca, tendo-se assim criado a figura da
me substituta. Surgem problemas
impregnados de conflitos ticos, mo-
rais e legais, como o de indicar a
quem pertencero os embries crio-
preservados em caso de separao
do casal, ou o que se fazer com os
embries que no foram implantados
(a inutilizao dos embries, com in-
terrupo da vida fetal, em qualquer
264
momento, caracteriza o aborto, segun-
do a lei brasileira) ou, ainda, quanto
moralidade de se aceitar a barriga de
aluguel.
Vemos, claramente, nessas situa-
es, o papel da cincia mdico-bio-
lgica. Ai est ela, com sua doutrina e
com sua tcnica, informando-nos
como ocorre a fecundao artificial, a
diviso provocada do ovo, e a nidao
induzida de embries em teros, bem
como oferecendo os recursos para a
implementao dessas prticas.
a reflexo biotica que, empre-
endida com o tom de liberdade sobre
o qual tanto insistimos, pr-moral e
pr-legal, tentar avaliar as priorida-
des, em termos de valores, dosando o
risco de se produzirem anomalias fetais
(com relao s quais a cincia nos
d informaes) com a prtica da Re-
produo Assistida (RA) veja-se a
Resoluo n 1.358/92, do CFM , ou
o de se permitir atravs da pesquisa
gentica que os futuros homens sejam
elaborados com caractersticas pr-
determinadas, visando a objetivos tam-
bm variveis (casais que querem ter
filhos masculinos, ou com olhos azuis,
ou, at, o Estado pretendendo impor
uma natalidade mais freqente de ho-
mens) ou, ainda, de se permitir a
inutilizao de embries que no se-
ro implantados ou, por fim, da vali-
dade de se pagarem mulheres para le-
var adiante gestaes de outras mes.
Todos esses aspectos, e muitos ou-
tros tambm relativos RA, devero ser
vistos, antes de qualquer lei, utilizando,
conforme j foi referida, a disponibilida-
de dos informes cientficos.
A reflexo biotica que poder
por exemplo concluir que os embries
no implantados podem ser descar-
tados, tendo como valor prioritrio a
sade e a vontade do casal a partir do
qual eles foram gerados ou, ento, que
a condio autonmica da me (ou do
casal) fator suficiente para que as
caractersticas somticas do feto sejam
previamente escolhidas, ou, ainda, que
no nos cabe impedir quem quer que
seja de alugar o prprio tero, pois
cada um tem o direito de dispor de seu
corpo e de seus rgos servir para
se elaborarem regras que normatizem
todas essas prticas. Reflexo seme-
lhante pode ser empreendida com re-
lao clonagem em seres humanos.
De um lado est o conhecimento bio-
lgico, informando o que e como se
obtm a clonagem, bem como as ca-
ractersticas genticas do ser assim
gerado; do outro, a reflexo sobre os
valores humanos em jogo ante a exis-
tncia desse ser. So faces diversas,
a cientfica e a da reflexo sobre valo-
res (biotica) da qual se poder con-
cluir que nada h de mal quanto
clonagem de seres humanos desde
que a tcnica no v ser utilizada con-
trariamente aos ideais de respeito
dignidade e liberdade , mas os dois
enfoques emanam das cincias da
vida, devendo sempre servir de alicer-
ce para a legislao (que, no caso dos
clones humanos, no poder ser
inquisitorialmente proibitiva, conforme
se est atualmente propondo). Parece-
nos ter ficado claro que a cincia m-
dico-biolgica limitou-se a oferecer
subsdios para a reflexo biotica, sen-
do que, nesta ltima, influiro aspec-
tos afetivos (inclusive religiosos) e ra-
cionais de cada pessoa.
com este exemplo, e logo mais
mencionaremos outros, que pretende-
mos delimitar o alcance da medicina
265
e da biologia (ofertando subsdios) com
relao valorao biotica (que
tambm do mdico e do bilogo, no
sentido de se utilizar o seu conhecimen-
to das cincias da vida, mas tam-
bm o seu pensamento de homens do-
tados de sentimentos e de razo), e o
papel do legislador, assessorado pelo
que os nossos mestres denominavam
simplesmente Medicina Legal, crian-
do as leis e determinando as sanes
para os que as descumprirem.
Use-se agora um outro exemplo,
que o da discusso da ideologia que
norteou a lei antitxicos. No momento
em que se estabelece punio para o
usurio de drogas (ou mesmo para
quem as transporte, em doses mnimas,
para uso pessoal) assume-se, implici-
tamente, uma postura paternalista da
sociedade, no permitindo que uma
pessoa se valha de suas percepes
(ainda que com risco de dependncia)
na busca do seu prazer. Mesmo
transcendendo ao enfoque penal, a sim-
ples conotao de doente, aplicada
ao frmaco-dependente, que portanto
precisa ser tratado, pressupe que as
pessoas no so livres para procura-
rem sua satisfao da maneira que
preferirem, ainda que no prejudiquem
de qualquer forma a dinmica social.
No sendo este o momento para que
nos posicionemos sobre o assunto, fica
cl aro que nossa l egisl ao
heteronmica (paternalista) e, conse-
qentemente, no-autnomica, impon-
do punio (ou tratamento compuls-
rio) a quem realize escolhas que fogem
ao consenso social.
Observamos, uma vez mais, que
a reflexo biotica lastreada no conhe-
cimento cientfico dos efeitos da dro-
ga sobre a personalidade reflexo
essa onde se visa definio do que
mais importante, a autonomia da pes-
soa ou o suposto bem-estar social
ao mesmo tempo criminolgica e, na
acepo mais abrangente do termo,
tambm mdico-legal. Muitos outros
exemplos podero ser aqui trazidos. A
legislao sobre transplantes de rgos
fundamenta-se num pensar biotico
e, a partir do momento que se visou
uma normatizao jurdica, num pen-
sar mdico-legal. So um rim, um
segmento de fgado, a medula ssea, o
prprio sangue, bens disponveis?
Uma pessoa pode do-los, estando em
vida, ou at vend-los? a prpria vida
um bem disponvel (ou no), a ponto
de aceitarmos (ou no) a eutansia
(em termos de o mdico ser parceiro
do seu paciente num processo de abre-
viao da vida), ou ela pertence ao
mdico, famlia, ao Estado ou a Deus
(s eles poderiam retir-la)? Essa re-
fl exo tipicamente biotica,
posicionando-se as pessoas num ou
noutro sentido segundo suas crenas
e razes.
Ponderaes semelhantes ocor-
rem com relao ao cadver, tendo
sido questionada a legislao que tor-
nou a retirada de rgos de cadveres
para transplantes obrigatria, a menos
que exista objeo expressa em vida
por parte da prpria pessoa ou de sua
famlia. E os juristas necessitam deste
pensar mdico-l egal , que se
complementa com o biotico, ao re-
digirem as leis.
E o que se dizer da discusso ti-
co-jurdica quanto descriminao
das cirurgias de mudana de sexo
de transexuais, a seu pedido, ou,
mesmo, das laqueaduras de trompa
e das vasectomias por solicitao dos
266
pacientes, para controle da natalida-
de? Andaram bem, o Conselho Fede-
ral de Medicina e o Conselho Regional
de Medicina do Estado de So Paulo
(CFM e CREMESP) embora, a nos-
so ver, de forma tmida , ao emitirem
resolues referentes s cirurgias de
mudana de sexo em transexuais e
de esterilizao (laqueaduras de trom-
pas e vasectomias) Resoluo CFM
n 1.482/97 e parecer/consulta CRM n
20.613/94 , dando aso a que essas
intervenes, tendo a autonomia como
norte, possam ser realizadas.
No h mais dvidas, a esta altu-
ra, quanto convergncia, na sua
conceituao mais profunda, entre a
Biotica e a Medicina Legal. No se
trata mais, apenas, do Direito Mdico
sendo a contramo da Medicina Le-
gal. a prpria ideologia da Biotica
que se superpe da Medicina Le-
gal, considerada no seu sentido mais
amplo.
Eminentes professores de Medici-
na (e tambm de Medicina Legal) pre-
tenderam (e raramente conseguiram)
influir nos parmetros de moral vigen-
te. Transcrevem-se, aqui, trechos da
tese de doutoramento de Jos
Leopoldo Ferreira Antunes:
Senhores, quando se trata de
estudar a civilizao, bem como qual-
quer outra condio, qualquer outro
fenmeno moral complexo ... A.J. de
Souza Lima, 1885.
Com estas palavras, o Dr. Agosti-
nho Jos de Souza Lima introduzia
uma questo de mtodo relativa
abordagem de algum tema que inte-
ressou a classe mdica durante sua
gesto como presidente da Academia
Imperial de Medicina do Rio de Ja-
neiro.
O autor da tese, partindo da afir-
mao de Souza Lima, observa em
seguida, iniciando seu trabalho, a ten-
tativa de se dar Medicina uma
conotao positivista, transformando-
a em cincia da moral.
E escreve: Assim deslocado de
seu contexto original, assim recortado
e isolado, esse trecho de frase serve
bem como epgrafe para a introduo
de um trabalho que procurou mostrar
o pensamento mdico dirigindo-se a
objetos da vida social, mais especifi-
camente aos fatos morais relacionados
ao crime, ao sexo e morte. Um traba-
lho que se debruou sobre um perodo
da histria da medicina no Brasil, no
qual se produziu uma ampl a e
criteriosa reflexo sobre esses temas.
Uma reflexo que se pretendeu cien-
tfica, isto , submetida s confronta-
es tericas e verificaes empricas.
De algum modo, a citao refere esse
esforo dos mdicos que fizeram da
medicina uma verdadeira cincia do
social. Mais que isso, fizeram da me-
dicina algo bem prximo daquilo que
Augusto Comte queria fazer da socio-
logia: uma cincia da moral.
Com esses predicados, o trabalho
que ora se introduz deveria interessar
especialmente aos mdicos e aos so-
cilogos; mas corre o risco de desa-
gradar tanto uns como outros. Aos pri-
meiros, porque possivelmente no re-
conhecero a medicina legal na proje-
o histrica delineada para a especia-
lidade. Talvez rejeitem, como excessi-
va, a amplitude dos temas e aborda-
gens; talvez reivindiquem um perfil tc-
nico mais restrito para sua atividade
profissional. Aos segundos, porque
muitos deles dificilmente aceitaro a
leitura do pensamento mdico como
267
um captulo da reflexo social no Brasil.
Talvez acusem, como no cientficas, as
perspectivas analticas recuperadas
pelo levantamento histrico; talvez, pro-
clamem a originalidade e a especifici-
dade de seus prprios mtodos.
E, mais adiante:
Nos captulos que se seguem,
veremos que diferentes perspectivas
tericas separavam Nina Rodrigues e
Souza Lima, um contraste que no
deveria ser reduzido sucesso de fa-
ses evolutivas da medicina legal, at
porque Souza Lima faleceu quase vin-
te anos depois de Nina Rodrigues,
tendo se mantido profissionalmente
ativo durante todo esse perodo.
Como indicao de seus diferentes
posicionamentos quanto s questes
envolvidas pela medicina legal, pode-
ramos destacar o agudo sentimento
antiliberal de Nina Rodrigues, para
quem inexistiria um substrato comum
a toda a espcie, um esprito huma-
no que igualasse os indivduos de di-
ferentes raas. Desse modo, para o
mdico maranhense, o estudo da com-
posio tnica das populaes brasi-
leiras impor-se-ia como pr-requisito
essencial tanto para a orientao m-
dica como para s formulaes jurdi-
cas. Ainda mais; seria necessrio no
fundamentar as avaliaes mdico-le-
gais nas concluses da literatura m-
dica internacional, porque esta teria
sido inspirada pela observao de po-
vos de razes biolgicas distintas. Ora,
para Souza Lima, que partia de pre-
missas diferentes, eram outras as
consequncias. Assim, o primaz da
medicina legal no Brasil (ttulo com que
Nina Rodrigues saudara o colega ilus-
tre) pde fazer um uso prdigo da pro-
duo mdica vinda do exterior.
Vimos, assim, que os mdicos,
e neste caso os mdicos-legistas,
sempre se envolveram (com toda
pertinncia) em questes morais.
Mas nem sempre foram capazes de
di scerni r as razes de seus
posicionamentos e de suas divergn-
cias, atribuindo-as, equivocadamen-
te, sua cincia mdico-biolgica.
Faltou-lhes o pensar biotico, que,
conforme estudamos, faz parte do
mbito maior das cincias da vida,
conjuntamente com a Medicina Le-
gal.
Vemos que este captulo se iniciou
com a exposio de uma viso amplia-
da da Medicina Legal, que se prope
a integrar as Cincias da Vida apli-
cadas ao Direito; postula, conseqen-
temente, a sua transcendncia quanto
Medicina e Biologia; procura, fi-
nalmente, conceituar a Biotica, den-
tro de um enfoque moderno e amplo.
A percebemos que Biotica e
Medicina Legal, ambas cincias da
vida, ambas fundamentais para o
Direito, em sua prpria estruturao,
e tambm na sua aplicao, so reas
do conhecimento muito prximas, li-
gadas conceitualmente entre si, de for-
ma muito mais profunda do que as
definies meramente deontolgicas as
caracterizavam.
Referncias bibliogrficas
1. Antunes JLF. Crime, sexo, mor te:
avatares da medicina no Brasil.[tese].
So Paulo: Departamento de Sociolo-
gia, Faculdade de Filosofia, Letras e
Cincias Humanas da Universidade de
So Paulo, 1995.
268
2. Segre M. Retrato atual da medicina le-
gal brasileira. Conferncia proferida no
Primeiro Seminrio de Estudos Mdico-
Legais; 1985 Out; Blumenau.
3. Segre M. Medicina legal do sculo XXI:
mesa-redonda. Segunda Jornada Oscar
Freire; 1994 Abr 28-30; So Paulo.
4. Segre M. Definio de biotica e sua
relao com a tica, deontologia e
diceologia. In: Segre M, Cohen C,
organizadores. Biotica. So Paulo:
EDUSP, 1995: 13-22.
5. Segre M. Biotica e medicina legal. Sa-
de, tica e Justia 1996;1(1):1-10.
269
Introduo
A confidencialidade, embora um
dos preceitos morais mais antigos da
prtica mdica, continua um tema ex-
tremamente atual no exerccio da re-
lao mdico-paciente. O mais das ve-
zes o seu exerccio no apresenta difi-
culdade maior para os profissionais da
sade, haja vista que a imensa maio-
ria tem uma idia do significado e va-
lor da preservao dos segredos em
medicina. No difcil, para um m-
dico, entender que a confidencialidade
um dos pilares fundamentais sus-
tentao de uma relao mdico-pa-
ciente produtiva e de confiana. esta
garantia que faz com que os pacientes
procurem auxlio profissional quando
necessitam, sem medo de repercusses
econmicas ou sociais que possam
advir de seu estado de sade (1).
As informaes fornecidas pelos
pacientes, quando de seu atendimen-
Carlos Fernando Francisconi
Jos Roberto Goldim
Aspectos Bioticos da
Confidencialidade e Privacidade
to em um hospital, posto de sade ou
consultrio privado, assim como os
resultados de exames e procedimentos
realizados com finalidade diagnstica
ou teraputica, so de sua proprieda-
de. Durante muito tempo houve o en-
tendimento de que estas informaes
pertenciam ao mdico assistente ou
instituio. Desta viso que surgiram
as denominaes pronturio mdico
e arquivo mdico. Esta maneira de
tratar as informaes do paciente deve
ser atualizada. Os profissionais e as
instituies so apenas seus fiis de-
positrios. Os mdicos, enfermeiros e
demais profissionais de sade e admi-
nistrativos que entram em contato com
as informaes tm apenas autoriza-
o para o acesso s mesmas em fun-
o de sua necessidade profissional,
mas no o direito de us-las livremen-
te. Dessa forma, os profissionais so-
mente devero ter acesso s informa-
es que efetivamente contribuam ao
atendimento do paciente.
270
A garantia da preservao do se-
gredo das informaes, alm de uma
obrigao legal contida no Cdigo Pe-
nal (2) e na maioria dos Cdigos de
tica profissional (3), um dever pri-
ma facie de todos os profissionais e
tambm das instituies. Este concei-
to foi proposto por Sir David Ross, em
1930 (4). Ele propunha que no h,
nem pode haver, regras sem exceo.
O dever prima facie uma obrigao
que se deve cumprir, a menos que
conflite, numa situao particular, com
um outro dever de igual ou maior por-
te. Por exemplo, como veremos poste-
riormente, existem situaes que cla-
ramente constituem excees preser-
vao de segredos devido ao risco de
vida associado ou ao benefcio social
que pode ser obtido.
A preservao de segredos profis-
sionais um direito do paciente e uma
conquista da sociedade (5). Esta rela-
o de confiana se estabelece entre o
paciente e seu mdico, e se estende a
todos os demais profissionais das re-
as de sade e administrativa, incluin-
do-se as secretrias e recepcionistas
que tenham contato direto ou indireto
com as informaes obtidas. Muito do
vnculo que se estabelece pode ser cre-
ditado a esta garantia.
A preservao das informaes
um compromisso de todos e para com
todos. Algumas vezes observamos que
os mdicos tm mais facilidade em
manter a confidencialidade de seus
pacientes mais abonados, sendo mais
flexveis em deixar escapar informa-
es de seus pacientes mais empobre-
cidos tanto social como intelectualmen-
te. No entanto, moralmente inaceit-
vel que os mdicos, em funo de va-
riveis socioeconmicas, ajam de
maneira diferente em relao a qual-
quer princpio. este um valor que
deve ser precocemente transmitido e
exemplificado aos alunos dos cursos
mdicos atravs de uma atitude corre-
ta por parte dos professores quando do
seu exerccio docente-assistencial nos
hospitais universitrios. As populaes
vulnerveis devem ser protegidas por
polticas extremamente claras sobre o
uso das informaes geradas ao longo
de seu atendimento pelo sistema de
sade.
Muitos autores e cdigos utilizam
indistintamente os termos sigilo e se-
gredo. A palavra segredo pode ter o
significado de mera ocultao ou de
preservao de informaes. Os segre-
dos dizem respeito intimidade da
pessoa, portanto devem ser mantidos
e preservados adequadamente. A pa-
lavra sigilo tem sido cada vez menos
utilizada. A sua utilizao em diferen-
tes idiomas tem caracterizado cada vez
mais os aspectos de ocultao e me-
nos os de preservao.
A omisso de informaes uma
situao que permite verificar a dife-
rena entre segredo e sigilo. No raro
familiares de pacientes solicitam aos
mdicos que omitam informaes ou
mintam aos mesmos, principalmente
na situao de diagnstico de doen-
as malignas. Neste caso, o mdico
estar mantendo uma informao em
sigilo, quando deveria comunic-la a
quem de direito. Os pacientes tambm
pedem para que os mdicos omitam
ou mintam para as suas famlias, pe-
los mais diferentes motivos. A primei-
ra circunstncia, omitir informaes a
pedido do paciente, pode ser encarada
como um claro exerccio de sua auto-
nomia, preservando sua intimidade e
271
segredos. A segunda solicitao men-
tir pode constituir-se em um ato eti-
camente inadequado. Recomenda-se
ao mdico muita prudncia nestas si-
tuaes. Ele dever entender bem os
aspectos psicodinmicos envolvidos e
discuti-los claramente com a famlia ou
com o paciente, conforme o caso, an-
tes de tomar uma deciso sria como
esta: enganar deliberadamente a al-
gum.
A veracidade, a exemplo da
confidencialidade, tambm um de-
ver prima facie. Desta forma, a nica
justificativa moralmente aceitvel para
que o mdico omita a verdade a de
que o bem maior para o paciente, na-
quela circunstncia especfica, no
ter acesso a uma dada informao. A
caracterizao deste carter de exce-
o deve ser feita pelo prprio mdi-
co, em funo dos argumentos de fa-
miliares prximos e baseando-se essen-
cialmente em sua observao e julga-
mento.
Esta situao peculiar s cultu-
ras latinas, que tm carter mais cole-
tivo em suas relaes familiares (6).
Muitas vezes as informaes mdicas
so primeiro relatadas s famlias e,
posteriormente, aos pacientes. Nos
pases anglo-saxos, de formao mais
individualista, o paciente, de maneira
quase que obrigatria, ter primeira-
mente acesso s informaes e, ento
decidir se algum mais compartilha-
r das mesmas.
O dilema tico, na realidade, no
est situado entre revelar ou no o
diagnstico, ao paciente, ou qualquer
outra informao relevante, mas sim
na forma e momento de revelar. Vale
relembrar que a garantia recproca de
comunicar a verdade e de no ser en-
ganado, ou seja a veracidade, um
dos princpios bsicos sobre os quais
se estabelece a relao mdico-paci-
ente.
A preservao de segredos est
associada tanto questo da privaci-
dade quanto da confidencialidade. A
privacidade, mesmo quando no h
vnculo direto, impe ao profissional os
deveres de resguardar as informaes
que teve contato e de preservar a pr-
pria pessoa do paciente pode ser con-
siderada como sendo um dever
institucional. A confidencialidade, por
sua vez, pressupe que o paciente re-
vele informaes diretamente ao pro-
fissional, que passa a ser o respons-
vel pela preservao das mesmas.
Confidencialidade
A confidencialidade uma carac-
terstica presente desde os primrdios
das profisses de sade. O juramento
hipocrtico, do sculo V a.C., estabe-
lecia que: qualquer coisa que eu veja
ou oua, profissional ou privadamente,
que deva no ser divulgada, eu man-
terei em segredo e contarei a ningum
(7). Thomas Percival, em seu livro
Medical Ethics, de 1803, tambm rei-
terava a importncia da garantia da
preservao das informaes para
uma adequada relao mdico-paci-
ente (8). Confidencialidade, desta for-
ma, a garantia do resguardo das in-
formaes dadas em confiana e a
proteo contra a sua revelao no
autorizada (9).
A confidencialidade no uma
prerrogativa dos pacientes adultos, ela
se aplica a todas as faixas etrias.
272
As crianas e os adolescentes tm,
como um adulto, o mesmo direito de
preservao de suas informaes pes-
soais, de acordo com a sua capacida-
de, mesmo em relao a seus pais ou
responsveis (10). Com relao aos
pacientes idosos, especial ateno
deve ser dada revelao de informa-
o aos familiares e, especialmente,
aos cuidadores. Estes devero receber
apenas as informaes necessrias ao
desempenho de suas atividades (11).
Confidencialidade tem origem na
palavra confiana, que a base para um
bom vnculo teraputico. O paciente con-
fia que seu mdico ir preservar tudo que
lhe for relatado, tanto que revela infor-
maes que outras pessoas, com as
quais convive, sequer supem existir.
Os deveres do terapeuta para com
a preservao dos dados de um paci-
ente no cessam com a morte deste,
nem com o fato de ser uma pessoa
pblica. O profissional no deve sequer
confirmar uma informao que j de
domnio pblico. Os familiares, por sua
vez, no tm o direito de acesso e,
muito menos, de obrigar o terapeuta a
fornecer estas informaes, que devem
permanecer resguardadas. Neste tipo
de situao o profissional somente
poder dizer famlia, ou a qualquer
outra pessoa que solicitar informaes,
que est impedido de atender a estes
pedidos por motivos morais e legais,
justificando a sua conduta sob o pon-
to de vista da adequao tica.
Privacidade
A privacidade a limitao do
acesso s informaes de uma dada
pessoa, bem como do acesso pr-
pria pessoa e sua intimidade. a
preservao do anonimato e dos se-
gredos (12). o respeito ao direito de
o indivduo manter-se afastado ou per-
manecer s. o direito que o paciente
tem de no ser observado sem sua
autorizao. O artigo XII da Declara-
o Universal dos Direitos Humanos,
proposta pela ONU em 1948, j esta-
belecia o direito no interferncia na
vida privada pessoal ou familiar (13).
As instituies tm a obrigao de
manter um sistema seguro de proteo
aos documentos que contenham regis-
tros com informaes de seus pacien-
tes. As normas e rotinas de restrio
de acesso aos pronturios e de utiliza-
o de senhas de segurana em siste-
mas informatizados devem ser conti-
nuamente aprimoradas. Por sua vez,
o acesso de terceiros envolvidos no
atendimento, como seguradoras e ou-
tros prestadores de servios, deve me-
recer especial ateno.
Em mdia, durante uma
internao clnica habitual em hospi-
tais norte-americanos, 75 diferentes
pessoas lidam com o pronturio de um
paciente (14). Estes dados so seme-
lhantes aos verificados no Hospital de
Clnicas de Porto Alegre. Os mdicos,
psiclogos, enfermeiros e outros pro-
fissionais de sade, assim como todos
os demais funcionrios administrativos
(secretrias de unidade, funcionrios
do setor de arquivo de pronturios, de
setores de internao, da rea de
faturamento e de contas de pacientes,
entre outros) que entram em contato
com as informaes tm o mesmo
comprometimento, ou seja, apenas au-
torizao para o acesso s mesmas em
funo de sua necessidade profissional,
273
mas no o direito de us-las livremen-
te. Cabe s instituies e profissionais
responsveis pelo atendimento dos
pacientes, especialmente aos mdi-
cos, um importante papel educativo
no processo de manuteno das in-
formaes (15).
A garantia da preservao da pri-
vacidade deve limitar o acesso prpria
pessoa, sua intimidade. Deve impedir
que um paciente seja observado sem a
devida autorizao. Isto extremamen-
te importante no atendimento de paci-
entes em Ginecologia, por exemplo, ten-
do em vista o tipo de exposio a que
so submetidas na maioria dos exames
fsicos realizados de rotina. Muitas ve-
zes, o espao de intimidade destas paci-
entes invadido por diferentes pessoas
com as quais nunca tiveram qualquer
contato prvio. Esta situao se agrava
quando o atendimento ocorre em um
hospital de ensino, onde, alm dos pro-
fissionais, tambm os alunos partici-
pam dos procedimentos (16).
As diferentes formas de
quebra de privacidade e
confidencialidade
As quebras de privacidade ou de
confidencialidade podem surgir na
relao do terapeuta com terceiros,
tais como com a famlia, cuidadores
ou empresas seguradoras. Em todas
estas relaes deve ficar claro que o
dever de lealdade do terapeuta para
com o paciente. A este cabe a deci-
so de quais dados devem ser reve-
lados ou no. extremamente impor-
tante que este compromisso seja pre-
servado, esteja o paciente em estado
de inconscincia e, at mesmo, aps
sua morte.
Algumas vezes os mdicos se
vem em uma situao difcil, quando
o paciente, fazendo uso de sua auto-
nomia, toma alguma deciso que no
visa ao seu melhor interesse biomdico
e exige a preservao destas informa-
es, por parte do mdico, quanto s
razes que o levam a tal deciso. No
havendo qualquer elemento que leve a
pensar em prejuzo do exerccio da
autonomia do paciente e no haven-
do qualquer razo moral que justifique
a quebra da confidencialidade, estas
informaes devero ser preservadas,
por mais difceis sejam os problemas
que porventura surjam no contato com
os familiares do paciente.
Uma vez estabelecido um trato
com o paciente, ou seja, a concordn-
cia do mdico em seguir a vontade do
paciente, ele deve resistir a todas as
presses de familiares ou de outras
pessoas como amigos, colegas, su-
periores hierrquicos e imprensa
para manter a confidencialidade da in-
formao mdica. Vale ressaltar que
nem mesmo a morte do paciente de-
sobriga o mdico a preservar as infor-
maes privilegiadas, isto , ele no
pode tornar pblica quaisquer informa-
es biomdicas de pacientes, tanto
vivos como mortos, se com eles assu-
miu um compromisso. Recomenda-se
que estas situaes sejam discutidas
com os pacientes para que eles orien-
tem o mdico como proceder em rela-
o a quem deve ou pode ter acesso
s informaes mdicas.
Mesmo segredos podem, em algu-
mas situaes especficas, por fora de
obrigao legal, ser comunicados sem
que haja quebra de confidencialidade
274
(17), constituindo-se em uma exceo
preservao de informaes.
A exceo preservao de in-
formaes pode existir, desde que por
justa causa e com amparo na legisla-
o, em circunstncias tais como:
- testemunhar em corte judicial,
em situaes especiais previstas
em leis e compatveis com a gra-
vidade;
- comunicar, autoridade com-
petente, a ocorrncia de doena,
procedimento ou situao de in-
formao compulsria, de maus-
tratos em crianas ou adolescen-
tes, de abuso de cnjuge ou ido-
so ou de ferimento por arma de
fogo ou de outro tipo, quando
houver a suspeita de que esta le-
so seja resultante de um ato cri-
minoso.
Nesses casos o profissional fica
desobrigado de cumprir com o dever
de preservar as informaes,
objetivando beneficiar a sociedade
como um todo. o exemplo de quan-
do um dever maior se sobrepe a um
outro, constituindo-se em um novo
dever prima facie. Porm, mesmo nes-
tas situaes existem diferentes abor-
dagens. Na legislao norte-america-
na h o conceito de informaes pri-
vilegiadas aquelas dadas em confi-
ana a um advogado, mdico, clrigo
ou cnjuge, que no podem ser reve-
ladas em corte judicial se este privil-
gio for solicitado pelo cliente, pacien-
te, fiel ou cnjuge. No Brasil, os cdi-
gos de tica profissional dos mdicos
(18) e dos fonoaudilogos (19) impe-
dem a estes profissionais prestar infor-
maes mesmo a um juiz, independen-
temente da solicitao de privilgio por
parte dos pacientes.
O profissional de sade, ao ser
chamado para testemunhar em uma
Corte Judicial, deve comparecer peran-
te a autoridade e declarar-se impedi-
do de revelar qualquer informao,
pois est moralmente comprometido
com a preservao das informaes.
Existem opinies, contudo, que admi-
tem que um juiz pode assumir a res-
ponsabilidade de inquirir a revelao
de informaes, mesmo contrariando
o cdigo de tica profissional, desde
que isto fique claramente configurado
nos autos do processo. Desta forma
estaria caracterizada uma exceo
e no uma quebra confidencialidade.
Essa alternativa pode contemplar os
aspectos legais do ato de revelar infor-
maes tidas como confidenciais, po-
rm no atende plenamente ao aspec-
tos morais envolvidos.
As situaes de abuso ou maus-tra-
tos devem ser avaliadas com cautela. No
Brasil, existe a obrigao legal de comu-
nicar essas ocorrncias quando consta-
tadas em crianas ou adolescentes (20).
As demais situaes de abuso de cnju-
ge ou idoso da famlia no esto previs-
tas em lei, mas podem ser equiparadas,
desde o ponto de vista moral, s
verificadas em menores. Nestes casos
bom contatar um Comit de Biotica ou
alguma outra estrutura de defesa dos di-
reitos dos pacientes porventura existen-
te na prpria instituio. No caso de tra-
balho em consultrio privado a situao
fica mais delicada, pois as decises so
mais solitrias. Nessa circunstncia
pode ser solicitada uma consultoria ou
superviso formal a algum colega com
experincia nesta rea ou ao Conse-
lho Regional de Medicina do estado.
275
Em todos estes episdios os profissionais
envolvidos tambm passam a ser soli-
drios na manuteno da confiden-
cialidade e privacidade do caso.
A comunicao de doena de no-
tificao compulsria (21) ou da supo-
sio de preenchimento dos critrios de
morte enceflica (22), assim como de
situaes com possveis desdobramen-
tos judiciais como, por exemplo, leso
por arma de fogo, tem por base o prin-
cpio da beneficncia, tomado no seu
sentido mais amplo e utilitarista, isto ,
como beneficncia expandida ou bene-
ficncia social. O indivduo no tem be-
nefcio pessoal, mas a sociedade, poten-
cialmente, sim. Uma situao de notifi-
cao compulsria, porm, no se en-
quadra nesta justificativa: a referente
aos procedimentos de esterilizao cirr-
gica (23), cuja comunicao no tem be-
nefcio social.
Com relao comunicao de
crimes, o mdico tem o dever legal de
comunic-los autoridade competen-
te, salvo, segundo Nelson Hungria (24),
quando esta revelao possa vir a pre-
judicar seu paciente.
Resumindo, a exceo de
confidencialidade pode ser eticamen-
te aceitvel desde que o paciente d a
sua permisso; que a lei obrigue a re-
velao; que haja risco de vida ou
possibilidade de dano fsico ou psico-
lgico para uma ou mais pessoas
identificadas (25).
Podemos fazer a distino entre
quebra de privacidade e quebra de
confidencialidade: a primeira consiste
no acesso desnecessrio ou uso de in-
formaes sem a devida autorizao
do paciente; a segunda, a ao de
revelar ou deixar revelar informaes
fornecidas em confiana.
As quebras de confidencialidade
ou de privacidade, conforme o caso,
podem ocorrer em situaes muito
comuns entre os profissionais de sa-
de, por exemplo, quando realizam co-
mentrios sobre pacientes em elevado-
res, corredores, restaurantes, cantinas
ou refeitrios. Uma pesquisa (26) re-
velou que em 13,9% das situaes
observadas em elevadores houve co-
mentrios inadequados, dos quais
metade claramente revelavam infor-
maes confidenciais.
Devem ser estabelecidas medidas
para evitar que pessoas sem qualquer
envolvimento com o paciente, ou que
no necessitam saber detalhes impres-
cindveis sua atividade profissional,
venham a ter informaes sobre o
mesmo. Estas informaes s devem
ser utilizadas no prprio local de tra-
balho, para o cumprimento especfico
da tarefa de cada profissional. A pol-
tica a ser seguida deve tomar por base
a questo: quem necessita saber, pro-
fissionalmente, o qu, de quem?
Uma situao de igual risco o
uso de dados para exemplificar situa-
es clnicas ou administrativas. Essa
utilizao, que pode ser necessria
para ensino, por exemplo, deve ter sem-
pre o cuidado de descaracterizar ple-
namente a identificao do paciente,
preservando, assim, as informaes.
Na rea administrativa, a utilizao de
dados para fins de auditoria ou avali-
ao da qualidade do atendimento
prestado pode expor desnecessaria-
mente um ou mais pacientes. Nas ati-
vidades de pesquisa, muitas vezes so
utilizados dados constantes em pron-
turios e bases de dados. Essa utiliza-
o deve ser resguardada e permitida
apenas para projetos previamente
276
aprovados por um Comit de tica em
Pesquisa, desde que plenamente
descaracterizada a identificao do
paciente, inclusive quanto as suas ini-
ciais e registro hospitalar. Mesmo nas
publicaes cientficas no deve ser pos-
svel identificar os pacientes atravs de
fotografias ou outras imagens. Em caso
de necessidade imperiosa, isto ser per-
mitido apenas com o consentimento, por
escrito, dos mesmos o que tem ampa-
ro na prpria Constituio Federal, em
seu Art. 5, item X (27).
O Caso Tarasoff, que ocorreu na
Universidade da Califrnia, em
Berkeley/EEUU, em 1969, provocou
grande discusso sobre a adequao
da quebra de confidencialidade. O
desfecho judicial s ocorreu sete anos
aps, em 1976, na Suprema Corte da
Califrnia. Neste caso, um paciente
atendido por um psiclogo em um
ambulatrio universitrio, sob a super-
viso de um psquiatra, revelou que iria
matar sua ex-namorada. O psiclogo
recomendou formalmente a internao
compulsria do paciente. As providn-
cias, contudo, no foram seguidas pela
segurana do campus universitrio,
responsvel pelos procedimentos de
internao nessas circunstncias. O
paciente no foi internado, por ter sido
considerado mentalmente capaz pelos
seguranas, e veio a matar a ex-namo-
rada. Os pais desta processaram a
universidade por no avis-los do ris-
co que sua filha corria, pois desta for-
ma poderiam ter tomado medidas pre-
ventivas que impedissem o trgico des-
fecho. Os trs juzes da Suprema Cor-
te do Estado da Califrnia/EEUU, en-
carregados do caso, se dividiram: um
defendeu o direito de preservar total-
mente as informaes, mesmo aque-
las que pudessem ter repercusses gra-
ves como as deste caso; os outros dois
propuseram que existiam motivos su-
ficientes para que as informaes fos-
sem reveladas.
A partir principalmente deste caso,
Junkerman e Schiedermayer (28), da
Universidade de Wisconsin/EEUU, es-
tabeleceram critrios que devem ser ob-
servados para lidar com situaes deste
tipo. A quebra de confidencialidade, isto
, a revelao no autorizada de infor-
maes fornecidas em confiana, so-
mente eticamente admitida quando:
- um srio dano fsico a uma pes-
soa identificvel e especfica tiver
alta probabilidade de ocorrer
(no-maleficncia);
- um benefcio real resultar desta
quebra de confidencialidade (be-
neficncia);
- for o ltimo recurso, aps ter sido
utilizada a persuaso ou outras
abordagens (autonomia);
- este procedimento for genera-
lizvel, ou seja, o mesmo ser no-
vamente utilizado em outra situa-
o com caractersticas idnticas,
independentemente da posio so-
cial do paciente envolvido (justia,
tomando por base o imperativo
categrico de Kant (29)).
Mesmo quando estes quatro crit-
rios estiverem contemplados prudente
apresentar o caso ao Comit de
Biotica, se houver, a um colega ou ao
Conselho Regional de Medicina de seu
estado, em situao formal de
consultoria, esclarecendo adequada-
mente os fatos e a situao encontrada.
Em suma, o fundamental com-
preender a importncia do respeito que
277
merecem todas as informaes dos
pacientes e o desenvolvimento de es-
tratgias de como lidar com as mes-
mas de forma eticamente adequada.
O pronturio do paciente
Os documentos com as informa-
es obtidas com ou sobre o paciente
so armazenados no pronturio. O
pronturio um arquivo, em papel ou
informatizado, cuja finalidade facili-
tar a manuteno e o acesso s infor-
maes que os pacientes fornecem,
durante o atendimento, seja em uma
rea de internao ou ambulatorial,
bem como os resultados de exames e
procedimentos realizados com finali-
dade diagnstica ou de tratamento. O
pronturio de propriedade do paci-
ente. O hospital ou outra instituio de
sade detm a guarda destes documen-
tos visando preservar o histrico de
atendimento de cada paciente.
Como j citado anteriormente, em
um hospital universitrio, durante o pe-
rodo de uma internao mdia de oito
dias, pelo menos 75 diferentes pessoas
podem lidar com o pronturio do paci-
ente. Deve-se ressaltar que tanto os m-
dicos como os enfermeiros e demais pro-
fissionais de sade, assim como todos
os funcionrios administrativos que en-
tram em contato com as informaes por
dever de ofcio, tm autorizao para o
acesso s mesmas apenas em funo da
necessidade profissional. Vale salientar
que qualquer outra pessoa, que no o
paciente, no tem o direito de usar as
informaes do pronturio livremente,
salvo no caso de pacientes menores de
idade ou declarados como incapazes.
Nessas situaes, os seus representan-
tes legais assumem este direito.
As recentes propostas de
compartilhamento de informaes en-
tre diferentes instituies de sade,
com o objetivo de permitir o rpido
acesso s informaes de um pacien-
te, independentemente de se ele foi
atendido localmente ou no, agregam
novas questes. A principal delas tal-
vez seja a da garantia da preservao
das informaes durante a transmis-
so dos dados. A utilizao de linhas
telefnicas convencionais pode facili-
tar o uso indevido das informaes,
mesmo que os dados estejam
criptografados e existam sistemas de
segurana para acesso s bases de
dados.
A consulta aos pronturios de
pacientes pode ser necessria para fins
de comprovao de realizao de pro-
cedimentos. Esta verificao dever ser
feita apenas por auditores creden-
ciados, preferencialmente mdicos, no
prprio estabelecimento de sade. Os
pronturios no podem ser retirados da
instituio, pois poderiam acarretar pre-
juzos na eventualidade de um atendi-
mento ao prprio paciente.
As autoridades policiais no tm
acesso aos dados constantes no pron-
turio, pois isto caracterizaria uma in-
vaso de privacidade. No caso de au-
toridade judicial , devidamente
justificada e solicitada por escrito em
documento oficial, as informaes po-
dero ser fornecidas, mas no envia-
dos os documentos originais do pron-
turio.
Os alunos e professores tambm
utilizam os dados do pronturio com
finalidade educativa, essencial
formao de novos profissionais de
278
sade. Este acesso eticamente ade-
quado, desde que especificamente vin-
culado s atividades de ensino-apren-
dizagem; qualquer outro uso implica
quebra de privacidade.
Para as atividades de pesquisa
como j dito, o pesquisador somente
pode acessar o pronturio aps ter ela-
borado um projeto e o mesmo ter sido
aprovado pelo Comit de tica em
Pesquisa. No Hospital de Clnicas de
Porto Alegre foi baixada uma norma
especfica sobre este tema, que obriga
os pesquisadores a assinarem um Ter-
mo de Compromisso para Uso de Da-
dos (30). Este documento formaliza o
dever de preservar os dados e o ano-
nimato dos pacientes estudados este
procedimento foi adotado, posterior-
mente, em outras instituies.
Situaes especiais
HIV-AIDS
A AIDS trouxe um desafio ao prin-
cpio da confidencialidade, na medi-
da em que um valor mais alto, no caso
a vida das pessoas que tm contato
direto com o paciente, surge na dis-
cusso. Na prtica, estamos obrigados
tanto moralmente como legalmente a
informarmos ao cnjuge/companheiro
do nosso paciente a sua situao de
doena (31). igualmente compuls-
ria a notificao da doena s autori-
dades de sade. ainda controversa
e, portanto no universalmente acei-
ta, a atitude de informar contatos do
caso mesmo garantindo-se o anonima-
to do caso-ndice. Obviamente, na si-
tuao de contato monogmico e no
exposto a outra situao de risco, a
quebra da confidencialidade seria ime-
diata. No se provou, at o momento,
que este tipo de medida eficiente no
controle da epidemia da AIDS e, por
outro lado, uma poltica desta natureza
pode ter o efeito perverso de afastar dos
centros de sade pacientes de risco pelo
medo da quebra de confidencialidade de
informao to delicada (32).
Os critrios que serviram de base
para a elaborao da Resoluo n
1.358/92, do Conselho Federal de Me-
dicina, relativa a situaes que envol-
vam pacientes com AIDS, foram os
mesmos utilizados por Junkerman e
Schiedermayer (1993) com base no
caso Tarasoff. Esta resoluo estabe-
lece que o segredo profissional dever
ser rigorosamente cumprido, mesmo
aps a morte do paciente, inclusive
com relao famlia. O diagnstico
de que o indivduo HIV+ ser in-
formado a seus parceiros sexuais ou
usurios de seringas em comum quan-
do o paciente se negar a faz-lo, desde
que observados todos os critrios para
a quebra de confidencialidade.
Crianas e adolescentes
As crianas e os adolescentes, sob
o ponto de vista legal, so considera-
dos incapazes. Porm, moralmente,
podem ser considerados como porta-
dores de autonomia crescente e, segun-
do vrios autores, a partir dos doze
anos de idade, como no passveis de
distino de um adulto capaz (33).
Os responsveis legais tm o di-
reito de acessar as informaes cons-
tantes no pronturio de seus dependen-
tes. O Cdigo de tica Mdica de
1988, em seu artigo 103, consagra que
279
o mdico deve respeitar a confidencia-
lidade dos pacientes menores de
idade, desde que capazes de avaliar e
conduzir adequadamente o problema
abordado. Estes pacientes, em uma
pesquisa realizada com oncologistas e
cirurgies peditricos, tiveram a sua
autonomia considerada como igual a
de um adulto a partir dos 10 anos, com
mediana de 16 anos (34).
O atendimento de pacientes ado-
lescentes, especialmente na rea gine-
colgica, pode levar a situaes de
conflito de fidelidade do mdico com
sua paciente, com a eventual respon-
sabilidade de informar seus pais ou
representantes legais.
As crianas e adolescentes tm o
direito de ter a sua imagem e identida-
de preservadas. A confidencialidade
de seus dados, assim como o acesso
aos mesmos, tambm deve ser garan-
tida (35).
Pacientes psiquitricos
Todo paciente tem o direito de
acessar seus dados pessoais. Uma
questo tica que emerge se este di-
reito tambm se aplica de forma inte-
gral ao paciente psiquitrico. Por
exemplo, algumas vezes este no tem
conhecimento de seu prprio diagns-
tico, apesar de o mesmo j estar regis-
trado no seu pronturio ou ficha de
atendimento. Com o acesso aos regis-
tros, o paciente poderia ter conheci-
mento de uma informao-chave,
agravada pelo fato de que, algumas
vezes, o psiquiatra pode anotar, no
pronturio, observaes com relao
interpretao de elementos da hist-
ria, que dizem respeito ao inconscien-
te de seu paciente. Estas informaes,
em alguns casos, podem ainda no ter
sido discutidas com ele. Este acesso
indiscriminado poderia mudar o cur-
so de seu tratamento e, talvez, de sua
prpria vida. Esta questo pode talvez
ser includa na discusso anteriormente
feita sobre a questo da veracidade.
Na rea da Terapia de Famlia
pode surgir outro problema, que o
de estabelecer os critrios de acesso ao
pronturio de famlia. Qualquer dos
membros da famlia atendida pode
solicitar uma cpia do pronturio ou
necessria a autorizao ou solicita-
o coletiva de todos os participantes?
Como os dados foram gerados em con-
junto, a alternativa mais adequada tal-
vez seja a de sua liberao pelo grupo,
e no como um exerccio de direito
individual de seus participantes. Por
prudncia, estes critrios devem ser
estabelecidos com todos os participan-
tes desde o incio do processo
psicoteraputico. O registro de infor-
maes de atendimentos individuais
em pronturios de famlia, prtica uti-
lizada em algumas instituies, pode
trazer riscos adicionais confiden-
cialidade. Um deles o compartilha-
mento indevido de informaes entre
terapeutas de diferentes membros da
famlia, simultaneamente ou em mo-
mentos distintos. Isto poderia se cons-
tituir em quebra de confidencialidade
e de privacidade.
Na rea psiquitrica, a supervi-
so um eficiente meio de aprendiza-
do especialmente em psicoterapia. O
importante ressaltar que os pacien-
tes atendidos durante a etapa de for-
mao do terapeuta no devem ser vis-
tos apenas como um instrumento di-
dtico, mas como a finalidade des-
ta atividade. O uso de informaes
280
confidenciais, pelo terapeuta, deve ser
feito com extrema cautela. As situaes
envolvidas em supervises devem ser
cercadas de cuidados formais para
com o comprometimento do supervisor
na preservao de todas estas infor-
maes. O objetivo de revelar informa-
es a um supervisor, alm do apren-
dizado com o caso, deve ser o de pres-
tar o melhor atendimento possvel ao
paciente (36).
Estas recomendaes tambm
so vlidas para digitadores e datil-
grafos contratados por tarefa. Muitas
vezes, os terapeutas e, principalmen-
te, os alunos em perodo de formao
ou estgio supervisionado utilizam-se
destes servios na transcrio de aten-
dimentos psicoterpicos e na forma-
tao de relatrios.
Demonstraes mdicas
Na rea da psicoterapia muito
comum a prtica da observao atra-
vs de janelas espelhadas, com viso
unidirecional. O paciente tem o direi-
to de ser informado sobre esta obser-
vao por terceiros. Previamente, deve
ser solicitada a sua autorizao para
que este tipo de atividade ocorra. O
fato do atendimento ser realizado em
uma instituio de ensino no pressu-
pe a autorizao implcita para a
observao.
Uma prtica cada vez mais utili-
zada para fins pedaggicos a de-
monstrao de atos mdicos tanto em
transmisses ao vivo quanto com a
utilizao de diferentes recursos
audiovisuais. No difcil imaginar
com que freqncia quebra-se a
confidencialidade ou a privacidade
nestas situaes: expem-se dados
mdicos, imagem dos pacientes e pro-
cedimentos mdicos tanto invasivos no
sentido orgnico quanto psicolgico.
Com muita freqncia, podem ser vis-
tos diapositivos ou vdeos com imagens
radiol gicas, endoscpicas ou
anatomopatolgicas com o nome por
extenso de pacientes. Muitas vezes o
paciente no tem conhecimento desta
utilizao indevida de seu nome ou
imagem, tanto por omisso quanto por
engano deliberado.
A utilizao de registros de aten-
dimentos atravs de gravaes em
udio ou vdeo devem ser expressa-
mente autorizadas pelos pacientes. As
gravaes devem ter sua finalidade
previamente estabelecida, inclusive
com a indicao do destino a ser dado
ao material aps este uso. As grava-
es em vdeo, assim como as fotogra-
fias ou outros mtodos de registros de
imagem pessoal, devem ser realizadas
aps a obteno de uma Autorizao
para Uso de Imagem, semelhante a um
Termo de Consentimento Informado.
Caso o projeto j venha a utilizar este
instrumento, a obteno das imagens,
a sua utilizao e o destino dos regis-
tros devem constar, de forma explci-
ta, entre os procedimentos que sero
realizados.
A utilizao de vdeos, em espe-
cial, requer alguns cuidados adicionais.
Nas fichas de arquivamento dos ma-
teriais as pessoas no devem ser
identificadas por seus prprios nomes,
ou qualquer outra forma que possa ser
decodificada como tal, por exemplo:
iniciais, nmeros de registros ou ou-
tras caractersticas pessoais peculiares.
A preservao da identidade pessoal
no prprio vdeo pode ser feita atravs
de processos de edio, que quando
281
bem utilizados no descaracterizam a
situao a ser apresentada. A citao
de terceiros deve ser igualmente
descaracterizada, pois os mesmos no
foram consultados a este respeito e, se
o fossem, isto, por si s, caracterizaria
uma situao eticamente inadequada.
Devem ser fornecidos apenas os da-
dos necessrios compreenso da si-
tuao a ser apresentada, sendo pre-
servadas todas as demais informaes.
No devem ser permitidas cpias
dos vdeos para qualquer outra pessoa,
mesmo alunos em processo de forma-
o, salvo prvia autorizao pelos
pacientes, de forma explcita, indican-
do a finalidade especfica de tal pro-
cedimento. Os cuidados devem ser re-
dobrados quando so utilizados servi-
os de outros profissionais em qualquer
das etapas de produo dos vdeos.
Estes profissionais tambm tm deve-
res para com a preservao da priva-
cidade dos pacientes, sendo obrigao
do pesquisador ou terapeuta enfatizar
tais obrigaes. Alm disso, estes
vdeos no podero ser utilizados como
demonstrao ou propaganda dos ser-
vios prestados por estes profissionais.
Pesquisa
A realizao de um projeto de
pesquisa envol ve aspectos de
confidencialidade e privacidade em
todas as suas etapas. Desde o plane-
jamento at a divulgao, o pesquisa-
dor e todas as demais pessoas que vie-
rem a se envolver tm o compromisso
de resguardar as informaes, ou seja,
de impedir que as mesmas sejam utili-
zadas de forma inadequada.
Durante a fase de planejamento
a preservao das informaes entre
os membros da equipe fundamental,
pois o projeto ainda no foi apresen-
tado. Da mesma forma, os Comits de
tica em Pesquisa, em todas as ins-
tncias, e os Comits Assessores das
agncias financiadoras assumem o
compromisso com a preservao das
informaes a eles submetidas. Quan-
do forem utilizados consultores ad hoc,
esta caracterstica deve constar formal-
mente na solicitao do parecer (37).
Durante a execuo do proje-
to devem ser mantidas todas as
propostas contidas no mesmo, ou
seja, a no identificao dos indiv-
duos pesquisados, a preservao de
suas imagens, o uso especfico para a
finalidade do projeto. Os pesquisado-
res, entre si, devem, igualmente ter uma
garantia sobre as informaes duran-
te a execuo do projeto. Nenhuma
informao pode ser divulgada por
membros isolados, mesmo que sob a
forma de cartas a editor ou temas
livres, salvo quando a toda a equipe
autorize tal situao.
Na divulgao, o importante a
garantia de que todos os participantes
tiveram as suas identidades preserva-
das na ntegra. Os editores de revistas
cientficas, por sua vez devem garantir
a preservao dos contudos, durante
a tramitao do artigo. Novamente, to-
dos os consultores e membros do Cor-
po Editorial esto comprometidos for-
mal e solidariamente.
Consideraes finais
Inmeros novos desafios esto sen-
do propostos. O uso crescente de re-
cursos de transmisso de dados sobre
282
pacientes, utilizando telefone, fax, redes
de computadores, podem se constituir
em novas situaes de quebra de confi-
dencialidade ou de privacidade.
A nova medicina preditiva traz
consigo questes complexas como a
forma de registrar estas novas informa-
es e seu risco de acarretar danos,
muitas vezes irreparveis, ao pacien-
te. Outra importante questo, ainda na
rea da gentica, a do tempo ade-
quado para revelar informaes a um
paciente que ainda ter vrios anos de
vida antes que sua doena gentica
venha a se expressar. O profissional
deve revelar esta informao ou, ba-
seado na no-maleficncia, deve evi-
tar causar um dano deliberado?
A telemedicina tambm um de-
safio, pois o mdico e o paciente esta-
ro em locais diferentes, muitas vezes
sem qualquer contato pessoal anterior
ou futuro. Este novo tipo de vnculo no
alterar o compromisso do profissio-
nal para com seu paciente, porm sem-
pre haver a participao de outros
profissionais mediando a relao en-
tre ambos. Isto por si s poderia ser
caracterizado como sendo uma que-
bra de privacidade.
Estes e outros novos desafios de-
vem ser enfrentados com sabedoria,
entendida como o conhecimento ne-
cessrio para lidar com o prprio co-
nhecimento. Novas situaes exigem
novas solues, que muitas vezes res-
gatam antigas proposies, apenas
adequando-as ao novo contexto. O
fundamental reconhecer que as pes-
soas sempre possuem dignidade, inde-
pendentemente de sua idade ou capa-
cidade, merecendo, desta forma, todo
o nosso respeito e cuidado para com
as informaes a elas pertinentes.
Referncias bibliogrficas
1. Edwards RB. Confidenciality and the
professions. In: Edwards RB, Graber GC.
Bio-Ethics. San Diego: Harcourt Brace
Jovanovich, 1988: 74-7.
2. Brasil. Cdigo Penal Brasileiro 1941.
Violao do segredo profissional: Art.
154. Revelar algum, sem justa causa,
segredo de que tem cincia em razo de
funo, ministrio, ofcio ou profisso, e
cuja revelao possa produzir dano a
outrem: Pena deteno, de 3 (trs)
meses a 1 (um) ano, ou multa.
3. Conselho Federal de Medicina (Brasil).
Cdigo de tica Mdica. Resoluo CFM
n 1.246/88. vedado ao mdico: Art.
102 - Revelar fato de que tenha conheci-
mento em virtude do exerccio de sua pro-
fisso, salvo por justa causa, dever legal
ou autorizao expressa do paciente.
4. Ross W.D. The right and the good.
Oxford: Clarendon, 1930: 19-36.
5. Frana GV. Comentrios ao Cdigo de
ti ca Mdi ca. Ri o de Janei ro:
Guanabara-Koogan, 1994: 103.
6. Hofstede G. Cultures and organizations.
New York: McGraw-Hill, 1997: 67.
7. Lloyd GER. Hippocratic writings.
London: Penguin, 1983: 67.
8. Percival T. Medical ethics. Manchester:
Russel, 1803: 101.
9. Bioethics Information Retrieval Project.
Bioethics thesaurus. Washington:
Kennedy Institue of Ethics, 1995: 9
10.Conselho Federal de Medicina (Brasil).
Cdigo de tica Mdica. Resoluo CFM
n 1.246/88. vedado ao mdico: Art.
103 - Revelar segredo profissional refe-
rente a paciente menor de idade, inclu-
sive a seus pais ou responsveis legais,
desde que o menor tenha capacidade
283
de avaliar seu problema e de conduzir-
se por seus prpri os mei os para
solucion-lo, salvo quando a no re-
velao possa acarretar danos ao pa-
ciente.
11.Goldim JR. Biotica e envelhecimento.
Gerontologia 1997;5(2):66-71.
12.Bioethics Information Retrieval Project.
Bioethics thesaurus. Washington:
Kennedy Institue of Ethics, 1995: 38.
13.Goldim JR. Pesquisa em sade: leis,
normas e diretrizes. Porto Alegre: HCPA,
1997: 77.
14.deBlois J, Norris P, ORourke K. A Primer
for health care ethics. Washington:
Georgetown, 1994: 30-32.
15.Conselho Federal de Medicina (Brasil).
Cdigo de tica Mdica. Resoluo CFM
n 1.246/88. Art. 107, veda ao mdico
deixar de orientar seus auxiliares e de
zelar para que respeitem o segredo pro-
fissional a que esto obrigados por lei.
16.Goldim JR, Matte U, Francisconi CF.
Biotica e ginecologia. In: Freitas F,
Menke CH, Rivoire W, Passos EP. Roti-
nas em ginecologia. 3ed. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1997: 162-7.
17.Junkerman C, Schiedermayer D.
Practical ethics for resident physicians:
a short reference manual. Wisconsin:
MCW, 1993.
18.Conselho Federal de Medicina (Brasil).
Cdigo de tica Mdica. Resoluo CFM
n 1.246/88. O item b, do art. 102, es-
tabelece que mesmo quando do depoi-
mento como testemunha continua ve-
dado ao mdico revelar fato que tenha
conhecimento em virtude de sua profis-
so, salvo por justa causa, dever legal
ou autorizao expressa do paciente. O
mdico comparecer perante a autori-
dade e declarar seu impedimento, mes-
mo que os fatos j sejam de conheci-
mento pblico e/ou o paciente tenha
falecido.
19.Conselho Federal de Fonaudiologia.
Cdigo de tica do Fonaudiologo. O art.
31 estabelece que este profissional no
revelar, como testemunho, fatos de que
tenha conhecimento no exerccio de sua
profisso, mas intimado a depor, obri-
gado a comparecer perante a autorida-
de para declarar-lhe que est preso
guarda do sigilo profissional.
20.Estatuto da Criana e do Adolescente:
Lei n 8.069/90. Braslia: Ministrio da
Sade, 1991. Art. 2 - Considera-se cri-
ana, para os efeitos desta Lei, a pes-
soa at doze anos de idade incomple-
tos, e adolescente aquela entre doze e
dezoito anos de idade. (...) Art. 13 - Os
casos de suspeita ou confirmao de
maus-tratos contra crianas ou adoles-
centes sero obrigatoriamente comuni-
cados ao Conselho Tutelar da respecti-
va localidade, sem prejuzo de outras
providncias legais.
21.Brasil. Ministrio da Sade. Port. MS/GM
n 1.100, de 24 de maio de 1996. Especi-
fica quais as doenas de notificao com-
pulsria. Braslia: Dirio Oficial da Unio,
n. 154, p. 15131, 9 ago. 1996. Seo 1.
As doenas de notificao compulsria
so as seguintes: Clera, Coqueluche, Den-
gue, Difteria, Doena meningoccica e
outras meningites, Doena de Chagas (ca-
sos agudos), Febre amarela, Febre tifide,
Hansenase, Leishmaniose tegumentar e
visceral, Oncocercose, Peste, Poliomielite,
Raiva humana, Rubola e sndrome da
rubola congnita, Sarampo, Sfilis con-
gnita, Sndrome de imunodeficincia
adquirida (AIDS), Ttano, Tuberculose,
Varola, Hepatites virais, Esquistossomose
(exceto nos estados do Maranho, Piau,
Cear, Rio Grande do Norte), Filariose
(exceto em Belm e Recife) e Malria
(exceto na regio da Amaznia Legal).
22.Brasil. Lei n 9.434, de 4 de fevereiro
de 1997. Estabelece os critrios para a
remoo de rgos, tecidos e partes do
corpo humano para fins de transplante
e tratamento. Braslia : Dirio Oficial da
Unio, p. 2191-3, 5 fev. 1997. Seo 1.
284
23.Brasil. Lei n 9.263, de 12 de janeiro
de 1996. Regula o artigo 7 da Consti-
tuio Federal, que trata do planejamen-
to familiar. Braslia: Dirio Oficial da
Unio, v.134, n.10, 15 jan. 1996. Se-
o 1.
24.Liberal HSP. Sigilo profissional. In:
Assad JE, coordenador. Desafios ticos.
Braslia: CFM, 1993: 97-103.
25.Edwards RB. Op.Cit. 1988: 81.
26.Ubel PA, Zell MM, Miller DJ, Fisher GS,
Peters-Stefani D, Arnold RM. Elevator
talk: observational study of inappriate
comments in a public space. Am J Med
1995;99:190-4.
27.Brasil. Constituio da Repblica Fede-
rativa do Brasil-1988. Braslia: MEC,
1989.
28.Junkerman C, Schiedermayer D.
Practical ethics for resident physicians:
a short reference manual. Wisconsin:
MCW, 1993.
29.Kant E. Fundamentos da metafsica dos
costumes. Rio de Janeiro: Ediouro, sd:
70. O imperativo categrico de Kant
prope que todo indivduo deve agir so-
mente, segundo uma mxima tal, que
possas querer ao mesmo tempo que se
torne lei universal.
30.Goldim JR. Pesquisa em sade. Op.Cit.
1997: 71-2.
31.Conselho Federal de Medicina (Brasil).
Parecer n 14/88, aprovado em 20 de
maio de 1988. Analisa aspectos ticos
da AIDS quanto discriminao na re-
lao mdico-paciente, instituies. me-
dicina do trabalho e pesquisa. Relator:
Antonio Ozrio Lemos de Barros, Guido
Carlos Levi.
32.Francisconi CF. AIDS e Biotica.
URL:http://www.ufrgs.br/HCPA/gppg/
aids.htm
33.Goldim JR. A tica e a criana hospita-
lizada. In: Ceccim RB, Carvalho PRA,
organizadores. Criana hospitalizada.
Porto Alegre: UFRGS, 1990.
34.Goldim JR, Matte U, Antunes CRH.
Paciente menor de 18 anos: autonomia
e poder de deciso na opinio de cirur-
gies e oncologistas peditricos. Revista
HCPA 1996;16(2):126-7.
35.Brasil. Ministrio da Justia. Conselho
Nacional dos Direitos da Criana e do
Adolescente. Resoluo n 41, de 13 de
outubro de 1995. Aprova na ntegra o tex-
to da Sociedade Brasileira de Pediatria, re-
lativo aos direitos da criana e do adoles-
cente hospitalizados. Braslia: Dirio Oficial
da Unio, 17 out. 1991. Seo 1. O assun-
to abordado nos artigos 16 e 18.
36.Goldim JR. Psicoterapias e biotica. In:
Cordioli AV. Psicoterapias: abordagens
atuais. Porto Alegre: Ar tes Mdicas,
1998: 119-33.
37.Conselho Nacional de Sade (Brasil). Re-
soluo n 196, de 10 de outubro de 1996.
Aprova normas regulamentadoras de pes-
quisa envolvendo seres humanos. Braslia:
Dirio Oficial da Unio, p. 21082-5, 16
out. 1996. Seo 1. Item VII.13.c, sobre
as atribuies dos Comits de tica em
Pesquisa: manter a guarda confidencial
de todos os dados obtidos na execuo
de sua tarefa e arquivamento do protoco-
lo completo, que ficar disposio das
autoridades sanitrias.
285
Introduo
A palavra tica deriva do grego
ethos, que significa hbito, comporta-
mento. Afirma Aristteles que as virtu-
des ticas provm do hbito: no se
geram nem por natureza nem contra a
natureza, mas nascem em ns, que, ap-
tos pela natureza a receb-las, nos tor-
namos perfeitos mediante o hbito (1).
Admitindo que a filosofia material
relaciona-se com determinados obje-
tos e com as leis a que estes esto sub-
metidos, Kant define a tica como a
cincia das leis da liberdade, aceitan-
do tambm que se a compreenda como
a teoria dos costumes (2).
Importante, para ns, reconhe-
cer que a tica encontra sua razo de
ser fundamentalmente nas relaes
humanas, pois nestas deposita o seu
carter teleolgico; volta-se, assim, em
suma, para a criao de condies que
visem afirmao da dignidade do ser
tica Clnica:
a AIDS como Paradigma
humano. No pensamento de Kant esse
objetivo se impe como fundamento de
um princpio prtico supremo,
estabelecedor da humanidade como
fim em si mesma (3).
Parte significativa dos comporta-
mentos que uma determinada socieda-
de pretende ver observados ser orga-
nizada sob a forma de regras jurdicas,
dotadas de fora coercitiva destinada
a lhes garantir a observncia. H que
se ter em vista que o Direito consiste
num conjunto de tcnicas (ou ferramen-
tas) destinadas a regular sociedades
sob uma determinada viso de mun-
do, voltando-as para a realizao de
determinados objetivos; no se confun-
de, portanto, com o conceito de Justi-
a, que fundamentalmente um valor
(admite-se, mesmo, que se diga que o
Direito pode ser, ou no, um instrumen-
to de realizao da Justia).
H que se entender que a tica
discute o comportamento desejvel dos
seres que integram uma determinada
Guido Carlos Levi
Antonio Ozrio Leme de Barros
286
sociedade, tendo em vista os valores
(dentre estes a Justia) que a orientam;
volta-se, conseqentemente, para a
formulao de uma teoria dos costu-
mes, da qual nos fala Kant.
Do debate de temas ticos resul-
tar sempre, portanto, sob o ponto de
vista prtico, um conjunto de precei-
tos de conduta social destinados a tor-
nar as relaes humanas mais harm-
nicas e agradveis, o que implica,
substancialmente, o respeito pessoa
em sua integralidade. No se perca de
vista que esses preceitos esto sujeitos
a constantes modificaes, decorren-
tes da natureza dinmica dos valores
sociais.
Dessa linha de raciocnio deflui a
concluso de que a tica pode regular
campos especficos de atividades so-
ciais; trata a tica Clnica das condu-
tas desejveis no mbito da relao
que se forma entre profissionais da
rea da sade e seus pacientes, crian-
do-se, com isso, condies para que,
por um lado, os valores pessoais dos
seres humanos envolvidos sejam pre-
servados e respeitados e, por outro, a
prestao do servio que constitui o
objeto especial dessa relao possa
alcanar a mxima eficcia possvel.
Pode-se afirmar com segurana
que a parte mais importante dos cdi-
gos ticos que regulam os comporta-
mentos dos profissionais da sade a
que trata das relaes com os seus
pacientes, j que estas constituem o
eixo de suas atividades.
A relao entre o profissional e
seu paciente se d dentro de riqussima
e variada gama de matizes
comportamentais que tornam cada si-
tuao nica e inigualvel. H, toda-
via, mltiplos aspectos dessa relao
que podem ser classificados, a fim de
se buscar parmetros ticos que per-
mitam sejam reguladas situaes an-
logas. Dois desses aspectos assumem
particularssima importncia, por se-
rem inevitavelmente relevantes para a
higidez da relao profissional: a in-
formao que devida ao pacien-
te e a preservao de sua intimi-
dade.
Quando se cuida da informao a
que tem direito o paciente, trata-se de se
garantir a ele o poder de decidir sobre o
prprio destino, permitindo, ou no, que
o profissional da sade realize em seu
favor determinado procedimento (exer-
cendo o paciente o que se convencionou
chamar de consentimento informa-
do); para que possa tomar essa deciso,
necessitar o paciente de informaes
pormenorizadas sobre as hipteses
diagnsticas de seu problema, bem como
acerca dos procedimentos destinados
complementao ou confirmao
desses diagnsticos, os tratamentos
possveis (e suas conseqncias) e o
prognstico.
A preservao da privacidade do
paciente, por seu turno, est vincula-
da ao princpio de que tudo que diz
respeito sua intimidade lhe perten-
ce, e somente ele poder dela dispor;
a proteo dessa intimidade se d por
meio da adoo do sigilo, que torna a
circulao de informaes relaciona-
das intimidade do paciente restrita
apenas ao crculo integrante da rela-
o profissional.
Evidentemente, tais institutos
o consentimento informado e o sigilo
profissional se aplicam a todas as
hipteses possveis que ensejem a ocor-
rncia da relao entre profissionais e
pacientes.
287
Quando se toma a sndrome da
imunodeficincia adquirida (AIDS)
como paradigma para este trabalho,
leva-se em considerao que no ocor-
reu, propriamente, o surgimento de al-
guma nova situao para o campo da
tica Cl nica; probl emas ticos
concernentes AIDS j haviam sido,
de algum modo, identificados no que
tange a outras molstias transmissveis.
A ecloso da AIDS implicou, na
verdade, que alguns aspectos ticos da
relao profissional fossem profunda-
mente revistos e exaustivamente
rediscutidos, seja em decorrncia de
aspectos epidemiolgicos da infeco,
seja em razo do carter dramtico
que reveste o aparecimento dessa
pandemia, seja em conseqncia do
prognstico sombrio que se desenha
para o portador do agente etiolgico
da doena.
Veremos, a seguir, os pontos que
se nos afiguram mais importantes com
relao ao consentimento informado e
ao sigilo profissional.
Consentimento informado
Guardando-se, sempre, a pers-
pectiva de que se tem, aqui, a AIDS
como paradigma deste breve estudo de
pontos relevantes da tica Clnica, ver-
se- que o consentimento informado
um dos mais importantes aspectos que
permeiam o atendimento clnico dos
pacientes.
O Conselho Federal de Medicina
(CFM), interpretando a codificao
tica em vigor para os mdicos do Pas,
estabeleceu (4,5) que necessria a
autorizao (oral e escrita) do pacien-
te (ou de seu responsvel legal) a fim
de que se proceda coleta de material
destinado realizao de exame
sorolgico para diagnstico de infec-
o pelo vrus da imunodeficincia
humana (HIV).
Muitos, entretanto, se rebelaram
contra essa orientao, argumentando
no ser procedimento habitual pedir-
se autorizao para outros exames
diagnsticos. Tal insurgncia revela,
em primeiro lugar, eventual precarie-
dade de comunicao entre o profissi-
onal da sade e o paciente, deixando
este de receber informao, por resu-
mida que seja, acerca dos procedimen-
tos diagnsticos a que est sendo sub-
metido (inclusive em circunstncias em
que isso se reveste de especial impor-
tncia, como, por exemplo, na realiza-
o de rotinas diagnsticas pr-natais);
em segundo lugar, evidencia uma cer-
ta falta de percepo da gravidade com
que repercute, em mltiplos aspectos
da vida do paciente, o diagnstico de
infeco pelo HIV, sobretudo quando
se tem em vista a carga de desconhe-
cimento, incompreenso e preconcei-
to que ainda cerca essa patologia, o
que implica a necessidade da adoo
de cuidados ticos especiais na sua
investigao.
A propsito dessa carga franca-
mente discriminatria que envolve essa
infeco, oportuno lembrar que cer-
tas instituies, at mesmo algumas de
excelente qualidade tcnica, exigiam,
at recentemente, investigao
sorolgica do HIV como condio
para a internao de pacientes, sob a
alegao de que isso permitiria prote-
o mais adequada no apenas dos
infectados como tambm dos de-
mais internados e dos profissionais
288
da sade. A ignorncia e o preconcei-
to que permeiam esse tipo de exign-
cia so evidentes, bastando verificar
que outras patologias tambm poten-
cialmente transmissveis por contato
com sangue ou fluidos corporais
infectantes em alguns casos, at
muito mais facilmente que a prpria
infeco pelo HIV, como, por exemplo,
a hepatite B nunca foram alvo des-
se tipo de triagem. Hoje em dia, feliz-
mente, o reconhecimento de que a ado-
o de cuidados universais constitui o
melhor procedimento profiltico impli-
cou a sua ampla aceitao, tornando
sem sentido qualquer exigncia referen-
te a triagem sorolgica nas circunstn-
cias supramencionadas, restringindo-
a a casos excepcionais.
No mbito de vrias especialida-
des mdicas, a orientao do CFM no
sentido de se observar a regra do con-
sentimento informado produz signifi-
cativos efeitos: no campo da medici-
na do trabalho, torna inaceitvel (como
se ver mais adiante) a realizao, pelo
profissional da sade, de triagem
sorolgica de empregados (6); na pe-
diatria (mormente na rea da
neonatologia), leva o profissional da
sade a solicitar a autorizao dos
pais ou dos responsveis legais para
que se efetuem exames sorolgicos nas
crianas; na infectologia campo em
que o exame sorol gico ,
freqentemente, a chave para a formu-
lao do diagnstico , exige, igual-
mente, do profissional da sade, que
solicite a autorizao do paciente para
que se proceda investigao
sorolgica. importante ressaltar que
essa orientao valer, ainda, para as
atividades de pesquisa (inclusive
epidemiolgica), nas quais, muitas
vezes, o profissional da sade se v
tentado a suprimir explanaes que
possam dificultar a realizao de eta-
pas prticas da investigao.
Esses exemplos, como se v, de-
monstram a importncia do consenti-
mento informado no campo da tica
Clnica. Quando se tem em vista a
AIDS, as dificuldades encontradas para
se cuidar do consentimento informa-
do revelam, talvez, a ponta do iceberg
constitudo pela magnitude desse pro-
blema tico na prtica clnica.
Relacionado ao tema do consen-
timento informado ainda que como
corolrio , h um interessante pro-
blema que o advento da AIDS fez
emergir: quando profissionais da sa-
de e instituies comearam a
condicionar o atendimento de pacien-
tes ao prvio conhecimento de seu
status sorolgico, estes passaram a ter
conduta recproca, vindo a solicitar
ou mesmo a exigir que aqueles, so-
bretudo os cirurgies, revelassem sua
condio sorolgica.
Embora, num primeiro momento,
tenha havido, por parte de algumas
associaes de especialistas e alguns
dirigentes de instituies, endosso a tal
postura dos pacientes, em pouco tem-
po deu-se praticamente o seu abando-
no por vrios motivos, destacando-se
entre estes o fato de que a divulgao
do resultado positivo do exame
sorolgico para deteco da infeco
pelo HIV, ao qual se houvesse subme-
tido o profissional da sade, poderia
atentar contra o direito individual ao
trabalho (j que a pessoa infectada se
exporia a prejuzos de difcil repara-
o em sua atividade profissional);
ademais, concluiu-se pela inocuidade
da medida, pois seria impossvel
289
proceder-se continuamente investi-
gao sorolgica de toda a comunida-
de de profissionais da sade; alm dis-
so, haveria outras patologias tambm
transmissveis por contaminao com
sangue que no seriam detectadas.
Prevaleceu o bom-senso de se re-
comendar aos profissionais realizado-
res de prticas invasivas (particular-
mente aquelas de maior risco de aci-
dentes prfuro-cortantes para os que
as realizam) que, se pertencentes a al-
gum grupo com comportamento de ris-
co, submetam-se periodicamente, em
carter voluntrio, a exames para
deteco de doenas transmissveis
pelo sangue. Caso o profissional da
sade tenha exame sorolgico cujo
resultado venha a ser positivo para al-
guma patologia cuja erradicao do
agente etiolgico ainda no possvel,
ser desejvel seja ele realocado para
outro tipo de atividade na qual no
haja risco para o paciente; nunca, po-
rm, dever ser impedido de exercer a
sua profisso.
Sigilo profissional
A proteo da intimidade do pa-
ciente se d por meio do reconheci-
mento daquilo que o Direito identifica
como direito ao resguardo (defini-
do o resguardo pelo jurista italiano
Adriano de Cupis como o modo de
ser da pessoa que consiste na exclu-
so do conhecimento pelos outros da-
quilo que se refere a ela s (7)) e di-
reito ao segredo (compreendido em
suas diversas formas: epistolar, do-
cumental, profissional, etc. (8)), inte-
grantes dos chamados direitos de
personalidade, nos quais se incluem,
alm desses j mencionados, os direi-
tos vida, integridade fsica, s par-
tes destacadas do corpo, ao cadver,
honra, identidade pessoal e pro-
teo autoral.
Um ilustre mestre do direito pe-
nal brasileiro, Paulo Jos da Costa
Jnior, assevera que na sociedade,
para solver determinados problemas,
faz-se necessrio socorrer-se de pes-
soas dotadas de determinada capaci-
dade tcnica ou funcional, ou voltadas
a ministrios peculiares, s quais se
confiam segredos da intimidade pes-
soal ou domstica. Convertem-se as-
sim o mdico, o advogado, o sacerdo-
te nos chamados confidentes necess-
rios. Via de conseqncia, ficam eles
vinculados ao dever de guardar segre-
do, honrando a funo, ministrio, of-
cio ou profisso que exercem e
correspondendo confiana neles de-
positada (9).
Esto os profissionais da sade
presos guarda de tudo aquilo que se
acha includo na esfera da intimidade
do paciente e que lhes chega ao co-
nhecimento mediante a observao
clnica e os exames subsidirios; o
paciente lhes entrega certas informa-
es (ou lhes permite o acesso a elas)
a fim de que possam desempenhar
suas atividades com a diligncia dese-
jada. O objeto da proteo gerada
pelo instituto do segredo profissional
matria que pertence, pois, ao pacien-
te, no ao profissional da sade.
Em anterior trabalho nosso, j
sustentvamos que o sigilo que se pro-
tege aquele que pertence ao paci-
ente. Base da confiana que deve re-
ger a relao profissional, fundado
nele que o paciente revela ao mdico
290
aspectos de sua privacidade essenci-
ais ao perfeito equacionamento do pro-
blema. Alm daqueles que o prprio
paciente expe, atravs de sua ao,
o mdico toma conhecimento de ou-
tros pormenores que pertencem exclu-
sivamente ao mbito do recato pesso-
al. Se tais dados no fossem obtidos
pelo mdico, certamente ele estaria im-
pedido de exercer o seu mister. Toda-
via, no tem o mdico o direito de re-
velar a outrem aquilo que sabe a res-
peito de seu paciente, sob pena de
comprometer irremediavelmente a qua-
lidade da relao profissional (4).
No ordenamento jurdico brasilei-
ro, o sigilo profissional recebe prote-
o por meio de norma penal (regra
do art.154, do Cdigo Penal), punin-
do-se com pena privativa de liberdade
ou multa aquele que revelar, sem justa
causa, segredo, de que tem cincia em
razo de funo, ministrio, ofcio ou
profisso, e cuja revelao possa pro-
duzir dano a outrem. Assim a preser-
vao, pelo profissional da sade, do
segredo que lhe confiado pelo paci-
ente ser a regra, admitindo-se a que-
bra do sigilo somente quando houver
justa causa (da qual trataremos mais
adiante).
Alm das conseqncias no cam-
po penal, a violao da intimidade
pode dar ensejo busca, pelo prejudi-
cado, da reparao judicial dos danos
materiais e morais eventualmente cau-
sados pelo profissional da sade que
revele, sem justa causa, matria pro-
tegida pelo instituto do segredo.
Nesse diapaso seguem os cdi-
gos de tica dos profissionais da rea
da sade, estabelecendo, para os in-
fratores das regras de proteo do si-
gilo, sanes de carter administrati-
vo, que geralmente variam da adver-
tncia reservada cassao do regis-
tro profissional (punies que devem
ser proporcionais, evidentemente,
gravidade da infrao).
Como j se disse alhures, a AIDS
no trouxe, efetivamente, nenhuma
inovao para a abordagem sob o pon-
to de vista tico da atividade dos pro-
fissionais da sade; acarretou, entre-
tanto, importante reviso e
aprofundamento de certos conceitos.
A ecloso dessa pandemia trou-
xe tona, por exemplo, a discusso
acerca da importncia do combate aos
chamados comportamentos de ris-
co para reduo da incidncia da in-
feco; se esse fator de controle no
era desconhecido no que tange ao
enfoque preventivo de doenas, certa-
mente adquiriu uma relevncia nunca
antes conhecida no campo da
epidemiologia, j que a letalidade da
AIDS, associada pequena eficcia
dos tratamentos ento disponveis para
as suas mltiplas manifestaes, pu-
nha em primeiro plano a preveno da
infeco, vista como a nica defesa
possvel ao do HIV, agente causa-
dor dessa molstia.
A perplexidade em que mergulha-
ram os profissionais da sade com o
advento da AIDS, atingidos pela
desconfortvel sensao de impotn-
cia em face desse novo desafio,
ensejou discusses acerca da suposta
necessidade de afrouxamento das re-
gras de proteo do segredo profissio-
nal, sob a premissa de que no mais
fazia sentido a guarda de sigilo diante
da ameaa que a pandemia represen-
tava para a humanidade.
Reaes de verdadeiro pnico le-
varam, por exemplo, administradores
291
a exigir que funcionrios de suas em-
presas fossem submetidos, sem que
soubessem, a exames para deteco de
anticorpos anti-HIV, cobrando dos pro-
fissionais integrantes de seus departa-
mentos mdicos que os resultados lhes
fossem diretamente comunicados; por
outro lado, houve quem defendesse a
identificao pblica dos portadores do
HIV, com o seu subseqente isolamen-
to compulsrio, em campos de concen-
trao ou ilhas em que viessem a ser
privados de qualquer contato com pes-
soas no infectadas...
O tratamento sereno dessas ques-
tes permitiu, entretanto, o afastamen-
to de idias delirantes e propostas
aodadas do bojo das discusses de
natureza tica. A infeco pelo HIV
no reduz em nada o respeito devido
pessoa por ela atingida; sua digni-
dade permanece intacta. Nem pode-
ria ser diferente: infectados so, essen-
cialmente, vtimas e como tais devem
ser tratados e protegidos pelos demais
membros da comunidade.
No h motivo de ordem tcnica,
cientfica, jurdica ou moral que auto-
rize o tratamento da intimidade pes-
soal de modo diferente quando se est
diante de paciente infectado pelo HIV.
Outras doenas infecciosas conheci-
das h mais tempo pela medicina tm
caractersticas epidemiolgicas que
guardam analogia com a AIDS; nem
por isso houve ruptura do instituto do
segredo ante tais casos.
O sigilo profissional , portanto,
regra em relao a pacientes infectados
pelo HIV, no exceo; no seria justo
com tais pacientes impor-lhes mais um
sofrimento, decorrente, em primeiro
l ugar, dos preconceitos que
freqentemente os estigmatizam e que
se relacionam infeco pelo HIV e,
em segundo lugar, de sua progressiva
marginalizao, conseqncia de uma
postura obscurantista assumida por
grupos sociais que no aprenderam a
lidar com essa nova realidade.
Vale a pena analisar alguns tpi-
cos que se relacionam ao conceito de
justa causa para o rompimento do se-
gredo profissional.
Sob o ponto de vista jurdico, a
justa causa consiste num fator (ou con-
junto de fatores) que retira o carter
ilcito da quebra do sigilo pelo profis-
sional que deveria, em tese, proteg-
lo. Em outras palavras, havendo justa
causa para rompimento do sigilo pro-
fissional o profissional que o fizer no
cometer crime, tampouco estar su-
jeito (sempre em tese) a indenizar da-
nos materiais ou morais decorrentes
dessa ruptura.
Quanto ao aspecto tico da ques-
to, no diverso o tratamento da
matria: no comete infrao o pro-
fissional que, fundado em justa causa,
quebra o segredo de que portador.
Pode-se ir alm: na ocorrncia de jus-
ta causa, o dever do profissional ser
o rompimento do segredo (visto esse
rompimento no como um fim em si
mesmo, mas como meio para prote-
o de um bem de maior relevncia).
No ser possvel arrolar todas as
hipteses em que a justa causa possa
se configurar. Isso no nos impede,
todavia, de examinar algumas situaes
de ordem prtica que se manifestam,
com alguma freqncia, na atividade cl-
nica dos profissionais da sade.
A primeira delas diz respeito
necessidade de notificao compuls-
ria dos casos de AIDS aos rgos res-
ponsveis pelo controle epidemiolgico
292
da doena. Evidentemente, o propsi-
to dessa medida , em sntese, o reco-
lhimento de dados sobre a evoluo da
incidncia e da prevalncia da infec-
o, o que permitir um planejamento
mais adequado das aes de sade
destinadas, por um lado, a reduzir o
impacto da pandemia sobre as popu-
laes (orientando as medidas de pre-
veno) e, por outro, a racionalizar os
recursos para o tratamento adequado
dos doentes.
Sobrepe-se, nessas circunstn-
cias, o interesse de toda a coletividade
proteo da intimidade do paciente;
se houver conflito entre esses dois bens
jurdicos bem-estar da sociedade e
privacidade do paciente e um deles
tiver que ser sacrificado em favor do
outro, ser preservado o de maior re-
levncia, que beneficia um nmero
indeterminado de pessoas e tende a
assegurar qualidade de vida para as
geraes atuais e futuras. Em tais ca-
sos, ao comunicar autoridade sani-
tria a ocorrncia de um caso de noti-
ficao compulsria, estar o profissio-
nal, em conformidade com a ordem
jurdica, agindo em estrito cumpri-
mento do dever legal; a lei penal
brasileira, alis, pune com pena pri-
vativa de liberdade, alm de multa, o
mdico que deixar de denunciar au-
toridade pblica doena cuja notifica-
o compulsria (regra do art.269 do
Cdigo Penal).
Registre-se que as autoridades
sanitrias, por sua vez, estaro presas
ao dever de resguardar a intimidade dos
pacientes cujos dados os profissionais
da sade lhes entregaram; o uso de tais
informaes deve se restringir exclusi-
vamente ao mbito das aes de sa-
de pblica, sendo vedado o seu em-
prego para outras finalidades que no
aquelas que do fundamento ao car-
ter compulsrio da notificao.
Outra situao com a qual os pro-
fissionais da sade podem se deparar
aquela em que se configura a resis-
tncia do paciente a revelar, a seus
parceiros sexuais, sua condio de
infectado. Essa situao assume con-
tornos verdadeiramente dramticos
quando se tem em vista a insuficiente
informao levada populao acer-
ca dos mecanismos de transmisso do
HIV e dos meios para a preveno da
infeco. Muitas vezes, a uma atitude
de revolta dos pacientes (e at mesmo
a um desejo indiscriminado de vingan-
a) observvel com freqncia
quando eles tomam conhecimento da
sua condio de infectados se so-
brepe um sentimento de resignao
e de solidariedade para com seus par-
ceiros sexuais que os leva a inform-
los de seu estado, bem como a adotar
cuidados de preveno da transmisso
do vrus.
Infelizmente, nem sempre isso
ocorre; mesmo exaustivamente orien-
tados pelos profissionais da sade
que os atendem, alguns pacientes se
recusam terminantemente a informar
sua condio de infectados a seus par-
ceiros sexuais e a adotar mtodos pre-
ventivos. Em tais situaes, esgotados
os meios para que esses pacientes ajam
corretamente, ser lcito que o profis-
sional da sade tome a iniciativa de
fornecer tais informaes aos parcei-
ros sexuais daqueles.
Nesse caso, o conflito se instala
entre a proteo da sade at mes-
mo da vida de uma pessoa e a pro-
teo da intimidade de outra; inega-
velmente, a proteo da vida e da sade
293
de uma pessoa dever preponderar
sobre o outro bem em jogo. Admite-se
que, nessas circunstncias, esteja o
profissional da sade agindo, em tese,
em legtima defesa de terceiro, hip-
tese que, do mesmo modo que o estri-
to cumprimento do dever legal, exclui
a configurao do crime de violao
do segredo profissional, j que presen-
te a justa causa.
Assinale-se que idnticas solues
so preconizadas pela tica Clnica
quando se est diante de pacientes
infectados pelo HIV que se recusam a
informar sua condio s pessoas que
com eles, eventualmente, compartilhem
seringas e agulhas no uso de drogas
injetveis. Evidentemente, no se des-
conhece a enorme dificuldade para que
o contato do profissional da sade com
esses co-usurios possa ser estabe-
lecido; tampouco se ignora que h fa-
tores culturais prprios do meio de usu-
rios de drogas injetveis que dificul-
tam bastante a aceitao de quaisquer
informaes relativas infeco; en-
tretanto, o profissional da sade deve
orientar-se pela permanente expecta-
tiva de que a informao, nesses ca-
sos, possa salvar a vida e a sade de
pessoas at ento desavisadas.
Muitas vezes, parentes e amigos
dos pacientes, freqentemente movidos
por natural aflio diante do estado
clnico destes, procuram o profissional
da sade em busca de informaes
relativas ao diagnstico; ainda que a
proximidade familiar e afetiva dessas
pessoas possa justificar tal iniciativa,
h que se ter em mente que a proteo
da intimidade se estende, tambm, s
relaes de parentesco e de estreita
amizade; no se admite, nessas cir-
cunstncias, que o segredo seja rom-
pido e o diagnstico venha a ser reve-
lado pelo profissional da sade, a no
ser que o paciente consinta no forne-
cimento da informao pedida (afinal,
ele o verdadeiro titular dessa in-
formao e o nico que pode dela
dispor).
Cabe consignar que a morte do
paciente no autoriza a divulgao,
pelo profissional da sade, do diagns-
tico de seu paciente, j que a proteo
da imagem, da honra e da intimidade
do paciente subsiste mesmo depois do
seu desaparecimento.
Essa dificuldade de proteo da
intimidade da pessoa se torna sensi-
velmente aumentada quando o paci-
ente figura de grande notoriedade,
ocasio em que ocorre forte presso
de jornalistas em busca de informaes
sobre o seu estado de sade, visando,
freqentemente, obteno da notcia
de grande impacto sobre o pblico;
muitas vezes, a luta pela informao
feroz e nem sempre respeita os limites
ticos e legais que devem ser observa-
dos; cabe ao profissional da sade,
nesses casos, zelar para que a privaci-
dade do paciente seja mantida intacta,
levando opinio pblica apenas os
esclarecimentos que esteja autorizado
a prestar.
Encerrando esta breve ordem de
consideraes, registre-se a necessida-
de de se preservar, no mbito das em-
presas, as informaes obtidas dos fun-
cionrios pelos profissionais dos depar-
tamentos de sade. No h justificati-
va para a realizao indiscriminada de
testes para a deteco de portadores
do HIV nas empresas; tampouco se
admite que informaes que violem a
intimidade dos empregados sejam
fornecidas por profissionais da sade
294
a seus patres a estes devida, ape-
nas, a informao acerca da aptido,
ou no, temporria ou permanente,
para o desempenho de determinada
atividade, de funcionrio submetido a
exame pelo departamento de sade.
Tambm na empresa, a relao entre
o profissional da sade e o paciente
est revestida pelo manto do segredo
que tutela a intimidade da pessoa.
Referncias
1. Aristteles. A tica. Traduo de Cssio
M. Fonseca. Rio de Janeiro: Tecnoprint,
s.d.: 62.
2. Kant E. Fundamentos da metafsica dos
costumes. Traduo de Lourival de
Queiroz Henkel . Rio de Janeiro:
Tecnoprint, s.d.: 25.
3. Kant E. Op.cit. s.d.: 78-91.
4. Conselho Regional de Medicina do Es-
tado de So Paulo (Brasil). Parecer
aprovado na 1.295 Reunio Plenria,
no dia 3 de maio de 1988. AIDS e tica
mdica. Relatores: Antonio Ozrio Leme
de Barros, Guido Carlos Levi. Adotado,
posteriormente, pelo Conselho Federal
de Medicina (Brasil) como Parecer CFM
n 14/88, em 20 de maio de 1988.
5. Conselho Federal de Medicina (Brasil).
Parecer CFM n 11/92. AIDS e tica m-
dica. Relatores: Guido Carlos Levi,
Gabriel Wolf Oselka.
6. Vide, nesse sentido, Conselho Federal
de Medicina (Brasil). Resoluo CFM n
1.359, de 11 de novembro de 1992.
Normativa o atendimento profissional a
pacientes portadores do vrus da
imunodeficincia humana (HIV). In:
Conselho Federal de Medicina (Brasil).
Resolues normativas, separatas.
Braslia: CFM, 1994. Probe a partici-
pao de mdicos, sob quaisquer pre-
textos, em procedimentos de triagem
sorolgica nos exames admissionais de
empregados.
7. Cupis A. Os direitos da personalidade.
Traduo de Adriano Vera Jardim e
Antonio Miguel Caeiro. Lisboa: Morais,
1961: 129.
8. Cupis A. Op.cit. 1961: 147-64.
9. Costa PJ Jr. Comentrios ao Cdigo
Penal: parte especial. 2ed.atual.ampl..
So Paulo: Saraiva, 1989. v.2: 122.
295
Parte V - Posfcio
Conforme foi dito no captulo
introdutrio deste livro, impressionan-
te o volume da produo cientfica e
de novas informaes sobre biotica
provenientes dos quatro cantos do
mundo, principalmente nesta ltima
dcada. Dentro de todo este contexto,
extremamente variado no que se refe-
re aos temas privilegiados pelos dife-
rentes pesquisadores e estudiosos da
rea, dois assuntos tm merecido, mais
recentemente, uma ateno especial e
certamente continuaro compondo no
incio do sculo XXI a pauta bsica das
preocupaes dos governos dos dife-
rentes pases e das comisses cientfi-
cas dos congressos bioticos interna-
cionais.
Apesar de algumas situaes
bioticas persistentes como o aborto e
a eutansia continuarem dividindo o
planeta com posies opostas e apa-
rentemente inconciliveis, e em que
pese a fecundao assistida ter
ocupado os principais espaos da
mdia na dcada passada no que se
refere s situaes emergentes, dois as-
suntos passaram a receber atenes
Srgio Ibiapina Ferreira Costa
Volnei Garrafa
Gabriel Oselka
A Biotica no Sculo XXI
redobradas dentro do contexto hist-
rico atual apesar de uma delas ser
originria das pocas bblicas e a ou-
tra mais recente. Esses assuntos so,
respectivamente, a sade pblica e co-
letiva, pelo lado dos velhos problemas
que se o atual estado de coisas per-
manecer inalterado no sero resol-
vidos to cedo de modo satisfatrio
pela inteligncia humana; e a engenha-
ria gentica (incluindo o Projeto
Genoma Humano), pelo lado das no-
vidades(1).
Um tema persistente: sade
pblica e eqidade
Em recente nmero do IAB News,
publicao peridica da International
Association of Bioethics (IAB), o edi-
torial assinado por seu atual presiden-
te, Alastair Campbell, estampa a preo-
cupao e o compromisso da entida-
de com a proposta de uma Nova Pol-
tica Global de Sade Para o Novo
Mi l ni o sugeri da recentemente
296
pela Organizao Mundial da Sade
(OMS) e referendada por outros impor-
tantes organismos internacionais (2).
Essa proposta, no entanto, no nova.
Em 1978, na cidade de Alma Ata, na
antiga Unio Sovitica, a OMS j ha-
via proposto com grande repercusso
mundial seu programa de Sade Para
Todos no Ano 2000. Como se sabe,
este slogan utpico no somente este-
ve longe de ser cumprido como as dis-
tncias entre os cidados necessitados
do mundo e aqueles que acumulam
bens exagerados e desnecessrios au-
mentaram significativamente neste
curto espao de tempo.
Hoje, a distncia entre os exclu-
dos e os includos na sociedade de
consumo mundial tanto quantitativa
quanto qualitativamente parado-
xalmente maior que h vinte anos
atrs. Enquanto os japoneses, por
exemplo, apresentam uma expectativa
de vida de quase 80 anos, em alguns
pases africanos como Serra Leoa ou
Burkina Fasso a mdia mal alcana os
40. Um brasileiro pobre nascido na pe-
riferia de Recife, cidade situada na ri-
da e sofrida regio Nordeste do pas, vive
aproximadamente 15 anos menos que
um pobre nascido na mesma situao
na periferia de Curitiba ou Porto Alegre,
no Sul beneficiado pelas chuvas e pela
natureza. As contradies brasileiras,
alm de internas, como acima referido,
so tambm gritantes no que se refere
s comparaes no mbito externo: ape-
sar de termos alcanado o 8 maior PIB
(Produto Interno Bruto) mundial, com
ndice superior a 800 bilhes de dlares/
ano, continuamos a amargar uma 42
posio tanto no que se refere aos ndi-
ces de analfabetismo como de expecta-
tiva de vida ao nascer.
O usufruto democrtico dos be-
nefcios decorrentes do desenvolvimen-
to cientfico e tecnolgico, portanto, est
muito longe de ser alcanado. Esta a
dura e crua realidade: quem tem po-
der de compra vive mais, quem po-
bre vive menos. E a vida, em muitas
instncias, passa a ser um negcio:
rentvel para alguns, principalmente
para os proprietrios de companhias
internacionais seguradoras de sade;
e inalcanvel para uma multido de
excludos sociais que no tm condi-
es de acesso s novas descobertas e
seus decorrentes benefcios.
A igualdade a conseqncia
desejada da eqidade, sendo esta o
ponto de partida para aquela. Ou seja,
somente atravs do reconhecimento
das diferenas e das necessidades dos
sujeitos sociais que se pode alcanar
a igualdade. A igualdade no mais
um ponto de partida ideolgico que
tendia a anular as diferenas. A igual-
dade o ponto de chegada da justia
social, referencial dos direitos huma-
nos e onde o prximo passo o reco-
nhecimento da cidadania (3).
A eqidade , ento, a base ti-
ca que deve guiar o processo decisrio
da alocao de recursos, sua distri-
buio e controle. somente atravs
da eqidade, associada tica da res-
ponsabilidade (individual e pblica) e
ao princpio da justia no seu amplo
sentido, que os povos conseguiro tor-
nar realidade o direito sade. A eqi-
dade, ou seja, o reconhecimento de
necessidades diferentes, de sujeitos
tambm diferentes, para atingir direi-
tos iguais, o caminho da tica prti-
ca em face da realizao dos direitos
humanos universais, entre eles o do
direito vida, representado neste
297
contexto pela possibilidade de acesso
sade (3). A eqidade a refern-
cia que permite resolver parte razovel
das distores na distribuio da sa-
de, ao aumentar as possibilidades de
vida de importantes parcelas da popu-
lao.
A diferena da proposta da OMS
no contexto de 1998, comparativamen-
te quela de Alma Ata, que nesta
oportunidade, procurando ir alm do
slogan e das boas intenes, saiu, em
conjunto com outras organizaes
congneres de mbito mundial, em bus-
ca de apoio concreto na tentativa de
construo de uma nova tica para o
tema, utilizando como referncia o al-
cance da eqidade. Em outras pala-
vras, no recente encontro a OMS reto-
mou com vigor o conceito de eqida-
de e esta passou a constituir-se na pa-
lavra-chave em sade para o final deste
sculo e incio do prximo. E isso
promissor, sem dvida, no somente
para o campo da sade, especifica-
mente, como para o aprimoramento
dos direitos humanos e ampliao da
cidadania de uma forma mais
abrangente e solidria, alm da busca
de uma igualdade real que, certamen-
te, se refletir futuramente nos quadros
sanitrios.
Um tema emergente
engenharia gentica, benefcios
e distores
Diferentemente de Baudrillard (4),
que entende que neste sculo aconte-
ceu uma verdadeira banalizao do
corpo humano, interpretamos os lti-
mos cem anos como aqueles que trou-
xeram as transformaes mais signifi-
cativas no sentido da melhoria de qua-
lidade para a vida humana. Apesar das
injustias sociais e de todas as distores
apontadas no tpico anterior, a expec-
tativa de vida aumentou significativa-
mente, os direitos das mulheres esto
sendo crescentemente mais considera-
dos e respeitados, a sade dos traba-
lhadores passou a ser vista com mais
ateno, e as descobertas cientficas,
apesar dos altos custos, trazem maior
esperana a pessoas, famlias e povos.
Uma das questes-chave para a
biotica, com relao s novidades
biotecnocientficas, diz respeito sua
aplicao: a qual pode trazer benefcios
extraordinrios, bem como acarretar da-
nos insuportveis. Tanto a engenharia
genrica como o tema do Projeto
Genoma Humano, que tomamos como
referncia neste captulo final, podem ser
analisados sob estes dois prismas.
Apesar da ausncia esperada dos
Estados Unidos da Amrica (EUA),
um conjunto de mais de 80 pases
com o apoio da UNESCO firmou em
12 de novembro de 1997 a Declara-
o Universal do Genoma Humano e
dos Direitos Humanos (5), onde, para
o tema que ora discutimos, alguns ar-
tigos merecem ser pinados. O artigo
5, por exemplo, diz que nos casos de
pesquisas, tratamento ou diagnsti-
co que afetem o genoma (...) obriga-
trio o consentimento prvio, livre e es-
clarecido da pessoa envolvida, alm
de que ser respeitado o direito de
cada indivduo de decidir se ser ou
no informado dos resultados de seus
exames genticos e das conseqnci-
as resultantes. O artigo 6 cita, ain-
da, que: Ningum ser sujeito dis-
criminao baseada em caractersticas
298
genticas que vise infringir ou exera
o efeito de infringir os direitos huma-
nos, as liberdades fundamentais ou a
dignidade humana. Apesar do tema
ser to novo e dos testes genticos te-
rem sido introduzidos com segurana
apenas recentemente, os dois artigos
acima citados j vm sendo freqen-
temente desrespeitados em variadas
situaes, em diferentes pases.
No por acaso, a IAB estabeleceu
Informao gentica: aquisio, aces-
so e controle como tema oficial de sua
reunio de diretoria, realizada na
University of Central Lancashire, em
Preston, na Inglaterra, entre 5 e 7 de
dezembro de 1997. Nessa reunio, as
duas principais conferncias tiveram
ttulos interrogativos e provocatrios:
Ns somos capazes de aprender da
eugenia? e Os testes pr-natais so
discriminatrios com relao aos defi-
cientes? (6). Enfim, toda esta j lon-
ga introduo para reforar nossa
convico de que os testes e os diag-
nsticos preditivos em gentica guar-
dam relao direta com as liberdades
individuais e coletivas, com os direi-
tos humanos, com a cidadania e com
a prpria sade pblica.
Na verdade, o domnio de tcni-
cas relacionadas com o melhor conhe-
cimento do DNA passou a possibilitar
o diagnstico pr-natal de problemas
genticos e a identificao dos porta-
dores de genes de risco, ou seja, genes
sadios mas que podem dar origem a
crianas com alguma doena genti-
ca. Se, por um lado, esses exames ou
testes preditivos permitem o
aconselhamento a casais que devido
a antecedentes familiares ou indivi-
duais correm o risco de gerar uma cri-
ana deficiente, por outro criam uma
srie de questionamentos ticos, des-
de a indicao de um aborto at uma
futura limitao de um cidado na sua
atividade laboral. Algumas doenas
relacionadas com certas mutaes ge-
nticas, como a betatalassemia (uma
forma de anemia hereditria que incide
em certas populaes mediterrneas),
a anemia falciforme (que por longo tem-
po causou problemas em Cuba) ou a
doena de Tay-Sachs (que causa gra-
ves distrbios neurolgicos entre judeus
da Amrica do Norte e Israel) so
exemplos positivos de como testes
confiveis, simples e baratos podem
trazer resultados positivos. O que no
se pode generalizar, seja no que se
refere a testes de aplicao individual
ou coletiva, seja no perodo pr-natal
ou na idade adulta.
O perigo que ronda todo este con-
texto a transformao de um risco
gentico na prpria doena, alteran-
do perigosamente o conceito de nor-
mal e de patolgico, to bem j es-
clarecido por Ganguilhem, com suas
conseqncias indesejveis de toda
ordem, especialmente sociais. A mai-
oria das chamadas doenas genti-
cas so conhecidas por terem parte
de suas causas relacionadas com o
meio ambiente, desde cnceres e dia-
betes at afeces cardacas e anemi-
as. De modo geral, o termo doena
gentica vem se constituindo nos
meios mdicos internacionais, nos
ltimos anos, numa escolha que su-
perestima o fator gentico e subestima
as implicaes dependentes do meio
ambiente. Afora algumas poucas do-
enas em que o gene, isoladamente,
desenvolve a patologia de modo
inexorvel (como no caso da doena
ou coria de Huntington), so raras as
299
situaes onde no ocorra uma
interao entre os genes e o meio am-
biente. Trata-se, portanto, alm de
uma anlise adequada do que seja ou
no normalidade, tambm de uma
deciso com relao a valores. O
aprofundamento e melhor interpreta-
o de questes como esta exigem
cada vez mais a ateno da biotica.
Um livro publicado nos EUA so-
bre pontos de vista opostos em biotica
trata exatamente das dificuldades aci-
ma apontadas. Em um dos captulos,
Catherine Hayes, diretora de uma en-
tidade norte-americana que congrega
famlias que possuem membros porta-
dores da doena de Huntington, defen-
de ferrenhamente os benefcios indivi-
duais e familiares dos testes preditivos
(7). Sua base argumentativa inspira-
se no alvio que os exames geram na-
quelas pessoas que recebem resultados
negativos e na possibilidade de aque-
les que tenham um resultado positivo
virem a organizar os anos que lhes res-
tam, e mesmo assim com a esperana
da descoberta providencial de uma te-
raputica salvadora. A doena de
Huntington se desenvolve insidiosa-
mente entre os 30 e os 50 anos de ida-
de, levando o paciente morte aps
10-15 anos do diagnstico, com dege-
nerao crescente dos tecidos cere-
brais que leva demncia.
Uma posio oposta a esta de-
fendida no captulo seguinte da mes-
ma obra pela procuradora Theresa
Morelli, cujo pai teve um diagnstico
da doena de Huntington (8). Embora
ela no apresentasse nenhum sintoma
da doena e sequer tivesse realizado
exames preditivos, seu nome foi auto-
maticamente includo na lista negra
das companhias norte-americanas de
seguro-sade como possvel portado-
ra do problema. O diagnstico do seu
pai foi estampado na capa do seu pron-
turio, no banco de dados nacional das
companhias seguradoras, sediado em
Boston, alijando-a da possibilidade de
acesso a qualquer tipo de seguro-sa-
de. Este incidente levou a sra. Morelli
a contactar entidades de Direitos Hu-
manos, denunciando com vigor a uti-
lizao discriminatria dos testes ge-
nticos pelos empregadores e compa-
nhias seguradoras.
Em 1996, o pesquisador Christian
Munthe publicou atravs do Centro de
Pesquisas ticas de Gotemburgo, um
interessante estudo intitulado Razes
morais dos testes pr-natais, que tra-
ta do desenvolvimento histrico do
tema na Sucia (9). O autor baseia sua
anlise em trs perspectivas: a primei-
ra, que ele chama de viso oficial, a
perspectiva tpica abraada pelos m-
dicos especialistas, na qual o diagns-
tico pr-natal a base para o
aconselhamento gentico; esta pers-
pectiva no d espao coero (no
sentido da definio de um possvel
aborto, por exemplo), presses ou ma-
nipulao, caracterizando-se pelo res-
peito autonomia da paciente. A se-
gunda perspectiva chamada de
meta preventiva e tem como prop-
sito prevenir o nascimento de crianas
com defeitos genticos sendo, portan-
to, muito controvertida dos pontos de
vista filosfico e moral. A terceira pers-
pectiva, denominada motivos econ-
micos, analisa os testes pr-natais a
partir da tica da reduo de custos
que significa para a sociedade evitar
crianas com desordens genticas. O
que mais chamou a ateno do au-
tor, que desenvolveu sua pesquisa a
300
partir da anlise de 64 artigos publi-
cados por estudiosos suecos do assun-
to entre os anos 1969/77, foi que os
aspectos ticos no constituram pre-
ocupao freqente nas apresentaes
dos especialistas, demonstrando o
pouco interesse por este vis da ques-
to, mesmo num pas freqentemente
citado como exemplo em questes de
direitos humanos.
Lucien Sfez um cientista social
francs que teve sua principal obra
traduzida no Brasil em 1995: o livro
chamado A sade perfeita crtica de
uma nova utopia(10). Para ele, as
mudanas genticas possveis vege-
tais, animais e humanas alteraram o
transcurso da histria. A histria, que
tinha uma narrativa longa, foi substi-
tuda por pequenas narrativas curtas,
fragmentadas. Estamos, portanto, lon-
ge do fim da histria desenhado por
Francis Fukuyama. A engenharia ge-
ntica nos devolve uma nova histria.
Reinventa e renova a histria. O peri-
go, no entanto, reside no fato de a tc-
nica vir a dominar o mundo, a socie-
dade, a natureza, sem mediao cien-
tfica e sem conflitos sociais.
Nesse sentido, um exemplo
paradigmtico exatamente aquele do
uso cada dia maior dos testes genti-
cos na vida quotidiana das pessoas.
Questes como o aborto passam a ser
colocadas no somente nos casos de
mal-formaes, mas tambm de ano-
malias cromossmicas. Para os adul-
tos surge a questo da notificao do
defeito (ou doena) gentica. A no-
tificao deve ser feita somente ao in-
divduo portador de genes ruins, ou
tambm sua mulher, aos seus filhos,
irmos e demais parentes? Principal-
mente nos EUA, as conseqncias
resultantes so da maior seriedade so-
cial, pois empregadores e empresas se-
guradoras, como j foi dito, e tambm
escolas e mesmo cortes de justia, bus-
cam respostas de alta eficcia, com
custos mais baixos e menores riscos.
Para tanto, utilizam cada vez mais a
tcnica dos testes.
Desta forma, os testes preditivos
passam a ir alm dos procedimentos
mdicos, criando verdadeiras catego-
rias sociais, empurrando o indivduo
para quadros estatsticos. Os proble-
mas sociais so reduzidos s suas di-
menses biolgicas. As doenas men-
tais, a homossexualidade, o gnio vio-
lento ou o prprio sucesso no trabalho
so atribudos gentica. As dificul-
dades escolares antes explicadas pe-
l as desigual dades cul turais ou
nutricionais so hoje imputadas a
desordens psquicas de origem genti-
ca, excluindo quase que completamente
os fatores sociais com elas relaciona-
dos. Aps testes pr-natais, companhi-
as seguradoras ameaam no cobrir
as despesas mdicas de uma criana
cuja me teria sido alertada que um
dia esta criana seria vtima de um
problema gentico. Entre nmeros, es-
tatsticas e exames, os empregadores
j valem-se de testes para previses
oramentrias a longo prazo. O indi-
vduo-cidado passa a ser descon-
siderado e criam-se categorias de in-
divduos, os pacientes/coletivos da
nova medicina (10). Mesmo na ausn-
cia de sintomas, o risco gentico
endeusado como a prpria doena.
Assim, j existem registros de recusas
para a concesso de empregos em tal
ou qual casos, para a obteno de car-
teira de motorista ou para inscrio no
seguro-sade, como dito anteriormente.
301
Consideraes finais
Apesar de toda a forte argumen-
tao acima exposta com relao a
alguns abusos relacionados utiliza-
o dos testes preditivos em gentica
humana, no nossa inteno assu-
mir posies fechadas mas, sim, alertar
para os perigos do endeusamento da
tcnica e da radicalizao irracional
do seu uso.
Assim, faz-se necessrio que se-
jam estabelecidas normas e compor-
tamentos moralmente aceitveis e pra-
ticamente teis, os quais requerem tan-
to o confronto quanto a convergncia
das vrias tendncias e exigncias. Ou
seja, tornam necessrio o exerccio da
tolerncia e da pluralidade. A tolern-
cia deve ser total, se entendida como
respeito aos pensamentos e opinies
alheias, mas o mesmo no pode se afir-
mar acerca dos atos que muitas vezes
as acompanham. A intolerncia e a
unilateralidade, porm, so fenmenos
freqentes tanto nos comportamentos
quotidianos quanto nas atitudes em
relao aos problemas de limites que
surgiram mais recentemente e que cres-
cem todos os dias (11).
Um ponto que ainda merece des-
taque diz respeito possibilidade de
surgirem propostas de proibies com
relao s pesquisas e prticas cient-
ficas. Nesse sentido, indispensvel
que as regras e leis que dispem sobre
o desenvol vimento cientfico e
tecnolgico sejam cuidadosamente ela-
boradas. Conforme j foi dito em ca-
ptulo anterior, existe um ncleo de
questes que precisam ser recondu-
zidas dentro de regras de carter mo-
ral, e no sancionadas juridicamente;
e outro no qual estas questes devam
ser mais rigidamente sancionadas e,
portanto, codificadas. O primeiro as-
pecto se refere ao pluralismo, tole-
rncia e solidariedade, prevalecen-
do a idia de legitimidade. O segundo
diz respeito responsabilidade e jus-
tia, onde prevalece a idia de legali-
dade (12).
Ao encerrarmos este livro deve-
mos dizer que o controle social sobre
qualquer atividade de interesse pbli-
co e coletivo a ser desenvolvida sem-
pre uma meta democrtica. Nem sem-
pre ele fcil de ser exercido. No caso
da sade pblica, da eqidade, da
engenharia gentica e do projeto
genoma humano, entre outros te-
mas da problemtica biotica, a
pluriparticipao indispensvel
para a garantia do processo. O con-
trole social atravs do pluralismo
participativo dever prevenir o dif-
cil problema de um progresso cientfi-
co e tecnolgico que submeta o cida-
do a novas formas de escravido,
excluso social, aos altos custos de tc-
nicas fantsticas porm inacessveis
maioria populacional.
Referncias bibliogrficas
1. Garrafa V. O diagnstico preditivo de
doenas genticas e a tica. Confern-
cia; Encontro Internacional Sobre tica
e Gentica. Rio de Janeiro, Instituto
Fernandes Filgueira/Fundao Oswaldo
Cruz; novembro 1997, 8 p. (mimeo).
2. Campbell A. The presidents column.
IAB News, 6:1-2, 1997.
302
3. Garrafa V, Oselka G, Diniz D. Sade
pblica, biotica e eqidade. Biotica
(CFM), 5(1):27-33, 1997.
4. Baudrillard J. A transparncia do mal:
ensaio sobre os fenmenos extremos.
Campinas, Papirus, 2
a
. ed., 1995, 185 p.
5. UNESCO. Declarao Universal do
Genoma Humano e dos Direitos Huma-
nos. Folha de So paulo, 15/11/1997,
p. 18.
6. Conference Announcement. IAB News,
6:10, 1997.
7. Hayes C V. Genetic testing can aid those
at risk of genetic disease. In: Bener D ,
Leone, B. (org.), Biomedical ethics:
opposing viewpoints. Greennhagen, San
Diego, USA, 1994, pp. 281-286.
8. Morelli T.Genetic testing will lead to
discrimination. In: Bener D., Leone B.
(org.), Biomedical ethics: opposing
viewpoints. Greennhagen, San Diego,
USA, 1994, pp. 287-292.
9. Munthe C. The moral roots of prenatal
diagnosis. Ethical aspects of the early
introduction and presentation of
prenatal di agnosi s i n Sweden.
Gothenburg, Centre for Research Ethics,
1996, 88 pp.
10.Sfez L. A sade perfeita - crtica de uma
nova utopia. So Paulo, Ed. Loyola,
1996, 402 p.
11.Berlinguer G , Garrafa V. O mercado
humano - estudo biotico da compra e
venda de partes do corpo. Braslia, Edi-
tora UnB, 1996, 212 p.
12.Lecaldano E. Assise Internazionale di
Bioetica, Roma, 28-30/05/1992; notas
preparatrias ao Encontro, cujo conte-
do compl eto foi publ i cado por
RODOT, S. (org.). Questioni di
bioetica. Roma-Bari, Sagittari-Laterza,
1993, 443 p.
303
Aborto 17,125-13, 295
AIDS 102
anomalia fetal 126,136
anencefalia 126
autonomia 126-127, 132, 133
autonomia x heteronomia 132-136
dor do feto 128
enfoque legal 108
enfoque moral 108
estatstica Latino-americana 129
estatstica mundial 129
estatstica no Brasil 129
estatstica nos Estados Unidos 129
e estupro 136
eugnico 126
legislao comparada 129-131
limite gestacional 127,136
na Rssia 136
medicina legal 261-262
religio 104
sade da me 126,136
seletivo ou racista 126, 127
status do feto 134
teoria da potencialidade do feto 134-135
teraputico 126
tipos 126-128
voluntrio 126
ABTO Associao Brasileira de Transplante de rgos 162
Adorno, T 36
AIDS 17, 278, 285-294
confidencialidade 279, 289-293
consentimento 287-289
exame pr-admissional 291
Albert, Michel 212
ndice Remissivo
304
Almeida, Marcos de 17
Alma-Ata, Declarao 35, 297
Alocao de recursos para sade 91,92
Aristteles 20, 27, 39, 41, 49, 72, 101, 219, 236, 285
Arquivo mdico 269
Associao Internacional de Biotica 295
Associao Americana dos Hospitais 56
Associao Brasileira de Transplante de rgos 160
Auditoria 275
Autonomia 15,16, 26, 35, 41, 49, 53-70, 83, 88, 90, 92, 94, 161,164, 270, 273
aborto 126-127, 132, 133
cdigo de tica mdica 58,60
competncia 59,88
conceito 57
e consentimento 63,65,67
eutansia 184
erro mdico 250
fundamentos 58-60
histria 57
e justia 73
limites 60
mistansia 181
rgos transplante e doao 161
x paternalismo 49,61-62
paciente terminal 177
pesquisa em seres humanos 195, 196
projeto genoma humano 141
relao mdico-paciente 61,63
Autonomia reprodutiva da gestante 126, 127
Autorizao para uso de imagem 280
Avanos Cientficos 99-110
controle social 107, 113, 301
direitos humanos 232-234
distansia 189
justia 107
limites ticos 99-110,113
e religio 104
uso indevido 233
Avanos tecnolgicos 56, 91, 139
e biotica 99-110
controle social 107, 108, 301
declarao da ONU 233
direitos humanos 232-234
distansia 172, 187
305
eutansia 173
justia 107
limites ticos 99-110
e religio 104
uso indevido 233-234
Azevedo, Eliane S. 17
Bacon, Francis 89
Banco Mundial 71
Baudrillard, J 297
Barchiofontaine, Christian de Paul 16
Barros, Antonio Ozrio Leme de 17
Beauchamp, T 15, 41, 45, 47, 49, 81, 84-85, 94
Beecher, HK 195
Belmont Report 44, 82-85
Beneficncia 15, 16, 35, 45, 37-51, 83, 88
Belmont Report 82-85
benevolncia 42
Brasil 41
caracterstica 42-43
conceito 42
consentimento 68
emergncia 68
eutansia 184
limites 45-48
mistansia 177
x no-maleficncia 47,85
rgos transplante e doao 163
x paternalismo 48,62
pesquisa em seres humanos 196
relao mdico-paciente 46
Bentham, Jeremy 42,78,89
Berlinger, G 71
Bernard, Jeam 39,42
Bill of Rights 56
Biodiversidade 218, 225, 227
Biotica
Amrica Latina 81, 91-94
e avano cientfico 102
e avano tecnolgico 56
e biossegurana 218, 222-229
casustica 86
e cincia 99-110
conceito 16, 87, 262
das virtudes 86
306
do cuidado 86
do direito natural 86
do modelo contratualista 86
Estados Unidos 81,88-91
Europa 81,88-91
filosfica 95
principialismo 82-98
projeto genoma humano 139-156
relao mdico-paciente 56,57
religioso 95
revista 79
e sade 79,97
teolgica 95
Biossegurana 17, 217-230
e biotica 222-229
x biotecnologias 219-222
conceito 222-223
diretrizes 223
Biotecnocincia 100, 219, 221, 223
x biotecnologia 220-221
riscos 218
surgimento 220
Biotecnologia 139, 220, 221
x biotecnocincia 220-221
Bodino, Jean 73
Brenner, Sidney 140
Burris, S 211
Butler, Joseph 42
Cabau, A 114
Campbell, Alastair 16, 95, 100, 295
Carta dos direitos do paciente 56
Casals, JME 103
Catlicas pelo Direito de Decidir 132
Chau, M 59
Childress, James F. 15, 41, 45, 47, 81, 84-85, 94
CIOMS ver Council for International Organization of Medical Sciences
CINAEM 246
Clonagem 100, 107, 134, 154, 221, 224, 226
Clotet, Joaquim 16, 223
Cdigo de tica mdica 60, 62, 176, 253, 278
Cdigos de tica profissional 40,68,93,101,270
Cdigo de Hamurabi 207
Cdigo de Manu 207
Cdigo de Nuremberg 33, 195
307
Cdigo penal 40, 61, 64, 270
Cohen, Cludio 17
Comisso Americana de Credenciamento de Hospitais 56
Comisso Interinstitucional Nacional de Avaliao do
Ensino Mdico ver CINAEM
Comisso Nacional de tica em Pesquisa (CONEP) 17, 198, 202
Comit de Biotica 276
Comit de tica em pesquisa 198-202
Comit Internacional de Biotica da UNESCO 144, 233
Conferncia de Asilomar (1975) 223
Conferncia Internacional sobre Populao e
Desenvolvimento (Cairo, 1994) 128
CONEP ver Comisso Nacional de tica em Pesquisa
Confidencialidade 17, 269-284
adolescente 272
AIDS 278
auditoria 275, 277
cessao de 273-277
conceito 271-272
crianas 272, 278-279
demonstraes mdicas 280-281
medicina preditiva 282
notificao compulsria 274, 275, 291, 292
pacientes psiquitricos 279-280
pesquisa em seres humanos 196, 197, 276, 281
projeto genoma humano 141, 153
pronturio 277-278
publicaes cientficas 276
quebra de 275-276
relao mdico-paciente 269
Tarasoff, caso 276
Conte, August 212
Conselho Federal de Medicina 17, 79, 116, 195, 278, 287
Conselhos de Medicina atuao 243-244
Conselho Nacional de Sade 196
Conselho das Organizaes Internacionais de Cincias Mdicas ver
Council for International Organizations of Medical Sciences
Consentimento 33, 63-69, 83, 88
Amrica Latina 91
Brasil 64
cdigo de tica mdica 68
elementos essenciais 69
emergncia 68
erro mdico 250
308
esclarecido 16, 53-70, 164, 166
eutansia 177
formulrio 66, 69
informado 64 (ver tambm consentimento esclarecido)
mistansia 177
rgos transplante e doao 161, 164
padres de informao 65
projeto genoma humano 141, 143, 153
pronto-socorro 68
renovvel 67
Salgo x Liland Stanford Jr, caso 64
Schloendorff x society of New York hospital, caso 64
Slater x baker & staplenton, caso 63
Contextualismo 16
Contratualismo 16
Controle da natalidade 129
Cortina, Adela 102
Costa, Paulo Jos, Jr 289
Costa, Srgio Ibiapina Ferreira 15
Council for International Organizations of Medical Sciences 195
Cranston, M 232
Criopreservao de gametas 120-121
Culver,CM 59, 61
Cupis, Adriano de 289
Dallari, Dalmo de Abreu 17
Dallari, Sueli Gandolfi 17
Daniels, Norman 78
Darwin, C 219
Declarao de Alma-Ata 35
Declarao de Helsinque 34, 195, 199
Declarao dos Direitos do Homem e do Cidado (1789) 56
Declarao dos Direitos do Homem e do Cidado (1793) 56
Declarao dos Direitos do Paciente 56
Declarao de Ixtapa 98
Declarao sobre a utilizao do progresso cientfico e tecnolgico no
interesse da paz e em benefcio da humanidade (ONU) 233
Declarao Universal dos Direitos do Homem 56, 231, 239, 241, 272, 274
Declarao Universal do Genoma Humano 144, 152-156, 297
Dejour, C 206
Demonstraes mdicas confidencialidade 278, 280
Descartes 26
Desenvolvimento cientfico ver Avanos cientficos
Desenvolvimento tecnolgico ver Avanos tecnolgicos
Deserto moral 71
309
Determinismo neurogentico 148
Dewey, John 89
Diagnstico gentico in vitro 121
Diagnstico pr-natal 298-299
Diagnstico pr-sintomtico 145, 148
Dickens, C 208
Diniz, Dbora 17
Direito de recusar tratamento 59
Direitos humanos 17, 34, 55, 73, 107, 217
avanos cientficos 232-234
avanos tecnolgicos 232-234
e biotica 232-234
biossegurana 225
declaraes dos direitos fundamentais 56
engenharia gentica 225, 227, 234
eutansia 238
evoluo 55-56
globalizao 238
histrico 235-240
pesquisa em seres humanos 240
projeto genoma humano 143, 154, 155
relao mdico-paciente 54-55
revoluo francesa 237
So Toms de Aquino 236-237
sculo XX 239-240
suicdio assistido 238
vida, valor 231-232, 235-236
Direitos individuais 77
Direitos do paciente 55-56, 67
Diretrizes Internacionais para pesquisa biomdica em seres humanos 195
Distansia 17, 172, 174, 186-189 (ver tambm Eutansia)
Distribuio de recursos para a sade 100
DNA 139, 141, 219, 221, 223, 258
Doao de rgos ver rgos transplante e doao
Doao de espermatozides ver Doao de gametas
Doao de gametas 117-119
Doao de vulos ver Doao de gametas
Doena de notificao compulsria 275
Doena gnica previsibilidade 149, 298
Doena polignica previsibilidade 144, 145, 146, 149
Drane, James 89,91
Dumas, Andr 112
Ecotica 41
Embries
310
pesquisa em 120
transferncia 119-120
Encclica Evangelium Vitae 104, 182
Enciclopdia of Bioethics 87
Engels, Friedrich 75
Engelhardt, Tristam 86
Engenharia gentica 100, 218, 223, 221, 295, 297, 300
conceito 220
e direitos humanos 225, 227
Erro mdico 17, 243-256
ato mdico, avaliao 248-249
causas 245, 247-248
CINAEM 246
conceito 244-245
condies de trabalho 250, 251
conselhos de medicina 246
consentimento 250
culpa 252
dever de absteno de abuso 253-254
dever de informao 249-251
dever de vigilncia 252-253
erro de tcnica 252
histrico 245
mdia 245-247
mistansia 176-180
omisso de socorro 252
pronturio 251
relao mdico-paciente 247, 248, 247-248, 255
responsabilidade 249, 254
Espinoza 74
tica 23-25, 89, 90
aplicada 32,41,85
aristotlica 101
clnica 17
conflito de valores 19-23
deontolgica 40
especificidade da 23
filosfica 19-36
fundamentos 25-28
kantiana 34
mdica 54, 89, 90
x moral 101-103
normativa 40, 43, 85
objetiva 89
311
prtica 39, 40, 41
principialista norteamericana 82
em sade 16, 19-36, 41
teolgica 90
terica 39,41
utilitarista 59
Eutansia 17, 134, 171-192, 180-186, 295
na Amrica Latina 175
ato do mdico 183, 184
autonomia 184
avanos tecnolgicos 187
beneficncia 184
compaixo 182
conceito 183, 186
declarao da 189
e Direito 186
distansia 172, 174, 186-189
Encclico Evangelium Vitae 104, 182
tica mdica 181
justia (princpio) 184
mistansia 172-180
ortotansia 172, 174, 190-191
paciente terminal 172, 173, 185, 189
paradigmas 174
religio 104
social 172, 174
teologia moral 181, 182, 186
Eutansia social ver Mistansia
Excluso social 91,100
Experimentao em seres humanos ver Pesquisa em seres humanos
Fecundao assistida ver Reproduo assistida
Fecundidade 114
Feto
aborto 126, 136
dor 128
diagnstico gentico in vitro 121
diagnstico pr-natal 298, 299
rgos transplante e doao 162
status 132, 134
teoria da potencialidade do 134-135
Filosofia moral 42,90
Filosofia poltica 72
Finnis, John 86
Fletcher, Joseph 102
312
Fortes, Paulo Antnio de Carvalho 16
Frana, Genival Veloso 17
Francisconi, Carlos Fernando 17
Franco Jnior, Jos Gonalves 17
Frankena, Williank 43, 47
Freitas, Corina Bontempo D. 17
Freitas, Joo 202
Fried, Charles 78
Fronesis 49
Habbermas, J. 213
Harris, J. 135
Hayes, Catherine 299
Hewlett, S. 65
Hipcrates 39,113
juramento 53
HIV ver AIDS
Hobbes, Thomas 42
Hossne, William Saad 17
Hottois, G. 47
Hugo ver Organizao do genoma humano
Hume, David 42
Hungria, Nelson 275
Hutcheson, Francis 42
IEG Interrupo eugnica da gestao ver Aborto
Iluminismo 27
Impercia 176, 244, 252
Imprudncia 176, 244
Informed consent ver consentimento
Inseminao artificial ver Reproduo assistida
Instituto Alan Guttemacher 129
International Association of Bioethics ver Associao Internacional de Biotica
International Guidelines for Ethical Review of Epidemiological studies 196
ISG Interrupo seletiva da gestao ver Aborto
ITG Interrupo teraputica da gestao ver Aborto
IVG Interrupo voluntria da gestao ver Aborto
Joo Paulo II, Papa 104
Jonas, Hans 40, 99, 103, 220
Jonsen, Albert R. 83,85
Justia
e autonomia 73
e biotica 15,16,41,71-80,83,84,88
e distribuio de recursos 71
eutansia 184
justia sanitria 78
313
justia social 78
pesquisa em seres humanos 196
Plato 72
projeto genoma humano 141
regime socialista 75
relao mdico-paciente 73
sade pblica 71, 210, 213, 295, 297
Kant, I 27, 36, 39, 40, 59, 285
Kipper, Dlio Jos 16
Konrad, MS 62
Last, JM 206
Lecaldano, Eugenio 102
Leibniz 20
Lenoir, Noelle 199
Lepargneur, Hubert 87
Levi, Guido Carlos 17
Ligneau, P 208
Locke, John 73, 75
Lorscheider, Ivo (Dom) 112
Macrobiotica 95
Me de aluguel ver Gravidez de substituio
Marnetti, J.A. 92
Manipulao da vida 103-105, 108
Mapeamento do Genoma humano 140
Martin, Leonard 17
Marx, Karl 75
Medicina legal
aborto 261-262
e Biotica 257-268
cincias biolgicas 259-260
cirurgias transexuais 265, 266
clonagem 264
conceito 259
crime 263
reproduo assistida 263, 264
Medicina preditiva 17, 144-151, 298
conduta 149-151
confidencialidade 153, 154
controle social 301
consentimento 153, 154
diagnstico pr-sintomtico 145, 148
direitos humanos 154, 156
discriminao 150, 153
doena monognica 144, 145
314
doena polignica 144, 145, 146, 149
efeitos 147-149
indstria farmacutica 150
pesquisa em seres humanos 154
planos de sade 148, 150
regulamentao 150
testes 144, 149
teste admissional 150
triagem populacional 146
Medicina do trabalho 150, 288, 293, 294
Meio ambiente 99
Mendel, G. 219
Mensagem Gentica 140
Metatica 43
Microbiotica 95
Mdia 108, 245-247
Mill, John Stuart 59, 89, 133
Mistansia ver Eutansia
Moore, George Edward 39
Moral 28-31
crist 25-26
e tica 101-103
grega 26
mdica 54
Morelli, Theresa 299
Mori, M. 136
Morte digna ver Ortotonsia
Morte enceflica 161, 275
conceito 158, 164-165
confirmao 160
rgos transplante e doao 165-166
pesquisa em seres humanos 197
Mulher
aborto 125-138
direitos humanos 239
reproduo assistida 111-124
Muoz, Daniel Romero 16
Munthe, Christian 299
No-maleficncia 15, 16, 47-48, 84, 88, 282
x beneficncia 47, 85
confidencialidade 282
emergncia 68
eutansia 184
rgos transplante e doao 163
315
x paternalismo 62
pesquisa em seres humanos 196
Naturalismo 16
Nazismo 33, 34, 195
Negligncia 177, 244
Nietzche, Friedrich 49
Nozick, Robert 77
Omisso de informao 270
Omisso de socorro 68, 175, 177, 254
Organismo geneticamente modificado 218, 227
Organizao do Genoma Humano HUGO 142
rgos transplante e doao
aspectos ticos 159, 160
autonomia 159, 160, 162
beneficncia 161
Brasil 160, 161
cdigo de tica mdica 159
comercializao de rgos 161, 163-164
consentimento 159, 162
direito comparado 161, 162
doao de rgos 41
doao de tecidos 158
doao intervivos 159, 161
doao post-mortem 162
doao presumida 158, 159, 165-166
eutansia 182
fetos anencfalos como doadores 162-163
histrico 157-158
legislao 158-162
menores como doadores 162, 163
morte enceflica 158, 164
no-maleficncia 161
rgos de origem animal 161
princpios fundamentais sobre transplante (OMS-1991) 161
prisioneiros como doadores 162
projeto genoma humano 161
publicidade 158, 161
sistema de sade 160
Ortotansia 172, 174, 192-193 (ver tambm Eutansia)
Oselka, Gabriel 15
Paciente psiquitrico 279-280
Paciente terminal 176
autonomia 177
cdigo de tica mdica 176, 177, 178
316
eutansia 189
Parize, Regina Ribeiro 17
Parizeau, MH 47
Patenteamento do genoma humano 143, 144
Paternalismo 48-49, 93
x autonomia 49, 61-62
x beneficncia 48
Brasil 49
cdigo de tica mdica 62
conceito 61
x no-maleficncia 62
na relao mdico-paciente 48, 56
teoria kantiana 49
Pedrosa Neto, Antnio Henrique 17
Pellegrino, Edmund 45, 86, 95
Pena de morte 175-176
Pena, Srgio Danilo 17
Percival, Thomas 271
Pesquisa em seres humanos 17, 33, 39, 44, 82, 193-204, 275, 281, 283
autonomia 195, 196
beneficncia 196
Comisso Nacional de tica em Pesquisa 202
comit de tica em 197, 198-202
confidencialidade 196, 197
consentimento 195, 196
direitos humanos 241
embries 120
erro mdico 254
eutansia 176
histrico 193-196
justia 196
morte enceflica 197
normatizao no Brasil 196-198, 200, 201,202
normatizao internacional 195
placebo 197, 202, 203
privacidade 196, 197
projeto genoma humano 143, 154
remunerao por 196
risco e benefcios 197
vulnerabilidade 203
Pessini, Lo 16
Phronesis 87 (Ver tambm Fronesis)
PGH ver Projeto Genoma Humano
Pinotti, Jos Aristodeno 79
317
Pio XII 112
Pitt, JB 165
Placebo
pesquisa em seres humanos 197, 202, 203
Planos de sade 148, 150
Plato 54,72
Pluralismo 106
Popper, KR 227
Potter, VR 17, 96
Principialismo ver Biotica
Privacidade ver Confidencialidade
Privilgio teraputico 61
Profissional de sade
autonomia 50
beneficncia 50
no-maleficncia 50
Progresso tecnolgico 40
Projeto Genoma Humano 17, 100, 139-156, 163
e biotica 141-142
Brasil 140-141
controle social 295, 301, 303
Estados Unidos 141, 142
interesses econmicos 142
organizao do genoma humano 142, 143
patenteamento 143, 144
pesquisa em seres humanos 143, 154
prazo 140
princpios ticos 141-142
programas genmicos 142
propriedade industrial 144
rgos - transplante e doao 161
Prolongamento da vida ver Distansia
Pronturio 269
acesso 269, 272, 277-278
sistema informatizado 272
Prudncia 49
Publicidade mdica 276
Rawls, John 77, 89, 213
Rahman, Anika 129
Ratzinger, Joseph 112
Recursos para rea da sade 71
Relao mdico-paciente 41, 48, 53, 56, 61, 62-63, 93, 260
AIDS 285-294
autonomia 53-70,
318
autoritarismo mdico 63
consentimento 53, 286
confidencialidade 186
direitos humanos 55-57
tica clnica 286
erro mdico 247-248
eutansia 179
informao ao paciente 65
justia 73
paternalismo 48, 56, 61, 62
projeto genoma humano 150
Relatrio Belmot 44,45,81,82-85,94 (ver tambm Belmot Report)
Renouvier, C 212
Reproduo assistida 17, 111-124, 221, 295
adoo 115
Brasil, no 116, 122
catolicismo 111-113
controle social 115
criopreservao de gametas 120-121
diagnstico gentico in vitro 121
doao de gametas 112
Estados Unidos 122
fertilizao heterloga 115
fertilizao in vitro 115
gravidez de substituio 123
histrico 114
homossexuais 116
infertilidade 114
inseminao artificial 112, 115
Itlia 115-116, 122
mulher 114
na menopausa 116
Normatizao 116
protestantismo 112
Reino Unido 122
solteiros 116
transferncia de embries 119-120
Revoluo biolgica 219
Rifkin, J 227
Rose, S 148
Ross, William David 43, 84
Santo Agostinho 25
So Antnio de Florena 73
So Toms de Aquino 72, 73, 236
319
Sade 91, 92 (inclui sade pblica)
aborto 128
autonomia 210
avanos cientficos 209
avanos tecnolgicos 209
e biotica 205-216
Brasil 78-79
conceito 35, 190, 205-206
e desenvolvimento econmico 210
desvalorizao 210
direito a 207
dos trs is 79
e Estado 206-209, 211-214
eutansia 175-180
e globalizao 212-213
justia 71-80, 100, 210, 213
postura ecolgica 210
revoluo francesa 211
revoluo industrial 207, 209
socialismo 208
Schramm, FR 17, 100, 234
Segre, Marco 17
Segredo 270 (Ver tambm Confidencialidade)
Senarclens, M 114
Seppilli, A 206
Ser humano, valor 39
Sve, Lucien 102
Sfez, Lucien 300
Sgreccia, E 86
Shaftesburry 42
Sieghart, P 206
Sigilo 270 (Ver tambm Confidencialidade)
Singer, Peter 41, 60, 133
Siqueira, Jos Eduardo 16
Silva, Franklin Leopoldo 16, 19, 48
Silva, Nei Moreira da 17
Sistema Nacional de Transplante 161
Sistema de Sade 93
rgos - transplante e doao 162
Slippery Slope 220, 224
Spinsanti, S 86
Tarasoff, caos 276
Tecnocincia 218
Tecnologia mdica ver Avanos tecnolgicos
Telemedicina 282
320
Teoria moral kantiana 49
Termo de consentimento 68
Termo de compromisso para uso de dados 278
Testes preditivos ver Medicina Preditiva
Teste genticos 298
Tettamanzi, D 86
Thomasma, David 45, 86, 95
Thomson, JJ 133
Tichtchenko, P 136
Tolerncia 106, 107
Toulmin, Stephen 86, 90
Tratado tecnolgico tico 40
Transplante ver rgos transplante e doao
Triagem gentica 146, 147
Veatch, Robert 78, 86, 165
Warnock, Mary 107
Watson, JD 219
Winkler, Daniel 93, 200
Yudin, B 136
Você também pode gostar
- Régis Jolivet - As Doutrinas ExistencialistasDocumento448 páginasRégis Jolivet - As Doutrinas ExistencialistasMak Alisson Borges100% (6)
- O Unheimliche Freud e Schiller Por Bernardo de CarvalhoDocumento7 páginasO Unheimliche Freud e Schiller Por Bernardo de CarvalhoFábio Martinelli CasemiroAinda não há avaliações
- CARDOSO, Ruth C. L. Aventuras de Antropólogos em Campo Ou Como Escapar Das Armadilhas Do Método.Documento16 páginasCARDOSO, Ruth C. L. Aventuras de Antropólogos em Campo Ou Como Escapar Das Armadilhas Do Método.avelarlaisAinda não há avaliações
- Gra1250 Função Social Da Escola GR1266202 PDFDocumento7 páginasGra1250 Função Social Da Escola GR1266202 PDFCarla M CarusoAinda não há avaliações
- 0.2 Ebook Holomoney Elainne Ourives Oficial - CompressedDocumento126 páginas0.2 Ebook Holomoney Elainne Ourives Oficial - CompressedDavid CostaAinda não há avaliações
- A Didactização Do Texto Literário Nas Aulas de Língua PortuguesaDocumento76 páginasA Didactização Do Texto Literário Nas Aulas de Língua Portuguesamoisés kudimuenaAinda não há avaliações
- O Ensino Da Língua Materna: Uma Perspectiva SociolinguísticaDocumento12 páginasO Ensino Da Língua Materna: Uma Perspectiva SociolinguísticaPriscila Anicet HtzAinda não há avaliações
- Psico & SociedadeDocumento11 páginasPsico & SociedadeNaiana PatiasAinda não há avaliações
- Jack Welch - Rev03Documento14 páginasJack Welch - Rev03José Carlos Venâncio da SilvaAinda não há avaliações
- o Direito Penal Da Guerra As Drogas 3 EdDocumento37 páginaso Direito Penal Da Guerra As Drogas 3 EdTh MAinda não há avaliações
- Hegel e A Altercação Do IndivíduoDocumento12 páginasHegel e A Altercação Do IndivíduoGabriel de SouzaAinda não há avaliações
- Por Uma Fenomenologia Encarnada PDFDocumento92 páginasPor Uma Fenomenologia Encarnada PDFGleison AmorimAinda não há avaliações
- Conhecereis A Verdade e A Verdade Vos LibertaráDocumento6 páginasConhecereis A Verdade e A Verdade Vos LibertaráPoliutech do Brasil100% (1)
- Arte Na FormacaoDocumento25 páginasArte Na FormacaoDani LossantAinda não há avaliações
- 3866-Texto Do Artigo-12377-1-10-20201109Documento20 páginas3866-Texto Do Artigo-12377-1-10-20201109regianecollaresAinda não há avaliações
- Para Além Do Post Rock: Cena, Mídia e A Nova Música Instrumental BrasileiraDocumento81 páginasPara Além Do Post Rock: Cena, Mídia e A Nova Música Instrumental BrasileiraFabricio RochaAinda não há avaliações
- Apostila Assistente Administrativo AmargosaDocumento415 páginasApostila Assistente Administrativo AmargosaJean Santos Lopes100% (1)
- A Arte Da Denúncia e Do Anúncio em Paulo FreireDocumento10 páginasA Arte Da Denúncia e Do Anúncio em Paulo FreireWeber CooperAinda não há avaliações
- Julio Aróstegui - Tempo e História, Parte de ObraDocumento25 páginasJulio Aróstegui - Tempo e História, Parte de ObraJohny AAinda não há avaliações
- Verdade, Atitude Da Inteligenci Perante A Verdade, Criterio Da CertezaDocumento32 páginasVerdade, Atitude Da Inteligenci Perante A Verdade, Criterio Da CertezaLaice Fernando Laice50% (2)
- Tudo o Que É Divino Neville GodardDocumento6 páginasTudo o Que É Divino Neville GodardGeane Washington de Brito100% (1)
- Doze Câmaras de AmentiDocumento5 páginasDoze Câmaras de AmentimarildaAinda não há avaliações
- OntologiaDocumento18 páginasOntologiaIgor AlexandreAinda não há avaliações
- Avaliação - Filosofia e Políticas EducacionaisDocumento3 páginasAvaliação - Filosofia e Políticas EducacionaisMárcio RochaAinda não há avaliações
- Goldmann e o Estruturalismo GenéticoDocumento17 páginasGoldmann e o Estruturalismo GenéticoFrancisco PucciAinda não há avaliações
- Texto 2 - Saberes Necessários À Prática Pedagógica de Professorxs de Geografia - Breve ReflexãoDocumento15 páginasTexto 2 - Saberes Necessários À Prática Pedagógica de Professorxs de Geografia - Breve ReflexãoCelia Regina SantosAinda não há avaliações
- Apostila de Comunicação CristãDocumento21 páginasApostila de Comunicação CristãQuerobino Costa CostaAinda não há avaliações
- Uma Nova TerraDocumento235 páginasUma Nova TerraAline FerreiraAinda não há avaliações
- LygiaPereiradosSantosCosta Um Estudo Sobre As Poeticas e Tecnicas de Diretoras Negras Do Cinema BrasileiroDocumento175 páginasLygiaPereiradosSantosCosta Um Estudo Sobre As Poeticas e Tecnicas de Diretoras Negras Do Cinema BrasileiroCamila RibeiroAinda não há avaliações
- Prova - Redação - 1º AnoDocumento3 páginasProva - Redação - 1º AnolexbrAinda não há avaliações