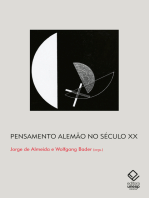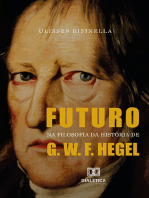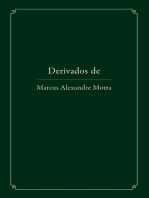Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Deleuze - Bergsonismo
Deleuze - Bergsonismo
Enviado por
Thaiane OliveiraDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Deleuze - Bergsonismo
Deleuze - Bergsonismo
Enviado por
Thaiane OliveiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
IICI)ri-Louis Bergson (1859-1941) prova-
velmente ficaria muito feliz se tivesse lido os
textos de Gilles Deleuze aqui reunidos pela
primeira vez: Bergsonismo e, em anexo, os
artigos "A concepo da diferena em Berg-
son" e "Bergson". isto o mnimo que se po-
de dizer desta visita deleuzeana a importan-
tes conceitos da filosofia bergsoniana, como
intuio, durao, memria e impulso vital.
Mas por que Bergson se sentiria feliz len-
do o bergsonismo de Deleuze? Por duas ra-
zes, pelo menos. E por algo mais.
A primeira razo quantitativa. Isto, sem
dvida, seria insuficiente para Bergson, mas
sabemos que ele a levaria em conta, como sem-
pre esteve atento ao trabalho das tcnicas e
das cincias. Os trs textos aqui reunidos con-
centram, embora no esgotem, a fecunda pre-
sena de Bergson na obra de Deleuze. Durante
cerca de cinqenta anos de intensa e variada
elaborao terica, Deleuze dedicou especial
ateno aos conceitos bergsonianos.
Mas a incidncia de referncias a Bergson
est intimamente ligada razo qualitativa
pela qual Deleuze dele tanto se aproxima.
No a qualidade do seguidor que a vigo-
ra, nem a do contestador. Para Deleuze, en-
contrar-se com pensadores como Bergson tem
o sentido da retomada dos seus movimentos
criativos e questionantes. O leitor encontra-
r a tematizao, alis clara e precisa, da in-
tuio como mtodo (mobilizado na criao
e soluo de problemas), da teoria das mul-
tiplicidades (virtuais e atuais), da idia de uma
ontologia complexa, da idia de coexistncia,
da emergncia do novo, do impulso vital co-
mo movimento da diferenciao percorrendo
vida, inteligncia e sociedade etc.
Mas o que que Deleuze procura experi-
mentar profundamente ao fazer alianas com
(}pensamento bergsoniano? Ele procura ex-
perimentar aquilo que est unido ao que, para
ele, h de "mais difcil e mais belo no pensa-
16 3 2 13
5 10 11 8
- --
9 6 7 12
4 15 14 1
,.
coleo TRANS
Gilles Deleuze
BERGSONISMO
Traduo
Luiz B. L. Orlandi
EDlTORA34
Editora 34 Ltda.
Rua Hungria, 592 Jardim Europa CEP 01455-000
So Paulo - SP Brasil Tel/Fax (11) 3816-6777 www.editora34.com.br
Copyright Editora 34 Ltda. (edio brasileira), 1999
Le bergsonisme Presses Universitaires de France, Paris, 1966
Textos do apndice, A concepo da diferena em Bergson e Bergson,
publicados com a autorizao de Fanny Deleuze
Cet ouvrage, publi dans le cadre du programme de participation la
publication, bnficie du soutien du Ministere franais des Affaires
Etrangeres, de I'Ambassade de France au Brsil et de la Maison franaise de
Rio de Janeiro.
Este livro, publicado no mbito do programa de participao publicao,
contou com o apoio do Ministrio francs das Relaes Exteriores, da
Embaixada da Frana no Brasil e da Maison franaise do Rio de Janeiro.
A FOTOCPIA DE QUALQUER FOLHA DESTE LIVRO ILEGAL, E CONFIGURA UMA
APROPRIAAo INDEVIDA DOS DIREITOS INTELECTUAIS E PATRIMONIAIS DO AUTOR.
Capa, projeto grfico e editorao eletrnica:
Bracher &Malta Produo Grfica
Reviso tcnica:
Luiz B. L. Orlandi
Reviso:
Ingrid Basilio
1a Edio - 1999 (2
a
Reimpresso - 2008)
Catalogao na Fonte do Departamento Nacional do Livro
(Fundao Biblioteca Nacional, RJ, Brasil)
Deleuze, Gilles, 1925-1995
D348b Bergsonismo / Gilles Deleuze; traduo de
Luiz B. L. Orlandi. - So Paulo: Ed. 34, 1999
144 p. (Coleo TRANS)
ISBN 85-7326-137-4
Traduo de: Le bergsonisme
1. Bergson, Henri-Louis, 1859-1941.
2. Filosofia francesa. I. Ttulo. 11.Srie.
CDD -194
BERGSONISMO
1. A intuio como mtodo
(As cinco regras do mtodo) .
2. A durao como dado imediato
(Teoria das multiplicidades) .
3. A memria como coexistncia virtual
(Ontologia do passado e psicologia da memria) .
4. Uma ou vrias duraes?
(Durao e simultaneidade) .
5. O impulso vital como movimento da diferenciao
(Vida, inteligncia e sociedade) .
Apndices
L A concepo da diferena em Bergson .
lI. Bergson .
ndice de nomes e correntes filosficas .
7
27
39
57
73
95
125
141
A paginao da edio francesa (Gilles Deleuze, Le bergsonisme,
Paris, PUF, 1966) est anotada entre colchetes ao longo desta tradu-
o. Tambm entre colchetes aparecem notas do tradutor ou do revi-
sor tcnico. No final do volume foi acrescentado um ndice de nomes
e correntes tericas, sendo que as pginas nele referidas correspondem
paginao dos originais em lngua francesa.
Luiz B. L. Orlandi
I.
A INTUIO COMO MTODO
/1]
Durao [Dure], Memria [Mmoire] e Impulso vital [lan vi-
tan marcam as grandes etapas da filosofia bergsoniana. O objetivo deste
livro a determinao da relao entre essas trs noes e do progresso
que elas implicam.
A intuio o mtodo do bergsonismo. A intuio no um sen-
timento nem uma inspirao, uma simpatia confusa, mas um mtodo
elaborado, e mesmo um dos mais elaborados mtodos da filosofia. Ele
tem suas regras estritas, que constituem o que Bergson chama de "pre-
ciso" em filosofia. verdade que Bergson insiste nisto: a intuio, tal
como ele a entende metodicamente, j supe a durao. "Essas consi-
deraes sobre a durao parecem-nos decisivas. De grau em grau, elas
nos fizeram erigir a intuio em mtodo filosfico. Alis, 'intuio'
uma palavra ante a qual hesitamos durante muito tempo" 1. E a Hbff-
ding [2J ele escreveu: "A teoria da intuio, sobre a qual o senhor in-
siste muito mais do que sobre a teoria da durao, s se destacou aos
meus olhos muito tempo aps essa ltima"2.
Mas h muito sentido dizer primeiro e segundo. A intuio cer-
tamente segunda em relao durao ou memria. Porm, embora
tais noes designem por si mesmas realidades e experincias vividas,
elas no nos do ainda qualquer meio de conhec-las (com uma preci-
1 PM, 1271; 25. Empregamos as iniciais para citar as obras de Bergson:
DI para Essai sur les donnes immdiates de la conscience, 1889; MM para
Matiere et Mmoire, 1896; R para Le Rire, 1900; EC para L'Evolution cratrice,
1907; ES para L'Energie spirituelle, 1919; DS para Dure et Simultanit, 1922;
MR para Les deux sources de la morale et de la religion, 1932; PM para La Pense
et le Mouvant.
Citamos DS em conformidade com a 4 edio. Quanto s outras obras,
nossas referncias remetem, primeiramente, paginao da dition du Centena ire
(Presses Universitaires de France), e, em seguida, conforme as indicaes desta,
paginao das reimpresses de 1939-1941.
2 Lettre Hoffding, 1916 (cf. crits et Paroles, t. I1I, p. 456).
A intuio como mtodo 7
so.anloga da cincia). Curiosamente, poder-se-ia dizer que a dura-
o permaneceria to-s intuitiva, no sentido ordinrio dessa palavra,
se no houvesse precisamente a intuio como mtodo, no sentido pro-
priamente bergsoniano. O fato que Bergson contava com o mtodo
da intuio para estabelecer a filosofia como disciplina absolutamen-
te "precisa", to precisa em seu domnio quanto a cincia no seu, to
prolongvel e transmissvel quanto a prpria cincia. Do ponto de vista
do conhecimento, as prprias relaes entre Durao, Memria e Im-
pulso vital permaneceriam indeterminadas sem o fio metdico da intui-
o. Considerando todos esses aspectos, devemos trazer para o primeiro
plano de uma exposio a intuio como mtodo rigoroso ou precis0
3
.
A questo metodolgica mais geral a seguinte: como pode a
intuio, que designa antes de tudo um conhecimento imediato, for-
mar um mtodo, se se diz que o mtodo implica essencialmente uma
ou mais mediaes? Bergson apresenta freqentemente a intuio [3J
como um ato simples. Mas, segundo ele, a simplicidade no exclui uma
multiplicidade qualitativa e virtual, direes diversas nas quais ela se
atualiza. Neste sentido, a intuio implica uma pluralidade de acepes,
pontos de vista mltiplos irredutveis
4
. Bergson distingue essencialmen-
te trs espcies de atos, os quais determinam regras do mtodo: a pri-
meira espcie concerne posio e criao de problemas; a segun-
da, descoberta de verdadeiras diferenas de natureza; a terceira,
apreenso do tempo real. mostrando como se passa de um sentido
a outro, e qual "o sentido fundamental", que se deve reencontrar a
simplicidade da intuio como ato vivido, podendo-se assim respon-
der questo metodolgica geral.
PRIMEIRA REGRA: Aplicar a prova do verdadeiro e do falso
aos prprios problemas, denunciar os falsos problemas, reconciliar
verdade e criao no nvel dos problemas.
Com efeito, cometemos o erro de acreditar que o verdadeiro e o
falso concernem somente s solues, que eles comeam apenas com
3 Sobre o emprego da palavra intuio e sobre a gnese da noo nos Don-
nes immdiates e Matiere et Mmoire, pode-se consultar o livro de M. HUSSON,
L'Intellectua!isme de Bergson, Presses Universitaires de France, 1947, pp. 6-10.
4 PM, 1274-1275; 29-30.
.lS solues. Esse preconceito social (pois a sociedade, e a linguagem
que dela transmite as palavras de ordem, "do"-nos problemas total-
mente feitos, como que sados de "cartes administrativos da cidade",
c nos obrigam a "resolv-los", deixando-nos uma delgada margem de
liberdade). Mais ainda, o preconceito infantil e escolar, pois o pro-
fessor quem "d" os problemas, cabendo ao aluno a tarefa de desco-
brir-lhes a soluo. Desse modo, somos mantidos numa espcie de es-
cravido. [4J A verdadeira liberdade est em um poder de deciso, de
constituio dos prprios problemas: esse poder, "semidivino", impli-
ca tanto o esvaecimento de falsos problemas quanto o surgimento criador
de verdadeiros. "A verdade que se trata, em filosofia e mesmo alhu-
res, de encontrar o problema e, por conseguinte, de coloc-lo, mais ainda
do que resolv-lo. Com efeito, um problema especulativo resolvido
desde que bem colocado. Ao dizer isso, entendo que sua soluo existe
nesse caso imediatamente, embora ela possa permanecer oculta e, por
assim dizer, encoberta: s falta descobri-la. Mas colocar o problema no
simplesmente descobrir, inventar. A descoberta incide sobre o que
j existe, atualmente ou virtualmente; portanto, cedo ou tarde ela se-
guramente vem. A inveno d o ser ao que no era, podendo nunca
ter vindo. J em matemtica, e com mais forte razo em metafsica, o
esforo de inveno consiste mais freqentemente em suscitar o pro-
blema, em criar os termos nos quais ele se colocar. Colocao e solu-
o do problema esto quase seequivalendo aqui: os verdadeiros grandes
problemas so colocados apenas quando resolvidos"5.
No somente toda a histria da matemtica que d razo a
Bergson. Cabe comparar a ltima frase do texto de Bergson com a
frmula de Marx, vlida para a prpria prtica: "a humanidade co-
loca to-s os problemas que capaz de resolver". Nos dois casos, no
se trata de dizer que os problemas so como a sombra de solues
preexistentes (o contexto todo indica o contrrio). No se trata tam-
pouco de dizer que s os problemas contam. [5J Ao contrrio, a
soluo que conta, mas o problema tem sempre a soluo que ele me-
rece em funo da maneira pela qual colocado, das condies sob
as quais determinado como problema, dos meios e dos termos de que
se dispe para coloc-lo. Nesse sentido, a histria dos homens, tanto
do ponto de vista da teoria quanto da prtica, a da constituio de
problemas. a que eles fazem sua prpria histria, e a tomada de
5 PM, 1293; 51-52 (sobre o "estado semidivino", cf. 1306; 68).
8
Bergsonismo A intuio como mtodo 9
conscincia dessa atividade como a conquista da liberdade. ( ver-
dade que, em Bergson, a noo de problema tem suas razes para alm
da histria, na prpria vida e no impulso vital: a vida que se deter-
mina essencialmente no ato de contornar obstculos, de colocar e re-
solver um problema. A construo do organismo , ao mesmo tem-
po, colocao de problema e soluo.)6
Mas como conciliar com uma norma do verdadeiro esse poder
de constituir problema? Se relativamente fcil definir o verdadeiro e
o falso em relao s solues, parece muito mais difcil, uma vez co-
locado o problema, dizer em que consiste o verdadeiro e o falso, quando
aplicados prpria colocao de problemas. A esse respeito, muitos
filsofos parecem cair em um crculo: conscientes da necessidade de
aplicar a prova do verdadeiro e do falso aos prprios problemas, para
alm das solues, contentam-se eles em definir a verdade ou a falsi-
dade de um problema pela sua possibilidade ou impossibilidade de
receber uma soluo. Ao contrrio disso, o grande mrito de Bergson
est em ter buscado uma determinao intrnseca do falso na expres-
so [6J "falso problema". Donde uma regra complementar da regra
geral precedente.
REGRA COMPLEMENTAR: Os falsos problemas so de dois
tipos: "problemas inexistentes", que assim se definem porque seus
prprios termos implicam uma confuso entre o "mais" e o "menos";
"problemas mal colocados", que assim se definem porque seus termos
representam mistos mal analisados.
Como exemplos do primeiro tipo, Bergson apresenta o proble-
ma do no-ser, o da desordem ou o do possvel (problemas do conhe-
cimento e do ser); como exemplos do segundo tipo, apresenta o pro-
blema da liberdade ou o da intensidade
7
. Suas anlises a esse respeito
so clebres. No primeiro caso, elas consistem em mostrar que h mais
e no menos na idia de no-ser do que na de ser; na desordem do que
na ordem; no possvel do que no real. Na idia de no-ser, com efei-
to, h a idia de ser, mais uma operao lgica de negao generali-
6 Segundo Bergson, a categoria de problema tem uma importncia biolgi-
ca maior que aquela, negativa, de necessidade.
7 PM, 1336; 105. A distribuio dos exemplos varia segundo os textos de
Bergson. Isso no de causar espanto, pois cada falso problema, como veremos,
apresenta os dois aspectos em proporo varivel. Sobre a liberdade e a falsidade
como falsos problemas, cf. PM, 1268; 20.
zada, mais o motivo psicolgico particular de tal operao (quando
um ser no convm nossa expectativa e o apreendemos somente como
a falta, como a ausncia daquilo que nos interessa). Na idia de de-
sordem j h a idia de ordem, mais sua negao, mais o motivo des-
sa negao (quando encontramos uma ordem que no aquela que
espervamos). Na idia de possvel h mais do que na idia de real,
"pois o possvel o real contendo, a mais, um ato do esprito [7J, que
retrograda sua imagem no passado, assim que ele se produz", e o mo-
tivo desse ato (quando confundimos o surgimento de uma realidade
no universo com uma sucesso de estados em um sistema fechado)8.
Quando perguntamos "por que alguma coisa em vez de nada?",
ou "por que ordem em vez de desordem?", ou "por que isto em vez
daquilo (aquilo que era igualmente possvel)?", camos em um mes-
mo vcio: tomamos o mais pelo menos, fazemos como se o no-ser
preexistisse ao ser, a desordem ordem, o possvel existncia, como
se o ser viesse preencher um vazio, como se a ordem viesse organizar
uma desordem prvia, como se o real viesse realizar uma possibilida-
de primeira. O ser, a ordem ou o existente so a prpria verdade;
porm, no falso problema, h uma iluso fundamental, um "movimen-
to retrgrado do verdadeiro", graas ao qual supe-se que o ser, a
ordem e o existente precedam a si prprios ou precedam o ato cria-
dor que os constitui, pois, nesse movimento, eles retroprojetam uma
imagem de si mesmos em uma possibilidade, em uma desordem, em
um no-ser supostamente primordiais. Esse tema essencial na filo-
sofia de Bergson: ele resume sua crtica do negativo e de todas as for-
mas de negao como fontes de falsos problemas.
Os problemas mal colocados, o segundo tipo de falsos problemas,
fazem intervir, parece, um mecanismo diferente: trata-se, desta vez, de
mistos mal analisados, nos quais so arbitrariamente agrupadas coisas
que diferem por natureza. Pergunta-se, por exemplo, se a felicidade se
reduz ou no ao prazer; mas talvez o termo prazer subsuma estados muito
diversos, [8J irredutveis, assim como a idia de felicidade. Seos termos
no correspondem a "articulaes naturais", ento o problema fal-
so, no concernente "prpria natureza das coisas"9. Tambm nes-
8 PM, 1339; 110. Sobre a crtica da desordem e do no-ser, cf. tambm EC,
683; 223 ss e 730; 278 ss.
9 PM, 1293-1294; 52-53.
10 Bergsonismo
A intuio como mtodo
11
se aso so clebres as anlises de Bergson, quando ele denuncia a in-
tensidade como sendo um tal misto: quando se confunde a qualidade
da sensao com o espao muscular que lhe corresponde ou com a quan-
tidade da causa fsica que a produz, a noo de intensidade implica uma
mistura impura entre determinaes que diferem por natureza, de modo
que a questo "quanto cresce a sensao?" remete sempre a um pro-
blema mal colocado 10. O mesmo se d com o problema da liberdade,
quando se confundem dois tipos de "multiplicidade", a dos termos jus-
tapostos no espao e a dos estados que se fundem na durao.
Retornemos ao primeiro tipo de falsos problemas. Nele, diz Berg-
son, toma-se o mais pelo menos. Mas ocorre a Bergson, igualmente,
dizer que a se toma o menos pelo mais: assim como a dvida sobre
uma ao s aparentemente se acrescenta ao, mas d, na realida-
de, testemunho de um semi querer, tambm a negao tampouco se
acrescenta ao que ela nega, mas d to-somente testemunho de uma
fraqueza naquele que nega. "Sentimos que uma vontade ou um pen-
samento divinamente criador, em sua imensido de realidade, dema-
siado pleno de si mesmo para que, nele, a id!a de uma falta de ordem
ou de uma falta de ser possa to-s aflorar. Representar para si a pos-
sibilidade da desordem absoluta e, com mais forte razo, a do nada,
seria para ele dizer a si que ele prprio teria podido totalmente no
ser, o que seria uma fraqueza incompatvel com sua natureza, que
[9] fora [... ] No se trata do mais, mas do menos; trata-se de um dficit
do querer" 11. - Haveria contradio entre as duas frmulas, nas quais
o no-ser apresentado ora como um mais em relao ao ser, ora como
um menos? No h contradio, se se pensa que aquilo que Bergson
denuncia nos problemas "inexistentes" , de toda maneira, a mania
de pensar em termos de mais e de menos. A idia de desordem apare-
ce quando, em vez de se ver que h duas ou vrias ordens irredutveis
(por exemplo, a da vida e a do mecanismo, estando uma presente quan-
do a outra no est), retm-se apenas uma idia geral de ordem, con-
tentando-se em op-la desordem e pens-la em correlao com a idia
de desordem. A idia de no-ser aparece quando, em vez de apreen-
dermos as realidades diferentes que se substituem umas s outras in-
definidamente, ns as confundimos na homogeneidade de um Ser em
10 Cf. DI, capo I.
11 PM, 1304, 1305; 66 [66, 67].
geral, que s se pode opor ao nada, reportar-se ao nada. A idia de
possvel aparece quando, em vez de se apreender cada existente em sua
novidade, relaciona-se o conjunto da existncia a um elemento pr-
formado, do qual tudo, supostamente, sairia por simples "realizao".
Em resumo, toda vez que se pensa em termos de mais ou de me-
nos, j foram negligenciadas diferenas de natureza entre as duas or-
dens ou entre os seres, entre os existentes. Por a se v como o primei-
ro tipo de falsos problemas repousa em ltima instncia sobre o se-
gundo: a idia de desordem nasce de uma idia geral de ordem como
misto mal analisado etc. E o engano mais geral do pensamento, o en-
gano comum cincia e metafsica, talvez seja conceber tudo em
termos de [10] mais e de menos, e de ver apenas diferenas de grau ou
diferenas de intensidade ali onde, mais profundamente, h diferen-
as de natureza.
Portanto, estamos tomados por uma iluso fundamental, corres-
pondente aos dois aspectos do falso problema. A prpria noo de falso
problema implica, com efeito, que no temos de lutar contra simples
erros (falsas solues), mas contra algo mais profundo: a iluso que
nos arrasta, ou na qual mergulhamos, inseparvel de nossa condio.
Miragem, como diz Bergson a propsito da retroprojeo do poss-
vel. Bergson lana mo de uma idia de Kant, pronto para transform-
la completamente: Kant foi quem mostrou que a razo, no mais pro-
fundo de si mesma, engendra no erros mas iluses inevitveis, das
quais s se podia conjurar o efeito. Ainda que Bergson determine de
modo totalmente distinto a natureza dos falsos problemas, ainda que
a prpria crtica kantiana parea-lhe um conjunto de problemas mal
colocados, ele trata a iluso de uma maneira anloga de Kant. A iluso
est fundada no mais profundo da inteligncia e, propriamente falan-
do, ela indissipvel, no pode ser dissipada, mas somente recalcada
12
.
Temos a tendncia de pensar em termos de mais e de menos, isto , de
ver diferenas de grau ali onde h diferenas de natureza. S podemos
reagir contra essa tendncia intelectual suscitando, ainda na intelign-
cia, uma outra tendncia, crtica. Mas de onde vem, precisamente, essa
segunda tendncia? S a intuio pode suscit-la e anim-la, porque
ela reencontra as diferenas de natureza sob as diferenas de grau e
comunica [11] inteligncia os critrios que permitem distinguir os
12 Cf. uma nota muito importante em PM, 1306; 68.
12 Bergsonismo A intuio como mtodo
13
ve~dadeiros problemas e os falsos. Bergson mostra bem que a inteli-
gncia a faculdade que coloca os problemas em geral (o instinto se-
ria sobretudo uma faculdade de encontrar solues)13. Mas s a in-
tuio decide acerca do verdadeiro e do falso nos problemas coloca-
dos, pronta para impelir a inteligncia a voltar-se contra si mesma.
SEGUNDA REGRA: Lutar contra a iluso, reencontrar as ver-
dadeiras diferenas de natureza ou as articulaes do real
14
.
So clebres os dualismos bergsonianos: durao-espao, quali-
dade-quantidade, heterogneo-homogneo, contnuo-descontnuo, as
duas multiplicidades, memria-matria, lembrana-percepo, contra-
o-distenso, instinto-inteligncia, as duas fontes etc. Mesmo os t-
tulos que Bergson coloca no alto de cada pgina dos seus livros do
testemunho do seu gosto pelos dualismos - que, todavia, no confi-
guram a ltima palavra de sua filosofia. Qual , pois, seu sentido?
Trata-se sempre, segundo Bergson, de dividir um misto segundo suas
articulaes naturais, isto , em elementos que diferem por natureza.
Como mtodo, a intuio um mtodo de diviso, de esprito plat-
nico. Bergson no ignora que as coisas, de fato, realmente se mistu-
ram; a prpria experincia [12] s nos propicia mistos. Mas o mal no
est nisso. Por exemplo, damo-nos do tempo uma representao pe-
netrada de espao. O deplorvel que no sabemos distinguir em tal
representao os dois elementos componentes que diferem por natu-
reza, as duas puras presenas da durao e da extenso. Misturamos
to bem a extenso e a durao que s podemos opor sua mistura a
um princpio que se supe ao mesmo tempo no espacial e no tem-
poral, em relao ao qual espao e tempo, extenso e durao vm a
ser to-somente degradaes 15. Ainda um outro exemplo: misturamos
lembrana e percepo; mas no sabemos reconhecer o que cabe
percepo e o que cabe lembrana; no mais distinguimos na repre-
13 EC, 623; 152.
14 As diferenas de natureza ou as articulaes do real so termos e temas
constantes na filosofia de Bergson: cf., notadamente, a Introduo de PM, passim.
nesse sentido que se pode falar de um platonismo de Bergson (mtodo de divi-
so); ele gosta de citar um texto de Plato sobre o ato de trinchar e o bom cozi-
nheiro. Cf. EC, 627; 157.
15 EC, 764; 318.
sentao as duas presenas puras da matria e da memria, e somen-
te vemos diferenas de grau entre percepes-lembranas e lembran-
as-percepes. Em resumo, medimos as misturas com uma unidade
que , ela prpria, impura e j misturada. Perdemos a razo dos mis-
tos. A obsesso pelo puro, em Bergson, retoma nessa restaurao das
diferenas de natureza. S o que difere por natureza pode ser dito puro,
mas s tendncias diferem por natureza
16
. Trata-se, portanto, de di-
vidir o misto de acordo com tendncias qualitativas e qualificadas, isto
, de acordo com a maneira pela qual o misto combina a durao e a
extenso definidas como movimentos, direes de movimentos (como
a durao-contrao e a matria-distenso). A intuio, como mto-
do de diviso, guarda semelhana [13] ainda com uma anlise trans-
cendental: se o misto representa o fato, preciso dividi-lo em tendn-
cias ou em puras presenas, que s existem de direito
17
. Ultrapassa-
se a experincia em direo s condies da experincia (mas estas no
so, maneira kantiana, condies de toda experincia possvel, e sim
condies da experincia real).
esse o motivo condutor do bergsonismo, seu leitmotiv: s se
viram diferenas de grau ali onde havia diferenas de natureza. E, sob
esse ponto, Bergson agrupa suas crticas principais, as mais diversas.
Ele censurar a metafsica, essencialmente, por ter visto s diferenas
de grau entre um tempo espacializado e uma eternidade supostamen-
te primeira (o tempo como degradao, distenso ou diminuio do
ser. .. ): em uma escala de intensidade, todos os seres so definidos en-
tre os dois limites, o de uma perfeio e o de um nada. Tambm cin-
cia ele far uma censura anloga; e a nica definio do mecanicismo
a que invoca ainda um tempo espacializado, em conformidade com
o qual os seres s apresentam diferenas de grau, de posio, de di-
menso, de proporo. H mecanicismo at no evolucionismo, dado
que este postula uma evoluo unilinear e nos faz passar de uma or-
ganizao viva a uma outra por simples intermedirios, transies e
variaes de grau. Em tal ignorncia das verdadeiras diferenas de
natureza aparece toda sorte de falsos problemas e iluses que nos aba-
16 Por exemplo, sobre a inteligncia e o instinto, que compem um misto
do qual s se podem dissociar, em estado puro, tendncias, cf. EC, 610; 137.
17 Sobre a oposio "de fato-de direito", cf. MM, capo I (notadamente 213;
68). E sobre a distino "presena-representao", 185; 32.
14
Bergsonismo A intuio como mtodo 15
t~m: desde o primeiro captulo de Matria e memria, Bergson mostra
como o esquecimento das diferenas {14] de natureza, de um lado, entre
a percepo e a afeco, e, de outro, entre a percepo e a lembrana,
engendra toda sorte de falsos problemas, ao fazer-nos crer em um
carter inextenso de nossa percepo: "Encontrar-se-iam, nessa idia
de que projetamos fora de ns estados puramente internos, tantos mal-
entendidos, tantas respostas defeituosas a questes mal colocadas ... "18.
Esse primeiro captulo de Matria e memria mostra mais do que
qualquer outro texto a complexidade do manejo da intuio como
mtodo de diviso. Trata-se de dividir a representao em elementos
que a condicionam, em puras presenas ou em tendncias que diferem
por natureza. Como procede Bergson? Primeiramente, ele pergunta se
entre isto e aquilo pode (ou no pode) haver diferena de natureza. A
primeira resposta a seguinte: sendo o crebro uma "imagem" entre
outras imagens, ou sendo o que assegura certos movimentos entre
outros movimentos, no pode haver diferena de natureza entre a fa-
culdade do crebro dita perceptiva e as funes reflexas da medula.
Portanto, o crebro no fabrica representaes, mas somente compli-
ca a relao entre um movimento recolhido (excitao) e um movimen-
to executado (resposta). Entre os dois, o crebro estabelece um inter-
valo, um desvio, seja porque ele divide ao infinito o movimento rece-
bido, seja porque ele o prolonga em uma pluralidade de reaes pos-
sveis. O fato de que lembranas se aproveitem desse intervalo, de que
elas, propriamente falando, "se intercalem", isto em nada altera o caso.
No momento, podemos eliminar as lembranas como participantes de
outra "linha". Sobre a linha que estamos em vias de traar, ns s {15]
podemos ter matria e movimento, movimento mais ou menos com-
plicado, mais ou menos retardado. Toda a questo est em saber se j
no temos tambm a a percepo. Com efeito, em virtude do inter-
valo cerebral, um ser pode reter de um objeto material e das aes que
dele emanam to-somente o que lhe interessa
19
. Desse modo, a per-
cepo no o objeto mais algo, mas o objeto menos algo, menos tudo
o que no nos interessa. Isto equivale a dizer que o prprio objeto se
18 MM, 197; 47.
19 MM, 186; 33: "Se os seres vivos constituem no universo 'centros de inde-
terminao', e se o grau dessa indeterminao se mede pelo nmero e pela elevao
de suas funes, concebe-se que sua presena, por si s, possa equivaler supres-
so de todas as partes dos objetos s quais suas funes no esto interessadas".
confunde com uma percepo pura virtual, ao mesmo tempo que nossa
percepo real se confunde com o objeto, do qual ela subtrai apenas
o que no nos interessa. Donde a clebre tese de Bergson, da qual
analisaremos todas as conseqncias: percebemos as coisas a onde
esto, a percepo nos coloca de sbito na matria, impessoal e coin-
cide com o objeto percebido. Nesta linha, todo o mtodo bergsoniano
consistiu em procurar, primeiramente, os termos entre os quais no
poderia haver diferena de natureza: no pode haver diferena de natu-
reza, mas somente diferena de grau, entre a faculdade do crebro e a
funo da medula, entre a percepo da matria e a prpria matria.
Ento, estamos em condies de traar a segunda linha, a que
difere por natureza da primeira. Para estabelecer a primeira, tnhamos
necessidade de fices: tnhamos suposto que o corpo era como um
puro ponto matemtico no espao, um puro instante, ou uma [16]
sucesso de instantes no tempo. Mas essas fices no eram simples
hipteses: elas consistiam em impelir para alm da experincia uma
direo destacada da prpria experincia; somente assim que po-
damos extrair todo um lado das condies da experincia. Cabe-nos
agora perguntar por aquilo que vem preencher o intervalo cerebral,
por aquilo que dele se aproveita para encarnar-se. A resposta de Berg-
son ser trplice. Primeiramente, a afetividade, que supe, precisa-
mente, que o corpo seja coisa distinta de um ponto matemtico e d a
ela um volume no espao. Em seguida, so as lembranas da mem-
ria, que ligam os instantes uns aos outros e intercalam o passado no
presente. Finalmente, ainda a memria, sob uma outra forma, sob
forma de uma contrao da matria, que faz surgir a qualidade. (Por-
tanto, a memria que faz que o corpo seja coisa distinta de uma
instantaneidade e que lhe d uma durao no tempo.) Eis-nos, assim,
em presena de uma nova linha, a da subjetividade, na qual se esca-
lonam afetividade, memria-lembrana, memria-contrao: cabe dizer
que esses termos diferem por natureza daqueles da linha precedente
(percepo-objeto-matria)20. Em resumo, a representao em geral
20 No necessrio que a linha seja inteiramente homognea, podendo ser
uma linha quebrada. Assim, a afetividade se distingue por natureza da percepo,
mas no da mesma maneira que a memria: ao passo que uma memria pura se
ope percepo pura, a afetividade sobretudo como que uma "impureza", que
turva a percepo (cf. MM, 207; 60). Veremos mais tarde como a afetividade, a
memria etc. designam aspectos muito diversos da subjetividade.
16 Bergsonismo A intuio como mtodo 17
st;,divide em duas direes que diferem por natureza, em duas puras
presenas que no se deixam representar: a da percepo, que nos
coloca de sbito na matria; a da memria, que nos coloca de sbito
no esprito. [17J Que as duas linhas se encontrem e se misturem ainda
uma vez no a questo. Essa mistura nossa prpria experincia,
nossa representao. Mas todos os nossos falsos problemas vm de no
sabermos ultrapassar a experincia em direo s condies da expe-
rincia, em direo s articulaes do real, e reencontrarmos o que
difere por natureza nos mistos que nos so dados e dos quais vivemos.
"Percepo e lembrana penetram-se sempre, trocam sempre entre
si algo de suas substncias, graas a um fenmeno de endosmose. O
papel do psiclogo seria dissoci-los, restituir a cada um sua pureza
natural; desse modo, seria esclarecido um bom nmero de dificulda-
des levantadas pela psicologia e talvez tambm pela metafsica. Mas
no o que acontece. Pretende-se que tais estados mistos, todos com-
postos em doses desiguais de percepo pura e de lembrana pura, se-
jam estados simples. Por isso, condenamo-nos a ignorar tanto a lem-
brana pura quanto a percepo pura, a conhecer to-somente um
nico gnero de fenmeno, que chamaremos ora de lembrana ora de
percepo, conforme venha a predominar nele um ou outro desses dois
aspectos, e, por conseguinte, a encontrar entre a percepo e a lem-
brana apenas uma diferena de grau, e no mais de natureza,,21.
A intuio nos leva a ultrapassar o estado da experincia em di-
reo s condies da experincia. Mas essas condies no so ge-
rais e nem abstratas; no so mais amplas do que o condicionado; so
as condies da experincia real. Bergson fala em "buscar a experin-
cia em sua fonte, ou melhor, acima dessa viravolta decisiva, na qual,
inflectindo-se no sentido de nossa utilidade, ela se torna propriamen-
te experincia [18J humana,,22. Acima da viravolta: esse, precisamen-
te, o ponto em que se descobrem enfim as diferenas de natureza. Mas
h tantas dificuldades para atingir esse ponto focal que se devem mul-
tiplicar os atos da intuio, aparentemente contraditrios. assim que
Bergson nos fala ora de um movimento exatamente apropriado ex-
perincia, ora de uma ampliao, ora de um estreitamento e de uma
restrio. que, primeiramente, a determinao de cada "linha" impli-
21 MM, 214; 69.
22 MM, 321; 205.
ca uma espcie de contrao, na qual fatos aparentemente diversos en-
contram-se agrupados segundo suas afinidades naturais, comprimidos
de acordo com sua articulao. Mas, por outro lado, ns impelimos
cada linha para alm da viravolta, at o ponto em que ela ultrapassa
nossa experincia: prodigiosa ampliao que nos fora a pensar uma
percepo pura idntica a toda a matria, uma memria pura idnti-
ca totalidade do passado. nesse sentido que, muitas vezes, Bergson
compara o procedimento da filosofia ao do clculo infinitesimal: quan-
do, na experincia, somos favorecidos por um pequeno vislumbre, que
nos assinala uma linha de articulao, resta ainda prolong-la para fora
da experincia - assim como os matemticos reconstituem, com os
elementos infinitamente pequenos que eles percebem da curva real, "a
forma da prpria curva que, na obscuridade, se estende atrs deles,,23.
De toda [19J maneira, Bergson no um desses filsofos que atribuem
filosofia uma sabedoria e um equilbrio propriamente humanos.
Abrir-nos ao inumano e ao sobre-humano (duraes inferiores ou supe-
riores a nossa ... ), ultrapassar a condio humana, este o sentido da
filosofia, j que nossa condio nos condena a viver entre os mistos
mal analisados e a sermos, ns prprios, um misto mal analisad0
24
.
Mas essa ampliao, ou mesmo esse ultra passamento, no consis-
te em ultrapassar a experincia em direo a conceitos, pois estes de-
finem somente, maneira kantiana, as condies de toda experincia
possvel em geral. Aqui, ao contrrio, trata-se da experincia real em
todas as suas particularidades. E, se preciso ampli-la, e mesmo ultra-
pass-la, somente para encontrar as articulaes das quais essas par-
ticularidades dependem. Desse modo, as condies da experincia so
menos determinadas em conceitos do que nos perceptos puros
25
. E,
23 MM, 321; 206. Bergson, freqentemente, parece criticar a anlise infini-
tesimal: por mais que esta reduza ao infinito os intervalos que considera, ela ainda
se contenta em recompor o movimento com o espao percorrido (por exemplo, DI,
79-80; 89). Porm, mais profundamente, Bergson exige que a metafsica, por sua
conta, efetue uma revoluo anloga a do clculo em cincia: cf. EC, 773-786; 329-
344. E a metafsica deve at mesmo inspirar-se na "idia geradora de nossa mate-
mtica", para" operar diferenciaes e integraes qualitativas" (PM, 1423; 215).
24 Cf. PM, 1416; 206. E 1425; 218: "A filosofia deveria ser um esforo para
ultrapassar a condio humana". (O texto precedentemente citado, sobre a vira-
volta da experincia, o comentrio desta frmula.)
25 PM, 1370; 148-149.
18
Bergsonismo A intuio como mtodo 19
se tais perceptos se renem, eles mesmos, em um conceito, trata-se de
u~ conceito talhado sobre a prpria coisa, que convm somente a ela
e que, nesse sentido, no mais amplo do que aquilo de que ele deve
dar conta. Com efeito, quando seguimos cada uma das "linhas" para
alm da viravolta da experincia, tambm preciso reencontrar o ponto
em que elas se cortam, o ponto em que as direes se cruzam e onde
as tendncias que diferem por natureza se reatam para engendrar a coisa
tal como ns a conhecemos. Dir-se- que nada mais fcil e que a
prpria experincia [2 O}j nos dava esse ponto. A coisa no to sim-
ples. Aps ter seguido linhas de divergncia para alm da viravolta,
preciso que estas se recortem no no ponto de que partimos, mas so-
bretudo em um ponto virtual, em uma imagem virtual do ponto de
partida, ela prpria situada para alm da viravolta da experincia, e
que nos propicia, enfim, a razo suficiente da coisa, a razo suficiente
do misto, a razo suficiente do ponto de partida. Desse modo, a ex-
presso "acima da viravolta decisiva" tem dois sentidos: primeiramente,
ela designa o momento em que as linhas, partindo de um ponto co-
mum confuso dado na experincia, divergem cada vez mais em con-
formidade com verdadeiras diferenas de natureza; em seguida, ela
designa um outro momento, aquele em que essas linhas convergem de
novo para nos dar dessa vez a imagem virtual ou a razo distinta do
ponto comum. Viravolta e reviravolta. O dualismo, portanto, ape-
nas um momento que deve terminar na re-formao de um monismo.
Eis por que, depois da ampliao, advm um derradeiro estreitamento,
assim como h integrao aps a diferenciao. "Falvamos outrora
dessas linhas de fatos, cada uma das quais, por no ir suficientemente
longe, fornece to-somente a direo da verdade: todavia, prolongando-
se duas destas linhas at o ponto em que elas se cortam, atingir-se- a
prpria verdade [... ] Estimamos que este mtodo de interseco seja o
nico que pode levar definitivamente adiante a metafsica,,26. Portanto,
h como que duas viravoltas sucessivas, e em sentido inverso, da ex-
perincia, o que constitui o que Bergson chama de preciso em filosofia.
Donde uma REGRA COMPLEMENTAR da segunda regra:[21}
o real no somente o que se divide segundo articulaes naturais ou
diferenas de natureza, mas tambm o que se rene segundo vias que
convergem para um mesmo ponto ideal ou virtual.
26 MR, 1186; 263.
A funo particular dessa regra mostrar como um problema,
tendo sido bem colocado, tende por si mesmo a resolver-se. Por exem-
plo, ainda conforme o primeiro captulo de Matria e memria, colo-
camos bem o problema da memria quando, partindo do misto lem-
brana-percepo, dividimos esse misto em duas direes divergentes
e dilatadas, que correspondem a uma verdadeira diferena de nature-
za entre a alma e o corpo, o esprito e a matria. Mas s obtemos a
soluo do problema por estreitamento: quando apreendemos o pon-
to original no qual as duas direes divergentes convergem novamen-
te, o ponto preciso no qual a lembrana se insere na percepo, o ponto
virtual que como que a reflexo e a razo do ponto de partida. As-
sim, o problema da alma e do corpo, da matria e do esprito, s se
resolve graas a um extremo estreitamento, a propsito do qual Bergson
mostra como a linha da objetividade e a da subjetividade, a linha da
observao externa e a da experincia interna, devem convergir ao final
dos seus processos diferentes, at o caso da afasia
27
.
Do mesmo modo, Bergson mostra que o problema da imortali-
dade da alma tende a resolver-se pela convergncia de duas linhas muito
diferentes: precisamente a de uma experincia da memria e a de uma
experincia totalmente distinta, mstica
28
. Mais complexos ainda so
os [22] problemas que se desatam no ponto de convergncia de trs
linhas de fatos: essa a natureza da conscincia no primeiro captulo
de A energia espiritual. Assinale-se que esse mtodo de interseco
forma um verdadeiro probabilismo: cada linha define uma probabili-
dade
29
. Mas trata-se de um probabilismo qualitativo, sendo as linhas
de fato qualitativamente distintas. Em sua divergncia, na desarticu-
lao do real que operam segundo as diferenas de natureza, elas j
constituem um empirismo superior, apto para colocar os problemas e
para ultrapassar a experincia em direo s suas condies concre-
tas. Em sua convergncia, na interseco do real a que procedem, as
linhas definem agora um probabilismo superior, apto para resolver os
problemas e relacionar a condio ao condicionado, de tal modo que
j no subsista distncia alguma entre eles.
27 PM, 1315; 80.
28 MR, 1199-1200; 280-281.
29 ES, 817, 818; 4 e 835; 27.
20 Bergsonismo A intuio como mtodo 21
TERCEIRA REGRA: Colocar os problemas e resolv-los mais
em funo do tempo do que do espa030.
Essa regra d o "sentido fundamental" da intuio: a intuio
supe a durao; ela consiste em pensar em termos de durao31. S
podemos compreend-lo, retornando ao movimento da diviso deter-
minante das diferenas de natureza. primeira vista, pareceria que uma
diferena de natureza se estabelecesse entre duas coisas ou sobretudo
entre duas tendncias. verdade, mas {23j verdade apenas superfi-
cialmente. Consideremos a diviso bergsoniana principal: a durao
e o espao. Todas as outras divises, todos os outros dualismos a im-
plicam, dela derivam ou nela terminam. Ora, no podemos nos con-
tentar em simplesmente afirmar uma diferena de natureza entre a
durao e o espao. A diviso se faz entre a durao, que "tende", por
sua vez, a assumir ou a ser portadora de todas as diferenas de natu-
reza (pois ela dotada do poder de variar qualitativamente em rela-
o a si mesma), e o espao, que s apresenta diferenas de grau (pois
ele homogeneidade quantitativa). Portanto, no h diferena de na-
tureza entre as duas metades da diviso; a diferena de natureza est
inteiramente de um lado. Quando dividimos alguma coisa conforme
suas articulaes naturais, temos, em propores e figuras muito va-
riveis segundo o caso: de uma parte, o lado espao, pelo qual a coisa
s pode diferir em grau das outras coisas e de si mesma (aumento,
diminuio); de outra parte, o lado durao, pelo qual a coisa difere
por natureza de todas as outras e de si mesma (alterao).
Consideremos um pedao de acar: h uma configurao espa-
cial, mas sob esse aspecto ns s apreenderemos to-somente diferen-
as de grau entre esse acar e qualquer outra coisa. Contudo, h tam-
bm uma durao, um ritmo de durao, uma maneira de ser no tem-
po, que se revela pelo menos em parte no processo da dissoluo, e
que mostra como esse acar difere por natureza no s das outras
coisas, mas primeiramente e sobretudo de si mesmo. Essa alterao se
confunde com a essncia ou a substncia de uma coisa; ela que ns
apreendemos, quando a pensamos em termos de Durao. A esse res-
30 Cf. MM, 218; 74: "As questes relativas ao sujeito e ao objeto, sua dis-
tino e sua unio, devem ser colocadas mais em funo do tempo do que do
espao".
31 PM, 1275;30.
22
peito, a famosa frmula de Bergson "devo {24j esperar que o acar
~l' dissolva" tem um sentido ainda mais amplo do que aquele dado a
('Ia pelo contexto
32
. Ela significa que minha prpria durao, tal como
('u a vivo, por exemplo, na impacincia das minhas espera.s, serve de
rl'vclador para outras duraes que pulsam com outros ntmos, q~e
diferem por natureza da minha. E a durao sempre o lugar e o.m~l~
das diferenas de natureza, sendo inclusive o conjunto e a multl,!'hCl-
dade delas, de modo que s h diferenas de natureza na d~raao -
ao passo que o espao to-somente o lugar, o meio, o conjunto das
diferenas de grau. , . .
Talvez tenhamos o meio de resolver a questo metodologlCa mais
geral. Quando elaborava seu mtodo da diviso, Plato ,t~mb~m se
propunha dividir um misto em duas metades ou s.egundovanas lmhas.
Mas todo o problema era saber como se escolhia a boa metade: p~r
que aquilo que ns buscvamos estava so~r~t_udode ~m lado e nao
de outro? Podia-se, portanto, censurar a divisa0 por nao s.er~m ver-
dadeiro mtodo, pois faltava-lhe o "meio termo" e dependia am~a de
uma inspirao. Parece que a dificuldade desaparece no ber~so~lsmo,
pois, dividindo o misto segundo duas ~endn~ias, d~s q.uals so uma
apresenta a maneira pela qual uma COlsavana quahtatlvamente no
tempo, Bergson d efetivamente a si o meio d~ es~o~herem cada c,aso
o "bom lado" o da essncia. Em resumo, a mtUlao torna-se meto-
do, ou melhor,' o mtodo se reconcilia com o imediat? A intuio no
a prpria durao. A intuio sobretudo o mOVimento,pelo qual
samos de nossa prpria durao, o movimento pelo qu.al no.s{25j nos
servimos de nossa durao para afirmar e reconhecer Imediatamente
a existncia de outras duraes acima ou abaixo de ns. "Somente o
mtodo de que falamos permite ultrapassar o idealismo ta~to quan,to
o realismo, afirmar a existncia de objetos inferiores e supenores a nos,
conquanto sejam em certo sentido interiores a ns [...!Per~ebemos
duraes to numerosas quanto queiramos, todas mUlto dlfe!entes
umas das outras" (as palavras inferior e superior, com efeIto, nao nos
devem enganar, pois designam diferenas de natureza?3. Sem a intui-
32 EC, 502; 10. No contexto, Bergson s atribui uma durao ao acar
medida que este participa do conjunto do universo. Veremos mais adiante o sen-
tido desta restrio: cf. capo IV.
33 PM, 1416, 1417;206-208.
Bergsonismo
A intuio como mtodo 23
~o como mtodo, a durao permaneceria como simples experincia
psicolgica. Inversamente, sem a coincidncia com a durao, a intuio
no seria capaz de realizar o programa correspondente s regras pre-
cedentes: a determinao dos verdadeiros problemas ou das verdadeiras
diferenas de natureza ...
Retornemos, portanto, iluso dos falsos problemas. De onde
vem ela e em que sentido ela inevitvel? Bergson pe em causa a
ordem das necessidades, da ao e da sociedade, ordem que nos in-
clina a s reter das coisas o que nos interessa; a ordem da intelign-
cia, em sua afinidade natural com o espao; a ordem das idias ge-
rais, que vem recobrir as diferenas de natureza. Ou melhor, h idias
gerais muito diversas, que diferem entre si por natureza, umas reme-
tendo a semelhanas objetivas nos corpos vivos, outras remetendo a
identidades objetivas nos corpos inanimados, outras, finalmente, re-
metendo a exigncias subjetivas nos objetos fabricados; mas estamos
prontos para formar uma idia geral de todas as idias gerais, e a {26}
dissolver as diferenas de natureza nesse elemento de generalidade
34
.
- "Dissolvemos as diferenas qualitativas na homogeneidade do es-
pao que as subentende"35. verdade que esse conjunto de razes
ainda psicolgico, inseparvel de nossa condio. Devemos levar em
conta razes mais profundas, pois, se a idia de um espao homog-
neo implica uma espcie de artifcio ou de smbolo que nos separa da
realidade, nem por isso se pode esquecer que a matria e a extenso
so realidades que prefiguram a ordem do espao. Como iluso, o
espao no est fundado somente em nossa natureza, mas na nature-
za das coisas. A matria efetivamente o "lado" pelo qual as coisas
tendem a apresentar entre si e a ns mesmos to-somente diferenas
de grau. A experincia nos propicia mistos; ora, o estado do misto no
consiste apenas em reunir elementos que diferem por natureza, mas
em reuni-los em condies tais que no podemos apreender nele es-
sas diferenas de natureza constituintes. Em resumo, h um ponto de
vista e, alm disso, um estado de coisas em que as diferenas de na-
tureza j no podem aparecer. O movimento retrgrado do verdadei-
ro no somente uma iluso sobre o verdadeiro, mas pertence ao
34 PM, 1298-1303; 58-64
35 EC, 679; 217.
prprio verdadeiro. Dividindo o misto "religio" em duas direes,
religio esttica e religio dinmica, Bergson acrescenta: situando-nos
em certo ponto de vista, "perceberamos uma srie de transies e algo
assim como diferenas de grau ali onde, realmente, h uma radical
diferena de natureza,,36.
A iluso, portanto, no deriva somente de nossa natureza, {27}
mas do mundo que habitamos, do lado do ser que nos aparece primei-
ramente. De certa maneira, entre o incio e o fim de sua obra, Bergson
evoluiu. Os dois pontos principais da sua evoluo so os seguintes: a
durao pareceu-lhe cada vez menos redutvel a uma experincia psi-
colgica, tornando-se a essncia varivel das coisas e fornecendo o tema
de uma ontologia complexa. Mas, por outro lado e ao mesmo tempo,
o espao parecia-lhe cada vez menos redutvel a uma fico a nos se-
parar dessa realidade psicolgica para, tambm ele, ser fundado no ser
e exprimir, deste, uma de suas duas vertentes, uma de suas duas dire-
es. O absoluto, dir Bergson, tem dois lados: o esprito, penetrado
pela metafsica; a matria, conhecida pela cincia
37
. Mas, precisamente,
a cincia no um conhecimento relativo, uma disciplina simblica
que seria to-somente aprecivel por seus xitos ou sua eficcia; a cin-
cia diz respeito ontologia, uma das duas metades da ontologia. O
Absoluto diferena, mas a diferena tem duas faces, diferenas de grau
e diferenas de natureza. Portanto, eis que, quando apreendemos sim-
ples diferenas de grau entre as coisas, quando a prpria cincia nos
convida a ver o mundo sob esse aspecto, estamos ainda em um abso-
luto ("a fsica moderna revela-nos cada vez melhor diferenas de n-
mero atrs das nossas distines de qualidade" )38. Todavia, uma
iluso. Mas s uma iluso na medida em que projetamos sobre a outra
vertente a paisagem real da primeira. A iluso s pode ser repelida {28}
em funo dessa outra vertente, a da durao, que nos propicia dife-
renas de natureza que correspondem em ltima instncia s diferen-
as de proporo tal como aparecem no espao e, antes, na matria e
na extenso.
36 MR, 1156; 225.
37 Cf. PM, 1278 ss.; 34 ss. (E 1335; 104: A inteligncia "toca ento um dos
lados do absoluto, assim como nossa conscincia toca um outro [... ]").
38 PM, 1300; 61.
24 Bergsonismo A intuio como mtodo 25
Portanto, certo que a intuio forma um mtodo, com suas trs
(ou cinco) regras. Trata-se de um mtodo essencialmente problemati-
zante (crtica de falsos problemas e inveno de verdadeiros), dife-
renciante (cortes e interseces) e temporalizante (pensar em termos
de durao). Mas falta determinar ainda como a intuio supe a
durao e como, em troca, ela d durao uma nova extenso do
ponto de vista do ser e do conhecimento.
2-
A DURAO COMO DADO IMEDIATO
/29}
Supomos conhecida a descrio da durao como experincia
psicolgica, tal como aparece em Os dados imediatos e nas primeiras
pginas de A evoluo criadora: trata-se de uma "passagem", de uma
"mudana", de um devir, mas de um devir que dura, de uma mudan-
a que a prpria substncia. Note-se que Bergson no encontra qual-
quer dificuldade em conciliar as duas caractersticas fundamentais da
durao: continuidade e heterogeneidade
39
. Mas, assim definida, a
durao no somente experincia vivida; tambm experincia am-
pliada, e mesmo ultrapassada; ela j condio da experincia, pois
o que esta propicia sempre um misto de espao e de durao. A du-
rao pura apresenta-nos uma sucesso puramente interna, sem exte-
rioridade; o espao apresenta-nos uma exterioridade sem sucesso (com
efeito, a memria do passado, a lembrana do que se passou no espa-
o j implicaria um esprito [3D) que dura). Produz-se entre os dois uma
mistura, na qual o espao introduz a forma de suas distines ex-
trnsecas ou de seus "cortes" homogneos e descontnuos, ao passo que
a durao leva a essa mistura sua sucesso interna, heterognea e con-
tnua. Desse modo, somos capazes de "conservar" os estados instan-
tneos do espao e de justap-los em uma espcie de "espao auxiliar";
mas tambm introduzimos distines extrnsecas em nossa durao,
decompmo-Ia em partes exteriores e a alinhamos em uma espcie de
tempo homogneo. Um tal misto (no qual o tempo se confunde com
o espao auxiliar) deve ser dividido. Mesmo antes de tomar conscin-
cia da intuio como mtodo, Bergson acha-se diante da tarefa da
diviso do misto. Tratar-se-ia j de dividi-lo segundo duas direes
puras? Enquanto Bergson no levanta explicitamente o problema de
lima origem ontolgica do espao, trata-se sobretudo de dividir o misto
l'm duas direes, das quais somente uma pura (a durao), ao pas-
39 Sobre este ponto, cf. a excelente anlise de A. Robinet, Bergson (Seghers,
I 965), pp. 28 ss.
26
Bergsonismo
i\ durao como dado imediato 27
,so que a outra representa a impureza que a desnatura
4o
. A durao
ser alcanada como" dado imediato", precisamente porque se con-
funde com o lado direito, o lado bom do misto.
O importante que a decomposio do misto nos revela dois tipos
de "multiplicidade". Uma delas representada pelo espao (ou me-
lhor, se levarmos em conta todas as nuanas, pela mistura impura do
tempo homogneo): uma multiplicidade de exterioridade, de simul-
taneidade, de justaposio, de ordem, de diferenciao [31] quantita-
tiva, de diferena de grau, uma multiplicidade numrica, descontnua
e atual. A outra se apresenta na durao pura: uma multiplicidade
interna, de sucesso, de fuso, de organizao, de heterogeneidade, de
discriminao qualitativa ou de diferena de natureza, uma multipli-
cidade virtual e contnua, irredutvel ao nmer0
41
.
Parece-nos que no foi dada suficiente importncia ao emprego
da palavra "multiplicidade". De modo algum ela faz parte do vocabu-
lrio tradicional - sobretudo para designar um continuum. No s
veremos que ela essencial do ponto de vista da elaborao do mtodo,
como ela j nos informa a respeito dos problemas que aparecem em
Os dados imediatos e que se desenvolvero mais tarde. Apalavra "mul-
tiplicidade" no aparece a como um vago substantivo correspondente
bem conhecida noo filosfica de Mltiplo em geral. Com efeito,
no se trata, para Bergson, de opor o Mltiplo ao Uno, mas, ao contr-
rio, de distinguir dois tipos de multiplicidade. Ora, esse problema re-
monta a um cientista genial, Riemann, fsico e matemtico. Ele definia
as coisas como "multiplicidades" determinveis em funo de suas di-
menses ou de suas variveis independentes. Ele distinguia multipli-
cidades discretas e multiplicidades contnuas: as primeiras eram por-
tadoras do princpio de sua mtrica (sendo a medida de uma [32] de
suas partes dada pelo nmero dos elementos que ela contm); as segun-
das encontravam um princpio mtrico em outra coisa, mesmo que to-
somente nos fenmenos que nelas se desenrolavam ou nas foras que
40 verdade que, desde Os dados imediatos, Bergson indica o problema de
uma gnese do conceito de espao a partir de uma percepo da extenso: cf. 64-
65; 71-72.
41 DI, capo 11(e capo III, 107; 122). O misto mal analisado, ou a confuso
das duas multiplicidades, define, precisamente, a falsa noo de intensidade.
nelas atuavam
42
. evidente que, como filsofo, Bergson estava bem
a par dos problemas gerais de Riemann. No s seu interesse pela
matemtica bastaria para nos persuadir disso, mas, mais particular-
mente, Durao e simultaneidade um livro no qual Bergson confronta
sua prpria doutrina com a da Relatividade, que depende estreitamente
de Riemann. Senossa hiptese tem fundamento, esse mesmo livro perde
seu carter duplamente inslito: com efeito, de um lado, ele no sur-
ge brutalmente e nem sem razo, mas traz luz um confronto, manti-
do at ento implcito, entre a interpretao riemanniana e a interpreta-
o bergsoniana das multiplicidades contnuas; por outro lado, se Berg-
son renuncia a este livro e o denuncia, talvez seja porque julgue no
poder perseguir a teoria das multiplicidades at suas implicaes ma-
temticas. De fato, ele tinha mudado profundamente o sentido da dis-
tino riemanniana. As multiplicidades contnuas pareciam-lhe perten-
cer essencialmente ao domnio da durao. Por isso, para Bergson, a
durao no era simplesmente o indivisvel ou o no-mensurvel, mas
sobretudo o que s se divide mudando de natureza, o que s se deixa
medir variando de princpio mtrico a cada estgio da diviso. Bergson
no se contentava [33] em opor uma viso filosfica da durao a uma
concepo cientfica do espao; ele transpunha o problema para o ter-
reno das duas espcies de multiplicidade e pensava que a multiplici-
dade prpria da durao tinha, por sua vez, uma "preciso" to grande
quanto a da cincia; mais ainda, ele pensava que ela devesse reagir sobre
a cincia e abrir a esta uma via que no se confundia necessariamente
com a de Riemann e de Einstein. Eis por que devemos atribuir uma
grande importncia maneira pela qual Bergson, tomando a noo
de multiplicidade, renova seu alcance e sua repartio.
Como se define a multiplicidade qualitativa e contnua da dura-
o em oposio multiplicidade quantitativa ou numrica? Uma pas-
sagem obscura de Os dados imediatos ainda mais significativa a esse
respeito, por anunciar os desenvolvimentos de Matria e memria. A
passagem distingue o subjetivo e o objetivo: "Chamamos subjetivo o
que parece inteira e adequadamente conhecido, objetivo o que co-
42 Sobre a teoria riemanniana das multiplicidades, cf. B. Riemann, Oeuvres
lIIathmatiques (tr. fr. Gauthier-Villars ed., "Sur les hypothses qui servent de
tondement la gomtrie"). E H. Weyl, Temps, Espace, Matiere. - Tambm
Ilusserl, se bem que em sentido totalmente distinto daquele de Bergson, se inspira
11.1 teoria riemanniana das multiplicidades.
28
Bergsonismo 1\ durao como dado imediato 29
nhecido de tal maneira que uma multido sempre crescente de impres-
ses novas poderia substituir a idia que dele temos atualmente,,43.
Atendo-nos a essas frmulas, arriscamo-nos a cair em contra-sensos
,
felizmente dissipados pel9 contexto. Com efeito, Bergson precisa: um
objeto pode ser dividido de uma infinidade de maneiras; ora, mesmo
antes de tais divises serem efetuadas, elas so apreendidas pelo pen-
samento como possveis, sem que nada mude no aspecto total do ob-
jeto. Portanto, elas j so visveis na imagem do objeto: mesmo que
no realizadas (simplesmente possveis), tais divises so atualmente
percebidas, pelo menos de direito. "Esta apercepo atual, e [34] no
somente virtual, de subdivises no indiviso precisamente o que cha-
mamos objetividade"44. Bergson quer dizer que o objetivo o que no
tem virtualidade - realizado ou no, possvel ou real, tudo atual no
objetivo. O primeiro captulo de Matria e memria desenvolver esse
tema de modo mais claro: a matria no tem nem virtualidade nem
potncia oculta, pelo que podemos identific-la com a "imagem"; sem
dvida, pode haver mais na matria do que na imagem que dela faze-
mos, mas no pode haver nela outra coisa, algo de natureza distinta45.
Em outro texto, Bergson felicita Berkeley por ter este identificado corpo
e idia, justamente porque a matria "no tem interior, no tem algo
abaixo de si [...] ela nada oculta, nada encerra [ ] no possui nem
potncias nem virtualidades de espcie alguma [ ] est exposta em
superfci.e e se mantm toda inteira a todo instante no que expe"46.
Em resumo, chamaremos objeto, objetivo, no s o que se divi-
de, mas o que no muda de natureza ao dividir-se. , portanto, o que
se divide por diferenas de grau
47
. O que caracteriza o objeto a ade-
quao recproca do dividido e das divises, do nmero e da unidade.
Nesse sentido, diz-se que o objeto uma "multiplicidade numrica",
pois o nmero e, em primeiro lugar, a prpria unidade aritmtica, so
o modelo do que se divide sem mudar de natureza. Dizer que o nme-
43 DI, 57; 62.
44 [DI, 57; 63.J
45 MM, 218-219;75-76.
46 PM, 1353; 127.
47 Cf. MM, 341;231: "Enquanto se trata de espao, pode-se levar a diviso
to longe quanto se queira; nada assim mudado na natureza do que se divide ... "
10 s tem diferenas de grau o mesmo que dizer suas diferenas, rea-
lizadas ou no, so sempre atuais [35] nele.
"As unidades com as quais a aritmtica forma nmeros
so unidades provisrias, suscetveis de se fragmentarem
indefinidamente, e cada uma delas constitui uma soma de
quantidades fracionrias to pequenas e to numerosas
quanto se queira imaginar [...) Se toda multiplicidade'; im-
plica a possibilidade de tratar um nmero qualquer como
uma unidade provisria que se acrescenta a si mesma, in-
versamente, as unidades so, por sua vez, verdadeiros n-
meros, to grandes quanto se queira, mas que se considera
como provisoriamente indecomponveis para comp-los
entre si. Ora, justamente porque se admite a possibilidade
de dividir a unidade em tantas partes quanto se queira que
esta considerada como extensa,,48.
Inversamente, o que uma multiplicidade qualitativa? O que o
sujeito, ou o subjetivo? Bergson d o seguinte exemplo: "Um sentimento
complexo conter um nmero bem grande de elementos mais simples;
mas, enquanto esses elementos no se destacarem com uma nitidez per-
feita, no se poder dizer que eles estavam inteiramente realizados, e,
desde que a conscincia tenha deles uma percepo distinta, o estado
psquico que resulta de sua sntese ter, por isso mesmo, mudado,,49.
(Por exemplo, um complexo de amor e de dio se atualiza na conscin-
cia, mas o dio e o amor tornam-se conscientes em condies tais que
des diferem por natureza entre si, e diferem por natureza do complexo
inconsciente.) Portanto, seria um grande erro acreditar que a durao
fosse simplesmente o indivisvel, embora Bergson, por comodidade,
exprima-se freqentemente assim. Na [36] verdade, a durao divide-
se e no pra de dividir-se: eis por que ela uma multiplicidade. Mas
da no se divide sem mudar de natureza; muda de natureza, dividin-
do-se: eis por que ela uma multiplicidade no numrica, na qual, a
cada estgio da diviso, pode-se falar de "indivisveis"-. H outro sem
<. Bergson diz "multiplicao" (N. do T.).
48 DI, 55-56;60-61.
49 DI, 57; 62.
30
Bergsonismo A durao como dado imediato 31
que haja vrios; nmero somente em potncia
50
. Em outros termos, o
subjetivo, ou a durao, o virtual. Mais precisamente, o virtual
medida que se atualiza, que est em vias de atualizar-se, inseparvel do
movimento de sua atualizao, pois a atualizao se faz por diferen-
ciao, por linhas divergentes, e cria pelo seu movimento prprio ou-
tras tantas diferenas de natureza. Tudo atual em uma multiplicidade
numrica: nesta, nem tudo est "realizado", mas tudo nela atual, com-
portando ela relaes apenas entre atuais e to-somente diferenas de
grau. Ao contrrio, uma multiplicidade no numrica, pela qual sedefine
a durao ou a subjetividade, mergulha em outra dimenso, puramen-
te temporal e no mais espacial: ela vai do virtual a sua atualizao; ela
se atualiza, criando linhas de diferenciao que correspondem a suas
diferenas de natureza. Uma tal multiplicidade goza, essencialmente,
de trs propriedades: da continuidade, da heterogeneidade e da simpli-
cidade. Verdadeiramente, aqui no h qualquer dificuldade para Bergson
conciliar a heterogeneidade e a continuidade.
Esse texto de Os dados imediatos, no qual Bergson distingue o
subjetivo e o objetivo, parece-nos ainda mais importante por ser o pri-
meiro a introduzir indiretamente a noo de virtual, noo destinada
a ganhar uma importncia cada vez maior na filosofia [37J bergso-
niana
51
. Com efeito, como veremos, o mesmo autor que recusa o con-
50 DI, 81; 90.
5! O objetivo, com efeito, se define por partes que so percebidas atualmen-
te, no virtualmente (DI, 57; 63). Isso implica que o subjetivo, em troca, defina-se
pela virtualidade de suas partes. Retornemos, ento, ao texto: "Chamamos subje-
tivo o que parece inteira e adequadamente conhecido, objetivo o que conhecido
de tal maneira que uma multido sempre crescente de impresses novas poderia
substituir a idia que dele temos atualmente". Tomadas literalmente, essas defini-
es so estranhas. Em virtude do contexto, seramos at levados a invert-las, pois
no seria o objetivo (a matria) que, sendo sem virtualidade, teria um ser seme-
lhante ao seu "aparecer" e se encontraria, portanto, adequadamente conhecido?
E no seria o subjetivo aquilo que se poderia sempre dividir em partes de natureza
distinta, partes que ele s virtualmente conteria? Seramos quase levados a acredi-
tar em um erro de impresso. Mas os termos empregados por Bergson justificam-
se de um outro ponto de vista. No caso da durao subjetiva, as divises s valem
se efetuadas, isto , se atualizadas: "As partes de nossa durao coincidem com os
momentos sucessivos do ato que a divide ... e se nossa conscincia pode, em um
intervalo, desenredar determinado nmero de atos elementares, se ela interrompe
a diviso em alguma parte, tambm a se interrompe a divisibilidade" (MM, 341;
232). Portanto, pode-se dizer que a diviso nos d adequadamente, em cada um
ccito de possibilidade - reservando-lhe somente um uso em relao
,1matria e aos "sistemas fechados", mas sempre vendo a a fonte de
toda espcie de falsos problemas - tambm aquele que leva ao mais
alto ponto a noo de virtual, e que funda sobre ela toda uma filoso-
fia da memria e da vida.
Na noo de multiplicidade, o que muito importante a manei-
ra pela qual ela sedistingue de uma teoria do Uno e do Mltiplo. Anoo
de multiplicidade faz que evitemos pensar em termos de "Uno e Ml-
tiplo". Em filosofia, conhecemos muitas [38J teorias que combinam o
uno e o mltiplo. Elas tm em comum a pretenso de recompor o real
com idias gerais. Dizem-nos: o Eu uno (tese), mltiplo (anttese) e
, em seguida, a unidade do mltiplo (sntese). Ou, ento, dizem-nos:
o Uno j mltiplo, o Ser passa ao no-ser e produz o devir. As pgi-
nas em que Bergson denuncia esse movimento do pensamento abstra-
to esto entre as mais belas de sua obra: ele tem a impresso de que se
parte, em tal mtodo dialtico, de conceitos muito amplos, anlogos a
vestes muito folgadas
52
. O Uno em geral, o mltiplo em geral, o ser em
geral, o no-ser em geral. .. compe-se o real com abstratos; mas o que
vale uma dialtica que acredita poder reencontrar o real, quando com-
pensa a insuficincia de um conceito muito amplo ou muito geral ape-
lando ao conceito oposto, no menos amplo e geral? O concreto jamais
ser reencontrado, combinando-se a insuficincia de um conceito com
a insuficincia do seu oposto; no se reencontra o singular, corrigindo-
seuma generalidade por outra generalidade. - Ao dizer tudo isto, Berg-
son est pensando, evidentemente, em Hamelin, cujo Essai sur les l-
ments principaux de la reprsentation data de 1907. Mas tambm a
incompatibilidade do bergsonismo com o hegelianismo, e mesmo com
todo mtodo dialtico, que se manifesta em tais pginas. Na dialtica,
Bergson reprova o falso movimento, isto , um movimento do concei-
to abstrato, que s vai de um contrrio ao outro fora de impreciso53.
dos seus nveis, a natureza indivisvel da coisa, ao passo que, no caso da matria
objetiva, no h nem mesmo a necessidade de se efetuar a diviso. De antemo,
sabemos que ela possvel sem qualquer mudana na natureza da coisa. Nesse
sentido, se verdade que o objeto no contm outra coisa alm do que conhece-
mos, ele, entretanto, contm sempre mais (MM, 289; 164); portanto, ele no ade-
quadamente conhecido.
52 PM, 1408; 196-197.
53 Em contextos muito diversos, a denncia da dialtica hegeliana como falso
32 Bergsonismo A durao como dado imediato 33
[39] Mais uma vez, Bergson reencontra acentos platnicos. Plato
foi o primeiro a zombar daqueles que diziam: o Uno mltiplo e o mlti-
plo uno - o Ser no-ser etc. Em cada caso, ele perguntava quanto,
como, onde e quando. "Qual" unidade do mltiplo e "qual" mltiplo
do uno?54. Acombinao dos opostos nada nos diz, formando uma rede
to frouxa que deixa tudo escapar. s metforas de Plato, das quais
Bergson tanto gosta, referentes arte do corte, arte do bom cozinhei-
ro, correspondem as do prprio Bergson, que invocam o bom alfaiate
e as vestes feitas sob medida. assim que deve ser o conceito preciso.
"O que verdadeiramente importa filosofia saber
qual unidade, qual multiplicidade, qual realidade superior
ao uno e ao mltiplo abstratos a unidade mltipla da pes-
soa [...] Os conceitos ocorrem ordinariamente aos pares e
representam os dois contrrios. No h realidade concreta
em relao qual no se possa ter ao mesmo tempo duas
vises opostas e que, por conseguinte, no se subsuma aos
dois conceitos antagonistas. Donde uma tese e uma antte-
se que se procuraria conciliar logicamente, mas em vo, pela
razo muito simples de que jamais se far uma coisa com
conceitos, com pontos de vista [...] Se procuro analisar a
durao, isto , resolv-la em conceitos j prontos, sou obri-
gado, pela prpria natureza do conceito e da anlise, a ter
sobre a durao em geral duas vises opostas, com as quais,
em seguida, procurarei recomp-la. Esta combinao no
poder apresentar nem uma diversidade de grau e nem uma
variedade de formas: ela ou no . Direi, por exemplo, que
h, de um lado, multiplicidade de estados [40] de conscincia
sucessivos e, por outro lado, uma unidade que os liga. A du-
rao ser a sntese dessa unidade e dessa multiplicidade,
operao misteriosa, da qual no se v, repito, como com-
portaria nuanas ou graus,,55.
movimento, movimento abstrato, como incompreenso do movimento real, um
tema freqente em Kierkegaard, Feuerbach, Marx, Nietzsche.
54 Cf. Plato, Filebo. [14 d; 18 a-b, por ex.]
55 PM, 1409, 1416; 197,207. Esse texto est prximo daquele em que Pla-
to denuncia as facilidades da dialtica. Vimos que o mtodo bergsoniano de di-
Contra a dialtica, contra uma concepo geral dos contrrios
(o Uno e o Mltiplo), o que Bergson pede uma fina percepo da mul-
tiplicidade, uma fina percepo do "qual" e do "quanto", daquilo que
ele denomina "nuana" ou nmero em potncia. A durao ope-se
ao devir, precisamente porque ela uma multiplicidade, um tipo de
multiplicidade que no se deixa reduzir a uma combinao muito ampla
em que os contrrios, o Uno e o Mltiplo em geral, s coincidem com
a condio de serem apreendidos no ponto extremo de sua generali-
zao, esvaziados de toda "medida" e de toda substncia real. Essa
multiplicidade, que a durao, de modo algum se confunde com o
mltiplo, como tampouco sua simplicidade se confunde com o Uno.
Distinguem-se, freqentemente, duas formas do negativo: [41]
o negativo de simples limitao e o negativo de oposio. Alm dis-
so, assegura-se que a substituio da primeira forma pela segunda,
com Kant e os ps-kantianos, foi uma considervel revoluo em fi-
losofia. Mais notvel ainda que Bergson, em sua crtica do negati-
vo, denuncia igualmente uma forma e outra. Parece-lhe que ambas
implicam e do testemunho de uma mesma insuficincia. Com efei-
to, se considerarmos noes negativas, como as de desordem e de no-
ser, dar no mesmo conceb-las, a partir da ordem e do ser, como o
limite de uma "degradao", no intervalo da qual todas as coisas es-
tariam compreendidas (analiticamente), ou ento, em oposio or-
dem e ao ser, como foras que exerceriam sua potncia e se combi-
nariam com seu oposto para produzir (sinteticamente) todas as coi-
sas. Desse modo, a crtica de Bergson dupla, ao denunciar nas duas
formas do negativo uma mesma ignorncia das diferenas de nature-
za, diferenas que so substitudas, ora por "degradaes", ora por
oposies. O essencial do projeto de Bergson pensar as diferenas
viso de inspirao platnica. O ponto comum entre Bergson e Plato , com
efeito, a procura de um procedimento capaz de determinar, em cada caso, a "me-
dida", o "qual" e o "quanto". verdade que Plato pensava que uma dialtica
afinada pudesse satisfazer tais exigncias. Bergson, ao contrrio, estima que a dia-
ltica em geral, inclusive a de Plato, vale somente para o comeo da filosofia (e
da histria da filosofia): a dialtica passa ao largo de um verdadeiro mtodo de
diviso, e pode segmentar o real to-somente segundo articulaes totalmente for-
mais ou verbais. Cf. PM, 1321; 87: "Nada mais natural que a filosofia se tenha
contentado inicialmente com isso e tenha comeado como dialtica pura. Ela no
dispunha de outra coisa. Um Plato e um Aristteles adotam, como segmentao
da realidade, aquela que eles j encontram feita na linguagem ... ".
34
Bergsonismo
A durao como dado imediato 35
de natureza independentemente de toda forma de negao: h dife-
renas no ser e, todavia, nada h de negativo. que a negao impli-
ca sempre conceitos abstratos, demasiadamente gerais. Com efeito,
qual a raiz comum a toda negao? J o vimos: em vez de partir-
mos de uma diferena de natureza entre duas ordens, de uma diferen-
a de natureza entre dois seres, erigimos uma idia geral de ordem ou
de ser, que s podemos pensar em oposio a uma desordem geral, a
um no-ser em geral, ou ento colocamos a diferena como o ponto
de partida de uma degradao que nos leva desordem em geral, [42J
ao no-ser em geral. Seja como for, negligenciamos a questo das di-
ferenas de natureza: "qual" ordem, "qual" ser? Do mesmo modo,
negligenciamos a diferena de natureza entre os dois tipos de multi-
plicidade; ento, erigimos uma idia geral de Uno, que combinamos
com seu oposto, o Mltiplo em geral, para recompor todas as coisas
do ponto de vista da fora contrria do mltiplo ou da degradao
do Uno. Na verdade, a categoria de multiplicidade, com a diferen-
a de natureza que ela implica entre dois tipos, que nos permite de-
nunciar a mistificao de um pensamento que procede em termos de
Uno e de Mltiplo. Portanto, v-se como todos os aspectos crticos
da filosofia bergsoniana participam de um mesmo tema: crtica do ne-
gativo de limitao, do negativo de oposio, das idias gerais.
"Submetendo mesma anlise o conceito de movimento [...]"56.
Com efeito, como experincia fsica, o movimento, ele prprio, um
misto: de uma parte, o espao percorrido pelo mvel, que forma uma
multiplicidade numrica indefinidamente divisvel, da qual todas as
partes, reais ou possveis, so atuais e s diferem emgrau; de outra parte,
o movimento puro, que alterao, multiplicidade virtual qualitativa,
como a corrida de Aquiles, que se divide em passos, mas que muda de
natureza toda vez que se divide
57
. Bergson descobre que, sob o trasla-
do local, h [43J sempre um transporte de natureza outra. E aquilo que,
visto de fora, aparece como uma parte numrica componente da cor-
rida, to-somente, visto de dentro, um obstculo transposto.
56 DI, 74; 82.
57 Cf. um texto muito importante em EC, 757ss; 310 ss: "Todo movimen-
to articulado interiormente" etc.
Porm, ao duplicar a experincia psicolgica da durao com a
experincia fsica do movimento, um problema torna-se urgente. Do
ponto de vista da experincia psicolgica, a questo "as coisas exte-
riores duram?" permanecia indeterminada. Outrossim, em Os dados
Imediatos, Bergson invocava duas vezes uma "inexprimvel", uma
"incompreensvel" razo. - "Que existe da durao fora de ns?
Apenas o presente ou, se se quer, a simultaneidade. Sem dvida, as
coisas exteriores mudam, mas seus momentos s se sucedem para uma
conscincia que os rememore [...] Portanto, no preciso dizer que as
coisas exteriores duram, mas sobretudo que h nelas alguma inex-
primvel razo, em virtude da qual no poderamos consider-las em
momentos sucessivos da nossa durao sem constatar que elas muda-
ram". - "Se as coisas no duram como ns, deve haver nelas, pelo
menos, alguma incompreensvel razo que faz que os fenmenos pa-
ream suceder-se e no se desenrolarem todos ao mesmo tempo,,58.
Todavia, o livro Os dados imediatos j dispunha de uma anli-
se do movimento. Mas este era posto sobretudo como um "fato de
conscincia", implicando um sujeito consciente e que dura, confun-
dindo-se com a durao como experincia psicolgica. Somente
medida que o movimento vem a ser apreendido como pertencente
tanto s coisas quanto conscincia que ele deixar [44J de ser con-
fundido com a durao psicolgica; s ento, sobretudo, que esta
ter deslocado seu ponto de aplicao, com o que vem a ser necess-
ria uma participao direta das coisas na prpria durao. Se h qua-
lidades nas coisas, no menos que na conscincia, se h um movimen-
to de qualidades fora de mim, preciso que as coisas durem sua
maneira. preciso que a durao psicolgica seja to-somente um
caso bem determinado, uma abertura a uma durao ontolgica.
preciso que a ontologia seja possvel, pois a durao, desde o incio,
era definida como uma multiplicidade. Essa multiplicidade no iria,
graas ao movimento, confundir-se com o prprio ser? E, j que ela
dotada de propriedades muito especiais, em que sentido se dir que
h vrias duraes, em que sentido se dir que h uma s, em que
sentido se ultrapassar a alternativa ontolgica um-vrios? Ao mes-
mo tempo, um problema conexo adquire toda sua urgncia. Se as
coisas duram, ou se h durao nas coisas, preciso que a questo
58 DI, 148; 170 e 137; 157.
36
Bergsonismo A durao como dado imediato 37
do espao seja retomada em novas bases, pois ele no ser mais sim-
plesmente uma forma de exterioridade, uma espcie de tela que des-
natura a durao, uma impureza que vem turvar o puro, um relativo
que se ope ao absoluto; ser preciso que ele prprio seja fundado
nas coisas, nas relaes entre as coisas e entre as duraes, que tam-
bm ele pertena ao absoluto, que ele tenha uma "pureza". Vai ser
essa a dupla progresso da filosofia bergsoniana.
~.
A MEMRIA COMO COEXISTNCIA VIRTUAL
/45J
Essencialmente, a durao memria, conscincia, liberdade. Ela
conscincia e liberdade, porque memria em primeiro lugar. Ora,
essa identidade da memria com a prpria durao sempre apresen-
tada por Bergson de duas maneiras: "conservao e acumulao do
passado no presente". Ou ento: "seja porque o presente encerra dis-
tintamente a imagem sempre crescente do passado, seja sobretudo
porque ele, pela sua contnua mudana de qualidade, d testemunho
da carga cada vez mais pesada que algum carrega em suas costas
medida que vai cada vez mais envelhecendo". Ou ainda, "a memria
sob estas duas (ormas: por recobrir com uma capa de lembranas um
fundo de percepo imediata; e por contrair tambm uma multiplici-
dade de momentos,,59. Com efeito, devemos exprimir de duas manei-
ras o modo pelo qual a durao se distingue de uma srie descontnua
de instantes que se repetiriam idnticos a si mesmos: de uma [46J par-
te, "o momento seguinte contm sempre, alm do precedente, a lem-
brana do que este lhe deixou"60; de outra parte, os dois momentos
se contraem ou se condensam um no outro, pois um no desapareceu
ainda quando o outro aparece. H, portanto, duas memrias, ou dois
aspectos da memria, indissoluvelmente ligados, a memria-lembrana
e a memria-contrao. (Seperguntarmos, finalmente, pela razo dessa
dualidade na durao, ns a encontraremos sem dvida em um movi-
mento que estudaremos mais tarde, um movimento pelo qual o "pre-
sente" que dura se divide a cada "instante" em duas direes, uma
orientada e dilatada em direo ao passado, a outra contrada, con-
traindo-se em direo ao futuro.)
59 ES, 818, 5. PM, 1411; 201. MM, 184; 31. Fomos ns que sublinhamos
em cada um destes textos. No se deve confundir essas duas formas da memria
com aquelas de que fala Bergson no incio do capo II de MM (225; 83); de modo
algum se trata do mesmo princpio de distino. Cf. p. 66, m. 2.
60 PM, 1398; 183.
38 Bergsonismo
A memria como coexistncia virtual 39
Mas a durao pura , ela prpria, o resultado de uma diviso
de "direito". certo dizer que a memria idntica durao, que
ela coextensiva durao, mas tal proposio vale mais de direito
do que de fato. O problema particular da memria este: como, por
meio de qual mecanismo, a durao se torna memria de fato? Como
se atualiza o que de direito? Do mesmo modo, Bergson mostrar que
a conscincia , de direito, coextensiva vida; mas como, em que con-
dies, a vida se torna, de fato, conscincia de si?61.
Retomemos a anlise do primeiro captulo de Matria e mem-
ria. Somos levados a distinguir cinco sentidos, ou cinco aspectos, da
subjetividade: 1 a subjetividade-necessidade, momento da negao (a
necessidade esburaca a continuidade das coisas e retm, do objeto, tudo
o que lhe interessa, [47] deixando passar o resto); 2 a subjetividade-
crebro, momento do intervalo ou da indeterminao (o crebro nos
d o meio de "escolher", no objeto, aquilo que corresponde s nossas
necessidades; introduzindo um intervalo entre o movimento recebido
e o movimento executado, o prprio crebro , de duas maneiras, es-
colha: porque, em si mesmo, em virtude de suas vias nervosas, ele di-
vide ao infinito a excitao; e tambm porque, em relao s clulas
motrizes da medula, ele nos deixa a escolha entre vrias reaes pos-
sveis); 3 a subjetividade-afeco, momento da dor (pois a afeco
o tributo do crebro, ou da percepo consciente; a percepo no
reflete a ao possvel, o crebro no assegura o "intervalo", sem que
'certas partes orgnicas sejam destinadas imobilidade de um papel
puramente receptivo, que as expe dor); 4 a subjetividade-lembrana,
primeiro aspecto da memria (sendo a lembrana aquilo que vem ocu-
par o intervalo, que vem encarnar-se ou atualizar-se no intervalo pro-
priamente cerebral); 5 a subjetividade-contrao, segundo aspecto da
memria (sendo o corpo tanto um instante punctiforme no tempo
quanto um ponto matemtico no espao, e assegurando uma contra-
o de excitaes sofridas, de onde nasce a qualidade).
Ora, esses cinco aspectos no se organizam somente em uma
ordem de profundidade crescente, mas se distribuem sobre duas linhas
de fatos muito diferentes. O primeiro captulo de Matria e memria
61 Cf. ES, 820; 8.
tem o propsito de decompor um misto (a Representao) em duas
direes divergentes: matria e memria, percepo e lembrana, ob-
jetivo e subjetivo - cf. as duas multiplicidades de Os dados imedia-
tos. Sobre os cinco aspectos da subjetividade, vemos que os dois pri-
meiros participam evidentemente da linha objetiva, pois um se con-
tenta em subtrair algo do [48] objeto e, o outro, em instaurar uma zona
de indeterminao. O caso da afeco, terceiro sentido, mais com-
plexo; sem dvida, depende do cruzamento das duas linhas. Mas a
positividade da afeco, por sua vez, no ainda a presena de uma
pura subjetividade que se oporia objetividade pura; sobretudo a
"impureza" que vem turvar esta
62
. - O que corresponde linha pura
da subjetividade , portanto, o quarto sentido, assim como o quinto
sentido. S os dois aspectos da memria significam formalmente a
subjetividade, ao passo que as outras acepes se contentam em pre-
parar ou assegurar a insero de uma linha na outra, o cruzamento
de uma linha com a outra.
* ~l- *
A questo: onde as lembranas se conservam? implica um falso
problema, isto , um misto mal analisado. Procede-se como se as lem-
branas tivessem de se conservar em alguma parte, como se o crebro,
por exemplo, fosse capaz de conserv-las. Mas o crebro est por in-
teiro na linha de objetividade: ele no pode ter qualquer diferena de
natureza com os outros estados da matria; tudo movimento nele,
como na percepo pura que ele determina. (Alm disso, o termo mo-
vimento no deve, evidentemente, ser entendido como movimento que
dura, mas, contrariamente, como um "corte instantneo" .)63A lem-
brana faz parte, ao contrrio, da linha de subjetividade. absurdo
misturar as duas linhas, concebendo o crebro como reservatrio ou
substrato das lembranas. Mais ainda, o exame [49] da segunda linha
bastaria para mostrar que as lembranas s podem se conservar "na"
durao. Portanto, em si que a lembrana se conserva. "Damo-nos
conta de que a experincia interna em estado puro, proporcionando-
nos uma substncia cuja essncia durar e, por cons'eguinte, prolon-
gar incessantemente no presente um passado indestrutvel, nos havia
62 Cf. MM, 206; 59.
63 MM, 223; 81.
40 Bergsonismo A memria como coexistncia virtual 41
,dispensado e at mesmo impedido de buscar onde a lembrana est
conservada. Ela prpria conserva a si mesma [... ]"64. No temos, alis,
qualquer interesse em supor uma conservao do passado em outro
lugar, no crebro, por exemplo, do que em si mesmo; seria preciso que
conferssemos a um estado da matria, ou mesmo matria inteira,
d d
- , d 'd - 65
esse po er e conservaao que tenamos recusa o a uraao .
Aproximamo-nos, aqui, de um dos aspectos mais profundos e,
at mesmo, talvez, dos menos compreendidos do bergsonismo: a teo-
ria da memria. Entre a matria e a memria, entre a percepo pura
e a lembrana pura, entre o presente e o passado, deve haver uma di-
ferena de natureza, como entre as duas linhas distinguidas anterior-
mente. Se temos tanta dificuldade em pensar uma sobrevivncia em si
do passado, porque acreditamos que o passado j no , que ele
deixou de ser. Confundimos, ento, o Ser com o ser-presente. Toda-
via, o presente no ; ele seria sobretudo puro devir, sempre fora de
si. Ele no , mas age. Seu elemento prprio no o ser, mas o ativo
ou o til. Do passado, ao contrrio, preciso dizer que ele deixou de
agir ou de ser-til. Mas ele {50] no deixou de ser. Intil e inativo,
impassvel, ele , no sentido pleno da palavra: ele se confunde com o
ser em si. No se trata de dizer que ele "era", pois ele o em-si do ser
e a forma sob a qual o ser se conserva em si (por oposio ao presen-
te, que a forma sob a qual o ser se consome e se pe fora de si). No
limite, as determinaes ordinrias se intercambiam: do presente que
preciso dizer a cada instante, que ele "era" e, do passado, preciso
, ,
dizer que ele "", que ele eternamente, o tempo todo. - E essa a
diferena de natureza entre o passado e o present
6
. Mas esse primeiro
aspecto da teoria bergsoniana perderia todo sentido se no destacs-
semos seu alcance extrapsicolgico. O que Bergson denomina "lem-
brana pura" no tem qualquer existncia psicolgica. Eis porque ela
dita virtual, inativa e inconsciente. Todas essas palavras so perigo-
64 PM, 1315; 80.
65 MM, 290; 165-166.
66 Todavia, em outra ocasio, Bergson afirmava que s havia uma diferen-
a de grau entre o ser e o ser til: com efeito, a percepo s se distingue do seu
objeto porque ela retm dele to-somente o que nos til (cf. MM, capo I); h mais
no objeto do que na percepo, mas nada h nele que seja de outra natureza. -
Mas, neste caso, o ser somente o da matria ou do objeto percebido; logo, um
ser presente, que s em grau se trata de distinguir do til.
sas, sobretudo a palavra "inconsciente", que, desde Freud, parece-nos
inseparvel de uma existncia psicolgica singularmente eficaz e ativa.
Teramos de confrontar o inconsciente freudiano e o inconsciente berg-
soniano, pois que Bergson, ele prprio, faz a aproxima0
67
. Entre-
tanto, devemos compreender desde j que Bergson no emprega a
palavra "inconsciente" para designar uma realidade psicolgica fora
da conscincia, mas para designar uma realidade no psicolgica -
o ser tal como ele em si. {51] Rigorosamente falando, o psicolgico
o presente. S o presente "psicolgico"; mas o passado a ontologia
pura, a lembrana pura, que tem significao to-somente ontolgica
68
.
Citemos um texto admirvel, no qual Bergson resume toda sua
teoria: quando buscamos uma lembrana que nos escapa, "temos cons-
cincia de um ato sui generis, pelo qual nos destacamos do presente
para nos colocarmos, inicialmente, no passado em geral, depois em
certa regio do passado: um trabalho tateante, anlogo prepara-
o de um aparelho fotogrfico. Mas nossa lembrana permanece ainda
em estado virtual; dispomo-nos, assim, a simplesmente receb-la, ado-
tando a atitude apropriada. Pouco a pouco, ela aparece como uma
nebulosidade que viria condensar-se; de virtual, ela passa ao estado
atual [... ]"69. Tambm nesse caso, convm evitar uma interpretao
muito psicolgica do texto. certo que Bergson fala em ato psicol-
gico, mas, se esse ato sui generis, porque ele consiste em dar um
verdadeiro salto. Instalamo-nos de sbito no passado, saltamos no
passado como em um elemento prpri0
70
Assim como no percebe-
mos as coisas em ns mesmos, mas ali onde elas esto, s apreende-
mos o passado ali onde ele est, em si mesmo, no em ns, em nosso
presente. H, portanto, um "passado em geral", que no o passado
particular de tal ou {52] qual presente, mas que como que um ele-
mento ontolgico, um passado eterno e desde sempre, condio para
a "passagem" de todo presente particular. o passado em geral que
67 PM, 1316; 81.
68 Esse aspecto profundamente analisado por Jean Hyppolite, que denun-
cia as interpretaes "psicologistas" de Matria e memria: cf. "Du bergsonisme
l'existentialisme", Mercure de France, julho de 1949; e "Aspects divers de la
mmoire chez Bergson", Revue Internationale de Philosophie, outubro de 1949.
69 MM, 276-277; 148.
70 A expresso "de sbito" freqente nos captulos 11e III de MM.
42
Bergsonismo A memria como coexistncia virtual 43
,torna possveis todos os passados. Colocamo-nos inicialmente, diz
Bergson, no passado em geral: o que ele assim descreve o salto na
ontologia. Saltamos realmente no ser, no ser em si, no ser em si do
passado. Trata-se de sair da psicologia; trata-se de uma Memria ime-
marial ou ontolgica. somente em seguida, uma vez dado o salto,
que a lembrana vai ganhar pouco a pouco uma existncia psicolgi-
ca: "de virtual, ela passa ao estado atual [...]". Fomos busc-la ali onde
ela est, no Ser impassvel, e damos-lhe pouco a pouco uma encarna-
o, uma "psicologizao".
Deve-se sublinhar o paralelismo de outros textos com esse. Com
efeito, Bergson analisa a linguagem do mesmo modo como analisou a
memria. A maneira pela qual compreendemos o que nos dito idn-
tica quela pela qual buscamos uma lembrana. Longe de recompor
o sentido a partir de sons ouvidos e de imagens associadas, instalamo-
nos de sbito no elemento do sentido e, depois, em certa regio desse
elemento. Verdadeiro salto no Ser. somente em seguida que o senti-
do se atualiza nos sons fisiologicamente percebidos e nas imagens psi-
cologicamente associadas a esses sons. H, nesse caso, como que uma
transcendncia do sentido e um fundamento ontolgico da linguagem,
que so, como veremos, tanto mais importantes por tratar-se de um
autor que fez da linguagem uma crtica tida como muito sumria 71.
{53] preciso instalar-se de sbito no passado - como em um salto,
em um pulo. Tambm nesse caso, a idia de um "salto" quase kier-
kegaardiano estranha em um filsofo conhecido por amar tanto a
continuidade. Que significa essa idia de um salto? Bergson no pra
de dizer: jamais vocs recomporo o passado com presentes, sejam
quais forem eles - "a imagem pura e simples s me reportar ao pas-
sado se foi efetivamente no passado que fui busc-Ia"n. verdade que
o passado nos aparece como cunha entre dois presentes, o antigo pre-
sente que ele foi e o atual presente, em relao ao qual ele passado.
Donde duas falsas crenas: de um lado, acreditamos que o passado
como tal s se constitui aps ter sido presente; por outro lado, acredi-
tamos que ele , de algum modo, reconstitudo pelo novo presente, do
qual ele agora passado. Essa dupla iluso encontra-se no mago de
71 MM, 261; 129: "O ouvinte coloca-se de sbito entre as idias correspon-
dentes ... ".
72 MM, 278; 150.
todas as teorias fisiolgicas e psicolgicas da memria. Sob sua influn-
cia, supe-se que s haja uma diferena de grau entre a lembrana e a
percepo. Instalamo-nos em um misto mal analisado. Esse misto a
imagem como realidade psicolgica. Com efeito, a imagem retm algo
das regies nas quais fomos buscar a lembrana que ela atualiza ou
que ela encarna; mas essa lembrana, precisamente, no atualizada
pela imagem sem que esta a adapte s exigncias do presente, fazen-
do dela algo de presente. Assim, a diferena de natureza entre o pre-
sente e o passado, entre a percepo pura e a memria pura, por ns
substituda por simples diferenas de grau entre imagens-lembranas
e percepes-imagens.
Temos, em demasia, o hbito de pensar em termos de "presen-
te". Acreditamos que um presente s passa {54] quando um outro
presente o substitui. Reflitamos, porm: como adviria um novo pre-
sente, se o antigo presente no passasse ao mesmo tempo em que
presente? Como um presente qualquer passaria, se ele no fosse pas-
sado ao mesmo tempo que presente? O passado jamais se constitui-
ria, se ele j no tivesse se constitudo inicialmente, ao mesmo tempo
em que foi presente. H a como que uma posio fundamental do
tempo, e tambm o mais profundo paradoxo da memria: o passado
"contemporneo" do presente que ele (oi. Se o passado tivesse que
aguardar para j no ser, se ele no fosse "passado em geral", desde
j e agora que se passou, ele jamais poderia vir a ser o que , ele ja-
mais seria este passado. Se ele no se constitusse imediatamente, ele
no poderia ser depois reconstitudo a partir de um presente ulterior.
O passado jamais se constituiria se ele no coexistisse com o presente
do qual ele o passado 73. O passado e o presente no designam dois
momentos sucessivos, mas dois elementos que coexistem: um, que o
presente e que no pra de passar; o outro, que o passado e que no
pra de ser, mas pelo qual todos os presentes passam. nesse sentido
que h um passado puro, uma espcie de "passado em geral": o pas-
73 Cf. ES, 913, 914; 130, 131: "Para ns, a formao da lembrana nunca
posterior da percepo; ela contempornea desta [... ] supomos, com efeito,
que a lembrana no se cria ao longo da prpria percepo: pergunto em que
momento ela nascer [... ] Quanto mais refletirmos nisto, menos compreenderemos
que a lembrana possa nascer se ela no se criar ao mesmo tempo que a prpria
percepo [... ]".
44 Bergsonismo A memria como coexistncia virtual 45
~ado no segue o presente, mas, ao contrrio, suposto por este como
a condio pura sem a qual este no passaria. Em outros termos, cada
presente remete a si mesmo como passado. Uma tese como esta {55]
s tem como equivalente a tese da Reminiscncia, de Plato. Tambm
esta afirma um ser puro do passado, um ser em si do passado, uma
Memria ontolgica capaz de servir de fundamento ao desenrolar do
tempo. Uma vez mais se faz sentir, profundamente, uma inspirao
platnica em Bergson
74
.
A idia de uma contemporaneidade do presente e do passado tem
uma ltima conseqncia. O passado no s coexiste com o presente
que ele foi, mas - como ele se conserva em si (ao passo que o presen-
te passa) - o passado inteiro, integral, todo o nosso passado que
coexiste com cada presente. A clebre metfora do cone representa esse
estado completo de coexistncia. Mas um tal estado implica, enfim,
que figure no prprio passado toda sorte de nveis em profundidade,
marcando todos os intervalos nessa coexistncia
75
. O passado AB
coexiste com o presente S, mas comportando em si todos os pares A'B',
A"B" etc., que medem os graus de uma aproximao ou de um dis-
tanciamento puramente ideais em relao a S. Cada um desses pares
, ele prprio, virtual, pertencente ao ser em si do passad0
76
. Cada um
desses pares, ou cada um desses nveis, compreende no tais ou quais
elementos do passado, mas sempre a totalidade do passado. Ele sim-
plesmente {56] compreende essa totalidade em um nvel mais ou me-
nos dilatado, mais ou menos contrado. Eis, portanto, o ponto exato
em que a Memria-contrao inscreve-se na Memria-lembrana e,
de algum modo, assegura-lhe a continuidade. Donde, precisamente,
esta conseqncia: a durao bergsoniana define-se, finalmente, me-
nos pela sucesso do que pela coexistncia.
74 este tambm o ponto que comportaria uma comparao entre Bergson
e Proust. Suas concepes do tempo so extremamente diferentes, mas ambos
admitem uma espcie de passado puro, um ser em si do passado. verdade que,
segundo Proust, este ser em si pode ser vivido, experimentado a favor de uma co-
incidncia entre dois instantes do tempo. Mas, de acordo com Bergson, a lembrana
pura ou o passado puro no so do domnio do vivido: mesmo na paramnsia
vivemos to-somente uma imagem-lembrana.
75 A metfora do cone foi primeiramente introduzida em MM, 293; 169; as
sees do cone aparecem em MM, 302; 181.
76 MM, 371; 272.
Em Os dados imediatos, a durao define-se, realmente, pela
sucesso, sendo que as coexistncias remetem ao espao - e, pela
potncia de novidade, a repetio remete Matria. Porm, mais pro-
fundamente, s de modo relativo a durao sucesso (vimos tambm
que s relativamente ela indivisvel). A durao certamente suces-
so real, mas ela s isso porque, mais profundamente, ela coexis-
tncia virtual: coexistncia consigo de todos os nveis, de todas as ten-
ses, de todos os graus de contrao e de distenso. Alm disso, com
a coexistncia preciso reintroduzir a repetio na durao. Repeti-
o "psquica" de um tipo totalmente distinto da repetio "fsica"
da matria. Repetio de "planos", em vez de ser uma repetio de
elementos sobre um s e mesmo plano. Repetio virtual, em vez de
ser atual. Todo nosso passado se lana e se retoma de uma s vez,
repete-se ao mesmo tempo em todos os nveis que ele traa
77
Re-
tornemos ao "salto" que damos quando, procurando uma lembran-
a, instalamo-nos de sbito no passado. Bergson precisa: recolocamo-
nos, "primeiramente, no passado em geral, depois em uma certa re-
gio do passado". No se trata de uma regio que conteria tais ele-
mentos do passado, tais lembranas, em oposio {57] a uma outra
regio, que conteria outros elementos e lembranas. Trata-se de nveis
distintos, cada um deles contendo todo nosso passado, mas em um
estado mais ou menos contrado. nesse sentido que h regies do
prprio Ser, regies ontolgicas do passado "em geral", todas coexis-
tentes, todas "repetindo-se" umas as outras.
Veremos como essa doutrina relana todos os problemas do berg-
sonismo. Por enquanto, basta resumir as quatro grandes proposies
que formam outros tantos paradoxos: 1 colocamo-nos de sbito, de
um salto, no elemento ontolgico do passado (paradoxo do salto); 2
h uma diferena de natureza entre o presente e o passado (paradoxo
do Ser); 3 o passado no sucede ao presente que ele foi, mas coexiste
com ele (paradoxo da contemporaneidade); 4 o que coexiste com cada
presente todo o passado, integralmente, em nveis diversos de con-
trao e de distenso (paradoxo da repetio psquica). - Esses pa-
radoxos se encadeiam; cada um exige os outros. Inversamente, as pro-
posies que eles denunciam tambm formam um conjunto caracte-
rstico das teorias ordinrias da memria. Com efeito, uma s e mes-
77 Sobre essa repetio metafsica, cf. MM, 250; 115 e 302; 181.
46
Bergsonismo
A memria como coexistncia virtual 47
IlJ.il iluso sobre a essncia do Tempo, um mesmo misto mal analisa-
do, o que nos leva a acreditar: que podemos recompor o passado com
o presente; que passamos gradualmente de um ao outro; que um e outro
se distinguem pelo antes e pelo depois; e que o trabalho do esprito se
faz por adjuno de elementos (em vez de se fazer por mudanas de
nveis, verdadeiros saltos, remanejamentos de sistemas) 78.
;} * *
[58J Eis agora nosso problema: como vai a lembrana pura ad-
quirir uma existncia psicolgica? - como vai esse puro virtual atua-
lizar-se? Impe-se a pergunta, pois um apelo parte do presente, de acor-
do com exigncias ou necessidades da situao presente. Damos o "sal-
to": instalamo-nos no s no elemento do passado em geral, mas em
tal ou qual regio, isto , em tal ou qual nvel, que, em uma espcie de
Reminiscncia, supomos corresponder s nossas necessidades atuais.
Cada nvel, com efeito, compreende a totalidade do nosso passado, mas
em um estado mais ou menos contrado. Bergson acrescenta: h tam-
bm lembranas dominantes, que so como pontos notveis, variveis
de um nvel a outro
79
. Uma palavra inglesa pronunciada diante de
mim: em virtude da situao, no a mesma coisa ter de me pergun-
tar qual pode ser a lngua em geral da qual faz parte essa palavra, ou
perguntar que pessoa me disse anteriormente essa palavra ou uma se-
melhante. Conforme o caso, no salto na mesma regio do passado,
no me instalo no mesmo nvel, no solicito as mesmas dominantes.
Pode ocorrer que eu fracasse: buscando uma lembrana, instalo-me em
um nvel muito contrado, muito estreito ou, ao contrrio, muito amplo
e dilatado para ela. Terei de refazer tudo para encontrar o justo salto.
78 Cf. MM, 249-250; 114. Bergson mostra muito bem como acreditamos ne-
cessariamente que o passado sucede ao presente desde que, entre os dois, estabe-
leamos apenas uma diferena de grau: cf. ES, 914; 132 ("Definindose a percep-
o por um estado forte e a lembrana por um estado fraco, a lembrana de uma
percepo s pode ser, ento, uma percepo enfraquecida; neste caso, para regis-
trar uma percepo no inconsciente, a memria teve de esperar que a percepo
adormecesse em lembrana. Eis por que julgamos que a lembrana de uma per-
cepo no poderia ser criada com tal percepo e nem desenvolver-se ao mesmo
tempo que ela").
79 MM, 309-310; 190.
- Insistamos [59J nisto: essa anlise, que parece comportar uma grande
fineza psicolgica, tem, realmente, um sentido totalmente distinto. Ela
incide sobre nossa afinidade com o ser, sobre nossa relao com o Ser
e sobre a variedade dessa relao. A conscincia psicolgica no nas-
ceu ainda. Ela vai nascer, mas justamente por encontrar aqui suas
condies propriamente ontolgicas.
Diante de textos extremamente difceis, a tarefa do comentador
multiplicar as distines, mesmo e sobretudo quando tais textos
contentam-se em sugeri-las mais do que em estabelec-las formalmente.
Em primeiro lugar, no devemos confundir a invocao lembrana
com a "evocao da imagem". A invocao lembrana esse salto
pelo qual instalo-me no virtual, no passado, em certa regio do pas-
sado, em tal ou qual nvel de contrao. Acreditamos que essa invo-
cao exprima a dimenso propriamente ontolgica do homem, ou
melhor, da memria. "Mas nossa lembrana permanece ainda em es-
tado virtual... ,,80. Quando, ao contrrio, falamos de revivescncia, de
evocao da imagem, trata-se de algo totalmente distinto: uma vez que
nos tenhamos instalado em determinado nvel, no qual jazem as lem-
branas, ento, e somente ento, estas tendem a se atualizar. Sob a
invocao do presente, as lembranas j no tm a ineficcia, a im-
passibilidade que as caracterizavam como lembranas puras; elas se
tornam imagens-lembranas, passveis de serem "evocadas". Elas se
atualizam ou se encarnam. Essa atualizao tem toda sorte de aspec-
tos, de etapas e de graus distintos
81
. Mas, atravs dessas etapas e des-
ses graus, a atualizao (e somente ela) que constitui a conscincia
[60J psicolgica. De qualquer maneira, v-se a revoluo bergsoniana:
no vamos do presente ao passado, da percepo lembrana, mas
do passado ao presente, da lembrana percepo.
"A memria integral responde invocao de um estado presente
por meio de dois movimentos simultneos: um de translao, pelo qual
ela se pe inteira diante da experincia e, assim, se contrai mais ou
menos, sem dividir-se, em vista da ao; o outro, de rotao sobre si
mesma, pelo qual ela se orienta em direo situao do momento
para apresentar-lhe a face mais til,,82. J se tem a,. portanto, dois
80 MM, 277; 148.
8! MM, 274-275; 145.
82 MM, 307-308; 188 (sublinhado por ns).
48 Bergsonismo A memria como coexistncia virtual 49
aspectos da atualizao: a contrao-translao e a orientao-rota-
o. Nossa questo a seguinte: seria possvel confundir essa contra-
o-translao com a contrao varivel das regies e nveis do pas-
sado, de que falvamos h pouco? O contexto em que se insere essa
frase de Bergson parece convidar-nos a dar uma resposta afirmativa,
pois a constantemente lembrada a contrao-translao a propsi-
to dos cortes do cone, isto , dos nveis do passado
83
. Todavia, razes
de toda sorte nos persuadem de que, embora haja, evidentemente, uma
relao entre as duas contraes, estas no so de modo algum con-
fundidas. - Quando Bergson fala em nveis ou regies do passado,
esses nveis so to virtuais quanto o passado em geral; mais ainda,
cada um deles contm todo o passado, mas em um estado mais ou
menos contrado, em torno de certas lembranas dominantes variveis.
A contrao maior ou menor exprime, pois, a diferena de um nvel a
outro. - Quando Bergson, ao contrrio, fala em translao, trata-se
de um {61] movimento necessrio na atualizao de uma lembrana
apanhada em tal ou qual nvel. Aqui, a contrao j no mais expri-
me a diferena ontolgica entre dois nveis virtuais, mas o movimen-
to pelo qual a lembrana se atualiza (psicologicamente), ao mesmo
tempo em que se atualiza o nvel que lhe prprio
84
.
Seria um contra-senso, com efeito, acreditar que uma lembrana,
para atualizar-se, devesse passar por nveis cada vez mais contrados, a
fim de aproximar-se do presente como ponto de contrao supremo ou
vrtice do cone. Seria uma interpretao insustentvel, por vrias razes.
Na metfora do cone, um nvel at mesmo muito contrado, demasia-
do prximo do vrtice, no deixa de apresentar, enquanto no est
atualizado, uma verdadeira diferena de natureza com esse vrtice, isto
, com o presente. E, sobretudo para atualizar uma lembrana, no temos
de mudar de nvel; se devssemos faz-lo, a operao da memria seria
impossvel, pois cada lembrana tem seu nvel, que lhe prprio, sen-
do ela mais desmembrada ou espargida nas regies mais amplas e mais
83 O que acontece no prprio texto que acabamos de citar.
84 Com efeito, o nvel deve ser atualizado, tanto quanto a lembrana de que
ele portador. Cf. MM, 371; 272: "Estes planos no so dados, alis, como coi-
sas j prontas, superpostas umas s outras. Eles, sobretudo, existem virtualmente;
tm uma existncia que prpria das coisas do esprito. A inteligncia, movendo-
se a todo momento ao longo do intervalo que os separa, reencontra-os ou, sobre-
tudo, cria-os de novo sem cessar [... ]".
llelgada e confundida nas regies mais estreitas. Sefosse preciso passar
de umnvel a outro para atualizar cada lembrana, ento cada lembrana
perderia, portanto, sua individualidade. Eis por que o movimento de
translao um movimento pelo qual a lembrana se atualiza ao mesmo
tempo que seu {62] nvel: h contrao, porque a lembrana, tornan-
do-se imagem, entra em "coalescncia" com o presente. Ela passa, por-
tanto, por "planos de conscincia" que a efetuam. Mas de modo algum
a lembrana passa por nveis intermedirios (que a impediriam, preci-
samente, de efetuar-se). Donde a necessidade de no confundir os planos
de conscincia, atravs dos quais a lembrana se atualiza, e as regies,
os cortes ou os nveis do passado, de acordo com os quais varia o esta-
do da lembrana, sempre virtual. Donde a necessidade de distinguir a
contrao ontolgica intensiva, emque todos os nveis coexistem virtual-
mente, contrados ou distendidos, e a contrao psicolgica, translativa,
pela qual cada lembrana, em seu nvel (por mais distendido que seja),
deve passar para atualizar-se e tornar-se imagem.
Mas, por outro lado, diz Bergson, h a rotao. Em seu processo
de atualizao, a lembrana no se contenta em operar essa translao
que a une ao presente; ela opera tambm a rotao sobre si mesma para
apresentar, nessa unio, sua "face til". Bergson no precisa a nature-
za dessa rotao. Devemos fazer hipteses a partir de outros textos. -
No movimento de translao, portanto, todo um nvel do passado que
seatualiza, ao mesmo tempo que determinada lembrana. Desse modo,
o nvel todo acha-se contrado em uma representao indivisa, que j
no uma lembrana pura, mas que no ainda, propriamente falan-
do uma imagem. Eis por que Bergson precisa que, desse ponto de vis-
ta 'no h diviso ainda
85
. Semdvida, a lembrana tem sua individu-
alidade. Mas como que tomamos conscincia dela, como a distingui-
mos na regio que se atualiza com ela? Partimos dessa representao
{63] no dividida (que Bergson denominar "esquema dinmico"), na
qual todas as lembranas em vias de atualizao esto em uma relao
de penetrao recproca, e a desenvolvemos em imagens distintas, ~~-
teriores umas s outras, que correspondem a tal ou qual lembrana .
85 MM, 308; 188 ("sem se dividir. .. ").
86 ES, 936, 938; 161, 163. Da a metfora da pirmide para figurar o es-
quema dinmico: "Descer-se- de novo do vrtice da pirmide em .direo base
[...]" claro, aqui, que a pirmide muito diferente do cone ~ ~eslgna um movI-
mento totalmente distinto, orientado de maneira totalmente dlstmta. TodaVia, em
50 Bergsonismo A memria como coexistncia virtual
51
Tambm a Bergson fala de uma sucesso de "planos de conscincia".
Mas o movimento no mais aquele de uma contrao indivisa; , ao
contrrio, o de uma diviso, de um desenvolvimento, de uma expan-
so. A lembrana s pode ser dita atualizada quando se torna imagem.
ento, com efeito, que ela entra no s em "coalescncia", mas em
uma espcie de circuito com o presente, a imagem-lembrana, que re-
mete imagem-percepo, e inversamente
87
. Da a metfora precedente
da "rotao", que prepara essa entrada em circuito.
Eis, portanto, dois movimentos de atualizao, um de contrao,
um de expanso. Vemos bem que eles correspondem singularmente aos
nveis mltiplos do cone, uns contrados, outros distendidos. Com
efeito, que sucede a uma criatura que se contenta em sonhar? Sendo o
sono como que uma situao presente, que s tem como exigncia o
repouso, nenhum outro interesse que o "desinteresse", tudo se passa
como se a contrao faltasse, como se a relao extremamente disten-
dida da lembrana com o presente reproduzisse [64] o mais distendido
nvel do prprio passado. Inversamente, o que sucederia com um au-
tmato? Tudo se passaria como se a disperso se tornasse impossvel,
como se a distenso das imagens no mais se efetuasse e que s sub-
sistisse o mais contrado nvel do passad0
88
. H, portanto, uma estreita
analogia entre os diferentes nveis do cone e os aspectos de atualiza-
o para cada nvel. inevitvel que estes venham recobrir aqueles
(donde a ambigidade assinalada antes). Todavia, no devemos con-
fundi-los, porque o primeiro tema concernente s variaes virtuais
da lembrana em si, ao passo que o outro, a lembrana para ns,
concernente atualizao da lembrana em imagem-lembrana.
Qual o quadro comum entre a lembrana em vias de atualiza-
o (a lembrana tornando-se imagem) e a imagem-percepo? Esse
quadro comum o movimento. Alm disso, na relao da imagem
com o movimento, na maneira pela qual a imagem se prolonga em
movimento, que se devem encontrar os ltimos momentos da atuali-
zao: "para se atualizarem, as lembranas tm necessidade de um
outro texto (ES, 886; 95), Bergson evoca a pirmide como sinnimo do cone; a
razo disto est na ambigidade assinalada acima (p. 50, n. 83, onde se l: o que
acontece no prprio texto que acabamos de citar).
87 MM, 249-250; 114-115.
88 Sobre estes dois extremos, MM, 294; 170.
coadjuvante motor,,89. Tambm a esse coadjuvante duplo. - Pri-
meiramente, a percepo se prolonga naturalmente em movimento;
uma tendncia motora, um esquema motor opera uma decomposio
do percebido em funo da utilidade
90
. Por si s essa relao [65] per-
cepo-movimento bastaria para definir um reconhecimento puramente
automtico, sem interveno de lembranas (ou, se se prefere, uma
memria instantnea, inteiramente residente nos mecanismos moto-
res). As lembranas, todavia, intervm efetivamente, pois, medida
que as imagens-lembranas se assemelham percepo atual, elas se
prolongam necessariamente nos movimentos que correspondem per-
cepo e se fazem "adotar" por ela
91
.
Suponhamos agora que haja uma perturbao dessa articulao
percepo-movimento, uma perturbao mecnica do esquema mo-
tor: o reconhecimento se torna impossvel (embora um outro tipo de
reconhecimento subsista, como se v em doentes que descrevem mui-
to bem um objeto que se lhes nomeie, mas que no sabem "servir-se"
dele; ou, ento, que repetem corretamente o que se lhes diz, mas que
no sabem falar espontaneamente). O doente no sabe mais orientar-
se, desenhar, isto , decompor um objeto de acordo com tendncias
motrizes; sua percepo provoca movimentos difusos. Todavia, as
lembranas a esto. Mais ainda: elas continuam a ser evocadas, a se
encarnarem em imagens distintas, isto , a sofrer a translao e a ro-
tao que caracterizam os primeiros momentos da atualizao. O que
falta, portanto, o ltimo momento, a derradeira fase, a da ao. Como
os movimentos concomitantes da percepo esto desorganizados, a
imagem-lembrana tambm permanece to intil, to ineficaz quan-
to uma lembrana pura, e j no pode prolongar-se em ao. Eis a o
primeiro fato importante: casos de [66] cegueira e de surdez psqui-
cas ou verbais
92
.
89 MM, 265; 133 e 245; 18: "a ltima fase da realizao da lembrana (...)
a fase da ao".
90 Cf. MM, 238, 240; 100, 102; 242, 244; 107 e 255-256; 121-122. Con-
vm, sobretudo, no confundir o esquema motor com o esquema dinmico: am-
bos intervm na atualizao, mas em fases totalmente diferentes, sendo um pura-
mente sensrio-motor e, o outro, psicolgico e mnemnico.
91 MM, 241; 104.
92 Cf. MM, 252-253; 118-119.
52 Bergsonismo A memria como coexistncia virtual 53
Passemos ao segundo tipo de relao percepo-movimento, que
define as condies de um reconhecimento atento. No se trata de
movimentos que "prolongam nossa percepo para tirar dela efeitos
teis", e que decompem o objeto em funo de nossas necessidades,
mas de movimentos que renunciam ao efeito, que nos reconduzem ao
objeto para restituir-lhe o detalhe e a integralidade. Ento, as imagens-
lembranas, anlogas percepo presente, desempenham um papel
"preponderante e no mais acessrio", regular e no mais acidental
93
.
Suponhamos que esse segundo tipo de movimento seja perturbado
(perturbao dinmica, e no mais mecnica, das funes sensrio-
motoras)94. Pode ser que o reconhecimento automtico permanea,
mas o que certamente parece ter desaparecido a prpria lembrana.
Por serem tais casos os mais freqentes, eles inspiraram a concepo
tradicional da afasia como desaparecimento das lembranas armaze-
nadas no crebro. Eis todo o problema de Bergson: o que desapare-
ceu exatamente?
Primeira hiptese: teria sido a lembrana pura? No, evidente-
mente, pois a lembrana pura no de natureza [67J psicolgica e
imperecvel. Segunda hiptese: teria sido a capacidade de evocar a lem-
brana, isto , de atualiz-la em uma imagem-lembrana? certo que
Bergson, s vezes, exprime-se assim
95
. Todavia, a coisa mais com-
plicada, pois os dois primeiros aspectos da atualizao (translao e
rotao) dependem de uma atitude psquica e os dois ltimos aspec-
tos (os dois tipos de movimento) dependem da sensrio-motricidade
e de atitudes do corpo. Quaisquer que sejam a solidariedade e a com-
plementaridade dessas duas dimenses, uma no pode anular comple-
tamente a outra. Quando so atingidos apenas os movimentos do re-
93 MM, 244; 107. H, pois, duas formas de reconhecimento, uma autom-
tica, outra atenta, s quais correspondem duas formas de memria, uma motriz e
"quase instantnea", a outra representativa e que dura. No se deve, sobretudo,
misturar esta distino - que se faz do ponto de vista da atualizao da lembran-
a - com uma outra distino totalmente distinta, que se faz do ponto de vista
da Memria em si (memria-lembrana e memria-contrao).
94 Sobre os dois tipos de perturbaes, cf. trs textos essenciais: MM, 245;
108,253; 118 e 314; 196 ( neste ltimo texto que Bergson distingue as perturba-
es mecnicas e as dinmicas).
95 Cf. MM, 253; 119 ("a prpria evocao das lembranas impedida"); e
tambm 245; 108.
conhecimento automtico (perturbaes mecnicas da sensrio-mo-
tricidade), a lembrana no deixa de manter integralmente sua atua-
lizao psquica; ela conserva seu "aspecto normal", mas j no pode
prolongar-se em movimento quando se torna impossvel o estgio cor-
poral da sua atualizao. Quando os movimentos do reconhecimento
atento so atingidos (perturbaes dinmicas da sensrio-motricidade),
a atualizao psquica , sem dvida, muito mais comprometida do
que no caso precedente - pois, aqui, a atitude corporal realmente
uma condio da atitude mental. Todavia, tambm nesse caso, Bergson
sustenta que lembrana alguma "subtrada". H somente "ruptura
de equilbrio"96. Talvez seja preciso compreender que os dois aspec-
tos psquicos da atualizao subsistem, mas so como que dissociados
por falta de uma atitude corporal em que eles pudessem inserir-se e
combinar-se. [68J Ento, ao mesmo tempo que a translao, a con-
trao se faria; mas faltaria o movimento complementar da rotao,
de modo que no haveria qualquer imagem-lembrana distinta (ou,
pelo menos, toda uma categoria de imagens-lembranas permanece-
ria abolida). Ou, ento, ao contrrio, a rotao se faria, imagens dis-
tintas se formariam, mas destacadas da memria e renunciando sua
solidariedade com as outras. Em todo caso, no basta dizer que, se-
gundo Bergson, a lembrana pura se conserva sempre; preciso tam-
bm dizer que a doena jamais abole a imagem-lembrana como tal,
mas somente compromete tal ou qual aspecto da sua atualizao.
Eis, portanto, quatro aspectos da atualizao: a translao e a
rotao, que formam os momentos propriamente psquicos; o movi-
mento dinmico, atitude do corpo necessria ao bom equilbrio das
duas determinaes precedentes; finalmente, o movimento mecnico,
o esquema motor, que representa o ltimo estgio da atualizao.
Trata-se, em tudo isso, da adaptao do passado ao presente, da uti-
lizao do passado em funo do presente - daquilo que Bergson cha-
ma de "ateno vida". O primeiro momento assegura um ponto de
encontro do passado com o presente: literalmente, o passado dirige-
se ao presente para encontrar um ponto de contato (ou de contrao)
com ele. O segundo momento assegura uma transposio, uma tra-
duo, uma expanso do passado no presente: as imagens-lembran-
as restituem no presente as distines do passado, pelo menos as que
96 MM, 314; 196.
54
Bergsonismo
A memria como coexistncia virtual 55
so teis. O terceiro momento, a atitude dinmica do corpo, assegura
a harmonia dos dois momentos precedentes, corrigindo um pelo ou-
tro e levando-os ao seu termo. O quarto momento, o movimento me-
cnico do corpo, assegura a utilidade prpria do conjunto [69] e seu
rendimento no presente. - Mas, precisamente, essa utilidade e esse
rendimento seriam nulos se no se juntasse aos quatro momentos uma
condio que vale para todos. Vimos que a lembrana pura contem-
pornea do presente que ela foi. Em vias de se atualizar, a lembrana
tende, portanto, a atualizar-se em uma imagem que , ela prpria,
contempornea desse presente. Ora, evidente que uma tal imagem-
lembrana, uma tal "lembrana do presente", seria completamente
intil, pois s viria duplicar a imagem-percepo. preciso que a lem-
brana se encarne, no em funo do seu prprio presente (do qual
ela contempornea), mas em funo de um novo presente, em rela-
o ao qual ela agora passado. Essa condio normalmente reali-
zada pela prpria natureza do presente, que no pra de passar, de ir
adiante e de cavar um intervalo. Eis, portanto, o quinto aspecto da
atualizao: uma espcie de deslocamento, pelo qual o passado s se
encarna em funo de um outro presente que no aquele que ele foi
(a perturbao correspondente a esse ltimo aspecto seria a paramnsia,
na qual se atualizaria a "lembrana do presente" como tal)97.
assim que se define um inconsciente psicolgico, distinto do
inconsciente ontolgico. Este corresponde lembrana pura, virtual,
impassvel, inativa, em si. O inconsciente psicolgico representa o
movimento da lembrana em vias de atualizar-se: ento, assim como
os possveis leibnizianos, as lembranas tendem a se encarnar, fazem
presso para serem [70] recebidas - de modo que preciso todo um
recalque sado do presente e da "ateno vida" para rechaar aque-
las que so inteis ou perigosas
98
. No h qualquer contradio en-
tre essas duas descries de dois inconscientes distintos. Mais ainda,
o livro todo Matria e memria um jogo entre os dois, com conse-
qncias que devemos ainda analisar.
97 ES, 925, 928; 146, 150.
98 ES, 896; 107.
4.
UMA OU VRIAS DURAES?
[71]
O mtodo bergsoniano apresentava dois aspectos principais, sen-
do um dualista e o outro monista: devia-se, primeiramente, seguir as
linhas divergentes ou as diferenas de natureza para alm da "viravolta
da experincia"; depois, ainda mais para alm, devia-se reencontrar
o ponto de convergncia dessas linhas e restaurar os direitos de um
novo monism0
99
. Esse programa encontra-se efetivamente realizado
em Matria e memria. - Primeiramente, com efeito, destacamos a
diferena de natureza entre as duas linhas, de objeto e de sujeito: entre
a percepo e a lembrana, a matria e a memria, o presente e o pas-
sado. - O que que ocorre em seguida? Sem dvida, quando a lem-
brana se atualiza, ocorre que sua diferena de natureza em relao
percepo tende a apagar-se: h somente, e s pode haver, diferenas
de grau entre as imagens-lembranas e as percepes-imagens 100. Por
isso mesmo, quando nos falta o mtodo da intuio, permanecemos
forosamente prisioneiros de um misto [72] psicolgico mal analisa-
do, no qual no se podem discernir as diferenas de natureza originais.
Porm, claro que no dispomos ainda, nesse nvel, de um ver-
dadeiro ponto de unidade. O ponto de unidade deve dar conta do misto
pelo outro lado da viravolta da experincia, se no confundir com ele
na experincia. Com efeito, Bergson no se contenta em dizer que entre
a imagem-lembrana e a percepo-imagem h mais do que diferen-
as de grau. Ele tambm apresenta uma proposio ontolgica muito
99 Cf. acima, pp. 18-20 [17-20).
100 MM, 225; 83: "Passa-se, por graus insensveis, de lembranas dispostas
ao longo do tempo, aos movimentos que desenham sua ao nascente ou possvel
no espao [...]" -266; 135: "H a um progresso contnuo [...] Em momento algum
pode-se dizer com preciso que a idia ou que a imagem-lembrana acaba, que a
imagem-lembrana ou que a sensao comea". - 270; 140: " medida que es-
sas lembranas tomam a forma de uma representao mais completa, mais con-
creta e mais consciente, elas tendem cada vez mais a se confundirem com a per-
cepo que as atrai ou cujo quadro elas adotam".
56 Bergsonismo Uma ou vrias duraes? 57
.mais importante: se o passado coexiste com seu prprio presente, e se
ele coexiste consigo em diversos nveis de contrao, devemos reco-
nhecer que o prprio presente somente o mais contrado nvel do
passado. Neste caso, so o presente puro e o passado puro, a percep-
o pura e a lembrana pura como tais, a matria e a memria puras
que tm to-somente diferenas de distenso e de contrao, reencon-
trando, assim, uma unidade ontolgica. Descobrindo, no fundo da
memria-lembrana, uma memria-contrao mais profunda, funda-
mos, portanto, a possibilidade de um novo monismo. Nossa percep-
o contrai, a cada instante, "uma incalculvel multido de elemen-
tos rememorados"; a cada instante, nosso presente contrai infinitamen-
te nosso passado: "os dois termos que tnhamos separado inicialmen-
te vo soldar-se intimamente [00.]"101.Com efeito, o que uma sen-
sao? a operao de contrair em uma superfcie receptiva trilhes
de vibraes. Delas sai a qualidade [73], e esta to-somente a quan-
tidade contrada. Assim, a noo de contrao (ou de tenso) nos d
o meio de ultrapassar a dualidade quantidade homognea-qualidade
heterognea, e nos permite passar de uma outra em um movimento
contnuo. Mas, inversamente, se verdade que nosso presente, pelo
qual nos inserimos na matria, o grau mais contrado do nosso pas-
sado, a prpria matria ser como que um passado infinitamente di-
latado, distendido (to distendido que o momento precedente desapa-
rece quando o seguinte aparece). Eis que agora a idia de distenso
- ou de extenso - que vai transpor a dualidade do inextenso e do
extenso e nos propiciar o meio de passar de um ao outro. Com efeito,
a prpria percepo extensa e a sensao extensiva, dado que o que
ela contrai precisamente algo de extenso, precisam~nte algo de
distendido (ela nos permite dispor do espao "na exata proporo"
em que dispomos do tempo)102.
Da a importncia de Matria e memria: o movimento atri-
budo s prprias coisas, de modo que as coisas materiais participam
diretamente da durao, formam um caso limite de durao. H su-
perao de Os dados imediatos: o movimento est tanto fora de mim
quanto em mim; e o prprio Eu [Moi], por sua vez, to-somente um
101 MM, 292; 168.
102 Sobre o ultra passamento dos dois dualismos, 1
0
quantidade-qualidade,
2
0
extenso-inextenso, cf. MM, capo I e IV.
caso entre outros na dura0
103
. Mas, ento, colocam-se problemas
de toda sorte. Devemos distinguir aqui dois principais.
10 No haveria contradio entre os dois momentos do mtodo,
entre o dualismo das diferenas de [74] natureza e o monismo da con-
trao-distenso? que, em nome do primeiro, denunciamos as filo-
sofias que se atinham s diferenas de grau, de intensidade. Mais ain-
da, eram denunciadas as falsas noes de grau, de intensidade, assim
como de contrariedade ou de negao, fontes de todos os falsos pro-
blemas. Ora, Bergson no estaria agora em vias de restaurar tudo o
que ele havia abalado? Quais diferenas pode haver entre a distenso
e a contrao que no as de grau, de intensidade? O presente to-
somente o grau mais contrado do passado; a matria, o grau mais
distendido do presente (mens momentanea)104. Se procurarmos cor-
rigir o que h de excessivamente "gradual" aqui, s poderemos faz-
lo reintroduzindo na durao toda a contrariedade, toda a oposio,
que Bergson havia denunciado como outras tantas concepes abstratas
e inadequadas. No se ter escapado da matria como degradao da
durao a no ser para cair em uma matria-"inverso" da dura0
105
.
Como fica o projeto bergsoniano de mostrar que a Diferena, como
diferena de natureza, podia [75] e devia ser compreendida indepen-
dentemente do negativo (negativo de degradao tanto quanto o ne-
gativo de oposio)? A pior contradio parece instalar-se no corao
do sistema. Tudo reintroduzido: os graus, a intensidade, a oposio.
103 Sobre o movimento, pertencente tanto s coisas quanto ao Eu [Moi], cf.
MM, 331; 219 e 340; 230.
104 Reintroduo do tema dos graus e das intensidades: cf. MM, capo IV,
passim, e 355; 250: "Entre a matria bruta e o esprito mais capaz de reflexo, h
todas as intensidades possveis da memria, h, o que quer dizer a mesma coisa,
todos os graus da liberdade". - EC, 665; 201: "Nosso sentimento da durao,
quero dizer, a coincidncia do nosso eu [moi] consigo mesmo, admite graus". E j
DI, 156; 180: " que passamos por graus insensveis da durao concreta, cujos
elementos se penetram, durao simblica, cujos momentos se justapem, e da
atividade livre, por conseguinte, ao automatismo consciente".
-
105 Reintroduo do tema do negativo, ao mesmo tempo como limitao e
como oposio: cf. EC, 571 ss, 90 ss (a matria ao mesmo tempo limitao do
movimento e obstculo ao movimento, " uma negao, mais do que uma reali-
dade positiva"). - 666; 202 (a matria como "inverso", "interverso", "inter-
rupo" ... ). Porm, tais textos so vizinhos daqueles em que Bergson recusa toda
noo de negativo.
58 Bergsonismo
Uma ou vrias duraes? 59
2 Mesmo supondo resolvido esse problema, podemos falar em
~onismo reencontrado? Em certo sentido, sim, dado que tudo du-
rao. Porm, dado que a durao se dissipa em todas essas diferen-
as de grau, de intensidade, de distenso e de contrao que a afetam,
camos tambm em uma espcie de pluralismo quantitativo sobretu-
do. Da a importncia desta questo: a durao uma ou vrias, e em
que sentido? Transpusemos verdadeiramente o dualismo ou o dilu-
mos em um pluralismo? por essa questo que devemos comear.
Ora, a esse respeito, os textos de Bergson parecem extremamen-
te variveis. Os de Matria e memria vo mais longe na afirmao
de uma pluralidade radical das duraes: o universo feito de modi-
ficaes, perturbaes, mudanas de tenso e de energia, e nada alm
disso. Sem dvida, Bergson fala de uma pluralidade de ritmos de du-
rao; mas, no contexto, a propsito das duraes mais ou menos lentas
ou rpidas, ele precisa que cada durao um absoluto e que cada ritmo
, ele prprio, uma durao
106
. Em um texto essencial, de 1903, ele
insiste no progresso alcanado desde [76] Os dados imediatos: a du-
rao psicolgica, nossa durao, to-somente um caso entre outros,
em uma infinidade de outros, "uma certa e bem determinada tenso,
cuja prpria determinao aparece como uma escolha entre uma infi-
nidade de duraes possveis" 107. Eis que, conforme Matria e mem-
ria, a psicologia to-somente uma abertura ontologia, trampolim
para uma "instalao" no Ser. Mas, apenas instalados, percebemos que
o Ser mltiplo, que a durao muito numerosa, estando a nossa
encravada entre duraes mais dispersas e duraes mais tensas, mais
intensas: "Percebemos ento numerosas duraes, tantas quanto quei-
ramos, todas muito diferentes umas das outras [...]" A idia de uma
coexistncia virtual de todos os nveis do passado, de todos os nveis
de tenso, , portanto, estendida ao conjunto do universo: essa idia
no mais significa apenas minha relao com o ser, mas a relao de
106 Cf. MM: sobre as modificaes e perturbaes, 337; 226; - sobre os
ritmos irredutveis, 342; 232-233; - sobre o carter absoluto das diferenas, 331-
332; 219.
107 PM, 1416, 1419; 207, 209 [206, 209] (as duas citaes subseqentes so
extradas desse mesmo texto, que muito importante para toda a filosofia de
Bergson).
todas as coisas com o ser. Tudo se passa como se o universo fosse uma
formidvel Memria. E Bergson felicita-se com a potncia do mtodo
de intuio: s esse mtodo "permite-nos ultrapassar o idealismo tanto
quanto o realismo, permite-nos afirmar a existncia de objetos infe-
riores e superiores a ns, muito embora sejam eles, em certo sentido,
interiores a ns, permite-nos faz-los coexistir em conjunto sem difi-
culdade". Essa idia de estender a coexistncia virtual a uma infini-
dade de duraes especficas aparece nitidamente em A evoluo cria-
dora, onde a prpria vida comparada a uma memria, correspon-
dendo os gneros ou as espcies a graus coexistentes dessa [77] me-
mria virtual
108
. A est, portanto, uma viso ontolgica que parece
implicar um pluralismo generalizado.
Mais precisamente, em A evoluo criadora, uma restrio im-
portante marcada: se se diz que as coisas duram, menos por si
mesmas ou absolutamente do que em relao ao Todo do universo,
do qual elas participam, dado que suas distines so artificiais. As-
sim, a poro de acar s nos faz esperar porque ela, apesar do seu
recorte artificial, abre-se ao universo em seu conjunto. Nessa perspec-
tiva, nenhuma coisa tem uma durao prpria. Teriam uma durao
somente os seres semelhantes a ns (durao psicolgica), depois os
viventes, que formam naturalmente sistemas fechados relativos, e, fi-
nalmente, o Todo do universo
109
. Trata-se, portanto, de um pluralis-
mo restrito, no mais generalizado.
Finalmente, Durao e simultaneidade recapitula todas as hip-
teses possveis: pluralismo generalizado, pluralismo restrito, monis-
mo
llO
. Segundo a primeira, haveria coexistncia de ritmos totalmen-
te diferentes, duraes realmente distintas, logo, multiplicidade radi-
cal do Tempo. Bergson acrescenta que havia estabelecido anteriormente
108 Cf. EC, 637; 168.
109 EC, 502, 10: "Que se pode dizer seno que o copo com gua, o acar
e o processo de dissoluo do acar na gua so sem dvida abstraes, e que o
Todo no qual eles foram segmentados pelos meus sentidos e meu entendimento
progride talvez maneira de uma conscincia?". Sobre o carter particular do vi-
vente e sua semelhana com o Todo, cf. EC, 507; 15. Mas Matria e memria j
invocava o Todo como a condio sob a qual se atribua s coisas um movimento
e uma durao: MM, 329; 216 e 332; 220.
110 DS, 57-58.
60 Bergsonismo Uma ou vrias duraes? 61
essa hiptese, mas que ela, fora de ns, s valia para as espcies vi-
'ventes: "Ento, no percebamos, no vamos [78J, como no vemos
ainda hoje, qualquer razo para estender ao universo material essa
hiptese de uma multiplicidade de duraes". Da uma segunda hip-
tese: fora de ns, as coisas materiais no se distinguiriam por dura-
es absolutamente diferentes, mas por uma certa maneira relativa de
participar de nossa durao e de escandi-Ia. Parece que Bergson con-
densa aqui a doutrina provisria de Os dados imediatos (haveria uma
participao misteriosa das coisas em nossa durao, uma "inexpri-
mvel razo") e a doutrina mais elaborada de A evoluo criadora (tal
participao em nossa durao se explicaria pela pertena das coisas
ao Todo do universo). Porm, mesmo no segundo caso, perdura o
mistrio concernente natureza do Todo e nossa relao com ele.
Da a terceira hiptese: haveria uma s durao, um s tempo, do qual
tudo participaria, inclusive nossas conscincias, os viventes e o todo
do mundo material. Ora, para surpresa do leitor, essa ltima hip-
tese que Bergson apresenta como a mais satisfatria: um s Tempo,
uno, universal, impessoal
ll1
. Em resumo, um monismo do Tempo ...
Nada parece mais surpreendente; parece que uma das duas outras hi-
pteses teria exprimido melhor o estado do bergsonismo, seja aps
Matria e memria, seja aps A evoluo criadora. Mais ainda: teria
Bergson esquecido que, [79J desde Os dados imediatos, ele definia a
durao, isto , o tempo real, como uma "multiplicidade"?
Que teria acontecido? O confronto com a teoria da Relativida-
de, sem dvida. Tal confronto impunha-se a Bergson, porque a Rela-
tividade, por sua vez, a propsito do espao e do tempo, invocava
conceitos tais como expanso e contrao, tenso e dilatao. Mas esse
confronto no surgia bruscamente: ele estava preparado sobretudo pela
noo fundamental de Multiplicidade, que Einstein recolhia de Rie-
mann e que Bergson, por sua vez, havia utilizado em Os dados imedia-
tos. Retenhamos sumariamente os traos principais da teoria de Eins-
111 DS, 58-59. Bergson chega a dizer que esse Tempo impessoal tem um s
e mesmo "ritmo". Matria e memria, ao contrrio, afirmava a pluralidade dos
ritmos e o carter pessoal das duraes (cf. MM, 342; 232: "no ademais esta
durao impessoal e homognea, a mesma para tudo e para todos [00.]"). Mas no
h contradio: em DS, a diversidade dos fluxos substituir a dos ritmos por ra-
zes de preciso terminolgica; e, como veremos, o Tempo impessoal de modo al-
gum ser uma durao impessoal homognea.
tein, tal como Bergson a resume: tudo parte de uma certa idia do
movimento, que traz consigo uma contrao dos corpos e uma dila-
tao de seu tempo; conclui-se disso um deslocamento da simultanei-
dade, de modo que o que simultneo em um sistema fixo deixa de
s-lo em um sistema mvel; mais ainda: em virtude da relatividade do
repouso e do movimento, em virtude da relatividade do prprio mo-
vimento acelerado, essas contraes de extenso, essas dilataes de
tempo, essas rupturas de simultaneidade vm a ser absolutamente re-
cprocas; nesse sentido, haveria uma multiplicidade de tempos, uma
pluralidade de tempos, em diferentes velocidades de transcurso, todos
reais, sendo cada um prprio de um sistema de referncia; e como, para
situar um ponto, torna-se necessrio indicar sua posio no tempo tanto
quanto no espao, a nica unidade do tempo consiste em ser ele uma
quarta dimenso do espao; precisamente esse bloco Espao-Tem-
po que se divide atualmente em espao e em tempo de uma infinidade
de maneiras, sendo cada uma prpria de um sistema.
Sobre o que incide a discusso? Contrao, dilatao, [80J rela-
tividade do movimento, todas essas noes so familiares a Bergson.
Ele as emprega por sua conta. Que a durao, isto , o tempo, seja
essencialmente multiplicidade, uma idia a que Bergson jamais renun-
ciar. O problema, porm, o seguinte: que tipo de multiplicidade?
Lembremo-nos de que Bergson opunha dois tipos de multiplicidade,
as multiplicidades atuais, numricas e descontnuas, e as multiplicidades
virtuais, contnuas e qualitativas. certo que, na terminologia de Berg-
sem, o Tempo de Einstein da primeira categoria. O que Bergson re-
prova a Einstein ter confundido os dois tipos de multiplicidade e, com
isso, ter reposto a confuso do tempo com o espao. s aparente-
mente que a discusso incide sobre o seguinte: o tempo uno ou ml-
tiplo? O verdadeiro problema este: "qual a multiplicidade prpria
ao tempo?". V-se bem isso na maneira pela qual Bergson sustenta a
existncia de um s tempo, universal e impessoal.
"Quando estamos sentados beira do rio, o escoamento da gua,
() deslizamento de um barco ou o vo de um pssaro e o murmrio
ininterrupto de nossa vida profunda so para ns trs-coisas diferen-
tes ou uma s, como se queira [... ]"112. Bergson, aqui, atribui aten-
~'o o poder de "repartir-se sem dividir-se", de "ser uma e vrias";
112 DS, 67.
62 Bergsonismo
lima ou vrias duraes? 63
porm, mais profundamente, ele atribui durao o poder de englo-
bar-se a si mesma. O escoamento da gua, o vo do pssaro e o mur-
mrio de minha vida formam trs fluxos; mas eles so isso apenas
porque minha durao um fluxo entre eles e tambm o elemento que
contm os dois outros. Por que no contentar-se [81J com dois fluxos,
minha durao e o vo do pssaro, por exemplo? que dois fluxos
jamais poderiam ser ditos coexistentes ou simultneos se no estives-
sem contidos em um mesmo e terceiro fluxo. O vo do pssaro e mi-
nha prpria durao so simultneos somente porque minha prpria
durao se desdobra e se reflete em uma outra que a contm, ao mes-
mo tempo que ela mesma contm o vo do pssaro: h, portanto, uma
triplicidade fundamental dos fluxos
113
. nesse sentido que minha
durao tem essencialmente o poder de revelar outras duraes, de
englobar as outras e de englobar-se a si mesma ao infinito. Todavia,
v-se que esse infinito da reflexo ou da ateno restitui durao suas
verdadeiras caractersticas, que preciso relembrar constantemente:
ela no simplesmente o indivisvel, mas aquilo que tem um estilo
muito particular de diviso; ela no simplesmente sucesso, mas
coexistncia muito particular, simultaneidade de fluxos. " esta nos-
sa primeira idia da simultaneidade. Ento, denominamos simultne-
os dois fluxos exteriores, que ocupam a mesma durao, porque um
e outro se mantm na durao de um mesmo terceiro, a nossa [...] [
essa] simultaneidade de fluxos que nos conduz durao interna,
durao real" 114.
Reportemo-nos s caractersticas pelas quais Bergson definia a
durao como multiplicidade virtual ou contnua: de um lado, ela se
divide em elementos que diferem por natureza; de outro, tais elemen-
tos ou [82J partes s existem atualmente quando a diviso efetiva-
mente feita (de modo que, se nossa conscincia "pra a diviso em
alguma parte, a tambm pra a divisibilidade"115). Se ns nos colo-
113 DS, 59: "Ns nos surpreendemos desdobrando e multiplicando nossa
conscincia [... ]". Este aspecto reflexivo da durao aproxima-a particularmente
de um cogito. Sobre a triplicidade, cf. 70: h, com efeito, trs formas essenciais da
continuidade: a de nossa vida interior, a do movimento voluntrio, a de um movi-
mento no espao.
114 DS, 68 e 81.
115 MM, 341; 232.
camos em um momento em que a diviso feita, isto , no virtual,
evidente que h a um s tempo. Em seguida, coloquemo-nos em um
momento em que a diviso feita: dois fluxos, por exemplo, o da
corrida de Aquiles e o da corrida da tartaruga. Digamos que eles dife-
rem por natureza (assim como cada passo de Aquiles e cada passo da
tartaruga, se levamos a diviso ainda mais longe). Que a diviso este-
ja submetida condio de ser feita atualmente, isso significa que as
partes (fluxos) devem ser vividas, ou devem ser pelo menos postas e
pensadas como podendo s-lo. Ora, toda essa tese de Bergson consis-
te em demonstrar que apenas na perspectiva de um s tempo que essas
partes podem ser vivveis ou vividas. O princpio da demonstrao
o seguinte: quando admitimos a existncia de vrios tempos, no nos
contentamos em considerar o fluxo A e o fluxo B, ou mesmo a ima-
gem que o sujeito de A faz para si de B (Aquiles tal como ele concebe
ou imagina a corrida da tartaruga como podendo ser vivida por ela).
Para colocar a existncia de dois tempos, somos forados a introdu-
zir um estranho fator: a imagem que A faz para si de B, sabendo que
B, para si, no pode viver assim. um fator totalmente "simblico",
isto , que se ope ao vivido, que exclui o vivido; e somente graas a
ele que o pretenso segundo tempo se realiza. Bergson conclui da que,
tanto no nvel das partes atuais quanto no nvel do Todo virtual, existe
um Tempo, e somente um. (Mas que significa [83J essa obscura de-
monstrao? o que veremos em seguida.)
Se tomamos a diviso no outro sentido, se remontamos, vemos
sempre que os fluxos, com suas diferenas de natureza, com suas di-
ferenas de contrao e de distenso, comunicam-se em um s e mes-
mo Tempo, que como que sua condio. "Uma mesma durao vai
recolher ao longo de sua rota os acontecimentos da totalidade do mun-
do material; e ns poderemos ento eliminar as conscincias huma-
nas que havamos inicialmente disposto de quando em quando como
outras tantas alternncias para o movimento do nosso pensamento;
haver to-somente o tempo impessoal, onde se escoaro todas as
coisas"116. Da a triplicidade dos fluxos, sendo nossa durao (a du-
rao de um espectador) necessria ao mesmo tempo como fluxo e
como representante do Tempo em que se abismam todos os fluxos.
- nesse sentido que os diversos textos de Bergson se conciliam per-
116 DS, 59.
64 Bergsonismo
Uma ou vrias duraes? 65
feitamente e no comportam qualquer contradio: h to-somente um
t;mpo (monismo), embora haja uma infinidade de fluxos atuais (plu-
ralismo generalizado) que participam necessariamente do mesmo todo
virtual (pluralismo restrito). Bergson em nada renuncia idia de uma
diferena de natureza entre os fluxos atuais e nem tampouco idia
de diferenas de distenso ou de contrao na virtualidade que englo-
ba os fluxos e que neles se atualiza. Mas Bergson estima que estas duas
certezas no excluem, antes pelo contrrio implicam, um tempo ni-
co. Em suma, no s as multiplicidades virtuais implicam um s tem-
po, como a durao, como multiplicidade virtual, esse nico e mes-
mo Tempo. [84J
Mas parece que continua ainda obscura a demonstrao berg-
soniana do carter contraditrio da pluralidade dos tempos. Tornmo-
la precisa, levando em conta a teoria da Relatividade, pois, parado-
xalmente, s essa teoria que permite torn-la clara e convincente. Com
efeito, enquanto se trata de fluxos qualitativamente distintos, pode ser
difcil saber se os dois sujeitos vivem e percebem ao mesmo tempo ou
no. Aposta-se na unidade, mas somente como idia mais "plausvel".
Em troca, a teoria da Relatividade situa-se na seguinte hiptese: no
mais fluxos qualitativos, mas sistemas "em estado de deslocamento
recproco e uniforme", onde os observadores so intercambiveis, po~s
no h sistema privilegiado
117
. Aceitemos essa hiptese. Einstein diZ
que o tempo dos dois sistemas, Se S', no o mesmo. Mas qual esse
outro tempo? No nem o de Pedro em S, nem o de Paulo em S',
porque, por hiptese, esses dois tempos s diferem quantitativa mente,
e porque essa diferena se anula quando se toma ora S ora S' co~o
sistema de referncia. Dir-se-ia, pelo menos, que esse outro tempo sena
aquele que Pedro concebe como vivido ou como podendo ser vivido
por Paulo? Tampouco - e a est o essencial da argumentao berg-
soniana: "Sem dvida, Pedro cola sobre esse Tempo uma etiqueta em
nome de Paulo; mas, se Pedro representasse para si Paulo consciente,
Paulo vivendo sua prpria durao e medindo-a, ento, graas a isso,
Pedro veria Paulo tomar seu prprio sistema como sistema de referncia
e colocar-se nesse Tempo nico, interior a cada um dos sistemas de
que falamos: [85J alis, tambm graas a isso, Pedro abandonaria
117 Sobre esta hiptese da Relatividade, que define as condies de uma es-
pcie de experincia crucial, cf. DS, 97, 114, 164.
provisoriamente seu sistema de referncia e, por conseguinte, sua exis-
tncia como fsico e, tambm por conseguinte, sua conscincia; Pedro
s veria a si mesmo como uma viso de Paulo,,118. Em resumo, o outro
tempo algo que no pode ser vivido nem por Pedro nem por Paulo,
nem por Paulo tal como Pedro o imagina para si. um puro smbolo,
que exclui o vivido e que somente marca que tal sistema, e no outro,
tomado como referncia. "Pedro no mais v em Paulo um fsico,
nem mesmo um ser consciente, nem mesmo um ser: da imagem visual
de Paulo, ele esvazia o interior consciente e vivo, retendo do persona-
gem to-somente seu envoltrio exterior."
Assim, na hiptese da Relatividade, torna-se evidente que s pode
haver um s tempo vivvel e vivido. (Essa demonstrao estendida
para alm da hiptese relativista, pois diferenas qualitativas, por sua
vez, no podem constituir as distines numricas.) Eis por que Bergson
acredita [86J que a teoria da Relatividade esteja demonstrando, de fato,
o contrrio do que ela afirma no concernente pluralidade dos tem-
pos119. Todas as outras recriminaes feitas por Bergson derivam da,
pois em qual simultaneidade pensa Einstein quando declara ser ela va-
rivel de um sistema a outro? Ele pensa em uma simultaneidade defi-
nida pelas indicaes de dois relgios distanciados, e verdade que tal
simultaneidade varivel ou relativa, mas, precisamente porque sua
relatividade exprime no alguma coisa de vivido ou vivvel, mas o fa-
118 DS, 99. Diz-se, freqentemente, que o raciocnio de Bergson implica um
contra-senso em relao a Einstein. Todavia, tambm freqentemente, comete-se
um contra-senso em relao ao prprio raciocnio de Bergson. Este no se conten-
ta em dizer: um tempo diferente do meu no vivido nem por mim nem por ou-
trem, mas implica uma imagem que me fao de outrem (e reciprocamente). Bergson
no se contenta em dizer isto, porque a legitimidade de uma tal imagem, que ele,
por sua vez, nunca deixar de reconhecer, perfeitamente admitida por ele como
aquilo que exprime as tenses diversas e as relaes entre as duraes. O que ele
censura na teoria da Relatividade coisa totalmente distinta: a imagem que, para
mim, fao de outrem, o que Pedro se faz de Paulo, , ento, uma imagem que no
pode ser vivida ou pensada como vivvel sem contradio (p0.J Pedro, por Paulo,
ou por Pedro tal como ele imagina Paulo). Em termos bergsonianos, isso no
uma imagem, mas sim um "smbolo". Se nos esquecermos deste ponto, todo o ra-
ciocnio de Bergson perde seu sentido. Da todo o cuidado que ele investe ao lem-
brar, no final de DS, p. 234: "Mas esses fsicos no so imaginados como reais ou
como podendo s-lo [... ]"
119 DS, 112-116.
66
Bergsonismo
Uma ou vrias duraes? 67
tOl; simblico a que nos referimos 120. Nesse sentido, tal simultaneidade
supe duas outras a ela ligadas no instante em que elas no so vari-
veis, mas absolutas: a simultaneidade entre dois instantes destacados
de movimentos exteriores (um fenmeno prximo e um momento de
relgio) e a simultaneidade desses instantes com instantes destacados
por eles de nossa durao. E essas duas simultaneidades, elas prprias,
supem uma outra, a dos fluxos, que ainda menos varivel
121
. A
teoria bergsoniana da simultaneidade vem, pois, confirmar a concep-
o da durao como coexistncia virtual de todos os graus em um s
e mesmo tempo.
Em resumo, o que Bergson, do comeo ao fim de Durao e si-
multaneidade, censura na teoria de Einstein ter ela confundido {87}
o virtual e o atual (a introduo do fator simblico, isto , de uma fic-
o, exprime tal confuso). Censura, portanto, ter ela confundido os
dois tipos de multiplicidade, virtual e atual. No fundo da questo "
a durao una ou mltipla?", encontra-se um problema totalmente
distinto: a durao uma multiplicidade, mas de que tipo? S a hip-
tese do Tempo nico, segundo Bergson, d conta da natureza das multi-
plicidades virtuais. Confundindo os dois tipos, multiplicidade espacial
atual e multiplicidade temporal virtual, Einstein apenas inventou uma
nova maneira de espacializar o tempo. No se pode negar a originali-
dade do seu espao-tempo, a conquista prodigiosa que ele representa
para a cincia (nunca, antes, fra levada to longe a espacializao e
nem dessa maneira)122. Mas essa conquista a de um smbolo para
exprimir os mistos, no a de um vivido capaz de exprimir, como diria
Proust, "um pouco de tempo em estado puro". O Ser, ou o Tempo,
uma multiplicidade; mas, precisamente, ele no "mltiplo", ele Uno,
conforme seu tipo de multiplicidade.
}l- * *
120 DS, 120-121.
121 Bergson, portanto, distingue, em uma ordem de profundidade crescente,
quatro tipos de simultaneidade: a) a simultaneidade relativista entre relgios dis-
tanciados (DS, 71 e 116 ss); b) e c) as duas simultaneidades no instante, entre acon-
tecimento e relgio prximo, e tambm entre esse momento e um momento de nossa
durao (70-75); d) a simultaneidade dos fluxos (67-68, 81) - Merleau-Ponty
mostra bem como o tema da simultaneidade, segundo Bergson, vem confirmar uma
verdadeira filosofia da "coexistncia" (cf. Elage de la philasophie, pp. 24 ss).
122 DS, 199 e 233 ss.
Quando Bergson defende a unicidade do tempo, ele a nada re-
nuncia do que disse anteriormente em relao coexistncia virtual
dos diversos graus de distenso e de contrao e diferena de natu-
reza entre os fluxos ou ritmos atuais. E, quando ele diz que espao e
tempo nunca "mordem" um ao outro e nem "se entrelaam", quan-
do ele sustenta que somente sua {88} distino rea1
123
, ele a nada
renuncia da ambio de Matria e memria, qual seja, a de integrar
algo do espao na durao, a de integrar na durao uma razo sufi-
ciente da extenso. O que ele denuncia, desde o incio, toda combi-
nao de espao e de tempo em um misto mal analisado, no qual o
espao considerado como j feito e o tempo, ento, como uma quarta
dimenso do espao124. Sem dvida, essa espacializao do tempo
inseparvel da cincia. Mas o que prprio da teoria da Relatividade
ter impulsionado essa espacializao e ter soldado o misto de uma
maneira totalmente nova: com efeito, na cincia pr-relativista, o tempo
assimilado a uma quarta dimenso do espao no deixa de ser uma
varivel independente e realmente distinta; na teoria da Relatividade,
ao contrrio, a assimilao do tempo ao espao necessria para expri-
mir a invarincia da distncia, de modo que ela se introduz explicita-
mente nos clculos e no deixa subsistir distino real. Em resumo, a
teoria da Relatividade formou uma mistura particularmente ligada, mas
que cai sob a crtica bergsoniana do "misto" em geral.
Em troca, do ponto de vista de Bergson, podem-se, devem-se con-
ceber combinaes que dependam de um princpio totalmente distin-
to. Consideremos os graus de distenso e de contrao, todos eles coe-
xistentes: no limite da distenso, temos a matria 125. Sem dvida, a
matria no ainda o espao, mas ela j {89} extenso. Uma durao
infinitamente relaxada, descontrada, deixa exteriores uns aos outros
os seus momentos; um deve ter desaparecido quando o outro aparece.
O que esses momentos perdem em penetrao recproca, ganham em
desdobramento respectivo. O que eles perdem em tenso, ganham em
extenso. Assim, a cada momento, tudo tende a desenrolar-se em um
123 Cf. DS, 199 e 225 (denncia de um "espao que ingurgita tempo", de
um "tempo que, por sua vez, absorve espao").
124 Contra a idia de um espao que nos damos j pronto, cf. EC, 669; 206.
125 Neste sentido, a matria e o sonho tm uma afinidade natural, ambos
representando um estado de distenso em ns e fora de ns: EC, 665, 667; 202, 203.
68 Bergsonismo Uma ou vrias duraes?
69
GOntinuum instantneo, indefinidamente divisvel, que no se prolon-
gar em outro instante, mas que morrer para renascer no instante se-
guinte, em um piscar de olhos ou frmito sempre recomeado
126
. Bas-
taria impulsionar at o fim esse movimento da distenso para obter o
espao. (Mais precisamente, no final da linha de diferenciao, o espa-
o seria ento encontrado como sendo esse termo extremo que no mais
se combina com a durao.) Com efeito, o espao no a matria ou
a extenso, mas o "esquema" da matria, isto , a representao do termo
em que o movimento de distenso desembocaria, como o envoltrio
exterior de todas as extenses possveis. Nesse sentido, no a mat-
ria, no a extenso que est no espao, mas bem o contrrio
127
. E, se
consideramos que a matria tem mil e uma maneiras de se distender ou
de se estender, devemos dizer que h toda sorte de extensos distintos,
todos aparentados, mas ainda qualificados, e que acabaro por se con-
fundir, mas s em nosso esquema de espao.
O essencial, com efeito, notar o quanto a distenso e a contra-
o so relativas, e relativas uma outra. O que que se distende, a
no ser o contrado - [90} e o que que se contrai, a no ser o exten-
so, o distendido? Eis por que h sempre extensos em nossa durao e
sempre h durao na matria. Quando percebemos, contramos em
uma qualidade sentida milhes de vibraes ou de tremores elemen-
tares; mas o que ns assim contramos, o que ns "tensionamos" as-
sim matria, extenso. Nesse sentido, no h por que perguntar se
h sensaes espaciais, quais so e quais no so: todas as nossas sen-
saes so extensivas, todas so "voluminosas" e extensas, embora em
graus diversos e em estilos diferentes, de acordo com o gnero de con-
trao que elas operam. E as qualidades pertencem matria tanto
quanto a ns mesmos: pertencem matria, esto na matria em vir-
tude de vibraes e de nmeros que as decompem interiormente. Os
extensos, portanto, so ainda qualificados, sendo inseparveis de con-
traes que se distendem nas qualidades; e a matria nunca est sufi-
cientemente distendida para ser puro espao, para deixar de ter esse
mnimo de contrao pelo qual ela participa da durao, pelo qual ela
durao.
126 EC, 666-667; 203-204 - e MM, capo IV, passim.
127 Sobre o espao como esquema ou plano, cf. MM, 341; 232. 344-345;
235-236. EC, 667; 203.
Inversamente, a durao nunca est suficientemente contrada
para ser independente da matria interior em que ela opera e da ex-
tenso que ela vem tensionar. Retornemos imagem do cone inverti-
do: seu vrtice (nosso presente) representa o ponto mais contrado de
nossa durao, mas ele tambm representa nossa insero no menos
contrado, isto , em uma matria infinitamente distendida. Eis por que
a inteligncia, segundo Bergson, tem dois aspectos correlativos, que
formam uma ambigidade que lhe essencial: ela conhecimento da
matria, ela marca nossa adaptao matria, [91} ela se amolda
matria, mas ela s o faz fora de esprito ou de durao, fora de
inserir-se na matria em um ponto de tenso que lhe permite domin-
la. Na inteligncia, portanto, devem-se distinguir a forma e o sentido:
ela tem sua forma na matria, ela encontra sua forma com a matria,
isto , no mais distendido, mas ela tem e encontra seu sentido no mais
contrado, pelo qual ela domina e utiliza a matria. Dir-se-ia, pois, que
sua forma a separa do seu sentido, mas esse sentido est sempre pre-
sente nela e deve ser reencontrado pela intuio. Eis por que, finalmen-
te, Bergson recusa toda gnese simples que daria conta da inteligncia
a partir de uma j suposta ordem da matria, ou que daria conta dos
fenmenos da matria a partir de supostas categorias da inteligncia.
S pode haver uma gnese simultnea da matria e da inteligncia. Um
passo para uma, um passo para a outra: a inteligncia se contrai na
matria ao mesmo tempo em que a matria se distende na durao;
ambas encontram no extenso a forma que lhes comum, seu equil-
brio; possvel inteligncia, por sua vez, levar essa forma a um grau
de distenso que a matria e o extenso nunca teriam atingido por si
mesmos - a distenso de um espao puro
128
.
128 Cf. EC, capo m.
70 Bergsonismo Uma ou vrias duraes? 71
5.
O IMPULSO VITAL COMO
MOVIMENTO DA DIFERENCIAO
[92J
Nosso problema agora o seguinte: passando do dualismo ao
monismo, da idia de diferenas de natureza idia de nveis de dis-
tenso e de contrao, no estaria Bergson reintroduzindo em sua fi-
losofia tudo o que havia denunciado - as diferenas de grau ou de
intensidade, to criticadas em Os dados imediatos
129
? Bergson ora diz
que o passado e o presente diferem por natureza, ora que o presente
somente o nvel ou o grau mais contrado do passado: como conciliar
essas duas proposies? O problema no mais o do monismo; vimos
como os graus de distenso e de contrao coexistentes implicavam
efetivamente um tempo nico, no qual os prprios "fluxos" eram si-
multneos. O problema o do acordo entre o dualismo das diferen-
as de [93J natureza e o monismo dos graus de distenso, entre os dois
momentos do mtodo ou os dois "para alm" da viravolta da expe-
rincia -levando-se em conta que o momento do dualismo no to-
talmente suprimido, mas guarda inteiramente seu sentido.
A crtica da intensidade, tal como aparece em Os dados imedia-
tos, muito ambgua. Teria sido ela dirigida contra a prpria noo
de quantidade intensiva ou somente contra a idia de uma intensida-
de de estados psquicos? A pergunta se impe, visto que, se verdade
que a intensidade nunca dada em uma experincia pura, no ela
que propicia todas as qualidades de que temos experincia? Assim,
Matria e memria reconhece intensidades, graus ou vibraes nas qua-
lidades que vivemos como tais fora de ns e que, como tais, perten-
cem matria. H nmeros envolvidos nas qualidades, intensidades
compreendidas na durao. Trata-se ainda de falar em contradio nos
textos de Bergson? Ou preciso sobretudo falar em momentos dife-
rentes do mtodo, acentuando ora um ora outro, mas' tomando todos
os momentos como coexistentes em uma dimenso de profundidade?
1. - Bergson comea por criticar toda viso do mundo fundada
sobre diferenas de grau ou de intensidade. Em tais vises, com efei-
129 Cf. pgina [74J.
o impulso vital corno movimento da diferenciao 73
tG, perde-se o essencial, isto , as articulaes do real ou as diferenas
qualitativas, as diferenas de natureza. H uma diferena de natureza
entre o espao e a durao, entre a matria e a memria, entre o pre-
sente e o passado etc. Ns s descobrimos essa diferena fora de
decompor os mistos dados na experincia, indo alm da "viravolta".
Descobrimos as diferenas de natureza entre duas tendncias atuais,
entre duas direes atuais [94J em estado puro que partilham cada
misto. o momento do puro dualismo ou da diviso dos mistos.
2. - Mas j vimos que no basta dizer que a diferena de natu-
reza est entre duas tendncias, entre duas direes, entre o espao e
a durao ... Pois uma das duas direes portadora de todas as dife-
renas de natureza; e todas as diferenas de grau caem na outra dire-
o, na outra tendncia. a durao que compreende todas as dife-
renas qualitativas, a tal ponto que ela se define como alterao em
relao a si mesma. o espao que apresenta exclusivamente diferen-
as de grau, a tal ponto que ele aparece como o esquema de uma divisi-
bilidade indefinida. Do mesmo modo, a Memria essencialmente
diferena e a matria essencialmente repetio. Portanto, no h di-
ferena de natureza entre duas tendncias, mas diferena entre dife-
renas de natureza, que correspondem a uma tendncia, e diferenas
de grau, que remetem outra tendncia. o momento do dualismo
neutralizado, compensado.
3. - A durao, isto , a memria ou o esprito, a diferena de
natureza em si e para si; e o espao, ou a matria, a diferena de grau
fora de si e para ns. Entre as duas direes, portanto, h todos os graus
da diferena ou, se se prefere, toda a natureza da diferena. A durao
to-somente o mais contrado grau da matria, e a matria o grau
mais distendido da durao. Mas, do mesmo modo, a durao como
que uma natureza naturante, e a matria como que uma natureza
naturada. As diferenas de grau so o mais baixo grau da Diferena; e
as diferenas de natureza so a mais elevada natureza da Diferena. J
no h qualquer dualismo [95J entre a natureza e os graus. Todos os
graus coexistem em uma mesma Natureza, que se exprime, de um lado,
nas diferenas de natureza e, de outro, nas diferenas de grau. este o
momento do monismo: todos os graus coexistem em um s Tempo, que
a natureza em si mesma 130. Como momentos do mtodo, monismo
130 Este "naturalismo" ontolgico aparece nitidamente em MR (sobre a
Natureza naturante e a Natureza naturada, cf. 1024; 56). a que aparece a no-
e dualismo no esto a em contradio, pois a dualidade valia entre
tendncias atuais, entre direes atuais, que levam para alm da primeira
viravolta da experincia. Mas a unidade se faz em uma segunda vira-
volta, em uma reviravolta: a coexistncia de todos os graus, de todos
os nveis, virtual, somente virtual. O prprio ponto de unificao
virtual. Esse ponto tem alguma semelhana com o Uno-Todo dos pla-
tnicos. Todos os nveis de distenso e de contrao coexistem em um
Tempo nico, formam uma totalidade; mas esse Todo e esse Uno so
virtualidade pura. Esse Todo tem partes, esse Uno tem um nmero, mas
somente em potncia 131. Eis por que Bergson no se contradiz ao falar
de intensidades ou de graus diferentes em uma coexistncia virtual, em
um Tempo nico, em uma Totalidade simples.
~r * *
[96J Uma tal filosofia supe que a noo de virtual deixe de ser
vaga, indeterminada. preciso que ela tenha em si mesma um mxi-
mo de preciso. Essa condio s ser preenchida se formos capazes
de, a partir do monismo, reencontrar o dualismo e de dar conta deste
em um novo plano. Aos trs momentos precedentes, portanto, pre-
ciso acrescentar um quarto, o do dualismo reencontrado, dominado
e de algum modo engendrado.
O que Bergson quer dizer quando fala em impulso vital? Trata-
se sempre de uma virtualidade em vias de atualizar-se, de uma simpli-
cidade em vias de diferenciar-se, de uma totalidade em vias de divi-
dir-se: a essncia da vida proceder "por dissociao e desdobramen-
to", por "dicotomia" 132. Nos mais conhecidos exemplos, a vida divi-
o aparentemente estranha de "plano da natureza" (1022; 54). Apesar de certas
expresses de Bergson ("querido pela natureza", 1029; 63), no o caso de inter-
pretar tal noo em um sentido demasiado finalista: h vrios planos, e cada um,
como veremos, corresponde a um dos graus ou nveis de contrao, todos eles coe-
xistentes na durao. Mais do que a um projeto ou a uma meta, a palavra "pla-
no" remete aos cortes, s sees do cone.
13! Segundo Bergson, a palavra "Todo" tem um sentido~ mas com a condi-
o de no designar algo atual. Ele lembra constantemente que o Todo no dado.
Isto no significa que a idia de todo seja destituda de sentido, mas que ela desig-
na uma virtualidade, sendo que as partes atuais no se deixam totalizar.
132 Cf. EC, 571; 90 e E MR, 1225; 313: "A essncia de uma tendncia vital
desenvolver-se em forma de feixe, criando, to-s pelo fato do seu crescimento,
74 Bergsonismo
o impulso vital como movimento da diferenciao
75
qe-se em planta e animal; o animal divide-se em instinto e intelign-
cia; um instinto, por sua vez, divide-se em vrias direes, que se atua-
lizam em espcies diversas; a prpria inteligncia tem seus modos ou
suas atualizaes particulares. Tudo se passa como se a Vida se con-
fundisse com o prprio movimento da diferenciao em sries rami-
ficadas. Sem dvida, esse movimento se explica pela insero da du-
rao na matria: a durao se diferencia segundo os obstculos que
ela encontra na matria, segundo a materialidade que ela atravessa,
segundo o gnero de {97}extenso que ela contrai. Mas a diferencia-
o no somente uma causa externa. em si mesma, por uma fora
interna explosiva, que a durao se diferencia: ela s se afirma e s se
prolonga, ela s avana em sries ramosas ou ramificadas
133
. Preci-
samente, a Durao chama-se vida quando aparece nesse movimen-
to. Por que a diferenciao uma "atualizao"? que ela supe uma
unidade, uma totalidade primordial virtual, que se dissocia segundo
linhas de diferenciao, mas que, em cada linha, d ainda testemunho
de sua unidade e totalidade subsistentes. Assim, quando a vida divi-
de-se em planta e animal, quando o animal divide-se em instinto e
inteligncia, cada lado da diviso, cada ramificao, traz consigo o todo
sob um certo aspecto, como uma nebulosidade que acompanha cada
ramo, que d testemunho de sua origem indivisa. Da haver uma au-
rola de instinto na inteligncia, uma nebulosa de inteligncia no ins-
tinto, um qu de animado nas plantas, um qu de vegetativo nos ani-
mais
134
. A diferenciao sempre a atualizao de uma virtualidade
que persiste atravs de suas linhas divergentes atuais.
Reencontramos, ento, um problema prprio do bergsonismo:
h dois tipos de diviso que no se devem confundir. De acordo com
o primeiro tipo, partimos de um misto, da mistura espao-tempo, por
direes divergentes entre as quais se distribuir o impulso". [E tambm EC, 579;
100]- Sobre o primado, aqui, de uma Totalidade inicialmente indivisa, de uma
Unidade ou de uma Simplicidade, cf. EC, 571-572; 90-91 e 595; 119 ("a identi-
dade original").
133 EC, 578; 99.
134 Com efeito, os produtos da diferenciao nunca so completamente puros
na experincia. Alm disso, cada linha "compensa" o que ela tem de exclusivo:
por exemplo, a linha que chega inteligncia suscita nos seres inteligentes um equi-
valente de instinto, um "instinto virtual", representado pela fabulao (cf. MR,
1068; 114).
exemplo, ou da mistura imagem-percepo e imagem-lembrana. {98}
Dividimos um tal misto em duas linhas divergentes atuais, que diferem
por natureza e que prolongamos para alm da viravolta da experin-
cia (matria pura e pura durao, ou ento puro presente e passado
puro). - Mas, agora, falamos de um segundo tipo, de um tipo total-
mente distinto de diviso: nosso ponto de partida uma unidade, uma
simplicidade, uma totalidade virtual. essa unidade que se atualiza
segundo linhas divergentes que diferem por natureza; ela "explica",
ela desenvolve o que tinha virtualmente envolvido. Por exemplo, a pura
durao divide-se a cada instante em duas direes, das quais uma
o passado e a outra o presente; ou ento o impulso vital dissocia-se a
cada instante em dois movimentos, sendo um de distenso, que recai
na matria, e outro de tenso, que se eleva na durao. V-se que as
linhas divergentes obtidas nos dois tipos de diviso coincidem e se
superpem, ou pelo menos se correspondem estreitamente: no segun-
do tipo de diviso, reencontramos diferenas de natureza idnticas ou
anlogas s que tnhamos determinado de acordo com o primeiro tipo.
Nos dois casos, critica-se uma viso do mundo que s retm diferen-
as de grau ali onde, mais profundamente, h diferenas de natureza 135.
Nos dois casos, determina-se um dualismo entre tendncias que dife-
rem por natureza. Mas de modo algum o mesmo estado do dualismo,
de modo algum a mesma diviso. No primeiro tipo, tem-se um dua-
lismo reflexivo, que provm da decomposio de um misto impuro:
ele constitui o primeiro momento do mtodo. {99}No segundo tipo,
tem-se um dualismo gentico, sado da diferenciao de um Simples
ou de um Puro: ele forma o ltimo momento do mtodo, aquele que
reencontra, finalmente, o ponto de partida em um novo plano.
Ento, uma questo se impe cada vez mais: qual a natureza
desse Virtual, dito uno e simples? Como entender que, j em Os da-
dos imediatos, depois em Matria e memria, a filosofia de Bergson
tenha dado tanta importncia idia de virtualidade no momento em
que ela recusava a categoria de possibilidade? que, de dois pontos
de vista pelo menos, o "virtual" se distingue do "possvel". Com efei-
to, de um certo ponto de vista, o possvel o contrrio do real, ope-
135 A grande contestao que Bergson dirige s filosofias da Natureza a de
terem elas visto, na evoluo e diferenciao, to-somente diferenas de grau em
uma mesma linha: EC, 609; 136.
76 Bergsonismo
o impulso vital como movimento da diferenciao
77
se ao real; porm, o que totalmente diferente, o virtual ope-se ao
at~al. Devemos levar a srio esta terminologia: o possvel no tem
realidade (embora possa ter uma atualidade); inversamente, o virtual
no atual, mas possui enquanto tal uma realidade. Ainda a, a me-
lhor frmula para definir os estados de virtual idade seria a de Proust:
"reais sem serem atuais, ideais sem serem abstratos" 136. De outra parte,
de um outro ponto de vista, o possvel o que se "realiza" (ou no se
realiza); ora, o processo da realizao est submetido a duas regras
essenciais: a da semelhana e a da limitao. Com efeito, estima-se que
o real seja imagem do possvel que ele realiza (de modo que ele, a
mais, s tem a existncia ou a realidade, o que se traduz dizendo-se
que, do ponto de vista do conceito, no h diferena entre o possvel
e o real). E como nem todos os possveis se realizam, a realizao
implica uma limitao, pela qual certos possveis so considerados
rechaados ou impedidos, ao passo que outros "passam" ao real. O
virtual, ao contrrio, no tem que [100] realizar-se, mas sim atuali-
zar-se; as regras da atualizao j no so a semelhana e a limitao,
mas a diferena ou a divergncia e a criao. Quando certos bilogos
invocam uma noo de virtualidade ou de potencialidade orgnica, e
sustentam, todavia, que tal potencialidade se atualiza por simples li-
mitao de sua capacidade global, claro que eles caem em uma con-
fuso do virtual e do possvel
137
. Com efeito, para atualizar-se, o vir-
tual no pode proceder por limitao, mas deve criar suas prprias
linhas de atualizao em atos positivos. A razo disso simples: ao
passo que o real imagem e semelhana do possvel que ele reali-
za, o atual, ao contrrio, no se assemelha virtualidade que ele en-
cama. O que primeiro no processo de atualizao a diferena - a
diferena entre o virtual de que se parte e os atuais aos quais se chega,
e tambm a diferena entre as linhas complementares segundo as quais
a atualizao se faz. Em resumo, prprio da virtualidade existir de
tal modo que ela se atualize ao diferenciar-se e que seja forada a atua-
lizar-se, a criar linhas de diferenciao para atualizar-se.
136 [M. Proust, Le temps retrouv, Paris, Pliade, III, 873, conforme refe-
rncia presente em G. Deleuze, Proust et les signes, Paris, PUF, 1976, p. 74 (N. do
R.T.).]
137 Filosoficamente, encontrar-se-ia em um sistema como o de Leibniz uma
hesitao semelhante entre os conceitos de virtual e de possvel.
Por que Bergson recusa a noo de possvel em proveito da de
virtual? que, precisamente em virtude das caractersticas apontadas
antes, o possvel uma falsa noo, fonte de falsos problemas. Supe-
se que o real se lhe assemelhe. Isto quer dizer que damos a ns mesmos
um real j feito, pr-formado, preexistente a si mesmo, e que passar
existncia segundo uma ordem de limitaes [101] sucessivas. J est
tudo dado, o real todo j est dado em imagem na pseudo-atualidade
do possvel. Assim, torna-se evidente a mgica: sese diz que o real asseme-
lha-se ao possvel, no seria porque, de fato, esperou-se que o real acon-
tecesse com seus prprios meios para "retroprojetar" dele uma imagem
fictcia e, com isso, pretender que elefosse a todo momento possvel antes
mesmo de acontecer? Na verdade, no o real que se assemelha ao
possvel, mas o possvel que se assemelha ao real, e isso porque ns o
abstramos do real, uma vez acontecido este; ns o extramos arbitraria-
mente do real como um duplo estril
138
. Ento, nada mais secompreende
nem do mecanismo da diferena, nem do mecanismo da criao.
Aevoluo acontece do virtual aos atuais. Aevoluo atualizao
e a atualizao criao. Quando se fala em evoluo biolgica ou
vivente, preciso, portanto, evitar dois contra-sensos: ou interpret-la
em termos do "possvel" que se realiza, ou interpret-la em termos de
puros atuais. O primeiro contra-senso aparece, evidentemente, no pr-
formismo. E, contra o pr-formismo, o evolucionismo ter sempre o
mrito de lembrar que a vida produo, criao de diferenas. O pro-
blema todo o da natureza e das causas dessas diferenas. Podem-se,
certamente, conceber essas diferenas ou variaes vitais como pura-
mente acidentais. Mas trs objees surgem contra tal interpretao:
1a, por menores que sejam essas variaes, sendo elas devidas ao acaso,
permaneceriam exteriores, "indiferentes" umas s outras; 2
a
, sendo
exteriores, elas, logicamente, s poderiam entrar umas com as [102]
outras em relaes de associao e de adio; 3
a
, sendo indiferentes, elas
no teriam nem mesmo o meio de entrar realmente em tais relaes (pois
no haveria qualquer razo para que pequenas variaes sucessivas se
encadeassem e se adicionassem em uma mesma direo; no haveria
tambm qualquer razo para que variaes bruscas -e simultneas se
coordenassem em um conjunto vivvel)139. Se se evoca a ao do meio
138 Cf. PM, "le possible et le rel".
139 EC, 549, 554; 64, 70.
78
Bergsonismo
o impulso vital como movimento da diferenciao 79
e a influncia das condies exteriores, as trs objees subsistem sob
uma outra forma, pois as diferenas continuam sendo interpretadas da
perspectiva de uma causalidade puramente exterior; em sua natureza,
elas somente seriam efeitos passivos, elementos abstratamente combin-
veis ou adicionveis; em suas relaes, elas seriam, todavia, incapazes
de funcionar "em bloco" de maneira a dominar ou utilizar suas causas 140.
A falha do evolucionismo, portanto, est emconceber as variaes
vitais como outras tantas determinaes atuais, que deveriam, ento,
combinar-se emuma s e mesma linha. As trs exignciasde uma filosofia
da vida so as seguintes: la A diferena vital s pode ser vivida e pen-
sada como diferena interna; somente nesse sentido que a "tendncia
para mudar" deixa de ser acidental, sendo que as prprias variaes
encontram nessa tendncia uma causa interior. - 2
a
Essas variaes
no entram em relaes de associao e de adio, mas, ao contrrio,
emrelaes de dissociao ou de diviso. - 3
a
Essas variaes implicam,
[103J portanto, uma virtualidade que seatualiza segundo linhas de diver-
gncia; desse modo, a evoluo no vai de um termo atual a um outro
termo atual em uma srie unilinear homognea, mas de um virtual aos
termos heterogneos que o atualizam ao longo de uma srieramificada141.
Todavia, h de perguntar como o Simples ou o Uno, a "identi-
dade original", tem o poder de se diferenciar. A resposta j est con-
tida precisamente em Matria e memria, e o encadeamento de A evo-
luo criadora com Matria e memria perfeitamente rigoroso a esse
respeito. Sabemos que o virtual, como virtual, tem uma realidade; essa
realidade, estendida a todo o universo, consiste em todos os graus
coexistentes de distenso e de contrao. Gigantesca memria, cone
universal, onde tudo coexiste com tudo com maior ou menor diferen-
a de nvel. Sobre cada um desses nveis encontram-se alguns "pontos
brilhantes", pontos notveis que so prprios de cada nvel. Todos esses
nveis ou graus, assim como esses pontos, so, eles prprios, virtuais.
Eles pertencem a um Tempo nico, coexistem em uma Unidade, so
envolvidos em uma Simplicidade, formam as partes em potncia de um
Todo, ele prprio virtual. Eles so a realidade desse virtual. esse o
sentido da teoria das multiplicidades virtuais que, desde o incio, ani-
mava o bergsonismo. - Quando a [104J a virtualidade se atualiza, se
diferencia, se "desenvolve", quando ela atualiza e desenvolve suas
partes, ela o faz segundo linhas divergentes, mas cada uma delas cor-
responde a tal ou qual grau na totalidade virtual. A j no h todo
coexistente; h somente linhas de atualizao, sendo umas sucessivas,
outras simultneas, mas cada qual representando uma atualizao do
todo em uma direo e no se combinando com as outras linhas ou
outras direes. No obstante, cada uma das linhas corresponde a um
dos graus que coexistem no virtual; a linha atualiza um nvel do vir-
tual, separando-o dos outros; ela encarna pontos notveis do virtual,
ignorando tudo o que se passa nos outros nveis
142
. Devemos pensar
que, quando a durao se divide em matria e vida, depois a vida em
planta e animal, atualizam-se nveis diferentes de contrao, nveis que
s coexistiam enquanto permaneciam virtuais. E quando o prprio ins-
tinto animal divide-se em instintos diversos, ou quando um instinto
particular divide-se, ele prprio, segundo espcies, separam-se ainda
nveis ou se segmentam na regio do animal ou do gnero. E, por mais
estreitamente que as linhas de atualizao correspondam aos nveis ou
graus virtuais de distenso ou contrao, no o caso de acreditar que
elas se contentem [105J em decalc-los, em reproduzi-los por simples
semelhana, pois o que coexistia no virtual deixa de coexistir no atual
e se distribui em linhas ou partes no somveis, cada uma das quais
retm o todo, mas sob um certo aspecto, sob um certo ponto de vista.
E mais: tais linhas de diferenciao so verdadeiramente criadoras; elas
140 EC, 555; 72: como teria podido uma energia fsica exterior, a luz por
exemplo, "converter uma impresso deixada por ela em uma mquina capaz de
utiliz-la"?
141 Sem dvida, a idia de linhas divergentes ou de sries ramificadas no
desconhecida dos classificadores, desde o sc. XVIII. Mas o que importa a Bergson
que divergncias de direes s podem ser interpretadas da perspectiva da atualiza-
o de um virtual. - Hoje em dia, em R. Ruyer, encontramos exigncias anlo-
gas s de Bergson: apelo a um "potencial trans-espacial, mnmico e inventivo",
recusa de interpretar a evoluo em termos puramente atuais (cf. Elments de
psycho-biologie, PUF).
142 Quando Bergson diz (EC, 637; 168): "Parece que a vida, desde que se
contrai em uma espcie determinada, perde contato com o resto dela mesma, sal-
vo, entretanto, em um ou dois pontos que interessam espcie que acaba de nas-
cer. Como no ver que a vida procede aqui como a conscincia em geral, como a
memria?" - o leitor deve pensar que esses pontos correspondem aos pontos bri-
lhantes que se destacavam a cada nvel do cone. Cada linha de diferenciao ou
de atualizao constitui, portanto, um "plano da natureza", plano que retoma
sua maneira uma seo ou um nvel virtual (cf. supra, p. 74, n. 130 [95, n. 1}.
80 Bergsonismo
.. 1
<1"
,
~I o impulso vital como movimento da diferenciao 81
o
t::
O
..o
..
(\I
u
O
-O
O
,(\1
uo
(\I
><
i.i:
s atualizam por inveno; nessas condies, elas criam o represen-
tante fsico, vital ou psquico do nvel ontolgico que elas encarnam.
Se retivermos to-somente os atuais que terminam cada linha,
estabeleceremos entre eles relaes seja de gradao, seja de oposio.
Entre a planta e o animal, por exemplo, entre o animal e o homem,
veramos to-somente diferenas de grau. Ou ento situaramos emcada
um deles uma oposio fundamental: veramos em um o negativo do
outro, a inverso do outro, ou o obstculo que se ope ao outro. Ocorre
freqentemente a Bergson exprimir-se assim, em termos de contrarie-
dade: a matria apresentada como o obstculo que o impulso vital deve
contornar, e a materialidade como a inverso do movimento da vida143.
No entanto, no se trata de acreditar que Bergson esteja retornando a
uma concepo do negativo que elehavia denunciado antes, menos ainda
que ele esteja voltando a uma teoria das degradaes. Com efeito, bas-
ta recolocar os termos atuais no movimento que os produz, relacion-
los virtualidade que neles seatualiza, para ver que a diferenciao nunca
uma negao, mas uma criao, e que a diferena nunca negativa,
mas essencialmente positiva e criadora.
* * ,~
[1 07J Reencontramos sempre leis comuns a essas linhas de atua-
lizao ou de diferenciao. Entre a vida e a matria, entre a distenso
e a contrao, h uma correlao que d testemunho da coexistncia
dos seus respectivos graus no Todo virtual e de sua relatividade essen-
cial no processo de atualizao. Cada linha de vida relaciona-se com
um tipo de matria, que no somente um meio exterior, mas aqui-
lo em funo do que o vivente fabrica para si um corpo, uma forma.
Eis por que, em relao matria, o vivente aparece antes de tudo como
posio de problema e capacidade de resolver problemas: a constru-
o de um olho, por exemplo, antes de tudo soluo de um proble-
ma posto em funo da luz
144
. E, a cada vez, dir-se- que a soluo
era to boa quanto poderia s-lo, de acordo com a maneira pela qual
o problema fora colocado e de acordo com os meios de que o vivente
dispunha para resolv-lo. ( assim que, se compararmos um instinto
143 Sobre este vocabulrio negativo, cf. EC, todo o capo m.
144 Este carter da vida, posio e soluo de problema, parece a Bergson
mais importante que a determinao negativa da necessidade.
82 Bergsonismo
o impulso vital como movimento da diferenciao
83
semelhante em espcies diversas, no se dever dizer que ele mais ou
menos completo, mais ou menos aperfeioado, mas que ele to per-
feito quanto pode s-lo em variados graus.
145
evidente, todavia, que
cada soluo vital no em si um sucesso: dividindo o animal em dois,
Artrpodes e Vertebrados, no nos demos conta de outras duas dire-
es, Equinodermos e Moluscos, que, para o impulso vital, so um
fracasso
146
. [108J Tudo se passa como se tambm os viventes colo-
cassem falsos problemas, arriscando-se a se perderem. Alm disso, se
toda soluo um sucesso relativo em relao s condies do pro-
blema ou do meio, ela ainda um fracasso relativo em relao ao
movimento que a inventa: a vida, como movimento, aliena-se na for-
ma material que ela suscita; atualizando-se, diferenciando-se, ela per-
de "contato com o resto de si mesma". Toda espcie , portanto, uma
parada de movimento; dir-se-ia que o vivente volteia sobre si mesmo
e se fecha
l47
. No pode ser de outro modo, pois o Todo to-somen-
te virtual, dividindo-se quando passa ao ato e no podendo reunir suas
partes atuais, que permanecem exteriores umas s outras: o Todo nunca
"dado" e, no atual, reina um pluralismo irredutvel tanto de mun-
dos quanto de viventes, estando todos eles "fechados" sobre si mesmos.
Porm, de outro ponto de vista, em outra oscilao, devemos nos
regozijar pelo Todo no ser dado. esse o tema constante do berg-
sonismo, desde o incio: a confuso do espao e do tempo, a assimila-
o do tempo ao espao, isso nos faz acreditar que tudo est dado,
mesmo que s de direito, mesmo que apenas sob o olhar de um Deus.
bem essa a falha comum ao mecanicismo e ao finalismo. Um supe
que tudo seja calculvel em funo [109 J de um estado; o outro su-
145 EC, 640; 172 e MR, 1082; 132 ("[00.1 a cada parada, uma combinao
perfeita em seu gnero").
146 EC, 606; 132.
147 Sobre a oposio vida-forma, EC, 603 ss; 129 ss: "Como turbilhes de
poeira levantados pelo vento que passa, os viventes volteiam sobre si mesmos,
pendentes do grande alento da vida. Eles so, pois, relativamente estveis, e che-
gam a imitar to bem a imobilidade ... ". - Sobre a espcie como "parada", MR,
1153; 221. - esta a origem da noo de fechado, que vai ganhar uma impor-
tncia to grande no estudo da sociedade humana. que, de um certo ponto de
vista, o Homem to voltado sobre si, encerrado sobre si, to circular quanto as
outras espcies animais: dir-se- que ele "fechado". Cf. MR, 1006; 34 e 1193;
273.
pe que tudo seja determinvel em funo de um programa: seja como
for, o tempo a s aparece como uma tela que nos oculta o eterno ou
que nos apresenta sucessivamente o que um Deus ou uma inteligncia
sobre-humana veria de um s golpe
148
. Ora, tal iluso inevitvel,
desde que espacializemos o tempo. No espao, com efeito, basta dis-
por de uma dimenso suplementar quelas nas quais se passa um fe-
nmeno para que o movimento, que est em vias de ocorrer, aparea-
nos como uma forma j pronta. Seconsiderarmos o tempo como quarta
dimenso do espao, acabaremos, por conseguinte, supondo que essa
quarta dimenso contm em bloco todas as formas possveis do uni-
verso; e o movimento no espao, assim como o transcurso no tempo,
ser to-somente aparncia ligada s trs dimenses
l49
. Mas, na ver-
dade, que o espao real tenha s trs dimenses, que o Tempo no seja
uma dimenso do espao, tudo isso significa o seguinte: h uma efi-
ccia, uma positividade do tempo, que se confunde com uma "hesita-
o" das coisas e, assim, com a criao no mundo
l50
.
certo que h um Todo da durao. Esse todo, porm, virtual.
Ele se atualiza segundo linhas divergentes; mas, precisamente, tais li-
nhas no formam um todo por conta prpria e no se assemelham ao
que elas atualizam. Entre o mecanicismo e o finalismo, prefervel este
ltimo, mas sob a condio de submet-lo a {11OJduas correes. De
um lado, tem-se razo em comparar o vivente ao todo do universo;
mas equivoca-se ao interpretar tal comparao como se ela exprimis-
se uma espcie de analogia entre duas totalidades fechadas (macro-
cosmo e microcosmo). Ao contrrio, se o vivente tem finalidade por
ser ele essencialmente aberto a uma totalidade tambm ela aberta: "ou
a finalidade externa ou absolutamente nada" 151. Portanto, toda
comparao clssica que muda de sentido; e no o todo que se fe-
cha maneira de um organismo, mas o organismo que se abre a um
todo e maneira desse todo virtual.
148 EC, 526, 528; 37, 40.
149 DS, 203 ss (sobre o exemplo da "curva plana" e da "curva com trs di-
menses").
150 DS, 84: "uma certa hesitao ou indeterminao inerente a uma certa
parte das coisas", e que se confunde com "a evoluo criadora".
151 EC, 529; 41.
84 Bergsonismo
o impulso vital como movimento da diferenciao 85
Por outro lado, h certamente uma prova da finalidade, justa-
mente medida que so descobertas atualizaes semelhantes, estru-
turas ou aparelhos idnticos sobre linhas divergentes (por exemplo, o
olho no molusco e no vertebrado). O exemplo ser tanto mais signifi-
cativo quanto mais separadas estejam essas linhas, e quanto mais se-
melhante seja o rgo obtido atravs de meios dessemelhantes
152
. V-
se aqui como a prpria categoria de semelhana encontra-se, nos pro-
cessos de atualizao, subordinada s de divergncia, de diferena ou
de diferenciao. Embora formas ou produtos atuais possam asseme-
lhar-se, os movimentos de produo no se assemelham e nem os pro-
dutos se assemelham virtualidade que eles encarnam. Eis por que a
atualizao, a diferenciao so uma verdadeira criao {111]. pre-
ciso que o Todo crie as linhas divergentes segundo as quais ele se atua-
liza e os meios dessemelhantes que ele utiliza em cada linha. H fina-
lidade, porque a vida no opera sem direes; mas no h "meta",
porque tais direes no preexistem j prontas, sendo elas prprias
criadas na "proporo" do ato que as percorre
l53
. Cada linha de atua-
lizao corresponde a um nvel virtual; mas, a cada vez, ela deve in-
ventar a figura dessa correspondncia, criar os meios para o desenvol-
vimento daquilo que estava to-somente envolto, criar os meios para
a distino daquilo que estava em confuso.
A Durao, a Vida, de direito memria, de direito conscin-
cia, de direito liberdade. De direito significa virtualmente. A ques-
to de fato (quid facti?) est em saber em que condies a durao
torna-se de fato conscincia de si, como a vida tem acesso atualmente
a uma memria e a uma liberdade de fato
l54
. A resposta de Bergson
a seguinte: somente na linha do Homem que o impulso vital "pas-
sa" com sucesso; nesse sentido, o homem certamente "a razo de ser
152 EC, 541 sS.; 55 ss. ("Como supor que causas acidentais, apresentando-
se em uma ordem acidental, tenham chegado vrias vezes ao mesmo resultado, sen-
do que as causas so infinitamente numerosas e sendo que o efeito infinitamente
complicado?" [543;57])- L. Cunot exps toda sorte de exemplos no sentido
da teoria bergsoniana, cf. Invention et finalit en biologie.
153 EC, 538; 51.
154 Cf. EC, 649; 182e ES, 818ss; 5 ss.
da totalidade do desenvolvimento"155. Dir-se-ia que no homem, e
somente no homem, o atual torna-se adequado ao virtual. Dir-se-ia
que o homem capaz de reencontrar todos os nveis, todos os graus
de distenso e de contrao que coexistem no Todo virtual, como se
ele fosse capaz de todos os frenesis e fizesse acontecer nele tudo o que,
alhures, {112] s pode encarnar-se em espcies diversas. At nos so-
nhos o homem reencontra ou prepara a matria. E as duraes que
lhe so inferiores ou superiores so ainda interiores a ele. Portanto, o
homem cria uma diferenciao que vale para o Todo e s ele traa uma
direo aberta, capaz de exprimir um todo aberto. Ao passo que as
outras direes se fecham e volteiam em torno de si prprias, ao pas-
so que um "plano" distinto da natureza corresponde a cada uma des-
sas direes, o homem, ao contrrio, capaz de baralhar os planos,
de ultrapassar seu prprio plano como sua prpria condio, para
exprimir, enfim, a Natureza naturante
l56
.
De onde vem tal privilgio do homem? primeira vista, sua ori-
gem humilde. Sendo toda contrao da durao ainda relativa a uma
distenso, e toda vida a uma matria, o ponto de partida encontra-se
em certo estado da matria cerebral. Recordemos que essa matria
"analisava" a excitao recebida, selecionava a reao, tornava possvel
um intervalo entre a excitao e a reao; nada ultrapassa aqui as
propriedades fsico-qumicas de uma matria particularmente compli-
cada. Mas toda a memria, como vimos, que se infiltra nesse intervalo
e se torna atual. toda a liberdade que se atualiza. Sobre a linha de
diferenciao do homem, o impulso vital soube criar com a matria
um instrumento de liberdade, soube "fabricar uma mecnica que triun-
fava sobre o mecanismo", soube "empregar o determinismo da natu-
reza para atravessar as malhas da rede que ele havia distendido,,157.
{113] A liberdade tem precisamente este sentido fsico: "detonar" um
1
'1' , I . d . t t 158
exp OSiVO, utliza- o para mOVimentos ca a vez mais po en es .
155 MR, 1154;223.
156 Sobre o homem que engana a Natureza, transpe seu "plano" e reen-
contra a Natureza naturante, cf. MR, 1022-1029;55-64. - Sobre o ultrapas-
sarnento, pelo homem, de sua condio, MR, passim, e PM, 1425;218.
157 EC, 719;264.
158 ES, 825-826;14-15.
86 Bergsonismo
o impulso vital como movimento da diferenciao
87
Mas ao que parece levar um tal ponto de partida? percepo;
e tambm a uma memria voluntria, pois as lembranas teis se atua-
lizam no intervalo cerebral; inteligncia como rgo de dominao
e de utilizao da matria. Compreende-se, inclusive, que os homens
formem sociedades. - No que a sociedade seja somente ou essencial-
mente inteligente. Sem dvida, desde a origem, as sociedades huma-
nas implicam certa compreenso inteligente das necessidades e certa
organizao racional das atividades. Mas elas tambm se formam e
s subsistem graas a fatores irracionais ou mesmo absurdos. A obri-
gao, por exemplo, no tem fundamento racional. Cada obrigao
particular convencional e pode roar o absurdo; a nica coisa fun-
dada a obrigao de ter obrigaes, o "todo da obrigao"; e isso
no est fundado sobre a razo, mas sobre uma exigncia da nature-
za, sobre uma espcie de "instinto virtual", isto , sobre uma contra-
partida que a natureza suscita no ser racional para compensar a par-
cialidade de sua inteligncia. Cada linha de diferenciao, mesmo sendo
exclusiva, procura alcanar por meios que lhe so prprios as vanta-
gens da outra linha: assim, em sua separao, o instinto e a intelign-
cia so tais que aquele suscita em si um sucedneo de inteligncia, e
esta um equivalente de instinto. essa a "funo fabuladora": instinto
virtual, criador de deuses, inventor de religies, isto , de representa-
es fictcias" que faro frente [114] representao do real e que, por
intermdio da prpria inteligncia, tero xito em suscitar dificuldades
ao trabalho intelectual". Assim, do mesmo modo que a obrigao, cada
deus contingente ou mesmo absurdo, mas o que natural, necessrio
e fundado ter deuses, o panteo dos deuses
159
. Em resumo, dir-se-
que a sociabilidade (no sentido humano) s pode existir nos seres
inteligentes, mas no se funda sobre sua inteligncia: a vida social
imanente inteligncia, comea com ela, mas no deriva dela. Desse
modo, nosso problema parece complicar-se mais do que resolver-se,
pois, se consideramos a inteligncia e a sociabilidade, ao mesmo tempo,
em sua complementaridade e em sua diferena, vemos que nada justi-
fica ainda o privilgio do homem. As sociedades que ele forma no so
menos fechadas do que as de espcies animais; elas fazem parte de um
plano da natureza, tanto quanto as espcies e as sociedades animais;
159 MR, 1145;211.- Sobre a funo fabuladora e o instinto virtual, 1067
ss; 113ss e 1076; 124.- Sobre a obrigao e o instinto virtual, 998; 23.
e o homem gira em crculo em sua sociedade tanto quanto as espcies
em torno de si mesmas ou as formigas em seu domnio
160
. Nada, aqui,
parece conferir ao homem a abertura excepcional anunciada preceden-
temente, como o poder de ultrapassar seu "plano" e sua condio.
Isso correto, a menos que essa espcie de jogo da inteligncia e
da sociedade, esse pequeno intervalo entre os dois, seja, ele prprio,
um fator decisivo. J o pequeno intervalo intracerebral tornava pos-
svel a inteligncia e a atualizao de uma memria til; mais ainda,
graas a ele o corpo imitava a vida do esprito em sua totalidade e
podamos, de sbito, [115] instalarmo-nos no passado puro. Encon-
tramo-nos agora diante de um outro intervalo, intercerebral, entre a
prpria inteligncia e a sociedade: no essa "hesitao" da inteligncia
que vai poder imitar a "hesitao" superior das coisas na durao e
que vai permitir ao homem romper, de sbito, o crculo das socieda-
des fechadas? primeira vista no, pois, se a inteligncia hesita e s
vezes se rebela, , primeiramente, em nome de um egosmo que ela
procura preservar contra as exigncias sociais
161
. E, se a sociedade se
faz obedecer, isso ocorre graas funo fabuladora, que persuade a
inteligncia a ser do interesse desta ratificar a obrigao social. Parece,
portanto, que somos sempre remetidos de um termo a outro. - Mas
tudo muda medida que algo se venha inserir no intervalo.
O que vem inserir-se no intervalo inteligncia-sociedade (tal co-
mo a imagem-lembrana se inseria no intervalo cerebral prprio da inte-
ligncia)? No podemos responder: a intuio. Com efeito, trata-se
de operar uma gnese da intuio, isto , de determinar a maneira pela
qual a prpria inteligncia se converte e convertida em intuio. E se
ns - lembrando-nos de que a inteligncia, de acordo com as leis da
diferenciao, ao separar-se do instinto, guarda todavia um equivalente
de instinto - dissermos que este seria como que o ncleo da intuio,
nada de srio estaremos dizendo, pois esse equivalente de instinto en-
contra-se totalmente mobilizado pela funo fabuladora na sociedade
fechada enquanto tap62. - A verdadeira resposta de Bergson [116]
160 MR, 1006;34.
161 MR, 1053;94 e 1153;222.
162 Bergson, todavia, sugere essa explicao em certos textos, em MR, 1155;
224, por exemplo. Mas ela tem a um valor apenas provisrio.
88 Bergsonismo
o impulso vital como movimento da diferenciao 89
totalmente distinta: o que se vem inserir no intervalo a emoo. Nes-
sa resposta, "no temos a escolha,,163. Por natureza, s a emoo di-
fere ao mesmo tempo da inteligncia e do instinto e, tambm ao mes-
mo tempo, do egosmo individual inteligente e da presso social quase
instintiva. Ningum, evidentemente, nega que emoes possam advir
do egosmo e mais ainda da presso social, com todas as fantasias da
funo fabuladora. Mas, nesses dois casos, a emoo est sempre liga-
da a uma representao, da qual se considera que aquela dependa. Ins-
talamo-nos, assim, em um misto de emoo e representao, sem ver-
mos que a primeira a potncia, sem vermos a natureza da emoo co-
mo elemento puro. Na verdade, a emoo precede toda representao,
sendo ela prpria geradora de idias novas. Propriamente falando, ela
no tem um objeto, mas to-somente uma essncia que se difunde so-
bre objetos diversos, animais, plantas e toda a natureza. "Esta msica
sublime exprime o amor. No , porm, o amor de algum [...] o amor
ser qualificado pela sua essncia, no pelo seu objeto"164. Pessoal, mas
no individual; transcendente, ela como o Deus em ns. "Quando a
msica chora, a humanidade, a natureza inteira que chora com ela.
Verdadeiramente dizendo, ela no introduz tais sentimentos em ns,
mas, sobretudo, nos introduz neles, como [117] passantl)Slevados a dan-
ar". Emsuma, a emoo criadora (primeiramente, porque ela exprime
a criao em sua totalidade; em seguida, porque ela prpria cria a obra
na qual ela se exprime; finalmente, porque ela comunica aos especta-
dores ou ouvintes um pouco dessa criatividade).
O pequeno intervalo "presso da sociedade-resistncia da inte-
ligncia" definia uma variabilidade prpria das sociedades humanas.
Ora, acontece que, graas a esse intervalo, algo de extraordinrio se
produz ou se encarna: a emoo criadora. Esta nada tem a ver com as
presses da sociedade, nem com as contestaes do indivduo. Ela nada
tem a ver com um indivduo que contesta ou mesmo inventa, nem com
163 MR, 1008;35. (A teoria da emoo criadora ainda mais importante
por dar afetividade um estatuto que lhe faltava nas obras precedentes. Em Os
dados imediatos, a afetividade tendia a confundir-se com a durao em geral. Em
Matria e memria, ao contrrio, ela tinha um papel mais preciso, mas era impu-
ra e sobretudo dolorosa.) - Sobre a emoo criadora e suas relaes com a intui-
o, deve-se reportar ao estudo de M. Gouhier em L'histoire et sa philosophie (Vrin,
pp. 76 ss).
164 MR, 1191-1192;270 e 1007-1008;35-36).
uma sociedade que constrange, que persuade ou mesmo fabula 165.Ela
somente se serve desse jogo circular para romper o crculo, assim como
a Memria se servia do jogo circular excitao-reao para encarnar
lembranas em imagens. E o que seria essa emoo criadora seno,
precisamente, uma Memria csmica, que atualiza ao mesmo tempo
todos os nveis, que libera o homem do plano ou do nvel que lhe
prprio para fazer dele um criador, um ente adequado a todo o movi-
mento da criao?166 Tal encarnao da memria csmica em emo-
es criadoras, tal liberao ocorre, sem dvida, em almas privilegia-
das. A emoo criadora salta de uma [118] alma a outra, "de quando
em quando", atravessando desertos fechados. Mas, a cada membro
de uma sociedade fechada, se ele se abre emoo criadora, esta co-
munica a ele uma espcie de reminiscncia, uma agitao que lhe per-
mite prosseguir e, de alma em alma, ela traa o desenho de uma socie-
dade aberta, sociedade de criadores, na qual se passa de um gnio a
outro por intermdio de discpulos, de espectadores ou de ouvintes.
A emoo criadora a gnese da intuio na inteligncia. Por-
tanto, se o homem acede totalidade criadora aberta, por agir, por
criar, mais do que por contemplar. Na prpria filosofia, h ainda muita
contemplao suposta: tudo se passa como se a inteligncia j fosse
penetrada pela emoo, pela intuio, portanto, mas no ainda o su-
ficiente para criar em conformidade com tal emoo
l67
. Por isso, mais
profundamente que os filsofos, as grandes almas so as dos artistas
e dos msticos (pelo menos os ligados a uma mstica crist, que Bergson
descreve como sendo, inteiramente, atividade superabundante, ao,
criao)168. No limite, o mstico que goza de toda a criao, o que
dela inventa uma expresso que tanto mais adequada quanto mais
dinmica for. Serva de um Deus aberto e finito (so essas as caracte-
165 Lembremos que a arte, segundo Bergson, tem tambm duas fontes. H
uma arte fabuladora, seja coletiva, seja individual (MR, 1141-1142;206-207),e
h uma arte emotiva ou criadora (1190;268).Talvez toda arte apresente esses dois
aspectos, mas em proporo varivel. Bergson no esconde que o.aspecto fabulao
parece-lhe inferior em arte; o romance seria sobretudo fabulao; a msica, ao
contrrio, seria emoo e criao.
166 Cf. MR, 1192;270: "[...] criar criadores".
167 MR, 1029;63.
168 Sobre os trs misticismos, grego, oriental e cristo, cf. MR, 1158ss; 229ss.
90 Bergsonismo o impulso vital como movimento da diferenciao 91
rsticas do Impulso vital), a alma mstica goza ativamente de todo o
universo e reproduz a abertura de um Todo, no qual nada h para ver
ou contemplar. J animado pela emoo, o filsofo destacava linhas
que partilhavam entre si os mistos dados na experincia; e ele prolon-
gava o traado dessas linhas para alm da "viravolta" da experincia,
indicando no longnquo o ponto virtual em que todas se reencontra-
vam. Tudo se passa como se o que permanecia [119J indeterminado
na intuio filosfica recebesse uma determinao de um novo gne-
ro na intuio mstica - como se a "probabilidade" propriamente
filosfica se prolongasse em certeza mstica. Sem dvida, o filsofo s
pode considerar a alma mstica to-somente de fora, e do ponto de vista
de suas linhas de probabilidade
169
. Porm, a prpria existncia do
misticismo propicia, justamente, uma probabilidade superior a essa
transmutao final em certeza e como que um envoltrio ou um limi-
te a todos os aspectos do mtodo.
Perguntvamos inicialmente: qual a relao entre os trs con-
ceitos fundamentais de Durao, de Memria e de Impulso vital? Que
progresso marcam eles na filosofia de Bergson? Parece-nos que a
Durao define essencialmente uma multiplicidade virtual (o que di-
fere por natureza). A Memria aparece, ento, como a coexistncia
de todos os graus de diferena nessa multiplicidade, nessa virtuali-
dade. Finalmente, o Impulso vital designa a atualizao desse virtual
segundo linhas de diferenciao que se correspondem com os graus
- at essa linha precisa do homem, na qual o Impulso vital toma
conscincia de si.
169 Cf. MR, 1184; 260 - lembremo-nos de que a noo de probabilidade
tem a maior importncia no mtodo bergsoniano, e que a intuio tanto um
mtodo de exterioridade quanto de interioridade.
I
~
APNDICES
92 Bergsonismo
A paginao da publicao original (Gilles Deleuze, "La con-
ception de la diffrence chez Bergson", Les tudes bergsoniennes, voI.
IV, Paris, Albin Michel, 1956, pp. 77-112) est anotada entre colche-
tes ao longo desta traduo. Tambm entre colchetes aparecem notas
do revisor tcnico.
Luiz B. L. Orlandi
I
I
~.
I
~.
f
i
I
I.
A CONCEPO DA DIFERENA EM BERGSON
(1956)
[79J A noo de diferena deve lanar uma certa luz sobre a fi-
losofia de Bergson, mas, inversamente, o bergsonismo deve trazer a
maior contribuio para uma filosofia da diferena. Uma tal filosofia
opera sempre sobre dois planos, metodolgico e ontolgico. De um
lado, trata-se de determinar as diferenas de natureza entre as coisas:
somente assim que se poder "retornar" s prprias coisas, dar conta
delas sem reduzi-las a outra coisa, apreend-las em seu ser. Mas, por
outro lado, se o ser das coisas est de um certo modo em suas diferen-
as de natureza, podemos esperar que a prpria diferena seja algu-
ma coisa, que ela tenha uma natureza, que ela nos confiar enfim o
Ser. Esses dois problemas, metodolgico e ontolgico, remetem-se
perpetuamente um ao outro: o problema das diferenas de natureza e
o da natureza da diferena. Em Bergson, ns os reencontramos em seu
liame, ns os surpreendemos na passagem de um ao outro.
O que Bergson censura essencialmente a seus antecessores no
terem visto as verdadeiras diferenas de natureza. A constncia de uma
tal crtica nos mostra ao mesmo tempo a importncia do tema em
Bergson. A onde havia diferenas de natureza foram retidas apenas
diferenas de grau. Sem dvida, surge por vezes a censura inversa; a
onde havia somente diferenas de grau foram postas diferenas de
natureza, por exemplo entre a faculdade dita perceptiva do crebro e
as funes reflexas da medula, entre a percepo da matria e a pr-
pria matria 170. Mas esse segundo aspecto da mesma crtica no tem
a freqncia nem a importncia do primeiro. Para julgar acerca do mais
importante, [80J preciso que se interrogue a respeito do alvo da fi-
losofia. Se a filosofia tem uma relao positiva e direta com as coisas,
170 MM (7
a
ed.), pp. 9; 66 [pp. 175; 19 e 219; 76. Como Deleuze fez em Le
bergsonisme, o primeiro algarismo, esquerda do ponto e vrgula, remete pagina-
o da prpria dition du Centenaire, Oeuvres, Paris, PUF, 1963, ao passo que o
segundo algarismo, direita do ponto e vrgula, remete antiga paginao dos li-
vros publicados antes e, depois, incorporados dition du Centenaire (N. do R.T.)].
A concepo da diferena em Bergson 95
issosomente ocorre namedida emque elapretende apreender acoisa
mesma apartir daquilo quetal coisa , emsuadiferena arespeito de
tudo aquilo que no ela, ou seja, emsua diferena interna. Objetar-
se- que a diferena interna no tem sentido, que uma tal noo
absurda; mas, ento, negar-se- ao mesmo tempo quehaja diferenas
denatureza entre coisas do mesmo gnero. Ora, seh diferenas de
natureza entre indivduos deummesmo gnero, deveremos reconhe-
cer, comefeito, que aprpria diferena no simplesmente espao-
temporal, que no tampouco genrica ou especfica, enfim, que no
exterior ousuperior coisa. Eispor queimportante, segundo Berg-
son, mostrar que as idias gerais nos apresentam, ao menos mais fre-
qentemente, dados extremamente diferentes emumagrupamento to-
sutilitrio: "Suponhamos que, examinando osestados agrupados sob
o nome deprazer, nada decomum descubramos entre eles, ano ser
seremestados buscados pelo homem: ahumanidade ter classificado
coisasmuito diferentes emummesmo gnero, porque encontrava nelas
o mesmo interesse prtico ereagia atodas da mesma maneira" 171.
nessesentido que as diferenas denatureza so j achave detudo:
preciso partir delas, precisoinicialmentereencontr-las. Semprejulgar
a natureza da diferena como diferena interna, sabemos j que ela
existe, supondo-se que haja diferenas de natureza entre coisas de um
mesmo gnero. Logo, ou bemafilosofia sepropor esse meio eesse
alvo (diferenas denatureza para chegar diferena interna), ou bem
elaster comascoisas uma relao negativa ougenrica, eladesem-
bocar no elemento da crtica ou da generalidade, emtodo caso em
umestado dareflexo to-s exterior. Situando-se no primeiro ponto
devista, Bergson prope o ideal da filosofia: talhar, "para o objeto,
umconceito apropriado to-somente ao objeto, [81J conceito do qual
mal sepode dizer quesejaainda umconceito, uma vez que s seapli-
ca aesta nica coisa"172. Essaunidade da coisa edo conceito adi-
ferena interna, qual nos elevamos pelas diferenas denatureza.
A intuio ogozo da diferena. Mas elano somente o gozo
do resultado do mtodo, elao prprio mtodo. Como tal, elano
171 PM, (12" ed.), pp. 52-53. [1293-1294; 52-53. (N. do R.T.). [Como ain-
formao posta entre colchetes sempre Nota do Revisor Tcnico, a sigla N. do
R.T. ser doravante suprimida].
172 PM, p. 197. [1408; 197]
umato nico, elanos prope umapluralidade deatos, umapluralidade
deesforos ededirees
173
. Emseuprimeiro esforo, aintuio a
determinao das diferenas denatureza. E como essas diferenas es-
to entre as coisas, trata-se de uma verdadeira distribuio, de um
problema de distribuio. preciso dividir arealidade segundo suas
articulaes
174
, eBergson cita de bomgrado o famoso texto dePla-
to sobreocorteeobomcozinheiro. Mas adiferena denatureza entre
duas coisas no ainda adiferena interna daprpria coisa. Das arti-
culaes do real devemos distinguir aslinhas de fatos
175
, quedefinem
umoutro esforo da intuio. E, seemrelao s articulaes do real
afilosofiabergsoniana seapresenta como umverdadeiro "empirismo",
emrelao s linhas de fatos elaseapresentar sobretudo como um
"positivismo", emesmo comumprobabilismo. Asarticulaes do real
distribuem ascoisas segundo suas diferenas denatureza, formamuma
diferenciao. Aslinhas defatos so direes, cada uma das quais se
segue at a extremidade, direes que convergem para uma nica e
mesmacoisa; elasdefinemumaintegrao, constituindo cadaqual uma
linha deprobabilidade. EmA energia espiritual, Bergson nos mostra
anatureza da conscincia no ponto deconvergncia detrs linhas de
fatos
176
. EmAs duas fontes, aimortalidade da alma est na conver-
gncia deduas linhas de [82J fatos
177
. Nesse sentido, aintuio no
seope hiptese, mas aengloba como hiptese. Emresumo, as arti-
culaesdo real correspondem aumcorteeaslinhas defato correspon-
demauma "interseo"l78. O real, aumstempo, oque secorta e
seinterseciona. Seguramente, oscaminhos so osmesmos nos dois ca-
sos, mas oimportante osentido quesetome neles, seguindo adiver-
gnciaoupegando orumo daconvergncia. Pressentimos sempre dois
aspectos dadiferena: as articulaes do real nos do as diferenas de
natureza entreascoisas; aslinhas defatos nos mostram acoisamesma
idntica asua diferena, adiferena interna idntica aalguma coisa.
173 PM, p. 207. [1416; 207]
174 PM, p. 23. [1270; 23]
175 ES, (7" ed.), p. 4. [817; 4J
176 ES, capo L
177 MR (12" ed.), p. 266. [1188; 266]
178 MR, p. 296. [1211-1212; 296J
96 Apndice I
A concepo da diferena emBergson 97
Negligenciar as diferenas denatureza emproveito dos gneros
, portanto, mentir para com a filosofia. Perdemos as diferenas de
natureza. Encontramo-nos diante deuma cinciaqueassubstituiu por
simples diferenas de grau, ediante de uma metafsica que, mais es-
pecialmente, as substituiu por simples diferenas de intensidade. A
primeira questo concernente cincia: como fazemos para ver so-
mente diferenas degrau? "Dissolvemos as diferenas qualitativas na
homogeneidade do espao queassubtende"179. Sabemos queBergson
invoca as operaes conjugadas da necessidade, da vida social eda
linguagem, da inteligncia edo espao, sendo o espao aquilo que a
inteligncia faz deuma matria que aissosepresta. Emresumo, subs-
titumos as articulaes do real pelos modos s utilitrios deagrupa-
mento. Mas no isso o mais importante; autilidade no pode fun-
dar oque atorna possvel. Assim, preciso insistir sobre dois pontos.
Primeiramente, os graus tmuma realidade efetiva e, sob uma outra
forma que no a espacial, esto eles j compreendidos de umcerto
modo nas diferenas denatureza: "por detrs denossas distines de
qualidade", hquase sempre nmeros
180
. Veremos queuma [83] das
idias mais curiosas deBergson que aprpria diferena temumn-
mero, umnmero virtual, uma espciedenmero numerante. A utili-
dade, portanto, to-somente libera eexpe os graus compreendidos
nadiferena atqueestasejaapenas uma diferena degrau. Mas, por
outro lado, seosgraus podem seliberar para, por si ss, formar dife-
renas, devemos buscar arazo disso no estado daexperincia. Oque
o espao apresenta ao entendimento, o que o entendimento encontra
no espao, so coisas, produtos, resultados enada mais. Ora, entre
coisas (no sentido deresultados), s h espode haver diferenas de
proporo
181
. O que difere por natureza no so as coisas, nem os
estados decoisas, no so ascaractersticas, mas astendncias. Eispor
que aconcepo da diferena especfica no satisfatria: preciso
estar atento no presena decaractersticas, mas asua tendncia a
desenvolver-se. "O grupo no sedefinir mais pelapossedecertas ca-
ractersticas, mas por suatendncia aacentu-las" 182.Assim, emtoda
179 EC, (52"ed.), p. 217. [679;217]
180 PM, p. 61. [1300;61]
181 EC, p. 107.[585;107]
sua obra, Bergson mostrar que atendncia primeira no s emre-
lao ao seuproduto, mas emrelao s causas deste no tempo, sen-
do ascausas sempre obtidas retroativamente apartir do prprio pro-
duto: emsi mesma eemsua verdadeira natureza, uma coisa a ex-
presso deuma tendncia antes deser oefeito deuma causa. Emuma
palavra, a simples diferena de grau ser o justo estatuto das coisas
separadas datendncia eapreendidas emsuas causas elementares. As
causas so efetivamente do domnio daquantidade. Consoante sejaele
encarado emseuproduto ouemsuatendncia, ocrebro humano, por
exemplo, apresentar comocrebro animal uma simples diferena de
grau outoda uma diferena denatureza
183
. Assim, diz Bergson, de um
certo ponto de vista, as diferenas denatureza desaparecem ou antes
no podem aparecer. [84] "Colocando-se nesse ponto de vista", es-
creveeleapropsito dareligio esttica edareligio dinmica, "aper-
ceber-se-iam uma sriedetransies ecomo que diferenas degrau,
londe realmente h uma diferena radical denatureza" 184.Ascoi-
sas, osprodutos, osresultados, so sempre mistos. O espao apresen-
tar sempre eainteligncia s encontrar mistos, misto do fechado e
do aberto, da ordem geomtrica eda ordem vital, da percepo eda
afeco, dapercepo edamemria... etc. preciso compreender que
omisto semdvida uma mistura detendncias que diferempor na-
tureza, mas, como mistura, umestado decoisas emque imposs-
vel apontar qualquer diferena denatureza. O misto o que sevdo
ponto devistaemque, por natureza, nada diferedenada. O homog-
neo o misto por definio, porque osimples sempre alguma coisa
que difere por natureza: somente as tendncias so simples, puras.
Assim, spodemos encontrar o quedifererealmente reencontrando a
tendncia para almde seuproduto. preciso que nos sirvamos da-
quilo que omisto nos apresenta, das diferenas degrau ou depropor-
o, uma vez que no dispomos deoutra coisa, mas delas nos servire-
mos somente como uma medida da tendncia para chegar tendn-
ciacomo razo suficiente daproporo. "Esta diferena depropor-
o bastar para definir o grupo emque ela seencontra, sesepode
182 EC, p. 107.[585,107]
183 EC, pp. 184; 264-265.[650-651;184e718-719;264-2651
184 MR, p. 277. [1157;227]
98 Apndice I
A concepo da diferena emBergson 99
estabelecer que elano acidental eque o grupo, medida que evo-
lua, tendia cada vez mais a pr o acento sobre essas caractersticas
particulares" 185.
A metafsica, por sua vez, s retm diferenas de intensidade.
Bergson nos mostra essaviso daintensidade percorrendo ametafsi-
cagrega: como esta defineoespao eotempo como uma simples dis-
tenso, uma diminuio deser, elasencontra entre osserespropria-
mente ditos diferenas deintensidade, situando-os entre os dois limi-
tes deuma perfeio e[85] deumnada
186
. Precisamos ver como nas-
cetal iluso, oque funda essailuso por suavez nas prprias diferen-
as denatureza. Notemos, desde j, que ela repousa menos sobre as
idias mistas do quesobre aspseudo-idias, adesordem, onada. Mas
estas so ainda uma espciedeidias mistas
187
, eailuso deintensi-
dade repousa emltima instncia sobre a de espao. Finalmente, s
h umtipo defalsos problemas, os problemas que no respeitam em
seuenunciado as diferenas denatureza. umdos papis daintuio
o dedenunciar seucarter arbitrrio.
Para chegar s verdadeiras diferenas, preciso reencontrar o
ponto devista que permita dividir o misto. So as tendncias que se
opem duas a duas, que diferem por natureza. a tendncia que
sujeito. Umser no osujeito, mas aexpresso datendncia, eainda
umser somente aexpresso datendncia medida queelacontra-
riada por uma outra tendncia. Assim, aintuio apresenta-se como
ummtodo da diferena ou da diviso: dividir o misto emduas ten-
dncias. Essemtodo coisa distinta deuma anlise espacial, mais
do queuma descrio daexperincia emenos (aparentemente) do que
umaanlisetranscendental. Eleeleva-seatascondies dodado, mas
tais condies so tendncias-sujeito, so elas mesmas dadas deuma
certa maneira, so vividas. Almdisso, so ao mesmo tempo opuro e
ovivido, oviventeeovivido, oabsoluto eovivido. Que ofundamen-
to seja fundamento, mas no seja menos constatado, isso o essen-
cial, esabemos o quanto Bergson insiste sobre ocarter emprico do
impulso vital. No devemos ento nos elevar s condies como s
185 EC, p. 107.[585;107]
186 EC, p. 318. [76455;31855]
187 EC, p. 233,235.[692,694;233-235]
condies detoda experincia possvel, mas como scondies daex-
perincia real: Schellingj sepropunha essealvo edefinia sua filoso-
fiacomo umempirismo superior. A frmula tambm adequada ao
bergsonismo. Setaiscondies podemedevemser apreendidas emuma
intuio, justamente porque elas so [86] as condies da experin-
cia real, porque elas no so mais amplas que o condicionado, por-
queoconceito queelasformam idntico ao seuobjeto. Portanto, no
o caso deseespantar quando seencontra emBergson uma espcie
deprincpio derazo suficiente edos indiscernveis. O que elerecusa
uma distribuio que pe arazo no gnero ou na categoria eque
deixa oindivduo nacontingncia, ou seja, no espao. preciso quea
razo v at ao indivduo, que o verdadeiro conceito v at acoisa,
que acompreenso chegue at o "isto". Por que isto antes que aqui-
lo, eisaquesto dadiferena, queBergsoncolocasempre. Por queuma
percepo vai evocar tal lembrana antes que uma outra?188 Por que
apercepo vai "colher" certas freqncias, por que estas antes que
outras?189 Por quetal tenso dadurao?190 Defato, preciso quea
razo sejarazo disso queBergsondenomina nuana. Na vidapsquica
no h acidentes
191
: anuana aessncia. Enquanto no achamos o
conceito quesconvenha ao prprio objeto, "o conceito nico", con-
tentamo-nos comexplicar o objeto por meio devrios conceitos, de
idias gerais "das quais sesupe que eleparticipe"192: o que escapa,
ento, que o objeto sejaesteantes que umoutro do mesmo gnero,
equenestegnero haja tais propores antes queoutras. Satendn-
ciaaunidade do conceito edeseuobjeto, detal modo que o objeto
no mais contingente nemo conceito geral. Mas provvel que to-
das essas precises concernentes ao mtodo no evitemoimpasse em
queesteparececulminar. Comefeito, omisto deveser dividido emduas
tendncias: as diferenas deproporo no prprio misto no nos di-
zemcomo encontraremos tais tendncias, qual a regra de diviso.
188 MM, p. 179.[308-309;184- eno179]
189 PM, p. 61. [1300;61]
190 PM, p. 208. [1417;208]
191 PM, p. 179.[1394;179]
192 PM, p. 199.[1410;199]
100 Apndice I A concepo da diferena emBerg50n 101
Ainda mais, das duas tendncias, qual ser a boa? As duas [87] no
seequivalem, diferem emvalor, havendo sempre uma tendncia do-
minante. E somente atendncia dominante que define averdadeira
natureza do misto, apenas ela conceito nico es ela pura, pois
elaapureza dacoisa correspondente: aoutra tendncia aimpure-
zaque vemcomprometer aprimeira, contrari-la. Os comportamen-
tos animais nos apresentam o instinto como tendncia dominante, e
oscomportamentos humanos apresentam ainteligncia. No misto da
percepo eda afeco, a afeco desempenha o papel da impureza
quesemistura percepo pura193. Emoutros termos, nadiviso, h
uma metade esquerda euma metade direita. Sobre o que nos regula-
mos para determin-las? Reencontramos sob essaforma uma dificul-
dade que Plato jencontrava. Como responder aAristteles, quan-
do este notava que o mtodo platnico da diferena era apenas um
silogismo fraco, incapaz deconcluir emqual metade do gnero divi-
dido sealinhava aidia buscada, uma vez que otermo mdio faltava?
E Plato parece ainda mais bemarmado que Bergson, porque aidia
de umBemtranscendente pode efetivamente guiar a escolha da boa
metade. Mas Bergson recusa emgeral orecurso finalidade, como se
elequisesse que o mtodo da diferena sebastasse asi prprio.
A dificuldade talvez sejailusria. Sabemos queasarticulaes do
real no definemaessncia eo alvo do mtodo. A diferena denatu-
rezaentre asduas tendncias semdvida umprogresso sobre adife-
rena degrau entre as coisas, sobre a diferena de intensidade entre
os seres. Mas ela no deixa deser uma diferena exterior, uma dife-
renaainda externa. Nesseponto no faltaintuio bergsoniana, para
ser completa, umtermo exterior quelhepossa servir deregra; ao con-
trrio, elaapresenta ainda muita exterioridade. Tomemos umexem-
plo: Bergson mostra queo tempo abstrato ummisto deespao ede
durao [88] eque, mais profundamente, oprprio espao ummis-
to dematria edurao, dematria ememria. Eisento omisto que
sedivide emduas tendncias: comefeito, amatria uma tendncia,
j que definida como umafrouxamento; a durao uma tendn-
cia, sendo uma contrao. Mas, seconsideramos todas as definies,
asdescries eascaractersticas dadurao naobra deBergson, aper-
193 MM, p. 50. [207; 60 - no 50]
cebemo-nos que a diferena de natureza, finalmente, no est entre
essas duas tendncias. Finalmente, aprpria diferena denatureza
uma das duas tendncias, e seope outra. Com efeito, o que a
durao? Tudo o que Bergson diz acerca dela volta sempre a isto: a
durao o que difere de si. A matria, ao contrrio, o que no di-
feredesi, oque serepete. EmOs dados imediatos, Bergson no mos-
tra somente que aintensidade ummisto que sedivide emduas ten-
dncias, qualidade pura equantidade extensiva, mas sobretudo que a
intensidade no uma propriedade dasensao, queasensao qua-
lidade pura, eque aqualidade pura ou asensao difere por natureza
desi mesma. A sensao o que muda denatureza eno degrande-
za194. A vidapsquica, portanto, aprpria diferena denatureza: na
vidapsquica hsempre outro semjamais haver nmero ou vrios
l95
.
Bergson distingue trs tipos de movimentos, qualitativo, evolutivo e
extensivo
l96
, mas aessncia detodos eles, mesmo dapura translao
como o percurso deAquiles, aalterao. O movimento mudana
qualitativa, e a mudana qualitativa movimento
l97
. Emsuma, a
durao o quedifere, eoque difereno mais oque difere deoutra
coisa, mas o que difere desi. O que difere tornou-se eleprprio uma
coisa, uma substncia. A tese deBergson poderia exprimir-se assim:
o tempo real alterao, eaalterao substncia. A diferena [89]
denatureza, portanto, no estmais entre duas coisas, entre duas ten-
dncias, sendo ela prpria uma coisa, uma tendncia que seope
outra. A decomposio do misto no nos d simplesmente duas ten-
dncias que diferempor natureza, elanos d adiferena denatureza
como uma das duas tendncias. E, do mesmo modo que adiferena
setornou substncia, o movimento no mais acaracterstica deal-
guma coisa, mas tomou eleprprio umcarter substancial, no pres-
supe qualquer outra coisa, qualquer mvel
198
. A durao, atendn-
ciaadiferena desi para consigo; eo que difere desi mesmo ime-
diatamente aunidade da substncia edo sujeito.
194 DI, 41' ed., capo L
195 DI, p. 90. [80-81; 90]
196 EC, p. 303. [752; 303]
197 MM, p. 217. [337-338; 227 - no 217]
198 PM, pp. 163, 167. [1381-1382; 163 e 1384-1385; 167]
102 Apndice I A concepo da diferena em Bergson 103
Sabemos ao mesmo tempo dividir o misto eescolher aboa ten-
dncia, uma vez que hsempre direita o que difere desi mesmo, ou
seja, adurao, que nos revelada emcada caso sob umaspecto, em
uma desuas "nuanas". Notar-se-, entretanto, que, segundo o mis-
to, ummesmo termo est ora direita, ora esquerda. A diviso dos
comportamentos animais pe ainteligncia do lado esquerdo - uma
vez queadurao, oimpulso vital, seexprime atravs delescomo ins-
tinto -, ao passo que est direita na anlise dos comportamentos
humanos. Mas ainteligncia spode mudar delado ao revelar-se, por
suavez, como uma expresso dadurao, agora nahumanidade: sea
inteligncia tem a forma da matria, ela tem o sentido da durao,
porque rgo dedominao da matria, sentido unicamente mani-
festado no homem
199
. No deadmirar que adurao tenha, assim,
vrios aspectos, que so as nuanas, pois elao que difere desi mes-
mo; eser preciso ir mais longe, at o fim, at ver enfimna matria
uma derradeira nuana dadurao. Mas para compreender esselti-
mo ponto, omais importante, precisamos, inicialmente, lembrar oque
setornou adiferena. Elano est entre duas tendncias, elaprpria
uma das tendncias esepe sempre direita. A diferena externa
tornou-se diferena [90] interna. A diferena de natureza, ela prpria,
tornou-se uma natureza. Bemmais, ela o era desde o incio. nesse
sentido que as articulaes do real eas linhas defatos remetiam umas
s outras: as articulaes do real desenhavam tambm linhas defatos
quenos mostravam ao menos adiferena interna como olimitedesua
convergncia, e, inversamente, as linhas defatos nos davam tambm
as articulaes do real, como, por exemplo, aconvergncia detrs li-
nhas diversas, emMatria e memria, nos levaverdadeira distribui-
o do que cabe ao sujeito, do que cabe ao objet0
20o
. A diferena de
natureza eraexterior somente emaparncia. Nessa mesma aparncia,
elaj sedistinguia da diferena degrau, da diferena deintensidade,
da diferena especfica. Mas, no estado da diferena interna, outras
distines devemser feitas agora. Com efeito, seadurao pode ser
apresentada como a prpria substncia, por ser ela simples, indi-
visvel. A alterao deveento manter-se eachar seu estatuto semse
199 EC, pp. 267, 270. [721; 267 e 723-724; 2701
200 PM, p. 81. [1316; 81]
deixar reduzir pluralidade, nemmesmo contradio, nemmesmo
alteridade. A diferena interna dever sedistinguir da contradio,
daalteridade eda negao. a que o mtodo eateoria bergsoniana
da diferena seoporo a esse outro mtodo, a essa outra teoria da
diferena que sechama dialtica, tanto a dialtica da alteridade, de
Plato, quanto adialtica da contradio, deHegel, ambas implican-
do apresena eo poder do negativo. A originalidade da concepo
bergsoniana estemmostrar queadiferenainterna no vai eno deve
ir atacontradio, ataalteridade, atonegativo, porque essastrs
noes so de fato menos profundas que ela ou so vises que inci-
demsobreelaapenas defora. Pensar adiferenainterna como tal, como
pura diferena interna, chegar at o puro conceito de diferena, ele-
var adiferena ao absoluto, tal o sentido do esforo deBergson.
[91) A durao somenteuma dasduas tendncias, umadasduas
metades; mas, se verdadeiro que emtodo seu ser ela difere de si
mesma, no conteria elao segredo da outra metade? Como deixaria
ainda no exterior de si isto de que eladifere, aoutra tendncia? Sea
durao difere desi mesma, isto dequeeladifere ainda durao, de
umcerto modo. No setrata de dividir adurao como sedividia o
misto: elasimples, indivisvel, pura. Trata-se deuma outra coisa: o
simples no sedivide, ele se diferencia. Diferenciar-se aprpria es-
sncia do simples ou o movimento da diferena. Assim, o misto se
decompe emduas tendncias, uma das quais o indivisvel, mas o
indivisvel sediferencia emduas tendncias, uma das quais, aoutra,
o princpio do divisvel. O espao decomposto emmatria edura-
o, mas a durao sediferencia emcontrao edistenso, sendo a
distenso o princpio damatria. A forma orgnica decomposta em
matria eimpulso vital, mas o impulso vital sediferencia eminstinto
eeminteligncia, sendo ainteligncia princpio da transformao da
matria emespao. No da mesma maneira, evidentemente, que o
misto decomposto eque o simples sediferencia: o mtodo da dife-
rena o conjunto desses dois movimentos. Mas agora a respeito
desse poder dediferenciao que preciso interrogar. eleque nos
levar at oconceito puro dadiferena interna. Determinar essecon-
ceito, enfim, sermostrar de que modo oquediferedadurao, aoutra
metade, pode ser ainda durao.
EmDurao e simultaneidade, Bergson atribui durao um
curioso poder de englobar asi prpria e, ao mesmo tempo, desere-
partir em fluxo e de seconcentrar emuma s corrente, segundo a
104 Apndice I A concepo da diferena em Bergson 105
natureza daaten0
201
. EmOs dados imediatos, aparece aidia fun-
damental devirtualidade, que ser retomada edesenvolvida emMa-
tria e memria: adurao, oindivisvel, no exatamente oque no
sedeixa dividir, mas o que muda denatureza ao dividir-se, [92J eo
que muda assim de natureza define o virtual ou o subjetivo. Mas
sobretudo emA evoluo criadora que acharemos os ensinamentos
necessrios. A biologia nos mostra o processo da diferenciao ope-
rando-se. Buscamos oconceito dadiferena enquanto estano sedei-
xa reduzir ao grau, nemintensidade, nemalteridade, nemcon-
tradio: uma tal diferena vital, mesmo que seuconceito no seja
propriamente biolgico. A vidaoprocesso dadiferena. Aqui Bergson
pensa menos na diferenciao embriolgica do que na diferenciao
das espcies, ou seja, na evoluo. ComDarwin, o problema da dife-
rena eo da vida foram identificados nessa idia deevoluo, ainda
que Darwin, eleprprio, tenha chegado a uma falsa concepo da
diferena vital. Contra umcerto mecanicismo, Bergson mostra que a
diferena vital uma diferena interna. Mas eletambm mostra que
adiferena interna no pode ser concebida como uma simples deter-
minao: uma determinao pode ser acidental, ao menos elaspode
dever o seu ser a uma causa, a um fimou a um acaso, implicando,
portanto, uma exterioridade subsistente; almdo mais, arelao de
vrias determinaes to-somente deassociao ou deadi0202. A
diferena vital no s deixa de ser uma determinao, como ela o
contrrio disso; , sesequiser, aprpria indeterminao. Bergson in-
sistesempreno carter imprevisvel das formas vivas: "indeterminadas,
quero dizer, imprevisveis"203; e, para ele, o imprevisvel, o indeter-
minado no o acidental, mas, ao contrrio, o essencial, a negao
do acidente. Fazendo dadiferena uma simples determinao, ou bem
aentregamos ao acaso, ou bematornamos necessria emfuno de
alguma coisa, mas tornando-a acidental ainda emrelao vida. Mas,
emrelao vida, atendncia para mudar no acidental; mais ain-
da, as prprias mudanas no so [93J acidentais
204
, sendo o impul-
201 DS (4' ed., p. 67). [Sabe-se que este texto no consta da dition du Cen-
tenaire]
202 EC, capo I.
203 EC, p. 123.[598-599;123]
204 EC, p. 86. [568;86]
so vital "a causa profunda das variaes"205. Isso quer dizer que a
diferena no uma determinao, mas , nessarelao essencial com
avida, uma diferenciao. Semdvida, adiferenciao vemda resis-
tncia encontrada pelavidado lado damatria, mas, inicialmente, ela
vemsobretudo da fora explosiva interna que a vida traz emsi. "A
essncia de uma tendncia vital desenvolver-se emforma de feixe,
criando, to-s pelofato do seucrescimento, direes divergentes entre
asquais sedistribuir oimpulso,,206: avirtualidade existedetal modo
queserealiza dissociando-se, sendo forada adissociar-se para serea-
lizar. Diferenciar-se o movimento deuma virtualidade que seatua-
liza. A vida difere desi mesma, detal modo que nos acharemos dian-
te delinhas deevoluo divergentes e, emcada linha, diante depro-
cedimentos originais; mas ainda esomente desi mesma queeladife-
re, detal modo que, emcada linha tambm, acharemos certos apare-
lhos, certas estruturas dergos idnticos obtidos por meios diferen-
tes
207
. Divergncia das sries, identidade decertos aparelhos, tal o
duplo movimento da vida como umtodo. A noo de diferenciao
traz ao mesmo tempo asimplicidade deumvirtual, adivergncia das
sriesnas quais eleserealizaeasemelhana decertos resultados funda-
mentais que eleproduz nessas sries. Bergson explica a que ponto a
semelhana umacategoria biolgicaimportante
208
: elaaidentidade
do que difere desi mesmo, elaprova que uma mesma virtualidade se
realiza na divergncia das sries, elamostra aessncia subsistindo na
mudana, assimcomo adivergnciamostrava aprpria mudana agin-
do na essncia. "Que chance haveria para que duas evolues total-
mente diferentes culminassem [94J emresultados similares atravs de
duas sriesinteiramente diferentes deacidentes queseadicionam?,,209
EmAs duas fontes, Bergson retoma aesseprocesso dediferen-
ciao: adicotomia alei da vida
210
. Mas aparece algo denovo: ao
205 EC, p. 88. [570;88]
206 MR, p. 317.[1225;313,no317)
207 EC, p. 55. [541 ss; 55 ss]
208 PM, p. 58. [1298;58]
209 EC, p. 54. [541; 54]
210 MR, p. 317. [1226;313-314,no317)
106
Apndice I A concepo da diferena em Bergson 107
lado dadiferenciao biolgicaapareceumadiferenciao propriamen-
tehistrica. Semdvida, adiferenciao biolgica encontra seuprin-
cpio naprpria vida, mas elano est menos ligada matria, detal
modo que seus produtos permanecem separados, exteriores um ao
outro. "A materialidade que elas", as espcies, "deram asi as impede
devoltar aunir-se para restabelecer demaneira mais forte, mais com-
plexa, mais evoluda, atendncia original". No plano da histria, ao
contrrio, no mesmo indivduo ena mesma sociedade que evoluem
as tendncias que seconstituram por dissociao. Desde ento elas
evoluemsucessivamente, mas no mesmo ser: ohomem iromais lon-
gepossvel emuma direo, depois retornar rumo outra
211
. Esse
texto ainda mais importante por ser umdos raros emque Bergson
reconhece uma especificidade do histrico emrelao ao vital. Qual
o seusentido? Significaque comohomem, esomente comohomem,
adiferena torna-se consciente, eleva-seconscincia desi. Seapr-
pria diferena biolgica, a conscincia da diferena histrica.
verdade que no sedeveria exagerar afuno dessa conscincia his-
trica dadiferena. Segundo Bergson, mais ainda do quetrazer onovo,
elalibera do antigo. A conscincia jestava a, comenaprpria dife-
rena. A durao por si mesma conscincia, avida por si mesma
conscincia, mas elao de direito
212
. Seahistria o que reanima a
conscincia, ouantes olugar no qual elasereanima esecolocadefato,
somente porque essa conscincia idntica vida estava [95] ador-
mecida, entorpecida na matria, conscincia anulada, no conscin-
cianula
2l3
. Demaneira alguma aconscincia histrica emBergson,
eahistria somente o nico ponto emque aconscincia sobressai,
tendo atravessado amatria. Desse modo, h uma identidade de di-
reito entre aprpria diferena eaconscincia da diferena: ahistria
sempre to-somente defato. Tal identidade dedireito dadiferena e
da conscincia da diferena a memria: ela deve nos propiciar en-
fimanatureza do puro conceito.
Porm, antes dechegar a, preciso ainda ver como o processo
da diferenciao basta para distinguir o mtodo bergsoniano eadia-
211 MR, pp. 318-319. [1226; 314, no 318-319]
212 EE, p. 13. [824; 13)
213 EE, p. 11. [822-823; 11]
ltica. A grande semelhana entre Plato eBergson que ambos fize-
ramuma filosofia da diferena emque esta pensada como tal eno
sereduz contradio, no vai at acontradio
214
. Mas oponto de
separao, no o nico, mas o mais importante, parece estar na pre-
senanecessriadeumprincpio definalidade emPlato: apenas oBem
dconta dadiferena dacoisa enos faz compreend-la emsi mesma,
como no exemplo famoso deScrates sentado emsuapriso. Ademais,
emsua dicotomia, Plato temnecessidade do Bemcomo da regra da
escolha. No h intuio emPlato, mas uma inspirao pelo Bem.
Nesse sentido, pelo menos umtexto deBergson seria muito platni-
co: emAs duas (antes, elemostra que, para encontrar as verdadeiras
articulaes do real, preciso interrogar arespeito das funes. Para
que serve cada faculdade, qual , por exemplo, a funo da fabula-
o?215A diferena dacoisa lhevemaqui do seuuso, do seufim, da
sua destinao, do Bem. Mas sabemos que o recorte ou as articula-
es do real so to-somente uma primeira expresso [96] do mto-
do. O que preside o recorte das coisas efetivamente sua funo, seu
fim, de tal modo que, nesse nvel, elas parecem receber de fora sua
prpria diferena. Mas justamente por essa razo que Bergson, ao
mesmo tempo, critica afinalidade eno seatmsarticulaes do real:
aprpria coisa eo fimcorrespondente so defato uma nica emes-
macoisa, que, deumlado, encarada como omisto que elaforma no
espao e, por outro, como adiferena easimplicidade desua dura-
o pura
216
. J no setrata defalar defim: quando adiferena tor-
nou-se aprpria coisa, no h mais lugar para dizer que acoisa rece-
besua diferena deumfim. Assim, aconcepo que Bergson temda
diferena de natureza permite-lhe evitar, ao contrrio dePlato, um
verdadeiro recurso finalidade. Do mesmo modo, apartir dealguns
textos deBergson, podem-se prever as objees que elefaria a uma
dialtica detipo hegeliano, da qual, alis, eleest muito mais longe
214 Entretanto, sobre esse ponto, no pensamos que Bergson tenha sofrido
a influncia do platonismo. Mais perto dele havia Gabriel Tarde-, que caracteri-
zava sua prpria filosofia como uma filosofia da diferena eadistinguia das filo-
sofias da oposio. Mas a concepo que Bergson tem da essncia edo processo
da diferena totalmente distinta da de Tarde.
21S MR, p. 111.[1066;111]
216 EC, p. 89. [570 ss; 89 ss)
I11
1.1
1
, I
I I
I I
I I
108 Apndice I A concepo da diferena emBergson 109
do que daquela dePlato. EmBergson, egraas noo devirtual, a
coisa, inicialmente, difere imediatamente de si mesma. Segundo He-
gel, a coisa difere de si mesma porque ela, primeiramente, difere de
tudo o que elano , detal maneira que adiferena vai at contra-
dio. Pouco nos importa aqui adistino do contrrio eda contra-
dio, sendo esta to-s aapresentao deumtodo como contrrio.
Dequalquer maneira, nos doiscasos, substituiu-se adiferenapelojogo
da determinao. "No h realidade concreta emrelao qual no
sepossa ter ao mesmo tempo as duas vises opostas, eque, por con-
seguinte, no sesubsuma aos dois conceitos antagonistas"217. Com
essas duas vises pretende-se emseguida recompor acoisa, dizendo-
se, por exemplo, que adurao sntese da unidade eda multiplici-
dade. Ora, seaobjeo que Bergson podia fazer ao platonismo era a
deater-se este a uma concepo da diferena ainda externa, a obje-
o queelefezauma dialtica dacontradio adeater-seestaauma
concepo dadiferena [97]somente abstrata. "Essa combinao (de
dois conceitos contraditrios) no poder apresentar nemuma diver-
sidade degraus nemuma variedade deformas: elaou no ,,218. O
queno comporta nemgraus nemnuanas uma abstrao. Assim, a
dialtica da contradio falseia aprpria diferena, que arazo da
nuana. E acontradio, finalmente, to-s uma das numerosas ilu-
sesretrospectivas queBergsondenuncia. Aquilo quesediferencia em
duas tendncias divergentes uma virtualidade e, como tal, algo de
absolutamente simples que serealiza. Ns otratamos como umreal,
compondo-o comoselementos caractersticos deduas tendncias, que,
todavia, s foram criadas pelo seuprprio desenvolvimento. Acredi-
tamos que a durao difere de si mesma por ser ela, inicialmente, o
produto deduas determinaes contrrias; esquecemos que elasedi-
ferenciou por ser deincio justamente oque difere desi mesma. Tudo
retoma crtica que Bergson faz do negativo: chegar concepo de
uma diferena semnegao, que no contenha o negativo, este o
maior esforo deBergson. Tanto emsua crtica da desordem, quanto
do nada ou da contradio, eletenta mostrar que a negao de um
217 PM, p. 198. [1409; 198]
218 PM, p. 207. [1416; 207]
219 MR, p. 321. [1228;317no321]
termo real por outro somente arealizao positiva de uma virtua-
lidade que continha ao mesmo tempo os dois termos. "A luta aqui
to-s o aspecto superficial deumprogresso,,219. Ento, por igno-
rncia do virtual que secr na contradio, na negao. A oposio
dos dois termos somente arealizao da virtualidade que continha
todos dois: isso quer dizer que adiferena mais profunda que ane-
gao, que acontradio.
Sejaqual for a importncia da diferenciao, ela no o mais
profundo. Seo fosse, no haveria qualquer razo para falar de um
conceito dadiferena: adiferenciao uma ao, uma realizao. O
quesediferencia , primeiramente, oque difere desi mesmo, isto , o
virtual. A diferenciao no o [98] conceito, mas a produo de
objetos que acham sua razo no conceito. Ocorre que, severdadei-
ro que o que difere desi deveser umtal conceito, necessrio que o
virtual tenha uma consistncia, consistncia objetiva que o torne ca-
paz de sediferenciar, que o torne apto a produzir tais objetos. Em
pginas essenciais consagradas aRavaisson, Bergson explica que h
duas maneiras de determinar o que as cores tmemcomum
220
. Ou
bem extramos aidia abstrata egeral decor, "apagando do verme-
lho o que faz delevermelho, do azulo que faz dele azul, do verde o
que faz dele verde", o que, ento; nos coloca diante de umconceito
que umgnero, diante de objetos que so vrios para um mesmo
conceito, de modo que o conceito eo objeto fazem dois, sendo de
subsuno arelao entreambos, enquanto permanecemos, assim, nas
distines espaciais, emumestado da diferena exterior coisa. Ou
bem fazemos que ascoisas sejamatravessadas por uma lente conver-
gente que as conduza aum mesmo ponto, e, neste caso, o que obte-
mos "a pura luz branca", aquela que "fazia ressaltar as diferenas
entre as tintas", demodo que, ento, as diferentes cores j no so
objetos sob umconceito, mas asnuanas ou osgraus do prprio con-
ceito, graus daprpria diferena, eno diferenasdegraus, sendo agora
arelao no mais desubsuno, mas departicipao. A luz branca
ainda umuniversal, mas umuniversal concreto, quenos faz compreen-
der o particular, porque est eleprprio no extremo do particular.
Assimcomo as coisas setornaram nuanas ou graus do conceito, o
prprio conceito tornou-se acoisa. uma coisa universal, sesequer,
220 PM, pp. 259-260.[1455-1456;259-260]
110
Apndice I A concepo da diferena em Bergson 111
uma vez que os objetos sedesenham a como graus, mas umconcre-
to, no umgnero ou uma generalidade. Propriamente falando, no
hvrios objetos para ummesmo conceito, mas oconceito idntico
prpria coisa; eleadiferena entre si dos objetos que lheso rela-
cionados, no sua semelhana. O conceito tornado conceito da dife-
rena: [99}esta a diferena interna. O que era preciso fazer para
atingir esseobjetivo filosficosuperior? Erapreciso renunciar apensar
no espao: adistino espacial, comefeito, "no comporta graus,,221.
Era preciso substituir as diferenas espaciais pelas diferenas tempo-
rais. O prprio da diferena temporal fazer do conceito uma coisa
concreta, porque ascoisas a so nuanas ougraus que seapresentam
no seio do conceito. nessesentido que o bergsonismo ps no tempo
adiferena e, comela, oconceito. "Seo mais humilde papel do esp-
rito ligar os momentos sucessivos da durao das coisas, senessa
operao queeletoma contato comamatria, esetambm graas a
essaoperao que ele, inicialmente, sedistingue damatria, concebe-
seuma infinidade de graus entre a matria e o esprito plenamente
desenvolvido"222. Asdistines do sujeito edo objeto, do corpo edo
esprito so temporais e, nessesentido, dizemrespeito agraus
223
, mas
no so simples diferenas degrau. Vemos, portanto, como ovirtual
torna-se o conceito puro da diferena, eo que umtal conceito pode
ser: umtal conceito a coexistncia possvel dos graus ou das nuanas.
Se, malgrado o paradoxo aparente, chamamos memria essacoexis-
tncia possvel, como ofaz Bergson, devemos dizer que oimpulso vi-
tal menos profundo que a memria, eesta menos profunda que a
durao. Durao, memria, impulso vital formam trs aspectos do
conceito, aspectos que se distinguem com preciso. A durao adi-
ferena consigo mesma; amemria acoexistncia dos graus da dife-
rena; o impulso vital adiferenciao da diferena. Essestrs nveis
definemumesquematismo na filosofia deBergson. O sentido dame-
'mria dar virtualidade daprpria durao uma consistncia obje-
'tiva que faa desta umuniversal concreto, que atorne apta asereali-
zar. Quando avirtualidade serealiza, isto , quando elasediferencia,
221 MM, p. 247. [355; 249 no 247)
222 MM, p. 48. [355; 249 no 248]
223 MM, p. 65. [218; 74 no 65]
pelavida [100}esob uma forma vital; nessesentido, verdadeiro
queadiferena vital. Mas avirtualidade spdediferenciar-seapartir
dos graus quecoexistiam nela. A diferenciao somente aseparao
do que coexistia na durao. As diferenciaes do impulso vital so
mais profundamente os graus daprpria diferena. E os produtos da
diferenciao so objetos absolutamente conformes ao conceito, pelo
menos emsuapureza, porque, naverdade, so to-somente aposio
complementar dos diferentes graus doprprio conceito. semprenesse
sentido que ateoria da diferenciao menos profunda que ateoria
das nuanas ou dos graus.
O virtual define agora um modo de existncia absolutamente
positivo. A durao ovirtual; eesteouaquele grau dadurao real
medida que essegrau sediferencia. Por exemplo, a durao no
emsi psicolgica, mas o psicolgico representa umcerto grau da du-
rao, grau que serealiza dentre outros eno meio deoutros
224
. Sem
dvida, o virtual emsi o modo daquilo que no age, uma vez que
eles agir diferenciando-se, deixando de ser emsi, mas guardando
algo de sua origem. Mas, por isso mesmo, eleo modo daquilo que
. EssatesedeBergsonparticularmente clebre: ovirtual alembran-
apura, ealembrana pura adiferena. A lembrana pura virtual,
porque seria absurdo buscar a marca do passado emalgo de atual e
jrealizado
225
; alembrana no arepresentao de alguma coisa,
elanada representa, ela, ou, secontinuamos afalar ainda derepre-
sentao, "ela no nos representa algo que tenha sido, mas simples-
mente algo que [...] uma lembrana do presente,,226. Comefeito,
elano temque sefazer, formar-se, no temque esperar que aper-
cepo desaparea, elano posterior percepo. A coexistncia do
passado com o presente que ele [101}foi um tema essencial do berg-
sonismo. Mas, apartir dessas caractersticas, quando dizemos que a
lembrana assimdefinida aprpria diferena, estamos dizendo duas
coisas ao mesmo tempo. Deumlado, alembrana pura adiferena,
porque nenhuma lembrana seassemelha a uma outra, porque cada
lembrana imediatamente perfeita, porque elauma vez o que ser
224 PM, p. 210. [1419; 210]
225 MM, p. 145. [282; 155 no 145)
226 EE, p. 146. [92155; 14155)
112 Apndice I A concepo da diferena em Berg50n 113
sempre: adiferena o objeto da lembrana, como asemelhana o
objeto da percep0
227
. Basta sonhar para seaproximar dessemun-
do onde nada seassemelha anada; umpuro sonhador jamais sairia
do particular, eles apreenderia diferenas. Mas alembrana adi-
ferena emumoutro sentido ainda, ela portadora dadiferena; pois,
severdadeiro que as exigncias do presente introduzem alguma se-
melhana entre nossas lembranas, inversamente alembrana intro-
duz adiferena no presente, no sentido deque elaconstitui cada mo-
mento seguinte como algo novo. Do fato mesmo deque opassado se
conserva, "o momento seguinte contm sempre, almdo precedente,
alembrana queestelhedeixou,,228; "adurao interior avidacon-
tnua deuma memria queprolonga opassado no presente, seja por-
que o presente encerra diretamente" [Bergson diz distintamente] "a
imagemsempre crescente do passado, sejasobretudo porque ele, pela
suacontnua mudana dequalidade, dtestemunho dacarga cadavez
mais pesada quealgumcarrega emsuas costas medida quevai cada
vezmais envelhecendo,,229. Deuma maneira distinta dadeFreud, mas
to profundamente quanto, Bergson viu que amemria erauma fun-
o do futuro, que a memria eavontade eram to-s uma mesma
funo, quesomente umser capaz dememria podia desviar-sedo seu
passado, desligar-se dele, no repeti-lo, fazer o novo. Assim, apala-
vra "diferena" designa, ao mesmo tempo, oparticular que eonovo
que se faz. A lembrana definida emrelao percepo da qual
contempornea e, ao mesmo tempo, emrelao ao momento [102]
seguinte no qual ela seprolonga. Reunindo-se os dois sentidos, tem-
seuma impresso incomum: adeser agido eadeagir ao mesmo tem-
po230. Mas como deixar de reunir esses dois sentidos, uma vez que
minha percepo j o momento seguinte?
Comecemos pelo segundo sentido. Sabe-sequal aimportncia
que aidia denovidade ter para Bergson emsua teoria do futuro e
227 MM, p. 169. [292-293)
228 PM, p. 183. [1398; 183-184]
229 PM, p. 201. [1411; 200-201. Bergson escreve "distinctement", no "di-
rectement" como est aqui transcrito por Deleuze, que, por sua vez, cita correta-
mente a mesma passagem emLe bergsonisme, Paris, PUF, 1966, p. 45, ep. 39
desta edio)
230 EE, p. 148. [926-927; 148]
daliberdade. Mas devemos estudar essanoo no nvel mais preciso,
quando elaseforma, parece-nos que no segundo captulo do Ensaio
sobre os dados imediatos. Dizer queopassado seconserva emsi eque
seprolonga no presente dizer que o momento seguinte aparece sem
queoprecedente tenha desaparecido. Issosupe uma contrao, ea
contrao que define a dura0
231
. O que se ope contrao a
repetio pura ou amatria: arepetio omodo deumpresente que
saparece quando ooutro desapareceu, oprprio instante ou aexte-
rioridade, avibrao, adistenso. A contrao, ao contrrio, designa
adiferena, porque, emsuaessncia, elatorna impossvel uma repeti-
o, porque eladestri aprpria condio detoda repetio possvel.
Nesse sentido, a diferena o novo, aprpria novidade. Mas como
definir aapario dealgo denovo em geral? No segundo captulo do
Ensaio, encontra-se aretomada desseproblema, ao qual Hume tinha
vinculado seunome. Hume colocava oproblema dacausalidade, per-
guntando como uma pura repetio, repetio decasos semelhantes
que nada produz denovo no objeto, pode, entretanto, produzir algo
denovo no esprito que acontempla. Esse "algo denovo", a espera
damilionsima vez, eisadiferena. A resposta era que, searepetio
produzia uma diferena no esprito que aobservava, isso ocorria em
virtude deprincpios danatureza humana e, notadamente, do princ-
pio do hbito. Quando Bergson analisa o exemplo das batidas do re-
lgio oudo martelo, elecoloca oproblema do mesmo modo eo(103]
resolvedemaneira anloga: oqueseproduz denovo nada nos obje-
tos, mas no esprito que os contempla, uma "fuso", uma "inter-
penetrao", uma "organizao", umaconservao do precedente que
no desaparece quando o outro aparece, enfim, uma contrao que
sefaz no esprito. A semelhana vai ainda mais longe entre Hume e
Bergson: assimcomo, emHume, oscasos semelhantes sefundiam na
imaginao, mas permaneciam ao mesmo tempo distintos no enten-
dimento, emBergson osestados sefundem nadurao, mas guardam
aomesmo tempo algo da exterioridade daqual elesadvm; graas a
esseltimo ponto que Bergson d conta da construo do espao.
Portanto, acontrao comea por sefazer dealgum-modo no espri-
to; elacomo que aorigemdo esprito; elafaz nascer adiferena. Em
seguida, mas somente emseguida, o esprito aretoma por sua conta,
231 EC, p. 201. [664-665; 201]
114 Apndice I
A concepo da diferena em Bergson 115
elecontrai esecontrai, como sevna doutrina bergsoniana daliber-
dade
232
. Mas jnos basta ter apreendido anoo emsua origem.
No somente adurao eamatria diferempor natureza, mas o
que assimdifere aprpria diferena earepetio. Reencontramos,
ento, uma antiga dificuldade: havia diferena denatureza entre duas
tendncias e, ao mesmo tempo emais profundamente, elaerauma das
duas tendncias. E no havia apenas esses dois estados da diferena,
mas dois outros ainda: a tendncia privilegiada, a tendncia direita
diferenciando-se emdois estados, epodendo diferenciar-se porque,
mais profundamente, havia graus nadiferena. So essesquatro esta-
dos que preciso agora reagrupar: a diferena de natureza, a diferen-
a interna, a diferenciao eos graus da diferena. Nosso fio condu-
tor este: adiferena (interna) difere(por natureza) darepetio. Mas
vemos muito bemque uma tal frase no seequilibra: simultaneamen-
te, a diferena a dita interna edifere no exterior. Entretanto, se
antevemos o esboo deuma soluo, [104} porque Bergson sededi-
ca anos mostrar que adiferena ainda uma repetio eque arepe-
tio juma diferena. Comefeito, arepetio, amatria bemuma
diferena; as oscilaes so bemdistintas, uma vez que "uma sees-
vanece quando aoutra aparece". Bergson admite que acincia tente
atingir aprpria diferena epossaconsegui-lo; elevnaanlise infini-
tesimal umesforo dessegnero, uma verdadeira cincia da diferen-
a
233
. Mais ainda, quando Bergson nos mostra o sonhador vivendo
no particular at apreender somente as diferenas puras, elenos diz
que essa regio do esprito reencontra a matria
234
, eque sonhar
desinteressar-se, ser indiferente. Portanto, seriaincorreto confundir
arepetio comageneralidade, pois esta, ao contrrio, supe acon-
trao do esprito. A repetio nada criano objeto, deixa-o subsistir,
emesmo o mantm emsua particularidade. A repetio forma gne-
ros objetivos, masemsi mesmostais gneros no soidiasgerais, pois
no englobamumapluralidade deobjetos queseassemelham, mas nos
apresentam somente aparticularidade deumobjeto queserepeteidn-
tico asi mesm0
235
. A repetio, portanto, uma espciedediferena,
232 DI, 3 capo
233 PM, p. 214. [1422; 214J
234 EC, p. 210. [672; 210)
235 PM, p. 59. [1292; 59J
mas uma diferena sempre no exterior desi, uma diferena indiferen-
teasi. Inversamente, a diferena, por sua vez, uma repetio. Com
efeito, vimos que, emsua prpria origemeno ato dessa origem, adi-
ferena era uma contrao. Mas qual o efeito detal contrao? Ela
elevacoexistncia o que serepetia emoutra parte. Emsua origem,
oesprito to-somente acontrao dos elementos idnticos, epor isso
elememria. Quando Bergson nos faladamemria, eleaapresenta
sempre sob dois aspectos, dos quais osegundo mais profundo queo
primeiro: amemria-lembrana eamemria-contra0
236
. [105} Con-
traindo-se, o elemento da repetio coexiste consigo, multiplica-se se
sequer, retm-se asi mesmo. Assim, definem-se graus decontrao,
cada umdos quais, no seunvel, apresenta-nos acoexistncia consigo
mesmo do prprio elemento, ou seja, o todo. semparadoxo, por-
tanto, queamemria sejadefinidacomo acoexistnciaempessoa, pois,
por suavez, todos osgraus possveis decoexistncia coexistem consi-
go mesmos eformam a memria. Os elementos idnticos da repeti-
o material fundem-se emuma contrao; tal contrao apresenta-
nos, ao mesmo tempo, algo denovo, adiferena, egraus que so os
graus dessaprpria diferena. nessesentido que adiferena ainda
uma repetio, tema esteao qual Bergsonretoma constantemente: "A
mesma vida psicolgica, portanto, seria repetida umnmero indefi-
nido de vezes, emnveis sucessivos da memria, eo mesmo ato do
esprito poderia efetuar-se emalturas diferentes,,237; asseesdo cone
so "outras tantas repeties denossavidapassada inteira"238; "tudo
sepassa, pois, como senossas lembranas fossemrepetidas umnmero
indefinido devezesnessas mil redues possveis denossa vidapassa-
da,,239. V-seadistino queresta afazer entre arepetio material e
essa repetio psquica: no mesmo momento que toda nossa vida
passada infinitamente repetida; valedizer, arepetio virtual. Alm
disso, avirtualidade no temoutra consistncia almdaquela quere-
cebedetal repetio original. "Esses planos no so dados [...] como
coisas prontas, superpostas umas s outras. Eles existem sobretudo
virtualmente, gozam dessa existncia que prpria das coisas do es-
236 MM, p. 21. [176; 21J
237 MM, p. 108. [250; 115 no 108]
238 MM, p. 184. [307; 188 no 184]
239 MM, p. 185. [308; 188, no 185)
116 Apndice I A concepo da diferena em Bergson 117
prito,,240. Nesse ponto, seriaquase possvel dizer que, emBergson,
amatria que sucesso, eadurao, coexistncia: "Uma ateno
vidaquefossesuficientemente potente, esuficientemente destacada de
todo interesse [106J prtico, abarcaria assimemumpresente indiviso
toda ahistria passada dapessoaconsciente,,241. Mas adurao uma
coexistncia virtual; o espao uma coexistncia deumgnero intei-
ramente distinto, uma coexistncia real, uma simultaneidade. Eispor
que acoexistncia virtual, que define a durao, ao mesmo tempo
uma sucesso real, ao passo que amatria, finalmente, nos d menos
umasucesso do queasimplesmatria deuma simultaneidade, deuma
coexistncia real, deuma justaposio. Emresumo, os graus psqui-
cos so outros tantos planos virtuais decontrao, de nveis deten-
so. A filosofiadeBergsonremata-se emumacosmologia, naqual tudo
mudana detenso edeenergia enada mais.
242
A durao, tal como
sed intuio, apresenta-se como capaz demil tenses possveis, de
uma diversidade infinita dedistenses econtraes. A combinao de
conceitos antagonistas censurada por Bergson pelo fato despoder
nos apresentar uma coisa emum bloco, semgraus nemnuanas, ao
passo que aintuio, contrariamente, nos d "uma escolha entre uma
infinidade deduraes possveis"243, "uma continuidade deduraes
que devemos tentar seguir sejapara baixo, sejapara cima,,244.
Como serenemosdois sentidos dadiferena: adiferena como
particularidade que , ea diferena como personalidade, indetermi-
nao, novidade que sefaz? Os dois sentidos s podem seunir por e
nos graus coexistentes da contrao. A particularidade apresenta-se
efetivamente como amaior distenso, umdesdobramento, umaexpan-
so; nas sees do cone, abaseaportadora das lembranas sob sua
forma individual. "Elas tomam uma forma mais banal quando ame-
mria sefecha mais, mais pessoal quando ela sedilata,,245. Quanto
240 MM, p. 270. [371; 272 no 270]
241 PM, p. 170. [1387; 169-170]
242 MM, p. 224. [335; 224]
243 PM, p. 208. [1417; 208]
244 PM, p. 210. [1419; 210]
245 MM, p. 185. [308; 188 no 185]
maisacontrao sedistende, maisaslembranas so individuais, 1' 07/
distintas uma das outras, eselocalizam
246
. O particular cncontrasl'
no limitedadistenso ou daexpanso, eseumovimento scr prolon,
gado pelaprpria matria queeleprepara. A matria eadurao silO
dois nveisextremos dedistenso edacontrao, como oso, napr-
pria durao, opassado puro eopuro presente, alembrana eapcr-
cepo. V-se, portanto, que opresente, emsuaoposio particula-
ridade, sedefinir como asemelhana ou mesmo como auniversali-
dade. Umser que vivesseno presente puro evoluiria no universal; "o
hbito para aao o que ageneralidade para o pensamento,,247.
Mas os dois termos que assim seopem so somente os dois graus
extremos que coexistem. A oposio sempre apenas acoexistncia
virtual de dois graus extremos: a lembrana coexiste com aquilo de
que ela a lembrana, coexiste com a percepo correspondente; o
presente to-somente o grau mais contrado damemria, umpas-
sado imediato
248
. Entre os dois, portanto, encontraremos todos os
graus intermedirios, que so os da generalidade ou, antes, os que
formam elesprprios aidia geral. V-seaque ponto amatria no
eraageneralidade: averdadeira generalidade supeumapercepo das
semelhanas, uma contrao. A idia geral umtodo dinmico, uma
oscilao; "a essncia da idia geral mover-se semcessar entre aes-
fera da ao ea da memria pura", "ela consiste na dupla corrente
que vai deuma outra,,249. Ora, sabemos que os graus intermedi-
rios entre dois extremos esto aptos a restituir esses extremos como
osprprios produtos deuma diferenciao. Sabemos que ateoria dos
graus funda uma teoria dadiferenciao: basta quedois graus possam
ser opostos umao outro na memria para que, ao mesmo tempo, se-
jamadiferenciao do intermedirio emduas tendncias oumovimen-
tos que se[108 J distinguem por natureza. Por serem o presente eo
passado dois graus inversos, elessedistinguem por natureza, so adi-
ferenciao, o desdobramento do todo. A cada instante, adurao se
desdobra emdois jatos simtricos", umdos quais recai emdireo ao
246 MM, p. 187. [307-308; 187]
247 MM, p. 169. [296; 173 no 169]
248 MM, p. 163. [288; 163]
249 MM, p. 176 e 177. [301-302; 180 no 176 e 177]
118 Apndice I
A concepo da diferena em Bergson 119
passado, enquanto o outro selana para o futuro,,25o. Dizer que o
presente o grau mais contrado do passado dizer tambm que ele
seope por natureza ao passado, queumfuturo iminente. Entramos
no segundo sentido dadiferena: algodenovo. Mas oqueessenovo,
exatamente? A idiageral essetodo quesediferenciaemimagenspar-
ticulares eematitude corporal, mas tal diferenciao ainda o todo
dos graus que vo deumextremo aoutro, equepe umno outr0
251
.
A idiageral oquepe alembrana naao, oque organiza aslem-
branas comosatos, oquetransforma alembrana empercepo; mais
exatamente, elao que torna as imagens oriundas do prprio passa-
do cada vez mais "capazes de seinserir no esquema motor,,252. O
particular posto no universal, eisafuno daidiageral. A novidade,
o algo de novo, justamente que o particular esteja no universal. O
novo no evidentemente o presente puro: este, tanto quanto alem-
brana particular, tende para oestado da matria, no emvirtude do
seudesdobramento, mas desuainstantaneidade. Mas, quando opar-
ticular desceno universal ou alembrana no movimento, o ato auto-
mtico d lugar ao voluntria elivre. A novidade o prprio de
umser que, ao mesmo tempo, vai evemdo universal ao particular,
ope umao outro ecoloca estenaquele. Umtal ser pensa, quer elem-
bra-se ao mesmo tempo. Emresumo, o que une erene os dois senti-
dos da diferena so todos os graus dageneralidade.
Para muitos leitores, Bergsonduma certa impresso devagueza
ede incoerncia. De vagueza porque [109J o que elenos ensina, fi-
nalmente, que a diferena o imprevisvel, a prpria indetermina-
o. Deincoerncia porque ele, por suavez, parece retomar uma aps
outra cada uma das noes que criticou. Suacrtica incidiu sobre os
graus, mas ei-Ios retornando ao primeiro plano da prpria durao,
atal ponto que o bergsonismo uma filosofia dos graus: "Por graus
insensveis, passamos das lembranas dispostas ao longo do tempo aos
movimentos que desenham sua ao nascente ou possvel no espa-
o,,253; "assim, alembrana transforma-se gradualmente empercep-
250 ES, [918-922; 137-147].
251 MM, p. 176. [302; 180 no 176]
252 MM, pp. 134-140. [266-271; 135-141 no 134-140]
253 MM, p. 75. [225; 83 no 75]
o,,254. Do mesmo modo, h graus da liberdade
255
. A crtica bcrg-
soniana incidiu especialmente sobre aintensidade, mas eis que adis-
tenso eacontrao so invocadas como princpios deexplicao fun-
damentais; "entre amatria bruta eoesprito mais capaz dereflexo,
h todas as intensidades possveis da memria ou, o que d no mes-
mo, todos os graus da liberdade,,256. Finalmente, sua crtica incidiu
sobre onegativo eaoposio, mas ei-Iosreintroduzidos comainver-
so: aordem geomtrica diz respeito ao negativo, nasceu da "inver-
so da positividade verdadeira", de uma "interrupo"257; secom-
paramos a cincia e a filosofia, vemos que a cincia no relativa,
mas "diz respeito a uma realidade de ordem inversa,,258. - Toda-
via, no acreditamos que essaimpresso deincoerncia sejajustifica-
da. Inicialmente, verdadeiro queBergsonretoma aos graus, mas no
s diferenas de grau. Toda sua idia a seguinte: que no h dife-
renas degrau no ser, mas graus da prpria diferena. Asteorias que
procedem por diferenas de grau confundiram precisamente tudo,
porque no viram as diferenas denatureza, perderam-se no espao
enos mistos que estenos apresenta. Acontece [11O J que o que difere
por natureza , finalmente, aquilo que, por natureza, difere de si pr-
prio, demodo que aquilo deque eledifere somente seu mais baixo
grau; o que assimdifere de si prprio a durao, definida como a
diferena de natureza empessoa. Quando a diferena de natureza
entre duas coisas torna-se uma das duas coisas, aoutra somente o
ltimo grau desta. assimque, empessoa, adiferena denatureza
exatamente acoexistncia virtual dedois graus extremos. Como eles
so extremos, a dupla corrente que vai de um a outro forma graus
intermedirios. Estes constituiro o princpio dos mistos, enos faro
crer emdiferenas de grau, mas somente seos consideramos emsi
mesmos, esquecendo que as extremidades que renem so duas coi-
sas que diferem por natureza, sendo na verdade os graus da prpria
diferena. Portanto, o que difere adistenso eacontrao, amat-
254 MM, p. 139. [274; 144 no 139]
255 DI, p. 180. [156; 180]
256 MM, p. 248. [355; 250 no 248]
257 EC, p. 220. [681; 220]
258 EC, p. 231. [690; 231]
120 Apndice I A concepo da diferena em Bergson 121
ria e a durao como graus, como intensidades da diferena. E se
Bergson no cai assimemuma simples viso das diferenas degrau
emgeral, eletampouco retoma, emparticular, viso das diferenas
deintensidade. A distenso eacontrao so graus da prpria dife-
rena to-somente porque seopem eenquanto seopem. Extremos,
eles so inversos. O que Bergson censura na metafsica no ter ela
visto que adistenso eacontrao so o inverso, eter, assim, acredi-
tado que setratava apenas dedois graus mais ou menos intensos na
degradao deummesmo Ser imvel, estvel, etern0
259
. Defato, as-
simcomo os graus seexplicam pela diferena eno o contrrio, as
intensidades seexplicam pela inverso easupem. No h no prin-
cpio umSer imvel eestvel; aquilo de que preciso partir apr-
pria contrao, adurao, da qual adistenso ainverso. Encon-
trar-se- sempre emBergson essecuidado de achar o verdadeiro co-
meo, o verdadeiro ponto do qual preciso partir: assim, quanto
percepo eafeco, "emlugar [lllJ departir da afeco, da qual
nada sepode dizer, pois no h qualquer razo para que ela seja o
que eno sejaqualquer outra coisa, partimos da ao"260. Por que
adistenso o inverso dacontrao, eno acontrao o inverso da
distenso? Porque fazer filosofia justamente comear pela diferen-
a, eporque adiferena denatureza adurao, da qual amatria
somente omais baixo grau. A diferena overdadeiro comeo; por
a que Bergson sesepararia mais deSchelling, pelo menos emaparn-
cia; comeando por outra coisa, por umSer imvel eestvel, coloca-
seno princpio umindiferente, toma-se ummenos por ummais, cai-
senuma simples viso das intensidades. Mas, quando funda ainten-
sidade nainverso, Bergsonparece escapar dessaviso, maspara to-
somente retornar ao negativo, oposio. Mesmo nessecaso, tal cen-
sura no seria exata. Emltima instncia, aoposio dos dois termos
quediferempor natureza to-s arealizao positiva deuma virtua-
lidade que continha a ambos. O papel dos graus intermedirios est
justamente nessa realizao: elespem umno outro, alembrana no
movimento. No pensamos, portanto, que haja incoerncia na filo-
sofia deBergson, mas, ao contrrio, umgrande aprofundamento do
259 EC, pp. 319-326. [765-773; 319-326]
260 MM, p. 56. [211; 65 no 56]
conceito de diferena. Finalmente, no pensamos tampouco 11UI' ,\
indeterminao sejaumconceito vago. Indeterminao, imp'"('V1S,h,
lidade, contingncia, liberdade significamsempre uma indepelldC'lltl,\
emrelao s causas: neste sentido que Bergson enaltece o impulw
vital commuitas contingncias
261
. O que elequer dizer que, deai
gummodo, acoisa vemantes desuas causas, que preciso comear
pela prpria coisa, pois as causas vmdepois. Mas aindeterminao
jamais significa que acoisa ou aao teriam podido ser outras. "Po-
deria o ato ser outro?" uma questo vazia de sentido. A exigncia
bergsoniana a de levar a compreender por que a coisa mais isto
do que outra [112J coisa. A diferena que explicativa da prpria
coisa, eno suas causas. " preciso buscar aliberdade emuma certa
nuana ou qualidade daprpria ao eno emuma relao desseato
como que eleno ou teria podido ser,,262. O bergsonismo uma
filosofia da diferena ederealizao da diferena: h adiferena em
pessoa, eesta serealiza como novidade.
Traduo de Lia Guarino e Fernando Fagundes Ribeiro
261 EC, p. 255. [710-711; 255]
262 DI, p. 142. [120; 137 no 142)
122 Apndice I
A concepo da diferena emBergson
123
A paginao da publicao original (GiIlesDeleuze, "Bergson",
in Maurice Merleau-Ponty [org.], Les phi/ osophes clebres, Paris, Ma-
zenod, 1956, pp. 292-299) est anotada entre colchetes ao longo des-
ta traduo.
Luiz B. L. Orlandi
11.
BERGSON
(1956)
[292] Umgrande filsofo aquele que cria novos conceitos: es-
ses conceitos ultrapassam as dualidades do pensamento ordinrio e,
ao mesmo tempo, do s coisas uma verdade nova, uma distribuio
nova, umrecorte extraordinrio. O nome de Bergson permanece li-
gado s noes dedurao, memria, impulso vital, intuio. Suain-
fluncia eseugnio seavaliam graas maneira pela qual tais concei-
tos seimpuseram, foramutilizados, entraram epermaneceram no mun-
do filosfico. Desde Os dados imediatos, oconceito original dedura-
o estava formado; emMatria e memria, umconceito de mem-
ria; emA evoluo criadora, o de impulso vital. A relao das trs
noes vizinhas deveindicar-nos o desenvolvimento eoprogresso da
filosofia bergsoniana. Qual , pois, essarelao?
Emprimeiro lugar, entretanto, nsnos propomos estudar somen-
teaintuio, no que elasejao essencial, mas porque elacapaz de
nos ensinar sobre anatureza dos problemas bergsonianos. No por
acaso que, falando da intuio, Bergson nos mostra qual a impor-
tncia, na vida do esprito, de uma atividade que pe econstitui os
problemas
263
: h mais falsos problemas do que falsas solues, eeles
aparecem antes de haver falsas solues para os verdadeiros proble-
mas. Ora, se uma certa intuio encontra-se sempre no corao da
doutrina deumfilsofo, uma das originalidades de Bergson est em
que sua prpria doutrina organizou aprpria intuio como umver-
dadeiro mtodo, mtodo para eliminar os falsos problemas, para co-
locar osproblemas comverdade, mtodo queoscoloca ento emter-
mos dedurao. "As questes relativas ao sujeito eao objeto, sua
distino e suaunio, devemser colocadas mais emfuno do tem-
po do que do espao"264. Semdvida, adurao que julga aintui-
o, como Bergson lembrou vrias vezes, mas, ainda assim, somen-
263 La Pense et / e Mouvant, lI .
264 Matiere et Mmoire, I.
Bergson 125
te a intuio que pode, quando tomou conscincia de si como mto-
do, buscar a durao nas coisas, evocar a durao, requerer a dura-
o, precisamente porque ela deve durao tudo o que ela . Por-
tanto, se a intuio no um simples gozo, nem um pressentimento,
nem simplesmente um procedimento afetivo, ns devemos determinar
primeiramente qual o seu carter realmente metdico.
A primeira caracterstica da intuio que, nela e por ela, algu-
ma coisa seapresenta, sed empessoa, ao invs de ser inferida de outra
coisa econcluda. O que est em questo, aqui, j a orientao geral
da filosofia; com efeito, no basta dizer que a filosofia est na origem
das cincias eque ela foi sua me; agora que elas esto adultas e bem
constitudas, preciso perguntar por que h ainda filosofia, em que a
cincia no basta. {293J Ora, a filosofia respondeu de apenas duas
maneiras a uma tal questo, e isto porque, sem dvida, h somente
duas respostas possveis: uma vez dito que acincia nos d um conhe-
cimento das coisas, que ela est, portanto, em certa relao com elas,
a filosofia pode renunciar a rivalizar com a cincia, pode deixar-lhe
as coisas, e s apresentar-se de uma maneira crtica como uma refle-
xo sobre esse conhecimento que se tem delas. Ou ento, ao contr-
rio, a filosofia pretende instaurar, ou antes restaurar, uma outra rela-
o com as coisas, portanto um outro conhecimento, conhecimento e
relao que acincia precisamente nos ocultava, de que ela nos priva-
va, porque ela nos permitia somente concluir einferir, sem jamais nos
apresentar, nos dar a coisa em si mesma. nessa segunda via que
Bergson seempenha, repudiando as filosofias crticas, quando ele nos
mostra na cincia, e tambm na atividade tcnica, na inteligncia, na
linguagem cotidiana, na vida social e na necessidade prtica, enfim e
sobretudo no espao, outras tantas formas erelaes que nos separam
das coisas e de sua interioridade.
Mas a intuio tem uma segunda caracterstica: assim compreen-
dida, ela se apresenta como um retorno. Com efeito, a relao filos~-
fica que nos insere nas coisas, ao invs de nos deixar de fora, maiS
restaurada do que instaurada pela filosofia, mais reencontrada do
que inventada. Estamos separados das coisas, o dado imediato no ,
portanto, imediatamente dado; mas ns no podemos estar separados
por um simples acidente, por uma mediao que viria de ns, que con-
cerniria to-somente a ns: preciso que esteja fundado nas prprias
coisas o movimento que as desnatura; para que terminemos por perd-
las, preciso que as coisas comecem por se perder; preciso que um
esquecimento esteja fundado no ser. A matria justamente, no ser,
aquilo que prepara e acompanha o espao, a inteligncia e a cincia.
graas a isso que Bergson faz coisa totalmente distinta de uma psi-
cologia, uma vez que, mais do que ser a simples inteligncia um prin-
cpio psicolgico da matria edo espao, a prpria matria um prin-
cpio ontolgico da inteligncia
265
. por isso tambm que ele no
recusa direito algum ao conhecimento cientfico, e nos diz que esse
conhecimento no nos separa simplesmente das coisas e de sua ver-
dadeira natureza, mas que apreende pelo menos uma das duas meta-
des do ser, um dos dois lados do absoluto, um dos dois movimentos
da natureza, aquele emque a natureza sedistende esepe ao exterior
de si
266
. Bergson ir mesmo mais longe, uma vez que, em certas con-
dies, a cincia pode unir-se filosofia, ou seja, ter acesso com ela a
uma compreenso total
267
. De qualquer maneira, ns podemos dizer
desde j que no haver em Bergson a menor distino de dois mun-
dos, um sensvel, outro inteligvel, mas somente dois movimentos ou
antes dois sentidos de um nico e mesmo movimento: um deles tal
que o movimento tende a se congelar em seu produto, no resultado
que o interrompe; o outro sentido o que retrocede, que reencontra
no produto o movimento do qual eleresulta. Do mesmo modo, os dois
sentidos so naturais, cada um sua maneira: o primeiro sefaz segundo
a natureza, mas esta corre a o risco de se perder a cada repouso, a
cada respirao; o segundo se faz contra a natureza, mas ela a se re-
encontra, ela se retoma na tenso. O segundo s pode ser encontrado
sob o primeiro, e sempre assim que ele reencontrado. Ns reen-
contramos o imediato, porque, para encontr-lo, preciso retornar.
Em filosofia, a primeira vez j a segunda; essa a noo de funda-
mento. Sem dvida, de certa maneira, o produto que , e o movi-
mento que no , que no mais. Mas no nesses termos que se
deve colocar o problema do ser. A cada instante, o movimento j no
, mas isso porque, precisamente, ele no secompe de instantes, por-
que os instantes so apenas as suas paradas reais ou virtuais, seu pro-
duto ea sombra de seu produto. O ser no secompe com presentes.
265 L' Evolution Cratrice, m.
266 PM, lI .
267 PM, VI.
126
Apndice II Bergson 127
Deoutra maneira, portanto, o produto que no eo movimento
quej era. Emumpasso deAquiles, os instantes eos pontos no so
segmentados. Bergson nos mostra issoemseulivro mais difcil: no
o presente que eo passado que no mais, mas o presente til, o
ser o passado, o ser era
268
- [294J veremos que essatese funda o
imprevisvel eo contingente, ao invs desuprimi-los. Bergson substi-
tuiu a distino de dois mundos pela distino de dois movimentos,
dedois sentidos deumnico emesmo movimento, oesprito eama-
tria, dedois tempos namesma durao, o passado eopresente, que
elesoube conceber como coexistentes justamente porque elesestavam
namesma durao, umsob ooutro eno umdepois do outro. Trata-
sedenos levar, ao mesmo tempo, acompreender adistino necess-
ria como diferena detempo, etambm acompreender tempos dife-
rentes, opresente eopassado, como contemporneos umdo outro, e
formando o mesmo mundo. Ns veremos deque maneira.
Por que dar o nome deimediato quilo que reencontramos? O
que o imediato? Seacincia umconhecimento real da coisa, um
conhecimento da realidade, o que elaperde ou simplesmente corre o
risco deperder no exatamente acoisa. O que acincia corre o ris-
co de perder, a menos que sedeixe penetrar de filosofia, menos a
prpria coisa do que adiferena dacoisa, o que faz seuser, o que faz
que elaseja sobretudo isto do que aquilo, sobretudo isto do que ou-
tra coisa. Bergson denuncia comenergia o que lhe parece ser falsos
problemas: por queh sobretudo algo do que nada, por que sobretu-
do aordem do que adesordem
269
? Setais problemas so falsos, mal
colocados, issoacontece por duas razes. Primeiro, porque elesfazem
do ser uma generalidade, algo de imutvel e de indiferente que, no
conjunto imvel emque tomado, pode distinguir-se to-somente do
nada, do no ser. Emseguida, mesmo que setente dar ummovimen-
to ao ser imutvel assimposto, tal movimento ser apenas o da con-
tradio, ordemedesordem, ser enada, uno emltiplo. Mas, defato,
assimcomo o movimento no secompe depontos do espao ou de
instantes, oser no pode secompor dedois pontos devista contradi-
trios: as malhas seriam muito frouxas
27o
. O ser ummau conceito
268 MM, m.
269 EC, m.
270 PM, IV.
enquanto servepara opor tudo o que ao nada, ou aprpria coisa a
tudo aquilo que elano : nos dois casos, o ser abandonou, desertou
das coisas, no passa de uma abstrao. Portanto, a questo berg-
soniana no : por que sobretudo alguma coisa do que nada?, mas:
por que sobretudo isto do que outra coisa? Por que tal tenso da du-
ra0
271
? Por que sobretudo esta velocidade do que uma outra
272
?
Por que tal propor0
273
? E por que uma percepo vai evocar tal
lembrana, ou colher certas freqncias, sobretudo umas do que ou-
tras
274
? Isso quer dizer que o ser adiferena, eno o imutvel ou o
indiferente, tampouco a contradio, que somente um falso movi-
mento. O ser aprpria diferena dacoisa, aquilo que Bergson cha-
mafreqentemente denuana. "Umempirismo digno destenome [...]
talha para o objeto umconceito apropriado ao objeto apenas, con-
ceito do qual mal sepode dizer que ainda sejaumconceito, uma vez
que eles seaplica unicamente aesta coisa,,275. E, emumtexto cu-
rioso, no qual Bergson atribui a Ravaisson a inteno de opor a in-
tuio intelectual idia geral como a luz branca simples idia de
cor, l-seainda: "Emlugar dediluir seupensamento no geral, o fil-
sofo deve concentr-lo no individual [...] O objeto da metafsica
reapreender, nas existncias individuais, seguindo-o atafonte deque
ele emana, o raio particular que, conferindo a cada uma delas sua
nuana prpria, torna assimalig-laluz universal,,276. O imediato
precisamente a identidade da coisa e de sua diferena, tal como a
filosofia areencontra ou a "reapreende". Na cincia ena metafsica,
Bergson denuncia umperigo comum: deixar escapar adiferena, por-
que uma concebe a coisa como umproduto eumresultado, porque
a outra concebe o ser como algo de imutvel a servir de princpio.
Ambas pretendem atingir o ser ou recomp-lo apartir desemelhan-
as edeoposies cada vez mais vastas, mas asemelhana eaoposi-
o so quase sempre categorias prticas, no ontolgicas. Donde a
271 PM, VII.
272 EC, IV.
273 EC, 11.
274 MM, m.
275 PM, VI.
276 PM, IX.
128 Apndice II Bergson 129
insistncia de Bergson em mostrar que, graas a uma semelhana,
corremos o risco de pr coisas extremamente diferentes sob uma mes-
ma palavra, coisas que diferem por natureza
277
. O ser, de fato, [295}
est do lado da diferena, nem uno nem mltiplo. Mas o que a
nuana, a diferena da coisa, o que a diferena do pedao de a-
car? No simplesmente sua diferena em relao a uma outra coi-
sa: ns s teramos a uma relao puramente exterior, remetendo-
nos em ltima instncia ao espao. No tampouco sua diferena em
relao a tudo o que o pedao de acar no : seramos remetidos a
uma dialtica da contradio. J Plato no queria que se confundis-
se a alteridade com uma contradio; mas, para Bergson, a alterida-
de ainda no basta para fazer que o ser alcance as coisas e seja ver-
dadeiramente o ser das coisas. Ele substitui o conceito platnico de
alteridade por um conceito aristotlico, aquele de alterao, para fa-
zer desta a prpria substncia. O ser alterao, a alterao subs-
A 278 E ' b . .
tanCla . e em 1SS0 que Bergson denomma durao, pois todas
as caractersticas pelas quais ele a define, desde Os dados imediatos,
voltam sempre a isto: a durao o que difere ou o que muda de na-
tureza, a qualidade, a heterogeneidade, o que difere de si mesmo. O
ser do pedao de acar se definir por uma durao, por um certo
modo de durar, por uma certa distenso ou tenso da durao.
Como a durao tem esse poder? A questo pode ser colocada
de outra maneira: seo ser a diferena da coisa, o que da resulta para
a prpria coisa? Encontramos aqui uma terceira caracterstica da in-
tuio, mais profunda que as precedentes. Como mtodo, a intuio
um mtodo que busca a diferena. Ela se apresenta como buscando
eencontrando as diferenas de natureza, as "articulaes do real". O
ser articulado; um falso problema aquele que no respeita essas di-
ferenas. Bergson gosta de citar o texto em que Plato compara o fi-
lsofo ao bom cozinheiro que corta segundo as articulaes naturais;
elecensura constantemente a cincia ea metafsica por terem perdido
esse sentido das diferenas de natureza, por terem retido somente di-
ferenas de grau a onde havia uma coisa totalmente distinta, por te-
rem, assim, partido de um "misto" mal analisado. Uma das passagens
mais clebres de Bergson nos mostra que aintensidade recobre de fato
277 PM, lI .
278 PM, V; MM, IV.
diferenas de natureza que a intuio pode reencontrar
279
. Mas sabe-
mos que a cincia e mesmo a metafsica no inventam seus prprios
erros ou suas iluses: alguma coisa os funda no ser. Com efeito, en-
quanto nos achamos diante de produtos, enquanto as coisas com as
quais estamos s voltas so ainda resultados, no podemos apreender
as diferenas de natureza pela simples razo de que elas no esto a:
entre duas coisas, entre dois produtos, s h e s pode haver diferen-
as de grau, de proporo. O que difere por natureza nunca uma
coisa, mas uma tendncia. A diferena de natureza no est entre dois
produtos, entre duas coisas, mas em uma nica emesma coisa, entre
duas tendncias que a atravessam, est em um nico emesmo produ-
to, entre duas tendncias que a se encontram
280
. Portanto, o que
puro nunca a coisa; esta sempre um misto que preciso dissociar;
somente a tendncia pura: isso quer dizer que a verdadeira coisa ou
a substncia aprpria tendncia. Assim, aintuio aparece como um
verdadeiro mtodo de diviso: ela divide o misto em duas tendncias
que diferem por natureza. Reconhece-se o sentido dos dualismos ca-
ros a Bergson: no somente os ttulos de muitas de suas obras, mas
cada um dos captulos, eo anncio que precede cada pgina, do tes-
temunho de umtal dualismo. A quantidade eaqualidade, ainteligncia
eo instinto, a ordem geomtrica e a ordem vital, a cincia e a metaf-
sica, o fechado eo aberto: essas so as figuras mais conhecidas. Sabe-
se que, em ltima instncia, elas se reconduzem distino, sempre
reencontrada, da matria e da durao. E matria edurao nunca se
distinguem como duas coisas, mas como dois movimentos, duas ten-
dncias, como a distenso e a contrao. Mas preciso ir mais longe:
se o tema e a idia de pureza tm uma grande importncia na filoso-
fiade Bergson, porque as duas tendncias no so puras emcada caso,
ou no so igualmente puras. S uma das duas tendncias pura, ou
simples, sendo que a outra, ao contrrio, desempenha [296] o papel
de uma impureza que vem compromet-la ou perturb-Ia
281
. Na di-
viso do misto, h sempre uma metade direita, a que nos remete
durao. Com efeito, mais do que diferena de natureza entre as duas
tendncias que recortam a coisa, aprpria diferena ~a coisa era uma
279 Essai sur les Donnes Immdiates de la Conscience, L
280 EC, n.
281 MM, L
130
Apndice n Bergson 131
das duas tendncias. E senos elevamos at a dualidade da matria e
da durao, vemos bemque adurao nos apresenta aprpria natu-
reza da diferena, adiferena desi para consigo, ao passo que ama-
tria apenas o indiferente, aquilo que serepete ou o simples grau, o
que no pode mais mudar de natureza. No sevao mesmo tempo
queodualismo ummomento jultrapassado nafilosofiadeBergson?
Comefeito, seh uma metade privilegiada na diviso, preciso que
tal metade contenha emsi o segredo da outra. Setoda diferena est
deumlado, preciso que estelado compreenda sua diferena emre-
lao ao outro, e, deuma certa maneira, oprprio outro ou sua pos-
sibilidade. A durao diferedamatria, mas porque ela, inicialmen-
te, oque difere emsi edesi, demodo que amatria da qual eladifere
ainda durao. Enquanto ficamos no dualismo, acoisa estno pon-
to deencontro dedois movimentos: adurao, queno temgraus por
si prpria, encontra amatria como ummovimento contrrio, como
umcerto obstculo, umacertaimpurezaqueaperturba, queinterrompe
seu impulso, que lhe d aqui tal grau, ali tal outr0
282
. Porm, mais
profundamente, emsi que a durao suscetvel degraus, porque
elao que difere desi, demodo que cada coisa inteiramente defini-
dana durao, a compreendida aprpria matria. Emuma perspec-
tiva ainda dualista, a durao ea matria seopunham como o que
diferepor natureza eoquestemgraus; porm, mais profundamente,
hgraus daprpria diferena, sendo amatria somente omais baixo,
oprprio ponto onde adiferena, justamente, to-somente uma di-
ferena degrau
283
. Severdadeiro que ainteligncia est do lado da
matria emfuno do objeto sobre o qual ela incide, resta que s se
pode defini-la emsi, mostrando deque maneira ela, que domina seu
objeto, dura. E, sesetrata de definir, enfim, aprpria matria, no
bastar mais apresent-la como obstculo ecomo impureza; sersem-
prepreciso mostrar como ela, cujavibrao ocupa ainda vrios instan-
tes, dura. Assim, toda coisacompletamente definida do lado direito,
reto, por uma certa durao, por umcerto grau da prpria durao.
Ummisto sedecompe emduas tendncias, das quais uma a
durao, simples eindivisvel; mas, ao mesmo tempo, a durao se
diferencia emduas direes, das quais aoutra amatria. O espao
282 EC, m.
283 MM, IV; PM, VI.
decomposto emmatria eemdurao, mas adurao sediferencia em
contrao eemdistenso, sendo esta o princpio da matria. Portan-
to, seodualismo ultrapassado emdireo ao monismo, omonismo
nos dumnovo dualismo, dessa vezcontrolado, dominado, pois no
do mesmo modo que omisto sedecompe eo simples sediferencia.
Assim, o mtodo da intuio temuma quarta eltima caracterstica:
eleno secontenta emseguir as articulaes naturais para segmentar
ascoisas, eleremonta ainda s "linhas defatos", s linhas dediferen-
ciao, para reencontrar osimples como uma convergncia deproba-
bilidades; eleno apenas corta ou segmenta, mas recorta, torna acor-
tar284. A diferenciao opoder do quesimples, indivisvel, do que
dura. Aqui que vemos sob qual aspecto aprpria durao umim-
pulso vital. Bergson encontra na Biologia, particularmente na evolu-
o das espcies, amarca deumprocesso essencial vida, justamente
o da diferenciao como produo das diferenas reais, processo do
qual ele vai procurar o conceito eas conseqncias filosficas. As
pginas admirveis que eleescreveu emA evoluo criadora eemAs
duas fontes nos mostram uma tal atividade da vida, culminando na
planta eno animal, ou ento no instinto ena inteligncia, ou ainda
nas diversas formas deum mesmo instinto. Para Bergson, adiferen-
ciao parece [297J ser omodo do queserealiza, seatualiza ousefaz.
Umavirtualidade que serealiza , ao mesmo tempo, oque sediferen-
cia, isto , aquilo que d sries divergentes, linhas deevoluo, esp-
cies. "A essncia deuma tendncia desenvolver-se emforma defei-
xe, criando, to-s pelo fato do seu crescimento, direes divergen-
tes,,285. O impulso vital, portanto, ser aprpria durao medida
que seatualiza, medida que sediferencia. O impulso vital adife-
rena medida que elapassa ao ato. Dessemodo, adiferenciao no
vemsimplesmente deuma resistncia da matria, mas, mais profun-
damente, deuma fora daqual adurao emsi mesma portadora: a
dicotomia alei da vida. E acensura que Bergson dirige ao mecani-
cismo eao finalismo embiologia, assimcomo dialtica emfilosofia,
queeles, depontos devistadiferentes, semprecompemomovimento
como uma relao entre termos atuais, emvez dea veremarealiza-
284 Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, I1I; L' Energie Spi-
ritue/ {e, I.
285 MM, IV.
132 Apndice II Bergson
133
o de um virtual. Mas, se a diferenciao assim o modo original e
irredutvel pelo qual uma virtualidade serealiza, eseo impulso vital
adurao que sediferencia, eis que aprpria durao avirtualidade.
A evoluo criadora traz a Os dados imediatos o aprofundamento
assim como o prolongamento necessrios, pois desde Os dados ime-
diatos a durao se apresentava como o virtual ou o subjetivo, por-
que ela era menos o que no se deixa dividir do que o que muda de
natureza ao dividir-se
286
. Compreendemos que o virtual no um
atual, mas no menos um modo de ser; bem mais, ele , de certa
maneira, o prprio ser: nem a durao, nem a vida, nem o movimen-
to so atuais, mas aquilo em que toda atualidade, toda realidade se
distingue esecompreende, tem sua raiz. Realizar-se sempre o ato de
um todo que no setorna inteiramente real ao mesmo tempo, no mes-
mo lugar, nem na mesma coisa, de modo que ele produz espcies que
diferem por natureza, sendo eleprprio essa diferena de natureza entre
as espcies que produz. Bergson dizia constantemente que a durao
era a mudana de natureza, de qualidade. "Entre a luz ea obscurida-
de, entre cores, entre nuanas, a diferena absoluta. A passagem de
uma outra tambm um fenmeno absolutamente real,,287.
Temos, portanto, como dois extremos, a durao e o impulso
vital, o virtual e sua realizao. preciso dizer ainda que a durao
j impulso vital, porque da essncia do virtual realizar-se; portanto,
preciso um terceiro aspecto que nos mostre isto, um aspecto de al-
gum modo intermedirio emrelao aos dois precedentes. justamente
sob este terceiro aspecto que a durao se chama memria. Por todas
as suas caractersticas, com efeito, a durao uma memria, porque
ela prolonga o passado no presente, "seja porque o presente encerra
distintamente a imagem sempre crescente do passado, seja sobretudo
porque ele, pela sua contnua mudana de qualidade, d testemunho
da carga cada vez mais pesada que algum carrega em suas costas
medida que vai cada vez mais envelhecendo,,288. Anotemos que a me-
mria sempre apresentada por Bergson de duas maneiras: memria-
lembrana ememria-contrao, sendo a segunda a essencial
289
. Por
286 DI, lI.
287 MM, IV.
288 PM, VI.
289 MM, r.
que essas duas figuras, figuras que vo dar memria um cstatllt~)
filosfico inteiramente novo? A primeira nos remete a uma sobreVI-
vncia do passado. Mas, dentre todas as teses de Bergson, talvez seja
esta a mais profunda e a menos bem compreendida, a tese segundo a
qual o passado sobrevive em si
290
. Porque essa sobrevivncia mesma
a durao, a durao em si memria. Bergson nos mostra que a
lembrana no arepresentao de alguma coisa que foi; o passado
isso em que ns nos colocamos de sbito para nos lembrar
291
. O pas-
sado no tem por que sobreviver psicologicamente enem fisiologica-
mente em nosso crebro, pois ele no deixou de ser, parou apenas de
ser til; ele , ele sobrevive em si. E esse ser em si do passado to-
somente a conseqncia imediata de uma boa colocao do proble-
ma: pois seo passado devesse esperar no mais ser, seele no fosse de
imediato e desde j "passado em geral", jamais poderia ele tornar-se
o que , jamais seria ele este passado. Portanto, o passado o em si, o
inconsciente ou, justamente, [298J como diz Bergson, o virtual
292
. Mas
em que sentido ele virtual? a que devemos encontrar a segunda
figura da memria. O passado no seconstitui depois de ter sido pre-
sente, ele coexiste consigo como presente. Se refletirmos sobre isto,
veremos bem que a dificuldade filosfica da prpria noo de passa-
do vem do estar ele de algum modo interposto entre dois presentes: o
presente que ele foi e o atual presente em relao a qual e~e ag?ra
passado. A falha da psicologia, colocando maio problema, fOI ter reud?
o segundo presente e, conseqentemente, ter buscado o passado apartIr
de alguma coisa de atual, alm de, finalmente, t-lo mais ou menos
posto no crebro. Mas, de fato, "a memria de modo algum consiste
em uma regresso do presente ao passado,,293. O que Bergson nos
mostra que, se o passado no passado ao mesmo tempo em que
presente, ele jamais poder constituir-se e, menos ainda, ser reco.ns-
titudo a partir de um presente ulterior. Eis, portanto, em que sentIdo
o passado coexiste consigo como presente: a durao to-somente
essa prpria coexistncia, essa coexistncia de si consigo. Logo, o passa-
290 MM, m.
291 ES, V.
292 MM, m.
293 MM, IV.
134 Apndice II
Bergson
135
do eo presente devemser pensados como dois graus extremos coe-
xistindo na durao, graus que sedistinguem, umpelo seuestado de
distenso, o outro por seu estado decontrao. Uma metfora cle-
brenos diz que, acada nvel do cone, h todo o nosso passado, mas
emgraus diferentes: o presente somente o grau mais contrado do
passado. "A mesma vidapsquica seria, portanto, repetida umnme-
ro indefinido devezes, emcamadas sucessivas da memria, eo mes-
mo ato do esprito poderia seexercer emmuitas alturas diferentes";
"tudo sepassa como senossas lembranas fossemrepetidas umn-
mero indefinido devezesnessasmilhares deredues possveisdenossa
vidapassada"; tudo mudana deenergia, detenso, enada mais
294
.
A cada grau h tudo, mas tudo coexiste com tudo, ou seja, com os
outros graus. Assim, vemos finalmente oque virtual: so osprprios
graus coexistentes ecomo tais
295
. Tem-se razo emdefinir adurao
como uma sucesso, mas falha-se eminsistir nisso, pois elas efeti-
vamente sucesso real por ser coexistncia virtual. A propsito da
intuio, Bergson escreve: "Somente omtodo deque falamos permi-
teultrapassar oidealismo tanto quanto orealismo, afirmar aexistn-
ciadeobjetos inferiores esuperiores ans, conquanto sejamemcerto
sentido interiores ans, efaz-loscoexistir juntos semdificuldade,,296.
Esc, comefcito, pesquisamos apassagcmdeMatria e memria Evo-
luo Criadora, vemos que os graus coexistentes so ao mesmo tem-
po o que faz dadurao algo devirtual eo que, entretanto, faz que a
durao seatualize acada instante, porque elesdesenham outros tan-
tos planos enveis que determinam todas as linhas de diferenciao
possveis. Emresumo, as sries realmente divergentes nascem, na du-
rao, degraus virtuais coexistentes. Entre ainteligncia eoinstinto,
huma diferena denatureza, porque elesesto nos extremos deduas
sriesquedivergem; mas oqueessadiferena denatureza exprime en-
fimseno dois graus que coexistem na durao, dois graus diferentes
dedistenso edecontrao? assimquecada coisa, cadaser otodo,
mas otodo que serealiza emtal ou qual grau. Nas primeiras obras de
Bergson, adurao pode parecer uma realidade sobretudo psicolgi-
294 MM, lU eIV.
295 MM, lU.
296 PM, VI.
I
, .
ca; mas oquepsicolgico somente nossa durao, ou seja, umccr~
to grau bemdeterminado.
"Se, emlugar depretender analisar adurao (ouseja,
no fundo, fazer sua sntese comconceitos), instalamo-nos
primeiramente nela por umesforo deintuio, teremos o
sentimento deumacertatenso bemdeterminada, cujapr-
pria determinao aparece como uma escolha entre uma
infinidade de duraes possveis. Perceberemos ento nu-
merosas duraes, tantas quanto queiramos, todas muito di-
ferentes umas das outras. ,,297
Eispor que o segredo do bergsonismo est semdvida emMa-
tria e memria; alis, Bergson nos diz que sua obra consistiu emre-
fletir sobre isto: que tudo no est dado. Que tudo no esteja dado,
eis arealidade do tempo. Mas o que significa uma tal realidade? Ao
mesmo tempo, queodado supeummovimento queoinventa oucria,
eque essemovimento no deveser concebido imagem do dad0
298
.
OqueBergsoncriticanaidiadepossvel queestanos apresenta [299J
umsimples decalque do produto, decalque emseguida projetado ou
antes retroprojetado sobre omovimento deproduo, sobre ainven-
0
299
. Mas ovirtual no amesma coisaque opossvel: arealidade
do tempo finalmente aafirmao deuma virtualidade que sereali-
za, epara aqual realizar-se inventar. Comefeito, setudo no est
dado, resta que o virtual o todo. Lembremo-nos de que o impulso
vital finito: o todo o queserealiza emespcies, que no so sua
imagem, como tampouco so elas imagemumas das outras; ao mes-
mo tempo, cada uma corresponde a umcerto grau do todo, edifere
por natureza das outras, demaneira queoprprio todo apresenta-se,
ao mesmo tempo, como adiferena denatureza na realidade ecomo
acoexistncia dos graus no esprito.
Seo passado coexiste consigo como presente, seo presente o
grau mais contrado do passado coexistente, eisque essemesmo pre-
297 PM, VI.
298 EC, IV.
299 PM, m.
136
Apndice II Bergson 137
sente, por ser o ponto preciso onde o passado selana emdireo ao
futuro, sedefine como aquilo que muda denatureza, o sempre novo,
aeternidade devida
300
. Compreende-se que umtema lrico percorra
toda aobra deBergson: umverdadeiro canto emlouvor ao novo, ao
imprevisvel, inveno, liberdade. No ha uma renncia dafilo-
sofia, mas uma tentativa profunda eoriginal para descobrir o dom-
nioprprio dafilosofia, para atingir aprpria coisapara almdaordem
do possvel, das causas edos fins. Finalidade, causalidade, possibili-
dade esto sempre emrelao comacoisa uma vez pronta, esupem
sempre que "tudo" estejadado. Quando Bergsoncritica essasnoes,
quando nos fala emindeterminao, eleno nos est convidando a
abandonar as razes, mas aalcanarmos averdadeira razo dacoisa
emvias de sefazer, a razo filosfica, que no determinao, mas
diferena. Encontramos todo omovimento dopensamento bergsoniano
concentrado emMatria e memria sob atrplice forma da diferena
de natureza, dos graus coexistentes da diferena, da diferenciao.
Bergson nos mostra inicialmente que h uma diferena de natureza
entre opassado eopresente, entre alembrana eapercepo, entre a
durao eamatria: os psiclogos eos filsofos falharam ao partir,
emtodos os casos, de ummisto mal analisado. Emseguida, elenos
mostra que ainda no basta falar emuma diferena den?tureza entre
amatria eadurao, entre opresente eopassado, uma vez quetoda
a questo justamente saber o que uma diferena de natureza: ele
mostra que a prpria durao essa diferena, que ela a natureza
da diferena, demodo que elacompreende amatria como seumais
baixo grau, seugrau mais distendido, como umpassado infinitamen-
te dilatado, ecompreende asi mesma ao secontrair como umpresen-
te extremamente comprimido, retesado. Enfim, elenos mostra que, se
os graus coexistem na durao, adurao acada instante o que se
diferencia, sejaporque sediferencia empassado eempresente ou, se
seprefere, sejaporque opresente sedesdobra emduas direes, uma
emdireo ao passado, outra emdireo ao futuro. A essestrs tem-
pos correspondem, no conjunto daobra, asnoes dedurao, deme-
mria edeimpulso vital. O projeto que seencontra emBergson, o de
alcanar as coisas, rompendo comas filosofias crticas, no absolu-
tamente novo, mesmo naFrana, uma vezque eledefine umaconcep-
300 PM, VI.
o geral da filosofia esob vrios deseus aspectos participa do em-
pirismo ingls. Mas omtodo profundamente novo, assimcomo os
trs conceitos essenciais que lhe do seusentido.
Traduo de Lia Guarino
138 Apndice II
Bergson 139
NDICE DE NOMES E CORRENTES FILOSFICAS
Para cada um dos textos aqui traduzidos (Bergsonismo, A concepo da diferen-
a em Bergson eBergson), os nmeros correspondem paginao da respectiva
edio francesa, paginao preservada entre colchetes ao longo da traduo. A letra
n indica citao emnota de rodap.
Bergsonismo
Aristteles, 40n
Idealismo, 25, 76
Berkeley, G. 34
Kant, E., 10, 13,41
Bilogos classificadores, 103
Kierkegaard, S.A., 38n, 53
Cunot, L., 110n
Leibniz, G.W., 69, 100n
Einstein, A. 32, 33, 79, 80
Marx, K., 38n, 84, 85n, 6, 87
Mecanicismo, 108, 109
Empirismo superior, 22
Merleau-Ponty, M., 86n
Evolucionismo, 101, 102
Nietzsche, F.W., 38n
Feuerbach, L.A., 38n
Plato, 11, lln, 24, 39, 39n
Filosofias da natureza, 98n, 40n, 55
Filosofias da vida, 102
Platnicos, 39, 95
Finalismo, 108-110
Ps-kantianos, 41
Freud, S., 50
Pr-formismo,101
Gouhier, H., 116n
Probabilismo superior, 22
Hamelin, O., 38
Proust, M., 55n, 87, 99
Hegel, G.W.F., 38, 38n
Realismo, 25, 76
Hoffding, H., 1, 2n
Bergsonismo
Riemann, B., 31, 32, 32n, 33, 39
Husserl, E., 32n
Robinet, A., 29n
Husson, L., 2n
Ruyer, R., 103n
Hyppolite, J ., 51n
Weyl, H., 32n
Zeno,42
A concepo da diferena em Bergson
Aristteles, 87
Mecanicismo, 92
Darwin, c., 92
Plato, 81, 87, 90, 95, 96
Empirismo superior, 85
Ravaisson-M., ].G.F, 98
Grega (metafsica), 84
Schelling, F.W.J ., 85, 111
Hegel, G.W.F., 90, 96
Tarde, G., 95n
Hume, D., 102
Bergson
Empirismo ingls, 299
Mecanicismo, 297
Finalismo, 297
Plato, 295
Filosofias crticas, 299
Realismo, 298
Idealismo, 298
141
COLEO TRANS
direo de ric Alliez
Gilles Deleuze eFlix Guattari
Oque a filosofia?
Flix Guattari
Caosmose
Gilles Deleuze
Conversaes
Barbara Cassin, Nicole Loraux,
Catherine Peschanski
Gregos, brbaros, estrangeiros
Pierre Lvy
As tecnologias da inteligncia
Paul Virilio
Oespao crtico
Antonio Negri
A anomalia selvagem
Andr Parente (org.)
Imagem-mquina
Bruno Latour
J amais fomos modernos
Nicole Loraux
Inveno de Atenas
ric Alliez
A assinatura do mundo
Maurice de Gandillac
Gneses da modernidade
Gilles Deleuze e Flix Guattari
Mil plats (Vols. 1,2,3,4 e 5)
Pierre Clastres
Crnica do ndios Guayaki
J acques Ranciere
Polticas da escrita
J ean-Pierre Faye
A razo narrativa
Monique David-Mnard
A loucura na razo pura
J acques Ranciere
Odesentendimento
ric Alliez
Da impossibilidade da fenomenologia
Michael Hardt
Gilles Deleuze
ric Alliez
Deleuze filosofia virtual
Pierre Lvy
Oque ovirtual?
Franois J ullien
Figuras da imanncia
Gilles Deleuze
Crtica e clnica
Stanley Cavell
Esta Amrica nova,
ainda inabordvel
Richard Shusterman
Vivendo a arte
Andr de Muralt
A metafsica do fenmeno
Franois J ullien
Tratado da eficcia
Georges Didi-Huberman
O que vemos, o que nos olha
Pierre Lvy
Cibercultura
Gilles Deleuze
Bergsonismo
Alain de Libera
Pensar na Idade Mdia
ric Alliez (org.)
Gilles Deleuze: uma vida filosfica
Gilles Deleuze
Empirismo e subjetividade
Isabelle Stengers
A inveno das cincias modernas
Barbara Cassin
O efeito sofstico
J ean-Franois Courtine
A tragdia e o tempo da histria
Michel Senellart
As artes de governar
A sair:
Gilles Deleuze eFlix Guattari
Oanti-dipo
ESTE LIVRO FOI COMPOSTO EM SABON PELA
BRACHER &MALTA, COM FOTOLITOS DOBu-
REAU 34 E IMPRESSO PELA PROL EDITORA
GRFICA EM PAPEL PLEN SOFT 80GIM' DA
DA. SUZANO DE PAPEL E CELULOSE PARA
A EDITORA 34, EM MARO DE 2008.
mento de Bergson", este filsofo contempo-
rneo do nascimento do cinema, a arte do
automovimento e da autotemporalidade da
imagem: trata-se da "introduo do movi-
mento no conceito" atravs do prprio "auto-
movimento do' pensamento". Quando a po-
tncia de pensar experimenta a si prpria, so
as prprias coisas que recebem novas verda-
des, redistribuindo-se erecortando-se de ou-
tro modo, fora dos enquadramentos que lhes
so ordinariamente impostos por categorias
meramente genricas.
Disse antes que, alm dessas razes, algo
mais poderia levar Bergson asentir-se feliz com
a leitura deleuzeana. que ambos parecem
levar em conta aquilo que Deleuze chama de
estilo emfilosofia. O estilo atua na interseo
entre filosofia eo que no estritamente filo-
sofia, no se reduz ao conceito, no se limita
a novos modos de pensar; intervalar e, com
ele, algo mais se adensa nos estranhos con-
tatos do conceito com os problemas que lhe
do sentido. Que algo mais esse? So novos
modos de ver eouvir, assim como novos mo-
dos de sentir. Sem essa operstica "trindade
filosfica" ("conceitos", "perceptos" e"afec-
tos") no se produz o almejado movimento.
Portanto, assim considerado, o movimen-
to do pensar implica uma produo ecircula-
o deintensidades. Ora, esta apalavra com
a qual Bergson no se dava muito bem. Co-
mo, ento, ficaria elefeliz com aidia dequan-
tidade intensiva, que Deleuze lhe oferece? Por
uma razo que o leitor est convidado a tes-
tar: o intensivo pode muito bem ser um pas-
so decisivo no ultrapassamento do dualismo
da quantidade eda qualidade, mas sem alme-
jar o papel de sntese superior; ele pode, por-
tanto, atuar na constituio do bergsonismo
como monismo da diferenciao eno como
provedor de mais um transcendente.
Luiz B. L. Orlandi
Você também pode gostar
- Revolta e MelancoliaDocumento15 páginasRevolta e Melancoliamarlon sá100% (1)
- Pensamento alemão no século XX: grandes protagonistas e recepção das obras no BrasilNo EverandPensamento alemão no século XX: grandes protagonistas e recepção das obras no BrasilAinda não há avaliações
- Carta a D'Alembert sobre os espetáculos teatraisNo EverandCarta a D'Alembert sobre os espetáculos teatraisAinda não há avaliações
- Escravos, Selvagens e Loucos: estudos sobre figuras da animalidade no pensamento de Nietzsche e FoucaultNo EverandEscravos, Selvagens e Loucos: estudos sobre figuras da animalidade no pensamento de Nietzsche e FoucaultAinda não há avaliações
- O médico e o monstro: uma leitura do progressismo latino-americano e seus opostosNo EverandO médico e o monstro: uma leitura do progressismo latino-americano e seus opostosAinda não há avaliações
- Os Caminhos Do Poder Noam ChomskyDocumento151 páginasOs Caminhos Do Poder Noam ChomskyAugusto YumiAinda não há avaliações
- Hegel - Quem Pensa Abstratamente PDFDocumento6 páginasHegel - Quem Pensa Abstratamente PDFLucas BaêtaAinda não há avaliações
- Espinosa e A Criação Do Método Crítico de LeituraDocumento4 páginasEspinosa e A Criação Do Método Crítico de LeituraMardem LeandroAinda não há avaliações
- Presentificação e imagem: contribuições à fenomenologia da irrealidadeNo EverandPresentificação e imagem: contribuições à fenomenologia da irrealidadeAinda não há avaliações
- Gilles Deleuze - Sobre RousseauDocumento46 páginasGilles Deleuze - Sobre Rousseaupjonas.almeida2990Ainda não há avaliações
- Todos Nós Ninguém - Martin Heidegger PDFDocumento36 páginasTodos Nós Ninguém - Martin Heidegger PDFRafaela Shinohara0% (1)
- Carolina Maria de Jesus Uma Breve Cartografia de Seu Espolio LiterarioDocumento17 páginasCarolina Maria de Jesus Uma Breve Cartografia de Seu Espolio LiterarioRayana AlmeidaAinda não há avaliações
- ZERZAN, J. O Futuro Primitivo PDFDocumento47 páginasZERZAN, J. O Futuro Primitivo PDFFabrício QueirozAinda não há avaliações
- WHITE, Hayden - Tropicos Do DiscursoDocumento300 páginasWHITE, Hayden - Tropicos Do DiscursoPedro Tomé Neto100% (2)
- Crônica Duas CidadesDocumento13 páginasCrônica Duas CidadesRafael CoimbraAinda não há avaliações
- MORAES FILHO. O Ensino de Filosofia No BrasilDocumento27 páginasMORAES FILHO. O Ensino de Filosofia No BrasilThiago Oliveira CustódioAinda não há avaliações
- Cultura Um Conceito ReacionárioDocumento10 páginasCultura Um Conceito ReacionárioPedro Caetano EboliAinda não há avaliações
- WERLE - O Teatro Na Estética de HegelDocumento9 páginasWERLE - O Teatro Na Estética de HegelDaviGalhardoAinda não há avaliações
- Nietzche e A Represenatação Do Dionisíaco - Roberto MachadoDocumento28 páginasNietzche e A Represenatação Do Dionisíaco - Roberto MachadoRicardo Pinto de SouzaAinda não há avaliações
- Ernst Cassier - Filosofia Das Formas Simbólicas I - A LinguagemDocumento5 páginasErnst Cassier - Filosofia Das Formas Simbólicas I - A LinguagemDaniel PavamAinda não há avaliações
- Agnes Heller - Uma Teoria Da HistoriaDocumento6 páginasAgnes Heller - Uma Teoria Da HistoriaHellAinda não há avaliações
- Serie - Tradução07 Andre Haudricourt - Domesticação Dos Animais, Cultivo Das Plantas e Tratamento Do Outro PDFDocumento18 páginasSerie - Tradução07 Andre Haudricourt - Domesticação Dos Animais, Cultivo Das Plantas e Tratamento Do Outro PDFLuiz Felipe Candido100% (1)
- Donzelot A Polícia Das Famílias PDFDocumento47 páginasDonzelot A Polícia Das Famílias PDFWagner Alves100% (1)
- Dialetica Da Mercadoria - Reinaldo CarcanholoDocumento41 páginasDialetica Da Mercadoria - Reinaldo CarcanholoCarlos Coutinho100% (1)
- Eudoro de Sousa. CatábasesDocumento216 páginasEudoro de Sousa. CatábasesFernanda PioAinda não há avaliações
- O Que É Um Dispositivo - Giorgio AgambenDocumento8 páginasO Que É Um Dispositivo - Giorgio AgambenCarla D. GomesAinda não há avaliações
- Fichamento Do Artigo Sentido e Não Sentido Na Crise Da Modernidade. Do Filo. Henrique Cláudio de Lima VazDocumento5 páginasFichamento Do Artigo Sentido e Não Sentido Na Crise Da Modernidade. Do Filo. Henrique Cláudio de Lima VazSilvestre Savino Jr.Ainda não há avaliações
- Sophistique, Performance, Performatif CassinDocumento29 páginasSophistique, Performance, Performatif CassinIngrid VenturaAinda não há avaliações
- Agamben - A Potência Do PensamentoDocumento7 páginasAgamben - A Potência Do PensamentoSoraya VasconcelosAinda não há avaliações
- A Função Do Estético, Pelo Dr. António Pedro PitaDocumento29 páginasA Função Do Estético, Pelo Dr. António Pedro PitaHelena PinelaAinda não há avaliações
- 09 - Veyne, Paulo. O Indivíduo Atingido No Coração Pelo Poder PublicoDocumento12 páginas09 - Veyne, Paulo. O Indivíduo Atingido No Coração Pelo Poder PublicoKyiaMirnaAinda não há avaliações
- JAMESON Sobre Os Estudos de Cultura PDFDocumento38 páginasJAMESON Sobre Os Estudos de Cultura PDFreilohnAinda não há avaliações
- Lukes IndividualismoDocumento15 páginasLukes IndividualismoÍtalo Teles100% (1)
- TESTEMUNHO E A POLÍTICA DA MEMÓRIA - Marcio Seligmann-Silva PDFDocumento28 páginasTESTEMUNHO E A POLÍTICA DA MEMÓRIA - Marcio Seligmann-Silva PDFRicardo GoulartAinda não há avaliações
- Carmelo BeneDocumento81 páginasCarmelo BeneMandingo XimangoAinda não há avaliações
- BOURGEOIS Hegel Atos Do EspíritoDocumento43 páginasBOURGEOIS Hegel Atos Do EspíritoMedeiros ClaudioAinda não há avaliações
- Alencastro - O Fardo Dos BacharéisDocumento5 páginasAlencastro - O Fardo Dos BacharéisRodrigo Cerqueira100% (1)
- A Aventura (Gerog Simmel)Documento16 páginasA Aventura (Gerog Simmel)Haroldo L BertoldoAinda não há avaliações
- Lucia Maria Bastos - Corcundas Constitucionais (Marcado)Documento15 páginasLucia Maria Bastos - Corcundas Constitucionais (Marcado)CaelenAinda não há avaliações
- A Memória em DerridaDocumento14 páginasA Memória em DerridaJosiane BartholomeuAinda não há avaliações
- Resenha Da Bossa Nova A TropicaliaDocumento5 páginasResenha Da Bossa Nova A TropicaliaPastor AntonioAinda não há avaliações
- DuarteRodrigo - Dizer o Que Não Se Deixa Dizer PDFDocumento144 páginasDuarteRodrigo - Dizer o Que Não Se Deixa Dizer PDFRizzia RochaAinda não há avaliações
- Cenas Da Vida Pó-Moderna - Beatriz SarloDocumento78 páginasCenas Da Vida Pó-Moderna - Beatriz SarloLuísa Chacon50% (2)
- (Fichamento) - Strathern, M. Land Rights.Documento19 páginas(Fichamento) - Strathern, M. Land Rights.cadumachado100% (1)
- Artières, Philippe. A Polícia Da EscrituraDocumento12 páginasArtières, Philippe. A Polícia Da Escriturasilvio_machado_2Ainda não há avaliações
- Arte, Inimiga Do Povo, Roger L. Taylor PDFDocumento2 páginasArte, Inimiga Do Povo, Roger L. Taylor PDFlacan50% (1)
- Ernst CASSIRER. A Filosofia Do IluminismoDocumento239 páginasErnst CASSIRER. A Filosofia Do IluminismoWellington Gonçalves100% (1)
- Guia de Leitura Da Obra de Gilles DeleuzeDocumento5 páginasGuia de Leitura Da Obra de Gilles DeleuzeLuana AssumpçãoAinda não há avaliações
- Engels - Ludwig Feuerbach e o Fim Da Filosofia Clássica AlemãDocumento36 páginasEngels - Ludwig Feuerbach e o Fim Da Filosofia Clássica AlemãWolfieGreatAinda não há avaliações
- Dois Poemas de Hölderlin, Por Benjamin Coragem de Poeta e Timidez PDFDocumento20 páginasDois Poemas de Hölderlin, Por Benjamin Coragem de Poeta e Timidez PDFErick CostaAinda não há avaliações
- O PESO, Richard SerraDocumento1 páginaO PESO, Richard SerraAlexandre VerasAinda não há avaliações
- Sombras & Sons: Recortes sobre cinema e música contemporâneaNo EverandSombras & Sons: Recortes sobre cinema e música contemporâneaAinda não há avaliações
- TCC - Prdução e Consumo de Orgânicos em LondrinaDocumento194 páginasTCC - Prdução e Consumo de Orgânicos em Londrinafabio.coltroAinda não há avaliações
- Consumidores e Cidadãos - Canclini - Consumidores - 1995Documento8 páginasConsumidores e Cidadãos - Canclini - Consumidores - 1995fabio.coltroAinda não há avaliações
- Livro Vermelho Do YomangoDocumento24 páginasLivro Vermelho Do Yomangofabio.coltroAinda não há avaliações
- O Conceito de Plágio CriativoDocumento12 páginasO Conceito de Plágio Criativofabio.coltroAinda não há avaliações
- 1218 - Informe Vegano ValeDocumento4 páginas1218 - Informe Vegano Valemusik7Ainda não há avaliações