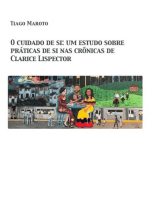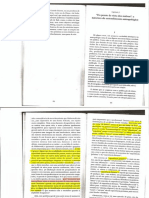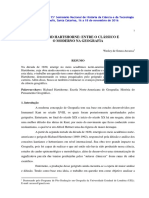Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
09 - Veyne, Paulo. O Indivíduo Atingido No Coração Pelo Poder Publico
Enviado por
KyiaMirna0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
51 visualizações12 páginasO documento discute como o poder público pode afetar a imagem que os indivíduos têm de si mesmos e como isso influencia suas ações políticas. O autor argumenta que a subjetividade e a preocupação com a própria identidade são mecanismos históricos importantes que podem levar tanto à obediência quanto à desobediência e revolta contra o Estado. Ele usa exemplos históricos como as guerras religiosas e a queda de Nero para ilustrar como conflitos políticos nem sempre se resumem a questões econômicas ou
Descrição original:
Texto de Veyne O Indivíduo Atingido No Coração Pelo Poder Publico
Título original
09- Veyne, Paulo. O Indivíduo Atingido No Coração Pelo Poder Publico
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoO documento discute como o poder público pode afetar a imagem que os indivíduos têm de si mesmos e como isso influencia suas ações políticas. O autor argumenta que a subjetividade e a preocupação com a própria identidade são mecanismos históricos importantes que podem levar tanto à obediência quanto à desobediência e revolta contra o Estado. Ele usa exemplos históricos como as guerras religiosas e a queda de Nero para ilustrar como conflitos políticos nem sempre se resumem a questões econômicas ou
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
51 visualizações12 páginas09 - Veyne, Paulo. O Indivíduo Atingido No Coração Pelo Poder Publico
Enviado por
KyiaMirnaO documento discute como o poder público pode afetar a imagem que os indivíduos têm de si mesmos e como isso influencia suas ações políticas. O autor argumenta que a subjetividade e a preocupação com a própria identidade são mecanismos históricos importantes que podem levar tanto à obediência quanto à desobediência e revolta contra o Estado. Ele usa exemplos históricos como as guerras religiosas e a queda de Nero para ilustrar como conflitos políticos nem sempre se resumem a questões econômicas ou
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 12
O indivíduo atingido no coração pelo poder publico
Paul Veyne
A Michel Foucault, como recordação das nossas divertidas conversas de
terça-feira à noite.
Entende-se aqui, por indivíduo, um sujeito, um ser ligado à sua própria
identidade pela consciência ou pelo conhecimento de si. Suponhamos que esse
sujeito, no sentido filosófico da palavra, é também um sujeito no sentido
político da mesma palavra; suponhamos que é o «sujeito»[2] de um rei; nesse
caso, não obedecerá na inconsciência, como tudo indica que fazem os animais;
pensará algo da sua obediência e do seu amo, e também de si mesmo como
sujeito dócil ou indócil do seu rei.
No sentido que aqui atribuímos à palavra, um sujeito não é um animal
dum rebanho; é, pelo contrário, um ser que dá valor à imagem que
tem de si mesmo. A preocupação com esta imagem pode levá -lo a
desobedecer, a revoltar-se, mas pode também, e é o que sucede
mais freqü entemente, levá-lo a obedecer ainda mais; entendida
neste sentido, à noção do indivíduo não se opõ e de modo algum à
noção de sociedade ou de Estado. Pode então dizer-se que esse
indivíduo é atingido no coração pelo poder pú blico quando é
atingido na sua imagem de si, na relação que tem consigo mesmo
quando obedece ao Estado ou à sociedade. Gostaríamos de distinguir
este ataque à imagem de si mesmo, que foi sempre um dos maiores
mecanismos em jogo nos conflitos históricos, de outros mecanismos não
menos importantes, por exemplo, os mecanismos económicos ou os
mecanismos de partilha do poder. Quando um indivíduo é atingido
assim na pró pria ideia que faz de si pró prio, pode dizer-se que a
sua relação com o poder pú blico é a mesma que estabeleceria com
outro indivíduo que o tivesse humilhado ou, pelo contrá rio, que
houvesse lisonjeado o seu orgulho.
Para dar um exemplo do mecanismo historicamente importante que é a
imagem de si ou a subjectividade, as guerras religiosas no século XVI ou as
lutas anticlericais até 1905, que foram revoltas contra a autoridade pastoral da
Igreja, fizeram correr mais sangue e provocaram maiores paixões do que o
movimento operário do séc. XIX. Como escreveu Lucien Febvre, «se havia
algo que os contemporâneos de Martinho Lutero recusavam com todas as suas
forças era o argumento da autoridade»; «tudo o que era mediação ou
intercessão os irritava».
O que gostaríamos de tentar dizer aqui é que a importância do mecanismo da
subjectividade não é menor no domínio político propriamente dito. Vejamos
um exemplo da história romana, neste caso Nero. Trata-se de saber por que é
que os romanos, ou certos círculos de Roma, derrubaram Nero quando a sua
vida privada, que era a principal razão de queixa que contra ele existia, não
afectava fosse de que maneira fosse a marcha dos negócios, os interesses
económicos, sociais ou internacionais, que permaneciam como sempre ou até
evoluíam melhor do que noutras épocas.
Ou, usando outras palavras, esta exposição surgiu de uma
perplexidade, a de ouvir alguém dizer-me: « Voto em De Gaulle por
causa da dignidade da sua vida privada» . Constatamos que a
imagem de si dos sujeitos do soberano é provavelmente a chave
daquilo que se designa por imagem de marca do pró prio soberano,
carisma, política-espetá culo, imagem do pai, ideologia ou
legitimação. Na minha aldeia, que foi sensibilizada no princípio deste século
pela luta contra o que se sentia como a autoridade clerical, os votos socialistas
devem-se menos ao conteúdo da política socialista do que a uma hostilidade
contra o estilo de autoridade gaullista. Numa sociedade como o Império
romano, os conflitos que constituem a trama da histó ria política
raramente estã o ligados à partilha do poder e ainda mais
raramente às relaçõ es econó micas; a questã o residia em saber se o
imperador seria « bom» ou « mau» ; era bom se respeitava as
susceptibilidades da casta senatorial, susceptibilidades essas tão platónicas e
ocas como as do duque Saint-Simon. A subjectividade é simplesmente
aquilo a que uma expressão da moda, mas muito exacta chama a
« identidade de si» .
Existe, evidentemente, uma diferença de natureza entre uma revolta da
miséria e da fome e uma revolta do orgulho e da altivez. No entanto, sendo o
homem um indivíduo, encontramos várias revoltas económicas que tiveram
também um aspecto de subjectivação; a ideia de «dignidade social» é bem
conhecida no movimento operário do século passado; sabe-se que esta fome
de dignidade incluía também o dever, por parte do operário, de se elevar por
via da instrução e da moralidade. Acrescentemos, a propósito, que a
estetização de si, a famosa «distinção», é seguramente um instrumento de
classe, uma barreira social. Mas não o foi desde a origem, nem o foi sempre;
muitas vezes, torna-se nisso, mas nasce em primeiro lugar da forma particular
da relação de si consigo mesmo a que se chama estetização. É que existe
também uma elegância popular.
Uma ú ltima observação introdutó ria; a susceptibilidade dos
sujeitos em relação à modalidade de comando explica outro facto
curioso: a desproporção entre a violência das reacçõ es afectivas ao
soberano e o alcance frequentemente muito limitado do poder do
soberano. O poder dum rei de França atolava-se na impotência
uma vez ultrapassadas as portas das cidades e tal poder tinha muito
menos influência nos interesse sociais e políticos do que o poder das famílias,
da nobreza, das confrarias, etc. ; apesar disto, a imagem do rei possuía
um forte impacto nas subjectividades, muito mais do que a imagem
dum actual presidente da repú blica, no entanto bem mais
poderoso.
.
Recordamos primeiramente a frase: « Voto em De Gaulle por causa da
dignidade da sua vida privada» ; quando os meus ouvidos
escutaram esta frase, ela pareceu-me estú pida: a ú nica questã o em
jogo não eram as opçõ es políticas ou as capacidades políticas de De
Gaulle? Estava enganado: a frase não era estú pida, mas ingénua e
grandiosa como os vestígios da antiguidade.
Suponhamos, como o autor da frase, que a política não constitui um domínio
específico, onde há problemas a resolver, reformas a organizar,
etc. Suponhamos, pelo contrário, que a política se reduz ao dever de
ser bom pai, bom esposo, cidadão disciplinado. Por outras
palavras, que a política se reduz à moral cívica; em suma, que não é
preciso « fazer política» . Neste caso, só um homem virtuoso
merecerá dirigir-nos. Nó s, que somos gente honesta e não temos
outra política que não seja sê-lo, sentir-nos-íamos enxovalhados se,
a governar o país, estivesse um homem cuja vida privada fosse
objecto de críticas. Efectivamente, é para nós um ponto de honra a nossa
moralidade impecável; ora, por essência, a moralidade é universal: ninguém
tem o direito de se furtar às obrigações que ela impõe. Esta universalidade que
é o nosso ponto de honra sofreria a pior das afrontas se um homem de
costumes levianos fosse por nós colocado no lugar de honra.
É escusado dizer que, na prática, esta concepção ética da política
leva ao conservadorismo, pois o apolitismo virtuoso exclui
qualquer ideia de reforma, de militantismo, etc. Mas, por favor,
que não se confunda a instâ ncia de política conservadora e a
instâ ncia de subjectividade que não quer ser conspurcada. Com
efeito, as duas instâncias podem estar separadas na realidade. Vamos supor
que estávamos a lidar com um conservador incorrigível mas cínico, como
Vilfredo Pareto: ele teria votado em De Gaulle porque De Gaulle sabia
humilhar os comunistas. O que ele esperava de um político é que fosse um
bom técnico e nada mais. A Antiguidade greco-romana viveu também,
durante um bom milénio, uma moral cívica e que nada tinha de
cínica, pelo contrário. Esta moral resume-se numa frase: só se
pode ser honradamente governado por um homem que sabe
governar suas paixõ es. E com razão: quando se obedece a um chefe
que é senhor de si pró prio, não se obedece verdadeiramente a um
chefe – obedece-se à moral a que o chefe é o primeiro a obedecer; o
bem moral é o senhor comum do rei e dos seus sú bditos; a
heteronomia é, na realidade, uma autonomia. De tal modo que ser
senhor de si próprio consiste, dizia Filóstrato, em ser obediente em vez de
teimoso, impulsivo, indisciplinado. Em suma, a relação que o sujeito ético tem
consigo próprio é idêntica, neste caso, à relação que o sujeito político tem com
o imperador. O orgulho cívico está salvo: reina a autodisciplina.
Apresso-me a esclarecer que aquilo que acabo de resumir era a
moral dos nobres, dos notá veis, ou, como costumava dizer-se, das
pessoas instruídas. Seria um erro tirar-se deste caso articular a
falsa conclusão de que a subjectivação, a relação de si para consigo
mesmo, é essencialmente uma questão de autonomia, de relaçõ es
simétricas. Nada disso: cada classe social arranja a sua pró pria
subjectivação como pode, a partir das possibilidades de que dispõ e;
o orgulho continua a ser o privilégio das classes que podem
permitir-se tê-lo. Mas existe sempre subjectivação, mesmo entre os
plebeus. Existia uma concepção plebeia da autoridade que era mais
ou menos o inverso da dos notá veis.
Uma frase curiosa de Aristóteles diz mais ou menos o seguinte: os tiranos
fazem ostentação da sua imoralidade, dos seus amores e das suas libações.
Aristóteles fala verdade: durante um bom meio milénio, desde António
amante de Cleópatra aos «maus» imperadores romanos, entre os quais Nero,
adopta-se a política de certos monarcas que fazem alarde da sua riqueza e da
sua superioridade sobre a moral vulgar; e a plebe ainda os amava mais por
isso. É fácil compreendê-la; um notável tem como ponto de honra obedecer
apenas ao seu semelhante. Em contrapartida, um plebeu, que se sentiria
ultrajado por ver um dos seus semelhantes na miséria pretender dar-lhe
ordens, aceitará de bom grado obedecer a um mestre cuja superioridade,
provada através de sinais exteriores, é flagrante. Na sua humildade, um
plebeu não universaliza os seus valores; o único recurso que tem é exigir
obedecer a um senhor cujos valores se revelem superiores àqueles de que a
plebe dispõe; não é humilhante submeter-se a um homem que não pertence
ao vulgo. O humilde orgulho do plebeu exige a desigualdade, a
dissimetria. [Grifo meu]
Tocámos de passagem no tema do consumo ostentató rio; é
costume explicá -lo através da imaginação: quando o rei bebe, diz-
se habitualmente, o povo bebe em pensamento. Será isto verdade?
Estou a lembrar-me de uma página interessante de Victor-Louis Tapié no seu
livro sobre a arte barroca e a civilização das sumptuosas igrejas barrocas: o
pobre povo, escreve Tapié, «habituava-se a viver pobremente convivendo com
igrejas ou palácios de ouros e mármores refulgentes, e cuja riqueza, em vez de
o ofuscar, parecia pertencer-lhe em parte». Mas, para alguém que se
ofusque com a riqueza de outrem, é preciso universalizar a partir
de si a noção do homem; ora, o pobre povo considerava que a
Igreja ou a nobreza eram de uma essência superior, como a sua
pró pria riqueza demonstrava. Não se inveja o fausto de um rei, do
mesmo modo que ninguém se apaixona pela rainha. O problema
não era cobiçar os ouros e os mármores dos palácios e das igrejas
ou possuí-los em imaginação, mas ter a satisfação interior de estar
submetido a uma autoridade evidente. Não se participava no seu fausto
em imaginação, como num filme pornográfico. Da mesma maneira, a vida
faustosa que levavam António e Cleópatra, ou mesmo Nero, apenas podiam
ofuscar a aristocracia, e isso só sucedia porque os seus festins se desenrolavam
publicamente; ora, era contrário à igualdade aristocrática que Nero desse os
seus festins numa cena pública que se erguesse mais alto do que a nobreza e
que limitasse a pretensão dos nobres a impor os seus valores em toda a parte.
Da mesma maneira, Emile Zola atribuirá proporções de escândalo à
imoralidade do segundo Império na qual estavam envolvidas apenas escassas
centenas de pessoas; mas a festa imperial tinha um brilho público que chocava
o universalismo republicano da virtude. Ora, só a festa dionisíaca é que tem
brilho; a virtude não.
O que está em jogo por trá s de tudo isto não é, como vemos, a
desigualdade econó mica nem exactamente as relaçõ es de classe;
estas e aquela são trunfos de enorme peso, mas não estã o aqui em
jogo. Outro exemplo: diz-se que os estabelecimentos de banhos da
antiga Roma, com os seus dourados e os seus mármores, eram as
catedrais da Antiguidade. Quando um homem do povo lá ia,
obtinha duas satisfaçõ es: gozava de um modo muito real aquele
ambiente sumptuoso, do mesmo modo que o gozo que nos dá o TGV[3],
que no entanto não nos pertence, não é imaginário; e dizia consigo pró prio
que o imperador que mandara construir aquele sumptuoso edifício
amava a plebe e era tã o poderoso que ninguém se envergonhava
por lhe obedecer.
Regressemos agora à aventura de Nero para vermos o que é que aquele
imperador pretendeu realmente fazer e por que foi derrubado; vamos verificar
que Nero quis impor aos seus súbditos uma nova imagem de si próprio e
deles, ou seja, das relações deles consigo. Todos conhecem o escândalo
causado pela partida de Nero para a Grécia a fim de aí ver reconhecido, em
jogos ou em concursos, o seu génio artístico. Até então, exercera de forma
notável os seus poderes tanto na política interna como externa. O motivo da
queda final do imperador não reside, pois, nesse ponto. Nada tem a ver
também com os seus crimes de serralho, nem com o cabotinismo por ele
demonstrado na Grécia, pois tal cabotinismo não foi o que se julga; quando
Nero se exibia em Olímpia como músico ou desempenhando o papel de
cocheiro não estava a abusar do grande poder que possuía para fazer que o
cidadão privado se apercebesse dos seus talentos; dava livre curso a uma
utopia de carácter estritamente político, a do soberano que, para reinar, se
socorre do fascínio ou do encanto do seu génio pessoal. Foi por causa desta
utopia que a ordem senatorial o derrubou.
Deixaremos de encarar Nero como um caso psicológico especial e
compreenderemos que o seu projecto era político se nos lembrarmos do
seguinte: o príncipe Sihanuk, que não é exactamente um ingénuo, criou em
Phnom Penh um festival anual de cinema cuja medalha de ouro recebia todos
os anos; ao mesmo tempo, era também proclamado por todos os jornais do
Camboja como o melhor jornalista do seu reino. Recordamos que Estaline foi
o primeiro teórico e até mesmo o melhor linguista da sua época.
E curioso que, pelo menos que eu saiba, ninguém tivesse compreendido que o
famoso episódio de Nero exibindo-se como cócheiro e músico em Olímpia
constitui um episódio de crise de utopia política, ao mesmo título que a
Comuna de Paris de 1871 ou a revolução dos anabaptistas de Münster em
1534. A razão disto é, talvez, a seguinte: desde a revolta de Münster à de Paris
em 1968, as revoluções apelidadas, só o diabo sabe porquê, de utópicas foram
sempre fenómenos de massa. Isso faz-nos esquecer que em épocas mais
recuadas, em que os povos estavam ao nível do chão, as desordens utópicas
eram, regra geral, obra dos próprios soberanos, como os faraós Amenófis IV
Akhénaton ou o califa Al-Hakim.
A utopia de Nero foi pretender colocar no poder a fascinação amorosa: entre o
príncipe e os seus súbditos, a relação seria idêntica à que um virtuoso
estabelece com um público de melómanos. Esta ideia não era nem mais nem
menos absurda do que a de colocar no poder a imaginação, o amor segundo
Santo Agostinho, a bondade paternal do rei, os sovietes, o povo soberano ou a
devoção de uma nobreza hereditária. A invenção de Nero é muito original,
pois, na sua época, a prática vulgar dos tiranos era antes fazer que os
saudassem como deuses vivos. E isso Nero nunca fez.
O que é desconcertante no caso de Nero constitui uma particularidade típica
da época: para manifestar a sua utopia, Nero meteu-se na pele de um actor; de
que modo a obtenção de um prémio nos concursos olímpicos provaria a
capacidade para governar um império? De modo algum mas, nesse tempo, os
vencedores dos concursos tornavam-se figuras tão míticas como o são
actualmente os vencedores dos prémios Nobel. Um prémio Nobel é
considerado hoje em dia como alguém que pertence a um escalão superior da
humanidade em geral; mesmo que tenha ganho o prémio da Química será
chamado a manifestar-se sobre a política ou os direitos do homem. Aceitamos
a autoridade dum homem de ciência ou dum pensador, não a dum
desportista. Ora, os romanos não estabeleciam a mesma oposição que nós
entre diversão, classificação que daríamos aos jogos, e a outra face, laboriosa e
séria da vida.
A utopia de Nero tentou modificar as razões que, pensava ele, os sujeitos
podiam ter para lhe obedecer. Esta utopia nem por isso constituiu uma boa
jogada ideológica (versão marxista) ou um modo de legitimação (versão
weberiana); traduziu-se em decisões específicas e teve consequências bem
reais. A mais importante das decisões foi, nada mais nada menos, que libertar
a Grécia do domínio romano, descolonizá-la: até à queda de Nero, a Grécia
deixou de ter um governador romano e de pagar imposto a Roma. Isto é
compreensível: se os gregos tinham reconhecido em Olímpia o génio do
imperador, não era necessário um governador para os obrigar a obedecer; daí
em diante, obedeceriam a Nero porque estavam fascinados pelo seu génio.
Quanto às consequências dessa utopia foram a própria queda de Nero. Os
gregos amavam naturalmente o seu libertador e conservarão dele uma grata
lembrança, a plebe de Roma continuava a venerar o seu nome no tempo dos
imperadores cristãos, três séculos mais tarde; e após a queda deste imperador,
vários «falsos Neros» irão aparecer e tentar arrastar multidões. Se Nero caiu,
foi por uma simples razão de subjectivação de classe: os senadores e os
notáveis municipais não puderam suportar ter que obedecer a um chefe
genial; queriam, segundo o estilo de comando da época, ser cortesmente
solicitados, como de igual para iguais, pelo primeiro magistrado do Estado.
O estilo de comando foi a ú nica razão da ceda de Nero. Pela sua
natureza, a utopia de Nero não mudava em nada as relaçõ es de
poder; sabe-se que o Senado era tã o impotente sob o domínio de
imperadores bons, que se lhe dirigiam polidamente, como sob o de
imperadores maus. Nero também não tocou nas relações de classe e de
produção. Enquanto desenvolvia a sua utopia na cena grega, o Império
continuava a girar, a máquina administrativa e fiscal prosseguia a rotina
habitual. Nada modificava essa rotina, excepto uma coisa: o entusiasmo da
plebe por um príncipe que não a menosprezava, muito pelo contrário, uma vez
que atribuía suficiente valor aos plebeus para querer transformá-los em
admiradores seus.
Em todas as épocas, tem sido importante o papel desempenhado pelo
mecanismo da subjectivação. Nos nossos dias, vemos o corpo eleitoral nos
Estados Unidos ou em França exigir que um candidato à presidência não seja
divorciado. Os factos deste género escapam à politologia de esquerda, que
parte das relações de classe, e à politologia de direita, que visa as funções do
Estado consideradas sérias. Então, na falta de aceitação da subjectivação como
um mecanismo total, utiliza-se o recurso habitual, faz-se o golpe do dualismo;
falar-se-á de ideologia, símbolo ou imagem de marca. Nos dois casos, negar-
se-á contra toda a evidência a especificidade desse mecanismo que se
considerará ou o simples reflexo dos mecanismos sérios, ou algo de anedótico
com que a «verdadeira» politologia não deve misturar-se pois trata-se de algo
pouco credível, quando muito uma concessão verbal a fazer ao ingénuo e
rebelde animal popular.
Dito isto, o assunto não ficou resolvido; há aqui um problema,
incontestavelmente, e será preciso perdermos algum tempo a examiná-lo. Nos
outros domínios, as reivindicações da subjectividade podem ser tão
substanciais e sangrentas como as da miséria ou do nacionalismo; mas, no
caso particular do soberano, estas reivindicações podem permanecer em
grande parte verbais; quase tudo se passa, neste caso, ao nível de frases ou
símbolos: bastará aos sujeitos terem a satisfação de saber que o seu rei os ama
eternamente, que o seu chefe é genial ou que o povo é soberano. Pouco
importa que a bondade de um rei não se traduza em nada, nem sequer numa
redução de impostos: cada um sente obscuramente que essas frases sobre o
Estado e as humildes realidades do Estado pertencem a duas ordens de coisas
diferentes; tanto mais que ninguém espera maravilhas do Governo.
As coisas passam-se assim: o conhecimento que os sujeitos têm do Estado
surge-lhes de duas origens bem diferentes, uma é da ordem da comunicação,
da interlocução; afecta, por consequência, a subjectividade. A ideia do Estado
é tão vasta, mais ainda, é tão abstracta que nunca se pode ter dela uma
experiência de conjunto nem uma experiência concreta; tudo o que
experimentamos, na prática, são os impostos a pagar, as multas de
estacionamento, além de um sentido geral de obrigação social, cujos limites
em relação à moral propriamente dita permanecem vagos.
Há pois, por um lado, as experiências sempre parciais do Estado, assim como
as relações que os sujeitos mantêm em consequência com os agentes do
soberano ou com os ministros que atraiçoam as suas puras intenções. Mas,
por outro lado, existe uma experiência bem diferente, em que o Estado
aparece na sua totalidade e nos solicita de uma forma completamente diversa:
é quando a República nos chama ou quando o rei promulga as leis. Então, e só
então, o Estado parece surgir em pessoa; mas só pode fazê-lo usando da
palavra. O Estado deixa então de depender de experiências práticas nunca
totalizadas; torna-se uma entidade pertencente à rede de comunicação. O
Estado toma a palavra na televisão para um diálogo com os seus súbditos,
diálogo em que a sua prerrogativa é, aliás, monologar.
A experiência do Estado nos seus efeitos dispersos nada tem de transparente;
seria preciso um verdadeiro estudo sociológico para a conseguir perceber. Em
contrapartida, a rede de comunicação é imediata por definição: aí, cada um
conhece o seu interlocutor, ou antes, trava conhecimento com ele; aí, cada um
percebe qual o direito de falar ou de estar calado que lhe é concedido. Na
verdade, a comunicação é por si só um império, com a sua hierarquia de
locutores, os seus direitos desiguais à palavra, que não são certamente
exclusivos de relações de forças, com os seus privilégios de poder dizer de sua
justiça, de ter a última palavra ou de não ter senão uma palavra a dizer.
Quando o príncipe entra em comunicação com os seus súbditos, por exemplo,
ao fazer promulgar um édito, a questão não é de saber quem governa
realmente no fundo e como e que isso se processa: a única questão é saber
quem tem o direito de falar como soberano, aos outros que apenas têm o
direito de o ouvir.
Podemos reconhecer aqui, se quisermos, uma personalização do poder, mas
na condição de lhe inverter os termos: o poder não vai confundir-se com um
homem, é, pelo contrário, um homem que vem emprestar a sua voz à entidade
locutora que é, à partida, o soberano; na verdade, um homem público já não é
um indivíduo. Quando Nero se exibia no palco em Olímpia tocando lira,
ninguém esquecia que ele era o senhor do mundo. A semiologia pragmática
está a ensinar-nos que, na comunicação, o pensamento que cada locutor quer
exprimir pesa menos do que os diferentes papéis dos locutores, que já estão
fixados previamente. O papel do interlocutor soberano, de príncipe, é desses:
o indivíduo, rei ou presidente, que vem desempenhar tal papel eclipa-se no
seu papel.
O Estado assume de bom grado fisionomias pessoais, nem que seja a de um
simples presidente da III República. Não se trata de carisma ou de outra
imagem do pai: isso corresponde à mais simples das necessidades; o Estado só
pode aparecer na sua totalidade soberana se entrar na comunicação; por
outras palavras, terá que haver um chefe, que dirá a primeira ou a última
palavra. Um chefe é precisamente isso, comunicacional; pois saber quem
comanda de verdade, e sobretudo por que e que todos obedecem, é uma
questão que se situa noutro campo. Eis portanto o Estado transformado em
entidade locutora; é preciso que um homem lhe empreste a sua voz, pois uma
entidade não a possui. Isto pode traduzir-se da seguinte maneira: é preciso um
chefe.
Voltemos agora à subjectivação. Os sujeitos conhecem pois o
Estado, o soberano, sob duas formas: obedecem a mil pequenas
obrigaçõ es dispersas e conhecem a voz sem réplica do chefe. Esse
chefe assume aos seus olhos uma estatura gigantesca e como que
antropomó rfica: os sujeitos imaginam que o príncipe é tã o
poderoso como a linguagem com que se lhes dirige. Aquilo que a
sua subjectividade esperará desse poderoso locutor são,
evidentemente, frases, gestos simbó licos. Entretanto, o publicano
continua a exigir pesados impostos. Mas isso não traz qualquer desmentido às
palavras do rei. Uma experiência muito geral prova, com efeito, que não se
sente a contradição possível entre duas ideias quando essas ideias têm origem
em dois domínios de realidade diferentes e afectam, deste modo, partes
diferentes da nossa personalidade: a existência do perceptor é uma coisa, o
amor do rei é outra; da mesma maneira, os interesses de dinheiro são uma
coisa, a exigência de poder respeitar-se a si próprio quando se obedece é
outra. E esta exigência é tão específica como outras exigências que, pensando
bem, não são menos bizarras, por exemplo, o patriotismo.
Da subjectivação resulta que a relação do cidadão com o Estado
não é, nunca é uma relação de pura opressão, uma vez que os
sujeitos reagem a esta opressão: no perímetro que os poderes
sociais lhes deixam, estabelecem um acordo íntimo com o seu
pró prio eu; se este acordo é mau, talvez se revoltem, mesmo na
ausência de razõ es sociais. O Estado não é, ou não é apenas uma
empresa que desempenha funçõ es necessárias; os cidadãos exigem
também dele coisas com que os accionistas de uma sociedade, que
apenas visam os seus interesses materiais, não se preocupam.
O problema da subjectivação não é filosó fico; é histó rico, ao
mesmo título que a histó ria social ou política; melhor ainda, é
exclusivamente histó rico, uma vez que o sujeito dos filó sofos varia
historicamente. Há um problema do sujeito porque, em política, é-
se activo no pró prio momento em que se obedece. Activo, portanto
sujeito; obedecer é fazer por si pró prio aquilo que outros lhe dizem
para fazer; não são os satélites do tirano que vos agarram nos
braços e nas pernas para os colocar na posição adequada; mas
esses gestos não se executariam se não se tivesse recebido ordem
para isso. Chama-se poder àquilo que determina as condutas. A que
título faço aquilo que me obrigam a fazer? Talvez os historiadores tenham
uma palavra a dizer sobre isto. ‘
Enfim, para vermos como nada disto é ideologia ou mascarada, perguntamos
o que teria acontecido se Nero, em vez de ser derrubado, tivesse conseguido
fazer triunfar a sua utopia. Cinco coisas teriam acontecido e com isto
terminamos:
1. Roma, capital imperial, tornar-se-ia a capital mundial dos jogos, acima de
Olímpia; no que efectivamente se tornou no século III. Tê-lo-ia sido um século
e meio antes.
2. O Senado, academia e conservatório da nobreza, teria sido suprimido ou
perderia a sua importância, o que sucedeu no século IV. Um regime de
sultanato, com camareiros e vizires, instalar-se-ia em Roma.
3. Dar-se-ia a descolonização das províncias, generalização do sistema de
«self-government» que regia a Itália. Acabariam os governadores de
província; em caso de perturbação, o Governo central enviaria o exército. Os
impostos provinciais, que marcavam a sujeição das províncias, teriam sido
substituídos pelos impostos indirectos que as cidades italianas pagavam; do
ponto de vista fiscal, seria mais ou menos a mesma coisa.
4. O imperialismo romano teria deixado de considerar como alvos tradicionais
a Mesopotâmia e a Arábia: voltar-se-ia para as nascentes do Nilo e a planície
do baixo Volga, onde Nero preparava expedições. Com efeito, Nero estava
romanticamente obcecado por esses estrangulamentos para lá dos quais o
Império parecia estender-se até ao infinito. Os espíritos tradicionalistas ter-
lhe-iam criticado, sem dúvida, esses objectivos longínquos, da mesma forma
que Jules Ferry recebeu críticas por sonhar em conquistar a Indochina em vez
de reconquistar a Alsácia-Lorena. Em vez das províncias romanas da
Mesopotâmia e da Arábia teria havido províncias da Etiópia e da
Transcaucásia. Nero estava apenas a mil quilómetros de Estalinegrado.
5. Finalmente, teria havido rotinização do carisma. O sucessor de Nero não
devia possuir provavelmente o mesmo talento artístico que ele. Nesse caso, a
competição de Nero em Olímpia ter-se-ia transformado numa cerimónia
simbólica de entronização, em que cada novo imperador se exibiria em cima
de um carro, com um instrumento de música na mão. Seria apenas mais um
ritual imperial.
Você também pode gostar
- Da pizza ao impeachment: uma sociologia dos escândalos no Brasil contemporâneoNo EverandDa pizza ao impeachment: uma sociologia dos escândalos no Brasil contemporâneoAinda não há avaliações
- Serie - Tradução07 Andre Haudricourt - Domesticação Dos Animais, Cultivo Das Plantas e Tratamento Do Outro PDFDocumento18 páginasSerie - Tradução07 Andre Haudricourt - Domesticação Dos Animais, Cultivo Das Plantas e Tratamento Do Outro PDFLuiz Felipe Candido100% (1)
- O Nativo e o NarrativoDocumento12 páginasO Nativo e o NarrativosermolinaAinda não há avaliações
- Casta Racismo e EstratificaçãoDocumento15 páginasCasta Racismo e EstratificaçãoNil SantosAinda não há avaliações
- ADORNO, T. HORKHEIMER, M. Dialética EsclarecimentoDocumento11 páginasADORNO, T. HORKHEIMER, M. Dialética EsclarecimentoMitchel BatistelliAinda não há avaliações
- ALMEIDA, Marco Antonio De. Mediações Da Cultura e Da InformaçãoDocumento24 páginasALMEIDA, Marco Antonio De. Mediações Da Cultura e Da Informaçãoguto_Ainda não há avaliações
- Wolff Lepenies - As Tres CulturasDocumento23 páginasWolff Lepenies - As Tres CulturasKarla KolbeAinda não há avaliações
- Questoes para A EtnografiaDocumento17 páginasQuestoes para A EtnografiaCecilia M. B. SardenbergAinda não há avaliações
- Althusser Sobre Levi StraussDocumento9 páginasAlthusser Sobre Levi StraussPaulo BüllAinda não há avaliações
- HARCOURT A ContrarrevoluçãoDocumento288 páginasHARCOURT A Contrarrevoluçãomarcobcosta1Ainda não há avaliações
- 01 A Aura Pos Colonial PDFDocumento26 páginas01 A Aura Pos Colonial PDFJessica Varanda100% (1)
- De Mauss A Levi-StraussDocumento17 páginasDe Mauss A Levi-StraussHugo CiavattaAinda não há avaliações
- A Polis Grega e A Criação Da DemocraciaDocumento7 páginasA Polis Grega e A Criação Da DemocraciaSidnei PiresAinda não há avaliações
- 3 Desvio e Divergencia Gilberto VelhoDocumento10 páginas3 Desvio e Divergencia Gilberto VelhoDaniela CardosoAinda não há avaliações
- Discutindo o Conceito de Relativismo Cultural Abrangências e LimitesDocumento10 páginasDiscutindo o Conceito de Relativismo Cultural Abrangências e LimitesWallace FerreiraAinda não há avaliações
- VANDENBERGHE, Frédéric. A Natureza Da CulturaDocumento25 páginasVANDENBERGHE, Frédéric. A Natureza Da CulturaAlexandre San GoesAinda não há avaliações
- Comunicacao Midias e Temporalidades PDFDocumento262 páginasComunicacao Midias e Temporalidades PDFPatricia Assuf Nechar100% (1)
- Individualismo Romântico e Modernidade DemocráticaDocumento13 páginasIndividualismo Romântico e Modernidade DemocráticaDanielle Santiago da Silva VarelaAinda não há avaliações
- Digressão Sobre A Fidelidade e A Gratidão (Georg Simmel)Documento15 páginasDigressão Sobre A Fidelidade e A Gratidão (Georg Simmel)Aline Gomes100% (1)
- Kohn, Eduardo. Como Os Cães Sonham.Documento34 páginasKohn, Eduardo. Como Os Cães Sonham.segataufrnAinda não há avaliações
- Introduçao Ao Pensamento Sociologico.Documento5 páginasIntroduçao Ao Pensamento Sociologico.Guilherme CavalliAinda não há avaliações
- Otávio Velho - A Antropologia e o Brasil, HojeDocumento6 páginasOtávio Velho - A Antropologia e o Brasil, HojeSarine SchneiderAinda não há avaliações
- Iniguez Manual de Análise Do Discurso em Ciências SociaisDocumento2 páginasIniguez Manual de Análise Do Discurso em Ciências SociaisGuilhermeGuilhermeAinda não há avaliações
- BARROS, Armando. DA PEDAGOGIA DA IMAGEM ÀS PRÁTICAS DO OLHAR - UMA BUSCA DE CAMINHOS ANALÍTICOS.Documento22 páginasBARROS, Armando. DA PEDAGOGIA DA IMAGEM ÀS PRÁTICAS DO OLHAR - UMA BUSCA DE CAMINHOS ANALÍTICOS.Jean Costa0% (1)
- Sophistique, Performance, Performatif CassinDocumento29 páginasSophistique, Performance, Performatif CassinIngrid VenturaAinda não há avaliações
- WACQUANT, Loic. Corpo e Alma - Notas Etnográficas de Um Aprendiz de BoxeDocumento149 páginasWACQUANT, Loic. Corpo e Alma - Notas Etnográficas de Um Aprendiz de BoxeMichel GonçalvesAinda não há avaliações
- Resumo - Sobre A Sociogênese Da Economia e Da SociologiaDocumento4 páginasResumo - Sobre A Sociogênese Da Economia e Da SociologiaMatheus CruzAinda não há avaliações
- Contra-Antropologia, Contra o Estado: Uma Entrevista Com Eduardo Viveiros de CastroDocumento18 páginasContra-Antropologia, Contra o Estado: Uma Entrevista Com Eduardo Viveiros de Castrombasques100% (1)
- A Ilusao Ocidental Sobre A Natureza HumanaDocumento26 páginasA Ilusao Ocidental Sobre A Natureza HumanamodololeAinda não há avaliações
- DAMATTA Roberto. O Ofício de Etnólogo Ou Como Ter Anthopological BluesDocumento11 páginasDAMATTA Roberto. O Ofício de Etnólogo Ou Como Ter Anthopological BluesKyiaMirna100% (1)
- Between Prospero and Caliban Colonialism, Postcolonialism, and Inter-IdentityDocumento36 páginasBetween Prospero and Caliban Colonialism, Postcolonialism, and Inter-IdentityМарија МарковићAinda não há avaliações
- Guerra e Paz Entre Os Maxakali: Devir Histórico e Violência Como Substrato Da PertençaDocumento201 páginasGuerra e Paz Entre Os Maxakali: Devir Histórico e Violência Como Substrato Da PertençarodrigobribeiroAinda não há avaliações
- Elias e BourdieuDocumento8 páginasElias e BourdieuNyldinha SilvaAinda não há avaliações
- Ecologia de Rebanho - Ana Maria Preve e Guilerme CorrêaDocumento10 páginasEcologia de Rebanho - Ana Maria Preve e Guilerme CorrêaleAinda não há avaliações
- Agamben. O AbertoDocumento14 páginasAgamben. O AbertoCaio Souto100% (1)
- Sobre o Modo de Existencia Dos ColetivosDocumento23 páginasSobre o Modo de Existencia Dos ColetivosKauã VasconcelosAinda não há avaliações
- Bauman, Z. (2010) PDFDocumento9 páginasBauman, Z. (2010) PDFLuiz Guilherme Araujo GomesAinda não há avaliações
- Indústria Cultural e AgronegocioDocumento7 páginasIndústria Cultural e AgronegocioEmanuela Do CarmoAinda não há avaliações
- José Sérgio Leite Lopes - Memória e TransformaçãoDocumento24 páginasJosé Sérgio Leite Lopes - Memória e TransformaçãoEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- A Experiencia FilosoficaDocumento40 páginasA Experiencia Filosoficaotanerdias7641723100% (2)
- A Bicicleta de Lévi-StraussDocumento18 páginasA Bicicleta de Lévi-StraussAna TelesAinda não há avaliações
- Fabiano de Lemos Britto - Nietzsche Ensaio de Uma Pedagogia Messiânica (Tese)Documento361 páginasFabiano de Lemos Britto - Nietzsche Ensaio de Uma Pedagogia Messiânica (Tese)FilosofemaAinda não há avaliações
- Pós Modernismo e Pós Estruturalismo. Semelhanças de Família. VAZDocumento6 páginasPós Modernismo e Pós Estruturalismo. Semelhanças de Família. VAZNina V. LeonhardtAinda não há avaliações
- Aula - A Invenção Do SocialDocumento43 páginasAula - A Invenção Do SocialÉrika Oliveira100% (1)
- Ta Ii 2018 Ppgas MNDocumento5 páginasTa Ii 2018 Ppgas MNRodolfoAinda não há avaliações
- GEERTZ - O Saber Local - Do Ponto de Vista Do NativoDocumento12 páginasGEERTZ - O Saber Local - Do Ponto de Vista Do NativoEdmarGomesAinda não há avaliações
- Relativizando Roberto DaMattaDocumento18 páginasRelativizando Roberto DaMattaWILLIAN GABRIEL MENDES DE SA DE ALMEIDA100% (1)
- A Dominação e A Arte Da Resistência - Discursos Ocultos. (James C. Scott)Documento171 páginasA Dominação e A Arte Da Resistência - Discursos Ocultos. (James C. Scott)MarcionePantojaAinda não há avaliações
- Biografia de Emile DurkheimDocumento2 páginasBiografia de Emile DurkheimMistério Nerd100% (1)
- Omnes Et Singulatim - Uma Crítica Da Razão Política - Michel Foucault PDFDocumento17 páginasOmnes Et Singulatim - Uma Crítica Da Razão Política - Michel Foucault PDFLariane Andreazzi BarretoAinda não há avaliações
- Sobre o Filme Sobre BatesonDocumento18 páginasSobre o Filme Sobre BatesonHenrique Alcantara E SilvaAinda não há avaliações
- Resumo - BersteinDocumento3 páginasResumo - BersteinJuliana CarolinaAinda não há avaliações
- Chico de OliveiraDocumento14 páginasChico de OliveiraBianca MesquitaAinda não há avaliações
- Robert Dahl - Um Prefácio À Teoria Democrática.-J. Zaha (1989)Documento154 páginasRobert Dahl - Um Prefácio À Teoria Democrática.-J. Zaha (1989)Marina Rute Pacheco100% (1)
- DUPUY, Jean-Pierre. Introdução A Crítica Da Ecologia PolíticaDocumento53 páginasDUPUY, Jean-Pierre. Introdução A Crítica Da Ecologia PolíticaCamila NascimentoAinda não há avaliações
- Carta de KleistDocumento4 páginasCarta de KleistBernardo PereiraAinda não há avaliações
- Paulo E Arantes, Uma BiografiaDocumento2 páginasPaulo E Arantes, Uma BiografiaMarcella A. MoraesAinda não há avaliações
- Nas Trilhas Da Utopia - Movimento Comunitário No BrasilDocumento269 páginasNas Trilhas Da Utopia - Movimento Comunitário No BrasilPaulo AndréAinda não há avaliações
- O Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)No EverandO Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- DAMATTA Roberto. O Ofício de Etnólogo Ou Como Ter Anthopological BluesDocumento11 páginasDAMATTA Roberto. O Ofício de Etnólogo Ou Como Ter Anthopological BluesKyiaMirna100% (1)
- Há Uma Tragédia Silenciosa em Nossas CasasDocumento2 páginasHá Uma Tragédia Silenciosa em Nossas CasasAdriano Leao GomesAinda não há avaliações
- LOBO e BRAZ DIAS África em Movimento PDFDocumento300 páginasLOBO e BRAZ DIAS África em Movimento PDFKyiaMirna100% (1)
- Jose de Souza Martins - A Morte e Os Mortos PDFDocumento164 páginasJose de Souza Martins - A Morte e Os Mortos PDFKyiaMirnaAinda não há avaliações
- Geografia Econômica e Economia Claval PaulDocumento9 páginasGeografia Econômica e Economia Claval PaulKyiaMirnaAinda não há avaliações
- Geografia Econômica. Chorincas JoanaDocumento8 páginasGeografia Econômica. Chorincas JoanaKyiaMirnaAinda não há avaliações
- Questoes 1 Republica EspcexDocumento3 páginasQuestoes 1 Republica EspcexMatheus de CarvalhoAinda não há avaliações
- Modelo de Recurso EspecialDocumento5 páginasModelo de Recurso EspecialAlamir Ribeiro Jango100% (1)
- A Pessoa Como Sujeito MoralDocumento12 páginasA Pessoa Como Sujeito MoralLirson LangaAinda não há avaliações
- A Ásia Antes Da Chegada Dos EuropeusDocumento2 páginasA Ásia Antes Da Chegada Dos EuropeusMarcos Luft100% (1)
- 2024 02 06 DoeDocumento106 páginas2024 02 06 DoeReinaldo SagicaAinda não há avaliações
- A Rainha Persa AtossaDocumento3 páginasA Rainha Persa AtossaPierre FernandesAinda não há avaliações
- Correio Paulistano HistoriaDocumento168 páginasCorreio Paulistano Historiakelly_crisitna100% (1)
- Apanhado de Relações Étnico Raciais No BrasilDocumento3 páginasApanhado de Relações Étnico Raciais No BrasilMariane Pavani100% (2)
- As Normas Jurídicas e As Demais Normas de CondutaDocumento4 páginasAs Normas Jurídicas e As Demais Normas de Condutajessica silvaAinda não há avaliações
- Antonio Santana CarregosaDocumento254 páginasAntonio Santana CarregosaLuis Carlos Belas VieiraAinda não há avaliações
- Lista Definitiva - Área JurídicaDocumento17 páginasLista Definitiva - Área JurídicaApolo 11 LGKKKAinda não há avaliações
- 2008 - Dossiê de Tombamento. Conjunto Paisagístico e ArquDocumento282 páginas2008 - Dossiê de Tombamento. Conjunto Paisagístico e ArquGABRIEL LUZ DE OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Restos A Pagar e Despesas de Exercícios AnterioresDocumento1 páginaRestos A Pagar e Despesas de Exercícios AnterioresAndre Quiquio CatarinaAinda não há avaliações
- Repertorio de Argumentacao - Bloco 2 - Aluno PDFDocumento22 páginasRepertorio de Argumentacao - Bloco 2 - Aluno PDFuilsooonAinda não há avaliações
- JK - o Que Aprender Com Esse Líder?Documento2 páginasJK - o Que Aprender Com Esse Líder?Antonio Carlos A. TellesAinda não há avaliações
- Rosa Luxemburgo. A Ordem Reina em BerlimDocumento3 páginasRosa Luxemburgo. A Ordem Reina em BerlimAllan RibeiroAinda não há avaliações
- Parecer Nº24Documento3 páginasParecer Nº24Elias TancredoAinda não há avaliações
- Codigo de Etica PDFDocumento12 páginasCodigo de Etica PDFWaka Livombo100% (2)
- BARRERA, MORETTI-PIRES - Da Violência Obstétrica Ao Empoderamento de Pessoas Gestantes No Trabalho Das DoulasDocumento16 páginasBARRERA, MORETTI-PIRES - Da Violência Obstétrica Ao Empoderamento de Pessoas Gestantes No Trabalho Das DoulasdaniAinda não há avaliações
- Lista de Lojas para DivulgacaoDocumento22 páginasLista de Lojas para Divulgacaovds94Ainda não há avaliações
- Avaliação de Projetos SociaisDocumento16 páginasAvaliação de Projetos SociaisJanaína BandeiraAinda não há avaliações
- FLA0351 Sexualidade e Ciências Sociais - Programação2018Documento2 páginasFLA0351 Sexualidade e Ciências Sociais - Programação2018feepivaAinda não há avaliações
- Edital 101 2010Documento124 páginasEdital 101 2010boka_godAinda não há avaliações
- Fichamento Paulo FreireDocumento1 páginaFichamento Paulo FreireAuristela CastroAinda não há avaliações
- Cultura Terapêutica e Nova Era Comunicando A Religiosidade Do SelfDocumento21 páginasCultura Terapêutica e Nova Era Comunicando A Religiosidade Do SelfMaykaCastellanoAinda não há avaliações
- BNDES-Estudo Do Art 42 LRFDocumento32 páginasBNDES-Estudo Do Art 42 LRFmribeiro97Ainda não há avaliações
- ARCASSA, Wesley de S. Richard Hartshorne - Entre o Clássico e o Moderno Na GeografiaDocumento15 páginasARCASSA, Wesley de S. Richard Hartshorne - Entre o Clássico e o Moderno Na GeografiaWagner Vinicius Amorim100% (1)
- Carta de Negociação - ContrapropostaDocumento4 páginasCarta de Negociação - ContrapropostaRichard Decker83% (6)
- Cinética - O Ilustre Estranho - Sobre A "Tiradentização" Do Cinema BrasileiroDocumento5 páginasCinética - O Ilustre Estranho - Sobre A "Tiradentização" Do Cinema BrasileiroYthalloRodriguesAinda não há avaliações
- Direito Empresarial para PGFN 6Documento59 páginasDireito Empresarial para PGFN 6Rone Cardoso CamposAinda não há avaliações