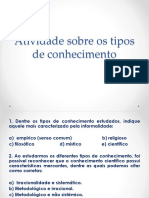Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
2
2
Enviado por
Priscila CostaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
2
2
Enviado por
Priscila CostaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
I - Introduo
Completamos, no dia 05 de outubro de 2008, 20 anos de Constituio. Sob o
olhar do cidado desencantado, nada de muito espantoso. Ora, pensaria ele, logo a
primeira das Constituies brasileiras (de uma srie de oito) vigorou por 67 anos. A
segunda permaneceu no cenrio jurdico por 43 anos. Ou seja, se fizermos uma
comparao meramente quantitativa, a Constituio de 1988 ocupar, na melhor das
hipteses (se desconsiderarmos a Carta outorgada em 1967), um honroso terceiro lugar.
Medalha de bronze.
Sob a perspectiva trabalhista ento, pior ainda. Pois no de hoje que os direitos
dos trabalhadores esto no texto constitucional. Isso acontece por aqui desde 1934!
Caberia, assim, ao cidado perguntar: Direito Constitucional do Trabalho, o que
h de novo?
Este o objetivo deste breve ensaio: empreender um sobrevo panormico por
cima das possibilidades do direito do trabalho, dentro do marco da Constituio
brasileira de 1988. Apresentar queles que no enxergam qualquer novidade, ou que
desconfiam das boas novas, as razes qualitativas que podem modificar-lhes o
ceticismo. E nada melhor do que o Direito Constitucional do Trabalho para reverter este
cenrio de desencanto.
Deveras, a comunho entre o direito constitucional e o direito do trabalho tem a
virtude de ressaltar, de uma nica vez, as facetas positivas e negativas que integram a
nova onda axiolgico-normativa que avana numa velocidade sem precedentes. Falo do
constitucionalismo ou da constitucionalizao do direito. Vejamos, brevemente,
como no h exagero nesta aproximao.
De um lado, ambos derivam do mesmo ideal emancipatrio, do mesmo
movimento de limitao do poder. O primeiro, do poder pblico (exercido pela
autonomia poltica); o segundo, do poder particular (executado pela autonomia privada).
De outra parte, estes dois ramos do direito compartilham da mesma dificuldade: a
dificuldade contramajoritria. Pois tanto no direito constitucional, quanto no direito do
trabalho, surge a possibilidade de as maiorias eleitas (na arena poltica e na arena
sindical, respectivamente) terem sua vontade reprimida por juzes (no-eleitos).
Eis a, portanto, razes mais do que suficientes para um casamento promissor:
identidade de vcios e virtudes.
2
Mas isso no tudo. Ao consagrarmos a natureza hbrida do Direito
Constitucional do Trabalho, tornamos indispensvel uma melhor preciso conceitual.
Por outras palavras, impe-se o esclarecimento da seguinte indagao: o que Direito
Constitucional do Trabalho?
Como eu disse h pouco, a imerso do direito do trabalho nas ondas do
constitucionalismo impede que o seu significado continue congelado no tempo. Isto ,
no h como persistir numa definio voltada para o passado, alheia ao presente e de
costas para o futuro.
A partir do instante em que novas idias chegam, sem cerimnia, no panorama
jurdico nacional como, por exemplo, (1) a da Constituio como uma ordem
objetiva de valores (objektive Wertordnung), (2) a da ascenso normativa dos
princpios, (3) a da eficcia horizontal dos direitos fundamentais e (4) a da reabilitao
da razo prtica , o jurista no deve negar o inevitvel e agarrar-se s suas pr-
compreenses, tal qual um turista aterrorizado que, diante de uma tsunami, agarra-se
ao coqueiro mais prximo. Ele deve, ao contrrio, avaliar criticamente quais so as
melhores alternativas de ao (interpretao) para, em seguida, posicionar-se
estrategicamente, a fim de diferenciar, com equilbrio, os excessos (causadores de
estragos desnecessrios) das oportunidades (geradoras de renovaes h muito
esperadas).
Dito isso, fica mais fcil explicar a organizao do estudo que o leitor tem em
mos.
Na primeira parte (Direito do Trabalho na Constituio) esto contidas algumas
observaes sobre os artigos que tratam dos direitos dos trabalhadores positivados no
texto constitucional (art. 7 a 11). A verso tradicional, portanto, do tema proposto. S
que, no seu conjunto, cuidam de (re)avaliar a natureza, o grau de importncia e os
efeitos extrados daquelas posies jurdicas protegidas pelo constituinte e que, num
ambiente de globalizao econmica, tm sofrido severas crticas. At onde estas
crticas so verdadeiras?
Na segunda parte (Constitucionalizao do Direito do Trabalho), pretendo
abordar o primeiro estgio do rompimento (ou alargamento) conceitual do Direito
Constitucional do Trabalho. Falarei, pois, da irradiao constitucional pelos cantos e
recantos do ordenamento jurdico laboral. Expressarei, aqui, reflexes sobre a
interpretao mais adequada da legislao ordinria, de modo a torn-la permevel s
luzes constitucionais. Falarei, tambm, da eficcia direta dos direitos fundamentais nas
3
relaes de trabalho. O famoso problema alemo da Drittwirkung, que, desde a dcada
de 50, objeto de estudo dos tericos trabalhistas daquele pas, com especial destaque
para Hans Carl Nippeday, antigo juiz do Tribunal Federal do Trabalho germnico
(Bundesarbeitsgericht).
Na terceira e ltima parte, a temtica a do Direito Internacional. Depois da
Emenda Constitucional n 45/04, no h como o Direito Constitucional do Trabalho
ficar infenso ao novo status constitucional dos tratados sobre direitos humanos.
Mormente se lembrarmos que boa parte das Convenes da OIT cuida exatamente deste
assunto. Como compatibiliz-las com a Constituio de 1988? E as anteriores EC n
45/04? Adquiriram, a reboque, este patamar diferenciado? So questes ainda no
respondidas, ao menos de maneira pacfica, pela doutrina e pela jurisprudncia.
Escrito no a duas mos ou a quatro mos, mas a dezenas de mos e mentes
interessadas em aprofundar o dilogo entre o direito constitucional e o direito do
trabalho brasileiros, o Direito Constitucional do Trabalho vem avanando num caminho
j desbravado por outros juristas
1
. Intrpretes que sempre se mostraram atentos ao
mundo do trabalho humano, com suas agruras e prazeres, muitas dvidas e poucas
certezas.
O incansvel esprito pioneiro destes e de outros notveis pensadores brasileiros
dever servir de exemplo para os que quiserem nos acompanhar nesta empreitada (nada
confortvel) em busca do consenso possvel, entre a emancipao necessria
preservao do homem-trabalhador e o respeito (no menos indispensvel) autonomia
da vontade que lhe confere as to sonhadas oportunidades.
1
Cf., por todos, NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito do trabalho na Constituio de 1988. So
Paulo: Saraiva, 1989. ROMITA, Arion Sayo. Direitos sociais na constituio e outros estudos.So
Paulo: LTr, 1991. BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Constituio e direitos sociais dos
trabalhadores. So Paulo: LTr, 1997. SSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. Rio
de Janeiro: Renovar, 1999. GONALVES, Rogrio Magnus Varela. Direito constitucional do trabalho:
aspectos controversos da automatizao. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. LEWICKI,
Bruno. A privacidade da pessoa humana no ambiente de trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
COUTINHO, Aldacy Rachid. A autonomia privada: em busca da defesa dos direitos fundamentais dos
trabalhadores. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). A Constituio Concretizada: construindo pontes
com o pblico e o privado. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2003. WANDELLI, Leonardo
Vieira. Despedida abusiva: o direito (do trabalho) em busca de uma nova racionalidade. So Paulo:
LTr. 2004. ROMITA, Arion Sayo. Direitos fundamentais nas relaes de trabalho. So Paulo: LTr,
2005. MALLET, Estevo. Direito, trabalho e processo em transformao. So Paulo: LTr, 2005.
SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direitos fundamentais e o contrato de emprego. So Paulo: LTr, 2005.
STMER, Gilberto (org.). Questes controvertidas de direito do trabalho e outros estudos. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2006. PEREIRA, Ricardo Jos Macedo de Brito. Constituio e
liberdade sindical. So Paulo: LTr, 2007. GOMES, Fbio Rodrigues. O direito fundamental ao
trabalho: perspectivas histrica, filosfica e dogmtico-analtica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
4
Feita a introduo, apertem os cintos e aproveitem o passeio. Pois nada melhor
do que um sobrevo argumentativo para se ter uma boa viso panormica do que est
por vir.
II O Direito do Trabalho na Constituio
1 - O dilema de sempre: corporativismo versus libertarianismo
Interveno estatal desmedida versus liberdade sem meias-medidas;
paternalismo inconseqente versus pragmatismo econmico; excesso de autonomia
pblica versus carncia de autonomia privada. Estas, e tambm a do subttulo acima, so
algumas das idias lanadas no debate entre os que defendem o direito do trabalho e os
que almejam a sua reduo, flexibilizao ou, qui, a sua supresso. De um lado, esto
os que ressaltam a falcia da igualdade formal, geradora da explorao impiedosa dos
trabalhadores, desde os idos da Revoluo Industrial
2
. Na outra ponta, esto os que
registram a ineficincia da atuao estatal, que, ao inflacionar os direitos protetores,
acaba por criar uma legio de desprotegidos, isto , de excludos do mercado formal de
trabalho, em virtude do excessivo custo que ele proporciona
3
.
Pois bem. Este antigo dilema, conhecido de todos, chegou Constituio de
1988. Nela, a desconfiana foi a palavra de ordem, levando os diferentes grupos de
presso a rechear o texto constitucional com o mximo de interesses que conseguissem
emplacar
4
. Vista por todos como uma fortaleza em face de um futuro incerto, a
Constituio foi construda com base em compromissos inclusivos, a partir dos quais se
insera um direito aqui, uma imunidade acol, um monoplio ali ao lado, sempre com o
intuito de resguardar o que j se possua ou de, quem sabe, se conseguir um pouquinho
mais.
Resultado: um documento com 250 artigos no seu corpo principal e 95 artigos na
sua parte (supostamente) transitria. E, no que nos interessa, reservaram-se 5 artigos
diretamente relacionados com o direito do trabalho (arts. 7 a 11), sendo que o mais
importante deles (o art. 7), com 34 incisos. Est feita a confuso.
2
PARIJS, Philippe van. O que uma sociedade justa? Trad. Cntia vila de Carvalho. So Paulo:
Editora tica, 1997, p. 82 et seq.
3
POSNER, Richard. Economic analysis of law. Fifth edition. New York: Aspen Law & Business, 1998,
p.349. et seq.
4
VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituio e sua Reserva de Justia: um ensaio sobre os limites
materiais ao poder de reforma. So Paulo: Malheiros, 1999, pp. 130-131.
5
Digo isso porque, ao se fazer uma Constituio, pretende-se (ao menos em tese)
que ela seja um norte jurdico permanente, isto , que sirva como guia e tambm como
limite aos atos pblicos e privados, seja no momento atual, seja daqui a duzentos anos
5
.
Como levar a srio esta caracterstica, quando lidamos com um texto to detalhista e
gigantesco? Ser que tudo o que est ali escrito ser adequado a regular a vida dos
nossos filhos, netos e bisnetos?
Basta dar uma olhada na quantidade de reformas que j foram efetuadas nestas
duas dcadas de vigncia, para se esboar uma resposta. Nada mais, nada menos do que
6 alteraes por meio de reviso e 56 atravs de emenda constitucional. E, a, chega-se
ao paradoxo.
Tirando a EC n 20/98 (que cuidou da previdncia e, de quebra, aumentou a
idade mnima para o trabalho), a EC n 28/00 (que tornou prescritveis as pretenses dos
trabalhadores rurais) e a EC n 53/06 (que reduziu a idade mxima para assistncia
gratuita dos filhos e dependentes em creches e pr-escolas), na esfera do direito do
trabalho, justamente aquela que regulamenta uma das fatias mais complexas e
dinmicas das interaes humanas e cujas necessidades variam na mesma velocidade
das revolues tecnolgicas
6
, no se efetuou nenhuma reforma sistmica digna do
nome. Afora as modificaes esparsas e superficiais acima referidas, at hoje ainda no
se promoveu uma reforma de peso em quaisquer dos 5 artigos mencionados. Como se
explica isso?
Uma primeira resposta poderia ser a da falta de consenso poltico. J que o
procedimento de alterao formal da Constituio exige um qurum bastante alargado
(3/5) e um percurso mais demorado (2 turnos), seria muito difcil alcanar uma maioria
to qualificada para efetuar modificaes sobre um tema que desperta tantas paixes.
Vejam bem. Se um mero projeto de lei, que visava a por fim ao imposto sindical, tornou
os parlamentares objeto de xingamentos regados a ameaas de agresso fsica
7
,
imaginem o que poderia acontecer se a proposta almejasse acabar com algum direito
usufrudo (diretamente) pela totalidade dos trabalhadores. Imaginem, por exemplo, se
fosse proposta a desconstitucionalizao do adicional de 1/3 das frias.
5
NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional: anlisis filosfico, jurdico y
politolgico de la prctica constitucional. 1ed. 3 reimpresin. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2005, p.
89.
6
ROMITA, Arion Sayo, op.cit., p. 392.
7
Cf. O Globo on line, 01/11/2007 (http://oglobo.globo.com/pais/mat/2007/11/01/326989110.asp).
6
Fao esta provocao, um pouco queima-roupa, para advertir sobre o risco que
se corre num contexto de engessamento normativo de tal envergadura. E no falo
apenas de um risco retrico. Mas de um risco real, empiricamente comprovado pelo
mundo afora, de que tanto o nmero excessivo de emendas constitucionais, quanto uma
quantidade insuficiente delas, pode acarretar conseqncias bastante desagradveis. De
imediato, levaria a um enfraquecimento normativo tenebroso; e, a mdio prazo, poderia
estimular a substituio da Constituio vigente por uma nova
8
. Ou seja, parafraseando
Aristteles, a virtude est no meio: nem o congelamento paralisante, nem, tampouco,
uma plasticidade deformadora
9
.
Mas no fiquemos por aqui. Venho agora sugerir uma resposta alternativa ao
porqu da resistncia apresentada pelos arts. 7 ao 11 da CF/88: a sua classificao
como direitos fundamentais.
De incio, bom lembrar que, de 1934 a 1969
10
, os direitos dos trabalhadores
estiveram situados no Ttulo constitucional voltado para a Ordem Econmica e
Social. Apenas com a Constituio de 1988 que o direito do trabalho foi localizado
no Ttulo destinado aos Direitos e Garantias Fundamentais. No h como negar,
portanto, que esta modificao no foi simplesmente topogrfica. Algum outro efeito
jurdico o legislador constituinte pretendeu implementar com esta inovadora realocao
do direito do trabalho brasileiro. E o mais evidente , sem sombra de dvidas, o
fortalecimento do seu status normativo.
Ao se aproximar do conceito de direito fundamental, o direito do trabalho
conquistou diversas regalias que, antes, passavam ao largo de sua estruturao. Com
esta sua nova identidade, passou a desfrutar, por exemplo, do controle judicial em face
das maiorias eventuais que contra ele confabulem, j que estaria ungido da qualidade
de clusula ptrea
11
. E, mais ainda, de acordo com o caput do art. 7 da CF/88, os
direitos ali constantes seriam exemplificativos. Ou seja, no impediriam o advento de
outros que visassem melhoria das condies sociais dos trabalhadores.
8
Cf. LUTZ, Donald. Toward a Theory of Constitutional Amendment. In: LEVINSON, Sanford (ed.).
Responding to imperfection: the theory and practice of constitutional amendment. Princeton:
Princeton University Press, 1995, pp. 243-246 e 252.
9
Idem, p. 243.
10
Art. 120 et seq, CF/34; art. 137 et seq, CF/37; art. 157 et seq, CF/46; art. 158 et seq., CF/67; e art. 165
et seq., EC n 01/69. Cf. tambm NASCIMENTO, Amauri Mascaro, op. cit., pp. 8-14 e SSSEKIND,
Arnaldo, op. cit., pp. 29-37.
11
Neste sentido, cf., por todos, SARLET, Ingo Wolfgang. A eficcia dos direitos fundamentais. 6 ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, pp. 422-428.
7
Contudo, muito desta superproteo se mostrou mais aparente do que efetiva. Na
verdade, diante da filosofia positivista amplamente dominante na cultura jurdica
brasileira, grande parte daquelas normas constitucionais foi obrigada a esperar pela boa
vontade do legislador ordinrio. Uma boa vontade que, em alguns casos (como, v.g., os
do art. 7, incisos I, X, XXI e XXIII), jamais existiu. Assim, s restou classific-las de
normas de eficcia limitada e, depois, aguardar
12
.
Na prtica, a fundamentalidade destes direitos trabalhistas foi completamente
esvaziada, na medida em que eles ficaram nas mos daqueles que, dentre outros,
deveriam limitar. E esta situao foi corroborada diversas vezes pelo prprio Supremo
Tribunal Federal, tido pasme-se como guardio da Constituio. Pode-se citar, como
prova desta complacncia institucional, a declarao do carter programtico da
Conveno n 158 da OIT (antes de ela ser denunciada)
13
, alm das reiteradas decises
declarando a j mencionada eficcia limitada de normas constitucionais, destacando-se,
mais especificamente, a que assim caracterizou o direito de greve dos servidores
pblicos
14
.
Diante deste quadro, no qual a Constituio era mais formal do que substantiva,
mais poltica do que jurdica, mais simblica do que normativa, o direito do trabalho foi
deixado sua prpria sorte. A rigor, ele se confundia com a CLT, a consolidao das
leis trabalhistas que regulamentava a vida dos empregados desde 1943. No que isso
fosse de todo mal. Pois no podemos esquecer que a idia em si, de criao de um
sistema jurdico especificamente moldado para as relaes de trabalho, para a proteo
da dignidade humana do empregado que praticamente dela se despia ao ingressar na
fbrica, j foi um avano enorme em relao ao puro laissez faire que vigorava antes
disso
15
. O problema estava na enorme fragilidade deste sistema. Na sua vulnerabilidade
absoluta em face das maiorias eventuais, que, vez por outra, estariam atentando contra
direitos que no eram simples privilgios patrimoniais, mas, sim, verdadeiras reservas
morais garantidoras da humanidade do trabalhador. Um antdoto sua coisificao
16
.
12
SILVA, Jos Afonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3 ed. So Paulo: Malheiros
Editores, 1998, pp. 81-83.
13
ADI 1.480-3/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 18.05.2001.
14
MI n 20-4/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 22.11.1996 e MI n 438/GO, Rel. Min. Nri da Silveira,
DJ 16.06.1995.
15
SSSEKIND, Arnaldo et al. Instituies de direito do trabalho. 22 ed. atual. at 30.4.97. So Paulo:
LTr, 2005, pp. 32-48.
16
Cf., por todos, PACHECO ZERGA, Luz. La dignidade humana en el derecho del trabajo. Navarra:
Editorial Aranzadi, 2007, p. 31.
8
Este era o panorama que se tinha, ao sobrevoarmos o Direito Constitucional do
Trabalho brasileiro de alguns anos atrs. Mas este no o panorama atual. Se alarmos
vo novamente, veremos que algo mudou.
2 - O dilema do futuro: fundamentalismo versus fundamentalidade
De perto, era um pequeno movimento doutrinrio. Mas, medida que ganhamos
altura e nos afastamos, ele se mostrou muito mais do que isso. Era um deslocamento
terico que colocaria o direito constitucional brasileiro em um novo patamar, levando a
reboque tudo que estivesse a ele vinculado; o direito do trabalho, inclusive. Hoje, trocou
de nome e difundiu-se definitivamente pelo cenrio jurdico nacional, sendo lugar-
comum nos mais variados discursos acadmicos. Falo da antiga doutrina brasileira da
efetividade, agora chamada de neoconstitucionalismo
17
.
Trs so os seus marcos principais: o histrico, o filosfico e o terico
18
. Mas
ser apenas o ltimo que me ser, por ora, mais interessante. A partir desta virada
explicativa, a compreenso do direito no seria mais a mesma. Para comeo de
conversa, a fora jurdico-normativa da Constituio prevaleceu, colocando num plano
secundrio a sua nota poltica. Inverteu-se, assim, a lgica do jogo: se norma jurdica,
ento a Constituio ordena, permite e/ou probe
19
. Da que as perguntas passaram a ser,
basicamente, duas: (1) o que ela ordena, probe ou permite? e (2) a quem ela ordena
probe e/ou permite?
Pensem, por exemplo, no caso do art. 7, I da CF/88.
O que ele ordena, permite e/ou probe? Ele probe a dispensa arbitrria
(gnero), permite a dispensa sem justa causa (espcie) mediante pagamento de
indenizao tarifada e ordena ao legislador que especifique (detalhe ou concretize) os
pormenores as condies de aplicao para que a norma adquira efetividade
20
.
A quem ele ordena, permite e/ou probe? Ele ordena ao legislador ordinrio
que diga algo mais sobre o assunto, probe os empregadores de dispensarem
arbitrariamente (gnero), mas permite, ou seja, abre uma exceo para as dispensas sem
17
Cf., por todos, BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalizao do direito. In:
Revista de Direito Administrativo. Volume 240. Rio de Janeiro: Renovar, abril/junho de 2005.
18
Idem, p. 2.
19
Sobre as modalidades denticas bsicas, cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad.
Virglio Afonso da Silva. So Paulo: Malheiros, 2008, p. 204 et seq.
20
GOMES, Fbio Rodrigues, op. cit., p. 215 et seq.
9
justa causa (espcie), desde que haja o pagamento previamente estipulado e que no
venha regulamentao futura dispondo em contrrio
21
.
Vemos a uma regra moda kelseniana, com as suas hiptese de incidncia e
conseqncia bem definidas, precisando apenas de mais alguns ajustes encomendados
ao legislador ordinrio
22
. Nada de muito novo, no ? Ledo engano. As respostas acima
esboadas so to-somente o passado de uma nova dimenso normativa que est em
franca ascenso e que, neste instante, j comea a procurar o seu ponto de equilbrio. De
imediato, chama a ateno o sentido que foi dado ao art. 7, I da CF/88. Praticamente
identificou-se o seu texto com a norma que dele se extrai. Mas este o x da questo:
texto e norma no se confundem. O primeiro a matria-prima; o segundo, a obra que,
a partir dela, se puseram a esculpir
23
. Por isso, a resposta sobre o que ele preceitua
estar vinculada deciso sobre o significado de suas palavras
24
. Este o famoso
conceito semntico de norma
25
.
Tudo isso pode parecer uma obviedade. A rigor, pode at parecer mais do
mesmo. Basta lembrar que Hans Kelsen e Herbert Hart j haviam falado algo
semelhante, ao apontarem para uma moldura normativa ou para a textura aberta do
direito
26
. No entanto, a semelhana termina a. Voltemos a um outro exemplo para
esclarecer. Imaginem o direito ao trabalho previsto no art. 6 da CF/88. O que ele
ordena, permite e/ou probe? Bem, nesse caso a deciso (sobre a espcie normativa) j
no seria to auto-evidente como na situao anterior.
Antes do neoconstitucionalismo, existiriam somente duas solues: (1) ou tal
dispositivo seria apontado como norma programtica, colocado no armrio e
esquecido
27
; (2) ou, simplesmente, seria criada uma situao de discricionariedade forte
para o juiz, ou seja, a possibilidade de ele legislar atravs de um juzo de eqidade
28
.
Em ambos os casos, o direito sairia enfraquecido. No primeiro, porque no seria
21
Idem, ibidem.
22
Cf. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. Joo Baptista Machado. 6 ed. 5 tiragem. So
Paulo: Martins Fontes, 2003, pp. 16-18.
23
VILA, Humberto. Teoria dos Princpios: da definio aplicao dos princpios jurdicos. 7 ed.
So Paulo: Malheiros Editores, 2007, pp. 30-31.
24
Idem, pp. 32-35.
25
ALEXY, Robert, op. cit., p. 53 et seq.
26
KELSEN, Hans, op. cit., p. 390 e HART, Herbert L.A. O conceito de direito. Com um ps-escrito
editado por Penlope A. Bulloch e Joseph Raz. Trad. A. Ribeiro Mendes. 3 ed. Lisboa: Fundao
Calouste Gulbenkian, 1994, pp. 16-17.
27
PECES-BARBA MARTINEZ, Gregrio. Curso de derechos fundamentales. Teoria general.Madrid:
Universidad Carlos III de Madrid. Boletin Oficial del Estado, 1999, pp. 110-111 e SASTRE
IBARRECHE, Rafael. El derecho al trabajo. Madrid: Editorial Trotta, 1996, pp. 100-101.
28
HART, Herbert L.A., op. cit., p. 134.
10
verdadeiramente normativo; no segundo, porque geraria uma insegurana gigantesca,
em face da ausncia de critrios e da alta carga de subjetividade contida na deciso.
Mas a veio o neoconstitucionalismo. Depois do seu aparecimento, extraiu-se do
art. 6 da CF/88 um direito ao trabalho no formato de princpio, isto , de uma norma
que se traduz num mandamento a ser otimizado, em face das possibilidades fticas e
jurdicas
29
. E, a partir da, toda uma reformulao terica se desencadeou
30
.
Porta de entrada dos valores no direito
31
, os princpios materializam um estado
de coisas almejado pela sociedade, cuja implementao ser obrigatria
32
. Por certo que
a sua maior vagueza, isto , a ausncia de uma hiptese de incidncia bem delineada,
faz com que a coliso entre eles seja inevitvel
33
. Mas, ao contrrio das regras, isso no
acarretar qualquer invalidao
34
. Haver, sim, uma ponderao no caso concreto, a fim
de se verificar qual possui uma maior dimenso de peso
35
. A pedra de toque ser, pois, a
justificao racional do seu afastamento.
Motivar, de modo objetivo, qual princpio ceder lugar ao outro. Esta passou a
ser uma das tarefas essenciais dos rgos de deciso
36
. E, para realiz-la, j se
esboaram algumas diretrizes metodolgicas (ou postulados normativos), como, por
exemplo, a da proporcionalidade. Com ela, verifica-se qual o meio mais adequado,
necessrio e proporcional em sentido estrito capaz de autorizar um determinado
princpio a se sobrepor sobre outro, numa dada situao
37
. Estes e outros procedimentos
(como, v.g., o da razoabilidade ou o da proibio de excesso) serviram ao mesmo fim:
retirar os princpios da prateleira e revelar a sua efetividade enquanto norma, a sua
eficcia social, ou, ainda, a sua aptido para conformar o mundo real.
A normatividade de uma Constituio como a nossa, cercada de princpios por
todos os lados, fez com que o legislador no fosse mais o seu senhor absoluto. Seu ou
de qualquer outro ramo do direito. No que ele tenha perdido espao ou poder
institucional e se tornado um coadjuvante. Ocorre que, agora, se ficar omisso, o juiz
entrar em cena pronto para atender ao comando normativo, seja ele uma ordem, uma
29
ALEXY, Robert, op. cit., p. 90 et seq.
30
Cf. GOMES, Fbio Rodrigues, op. cit., pp. 87-95.
31
ALEXY, Robert, op. cit, p. 153.
32
VILA, Humberto, op. cit., pp. 71-72.
33
Idem, p. 75.
34
ALEXY, Robert, op. cit., pp. 92-94.
35
Sobre a lei da ponderao de Alexy, cf. Idem, pp. 94-103.
36
BARROSO, Luis Roberto, op. cit., p. 11 e VILA, Humberto, op. cit., pp. 24-25.
37
VILA, Humberto, op. cit., pp. 160-175 e ROMITA, Arion Sayo, op.cit., pp. 182-183.
11
permisso ou uma proibio
38
. E mesmo se o comando no for muito claro como si
acontecer com os princpios as coisas no sero como outrora. Porque a nova
hermenutica (que integra o neoconstitucionalismo) prover as ferramentas
metodolgicas indispensveis para que a norma constitucional possa ser efetivada. A
teoria da argumentao jurdica estar por trs do juiz, exigindo-lhe uma atuao
racional e objetiva (ou intersubjetivamente) controlvel
39
.
Teremos, agora, dois protagonistas: no primeiro ato, o legislador
democraticamente eleito veiculando as demandas polticas e sociais; no segundo, o juiz,
decidindo o significado do texto escrito que lhe foi entregue previamente. Mas tambm
teremos dois co-autores: o primeiro, o legislador, prescrevendo o que deve ser
encenado; e o segundo, o juiz, diminuindo a abertura do texto normativo (que
arbitrariamente foi deixado de lado) ou construindo, sobre o vazio normativo, as pontes
indispensveis ao bom andamento da pea constitucional.
Em suma: no h mais norma de eficcia limitada. Ao menos, no no sentido
tradicional, a priori. Limitao ocorrer, mas depois de deflagrada a incidncia
normativa, quando os argumentos forem confrontados e o juiz decidir (racionalmente)
qual dever prevalecer. Neste sentido, sim, pode-se dizer que sempre haver norma de
eficcia limitada, mas a posteriori
40
.
A bem da verdade, no estgio em que se encontra, o direito constitucional se
tornou uma avalanche normativa com grandes dificuldades de conteno. J se fala,
inclusive, de uma certa ubiqidade constitucional
41
. Logo, era s uma questo de
tempo, de muito pouco tempo, para que ele alcanasse o direito do trabalho de um modo
nunca antes vislumbrado.
A CLT cedeu lugar para a Constituio. Esta, e no mais aquela, ocuparia o
corao do direito do trabalho, servindo de argumento recorrente nas peties,
pareceres, sentenas e acrdos, de modo a trazer a palavra final (ou consensual) sobre
qual a melhor soluo para as questes prticas que se avolumam no dia-a-dia da Justia
38
BARROSO, Luis Roberto, op. cit., p. 09.
39
Sobre a teoria da argumentao jurdica e a sua importncia para a aplicao do direito, cf., por todos,
ATIENZA, Manuel. As razes do direito: teorias da argumentao jurdica. Perelman, Toulmin,
MacCormick, Alexy e outros. Trad. Maria Cristina Guimares Cupertino. 2 ed. So Paulo: Landy
Editora, 2002.
40
Cf. SILVA, Virglio Afonso. O contedo essencial dos direitos fundamentais e a eficcia das normas
constitucionais. In: Revista de Direito do Estado n 4 (outubro/dezembro 2006). Rio de Janeiro:
Renovar, 2006, pp. 49-51.
41
SARMENTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2006, pp. 167-205.
12
do Trabalho
42
. Vejam, por exemplo, o caso do adicional de insalubridade. Um tema
simples, que h dcadas j vinha regulamentado na CLT. Nela, dizia-se, dentre outras
coisas, que o salrio mnimo deveria ser utilizado como base de clculo do adicional
43
.
Mas olhem agora, a partir das lentes constitucionais, e reparem como a simplicidade
desapareceu.
No art. 7, XXIII da CF/88 preceituou-se o pagamento de adicional para as
atividades insalubres e, ato contnuo, delegou-se, ao legislador ordinrio, a obrigao de
esmiu-lo. Como isso j tinha sido feito pela CLT, a viso dominante foi a da
recepo. Pronto. L estava o salrio mnimo como base de clculo, apesar de a mesma
Constituio, no seu art. 7, IV, proibir a utilizao deste valor como elemento de
indexao (atualizao monetria). Havia at mesmo smula do TST cuidando do
assunto
44
. Tudo continuou assim, muito simples e mal arrumado, at o Supremo se
manifestar sobre a questo, editando a Smula Vinculante n 4: Salvo os casos
previstos na Constituio Federal, o salrio mnimo no pode ser usado como indexador
de base de clculo de vantagem de servidor pblico ou de empregado, nem ser
substitudo por deciso judicial.
Perceberam a embrulhada? Antes, o problema estava na falta de coerncia entre
a base de clculo legal utilizada e a proibio constitucional. Agora, o quebra-cabeas
est na efetivao da proibio, seguida de um vazio normativo que, por mais incrvel
que parea, removeu a proibio! Sendo mais claro: o STF, porque no quis suprir a
lacuna deixada pela inconstitucionalidade do art. 192 da CLT, permitiu que a Justia do
Trabalho continuasse a utiliz-lo, at que o legislador ordinrio resolva sair da sua
placidez e decida a questo. Uma verdadeira guinada de 360!
E por que isso aconteceu? Porque o STF no cumpriu a sua funo
constitucional que , exatamente, a de conferir efetividade Constituio. Ora, se
passados 20 anos o legislador no se deu ao trabalho de regulamentar o art. 7, XXIII da
CF/88, caberia ao Judicirio agir. Principalmente porque o dispositivo em destaque
integra o rol de direitos fundamentais previsto no Ttulo II da CF/88. Como eu
mencionei h pouco, ao se aproximar dos direitos fundamentais, o direito do trabalho
(ou ao menos parte dele, como, in casu, o adicional de insalubridade) se livrou daquela
vulnerabilidade latente, derivada dos caprichos das maiorias eventuais. Agora ele deve
42
Em sentido semelhante, cf. ROMITA, Arion Sayo, op.cit., p. 188.
43
Art. 192 da CLT.
44
Smula n 228 do TST.
13
ser efetivado pelos rgos pblicos, mesmo que (ou principalmente se) o protagonista
inicial abandonar a ribalta sem maiores explicaes. Repito: em situaes como essa,
caberia ao Judicirio agir.
E para demonstrar que no estou falando nenhum absurdo, basta relembrar o
caso do direito de greve dos servidores pblicos citado no tpico anterior. O prprio
STF, que antes o classificava de norma de eficcia limitada (e, tal como na questo do
adicional de insalubridade, recusava o papel de legislador positivo), no se fez de
rogado e julgou procedentes os pedidos dos Mandados de Injuno n 670/ES, 708/DF e
712/PA
45
, suprindo mais uma das vrias lacunas arbitrrias deixadas pelo legislador.
Sem maiores cerimnias, determinou que se utilizasse a Lei n 7.783/89, enquanto o
outro poder continuasse na sua sonolncia institucional. Como se v, dois pesos e duas
medidas. Pegamos o STF no contra-p.
claro que todo esse ativismo judicial contido num ambiente jurdico devoto ao
positivismo legalista que praticamente sacraliza a idia da separao de poderes ,
gera enormes perplexidades. Recentemente, foram proferidas decises pelo STF, a
respeito do uso de algemas
46
e do nepotismo
47
(dando ensejo, respectivamente, s
Smulas Vinculantes n 11 e 13), que corroboram este assombro com o avano
jurisdicional sobre o vcuo deixado pela omisso legislativa.
Mas, no ponto que nos toca, a aproximao entre o direito constitucional e o
direito do trabalho com o objetivo de legitimar tanto a atuao judicial quanto o
bloqueio s maiorias eventuais leva a um outro tipo de questionamento: tudo o que
est na Constituio direito fundamental? Ou melhor: desde o caput do art. 7 at o
art.11, sem exceo, tudo direito fundamental?
Esta a dvida que se tornou moeda-corrente nos mais variados foros do debate
nacional, indo desde a mdia, passando pelas universidades e chegando, como no
poderia deixar de ser, ao Congresso Nacional. No primeiro espao, so inmeras as
matrias, artigos e comentrios abordando a necessidade de uma reforma trabalhista
48
.
J no segundo, consegue-se coletar opinies a favor da reviso da fundamentalidade,
45
MI n 670/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 25.10.2007, MI n 708/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ
25.10.2007, MI n 712/PA, Rel. Min. Eros Grau, DJ 25.10.2007 (Informativo n 485).
46
HC 91952/SP, Rel. Min. Marco Aurlio, DJ 07.08.2008.
47
RE 579951/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 20.08.2008.
48
Folha on line, 30/4/2008 (http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro) e O Globo on line, 27/5/2008
(http://oglobo.globo.com/pais/moreno/post.asp?t=mangabeira_sua_reforma_trabalhista&cod_Post=10485
0&a=2 ).
14
seno de todos, pelo menos de alguns dos direitos trabalhistas contidos na
Constituio
49
. E, no espao pblico, tambm encontramos iniciativas neste sentido
50
.
Portanto, quando pensarmos em Direito Constitucional do Trabalho, devemos
ter em mente que este um dos pontos nevrlgicos da discusso que o envolve. Pode-se
defender, por exemplo, a dupla fundamentalidade (formal e material), e pr uma p de
cal na controvrsia ao se considerar que tudo o que foi posto no Ttulo II do texto
constitucional direito fundamental
51
. Mas, com isso, a proteo pode se transformar
numa fragorosa vitria de Pirro. Pois iremos deixar os que pensam diferente num beco
sem sada. E quando acuamos algum, boa coisa no vai acontecer. Como j se disse, a
Constituio aberta no pode ser a Constituio dos caminhos irreversveis, dos
projetos definitivos que aprisionam, que transforme os direitos fundamentais no mais
novo fundamentalismo dos tempos modernos
52
.
Eis aqui, portanto, os dilemas que nos aguardam no futuro do Direito
Constitucional do Trabalho: (1) todos os direitos dos trabalhadores positivados na
Constituio de 1988 so fundamentais? (2) Existe algum critrio metodolgico capaz
de identific-los? (3) O que deve nortear a formulao deste critrio?
Estes e outros questionamentos tocam no ponto mais sensvel do mundo do
trabalho. Na verdade, eles atingem aquela zona de interseco, para onde convergem o
direito constitucional, o direito do trabalho e a filosofia do direito: a preservao de um
mnimo de igualdade digna para todo aquele que pe a sua atividade (e, portanto, pe-
se a si prprio) disposio do outro
53
. Retorna, com fora total, a preocupao com a
justia social, que produziu o abalo inicial no direito civil, fragmentando-o, retirando-
lhe uma costela normativa para a criao de todo um novo sistema jurdico voltado para
a realidade do homem-trabalhador.
49
Cf., por exemplo, ALEXY, Robert. Direitos fundamentais no Estado Constitucional Democrtico:
para a relao entre direitos do homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdio constitucional.
Trad. Lus Afonso Heck. In: Revista de Direito Administrativo. Volume 217. Rio de Janeiro: Renovar,
julho/setembro de 1999, p. 61, onde o autor polemiza a fundamentalidade do 13 salrio, e BRANDO,
Rodrigo. Direitos fundamentais, democracia e clusulas ptreas. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.
236, onde se questiona a fundamentalidade do adicional de 1/3 de frias.
50
Cf. http://www2.camara.gov.br/proposicoes, acesso em 28 de agosto de 2008.
51
Neste sentido, cf. SARLET, Ingo Wolfgang, op. cit., p. 88 et seq.
52
SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relaes privadas. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2004, pp. 170-171. Cf. tambm, sobre os trs tipos de fundamentalismo (messianismo, comunitarismo e
cientificismo) associados aos direitos humanos, SUPIOT, Alain. Homo juridicus: essai sur la function
anthropologique du droit. Paris: ditions du Seuil, 2005, pp. 285-300.
53
ROMITA, Arion Sayo, op. cit., pp. 193-194.
15
Como proteger um mnimo de direitos imperativos e irrenunciveis
54
, que
garantiro ao indivduo a sua humanidade? Esta uma discusso que, se vem de longe
no direito do trabalho
55
, j se instalou na filosofia do direito e no direito constitucional
sob o rtulo de mnimo existencial
56
. Cabe a ns, agora, fazermos a juno. Revelar
qual o mnimo existencial necessrio manuteno da dignidade do trabalhador. Quais
so os direitos fundamentais que serviro de escudo normativo aos ataques neoliberais,
cuja lgica puramente economicista insiste em reduzir o empregado a um mero custo de
produo
57
.
Problemas prticos que demandam divagaes morais. Eis a uma equao que
dificilmente encontrar uma resposta definitiva. At mesmo porque as necessidades
humanas variam no tempo e no espao
58
. Escassez, informao, valores, tradio...
Enfim, existe um enorme conjunto de variveis (fsicas e metafsicas) que torna
inexorvel a personalizao de boa parte do direito nacional. Por isso, o que
fundamental aqui nos trpicos, no o , necessariamente, por outras plagas
59
. Ao carter
histrico dos direitos fundamentais, deve-se agregar a sua dimenso cultural. E isso faz
com que o jurista brasileiro no deva se esquecer de filtrar as opinies que colheu no
estudo comparado.
Pensem, por exemplo, no caso do 13 salrio referido h pouco. Para o
jusfilsofo alemo Robert Alexy, no se trata de um direito fundamental. Mas ser que
o terico brasileiro deve concordar com isso? Ou ele deve, pelo menos, sofisticar um
pouco mais a discusso e lembrar que este um direito extremamente enraizado no
direito do trabalho nacional, e que traz consigo tanto vantagens pragmticas (aumenta o
poder de compra dos trabalhadores e movimenta a economia), quanto benefcios morais
(efetiva a auto-realizao do indivduo, o seu direito ao lazer e fortalece os laos
familiares)?
54
SSSEKIND, Arnaldo, Direito constitucional do trabalho, p. 47.
55
SSSEKIND, Arnaldo et al., Instituies de direito do trabalho, pp. 251-252.
56
Cf., por todos, RAWLS, John. Justia como Eqidade. Trad.Cludia Berliner. 1 ed. So Paulo:
Martins Fontes; 2003, pp. 62, nota de rodap n 7, 180-183 e 230, WALZER, Michael. Thick and Thin:
moral argument at home and abroad. Notre Dame: University of Notre Dame, 1994, p. 16, ALEXY,
Robert, op. cit., pp. 499-519, SARLET, Ingo Wolfgang, op.cit., p. 368, TORRES, Ricardo Lobo.
Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributrio. Vol. III Os direitos humanos e a
tributao: imunidades e isonomias. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 168 et seq., BARCELLOS,
Ana Paula. A Eficcia Jurdica dos Princpios Constitucionais. O Princpio da Dignidade da Pessoa
Humana. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2002, pp. 123-139 e VILHENA, Oscar Vilhena, op. cit., pp.
228-247. Ressalte-se que, para Ana Paula de Barcellos, o mnimo seria composto por: educao
fundamental, sade preventiva, assistncia social e acesso justia (Op.cit., pp. 258-259 e 305).
57
POSNER, Richard, op. cit., p. 349 et seq.
58
SUPIOT, Alain, op. cit., p. 24.
59
SARLET, Ingo Wolfgang, op. cit, p. 91.
16
Sentar, pesquisar, refletir e discutir. Voltar a pesquisar e refletir, para depois
tornar a discutir. neste crculo hermenutico gadameriano com um qu de
maiutica socrtica
60
, que devemos depositar as nossas expectativas em busca de um
consenso possvel. Ao abrirmos mo das certezas absolutas tpicas de um
jusnaturalismo inconcebvel numa sociedade plural e complexa como a contempornea
, no nos restam muitas opes, seno aquelas encontradas no dilogo srio, franco e
respeitoso
61
.
Que venham as respostas.
3 - Atendendo ao chamado por uma resposta possvel: o princpio da dignidade
da pessoa humana como nosso guia normativo
Em razo do que foi dito, eu no poderia abrir mo de justificar a
fundamentalidade dos direitos dos trabalhadores, com base na sua relevncia axiolgica
ou material. Trata-se, porm, de uma cruzada desprovida de certezas
62
. Isso porque,
alm de a diversidade de doutrinas morais abrangentes ser uma nota comum s
sociedades plurais e democrticas
63
, o carter compromissrio da Constituio de 1988
no deixou espao para que uma nica mundiviso se impusesse sobre as demais.
Como fazer, ento, para encontrar o equilbrio reflexivo
64
em torno do
fundamento material a ser compartilhado pelos direitos fundamentais e, com mais
profundidade, pelos direitos fundamentais dos trabalhadores?
Ao mirarmos para o horizonte normativo a partir do plano constitucional
brasileiro, vemos que o princpio da dignidade da pessoa humana o que mais se
destaca e, por conseguinte, o que mais fortemente se irradia por todo o ordenamento
jurdico. Sendo assim, insiro-me nesta perspectiva para adot-lo como pressuposto de
nossa investigao terica. Mas no sem antes realizar uma breve justificao.
De fato, j o professor lusitano Vieira de Andrade ressalva a opinio dos mais
cticos, a respeito da aptido do princpio da dignidade humana para funcionar como
valor-me. Questionam eles, em linhas gerais, a sua capacidade para conferir unidade
60
Maiutica significa a arte de fazer parto. Scrates denominou seu mtodo deste modo, pois, em
analogia ao ofcio de sua me, considerava-se um parteiro de idias. Cf. MARCONDES, Danilo.
Iniciao Histria da Filosofia: dos pr-socrticos a Wittgenstein. 8 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
editor, 2004, p. 48.
61
NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional, p. 163.
62
Neste sentido, cf. RAWLS, John, op. cit., p. 42.
63
Idem, pp. 13, 25 e 29.
64
Idem, p. 43.
17
de sentido ao conjunto dos direitos fundamentais. E, como exemplo de tal ceticismo, o
professor portugus menciona as crticas que relevam a suposta ideologia liberal-
individualista, subjacente ao princpio da dignidade humana
65
. Alm disso, poder-se-ia
apontar tambm para a sua alargada abertura semntica e estrutural, que permite a sua
utilizao em argumentos dos mais diversos, inclusive naqueles que se confrontam
diretamente em torno de uma mesma questo
66
. Contudo, sem embargo destas
dificuldades tericas, no h como recusar, ao princpio da dignidade humana, a virtude
que o consagrou: a de impor a prioridade axiolgica dos direitos fundamentais sobre o
prprio arcabouo orgnico do aparelho estatal.
No contexto da Carta Magna brasileira de 1988, o Estado Democrtico de
Direito passa a ser considerado meio para o atingimento do objetivo primeiro da nova
ordem constitucional: a proteo da pessoa humana
67
. Mas no no sentido
unidimensional de tutela, prprio do individualismo burgus, que exige a mera
absteno estatal em face de uma esfera privada intangvel do homem abstratamente
considerado. Nem tampouco no sentido paternalista (e perfeccionista) do Estado
colonizador do mundo da vida, que, por meio de intervenes normalizadoras,
restringe o espao de atuao (e de escolha) dos seus provveis beneficirios
68
.
Tal proteo refere-se mais ao homem concreto
69
, ao indivduo que, inserido em
uma dada comunidade histrica e confrontado com as limitaes e necessidades
inerentes sua condio humana, est apto a deliberar autonomamente com seus pares
sobre quais os direitos devem ser considerados (ou desconsiderados) como
fundamentais para a construo de uma vida digna, isto , para viabilizar a eleio (e a
persecuo) do seu prprio plano de vida.
Trata-se de uma viso personalista do homem conferida pelo Estado
Democrtico e Constitucional de Direito brasileiro. Afastando-se da idia do indivduo
sem razes, tido como realidade abstrata e impalpvel, e distanciando-se do coletivismo
65
Cf. Os direitos fundamentais na constituio portuguesa de 1976. 2 ed, Coimbra: Livraria
Almedina, 2001, pp. 104-105.
66
Exemplo sempre citado o do caso do exame de DNA, em ao de investigao de paternidade, no
qual ambos os litigantes se valem do princpio da dignidade da pessoa humana com a inteno de
convencer o juiz a acolher as suas razes. Para uma anlise da deciso do STF sobre esta querela, cf. HC
71.373-4/RS, Rel. Min. Marco Aurlio, DJ 10.11.1994.
67
SARMENTO, Daniel, Direitos Fundamentais e Relaes Privadas, pp. 109-112. Cf. tambm,
SARLET, Ingo Wolfgang Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. 2 ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 68.
68
HABERMAS, Jrgen. A incluso do outro: estudos de teoria poltica. Trad. George Sperber, Paulo
Astor Soethe e Milton Camargo Mota. 2 ed. So Paulo: Edies Loyola, 2004, pp. 302-303.
69
ROMITA, Arion Sayo, op.cit.,pp. 195-196.
18
transpersonalista, de matriz aristotlica, que vislumbra na pessoa humana apenas parte
no todo social, o personalismo adotado pela Constituio de 1988 considera o ser
humano um valor em si mesmo, axiologicamente superior ao Estado ou a qualquer
coletividade onde esteja integrado, mas que v na pessoa humana um ser situado,
concreto, que desenvolve a sua personalidade em sociedade, no convvio com seus
semelhantes
70
.
Neste sentido, os direitos fundamentais surgiriam como categoras que, por
expresar necesidades social e historicamente compartidas, permiten suscitar un
consenso generalizado sobre su justificacin
71
. Mantm-se, pois, uma constante
antropolgica
72
. Ou ainda, nas palavras do professor Jos Carlos Vieira de Andrade,
mantm-se uma idia de Homem que no mbito da nossa cultura, se manifesta
juridicamente num princpio de valor, que o primeiro da Constituio portuguesa: o
princpio da dignidade da pessoa humana
73
.
Deste modo, proponho o princpio da dignidade da pessoa humana como
premissa axiolgico-normativa de nossa investigao, a fim de que acolhamos a idia
de que nele se concentram (ou a ele se reconduzem) os direitos fundamentais como um
todo.
Tal como defendem alguns doutrinadores alemes (sob a gide da Lei
Fundamental de Bonn), pode-se asseverar que (tambm para ns, sob o manto da
Constituio brasileira de 1988), quanto maior for o contedo em dignidade da pessoa
humana representado pelo direito, maior ser a sua imunizao contra a ao erosiva
ou mesmo supressiva do poder de reforma da Constituio, de tal sorte que intangvel
no o direito fundamental em si, mas, sim, o seu contedo em dignidade da pessoa
humana
74
.
E, sendo assim, a pergunta avana sem hesitar: todos os direitos dos
trabalhadores possuem o mesmo grau de vinculao ao princpio da dignidade humana?
70
SARMENTO, Daniel, Direitos Fundamentais e Relaes Privadas, pp. 117-121.
71
PEREZ LUO, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y constituicin. 8 ed.
Madrid. Ed. Tecnos, 2003, p. 162.
72
SARLET, Ingo Wolfgang. As dimenses da dignidade da pessoa humana: construindo uma
compreenso jurdico-constitucional necessria e possvel. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.).
Dimenses da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Trad. Ingo
Wolfgang Sarlet, Pedro Scherer de Mello Aleixo, Rita Dostal Zanini. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Ed., 2005, p. 27, nota de rodap n 43.
73
ANDRADE, Jos Carlos Vieira de, op.cit., pp. 78-79.
74
SARLET, Ingo Wolfgang. A Problemtica dos Fundamentais Sociais como Limites Materiais ao
Poder de Reforma da Constituio. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos fundamentais sociais:
estudos de direito constitucional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 385.
19
A resposta, porm, j no se apresenta com tanta ousadia. Pois que, para
responder a esta indagao, precisa-se ir um pouco mais fundo na fixao prvia dos
pontos de partida argumentativos. E, neste passo, esmiuamos a noo de dignidade
humana nas de liberdade (ou autonomia da vontade), igualdade e solidariedade
75
.
Estes, em linhas gerais, so os princpios que melhor representam a idia de
vida digna. Principalmente quando a contextualizamos na sociedade contempornea:
democrtica, plural, pautada na livre iniciativa e na valorizao do trabalho, e que tem
em mira a construo de um modelo personalista de Estado, cujo parmetro essencial
o ser humano concreto e situado, capaz de formular seus planos de vida e de direcionar
seus atos para a realizao das finalidades que escolheu.
Portanto, ser diante deste quadro jurdico-constitucional que devemos nos
debruar sobre o problema relativo fundamentalidade material dos direitos dos
trabalhadores. Pois, da mesma forma que a luz s ganha cor em contato com a
matria, os direitos dos trabalhadores brasileiros s ganharo fundamentalidade na
medida em que cotejados com a realidade nacional
76
. Assim, ao reformularmos o ponto
principal a focalizar, dividimos a questo anterior em trs novas interrogaes: (1)
quais direitos protegem e promovem a autonomia de vontade do indivduo enquanto
empregado? (2) Quais protegem e promovem a sua igualdade de oportunidade e de
tratamento? (3) Quais protegem e promovem a funo social de sua atuao laboral?
Como se v, as questes no so poucas.
Evitar o perfeccionismo
77
e a colonizao do mundo da vida
78
, para tentar
alcanar parmetros normativos prprios de um paternalismo legtimo
79
. Em poucas
palavras, estes so os objetivos que devemos aspirar, ao nos valermos do substrato
75
No sentido de que a dignidade da pessoa humana abarca, essencialmente, os ideais de liberdade,
igualdade e solidariedade, cf., por todos, PECES-BARBA MARTINEZ, Gregrio. La dignidad de la
persona desde la Filosofia del Derecho. Cuadernos Bartolom de las Casas 26. 2 ed. Madrid:
Dykinson, 2003, p. 12, nota de rodap n 4; MORAES, Maria Celina Bondin de. Danos Pessoa
Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 85;
SARLET, Ingo Wolfgang, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais, pp. 90-99 e As
dimenses da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreenso jurdico-constitucional
necessria e possvel. In: op.cit., p. 35; SARMENTO, Daniel, Direitos Fundamentais e Relaes
Privadas, p. 114.
76
Em sentido semelhante, afirma Forsthoff que: tal como a luz s ganha cor em contacto com a matria,
tambm os valores s se coloram no contacto com os factos. Apud ANDRADE, Jos Carlos Vieira de,
op. cit., p. 103, nota de rodap n 77.
77
NINO, Carlos Santiago. tica y derechos humanos: un ensayo de fundamentacin. 2 ed. Buenos
Aires: Editorial Astrea, 1989, pp. 205-211.
78
HABERMAS, Jrgen. O discurso filosfico da modernidade: doze lies. Trad. Luiz Srgio Repa,
Rodnei Nascimento. 1 ed. 2 tiragem, So Paulo: Martins Fontes, 2002, pp. 501-502.
79
NINO, Carlos Santiago, tica y derechos humanos, pp.413-420.
20
axiolgico fornecido pelos direitos fundamentais. Direitos que, afinal de contas, so a
ltima grande narrativa da modernidade
80
.
III A Constitucionalizao do Direito do Trabalho
1 - Novas idias para o novo mundo: corrigindo os desajustes dogmticos
Fazer a travessia do conceito tradicional do Direito Constitucional do Trabalho
para esta sua nova verso (mais alargada) no to simples como parece. E, por mais
estranho que isto soe, foi justamente a vontade do constituinte de facilitar a sua
expanso que acabou por obstru-la. Tentarei ser mais claro.
Ora, como j se mencionou alguns pargrafos atrs, a fora normativa da
Constituio, a reabilitao dos princpios, a centralidade dos direitos fundamentais e a
busca de sua efetividade so noes que s chegaram por estas bandas depois da
Constituio de 1988. No direito do velho mundo, de onde foram importadas, elas
iniciaram seu caminho de sucesso bem mais cedo. Na Itlia e na Alemanha, depois de
suas respectivas renovaes constitucionais, em 1947 e 1949. Em Portugal e na
Espanha, a mesma coisa, s que a partir de 1976 e 1978. At a, nada de anormal. Pois,
independentemente da diferena cronolgica, todos possuram uma nota comum: a
substituio de um regime autoritrio por um Estado Democrtico e Constitucional de
Direito.
Ocorre que nos pases do novo mundo e o Brasil no exceo os tericos
do direito do trabalho no dispensaram muita ateno totalidade das conseqncias
normativas advindas deste constitucionalismo renovado
81
. Faltou integrarem, s suas
divagaes, uma parte importante deste novo movimento constitucional que ganhou
terreno por aqui. Movimento este que, a rigor, j faz escola para alm de suas fronteiras
dogmticas. Constitucionalizao do direito civil, do direito penal e do direito
administrativo so exemplos desta pujante vis expansiva
82
.
Ento por que este fenmeno ainda no se espraiou, com a mesma desenvoltura,
na esfera do direito do trabalho? Por que permanece um certo isolamento
epistemolgico deste ramo do direito que sempre esteve na vanguarda do conhecimento
jurdico?
80
ANDRADE, Jos Carlos Vieira de., op. cit., p. 68.
81
Em sentido semelhante, cf. ROMITA, Arion Sayo, op. cit., p. 194.
82
Cf. BARROSO, Luis Roberto, op. cit., p. 24 et seq.
21
Bem, regressemos para o texto da Constituio brasileira de 1988. O que
encontramos? Um farto catlogo de direitos consagrados aos trabalhadores.
Constitucionalizou-se desde as questes mais relevantes (e.g., salrio mnimo e jornada)
at as miudezas no to importantes (v.g., prescrio e participao nos lucros). Como
bem ressaltou o professor Barroso, foi-se, num picar de olhos, do espanto ao fastio
83
.
Penso que a est a resposta. Ou seja, diante de to grande detalhamento,
compreensvel que boa parte da teoria dos direitos fundamentais no tenha ecoado pelas
sendas do Direito Constitucional do Trabalho, principalmente daquelas que envolvem a
sua aplicao nas relaes privadas (a chamada Drittwirkung). Tamanha generosidade
do constituinte acabou por desenvolver uma certa miopia doutrinria: proporcionou
uma viso bastante acurada sobre a proteo normativa que estava logo mo, ao passo
que embaou os demais potenciais emancipatrios localizados em espaos
(interpretativamente) mais distantes.
Mas nunca tarde para corrigir este desajuste conceitual. E o ponto de partida,
para o alargamento do nosso campo de viso, encontra-se na constitucionalizao do
direito do trabalho. Como realiz-la? Resgatando aquela fatia dos direitos fundamentais
que revolucionou a sua funo e realinhou os seus mecanismos de efetivao. Falo da
sua dimenso objetiva
84
.
Tudo comeou com o famoso caso Lth, julgado em 15 de janeiro de 1958
pelo Tribunal Constitucional Federal alemo (Bundesverfassungsgericht). Em apertada
sntese, cuidava-se de uma disputa entre Erick Lth que, por reiteradas vezes,
manifestou-se contrariamente exibio de um filme dirigido por um antigo partidrio
nazista , e a produtora do filme que almejava faz-lo se calar. Levada a contenda aos
tribunais, Lth foi derrotado em primeira e segunda instncias, sob o argumento de que
sua conduta feria os bons costumes (previsto no 826 do BGB)
85
. Persistente, ele
apresentou uma queixa constitucional e encaminhou a discusso ao Tribunal
Constitucional Federal. E, a, veio o j tantas vezes citado julgamento, no qual a Corte
produziu uma verdadeira clivagem na teoria dos direitos fundamentais
86
. Antes, estes
eram vistos apenas na sua dimenso subjetiva (como uma pretenso negativa ou
83
Op. cit., p. 20.
84
Sobre o carter revolucionrio da dimenso objetiva dos direitos fundamentais, cf., por todos,
SARLET, Ingo Wolfgang, A eficcia dos direitos fundamentais, p. 165.
85
Cf. KOMMERS, Donald P. The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany.
Durham and London: Duke University Press, 1997, pp. 361-369; SARMENTO, Daniel, Direitos
fundamentais e Relaes privadas, p. 141; GOMES, Fbio Rodrigues, op. cit., pp. 99-100.
86
ALEXY, Robert, op. cit., p. 525.
22
positiva em face do Estado). Depois, agregou-se uma nova dimenso, uma mais-
valia chamada de dimenso objetiva
87
.
De acordo com o tribunal germnico, o catlogo de direitos fundamentais
materializa uma ordem objetiva de valores, que vale como deciso constitucional
fundamental para todos os ramos do direito, e que fornece diretrizes e impulsos para a
legislao, a Administrao e a jurisprudncia
88
.
De agora em diante, a presena de direitos fundamentais na Constituio no
serviria apenas para se contrapor ao arbtrio estatal. Serviria tambm para nortear a
compreenso de todo o sistema jurdico (eficcia irradiante) e para obrigar todos os
rgos pblicos a adotar as medidas necessrias sua efetivao (dever de proteo).
Eis a, portanto, os pilares estruturantes deste novo vis dimensional: (i) se espraiar por
todo o ordenamento, (ii) complementar (ou reforar) a imperatividade dos direitos
subjetivos e (iii) vincular juridicamente todas as funes estatais
89
.
Pois bem. Cientes desta nova ferramenta hermenutica, como correlacion-la
com a constitucionalizao do direito do trabalho?
2 - O alargamento conceitual: em busca da proteo jurdica perdida
Diversas so as maneiras de se responder a pergunta que encerrou o tpico
anterior. Em primeiro lugar, podemos utiliz-la para a releitura de alguns institutos que,
supostamente, no possuem sequer um arranho dogmtico, mas que, sob as lentes da
dimenso objetiva, apresentam algumas rachaduras bastante comprometedoras. Vejam,
por exemplo, o caso do salrio
90
.
Segundo a jurisprudncia majoritria, embora esta prestao possua um ntido
cunho alimentar, isso no razo suficiente para reforar a sua proteo judicial
91
. Dito
de outro modo: quando se fala do carter alimentar para tecer loas ao pagamento do
empregado sem maiores conseqncias prticas, tudo bem. Mas se o mesmssimo
discurso for utilizado para consider-lo como espcie do gnero obrigao alimentcia
e, com isso, viabilizar a aplicao da priso civil (prevista no art. 5, LXVII da CF/88)
87
ANDRADE, Jos Carlos Vieira de, op. cit., p. 138.
88
BVerfGE 39, 1 (41), apud, ALEXY, Robert, op. cit., pp. 524-525.
89
GOMES, Fbio Rodrigues, op. cit., p. 100.
90
Idem, p. 228.
91
Idem, pp. 232-233.
23
para os empregadores que no justifiquem o seu inadimplemento, nada feito
92
. Por que
esta incongruncia? Porque se prioriza o aspecto pecunirio do salrio, ao invs de sua
projeo existencial. Ou, retornando ao nosso tema, porque se faz uma leitura
exclusivamente patrimonial do instituto, esquecendo-se completamente das inmeras
possibilidades abertas por uma interpretao constitucional
93
.
Interpretao conforme a Constituio, filtragem constitucional ou eficcia
irradiante dos direitos fundamentais. Todos so nomes que designam um fenmeno
idntico: a obrigatoriedade de extrair-se o sentido que mais aproxime a legislao
ordinria (e o direito do trabalho) do conjunto de direitos fundamentais contido na
Constituio.
Outro exemplo interessante o do acesso ao emprego pelas pessoas portadoras
de deficincia
94
. Atravs de uma anlise feita de baixo para cima, isto , iniciada a partir
do direito infraconstitucional, haveria uma violao grosseira do direito de liberdade do
empregador, caso ele fosse obrigado a contratar pessoas inseridas em determinado
segmento social. Resultado: invalidade do art. 93 da Lei n 8.213/91. Contudo, se
invertermos o raciocnio e o realizarmos de cima para baixo, encontraremos argumentos
bastante fortes tais como o do direito ao trabalho e o da igualdade material (arts. 5, I,
6 e 7, XXXI da CF/88) , aptos a legitimar a interveno do Estado em prol dos
indivduos menos favorecidos
95
. Hoje em dia j se vai ainda mais longe e tenta-se
implementar o conceito da ao afirmativa no direito do trabalho, ainda que com
resultados pouco expressivos
96
.
92
Idem, ibidem.
93
Para um maior desenvolvimento do assunto, enfrentando, inclusive, os diversos argumentos contrrios
a este tipo de interpretao constitucional do salrio, cf. idem, pp. 239-263. Cf., tambm, MALLET,
Estvo, op. cit., pp. 18-19, onde o autor faz crtica semelhante sobre o reducionismo patrimonial do
direito do trabalho.
94
ROMITA, Arion Sayo, op. cit., p. 180.
95
Idem, p. 181.
96
AO AFIRMATIVA. AUSNCIA DE DEMONSTRAO DE ATOS DISCRIMINATRIOS
CONCRETOS. DANO MORAL COLETIVO. NO- CARACTERIZAO. No evidenciada qualquer
situao concreta de preterio, excluso ou preferncia de empregados, fundada em gnero, idade ou
raa, levadas a efeito pela instituio acionada, invivel se torna a imposio de condenao pecuniria a
ttulo de dano moral coletivo. A mera ausncia de correspondncia entre a composio dos empregados
do demandado e a taxa de composio da Populao Economicamente Ativa do DF no se revela
suficiente a evidenciar qualquer conduta discriminatria, ainda que inconsciente, por parte da demandada.
Ainda que se pudesse vislumbrar a ocorrncia de discriminao indireta, inexiste no ordenamento jurdico
brasileiro instrumento legal que determine a observncia de regime de cotas ou metas na admisso de
empregados, seja por rgos da administrao pblica, seja por empresas de natureza privada (art. 5, II
da CF). TRT 10 Regio. RO n 00930-2005-016-10-00-7. Rel. Des. Elaine Machado Vasconcelos, DJ
27.04.2007.
24
Inmeras outras situaes, envolvendo esta reviso do jeito de se interpretar o
direito do trabalho, ainda poderiam ser mencionadas. Lembrem-se do problema da
correlao entre a aposentadoria e o trmino do contrato de emprego. Novamente, uma
releitura constitucional fez com que o STF contrariasse caudalosa jurisprudncia do
TST (condensada na OJ n 177 do SDI-1) e afirmasse, sem meias-palavras, que o ato de
se aposentar no interfere no curso natural do contrato. Pois, caso contrrio, o mero
exerccio de um direito adquirido pelo segurado/empregado lhe provocaria um prejuzo
injustificado. Ou seja, haveria uma ofensa desproporcional do seu direito fundamental
ao trabalho previsto nos arts. 6 e 7, I da CF/88
97
.
Mas fiquemos por aqui. Por motivo de tempo e espao, devemos seguir adiante.
Isso porque ainda falta mencionar a seqela mais relevante da dimenso objetiva sobre
o alargamento conceitual do Direito Constitucional do Trabalho: a eficcia dos direitos
fundamentais nas relaes privadas.
A pergunta-chave que resume muito bem este assunto a seguinte: quem o
destinatrio dos direitos fundamentais?
98
Para os partidrios da doutrina da eficcia indireta ou mediata (mittelbare
Drittwirkung), o destinatrio nica e exclusivamente o legislador
99
. Concebida pelo
alemo Gnther Drig, esta perspectiva tinha como mote a preservao do princpio da
liberdade e a autonomia do direito privado. Neste sentido, a idia de uma interveno
direta (ou imediata) do Estado nas relaes entre os particulares sem contar com a
intermediao do legislador ordinrio era afastada por meio de uma rejeio
rotunda, que poderia resumir-se desta forma breve e incisiva: o que que tem o
Estado a ver com a vida privada dos indivduos?
100
.
J para os que defendem a teoria da eficcia direta ou imediata (unmittelare
Drittwirkung), a idia de destinatrio deve ser posta no plural, pois eles seriam vrios:
os rgos pblicos de um modo geral (executivo, legislativo e judicirio), no se
esquecendo tambm dos particulares. Segundo Hans Carl Nipperday, tanto o Estado
97
AI-AgR 530084 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 19.12.2007 e RE-ED 550432 / RS, Rel. Min. Cezar
Peluso, DJ 19.10.2007.
98
CANARIS, Claus-Wilhelm. A influncia dos direitos fundamentais sobre o direito privado na
Alemanha. Trad. Peter Naumann. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituio, Direitos
Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2003, p. 234.
99
BILBAO UBILLOS, Juan Maria. La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares:
anlisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Madrid: Centro de Estdios Polticos y
Constitucionales, 1997, p. 324.
100
CANOTILHO, Jos Joaquim Gomes. Provedor de Justia e efeito horizontal de direitos, liberdades e
garantias, In: CANOTILHO, J.J. Gomes, Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra
Editora, 2004, p. 86.
25
como os particulares poderiam ser potenciais violadores dos direitos fundamentais. De
modo que no haveria sentido em proteg-los quando atacados pelo poder pblico e
desguarnec-los quando ameaados pelo poder privado. Principalmente quando nos
lembramos que, nos dias de hoje, as maiores afrontas dignidade do indivduo
acontecem nas suas relaes pessoais
101
.
Existe ainda a teoria dos deveres de proteo, liderada por Canaris. De acordo
com este autor, os direitos fundamentais servem tanto para a defesa de intervenes
por parte do Estado nos bens jurdicos dos seus cidados (Eingriffsverbote und
Abwehrrechte), quanto para obrigar o Estado proteo dos seus cidados,
caracterizando-se, pois, como mandamentos de tutela ou deveres de proteo
(Schutzgebote)
102
.
Pois bem. Aps a breve exposio desta miscelnea doutrinria, a questo deve
ser recolocada: quem so os destinatrios dos direitos fundamentais dos trabalhadores
subordinados?
Diante de um ordenamento jurdico-constitucional como o brasileiro, que conta
com um nada desprezvel art. 5, 1, penso que a resposta s pode ser uma:
destinatrios dos direitos fundamentais dos trabalhadores subordinados so todos
aqueles que com eles interagem, sejam atores pblicos ou privados
103
. Se no for assim,
estar criada uma capa de imunidade para os empregadores, liberando-os para
tratarem os seus subordinados como bem entenderem. Subordinao voltar a ser
sinnimo de escravido; se no de escravido fsica, ao menos de escravido moral
104
.
Tendo isso em mente, percebe-se como a polmica acima delineada , a rigor,
uma falsa disyuntiva
105
. Pois nada impede que todos (Estado e particulares) atuem em
sintonia para preservar, proteger e fomentar a efetivao dos direitos fundamentais,
onde quer que eles se encontrem.
claro que no campo do trabalho subordinado, este alerta adquire ainda mais
impacto, uma vez que ser ali, nos galpes das fbricas, na limpeza dos escritrios ou
no atendimento dos clientes das lojas de departamento, que o ser humano correr o
risco mais concreto de ser confundido com uma pea da engrenagem produtiva e ser
101
Cf. ALEXY, Robert, op.cit., p. 530.
102
CANARIS, Claus-Wilhelm. A influncia dos direitos fundamentais sobre o direito privado na
Alemanha. Trad. Peter Naumann. In: op. cit., p. 237.
103
GOMES, Fbio Rodrigues, op. cit., pp. 164-165.
104
PACHECO ZERGA, Luz, op. cit., p. 19.
105
BILBAO UBILLOS, Juan Maria, La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares,
p. 29.
26
tratado como tal. No foi por acaso que Bilbao Ubillos asseverou: A nadie puede
sorprender, por tanto, que la gnesis y el desarrollo ms fecundo de la teoria de la
Drittwirkung de los derechos fundamentales haya tenido como escenario el campo
de las relaciones laborales. Esta doctrina nace precisamente en los tribunales laborales
y sigue encontrando entre los cultivadores de esta disciplina los ms firmes apoyos
106
.
Esta, e no outra, foi a centelha inicial do surgimento do direito do trabalho: a
criao de uma rede de proteo jurdica, especificamente traada para preservar a
humanidade do indivduo que se pe disposio do fim alheio
107
. Pode-se dizer, com
isso, que o direito do trabalho a manifestao mais candente do imperativo categrico
kantiano, segundo o qual no se deve tratar o ser humano como um meio para objetivos
que lhe so estranhos, mas como um fim em si mesmo.
Penso assim porque, na medida em que o direito do trabalho ampara a esfera
existencial do indivduo que subordina a sua vontade a do outro, ele nada mais faz do
que garantir quela pessoa que ela no ser coisificada. Isto , ele representa uma
garantia normativa aos empregados de que os seus fins, as suas ambies, os seus
planos de vida no esto sendo postos de lado. Eles estaro, ao contrrio, integrando-se
aos daquele que o contratou, uma vez que a prosperidade deste ltimo: (1) tambm lhe
beneficiar (no mnimo, indiretamente, porque lhe garantir o emprego) e (2) no estar
lastreada na sua explorao desmedida.
E ser exatamente este mesmo fundamento que exigir o alargamento conceitual
do Direito Constitucional do Trabalho. At hoje, toda esta proteo contra a
desumanizao do empregado foi desenvolvida com vistas a formatar o contrato de
emprego. Idade mnima, salrio mnimo, proteo contra despedida arbitrria e repouso
remunerado so direitos especficos, ou seja, direitos especificamente voltados para a
regulamentao do ajuste firmado entre empregador e empregado, e que no Brasil
conquistaram patamar constitucional
108
. No entanto, pouco se fala dos chamados
direitos inespecficos.
106
Idem, p. 245.
107
Em sentido semelhante, ROMITA, Arion Sayo, op. cit., pp. 180 e 396.
108
Idem, p. 405.
27
Eles so os direitos que se dirigem a todos os indivduos de uma classe
aberta
109
. Logo, ao serem localizados na relao de emprego, so merecedores do
adjetivo inespecficos, uma vez que se diferenciam daqueles outros (especficos),
formulados especialmente para preservar a humanidade do indivduo enquanto
empregado. Feitas as apresentaes, avancemos para o problema propriamente dito.
No alvorecer do liberalismo econmico, o escopo de melhor regulamentar o
moderno contrato de trabalho fez com que os juristas de outrora efetuassem a
abstrao do trabalhador em face da atividade que exercia. Assim, apesar de
identificarem o indivduo com o sujeito de direito, a sua atuao profissional
propriamente dita no mais lhe pertencia enquanto tal. Ou seja, destacou-se o homem de
sua ao, de modo a associ-la isoladamente com o objeto do ajuste
110
.
Ocorre que esta separao fictcia gerou uma esquizofrenia jurdica: de um
lado, o indivduo era visto como pessoa humana nas suas relaes (pblicas) com o
Estado; de outro, era tido como fator de produo nas suas relaes (privadas) com o
empregador. Por conseguinte, fecharam-se as portas, no espao de atuao profissional,
incidncia daqueles direitos inespecficos, materializando-se o que o Tribunal
Constitucional espanhol chamou de feudalismo industrial
111
.
Por certo que esta situao no deve prosperar num ambiente democrtico e
informado por uma Constituio normativa como a brasileira de 1988, na qual a
centralidade do princpio da dignidade humana e a eficcia dos direitos fundamentais
nas relaes privadas j adquirem ares de consenso sobreposto no debate jurdico
nacional
112
.
Deste modo, temos que (1) a inevitvel revitalizao da natureza humana do
trabalhador subordinado, no seio da relao contratual de onde provm esta sua
109
CANOTILHO, J.J. Gomes. Tomemos a srio os direitos econmicos, sociais e culturais. In: In:
CANOTILHO, J.J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p.
40, nota de rodap n 5.
110
SUPIOT, Alain. Le droit du travail. 12 ed. Paris: PUF, 2004, pp. 11-12.
111
Cf. BILBAO UBILLOS, Juan Maria. En qu medida vinculan a los particulares los derechos
fundamentales?. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituio, Direitos Fundamentais e Direito
Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, pp. 328-329.
112
Cf., por todos, SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relaes privadas, p. 277-297,
BARROSO, Luis Roberto, op. cit., pp. 41-42, BARCELLOS, Ana Paula de, op. cit., pp. 13-30, SARLET,
Ingo Wolfgang, op. cit., pp. 392-401, GOMES, Fbio Rodrigues, op. cit., pp. 45-67 e PEREIRA, Jane Reis
Gonalves. Interpretao constitucional e direitos fundamentais: uma contribuio ao estudo das
restries aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princpios. Rio de Janeiro: Renovar,
2006, pp. 431-497.
28
qualificao
113
, associada ao (2) necessrio afastamento da velha dicotomia liberal,
entre o indivduo e atividade que executa, levaram abertura dos portes das fbricas
para outros direitos fundamentais do indivduo que permaneciam do lado de fora, tais
como os de liberdade de expresso, liberdade religiosa, direito privacidade e direito de
imagem
114
.
E foi exatamente a partir deste instante, que veio a lume a segunda onda de
questionamentos: (1) como devemos compaginar a existncia de direitos fundamentais
individuais do empregado com o poder de mando (organizao, fiscalizao e
disciplinar) caracterstico do empregador? (2) Existem critrios metodolgicos capazes
de solucionar esta potencial incompatibilidade? (3) O que deve nortear a formulao
destes critrios, de maneira que a resposta encontrada seja racional e adequada
Constituio?
Dito isso, penso que o objetivo central do nosso estudo j tenha sido entrevisto:
o de alargar o conceito de Direito Constitucional do Trabalho at o ponto em que nele
ingressem os direitos fundamentais (especficos e inespecficos) dos trabalhadores.
Mas para que isso seja feito sem aodamento, ou melhor, desviando-se do perigo
de uma hipertrofia irradiante
115
, torna-se vital a construo de critrios, parmetros ou
standards que auxiliem o intrprete na sua tomada de deciso. Identificar, com maior
segurana, e defender, contra as maiorias eventuais, os direitos especficos que sejam
portadores de fundamentalidade. Decidir, de forma consistente, objetiva e racional, os
conflitos entre o direito fundamental inespecfico do empregado e o direito de
autonomia privada do empregador, tornando a justificao transparente e, nas palavras
de Cham Perelman, aceitvel perante um auditrio universal
116
.
Eis a as diretrizes metodolgicas que devem pautar o hermeneuta na sua
atividade incessante de melhor compreender o Direito Constitucional do Trabalho.
Novamente: que venham as respostas.
3 - Como atender ao chamado outra vez?
113
Cf. GEDIEL, Jos Antnio Peres. A irrenunciabilidade a direitos da personalidade pelo trabalhador.
In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituio, Direitos
Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 153.
114
SUPIOT, Alain. Critique du droit du travail. Paris: Presses Universitaires de France PUF, 2002,
pp. 63-64, ROMITA, Arion Sayo, op. cit., pp. 251-292 e MALLET, Estvo, op. cit., pp. 17-41.
115
ROMITA, Arion Sayo, op. cit., p. 179.
116
PERELMAN, Cham e TYTECA-OLBRECHTS, Lucie. Tratado da argumentao: a nova
retrica. Trad. Maria Ermantina Galvo. So Paulo: Martins Fontes, 1996, pp. 34-37.
29
A bem da verdade, para se esboar uma resposta minimamente coerente, no se
pode esquecer que a submisso do trabalhador s determinaes do empregador se d
espontaneamente, uma vez que partimos do pressuposto de que estamos lidando com
um contrato livremente estabelecido. E, neste passo, devemos resgatar as palavras de
Carlos Santiago Nino, no sentido de que: el principio de inviolabilidad de la persona
veda maximizar la autonoma de los indivduos a costa de la de otros. Pero esto parece
tener una excepcin (...): la que est dada por el consentimiento de las personas cuya
autonoma se restringe
117
.
Logo, a comunho de interesses entre empregado e empregador no sentido de
cooperao recproca para a melhor consecuo do objeto social o norte de conduta
destes sujeitos privados, sendo, portanto, bastante razovel que determinadas liberdades
fundamentais sejam adequadas ao funcionamento da empresa
118
. A dificuldade est,
mais uma vez, em desvendar o alcance preciso desta adequao. E, como auxlio
nossa pesquisa, a prtica forense trabalhista tem demonstrado, mais do que as outras,
que, subjacente s grandes controvrsias jurdicas, esto questes fticas que no podem
ser descuradas. Neste sentido, a experincia cotidiana pode nos indicar quais
peculiaridades faro a diferena no momento de decidir.
Temos, pois, que a melhor forma de controlar a ingerncia empresarial sobre os
direitos fundamentais inespecficos do trabalhador ser aquela realizada topicamente
(caso a caso), uma vez que este mtodo pontual nos permitir apreciar o problema de
maneira diferenciada
119
. E, neste passo, a anlise particularizada acabar favorecendo
tanto a descoberta de solues mais afeitas realidade factual (subjacente controvrsia
jurdica suscitada), quanto a extrao de regras de conduta passveis de generalizao.
IV O Direito Internacional do Trabalho em revista
At onde deve o Estado intervir nas relaes privadas? At onde legtima a
presuno de desequilbrio entre particulares, capaz de gerar a substituio da vontade
individual por normas de ordem pblica? Enfim: qual a linha divisria, no universo
do trabalho humano, entre o paternalismo excessivo e a omisso permissiva?
117
tica y derechos humanos, p. 268.
118
ROMITA, Arion Sayo, op. cit., p. 192 e MALLET, Estvo, op. cit., pp. 24-25.
119
Cf., neste sentido, CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituio. 7
ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2003, p. 464.
30
Estas foram algumas das perguntas que procurei analisar ao longo deste estudo.
Entretanto, no seria adequado encerr-lo sem, antes, tentar fugir das pr-compreenses
que embaraam o nosso raciocnio. Olhemos, por alguns instantes, para alm-mar.
Ora, se no conseguimos fugir de nossos pr-juzos, se temos dificuldades de
afastar os nossos preconceitos, por que no ampliar as premissas do debate? Por que no
ultrapassar as nossas fronteiras e experimentar novos valores? Por que no misturar os
que so cultivados localmente, na Constituio, com aqueles compartilhados mundo
afora, nos Tratados e Convenes internacionais? No seria interessante iniciar a
discusso sobre o que deve ser considerado o core labor
120
, o fundamental proteo
do trabalhador, a partir de direitos com aspirao de validade universal para todos os
povos e tempos
121
?
Realmente, acredito ser este um caminho deveras promissor para a aproximao
de uma sada possvel. Mas, para percorr-lo, devemos nos lembrar, mais uma vez, de
um pequeno detalhe que, nos dias de hoje, faz toda a diferena. Indo direto ao ponto:
devemos nos aproximar do pujante movimento de constitucionalizao do direito. Um
movimento que, como j foi visto, comeou l fora e que hoje j se assentou
confortavelmente por aqui, dialogando, inclusive, com o direito internacional. E a esto
a EC n 45/04 e o novo 3 inserido no art. 5 da CF/88 que no me deixam mentir.
A reviso do material normativo consolidado pelo direito internacional do
trabalho, luz da Constituio. Eis a a porta de entrada para um mundo novo, onde o
horizonte histrico comum fornecer interessantes subsdios para a pacificao daquela
pergunta inicial que no quer calar: qual deve ser o patamar mnimo de interveno
estatal no universo do trabalho subordinado
122
?
1 - Padro mnimo: uma rota de fuga internacional atravs do direito
constitucional
Pois bem. Depois de colocados os ps no cho, situados no tempo e abertos a
um novo espao, estamos aptos a avanar. E a bssola normativa escolhida, a fim de
120
BARZOTTO, Luciane Cardoso. Direitos humanos e trabalhadores: atividade normativa da
organizao internacional do trabalho e os limites do direito internacional do trabalho. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 122.
121
SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais, reforma do judicirio e tratados internacionais de
direitos humanos. In: CLEVE, Clmerson Merlin, SARLET, Ingo Wolfgang e PAGLIARINI, Alexandre
Coutinho. Direitos humanos e democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 333.
122
No mesmo sentido, cf. DUBLER, Wolfgang. Direito do trabalho e sociedade na Alemanha. Trad.
Alfred Keller. So Paulo: LTr, 1997, p. 294.
31
no nos perdermos pelos desvos ideolgicos desta discusso, ser o direito
internacional do trabalho. Neste passo, importante ressaltar que metade do caminho j
foi percorrido. De fato, apesar da dificuldade de se universalizar diretrizes
especificamente voltadas para as relaes de trabalho, a OIT vem insistindo nesta
toada, propondo a adoo de princpios que, por serem fundamentais, estariam aptos se
tornar universalizveis
123
. Mas antes de nos debruarmos sobre eles, vale aqui mais
um lembrete.
Como j se mencionou exausto, o desenvolvimento scio-econmico
aplainou, em grande medida, as arestas que dificultavam a internacionalizao do
direito do trabalho. No demais repetir que, na esteira da globalizao, as normas
reguladoras do trabalho subordinado adquiriram um carter inevitavelmente
transnacional
124
. E para que no parea que estamos a reverberar uma retrica vazia,
selecionamos trs exemplos que podem ilustrar, com maior eficincia, a importncia
prtica que este debate adquiriu na realidade contempornea.
O primeiro deles vem de uma deciso da Suprema Corte dos EUA. No caso
Hoffman Plastics Compunds Inc vs. National Labor Relations Board NLRB, de
27/3/2002, o tribunal declarou ilegal a prtica administrativa da NLRB, entidade
federal competente para dirimir questes relativas derivadas de contratos coletivos de
trabalho, de determinar ao empregador o pagamento de indenizaes trabalhistas a um
trabalhador imigrante ilegal despedido por apoiar campanha para formar sindicato
125
.
Em linhas gerais, a Suprema Corte entendeu que tal pagamento no estava abrangido
pela poltica migratria norte-americana, ressalvando to-somente os salrios pelo
trabalho efetivamente realizado
126
.
J o segundo exemplo quase que uma decorrncia lgica do primeiro. Digo
isso porque o governo do Mxico, preocupado com o destino de seus quase 6 milhes
de emigrantes (a maioria absoluta em territrio norte-americano), solicitou Corte
Interamericana de Direitos Humanos que se manifestasse a respeito da condio
123
Neste sentido, cf., por todos, BARZOTTO, Luciane Cardoso, op. cit, pp. 103-104.
124
ROMITA, Arion Sayo, op.cit., p. 199 et seq.
125
PEREIRA, Antonio Celso Alves. Os direitos do trabalhador imigrante ilegal luz da Opinio
Consultiva 18/03 da Corte Interamericana de Direitos Humanos CIDH. In: TIBURCIO, Carmen e
BARROSO, Lus Roberto (org.). O direito internacional contemporneo: estudos em homenagem ao
professor Jacob Dolinger. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, pp. 90-91.
126
Idem, p. 91.
32
jurdica e os direitos dos trabalhadores imigrantes que vivem em situao ilegal
127
. E
isso foi feito.
Assim, por meio da Opinio Consultiva n 18, de 17/9/2003, a Corte
Interamericana
128
: (1) reafirmou o direito dos imigrantes ao devido processo legal e ao
acesso justia, (2) ressaltou a vulnerabilidade dos imigrantes (em relao aos
nacionais e residentes); (3) destacou que existem certos direitos humanos que surgem da
prpria insero do indivduo na relao de trabalho (direitos especficos), os quais no
poderiam ser desconsiderados pelo Estado, apesar da situao migratria irregular; e (4)
aplicou o princpio da igualdade e no-discriminao (parte do Direito Internacional
Geral, na forma de jus cogens), uma vez que no havia uma justificativa razovel para o
tratamento diferenciado, e, portanto, para no se conferir ao trabalhador imigrante os
mesmos direitos dos demais trabalhadores regulares.
Por fim, indicamos um exemplo retirado da jurisprudncia brasileira. Apesar de
no tratar exatamente da extenso material e/ou territorial do direito internacional do
trabalho, ele traz baila o mesmo problema subjacente proteo do imigrante
irregular.
O Tribunal Superior do Trabalho proferiu reiteradas decises, no sentido de que
o trabalho prestado Administrao Pblica, sem a realizao de concurso (art. 37, II e
2 da CF/88), no produziria efeitos jurdicos. No mximo, seria devido o salrio pelas
horas trabalhadas, observado o valor do salrio-mnimo. Ocorre que veio a Medida
Provisria n 2.164-41/01 e inseriu o art. 19-A na Lei n 8.036/90, estabelecendo, in
verbis: devido o depsito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato
de trabalho seja declarado nulo nas hipteses previstas no art. 37, 2
o
, da Constituio
Federal, quando mantido o direito ao salrio. Pouco tempo depois, o TST emitiu a
Resoluo n 121/2003 e alterou a redao da Smula n 363, de modo que, agora, para
alm do salrio, o contrato nulo gera tambm o pagamento relativo ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servio.
Visto isso, a questo primordial retorna de imediato: por que se deve garantir o
pagamento do FGTS ao trabalhador irregular? Por que no lhe garantir o pagamento,
por exemplo, das frias, do 13 salrio ou do adicional noturno? Enfim: qual foi o
127
PEREIRA, Antonio Celso Alves, op.cit., pp. 90 e 99. E aqui, mais uma vez, a arte imita a vida. Pois
no foi outra a realidade demonstrada no filme Babel (2006), no qual uma empregada domstica
mexicana foi detida por autoridades aduaneiras e coagida a deixar os EUA, sem ter o direito de, sequer,
recuperar seus objetos pessoais, no obstante ter trabalhado pacfica e ininterruptamente naquele pas por
mais de vinte anos
128
Idem, pp. 103-108.
33
critrio utilizado pelo legislador (e posteriormente acolhido pelo TST) para inserir o
FGTS como pagamento obrigatrio queles que se vincularam irregularmente com a
Administrao Pblica? E no se pense que estas indagaes so meramente
acadmicas. Porquanto na ADI n 3.127-9/DF, cujo relator o Ministro Cezar Peluso,
polemiza-se justamente sobre esta deciso legislativa
129
.
Portanto, depois de uma rpida passada de olhos por estes poucos exemplos,
possvel perceber que o dilema envolvendo a proteo do trabalhador vai muito alm da
mera reforma legislativa, propagada aos quatro cantos como a panacia de todos os
males. Na verdade, ainda que o legislador ordinrio altere aqui ou acol o ordenamento
laboral, restar pendente (ou potencialmente controvertida) a constitucionalidade de sua
ao. Mas por que ento no tentar solucionar o impasse to-somente atravs da Lei
Maior do pas? Por que inserir o direito internacional nesta tumultuada discusso?
Em primeiro lugar, porque a prpria noo de direito fundamental no das
mais tranqilas. Muito ao contrrio, existe um aceso debate a respeito da extenso dos
direitos fundamentais na Constituio e, mais do que isso, do limite que estas clusulas
ptreas podem legitimamente impor s maiorias eventuais, impedindo toda e qualquer
reforma do texto constitucional. De modo que, para no recairmos numa outra polmica
que, ao invs de ajudar, complicaria ainda mais, penso que resgatar os direitos humanos
uma boa alternativa para a construo de uma soluo aceitvel. Pois, ao fim e ao
cabo, so eles que melhor sinalizam o mnimo tico cultivado pelas sociedades
contemporneas. E tanto assim, que vm servindo de inspirao aos legisladores
constituintes pelo mundo afora
130
.
Em segundo lugar, porque a Emenda Constitucional n 45 de 2004 deu um up
grade sem precedentes normativa internacional associada aos direitos humanos.
Superando a jurisprudncia do STF, a EC n 45/04 acrescentou o 3 ao art. 5 da
CF/88, viabilizando a concesso do status formalmente constitucional a tratados e
convenes que antes eram equiparados legislao ordinria. E esta foi uma mudana
to importante, que irei me desviar alguns passos do nosso tema central, a fim de
dedicar alguns pargrafos a respeito desta recente inovao.
2 - EC n 45/04: uma terceira via?
129
ADI n 3.127-9/DF, Rel. Min. Cesar Peluzo, DJ 30.05.2008 (aguardando julgamento).
130
Sobre a aproximao entre o direitos internacional e direito constitucional, cf., por todos, MELLO,
Celso D. de Albuquerque. Direito constitucional internacional. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
34
Enquanto grande parte da doutrina persistia na atribuio do carter
materialmente constitucional aos documentos internacionais que cuidam dos direitos
humanos, a mais alta corte do pas caminhava no sentido oposto: o de que os tratados,
independentemente do seu contedo, possuem o status de lei ordinria (regra da
paridade normativa).
De acordo com a doutrina, a direo apontada pelo STF, desde a sua deciso no
RE n 80.004
131
, estava em flagrante descompasso com os valores abraados pela
Constituio de 1988. Isso porque, aos olhos da academia, o tribunal estaria
enfraquecendo a proteo da dignidade humana e, por conseqncia, desguarnecendo
os direitos fundamentais
132
.
Seguindo esta linha de raciocnio, no haveria a menor necessidade de alterao
do texto constitucional, uma vez que suas disposies j seriam mais do que suficientes
para a abertura do catlogo de direitos fundamentais queles outros reconhecidos
internacionalmente
133
. Contudo, como o Supremo no se deixou convencer, entendeu
por bem o legislador constituinte inserir o 3 no art. 5 da Lei Fundamental, pondo um
ponto final na controvrsia
134
. Mas ser que ps realmente?
primeira vista, parece que no. Neste sentido, o professor Ingo Sarlet lista uma
srie de problemas surgidos no embalo desta alterao constitucional: (1) o da
obrigatoriedade ou no do procedimento de aprovao diferenciado
135
; (2) o do
momento de incorporao do tratado (condicionado ou no emisso de decreto
presidencial)
136
; (3) o do formato do documento constitucional ps-aprovao (se
aglutinado no seu interior, posto em anexo ou mantido apartado)
137
; (4) o da iniciativa
do processo de emenda constitucional (se exclusiva do presidente)
138
; (5) o da
hierarquia normativa das convenes e tratados anteriores emenda
139
; e (6) o da
131
RE n 80.004/SE, Rel. Min. Cunha Peixoto, DJ 01.06.1977.
132
Neste sentido, cf., por todos, MELLO, Celso de Albuquerque. O 2 do Art. 5 da Constituio
Federal. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2 ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2001, p. 25.
133
Cf. PIOVESAN, Flvia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 7 ed. So
Paulo: Ed. Saraiva, 2007, pp. 54-55 e SARLET, Ingo Wolfgang, Direitos fundamentais, reforma do
judicirio..., pp. 339-340.
134
Em sentido semelhante, cf. PIOVESAN, Flvia. Reforma do judicirio e direitos humanos. In:
TAVARES, Andr Ramos. Reforma do judicirio analisada e comentada. So Paulo: Ed. Mtodo,
2005, p. 71 e SARLET, Ingo Wolfgang, Direitos fundamentais, reforma do judicirio..., pp. 350 e 354.
135
Direitos fundamentais, reforma do judicirio..., p. 350.
136
Idem, p. 352.
137
Idem, ibidem.
138
Idem, p. 353.
139
Idem, p. 354.
35
possibilidade de denncia dos instrumentos internacionais sobre direitos humanos,
aprovados depois da EC n 45/04
140
.
Por razes temticas, optei por comentar apenas os pontos (5) e (6), haja vista
influrem diretamente nas concluses que pretendo expor daqui a instantes.
Quanto hierarquia dos tratados sobre direitos humanos, havia quatro teorias a
respeito: (i) a da supraconstitucionalidade, (ii) a da constitucionalidade material, (iii) a
da supralegalidade e (iv) a da paridade legal
141
. Que a esta espcie de documentos
jurdicos, anteriores EC n 45/04, aplicava-se a segunda posio, concordava a maioria
dos especialistas. Acontece que, agora, o enfoque outro: para alm desta
materialidade, seria possvel estender-lhes a natureza formalmente constitucional? Ou
seja, tal como ocorrer com os tratados de direitos humanos aprovados posteriormente
emenda, os antigos tambm devem ser considerados formal e materialmente
constitucionais?
As opinies, para variar, divergem. De um lado, existem autores que, no
obstante aceitarem a materialidade constitucional desta modalidade de tratado, recusam
a sua converso formal ao patamar de normas constitucionais
142
. E dizem isso, dentre
outras razes, porque seria invivel a equiparao automtica entre decreto legislativo
e emenda constitucional, pois, alm de possurem funes distintas, possuiriam tambm
grau de legitimidade diferenciado
143
. Acrescenta-se, ainda, a idia de que estes
instrumentos pretritos j estariam integrados ao bloco de constitucionalidade, isto ,
ao conjunto de normas de carter constitucional, espalhadas em vrios diplomas e
cumprindo, todas, o papel de parmetro de controle de constitucionalidade
144
.
De outra parte, h aqueles que defendem uma interpretao oposta, no sentido de
que os tratados anteriores teriam galgado uma posio equivalente a de emenda
constitucional, sob o fundamento do postulado tempus regit actum
145
. De acordo com
esta viso, nada impediria, mas, ao contrrio, a coerncia exigiria que nos valssemos
do mesmo raciocnio utilizado pelo STF no julgamento dos REs n 79.212 e n
140
Idem, pp. 352 e 356.
141
PIOVESAN, Flvia. Reforma do Judicirio..., p. 69 e SARLET, Ingo Wolfgang, Direitos
fundamentais, reforma do judicirio ..., p. 343.
142
SARLET, Ingo Wolfgang, Direitos fundamentais, reforma do judicirio ..., p. 347.
143
Idem, p. 348.
144
Idem, p. 349.
145
SCHIER, Paulo Ricardo. Hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos e
a EC 45: aspectos problemticos. In: CLEVE, Clmerson Merlin, SARLET, Ingo Wolfgang e
PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Direitos humanos e democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.
511.
36
93.850
146
(e confirmado na ADI n 1.726
147
), onde se afirmou que normas gerais de
direito tributrio teriam sido recepcionadas com o status de lei complementar
148
.
Haveria aqui uma leitura otimista do enunciado do art. 5, 3 da CF/88
149
.
Numa primeira aproximao, cheguei a pensar que a primeira verso seria a
mais acertada. E avaliei, inicialmente, deste modo, porque aceitar a modificao formal
(e automtica) da Constituio seria o mesmo que realiz-la de maneira tcita, o que,
convenhamos, geraria uma contradio em termos. Pois ou no ilgico validar uma
alterao que por definio procedimental, quando ela no se submeteu ao
procedimento?
Entretanto, depois de meditar um pouco mais, percebi que esta era uma
contradio aparente. E para convencer o leitor de que existe coerncia por detrs
desta nova impresso, investirei em duas frentes argumentativas. Vamos a elas.
Com efeito, fato que a formao da vontade poltica, pautada pelo princpio
democrtico, exige que determinadas inovaes legislativas sigam um procedimento
previamente estabelecido. Mais do que isso, ela demanda um qurum suficientemente
representativo da viso majoritria (ou predominante) na sociedade
150
. E aqui surge o
primeiro ponto, j desvelado por Paulo Schier.
Antes da EC n 45/04, o procedimento exigido pelo constituinte originrio, para
a aprovao dos tratados sobre direitos humanos, no era o mesmo que os das emendas
constitucionais. Logo, se o constituinte derivado equiparou o rito de aprovao
daqueles tratados ao das emendas (ou seja, modificou para pior), o fez, obviamente, a
fim de lhes conferir uma maior proteo. Da que se deve presumir que os tratados
antigos tenham conquistado o mesmo grau de resguardo. Ou, por outras palavras, de
se presumir que houve uma transferncia consciente de legitimidade democrtica aos
tratados anteriores EC n 45/04, pela prpria EC n 45/04.
Caso no se pense assim, estaremos diante de uma incorrigvel desigualdade de
tratamento para situaes (materiais) eminentemente iguais. Isso sem falar de uma
notvel incongruncia do legislador, eis que, ao invs de aumentar a proteo dos
direitos humanos, ter prejudicado sua efetivao, atravs da imposio de um processo
146
RE 79.212/SP, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, DJ 29.04.1977 e RE 93.850/MG, Rel. Min. Moreira Alves,
DJ 27.08.1982
147
ADI n 1.726-MC, Rel. Min. Maurcio Corra, DJ 30.04.2004.
148
SCHIER, Paulo Ricardo, op. cit., p. 512.
149
Idem, p. 513.
150
VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal: jurisprudncia poltica. 2 ed. So Paulo:
Malheiros, 2002, p. 26.
37
mais demorado e custoso para a sua insero no ordenamento. Em suma: o que antes se
conseguia de maneira simples, agora ter que ser feito com um esforo redobrado. E
aqui vem o segundo argumento.
Ora, aqueles que no aceitam a aplicao do princpio tempus regit actum, no
tm como continuar a sustentar uma conseqncia inerente materialidade
constitucional dos tratados anteriores reforma do judicirio. E digo isso por uma razo
muito simples: porque estes autores aceitam a tese de revogao de normas formalmente
constitucionais por normas materialmente constitucionais. Ou, dito de modo mais
simples, aceitam a prevalncia do contedo sobre a forma
151
.
Portanto, se admitida a possibilidade de conflito entre normas materialmente
constitucionais e normas formalmente constitucionais
152
, fica evidente que o trao que
se sobressai a substncia normativa e no a embalagem que a envolve. E quando
esta substncia integra o ncleo material da Constituio, a roupagem formal que lhe
posta aos ombros adquire um carter definitivamente secundrio, nada impedindo, mas
ao contrrio, sendo at mais razovel que lhe seja oferecido um modelo mais adequado
ao seu alto grau de importncia.
Deste modo, concordo com a segunda teoria, no sentido de que, a partir da
vigncia da EC n 45/04, todos os tratados sobre direitos humanos internalizados no
direito brasileiro possuem hierarquia formal e materialmente constitucional
153
. Mas isso
no s. Ao voltarmos a nossa energia argumentativa ao que realmente importa a
constitucionalidade material dos tratados de direitos humanos , at mesmo o problema
da incorporao ao direito nacional adquire novos contornos, com resultados prticos
muito mais vibrantes do que se costuma imaginar.
A ttulo de exemplo, pensemos nas normas internacionais classificadas como jus
cogens. Conforme dispe o art. 53 da Conveno de Viena, esta seria uma norma
imperativa de Direito Internacional geral, isto , uma norma aceita e reconhecida
pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual
151
Como exemplo, basta mencionar a famosa polmica em torno da priso do depositrio infiel, onde
se discute a derrogao do art. 5, LXVII da CF/88 pelo art. 7, n 7 do Pacto de So Jos da Costa Rica.
Cf., neste sentido, QUEIROZ, Odete Novais Carneiro. Priso civil e os direitos humanos. So Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 2004. pp. 121-155.
152
SARLET, Ingo Wolfgang, Direitos fundamentais, reforma do judicirio ..., p. 354.
153
Em sentido semelhante, cf. o julgamento do STF no HC n 87.585/TO, Rel. Min. Marco Aurlio, DJ
01.04.2008, no qual o Ministro Celso de Mello reconhece o status constitucional dos tratados
internacionais sobre direitos humanos, incluindo os anteriores EC n 45/04.
38
nenhuma derrogao permitida e que s pode ser modificada por uma norma ulterior
de Direito Internacional geral da mesma natureza
154
.
Vistas as coisas por este ngulo e adicionando-se a uma pitada de relativizao
da soberania
155
, fica a aqui a provocao: a Conveno n 87 da OIT, que trata da
liberdade sindical e considerada a mais importante das normas de direito internacional
do trabalho
156
, no seria jus cogens? E, como tal, no obrigaria o Estado brasileiro? E se
assim fosse, no teria revogado o malfadado princpio da unicidade sindical (art. 8, II
da CF/88), herana nefasta de um passado nacional pouco afeito aos valores
democrticos?
Deve-se repetir novamente aos mais perplexos, que a possibilidade de conflito
entre normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais j
uma possibilidade vislumbrada pela doutrina. O que se cogita acima um passo adiante:
a possibilidade de um direito humano (universalmente reconhecido como tal) ingressar
no direito interno atravs dos costumes internacionais. Costumes estes que, afinal de
contas, sempre foram, historicamente, a principal fonte do direito internacional
157
. E,
desde esta perspectiva, os tratados que cuidassem dos direitos humanos estariam aptos a
servir de parmetro revogao de uma norma apenas formalmente constitucional.
Neste caso, ou seja, aceitas as premissas do jus cogens e da releitura do conceito
clssico de soberania, poder-se-ia, at mesmo, falar da aplicao do princpio da
primazia da norma mais benfica dignidade humana (amplamente utilizado na esfera
internacional dos direitos humanos
158
), como mais uma justificativa remoo do
ordenamento constitucional brasileiro, daquilo que foi agregado por compromissos
maximizadores
159
e que no se aproxima, nem de longe, do catlogo de direitos
fundamentais.
154
http://br.geocities.com/leis_codigos/leis/convviena18pp.pdf (acesso em 28 de agosto de 2008).
155
Cf. FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. Trad. Carlo Coccioli. So Paulo: Martins
Fontes, 2002, p. 39 et seq., MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito constitucional internacional, pp.
131-132 e GARCIA, Emerson. Influxos da ordem jurdica internacional na proteo dos direitos
humanos: O necessrio redimensionamento da noo de soberania. In: Revista jurdica. V. 9, n 85,
jun/jul
2007.Braslia,.pp.128.130.(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/Artigos/PDF/Eme
rsonGarcia_Rev85.pdf). Acesso em 28 de agosto de 2008.
156
SSSEKIND, Arnaldo Direito internacional do trabalho. 3 ed. So Paulo: LTr, 2000, p. 322.
157
MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito constitucional internacional, p. 274.
158
SARLET, Ingo Wolfgang, Direitos fundamentais, reforma do judicirio..., pp. 346 e 355 e
PIOVESAN, Flvia, Direitos Humanos e o direito constitucional internacional, p. 39.
159
VIEIRA, Oscar Vilhena, Supremo Tribunal Federal, p. 38.
39
E, para finalizar, vale a pena adiantar o que seria mencionado apenas na alnea
seguinte, quando da apresentao do contedo essencial do direito internacional do
trabalho.
Mesmo correndo o risco de uma desarrumao expositiva, decidi confiar na
antecipao, quando me dei conta de que a tese aqui defendida cai como uma luva na
diretriz emitida pela prpria OIT. Reparem bem. No item 2 da Declarao de Princpios
e Direitos Fundamentais no Trabalho, est previsto, com todas as letras, que os Estados-
membros, sem exceo, estaro por ela obrigados, independentemente de ratificao
expressa
160
. Sendo assim, o raciocnio s pode ser um: se dentre as normas ali inscritas
est a da liberdade sindical (Conveno n 87 da OIT), utiliz-la, para remover o
princpio da unicidade da Constituio brasileira de 1988, mais do que uma mera
faculdade.
Seria uma soluo promissora para o desenvolvimento pleno do sindicalismo (e
da verdadeira autonomia coletiva) no pas, j que sua sustentao jurdica estaria no s
em normas imperativas do direito internacional, como tambm na prpria interpretao
sistemtica e teleolgica da Constituio de 1988, com destaque para o seu art. 1, III e
IV, o art. 4, II, o art. 5, XVII a XXI e art. 8, caput, I e V. Ou isso, ou a defesa inglria
da tese de Otto Bachof, de normas originariamente constitucionais serem declaradas
inconstitucionais
161
, j recusada terminantemente pelo STF
162
.
No tocante possibilidade de denncia, no seria exagero apontar para um
consenso em relao aos tratados de direitos humanos aprovados depois da EC n 45/04,
no sentido de que no podem ser denunciados
163
. Contudo, o mesmo no se d com os
tratados antigos. Para uns, este poderiam ser denunciados pelo Presidente da Repblica,
independentemente de manifestao prvia do Congresso
164
, ao passo que, para outros,
esta deliberao legislativa seria necessria, no s para conferir maior legitimidade
subtrao do Estado aos ditames internacionais, mas tambm porque dever-se-ia seguir
a mesma lgica que impera no momento de incorporao daquele documento ordem
jurdica interna
165
.
160
ROMITA, Arion Sayo, op. cit., pp. 207-208.
161
Cf. BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Trad. Jos Manuel M. Cardoso da
Costa. Coimbra: Livraria Almedina, 1994.
162
ADI n 815-3, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 10.05.1996.
163
Cf. SARLET, Ingo Wolfgang, Direitos fundamentais, reforma do judicirio ..., p. 356 e PIOVESAN,
Flvia. Reforma do judicirio e direitos humanos, p. 74.
164
Cf. ADI n 1625/DF, Rel. Min. Maurcio Corra, DJ 17.09.2007 (Informativos n 323 e 421 do STF).
165
PIOVESAN, Flvia. Reforma do judicirio e direitos humanos, p. 73.
40
Creio que, a rigor, a resposta mais completa no ser encontrada em nenhuma
das duas opinies isoladas. Deveras, para que se verifique a constitucionalidade da
denncia de um tratado sobre direitos humanos, devemos ter em mente no (apenas) o
iter percorrido pelo denunciante. O que importa, de fato e de direito, a conseqncia
do seu ato. Por outras palavras, deve-se responder a seguinte questo: a denncia ter
deixado um vazio normativo?
Um exemplo ajudar o leitor a entender melhor onde quero chegar. E o caso
paradigmtico, lembrado por todos que atuam no direito internacional, o da denncia
da Conveno n 158 da OIT
166
. No segredo que esta norma foi denunciada pela
Presidncia da Repblica, atravs do Decreto n 2.100/96. Sem embargo da
interpretao duvidosa que o STF lhe havia conferido (definindo-a como norma
programtica
167
), importante verificar que o art. 7, I da CF/88, que ela visava
regulamentar, quedou-se rfo mais uma vez. Ou seja, a denncia da Conveno n 158
da OIT devolveu aquele dispositivo constitucional ao ostracismo normativo ao qual ele
esteve relegado por quase vinte anos, situao esta que permanece at os dias de hoje.
E aqui ressurge a pergunta: este decreto presidencial constitucional?
Entendo que no. Isso porque haveria uma ntida afronta ao princpio da
vedao do retrocesso social, na medida em que se recuou na proteo de um direito
fundamental (contra a dispensa arbitrria) depois de ter-se esboado, positivamente, a
sua garantia
168
. Somando-se a este fato a interpretao mencionada h pouco (sobre o
patamar constitucionalmente formal e material dos tratados de direitos humanos), e a
concluso avana sem hesitar: a Conveno n 158 da OIT no s est em pleno vigor,
como possui um patamar normativo equivalente ao do prprio art. 7, I da CF/88, o que
joga por terra o argumento formalista, segundo o qual o requisito da lei complementar
no teria sido respeitado.
3 - Uma ltima sugesto: o contedo essencial do direito internacional do
trabalho como parmetro normativo atuao do legislador brasileiro
166
Cf. TIBURCIO, Carmen. Uma breve anlise sobre a jurisprudncia dos tribunais superiores em
matria de direito internacional no ano de 2006. In: Revista de direito do estado n 5 (janeiro/maro
2007). Rio de Janeiro: Renovar, 2006, pp. 81-84.
167
ADI 1.480-3/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 18.05.2001.
168
Cf. SARLET, Ingo Wolfgang, Direitos fundamentais, reforma do judicirio ..., p. 351. Sobre o
princpio da vedao de retrocesso social, cf., por todos, QUEIROZ, Cristina. O princpio da no
reversibilidade dos direitos fundamentais sociais. Coimbra: Coimbra Editora, 2006.
41
De volta a nossa investigao, chegamos, finalmente, ao ponto culminante: quais
so os direitos humanos que compem o contedo essencial do direito internacional do
trabalho? Ou, em sintonia com o que acabamos de expor: quais convenes da OIT
formatariam o ncleo material da Constituio, em matria de direitos trabalhistas?
Como mencionei na abertura deste tpico, este caminho j foi percorrido pela
Organizao Internacional do Trabalho. E isso ocorreu em 1998, por meio de sua
Declarao de Princpios e Direitos Fundamentais no Trabalho
169
.
Consciente das rpidas mudanas vividas pelo mundo do trabalho (mormente em
vista dos recentes fenmenos econmicos e sociais que se impem sem pedir
licena
170
), a OIT enfrentou o desafio de, entre as suas mais de 180 Convenes,
selecionar aquelas que serviriam de farol normativo, apto a iluminar a trajetria
histrica dos seus Estados-membros, em busca de um porto seguro para a proteo da
dignidade do trabalhador. A fim de alcanar esta meta, realizou a sua 86 Reunio, em
18 de junho de 1998, na cidade de Genebra, na qual delineou quatro temas
fundamentais
171
: (1) a liberdade sindical; (2) o trabalho forado; (3) a no-
discriminao; e (4) a idade mnima para o trabalho.
No que tange primeira diretriz, destacaram-se as Convenes n 87 (liberdade
sindical e proteo aos direitos sindicais) e 98 (direito de sindicalizao e de negociao
coletiva). Em relao segunda, relevaram-se as Convenes 29 e 105 (abolio do
trabalho forado). Para a terceira, as Convenes 100 (salrio igual para trabalho igual
entre o homem e a mulher) e 111 (no-discriminao no emprego ou ocupao). E, para
a quarta, as Convenes 138 (idade mnima para o trabalho) e 182 (piores formas de
trabalho infantil).
Eis a, portanto, as linhas-mestras que podem ajudar na discusso brasileira em
torno da chamada reforma trabalhista. Ou, se formos mais fundo no problema, em
torno de polmica sobre quais direitos dos trabalhadores, previstos na Constituio de
1988, so direitos fundamentais e, desta forma, integrantes do seu ncleo material, parte
dos seus elementos essenciais, da sua identidade ou, como assevera o professor Oscar
Vilhena Vieira, da sua reserva de justia
172
.
169
Cf. BONET PREZ, Jordi. Principios y derechos fundamentales en el trabajo: la declaracin de la
OIT de 1998. In: Cuadernos Deusto de Derechos Humanos. Num. 5. Bilbao: Universidad de Deusto,
1999.
170
Cf. ROMITA, Arion Sayo, op. cit., pp. 199-206.
171
BARZOTTO, Luciane Cardoso, op. cit., p. 104 e ROMITA, Arion Sayo, op. cit., p. 208.
172
Cf. VIERA, Oscar Vilhena, A constituio e sua reserva de justia, pp. 29-33.
42
Por certo que esta Declarao de Princpios e Direitos Fundamentais no
Trabalho no um receita de bolo, um produto pronto e acabado, imune a
questionamentos
173
. At mesmo porque: (1) existem outros documentos internacionais,
com igual legitimidade, os quais tambm elencam uma srie de direitos especficos dos
trabalhadores, e que tambm podem servir de parmetros objetivos para dissipar as
incertezas mencionadas
174
; (2) por fora da clusula de abertura material, prevista no
art. 5, 2 da CF/88, todos estes documentos so potenciais integrantes do sistema
constitucional brasileiro
175
; e (3) la universalidad de los derechos humanos no es por
tanto ningn amn, ninguna culminacin del esfuerzo, ninguna conclusin, sino que
implica una tarea que est siempre superndose
176
.
De toda sorte, o que importa salientar que existem indicativos perfeitamente
claros a respeito deste tema que vem ocupando as mentes e os coraes de milhares de
brasileiros. Indicativos estes que, atravs de uma releitura constitucional, so
verdadeiros mapas interpretativos.
E, neste sentido, vale ressaltar mais uma vez a importncia que os costumes
internacionais vm angariando no direito contemporneo. Deste modo, no exagero
algum falar de uma evoluo do direito internacional que nos estaria conduzindo ao
reconhecimento da existncia de regras que transcendem a vontade do Estado, tornando
imperativa a sua observncia
177
. Seriam, pois, normas que tero vigncia no direito
interno, a ele se sobrepondo, ainda que ausente a aquiescncia do Estado
178
.
V Concluso
chegada a hora de interromper as divagaes. Depois desta volta ao mundo
em poucas pginas, almejei sinalizar para dois pontos que, muitas vezes, so esquecidos
no calor do debate: (1) que possvel a reconstruo do conceito de Direito
Constitucional do Trabalho e (2) que ele pode estar bem mais perto do que imaginamos.
173
Neste sentido, cf. ROMITA, Arion Sayo, op. cit., pp. 212-214.
174
Cf., v.g., a Declarao Internacional dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos
Econmicos, Culturais e Sociais e a Conveno Americana de Direitos Humanos, juntamente com o
Protocolo Adicional de San Salvador.
175
Em sentido semelhante, cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficcia dos direitos fundamentais, p. 101.
176
KAUFMANN, Arthur. Hernenutica y derecho. Edicin a cargo de Andrs Ollero y Jos Antonio
Santos. Granada: Editorial Comares, 2007, p. 203.
177
GARCIA, Emerson., op. cit., p. 127.
178
Idem, ibidem.
43
Basta que estejamos imbudos deste esprito, para que as solues comecem a
aparecer. E o primeiro aceno, rumo composio possvel, vem do prprio direito do
trabalho, a partir da sua revitalizao pelo direito constitucional. Esta imbricao possui
a virtude de, num s movimento, por lado a lado duas vises de mundo que, juntas,
enxergam muito melhor o que realmente deve ser parte do contedo essencial da
Constituio brasileira de 1988.
Resolvido este ponto de conflito, muitas dvidas deixaro de apavorar, j que a
discusso no mais ser pautada por uma premissa que, inexoravelmente, exalta os
contendores: a desconfiana.
Para que o leitor possa refletir um pouco melhor sobre o que dissemos, vamos
deix-lo na companhia do mestre italiano Norberto Bobbio. Ele que, ao se pronunciar
sobre estas e outras suspeies humanas, aconselhou com a sua habitual sabedoria:
Com relao s grandes aspiraes dos homens de boa vontade, j estamos
demasiadamente atrasados. Busquemos no aumentar esse atraso com a nossa
incredulidade, com nossa indolncia, com nosso ceticismo. No temos muito tempo a
perder
179
.
VI Referncias bibliogrficas
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virglio Afonso da Silva.
So Paulo: Malheiros, 2008.
___. Direitos fundamentais no Estado Constitucional Democrtico: para a relao
entre direitos do homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdio constitucional.
Trad. Lus Afonso Heck. In: Revista de Direito Administrativo. Volume 217. Rio de
Janeiro: Renovar, julho/setembro de 1999.
ANDRADE, Jos Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituio
portuguesa de 1976. 2 ed, Coimbra: Livraria Almedina, 2001.
ATIENZA, Manuel. As razes do direito: teorias da argumentao jurdica.
Perelman, Toulmin, MacCormick, Alexy e outros. Trad. Maria Cristina Guimares
Cupertino. 2 ed. So Paulo: Landy Editora, 2002.
VILA, Humberto. Teoria dos Princpios: da definio aplicao dos princpios
jurdicos. 7 ed. So Paulo: Malheiros Editores, 2007.
179
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 16 tiragem. Rio de Janeiro:
Campus Editora, 1992, p. 64.
44
BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Trad. Jos Manuel M.
Cardoso da Costa. Coimbra: Livraria Almedina, 1994.
BARCELLOS, Ana Paula. A Eficcia Jurdica dos Princpios Constitucionais. O
Princpio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2002.
BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalizao do direito. In:
Revista de Direito Administrativo. Volume 240. Rio de Janeiro: Renovar, abril/junho
de 2005.
BARZOTTO, Luciane Cardoso. Direitos humanos e trabalhadores: atividade
normativa da organizao internacional do trabalho e os limites do direito
internacional do trabalho. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Constituio e direitos sociais dos
trabalhadores. So Paulo: LTr, 1997.
BONET PREZ, Jordi. Principios y derechos fundamentales en el trabajo: la
declaracin de la OIT de 1998. In: Cuadernos Deusto de Derechos Humanos. Num.
5. Bilbao: Universidad de Deusto, 1999.
BILBAO UBILLOS, Juan Maria. En qu medida vinculan a los particulares los
derechos fundamentales?. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituio, Direitos
Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.
___. La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares: anlisis de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Madrid: Centro de Estdios Polticos y
Constitucionales, 1997.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 16 tiragem.
Rio de Janeiro: Campus Editora, 1992.
BRANDO, Rodrigo. Direitos fundamentais, democracia e clusulas ptreas. Rio
de Janeiro: Renovar, 2008.
CANARIS, Claus-Wilhelm. A influncia dos direitos fundamentais sobre o direito
privado na Alemanha. Trad. Peter Naumann. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.).
Constituio, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Ed. Livraria
do Advogado, 2003.
CANOTILHO, Jos Joaquim Gomes. Provedor de Justia e efeito horizontal de
direitos, liberdades e garantias. In: CANOTILHO, J.J. Gomes. Estudos sobre direitos
fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004.
___. Tomemos a srio os direitos econmicos, sociais e culturais. In: In: CANOTILHO,
J.J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004.
45
___. Direito Constitucional e Teoria da Constituio. 7 ed. Coimbra: Livraria
Almedina, 2003.
COUTINHO, Aldacy Rachid. A autonomia privada: em busca da defesa dos direitos
fundamentais dos trabalhadores. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). A Constituio
Concretizada: construindo pontes com o pblico e o privado. Porto Alegre: Ed.
Livraria do Advogado, 2003.
DUBLER, Wolfgang. Direito do trabalho e sociedade na Alemanha. Trad. Alfred
Keller. So Paulo: LTr, 1997.
FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. Trad. Carlo Coccioli. So
Paulo: Martins Fontes, 2002.
GARCIA, Emerson. Influxos da ordem jurdica internacional na proteo dos direitos
humanos: O necessrio redimensionamento da noo de soberania. In: Revista
jurdica. V. 9, n 85. jun/jul 2007. Braslia.
GEDIEL, Jos Antnio Peres. A irrenunciabilidade a direitos da personalidade pelo
trabalhador. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). SARLET, Ingo Wolfgang (Org.).
Constituio, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2003.
GOMES, Fbio Rodrigues. O direito fundamental ao trabalho: perspectivas
histrica, filosfica e dogmtico-analtica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
GONALVES, Rogrio Magnus Varela. Direito constitucional do trabalho: aspectos
controversos da automatizao. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.
HABERMAS, Jrgen. HABERMAS, Jrgen. A incluso do outro: estudos de teoria
poltica. Trad. George Sperber, Paulo Astor Soethe e Milton Camargo Mota. 2 ed. So
Paulo: Edies Loyola, 2004.
___. O discurso filosfico da modernidade: doze lies. Trad. Luiz Srgio Repa,
Rodnei Nascimento. 1 ed. 2 tiragem, So Paulo: Martins Fontes, 2002.
HART, Herbert L.A. O conceito de direito. Com um ps-escrito editado por
Penlope A. Bulloch e Joseph Raz. Trad. A. Ribeiro Mendes. 3 ed. Lisboa: Fundao
Calouste Gulbenkian, 1994.
KAUFMANN, Arthur. Hernenutica y derecho. Edicin a cargo de Andrs Ollero y
Jos Antonio Santos. Granada: Editorial Comares, 2007.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. Joo Baptista Machado. 6 ed. 5
tiragem. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
46
KOMMERS, Donald P. The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of
Germany. Durham and London: Duke University Press, 1997.
LEWICKI, Bruno. A privacidade da pessoa humana no ambiente de trabalho. Rio
de Janeiro: Renovar, 2003.
LUTZ, Donald. Toward a Theory of Constitutional Amendment. In: LEVINSON,
Sanford (ed.). Responding to imperfection: the theory and practice of constitutional
amendment. Princeton: Princeton University Press, 1995.
MALLET, Estevo. Direito, trabalho e processo em transformao. So Paulo: LTr,
2005.
MARCONDES, Danilo. Iniciao Histria da Filosofia: dos pr-socrticos a
Wittgenstein. 8 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2004.
MELLO, Celso D. de Albuquerque. O 2 do Art. 5 da Constituio Federal. In:
TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2001.
___. Direito constitucional internacional. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
MORAES, Maria Celina Bondin de. Danos Pessoa Humana: uma leitura civil-
constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito do trabalho na Constituio de 1988. So
Paulo: Saraiva, 1989.
NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional: anlisis filosfico,
jurdico y politolgico de la prctica constitucional. 1ed. 3 reimpresin. Buenos
Aires: Editorial Astrea, 2005
___. tica y derechos humanos: un ensayo de fundamentacin. 2 ed. Buenos Aires:
Editorial Astrea, 1989.
PACHECO ZERGA, Luz. La dignidade humana en el derecho del trabajo. Navarra:
Editorial Aranzadi, 2007.
PARIJS, Philippe van. O que uma sociedade justa? Trad. Cntia vila de Carvalho.
So Paulo: Editora tica, 1997.
PECES-BARBA MARTINEZ, Gregrio. Curso de derechos fundamentales. Teoria
general.Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletin Oficial del Estado, 1999.
___. La dignidad de la persona desde la Filosofia del Derecho. Cuadernos
Bartolom de las Casas 26. 2 ed. Madrid: Dykinson, 2003.
PEREIRA, Antonio Celso Alves. Os direitos do trabalhador imigrante ilegal luz da
Opinio Consultiva 18/03 da Corte Interamericana de Direitos Humanos CIDH. In:
47
TIBURCIO, Carmen e BARROSO, Lus Roberto (org.). O direito internacional
contemporneo: estudos em homenagem ao professor Jacob Dolinger. Rio de
Janeiro: Renovar, 2006.
PEREIRA, Jane Reis Gonalves. Interpretao constitucional e direitos
fundamentais: uma contribuio ao estudo das restries aos direitos
fundamentais na perspectiva da teoria dos princpios. Rio de Janeiro: Renovar,
2006.
PEREIRA, Ricardo Jos Macedo de Brito. Constituio e liberdade sindical. So
Paulo: LTr, 2007.
PERELMAN, Cham e TYTECA-OLBRECHTS, Lucie. Tratado da argumentao: a
nova retrica. Trad. Maria Ermantina Galvo. So Paulo: Martins Fontes, 1996.
PEREZ LUO, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y
constituicin. 8 ed. Madrid. Ed. Tecnos, 2003.
PIOVESAN, Flvia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 7
ed. So Paulo: Ed. Saraiva, 2007.
___. Reforma do judicirio e direitos humanos. In: TAVARES, Andr Ramos.
Reforma do judicirio analisada e comentada. So Paulo: Ed. Mtodo, 2005.
POSNER, Richard. Economic analysis of law. Fifth edition. New York: Aspen Law &
Business, 1998.
QUEIROZ, Cristina. O princpio da no reversibilidade dos direitos fundamentais
sociais. Coimbra: Coimbra Editora, 2006.
QUEIROZ, Odete Novais Carneiro. Priso civil e os direitos humanos. So Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2004.
RAWLS, John. Justia como Eqidade. Trad.Cludia Berliner. 1 ed. So Paulo:
Martins Fontes; 2003.
ROMITA, Arion Sayo. Direitos fundamentais nas relaes de trabalho. So Paulo:
LTr, 2005.
___. Direitos sociais na constituio e outros estudos.So Paulo: LTr, 1991.
SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais, reforma do judicirio e tratados
internacionais de direitos humanos. In: CLEVE, Clmerson Merlin, SARLET, Ingo
Wolfgang e PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Direitos humanos e democracia. Rio
de Janeiro: Forense, 2007.
___. A eficcia dos direitos fundamentais. 6 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2006.
48
___. As dimenses da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreenso
jurdico-constitucional necessria e possvel. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.).
Dimenses da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional.
Trad. Ingo Wolfgang Sarlet, Pedro Scherer de Mello Aleixo, Rita Dostal Zanini. Porto
Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2005.
___. A Problemtica dos Fundamentais Sociais como Limites Materiais ao Poder de
Reforma da Constituio. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos fundamentais
sociais: estudos de direito constitucional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar,
2003.
___. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. 2 ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2002.
SARMENTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de direito constitucional. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006.
___. Direitos fundamentais e relaes privadas. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2004.
SASTRE IBARRECHE, Rafael. El derecho al trabajo. Madrid: Editorial Trotta, 1996.
SCHIER, Paulo Ricardo. Hierarquia constitucional dos tratados internacionais de
direitos humanos e a EC 45: aspectos problemticos. In: CLEVE, Clmerson Merlin,
SARLET, Ingo Wolfgang e PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Direitos humanos e
democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
SILVA, Jos Afonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3 ed. So Paulo:
Malheiros Editores, 1998.
SILVA, Virglio Afonso. O contedo essencial dos direitos fundamentais e a eficcia
das normas constitucionais. In: Revista de Direito do Estado n 4
(outubro/dezembro 2006). Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direitos fundamentais e o contrato de emprego. So
Paulo: LTr, 2005.
STMER, Gilberto (org.). Questes controvertidas de direito do trabalho e outros
estudos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
SUPIOT, Alain. Homo juridicus: essai sur la function anthropologique du droit.
Paris: ditions du Seuil, 2005.
___. Le droit du travail. 12 ed. Paris: PUF, 2004.
___. Critique du droit du travail. Paris: Presses Universitaires de France PUF, 2002.
49
SSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho. 3 ed. So Paulo: LTr,
2000.
___. Direito constitucional do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
SSSEKIND, Arnaldo et al. Instituies de direito do trabalho. 22 ed. atual. at
30.4.97. So Paulo: LTr, 2005.
TIBURCIO, Carmen. Uma breve anlise sobre a jurisprudncia dos tribunais
superiores em matria de direito internacional no ano de 2006. In: Revista de direito
do estado n5 (janeiro/maro 2007). Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e
Tributrio. Vol. III Os direitos humanos e a tributao: imunidades e isonomias.
Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituio e sua Reserva de Justia: um ensaio sobre
os limites materiais ao poder de reforma. So Paulo: Malheiros, 1999.
___. Supremo Tribunal Federal: jurisprudncia poltica. 2 ed. So Paulo:
Malheiros, 2002.
WALZER, Michael. Thick and Thin: moral argument at home and abroad. Notre
Dame: University of Notre Dame, 1994.
WANDELLI, Leonardo Vieira. Despedida abusiva: o direito (do trabalho) em busca
de uma nova racionalidade. So Paulo: LTr. 2004.
VII Jurisprudncia citada
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n 3.127-9/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ
30.05.2008.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n 1.625/DF, Rel. Min. Maurcio Corra, DJ
17.09.2007
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n 1.726-MC, Rel. Min. Maurcio Corra, DJ
30.04.2004.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1.480-3/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
18.05.2001.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n 815-3, Rel. Min. Moreira Alves, DJ
10.05.1996.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MI n 670/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ
25.10.2007.
50
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MI n 708/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ
25.10.2007.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MI n 712/PA, Rel. Min. Eros Grau, DJ
25.10.2007.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MI n 20-4/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
22.11.1996.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MI n 438/GO, Rel. Min. Nri da Silveira, DJ
16.06.1995.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n 91952/SP, Rel. Min. Marco Aurlio, DJ
07.08.2008.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n 87.585/TO, Rel. Min. Marco Aurlio, DJ
01.04.2008.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n 71.373-4/RS, Rel. Min. Marco Aurlio, DJ
10.11.1994.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n 579951/RN, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJ 20.08.2008.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE-ED n 550432 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso,
DJ 19.10.2007.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n 93.850/MG, Rel. Min. Moreira Alves, DJ
27.08.1982.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n 80.004/SE, Rel. Min. Cunha Peixoto, DJ
01.06.1977.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n 79.212/SP, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, DJ
29.04.1977.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI-Ag n R 530084 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso,
DJ 19.12.2007.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 10 Regio RO n 00930-2005-016-10-
00-7. Rel. Des. Elaine Machado Vasconcelos, DJ 27.04.2007.
Você também pode gostar
- Vieira, 2002. A Moralidade Implícita No Ideal de Verticalidade Da Postura CorporalDocumento9 páginasVieira, 2002. A Moralidade Implícita No Ideal de Verticalidade Da Postura CorporalMaría CorralAinda não há avaliações
- Trecho de O Mundo de Sofia Referente Ao Existencialismo e A Jean-Paul SartreDocumento6 páginasTrecho de O Mundo de Sofia Referente Ao Existencialismo e A Jean-Paul SartreDiego Leiras100% (1)
- Os Tipos de ConhecimentoDocumento8 páginasOs Tipos de ConhecimentoPatty Santana100% (1)
- Artigos PR Ricardo Gondim PDFDocumento74 páginasArtigos PR Ricardo Gondim PDFIsaac SantosAinda não há avaliações
- Modulo 4 Comentarios BiblicosDocumento7 páginasModulo 4 Comentarios BiblicosMATHEUS VICTORAinda não há avaliações
- Freire, Paulo Pedagogia Da AutonomiaDocumento16 páginasFreire, Paulo Pedagogia Da AutonomiaAnagi SousaAinda não há avaliações
- A Descoberta Da PsicanaliseDocumento10 páginasA Descoberta Da PsicanalisebrunofnAinda não há avaliações
- Abrir Manual Do Estudante 2023.2 Psicologia 1 PeriodoDocumento65 páginasAbrir Manual Do Estudante 2023.2 Psicologia 1 PeriodoPaolla GuimarãesAinda não há avaliações
- 171 - História e Os Conceitos HistóricosDocumento61 páginas171 - História e Os Conceitos HistóricosPauloRaphaelOliveiraAinda não há avaliações
- FICHAMENTO para Entender As Teorias Da ComunicaçãoDocumento4 páginasFICHAMENTO para Entender As Teorias Da ComunicaçãoJade Vieira de RezendeAinda não há avaliações
- Magarete Arroyo ContemporaneidadeDocumento1 páginaMagarete Arroyo ContemporaneidadeFelipe RodriguesAinda não há avaliações
- Exame Mód.1 HCADocumento3 páginasExame Mód.1 HCAt.goncalves7340Ainda não há avaliações
- E-Book Bônus - Temperamento FleumáticoDocumento14 páginasE-Book Bônus - Temperamento FleumáticoGirafinha kidsAinda não há avaliações
- Teologia ContemporâneaDocumento6 páginasTeologia ContemporâneaAnonymous vhmVzkBAinda não há avaliações
- Apostila e Atividade Iluminismo - 8 AnoDocumento3 páginasApostila e Atividade Iluminismo - 8 AnoFrancisco Coelho NetoAinda não há avaliações
- Resumos Teste Filosofia 1º SemestreDocumento3 páginasResumos Teste Filosofia 1º SemestreManuel RoqueAinda não há avaliações
- John Finnis-Bem ComumDocumento145 páginasJohn Finnis-Bem ComumViniciusSilvaAinda não há avaliações
- A Casa. Do Porão Ao Sótão. O Sentido Da Cabana. Gaston Bachelard.Documento4 páginasA Casa. Do Porão Ao Sótão. O Sentido Da Cabana. Gaston Bachelard.Pedro SouzaAinda não há avaliações
- O Que É Educação Num Contexto Didático e Num Contexto PedagógicoDocumento5 páginasO Que É Educação Num Contexto Didático e Num Contexto PedagógicoJasse PacanateAinda não há avaliações
- Categoria de Pecados Que Impedem A Pureza e A SantidadeDocumento7 páginasCategoria de Pecados Que Impedem A Pureza e A SantidadeBiblioteca CristãAinda não há avaliações
- Caderno Midia e Saude PublicaDocumento128 páginasCaderno Midia e Saude PublicaalandersonalvesAinda não há avaliações
- A Mística Das Trevas em Gregório de NissaDocumento20 páginasA Mística Das Trevas em Gregório de NissaMáximo Geraldo MainarAinda não há avaliações
- Circular Do IEF, 1º Semestre Do Ano Civil de 2021Documento30 páginasCircular Do IEF, 1º Semestre Do Ano Civil de 2021Robert Martins JunqueiraAinda não há avaliações
- Melo Isabelle Jornalismo Cultural PDFDocumento12 páginasMelo Isabelle Jornalismo Cultural PDFThiago SumanAinda não há avaliações
- ADORNO, Theodor W. A Teoria Freudiana e o Modelo Fascista de PropagandaDocumento24 páginasADORNO, Theodor W. A Teoria Freudiana e o Modelo Fascista de PropagandaEduardo Gerber JuniorAinda não há avaliações
- A Origem Divina de Todas As Coisas - William FielDocumento165 páginasA Origem Divina de Todas As Coisas - William FielNeurenir Tatagiba100% (1)
- Alice No País Da Lingüística: As Sutilezas Nos Jogos de LinguagemDocumento37 páginasAlice No País Da Lingüística: As Sutilezas Nos Jogos de LinguagemAnna Aryel100% (1)
- Teoria Do Caos - Robert MurphyDocumento38 páginasTeoria Do Caos - Robert MurphyatentoempazAinda não há avaliações
- Filosofia AfricanaDocumento17 páginasFilosofia AfricanaGuilherme FelixAinda não há avaliações
- MarcioHistFilosofiaModerna20132 PDFDocumento3 páginasMarcioHistFilosofiaModerna20132 PDFÍcaro Gomes SilvaAinda não há avaliações