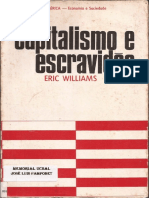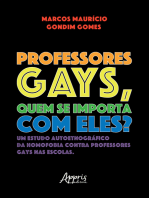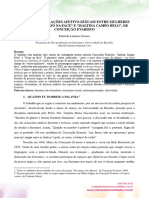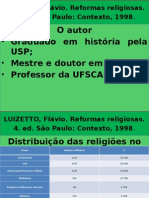Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
25-08 - GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Classes, Raças e Democracia
25-08 - GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Classes, Raças e Democracia
Enviado por
Jessica RaulTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
25-08 - GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Classes, Raças e Democracia
25-08 - GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Classes, Raças e Democracia
Enviado por
Jessica RaulDireitos autorais:
Formatos disponíveis
"Democraci a r aci al " f oi , a princpio, uma traduo livre
cias idias expressas por Gi l be r t o Freyre em suas confernci as
na Universidade da Bahi a e de Indiana, em 1943 e 1944. Nessa
"t raduo", Roger Bast i de omi t e o sentido "i bri co", restrito,
que Freyre atribua e xpr e s s o "democraci a social e t ni ca";
realando-lhe o car t er uni ver sal i st a de "cont ri bui o brasi-
leira humani dade". As s i m t ranspost a para o universo indi-
vidualista ocidental, a " de moc r a c i a raci al" tomou novo fle-
go, fazendo com que, c o m o t e mpo, ganhasse a conot ao de
ideal de igualdade e de r es pei t o aos direitos civis. S depoi s
de 1964, "democraci a r a c i a l " vol t ou a significar, apenas e ex-
clusi vamente, mest i agem e mi s t ur a tnico-cultural. Tor nou-
se, assim, para a mi l i t nci a negr a e para intelectuais c o mo
l l or est an Fernandes, a s enha do raci smo brasileira, um mi t o
raci al . Recent ement e, par a os ant ropl ogos, o mi to t ransfor-
ma-se em chave i nt er pr et at i va da cultura.
A democraci a r aci al cunhada originalmente, em ple-
na ditadura varguista, par a no s inserir no mundo dos val ores
polti cos universais pr eci s a agor a ser substituda pela de-
mocr aci a tout court, que i ncl ui a todos sem meno a r aas,
hst as, que no exi st em, c a r r e ga da s de negatividade, far amos
mel hor se as apagssemos do nos s o ideal de convi vnci a, re-
servando-as apenas par a denunci ar o racismo.
Antnio Srgio Alfredo Liiumarars
F US P
i-undao de Apoi o Universidade de So Paulo
Apoi o:
Fu n d a o For d
". -7 32 b-S3E-X
7 3 2 6 2 3 2 2 G CI tO r*.^lA..3 4"
FUSP
Fundao de Apoi o Universidade de So Paulo
Antnio Srgio
Alfredo Guimares
CLASSES, RAAS
E DEMOCRACIA
Apoi o: Fundao Ford
editoraB34
E DI T ORA 34
Edi t or a 34 Ltda.
Rua Hungri a, 592 Jardim Europa CEP 0 1 4 5 5 - 0 0 0
So Paul o - SP Brasil Tel/ Fax (11) 38 16- 67 7 7 www. cdi t ora34. com. br
FUSP - Fundao de Apoio Universidade de So Paulo
Av. Afrni o Peixoto, 14 Butant CEP 0 550 7 - 0 0 0
So Paul o - SP Brasil Tel/ Fax (11) 38 15- 0 8 0 0 fusp@edu. usp. br
Apoi o: Fundao Ford
Copyr i ght Editora 34 Ltda., 2 0 0 2
Classes, raas e democracia Antnio Srgio Alfredo Guimares, 2 0 0 2
A F OTOC P I A DE QUAI QUE R TOLHA DESTK LI VRO I LEGAL, 1- CONFIGURA UMA
AP ROP RI AO INDEVIDA DOS DIREITOS I NTELECTUAI S E PATRI MONI AI S DO AUTOR.
Capa, pr oj et o grfico e editorao eletrnica:
Bracher & Malta Produo Grafica
Revi s o:
Adriennc de Oliveira firmo
V E di o - 2 0 0 2 (D Reimpresso - 2 0 0 6)
Cat al ogao na Fonte do Departamento Naci onal do Livro
(Fundao Biblioteca Nacional, RJ , Brasil)
C u i ma r c s , Amor no Srgio Alfredo
t , , 6
- '
c
Cl. is. ses. raas e democr aci a / Amo n i o Sr gi o
Al f r e do Oui mnr es. So Paulo: Fundao dc Apoi o
a Uni ver s i dade J e So Paulo; F.d. 3 4 201)2
2 3 2 p.
I S B N 8 5 - 7 J 2 6 - 2 J 2 - X
1. Raci s mo - Brasil. 2. Cl asses s oci ai s - Br as i l .
3. Br as i l - Rel aes raci ai s. [. Fundao de Apoi o n
Uni ve r s i da de de So Paul o. 11. T t ul o.
C D D - 3 0 5 . 8 0 9 8 1
CLASSES, RAAS
E DE MOCRACI A
Agradecimentos '
Apresentao 9
1. Classes sociais 13
O grande consenso dos anos 1960 :
industrializao e modernidade 15
O Estado e os empresrios como agentes sociais 16
Os estudos sobre a formao da
classe trabalhadora brasileira 2 0
Os estudos sobre as classes mdias 30
Os estudos sobre o campesinato e o proletariado rural 32
Novos estudos de classe
J
5
CLv.se como "condio" e "identidade" 38
Concluses 42
2. Raa e pobreza no Brasil 47
Rediscutindo o conceito de raa 48
Os limites do racialismo negro 61
As causas da pobreza negra no Brasil: algumas reflexes 64
As crticas s aes afirmativas 7 0
Concluses , 75
3. Poltica de integrao e poltica de identidade 7 9
O \oto negro e a cincia poltica 80
0 conformismo negro 85
01 movimentos negros 8 /
A cinmica do movimento negro 90
O .milombismo ou a influncia de
Abdias do Nascimento nos anos 1980 99
Os limites da cooptao 10->
4. Direitos e avessos da nacionalidade 10 9
A Matriz francesa: memria e no raas 110
A matriz americana: o encontro do paraso 113
O Brasil moderno: uma democracia racial 117
Unia nova identidade nacional brasileira? 122
Os avessos do mito: o preconceito contra os baianos 12 5
5. Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito 13 /
A idia de um paraso racial 139
O "Itinerrio da democraci a" de Roger Bastide 141
O consenso racial-democrtico 144
A "democracia social e tnica" e a
denncia do "mi to da democracia racial" 149
O novo protesto negro e o "mito da democracia racial" 157
A democracia racial enquanto mito 163
Concluses 166
6. O mito anverso: o insulto racial 1 6 9
0 que so os insultos raciais? ! 1
Os termos injuriosos encontrados 1 / 3
As situaes de insulto i 1 S1
Insultados e insultantes I 8 6
Os insultos proferidos em situao de trabalho 18 9
Os insultos dos vizinhos 191
Os insultos a consumidores 192
O insulto no trnsito e em outros mbitos 193
Concluses 1^4
Bibliografia 197
AGRADE CI ME NTOS
Os captulos que compem este livro resultam de projetos
de pesquisa realizados com o apoio financeiro de diversas insti-
tuies e agncias de fomento. Entre elas: a Fundao Ford, atra-
vs da dot ao n 0 98 0 - 18 14; a ANPOCS (Associao Naci onal
de Ps-Graduao em Cincias Sociais), e a CAPES, atravs do
projeto "O que ler na cincia social brasileira"; o CNPq, atravs
de uma bolsa de produtividade de pesquisa; a FAPESP, atravs
da concesso de uma bolsa pesquisa no exterior, entre dezembro
de 1999 e fevereiro de 200(3.
Dentre as instituies que apoiaram tais projetos esto o
Departamento de Sociologia da USP, atravs de Lseas Negro e
Sedi Hi rano, e Centre des Recherches sur le Brsil Cont emporai n,
da cole des Hautes tttdes en Sciences Sociaes, atravs de Afr-
nio Garci a.
Nadya Arajo Guimares reve pacincia para rever os ori-
ginais do livro, sugerindo melhorias no estilo e na argument ao.
Mrci o Macedo, Elvia Mateus Rios, Rita Hip)lito e Uvanderson
Vitor da Silva, meus assistentes de pesquisa, ajudaram na coleta
de material e na organizao da bibliografia. Os meus agradeci-
mentos s outras pessoas que discutiram verses anteriores dos
textos que compem este livro esro expressos em cada um dos
captulos. Nestes encontra-se tambm a referncia bibliogrfica
da verso publicada em revista acadmica ou apresentada em con-
gresso cientfico.
Agradecimentos 7
APRESENTAO. . _
Este livro rene arrigos escriros por mim entre 1999 e 2 0 0 1 .
O que os une so duas indagaes que me tm sido constantemente
repetidas: primeira, qual a relao entre classes e "raas" e, se-
gunda, o que significa, afinal, democracia racial?
A idia de que a discriminao e o preconceito de que so-
frem os negros no Brasil, assim como as desigualdades sociais entre
brancos e negros, tm um fundamento de "classe" uma idia que
persiste apesar de todas as tentativas feitas anteriormente, por mim
ou por outros, para demonstrar o seu carter racial. Do mesmo
modo, a idia de que a democracia racial , ao fim e ao cabo, uma
doutrina satisfatria ou, pelo menos, fundadora de um possvel
futuro de relaes no-racistas entre os grupos de cor parece re-
sistente denncia do "mi t o da democracia racial". Nos captu-
los que seguem, tento desvendar a permanncia dessas concepes
(que poderia chamar t ambm de iluses).
No captulo inicial deste livro, resenho a trajetria acadmica
do conceito de "classes sociais" na sociologia brasileira. O con-
ceito de "ciasse", como sabemos, ganhou universalidade e difu-
so atravs dos escritos de Mar x e dos marxistas. Para demons-
trar que a sociedade capitalista moderna, a sociedade burguesa,
devia sua dinmica e seu desenvolvimento explorao dos Tra-
balhadores, Mar x ( 1 9 6 7 ) , subtraiu de sua anlise da rel ao
social de trabalho no capalismo todas as formas de coero no-
econmicas que pudessem conspurcar essa relao (o gnero, a
ernia, a idade, a raa, a religio, a nacionalidade et c) . Sua inten-
o era encontrar e analisar a relao de explorao entre capital
Apresentao 9
e trabalho que fosse tipicamente capitalista. O argumento polti-
co erroneamenre derivado dessa anlise em abst rat o, que muito
deve ao evolucionismo do sculo X I X , foi o de que as classes so-
ciais capitalistas se formam prescindindo de qualquer uma daque-
las formas de sociabilidade, consideradas a partir da como for-
mas arcai cas, a serem superadas pelo prprio regi me capitalista.
Or a, o conceito de classes sociais capitalistas nada mais que
um recurso analtico para referir-se a esse tipo de explorao, que,
na prtica social e no mundo real, aparece sempre misturado a
hierarquias de gnero, de raa, etnia ou outra forma qualquer de
construo de outsiders (Elias e Scotson, 1994) . O problema teri-
co deve ser colocado como de explorao ou apropri ao dferen-
cial de recursos. Assim, rautologicamente e por definio, no se
pode escapar do fato de que as desigualdades raciais no capitalismo
sejam t ambm desigualdades de classe (afinal trata-se de apropria-
o diferencial). Do mesmo modo, os preconceitos de cor ou de
raa s tm sentido se resultarem em posies de classe, distinguin-
do brancos de negros, no caso especfico de que est amos tratando.
O fato de que tais preconceitos e desigualdades persistam no in-
terior de uma mesma classe o modo lgico mais cl aro de demons-
trar a atuao de componente tipicamente "raci al " na gerao des-
sas desigualdades. Ou seja, a constante recriao de raas, gneros
e etnias conti nua sendo um dos meios mais eficientes de gerar ex-
plorao econmi ca e tal "tecnologia" longe de ser suplantada no
capitalismo tardio, tem sido constantemente reatualizada.
No primeiro captulo deste livro, portanto, me dedico a re-
senhar boa parte da literatura sociolgica brasileira para desco-
brir a trajetria do conceito de "classe" entre ns. Meu objetivo,
mais que contextualizar, alargar a concepo de "classes" para
us-la no apenas como categoria analtica, mas c omo grupo de
pertena. Isso para sugerir que, seguindo a i nt ui o nativa, no
Brasil, os "negros" formam uma "classe".
No segundo captulo, ao contrrio, vol t o-me para esclare-
cer como a palavra "raa" pode e deve ser empr egada como con-
ceito analti co. Nesse captulo, retomo os argument os do meu li-
10 Classes, raas e democracia
vro anterior (Guimares, 1999), enriquecendo. -o. com o dilogo e
debate profcuos que estabeleci com alguns dos meus crticos.
No captulo terceiro, busco reinterpretar o intervalo demo-
crtico entre 1945 e 1964 como compromi sso poltico, a um s
tempo racial e de classes. Ou seja, nesse captulo avano a tese de
que a democracia racial brasileira no foi apenas doutrina de
convivncia pacfica enrre as raas ou ideologia de dominao
racial, ou mesmo mito fundador da nacionalidade brasileira: foi
t ambm, e principalmente, um pacto econmi co e poltico que
uniu a massa negra urbana (formada principalmente por traba-
lhadores) e os intelectuais negros ao establisbment (elites polti-
cas, intelectuais e econmicas) do Estado desenvolvmentista.
No quarto captulo, trato diretamente da formao do ima-
ginrio nacional do Brasil moderno e das mudanas que podem
ser observadas recentemente na nossa "democraci a racial", mais
especificamente das fissuras que expe, nesse comeo de sculo,
o nosso sentimento de nacionalidade. Nesse captulo, invisto na
temporalidade e historcdade desse senrimento, abordando algu-
mas tenses recentes que aparecem no nosso trato com os ind-
genas e os negros. No final, traro dos i mi grantes nordestinos.
Investigo a origem de sua discriminao, algo que antecede a gran-
de imigrao para o Sudeste, nos anos 1950 . Meu argumento
que o preconceito contra os "bai anos" e "nordesrinos" teceu-se
no sculo X X aps a primeira leva de moderni zao em finais
dos oitocentos , a partir da substituio da herana cultural luso-
brasileira e colonial pela modernidade europi a, estigmatizando
a tudo e a todos que remetiam quele passado. O Nordeste, par-
ticularmente a Bahia, e nordestinos passaram a ser associados ao
atraso, ao arcaico, ao avesso do trabalho livre e voluntarioso. Essa
forma de estigmatizar os outros pelo que a eles atribumos de
antimoderno e no-europeu parece ser uma constanre no nosso
modo de ser, alimentando os estigmas que cultivamos tambm em
relao a outros grupos tnicos, sociais e nacionais.
No quinto captulo, exami no a construo e vulgarizao da
idia de democracia racial, assim como sua aparente dissoluo
Apresentao
11
atual. Nele procuro rest i t ui r expresso "democracia racial" os._
seus significados histricos, datando os diversos contextos em que
tal concepo vigeu.
No ltimo e sext o captulo, retomo a anlise emprica do
racismo brasileira, t omando como objeto os insultos raciais. Esse
texto tem a mesma ext r ao temporal e documental dos captu-
los reunidos em um livro anterior meu (Guimares, 1998 ) . Tr a-
ta-se de um banco de dados sobre queixas de discriminao ra-
cial registradas na Del egaci a de Crimes Raciais de So Paulo.
12 Classes, raas e democraci a
1.
Central para os estudos de estrutura, organizao e estratifi-
cao soci al, o conceito de "classes sociais" emerge com a nascen-
te academia brasileira. Em 1942, Donald Pierson caracteriza o Brasil
como uma "sociedade multirracial de classes" ou de grupos sociais
abertos ao contrrio de sociedade de castas, que so grupos
fechados, ou de "estados", grupos mais comunais que societrios
(Pierson, 1 9 4 2 , 1 9 4 5) . Estas distines, introduzidas por Tnni es
( 1966) e Weber (1968), foram posteriormente reelaboradas pela
sociologia americana e popularizadas em manuais de soci ologi a.
Nos anos 1940, a revista Sociologia, editada pela Escol a de
Sociologia e Poltica de So Paulo, serviu de veculo para o pri-
meiro debat e terico sobre classes sociais, na nascente sociologia
brasileira (Pierson, 1945, 1948;' Pi nto, 1946; Fernandes, 1948 ;
Willems, 1948 ) .
De modo geral, o debate ops, de um lado, aqueles que, co-
mo Pierson e Willems, viam as "classes" como meros estratos so-
ciais, dot ados de conscincia e sociabilidade prpri as
2
e, de ou-
tro lado, aqueles que, como Pinto e Fernandes, viam as classes
1
Este captulo uma verso ampliada do captulo publicado original-
mente em Srgio Miceli (org.), O que ler na cincia social brasileira [1970-
1995), vol. II: Sociologia, So Paulo/Braslia, SumarVANPOCS/CAPES, 1999,
pp. 13- 56.
2
Seguindo as orientaes traadas nos estudos de Yankee City por
Lloyd War ner . Ver Gordon (1963).
Classes sociais 13
CLASSES SOCI AI S
1
como_estruturas sociais, que condicionavam as aes coletivas nas
sociedades capitalistas. Para os primeiros, o conceito de "classe
social" era aplicvel a qualquer sociedade humana, sendo simples
sinnimo para "camada social", distinguindo-se apenas de outros
tipos de estratos pelo grau de mobilidade ou solidariedade que pro-
porci onava.
3
Para os segundos, as economi as ocidentais capita-
listas teriam se encarregado de destruir as sociedades de castas e
de estados, anteriormente exisrentes, de tal modo que a socieda-
de de classes passou a condicionar a sociabilidade prpria mo-
dernidade e ao capitalismo ocidentais.
Em jogo, estavam mais que as concepes de duas tradies
disciplinares a antropologia versus a sociologia ou metodo-
lgicas os estudos de comunidade versus os estudos histrico-
esrruturais. Tratava-se de definir o obj et o mesmo da reflexo so-
ciolgica no Brasil. No dizer de Florestan, a sociologia tinha "co-
mo objeto fundamental, o conheci mento da origem, da estrutura
e da dinmica de sociedades de cl asses" (Fernandes, 1948: 93) .
No Brasil, o objeto da sociologia seria, pois, fundamentalmente,
o desenvolvimento de uma sociedade capitalista entre ns, ou
o que vem dar no mesmo o desenvolvimento de uma socieda-
de de classes ou, simplesmente, o desenvolvimento.
O debate entre essas duas formas de compreender e utilizar
o conceiro de classes sociais (como concei t o descritivo, por um
lado, ou como conceiro explicativo, por outro) chega aos anos
1960 com o claro predomnio daqueles que consideram a anlise
de classe central para a explicao soci olgi ca. A anlise de clas-
se, enquanto estilo de explicao, se fundamenta no princpio de
que a estrutura social e sua reproduo dependem, fundamental-
mente, da ao das classes. Tal estilo de fazer sociologia consis-
te, basicamente, em interpretar e expl i car os fenmenos sociais a
3
Podemos subdividir essa corrente em duas: havia os que prescindi-
am de problematizar as classes e havia os que buscavam, em seus trabalhos
de campo, compreender a organizao social atravs da estratificao em clas-
ses das comunidades estudadas (Cndido, 1947 ; Willems, 1947).
14 Classes, raas e democracia
partir do. comportamento e das atitudes...deJtor.es coletivos, re-
feridos, direta ou indiretamente, s classes sociais, prescindindo
ou no de atores individuais.
O GRANDE C ONSE NSO DOS ANOS 1960:
I NDUSTRI ALI ZAO E MODERNI DADE
A sociologia brasileira, em seus primeiros anos, principal-
mente nas dcadas de 1930 e 1940 , era ainda uma sociologia tri-
butria daquela feita em Chi cago, cuja fora se mostrava nos es-
tudos de comunidade. Logo em seguida, a partir dos meados dos
1950, ormar-se- um grande consenso terico, que transforma-
r o processo de indusrrializao em explanandum onipresente de
todos os fenmenos soci ai s brasileiros. Tal paradigma se con-
substancia na idia de transi o, seja do tradicional para o mo-
derno, seja do patrimonial para a ordem social competitiva, seja
do escravismo para o capi tali smo, seja do capitalismo mercantil
para o capitalismo industrial.
Nesse contexto t eri co, sero as classes sociais os principais
agentes e o seu conceito a principal ferramenta da sociologia. A
prpria idia de sociologia passa a ser associada ao conhecimento
de uma estrutura (a estrutura social), regida por leis cientficas e,
portanto, racionalmente compreensvel, mas totalmente opaca ao
entendimento dos indivduos quaatores sociais. As relaes sociais
engendradas pelo processo de industrializao sero aladas, por-
tanto, condio de principal objeto da pesquisa sociolgica, mas
tambm numa petio de princpios evidente condio de
explicao mais plausvel para os fenmenos mais diversificados.
Os anos 1960 assistiram ao avano da teoria das classes e
consolidao da influncia do marxismo, e de todas as formas de
explicao estrutural, na Sociologia brasileira. A vontade de de-
senvolvimento econmi co e social passou, cada vez mais, a vin-
cular-se a uma expectativa de que as classes sociais (fosse o em-
presariado industrial, fosse o operariado nascente, fossem as clas-
Classes sociais 15
ses mdias) adquirissem. axonscincia necessria para assumir o
que se pensava ser seu papel histrico: quer a superao das oli-
garqui as agrrias no poder, quer a implantao do socialismo.
Essa problemtica ser expressa, sob a forma de anlise de
classes, em trs movimentos tericos:
a) O de uma sociologia econmi ca. Trata-se dos estudos de
desenvolvimento econmico-social que culminam com as anli-
ses de dependncia (Fernandes, 1968 , 197 5; Cardoso e Faletto,
1969). Nesse caso, as anlises macrossociais abandonam o estilo
metodolgi co individualista das anlises anteriores, para enfocar
a arti culao entre a dinmica interna de classes, o Estado nacio-
nal e a ordem capitalista mundial. O objetivo ser analisar as
possibilidades de transformao do Estado e de aumento do bem-
estar social; a ferramenta, a anlise de classes.
b) O de uma sociologia poltica. Principalmente os estudos
sobre parrimonialismo, clientelismo, populismo e, recentemente,
democraci a. Os autores de tais estudos, ainda tributrios da an-
lise de classe, focalizaro as insrituies e o sistema polticos, o
Est ado e o seu contexto societrio.
c) O dos estudos de formao das classes sociais brasileiras.
Estes se ramificam em cinco: de formao do empresariado nacio-
nal; de formao de burocracias ou elites dirigentes; de formao
de classes mdias; de formao da classe operria industrial; e de
for mao do proletariado rural.
O ESTADO E OS E MPRE SRI OS
C OMO AGENTES SOCIAIS
A nascente sociologia brasileira se atirou anlise dos agentes
do processo de industrializao
4
, procurando explicar a ao (ou
4
"Por industrializao, a partir de 1930 , no se entende somente o
desenvolvimento das foras produtivas e da mecanizao, mas tambm o
16 Classes, raas e democracia
inao) de seus suieitos/agentes: o. Est ado
5
, a classe operria, o
campesinato, a classe mdia e a burguesia.
O papel do Estado no processo de desenvolvimento capita-
lista brasileiro foi sempre elemento inesperado para os esquemas
tericos mais rgidos, permanecendo desafiador e instigante para
novos esquemas interpretativos. A tal ponto o Estado esteve pre-
sente, no imaginrio acadmico, que Cerqueira e Boschi (977:
9 )
6
observam:
"[. . . ] no caso dos pases de desenvolvimento tar-
dio, parece-nos que a tentativa de captar a complexi-
dade do processo poltico subjacente consolidao do
capitalismo industrial no se furtou de um certo vis,
na medida em que, invariavelmente, saiientou-se o pa-
pel determinante do Estado como matriz geradora dos
processos sociais. Embora historicamente esta prepon-
derncia do Estado como ncleo vital do sistema seja
inquestionvel, questionvel , isto sim, o pequeno es-
pao que as anlises conferiram possibilidade de atua-
o autnoma de grupos soci ai s".
A princpio, para dar conta da importncia do Estado, desen-
volveu-se, entre ns, um estilo de anlise, s vezes, por demais cul-
aceleramento da diviso social do trabalho, a dominao crescente do capi-
tal sobre o trabalho, a submisso da economia agrria s necessidades indus-
triais e a imposio ao conjunto da sociedade de critrios capitalistas de
' racionalidade' " (Pinheiro, 1975: 125).
5
Sader e Paol (1986: 51) assim explicam a percepo do Estado en-
quanto agente: "[. . . ] segundo a verso dominante do imaginrio sociolgico
c poltico dos anos 60, o Estado que torna a classe dominante apta sua
tarefa histrica quando disciplinou as relaes entre as classes sociais".
6
As citaes de textos publicados nos 19 primeiros nmeros dos BIB
Boletim Informativo e Bibliogrfico de Cincias Sociais sero feitas de
acordo com a paginao dos BIB: O que se Deve Ler em Cincias Sociais no
Brasil, vols. I, II e III.
Classes sociais 17
turalista, de procura de um etbos. nacional, outras vezes por demais
estruturalista, no qual as variveis causais ganhavam, quase sem-
pre, o estatuto de agentes, substituindo-os' . Este estilo tem razes,
sem dvida, nas anlises clssicas de Gilberro Freyre (1969 [1933] ),
que abandonou o determinismo racial e cli mti co do fim de sculo,
em t roca do desvendamento de uma matriz cultura! fundadora; de
Srgio Buarque de Holanda ( 1936) , que inrroduziu a noo depa-
t ri moni al i smo
8
entre ns; e de Caio Prado J r . ( 1965 [1937] ), que
teorizou sobre as determinaes sistmicas e as restries exgenas
ao nosso desenvolvimento nacional. Em cada uma dessas matri-
zes, as classes sociais, qua agentes, estiveram em segundo plano.
Tal tradio de anlise teve conti nui dade com o clssico de
Raymundo Faoro (1958), e levou algum rempo esquecida, sendo
ret omada, com toda a fora, nos anos 197 0 , por Schwartzman
( 197 0 , 197 3, 1982). Tanto em Faoro, quant o em Schwartzman,
ser a camada dirigente, os donos do poder, portadora do ethos
patrimonialisra, que dar os rumos sociedade brasileira. Tal pers-
pecriva, discutida exausto em Dados, n 14, 197 7 , e criticada
em seu culturalismo implcito, foi invariavelmente substituda por
concei t os mais dialgicos, que capturavam melhor a articulao
entre Estado e classes da sociedade civil, tais como os conceitos
de populi smo (Ianm, 1963, 197 5, 198 8 ; Camar go, 197 4, 197 6) ;
de autoritarismo (Martins, 197 3; Rei s, 197 4; Velho, 1976; Car-
doso, 197 5; Linz, 1975; Stepan, 197 3) e de corporativismo (Erick-
son, 197 2 ; Malloy, 1976; 0 ' Donne, 197 6) .
Concomitantemente, desenvolveram-se algumas perspectivas
teri cas que procuraram teorizar o Est ado, enquanto ator, atravs
de categorias sociais plenas, tais como a tecnoburocracia (Martins,
197 4; Pereira, 1978; Suarez, 1986) ou a burguesia de Estado (Perei-
' Na verdade, o nacionalismo de Estado foi, entre ns, uma forte ideo-
logia. Ver, a respeito, Reis (1990).
s
Sigo, aqui, a interpretao de Antnio Cndi do (1994), contrria
de Raymundo Faoro (1993).
18 Classes, raas e democracia
ra, 1977, 1978, 198 5) . Apenas nas anlises marxistas mais orto-
doxas, mais prximas do PCB que da academia (Sodr, 1968 , 197 6) ,
o Estado ser teorizado como aparato apropriado por uma classe
(a oligarquia rural e os setores agro-exportadores, ligados ao ca-
pital estrangeiro) e, portanto, quase como instncia epifenomnica.
O empresariado nacional mereceu uma ateno especial de
nossos analistas, principalmente depois de frustradas as esperan-
as de uma revoluo burguesa nacionalista ou mesmo socialis-
ta (Martins, 1968 ; Faria, 197 1; Cardoso, 197 2 ; Cerqueira e Bos-
chi, 1976; Guimares, 197 7 ; Santos, 197 7 ; Gomes, 197 9; Boschi,
1979). Tais anlises desmentiram expectativas nutridas pela teo-
ria das classes enro vigente, que procurava encontrar, na burgue-
sia, o principal ator da revoluo burguesa. A concluso, ao con-
trrio, foi a de uma revoluo sem ator (Fernandes, 197 4) , e de
uma burguesia politicamente inexpressiva. No dizer de Cerqueira
e Boschi (1977: 15): "[. . . ] consolidou-se a idia deste setor social
como ator poltico de pouca relevncia, o que de certa forma des-
locou o foco da ateno, na produo das cincias sociais, para
outros grupos tais como tecnocratas, militares e burocrticos".
A tradio dos estudos sobre o empresariado e as elites em-
presariais tem continuidade, nos anos 198 0 , deixando para trs,
tanto as expectativas normativas sobre o papel poltico e histrico
das classes, como as vises dicotmicas simples, que opunham o
Estado controlado por estamento burocrtico a outro, controla-
do por classe dominante. Assiste-se a um grande desenvolvimento
conceituai (populismo, anis burocrticos, neocorporativismo
et c) , que refora a necessidade de novos estudos empricos. As-
sim, foi atravs de pesquisas bastante inovadoras que a cincia
poltica explorou as anlises de representao de interesses, de
disputas por recursos de poder, de formao de opinio pblica
e de opinio de grupos dirigentes, de formao de elites e de
lobbies congressuais e t c , ampliando o universo da anlise de
classes. Muito representativos dessa nova postura foram os traba-
lhos de Cerqueira e Boschi ( 197 6, 197 7 a), Dimz e Boschi ( 1993) ,
Dimz ( 197 8, 198 4, 198 6, 1992 ) , Boschi (197 9, 1983), Cheibub
Classes sociais
19
( 1995) , Reis e Cheibub (1995), Lima e Boschi (1995), Pereira
( 1994) e Minella (1988).
OS ESTUDOS SOBRE A FORMAO
DA CLASSE TRABALHADORA BRASI LEI RA
No comeo dos 1960, o diagnstico consensual, nas cinci-
as sociais, era o de que os anos 1930 haviam marcado uma rup-
tura no processo de desenvolvimento brasileiro, com o esgotamen-
to da economia agroexportadora. No desenvolvimento da nova
economi a urbano-industrial, novas classes sociais teriam sido ge-
radas, que se tornariam, da em diante, os agentes (ou referentes)
principais da mudana social e poltica: o operariado, as classes
mdias urbanas e a burguesia industrial.
Ainda nos anos 1960 , aparecem os primeiros estudos so-
ciolgicos sobre a classe operria brasileira, principalmente pau-
lista, que podem ser agrupados em dois temas: o sindicalismo e a
organizao operria (Simo, 1966; Rodr i gues, ] . , 1968; Rodri-
gues, L. , 1966, 1968 ) ; as atitudes e os valores da classe operria
nascente (Cardoso, 1969 [1961] ; Tourai ne, 1961; Lopes, 1964,
1967 ; Pereira, 1965; Rodrigues, L. , 197 0 ) . Todos eles esto refe-
ridos problemtica maior da industrializao e da transforma-
o da estrutura social no ps-1930; mais especificamente, bus-
cam avaliar a ao, a fora e o potencial poltico dos trabalhado-
res industriais brasileiros. So, pois, estudos que procuram situar
e analisar a classe operria qua agente coletivo. Escritos e publi-
cados entre o final dos anos 1950 e o comeo dos 197 0 , o mvel
poltico e a perspectiva de anlise que os alimentam esgotam-se
com os golpes dc 1964 e 1968, quando fica clara a impossibili-
dade de ao coletiva da classe operria no futuro imediato. Na
avali ao crtica da gerao que os sucede,
"Os ensaios [...] pecaram por uma leitura demais socio-
logizante: preocupou-se mais com a estrutura e a com-
posio da classe operria. Aqui o prato de resistncia
2 0
Classes, raas democracia
foi a questo do peso dos imigrantes estrangeiros na
formao da classe operria [antes de 1930] . Em segui-
da sublinharam-se as conseqncias da imigrao rural
na composio da classe operria, ressaltando-se os seus
valores tradicionais, a sua dificuldade em aderir a orga-
nizaes polticas, seu projeto de ascenso social" (Pi-
nheiro, 1975: 12 3).
Os anos 1970, j no clima de resistncia democrtica dita-
dura, assistem ao ressurgimento dos estudos de formao da classe
trabalhadora, agora sob uma nova tica: trata-se de reavaliar cri-
ticamente a estrutura sindical brasileira e as relaes entre sindi-
calismo e Estado; trata-se de explicar os limites estruturais da ao
transformadora da classe operria no Brasil, e no sua suposta falta
de conscincia poltica. Quem desencadeia este novo ciclo , sem
dvida, Weffort ( 197 2 ) , em seu estudo sobre as greves de 1968 ,
em Osasco e Contagem. Seguindo a trilha de Weffort, floresce uma
grande produo sobre a for mao da classe trabalhadora no
Brasil, tanto entre historiadores (Fausto, 197 4, 1976; Pinheiro e
Hall, 1982; Carone, 1 9 7 4 , 1 9 8 9 ; Hall, 197 1, 198 4) , quanto cien-
tistas polticos (Andrade, 197 4; Almeida, 197 5, 197 8 , 197 8 a,
198 1, 198 8 ; Moiss, 1977) e socilogos (Fumphrey, 197 9, 198 2 ) .
Discutem-se as restries estruturais, histricas, ao da
classe trabalhadora no Brasil, e as condies, objetivas e subjeti-
vas, para o surgimento de uma nova classe operria e seu novo
sindicalismo, a partir das condies materiais e polticas dadas pela
grande indstria brasileira. Import ant e salientar que esses estu-
dos j passam a usar ou referir o instrumental conceituai e anal-
tico desenvolvido per Antnio Gramsci (a teoria da hegemonia)
e Poulantzas (a teoria das classes), bastantes debatidos, ento, nas
cincias sociais brasileiras.
Nesse momento, um segundo debate importante sobre as clas-
ses sociais, no Brasil, tem lugar nas pginas da revista Estudos Ce-
brap, em especial no seu n 3, de janeiro de 197 3, dedicado dis-
cusso das idias de Poulantzas. Os frutos mai s importantes desse
Classes sociais
2 1
debate foram a crtica ao excesso de formalismo terico dos mar-,
xistas franceses (Cardoso, 197 3) , o retorno aos termos clssicos
de pensar a mudana social como resultado da lutas de classes, e
no do embate entre estados-nao, como o pensamento nacional-
desenvolvimentista sugeria (Weffort, 197 1) , e a incorporao das
categorias de anlise althusserianas e gramscianas fraes de
classe, categorias sociais, grupos sociais, sobredeterminaes, hege-
monia, bloco histrico, consentimento etc. ao vocabulrio socio-
lgico brasileiro. Sintomaticamente, tanto o primeiro balano cr-
tico da produo brasileira sobre o movimento operrio, feito por
Pinheiro (1975), como os ensaios de Weffort (197 2 , 1973,1975,
197 8 , 197 9) esto calcados na anlise gramsciana da hegemonia.
Conceitualmente, a teoria das classes, na sociologia brasi-
leira, estivera presa, ate ento, a algumas grandes tradies te-
ricas: a sociologia da USP (nascida da confluncia da Escola de
Chi cago com a escola de sociologia francesa), a sociologia nacio-
nal-desenvolvimentista do ISEB, a ortodoxia marxista, vigente nos
partidos de esquerda, e a sociologia latino-americana, desenvol-
vida na FLACSO, sob a influncia de Germani e dos desenvolvi-
mentistas da Escolatina e da CEPAL. A novidade dos anos 197 0
o surgimento, no Brasil, do ncleo de pensamento em torno do
Cebrap, direcionado para a nova exegese marxista, nos moldes
alis, do que j acontecera na Frana (Althusser, 1965; Althusser
et al, \ 968 : Poulantzas, 1968 ; Bal i bar, 197 3) e na Itlia (Delia
Vol pe, 1969; Colletti, 1969, 197 3) . Nomes decisivos desse mar-
xi smo acadmico sero Weffort, na corrente de anlise poltica
inspirada pelos escritos polticos de Ma r x e Gramsci, Jos Arthur
Gi annotti {1966), na corrente de anlise da dialtica marxista, e
Francisco de Oliveira (Oliveira, 197 2 ; Oliveira e Reichstul, 1973),
na corrente de anlise macroeconmica inspirada por O Capital.
As anlises de classes que se desenvolvero nos 1970 refa-
ro diagnsticos e interpretaes do que foram a Revoluo de
1930 , o Estado Novo e o intervalo democrtico de 1945- 1964.
O estilo , portanto, histrico-estrutural, interpretativo, voltado
para a teorizao das restries estruturais, internas e externas,
2 2
Classes, raas e democracia
na qual despontam, como sujeitos da histria, os atores coletivos
(os governos, as classes e os estamentos) que fizeram o Brasil.
Nos estudos sobre a classe operria, nessa poca, havia os
que, apoiados nas anlises de conjuntura, atribuam o fracasso
operrio, em 1964, falta de autonomia de suas organizaes
diante dos partidos polticos e do Estado (Weffort, 197 2 , 197 5,
197 8 , 197 9; Moiss, 197 8 , 197 9, 198 2 ; Andrade, 1974); e aqueles
que, escudando-se (Vianna, 197 8 a )
9
na "crtica razo dualista",
proposta por Oliveira ( 197 2 ) ,
"[. . . ] sublinha[va]m sobretudo que a ordem corporativa
e mais tarde a conservao das instituies corporativas
sindicais na poca liberal corresponderam a uma pr-
tica intencional para a desmobilizao dessa classe,
numa interveno sobre o mercado de trabalho cujos
fins foram os de viabilizar, peio recurso violncia
institucionalizada ou no a acumulao primitiva de
capital" (Vianna, 197 8 : 8 6) .
Francisco de Oliveira produzir, alm de dois ensaios mar-
cantes, em termos de interpretao das restries estruturais s
aes de classe (Oliveira, 197 2 ; Oliveira e Reichstul, 197 3), duas
obras primas de anlise histrica e conjuntural, respaldadas em
suas leituras dos textos polticos de Mar x (principalmente O 18
Brumrio de Lus Bonaparte): refiro-me ao seu Elegia para uma
re(li)gio e O elo perdido, que deixaro marcas no marxismo dos
anos 1 9 8 0 .
1 0
De fato, na dcada seguinte, ampliar-se- a nfase na inves-
tigao dos condicionantes subjetivos da ao de classe e da for-
9
Antunes (1982 , 1986) e Boito (1991) daro continuidade a essa li-
nha de anlise.
1 0
No Nordeste, estudos como o de Guimares (1982 ), Guimares e
Castro (1988) e Lima (1996) so alguns exemplos da influncia que Olivei-
ra exerceu nas discusses sobre as classes sociais.
Classes sociais
23
i nao de uma cultura operria no Brasil. Mui to importante para
esse movimento terico-metodolgico foi a influncia dos intelec-
tuais marxistas ingleses, principalmente E. P. Thompson (1958,
197 8 ) e Raymond Williams (197 7 , 198 1) , em sua reao ao mar-
xi smo estruturalista francs.
1 1
No Brasil, os anos 1980 foram de enorme euforia nas esquer-
das, nutrida pela expectativa do modo como os movimentos popu-
lares e o movimento operrio seriam capazes de se expressar atra-
vs de novo partido poltico o PT. Seguindo o debate anterior,
na ordem do dia esteve a discusso sobre a possibilidade da for-
mao de aristocracias operrias no Brasil (Humphrey, 1982 ;
Almeida, 1981; Jellin e Torre, 198 2 ; Casrro e Guimares, 1996).
Em termos acadmicos, a relao entre operrios e o movimento
social mais amplo j era rratada desde os 1970 (Moiss. 1979;
Moi ss e Alier, 1978), mas, em 198 0 , uma coletnea organizada
por Singer e Brant (1980) marcou, definitivamente, a incorpora-
o dos movimentos populares aos estudos de classe. Seguiram-
se vrias coletneas e resenhas sobre o tema (Jelm e Caldern,
198 7 ; Larangeira, 1990; Cardoso, 198 7 ; Gomes e Ferreira. 1987;
Di ni z, Lopes e Prandi, 1994) .
O tom da reviso,
1 2
contudo, foi dado por dois artigos: um
de autoria de Sader, Paoli e Telles ( 198 3) e, o outro, de Sader e
Paoli ( 1986) . A mudana conceituai notvel: os novos estudos
usaro sistematicamente conceitos como "experincia", "imagin-
r i o", "cotidiano", "cidadania", originrios da histria social e da
filosofia poltica, em vez dos conceitos academicamente consagra-
1
' Cardoso (1987: 27) tem o seguinte diagnstico: "A desilu-o com
os esquemas globalizantes passou a alimentar a busca de explicaes quali-
tativas para os novos problemas que se colocavam e que diziam respeito ao
sistema de dominao e seu modo de operar. A progressiva rigidez tia teoria
marxista, tal como vinha sendo usada, abriu caminho para novas formas de
investigao".
1 2
A frmula cunhada por Emilia Viotti da Costa (1990), "estruturas
versus experincia", sintetiza o que estava em jogo na reviso.
2 4
Classes, raas e democracia
dos pela sociologia. Tais concei tos expressam a preocupao em
tratar os dominados como criadores de seus prprios mundos,
comprometendo os autores com a emergncia da conscincia de
direitos, individuais e coleti vos, por parte no apenas dos oper-
rios, mas das camadas populares. Neste sentido, to importante
quanto as organizaes polricas, sero as prticas coletivas. No
que toca a classe trabalhadora, os estudos sero dirigidos mais s
fbricas que aos sindicatos (Frederico, 1978; Maroni, 1982 ; Abra-
mo, 1988; De Decca, 198 1) , mais aos bairros de moradia que aos
mercados de trabalho (Caldeira, 1984; Kowarick, 1988; Sader,
1988; Telles, 198 8 , 1992 ; Bava, 198 8 ; Martins, 1991). Mas, com
o tempo, esse novo enfoque criar seus prprios vcios. Acabar
por fazer, entre outras coi sas, com que boa parte da produo
sociolgica sobre os trabalhadores urbanos se desvie das preocupa-
es tericas clssicas, ficando prisioneira das teorias emergentes
sobre os "novos movimentos soci ai s"
1 J
. Essa tendncia foi argu-
tamente notada por Sader e Paoli (1986: 39):
"[. . . ] ao narrar o que anda acontecendo com os tra-
balhadores e seus movimentos sociais, parte desta pro-
duo sociolgica recente parece questionar profunda-
mente o conceito de classe social como paradigma te-
rico institudo e adquirido pelas cincias sociais [. . . ] ".
Mas ser, justamente, o alargamento do conceito de classe
social para alm de Tnni e s
1 4
, para significar mais que organiza-
o coletiva e ao poltica sindicato e partido , mas ineor-
" Cs novos movimentos sociais eram geralmente caracterizados pela
"sua independncia com relao aos polticos profissionais e aos partidos,
bem como sua capacidade de expressar os desejos de base da sociedade' "
(Cardoso, i 98 ": 28). Eram vistos, pois, como atores sociais. com o mesmo
estatuto terico das classes.
1 4
"Uma classe tentativa de desenvolver poder efetivo atravs da for-
a das massas, i.e., atravs do grande nmero daqueles que pertencem a esse
coletivo; depende em menor medida das qualidades dos indivduos [...] En-
Classes sociais
2 5
_ porar prticas ul t ur ^ cotidiano, que
possibilitar a Sader e Paoli ( 198 6: 46- 7 ) fazer a crtica do conceito
de classes, usado antes, implicitamente, na sociologia brasileira:
"Assim, as prticas culturais diferenciadas dos di-
versos grupos sociais populares, isto , sua insero real
em um mundo de relaes sociais historicamente forma-
do [. . . ], foram banidas do mundo da ' verdadeira' clas-
se social, fazendo-se ver como algo que divide e cons-
pira contra a unidade, a coeso e o poder coletivo".
Sader e Paoli (1986: 59) procuram ampliar o conceito de clas-
se social para nele incluir o movi mento social, ou seja, o processo
de formao das classes a partir das prticas dos atores sociais,
nas diversas esferas da vida cotidiana, produtiva ou no.
1
'
1
Nes-
se sentido, preferem mesmo falar de classes populares, j que tal
termo indica "que o esforo de rigor do analista desloca-se do
campo da delimitao das fronteiras entre classes, fraes, catego-
rias sociais, para o campo da compreenso especfica da prtica
dos atores sociais em movimento". As classes, para Sader e Paoli
( 198 6: 61) seriam
"[. . . ] um coletivo presente duplamente: 1) na experi-
ncia nica com aqueles que se identificam com e em
cada uma dessas situaes e 2 ) na elaborao mais ge-
ral de todos, reconhecendo algo em comum entre ex-
perincias distintas".
O que estes autores vem de novo, teoricamente, a possibi-
lidade de redefinir o conceito de classe, com a "descoberta da
multiplicidade de espaos onde se faz a classe", "a existncia de
caro o partido poltico como o tipo ideal de um coletivo societrio" (Tn-
nies, 1966: 12-4).
1 5
Tambm Cardoso (1987) anota a ao comunitria como sendo o
que os distingue dos novos movimentos sociais.
2 6
Classes, raas e democracia
prticas que criam novos lugares sociais", a "alterao das pr-
prias instituies no curso das experincias coletivas". No entanto,
como eles mesmos reconhecem, muitos outros autores, que tra-
balhavam com o cotidiano das "classes populares", perderam toda
e qualquer conscincia ou preocupao terica, em seu esforo de
"dar voz" aos dominados e visibilidade s suas prticas de resis-
tncia (Sader e Paoli, 198 6: 65) . A verdade que, na maioria das
vezes, tal tendncia intelectual rejeitou as teorias de classe sem mes-
mo as ter submetido crtica terica.
Paralelamente, os estudos sobre a formao da classe traba-
lhadora enveredam por outra vertente, enfatizando as anlises do
processo de trabalho, antes restritas sociologia industriai, que
nunca formara tradio entre ns. Estes so retomados agora sob
a ptica marxista, dada por Braverman (1974). Ao encerrar a sua
resenha, Vianna ( 197 8 : 90 ) anotara:
"Registre-se, entretanto, que mal comearam as
investigaes sobre o trabalho e a vida operria nas
unidades fabris. Ri t mo de trabalho, relaes com o sin-
dicato, com o depart ament o de pessoal da empresa,
lazer, sistemas de i nterao horizontais e verticais etc.
so temas que ainda fazem parte de um territrio a ser
descoberto e expl or ado".
De fato, um conjunto de pesquisadores (socilogos e ant ro-
plogos) procurar articular o estudo das condies do processo
de trabalho com as condies extrafabris, para dar conta da forma-
o dos trabalhadores em classe, quer como grupos identitrios
de status, quer como coletivos polticos (partidos, sindicatos, asso-
ciaes). Estudos como os de Vera Pereira (1979), Jose Srgio I .eite
Lopes (1976) e John Humphrey ( 197 9, 1982 ), realizados na se-
gunda metade dos 197 0 , foram pioneiros e emblemticos desse
novo modo de analisar a classe operria, fosse industrial ou rural.
Forma-se na ANPOCS, paralelamente ao j tradicional Gru-
po de Trabalho "Classe Operri a e Sindicalismo", outro GT, este
sobre "Processo de Tr abal ho e Reivindicaes Sociais". Em 198 4,
Classes sociais 2 7
um pequeno e seminal estudo de Nilton Vargas (1985) reavalia a
histria das relaes de trabalho no Brasil (relaes entre burgue-
sia, Estado e operariado) a partir do conceito de taylorismo. O
texto importante porque, ao repensar o Brasil contemporneo
com conceitos novos, aplaina o quadro de referncia histrico para
novos estudos sobre o processo capitalista de trabalho. A partir
da, no cessam de crescer os "estudos de caso", modo como eram
referidas as pesquisas feitas em unidades fabris. Em 1986, duas
resenhas j haviam sido escritas sobre o tema: Sorj (1983! e Abreu
( 198 6) . Mas o problema com a maioria de tais estudos cedo foi
apontado, alis inutilmente, por um observador arguto como Vian-
na ( 198 4: 2 2 8 ) :
"A fraqueza de grande parte dessa literatura tem
consistido num certo formalismo, derivando da, com
freqncia, um tratamento da dimenso da poltica ape-
nas como um elemento estrutural por exemplo, nos
estudos que se limitam a demonstrar que a poltica se
encontra embutida no processo de trabalho atravs do
sistema de mquinas e no controle social da produo
, e no na riqueza das suas determinaes concretas
no plano da conjuntura".
Parte da riqueza a que Vi anna alude, adveio do contato en-
tre os estudos sobre a classe trabalhadora e os estudos feitos em
outras tradies disciplinares, que eram no apenas diversas, mas,
no Brasil, inusitadas, tais como a administrao (Eleury e Eischer,
198 5) , a antropologia urbana (Pereira, 197 9; Lopes 197 6, 198 8 ) ,
a engenharia de produo (Fleury e Vargas, 1983) e, principal-
mente, os estudos feministas (Rodrigues, 197 8; Abreu, 1980; Pena,
1.981; Githay, 1982; Humphrey e Hirata, 1984; Hirata, 1988;
Souza-Lobo. 1991). Os estudos de processo de trabalho foram,
tambm, segundo Bruschim ( 1993: 2 , apud Castro e Leite, 1994),
"a porta de entrada dos estudos sobre a mulher na academia brasi-
leira". Para Castro e Leite ( 1994: 42 ) , "a crtica das relaes sociais
tecidas na produo e das formas simblicas de opresso teve, en-
2 8
Classes, raas e democracia
to, a virtude de vivificar tanto os estudos feministas sobre mu-
lher e trabalho, quanto o ncleo duro' dos estudos de fbrica [. . . ] ".
No que toca teoria das classes, na sociologia mundial, os
estudos sobre processo de trabalho ganham virtuosidade formal e
terica com Adam Przeworski ( 197 7 , 197 9) , que enfoca a formao
de classes, e com Michael Burawoy ( 197 9, 198 5) , que conceitua-
liza os regimes fabris. A partir deles, foi possvel revigorar a teoria
marxista das classes, integrando formalmente as esferas cotidianas
de construo de interesses, valores e identidades ao mundo da pro-
duo, ou seja, articulando "estrutura" e "experincia". O impacto
desses conceitos sobre os estudos da classe trabalhadora brasileira,
se no foi direto nem imediato, foi, sem dvida, crescente.
1 6
Outra vertente importante, nesses anos, deriva dos estudos
sobre trajetrias operrias, influenciados especialmente pela re-
construo da teoria das classes e da ao coletiva feita por Bour-
dieu (1974, 197 9) . Autores como Lopes (1987, 1988) e Gui ma-
res, Agier e Castro ( 1995) documentam, tambm, essa tendn-
cia nos estudos sobre os trabalhadores urbanos.
Sintetizando, os estudos sobre a classe operria apresenta-
ram quatro vertentes principais, nesses ltimos 25 anos, identifi-
cveis a partir da teoria de classe que os orientou:
a) Foram estudos sobre o sindicalismo ou centrados na an-
lise da ao sindical, quando as associaes polticas foram vis-
tas como as representantes, par excelence, da classe, maneira da
conceituao de Tnni es. Nesse caso, tivemos seja uma anlise
sociolgica das determinaes estruturais, seja uma anlise pol-
tica das conjunturas, seja a conjugao de amuas.
b) Foram estudos de valores e aritudes, quando se acreditou
que a classe era uma associao e no necessariamente uma comu-
nidade, e que, portanto, a identidade operria e sua eventual ao
poltica dependeriam das caractersticas sociais de seus membros.
1 6
Apenas para citar a influncia sobre minha formao, ver Gui ma-
res (1988, 1991, 1998) , Castro e Guimares ( 1996) .
Classes sociais
2 9
c) Foram esrudos do processo de trabalho e do mundo fa-
bril, quando a classe foi vista como determinada, em ltima ins-
tncia, pelo mundo da produo, e a organizao poltica, como
locus de alianas ciassistas esprias ou de tutelagem.
d) Foram estudos de cidadania, quando se pensou que a clas-
se eta o modo como os indivduos realizavam e atualizavam di-
reitos civis de natureza coletiva.
Ao mesmo tempo, essas vertentes corresponderam a proble-
mticas sociais inscritas no mundo poltico brasileiro. Nos anos
1960, tratava-se de avaliar a continuidade das instituies corpora-
tivas do Estado Novo no processo de industrializao do ps-guerra
(democrtico e liberal, at 1964, e ditatorial, depois), e explicar a
fraqueza da ao poltica do operariado brasileiro, se comparada
ao que ocorria na Europa. Nos anos 197 0 , tratava-se de entender
o carter autonomista das reivindicaes operrias emergentes. Nos
198 0 , buscava-se compreender a fora de determinao das "ba-
ses" sobre a atuao dos sindicatos, e as reivindicaes de direitos
subjetivos e coletivos pelo conjunto das organizaes populares.
OS ESTUDOS SOBRE AS CLASSES MDIAS
A recepo das idias de Poulantzas no Brasil, e at mesmo
0 grande debate i nt ernaci onal
1 1
sobre o estatuto das classes m-
dias (a nova pequena burguesia e os trabalhadores no-produti-
vos), no foram capazes de fazer com que tais estudos ganhassem,
entre ns, o estilo de uma anlise de classes marxi sta
1 8
(Simes,
1 992 ). As teorizaes sobre o papel das classes mdias ficaram na
" Para acompanhar este debate ver Poulantzas (1973, 1977, 197 8 ,
1983), Carchedi (1977), Wright ( 197 7 , 197 8 , i 985), Ehrenreich e Ehrenreicb
(197 9), Abercombie e Urry ( 1983) e Simes (1992 ).
1 8
A exceo fica por conta da tese de doutorado de Simes (1989),
defendida em Londres.
30
Classes, raas e democracia
forma incipiente de anotaes (Oliveira, 1988), sem grande res-
paldo emprico.
A produo acadmi ca brasileira sobre as classes mdias
privilegiar trs temas: primeiro, estudos sobre categorias sociais
decisivas, em algumas conjunturas histricas, tais como os estu-
dantes (Foracchi, 1 9 6 5; Poerner, 1968) ou os militares. No caso
dos ltimos, a sua persistente importncia na vida nacional far
com que nova rea temti ca, a dos estudos militares, ganhe au-
tonomia na academia brasileira (Coelho, 1976, 1985; Mart i ns,
1974; Oliveira, 197 6; Stepan, 197 1; Goes, 1986; Zaverucha, 1994;
Leirner, 1997 ) . Segundo, estudos sobre a mudana na situao de
classe de camadas que transitam da autonomia para o assalaria-
mento (Evers. 198 2 ; Saes, 198 4) . Tambm importantes so os
estudos sobre a relao entre camadas sociais especficas (bacha-
ris, intelectuais etc. ) e o poder poltico no Brasil (Adorno, 198 8 ;
Miceli, 197 9; Pinheiro, I 97 4; Martins, 1987 ). Ainda nessa tra-
dio, aparecem os estudos sobre categorias profissionais espec-
ficas, como advogados, mdicos e engenheiros (Barbosa, 198 5;
Kawamura, 1 98 1, 198 6) , que tambm acabam por criar nova tra-
dio de anlise, diferente da anlise de classe a sociologia das
profisses (Bonelli e Donat oni , 1996). Terceiro, e principalmen-
te, as anlises que se concentram no estudo do associativismo e
do sindicalismo dessas camadas (Almeida, 1988; Boschi, 198 4,
1987; Saes, 1V8 5) . Mai s recentemente, boa parte dos autores passa
a se dedicar ao estudo das condies de trabalho, das formas de
organizao sindical e de luta poltica de segmentos cias classes
mdias, tais como bancri os, professores e profissionais diversos
(Blass, 1992 : Segnini, 1998 ) .
A parte mais i novadora, em termos tericos, dos estudos
sobre as classes mdias ficou por conta da grande proximidade
dos pesquisadores do IUPERJ com a produo contempornea da
sociologia e da cincia poltica americanas, principalmente no que
concerne s teorias de ao coletiva, de movimentos sociais e de
mobilizao de recursos (Melucci, 1981; Offee Wiesenthal, 197 9;
Olson Jr. , 1965; Piven e Cloward, 1979; Oberschall, 197 3; Pizzor-
Classes sociais
31
no, 197 6; TIIy, 1978). Esses aut ores (Boschi, 1984, 1986, 1987 ,
1990 ; Saes, 1984) trazem para os estudos de classe novas influn-
cias tericas, atravs da anlise do associativismo e do sindicalismo
de classe mdia, em sua rel ao com o poder poltico. Ademais,
o IUPERJ foi uma das poucas instituies brasileiras que preser-
vou (atravs dos estudos de Nel son do Valle Silva e Carlos Hasen-
balg) a tradio dos estudos de estratificao e mobilidade social
iniciados, no Brasil, por Hut chi nson (1960), o que ofereceu aos
seus projetos de pesquisa, t ant o sobre as classes mdias quanto
sobre o empresariado, slida base de dados estatsticos sobre mo-
bilidade ocupacional e mudanas na esrrutura social.
OS ESTUDOS SOBRE O CAMPESLNATO
E O PROLETARI ADO RURAL
O clima poltico que, nos anos 1960 , informava o debate in-
telectual sobre a natureza das classes sociais no campo brasileiro
foi muito bem sintetizado por Gnaccari ni e Moura ( 198 3: 12 ) , do
seguinte modo:
"Polemizava-se se a noo de feudalismo no es-
condia um bias reformista de certa corrente que pro-
pugnaria, coerentemente, uma etapa burguesa neces-
sria e dominante a i ncluda a agricultura de
organizao da sociedade. Inversamente, a rotulao
de capitalista, conferida ao conjunt o das relaes de
produo no campo, parecia uma forma apressada de
frisara desnecessidade de uma reforma agrria".
De fato, o debate acerca da natureza da formao social bra-
sileira, se feudal ou capitalista, assi m como do carter da revolu-
o brasileira, se burguesa ou socialista (Wagley, 1951; Prado Jr . ,
1966; Frank, 1969; Fernandes, 197 4) , marcaram os rumos dos
estudos sobre a estrutura e as classes agrrias (Palmeira, 197 1;
Oliveira, 197 2 ; S Jr. , 197 3; Mar t i ns , 197 3, 1979, 1980, 198 1;
32 Classes, raas e democracia
Gnaccarini e Mour a, 198 3; Sallum Jr. , 1979; Santos, 1991) . Do_
mesmo modo, para a esquerda brasileira, as lutas de classe no
campo, principalmente as famosas Ligas Camponesas, foram his-
toricamente um obj et o privilegiado de reflexo.
A tradio de trabalhos empricos sobre as classes sociais
no campo remont a aos trabalhos pioneiros de Antnio Cndido
(1964), Mari a Isaura de Queiroz ( 1967 , 197 3) e ao programa de
pesquisa coordenado por Roberto Cardoso de Oliveira ( 197 6) e
David Lewis, no Mus eu Nacional, a partir de 1968 (Gnaccarini
e Moura, 198 3) . O fato, entretanto, que, independentemente
da filiao, em t er mos tericos, tais estudos permaneceram em
dilogo constante com a teoria marxista sobre a renda da terra
e com as teorias sociolgicas sobre as classes soci ai s
1 9
. O seu ob-
jeto terico prpri o, o campesinato, foi construdo nos anos
1960, de modo a t r aar a especificidade da teoria que se far no
Brasil. No dizer de Gnaccarini e Moura (1983: 14-5), a pequena
produo camponesa, no Brasil,
"seria produto da ocupao de terras livres ou do fra-
cionamento das fazendas que, num sisrema colonial,
primeiro e de expanso capitalista posterior, se mantm
ou se recria na estrutura agrria como uma forma que
lura pela sua permanncia, ao mesmo tempo que dela
se vale o sistema dominante para extrao e captao
de seu sobret rabal ho [...] [e] seria tambm gerada na
ocupao da fronteira agrcola".
A realidade dos anos 197 0 , principalmente o destroamento
das organizaes camponesas, o recrudescimento da urbanizao
1 9
Exemplo disso o sumrio que Gnaccarini e Moura (1 98 3: 17) fa-
zem da persistente anlise da relao entre campesinato e capitalismo: "[. . . ]
podem-se destacar dois tipos de trabalhos: os estudos onde a nfase posta
nas formas de subordinao do trabalho campons ao capital e os estudos
das estruturas internas da produo familiar, interessados ambos nos diver-
sos planos de dominao-resistncia que vivenciam os atores sociais".
Classes sociais 33
e das migraes_rurais-urban.as, esvazia, por um brevssimo tem-
po, a importncia do mundo rural para a intelectualidade brasi-
leira. Passa-se ento por uma espcie de superao da diviso
empiricista entre rural e urbano (Martins, 1981). Tal tendncia
j estava presente num conjunto de estudos sobre o mercado de
trabalho rural, que insistiam na unificao dos mercados urbano
e rural (Brant, 1977) e na expanso da classe operria para o
campo (Ianni, 1976; Mei lo, 197 1) .
Entretanto, ainda que teoricamente superada a diviso ru-
ral-urbana, impor-se-o, empiricamente, certos temas especficos
ao meio rural: J) Os camponeses sem-terra, ou bias-frias, e o sin-
dicalismo rural (D' ncao, 198 4; Ferrante e Saffioti, 1986-87; Si-
gaud, 1986, 1989); 2) A modernizao da agricultura e as pol-
ticas pblicas voltadas para a agricultura (Heredia, 1988; Lewin,
198 5) ; 3) Os efeitos sociais das barragens hidroeltricas e as lu-
tas que desencadeiam (Sigaud, 198 6a) ; 4) A expanso da frontei-
ra agrcola (Martins, 197 9, 198 0 ) ; 5) As lutas pelo acesso terra
(Martins, 1973, 1981); 6) A violncia no campo (Porto, 1992;
Martins, 1994).
O mainstream dessa produo, sem deixar de introduzir no-
vos temas e novos "olhares" sociolgicos, i.e., sem deixar de se re-
novar terica e metodologicamente, permanece firmemente filia-
do aos estudos de classe. Ainda que a anlise, quando mal feita,
possa resvalar para os vcios (a ortodoxi a, a falta de criatividade,
0 empiricismo das descries, a montona repetio das falas dos
entrevistados etc.) que fustigam atualmente todas as cincias so-
ciais. Em seus melhores moment os, entretanto, essa produo
extremamente inovadora e refinada, como quando se dedica ao
cotidiano familiar campons (Mart i ns, 1998; Garcia Jr. , 1983,
1 989) . O fato que a relao terica entre campesinato e capita-
lismo continuou a ser problematizada em termos da luta de clas-
ses e da formao de sujeitos, quer na linha do neo-marxismo,
quer na linhagem bourdieusiana, quer na nova tradio da hist-
ria social.
34 Classes, raas e democracia
NOVOS E STUDOS DE CLASSE
As anlises de classe no esgotam, como vimos, a problem-
tica das classes sociais brasileiras. Por isso, certamente, mui tos
estudos que tm como objeto de reflexo as classes sociais no se
vem a si mesmos como estudos de classe, mas como estudos de
"classes populares", "vi ol nci a", "cidadania", "movimento ne-
gro" etc. etc.
O termo estudos de classe, portanto, mais adequado para
referir um universo mais ampl o de estudos e ensaios que utiliza o
conceito de "cl asse", s vezes de um modo mais descritivo, mas
sempre com um sentido "nat i vo"
2 1
' , seja na prpria anlise, seja
na referncia ao seu obj et o.
Retomemos o fio teri co.
A teoria das classes surgiu com Marx como teoria das lutas
de classes e da mudana histrica. O sucesso cientfico da teoria
deveu-se, em grande medida, articulao que ela propunha en-
tre as esferas sociais a economi a, a sociedade, a poltica e a
cultura de tal modo que uma certa ordem prevaleceria sempre
entre elas; o segredo de tal ordenamento devendo ser buscado na
produo da vida material (na economia, era ltima instncia).
Por muito tempo, a industrializao capitalista, na Europa, nos
Estados Unidos e no resto do mundo, pareceu dar razo a Mar x,
no sentido de que a classe emergente dos trabalhadores industriais
parecia ter interesses opostos (do ponto de vista de um observa-
dor racional) classe capitalista, e vontade poltica de impor
-" "Classe" pode ser referida com o sentido de um carisma ou estig-
ma, significando o prestgio social associado a uma pertena grupai. .Nesse
sentido, classe muito prxi mo de status. Este o modo como usado vul-
garmente em expresses como "fulano tem classe" ou "um desclassificado",
popularizadas a partir do sentido do termo ingls class. Nas cincias sociais,
tal sentido foi recuperado pelos estudos de comunidade feitos em Chi cago,
nos anos 1920 e 1930 , para os quais a classe era, antes de tudo, um grupo
de convivncia e comensa!idade possveis.
Classes sociais 35
sociedade um novo ordenamento econmico. A teoria de Mar x,
entretanto, no dava conta da complexidade da articulao entre
economia, cultura e poltica.
O aprimoramento da teoria marxista foi, a princpio, feito
por seus crticos, mormente os cientisras sociais alemes, que in-
troduziram uma certa flexibilidade e conringncia no modo como
tais esferas poderiam se articular ou no. Conceitos como os de
associao, comunidade, classe, status e partido procuravam, jus-
tamente, tornar a organizao de interesses racionais analiticamen-
te separve! (e historicamente contingente) do sentimenro de per-
tena comunitria. Tal reviso das idias de Marx devia-se tanto
oposio ideolgica aos marxi stas, quanto s crescenres dificul-
dades empricas de aplicao da sua reoria ao Ocidente (Kaufsky,
197 1) , no que pese o seu sucesso poltico na Rssia.
Por dentro do marxismo acadmi co, s no comeo dos 60
do sculo X X a teoria das classes veio a sofrer alteraes signifi-
cativas. Isso ocorreu atravs de E. P. Thompson, em sua bem suce-
dida tentativa de fazer da experincia coletiva e do sentimento co-
munitrio os ncleos da formao das classes trabalhadoras; mas
tambm de Althusser e Poulantzas, que reconstruam a teoria mar-
xista em seu feitio estruturalista (do ponto de vista conceituai) e
funcionalista (do ponto de vista da lgica de explicao).
2
'
No Brasil, a teoria das classes teve uma carreira interessante.
Do final dos anos 1940 at o final dos 1960, a teoria gozou de
invejvel e unssono prestgio. Foi introduzida na academia, como
vimos, por Pinto e Fiorestan Fernandes, contra a resistncia de
socilogos e antroplogos, como Emli o Willems ou Donald Pier-
2 1
As tentativas de reconstruo da teoria das classes marxistas, feitas,
primeiro, por Poulantzas e, depois, pelos marxistas analticos (Wright. 1977,
197 8, 1985), apesar de introduzirem flexibilidade e clareza anlise, mantm
ainda um organicismo pr-estabelecido entre as esferas sociais, que no parece
viger na prtica. Por conta disso, a corrente crtica liderada por E. P. Thomp-
son, desde 1958, quando do aparecimento do seu The Formation oftbe En-
glish Working C/ass, tornou-se cada vez mais hegemnica na academia.
3 6 Classes, raas e democracia
son. Sofreu seus primeiros sinais de esgotamento nos anos 197 0 ,
depois da derrota das esquerdas e das foras populares em 1964
e 1968; ficou combalida com a emergncia, na ltima metade dos
1980, de movimentos sociais, inclusive operrios, por fora do sis-
tema poltico de representao de interesses. Os vcios que a teoria
ganhou no Brasil, tornando-se uma simples anlise abstrata de ca-
tegorias reificadas, foram muito criticados em alguns trabalhos
da poca, entre os quais salienta-se o artigo de Cardoso ( 197 5) .
Do ponto de vista emprico, a crise da teoria de classes re-
flete o desenvolvimento capitalista recente. Hoje, em grande me-
dida, a economia e sua gesto esto dissociadas da poltica e da
representao de interesses, enquanto mantm-se o hiato entre
ambas e as formas culrurais. A sociabilidade inerente ao grande
capital (o individualismo, o universalismo de valores e a formali-
dade das regras), longe de se impor ao conjunto da sociedade
brasileira, ficou prisioneira de um crculo restrito de pessoas "es-
clarecidas", que circulam internacionalmente, no chegando se-
quer a atingir o conjunto das classes mdias. Por outro lado, o
sistema poltico, no que pesem os intervalos peridicos de anula-
o da ordem democrtica, ficou mais vulnervel representao
dos interesses e dos valores dos diversos grupos sociais, incluin-
do aqueles que no mereceram a designao de "classe" nos es-
tudos sociolgicos.
De fato, a sociedade burguesa, muito bem apreendida por
Marx em seus traos gerais, rende a internacionalizar-se, buscando
esferas rransnacionais de representao de interesses, inclusive
instncias reguladoras autnomas, como o FMI, o Banco Central
americano, o Parlamento Europeu etc. Os Estados Nacionais, to-
davia, tornam-se mais permeveis aos valores e aos interesses das
camadas subalternas (ou. pelo menos, no hegemnicas econo-
micamente) sem conseguir impor-lhes a forma de sociabihdade do
grande capital. Isso faz com que os mais diversos grupos sociais
etnias, comunidades e associaes diversas , e no apenas as
classes tpicas do capitalismo, passem a ter importncia crescen-
te para a anlise sociolgica e poltica.
Classes sociais
37
Para compreender essas mudanas recentes, temos que nos
transportar para o universo de uma sociedade de classes que tem
a tradio de se pensar a si mesma enquant o tal, ou seja, a Fran-
a. Foi l no apenas que Marx buscou inspirao para a sua teoria
das classes, no sculo X I X , mas para onde intelectuais do mundo
inteiro se voltaram em busca do segredo da sociabilidade e con-
flitosnrodernos.
CLASSE COMO " C ONDI O"
E "IDENTIDADE"
De fato, o modelo preferido dos nossos intelectuais para
pensarem o modo como a sociedade brasileira lida com as dife-
renas e organiza suas hierarquias foi sempre a Frana. L esta-
ria a sociedade tpica de classes: a um s tempo, modelo explicativo
e ideal de repblica. Para compreender esse imaginrio, farei um
rpido mergulho nas letras soci ol gi cas francesas, ainda que me
restringindo ao perodo mais recente.
Se seguirmos a terminologia de Castel (1999, 1999a), a socie-
dade de classes, na Frana, conhece seu apogeu nos anos 40 e 50
do sculo X X , para ceder lentamente lugar, nos anos 60, ao que
ele chama de sociedade sal ar i al .
2 2
A sociedade de classes seria o
2
- Diz Castel (1999: 583-5, traduo minha): "Esse o sentido literal
da expresso 'trabalho alienado': trabalhar para outrem e no par.; si mes-
mo, deixar o produto de seu trabalho para um terceiro que o vai consumir
ou comercializar. Essa concepo secular de trabalho assalariado desapare-
ce cerca dos anos 50 e 60, provocando o desaparecimento do pape! histri-
co da classe operria. A lenta promoo de uma salariado burgus abriu tal
via. Ela desemboca num modelo de sociedade que j no cindida por um
conflito central entre assalariados e no-assalariados, isto , entre prolet-
rios e burgueses, trabalho e capital. ' nova sociedade' organizada, con-
trariamente, em torno da competio entre diferentes plos de atividades sa-
lariais. Sociedade que no nem homognea, nem pacificada, mas cujos
Classes, raas e democracia
reino dos conflitos modernos no domesticados, entre capital e
trabalho, assim como cia pujana da cultura operria. Ao contr-
rio, os conflitos modernos que perpassam a sociedade salarial es-
tariam, depois de 1968 , totalmente regulados e a precariedade do
trabalho inteiramente circunscrita por redes de proteo, sendo
a condio salarial compartilhada pelo conjunto da sociedade.
2
-
3
O operariado, enquanto classe de pertena social, teria passado
ento a ser marginal. A sociedade salarial teria tido vigncia plena
nos anos 70 e 80 do sculo X X . J os anos 1990, na Frana, seriam
justamente a dcada em que tal sociedade salarial sofreu sucessi-
vos ataques e tentativas de desmonte, legitimados pelo argumen-
to da "globali zao", justificando a precarizao da condi o
salarial e a "desafiliao" de grandes camadas de trabalhadores.
Como se pode deduzir, nesse sentido restrito, francs, no
poderia ter havido propriamente sociedade de classes no Brasil do
ps-guerra. Os estudos j citados de Fernando Henrique Cardo-
so (1969 [1961] ), Alain Tourai ne (1961), Juarez Brando Lopes
(1964, 1967 ), Luiz Pereira ( 1965) e Lencio Martins Rodrigues
(1970) reafirmam tal interpretao. O operariado nascente bra-
sileiro teria suas origens no campesinato rural, imerso em laos
de dependncia e obrigaes clientelistas. No haveria uma "con-
dio" operria, ao modo francs (Halbwachs, 1913; Weil, 1951;
Schwartz, 1990 ; Verret, 198 8 ) , uma vez que, no Brasil, os oper-
rios industriais tenderiam ou a reproduzir no meio urbano tais la-
os de clientela ou a aspirar condio das camadas mdias ur-
banas. Alis, essa aspirao c auto-identificao do operariado in-
antagonismos tomam a forma de luta por posies e classificaes e nao de
luta de classes".
2 3
Castel ( 1999: 58 1, traduo minha): "A transformao decisiva que
amadureceu ao longo dos anos 50 e 60 no foi pois nem a homogeneizao
completa da sociedade, nem o deslocamento da alternativa revolucionria
para um novo operador, a nova classe operria. Foi antes a dissoluo dessa
alternativa revolucionria e a redstribuio dos conflitos modernos sociais
segundo um modelo diferente da sociedade de classes: a sociedade salarial".
Classes sociais 39
dustrial com as classes mdias t ambm foram detectadas duran-
te o processo de industrializao tardia de outras reas brasilei-
ras (Guimares, Agier e Castro, 1995; Guimares, 1998a).
Se no Brasil no tivemos operrios em "condio" que lhes
fosse peculiar, conhecemos, desde sempre, a "condio negra", a
que esteve submetida a massa dos proletrios. Bastide e Fernandes
( 1955) , e depois Ianni ( 1962 ) , chamaram tal condio negra de
"as metamorfoses do escravo", isto , a persistncia na "socieda-
de de classes" de relaes servis, preconceitos e ritos prprios
ordem escravocrata.
Tal ordem de metamorfoses poder ser interrompida somente
a partir do processo de construo democrtica, nos anos 80 do
sculo X X . Ou seja, quando a democracia, no Brasil, passa a ser
praticada em seu sentido estrito, quando governo e sociedade ci-
vil obedecem as regras do sistema poltico, respeitando os direitos
individuais e promovendo as garantias jurdicas de seu gozo. Se
existe tal ordem, no Brasil, ela pois rardia, sendo contempornea
da precarizao das condies de vida das classes mdias, da res-
trio dos direitos trabalhistas e sindicais, e da internacionalizao
da economia e da globalizao dos fluxos financeiros e culturais.
Implcita nessa discusso est a noo de classe social en-
quanto grupo hierrquico, de distino e de honra sociais, que se
diferencia das ordens do Antigo Regime apenas pela sua maior
abertura e por sua ideologia. As classes, nesse sentido, continuam
a existir mesmo nos dias atuais, como se depreende do trecho
seguinte de Gastei:
"Esse espao social cort ado pelo conflito e pela
busca de diferenciao. Um princpio de distino ope
e rene os grupos sociais. Ope e rene, pois a distin-
o funciona sobre a dialtica sutil do mesmo e do ou-
tro, da proximidade e da distino, da fascinao e da
rejeio. Ela supe uma dimenso transversal aos di-
ferentes agrupamentos que rene os que se opem, per-
mitindo os comparar e classificar" (Castel, 1999: 591,
traduo minha).
40 Classes, raas e democracia
Ora, esse gosto pela hierarquia social e pelo monoplio de
pequenos saberes algo ainda atual, mesmo na Frana, no senti-
do de que faz parte da ideologia republicana afirmar a igualdade
de todos os cidados, mas reconhecer juridicamente a sua condi-
o de classe, regulamentando em detalhe a distribuio de bens,
servios e honrarias. Observar e problematizar tal gosto poss-
vel apenas se contrastarmos a sociedade francesa a out r as.
2 4
Assim, nos Estados Uni dos, a sociedade se representaria a
si mesma como um conjunto de indivduos, no de classes. Essas
ltimas, mal vistas, seriam portadoras de privilgios e de limita-
es liberdade individual. As desigualdades, assim, teriam se-
guido explicitamente uma linha de raa, pensada como desigual-
dade natural, sem afetar, port ant o, a ideologia liberai.
Catherine Bidou ( 1997 : 64) comunga com essa interpreta-
o sobre a incongruncia entre o conceito de classes e a socieda-
de americana (insight este, alis, que j se encontra em Myrdal
[ 1944] ). Bidou explica o desenvolvimento da teoria social fran-
cesa como reflexo do desenvolvimento do sistema social real. As-
sim, para ela, a reao ao que Castel chama de sociedade salarial,
seguiu dois caminhos: pri mei ro, o reconhecimento e elaborao
de novas categorias sociais, as categorias socioprofissionais, pelo
Estado francs teria ensejado dois movimentos tericos: a teoriza-
2 4
Uma anedota ilustra esse ponto muito bem. Certa feita, em Paris,
ao hospedar-me numa instituio universitria que abriga pesquisadores em
cooperao internacional, defrontei-me com dois problemas, ambo-- poden-
do ser resolvidos apenas por seu "especialista": gravar uma mensagem no rc-
jumdeur do telefone do meu quarto, e programar os parmetros (D\ ' S e !Pi
de minha conta de correio eletrnico. No havia instrues impressas, como
seria de se esperar, e nenhum outro funcionrio poderia ajudar-me. por no
deter esse conhecimento. Imagino como, no Brasil, reagiramos pretenso
ile distino de pessoas que detivessem conhecimento to limitado. A tendn-
cia certamente seria a desqualificao social do detentor de tal conhecimen-
to. Como alis fazemos literariamente, chamando de "secretria" a caixa de
mensagem.
Classes sociais 41
o sobre uma nova classe operria (Maljet, 1969; Bidou, 1984;}
e reconceitualizao das classes sociais (Poulantzas, 1968, 197 4;
Baudelot, Establet, Mal emort , 197 4) . Segundo, Bidou chama a
ateno para a tradio dos estudos sobre o modo de vida das clas-
ses trabalhadoras (Michel Verret, 198 1, 1988, 1988a), que in-
corporaram definitivamente o operariado ao modo de ser e viver
francs, algo alis que atualmente foi posto em questo pelo sur-
gimento de uma nova categoria social, os imigrantes, formada pe-
la diferena de raa e cultura (Sayad, 198 4, 1991, 1999; Beaud e
Pialoux, 1999).
Mas, para nossos interesses, preciso explorar ainda mais a
diferena entre "classes" nativas (representao da estrutura e da
hierarquia sociais) e as "classes" tericas, conceito analtico para
a representao sociolgica de uma sociedade, de uma poca ou
de um modo de produo. As classes sociais francesas, por exem-
plo, no so depositrias de "privilgios" como as classes inglesas,
mas de "direitos". Nesse sentido, os ideais revolucionrios bur-
gueses foram retraduzidos, na Frana, em termos menos indivi-
dualistas que na Gr-Bretanha ou nos Estados Unidos, onde "clas-
ses" passaram a ser associadas s corporaes do antigo regime.
Ou seja, a concepo nativa francesa comunga com o marxismo e
com o corporativismo, a crena de que todas as sociedades, ou ao
menos a sociedade moderna, so divididas em classes, e que, por-
t ant o, cabe ao Estado regular a relao entre elas, em termos de
direitos (Dirn, 1998; Rosanvallon, 1995; Pa rrot, 1974; Desrosi-
res, 1987 ; Boltanski, 198 2 ; Boltanski e Thvenot, 1983).
CONCLUSES
A guisa de concluso, realinho abai xo os argumentos prin-
cipais que desenvolvi nos ltimos itens deste captulo.
O termo "classe" comeou a ser utilizado nos estudos da
soci edade (pela filosofia moral , principalmente) associado aos
privilgios e ao sentimento de honra social, prprios ao domnio
42
Ciasses, raas e democracia
aristocrtico e ao ancien regime. Mar x tem certamente razo quan-
do reivindicou ter retirado do termo este sentido subjetivo e va-
lorativo, para referi-lo a posies objetivas na estrutura social, s
quais corresponderiam interesses e orientaes de ao similares.
Foi com este sentido propriamente sociolgico que o termo foi
incorporado s modernas cincias sociais.
Max Weber, ao separar anahticamente as dimenses econ-
mica, poltica e social da distribuio do poder nas sociedades,
foi mais longe: deu um sentido mais preciso ao termo "cl asse",
distinguindo-o dos fenmenos ligados distribuio da honra e
do prestgio sociais. Tal separao analtica permitiu que se pu-
desse problematizar, desvinculada da distribuio econmica de
riquezas, a continuidade, nas sociedades modernas, dos fenme-
nos de distribuio da honra e do prestgio sociais.
No entanto, prevaleceu, no pensamento sociolgico, a asso-
ciao das "classes sociais" a ordens competitivas, a relaes so-
ciais abertas, ao capitalismo e modernidade. O sentido ingls,
ancien regime, do termo permaneceu apenas no uso vulgar, prin-
cipalmente nos Estados Unidos e Inglaterra.
No Brasil, onde as discriminaes raciais (aquelas determi-
nadas pelas noes de raa e cor) so amplamente consideradas,
pelo senso comum, como discriminaes de classe, o sentido pr-
sociolgico do termo nunca deixou de ter vigncia. Este sentido
ancien do termo "classe" pode ser compreendido como perten-
cendo ordem das desigualdades de direitos, da distribuio da
ionra e do prestgio sociais, em sociedades capitalistas e moder-
nas, onde permaneceu razoavelmente intacta uma ordem hierr-
quica de privilgios, e onde as classes mdias no foram capazes
de desfazer os privilgios sociais, e de estabelecer os iderios da
igualdade e da cidadania.
Preencher o vazio terico deixado pela referncia vulgar
"classe" talvez seja a grande tarefa da sociologia a partir dos anos
1990 . Boa parte da produo sociolgica no Brasil, a partir dos
1980 , a comear pelos ensai os seminais de Roberto DaMat t a
( 198 1, 1985), apontam nesta direo: a chamada sociedade de
Classes sociais
43
classes, no Brasil, no pressupe uma ordem social igualitria e
relaes sociais abertas.
Em Relativizando, por exempl o, DaMat t a (1981) inspira-se
em interpretao clssica de Marvi n Harris (1964), reelaboran-
do-a a partir das idias de Dumont ( 1966) sobre a relao entre
racismo e igualdade, para colocar a hiptese de que teria sido a
"quase rgida estrutura de classes" brasileira a responsvel pela
relativa ausncia de discriminao racial no pas. Ora, parece-me,
que a confuso brasileira tradicional entre discriminao de clas-
se e discriminao racial se deve, t ant o a uma postura ideolgi-
ca, quanto confuso, e o constante deslizamento semntico, entre
os trs significados do termo "cl asse" grupo identitrio, asso-
ci ao de interesses e sujeito poltico e histrico.
Assim como o termo cidadania traz implcito o sentimento
de nacionalidade comum, pressuposto no problematizado nor-
malmente pelos tericos, o termo ciasse, mesmo quando empre-
gado em seu senrido sociolgico, que explicitamente o relaciona
a uma ordem de igualdade de direitos, pressupe, de fato, os pri-
vilgios e, portanto, a desigualdade de direiros que o rermo vul-
gar e pr-sociolgico sugere. A guisa de exemplo, dizer que no
racial a discriminao que, no Brasil, sofrem os negros, eqivale
a silenciar o que deveria ser dito: que se encontra ativo, na nossa
ordem de classes, o princpio de desigualdade de direitos indivi-
duais. No mesmo diapaso, Jos Muri l o de Carvalho (1998) cha-
mou a ateno para o fato de que a noo de cidadania, no Bra-
sil, refere-se mais propriamente igualdade de direitos polticos
que igualdade de direitos civis.
Se estou certo, pois, boa parte da literatura sociolgica con-
tempornea, que toma como tema central a excluso e a limitao
de cidadania das classes populares, est realmente referida ao cam-
po temtico das classes sociais, no que tange ordem cstamental,
ao de grupos, sua hierarquia e for mao de comunidades,
mesmo quando distante da problemtica econmica das classes.
O desafio terico do presente , justamente, fazer confluir
os estudos sobre a desigualdade dos indivduos e das classes (no
44 Classes, raas e democracia
sentido de ..produto . desclassificaes, identitiias). Isso significa
fazer dialogar tradies que refletem sobre: a) as heranas patri-
momalistas e autoritrias; b) a ideologia da desigualdade brasi-
leira, sob a forma mitolgica de democracia racial; c) a prtica
cotidiana da desigualdade, atravs da violncia fsica e simblica;
d) a formao de atores coletivos e sua poltica; e) a insero eco-
nmica destes atores e a sua dinmica produtiva.
Nos prximos captulos, desenvolverei melhor algumas des-
sas temticas.
Classes sociais 45
2.
Uma das pistas abertas pela discusso do captulo anteri or
de que a invisibilidade da discriminao racial no Brasil se deve
ao fato de que os brasileiros, em geral, atribuem, discriminao
de classe a destituio material a que so relegados os negros. O
termo "classe", utilizado dessa maneira, passa a significar, ao
mesmo tempo, condio social, grupo de status atribudo, grupo
de interesses e forma de identidade social. Alm disso, para mui-
tos, falar em discriminao racial significaria, incorrer num equ-
voco terico, j que no existem raas humanas.
Ficamos, portanto, presos em duas armadilhas sociolgicas,
quando pensamos o Brasil contemporneo. Primeiro, o concei t o
de classes no concebido como podendo referir-se a uma certa
identidade social ou a um grupo relativamente estvel, cujas fron-
teiras sejam marcadas por formas diversas de discriminao, ba-
seada em atributos como a cor afinal esse o sentido do dito
popular, de senso comum, de que a discriminao de classe e
no de cor. Segundo, o conceito de "raas" descartado c omo
imprestvel, no podendo ser analiticamente recuperado para
pensar as normas que orientam a ao social concreta, ainda que
as discriminaes a que estejam sujeitos os negros sejam, de fato,
orientadas por crenas raciais.
Apesar disso, ou talvez por isso mesmo, trs crticas tm sido
formuladas minha utilizao do termo "raa" como concei t o
analtico. Costa e Werle ( 1997 ) , Yvonne Maggie (1999) e Mni -
ca Grin (2 001) consideram "r aa" uma noo estranha reali-
dade social brasileira; Peter Fry (2 0 0 0 ) argumentou que mi nha
Raa e pobreza no Brasil 4 7
RAA E POBREZA NO BRASI L
posio se afastaria da nossa tradi o intelectual, estando de cer-
to modo contaminada, seja pelas posies ideolgicas do movi-
mento negro, seja pelas categorias nativas norte-americanas. Srgio
Costa (2001), embora reconhea que faa algum sentido referir-
se "raa" em estudos especficos sobre desigualdades ou discri-
minaes raciais, considerou abusivo o uso do conceito em estu-
dos sobre a identidade nacional ou sobre os regionalismos brasi-
leiros. Essas crticas viram-se reforadas pela posio de Paul Gil-
roy (1998, 2 0 0 0 ) , um intelectual negro de expressivo ativismo na
luta anti-racista, que passou a defender insistentemente a tese de
que a categoria "raa" j no tem nenhuma utilidade prtica ou
terica no mundo globalizado.
Neste captulo, tenho, port ant o, dois alvos: re-examinar o
estatuto do conceito de "r aa" e explorar um pouco mais a insufi-
cincia da categoria "classe" para dar conta da pobreza dos ne-
gros no Brasil.
REDISCUTINDO O
CONCEI TO DE RAA
2 5
Paul Gilroy ( 1998 ) , um dos mais brilhantes intelectuais ne-
gros do nosso tempo, e certamente um dos mais envolvidos poli-
ticamente no combate ao raci smo, declarou-se recentemente in-
teiramente contrrio manut eno do termo "raa" em nosso
vocabulrio. Algumas de suas razes no diferem daquelas assu-
midas pelos que o precederam nesta posio. So elas: 1) no to-
cante espcie humana, no existem "raas" biolgicas, ou seja,
no h no mundo fsico e material nada que possa ser corretamente
classificado como "raa"; 2 ) o conceito de "raa" parte de um
2 5
Esta parte do artigo foi originalmente preparada para a mesa-redon-
da "(Re)Discutindo o Conceito de Raa" , Universidade Federal do Paran,
Curitiba, 9 de novembro de 1999.
48
Classes, raas e democracia
discurso cientfico errneo e de um discurso poltico racista, au-
toritrio, antiigualitrio e antidemocrtico; 3) o uso do t er mo
"raa" apenas reifica uma categoria poltica abusiva.
Paul Gilroy certamente reconhece os argumentos dos anti-
racistas que defendem o uso da categoria "raa". O principal de-
les , sem dvida, o fato de que "raa" a nica categoria poss-
vel de auto-identificao para pessoas "cujos pleitos legais, oposi-
cionistas e mesmo democrticos tm necessariamente de ser cons-
trudos sobre identidades e solidariedades forjadas a grande custo,
a partir de categorias que lhes foram impostas pelos seus opres-
sores" (Gilroy, 1998 : 8 42 , traduo minha). Tal reconheci mento
levaria, como levou, a uni compromisso liberal e democrt i co de
empregar-se "r aas' ' entre aspas, para denotar o seu cart er de
construo social.
No entanto, para Gilroy, tal argumento j no mais v-
lido, e a reside a sua novidade. Todo discurso que recria "r aas "
seria hoje anacr ni co, j que, em suas palavras: "A negritude
pode hoje significar prestgio vital, em vez de abjeo, para um
telesetor de info-trenimento, em que os resduos das sociedades
escravistas e os vestgios paroquiais do conflito racial amer i cano
precisam ser substitudos por outros imperativos, derivados da
planetarizao do lucro e da abertura de novos mercados bastan-
te afastados da memri a da escravido" (Gilroy, 1998 : 8 42 , tra-
duo minha).
Gilroy argumenta tambm que o anti-racismo tem sido, des-
de sempre, uma poltica de negao do racismo existente, mas
nunca uma poltica afirmativa. Por isso, ele pergunta: " Os anti-
racistas so, afinal, a favor do qu? Estamos positivamente com-
promissados com o qu, e como isso se conecta com o moment o
necessrio de superao que define nossas esperanas e escolhas
polticas?" (Gilroy, 1998 : 843, traduo minha).
A posio que Gilroy apenas insinua deve ficar muito cl ara:
1) os anti-racistas esto comprometidos com a superao das de-
sigualdades e das diferenas construdas a partir da idia de raa;
2) segundo ele, j no precisamos historicamente da identidade
Raa e pobreza no Brasil
4 9
racial para avanar nossos pont os de vista; 3) como conseqn-
cia, j no precisamos da idia de raa, seja biolgica, seja social.
Alguns dos pressupostos de Gilroy so tambm pressupos-
tos meus. Se eles esto corretos, a pergunta decisiva : quando os
anti-racistas negros podem prescindir da idia de "raa" que os
unifica? Essa uma pergunta poltica e, portanto, concreta, que
no pode ser respondida em t ermos genricos. Afinal, se a raa
biolgica no existe, tambm no h uma nica e universal ma-
neira de construir a categoria social de "raa", a qual deve dife-
rir de sociedade para sociedade, ainda que obedea a certa matriz
universal, informada por um modo de produo, uma estrutura
planetria de trocas e por tecnologias especficas.
Assim, ainda que Gilroy tenha razo quando se refira Euro-
pa Ocidental, sua resposta talvez no tenha a mesma validade para
o "paroquialismo" americano ou brasileiro. Se tivesse validade,
certamente estaramos submersos num "anacronismo" conceituai,
que teramos forosamente de superar.
Repito aqui a posio que tenho adotado: "raa" no ape-
nas uma categoria poltica necessria para organizar a resistn-
cia ao racismo no Brasil, mas t ambm categoria analtica indis-
pensvel: a nica que revela que as discriminaes e desigualdades
que a noo brasileira de " cor " enseja so efetivamente raciais e
no apenas de "classe" (Gui mares, 1999) .
Reconheo, todavia, que a minha argumentao repousa
sobre dois pressupostos s vezes difceis de serem percebidos. Pri-
meiro, no h raas biolgicas, ou seja, na espcie humana nada
que possa ser classificado a partir de critrios cientficos e corres-
ponda ao que comumente chamamos de "raa" tem existncia
real; segundo, o que chamamos "raa" tem existncia nominal,
efetiva e eficaz apenas no mundo social e, portanto, somente no
mundo social pode ter realidade plena.
O problema que se col oca , pois, o seguinte: quando, no
mundo social, podemos, t ambm, dispensar o conceito de raa?
A resposta terica parece ser bastante clara: primeiro, quando j
no houver identidades raciais, ou seja, quando j no existirem
50
Classes, raas e democracia
grupos sociais que se identifiquem a partir de marcadores direta
ou indiretamente derivados da idia de raa; segundo, quando as
desigualdades, as discriminaes e as hierarquias sociais efetiva-
mente no corresponderem a esses marcadores; terceiro, quando
tais identidades e discriminaes forem prescindveis em t er mos
tecnolgicos, sociais e polticos, para a afirmao social dos gru-
pos oprimidos".
Pois bem, no caso brasileiro, parece ter acontecido justamen-
te o contrrio. As raas foram, pelo menos at recentemente, no
perodo que vai dos anos 1930 aos anos 197 0, abolidas do dis-
curso erudito e popular (sancionadas, inclusive, por interdies
rituais e etiqueta bastante sofisticada), mas, ao mesmo tempo, cres-
ceram as desigualdades e as queixas de discriminao atri budas
cor. Essas eram vozes abafadas. Para obterem reconheci ment o,
viram-se foradas a recrudescer o discurso identitrio, que resva-
lou para a reconst ruo tnica e cultural. Tais identidades ape-
nas hoje esto bem assentadas no terreno poltico. Mai s ainda: a
assuno da identidade negra significou, para os negros, atri bui r
idia de raa presente na populao brasileira que se autodefine
como branca a responsabilidade pelas discriminaes e pelas de-
sigualdades que eles efetivamente sofrem. Ou seja, correspondeu
a uma acusao de racismo. E isso justamente porque tais discri-
minaes e desigualdades no foram nunca reconhecidas c omo
tendo motivao racial, quer pelas elites polticas e pelas classes
mdias, que se definem como brancas, quer pelas classes t r aba-
lhadores. Assim, a retomada da categoria de raa pelos negros
correspondeu, na verdade, retomada da luta anti-racista em ter-
mos prticos e objeti vos.
Quais as formas possveis que o movimento anti-racista pode
tomar, hoje em di a, no Brasil?
Para o anti -raci smo, h quatro possibilidades discernveis.
A primeira delas aferrar-se a crenas racialistas (ou seja, cren-
as na determi nao biolgica de qualidades morais, psi colgi -
cas e intelectuais, ao longo da transmisso de caracteres fenotpicos
que definem " r aas " ) . Este anti-racismo, devo confessar, vive em
Raa e pobreza no Brasil 51
bases bastante delicadas, uma vez que aceita diferenas de quali-
dades e de propriedades raciais sem que aceite a hierarquia entre
elas. Mas, ainda que difcil, esta posi o , logicamente, possvel.
No vou me alongar sobre este pont o. Direi apenas que boa par-
te dos negros brasileiros que est o longe da influncia acadmica
e perto da influncia da cultura de massa, principalmente o mo-
vimento rap (Gordon, 1999) , assume tal posio.
A segunda possibilidade , sem crer em raas biolgicas, acei-
tar que as "raas sociais" (ou seja, a construo social das identi-
dades e classificaes raciais) so epifenmenos permanentes, que
organizam a experincia social humana e que no tm chances de
desaparecer. Trata-se de uma posi o pragmtica. Assim como
aceitamos, h sculos, a teoria coperni cana sem que deixemos de
organizar as nossas experincias dirias em torno da crena de que
o sol se pe e se levanta, assim t ambm acontece com a crena
em "raas". Continuamos a nos classificar em raas, independente
do que nos diga a gentica. Pragmaticamente, portanto, as pes-
soas que adotam tal postura anti-racista, tambm no acreditam
em raas biolgicas, mas acei t am que as raas sociais so cons-
trues sociais permanentes, sobre as quais deve-se organizar a
luta anti-racista.
Na agenda de ambas as posturas delineadas acima no consta
a superao da diviso da humani dade em "raas". Trata-se, to
somente, de civilizar as relaes raciais, ou seja, de implantar e
garantir o funcionamento de normas sociais que conduzam igual-
dade de tratamento, de oportunidades e de direitos, independen-
temente da raa do indivduo.
Pode-se, ainda, distinguir duas outras posturas anti-racistas
que implicam na superao da idia de raas. Uma delas, a terceira
possibilidade, de que t rat emos raas como epifenmenos, do
ponto de vista cientfico, e, do ponto de vista social, como cons-
trues que precisam ser superadas para que se possa erradicar o
racismo. As pessoas que adot am tal postura no acreditam que
se possa ser, a um s t empo, racialista e anti-racista. Para elas, a
idia de raa, por si s, mai s cedo ou mais tarde, conduz ao ra-
52
Classes, raas e democracia
cismo. No nvel cientfico, portanto, a nica referncia possvel a
"raas" o registro dessa idia em termos cmic
26
, ou seja, como
categoria nativa. Por isso, deve-se sempre grafar tal palavra en-
tre aspas, denotando o seu carter epienomenal e nativo, no-ana-
ltico e no-fenomnico. H, nessa postura, uma crena lumimsta
de que os indivduos podem ser esclarecidos sobre a inexistncia
das raas e que, a partir deste esclarecimento, mudem o seu com-
portamento racista.
A quarta possibilidade, qual me filio, apia-se na crena
de que a superao das classificaes raciais passa necessariamente
por dois passos: a) pelo reconhecimento da inexistncia de raas
biolgicas; b) pela denncia da constante transformao da idia
de raa sob diferentes formas e tropos. Ou seja, o no-racialismo
no garantia para o anti-racismo, podendo mesmo cultiv-lo se,
para tanto, utilizar um bom tropo para "raa". Uma vez atingi-
do o estgio do no-racialismo e no-racismo cientficos, ou seja,
uma vez estabelecidas pelas cincias a inexistncia de raas hu-
manas e a inexistncia de hierarquias inatas entre os grupos hu-
manos, durante um bom tempo, precisaremos ainda usar a pala-
vra "raa" de um modo analtico, para compreender o significa-
do de certas classificaes sociais e de certas orientaes de ao
informadas pela idia de raa. Para ser mais claro, utilizo um
exemplo. Suponhamos o caso corriqueiro de algum, no Brasil,
que se queixa por ter sofrido preconceito de cor. "Cor ", no caso,
uma categoria emic, nativa. Para o analista, porm, o que se
passou foi um caso de preconceito racial porque a categoria "cor "
informada pela idia de "r aa" que. embora possa ter desapa-
recido do discurso dos envolvidos no referido incidente, conti nua
2 , 1
Segundo Harris et.?/. (1993: 460), "termos emie se referem a siste-
mas lgico-empncos nos quais distines fenomnicas ou ' coisas' so ela-
boradas a partir de discriminaes e contrastes que so signficantes, reais,
acurados, fazem sentido e so julgados apropriados pelos prprios at ores".
Ao contrrio, as categorias etic "dependem de distines fenomnicas julga-
das pertinentes por uma comunidade de observadores cientficos".
Raa e pobreza no Brasil
53
a orientar a ao dos agentes sociais. Analiticamente, portanto,
o correto falar em preconceito racial e no em preconceito de
gnero ou de classe, ainda que, tambm analiticamente, seja tam-
bm importante adicionar a categoria nativa atravs da qual o
preconceito de raa se atualizou, no caso "cor ".
Mas, minha postura, volto a repetir, tambm delicada, pois
pressupe uma comunidade de leitores e ouvintes que partilhem
a crena cientfica na inexistncia de raas humanas e nas bases
sociais do racismo. " Raa" , neste cont ext o, uma ferramenta
analtica que permite ao soci logo inferir a permanncia da idia
de "raa" disfarada em algum tropo.
No caso especfico do debate brasileiro atual, ainda mais
importante para se compreender a dificuldade de entendimento
entre os aderentes a essas duas ltimas posturas anti-racistas tal-
vez seja uma diferena ontolgica fundamental entre alguns antro-
plogos, como Yvonne Maggie e Peter Fry, por exemplo, e alguns
socilogos, como eu.
Isso ficou claro para mim depois de ler um texto de Maggie
( 1999) em que a autora reproduz boa parte da crtica de Louis
Dumont (1966) aos socilogos americanos que utilizavam o con-
ceito de "casta" para referir-se s relaes raciais do Deep South.
A postura, que deve muito a Evans-Pritchard (1969), a seguin-
te: no cabe ao cientista social criar categorias analticas para
sobrepor ao modo como os atores sociais constrem o seu mun-
do de significados; antropologia caberia apenas entender o modo
como esses mundos so construdos e so vividos pelos seus su-
jeitos-atores, ou seja, as pessoas particulares, em situaes parti-
culares, no interior de uma estrutura de significados. A crtica
sociolgica ficaria por conta da comparao entre sociedades hu-
manas, cada uma delas podendo ser entendida da perspectiva da
outra. "Castas" seriam um fenmeno indiano, jamais categoria
analtica para referir-se aos grupos semifechados, hereditrios e
endogmicos das sociedades ocidentais, por exemplo; assim como
"raas" seriam o modo particular como os negros norte-ameri-
canos so classificados socialmente, ao contrrio dos negros ou
54
Classes, raas e democracia
pretos brasileiros, que ilustram uma classifieao-poltica ou de
cor, respectivamente.
Ora, para a tradio sociolgica, cabe justamente ao analista
buscar o que h de comum a diversas sociedades humanas para
construir categorias analti cas gerais que possam ser utilizadas
heuristicamente, no para subsumir as diferenas e as particula-
ridades, mas, ao contrri o, para permitir a compreenso das par-
ticularidades e das contingncias histricas. Assim, a palavra es-
panhola "casta" pde ser usada em relao hierarquia soci al
indiana, e no ficar circunscrita apenas hierarquia social das co-
lnias espanholas e portuguesas do perodo colonial, ainda que
as duas hierarquias t enham mais diferenas que semelhanas en-
tre si, quando pensadas em termos religiosos, por exemplo. Com
mais razo ainda, a idia de raa de que estamos tratando per-
tence, seja nos Estados Uni dos, seja no Brasil ou em pases da Eu-
ropa Ocidental, a um mesmo universo de significado, que tem
como referente histrico a modernidade europia, particularmente
o desenvolvimento da ci nci a ao longo da colonizao e da escra-
vizao dos povos africanos.
Autores como Maggie e Fry tendem a ver a "democracia ra-
cial" como parte constituinte da formao social brasileira, c omo
uma matriz cultural periodicamente atualizada por polticas, dis-
cursos e crenas. Da porque a recusa democracia racial, pelo
menos da maneira radical como o movimento negro a fez, foi in-
terpretada como resultado da aplicao de um discurso ext er no
a essa matriz nativa. Eu tendo, ao contrrio, a analisar a "demo-
cracia racial" brasileira como uma ideologia historicamente da-
tada, materializada em prticas sociais, em polticas estatais e em
discursos literrios e artsticos. Tal ideologia reinou sem grande
contestao, grosso modo, dos 1930 aos 197 0, e apenas a parti r
da passou a ser crescentemente afrontada, submetendo-se a refor-
mas que a descaracterizam.
O respaldo cientfico de que precisam os militantes ant i -
racistas brasileiros, portanto, no est em ressuscitar a idia de
"raa" biolgica ou uma raciologia ultrapassada, invertendo os
Raa e pobreza no Brasil
55
t ermosdo racismo cientfico do sculo passado. O.respaldo de que
precisam resultar da reelaborao sociolgica do conceito de raa.
Concei to este que dever, ao mesmo tempo: 1) reconhecer o peso
real e efetivo que tem a idia de raa na sociedade brasileira, em
termos de legitimar desigualdades de tratamento e de oportuni-
dades; 2) reafirmar o carter fictcio de tal construo em termos
fsicos e biolgicos; e 3) identificar o contedo racial das "classes
sociais" brasileiras.
O anti-racismo erudito e a cincia social politicamente enga-
jada precisam mais que negar a existncia de raas biolgicas, refe-
rindo-se a tal idia entre aspas. Precisam nomear as construes
que tal idia suscita, referindo-as pelo nome que devem ter, ainda
que no sejam polidos ou estejam interditos por tabus: "raciais"
e "r aa", esses so os nomes que descrevem a sua verdadeira na-
tureza social. Afinal, a linguagem da cincia deve justamente ser
capaz de desvendar e revelar o que o senso comum escondeu.
No entanto, seria impostura ou demagogia no reconhecer
os perigos reais para os quais Paul Gilroy e Peter Fry, entre ou-
tros, apontam.
O combate discriminao e s desigualdades raciais tem
encontrado resistncias por parte da opinio pblica brasileira.
E isso, em parte, porque a luta contra o racismo, no Brasil, tomou
um rumo contrrio ao imaginrio naci onal e ao consenso cien-
tfico, formado a partir dos anos 1930 . Por um lado, o Movimento
Negro Unificado, assim como as demais organizaes negras, pno-
rizaram em sua luta a desmistificao do credo da democracia ra-
cial, negando o carter cordial das relaes raciais e afirmando
que, no Brasil, o racismo est entranhado nas relaes sociais. O
movimento aprofundou, por outro lado, sua poltica de constru-
o de identidade racial, chamando de "negros" todos aqueles com
alguma ascendncia africana, e no apenas os "pretos".
Apenas essa mudana j explicaria grande parte da reao
ao movimento negro. Por um lado, antroplogos como Roberto
DaMat t a e Peter Fry alertaram para o fato de que a democracia
racial , na verdade, um mito fundador da nacionalidade brasi-
56
Classes, raas e democracia
leira,
2 7
alm de ser, enquanto ideal, inatacvel. Fry (1995-96: 12 6)
foi mais longe, argumentando que, enquanto ideologia, a demo-
cracia racial, longe de acobert ar, ou ter se tornado, ela mesma,
racista, se contrape ideologia que permite a discriminao ra-
cial no Brasi l .
2 8
Ao mesmo tempo, medida que o movi mento
negro acusava Gilberto Freyre por ter passado uma imagem rsea
das relaes raciais no pas, cresceu a reao de alguns intelectuais
tentativa de demonizao de Frevre.
A tenso entre o movi ment o negro e a academia brasileira
tambm grande quando se trata de identidade racial. Definindo
"negros" como todos os descendentes de africanos e identifican-
do-os com a soma das categorias censitrias "preto" e "par do",
o movimento incorreu em duas heresias cientficas: primeiro, ado-
tou como critrio de identidade, no a auto-identificao, como
quer a moderna antropologi a, mas a ascendncia biolgica; se-
gundo, ignorou o fato de que, em grande parte do Brasil, a popu-
lao que se autodefine "par da" pode ter origem indgena e no
africana. A pretenso de identificar algum como "negro" pela
sua ascendncia, ignorando o modo como as pessoas se classifi-
cam ou traam suas origens, deu margem tambm a outras crti-
cas: a de que o movimento negro tenta impor categorias raciais
americanas ao Brasil, e a de que professa a crena em raas bi o-
lgicas (racialismo).
Ora, medida que o movimento negro ganhou maior proe-
minncia poltica, principalmente quando passou a defender po-
2
' Mito, para os antroplogos, no se confunde com "falsa ideologia";
significa a expresso simblica de um conjunto de ideais que organizam a vida
social de unia certa comunidade.
2 S
Srgio Costa ( 2 0 0 1 i me atribui a inteno de querer reduzir a ideo-
logia nacional brasileira a uma ideologia de cunho meramente racial, o que
evidentemente seria uma bobagem. O que eu digo que essa ideologia na-
cional tem pressupostos raciais (mestiagem), o que obviamente no impede
que ela seja declaradamente a-racialista.
Raa e pobreza no Brasil 57
lricas pblicas voltadas para a popul ao negra, ferindo interes-
ses e privilgios consolidados, o mal-estar da academia tendeu a
transformar-se facilmente em conservadorismo poltico. Reaes
intelectuais bem fundamentadas como as de Fry (1995-96) ou
Harris et al. (1993) acabam cedendo lugar a parolagens e acusa-
es gratuitas de "racismo s avessas", "intelectuais a servio do
imperialismo americano", "subordi nao cultural" et c.
2 9
Mesmo contando com aliados intelectuais de peso, a verda-
de que, o movimento negro ainda precisa muito dos intelectuais
" br ancos "
3 0
para vencer a resistncia do establisbment acadmi-
co, o qual continua pouco permevel ascenso de negros. O me-
lhor exemplo disso est na reao bastante negativa das melho-
res universidades pblicas do pas a qualquer tentativa de acesso
privilegiado de negros, e mesmo de pobres. Vendo-se a si mesma
como uma elite formada atravs do mrito intelectual, a comuni-
dade universitria brasileira no aceita, de modo algum, a preten-
so de se utilizar qualquer outro critrio de ingresso s faculda-
des que no seja o exame vesti bular.
J
^
Ainda, em relao ao establisbment, vale lembrar que, nos
ltimos anos, o grande avano da luta contra o racismo, no Bra-
sil, est se dando no terreno jurdico-poltico e no apenas no ter-
reno ideolgico. A Carta de 1 9 8 8 , ao introduzir no pas os "di-
2 9
Um bom exemplo de m-informao e conservadorismo so as pas-
sagens de Bourdieu e Wacquant ( 1998 ) referentes ao Brasil. As crticas con-
tundentes que lhes foram dirigidas por French (2000) me dispensam de maio-
res comentrios.
, l !
No caso dos intelectuais brasileiros, mestios de pele clara em sua
maioria, a situao ainda mais complexa, j que o movimento negro, em con-
tradio com seus prprios critrios, tende a trat-los como "brancos".
5 1
Essa restrio vem sendo dobrada lentamente. A nova Lei de Diretri-
zes e Bases da Educao flexibilizou o ingresso ao ensino superior, enquanto
o Exame Nacional do Ensino Mdi o ( E NE M) , j em uso, possibilita um me-
canismo eficaz de avaliao alternativa de mrito acadmico, j parcialmente
aceito por algumas universidades.
58 Classes, raas e democracia
reitos coletivos" e.os "direitos difusos", reconheceu, como sujei-
to de direito, o amplo setor da sociedade brasileira organizado em
ONGs, alm de instituir o Ministrio Pblico como o guardio
desses novos direitos. Assim, a criminalizao do preconceito e
da discriminao raciais, prevista na Constituio de 198 8 , ense-
jou, em So Paulo e no Ri o de Janeiro, a formao de programas
como o SOS Raci smo e a criao de Delegacias Especializadas;
enquanto, em outros lugares, como em Salvador, ofereceu ao Mi -
nistrio Pblico a oportunidade de criar sees especializadas no
combate aos crimes raciais. Do mesmo modo, a nova ordem cons-
titucional abriu espao para a elaborao de polticas compensa-
trias, que defendam os direitos sociais de populaes margina-
lizadas, e que garantam o cumprimento de acordos internacionais
dos quais o Brasil signatrio. Era, portanto, esperado, que uma
boa parte da intelectualidade negra concentrasse suas energias na
atuao jurdica, com o que cresceu bastante a importncia, no
movimento negro, dos advogados, procuradores e promot ores
negros, alm dos ativistas do SOS Racismo.
Ora, ao tempo em que, para os negros, a atuao jurdica
cresce de importncia, surge tambm a necessidade de melhor pre-
parao, tcnica e ideolgica, para o convencimento da opi ni o
pblica, em geral, e dos magistrados e dos ministros das Cor t es
superiores, em particular. Isso porque as decises jurdicas ganham
rapidamente repercusso jornalstica, sejam prises por raci smo,
sejam liminares a aes civis pblicas que defendem direitos difu-
sos. A reao que os advogados e promotores negros encont ram
no Judicirio e nas Cortes, por parte de juizes, desembargadores
e ministros, assim como a que encontram por parte de jornal i s-
tas, ainda, do pont o de vista intelectual, bastante primitiva.
De fato, como salientei em outro texto (Guimares, 1999) ,
h uma grande defasagem entre o pensamento sociolgico, gera-
do e transmitido nas faculdades de filosofia e cincias sociais, e
aquele transmitido nas escolas de direito ou jornalismo. Isso faz
com que os magistrados e advogados brasileiros, tendo renegado
tardiamente as idias racistas de Lombroso e Nina Rodri gues,
Raa e pobreza no Brasil 59
. continuem agora apegados ao consenso intelectual, liderado _por
Freyre, dos anos 1930 e 1940 . Ou seja, para uma parcela decisiva
das elites brasileiras, a nica alternativa ao racismo cientfico do
final do sculo X I X continua a ser a ideologia da democracia ra-
cial. O movimento negro, portanto, precisa esclarecer as diferen-
as entre o seu racialismo e o racialismo anterior e, para isso, preci-
sa tambm atentar para o que de verdade dizem os seus crticos.
Desse modo, so justas, tanto a defesa da identidade racial
como direito auto-identificao, quanto a rejeio das "raas"
biolgicas como construes sociais opressivas. To justas quan-
to a crtica funo mistificadora da democracia racial brasilei-
r a,
3 2
ou a crtica sociedade hierrquica ainda vigente no Brasil
(DaMatta, 198 1, 198 5; Adorno, 1995; Guimares, 1998), ou ain-
da a demonstrao de que as desigualdades sociais entre brancos
e negros tm, no Brasil, um fundamento racial inegvel (Hasenbalg
e Silva, 1992 ; Lovell, 198 9; Tel l es, 1992 ) . Todos esses pontos
precisam ser reintegrados de modo a evitar que as crticas justas
e saudveis ao racialismo no realimentem uma elite politicamente
conservadora e racialmente cnica.
Mais: bastante provvel que j no seja possvel, no Brasil,
construir um consenso nacional sobre as desigualdades raciais.
provvel que, como nos Estados Unidos, a questo racial passe a
ser objeto de dois discursos competitivos, ambos em sintonia com
o reconhecimento pleno da cidadania negra. Por um lado, um dis-
curso cuja nfase posta no carter racial das desigualdades, ou
seja, na discriminao sistmica alimentada pelos preconceitos e
pelas hierarquias socialmente aceitas (classe, gnero, etnia, raa,
regio et c) ; por outro lado, outro discurso, cuja nfase dada ao
carter econmico da desigualdade, ou seja pobreza da popu-
lao em geral. Qualquer poltica pblica, no futuro, talvez tenha
que ser negociada entre essas duas posies. O velho consenso
sobre a democracia racial, ao qual aderiam, entre os anos 1930 e
3 2
Ver Nascimento e Nasci mento, 2 0 0 1.
60
Classes, raas e democracia
1960 , negros e brancos, direira e esquerda, liberais e socialistas,
parece ter sido definitivamente rompido.
OS LIMITES DO RACI ALI SMO NEGRO
O moderno movimento negro brasileiro foi criado nos 1 9 3 0 ,
e recriado nos 197 0 , como um programa de combate discrimi-
nao racial e de integrao do negro sociedade de classes. O
primeiro lutou para construir a democracia racial que, t empos
mais tarde, adquiriu o teor de farsa, denunciado pelo segundo.
O primeiro negou as raas e pregou a cor como "aci dente", o
segundo reivindicou a dignidade e o orgulho raciais, como modo
de se opor opresso. Como conseqncia de sua atuao, a po-
ltica de identidade racial rendeu, tambm, frutos visveis: em
vrios pontos do pas floresceram grupos culturais de afi rmao
da identidade negra e afro-brasileira, tais como os bailes black,
os blocos afro, os grupos rap, os bailes funk etc. A prpria forma
de identificao racial mudou, pelo menos em certas camadas
sociais, sendo comum, hoje, personalidades miditicas, que an-
tes se definiriam como morenas ou mesmo brancas, se identifica-
rem e serem aceitas como negras.
A luta contra a discriminao, ademais, comea agora a ser
travada pari passu a uma outra, bem mais ampla: a luta cont r a
as desigualdades raciais, atravs da busca de polticas pblicas mais
abrangentes, que reparem a excluso poltica, social e econmi -
ca da populao negra.
Mas, apesar do imenso progresso e do enorme esforo feito
em termos de poltica de identidade, a verdade, no entanto, que,
dos negros em potencial (os "pardos" e "pretos" censitrios, que
alguns ativistas chamam de negros), e que formariam 4 0 % da
populao brasileira, segundo dados de uma pesquisa amost rai ,
apenas uma minoria atendeu ao apelo racial do movimento (ver
Tabela 1). Ainda de acordo com esses dados (ver Tabela 2 ) , ape-
nas 7% da populao brasileira se identifica como "negra" ou
Raa e pobreza no Brasil
61
"preta", enquanto 4 3 % prefere se identificar como "morena" e
o restante como "branca" ( 3 8 %) , "parda" ( 6%) ou outra cor.
Tabela 1
BRASIL: RESPOSTA I NDUZI DA PERGUNTA
"QUAL SUA COR? "
Cor Freqncia %
Branca 2 . 52 2 49, 6
Preta 60 6 11,9
Parda 1454 28, 6
Amarela 141 2,8
Indgena 32 6 6,4
Outras 32 0,6
Total 5. 081 100,0
Fonte: Instituto de Pesquisa DataFolha, 1995.
Tabela 2
BRASIL: RESPOSTA ESPONTNEA PERGUNTA
"QUAL SUA COR?"
Cor Freqncia %
Branca 1. 946 38,3
Moreno 1. 769 34, 8
Moreno claro 375 7,4
Parda 302 5,9
Preta 2 2 1 4,3
Negro 135 2,7
Ciara 84 1,7
Mulato 39 0,8
Escuro 34 0,7
Amarela 28 0,6
Moreno escuro 29 0,6
Outras
72 1,4
No sabe 47 0,9
Total 5. 081 100,0
Fonte: Instituto de Pesquisa DataFolha, 1995.
62
Classes, raas e democracia
Ora, enquanto a luta contra a discriminao forou o r eco-
nhecimento explcito da categori a racial que motivava a discrimi-
nao, conduzindo, ademai s, a uma definio ampla de negro,
enquanto categoria objet o do preconceito, a luta a favor de aes
afirmativas para os negros ter forosamente que beneficiar aque-
les 7% da populao que se identifica como preto ou negro. Como
reagir no futuro o movi ment o a essa evidncia? Como reagir a
sociedade branca?
Em termos polticos, so grandes os desafios: se o movimento
negro abandonar o raci ali smo de atribuio racial (feita a partir
de caracteres fisionmicos ou ascendncia biolgica), em troca de
um racialismo de identidades eleitas, poder se ver tentado, com
o tempo, a abandonar uma poltica de maioria em favor de uma
poltica de minoria. ^ O racialismo negro brasileiro tem duas vir-
tudes inigualveis: a conjuno entre negros, definidos amplamen-
te, e pobreza to grande que dizer que os pobres so pobres
porque so negros, e no porque o pas pobre, uma excelente
estratgia de responsabilizao das elites do pas que, at hoj e,
escondem seus interesses mai s mesquinhos atrs de teorias como
a da democracia racial ou a do subdesenvolvimento econmi co.
Tal estratgia negra casa-se muito bem com a aspirao das es-
querdas e com a nova mobi l i zao em defesa dos direitos huma-
nos e do respeito ci dadani a. Ao contrrio, uma poltica de mi-
noria, em uma sociedade em que a maioria sofre a pobreza e a
excluso social e poltica, corre o risco de perder legitimidade.
Esse dilema explica, talvez, por que as lideranas negras tm,
alis sabiamente, se conformado a acomodar suas reivindicaes
de polticas afirmativas a frmulas mais abrangentes, como "ne-
gros e carentes". Isso porque se sabe muito bem que, tanto atra-
vs de critrios de auto-identificao racial, quanto de atri bui o
3 3
O mesmo vlido para uma atribuio muito restrita que, por exem-
plo, inclua apenas os "pretos".
Raa e pobreza no Brasil 63
por terceiros,
3 4
a populao negra c bem menor que a de descen-
dentes de africanos.
AS CAUSAS DA P OBRE ZA NEGRA
NO BRASIL: ALGUMAS RE FL E X E S
3 5
Estatisticamente, est bem estabelecido e demonstrado o fato
de que a pobreza atinge mais os negros que os brancos, no Br a-
sil. Mais que isto: est t ambm demonstrado na literatura soci o-
lgica, desde os 1950 , que, no imaginrio, na ideologia e no discur-
so brasileiros, h uma equivalncia entre preto e pobre, por um
lado, e branco e rico, por outro. Thales de Azevedo (1966), por
exemplo, em texto datado de 1955, estuda a hierarquia social na
Bahia para concluir que a principal clivagem d-se entre brancos
e negros, clivagem esta que igualmente referida na linguagem
cotidiana como sendo entre ricos e pobres. Comparando as es-
truturas sociais da Bahi a e do sul dos Estados Unidos, Thales uti-
liza o diagrama sugerido por Lloyd Warner (Figura 1) para visua-
lizar a relao entre o sistema de castas raciais e o de cl asses
3 6
.
H, portanto, no Brasil, seja na mentalidade popular, seja no
pensamento erudito, seja na demografa ou na sociologia, na econo-
mia ou na antropologia, seja entre governantes e governados, um
consenso de que os pobres so pretos e que os ricos so brancos.
Quais so as causas da pobreza negra? A explicao normal-
mente aceita, tanto pelos governos, quanto pelo povo, de que a
;
'
4
At mesmo o movimento negro recusa-se a chamar de "negro" os
afrodescendentes de classe mdia, que se definem como "brancos".
" Este item foi escrito originalmente para ser apresentado ao Seminrio
"Race and Poverty: Inter-Agency Consultations on Afro-Latin Americans",
Inter-American Dalog/Inter-American Development Bank, World Bank, Wa-
shington DC, 19 de junho de 2 0 0 0 .
3 6
Tal argumento encontra-se detalhado em Guimares (1999).
64 Classes, raas e democracia
discrepncia entre brancos e negros deve: sea) passado. escravista.
Sena, portanto, uma herana do passado, que desapareceria com
o tempo. Tal expl i cao, embora tenha um cerne de verdade, es-
conde alguns probl emas graves.
Figura 1
A LI NHA DE COR E DE POBREZA NO BRASIL.
SE GUNDO THALES DE AZEVEDO
A n ,
Fonte: Azevedo, 1966, p. 39.
Primeiro, isenta as geraes presentes de responsabilidade
pela desigualdade atual; segundo, oferece uma desculpa fcil para
a permanncia das desigualdades ("como reverter em ci nco anos
o que produto de ci nco sculos?", esta tem sido a frase mai s re-
petida pelos diversos governos republicanos, inclusive o atuai);
terceiro, deixa sugerido que os diversos governos tm buscado
corrigir, gradualmente, tais disparidades (as vezes, mai s que su-
gerido, o argumento explcito entre os economistas: preciso
que a economia cresa para que os problemas sociais resolvam-
se naturalmente).
Contra tal expli cao conservadora tm se insurgido, ao lon-
go dos anos (pelo menos desde 1930 de forma organizada), as lide-
Raa e pobreza no Brasil
65
ranas negras, para as quais as causas cia pobreza negra so a falta
de oportunidades, o preconceito e a discriminao raciais. At bem
pouco tempo (a mudana pode ser datada de 1988), quando se es-
creveu a atual Carta constitucional, os argumentos das lideranas
negras eram peremptoriamente rejeitados: no haveria nem discri-
minao, nem preconceitos raciais, sendo a pobreza negra pura-
mente pobreza. Atualmente, nota-se uma mudana importante:
tanto o governo, quanto a opinio pblica reconhecem a discrimi-
nao raci al .
3
' ' Mas ainda se considera legtima a discriminao
de classe, o que, ao fim e ao cabo, para os negros, d no mesmo.
importante chamar a ateno para a legitimidade que ad-
quiriram no Brasil o preconceito e a discriminao contra os po-
bres. Essa legitimidade se expressa na justificativa dada para os
casos inegveis e reconhecidos de discriminao cont ra pessoas
negras. Nesses casos, costuma-se explicar tal discriminao como
sendo uma discriminao de classe e no de cor. Tal argumenta-
o foi, nos anos 1940 , aceita e refinada pelas cincias sociais
brasileiras por autores to importantes quanto Donal d Pierson
(1942 ), Marvin Harris (1966) ouThales de Azevedo ( 1953) . Como
esses autores faziam profisso de f anti-racista, isso significou
tratar como natural e legtima tal discriminao de classe, esque-
cendo-se de que a possibilidade de uma pessoa pobre no ser por-
tadora dos direitos plenos da cidadania inaceitvel numa ordem
democrtica. O fato de que os pobres, no Brasil, no sejam reais
sujeitos de direitos passou a ser um problema apenas recentemente,
quando as cincias sociais brasileiras passaram a pautar-se norma-
-
5T
A administrao Fernando Henrique Cardoso reconheceu publica-
mente, em diversas oportunidades, que existe racismo no Brasil. No plano
da opinio pblica, a referida pesquisa do DataFolha, realizada em 1995,
mostrou que 8 9 % dos brasileiros tambm acreditam que os brancos tm pre-
conceito contra os negros e 58 % acham que o fato de a populao negra viver
em condies piores que a branca se deve ao preconceito e discriminao
dos brancos cont ra os negros (DataFolha, 1995).
66
Classes, raas e democracia
tivamente pelo iderio da cidadania moder na.
3 8
S a partir de
ento, estudos sobre a violncia, a criminalidade e de construo
da cidadania passaram a explicitar as discriminaes dirias per-
petradas contra todos aqueles que, pelo seu aspecto fsico prin-
cipalmente a cor , no parecem, para os poderes pblicos, por-
tadores de direitos subjetivos.
De fato, o que torna legtimo o reconhecimento da falta de
oportunidades dos pobres e o preconceito e a discriminao de
que so vtimas? Em grande parte, dizem os militantes negros, tal
legitimidade decorre justamente do fato de que os pobres so ne-
gros. Acho que esses militantes tm razo. Seno vejamos.
Primeiro, h aquilo que Hasenbalg e Silva ( 1992 ) chamam
de "ci clo cumulativo de desvantagens" dos negros. As estatsticas
demonstram que no apenas o ponto de partida dos negros des-
vantajoso (a herana do passado), mas que, em cada estgio da
competio social, na educao e no mercado de trabalho, somam-
se novas discriminaes que aumentam tal desvantagem. Ou seja,
as estatsticas demonstram que a desvantagem dos negros no
apenas decorrente do passado, mas ampliada no tempo presen-
te, atravs de discriminaes.
Segundo, e talvez mais importante, o carter dessas discri-
minaes. Dificilmente se poderia afirmar, para o Brasil, como se
fez, no passado, para os Estados Unidos ou para a frica do Sul,
que o fator racial seja um motivo de discriminao explcito ou
diretamente detectvel. Ao contrrio, no Brasil, o fator racial est,
geralmente, diludo numa srie de caractersticas pessoais, todas
de ordem atribuda (ascribeu). Tome-se, como exemplo, o acesso
ao trabalho, que 45% dos negros brasileiros, segundo o DataFolha
( 1955) , consideram ser o principal problema que a populao ne-
gra enfrenta, no Brasil.
, f i
Fabermas talvez seja o autor contemporneo que mais tenha dado
nfase aos fundamentos normativos das cincias sociais.
Raa e pobreza no Brasil 67
Ora, no mercado de trabalho, valores estticos e comporta-
mentais, que se traduzem na noo de "boa aparncia", so os
grandes responsveis pela discriminao dos negros e dos po-
br es .
3 9
Alm da "boa aparncia", para jovens universitrios que
buscam emprego, outro fator decisivo o renome da sua univer-
sidade, sendo que as universidades pblicas e gratuitas, de ingresso
mais concorrido, so muito melhor aceitas pelo mercado que as
universidades privadas.
4 0
O problema consiste no fato de que a
qualidade do ensino pblico e gratuito deteriorou-se a tal ponto
que apenas aqueles que podem pagai' colgios privados tm con-
dies de ingressar na universidade pblica e gratuita. No ape-
nas os jovens mais pobres no tm acesso universidade, como
grande parte dos jovens negros melhor aquinhoados pela fortu-
na, mas que no freqentam colgios de elite, tm que pagar pe-
los seus estudos universitrios. Assim, o mercado e o governo
discriminam duplamente o negro: primeiro, oferecem mais chances
de qualificao para os estudantes oriundos de colgios privados;
segundo, qualificam melhor os universitrios da rede pblica.
Ademais, o mercado de trabalho para as ocupaes menos
qualificadas, justamente aquelas onde negros e pobres com esco-
laridade mdia teriam mais chances de concorrer, encontra-se, nas
grandes cidades brasileiras, como So Paulo, totalmente fragmen-
tado por reas de residncia: a primeira pergunta feita a uma en-
trevistado em busca de emprego o local de sua residncia e quan-
tas condues ela tomaria para chegar ao trabalho (Guimares e
Guimares, 2 0 0 0 ) . Isso circunscreve a chance dos pobres e negros
A noo de "boa aparncia" comentada do seguinte modo por uma
consultora de RH: "Boa aparncia significa sucesso, ateno, aceitao so-
cial. Embora tenhamos conscincia de que as pessoas no devem ser julgadas
pela aparncia, na prtica as bem cuidadas so mais favorecidas" (Guima-
res e Guimares, 2 0 0 0 ).
"
I 0
Apenas trs ou quatro universidades privadas, todas concentradas
no Ri o de Janeiro e em So Paulo, fogem dessa regra.
68
Classes, raas e democracia
arranjarem empregos. De um lado, os bairros pobres-so estig-
matizados pela violncia, pela sujeira, pela desonestidade,
41
de ou-
tro lado, os bairros mais afluentes oferecem mais oportunidades
de emprego.
Mas, h ainda um fator mais perverso, o fator "gnero", que
no pode ser desconsiderado. A pobreza, a falta de oportunida-
des, a desigualdade de rendimentos e a discriminao atingem
muito mais fortemente as mulheres que os homens. Nos ltimos
anos, a luta pela emancipao das mulheres e pela efetiva iguaL-
dade entre os sexos melhorou em muito a posio das mulheres
na sociedade brasileira. No entanto, olhando algumas estatsticas
desagregadas por cor, fica-se com a idia de que esse benefcio
restringiu-se, at agora, quase que totalmente s mulheres bran-
cas. Ou seja, a emancipao das mulheres parece ter ficado res-
trita s classes mdias e altas, no atingindo as mulheres pobres,
geralmente negras. Os dados most ram, por exemplo, que embo-
ra as mulheres brancas tenham expandido sua participao na PEA
e no emprego, inclusive com ganhos salariais, as mulheres negras
continuam presas ao desemprego e discriminadas em termos de
salrio (Guimares c Consoni, 2 0 0 0 ; Lavinas, 2 0 0 1) .
O que sobressai das estatsticas e dos diagnsticos dispon-
veis que houve um desleixo hi stri co dos governos brasileiros
com relao pobreza, que atingiu sobretudo a populao negra.
Pol ticas na rea de educao, voltadas especialmente para os
negros e carentes, polticas de sade pblica c saneamento, poli-,
ticas habitacionais para as classes pobres, polticas de transporte
urbano etc. so polticas que podem realmente reverter a situa-
o de pobreza da populao negra brasileira. Mas, para que es-
sas polticas pudessem reverter a situao de carncia dos negros
brasileiros, elas teriam que preencher duas condies: primeiro,
4 1
O termo "favelado", por exempl o, um dos insultos raciais mais
freqentes no Brasil (ver ltimo captulo).
Raa e pobreza no Brasil 69
visar dois alvos a populao negra e os pobres; segundo, te-
riam que ter durao maior que uma ou duas administraes.
AS CRTICAS S AE S AFI RMATI VAS
No entanto, apesar das evidncias estatsticas, as polticas
de ao afirmativa (as nicas que visam reparar erros do passado),
atualmente propostas pelas lideranas negras, tm sido rejeitadas
com base tanto em argumentos de classe (tais polticas beneficia-
riam apenas os negros de classe mdia), quanto de raa (no ha-
veria propriamente uma comunidade negra no Brasil, ou seja, uma
identidade negra precisamente definida). E por qu? Ora, a justi-
ficativa moral para o seu repdio parece assentar-se sobre a au-
sncia, entre ns, de sentimento de responsabilidade ou de culpa
pelo passado, o que inviabiliza qualquer argumento de "repara-
o" (Skidmore, 1997 ) .
Ademais, a cena poltica brasileira mostra tambm uma au-
sncia de sentimento de responsabilidade com o presente e com a
pobreza: polticas afirmativas que visem beneficiar a populao
carente so igualmente combat i das em nome da competio por
mrito ou da excelncia acadmi ca
4 2
; enquanto as polticas de
guerra pobreza apenas lentamente saem do papel. por isso que
tem alguma plausibilidade a afirmativa dos militantes negros de
que tal indiferena em relao pobreza e a legitimidade da dis-
criminao contra os pobres tm uma motivao racial.
As elites brasileiras no aceitam medidas eficazes de combate
pobreza. H, inegavelmente, um agarramento aos privilgios
4 2
Foi o que aconteceu com o projeto de lei 298/ 99, j aprovado no
Senado, mas amplamente repudiado por educadores, reitores e intelectuais
e, inclusive, pela imprensa mais progressista. Tal projeto de lei, em tramitao
na Cmara dos Deputados, assegura 5 0 % das vagas nas universidades p-
blicas brasileiras a alunos oriundos de escolas pblicas de segundo grau, as
nicas que os mais carentes podem freqentar.
7 0
Classes, taas e democracia
seculares, protegidos por interesses corporativos. Esses interesses
impedem que polticas antipobreza sejam tomadas ou implemen-
tadas pelos governos brasileiros. Em artigo recente, Elisa Rei s
(2000: 187) expressou essa dificuldade da seguinte maneira:
"Um outro t rao relevante da cultura poltica da
elite a forte preferncia por polticas sociais univer-
salistas para combat er a pobreza e a desigualdade. Os
dados da pesquisa mostram tambm um forte consen-
so na elite cont ra aes afirmativas ou impostos sobre
a riqueza. Ainda que reconhecendo que existe discri-
minao contra os negros e contra as mulheres, a elite
no est preparada para compens-la atravs de me-
didas de discriminao positiva. De fato, a educao
vista como o meio mais efetivo de combate pobreza
e desigualdade justamente porque se trata de uma so-
luo universalista, aberta a todos" (traduo minha).
A discusso de polticas afirmativas para a populao negra,
por exemplo, conta, entre seus adversrios, com os melhores e mai s
renomados cientistas sociais do pas. Esses argumentam que tai s
polticas contrariam os valores liberais (Reis, 1997) e ferem a in-
teligncia nacional (DaMat t a, 1997; Fry, 2 0 0 0 ) . Para eles, a idia
de adotar tais polticas equivocada e simplista. Equivocada por-
que refora identidades tnicas e raciais, que reificam o raci smo;
simplista porque cont rari a a nossa tradio cultural. Os intelec-
tuais que defendem polticas antipobreza mais radicais, que levem
cm conta a discriminao racial e de gnero, seriam, portanto, ou
pouco refinados para entender a complexidade da cultura brasi-
leira, ou estariam contami nados ideologicamente pelo seu envol -
vimento com o movi ment o negro.
O que esses autores ignoram ou omitem que o povo brasi-
leiro no rejeita polticas afirmativas, inclusive em sua forma ex-
trema de cotas, tal como sugerem. Quem as rejeita so as classes
mdias e as elites, inclusive intelectuais. Em 1995, a j citada pes-
quisa do Dat aFol ha sobre racismo detectou que os mais pobres e
Raa e pobreza no Brasil
71
os menos escolarizados seriarn favorveis a tais polticas, posio
que se inverte medida que se perscrutam as camadas mais educa-
das e mais favorecidas (Telles e Bailey, 2 001). Seria isso refinamen-
to intelectual e cultural ou pura defesa de privilgios de classe?
(ver Tabela 3) .
Tabela 3
OPINIO DOS BRASILEIROS SOBRE COTAS,
SEGUNDO CLASSES DE RENDA E GRUPOS DE COR
Concordncia
ou no com cot as
4
'
Por cor Por classes de renda
at 10 SM 11 ou + SM
Tot al
Brancos
Concordam 4 6 , 7 % 69, 5% 30 , 5% 10 0 , 0 %
Discordam 5 3 , 3 % 51, 5% 48 , 5% 10 0 , 0 %
Negros (pretos e pa rdos)
Concordam 5 1 , 5 % S0 , 3% 19, 7 % 1 0 0 , 0 %
Discordam 4 8 , 5 % 65, 1% 34, 9% 10 0 , 0 %
Fonte: DataFolha, 1995.
Que no se trata de simples interesse racial sabemos atra-
vs dos mesmos dados, j que, entre os negros mais favorecidos,
tambm diminui a adeso a tais polticas. Ou seja, estamos ine-
gavelmente diante de uma sociedade em que os privilgios esto
bem estruturados e sedimentados entre grupos raciais e de gnero.
Isso significa que tais privilgios orientam a sua reproduo e am-
pliao atravs de discriminaes (e no que no h di scnmi na-
4 5
A pergunta feita foi a seguinte: "Diante da discriminao passada e
presente contra os negros, tm pessoas que defendem a idia de que a nica
maneira de garantir a igualdade racial reservar uma parte das vagas nas
universidades e dos empregos nas empresas para a populao negra, voc
concorda ou discorda com esta reserva de vagas de estudo e trabalho para
os negros?".
72
Classes, raas e democracia
o racial e de gnero); significa que a paz racial , no Brasil, um
pacto de privilegiados, negros e brancos (e no que os que no
aceitam tal pacto queiram a guerra racial ou sejam intelectual e
culturalmente grosseiros).
A defesa que fiz (Guimares, 1999) do emprego de aes
afirmativas para reverter as desigualdades raciais no Brasil me
rendeu crticas que vale a pena comentar.
Alguns autores me atriburam uma tendncia a "traduzir"' ,
ou importar, para o Brasil modelos de engenharia social norte-
americanos (Grin, 2 0 0 T. 174); outros a adotar princpios comuni -
tanstas (Cost a e Werle, 1997: 175-6). Grin ( 2 0 0 1: 18 2 - 6) , em
especial, fala de dogmatismo, de imposio de modelos e cat ego-
rias de pensamento realidade social, enfim de desejo de "pont i -
ficar". Ou seja, atribui-me vcios c defeitos intelectuais dos quais
deveriam estar imunes as pessoas bem formadas e refinadas.
significativo, entretanto, que tais crticas se dirijam a po-
sies polticas tomadas por mim nas duas oportunidades em que
discuti programas de ao afirmativa (Guimares, 1999, parte 3) .
Antes de t udo, preciso lembrar que, nos dois moment os em que
analiso a adequao de polticas afirmativas para o Brasil, o fao
num tom de polmi ca, primeiro, e, segundo, assumindo explici-
tamente um estilo lgico-normativo, em que meus valores so
abertamente declarados. Em ambos, meu conhecimento da ques-
to racial brasileira aparece, portanto, num cont ext o claramente
poltico e partidrio (e no expresso em termos de anlise soci o-
lgica), o que, por si s, indica que a crtica deveria pr-se mais
propriamente nesse rerreno poltico. Meu objetivo nos referidos
textos (Gui mares, 1999, parte 3) claro: contrapor-me aos ar-
gumentos daqueles que repudiaram, na primeira hora, a adoo
de polticas afirmativas no Brasil. Que argumentos foram estes?
Cito os trs principais. Primeiro, que tais polticas contrari ari am
os ideais de uma sociedade liberal, democrtica e igualitria. Se-
gundo, que tais polticas seriam contrrias aos nossos val ores
nacionais, principalmente ao nosso anti-racialismo. Tercei ro, que
tais polticas no poderiam ser aplicadas aqui porque no existi-
Raa e pobreza no Brasil 7 3
riam sujeitos institudos que reclamassem tais medidas (tudo se-
ria obra de uma minoria vanguardista distanciada da massa).
Com relao ao primeiro desses argumentos, alinhavo idias
que vo no sentido de afirmar que, longe de contradizerem a l-
gica da democracia liberal, tais aes afirmativas radicalizam-na
e s podem ser compreendidas em contextos em que o indivduo
e o mrito so tomados rigorosamente a srio. Em alguns mbi-
tos, como na defesa do mercado de trabalho para brasileiros na-
tos, nos anos 1940 , ou no combate a desigualdades regionais, nos
anos 1960 , foi o apego aos nossos princpios igualitrios e a von-
tade de preservar a unidade nacional o que nos levou a desenhar
polticas afirmativas, respectivamente a chamada lei de 2/ 3 e o
dispositivo de incentivo fiscal conhecido como 3 4 / 1 8 .
4 4
Com relao ao segundo argumento, desenvolvo a tese de
que nosso ant-racialismo no deve ser entendido como anti-ra-
cismo. Pelo contrrio, sob os ideais progressistas de negao de
raas humanas e de afirmao de um convvio democrtico entre
as "raas" vicejam preconceitos e discriminaes que no se apre-
sentam como tais, o que termina por fazer com que esses ideais e
concepes continuem a alimentar as desigualdades sociais entre
brancos e negros. Dada a nossa tradio anti-racialista recente,
todavia, mais provvel que o reconhecimento das diferenas e
das identidades raciais, implcitas em polticas de ao afirmati-
va, levasse tolerncia e no ao conflito racial.
Com relao ao terceiro argumento, digo basicamente o se-
guinte: a diviso entre brancos e negros est presente no nosso co-
tidiano, ainda que outras formas de classificao paream sobre-
4 A
E certo que a lei de 2/3 veio revestida, na poca, de um inegvel rancor
xenfobo e antiliberal, alimentado pelo clima de intolerncia racial dos anos
1940. No entanto, tambm inegvel que havia, no mercado de trabalho,
uma preferncia racial pelos imigrantes europeus, o que acabava por alimentar
a xenofobia dos negros brasileiros. Os valores igualitrios a que me refiro
foram aqueles que sedimentaram a incorporao dos negros e mestios ao
mercado de trabalho industrial e de servios das regies Sul e Sudeste.
74 Classes, raas e democracia
puj-la. Dizer que ningum sabe quem preto no Brasil, significa
dizer que polticas que levem em conta a autoclassificao racial
sero burladas por pessoas que gostam de levar vantagem em tu-
do. Parece-me claro que a estratgia de se definir como "preto"
ou "negro", como qualquer estratgia, implicar sempre em van-
tagens e desvantagens desde que o Estado garanta a coerncia da
autoclassificao, o que no seria muito difcil de fazer.
Ora, engajar-se num debate poltico no significa "pontifi-
car". Para mi m, o mais importante desse debate de primeira hora
sobre aes afirmativas foi enfrentar os fantasmas que nossos in-
telectuais ali mentam e que a polmica trouxe luz. Ci t o alguns: a
convico na fragilidade de nossos valores democrti cos; o cons-
tante medo de sermos vtimas do imperialismo cultural, que nos le-
varia a importar idias e p-las fora do lugar; a crena na excepcio-
nalidade e excelncia de nossa convivncia interracial (que no seria
racial); o persistente medo de que esse pas se transforme num outro
Haiti (revivendo tardiamente 1791); e, finalmente, o suposto ar-
raigado vcio do nosso povo de pegar carona sem dividir custos.
CONCL USE S
As crticas ao uso de "raa" enquanto concei t o analtico tm,
como vi mos, diversos fundamentos. Os que me parecem mais s-
lidos so os que chamam a ateno para o carter histrico e tran-
sitrio da idia de raa. Tal historicidade fica evidente no empre-
go que fao desse conceito, sempre o referindo a uma situao
concreta que pode ser verificada empiricamente. Ademais, enquan-
to concei to analtico, uso-o sempre com o propsi t o d
p
revelar o
racialismo real que o no-racialismo formal e discursivo escon-
de. Isto, cl aro, limita o entendimento do concei t o queles que
comungam comi go o repdio idia de raa. Da decorre, me
parece, a sua fragilidade; isto , de sua contextuali dade e transi-
toriedade; qualidades, entretanto, que decorrem do conceito e no
do meu uso. Assim, por exemplo, ao cont r r i o do que parece
Raa e pobreza no Brasil 75
pensar Srgio Costa ( 2 0 0 1) , quando analiso a possibilidade de que
a identidade brasileira esteja se movendo do paradigma freyreano
de "nao mestia" para o paradigma internacionalista de "na-
o multirracial"; e quando digo que "baiano", no sul do Brasil,
muitas vezes (mas nem sempre) um tropo para "negro' ", "mes-
tio" ou "mulato", estou na verdade, buscando investigar at que
ponto o elemento racial est mudando, at que ponto est ganhan-
do proeminncia ou desaparecendo. Estou, de fato, levantando
uma hiptese de t rabal ho, que poder ou no ser verificada. Em
sociologia, qualquer concei t o que queira substituir o t rabal ho
emprico equivocado, no apenas "raa". Ademais, reduzir a
anlise de qualquer realidade a um nico conceito sempre sim-
plrio. Certamente esta no foi, nem poderia ser, uma inteno
interpretativa minha; ao contrrio, parece ser o risco que sempre
corre a leitura no-analti ca, ao no perceber o ceteris paribus
envolvido na anlise de qualquer aspecto da realidade social.
J outros argumentos me parecem completamente equivo-
cados. O principal desses equvocos considerar a "democracia
racial" uma matriz cultural, produto de um ethos (ou essncia)
qualquer (a col oni zao portuguesa etc.) que se sobrepe his-
tria. Ainda que a idia de matriz de longa durao possa ser
proveitosa quando aplicada histria, ela deve obedecer regra
simples de no impedir que se construa o entendimento da mu-
dana. A idia de um imperialismo cultural americano a impor
ao mundo o seu particularismo sofre desta doena: acreditar que
o que hoje "brasi lei ro" ou "francs" est constitudo desde sem-
pre e foi construdo em isolamento das influncias mais variadas
e mais aparentemente estrangeiras. O que parece estrangeiro,
sempre, na verdade, alimentado do interior e em contradio com
as tradies que se impuseram.
Outro equvoco me parece ser o relativismo cultural, que de-
nuncia a construo de classificaes gerais. A verdade que o
conceito jamais se efetiva em realidades sociais, permanecendo
sempre como um "t i po ideal", ao modo weberiano, exatamente
como acontece com os conceitos nativos. Entre a "cor " brasilei-
7 6
Classes, raas e democracia
ra e a " r aa" norte-americana est a construo tpica ideal de
raa, que apenas pode dar conta do afastamento entre a catego-
ria nativa e as prticas sociais que o conceito quer representar.
Quando os conceitos de "raa" e "gnero" so aplicados aos
estudos sobre desigualdades socioeconmicas ou pobreza eles tm
o efeito virtuoso de revelar aspectos que o conceito de "cl asse" no
poderia expli ci tar. Eles desvelam certas particularidades ria cons-
truo social da pobreza que eram antes ignoradas. E m vez de con-
tinuarmos a pensar que a relao entre "cor" e pobreza de co-
incidncia, passamos a investigar o papel constituinte da "cor "
sobre a pobreza. Passamos tambm a buscar os fundamentos ra-
ciais da classificao por cor no Brasil. Em nenhum moment o, que-
rem esses estudos ou estudiosos negar a construo da pobreza
pela si t uao de classe (ou pela luta de classes, pela explorao
capitalista e t c ) . Tudo o que fazemos mostrar outras determi-
naes que no so subsumveis ao conceito de classe social. Do
mesmo modo, nos estudos de identidade nacional h aspectos que
s podem ser revelados quando investigamos a i magem racial e
de gnero do nacional. Sem imperialismos ou reducionismos.
Raa e pobreza no Brasil
POLTICA DE I NTE GRAO
E POLTICA DE I DE NTI DADE
4 5
Como se coloca a questo racial na poltica brasileira? Esta
uma pergunta que pode ser entendida de diversas maneiras. A
primeira delas refere-se ao modo como assuntos relativos s dife-
renas raciais da populao brasileira so tratados ou abordados
pelos polticos e pelas polticas pblicas. Podemos, tambm, repor-
t-la maneira como algumas minorias raciais se organizam po-
liticamente, seja em termos da construo de um sentimento t-
nico particular, seja em termos institucionais e partidrios; ou,
ainda, circunscrev-la forma particular como diferentes contin-
gentes raciais foram absorvidos numa nica identidade nacional
brasileira.
A cincia poltica brasileira construiu, todavia, no decorrer
dos anos, um certo modo de abordar a questo. Bolvar Lamounier
(1968) e Amaury de Souza ( 197 1) arrolaram, h trinta anos, trs
questes substantivas que ainda desafiam o estudo da relao entre
raa e poltica no Brasil. A primeira se negros e brancos tem
comportamentos polticos diferenciais, presumidamenfe baseados
na experincia das desigualdades sociais; a segunda, se h um
4 ; >
Verso anterior deste captulo foi publicada com o ttulo de "A
questo racial na poltica brasileira: os ltimos quinze anos", na Tempo So-
cial, vol. XIII, n 2, novembro de 2 0 0 1, pp. 121-42. Essas idias foram ex-
postas originalmente na Conferncia "Fifteen Years of Deniocracy in Brazil",
University of London, Institute of Latiu American Studies, Londres, em 15 e
16 de fevereiro de 2 0 0 1. Agradeo comentrios feitos a verses anteriores
por Brasilio Sallum Jr. , Lilia Schwarcz, Nadya Guimares e Peter Fry.
Poltica de integrao e poltica de identidade 79
comportamento poltico coletivo por parte dos negros, que expresz
se solidariedade racial: c finalmente, "como opera o sistema po-
ltico para desmobilizar o potencial de comportamento poltico
coletivo" dos negros?
Souza e a mai ori a dos que escreveram sobre a relao entre
raa e poltica no Brasil (Silva e Soares, 1985; Castro, 1993; Ber-
qu e Alencastro, 1992 ; Prandi, 1996) restringiram seus estudos
primeira dessas questes, enquanto Lamounier ateve-se a exami-
nar a terceira. Neste captulo, abordarei as duas primeiras, deixan-
do para o captulo seguinte a discusso sobre a incorporao sim-
blica dos negros na comunidade nacional. Comearei por rese-
nhar, brevemente, os estudos sobre o comportamento eleitoral dos
negros brasileiros para. depois, tratar da emergncia de movimen-
tos sociais negros e de sua incorporao ao sistema poltico.
O VOTO NE GRO E A CINCIA POLTICA
Focalizando especificamente So Paulo, entre 18 8 8 e 198 8 ,
George Andrews ( 199 I) apresenta uma interpretao sntese de
quais tm sido as tendncias polticas dos negros brasileiros. Seu
argumento que, no passado, a simpatia poltica do povo negro
sempre esteve com a monarquia, pois era sabido que o Imperador
sempre fora muito mais propenso abolio da escravido que
os fazendeiros. Do mesmo modo, a Primeira Repblica, que se
segue abolio, por ser uma repblica de fazendeiros, no plano
do poder, e por ter adotado uma poltica cultura! de europeizaro
dos costumes, nunca fora bem vista ou bem-quista pelos negros.
Apenas o Estado Novo de Getlio Vargas, com sua poltica de
proteo ao trabalhador brasileiro e de tutela de seus sindicatos,
(c, posteriormente, o trabalhismo de Getlio, Jango e Brizola) re-
ganhou as simpatias das massas negras na mesma escala conse-
guida pela casa imperial.
Andrews reproduz, em sua sntese, o consenso de boa parte
da literatura disponvel sobre o tema.
80 Classes, raas e democracia
A primeira tentativa de explicar o compor t ament o poltico
diferenciado dos negros no Brasil moderno foi cie Gi l ber t o Freyre.
As duas frases reproduzidas abaixo sintetizam mui t o bem a sua
opinio sobre a preferncia dos negros pelos pol t i cos populistas,
principalmente pelo trabalhismo.
" O lado irnico do desaparecimento si mul t neo
das dua s instituies escravido e monar qui a foi
que antigos escravos se encontraram na posi o de ho-
mens e mulheres que no tinham o i mperador nem o
aut ocrat a da casa-grande para protege-los, t ornando-
se. em conseqncia, vtimas de profundo senti mento
de insegurana. (...) Foram necessrios anos para que
os lderes polticos entendessem a situao psicolgica
e soci ol gi ca real destes antigos escravos, disfarados
em trabalhadores livres e privados de assistncia social
patri arcal que lhes era dada na velhice ou na doena
pela casa-grande ou, quando esta deixava de fazer-lhes
j ust i a, pelo Imperador, pela Imperatriz ou Princesa
imperial. !-..] Isto explica chegando ao Brasi l moder-
no a grande popularidade de Getlio Var gas quan-
do, como presidente, por algum tempo com poder di-
t at ori al , decidiu-se a implantar a legislao soci al que
deu a grande parte da populao obreira do Brasil pro-
t eo contra a velhice, doena e explorao por empre-
sas comerciais ou industriais. Isto tambm expl i ca por-
que Vargas se tornou conhecido como o ' Pai cios Po-
bres* e conquistou entre o povo popularidade que su-
p.-rou a obtida por D. Pedro II em 48 anos de governo
b- >m, hor. csto e paternalista''' (Freyre, 1 956: 46; .
Foi Bolvar Lamounier (1968) quem i naugurou uma nova
tradio cientfica no estudo das relaes entre raa e poltica no
Brasil. Para ele, a situao brasileira oferecia um aparente para-
doxo: grandes e crescentes desigualdades sociais entre brancos c
negros convive riam, lado a lado, com a relativa ausnci a de con-
Poltica cie integrao e poltica de identidade 81
1
flitos violentos e com a quase inexistncia cie assuntos raciais na
esfera poltica. Aceitando a observao de Freyre de que os ne-
gros, mais que os brancos, apoiam os lideres trabalhistas e popu-
listas, Lamounier concentra-se no estudo das formas de integrao
dos negros ao sistema poltico, oferecendo uma explicao para
o paradoxo por ele apontado. Para ele, primeiro, o Estado brasi-
leiro tem sido capaz de gerar smbolos de i ntegrao e incorpora-
o dos negros que so suficientes para contrabalanar-as tenses
oriundas do preconceito e da discriminao raciais; segundo, o
Estado tem sabido antecipar-se ou abortar no nascedouro as ten-
ses raciais; terceiro, as instituies sociais brasileiras tm tido su-
cesso em coopt ar as lideranas negras emergentes e agressivas.
Mas , foi Amaury de Souza (1971) quem demonstrou pela
primeira vez, que os negros apresentavam realmente comporta-
mento poltico diferente dos brancos. Utilizando tcnicas de an-
lise multivariada, a partir de dados eleitorais dos anos 1960, e
controlando os efeitos de outros possveis determinantes, como
a classe soci al, a educao e outras variveis de posio social,
comprovou a sigularidade eleitoral que j tinha sido avanada por
Freyre em termos impressionsticos.
Depoi s que Souza demonstrou que os negros, nas eleies
de 1960 , votaram mais consistentemente em J ango que os bran-
cos, independentemente de sua situao soci oeconmi ca, firma-
se na cincia poltica brasileira a idia de um cert o padro de voto
negro, que iria sistematicamente em direo aos populistas e tra-
balhistas. Uma dcada depois, Glucio Soares e Nelson do Valle
Silva ( 198 5) , analisando a vitria de Bnzola nas eleies para go-
vernador do Ri o de Janeiro, demonstram fartamente a existncia
de uma preferncia eleitoral dos "pardos", ou seja, dos mulatos,
pela candi datura do herdeiro getuhsta, ainda que controlando
outras variveis explicativas, como a situao socioeconmica, o
grau de urbanizao etc.
Tambm Mnica de Castro (1992 ), a partir de dados de in-
teno de votos em quatro municpios brasileiros de porte mdio,
para as eleies de 1989, comprova a existncia de especificida-
de do voto negro. Um voto que opera complexamente acoplado
situao socioeconmica: entre os mais pobres, os negros ten-
dem apatia poltica (no comparecimento s urnas, voto nulo),
enquanto que, entre os mais bem situados economicamente, os
negros tenderiam a votar na esquerda. Castro no encontra, to-
davia, diferenas significativas de comportamento entre pardos
e pretos.
Se, como vimos, a preferncia dos negros pelo imperador e
pelo populismo getulsta interpretada por Gilberto Freyre (1956)
como produto do sentimento de insegurana, que os leva a bus-
car proteo social em figuras fortes e dominadoras, Souza (1971)
e Andrews (1991), entretanto, sugerem que tal preferncia tenha
slidas bases e contrapartidas materiais. No caso do populismo,
Souza (197 1) argi, por exemplo, que as leis trabalhistas de Var-
gas deram ao negro brasileiro as garantias para a sua incluso na
sociedade de classes. Seus ciados mostram, ademais, que, entre os
jovens eleitores cie 1960, havia maior mobilidade ascendente en-
tre os negros que entre os brancos; essa maior mobilidade, toda-
via, era insuficiente pata erodir a identificao dos negros com a
classe trabalhadora c os pobres. No plano ideolgico, "pelo me-
nos durante os primeiros anos do perodo de democracia liberal,
de 1945 a 1964, as categorias polticas de negro e povo eram qua-
se que intercambiveis" (Souza, 197 1: 64) .
Tambm Reginaldo Prandi ( 1996: 63-4) interpretando esse
perodo, diz:
";\ ias a feio populista do trabalhismo de Var-
gas que explicaria a adeso do negro a essa corrente
partidria e seus candidatos. ( ) populismo nega a luta
de classes e dilui as raas numa unidade homognea,
o povo, que ideologicamente a fonte de toda a legiti-
midade. Diferenas raciais no fazem sentido, como
no faz sentido qualquer movimentei de afirmao ra-
cial; o populismo, assim, uma ideologia de integrao
do negro como igual".
82- Classes, raas e democracia
Poltica de integrao e poltica de identidade 83
Depois da Constituio de 198 8 , que permite o voto de anal-
fabetos, incorporando assim milhes de negros ao eleitorado bra-
sileiro, e diante do avano do Movi ment o Negro no pas pregan-
do o voto em candidatos negros, a relao entre raa e poltica
voltou a preocupar os cientistas polticos. O lanamento da can-
didatura de Benedita da Silva ao governo do Estado do Ri o de
Janeiro, em 1989, com a polarizao racial e de ciasse que se se-
guiu, assustou as elites polticas, econmicas e intelectuais do pas.
Estaramos em vias de assistir racializao da poltica brasilei-
ra? Estariam os negros no Brasil desenvolvendo" sentimentos e
comportamentos polticos comuni tri os.
Berqu e Alencastro (1 992 ) , analisando dados de pesquisas
amostrais realizadas em So Paulo e em Vitria do Esprito San-
to, vem a possibilidade, com o fim da proibio de voto aos anal-
fabetos, de surgir no pas o voto tnico negro, ou seja uma prefe-
rncia dos afrodescendentes cm votar em candidatos que repre-
sentem a comunidade negra brasileira, ameia que apenas 14% dos
que se autoclassificam de negros manifestem tal inteno. O voto
tnico, at ento, estivera restrito a comunidades "imigrantes" de
So Paulo (italianos, srio-libaneses, portugueses, japoneses etc. )
e Rio de Janeiro (portugueses).
Analisando dados de i nteno de voto para as eleies de
1994, Prandi (1996) tambm constata a preferncia eleitoral dos
negros por alguns candidatos (Lula, Brizola, Quercia) em detri-
mento de outros (EHC, Amin, Enas). ainda que controlando va-
riveis como rea geogrfica, idade, sexo. renda, escolaridade.
4 6
Dc fito, polticos negros, rais como Ab-umo Az rodo, no Espirito
Santo, e Alceu Colares. no Rio Cirande do Sul. ja luvimi sido eleitos ante-
riormente p>\emadores de seu.s Estados. A diferi -ca dess N polticos, em re-
lao a Benedita, e que se tratava de polticos "onfor mi -us": eram ambos
de partidos polticos no radicais e pessoas "'Ivra educadas", no sentido de
se expressarem em "bom" portugus de ciasse mdia e acrecitarem nos valores
da "democracia racial", sem apelarem diretamente para c voto negro. Mais
adiante, ficar claro no que consiste o "conformismo" destes polticos.
S'4
Classes, raas e democracia
Mais ainda, a cor, para Prandi, foi o fator principal para a predi-
o da inteno de voto, superando a escolaridade ou a idade.
Prandi rejeita, contudo, as interpretaes de Souza, Castro, Berqu)
c Alencastro, Soares e Silva, segundo as quais tratar-se-ia de um
voto motivado ideolgica ou etmeamente, preferindo retornar a
uma explicao mais prxima da de Freyre: tratar-se-ia de um sen-
timento profundo cie desamparo e de impotncia, que levaria os
negros a identificar-se com os programas de alguns candidatos
carismticos.
O CONFORMI SMO NE GRO
Assim como Prandi, muitos autores argumentam que, no
Brasil, o homem do povo, que se classifica como "preto" o:: "par-
do" nos censos, ou como moreno no dia-a-dia, no tem "ideolo
gia" ou "conscincia de raa", isto , pauta o seu discurso de iden-
tidade em conformidade com o mito da democracia racial.
Assim compreendida, a "democracia racial" seria um siste-
ma de orientao de ao (prticas, expectativas, sentido- e va-
lores arraigados no senso comum) que informaria a conduta real
do dia-a-dia e o comportamento poltico. Dessa perspectiva, os
negros e mulatos agiriam, no Brasil, de tal maneira que sua cor
no seria um fator relevante da organizao de sua conduta ou
do nosso entendimento nesta. No que essas pessoas fossem "alie-
nadas' e no percebessem qualquer discriminao social, ms< esta.
quando existente, no -cria atribuda raa e, caso OSSL. seria
vista como episdica e marginal. Um negro poderia, assim, com-
portar-se normalmente seguir, tambm normalmente, a: "vi de-
terminada trajetria soe; d, sem que sua cor fosse responsabilizada
por esta trajetria. Tai "normalidade" seria garantida, obvia-
mente, por um padro universal de comportamento. Ou se;a, um
padro "brasileiro", mais que "branco". A crena na existncia
e na efetividade desse comportamento seria responsvel pela ge-
neralizao de trajetrias bem-sucedidas de negros c mulatos na
Poltica de integrao e poluca de identidade
8 5
sociedade brasileira, ainda quando estas pessoas pudessem reco-
nhecer que efetivamente sofreram constrangimentos e humilha-
es por conta de sua cor. O que faria este comportamento efeti-
vo no seria a ausncia de discriminao, mas o fato de esta no
ser realada ou considerada um obstculo insupervel.
A crena, pelas cincias sociais, de que tal comportamento
de negros e mulatos seja efetivo e generalizado no se d, entre-
tanto, sem contradies. Roger Bastide, por exemplo, se referiu
a tal comportamento como "embranquecimento", realando jus-
tamente o seu carter acuhurado, que distanciava o negro de sua
cultura e de seus valores. Ou seja, evocando uma certa inauten-
ticidade naquilo que esses negros consideravam "brasileiro" c que
ele, Bastide, implicitamente, considerava "branco". Do mesmo
modo, era considerado "embranqueci ment o" a absoro pelos
negros de certos padres de comportamento das classes mdias e
altas, o que significava, tambm subtepticiamente, que no ha-
veria lugar para negro nessas classes.
Pode-se dizer, baseado nessa literatura dos anos 1950 e 1 9W) ,
que havia dois tipos de "negro": o que acreditava na "democra-
cia racial", ou seja o "embranqueci do" ou racialmente "aliena-
do", e o negro consciente de sua cor e cie sua discriminao, que
Bastide e Fernandes chamaram de "o novo negro".
Estudos recentes (Figueiredo, 1999) tm demonstrado, que
no perodo atual, alm destes dois tipos, existe um outro: o ne-
gro que, mesmo sabendo que sua cor faz parte do jogo permanente
cias representaes sociais, definindo oportunidades desiguais, faz,
amda assim, uma trajetria de ascenso social sem a necessidade
de mobilizar politicamente a cor. Assim seria o novo conformis-
mo negro, o qual grassaria tanto no espao delimitado rolos va-
lores da democracia racial (mas, sem se confundir com "embran-
quecimento"), quanto no espao cultural construdo pela mihtan-
cia negra, (mas sem se confundir politicamente com esta).
86 Classes, raas e democracia
OS MOVI ME NTOS NEGROS
Se, do ponto de vista da poltica eleitoral, no parece ter
havido, nos ltimos 1 5 anos, uma movimentao dos negros em
uma direo nica, isso no impediu a formao de um movi mento
social relativamente forte. Como muitos outros autores apont am,
os negros, no Brasil, sempre ostentaram comportamentos radicais,
quebrando as regras do conformismo social. Debrucemo-nos, por
um momento, sobre esses que se definem como "negr os", que
organizam movimentos sociais e dizem representar o conjunto do
"povo negro".
As tenses raciais no Brasil moderno, isto , de 1950 para
c. tem crescido nos moment os de menor coeso naci onal. Nos
anos 30, em So Paulo, por exemplo, as diversas formaes tni-
cas principalmente os italianos, os srios-libaneses, os portugue-
ses estavam to bem organizadas que o regionalismo paulista
assumia contornos separatistas. Os brasileiros de variada mesti-
agem sentiam-se ameaados "de excluso em seu prprio pa s".
nessa poca que surge a Frente Negra Brasileira (FNB), uma
organizao tnica, no sentido de que cultivava valores comuni -
trios especficos, mas cuja forma de recrutamento e identificao
era baseada na " cor " ou "r aa" e no na "cultura" ou nas "tradi-
es". De fato, a FNB buscava justamente afirmar o negro como
"brasileiro" renegando as tradies culturais afro-brasileiras,
responsabilizadas pelos esteretipos que marcavam os negros
e denunciando o preconcei to de cor que os alijava do mercado de
trabalho em favor dos estrangeiros (bastide. i 955, i 98 3; Fernan-
des, 1955, 1965). Mas a FNB foi, tambm, uma organizao polti-
ca que chegou a se tran sformar em partido, antes de ser extinta pelo
Estado Novo. Politicamente, apesar de conter algumas dissidn-
cias socialistas, a FNB era majontariamente de dr ei t a, de corre
fascista, incluindo mesmo um grupamento paramihrar. Assim, em
1932, os negros relutam em formar com a revoluo constituciona-
lista paulista, de cunho regionalista e separatista e,em 1937 , apoiam
o golpe de Vargas que, de certo modo, implementa algumas pol-
Poltica de integrao e poltica de identidade 87
ricas ao encontro das suas reivindicaes. Tratava-se, portanto, cio
protesto negro contra uma organizao social (a da Primeira Re-
pblica), que tinha material e culturalmente acuado as populaes
negras e mestias em espaos secundrios e marginais.
Mas a ditadura de Vargas prescindia de organizaes pol-
ticas livres, ainda que sua poltica tivesse o respaldo das massas.
O protesto negro s poder emergir com a restaurao das liber-
dades civis, oito anos depois.
A redemocratizao em 1945 ser mareada, como vimos, por
um forte projeto nacionalista, tanto em termos econmicos quanto
culturais. Isso representou, por urn lado, a recusa do liberalismo
econmico e do imperialismo cultural europeu e americano e, por
outro lado, a edificao de um capitalismo regulado pelo Estado
e uma cultura nacional aut ct one de bases populares. Esse proje-
to de nao ofereceu aos negros uma melhor insero econmica
e transformou em naci onai s ou regionais as diversas tradies
culturais de origem africana ou luso-afro-brasileira: o barroco
colonial de Pernambuco, Bahi a e Minas, as procisses catlicas,
as festas de largo, o samba, o carnaval, a capoeira, o candombl,
as congadas, as diversas culinrias regionais etc. etc. Ou seja, o
federalismo poltico foi, de certo modo, fortalecido pela naciona-
lizao dos diversos regionalismos culturais, todos de cunho ra-
cial, e temperados agora pela grande mobilidade espacial da po-
pulao e pela "integrao cios negros na sociedade de classes",
ou seja, como trabalhadores e brasileiros negros. O Brasil, se no
era de fato, deveria ser, no devir, uma democracia racial, coisa que,
alis, para o imaginrio naci onal bastava.
O protesto negro, entretanto, no desapareceu, muito pelo
contrrio, ampliou-se e amadureceu intelectualmente m -se pero-
do. Primeiro, porque a discriminao racial, medida que se am-
pliavam os mercados e a competi o, tambm se tomava mai s
problemtica; segundo, porque os preconceitos e os esteretipos
continuavam a perseguir os negros; terceiro, porque grande par-
te da populao "de cor " continuava marginalizada em favelas,
mucambos, alagados e na agricultura de subsistncia. Sero pts-
88 Classes, raas e democracia
tamente os negros em ascenso social, aqueles recentemente in-
corporados sociedade cie classes, que verbalizaro com mai or
contundncia os problemas da discriminao, do preconceito e das
desigualdades.
O Teatro Experimental do Negro (TEN) do Ri o de Janei ro
foi, nesse perodo, a principal organizao negra do pas. E mbo-
ra tivesse, de incio, o objetivo, eminentemente cultural, de abrir
o campo das artes cnicas brasileiras aos atores negros, acabou,
com o tempo, por se transformar em agncia de formao pro-
fissional, clnica pblica de psicodrama para a populao negra
e movimento de recuperao da imagem c da auto-estima dos
negros brasileiros. Seus principais intelectuais, Abdias do Nasci -
mento (1950. 1968 i e Alberto Guerreiro Ramos ( 1957 ) , princi-
palmente este ltimo, radicalizaram a crtica ao imperialismo cul-
tural europeu e norte-americano, pregando uma cincia social que
se engajasse num projeto de construo nacional. Para Guerreiro
Ramos, negro era o povo brasileiro, no fazendo sentido falar de
uma "questo negra" ou cultivar como exticas formas de expres-
so cultural prprias da situao de misria e de ignorncia em
que se encontrava boa parte da populao pobre do pas (como
se referia principalmente as religies afro-brasileiras). Os intelec-
tuais cio TEN e a sua ideologia estiveram, portanto, em sintonia
com a poltica nacionalista e populista da poca, cuja expresso
maior foi o trabalhismo de Vargas. Do ponto de vista ideolgi-
co, radicalizando o mulatismo de Gilberto freyre, segundo o qual
todo brasileiro traria na alma a marca da mestiagem. Guerreiro
Ramos transforma a negritude em assuno de uma identidade
nacional brasileira liberta dos complexos de inferioridade deixa-
dos pela colonizao portuguesa.
4
Depois cie novo perodo autoritrio, entre 1964 e 197 8 , que
calou a sociedade civil, o protesto negro recuperou toda a sua vee-
mncia recentemente, com o Movimento Negro Unificado ( MNU) .
4
Ver, sobre esse assunto, Bastide (1961).
Poltica de integrao e poltica de identidade 89
Fundado em 1 97 9, o MNU tem um perfil radicalmente di-
ferente de seus antecessores (Gonzalcz, 1982; Santos, 1985). Po-
liticamente, alinha-se esquerda revolucionria; ideologicamen-
te, assume, pela primeira vez no pas, um racialismo radical. Suas
influncias mais evidentes e reconhecidas so: primeiro, a crtica
de Florestan Fernandes ordem racial de origem escravocrata, que
a burguesia brasileira mantivera intacta e que transformara a de-
mocracia racial em mito; segundo, o movimento dos negros ame-
ricanos pelos direitos civis e o desenvolvimento de um naciona-
lismo negro nos Pastados Unidos; terceiro, a luta de libertao cios
povos da frica meridional (Moambique, Angola, Rodsia, fri-
ca do Sul). Mas, a esses se deve juntar pelo menos mais trs: o mo-
vimento das mulheres, no plano internacional, que possibilita a
militncia de mulheres negras; o novo sindicalismo brasileiro que,
apoiado nos chos-de-fbrica, retira as lideranas sindicais da
rbita dos partidos polticos tradicionais; e os novos movimen-
tos sociais urbanos, que mant m a sociedade civil mobilizada,
durante toda a dcada de 198 0 .
A DINMICA DO MOVI ME NTO NEGRO
Retomemos alguns elementos, com o intuito de esquematizar
o desenvolvimento do movimento poltico dos negros no sculo X X .
Como vimos, a primeira organizao negra no Brasil a atuar
no campo poltico surgiu nos anos 30 desse sculo e tomou o nome
de Frente Negra Brasileira. Surgiu em So Paulo. Estado oncle era
forte a formao de comunidades tnicas, alimentadas pela mi-
grao quase centenria de europeus principalmente italianos,
portugueses, espanhis e srio-libaneses. A Frente Negra foi, at
certo ponto, segundo autores como Fernandes f 196), uma rea-
o permeabilidade da estrutura social brasileira a estas etnias
e a sua rpida integrao na nacionalidade, atravs do domnio
da cultura luso-brasileira. O fato que, um pouco mais de qua-
renta anos depois da abol i o e quase cem anos depois da Inde-
90 Classes, raas e democracia
pendncia, os afrodescendentes continuavam, em sua maioria, nas
camadas subalternas e marginais da sociedade paulista, oncle es-
tavam tambm, de incio, os imigrantes eur opeus . Es t es , entre-
tanto, j tinham rompi do, a essa altura, a barreira de cl asse. A
impermeabilidade da estrutura social brasileira mobilidade cios
afrodescendentes de traos negrides (mas no dos mais cl aros,
que podiam se classificar como "brancos"') foi, certamente, se no
o estmulo maior, ao menos a grande justificativa para que se for-
masse um movi ment o social negro com o objetivo de educar e
integrar socialmente os negros (Fernandes, 1965).
Bastide (1 98 3) , ao estudar a imprensa negra em So Paul o,
fala de trs perodos, entre 1910 e os anos 1950. O primeiro, de
H 10 a 1930, reflete um movimento de associao e formao cie
lideranas negras. Os objetivos dessas associaes e cie sua impren-
sa parecem articular-se em torno de trs eixos. Primeiro, pr omo-
ver a vida social negra, atravs da atribuio e do reconhecimen-
to da honra e do prestgio sociais distribudos em diversos espa-
os de sociabilidade e consagrao, principalmente os clubes e os
bailes; segundo, liderar um processo de reeducao da massa ne-
gra, no sentido de sua completa aculturao e distanciamento de
suas origens africanas, a comear pela educao formal; t ercei ro,
liderar a luta cont ra o preconceito de core o seu correlato, o sen-
timento de inferioridade.
E sintomtico que, nessa campanha de reeducao, seja da-
da nfase aos defeitos e vcios da massa negra: a relao prom s-
cua entre os sexos, o alcoolismo, o modo de vestir, a licenciosidade
e linguagem, de gestos e modos. Fossem esses vcios pensados
como produtos cia escravido, maneira de Nabuco. fossem eles
4 S
Nogueira ( 1998 [1 955] ) descreve negros, mulatos e imigrantes divi-
dindo, no comeo do sculo X X , as posies proletrias da sociedade de
liapetinmga principalmente os ofcios artesanais enquanto, nos 1 940 .
a maioria dos imigrantes j estava estabelecida em posies de classe mdia
e alta, ao contrrio de negros e mulatos.
Poltica de integrao e poltica de identidade 91
costumes de uma raa atrasada, maneira do cvohicionismo cia
poca, a verdade que essas lideranas negras no apenas acredi-
tavam em tais explicaes, como aceitavam tambm que tais este-
retipos tivessem fundamento. Reeducar a massa negra significava,
portanto, ao mesmo tempo, diferenciar-se dela. Combater o pre-
conceito eqivalia tambm a subtrair-lhe os fundamentos inscri-
tos no comportamento da massa negra. O sentimento de inferio-
ridade, pois, estava presente tanto nas elites quanto nas massas.
O segundo perodo de que nos fala Bastide, de vigncia da
Frente Negra Brasileira, vai cios anos 1 950 at 1 937 e marcado
pela politizao do discurso. Substancialmente nada muda, o que
muda o tom. O discurso torna-se cada vez mais nacionalista, s
vezes xenfobo, as acusaes de preconceito transformam-se em
explicao para a pobreza negra, oriunda do desemprego dos
artesos e artistas negros c sua substituio por imigrantes estran-
geiros. 1 al discurso, entretanto, pouco convincente qua discur-
so negro pois sustenta-se, por um lado, na aceitao do carter
mestio da nacionalidade brasileira, produto das trs raas fun-
dadoras, e, por outro lado, na recusa dos vestgios de tudo que
seja africano ou lembre a frica. No convincente tampouco pelo
que tem de "puntani smo negro" (Bastide, 1955). De fato, a bus-
ca de aparncia de moralidade atinge seu pice justamente nessa
fase, com tudo que representa de inculpao sub-reptcia das v-
timas do preconceito. Segundo Bastide, o smbolo desse perod>>
a Me-Prcta, c a palavra de ordem, a .segunda abolio.
O mais consistente no nacionalismo negro dos anos l ^a.
0 terceiro perodo de que fala Bastide, viceiou nos escritos de Guer-
reiro Ramos. Kste inverteu completamente a idia matricial de
branqueamento. inscrita no pensamento social brasileiro (Bastide.
1 96 1). Fm vez cie um elogio da mestiagem, a maneira de Freyre
e dos modernistas, que marginalizava o negro. Guerreiro Ramos
atribuir a negritude ao povo brasileiro ("o negro o povo bra-
sileiro") e falar tio mestio como um branco patolgico. No en-
tanto, por mais forte que tenha sido tal inverso, a verdade que
o discurso de Guerreiro manteve-se distante da massa negra, a qual
92
Classes, raas e democrac
ele no reconhecia como culturalmente distinta, negando, por
exemplo, a pujana tias tradies religiosas afro-brasileiras. Vi as,
contraditonamente, esse perodo deixou como legado um conjun-
to de prticas de reconstruo da auto-estima popular, como o
teatro negro e os concursos de beleza (boneca de piche).
e fato, os propsitos de integrao do negro na soci edade
nacional e de resgate da sua auto-estima foram marcas registra-
das do Teatro Experi mental do Negro. Atravs do teatro, do psi-
codrama e de concursos de beleza, o TEN procurou no apenas
denunciar o preconcei to e o estigma de que os negros eram vti-
mas, mas, acima de tudo, oferecer uma via racional e politicamen-
te construda de integrao e mobilidade social dos pretos, par-
dos e mulatos.
A orientao poltica desse movimento hcou expressa no
modo extenso de definir os "negros", para neles incluir mul at os
e pardos, tal como j acontecia em So Paulo e no Sul, fazendo
com que, longe de ser uma minoria, o negro fosse o povo brasi-
leiro. Povo significa tambm aqueles excludos do pleno gozo dos
direitos civis e sociais como acesso educao, ao emprego e
assistncia mdica constitucionalmente garantidos pela or-
dem jutdico-poltica. Povo sempre foi o oposto de elite ou de dou-
tores, na dicotoma hierrquica da sociedade brasileira. Longe,
portanto, de expressar os interesses de uma minoria, o TE N, e de
modo mais amplo o movimento negro desses anos. procurava
solucionar um problema nacional de integrao social, econmi ca
e poltica da grande massa da populao brasileira. Da:, a reao
negativa de Guerreiro Ramos (1957) c de muitos intelectuais, ne-
gros ao cultivo, por parte dos antroplogos, da herana, cultural
africana presente no Brasil. Pinto (i 998 11953] ), a primeiro soci -
logo a interpretar as relaes raciais brasileiras de uma perspec-
tiva marxista, pensava, ao contrrio, que o TEN era um movimen-
to de negros de classe mdia, alienados da massa proletria.
Fica, portanto, claro, seja na postura da Frente Negra, seja
na postura doTF. N, o reconhecimento tcito da superposio entre
ordem econmica (de classe) e ordem racial, a barrar o cami nho
Poltica de integrao e poltica de identidade
93
da- integrao dos homens de cor modernidade luso-brasileira.
O discurso intelectual prevaleeente at ento, era de que a ordem
racial j tinha sido desfeita, pertencia ao passado escravista, e de
que as diferenas ento existentes entre brancos e negros poderiam
ser atribudas quase que exclusivamente seletividade de classe,
barreira esta encontrada por todas as minorias tni cas que emi-
graram para o Novo Mundo.
4 9
Na academia, sero os intelectuais
paulistas, principalmente Oracy Nogueira e Florestan Fernandes,
que rompero tal consenso, ainda nos anos 1950 , afirmando a
confluncia de barreiras de classe e de cor mobilidade social e
integrao dos negr os.
5 0
A postura do "FFN colidia frontalmente com o mainstream
da intelectualidade brasileira, tanto na interpretao sociolgica,
quanto no plano ideobgieo. No plano sociolgico, o pensamen-
to negro pressupunha a existncia de formao racial e no ape-
nas de classe; no plano idcoligico, reivindicava a identidade ne-
gra e no apenas mestia, que constituiria o mago da identida-
de nacional brasileira. Era desse modo que os lderes dos anos 1950
procuravam equacionar o nacionalismo e a negritude. -
1 1
Isso os
afastava do modo como os demais intelectuais, principalmente os
nordestinos, entendiam a democracia racial ento vigente, que se
sustentava sobre a negao dos negros, qna raa ou grupo social,
e na afi rmao de um ideal que na verdade era tido como uma
realidade concret a de mestiagem racial e sincretismo cultural.
A
" Fssa idia primeiramente aplicada ao Brs:! por Donald Picrson
1 942 ). que segue risca o modelo explicam <> de Roi vrc 1'.. Park il. vl>. sen
orientador, acrescentando, todavia, para o caso nrasileiro. algumas condi-
es biolgicas e culturais, como a mestiagem, aportadas por (jilberro Irey-
rc (19. 53). Charles Wagley (19s2l apenas reitera tal ponto de vista.
s o
Um intelectual comoThales de Azevedo, ainda que as documentan-
do fartamente, atribuiu as barreiras de cor a persistncia da ordem social de
Stnd, tpica de sociedades tradicionais. Ver Guimares ( 1996} .
1 1
Tal interpretao pode ser encontrada em Basude ( 1961) .
94
Classes, raas e democracia
Ao contrri o, os intelectuais negros acusavam os intelectuais nor-
destinos e estrangeiros (principalmente Bastide) de incentivarem
a permanncia de traos culturais afro-brasileiros retrgrados, o
que era considerado por eles como culto ao exotismo e como trans-
formao do negro em objeto.
Cont udo, a postura agressiva de anti-raeialismo ede afirma-
o cie um Brasil mestio por parte de Gilberto Freyre, jos Lins
do Rego, Jorge Amado, Rachel de Quei roz e outros escritores en-
cont rava tambm alguma simpatia do movimento negro quando,
e apenas quando, tal viso de Brasil contradizia a viso, nutrida
por parte de outn >s escritores e intelectuais, em So Paulo e no Sul
do pas, do brasil como um pas branco e da democracia racial co-
mo fruto de um etyis cordial, no necessariamente miscigenaclo.
5 2
Para sL- entendei a postura de intelectuais como Guerreiro
Ramos , Correia beire, Abdias Nascimento e outros tem que se ter
presente o que estava em jogo nas diferentes dimenses do espa-
o si mbli co.
No plano da identidade nacional, tratava-se de definir o ne-
gro no como uma minoria estrangeira tal como fazia o main-
stream da intelectualidade paulista , mas como maioria, como
o povo. Mas, tal postura, por outro lado, pressupunha o negro
como categoria no plano poltico, o que no eta reconhecido pelo
mainstreaw da intelectualidade nordestina, que via o negro como
categori a anenas no plano da cultura, enquanto objeto de estu-
do. Mas , apesar dessas diferenas marcant es, na disputa entre
aqueles qm pensavam o Brasil como mestio e aqueles que o viam
como branco, a simpatia dos negros tendia para os primeiros.
F tanmm d< >s anos 1950 que data o progressivo desapare-
cimento dc .'stigmas raciais tais como o mulato pernstico ou mu-
lato pachoio pn t doutor, o negro boal, o negro de alma hran-
Vei . por exemplo, a polmica envolvendo Paulo Duarte, Srgio
Millier, Jos Lins do Rego e Rachel de Quei roz, em Bastos (1988) e Maio
( 1997 ) .
Poltica de integrao e poltica de identidade
95
ca e t c , coalescidos no imprio e na Primeira Repbli ca,
V l
quan-
do eram ainda vivos o escravismo e a subalternidade dos africa-
nos c de seus descendentes. No lugar desses estigmas estabelecem-
se progressivamente outros novos como baiano ou nordesti-
no, no Sudeste, ou brasileiro, no interior do Sul do Brasil para
referir-se no apenas queles tipos raciais afro-brasilciros. mas,
de modo mais abrangente, a todos os provenientes de regies bra-
sileiras de povo mestio. Isso se deve principalmente ao incremento
da migrao inter-regional no sentido norte-sul, que desloca mas-
sas significativas da populao pobre negro-mestia (negros, mu-
latos, caboclos e cabras) do Nordeste para o Sudeste e o sul do
pas. As tenses sociais que ta deslocamento provoca seja pela
concorrncia no mercado de trabalho, sept pelo aumento da po-
breza urbana acabaro por fazer com que esses tipos mico-
regionais sofram tambm com os estigmas antes concentrados nos
tipos raciais. Ou, melhor dito, acabaro por dar uma rationalc
regionalista ao preconceito de fundo racial: no importa que o
negro seja paulistano ou gacho de quatro costados, ele ser vis-
to preferencialmente como um descendente baiano, carioca ou
nordestino, como um migrante, em sociedades paradoxalmente
orgulhosas de sua recente procedncia europia.
Ainda nos anos 1950, Florestan Fernandes encontra, final-
mente, uma razo sociolgica para o preconceito racial no Brasil,
o "preconceito de cor". Nos Estados Unidos, sociedade igualitria,
o preconceito era explicado como uma forma dos brancos evitarem
a concorrncia no mercado de trabalho u de manterem o mo-
noplio sobre as melhores posies sociais (Pierson, 19/ 1 | i
l
>42|;
Harris, 1967). Como justificai o preconceito no Brasil, sociedade
de privilgios sociais reconhecidos de fato, quando no de direito,
onde os negros eram mantidos em posio subalterna na hierar-
quia do prestgio social?
!
Freyre (1. 936), Pierson ( 19/ 1 [ 1942 ] e Azevedo (1996 [1955] ), en-
tre outros, documentam tais estigmas.
96
Classes, raas e democracia
Desafiado teoricamente, a resposta de Florestan ser decisi-
va: o preconceito no Brasil seria uma reao das elites brancas (e
no do povo) s novas relaes sociais prprias ordem social
competitiva. A potencialidade revolucionria dos negros estaria
justamente em livrar a sociedade burguesa emergente das amar-
ras dos privilgios e das desigualdades da ordem patrimonial.
Assim, o preconceito brasileiro, em vez de provir dos iguais em
direito competidores numa ordem igualitria , como nos Es-
tados Unidos, provinha das elites temerosas de perder privilgios
patrimoniais. Da, entre ns, o preconceito racial tomar este as-
pecto de preconceiro no-revelado, pois o branco em posio social
superior no reconhece no negro que ele discrimina um competi-
dor, mas um subalterno deslocado de lugar, t ) problema, portanto,
para quem discrimina, no estaria na raa, mas na ausncia de
subalternidade do discriminado, deslocado de sua classe.
Florestan far, portanto, do "negro revol t ado"
5 4
o revolu-
cionrio em potencial que poder completar o servio da revolu-
o burguesa, deixado i nacabado. Florestan possibilita, assim, a
renovao da linha poltica dos movimentos negros, que deixa-
ro, no futuro, de lutar apenas pela integrao na vida nacional,
preferindo a construo de uma sociedade mais justa e igualit-
ria. O ideal socialista contami nar, durante a dcada de 1960 c
seguintes, muitos militantes negros.
O socialismo marxista, que muitos militantes negros abra-
aram nos 1960, tinha, entretanto, a grande desvantagem de acen-
tuar demasiadamente a luta de classes como motor ua histria em
detrimento da conscincia racial, tida como partcularismo ou alie-
nao. Ainda que os marxistas reconhecessem a discriminao
racial existente na sociedade brasileira, tal racismo era atribudo
a determinantes sociocconmicos que desapareceriam com a sti-
plantao da sociedade burguesa. Na verdade, o movimento nc-
M
Este o ttulo dado pelo TE N coletnea Je teses apresentada no I
Congresso do Negro Brasileiro. Ver Nascimento ( i 968 ) .
Poltica de integrao e poltica de identidade 97
gro, como todos os outros movimentos sociais, inclusive o movi-
mento operrio, foram postos pelos marxistas a reboque da luta
de classes (Hancbard, 1994) .
Nos anos I 97 0 , a coincidncia entre a descolonizao da
frica e a luta pelos direitos civis dos negros americanos, des-
gua numa conseqente onda de pan-africanismo e afrocentrismo
que mudar substancialmente o panorama brasileiro. Mas isso
lentamente.
De incio, a descolonizao da frica, nos anos 1960, pero-
do marcado pelo nacionalismo e por projetos de desenvolvimen-
to auto-sustentado, levar o governo brasileiro a reconhecer e
patrocinar as origens africanas da civilizao brasileira, aquilo que
se expressa na cunhagem do termo "afro-brasileiro" para signi-
ficar brasileiro de origem africana, tal como o candombl, a ca-
poeira, o samba etc. No entanto, a busca de razes, que havia
comeado tempos antes, dissociada do discurso poltico, pela re-
jeio do sineretismo religioso e pela conseqente procura da pu-
reza nag, essa busca das origens ser doravante a ptopulsora do
discurso poltico negro.
A dcada seguinte, os anos 197 0, presenciou o arrefecimento
do "reducionismo de classe" entre a militncia negra, ainda que
o marxismo passe a predominar da em diante (Hanchatd, 1994) .
De um modo geral, os avanos da luta pelos direitos civis dos
negros americanos foram decisivos para chamar a ateno dos bra-
sileiros para a importncia da mobilizao em linhas raciais. Ade-
mais, a ditadura militar desorganizou os grupos polticos marxistas
e nacionalistas de oposi o ao governo, condenando ao exlio l-
deres e intelectuais importantes como Abdias do Nasci ment o,
Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes c muitos outros. Despro-
vidos de tais lideranas e defrontando-se agora com a democra-
cia racial transformada em dogma de governo, a influncia cio mo-
vimento negro internacional foi muito maior e direta do que o que
seria de se esperar. Isso aconteceu tanto pela influncia que o
mundo cultural europeu e norte-americano exerceu diretamente
sobre os exilados, expostos agora ao dia-a-dia da poltica racial,
98 Classes, raas e democracia
feminista e terceiro-mundista, quanto pela maior influncia que
a indstria cultural norte-americana e europia passou a exercer
no Brasil.
O discurso poltico negro ser guiado por duas balizas prin-
cipais o nacionalismo e a esquerda e a busca de africanidade
se desenvolver entre os campos acadmico
5
-"' e artstico. Pois bem,
a grande virada acontecer apenas nos anos 1980 justamente na
confluncia de uma poltica de esquerda com a busca de africani-
dade. A passagem foi marcada pela transformao de Zumbi , e
do 20 de novembro, em smbolo da luta pela emanci pao, des-
locando a Me-Preta e o 13 de maio, smbolo maior da respeita-
bilidade da mulher e da famlia negras.
O QUI L OMBI SMO OU A INFLUNCIA DE
ABDIAS DO NASCI ME NTO NOS ANOS 198 0
O Movi mento Negro Unificado dos anos 198 0 foi um mo-
vimento cindido. De um lado, lideranas de esquerda, geralmen-
te jovens universitrios, algumas deles sintonizados com a luta
democrtica que se organizava a partir das organizaes socia-
listas, abrigados no PMDB; e, de outro lado, lideranas sintoni-
zadas com a resistncia cultural que espontaneamente se espraia-
va nos meios negros mais pobres, influenciados pela cultura de
consumo de massa. Mas a presena de um dirigente Imt r i co,
como Abdias do Nasci mento, com trnsito internacional, ligado
" No plano acadmico, a mudana foi tambm radicai. X o finai Ja
decida de 1 97 0 , j aparecem no Brasil as primeiras analises sociolgicas qtie
demonstram a importncia da "raa" na construo das desigualdades so-
ciais no Brasil {Hasenbalg, 1<>79; Silva. 1978) e as primeiras crticas inter-
pretao da discriminao e do preconceito como reao ordem competi-
tiva. A discriminao passaria a ser vista doravante como parte integrante
da modernizao capitalista.
Poltica de integrao e poltica de identidade 99
ao trabalhismo de Bnzol a, foi tambm decisiva na formao ideo-
lgica do movimento. Passo a examinar agora o "qui lombi smo",
doutrina forjada por Abdi as, uma das principais matrizes ideo-
lgicas que permeava o movimento negro nos anos 198 0 , alian-
do radicalismo cultural a radicalismo poltico.
Duas influncias maiores marcaram a doutrina de "quilom-
bismo" em Abdias do Nascimento. A mais bvia certamente o
Afrocentrismo que foi, desde os anos 1950, uma doutrina muito
influente entre os intelectuais africanos e afrodescendentes, radi-
cados na Europa e nos Estados Unidos (Diop, 197 9 [1954] ; Asante
e Asante, 1982 ; Asante, 198 7 ) . Do Afrocentrismo vem o projeto
de filiar os negros brasileiros a uma "nao" negra transnacional,
de cuja matriz teria evoludo a civilizao ocidental, cujas razes
mais profundas se encont ram no Antigo Imprio egpcio e na pre-
sena africana na Amrica pr-colombiana. Trata-se, evidentemen-
te, de um movimento de inveno de tradies e reivindicao de
um processo civilizatrio negro. A outra influencia foi, sem d-
vida, o marxismo, principalmente atravs da vertente mais pr-
xima ao nacionalismo brasileiro dos anos 1960. Deste, Abdias re-
tira no apenas analogias formais c palavras de ordem, mas a idia
fundamental de que a emancipao do negro brasileiro significa
a emancipao da expl orao capitalista de todo o povo brasilei-
ro. Ora, o carter universalista da emancipao dos negros no
Brasil est intimamente ligado idia de uma luta de maioria ex-
plorada, e no de uma minoria oprimida, como nos Estados Uni-
dos. Para esta luta, a definio ampla de negro como descenden-
tes de africanos (e no apenas pessoas de cor ou fennpo negro)
imprescindvel. Alis, tal definio ampliada de negro j fora teita
por Guerreiro Ramos e pelo prprio Abdias^
6
quando, nos amos
6
Ainda que haja alguma continuidade entre o pensamento de Ab-
dias dos anos 1950 e o dos anos 1980, preciso ter bem claro que o seu
pensamento, entre 1960 e 198 0 , se desloca do eixo da "negritude" para o
do "afrocentrismo".
100
Classes, raas e democracia
1950, se apropri aram das idias de negritude, vindas cio mundo
francfono. Naquel a oportunidade, como bem argumentou Roger
Bastde (! 9 6 1 ) , os negros brasileiros deram uni sentido bastante
original ao movi ment o da negritude, recusando seus aspectos cul-
turais (vistos ent o, no caso do Brasil, como anacronismo brba-
ro) e enfatizando seu catter libertrio e nacionalista. A novida-
de, nos anos 1 9 8 0 , foi a adoo de uma postura, a um s tempo,
nacionalista e culturalista.
A adoo de uma classificao racial bipolar (brancos e ne-
gros, aboli ndo as categorias intermedirias de "par do" ou "mo-
reno"), parece, portanto, ter uma motivao claramente poltica.
Longe de ser produt o de mentes "colonizadas" pelo imperialis-
mo cultural amer i cano ou presas a um racialismo ar cai co
5
-' , foi a
escolha de um movimento que optou por uma luta em que o ne-
gro pudesse ser assimilado classe trabalhadora expl orada e no
a uma minoria apenas oprimida.
Conto t odo o movimento poltico, o movimento negro se nu-
tre de tradies e de elos com movimentos contemporneos, inter-
nos e externos ao pas, retirando da a sua atualidade e eficcia
ideolgica. Foi o que fizeram as suas principais lideranas inte-
lectuais e polticas, como Abdias do Nascimento e Lla Gonzalez.
Em sua referncia interna, Abdias buscou integrar o progra-
ma do qui lombi smo ao movimento pela redemocratizao do pas,
atravs de uma luta de emancipao radical, de i nspi rao mar-
xista (Quadro 1, item A).
Do mesmo modo, Abdias definiu o negro brasileiro no ape-
nas como a parcel a mais explorada do povo brasileiro, mas sua
maioria, mobi l i zando velhas tradies sobre u mulatismo dos ca-
Ali cs. a distncia que o movimento negro guarda da noo biol-
gica de "raa" reiterada inmeras vezes. Ver, por exemplo. Nascimento
(19X0: 163;- "Avi so aos caluniadores, intrigantes, maliciosos e os apressa-
dos em julgar: a palavra ' raa' , no sentido em que a emprego, e definida em
termos de histria e cultura, no de pureza biolgica".
Poltica de integrao e poltica de identidade 101
pires-do-mato, perseguidores dos quilombolas (Quadro 1, item
B). Mais. Abdias forava a analogia entre a luta dos negros bra-
sileiros e a luta contra o apartheid na frica .do Sul, definindo o
negro como o t rabal hador por excelncia, o mais brasileiro dos
brasileiros, a maioria oprimida por uma minoria racista, em gran-
de parte estrangeira (Quadro 1, item C).
Forando os aspectos de segregao residencial, excluso do
mercado formal de trabalho e terrorismo policial, Abdias apro-
xima, por analogia, o racismo brasileiro do sul-africano (Quadro
1, item D). Mas, ao mesmo tempo, a referncia brutalidade po-
licial est tambm indissoluvelmente iigada ao movimento pelos
direitos humanos que, nessa poca, j mobilizava as toras pol-
ticas que lutavam pela redemocratizao do pas. Mais claramente,
Abdias argn que, para os negros, o autoritarismo e ausncia de
diretos tm sido permanentes (Quadro 1, item E). A sada, para
Abdias, seria a luta antiimperialista e nacionalista, articulada com
movimentos de libertao nacionais e de luta de classes, mas guar-
dando as particularidades culturais e especificidades dos negros
brasileiros, ris--Ois seja outros negros na dispora, seja classe
operria brasileira (Quadro 1, item F).
Uma anlise do texto clssico de Llia Gonzalez ( 198 2 ) e dos
documentos do MNU encontraria os mesmos elementos, ainda que
de modo no to explci to: o movimento negro brasileiro se nu-
tre ideologicamente das lutas de emancipao que naquele mo-
mento esto travando alguns povos negros (nus Estados Unidos,
na frica do Sul e na frica portuguesa) e da tradio das lutas
de resistncia popular no Brasil, do abolicionismo ao Teat r o Ex-
perimental do Negro.
102
Classes, raas e democracia
I
J Quadro 1 _
ALGUNS ELEMENTOS IDEOLGICOS
DO QUILOMBISMO
"O povo negro tem um projeto coletivo: a edificao de ama
sociedade fundada sobre a justia, a igualdade e o respeito por ro-
dos os seres humanos; uma sociedade cuja natureza intrnseca tor-
^ ne impossvel a explorao econmica ou racial. Uma democracia
o autntica, fundada pelos destitudos e deserdados da terra. No
.3 temos interesse na simples restaurao de tipos e formas obsoletas
2 de instituies econmicas, polticas e sociais; isto serviria apenas
para procrastmar o advento de nossa emancipao total e deiniti-
'C va, a qual vir apenas com a transformao radicai das estruturas
socioeconmicas e polticas existentes. No temos interesse em pro-
por uma adaptao ou reforma dos modelos da sociedade capita-
lista" (Nascimento, 19S0: 160).
"A citao dos capites-o-mato importante. De um modo
gerai, eles eram mulatos, isto , negros de pele clara assimilados pela
classe dominante branca e instigados contra seus irmos e irms afri-
canos. No devemos hoje nos permitir sermos divididos entre ' pre-
tos' e ' mulatos' , enfraquecendo nossa identidade fundamental de
afro-brasileiros, afro-americanos de todo o continente, isto , afri-
canos na dispora" (Nascimento, 1980: 156).
"Junt o com os ndios, escravizados por uni perodo e depois
exterminados, os africanos foram o primeiro e nico trabalhador
durante trs sculos e meio. construindo as estruturas desse pas cha-
mado Brasil. L desnecessrio lembrar mais uma vez os vastos cam-
pos que os africanos irrigaram com seu suor. ou evocar os canaviais,
os campos ele algodo, as minas de ouro. diamante e prata. . as mui-
tas outras fases ela formao do Brasil alimentadas com o sangue
martirizado dos escravo:.. O negro, longe de ser um invasor ou um
estrangeiro, a verdadeira alma e corpo deste pas. Entretanto,
.apesar desse fato histrico irrefutvel, os africanos e seus descenden-
tes nunca foram tratados como iguais pela minoria branca que com-
plementa o quadro demogrfico do pas, mesmo nos dias de hoje.
Esta minoria manteve um monoplio exclusivo de rocio o poder, bem
estar, sade, educao e renda nacionais" (Nascimento, 1980: 149).
Poltica de integrao e poltica de identidade
"A condio do povo negro no mudou desde ento, seno
que piorou. Posto margem do emprego, largado em situao de
semi-emprego ou suhemprego, o povo negro continua largamente
excludo da economia. A segregao residencial imposta comu-
nidade negra pelo duplo fator da raa e da pobreza, marcando como
reas residenciais negras guetos de diversas denominaes: fave-
las, alagados, pores, mocambos, invases, conjuntos populares ou
' residenciais. ' A brutalidade policial permanente e as prises arbi-
trrias motivadas racialmente contribuem para o reino de terror sob
o qual vivem cotidianamente os negros. Nessas condies, com-
preende-se por que nenhum negro consciente tem esperana que
mudanas progressivas possam ocorrer espontaneamente e benefi-
ciar a comunidade afro-brasileira" (Nascimento, 1980: 149- 50 ) .
"Quase 500 anos de autoritarismo bastante. No podemos,
no devemos e no toleraremos mais. Uma das prticas bsicas des-
te autoritarismo o desprezo brutal da polcia pela famlia negra.
Todo tipo de arbitrariedade fixada indelevelmente nas batidas
policiais rotineiras que mantm a comunidade negra aterrorizada
e desmoralizada. Com estas batidas, espancamentos, assassinatos
e tortura, a impotncia e 'inferioridade" do povo negro atualizada
diariamente, posto que incapazes de defenderem-se a si mesmos
ou de proteger a sua famlia e os membros de sua comunidade. Is-
to constitui uma situao de humilhao perptua" (Nascimento,
198 0 : 162 ) .
"Nessa passagem, os autores [do manifesto] tocam num ponto
importante a tradio quilombista a definio do carter nacio-
nalista do movimento. Nacionalismo aqui no deve ser confundi-
do com xenofobia. O quilombismo uma luta anti-mipenalista, que
se articula com o pan-afncanismo e sustenta uma solidariedade
radical com todos os povos do mundo que lutam contra a explora-
o, a opresso e a pobreza, tanto quanto contra as desigualdades
motivadas por raa, cor, religio ou ideologia. O nacionalismo ne-
gro universalista e internacionalistu porque apoia a libertao na-
cional dos povos e v no respeito a sua singularidade cultura! e
sua integridade poltica uni imperativo para a libertao mundial.
A uniformidade sem face em nome da 'unidade' ou da ' solidarie-
dade' , em conformidade com os ditames do modelo social ociden-
tal no do interesse dos povos oprimidos no-ocidentais. O qui-
Classes, raas e democracia
lombi smo, enquanto movimento nacionalista, ensina que a iuta de
cada novo por sua libertao deve estar enraizada na sua prpria
identidade cultural e experincia histrica" (Nasci ment o, 19S0:
155) .
OS LI MI TE S DA COOPTAO
Vi mos que, tanto nos dias de hoje quant o nos clois perodos
anteriores ( 1930 - 37 , 1945-1964), o protesto negro forma-se num
ambiente de efervescncia intelectual e de mobi l i zao poltica
intensa da sociedade brasileira. Mas, ao cont r r i o da FNB e do
TE N, que encontraram rapidamente uma resposta s suas reivin-
dicaes no quadro da poltica tradicional, seja atravs do golpe
do Estado Novo, seja atravs do trahalhismo de Vargas e do na-
cionalismo, o maior radicalismo do MNU faz c om que o protes-
to negro atual tenha uma sobrevida maior. Ademai s, o MNU
apenas uma entre a-s muitas organizaes negras que foram fun-
dadas nos ltimos 15 anos. Logo emergiram out ras, de diferen-
tes matizes ideolgicos e polticos, e com diferentes finalidades,
entre as quais se destacam entidades culturais, polticas e jurdi-
cas, que tm em comum a luta contra o r aci smo.
Em sua pluralidade, o movimento negro recente trouxe para
a cena brasileira uma agenda que. alia poltica de reconhecimen-
to (de diferenas raciais e culturais), poltica de identidade (racia-
lismo e voto tnico), poltica de cidadania (combat e discrimi-
nao racial c afirmao dos direitos civis dos negros) e poltica
redisttibutiva (aes afirmativas ou compensat ri as).
>lf
Uma pequena lista das reivindicaes do movi ment o negro, nos l-
timos 15 anos, d uma idia de sua abrangncia e radicalismo. Em primeiro
lugar, o movimento recusou a data oficial de celebrao da incorporao dos
negros nao brasileira, o 13 de maio, data da abol i o da escravido,
Poltica de integrao e poltica de identidade 105
Algumas de suas reivindicaes encont raram respostas r-
pidas por parte do Estado brasileiro, tais como as que poderiam
mais facilmente caber na atual matriz de nacionalidade, cujo teor
o do sincretismo das trs raas fundadoras. Ali s, foi a partir
da compreenso muito peculiar da multirracialidade e do multi-
culturalismo como sntese ( maneira freyreana), e no como con-
vivncia entre iguais ( maneira norte-americana), que os brasi-
leiros passaram a aceitar algumas teses do movi ment o negro, tais
como o respeito s tradies e s expresses culturais de origem
africana e esttica negra. O fato que t ambm o Estado bra-
sileiro foi gil em responder nesse diapaso, seja atravs da cria-
o de fundaes culturais e de conselhos estaduais da comuni-
dade negra, seja atravs da incorporao de s mbol os negros ao
imaginrio nacional; seja atravs do desenvolvimento de legisla-
o mais apropriada de combate ao racismo (a Constituio de
1 98 8 e as leis 7 . 7 16 e 9. 459, que regulamentam o crime de racis-
mo); seja atravs da modificao do currculo escolar, em alguns
municpios onde a presso e a presena negra so mai s fortes, pata
permitir a multiculturalidade.
passando a festejar o 2 0 de novembro, dia da morte de Zumbi , que chefiou
a resistncia do Quilombo dos Paimares em 1695. Em segundo iugar, pas-
sou a reivindicar uma mudana completa na educao escolar, de modo a
extiqsar dos livros didticos, dos currculos e das prticas de ensino os este-
retipos e os preconceitos contra os negros, insulando, ao c-oitrano. a auto-
estima e o orgulho negros. Em terceiro lugar, exigiu uma campanha especial
do governo brasileiro que esclarecesse a populao negra (pretos e pardos!
cie modo a se declarar "preta" nos censos demogrficos de 1991 e 2 000. Em
quarto lugar, reclamou e obteve a modificao da Constituio para trans-
formar o racismo cm crime inafianvel e imprescritvel, tendo, posteriormen-
te, conseguido passar legislao ordinria regulamentando o dispositivo cons-
titucional. Em quinto lugar, articulou uma campanha nacional de denuncias
contra a discriminao racial no pas, pregando c al canando, era alguns
lugares, a cri ao de delegacias especiais de combate ao racismo. Finalmen-
te, concentra-se, boje em dia, em reclamar do governo federal a adoo de
polticas de ao afirmativa para o combate das desigualdades raciais.
106
Classes, raas e democracia
Outras demandas, entretanto, como aquelas que dizem res-
pei t o ao combate das desigualdades raciais na distribuio de
renda e no acesso aos servios pblicos, que exigem polticas afir-
mativas e inovadoras, encontram, ainda hoje, grande resistncia.
verdade que, aos poucos, novas instituies esto sendo cria-
das para atender a tais demandas, tais como: os cursmhos pr-
vestibulares para negros e carentes; iseno de taxas de inscrio
no vestibular pata alunos provenientes de tais cursos; projetos de
lei que reservam vagas nas universidades pblicas para estudan-
tes egressos do sistema pblico de educao; introduo de que-
sitos sobre cor nos formulrios e registros de instituies de ensi-
no superior etc.
De qualquer modo, fato que a amplitude das demandas tem
ali mentado continuamente o ativismo poltico negro, arrefecendo
as tentaes decooptao. Do mesmo modo, h reivindicaes que
no so feitas para serem atendidas, tais como o voto tnico (ne-
gro deve votarem negro) e o cultivo ela conscincia negra (cie cor-
te racalista). O que tem acontecido, em contrapartida, que o perfil
ideolgico e partidrio dos ativistas tem se diversificado, cm res-
posta procura dos diversos partidos pelo voto negro. Em certos
moment os, entretanto, lderes negros de grande carisma, como foi
o caso de Benedita da Silva, no Rio de Janei ro, em 1989, surgiram,
e podem voltar a surgir, no cenrio poltico, disputando cargos
eletivos por partidos de esquerda, como foi o caso do l' T ou d< > PDT,
e, atravs da conjuno de propostas radicais de modificao das
desigualdades raciais, ameaarem desestabilizar o sistema.
De fato, partidos e instituies gover nament al incorporam
apenas parte dos ativistas negros, ou seja, a que l e s afiliados ou
simpatizantes dos partidos no poder, deixando de ora tanto as
lideranas de oposio, quanto os militantes partiuariamcate in-
dependentes. Estes ltimos, geralmente agrupados em organiza-
es no-governamentais, cooperam entre si em fruns nacionais
e internacionais, ao mesmo tempo em que competem pela repre-
sent ao tnica. Tanto o escopo dessas organizaes que tm
o ativismo como profisso quanto a sua fonte de financiamento
Poltica de integrao e poltica de identidade 107
independente do governo brasileiro garantem-lhes maior
autonomia e radicalidade de aes e propostas.
Alm da crise da identidade nacional, do radicalismo e da
abrangncia das reivindicaes negras, vale, finalmente, mencio-
nar um ltimo motivo do porqu o protesto negro atual tem sido
mais duradouro e mais difcil de ser absorvido pelo Est ado. Refi-
ro-me nova conjuntura internacional, da qual o Estado brasileiro
j no pode mais se isolar, nem mesmo parcialmente, seja em ter-
mos econmicos, seja em termos culturais e polticos. A sociedade
de consumo e a internacionalizao da indstria cultural possibi-
litaram o surgimento de movimentos culturais negros, influencia-
dos no apenas pela cultura popular brasileira de origem africana,
mas tambm pela cultura do chamado Black Atlantic. Movimentos
como os que congregam principalmente a juventude urbana o
funk carioca (Vianna, 198 8 ) , o bloco afro baiano (Risrio, 198 1),
o reggae maranhense (Silva, 1995) , o rap paulista (Fli x, 20' KJ)
so iniciativas independentes de qualquer organizao poltica
ou tnica, alguns deles bastante radicais em seu protesto, o que
acaba por forar as lideranas polticas negras a manterem-se coe-
rentes com o seu prprio passado de mobilizao.
108 Classes, raas e democracia
4.
Nos captulos anteriores, vimos pelo menos trs sentidos do
termo "democraci a racial". Entendida como uma ideologia de do-
minao por Fernandes (1965), a democracia racial seria apenas
um modo c ni co e cruel de manuteno das desigualdades soci o-
econmicas entre brancos e negros, acobertando e silenciando a
permanncia do preconceito de cor e das discriminaes raciais.
E desse modo que a maioria dos intelectuais negros brasileiros a
entende e faz da denncia de sua crueldade (tal ideologia anestesia
e aliena suas vtimas) o principal instrumento de mobi li zao po-
ltica e de for mao de uma identidade racial combat i va.
Contra tal interpretao tm se manifestado alguns antrop-
logos (Fry, I 995-96), que argem que a "democracia raci al " pro-
priamente um mito fundador da nao brasileira, ou seja, parte
fundamental de sua matriz civilizatria, a qual, ainda que no ex-
clua completamente preconceitos e discriminaes, permite maior
intimidade e interpenetrao entre negros e brancos, fornecendo
bases mais slidas para a superao do racismo. Nesse sentido, a
"democracia raci al" tambm um sistema de ori ent ao da ao
social, ativo e onipresente tanto nos pequenos atos do dia-a-dia,
quarto na racionalizao da experincia cotidiana.
Parte deste texto foi originalmente escrito como relatrio de viagem
ao exterior para a FAPESP. Uma outra verso foi publicada em Jess Souza
(org. ), Democracia boje: novos desafios para a teoria democrtica contem-
pornea, Braslia, Editora da UNB, 2 0 0 1, pp. 38 7 - 414.
Direitos e avessos da nacionalidade 109
DI REI TOS E AVESSOS
DA NACI ONAL I DADE
5 9
Meu entendimento, no captulo anterior, que devemos ver
na "democracia racial", t ambm, um compromisso poltico e so-
cial do moderno Estado republi cano brasileiro, que vigeu, alter-
nando fora e convencimento, do Estado Novo de Vargas at a
ditadura militar. Tal compromi sso consistiu na incorporao da
populao negra brasileira ao mercado de trabalho, na ampliao
da educao formal, enfim na cri ao das condies infra-estrutu-
rais de uma sociedade de classes que desfizesse os estigmas criados
pela escravido. A imagem do negro enquanto povo e o banimen-
to, no pensamento social brasi lei ro, do conceito de "raa", subs-
titudo pelos de "cultura" e "cl asse social", so suas expresses.
Neste captulo, exponho a constelao simblica que faz da
"democracia racial" e do "descobri ment o" mitos nacionais. Meu
argumento principal de que tal construo ideolgica, sempre ten-
sa, encontra-se agora em crise. Exempl o disso o crescimento cio
preconceito tnico-regionaista em So Paulo. Para entend-lo me-
lhor, exploro, no final do cap t ul o, esse avesso da nacionalidade.
A MATRIZ FRANCESA:
MEMRIA E NO RAAS
O processo de construo da identidade nacional brasileira,
no sculo XX, guarda muitas semelhanas com o processo que se
passou na Amrica Latina em geral, tal como sistematizado por Julic
Skurski ( 1 9 9 6 ) . A primeira dessas semelhanas uma recusa cole-
tiva do passado colonial, uma vez que tal passado, portugus ou
espanhol, no podia ser seu. A romantiza co dos ndios como guer-
reiros selvagens e livres, que preferiram a morte servido consti-
tuiu desde sempre um trao forte dessa representao naci onal .
w )
6 1 1
Apenas nos dias que correm foi tambm possvel acrescentar-se a tal
representao romntica a figura guerreira dos quilombolas (Zumbi) e do seu
esprito de liberdade (o Quilombo dos Palmares).
110 Classes, raas e democracia
O fato que, premido pela necessidade de recusar o passado, foi
necessrio institucionalizar a desmemria das origens tnico-ra-
ciais: os brancos afastando-se do Portugal "decrpito" e "subor-
dinado", responsabilizado pelos males herdados; os negros afas-
tando-se, pelo embranquecimento, do passado servil; os caboclos
fugindo da "selvageria" e do "primitivismo" quelheseram atribu-
dos. Brancas para dentro e mestias para fora, as elites viram-se
encurraladas, como diz Skurski (996: 3 7 6 ) , parafraseando Bha-
bha {1994), "entre a necessidade de negar e de afirmar sua dife-
rena em relao ao poder metropolitano", permanecendo "in-
capazes de estabelecer sua autoridade atravs da autenticidade de
suas origens".
A ambigidade das elites latino-americanas encontrou, pi>-
rm, um elemento renovador na crise poltica e ideolgica que afe-
tou o-, povos europeus depois da guerra franco-prussiana de 1 8 /
1
) .
A necessidade francesa de contrapor-se ao nacionalismo alemo
de base tnico-racial, acabou servindo de base para a construo
da nacionalidade brasileira. Examinemos brevemente tal matriz.
Os ilumimstas franceses foram os primeiros, no sculo XVI I ,
a debater o que forma um povo: as origens ou o contrato? Con-
tra as pretenses de sangue da nobreza, Rousseau definiu um po\ o
pelo contrato, ou seja, pela associao livre e interessada, inau-
gurando uma definio puramente poltica de nao. No sculo
do nacionalismo, entretanto, foi a definio pelas origens que pre-
valeceu. Os franceses discutiram, ento, diversas outras forma--
de traar as origens, premidos sempre, como bem salientou Hanr
:
Arenct 1 1 9 5 1 ,>. pela luta entre a nobreza e o resto da nao trai -
cesa. x) sangue e a raa, a geografia e o clima, a mestiagem f< -
ram ;->rmas usadas para definir o povo francs. Michel Foueau
r
(1997 explora, em suas aulas no Collge de France, o modo com-
a luta entre nobres e plebeus, na Frana, se transforma numa lui
de raas, para transformar-se depois, de novo, em lutas de clas-
ses (entre burgueses e operrios).
No iderio da revoluo francesa, fundadora cia moderna na
cionalidade republicana francesa, prevalece a inspirao rousseau -
Direitos e avessos da nacionalidade
niana. A formao nacional por assimilao de povos se d con-
tra a pretenso de distino racial da aristocracia atravs de sua
ongem germnica.
Segundo Noinel ( 1992 : 2 1) , apenas a partir do advento do
Estado nao, no sculo X I X , se pode falar em definio francesa
da nao (vontade coletiva), cont r a uma definio alem (raa e
lngua). Tal bifurcao, todavia, pode ser enganosa. Como subli-
nha o mesmo Noiriel (1992 : 2 3) , a definio de nao, que acabou
por se impor em Renan ( 1997 fl 8 8 2 ] ) , supe uma raa histrica,
construda a partir de memrias coletivas, de experincias hist-
ricas e do culto dos ancestrais. Nel a, a noo de "origens" am-
bgua, podendo ser interpretada como genealogia e hereditarie-
dade ou como pertena simblica (por intermdio da literatura,
das instituies) etc. Originam-se da duas formas de distino
nacional: uma atribuda (a ligne e a soitche) e outra adquirida
(o domnio da lngua, das letras e da histria francesas). Dificil-
mente, esses dois princpios de identificao andam separados. Ao
contrrio, geralmente, eles so utilizados de acordo com a situa-
o e o momento,
Como se v, o que se chama de definio francesa da nao
no necessariamente uma definio univetsalista, democrtica
e assimilacionista. Tal definio , para ser exato, mais iluminista
que francesa. A definio propri amente francesa, particularista,
de nao supe tanto a idia de " r aa" , quanto de "lngua", com
a diferena essencial de que se trata de uma definio histrica e
no biolgica de raa; e o critrio da lngua medido pelo desem-
penho individual e no pela filiao a um tronco lingstico co-
munitrio. No caso da raa, o particularismo francs privilegia a
pertena a uma memria coletiva e a um tronco de antepassados
e de memrias comuns; no caso da lngua, o domnio do vern-
culo e da histria francesas.
A rigor, tal forma de particularismo francesa apenas no
sentido de que discursivamente legtimo, no no sentido de que
a Frana seja a nica nao a pensar-se desse modo; assim como,
para o nacionalismo alemo, legtimo pensar-se como uma co-
112 (lasses, raas e democracia
munidade lingstica e racial, ainda que tal maneira no se res-
trinja Alemanha.
Do mesmo modo, discutem-se, na literatura internacional
(Anderson, 1991) , as influncias mtuas entre a forma mestia,
latino-americana (Vasconcelos, 1948 [1925); Freyre, 1969 [ 1933| ;
Shumway, 1991; Schutte, 1993; Stutzman, 1981), de definir a
nao (e o nacionalismo) e a forma mestia de pensar a nao
francesa.
A MATRI Z AME RI CANA:
O E NCONTRO DO PARASO
Entre os mitos nacionais brasileiros, o Descobrimento do
Brasil fundador em mais de um sentido, pois narra a chegada
dos portugueses ao Novo Mundo e a sua resoluo de criarem aqui
uma nao a partir de elementos no apenas europeus, mas tam-
bm nativos. Os elementos principais do mito so: o descobrimen-
to da nova terra; a sua posse simblica, atravs cio soerguimento
de uma cruz, seguido do ofcio de uma missa catlica, na qual
participam portugueses e indgenas, igualmente. A representao
pictrica conhecida: europeus bem vestidos, guerreiros e civili-
zados, comungam e absorvem indgenas (mulheres belas e guer-
reiros bravos) ingnuos, puros e nus, sua f. As narrativas do
descobrimento, na verdade, formam no apenas um mito. mas
vrios: o descobrimento, a assimilao dos povos primitivos, o
paraso na terra.
O Descobrimento, diz-nos Jos Murilo de Carvalho ( 2 ( ' i R) ) ,
estabelece como fato o que no verdade histrica: a existncia
de uma nova terra, virgem de nacionalidades, sem reiisno ou
Estado prvios. A idia de um paraso terrestre parte essencial
do mito do descobrimento, ainda que depois se desdobre em narra-
tiva mitolgica autnoma. A meu ver, o carter ednico, no Des-
cobrimento, se deve justamente virgindade pressuposta. Expli -
co-me: j que os povos que os portugueses aqui encontram for-
Direitos e avessos da nacionalidade 113
maro uma das bases da futura nao, no possvel trat-los
como mpios ou perversos, mas apenas como habitantes de um
paraso original. Os ndios no formam uma civilizao oposta
ou inimiga, mas se encontram, ao contrrio, em estado original,
pr-civilizado.
Pois bem, o que cimenta o mito do Descobrimento a f ca-
tlica. Os portugueses que aqui chegam iro, de certo modo, cons-
purcar o paraso que encontraram a natureza virgem e a igual-
dade social primitiva , mas, ao mesmo tempo, trazem a reden-
o possvel para os pecados que introduzem. A inspirao do mi-
to do descobrimento claramente o mito bblico da expulso do
paraso. O catol osmo represento. 3. redeno dos pecados intro-
duzidos pela civilizao, mas representa tambm a igualdade de
todos peranv Deus e a absoro dos ndios (ou os no-brancos)
civilizao.
A representao do Descobrimento tem um componente cen-
tral: a integrao e comunho social de todos na f catlica. No
por acaso, no Carnaval dos 50 0 anos do Descobrimento, foram
os smbolos catlicos da cruz, da Virgem e do Cristo os mais busca-
dos pelas escolas de samba. A Igreja Catlica procurou impedir
a utilizao de seus smbolos sagrados na procisso profana. Mas
sintomtico que, para os sambistas, fosse impossvel pensar o
Brasil sem os smbolos catlicos; e, por isso mesmo, agiram em
conformidade: como se tais smbolos no fossem realmente cat-
licos ou religiosos, mas apenas brasileiros. E tambm sintomtico
que a representao cio Brasil no tenha sido feita a partir de ele-
mentos culturais novos elaborados nos 2 0 0 anos de nacionalidade,
mas por uma atualizao do mito do descobrimento: mulatos, mo-
renos e mestios reconhecendo o papel redentor e civilizador de
Portugal, a superioridade de sua civilizao, ainda que precisassem
reafirmar sentimentalmente a superioridade da pureza indgena.
Apenas a f catlica, mesmo no sincretismo, parece garan-
tir tal equilbrio entre duas superiondades reivindicadas: o esta-
do virginal anterior, pr-civilizado e propriamente americano, e
o estado civilizado posterior, desigual e hierrquico, mas europeu.
Classes, raas e democracia
Os ndios transformam-se afinal em smbolo cios que no so
totalmente brancos nem totalmente cidados, mas inteiramente
brasileiros (Agier e Carvalho, 1994). Mais que raa, trata-se da
representao da parcela subordinada da nao: impuramente
europia, mestamente branca.
Repare-se que faltam ao nosso mito dois elementos impor-
tantes, encontrados em outras partes da Amrica: aqui no se fala
em conquista (como na Amrica espanhola) nem em vitria icomo
na Amrica inglesa), mas em dcil incorporao. Os ndios no
foram nem conquistados e incorporados, como na primeira, nem
tampouco vencidos, exterminados ou postos em reservas, como
na segunda. Por primitivos e originais, eles so apenas transmu-
tados em novas pessoas, agora civilizadas e incorporadas ao uni-
verso catlico. A reside o segundo elemento do mito: a idia de
uma totalidade hierrquica, no exatamente igualdade entre ci-
dados, mas igualdade entre criaturas de Deus, incorporadas nu-
ma mesma ordem hierrquica, como apontou Roberto DaMat t a
( 1981) . Esse aspecto do mito desdobra-se em outro mito parti-
cular: o da democracia racial, desenvolvido bem mais tarde, nos
anos 192 0 e 1930 , quando se tenta superar o trauma da escravi-
do negra, incorporando, de modo positivo, os afro-descenden-
tes ao imaginrio naci onal .
A relao ednica entre homem e natureza comum aos mi-
tos fundadores de todas as naes americanas. No Brasil, porm,
essa relao de continuidade. A Descoberta aparece como de-
sgnio de Deus, no como misso de construir na terra uma na-
o segundo a Sua lei, como aconteceu nos Estados Unidos C a r -
valho, 2' )Q0). Desgnio divino tanto mais evidente porque obra
do acas' : Cabral teria sido trazido a o paraso pelas correntes
martimas e pelas calmari as do Atlntico sul, e sua misso civili-
zadora seria incorporar os ndios f crist e ao trabalho. ' ' At erra
boa, em se plantando tudo d".
A idia de um paraso terrestre, como vimos, o terceiro ele-
mento mtico. Mas ele t ambm no pode ser desvencilhado da f
catlica. E nem tanto pela inspirao, como pela prpria estru-
Direitos e avessos da nacionalidade 1 1 5
tura do mito. Pois o Descobrimento representa, mais que tudo, a
instituio e a superao da desigualdade entre natureza e cultura,
de um lado, entre "ndios" e "portugueses", de outro. Os ndios
representam a vida, os pequenos e os humildes (dceis, pacatos e
sbios, por natureza); s os portugueses representam a cultura e
a civilizao (com toda a carga de violncia e de racionalidade que
envolve a acumulao de riqueza). Para que tal antinomia viva em
equilbrio preciso um redentor o Cri sto, representado pela
f catlica e pela hierarquia de sua igreja , que desfaa as dife-
renas e re-estabelea a igualdade de todos perante Deus. O pla-
no da cidadania e do estado de direito, do ordenamento social e
do contrato entre indivduos, no exi ste, portanto, no mito fun-
dador da nacionalidade. A ordem social e poltica continua a ser
revivida como o encontro primeiro entre a natureza e a cultura.
Jos Murilo (Carvalho, 1987) j apontava para a ausncia de ver-
dadeiros heris nacionais e de um pant eo cvico. Em outro tex-
t o, ele observa (Carvalho, 1995) , corret ament e, que quando a
Repblica necessitou estabelecer um imaginrio nacional laico, o
heri nacional chamado a desempenhar tal papel,Tiradentes. foi
reconstrudo, maneira de Cristo, como um mrtir redentor da
nacionalidade, a garantir, com o seu sacrifcio, a ptria indepen-
dente que nasceria adiante, em conti nui dade com a ordem esta-
belecida pelos portugueses.
Mas, ao mesmo tempo, justamente por ser o catolicismo o
ci mento de uma ordem social desigual (a igualdade em Deus c pre-
soci al ), a Igreja Catlica no aceita a t odos os "ndios", indistin-
tamente. Fia pede fidelidade s crenas catlicas e aos costumes
europeus, ela exige o embranquecimento da alma e da f. A Igre-
ja procura desesperadamente restabelecer, nos perodos de testas
populares e festivais de i nverso,
6 1
a separao entre f e crendi-
ces, entre religio e festa paga, entre ndios e portugueses. Distin-
o esta que o povo desfaz em todos os seus carnavais.
Ver, a respeito, DaMatta (1990a).
Classes, raas e democracia
O BRASIL MODE RNO:
UMA DEMOCRACI A RACI AL
A modernidade brasileira , sem dvida, produto dos ltimos
setenta anos. Os socilogos e cientistas polticos demarcam, geral-
mente, tal modernidade com a Revol uo de 1930 , que ps fim
Primeira Repblica ( 18 8 9- 192 9) . Se em relao ao Imprio (1 82 3-
18 8 9) , a Primeira Repblica procurou modernizar o Brasil atra-
vs da adoo de novas instituies, da europeizao dos costu-
mes (Freyre, 1936) e do incentivo imigrao europia (Seyferth,
1990 ; Schwarcz, 1993) , em continuidade com aquele, manteve
uma nacionalidade ostensivamente polarizada, marcada pela enor-
me distncia entre brancos e pretos, civilizados e matutos. Foi ape-
nas a partir de 1930 , principalmente com o Estado Novo (1937 -
1945) e a Segunda Repblica ( 1945- 1964) que o Brasil ganhou
definitivamente um "povo", ou seja, inventou para si uma tradi-
o e uma origem.
6
-
A idia fundamental da nova nao a de que no existem
raas humanas, com diferentes qualidades civilizatrias inatas, mas
sim diferentes culturas. O Brasil passa a se pensar a si mesmo como
uma civilizao hbrida, miscigenada, no apenas europia, mas
produto do cruzamento entre brancos, negros e ndios.
6 3
O "cal-
deiro tnico" brasileiro seria capaz de absorver e abrasileirar as
tradies e manifestaes culturais de diferentes povos que para
aqui imigraram em diferentes pocas; rejeitando apenas aquelas
Sigo. grosso modo, a interpretao de Frevre. K :v verdade, como
nos diz Schwarcz 1999*. que a europeizao do-, costunp - inicia-se no im-
prio. Mas, esta foi contrabalanada pelo romantismo brasileiro, em busca
de nativismo: que. por sua vez. nunca foi amplo o Milicien; para incorporar
as massas negras e mulatas. O povo brasileiro, tal como In c o concebemos,
e uma construo modernista.
Esta , entretanto, uma tradio intelectual que remonta ao final do
sculo XI X, e que tem, entre seus expoentes, intelectuais J o porte de Silvio
Romero (1949 [1888] ) e Joaquim Nabuco ( 18 8 31
Direitos e avessos da nacionalidade 117
que fossem incompatveis com a modernidade (superties, ani-
mi smos, crendices et c). Tal idia permite o cultivo de uma "alta
cultura", propriamente brasileira, em sintonia com a "cultura po-
pular", algo que eclode na Semana de Arte Moderna de 192 2 .
6 4
Ma s , de certo modo, foram as ci nci as sociais, e no apenas as
artes plsticas e a literatura ficcional, as inventoras desse Brasil
moderno, atravs de obras seminais como s s de Gilberto Frevre
( 1969 [ 1933] , 1936), Srgio Buarque de Holanda (1936) e Caio
Prado Jr . (1965 [1937] ).
As bases materiais e econmi cas dessa modernidade foram
plantadas pela Revoluo de 1930 . Essas consistem, basicamente,
no incentivo industria e substituio da mo-de-obra estrangei-
ra por mo-de-obra brasileira, que passa a constituir propriamente
um proletariado, com estatuto polti co reconhecido e regulado.
A base demogrfica, entretanto, j estava consolidada. De
fato, entre 1560 e 1850, o governo col oni al brasileiro importou
entre quatro milhes e meio e seis milhes de africanos para traba-
lhar como escravos nas plantaes de cana, caf, algodo, tabaco,
nas minas de ouro e diamante, nas fazendas de gado e no trabalho
domstico e arteso.
6 5
Nesse perodo, a populao branca, quase
toda de origem portuguesa, mal rivalizava a populao escrava,
ficando espremida entre a populao negra, mulata e cabocl a.
6 6
Depoi s de findo o trfico de escravos, o pas foi buscar mo-de-
obra na Europa, mas estima-se que, entre 1850 e 1932, apenas
quatro dos 55 milhes de emigrantes europeus tenham se dirigido
ao Brasil, concentrado-se principalmente nos estados do Rio de
Janei r o, So Paulo, Paran, Santa Cat ari na e Rio Grande do Sul.
1 , 4
Esta interpretao deve, de novo, ser matizada com a compreenso
de ouc o romantismo ln.isileiro revelou-se bastante artificial, ao excluir nc-
ftros e mulatos do imaginrio nacional.
' Sobre essas cifras, ver Florentino ( 1997 : 2 3) .
6 6
Em 1660, por exemplo, Simonsen (1 97 8 : 2 7 1) estima a populao
brasileira em 74 mil brancos e ndios livres e 110 mil escravos.
Classes, raas e democracia
Conquanto a pequena presena demogrfica europia, ante a po-
pulao de origem indgena e africana, tenha acabado por fazer
predominar no pas uma populao biologicamente mestia, ela
nunca ps em cheque o carter europeu da civilizao brasileira,
nem de suas classes domi nantes, nem mesmo a cor branca da
maioria da sua popul ao.
6
'
Essa mo-de-obra estrangeira, concentrada quase totalmente
em So Paulo, ns estados do Sul e no Rio de Janeiro, dominou a
oferta de mo-de-obra industria] e artesanal, alijando do merca-
do a populao negra e mestia. Apenas com o fim da imigrao
estrangeira, nos anos 1930 , e a constituio de uma reserva de mer-
cado para o trabalhador brasileiro, tornou-se possvel a incorpo-
rao de uma enorme massa racialmente miscigenada ou negra,
que migrou para So Paulo e para os estados do Sul e do Sudeste
brasileiro, oriunda de vrias partes do pas, principalmente de
Minas Gerais, do interior de So Paulo, do Rio de Janeiro e dos
estados do Nordeste, as regies mais populosas.
At ento, ou seja, ar os anos 1930 , o Brasil tinha reconhe-
cidamente uma questo racial, cujos fundamentos eram biolgi-
cos e demogrficos. Assim, enquanto perdurou a importao de
escravos africanos ou enquanto o volume de migrao europia
foi diminuto, ramos vistos por nossas elites como uma nao sem
povo e sem cultura (Skidmore, 197 6) .
Quando comea a imigrao europia, a ameaa de divi-
so cultural do pas que passa a ser percebida, tal como colocada
de modo exemplar por Nina Rodrigues ( I 9 s 3: 1 9), ainda no fi-
nal do sculo XI X:
"Ao brasileiro mais descuidado e imprevidente
nao pode deixar de impressionar a possibilidade ela
oposio futura, que ja se deixa entrever, entre unia
nao branca, forte e poderosa, provavelmente de on-
11
A proporo cjue se declara branca nos recenseamentos varia de
63, 4%, em 1940, a 54, 2 %, em 1991. Ver Wood e Carvalho (1994: 159).
Direitos e avessos da nacionalidade 119
gem teutnica, que se est constituindo nos estados do
Sul, donde o clima e a civilizao eliminaro a Raa
negra, ou a submetero, de um lado; e, de outro lado,
os estados do Norte, mestios, vegetando na turbuln-
cia estril de uma inteligncia viva e pronta, mas asso-
ciada mais decidida inrcia e indolncia, ao desni-
mo e por vezes subservincia, e assim ameaados de
converterem-se em pasto submisso de todas as explo-
raes de rgulos e pequenos ditadores".
Ou seja, temia-se pela qualidade do estoque populacional
brasileiro, pela ausncia de uniformidade cultural e pela unidade
nacional. Todos os temores alimentados por crenas raciais.
Vargas, na poltica; Freyre, nas cincias soci ai s; os artistas e
literatos modernistas e regionalistas, nas artes; esses sero os prin-
cipais responsveis pela "soluo" da questo racial, diluda na
matriz luso-brasileira e mestia de base popular, formada por
sculos de colonizao e de mestiagem biolgica e cultural, em
que o predomnio demogrfico e civilizatrio dos europeus nun-
ca fora compl et o a ponto de impor a segregao dos negros e
mestios. Ao contrrio, a estratgia dominante sempre fora de
"transformi smo" e de ' ' embranquecimento", ou seja, de incorpo-
rao dos mestios socialmente bem-sucedidos ao grupo domi-
nante "br anco".
Se a Primeira Repblica fora responsvel pela europeizao
dos costumes brasileiros e pela introduo de milhes de europeus
no Sul e no Sudeste do Brasil, em detrimento da populao mestia,
oriunda do caldeiro colonial, a Revoluo de 1930 e a Segunda
Repblica tiveram o bom senso de desarmar a bomba tnica que
se formava em conformidade com os temores de Nina Rodrigues.
Como vimos anteriormente, a lgica da poitica republica-
na com relao populao negra (de origem africana) foi balizada
por trs construes simblicas: 1) o reconhecimento da escravi-
do como um sistema inumano e aviltante (ao contrri o da justi-
ficativa monarquista, escravista, da escravido como tempo da
120
Classes, raas democracia
colonizao cultural dos negros e ndios, ou seja, da sua "domes-
t i cao" ou "civilizao"); 2) o reconhecimento da dvida cultu-
ral que a nao brasileira tem em relao aos negros (tratar o ne-
gro como um colonizador, foi uma das maiores inspiraes de Gil-
berto Freyre em Casa-grande & senzala); 3) a idia de que, en-
quanto povo, os brasileiros "ultrapassaram" os elementos forma-
dores da nao (os brancos, os negros, os ndios em termos ra-
ci ai s ou os portugueses, italianos, nags, bant os, tupinambs,
guaranis etc. em tetmos nacionais) para se constituir numa
meta-raa, num povo, o povo brasi l ei ro.
6 8
Segundo tal represen-
t ao, largamente freyreana, ns no ternos propriamente uma
"r aa" no somos brancos, negros ou ndios , mas uma na-
o: somos um povo mestio. Qualquer dos trs plos, se reivin-
dicado sem mestiagem, estrangeiro nao. Assim, diz Frevre
em Casa-grande e~ senzala (1969 [1 933] : 395) , "t odo brasileiro,
mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma e no corpo a som-
bra, ou pelo menos a pinta, do indgena ou do negro".
Permita-me insistir. Os negros e ndios, na poltica republi-
cana, so apropriados como objetos culturais, smbolos e marcos
fundadores cie uma civilizao brasileira, mas tm negado o direito
a uma existncia singular plena como membros de grupos tni-
cos. Estes so marcos da fronteira da civilizao brasileira, rema-
nescentes dos antepassados que criaram a nao, restos e vestgios
das origens Guimares, 1999; Wade. 1993) . Tal constelao sim-
blica se manifesta, no campo poltico, por concesses igualmente
simblicas. Lembre-se que a existncia mesma do movimento ne-
gro contradiz o ide\\ de mistura, reificando um elos elementos de-
formao, que no deveria ter encarnao poltica, mas apenas
cultural. Pois bem. quando essa-, concesses so feitas, elas cor-
rem o risco de permanecerem no papel. Isso vli do t ant o para a
absoro de smbolos da identidade afro-brasileira cultura na-
6 ! i
Essa rdia se encontra muito bem equacionada e apresentada criti-
camente, por Roberto DaMatta (19$ 11.
Direitos e avessos da nacionalidade 12!
cional, como ate para a incorporao ordem jurdico-normatva
das reivindicaes polticas do movimento negro, tais como os
princpios constitucionais da no-discriminao e cia integrao
soci occonmi ca dos negros (Guimares, 1998 ) .
Se as migraes internas e a criao de uma slida cultura
nacional, de bases mestias e populares, de origens principalmente
nordestinas, baianas, cariocas e mineiras, foram capazes de de-
sarmar a bomba tnica que se formava em So Paulo antes dos
anos 1 930 , elas no evitaram, porm, a emergncia ou continui-
dade de novos problemas, tais como o preconceito racial e regio-
nal e as crescentes desigualdades raciais. Do mesmo modo, a crena
na democraci a racial tora tecida por sobre a lenda da excepcio-
nali dadc brasileira, que deixava de ser plausvel medida que
outras sociedades ps-coloniais, como Estados Unidos e v lanada,
superavam a segregao racial atravs de solues como . > conv-
vio multirracial e multicultural, numa situao de convivncia de-
mocrt i ca mais igualitria em termos de oportunidades de vida.
UMA NOVA IDENTIDADE
NACI ONAL BRASILEIRA?
A configurao descrita acima foi forte o suficiente para
sedimentar o sentimento de pertena nao brasileira, no perodo
ps-abolicionista. Apenas, duas grandes tenses pesaram -obre tal
senti mento, no perodo que vai dos anos 1940 aos anos 97 0 do
sculo X X . Primeiro, o fato de o Brasil ter cerrado ri lei r; com os
Ali ados, durante a Segunda Guerra Mundial, se contrap >ndo ao
ei xo (Al emanha, Itlia e Japo), exigiu uma assimila > muito
rpida cias comunidades e colnias italianas, alems e japonesas,
surgidas da grande imigrao internacional da virada d< scuio.
exacerbando os sentimentos nacionalistas (Seyfertb, 1990 . Segun-
do, a nova ordem econmica surgida no ps-guerra (o desenvolvi-
mento sustentado), significou um aumento do desequilibro regio-
nal (o Nordeste agrrio cedendo terreno ao Sudeste e ao Sul indus-
122 Classes, raas e democracia
rrializados). A deciso de Vargas de reservar o mercado de trabalho
urbano aos brasileiros (lei de 2/ 3) reforou as migraes internas,
fazendo com que grandes levas de nordestinos se dirigissem aos
centros urbanos do Sudeste ou s reas de agricultura moderna e
de fronteira do Sul e do Sudeste. A competi o que ento se ins-
talou no mercado de trabalho, tanto quanto o estranhamento cul-
tural, so responsveis pelo surgimento de esteretipos regionais
negativos ("baianos", "parabas" e "nordest i nos"), assim como
nacionais ("portugus"), visto que os portugueses gozavam dos
mesmos privilgios dos nacionais. Tais fenmenos, ainda que im-
portantes, apesar de pouco estudados, no foram suficientes pata
levar crise o sentimento nacionalista. A "regi onali zao" dos
preconceitos e esteretipos foi quase sempre a regra, reforada por
uma socializao regionalizada, com seus heris, seus santos, suas
datas cvicas, suas festas, comidas tpicas etc. . . Na verdade, mas
apenas nesse sentido, o sentimento de pertena nacional brasilei-
ra continuou fraco.
6 9
A crise real sobreveio nos anos 198 0 , com a estagnao eco-
nmi ca, a crise financeira e a falta de direo poltica clara. A di-
ficuldade de reconverso e de remsero brasileira na nova ordem
mundial, galvanizada pela crise de governabilidade, levou a iden-
tidade nacional aos limites da tenso. So ndices da crise do mo-
delo assimilacionista e heterofbico de nao alguns elementos que
passo a enumerar. Primeiro, o ressurgimento, ainda que por bre-
ve perodo, de movimentos separatistas, principalmente no Sul do
pas. Segundo, o surgimento de movimentos racistas voltados con-
tra nordestinos e negros, principalmente no Sudeste, tais como os
Carecas do ABC etc. Terceiro, o tato de que. pela primeira vez
cm sua histria, o brasil passa a ser uma origem importante na
emigrao internacional. Quarto, o tato de unia grande leva de
brasileiros de segunda, terceira e quarta gerao buscarem uma
6 9
A fragilidade do sentimento nacional na Amrica Latina em geral
comentada por Skurski (1996).
Direitos e avessos da nacionalidade 123
dupla nacionalidade, aproveitando-se da mudana da legislao
brasileira. Qui nto, o movimento de "reafricanizao" dos costu-
mes negros no Brasil, gerenciado politicamente pela construo
da identidade negra. Sexto, o movimento de reetnzao de povos
indgenas brasileiros, dados como desaparecidos, no Nordeste,
Sudeste e Sul do pas.
Cada um desses elementos tem uma histria prpria que
preciso retomar para que se possa verificar a hiptese de crise. Dei-
xem-me, entretanto, desenvolver melhor a prpria hiptese geral.
Se DaMat t a tem razo, como eu acho que tem, em dizer que
a nacionalidade brasileira, enquanto definio de identidade ra-
cial, se construiu no ltimo sculo no espao de representao de-
marcado por trs plos raciais o branco, o negro e o ndio ,
se distanciando cuidadosamente de cada um deles, ainda que to-
mando-os por referncia, para a definio de uma mestiagem sin-
gular; pois bem, se esse o modo de definir-se racialmente, esse
modo est mudando rapidamente. Sua crise visvel na busca de
identificao a partir da recriao de cada um desses plos. O
branco de classe mdia busca sua segunda nacionalidade na Eu-
ropa, nos Estados Unidos ou no Japo ou cria uma xenofobia
regional racializada; o negro constri uma frica imaginria para
traar a sua ascendncia ou busca os Estados Unidos como Meca
afro-americana; os ndios recriam a sua t ri bo de origem. Ainda
que tais movimentos centrpetos (de reagrupar-se em torno de um
dos plos) no sejam movimentos de massa, ou seja, movimen-
tos populares, eles so, entretanto, movimentos muito bem vesti-
dos de ideologia e expressos, com crescente acei tao, pela inte-
lectualidade brasileira e internacional, que rendem a vero pas co-
mo uma nao multirracial, em vez de nao mestia.
Vejamos, a seguir, sobre que bases o preconceito tico-regio-
nalista em So Paulo cresceu.
124 Classes, raas e democracia
OS AVESSOS DO MITO:
O PRECONCEI TO
CONTRA OS BAI ANOS
7
O preconceito contra os baianos, parabas e nordestinos
dos mais fortes e persistentes no Brasil contemporneo, s. rivali-
zado pelo preconceito racial. O esteretipo do baiano como o imi-
grante pobre, ignorante, servil, preguioso, beci o, sem esprito
empreendedor, sem chances de se tornar algum, pode nos levar
a considerar que tal esteretipo se deve sua condio de imigrante
no Sudeste do Brasil, sendo portanto produto do ps-guerra, quan-
do as migraes internas no Brasil substituram as migraes inter-
naci onai s em termos de prover de mo-de-obra a nascente inds-
tria do Sudeste, principalmente So Paulo. S em parte isso ver-
dade. E to mais verdade para os termos paraba, ao Rio de j a-
neiro, e nordestino, em So Paulo, que para baiano.
A verdade inteira comea ainda no Brasil Colni a, quando
a Bahi a era a capital brasileira e os baianos, seus habitantes, se
arrogavam a ser os nicos habitantes civilizados da Tetra de Santa
Cruz. Nos conta Gilberto Freyre que, em reao a tal pretenso,
baiano passou a denotar no Sul, principalmente no Ri o Grande,
um janota palavroso, maneiroso e efeminado, tpico dos homens
urbanos, especialmente do Norte. Leiamos o mestre:
"E o baiano da cidade, isto , de Salvador, acabou
por sua vez fazendo de sua condi o de homem da ca-
pital do Brasil por muitos anos a cidade por exce-
lncia do palanquim e de negros que gritavam para todo
homem de sapato i;iie descesse do navio ou nau: ' Que
cadeira, sinb?' moti vo de supervalorizao de ori-
'' Comunicao ao Congresso Internacional da I.arin American Studies
Associauon (LASA), Sesso '"Lo afro en America Latina: debates sobre cul-
tura, poltica y poder". Mian, maro de 2 0 0 0 .
Direitos e avessos da nacionalidade 125
gem ou de situao regional. Era como se fosse Salva-
dor a nica regio civilizada, urbana, polida, do Bra-
sil; e o mais, mato rstico. A essa supervalorizao de
origem ou situao urbana ou metropolitana, o gacho
reagiu a seu modo, desdenhando de quant o brasileiro
do Norte se mostrasse incapaz de montar a cavalo com
a destreza dos homens do extremo Sul; e associando
essa incapacidade condio de baiano. Ser baiano era
ignorar a arte mscula da cavalaria. Era ser excessi-
vamente civilizado: quase efeminado. Quase mulher.
Quase sinh. Era s saber viajar de palanquim, de re-
de, de cadeira, aos ombros dos escravos negros. De
modo que baiano tornou-se, no Brasil, termo ao mes-
mo tempo de valorizao e de desvalorizao do indi-
vduo por circunstncias regionais de origem e de for-
mao social. E o mesmo se verificou com gacho'"
(Freyre, 1936: 369).
Baiano, portanto, enquanto metonmia de gente do Norte,
ou Nordeste, como passou a ser conhecida a regio a partir dos
60 do sculo X X , era j uma criao do sculo XVI I I , ao menos
para os gachos. Mas no tinha, certamente, o carter incontro-
versamente pejorativo que ganhou nesse sculo. Era, como nos diz
Freyre, um termo de valorizao e desvalorizao, ao mesmo tem-
po, provavelmente mais de valorizao que seu contrrio, pois
rodos sabemos como, na sociedade de corte, eram malvistos o.-,
homens do interior.
O termo baiano parece ter perdido toda a urea de civilida-
de apenas na Repblica. E conhecido o af com que a Repblica
procurou separar-se da herana colonial e da herana portugue-
sa. Pois bem: nada mais colnia! e portugus que a Bahia, toma-
da pela ptica de suas classes dominantes. Portugus no em ter-
mos de seus habitantes, ou mesmo em referncia a Portugal, mas
em t ermos de sua civilizao, em termos dos costumes luso-bra-
sileiros que aqui se estabeleceram e fincaram razes na Colnia e
126 Classes, raas e democracia
no Imprio, mesmojdepois da independncia. '
1
Que costumes
so esses?
Primeiramente, na Bahia, mais que em qualquer outro lu-
gar, era ainda pujante o catolicismo barroco, de que nos fala Joo
Reis ( 1991) , com suas muitas procisses e festejos, incorporan-
do no apenas a parte organizada da sociedade, inclusive negros
e escravos afiliados a Irmandades, mas tambm a patulia e o"z-
povinho, que seguia atrs. '
2
Verdadeiros carnavais, nos diz Pierre
Verger ( 198 4) , ele prprio comentando as observaes de Roger
Basticie ( 1945: 32), feitas nos anos 40 do sculo X X , quando o
costume dos baianos de transformar em festa carnavalesca todas
as efemrides santas continuava inclume.
Os republicanos e progressistas, nos ensinam Freyre e Jos
Muri l o de Carvalho (1995. odiavam esse legado colonial e gosta-
riam de v-lo enterrado e no vivssimo, como na Bahia. Ademais,
as festas religiosas, na Bahia, continuavam a ser a nica represen-
t ao pblica da autoridade poltica. Mes mo a lesta da indepen-
dncia, na Bahia, era a Festa do 2 de Jul ho, ou melhor, a "festa
dos cabocl os", to carnavalesca, religiosa e processional quanto
as festas coloniais (Santos. 1995; Albuquerque, ] 999) .
_ i
Nesse sentido, tem razo Thales de Azevedo (1
, K,
<> [I 9S"l- quando
diz que a Bahia era a mais portuguesa das cidades brasileiras, pi ' arquite-
tura e pelos costumes. Thales apenas fazia um exerccio de reversa aiacntiea
cio sentido pejorativo com que a Repblica tratou seia a t Alonia. -via os por-
tugueses. Para uma outra interpretao da mesma passaaem de ; nales. ver
Guimares (1999).
2
O conceito assim definido por R ei s 1 99 1: 6 1 : "Ncss.. viso bar-
roca do catolicismo, o santo no se contenta com a pivee indiaciual. Sua
intercesso ser to mais eficaz quanto maior for a capacidade .ms indiv-
duos de se unirem para homenage-lo de maneira espetacular. Para receber
a fora do santo, deve o devoto fortalec-lo com as festas em seu !uvor. tes-
tas que representam exatamente um ritual de intercmbio de energias entre
homens e divindades".
Direitos e avessos da nacionalidade 127
Alis a indisposio da Bahia com a Repblica era no ape-
nas cultural, mas poltica, uma vez que a antiga capital, tinha
reconvertido todo o seu capital social para uso na corte imperial,
principalmente sua oratria e a beleza vernacular do seu idioma,
para a representao poltica dos interesses, seus e de outros. A
Repbli ca, privilegiando as cincias s artes, a substncia for-
ma, os anglicismos e galicismos ao castio; renegando o legado
luso-brasileiro, para imitar os franceses e ingleses, destitua a Bahia
do seu capital cultural e social, ela que j perdera, nesse trabalho
ile representao, boa parte do seu capital material.
A indisposio da Repblica para com a Bahia e para com
os baianos ser impiedosa, como impiedosa ser com os portugue-
ses: atravs da galhofa, do riso e da estereotipia. tratando o seu povo
como um povinho atrasado, ignorante, dmod e ridculo em suas
pretenses de civilidade. Trabalho de desmoralizao esse, e bom
que se diga, feito por baianos e no-baianos igualmente, desde que
progressistas, como alis documenta muito bem Gilberto breyre,
citando mais de um baiano ilustre para tipificar o encastelamento
da Bahi a no passado. de Freyre a mais completa afirmao do
carter retrgrado da Bahia novecentista, to completa que pare-
ce haver realmente, na Bahia, se no no sangue baiano, algo incom-
patvel com a modernidade. Escreve o mestre de Apipucos:
" certo que dessa mstica [da Ordem, contrria
ao Progresso] se desgarraram baianos ilustres do sculo
X I X : Teixeira de Freitas, Nabuco de Arajo, o primeiro
Ri o Branco, Lus Gama, Castro Alves. Ruy Barbosa.
Mas sob o estmulo de outros meios: em correspondn-
cia com outros ambientes brasileiros; pelo acrscimo
sua condio de baianos de outras situaes, parti-
' Diz o mdico baiano Durval Vieira de Aguiar, citado por irevre
( I 959: 2 0 9) : "[. . . ) o baiano esquecia-se da Provncia pelo Imprio' ' , isto e.
pela corte, ' ' para onde convergem, em curso forado, todos os nossos recur-
sos materiais e intelectuais [. . . ] ".
!28
Classes, raas e democracia
cularmente dinmicas, dentro das quais suas aptides
ou suas formas ou maneiras baianas de ser se exalta-
ram sob a influncia de outras substncias, da resul-
tando combinaes magnficas de baianidade com pau-
listantdade, por exemplo" (Freyre, 1959: 2 10 ) .
Mas h outro componente nesse preconcei t o que se nutriu
contra Bahia, que tem a ver precisamente com o modo de ser ne-
gro na Bahi a, ou com o fato de as elites baianas "no saberem li-
dar com os seus negros", ou com o fato de a Bahi a ser ela mesma,
uma mulata velha' '
4
.
Voltemos ao catolicismo barroco. A participao dos negros
nos festejos religiosos, na Bahia, e no Brasil coloni al em geral, foi
mais alm do que mandaria a hierarquia do desfile processional
portugus, para adquirir o ar de mistura e de convivncia intima,
comum aos carnavais, que os visitantes estrangeiros registraram.
Alis, os portugueses e brasileiros brancos chegavam mesmo a dis-
putar entre si a incluso de msicos africanos e crioulos para melhor
louvar os seus santos (Reis, 1991: 66). E esse sentido de mistura, de
falta de respeito e de reverso da ordem que os republicanos e pro-
gressistas repudiam e que, na Bahia, no tiveram fora para reverter.
Na Bahi a, "a negrada", com tantas festas e procisses, aca-
bou por tomar conta das ruas.
7 5
Smbolo mai or dessa "incivili-
dade" era a falta de higiene resultante do crescimento demogrfico
de uma cidade que mantinha o armament o, transporte e escoa-
mento samtrio do sculo XVHI, sem passar pelos grandes inves-
timentos de reurbanizao da capita! imperial. Exempl o maior da
falta de higiene, aos olhos dos brancos, eram as comidas vendi-
4
A representao da Bahia como a "mulata velha" registrada por
Ruth Landes 1947 ), por exemplo. Ver Guimares ! 1999) .
0
Sobre as tentativas, em alguns casos bem-sucedidas, em outros no,
de disciplinar a gente do povo e o espao pblico em Salvador, ver, entre
outros. Ferreira Filho (1999) e Morales (1988).
Direitos e avessos da nacionalidade 129
das na rua por negras do acaraj que, no Ri o de Janeiro e fora da
Bahia, passaram a ser chamadas de baianas'
b
. As autoridades da
capital da Repblica perseguiram tenazmente as baianas, tanto
quanto os candombls (Velloso, 1990) e saram vitoriosos. Per-
seguio, diga-se de passagem, no apenas policial. Em seu hu-
mor ferino, os cariocas e aqueles que, vindo de todo o Brasil, se
transformam em cariocas, esses novos citadinos civilizados, repre-
sentaro a Bahi a, em suas caricaturas sociais, "por uma baiana
gorda, de turbante e fazedora de angu". (Freyre, 1959: cxxxviii)
O Ri o de Janeiro cuidava dos seus negros e dos negros que a
Bahia lhe mandava, como os que formaram a Pequena frica da
Sade (Carvalho, 1987; Moura. 1995; Fry, 198 8 ) . J nos anos 1940,
o samba do Ri o ganhava "Escola" e "moderni zava" o modelo da
procisso barroca, que arrastava os devotos pela rua, o que deu
margem observao irnica de Verger (1 98 4: 13): "se no Brasil
de antigamente as procisses tinham um alegre ar carnavalesco, ao
contrri o, o carnaval de rua das escolas de samba de hoje tornou-
se uma sorte pomposa de procisso". Como se sabe, ainda hoje as
classes altas da Bahia lutam para disciplinar a procisso paga dos
trios eltricos, organizados em blocos, no mai s em irmandades,
que arrastam a multido pelas ruas, atrada pela fanfarra eltrica
e, agora, pelo espetculo ertico de danarinas e danarinos. . .
Houve ainda, a endurecer os esteretipos, mais que os negros,
a raa. Todo o racismo doutrinrio brasileiro concentrou-se nos
40 anos cia Primeira Repblica, em que fomos beber no discurso
/ 6
O pape! central das mulheres negras, vendedoras de rua, nesse pro-
cesso de desmoralizao e acentuado por Ferreira Filho ( 1
1
>
1
>V): "Freqen-
temente, a crtica s formas de mercncia ou mesmo com idas vendidas na rua
trazia implcita a associao cora a escravido ou com costumes tipicamente
negros. A ' mul her do saio' fora expresso pejorativa largamente diundul.:
na imprensa republicana para dirigir-se trabalhadora de rua. A crtica a
roupa tradicional das mulheres pobres e trabalhadoras geralmente as asso-
ciava frica, escravido que, por sua vez, eram relacionadas barbrie,
atraso e falta de higiene" (Ferreira Filho, 1999: 2 46) .
130 Classes, raas e democracia
ideolgico europeu, no apenas a cincia, que estancou epidemias
e saneou nossas ruas, mas a pseudocincia, as ideologias polticas
que franceses manipulavam entre si e contra os alemes, para justi-
ficar seja a restaurao monrquica, seja a integridade da nao
francesa (Arendt, 1951; Foucault, 1997 ; Noiriel, 1992 ) . Idias de
raa, teorias sobre a degenerescncia dos mulatos, o modo como
os europeus nos viam, a ns que queramos ser mais europeus que
os portugueses, doam. A Bahia era a mulatice. Sem imigrantes
europeus novos e sem esperana de novos imigrantes europeus.
Era o velho caldeiro racial parado no tempo, a receber o influxo
demogrfico dos negros. Na capital da Repblica, os cientistas na-
cionais armaram a estratgia poltica e a soluo terica: o novo
cal deament o se daria pelo a fluxo de sangue novo europeu, de
preferncia no-ibrico. Interessante que foi um baiano adotivo,
da Academia de Medicina, quem levou mais a srio o racismo cien-
tfico da poca, sem transmut-lo, como fizeram os seus ilustras
colegas da Academia carioca, em teorias do embranquecimento.
Talvez, no pudesse.
Estavam plantadas, na virada para o sculo X X , as razes da
subeultura baiana, de cujo estigma nutriu-se o primeiro precon-
cei to cont ra os baianos. O barroco, a decadnci a, a mulatice.
Ant ni o Risrio (1988: 146) disse que "foi em meio ao mormao
econmi co e ao crescente desprestgio poltico que prticas cul-
turais se articularam no sentido da individuao da Bahia no con-
junto brasileiro de civilizao". Tem razo.
A estagnao econmica Guimares, 1 os;2 , ranto quanto a perme
bilida. das elites a formas culturais afro-baianas sero usadas, tamhcm. pa- -
explicar a pujana c permanncia da presena africana na Bahia. Wr , p<
r
exemp. o. (Ferreira Filho. 1999: 255-6): "Se, no plano micro-poltico. lav-,
pessoa^ serviram para a preservao de espaos considerveis da cultura n -
gra eir Salvador, no mundo do trabalho e do comrcio informal, as reste -
es d.i mercado formal de ocupaes, a pobreza urbana resultante das ex-
cluses e restries econmicas da falida economia agro-exportadora do
Estado, aliadas ao carter artificial do projeto de reformas urbanas, garant-
Direitos e avessos da nacionalidade
Mas, esse primeiro preconceito encontrou logo vrios freios.
Depois dos exageros da Primeira Repblica, ou ainda nos anos
1930, comeam as reaes contra o antilusitanismo e antibarro-
quismo dos progressistas. Uma verdadeira restaurao dos valo-
res luso-brasileiros, em alguns, como Gilberto Freyre: ou a recria-
o de uma cultura propriamente brasileira, como queriam os mo-
dernistas de 192 2 . A velha Bahia, barroca e mulata, passava a ser
uma fonre inesgotvel de referncia e de inspirao. Para os poe-
tas populares, como Ary Barroso, Assis Valente, Dorival Caymmi,
Gilberto Gil, Caet ano Veloso e tantos outros, ou para romancis-
tas, com Jorge Amado ou Joo Ubaido, a Bahia foi referncia para
uma nova esttica; para os idelogos da tolerncia e bondade do
povo brasileiro, um paraso racial; para os antroplogos cultu-
rais e sociais, seus terreiros de candombl foram valorizados co-
mo preciosidade cultural e documento vivo da presena africana
nas Amei icas. Pouco tempo depois da Segunda Guerra, j no novo
concerto das naes, o Brasil passava a ser simbolicamente repre-
sentado por uma mulher branca em trajes de baiana e a democracia
racial passava a-ser o seu produto de exportao. O que de melhor
a civilizao brasileira teria produzido. O estigma contra a Bahia
amainara. No ent ant o, ainda assim, "a boa terra", "o bero do
Brasil" passa a ser a encarnao de uma natureza prdiga, "de
mar, petrleo, cacau, carnaba" et c, nos mesmos termos do modo
como o Brasil exal t ado. O que, na Bahia, no natureza "en-
canto", "magi a", "feitio", "seduo". Aos baianos se cola a ima-
gem do pr-industrial e do pr-moderno em termos de costumes
e de tempo: a manemolncia, o atraso, a preguia, a lentido. . .
Ao que era um preconceito contra uma classe e um gnero
de baianos os homens de alta estirpe ou os baianos bem-edu-
cados vai aos poucos sendo generalizado para todos os baia-
nos, homens e mulheres.
ram a perpetuao de velhas prticas de trabalho e renda agenciadas por mu-
lheres, mesmo que na contramo das intenes modernizantes".
132 Classes, raas e democracia
A segunda fase do preconceito, que se desenvolve no ps-
guerra, esse, ainda que nutrido pelo primeiro, teve moto prprio.
Foi mai s um preconceito contra os emigrantes que se dirigiram,
em grandes levas, para as reas rurais e os cent ros urbanos do sul,
em busca de emprego. Os estados que hoje compreendem o Su-
deste e o Sul formavam h muito uma regio, no sentido de que
conheceram desde o Imprio algum tipo de mi grao interna. Mas
a emi grao massiva de gente do Norte para o Sul era um fato
inusitado. O imaginrio da gente do sul, acost umada a se pensar
a partir do afluxo de novos imigrantes europeus, do progresso e
do embranquecimento, era posto em causa. Mi gr aes de serta-
nejos nordestinos, principalmente, incentivados pela nova poltica
de industrializao nacional, que, desde Vargas, atravs da Lei de
2 / 3, reservava o mercado de trabalho brasileiro aos nacionais.
Esses imigrantes sero, em So Paulo e no Sul, principalmen-
te, chamados de baianos. Sem serem mulatos, eram mestios e
acabocl ados, igualmente baixos, cabeas chat as, pobres e analfa-
betos ou semi-analfabetos. Era o tipo de gente que o brasileiro do
sul no gostaria que tosse brasileiro o seu Out r o rejeitado, um
outro modo de ser brasileiro: mestio, imigrante, pobre, "dester-
rado". Mas , menos que o tipo fsico, era t odo um Brasil antigo,
que era rejeitado, tal como a Bahia o fora: o Brasil da casa-gran-
de, dos coronis, da oligarquia, da agricultura de subsistncia, da
fome, do flagelo das secas. Seria tambm o Brasil que o sul odia-
ria ser, no futuro: mestio, pobre e migrante?
Chamar de baianos esses migrantes
s
era apenas estender
geograficamente, e antecipar no tempo, o mesmo significado que
foi, nos anos 1 960 , atribudo ao Nordeste. No credo haver aqui.
* Oficialmente, as migraes interna e externa tm designaes dife-
rentes. Chamam-se os que vieram do Nordeste de "migrantes"; por "imigran-
tes" entendem-se apenas os que vieram do estrangeiro ou seja. da Euro-
pa ou do Japo. No imaginrio da gente do sul, esses ltimos perpetuam a
saga heri ca dos colonizadores e bandeirantes.
Direitos e avessos da nacionalidade 133
na escolha cio nome, um preconceito contra os negros ou mula-
tos apenas. Crei o se tratar, antes, de um preconceito contra os an-
tigos "brasi lei ros", ou melhor contra aquilo que, no Br asi l fora
at ento considerado brasileiro. Tenho a hiptese de que. ape-
nas quando nordestino passa expressamente a significar o atra-
so, prefere-se, em So Paulo, chamar esses novos imigrantes de
nordestinos. Mas sero os dois termos intercambiveis, baiano e
nordestino? Em algumas situaes, certamente sim. A4as talvez no
em todas. Especulo de novo: baiano ficaria reservado para uso
mais pejorati vo. Assim, um branco ou branca de classe mdia,
vindo do Cear ou de outro lugar do Nordeste, numa boa escola
paulista, ser preferencialmente tratado por baiano, por quem o
discrimina, c no nordestino, reservado aos seus conterrneos mais
pobres, cuja condi o pode ser referida direta e descritivamente.
A ofensa, no caso, consiste em tratar por baiano, em sentido ge-
nrico, o outro brasileiro, nascido ou no na Bahia, negando-lhe
a naturalidade brasileira. Nesse caso, o sentido primeiro, de
atraso e luso-brasilidade incivilizada, que prevalece.
No Ri o de Janeiro, entretanto, ao contrrio de So Paulo,
no ocorreu a fuso entre o sentido pejorativo, republicano, de
"baiano", baseado na oposio barroco/moderno, e "nordestino",
imigrantes pobres e culturalmente inferiores. No Ri o, esse senti-
do de "nordest i no" foi preenchido pelo termo "par a ba", tendo
o termo "bai ano" guardado seu sentido original de preguia, atra-
so e lentido. Por que isso? E possvel que na migrao nordesti-
na para So Paulo tenham prevalecido os baianos; tambm pos-
svel que, em relao ao Ri o, o mesmo tenha ocorri do com os
paraibanos. E possvel ainda que os baianos que se dirigiram para
o Rio fossem de cor mais escura, tendo sido mais facilmente ab-
sorvidos na populao negra carioca, como negros e no apenas
nordestinos; enquant o que a migrao baiana para So Paulo te-
nha sido mais propriamente de sertanejos brancos. No se sabe.
Ser preciso mais investigao histrica sobre esse aspecto. O fato
que, no Ri o, no se d essa sinonmia entre "bai anos" e "nor-
destinos", sendo esses ltimos referidos pelo termo "para ba".
134 Classes, raas e democracia
S recentemente, em So Paulo e emi xj a parte do Sul e Su-
deste do pas, o preconceito contra os "bai anos" ou nordestinos,
ganhou caractersticas novas, parecidas com a xenofobia europia
moderna, o que, por si s, revela a fora do regionalismo no Bra-
sil. O dio aos migrantes nutre-se do sentimento de medo e amea-
a. Ameaa integridade da cultura paulistana (ou sulista), ela
prpria produto da imigrao europia do comeo do sculo; me-
do da deteriorao do padro de vida urbano, do crescimento do
desemprego e da decadncia econmica; pavor diante do aumento
da criminalidade e da violncia urbanas. Os migrantes brasilei-
ros do Nordeste, geralmente pobres, que ali mentam as favelas e
o desemprego, so geralmente culpabilizados pela decadncia ou
pela deteriorao do padro de vida das cidades paulistas ou su-
listas. Tal fato registrado por vrios autores. Citarei apenas dois:
Alba Zakuir ( 1 4
L
H: 53-4):
"As mudanas populacionais sobre o espao f-
sico da cidade tiveram efeito na construo do medo
dos moradores da classe mdia. Estes, na sua interpre-
tao do crescimento da violncia na ci dade, culpam
os nordestinos que passaram a morar no mesmo bair-
ro pela situao considerada insuportvel e exigem po-
lticos mais duros [...] O dio aos nordestinos parece
ser, no entanto, um fato especfico desses bairros que
os diferencia de outros locais no que se refere cons-
truo do medo e resultante apatia social e poltica.
Portanto, o problema desses bairros no parece ser ape-
nas um retorno comunidade mais fechada, mas tam-
bm um reforo da identidade racial e tni ca que nega
a cor. vivncia com os diferentes por c<nta .ios riscos
que :sso implica".
e Flvio Pierucci i, I 999: 64):
"No caso de So Paulo, o descontentamento de
janistas e malufistas com o atual estado de coi sas no
plano da moralidade privada , alm disso, regressivo:
Direitos e avessos da nacionalidade
135
existe, na memria dessa gente, um tempo, uma poca
de ouro (memria?) em que no havia tanto bandido,
tanto drogado, tanto sem teto. E existe, em sua imagi-
nao, a identificao desse tempo com a inexistncia
de mi grados nordestinos. A rejeio aos ' bai anos'
funo direta da amplitude do medo: cresce na medida
e no ritmo do crescimento real (mas sobretudo no do
aument o imaginrio) da insegurana. A percepo de
que So Paulo j saturou, que j no h mais lugar, que
os que chegam s fazem aumentar as hostes do desem-
prego e da misria, e portanto as taxas da delinqn-
cia, suscita um tipo de insatisfao neo-regionalista que
se expressa de vrias maneiras, inclusive no protesto
cont ra a ausncia de uma poltica migratria em nvel
federal, o que s tem feito prejudicar So Paul o".
Esse tipo de preconceito, muito virulento, explcito e, de certo
modo, contrri o ideologia racial brasileira, t ambm muito pa-
recido ao tipo de preconceito teorizado por Bl ume r
7 9
(19. 58: 4).
Devemos, portanto, distingui-lo do preconceito bem-humorado,
que alimentou, durante anos, a crnica jornalista cari oca de este-
retipos raciais, nacionais e regionais, principalmente contra baia-
nos, mineiros, paulistas e portugueses. A este lti mo, ao que pa-
rece, faltavam di o e medo, c sobravam arrogncia e rivalidade.
O moderno preconceito contra os nordestinos, em So Paulo,
portanto, une o velho preconceito regionalista xenofobia mo-
derna cont ra as minorias migrantes.
Segundo esse autor, quatro sentimentos esto .sempre presentes no
preconceito raciai: "So eies: 1) um sentimento de superioridade; 2; um sen-
timento de que a raa subordinada intrinsecamente diferente e estranha; 3)
um sentimento de propriedade sobre certas reas de privilgios e vantagens
sociais; 4) um medo ou suspeita de que a raa subordinada almeje as prerro-
gativas da raa dominante" (Blumer, 1958: 4) .
136 Classes, raas e democracia
5.
Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito 137
DE MOCRACI A RACIAL:
O I DEAL, O PACTO E O MI TO
8 0
O niytho o nada que tudo
O mesmo sol que^abre os cus
E um mytho brilhante e mudo...
Fernando Pessoa
Os estudiosos das relaes raciais no Brasil ficam sempre
intrigados com a origem e a disseminao do t ermo "democracia
raci al ". A comear pelo simples fato de a expresso, atribuda a
Gilberto Freyre,*' no ser encontrada em suas obras mais impor-
tantes e de no aparecer na literatura a no ser tardiamente, nos
anos 1950 .
Ademais, por que empregar uma metfora poltica para re-
ferir-se s relaes sociais entre brancos e negros? Por que tal lo-
cuo passou a exprimir to perfeitamente um pensamento que
concei tos anteriores, cunhados pelos cientistas sociais como
"sociedade multirracial de classes", empregado por Pierson (1942 )
ou "relaes raciais harmoniosas", usado pela UNE SCO (Mai o,
1997 ) foram incapazes de expressar? Essas so algumas das
indagaes que procuro responder neste artigo.
s
' ' Fste texto uma verso mais completa revista do artigo do mes-
mo nome publicado em Kavos Estudos ',ebrap. ;" (SI, novembro de 2 0 0 1,
pp. 14~-2, e do texro, umoci homnimo, prepa ulo para o E ne aitro Anual
da AXPOCS, Caxambu. 2001 Agradeo . Antn Flvto Pierucci, Elide Bas-
tos. Micbel Agier e Filia Schv.arez peios coment. "ios.
S :
Ver Souza (2000: 1 36' : "Gilberto teria s: ..> o criador d>> conceito de
' democracia racial' , o qual agiu como principal impedimento da possibilidade
de construo de uma conscincia racial por parte dos negros" Ver tambm
Souza ( 2 0 0 0 a) . Para uma interpretao da gnese da idia (no do termo) de
"democracia racial" em Gilberto Freyre, ver Elide Rugai Bastos (2 001).
Sem ter consultado sistematicamente documentos ou jornais
da poca, mas concentrando-me na produo jornalstica e aca-
dmica de alguns intelectuais pioneiros no estudo das "relaes
raciais", busquei primeiramente traar a cronologia de cunhagem
do termo "democracia raci al ".
Ao que parece o termo foi usado pela primeira vez por Roger
Bastide num artigo publicado no Dirio de S. Paulo em 3 1 de mar-
o de 1 9 4 4 , no qual se reporta a uma visita feita a Gilberto Freyre,
em Apipucos. Teria Bastide cunhado a expresso ou a ouvido de
Freyre? Provavelmente, trata-sc de uma traduo livre das idias
de Freyre sobre a democracia brasileira.
Como sabido, Gi l bert o Freyre, em suas conferncias na
Universidade do Estado de Indiana, no outono de 1 9 4 4 , ou seja
entre setembro e dezembro, usou a expresso sinnima "de-
mocracia tnica", para referir-se catequese jesuta:
"[. . . ] mas o seu sistema excessivamente paterna-
lista e mesmo autocrti co de educar os ndios desen-
volveu-se s vezes em oposi o s primeiras tendncias
esboadas no Brasil no sentido de uma democracia t-
nica e social" (Freyre, 1947 : 7 8 ) .
Na verdade, como veremos em seguida, a expresso de Frey-
re parece datat de novembro cie 1 9 4 3 , quando se refere tradi-
o democrtica baiana. A ori gem da idia de democracia em
Freyre, no entanto, j desvendada por Elide Rugai Bastos (1001),
remonta a sua crena num suposto carter ibrico da civilizao
brasileira.
Mais ainda: a disseminao e aceitao polnca da expres-
so "democracia racial" pode surpreender os mil "antes de hoje,
tendo sido ela de uso corrente no movimento negro .'os anos 1 9 . i 0 .
Abdias do Nascimento, por exempl o, em sua fala inaugural ao !
Congresso do Negro Brasi lei ro, dizia em agosto t e 1 9 5 0 :
"Observamos que a latga miscigenao pratica-
da como imperativo de nossa formao histrica, des-
de o incio da col oni zao do Brasil, est se transfor-
133
Classes, raas e democracia
mando, por inspirao e imposio das ltimas con-
quistas da biologia, da antropologia, e da sociologia,
numa bem delineada doutrina de democracia racial, a
servir de lio e modelo para outros povos de forma-
o tnica compl exa conforme o nosso caso" (1 9 5 0
apud 1 9 6 8 : 6 7 ) .
Na literatura acadmica especializada, no entanto, o uso
primeiro parece caber a Charles Wagley. "O Brasil renomado
mundialmente por sua democracia racial", escrevia Waglcv, em
1 9 5 2 , na "I nt r oduo" ao primeiro volume de uma srie de estu-
dos sobre relaes raciais no Brasil, patrocinados pela UNE SCO
: Wagley, 1 9 5 2 ) . Ao que parece, Wagley introduziu na literatura
vibre "relaes raci ai s" a expresso que se tornaria no apenas
clebre, mas a sntese do pensamento de toda uma poca e de toda
uma gerao de cientistas sociais. Como veremos adiante, Gilber-
to Freyre ( 1 9 6 9 [ 1 . 9 3 3 ] , 1 9 3 6 ) no pode ser responsabilizado in-
tegralmente, nem pelas idias nem pelo seu rtulo; ainda que fosse
o inspirador da "democracia racial", evitou, no mais das vezes,
nome-la assim, tendo-a conservado, ademais, com um significado
bastante peculiar.
A IDIA DE UM PARASO RACIAL
A idia de que o Brasil era uma sociedade sem "linha de cor ",
<-u seja, unia soci edade sem barreiras legais que impedissem a
ascenso social dc pessoas de cora cargos oficiais ou a posies
t e riqueza ou prestgio, era j uma idia bastante difundida no
i iundo, pri nci pal ment e nos Estados Unidos e na Europa, bem
antes do nasci ment o cia sociologia. Tal idia, no Brasil moderno,
ceu lugar const r uo mtica de uma sociedade sem preconcei -
tos e discriminaes raciais. Mais ainda: a escravido mesma, cuja
sobrevivncia manchava a conscincia de liberais corno Nabuco,
era tida pelos aboli ci oni stas americanos, europeus e brasileiros,
Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito 139
como mais humana e suportvel, no Bra_sl, justamente pela au-
sncia dessa linha de cor .
8 2
Clia Marinho de Azevedo (1996) registra a interveno de
Frederick Douglas, numa palestra em 18 58 , em Nova York:
"Mesmo um pas catlico como o Brasil um
pas que ns, em nosso orgulho, estigmatizamos como
semibrbaro no trata as suas pessoas de cor, livres
ou escravas, do modo injusto, brbaro e escandaloso
como ns tratamos. (...) A Amrica democrtica e pro-
testante faria bem em aprender a lio de justia e liber-
dade vinda do Brasil catlico e despti co" (apitd Aze-
vedo, 1996: 155).
Clia Azevedo registra ainda a opinio do francs Quentin,
em 18 67 , segundo a qual "o que facilitar singularmente a tran-
sio [para o trabalho livre] no Brasil que l no existe nenhum
preconcei t o de raa", (apud Azevedo, 1996: 156) . Do mesmo
modo, para o perodo ps-abolicionista, Hellwig (1992 ) alinha-
va uma srie de artigos escritos por afro-americanos, entre 1910
e 1940 , reafirmando a crena generalizada num pas sem precon-
ceitos ou discriminaes raciais, no qual o valor e o mrito indi-
vidual no seriam empanados pela pertena racial ou pela cor.
E verdade que na fala transcrita aci ma, Douglas contrasta a
democraci a e o senso de injustia americanos, por um lado, com
o despotismo e a justia brasileiros, por outro lado, no trato dado
aos homens de cor. Mas no vai alm disso. No usa a palavra
"democraci a" para referir-se a relaes ' ociais. Democracia guarda
seu sentido puramente poltico, teferindo-se to-somente forma
de governo.
Os historiadores fazem bem em tratar essa utopia como o
"mi to do paraso racial", pois, na verdade, a expresso "demo-
S 2
Ver Azevedo (1994) sobre a opinio de Ruy Barbosa, Joaquim Na-
buco, Andr Rebouas e outros sobre o carter das relaes raciais no Brasil.
140 Classes, raas e democracia
cracia racial", alm de mais recente, est envolta numa teia de
significados muito especfica.
Nos anos 1930, quando se organiza pela primeira vez o mo-
vimento poltico negro no Brasil a Frente Negra Brasileira ,
essa utopia no ser posta em dvida, pelo menos de imediato. Em
sua "Mensagem aos negros americanos", Manoel Passos (1942),
presidente da Unio Nacional dos Homens de Cor, prefere, por
exempl o, salientar o abandono a que est relegada a populao
negra, sua falta de instruo e seus costumes arcai cos, como res-
ponsveis pela Mtuao de "degenerescncia" dos negros. At mes-
mo o "preconceito de cor", de que se ressentem os negros, par-
cialmente atribudo fraqueza moral das populaes negras.k--
Esta autotlageiao s ser revertida com a democratizao
do pas, em 1945, quando surgem novas organizaes negras, as
quais sero, de certo modo, incorporadas pela Segunda Repbli-
ca. Incorporadas no sentido de que funcionaro livremente, alm
de influenciarem a vida nacional em termos culturais, ideolgi-
cos e polticos. O Teatro Experimental do Negro (TEN), forma-
do em 1944, sem dvida a principal dessas organizaes.
O "ITINERRIO DA DE MOCRACI A"
DE ROGE R BASTIDE
A histria da expresso de que estamos tratando comea um
pouco antes do fim da Segunda Guerra.
Roger Bastide empreende em 1944 a sua pr meira viagem
ao Nordeste brasileiro. As impresses recolhidas nessa viagem,
muito influenciadas pela leitura de Freyre, ajudar un a (ormar a
sua primeira percepo das relaes raciais no Bi isil. Essas im-
s
-' Bastide e Fernandes (1955) se referem a tal fenrr mo como "puri-
tanismo negro". Fernandes (1965) explora a lgica prpria ao "preconceito
de cor ".
Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito 141
presses sero modificadas apenas nos 1 950 , a partir do momen-
to em que Bastide se engaja com Florestan Fernandes numa pes-
quisa de campo sobre "brancos e negros em So Paulo", patroci-
nada pela UNESCO e pela Revista Anbembi.
Bastide colabora ento regularmente com a imprensa diria
paulista e de outros estados brasileiros, engajando-se em frtil
dilogo com o mundo artstico e intelectual local (Peixoto, 2 0 0 0 ) .
Em maro de 19. 94, nos dias 17, 2 4 e 3 1, Bastide publica no Di-
rio de S. Paulo uma srie de artigos que intitula "Itinerrio da de-
mocracia", produto de suas visitas a Bernanos, Jorge Amado e
Gilberto Freyre, no Rio de Janei r o, Salvador e Recife, respectiva-
mente. O Brasil encontra-se alinhado aos Estados Unidos, Gr-
Bretanha e Rssia na guerra contra o Eixo, enquanto a Frana con-
tinua ocupada pelas tropas alemes. O mundo est ento dividi-
do entre a democracia e o fascismo.
No primeiro desses artigos, Bastide nos explica que essa fora
"uma viagem ideolgica, atravs das conversaes, na qual cada
grande capital visitada constitua como que uma etapa neste cami-
nho da ideologia democrtica" (Bastide, 1944). O encontro com
Bernanos, no Ri o, serve de pretexto para Bastide explorara idia
universal de democracia representativa. Bernanos, cristo militan-
te, que ajudara a organizar a resistncia francesa a partir do Ri o,
pelas ondas da BBC de Londres, teria uma compreenso eminente-
mente moral da d estendendo-a para alm da idia de
direitos civis, no sentido da tica da ao poltica. Mas, para ns,
o decisivo, nesse artigo, que Bastide inclui o Brasil no rol das
naes democrticas no pela obedincia a certa tica pblica ou
mesmo pela garantia ao exerccio de liberdades civis, mas pelo fato
deste, ao engajar-se na guerra cont ra o fascismo na Europa com-
partilhar uma certa "concepo da vicia e da dignidade do homem"
(Bastide, 1944) .
O segundo artigo, dedicado ao encontro com Jorge Amado
em Salvador, versa, ao cont rri o, sobre algo mais concreto: a
constituio do povo e da cultura popular, os sujeitos e a forma
esttica da democracia brasileira, Bastide (1944a) comea o arti-
142 Classes, raas e democracia
go com uma rpida referncia ao romance Jubiab, de Jorge Ama-
do, "onde ele mostra como pouco a pouco o negro, no lugar de
procurar uma compensao para o seu labor cotidiano na msti-
ca, que o separa do br anco, fixando-o numa tradio africana,
volta-se para o sindicalismo que o agrega a seus companheiros de
trabalho, o funde numa comunho que ultrapassa a raa para dar-
lhe uma outra mentalidade que a classe". Bastide argumenta,
em seguida, que o povo, para Amado, no se resume aos prolet-
rios, a uma categoria econmi ca, mas se expressa na alegria da
festa: "O povo o conj unt o dos proletrios, sem dvida, mas
considerado como alegria de festa, como criador de valores est-
ticos, como mantenedor de uma certa cultura, muitas vezes a mais
saborosa de todas as culturas". Jorge Amado, o comunista que
luta pela liberdade, teria lhe ensinado a lio de que a democra-
cia " igualmente o nasci mento de uma cultura".
No terceiro e lti mo artigo da srie, dedicado ao encontro
com Gilberto Freyre, no Recife, Bastide reflete sobre a ordem scia!
prpria democracia brasileira, ordem que seria baseada na au-
sncia de distines rgidas entre brancos e negros. E nesse con-
texto que aparece, pela primeira vez, a expresso "democraci a
racial". Reconstituamos a cena:
"Regressei para a cidade de bonde. O veculo es-
tava cheio de trabalhadores de volta da fbrica, que
misturavam seus corpos fatigados aos dos passeantes
que voltavam do parque dos Dois Irmos. Populao
de mestios, de brancos e pretos fraternalmente aglo-
merados, apertados, amontoados uns sobre os outros,
numa enorme e amistosa confuso de braos e pernas.
Perto de mim, um preto exausto pelo esforo do dia,
deixava cair sua cabea pesada, coberta de suor e ador-
mecida, sobre o ombr o de um empregado de escritrio,
um branco que ajeitava cuidadosamente suas espduas
de maneira a receber esta cabea como num ninho,
como numa carci a. E isso constitua uma bela imagem
da democracia social e racial que Recife me oferecia no
Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito 143
meu caminho de regresso, na passagem crepuscular do
arrebalde pernambucano" (Bastide, 1944b).
V-se, portanto, que a democracia brasileira, tal como Bas-
tide a pensa em 1944, antes de tudo "social e racial". "Soci al ",
entretanto, num sentido muito preciso, que nada tem a ver com os
direitos sociais a que se refere Marshall (1965). Seria, antes, a cons-
tituio de uma ordem social em que a "raa" teria evoludo para
a "classe", mas na qual o "povo" da resultante no teria copi ado
a expresso cultural pequeno-burguesa, europia e puritana, tal
como nos Estados Unidos, mas construdo uma forma original de
cultura miscigenada, livre e festiva. A democracia a que Bastide se
refere, inspirada em Freyre e Amado, no pode ser reduzida a di-
reitos e liberdades civis, mas alcanaria uma regio mais sublime:
a liberdade esttica e cultural, de criao e convvio miscigenaclo.
Muito interessante, e ademais decisivo, que Basti de, ao
contrrio de Freyre, ao referir-se a essa ordem use o adjetivo "ra-
cial" para denomin-la, mesmo depois de reconhecer a evoluo
da "raa" para a "ci asse". Tal referncia mistura social e mis-
cigenao entre brancos e negros como "racial" mostra como era
artificial a pretendida abolio (acadmica) das raas, a sua evolu-
o para "classes" e a regra acadmica de trat-las como "etnias".
Na linguagem dos jornais e da poltica, mais prxi ma do senso
comum e dos sentidos "nativos", ser a "democracia raci al" e no
"democracia t ni ca" que prevalecer.
O CONSE NSO RACIA1. -DEMOCRTICO
No ps-guerra, a grande novidade que representou a vulga-
rizao do concei t o cie "cultura", cunhado pelas cincias sociais,
em detrimento do concei to biolgico de "raa", ser a de negar
o carter irreversvel da inferioridade intelectual, moral e psico-
lgica dos negros. No o de negar tal inferioridade, seno de trans-
feri-la para o pl ano da cultura, tornando-a passageira e reversi-
144 Classes, raas e democracia
vel. No nvel do senso comum, a desmoralizao da idia de raa
no significar o fim imediato dos esteretipos que atingiam a
populao negra estes se mantero razoavelmente intactos,
perdendo talvez o seu carter de imutabilidade ; representar,
isto sim, uma arma poderosa de incorporao dos mestios
mulatos, pardos, principalmente morenos aos espaos econ-
mi co, si mbl i co e ideolgico da nao (incluindo a a reivindica-
o de direitos civis e sociais). O TEN atuar no sentido de am-
pliao desses espaos, para a incluir o negro.
A pri ncpi o, nos 1940 e 1950, o negro brasileiro, na repre-
sentao que dele fazem os seus lderes, conti nuar sendo cultu-
ralmente mestio e hbrido;
8 4
mas com o correr do tempo ganhar,
cada vez mais, uma essncia negra, culruralmente "africana". Por
isso tem razo Maus (1988) ao notar a ambigidade do discur-
so tecido pelas principais lideranas do TE N nos anos 1940 e
1950 , que osci l a entre a busca da superao das prticas cultu-
rais ditas "afri canas" e "retrgradas" da populao negra brasi-
leira, por um lado, e, por outro lado, a afirmao de um certo ethos
negro, t ambm "africano", de emotividade e expressividade, que
se manifestaria espontaneamente nas artes.
E preciso tambm lembrar que o TE N foi gerado no ambiente
de crtica ao Listado Novo e de mobilizao intelectual para a
construo de uma ordem democrtica mais inclusiva. Os que
estavam no TE N pertenciam mesma gerao nacionalista que
reinventou a nacionalidade brasileira, seu povo e sua cultura (Ta-
vares, 198 8 ) . Foi essa tambm a gerao que propugnou no ape-
nas por um desenvolvimento econm co e social auro-sustenta-
do. como por uma economia e sociologia propriamente brasilei-
ras. Vem desse vnculo comum a coiib -rmidade de pontos de vis-
S 4
Para ilustrar o ideal de sineretismo ao meio negro, Maus (1 988:
92 i at a um texto do jornal negro O Quilombo (ano I, n" .?, junho de 1 949i ,
que justifica o concurso da Rainha das Mulatas como sendo "uma iniciativa
em prol da valorizao esttica e social das t]ualidades mestias de nossa
civilizao".
Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito 145
ta, em algumas matrias, entre os intelectuais do TE N e os inte-
lectuais nacionalistas como Florestan Fernandes, Paulo Prado,
Gilberto Freyre e os escritores regionalistas. Maus (1988) cha-
ma-nos a ateno para algumas dessas coincidncias. Mas tal con-
formidade se rompeu em dois pontos capitais: a apropriao c
reinveno da "cultura afro-brasileira" pelos antroplogos e ar-
tistas "brancos", e o discurso sobre a participao do negro na
sociedade brasileira, em particular a discusso sobre a existncia
ou no do preconceito racial no Brasil.
A crena na democracia racial, ao menos como ideal, perten-
ce zona de coincidncia de pensamento a que estou me referindo.
Assim, por exemplo, em 13 de maio de 1955, ao encerrar a "Sema-
na de Estudos sobre Relaes de Raa", o Teatro Experimental do
Negro reitera a opinio da mencionada fala de Nascimento (1950),
numa Declarao de Princpios, na qual se l no pargrafo /; das
consideraes: "considerando que o Brasil unia comunidade na-
cional onde tem vigncia os mais avanados padres de democra-
cia racial, apesar da sobrevivncia, entre ns, de alguns restos de
di scri mi nao". A expresso tambm aparece no item 5 da decla-
rao: "[. . . ] possam contribuir para a preservao das sadias tradi-
es da democracia racial no Brasil [. . . ] " (Nascimento, 1968: 56).
Na verdade, em meado dos anos 1950 , ao lado de concei-
tos como "povo" e "nacionalidade", a noo de "democracia"
centra] no lxico poltico brasileiro (Tavares, 198 8 ) . Ela tem um
poder semntico do qual nenhum grupo poltico pode prescindir,
pois marca o afastamento destes seja da ditadura varguista, seja
do fascismo e do nazismo derrotados na Segunda Guerra. A me-
dida, porm, que os anos avanam, e com eles recrudescem a guer-
ra fria c o anticomunismo, acirra-se tambm a crtica da esquerda
democraci a representativa e cresce em seu seio a idia de demo-
cracia como mistificao formal e ideolgica. Mas, nos anos 1950,
ainda prevalece o consenso democrtico. A democraci a, entretan-
to, j comea a ser adjetivada, algo que atinge seu pice nos 1960:
democraci a poltica, econmica, social, cooperativista, socialista,
positiva, tnica e (por que no?) racial. So os agrupamentos pol-
146 Classes, raas e democracia
. ricos unidos na luta antifascista, que procuram agora se diferen-
ciar e traar, atravs dos adjetivos, a sua trajetria particular.
No caso que nos interessa mais de perto aqui, a democracia
"social e tnica" de que falava Freyre, em 1 9 4 3
8 5
, ou a "demo-
cracia social e racial" como disse Bastide, em 1944, transformam-
se, nos 1950 , em democracia racial tout court, em referncia di-
reta aos conflitos raciais que comeam a rasgar o racismo legal
dos Estados Unidos. Ao contrrio de l, pensavam scbolars e mili-
tantes, j tnhamos um legado de democraci a racial desde a Abo-
lio. Para os movimentos negros, entretanto, a abolio no fora
completa, pois no representara a integrao econmica e social
do negro nova ordem capitalista: tanto para a gerao dos 1930
(a Frente Negra Brasileira;, quanto para a gerao dos 1950 (o
TFJ\
T
) , seria necessria uma segunda Aboli o.
E justamente em torno da utopia de uma Segunda Abolio,
na qual se realizaria plenamente a democraci a racial, que se d a
mobilizao poltica dos negros. F preciso que se note a ambigi-
dade no emprego deste termo, especialmente por parte dos negros:
por um lado, falar em democracia racial significava afirmar o di-
reito pleno a algo que no havia ainda se materializado, mas que se
poderia reivindicar a qualquer moment o nisso residia o seu la-
do progressista; o seu aspecto conservador ficava por conta de que
tal igualdade, no consubstanciada cm termos de oportunidades
de vida, ficava como promessa cujo fado se cumpre ao prometer.
Portanto, ao lado do consensi sobre a democracia racial, ha-
via diferenas entre a intelectualidade negra rebelde e o establish-
nient cultural da Segunda Repblica. Do ponto de vista dos ne-
gros, so duas as principais t enses a crtica ao exotismo negro
que seria cultivado pelas cincias s* veiais, a crtica aos intelectuais
"brancos" que negavam a existnc:.: do preconceito racial no Bra-
sil e a necessidade de uma Segunda Abol i o.
, < b
Ver Freyre (1944: 30). Embora i publicao seja de 1944, a confe-
rncia foi proferida em 1943, como veremos adiante.
Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito 147
O projeto sobre relaes raciais no Brasil, que a UNESCO
patrocinou entre 1952 e 1955, galvanizou o debate em torno des-
sas divergncias.
8 6
Rapidamente a discusso se polarizou em torno
da existncia ou no do "preconceito racial" no Brasil. Isso por-
que Bastide e Fernandes como que no aceitavam a concluso de
Wagley, segundo a qual, no Brasil, "em todo seu imenso territ-
rio semi-continental a discriminao e o preconceito raciais esto
sob controle, ao contrrio do que acontece em muitos outros pa-
ses" (Wagley, 1952: 7 ) . Ao contrrio, Bastide e Fernandes trata-
vam a "democracia racial" a que se referia Charles Wagley, no
como algo que existisse concrct ament e, mas apenas como um
padro ideal de comportamento. Bastide escreve:
"' Ns brasileiros, dizia-nos um branco, temos pre-
conceito de no ter preconceito. E esse simples fato
basta para mostrar a que ponto [o preconceito racial]
est arraigado no nosso meio social' . Mui tas respostas
negativas [que dizem no haver preconceito racial no
Brasil] explicam-se por esse preconceito de ausncia de
preconceito, por esta fidelidade do Brasil ao seu ideal
de democracia racial" (Bastide e Fernandes, 1955: 123,
grifos e colchetes meus).
Ou seja, Bastide e Fernandes no vem problemas em conci-
liar a realidade do "preconceito de cor " ao ideal da "democracia
raci al ", tratando-os, respectivamente, como prtica e norma so-
ciais, as quais podem ter existncias contraditrias, concomitantes
e no necessariamente exrludentes. De fato, como veremos em
seguida, trata-se de um alargamento L ia noo de "democracia
social e tnica" de Gilberto Freyre. Fm Bastide dos anos 1950,
"democracia racial" significa um ideai de igualdades de direitos
e no apenas de expresso cultural, a tstica e popular.
S 6
Para uma anlise detalhada do que : oram os estudos patrocinados
pela UNE SC O no Brasil dos anos 1950 , ver Mai o ( 1997 ) .
148 Cl asses, raas e democracia
A atitude de Bastide e Fernandes j existia, de fato, na pr-
tica dos intelectuais negros, como Abdias do Nascimento c Guer-
reiro Ramos, que justificavam seus objetivos polticos de desmas-
caramento da discriminao racial e de desrecalque da "massa ne-
gra" em termos daquele ideal. Nota-se, assim, que o debate acer-
ca da existncia ou no do preconceito racial no Brasil ainda no
punha em causa o consenso sobre a "democracia racial", mesmo
que polarizasse o seu significado.
A "DEMOCRACIA SOCI AL E TNICA"
E A DENNCIA DO
"MITO DA DE MOCRACI A RACIAL"
Na sociologia moderna, Gilberto Freyre foi o primeiro a re-
tomar a velha utopia do paraso racial, cara ao senso comum dos
abolicionistas, dando-lhe uma roupagem cientfica. Em 1936, em
Sobrados e mucambos, Freyre chega mesmo a retomar as imagens
de "aristocracia" e "democr aci a" para contrastai a rigidez da
organizao patriarcal e a flexibilidade das relaes entre raas:
"At o que havia de mai s renitentemente aristo-
crtico na organizao patriarcal de famlia, de econo-
mia e de cultuta foi atingido pelo que sempre houve de
contagiosamente democrti co ou democratizante e at
anarqiuzante, no amal gament o de raas e culturas e,
at certo ponto, de tipos regionais, dando-se uma es-
pcie de despedaamento das formas mais duras, ou
menos plsticas, por excesso de trepidao ou inquie-
tao de contedos" (Freyre, 1936: 355) .
Entretanto, acunhagem da expresso '"democracia t ni ca",
por Gilberto Frevre, surge no cont ext o da sua mitncia contra o
integralismo. Seguidas agresses a Freyre, no Recife, culminaram,
em setembro de 1943, num contundente manifesto, de cunho inte-
gralista, assinado pelo Diretrio dos Estudantes da Universidade
Democracia racial: o ideal, o pact o e o mi to 1 49
de Direito do Recife, que tenta_dcsmoralizdo.
v
A mobilizao
das foras democrticas e de esquerda em defesa de Gilberto foi
imediata. Entre estas, estava a Unio de Estudantes da Bahia, logo
secundada por vrias instituies baianas, que convidou Freyre,
para uma visita a Salvador, oportunidade em que lhe seriam pres-
tadas diversas homenagens de desagravo. O convite foi aceito em
novembro do mesmo ano e, no dia 2 6, Gilberto leu a primeira de
suas conferncias na Faculdade de Medicina da Bahia. Em seu elo-
gio Bahia e matriz luso-brasileira de sua cultura, diz Gilberto:
"Encontram-se aqui [na Bahia] esses resultados
num clima em que nenhuma regio do Brasil mais
doce, de democracia tnica, inseparvel da democra-
cia social. E sem democraci a social, sem democracia
tnica, sem democraci a econmi ca, sem democracia
scio-psicolgica a dos tipos que se combinam livre-
mente em expresses novas, admitidas, favorecidas e
estimadas pela organi zao social e da criatura que
pode ser seno um artifcio a simples democracia pol-
tica?" (Freyre, 1944: 30 ) .
Observe-se que "democr aci a" deixa de ser contrastada a
"aristocracia" e passa a s-lo ao "fascismo". O primeiro termo
associado ao anti-racismo e o segundo, ao racismo nazi-fascista;
o primeiro, tradio brasileira, o segundo, ao antibrasileirismo.
x
Gilberto descreve assim o clima vivido por ele no Recife dos anos
1940 , respondendo aos estudantes baianos que organizam os eventos cm de-
sagravo a tais ataques: "No se trata de desagravo nenhum. Pois a pal.ivra
' desagravo' s faria dar a honra de agravo insignificante campanha contra
mim num Recife amedrontado como o de hoje: ameaas de agresses na
impossibilidade de se repetir a priso do ano passado que encontrou reao
inesperada; boletins annimos; pixamento dos muros da casa de minha fa-
mlia com palavras obcenas pintadas no por mulcques afoitos de rua, mas
por sherloks-mirins a servio no s de nazistas indgenas como de jesutas
estrangeiros to inimigos da gua quanto do Brasil e do prprio clero brasi-
leiro" (Freyre, 1944: 80).
150
Classes, raas e democracia
Junta-se tenso da guerra na Europa a tenso regionalista, para
definir-se o contedo "soci al " da democracia brasileira. Mai s que
isto: tudo que no genuinamente luso-brasileiro, mi sturado,
sinertico, visto como um perigo para a jovem democracia bra-
sileira.
8 8
Isso fica melhor explicitado no trecho abaixo:
"Nesse sentido a recente demonstrao de ener-
gia cvica da Bahi a, sua magnfica ostentao de esp-
rito poltico preocupado no apenas com o estreito des-
tino da Bahia estadual mas do vasto mundo brasileiro
que no Ri o Grande do Sul se denomina compreensivel-
mente Baa, creio que ficar histrica. Marca bem o
incio de um perodo novo na histria da culrura bra-
sileira. A velha ' Virgnia do Imprio' se levanta com um
novo senrido imperial de sua fora, de seu matriarcado
e de sua fecunddade poltica e intelectual: o imperia-
lismo da democracia sobre trechos do Brasil ainda in-
decisos entre essa tradio genuinamente nossa e o ra-
cismo violentamente anti-btasileiro, o nazi-jesuitismo,
o fascismo sob disfarces sedutores, inclusive o da
:
his-
panidade' " (Freyre, 1944a).
Elide Rugai Bastos (2 001) pode nos elucidar o sentido exa-
to de "democracia social e tnica" em Freyre. Nos dias de hoje,
em que a idia de democracia est intimamente ligada a idia de
direitos civis e individuais, de carter universal, falar ce "demo-
cracia tnica" ou "raci al " poderia at nos levar a assobiar tais
expresses aos direitos de representao e autenticidade de mi no-
rias tnicas ou raciais. Nada mais contrri-> a Freyre. A : m como
para as geraes literrias espanholas de
:
H9$ ou <) i 4.
"cm Gilberto, esse carter [ibrico responsvel rela
8 8
A conferncia "Uma cultura ameaada: a l us o- hr as i l ei j pr of er i -
da por Freyre em 1940 no Gabinete Portugus de Leitura, nu Rec::'e, ilustra
tais tenses regionais e nacionalistas.
Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito 1 5 1
harmonia social, leva a que a democracia poltica pas-
se a segundo plano, uma vez substituda pela democra-
cia tnica/social. Mais ainda, justifica a no adoo, no
Brasil, de medidas sociais e polticas universais, pois as
mesmas no caberiam em uma sociedade marcada pela
heterogeneidade, caracterizada por uma formao no
tipicamente ocidental" (Bastos, 2 0 0 1: 62 ).
Freyre forja a idia de "democracia social" ainda nos anos
1930, contra o fato patente da ausncia de democracia poltica,
quer no Brasil ou em Portugal. Ou seja, pe-se o desafio de traar
a insero luso-brasileira no concerto das naes democrticas,
contra todas as semelhanas e simpatias dos regimes autocrticos
de Vargas e de Salazar com o fascismo. Sua linha de argumenta-
o apja-se no fato de que a cultura luso-brasileira no ape-
nas mestia, como recusa a pureza tnica, caracterstica dos regi-
mes fascistas e nazistas da Itlia e da Alemanha. Do ponto de vista
"social", portanto, estes regimes seriam democrticos, posto que
promovem a integrao e a mobilidade social de pessoas de dife-
rentes raas e culturas. Para usar as suas palavras, trata-se de "de-
mocracia social, essencial, humana, quero dizer; pouco me preo-
cupa a poltica" (Freyre, 1940 : 51) .
Quanto "democracia racial", Freyre no usa tal expiesso
seno em 1962, quando no auge da sua polmica defesa do coloma-
lismo portugus na frica, c no bojo da construo terica do que
chamara de luso-tropicalis:no, julga conveniente atacar o que ele
considerava como influncia, estrangeira sobre os negros brasilei-
ros, particularmente o conceito de "negritude", cunhado por Aime
Cesaire, Leopold Senghor, PYanz Fanon e outros, e reelaborado por
Guerreiro Ramos e Abdias ao Nascimento (Bastide, 1961). Km dis-
curso no Gabinete Portugus de Leitura, naquele ano, dir Freyre:
"Meus agradecimentos a quantos, pela sua pre-
sena, participam este ano, no Rio de Janeiro, da come-
morao do Dia de Cames, vindo ouvir a palavra de
quem, adepto da ' vria cor' camoneana, tanto se ope
1 52
Classes, raas e democracia
mstica da ' negritude' como ao nrito da ' branquitu-
de': dois ext remos sectrios que contrariam a j brasi-
leirssima prtica da democracia racial atravs da mes-
tiagem: uma prtica que nos impe deveres de parti-
cular solidariedade com outros povos mestios. Sobte-
tudo com os do Oriente e os das Africas Portuguesas.
Principalmente com os das Africas negras e mestias
marcadas pela presena lusitana" (Frevre, 1962 ).
Antes disso, nas diversas oportunidades em que tratara, nos
anos 1940 e 1950 , da presena negra e da democracia brasileira,
Freyre adjetivou de diversos modos a democracia, mas nunca como
"racial". Nos textos desses anos, ele fala em democracia poltica,
econmica, sociopsicolgica, social e tnica, quer trate de assun-
tos polticos, quer trate de temas culturais e nacionais. Apenas a
partir de 1943 e 1 944, como vimos, fala em "democracia t ni ca",
retomando a expresso, em 1961, no contexto de exposio do
luso-tropicalismo:
"Mais cio que nunca saber de certo o Portugus
conservar-se fiel s inspiraes henriquinas, em vez de
procurar, j agora arcaicamente, seguir, naquelas rela-
es, normas de povos estritamente europeus e o Por-
tugus, sobretudo depois de D. Flenrique. no e povo
estritamente europeu c om no-europeus. Seria um
desvio perigoso de tradies vindas dos dias daquele
prncipe e desenvolvidas principalmente no Brasil: um
Brasii to henriquino no seu desenvolvimento em demo-
cracia tnica e em democracia social" (Freyre, ^f 1).
Sem ter cunhado a expresso, e mesmo avesso a ela, j que
evocava uma contradi o em seus termos, mas grandemente res-
ponsvel pela legitimao cientfica da afirmao da inexistncia
de preconceitos e discriminaes raciais no Brasil, Freyre manteve-
se relativamente longe da discusso enquanto a idia de "demo-
cracia racial" permaneceu relativamente consensual, seja como
Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito 153
tendncia da sociedade brasileira, seja como padro ideal de re-
lao entre as raas no Brasil. Ou seja, enquanto a luta antifascista
e a luta anti-racista o aproximou da esquerda e dos escritores e
polticos progressistas brasileiros. Quando, entretanto, a situao
polarizou-se na frica, com as guerras de libertao, e no Brasil,
com o avano ideolgico da "negritude" e do movi mento pelas
reformas sociais, Freyre passou a louvar a "democraci a racial"
ou "tnica" como prova da excelncia da cultura no apenas luso-
brasileira, mas luso-tropical. Ironicamente, tratar a "negritude"
como um mito ou mstica racial:
"Palavras que ferindo o que Angola tem de mais
democrtico a sua democracia social atravs daquela
mestiagem que vem sendo praticada por numerosos
luso-angolanos, ao modo brasileiro fere o Brasil; e
torna ridcula supremamente ridcula a solidarie-
dade que certos diplomatas, certos polticos e certos jor-
nalistas elo Brasil de hoje pretendem, alguns do alto de
responsabilidades oficiais, que parta de uma populao
em grande parte mestia, como a brasileira, a favor de
afroracistas. Que afinidade com esses afroracistas, crua-
mente hostis ao mais precioso valor democrtico que
vem sendo desenvolvido pela gente btasileira a de-
mocracia racial pode haver da parte do Brasil? Tais
diplomatas, polticos e jornalistas, assim procedendo,
ou esto sendo mistificados quanto ao afroracismo, fan-
tasiado de movimento democrtico e de causa liberal,
ou esto sendo eles prprios mistificadores dos demais
brasileiros. Ns, brasileiros, no podemos ser, como
brasileiros, seno um povo por excelncia anti-segre-
gacionista: quer o segregacionismo siga a mstica da
' branquitude' , quer siga o mito da ' negritude' . Ou o da
' amarebt ude' " (Freyre, 1962 ).
Os aconteci mentos polticos posteriores, principalmente, a
vitria das foras conservadoras, em 1964, faro prevalecer a idia
154 Classes, raas e democracia
de Freyre de que a "democracia racial" j estava plenamente rea-
lizada no plano da cultura e da mestiagem, enfim, da formao
naci onal .
8 y
Numa poca de tantos e diversos tipos de democracia po-
ltica, econmi ca, social, racial, tnica etc. algumas teriam que
ser consi deradas falsas e outras verdadeiras. Em 1964, no con-
texto do rompi mento da democracia brasileira justamente em
nome da preservao dos valores e ideais democrti cos, estava fi-
nalmente madura a idia de que a "democracia raci al " mais que
um ideal era um mito; um mito racial, para usarmos as palavras
de Freyre. O autor dessa expresso foi justamente algum que j
dialogava criticamente com a obra e as idias de Freyre desde o
incio de sua formao acadmica: Florestan Fernandes^
1 0
.
Utilizando-se do mesmo contraste entre "aristocracia" e "de-
mocr aci a" e do mesmo conceito de "mi t o" usado por Freyre, o
dilogo com este no poderia ser mais explcito:
"Portanto, as circunstncias histrico-sociais apon-
tadas fizeram com que o mito da ' democraci a racial'
surgisse e fosse manipulado como conexo dinmica
dos mecanismos societrios de defesa dissimulada de ati-
tudes, comportamentos e ideais ' aristocrticos' da ' raa
domi nante' . Para que sucedesse o inverso, seria preciso
que ele caisse nas mos dos negros e dos mulatos; e que
estes desfrutassem de autonomia social equivalente para
explor-lo na direo contrria, em vista de seus pr-
prios fins, como um fator de democratizao da rique-
za, da cultura e do poder" (Fernandes. 1 965: 2 0 5) .
s
" Sobre mestiagem, ver o Ir ro de Kabengelc Munanga <; 1 999).
Florestan defende, em 196-, sua tese de titular da Cadeira de Socio-
logia ! da Universidade de So Paul' . A integrao do negro nj sociedade de
classes-, publicada no Boletim n ? ) 1, Sociologia I, n" 12 . da FFLCH, no
mesmo ano. Ainda em 1964, Florestan faz uma conferncia no Curso de In-
troduo ao Teat ro Negro sobre o mito da democracia racial.
Democraci a racial: o ideal, o pacto e o mito 155
O rompimento do pacto democrtico que vigeu entre 1945
e 1964 e que incluiu os negros, seja como movimento organiza-
do, seja como elemento fundador da nao, parece ter decretado
t ambm a morte da "democracia racial' ' daqueles anos. Doravan-
te, ainda que aos poucos, os militantes polticos e ativistas negros
referiro tanto as relaes entre brancos e negros, quanto o pa-
dro ideal destas relaes como o "mito da democracia racial".
O objeti vo era claro: opor-se ideologia oficial patrocinada pe-
los militares e propalada pelo luso-tropicalismo.
Abdias do Nascimento, em 1968, a poucos dias de partir pa-
ra o exlio, j fala em "logro":
"O status de raa, manipulado pelos brancos, im-
pede que o negro tome conscincia do logro que no
Brasil chamam de democracia racial e de cor " (Nasci-
mento, 1968 : 2 2 ).
Ainda em 1968, em depoimento em evento organizado pe-
los Cadernos Brasileiros (n 47, 1968, p. 2 3) , ficam claras as ten-
ses entre Abdias do Nascimento e a esquerda nacionalista, sina-
lizando o fim da "democracia racial" enquanto compromisso po-
ltico. Ali, j aparece o uso da "negritude" em sentido multicultu-
ralista e em sua pretenso ecumnica:
"Entendo que o negro e o mulato os homens
de cor precisam, devem ter uma contra-ideologia
racial e uma contra-posio em matria econmico-
social. O brasileiro de cor tem de se bater simultanea-
mente por uma dupla mudana: a) a mudana econ-
mico-social do pas; b) a mudana nas relaes de raa
e cor. Aqui entra a Negritude como concei t o c ao re-
volucionrios. Afirmando os valores da cultura negro-
africana contida em nossa civilizao, a Negritude esta
afirmando sua condio ecumnica e seu destino huma-
nstico. Enfrenta o teacionrio conti do na configura-
o de simples luta de classe do seu compl exo econ-
mico-social, pois tal simplificao uma forma de im-
156 Classes, raas e democracia
pedir ou retatdar sua conscientizao de espoliado por
causa da cor e da classe pobre a que pertence".
Em 1977, retornando do exlio, Abdias escreve e publica, em
Lagos, The racial democracy in Braz: myth or realitv?, republi-
cado em 197 8, no Brasil, como O genocdio do negro brasileiro.
No prefcio, Florestai! escreve:
"[Abdias] no fala mais em uma ' Segunda Abo-
lio' e situa os segmentos negros e mulatos da popu-
lao brasileira como estoques africanos com tradies
culturais e um destino histrico peculiares. Em suma,
pela primeira vez surge a idia do que deve ser uma
sociedade pluri-racial como democracia: ou ela de-
mocrtica para todas as raas e lhes confere igualda-
de econmica, social e cultural, ou no existe uma so-
ciedade pluri-racial democrtica" (Nascimento, 1978:
2 0 ) .
O NOVO PROTESTO NE GRO
E O " MI TO DA DE MOCRACI A RACI AL"
O movimento social negro que irrompe na cena poltica bra-
sileira, em julho de 1978, com o nome de Movimento Negro Uni-
ficado Contra a Discriminao Raci al , representa realmente algo
de novo no sistema poltico brasileiro.
No entanto, a novidade apont ada por Florestar: esteve em
gestao durante todos os anos 197 0 , no Brasil, principalmente
no Ri o de Janeiro e em Salvador, onde amadurecia rapidamente
o que Jnatas da Silva (1 988) chamou de "auto-afirmao cultu-
ral" dos negros. Do mesmo modo, do ponto de vista puramente
poltico, o MNU dos anos 1980 t raa o seu passado em continui-
dade com os movimentos negros dos anos 1930 , 1940, 1950 e
1960 , numa linha evolutiva em que as rupturas refletiriam ape-
nas o amadurecimento do pensamento negro e o desenvolvimen-
Democracia racial: o ideal, o pacto e o mi t o 57
to da sociedade e da nao brasileiras. Ou seja, o MNU no foi
um raio em cu azul, nem surgiu fazendo tabula rasa do passado.
No Brasil, desmascarar a "democracia racial", em sua verso
conservadora, cie discurso estatal que impedia a organizao das
lutas anti-racistas, passa a ser o principal alvo da resistncia ne-
gra. No entanto, tal resistncia vai se dar primeiro e mais desim-
pedidamente no terreno cultural que no campo mais propriamente
poltico. Isso por diversos motivos, entre os quais os mais impor-
tantes so a represso s atividades polticas e os rumos que toma
a poltica exterior brasileira, nos anos 1960 e 197 0 , de aproxi-
mao com a frica negra.
De fato, a poltica exterior brasileira, em relao a frica,
vai explorar, justamente, dois trunfos: a "democracia racial" bra-
sileira o que requer, como vimos, a represso aos ativistas ne-
gros, que a denunciavam como "mi t o" e as origens africanas
da cultura brasileira o que levar o Estado a incentivar as mani-
festaes culturais afro-brasileiras, principalmente na Bahia (Agier,
2 0 0 0 ; Bacelar, 2 0 0 1: Santos, 2 0 0 0 ) .
Nesse jogo de represso e incentivo, a "cultura negra" e as
"origens africanas" passaro a ser os eixos atravs dos quais se
construir um discurso alternativo ao marketing governamental.
Ao "si ncrt i co" e "mestio" procurar-se- construir o "negro" e
a "pureza cultutal". Antes, portanto, que surgisse, em 1978, o
Movi ment o Negro Unificado, j estava em atuao nas principais
cidades br iislciris um sem-numero de entidades culturais negras,
todas em busca de afirmao tnica.
O patrocnio "cultura afro-brasileira", de fato, gerou, e no
apenas na Bahia, mas tambm no Ri o de Janei ro, uma espck de
renascimento cultural, que <. m muito beneficiou a jovem militncia
negra em formao. Llia ( onzalez, por exemplo, cita, como Jato
marcante na formao do A . NU, a Semana Afro-Brasileira de 19 4,
patrocinada pelo CEAA (C. ntro de Estudos Afro-Asiticos) e pi o
SE CNE B (Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil),com
a exposi o de arte e cultura negras. Nesse mesmo ano so fun-
dadas a SIBA (Sociedade de Intercmbio Brasil-frica) e o IPCN
158 Classes, raas e democracia
(Instituto de Pesquisa das Culturas Negras), no Rio de Janeiro, e a
Confederao Baiana dos Cultos Afro-Brasileiros (que se junta
Federao do Culto Afro-Brasileiro, criada em 1946) e o bloco afro
ll Ay, em Salvador. Em 197 6 criado, em Salvador, o Ncleo
Cultura! Afro-Brasileiro, cujo manifesto publicado na Tribuna
da Bahia (15/ 12 / 197 6) e, no Rio de j anei ro, so criados o Centro
de Pesquisas das Culturas Negras e a Escola de Samba Quilombo.
Nesse mesmo ano de 197 6, tambm em Salvador, duas me-
didas de governo nos do a medida exata do que mudava no pacto
racial-democrtico firmado na era Vargas. Primeiro, um decreto
do governador do Estado da Bahia pe fim exigncia de licena
policial pata funcionamento de terreiros de candombl; segundo,
a assinatura de um convnio, entre a Fundao Pr-Memria do
Governo Federal, o CEAO (Centro cie Estudos Afro-Orientais da
L1FBA) e o SECNEB, permite a implantao do primeiro currculo
multicultural, na escola do Ax Op Afonj, ligada ao terreito do
mesmo nome.
Ota, a democracia racial que se implantara no pas nos anos
1930 , seja como ideal de relaes no-discriminatnas e no segre-
gacionistas, seja como pacto poltico de participao das massas
urbanas, seja como integrao simblica dos negros nao, tal
democracia pressupunha o papel subordinado de prticas reli-
giosas de origem africana e o carter sincrtico da contribuio
dos negros cultura nacional: no havia lugar para direitos a iden-
tidade ou singularidade. Mas, em meado dos 1 97 0 era a reivin-
dicao de tal identidade e singularidade que comeava a ser aten-
dida pelo Estado brasileiro, ao menos no terreno da cultura.
Ou seja, antes que o movimento negro aparecesse na cena
poltica nacional com uma agenda radical de reivindicaes anti-
racistas, a "afirmao cultural" negra j se encontrava bastante
madura, protegida justamente por uma poltica de "democracia
racial", que remonta aos anos 1930. O novo, nos anos 1980, como
disse Florestan, ser a demanda por direito diferena cultural
pari passu demanda por direitos sociais e respeito pelos ditei-
tos civis dos negros.
Democracia racial: o ideai, o pacto e o mito 159
O movimento negro ressurgiu, em 197 8 , como o fez em 1944,
em sintonia com o movimento pela retlemocratizao do pas. Em
sua agenda poltica estavam trs alvos principais: a) a denncia
do racismo, da discriminao racial e do preconceito de que eram
vtimas os negros brasileiros; b) a denncia do mito da democra-
cia racial, como ideologia que impedia a ao anti-racista; c) a bus-
ca de construo de uma identidade racial positiva: atravs do a-ro-
centrismo e do quilombismo, que procuram resgatar a herana
africana no Brasil (inveno de uma cultura negra). Ou seja. o mo-
vimento negro retomava as suas bandeiras histricas de "inte-
grao do negro sociedade de classes" (Fernandes, 1965). acres-
centando a elas a nova bandeira de identidade tnico-racial ex-
pandida. Ou seja, tm-se trs movimentos em um: a luta contra
o preconceito racial; a luta pelos direitos culturais da minoria afro-
brasileira; a luta contra o modo como os negros foram definidos
e includos na nacionalidade brasileira.
J antes de completa a redemocratizao do pas, nas elei-
es estaduais de 1 982 , a militncia negra tem a oportunidade de
partilhar o poder em alguns estados, como Ri o de Janeiro e So
Paulo, atravs da sua incorporao a organismos governamentais.
a poca da formao dos ncleos negros nos principais parti-
dos polticos, e da ctiao de organismos estatais que procuram
absorver as reivindicaes da militncia nas reas da cultura, da
legislao e da ao executi va.
9 1
Em So Paulo e no Rio era a oposi o de esquerda ao regi-
me militar que chegava ao poder e atendia a reivindicaes de seus
aliados negros, tambm na oposio; mas, na Bahia, tratava-se de
'
1
Exemplos de aes estatais dessa poca: em 1 9 8 2 , a Prefeitura Mu-
nicipal de Salvador incorpora ao patrimnio histrico estadual o lerreiro
da Casa Branca, primeiro terreiro de candombl da Bahia; em l^tia, a Se-
cretaria de Educao do Estado da Bahia regulamenta a incluso da discipli-
na Introduo aos Estudos Africanos nos currculos escolares das escolas p-
blicas de 1 e 2" graus; em. 1984, o governo de So Paulo cria o Conselho de
Participao e de Desenvolvimento da Comunidade Negra.
160 Classes, raas e democracia
um movimento de ampliao dos direitos culturais do povo ne-
gro, que desde os anos 1960 passara a ser utilizado e promovi-
do, seja para fins da poltica exteri or do Brasil em relao fri-
ca, seja para fins de expanso da indstria do turismo no Estado
da Bahia (Agier, 2000; Santos, 2 0 0 0 ) .
Ainda que nesse perodo apaream palavras de ordem como
"por uma autntica democracia r aci al ", ttulo de um documento
veiculado pelo III Congresso do MNU, realizado em Belo Horizon-
te, em 1982, gradativamente, a mobilizao negra de 1978 a 1985
se far tendo como pano de fundo a denncia do "mito da demo-
cracia racial". Um dos mais importantes intelectuais negros do pe-
rodo, Joel Rufino, j notava o risco de "esgotamento" que isso
representava para o movimento. Em artigo de 198 5, diz Rufino:
"Ora, foi o colapso cio mi to da democracia racial
que permitiu avanar o movi mento negro, nos anos se-
tenta. Ele no abriria cami nho sozinho, pela exclusiva
pertincia de suas lideranas; mas pela conjugao des-
tas a condies histricas favorveis, que liquidaram
em bloco o pacto ideolgico qu~e conformava a noo
anterior de Brasil" (Santos, 1 9 8 5: 2 9 8 ) .
Os anos seguintes, que se estendem de 198 5 a 1995, so de
construo de uma nova institucionaldade poltica; de formao
da Nova Repblica, como se chamou na poca. Os ativistas ne-
gros sero chamados a ocupar cargos nos recm-criados Conse-
lhos e Secretarias da Comunidade Negra, no mbito dos gover-
nos estaduais, e na Fundao Palmares, criada em 1 988, no m-
bito do Ministrio da Cultura. De grande efeito simblico foi o
t ombament o, como patrimnio cultural brasileiro, da Serra da
Barriga, local onde existiu no sculo XVI I o Quilombo dos Pal-
mares. O governo federal comeava, assim, ao menos no plano
si mbli co, a incorporar as demandas do Movi mento Negro.
9 2
1 2
Ver a respeito Maggie (1989) e Santos (2 000).
Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito 161
I
Data tambm desse perodo a instituio de uma nova legis-
lao anti-racista, cujo parmetro legal ser a Carta Constitucio-
nal de 198 8 , que declara em seu captulo I, artigo 5", XLl b "A
prtica do racismo constitui crime inafianvel e imprescritvel,
sujeito pena de recluso, nos termos da lei", e, no Ato das Dispo-
sies Constitucionais Transitrias, artigo 68 : "Aos remanescen-
tes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas
terras reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado
emitir-lhes os ttulos respectivos". Em 5 de janei ro de 1989 san-
ci onada a Lei n" 7. 716, que define os crimes resultantes de pre-
concei t o de raa ou de cor. Esta lei permitir que dali em diante
a luta contra a discriminao racial e o preconceito de cor se or-
ganize em bases jurdicas. As constituies estaduais, promulga-
das em 198 9, seguiro, neste aspecto, a Carta Magna.
9 3
Com a institucionalizao de uma nova ordem jurdica no
pas, em 198 8 , amplamente favorvel aos interesses negros, unia
boa parte da militncia congregada anteriormente no MNU, nos
parti dos, nos sindicatos e nos rgos estatais passar a atuar no
chamado "quarto setor", ou seja, organizados em ONGs. Isso no
quer dizer que o MNU deixe de existir (mas passar a ser apenas
mais uma organizao poltica negra), nem que os rgos esta-
tais, os partidos e sindicatos deixem de recrutar ativistas negros.
Mui t o pelo contrrio, a partir de 1995 se amplia o recrutamento
de negros para rgos do governo federal. A novidade, porm,
ser a proliferao do movimento negro em entidades indepen-
dentes da sociedade ci vi l .
9 4
O nmero de ONGs negras cresce
constantemente durante o perodo, incentivado tambm pelo cres-
cimento da oferta de recursos internacionais para a filantropia.
9 3
Apesar do esgotamento, nos anos 197 0 , do modelo de "de-
mocracia racial", de que nos fala Joel Rufino, o fato que o movi-
mento negro fez da denncia do mito da democracia racial seu
mote mobilizador central durante todo o perodo das dcadas de
197 0 a 1990. Esta centralidade render frutos e reaes, seja atra-
vs de polticas pblicas e legislao, seja atravs de novas teo-
rias acadmicas sobre a "democraci a racial".
A DEMOCRACIA RACI AL
ENQUANTO MITO
O incmodo da academia brasileira perante o avano do mo-
vimento negro teve alguns pivs importantes: primeiro, um certo
exagero do discurso militante, que transparece no emprego de
termos como "genocdio" para referir-se ao comportamento da
sociedade brasileira em relao aos negros, e a vontade de fazer
crer que a opresso dos negros no Brasil era pior do que a situao
norte-americana ou sul-africana. Ou seja, a propaganda do mo-
vimento quetia transformar a i magem do Brasil de paraso em in-
ferno racial (Sansone, 1996). Segundo, a pretenso do movimento
em politizar a classificao racial brasileira, redefinindo identida-
des como "preto", "pardo" ou "mor eno" em "negro", sem no
entanto consegui-lo, pois a massa da populao, na melhor das hi-
9 l
A legislao brasileira anti-racista encontra-se reunida e comentada
em Silva j r . ; 1 998).
9 4
Para exemplificar com as mais importantes entidades negras: em 9SS
fundado o Geieds Instituto da Mulher Negra; em 1989, o CEAP
Centro de Articulao de Populaes Marginalizadas; em 1990, o CEER'1
Centro de Estudos das Relaes do Trabalho e Desigualdade; em 1993, o
Fala Preta! Organizao de Mulheres Negras.
"
b
Rosana Heringer (2000) arrola 1 24 principais ONGs cm 1V 9 V . b-,-
s.is ONGs concentram-se: a) na luta contra o preconceito racwl so c r i a -
dos, no perodo, os servios jurdicos de SOS Racismo , aproveitando a
cnminalizao do racismo pela Lei 7 . 7 16; b) na luta contra a discriminao
no trabalho, fazendo com que as regras das convenes internacionais con-
tra a discriminao, das quais o Brasil signatrio, passassem a ser efetiva-
mente respeitadas no pas; c) na rea da sade; d) na rea de educao e qua-
lificao para o trabalho; e e) na rea de proteo infncia.
162 Classes, raas e democracia Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito 163
pteses, s muito lentamente poderia seguir tal redefinio (Har-
ris et ai, 1993; Maggie, 1996). Terceiro, um evidente descompasso
entre o discurso poltico da militncia e o comportamento eleito-
ral das massas, as quais se revelavam muito mais permeveis ao
populismo trabalhista que aos apelos afrocntricos do MNU (Sou-
za, 197 1; Santos, 1985; Agier, 2 0 0 0 ) .
Do ponto de vista terico, a reao acadmica comea com
o esforo de reintrepretao do Brasil empreendido por DaMatta
( 197 9) , em termos da dicotomia entre "indivduo" e "pessoa", to-
mada de emprstimo a Lous Dumont ( 1966) , e que culmina com
a sugesto de que as relaes raciais no Brasil sejam regidas por
uma "fbula das trs raas" (DaMat t a, 198 1) . Mais tarde, rea-
gindo anaiise de Michael Hanchard ( 1996) , que via na denun-
cia pblica de racismo na sociedade brasileira o fim do mito da
democraci a racial, Peter Fry escreve:
"[. . . ] nem por isso precisamos descartar a 'demo-
cracia racial' como ideologia falsa. Como mito, no sen-
tido em que os antroplogos empregam o termo, um
conjunto de idias e valores poderosos que fazem com
que o Brasil seja o Brasil, para aproveitai a expresso
de Roberto DaMat t a" (Fry, 1995- 96: 134) .
Lilia Schwarcz (1999a: 30 9) sintetiza tal posio do seguin-
te modo:
"Dessa maneira, t omando os termos de Lvi-
Strauss, [1975] poderamos dizer que o mito se ' exte-
nua sem por isso desaparecer' . Ou seja, a oportunida-
de do mito se mantm, para alm de sua desconstruo
racional, o que faz com que, mesmo reconhecendo a
existncia do preconceito, no Brasil, a idia de harmo-
nia racial se imponha aos dados e prpria conscin-
cia da discriminao".
Ou seja, ao que parece, a denncia do "mi to da democracia
r aci al ", forjada por Florestan em 1964, que respaldou toda a
164 Classes, raas e democracia
mobilizao e protestos negros nas dcadas seguintes, sintetizan-
do a distncia entre o discurso e a prtica dos preconceitos, da
discriminao e das desigualdades entre brancos e negros no Bra-
sil, finalmente se esgota enquanto discurso acadmico, ainda que
como discurso poltico sobreviva com alguma eficincia.
Na academia brasileira, o " mi t o" passa agora a ser pensa-
do como chave para o entendimento da formao nacional, en-
quanto as contradies entre discursos e prticas do preconceito
racial passam a ser estudadas sob o rtulo mais adequado (ainda
que altamente valorativo) de "r aci smo". Ou seja, no mesmo ter-
reno em que o movimento negro o ps. Foi o prprio DaMatta,
inspirador da nova leva de estudos (Guimares, 1995; Hasenbalg,
1996) que visam a definir a especificidade do racismo no Brasil,
quem cunhou a expresso "racismo brasileira" (DaMatta, 1981,
1997 ; Pereira, 1996), depois substituda, no senso comum, por
outra "racismo cordial" (Folha de S. PtfH/o/DataFolha, 1995)
forjada pela mdia. Ou seja, no mais a democracia que ser
adjetivada para explicar a especificidade brasileira, mas o racismo.
O que continua em jogo, portanto, a distncia entre dis-
cursos e prticas das relaes raciais no Brasil, tal como Florestan
e Bastide colocavam nos idos anos 1950 . Ainda que, certamente,
para as cincias sociais, o mito nao possa ser pensado da manei-
ra maniquesta como Freyre e Florestan pensaram, transpondo-o
diretamente para a poltica, permanecem os fatos das desigualda-
des entre brancos e negros no Brasil, apesar do modo como se clas-
sifiquem as pessoas. Mais que isso: as diferenas raciais se impem
conscincia individual e social, cont ra o conhecimento cientfi-
co que nega es raas so como bruxas que teimam em atemori-
zar, ou come o sol que, sem saber de Copcrnico, continua a nas-
cer e a se pi ?) Novos estudos sobre as desigualdades raciais no
Brasil, elaborados inicialmente no mbi to da sociologia e da de-
mografia, ganham outras disciplinas sociais, como a economia
(Barros e Henriques, 2 0 0 0 ; Soares, 2 0 0 0 ) , enquanto saem das
universidades e se aninham nos crgos de planejamento estatal,
a respaldar as reivindicaes do protesto negro.
Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito 165
CONCLUSES
Entre 1930 e 1964, vigeu no Brasil o que os cientistas pol-
ticos chamam de "pacto populista" ou "pacto nacional-desenvol-
vimentista". Neste pacto, os negros brasileiros foram inteiramente
integrados nao brasileira, em termos simblicos, atravs da
adoo de uma cultura nacional mestia ou sincrtica, e em ter-
mos materiais, pelo menos parcialmente, atravs da regulamen-
t ao do mercado de trabalho e da seguridade social urbanos,
revertendo o quadro de excluso e descompromisso patrocinado
pela Primeira Repblica. Nesse perodo, o movimento negro orga-
nizado concentrou-se na luta contra o preconceito racial, atravs
de uma poltica eminentemente universalista de integrao social
do negro sociedade moderna, que tinha a "democracia racial"
brasileira como um ideal a ser atingido.
O golpe militar de 1964, que destri o pacto populista, estre-
mece tambm os elos do protesto negro com o sistema poltico,
que se teciam principalmente atravs do nacionalismo de esquer-
da. De fato, no comeo dos 1960 , a poltica externa brasileira j
se encontrava estressada quanto posio que o Brasil deveria to-
mar ante os movimentos de libertao das colnias portuguesas
na frica. O movimento negro brasileiro, influenciado pelo mo-
vimento negro internacial, principalmente a negritude, enfatiza-
va as suas razes africanas, o que gerava a reao de intelectuais
como Gilberto Freyre (1961, 1962 ) , em sua cruzada pelos valoies
da mestiagem e do luso-tropicalismo. A discusso sobre o carter
da "democracia racial" no Brasil o u seja, se se tratava de rea-
lidade cultural (como queriam Freyre c o estdbshnient conserva-
dor) ou de ideal poltico (como queriam os progressistas L- o movi-
mento negroi acaba levando radicalizao das duas posies.
A acusao de que "democracia raci al " brasileira no passava de
"mistificao", "logro" e "mito" toma ento conta do movimento,
medida que a participao poltica se torna cada vez mais res-
trita, excluindo a esquerda e os dissidentes culturais. A partir de
1968 , os principais lderes negros brasileiros vo para o exlio.
166 Classes, raas e democracia
Com a redemocratizao do pas, a impossibilidade de se
conter as reivindicaes sociais dos negros brasileiros nos estrei-
tos parmetros da idia freyreana de "democracia social" fica de
todo evidente. A nao brasileira, constituda como mestia e
sincrtica, j no precisava reivindicar uma origem "no tipica-
mente ocidental". Ao contrrio, as classes e grupos sociais faro
dos direitos civis, individuais e universais o principal objetivo das
lutas sociais.
A reconstruo da democraci a no Brasil, a partir de 197 8,
ocorre panpassu ao renascimento da "cultura" e do protesto ne-
gro. Mais que isso: d-se num mundo em que a idia de multicul-
turalismo, ou seja de tolerncia e respeito a diferenas cuiturais
que se querem integras, autnticas e no-sincrticas, ao contrrio
do ideal nacionalista do ps-guerra, dominante. Nesse ambien-
te, todo o trabalho de reconstruo de um pacto racial democr-
tico, no que pese o esforo de i ncorporao simblica e material
do Estado brasileiro, est fadado a um (in)sucesso limitado.
Seria errneo atribuir o recrudescimento da "conscincia ne-
gra" e do cultivo da identidade racial, no Brasil dos anos 1970,
influncia estrangeira, especialmente norte-americana. Ao contr-
rio, o renascimento cultural negro deu-se nesses anos sob a prote-
o do Estado autoritrio e de seus interesses de poltica exterior.
Ademais, a guinada do movi mento negro brasileiro em direo
negritude e s origens africanas data dos anos 1960 e foi, ela mes-
ma, responsvel pela gerao das tenses polticas surgidas em
torno do ideal de democracia racial. Do mesmo modo, as idias
e o nome de "democracia racial" longe de serem o logro forjado
pelas classes dominantes brancas, como querem hoje alguns a:i-
vistas e socilogos, foi durante muito tempo uma forma de inte-
grao pactuada da militncia negra.
Em resumo, "democracia racial" foi, a princpio, uma tradu-
o livre de Bastide das idias expressas por Freyre em suas con-
ferncias na Universidade da Bahia e de Indiana, em 1943 e 1944,
respectivamente. Idias essas caudatrias, elas prprias, das refle-
xes de Freyre sobre a "democraci a social" luso-brasileira. Nes-
Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito 1 67
sa "traduo" Bastide omite o carter "i bri co" restrito que Freyre
atribua, no mais das vezes, ao termo; pelo contrrio, alarga-o,
reala-lhe o carter propriamente universalista de "contribuio
brasileira humanidade" (tambm reivindicado por Freyre), mais
apropriado coalizo antifascista e anti-racista da poca. Assim
transposta para o universo individualista ocidental, a democra-
cia racial ganhou um contedo poltico distante do carter pura-
mente"soci al" que prevalece em Freyre, fazendo com que, com o
tempo, a expresso ganhasse a conot ao de ideal de igualdade
de oportunidades de vida e de respeito aos direitos civis e polti-
cos que teve nos anos 1950. Mais tarde, em meados dos 1960,
"democracia racial" voltou a ter o significado original freyreano
de mestiagem e mistura tnico-cultural tout cnurt. Tornou-se, as-
sim, para a militncia negra e para intelectuais como Florestam a
senha do racismo brasileira, um mi to racial. Finalmente, para
alguns intelectuais contemporneos, o mito transforma-se em cha-
ve interpreiativa da cultura brasileira.
Morta a democracia racial, ela continua viva enquanto mi-
t o, seja no sentido de falsa ideologia, seja no sentido de ideal que
orienta a ao concreta dos atores sociais, seja como chave inter-
pretativa da cultura. E enquanto mi to continuar viva ainda pot
muito tempo como representao do que, no Brasil, so as rela-
es entre negros e brancos, ou mel hor, entre as raas sociais
(Wagley, 1 TS2) as cores que compem a nao.
Noo criada durante a ditadura varguista pata nos incluir
no mundo dos valores polticos universais, a "democracia racial"
precisa agora ser substituda pela simples democracia, que inclui
a todos sem meno a raas. Estas, que no existem, faramos
melhor se no as mencionssemos como ideai, como o que deve
ser, reservando-as para denunciar o que no deveria existir (o
raci smo).
1 6 8 Classes, raas e democracia
6.
No Brasil, desde que foi definido o crime racial, em 198 9,
pela Lei 7. 716, um dado passou a chamar a ateno dos ativistas
e advogados negros, assim como dos pesquisadores: a maioria das
queixas de discriminao poderia ser enquadrada como crime de
injria ou infmia
9
. A i mport nci a numrica dos casos de insul-
tos raciais era to grande que, em 1997, por presso dos ativistas,
o legisadot modificou o Cdi go Penal (Lei n" 9. 459) para que a
injria racial fosse punida com o mesmo rigor dos crimes raciais.
Em outro contexto (Guimares, 1998), eu interpretei a ofensa
verbal, que acompanhava a maioria dos atos de discriminao,
como sendo a nica evidncia disponvel, para o queixoso, de que
a discriminao sofrida por ele era, realmente, de cunho racial e
no apenas de classe, o que tambm muito comum no Brasil.
Neste captulo, entretanto, quero investigar o insulto racial
como forma de construo de uma identidade social estigmatiza-
9 6
Uma verso deste texto foi apresentada ao Congresso da American
Anthropological Associauon, em Chicago, novembro de 1999. Agradeo a
Afrnio Garcia, Jociio Teles dos Santos e Njdya Arajo Guimares a leitu-
ra cuidadosa de verses preliminares do texto e suas valiosas sugestes. Hste
captulo foi originalmente publicado em Estudos Apo-Asiticos, n" 38, de-
zembro de 2000, pp. 3 1-48.
9
O cdigo penal brasileiro, ao contrrio do norte-americano, reco-
nhece o crime contra a honra. Sua mera existncia j indica a presena de
relaes sociais hierarquizadas, que se pautam por um cdigo de honra pes-
soal e estamental (e no apenas de tica).
O mito anverso: o insulto racial 169
O MITO ANVERSO: O I NSULTO RACI AL
9 6
da. Para tanto, volto a me valer de queixas registradas na Dele-
gacia de Crimes Raciais de So Paulo, ainda que tal fonte tenha a
desvantagem de ser um registro feito por outrem (o plantonista),
a partir do relato de apenas uma das partes, a vtima. Tem a van-
tagem, entretanto, de apresentar esteretipos socialmente aceitos
enquanto tais, tanto pelas vtimas, quanto pelos policiais. Tomei
para a anlise apenas as queixas registradas-entre I
o
de mai o de
1997 e 30 de abril de 1998 .
Tabela 1
QUE I XAS PRESTADAS DE DISCRIMINAO,
SE GUNDO O MBITO DAS RELAES SOCIAIS
ONDE OCORRE U E O REGISTRO DE INSULTOS
Com Sem
mbito das i ns u Ito insulto Total %
relaes sociais (A) ( I i ) _
(C) coluna (A/C
Consumo 12 10 22 2 4 % 54"-
Vizinhana 18 1 19 2 1 % 95
o
-
No trnsito 4 1 5 6 % 80
o
-
Nas ruas
)
0
2
2 % 100-
Trabalho 29 3 32
2 / <-'''
J O / O 91' !
Negcios 3 0 3 3 % 100/
Famlia 6 0 6 7 % 10 0
Outro 0 1 1 1% o-
Total 74 90 1 0 0 %
% linha 8 2 % 18 'o 100%
Fonte primria: Delegacia de Crimes llaciais de So Paulo, 1" de maio de 199
a 30 de abril de 1998 .
Nesse ano, em 74 das noventa queixas prestadas na delega-
cia, ou seja, em 8 2 % dos casos, as vtimas fizeram registrar, tam-
bm, os insultos verbais sofridos. O grande nmero de insultos
registrados era de se esperar, dado que 7 6 % das quei xas regis-
tradas foram de ataques honra pessoal. No entanto, os insultos
aparecem na mai ori a das queixas relativas discriminao nas
170 Classes, raas e democracia
esferas do trabalho, da vizinhana e do consumo (ver Tabela 1),
o que refora minha convico de que as i nj nas so usadas de
forma bastante licenciosa, na sociedade brasileira. Na verdade,
apenas no mbi t o das relaes de consumo de bens e servios o
nmero de queixas sem registro de insultos significativo (10 em
2 1 casos); nos demais mbitos da vida social as quei xas com in-
sultos so sempre maiores que 8 0 %.
O QUE SO OS INSULTOS RACIAIS?
Charles Flynn (1 977: 3) define o insulto como "um ato, ob-
servao ou gesto que expressa uma opinio bastante negativa de
uma pessoa ou grupo". Tratarei aqui apenas das ofensas verbais.
O mesmo Flynn (1977: 6) prope "exami nar a natureza das su-
posies comuns e obvias concernentes realidade social, parti-
lhada por membros de sistemas socioculturais especficos, e de-
monstrar como os insultos, numa grande variedade de culturas,
consiste principalmente em violaes de nor mas muito signifi-
cantes, mas substancialmente implcitas". Mai s que uma opinio
negativa, portanto, o insulto, significa o rompi ment o de uma nor-
ma soci al. Para Edmund Leach (197 9), o insulto significa a vio-
lao de um tabu, ou seja, consiste na expresso de nomes, atos
ou gestos socialmente interditos, que geralmente referem os mui-
to pr xi mos ou muito longnquos de si (sejam pessoas, animais,
ou fatos corpreos).
A funo ou a inteno do insulto poden variar, mas esto
sempre ligadas a uma relao de poder. Flynn ista algumas fun-
es: a) legitimao e reproduo de uma orde n moral; hj legiti-
mao de hierarquia entre grupos sociais; c) legitimao de hie-
rarquias no interior de grupos; d) socializao de indivduos. Fs-
sas duas ltimas funes, entretanto, correspondem melhor ao que
se chama, na literatura especializada, de "insultos rituais", ou seja,
cont endas verbais cm que insultos so t rocados de modo regula-
do, pondo em evidncia o domnio verbal e o controle emocional
O mito anverso: o insulto racial 171
dos participantes
7
^. No caso ue insultos raciais no-rituais, esta-
remos lidando, fundamentalmente, com tentativas de legitimar
uma hierarquia social baseada na idia de r aa.
9
' '
No estudo da formao de grupos socialmente execrados,
Norbert Elias e John Scotson (1994) propem um ordenamento
no modo como os grupos dominantes estigmatizam os dominados.
Isso ocorre, lembram, quando tais grupos detm efetivo poder de
fazer crer a si e aos prprios execrados que tais estigmas so (ou
podem ser) verdadeiros. O primeiro modo de estigmatizar a po-
breza. Para utiliz-la, o grupo dominante precisa monopolizar as
melhores posies sociais, em termos de poder, prestgio social e
vantagens materiais. Apenas nesta situao, a pobreza pode, en-
to, ser vista como decorrncia da inferioridade natural dos exclu-
dos. O segundo modo de estigmatizar atribuir como caracters-
ticas definidoras do outro grupo a anomia (a desorganizao social
e familiar) e a delinqncia (o no cumprimento das leis). O ter-
ceiro atribuir ao outro grupo hbitos deficientes de limpeza e hi-
giene. O quarto e ltimo tratar e ver os dominados como animais,
quase-animais, ou no inteiramente pertencentes ordem social.
Os insultos so tambm, ao mesmo tempo, evocao de estig-
mas sociais e pessoais, os quais Erving Goffman ( 1963) classificou
em trs tipos: 1) anomalias corporais (deformidades fsicas); 2)
defeitos de carter individual fraqueza de vontade, paixes ina-
turais, crenas rgidas, desonestidade et c, inferidos a partir de doen-
a mental, encarceramento, alcoolismo, vcio, homossexualidade,
desemprego, tentativas de suicdio, comportamento poltico etc.:
3) estigmas tribais raa, nao, religio e mesmo classe.
''
s
ais jogos so muito comuns entre jovens negros americanos. Ver,
por exempl o, Dolard 11939) e Labov (1972).
v 9
Diz Flynn (197 7 : 55, traduo minha): "Os negros, por exemplo,
esto sujeitos a insultos diretos ou indiretos, que visam confirmar a defini-
o cultural de sua inferioridade ' inata' e, talvez mais significativamente,
procuram relembr-los continuamente de tal inferioridade, fazendo-os assi-
milar o significado da baixa estima social que lhes devotada".
172 Classes, raas e democracia
OS- TERMOS INJURIOSOS E NC ONTRADOS
Os insultos raciais seguem a lgica esboada acima. Como
instrumentos de humilhao, sua eficcia reside justamente em
demarcar o afastamento do insultador em relao ao insultado,
remetendo este ltimo para o terreno da pobreza, da anomia so-
cial, da sujeira e da animalidade.
No entanto, como a posio social e racial dos insultados
j est estabelecida historicamente, atravs de um longo proces-
so anterior de humilhao e subordinao, o prprio termo que
os designa enquanto grupo racial ("pret o" ou "negro") j , em
si mesmo, um termo pejorativo, podendo ser usado sinteticamen-
te, sem acompanhamento de adjetivos e qualificativos. "Negro"
ou "pret o" passam, pois, a ser uma sntese verbal para toda uma
constelao de estigmas referentes a uma formao racial identi-
tria. Mais que o termo, a prpria cor adquire tal funo simb-
lica, estigmatizante, como bem demonstram os sinnimos lista-
dos em dicionrios de lngua verncula: sujo, encardido, lgubre,
funesto, maldito, sinistro, nefando, perverso etc, O estigma pode
estar to bem assentado que possvel, por exemplo, a um negro
se sentir ofendido por uma referncia t o sutil quanto esta: "tam-
bm, olha a cor do indivduo".
A estigmatizao requer, todavia, um aprendizado, que passa
necessariamente por um processo de ensinar aos "subalternos" o
significado da marca de cor. Assim, uma senhora, para humilhar
o filho menor de uma vizinha, refere-se a sua cor no diminutivo c
designa seu corpo com cores "estranhas": "Pode me deixar pas-
sar, seu negrinho de olho roxo?!". Ou, num outro exemplo, ago-
ra envolvendo dois adultos, o administrador de uma empresa diz,
por telefone, gerente de uma outra empresa, que se prontificou
a atend-lo, em lugar do chefe: "No falo com preto. Prefiro es-
perar". Tal forma sinttica visa criar uma barreira social intrans-
ponvel entre agressor e vtima, confortvel para o primeiro, de
modo que este precisa apenas pronunciar o nome do grupo, desig-
nao sinttica da injria. s vezes, nem mesmo a palavra precisa
O mito anverso: o insulto racial 173
ser pronunciada, apenas a segregao reivindicada: "Voc no
deveria estar aqui; qualquer um poderia estar aqui, menos voc".
Nos dados que analisei, a forma sinttica minoritria. Acon-
tece apenas em dez dos 7 8 insultos registrados ( 13%) . Na maioria
desses casos, a proximidade social entre as partes exige que se re-
pita o ritual de afastamento, atravs de insultos qualificados, in-
sultos que procuraram associ ar a cor do agredido com uma outra
dimenso do estigma.
Tais insultos, obvi amente, requerem uma reiterao dos ter-
mos ofensivos sintticos pelo qual o grupo reconhecido, fazendo
com que, em 78 ofensas registradas, a palavra "'negro" e seus deri-
vados (feminino, diminutivo e corruptelas) fossem citados 55 vezes,
e "preto" o fosse 33 vezes. Eis um exemplo de reiterao, quase his-
trica, que tem a finalidade de associar o nome grupai a qualidades
desprezveis: "Preto safado, sangue de preto, negro sem vergonha,
preto vagabundo, voc no presta porque tem sangue de preto".
A animalidade, quando se trata de insulto propriamente ra-
cial, atribuda principalmente atravs de termos como "macaco"
e "urubu", usados indistintamente para ambos os sexos. No pri-
meiro caso, o animal, alm de selvagem, considerado pela zoo-
logia como o mais prxi mo do ser humano, devendo, portanto, se-
guindo as idias de Leach, ser objeto de distanciamento ritual mui-
to rigoroso; no segundo caso, trata-se de um abutre que tem por
hbito devorar cadveres de outros animais, inclusive humanos.
Mas, quando se trata de mulheres negras, alm do insulto
racial, acompanha, s vezes, o insulto sexual, que iguala mulheres
a animais, para atribuir devassido moral, usando termos tais co-
mo "vaca", "galinha" ou "cadel a". '
1
' " Mas, outros animais po-
'"" Os seres humanos, em gerai, tm a sexualidade
r
eferida a animais.
A recorrncia animalizao sempre est ligada a atribuio de estigma ou
formao de um carisma (reivindicao de qualidades excepcionais). So-
bre a relao entre sexo e animais, diz Leach (1979: 212. traduo minha):
"E uma hiptese plausvel que o modo como os animais so categorizados
174 Classes, raas e democracia
dem ser usados tambm, como "barata", para ofender sexualmen-
te, alm de atribuir sujeira ("filhas de uma barata preta, vagabun-
da " ) .
1 0 1
A condio de quase-humanidade pode ser referida tam-
bm por qualidades intelectuais negativas, tais como "bur r o",
"imbecil" e "i di ota". Registrou-se, ainda, o termo " ndi o", para
referir-se condi o de sociabilidade incompleta, selvagem.
A anomia social referida de trs maneiras. Primeiro, atra-
vs de termos ou qualidades ligadas delinqncia: "l adro", "fol-
gado", "safado", "sem-vergonha", "aproveitador' ' , "pi l ant ra";
"maconheiro", "traficante"; segundo, atravs de termos referen-
tes moral sexual: "vagabunda", "bastardo", "fi lho-da-puta"
1 0
-,
"prostituta", gi gol ", "sapato", "homossexual", " mana- ho-
mem"; terceiro, por estigmatizao religiosa, atravs de termos
como "macumba" e "macumbeira".
O estigma da sujeira reforado por termos como: " fedida",
"merda", "podre", "fedorenta", "porqueira", "nojento" e "suja".
A pobreza e a condio social inferior referida por pala-
vras como "favelada", "maloqueira", "desclassificado" e "analfa-
beto". De fato, os estigmas preferidos de inferioridade social so
o local e tipo de moradia e o grau de instruo formal. Ademai s,
uma estratgia lingstica freqente o uso de diminutivos, como
"negrinho" ou "negrinha", para referir-se aos insultados. Mas ,
faz-se tambm referncia direta "classe" ("no falo com gente
de sua classe") ou situao de escravido ("lugar de negro na
em termo.-, de comesvibilidade tenha alguma correspondncia com o modo
como os seres humanos so categorizados com respeito a relaes sexuais".
' ' " Nesse contexto, "barata" tem mais de um sentido: aim cie reterii-
se sujeira, relere-se tambm genitlia feminina.
1 0 2
interessante que, nas culturas latinas, seja a relao de rebaixamento
social (filho-da-puta), e no um animal domstico c ntimo Hon-of-a-bitch)
ou o incesto materno (tnotberfucker) que expresse a maior vergonha masculi-
na com respeito a sua me, e portanto, o insulto sexual mais forte. Ver, a res-
peito, Prestou e Stanley (1987 ).
O mito anverso: o insulto racial 175
senzala"), expresses utilizadas para referir-se a uma forma de na-
tureza ou de ordem social estagnada (a laia, a casta, o escravo).
Outros termos empregados, como "besta" e "meti da", remetem
para tentativas de inverso de uma hierarquia social, considerada
natural, pois so usados no sentido de que tais pessoas querem
usurpar uma posi o que no sua.
Finalmente, vale a pena mencionar a ocorrncia de refern-
cias a doenas ou defeitos fsicos do insultado (tais como "quei-
mada" ou "cancerosa") e referncias a determinaes naturais ou
teolgicas, tais como "maldito", "desgraa" e "r aa".
Os insultos propriamente raciais que encontrei nos registros
policiais podem, portanto, ser agrupados, enquanto estratgia de
distanciamento social, em sete tipos:
1) Simples nominao do Outro, de modo a lembrar a dis-
tncia social ou justificar uma interdio de contato.
2) Animalizao do Outro ou implicao de mcivilidade.
3) Acusao de anomia, em termos de:
conduta delinqente ou ilegal;
imoralidade sexual;
irreligiosidade ou perverso religiosa.
4) Invocao da pobreza ou da condio social inferior do
Outro, atravs de:
termos referentes a tal condio;
referncia a uma origem subordinada;
uso de diminutivos;
acusao de impostura (assuno de posi o social
indevida).
5 ) Acusao de sujeira.
6) Invocao de uma natureza pervertida ou de uma mal-
dio divina.
7) Invocao de defeitos fsicos ou mentais.
Tomados de per si, anotamos 56 termos njuriosos, que dis-
tribumos pelas sete categorias elaboradas acima (ver Tabel a 2).
Os termos sintticos mais utilizados, como vimos, so "negro/ a"
176 Classes, raas e democracia
e "pret o/ a", este ltimo preferido pelos homens, o primeiro pe-
las mulheres. O insulto animal mais empregado "macaco". Os
termos de anomia que se referem moral sexual so os mais nu-
merosos e so geralmente assacados contras as mulheres (as vti-
mas ou as mes das vtimas): "vagabunda" o insulto preferido
por mulheres e "filho-da-puta", por homens; j entre aqueles que
se referem legalidade e ao carter, "safado" o insulto preferi-
do, geralmente dirigido contra homens. As mulheres tm tambm
o privilgio de ser acusadas de "maeumbeiras". Entre as injrias
que se referem condio social, a preferida lembrar a condi-
o de ex-escravo, atravs da referncia ao lugar que se cr apro-
priado s vtimas: a senzala. Este geralmente um insulto de bran-
co cont ra negro, de superior social para inferior. Termos como
"favel ado" ou "maloqueiro" so atualizaes de locais de mora-
dia apropriados a negros, mas desferidos por pessoas da mesma
condi o social da vtima. Os termos que remet em sujeira no
so t ambm concentrados: "fedido", "mer da" e "suj o" tm a
mai or freqncia. Nas demais categorias, chama a ateno ape-
nas o insulto que se refere diretamente "r aa" do indivduo in-
sultado, evocando assim uma ndole pervertida.
O Quadro 1 sintetiza a classificao dos insultos encontra-
dos. Not em que o recurso metfora animal abrange praticamente
toda a taxonomi a, seguindo a estreita relao entre categoria ani-
mal e abuso verbal, prescrita por Leach. Os insultos sexuais so
referidos por animais domsticos (cadela!, de cr i ao, mas liga-
dos alimentao da casa (galinha e vaca), ou prxi mos indese-
jveis, no propriamente animais, como a barat a. O uso de seus
nomes corresponde, de modo geral, lgica das interdies de con-
tato sexual entre os muito prximos. Os insultos relativos a hie-
rarquia e s deficincias fsicas e mentais esto referidos a animais
de t rabal ho (burro, besta). Bichos domesti cados, mas no muito
pr xi mos, que jamais comemos. Apenas os insultos raciais so re-
feridos por animais distantes (macacos, urubus), selvagens ou, pelo
menos, que devem ser mantidos distncia da vida social.
O mito anverso: o insulto racial 177
Tabela 2
TERMOS NJURIOSOS POR T PO DE INSULTO,
SEGUNDO O SE XO DO
INSULTADO E DO I NSULTADOR
Ins ultado M M H H Total %
Insulrador M H M H
Termos insultuosos
Sintticos 26 - 15 9 16 66 38,37
negro ia 4 5 7 29 16,86
preto 5
7
3 8 23 3,37
nego 4 3 i - 8
4,65
negrinho 1 - 1 4 2. 33
negrona 1 - - - 1 0,58
neguinha 1 - - - 1 0,58
Animalizao 9
2 2 3 16 9,30
macaco 7 2 2
3 14 S,14
urubu 2 - - -
2
1,16
Incivildade 1 - - - 1 0,58
nd io 1 - - - 1 0,58
Anomia 25 7 10 13 55 31,98
vagabunda 6 3 - 9 5,23
filho-da-puta 1 1 1 4 7 4. 0 "
vaca 2 - - - 2 1,16
cadela - 1 - - 1 0,58
D '
caralho - - 1 1 0,58
x > i i
OJ ^
gaiinha i - - - 1 0.5 S
gigol - - 1 1 0,58
~
homossexual - 1 -
I
0,5 S
bastardo
maria-homem
sapato
scort girl
-
- -
1
1
0. 58
0. 58
0,58
M.58
safado 1 . 3
7
4,07
ladro 2
- 1
2
5 i:> i
sem-vergonha 1 -
~>
- 3 5.74
V ~^ folgado - - 2
2 1,16
23 ^~ aproveitador 1 - ! 0. 58
pilantra 1 - - - 1 0. 58
1 7 8 C .lasses, raas e democracia
vagabundo
inveioso
traficante
maconheiro
macumbeiro
despacho
de frango
Condio social
senzala
favelado
maloqueiro
analfabeto
desclassificado
metido
besta
Sujeira
fedido
merda
sujo
barata
fedorento
podre
porqueira
Natureza
raa
desgraa
maldita
Defeitos
queimado
escerosado
canceroso
imbecil
burro
idiota
Total geral 7 8
45, 34
1
33
19, 19
21
12,21
0, 58
0,58
0,58
0,58
- 1 0,58
3 11 6, 40
1 3 1,74
- 1,16
- 2 1,16
1 1 0, 58
1 1 0. 58
- 1 0,58
- 1 0,58
1 11 6, 40
- 1,74
- 1,16
- 1,16
- 1 0, 58
- ] 0, 58
- 1 0, 58
1 1 0, 58
2 5 2 , 91
1 1,74
1 1 0, 58
- i 0, 58
2 7 4, 0 7
- 1 0, 58
- :i 0, 58
- 1 0, 58
1 i 0, 58
- 1 0,58'
1
2
1,16
40 172 10 0 , 0 0
2 3, 2 6 100,00
Fonte primria: Delegacia de Crimes Raciais de Sao Paulo, i" de mai o
de 1997 a 30 de abril de 1998 .
M = Mulher, H = Homem.
O mito anverso: o insulto racial 17 9
Quadro 1
TE RMOS INSU1. TUOSOS,
CLASSIFICADOS POR CATFCORJA DE
AFASTAMENTO E NTRE GRUPOS
Nomeao Animal/ Ani mal/ Hierarquia
genrica: sexo: hierarquia: social:
nega (o) barata besta analfabeto
negra (o) cadela
desclassificado
negrinbo (a) galinha
favelada
preto (a) vaca
maloqueira
metida
Animal/ Ani mal/ senzala
raa: deficincias:
macaco burro
urubu
Religio: Natureza:
Defeitos fsicos,
despacho desgraa
mentais e doenas:
macumba maldita
cancerosa
macumbeira raa
queimada
idiota
imbecil
Delinqncia e Mor al
Higiene:
defeitos morais: sexual:
fedida
aproveitador bastardo
fedorenta
folgado fiiho-da-puta merda
incompetente gigol
nojento
ladro homossexual podre
maconheiro maria-homem
porqueira
pilantra sapato suja
safado scort girl
sem-vergonha vagabunda
traficante
180
Classes, raas e democracia
AS SITUAES DE I NSULTO
A situao que propicia a agresso verbal pode nos ensinar
muito sobre o significado sociolgico do insulto racial. Quando
o insulto feito? Qual a posio do agressor e da vtima na rela-
o social? Que tipo de insulto desferido, a depender da situa-
o e das caractersticas da vtima?
Lima afirmao do senso comum, no Brasil, a de que o
insulto racial ocorre apenas numa situao de conflito, ou seja,
de ruptura de uma ordem formal de convivncia social. Tal afir-
mao nada mais que a conseqncia do pressuposto de uma
ordem igualitria, de respeito aos direitos individuais, resguardada
por normas de polidez e formalidade. Na verdade, tal pressupos-
to, ainda quando aceito idealmente, pode no ser verdadeiro, na
prtica social. Ademais, o insulto racial pode ocorrer durante o
conflito ou pode, ao contrrio, ocasionar o conflito. Pode ser uma
arma de ltima instncia, mas tambm um primeiro trunfo a ser
sacado. O que motiva o insulto racial e a ordem em que ele apa-
rece no conflito so, pois, elementos decisivos para a anlise.
Carlos Hasenbalg, em 197 9, anota em Discriminao e de-
sigualdades raciais no Brasil, pagina 252: "Com relao aos
padres de sociabilidade inter-racial notrio que a classe bai xa
branca carrega um folclore de concepes estereotipadas do ne-
gro. Contudo, tais esteretipos s- com freqncia verbalizados
em contextos amistosos, e as situaes raramente evoluem para
o conflito interpessoal e para a violncia, a menos que a i nteno
ofensiva esteja claramente pr e s e nt - Or a , assim como nas situa-
es de insulto ritual, os termos njuriosos podem ser emprega-
dos para simbolizar uma situao iposta ao seu significado cor-
rente. Isso acontece quando so tr ados entre pessoas muito pr-
ximas, amigas, para simbolizar ju- tamente a ausncia de forma-
lidade entre elas, ou seja o grau de intimidade e de confiana m-
tuas. Seu emprego not ado principalmente entre membros de
grupos estigmatizados, quando os eptetos mais insultuosos, nor-
malmente dirigidos a tais grupos por seus detratores, so empre-
O mito anverso: o insulto racial 181
gados entre os seus membros, com enorme ironia, j que esto
desprovidos de significado subjetivamente ofensivo, uma vez que
todos sabem fazer parte da comunidade estigmatizada referida
pelo epteto. Do mesmo modo, freqentemente o uso dc eptetos
injuriosos ocorre em situaes definidas ambiguamente pelo agres-
sor, situando-se entre a intimidade da brincadeira (a proximida-
de expressa no insulto ritual) e o distanciamento expresso pelo
contedo semntico das palavras ofensivas. Nesses casos, o insul-
ta n te apesar de no ser amigo do insultado, pe-se nesse terreno
ao usar o termo injurioso de modo que possa ser interpretado
como um convite brincadeira; ficando para o insultado definir
a situao: se aceita o outro como um igual, e trata o incidente
como o incio de uma troca de insultos rituais, ou se aproveita a
ocasio para coalescer a distncia entre ambos. Quando a ambi -
gidade existe entre membros de grupos raciais diferentes (bran-
cos e pretos), mas membros de uma mesma classe social (pobres),
a situao de ambigidade mostra apenas a ambigidade das per-
tenas de classe e de "raa".
Como era de se esperar, essas situaes de ambigidade ou
de expresso de intimidade nao aparecem nas queixas prestadas
em delegacias. De acordo com os dados de que disponho, o in-
sulto racial aparece nas seguintes situaes.
Primeiro, quando a relao entre as pessoas envolvidas est
tensa e bastante desgastada por algum motivo, seja de convivn-
cia vicmal ou familiar, seja de ordem contratual ou de qualquer
outra. O fato que, a partir cie um determinado moment o, uma
das partes resolve utilizar o insulto como modo de, sistematica-
mente, humilhar o seu desafeto. A queixa transcrita abaixei ilus-
tra tal situao:
"Informa a vtima que divide o mesmo quintal
com sua cunhada, a indiciada, sendo que, por desen-
tendimentos antigos, a mesma freqentemente ofen-
dida verbalmente, bem como seus filhos, sendo chama-
dos de ' macacos' , ' vagabunda' , ' negrinho bastardo' ,
' negra fedida' , ' favelada' etc. Que o fato ocorre fre-
182 Classes, raas e democracia
qentemente, nao havendo condies de di logo paci-
f i cament e".
1 0
^
Segundo, quando durante uma disputa qualquer, comum,
esgotados os mei os de convencimento e o uso de ameaas plaus-
veis, diante da recusa ou falta de assentimento da vtima, a inj-
ria usada para encerrar a disputa,"com a humi l hao desta. O
insulto, no cas o, sinaliza a passagem da disputa para o conflito.
A queixa abai xo se enquadta nessa situao. Repare-se que a ex-
presso insultuosa ("nega besta") procura caracterizar a atitude
de resistncia como sendo provocada pela petulncia e arrogn-
cia de algum que usurpa uma posio social (de igualdade com
o agressor) que no lhe seria devida (por viausa da cor).
"Comparece a vtima, informando que, na data e
local dos fatos, soube por seu advogado que a P indicia-
da disse a ele que ela deveria pagar uma dvida que ti-
nha assumido com a imobiliria, na qualidade de fiado-
ra de um imvel, proferindo as seguintes palavras: ' aque-
la nega besta est bem grandinha pra assumir as coisas
que assina, aquela esclerosada'. E a vtima, na mesma
data, recebeu uma ligao do advogado da imobiliria
( 2
o
indiciado), cobrando tal dbito, que, segundo a vti-
ma, foi fiadora de um imvel involuntariamente, ou se-
ja, ci tada como fiadora sem seu conhecimento, e como
disse ao referido advogado que nada devia imobili-
ria, este ofendeu-a dizendo: ' por causa de uma merre-
ca, voc e seu advogado vo se foder, sua nega best a"' .
Ter cei r o, quando uma falha involuntria da vtima provo-
ca o dio do agressor. F. como se houvesse, por parte deste, uma
1 ( 1 5
Essa e as demais citaes so transcritas tal como esto nos bole-
tins de ocorrncia policial. Prescindo de anotaes como sic ou qualquer outra
forma de edio dos textos.
O mito anverso: o insulto racial
183
predisposio racista, uma animosidade gratuita ou motivada por
eventos anteriores, que, diante de um fato qualquer, se manifesta
como insulto. Veja-se, como exemplo, a queixa a seguir:
"Informa a vtima que na data de ontem colocou
seu veculo na vaga privativa de vendedores da empresa
em que trabaiha, com a inteno de tir-lo assim que
comeassem a chegar os vendedores, sendo que nin-
gum o avisou e acabou esquecendo. Assim foi pro-
curado pelo gerente, que estupiclamente o repreendeu.
Que imediatamente procurou tirar o carro da vaga e
surpreendeu o referido gerente falando para a primei-
ra testemunha: 'Preto uma merda, por isso que eu no
gosto dessa raa
1
. Ao tomar satisfaes sobre o que di-
zia, o mesmo no repetiu tais frases, alegando que se a
vtima no tivesse gostado que partisse para cima".
Quart o, quando no h nenhum conflito e o insulto ape-
nas o meio extremado de demarcar a separao racial entre agres-
sor e vtima. Trata-se da reivindicao de uma segregao social,
como na queixa abaixo:
"Informa a vtima que o indiciado, o qual pres-
tava servios de convnio de Assistncia Mdi ca Em-
presa em que a vtima trabalha, e por esre motivo fre-
qentemente precisava entrar em cont at o pessoal ou
telefnico, na data de hoje ligou para falar com o ge-
rente comercial e a testemunha retro, disse que ele no
se encontrava, mas, se quisesse, poderia talar com a
vtima. O indiciado pelo telefone respondeu: ' No falo
com preto. Prefiro esperar'. A vtima ento tornou co-
nhecimento do fato e ficou sabendo que isso era fre-
qente. Esclarece ainda que nas oportunidades ante-
riores que falou com o indiciado, ele sempre foi extre-
mamente mal educado. A vtima sente-se discrimina-
da e ofendida em sua honra e imagem pessoal".
18 4 Classes, raas e democracia
Quinto, quando o agressor v-se na posio de ser corrigi-
do ou repreendido por ter cometi do uma falha e, para reverter tal
posio, agride verbalmente a vtima. Esto sujeitos a essa situa-
o de risco, os negros que, no cumprimento dos deveres do car-
go, vem-se obrigados a fazer cumpri r as normas. A queixa abai-
xo se enquadra nesse caso:
"Informam as vtimas que na data e local dos fa-
tos, onde so seguranas, aps procurarem o averigua-
do, que morador do Condomni o, e adverti-lo que po-
deria ser multado caso no retirasse o seu veculo, que
estava ocupando a vaga de out ro proprietrio, este pas-
sou a ofender-lhes dizendo: ' quem so vocs, so uns
porqueiras, uns pretos folgados, desclassificados' e, ato
contnuo, foi entrando em sua residncia dizendo: 'vou
cortai" vocs no carango agora' , ao que foi impedido por
familiares, que no o dei xaram entrar no quarto para
pegar alguma arma, segundo informam as vtimas".
Em todos esses casos, excet o no primeiro, ntido o senti-
mento hierrquico de superioridade do agressor, ferido pelo com-
portamento igualitrio do ofendi do, seja numa disputa, seja num
incidente que o assusta ou desagrada, seja no dia-a-dia do relacio-
namento social. O insulto uma forma ritual de ensinar a subor-
dinao, atravs da humilhao, mais que uma arma de conflito.
Seguramente, pode ser que, no cotidiano, os insultos raciais
sejam mais comuns em situaes de conflito, ou mesmo ocorram
em ltima instncia de ofensa, como muitos acreditam. Entretan-
to, pelos dados que tenho, parece certo acreditar que tais insul-
tos no sejam especialmente mai s ofensivos que os outros por-
ventura proferidos durante o conflito, quando no apenas a raa
c invocada, mas tambm o sexo, as preferncias sexuais, a ori-
gem regional, familiar e de classe, os defeitos fsicos, os defeitos
morais etc.
Do mesmo modo, apenas poucos insultos (16) ocorreram
durante campanhas sistemticas de humilhao pblica, como
O mito anverso: o insulto racial 185
forma de retaliao a alguma ofensa real ou imaginada, os demais
foram decorrentes de situaes singulares e fortuitas.
Algumas estatsticas ajudaro a esclarecer esse ponto. Das
74 queixas em que foram registradas injrias, 29 ( 39%) se refe-
rem a insultos proferidos, no ambiente de trabalho, por clientes,
colegas, superiores ou subordinados; 18 insultos ( 2 4%) foram
proferidos por vizinhos; 12 ( 16%) insultos foram sofridos por
negros, na condio de consumidores, inquilinos ou usurios; os
demais insultos ocorreram em situao familiar (6), na rua (2 ),
no trnsito (4) ou em decorrncia de realizao de negcios (.3).
Ou seja, as queixas de insulto ocorrem com mais freqncia em
mbitos em que as relaes sociais so mais intensas e tambm
mais formalizadas; em que, portanto, o insulto mais contundente.
Das noventa queixas prestadas, quatro referiam-se a mino-
rias tnicas (dois nordestinos, um peruano e uma judia) e, nestas,
se registraram injrias, proferidas em situao de consumo, tra-
balho ou negcio. No caso dos nordestinos, as injrias aludiam
a seu deslocamento geogrfico, isto , ao fato de serem de outro
lugar: 1) "Esses nordestinos desgraados, vem pra c querer man-
dar; sua vaca et c. " ou "voc tem complexo de inferioridade por
ter nascido naquela terrinha de Arapiraca. . . porque voc nasceu
na puta que pariu". No caso do peruano, tambm sua condi-
o de estrangeiro que injuriada, junto com sua aparncia fsi-
ca: " por isso que eu no gosto de fazer contratos com esses n-
dios nojentos e ainda mais sendo estrangeiro, tem que morar no
mato do seu pas". No caso da judia, a injria genrica: "sua
judia fracassada. . . nenhum judeu presta".
Examinemos mais de perto os insultos propriamente raciais
contra os negros.
I NSULTADOS E I NSULTANTES
Dois fatos chamam a ateno quando observamos as esta-
tsticas.
186 Classes, raas e democracia
Primeiro, mai or o nmero de muiheres que se quei xam de
discriminao e t ambm proporcionalmente maior o nmero de
mulheres que se quei xam de insultos. Ou seja, os insultos s mu-
lheres so mais que proporcionais razo entre homens e mulheres
queixosos. Mas, t ambm, os insultos so principalmente desferi-
dos por mulheres cont ra mulheres (36, 8%) e por homens cont ra
homens ( 2 9, 9%) , ainda que nos insultos entre-sexos, sejam os
homens que ofendam duas vezes mais as mulheres ( 2 3 , 0 %) que
o inverso ( 1 0 , 3 %) . Isso, contudo, no explica a quantidade de
insultos conduta moral ou sexual das vtimas, pois so as mu-
lheres, e no os homens, que abusam de referncias desabonado-
ras moral sexual das vtimas. De faro, 39% das injrias profe-
ridas por mulheres contra mulheres c 40 % das dirigidas por elas
contra homens referiam-se morai sexual; enquanto, entre os ho-
mens, apenas 1 2 % assacaram contra a honra sexual das mulhe-
res negras e nenhum ofendeu a moral sexual de outro homem, pre-
ferindo faz-lo, em 21 % dos casos, em relao me dos mes-
mos (Tabela 3).
Tabela 3
INSULTADOS E INSULTANTES
POR GNERO
Gnero Gnero do indiciado Tot al
da vtima Masculino Feminino
Masculino 2 9, 9% 10 . 3% 4 0 . 2 %
Feminino 2 3, 0 % 36, 8 % 5 9 , 8 %
Total 52 , 9% 4~ .1 % 10 0 , 0 %
Fonte primria: Delegacia de Crimes Raci.w de So Paulo, 1" de
maio de 1997 a 30 de abril de 1998.
Considerando no os casos registrados, mas a freqncia dos
termos injuriosos proferidos, chega-se mesma concluso. A mu-
lher muito mais insultada do que o homem. No caso de injrias
entre pessoas do mesmo sexo, as mais numerosas ( 10 8 em 17 2 ) ,
O mito anverso: o insulto racial 18 7
os insultos envolvendo mulheres so quase o dobro daqueles en-
volvendo homens (78 para 40 ) . J nos easos de injrias interse-
xuais (54 em 17 2 ), os homens ofendem 57 % mais as mulheres do
so ofendidos por elas. Em suma, a maioria dos insultantes mu-
lher ( 58 %) , mas, em compensao, as mulheres so tambm as
mais insultadas ( 6 4 %) , isso porque 4 5 % dos insultos contra mu-
lheres so dirigidos por outras mulheres e, ademais, os homens
as insultam mais do que so insultados por elas (ver Tabela 2 ) .
O segundo fato que merece ateno a grande quantidade
de averiguados, ou seja, de insultadores, de cor ignorada ou no-
anotada. Como era de se esperar, 9 3 % das vtimas se declararam
ou foram declaradas negras, no entanto, apenas 57 % dos insul-
tantes foram considerados brancos, sendo que 3 8 % deles no ti-
veram a cor registrada pelo plantomsta ou declarada pela vtima.
Desconhecimento, dado sem importncia, ou silncio revelador?
O fato de ter havido insulto mostra que dificilmente a cor do acusa-
do no seria notada. Por se tratar de um boletim de ocorrncia
sobre crime de raci smo, pea que fundamenta qualquer ao ju-
dicial contra o acusado, tambm dificilmente a cor do acusado
seria esquecida sem propsito. Portanto, mais provvel que 38%>
dos acusados tambm no fossem brancos (Tabela 4).
Tabela 4
COR DECLARADA
DO INSUL i ANTE E DO INSULTADO
Cor do Co-
-
declarada do msultante Total
insultado Ignorada Branca Morena Parda
Ignorada - i , 4% - 1,4",,
Negra 36, 2 ; . 50 , 7 % 1.4% 4. 5";, ^2 . S" -
Parda - 5, 8 % - - 5, S"
Total 36,1% 58 , 0 % 1,4%_ 4. 5% 500. 0", .
Fonte primria: Delegacia de t rimes Raciais de SoPauio, I
o
de maio de 199.
a 30 de abril de 1998.
188 Classes, raas e democracia
possvel tambm que o gnero, predominantemente mas-
culino, e a cor , na maioria branca, dos indiciados, assim como as
caractersticas de gnero e cor das vtimas, ganhem i mport nci a
para a compreenso sociolgica apenas no mbito das relaes
sociais em que ocorreu o insulto. Voltemo-nos, poi s, para anali-
sar cada situao em separado.
OS I NSULTOS PROFERIDOS
E M SI TUAO DE TRABALHO
A mai ori a dos insultos proferidos nos l ocai s de t rabal ho
provm de clientes ou usurios de servios prestados por traba-
lhadores negros ( 56 %) . Isso acontece quando tais empregados
cumprem normas ou regras que desagradam ou ferem o sentido
de hierarquia dos clientes. O insulto, nesse caso, longe de emer-
gir do confli to, o instala. No se fazem necessrias palavras ou
atitudes bruscas por parte dos negros: a prpria atitude ordin-
ria de cobr ana, negao, repreenso ou frieza dos negros que
sentida como ' ' ofensa" pelos brancos. Dou um exempl o:
"Compar ece a vtima informando que na dat a e
local dos fatos, onde prestava servios autnomos como
garom, ao servir o averiguado que scio do Cl ube,
aps este pedir-lhe algumas refeies que const avam no
cardpio, mas que no tinham disponveis para serem
servidas. s< nnado ao fato de ter pedido para que a cont a
fosse separada, e por norma do Clube o averiguado fora
informado que no poderia ter esse pedido acei t o, pas-
sou a ofender a vtima com as seguintes ofensas: ' gra-
as a Deus que voc no meu empregado, macaco,
se fosse estaria na senzala'. Vtima sentiu-se ofendido
em sua honra e imagem pessoal".
Aqui, j se v, o insulto tem a funo de "ensi nar vtima
seu lugar" esperado, ou seja, a subservincia. Para t ant o, sem-
O mito anverso: o insulto racial 189
prc mencionado nos insultos o deslocamento social ou o lugar que
deveriam ocupar as vtimas: "a senzala", "desclassificados", "essa
macaca a pensa que o qu?", "negra metida".
A inconformidade com a igualdade social dos negros trans-
parece t ambm nas ofensas proferidas por superiores: "Isso um
desperdcio de talento. Essa deveria estar lavando roupas. Isso a
para nos servir. "; " E negro, por isso que fez errado! Faz as coi-
sas erradas e quer chegar cheio de razo! Esses vigilantes nem es-
tudo t m. . . ". Ofensas que resvalam para outros mbitos (hones-
tidade, diligncia ou outros aspectos morais), quando direitos tra-
balhistas so reivindicados ou esto em j ogo.
As vezes, os insultados se queixam de que o insulto prece-
dido por um perodo de "perseguio". Tambm os interiores hi-
errquicos invocam o deslocamento social das vtimas ("no cum-
prirei ordens daquele negro analfabeto").
Dependendo do grau de segurana do ofemor quanto sua
prpria posio social, os insultos podem apenas sugerir a anima-
lizao ou coisificao dos negros (quando o reconhecimento so-
cial do ofensor visvel), mantendo-se no terreno da desqualii-
cao social, ou podem progredir para uma completa negao da
humanidade do ofendido, situao mais comum quando a distn-
cia social entre ofendidos e ofensores mni ma.
Tambm, no caso de clientes e usurios, h, s vezes, a trans-
ferncia para os "inferiores", ou seja, para os "empregados", da
raiva que deveria ser dirigida contra o governo e.i a organizao
que os negros momentaneamente representam:
"Comparece a vtima nesta Delegacia informan-
do que na data e local dos fatos, onde trai-a lha como
porteiro, logo aps entregar o carne do li ! L para a
averiguada, foi ofendido pela mesma que dis-e: "eu que-
bro a sua cara seu nego safado, ladro sem -ergonha",
entre outras ofensas que foram presenciada pelas tes-
temunhas retro qualificadas. A vtima senru-se ofen-
dido em sua honra e imagem pessoal".
190 Classes, : aas e democracia
Em termos de freqncia, os clientes ou usurios insultantes
so, na maioria, homens. Mas os homens ofendem mais os ho-
mens e as mulheres ofendem mais as mulheres. Para o insultante,
portanto, alm do fato de no suportar o que considera "arro-
gnci a" ou "desrespeito" do servidor, o sexo da vtima tem algu-
ma importncia. Por que ser isso? Tal vez porque a relao entre
os sexos imponha mais formalidade e envolva, ao mesmo tempo,
uma abordagem mais simptica. Mas interessante que os homens
negros, insultados por clientes, no declarem, com maior freqn-
cia, a cor dos insultantes (quatro em ci nco casos), enquanto as
mulheres ofendidas se "esqueam" menos da cor cie quem as ofen-
deu (trs em sete). Acaso? O fato que a no declarao da cor
dos insultantes mais freqente em queixas contra clientes e usu-
rios, ou contra superiores hierrquicos, que contra colegas ou su-
bordinados, e mais freqente nos homens que nas mulheres.
OS INSULTOS DOS VI ZI NHOS
O local de moradia i segundo mbi to social de maior re-
gistro policial de insultos raciais. Por tratar-se de um ambiente
domstico, onde a presena feminina maior, os registros so, co-
rno era de se esperar, em sua maioria, de mulheres brancas ofen-
dendo mulheres negras (1. em 19 casos). As ofensas, quando
ocorrem nesse mbito, so : -spaldadas, geralmente, por uma his-
tria mais longa de desavei as e isso, junto com a proximidade
fsica entre os beligerantes, enseja disputas mais carregadas de
emoo, que extravasam er. virulncia verbal. A moral sexual, a
Humanidade, a higiene, os . efeitos fsicos e a inconvenincia da
vizinhana das vtimas so odos alvos de ataque verbal. Eis al-
guns exemplos:
1) "Suas negrmhas fiii as da puta, negas fedorentas", "Suas
vacas, galinhas".
2) "Estou cheia dessa i ia; por que vocs no se mudam?",
"Essa raa no presta".
O mito anverso: o insulto racial 191
3) "Sua macaca, eu odeio negro, eu vou por voc na cadeia,
sua negra".
4) "Suas negrinhas vagabundas, vocs so negras maloquei-
ras e no prestam".
5) "Alm de negra, ainda queimada; na escola que eu dou
aula cheia de negrinhos macaquinhos e eu reprovo mes-
mo, pois nego tem que cat ar papel".
6) "Mrcia sapato, maldita, vagabunda, negra invejosa,
que tinha inveja da mesma por ser branca de olhos cla-
ros e t c " .
7) "Sua negra, maloquera, voc tem que mudar do prdio".
8) "Essa negra do 4
o
andar, eu no agento esse cheiro! Eu
vomito".
9) "Maconheiros", "Pretos suj os", "Vagabundos", "Trafi-
cantes", "Que odeia essa r aa", "Que odeia pretos e nor-
destinos".
O que dizer das disputas que geram tais insultos? So dispu-
tas entre sndico e condminos, a respeito da honestidade do geren-
ciamento do condomnio; em t orno de brigas e brincadeiras de
crianas, filhos das vtimas; disputas em torno do uso do passeio
das casas ou da garagem e, muitas vezes, dio sem causa aparen-
te, puro desejo de segregao, vontade de evitar a presena de
negros no prdio.
OS INSULTOS A CONSUMI DORE S
As queixas prestadas de discriminao no mbito de relaes
cie consumo de bens e servios so aquelas que menos registram
insultos recebidos apenas 12 das 2 2 queixas fazem-no. Esse da-
do j revela que a relao de consumo mais formal que as de-
mais (de trabalho, de vizinhana, ou relaes no-sistemticas.
como as que se desenvolvem na rua ou no trnsito), desenrolando-
se normalmente sob etiqueta bastante cuidadosa, que visa promo-
192 Classes, raas e democracia
ver a imagem pblica da empresa prestadora de servios. (.) con-
tato social, nesse caso, no apenas secundrio, para usai' a termi-
nologia clssica da sociologia, mas tambm padronizado. Como,
ento, mais de 5 0 % das quei xas ainda evocam insultos raciais?
Observando-se caso a caso, tem-se o seguinte: trs dos in-
sultos ocorreram na relao entre senhorio e inquilino; dois em
estabelecimentos bancrios, envolvendo clientes e seguranas; e
outros cinco em transporte coletivo (motorista e usurio), lancho-
nete, hospital pblico, oficina e loja comercial. Trs fatos so dig-
nos de nota: primeiro, os insultos mais fortes partem de pessoas
do mesmo nvel social cia vtima e, provavelmente, da mesma cor,
pois a cor, geralmente, no registrada; segundo, os insultos,
quando partem de pessoas de maior nvel social ou dos donos do
estabelecimento, so insultos sintticos ("preto", "negro") ou,
simplesmente, aludem cor da vtima ("tambm, olha a cor do
indivduo"); terceiro, os estabelecimentos pequenos apresentam
maior nmero de casos com insulto que os grandes, provavelmente
porque neles a relao com o consumidor sujeita a menor for-
malizao e disciplinamento.
O INSULTO NO TRNSI TO
E EM OUTROS MBI TOS
Do mesmo modo que, geralmente, a discr minao entre
vizinhos insultuosa tambm o a discriminao to trnsito, nos
pequenos negcios ou na rua e isso pela mesma azo: a grande
tenso emocional a que esto sujeites os agresse es. Trata-se de
insultos pesados, carregados sempre de aluses ei sabonadoras
moral sexual das vtimas ou de suas famlias, dt-feridos, quase
sempre, por pessoa do mesmo sexo.
Obviamente, tem a mesma virulncia o insuh > proferido por
familiar, com a agravante de, nesses casos, o sexe oposto no ter
tratamento mais discreto.
O mito anverso: o insulto racial 193
CONCLUSES
Os negros, no Brasil, se queixam principalmente do insulto
racial proferido no mbito do trabalho, da vizinhana e do con-
sumo de bens e servios. Fazem-no beneficiando-se da Lei 7.7 16,
modificada pela 9. 459, que transformou a injria racial em cri-
me. Neste captulo, utilizei os registros de queixas na Delegacia
de Crimes Raciais de So Paulo, entre 1" de maio de 1997 e 30
de abril 1998, para estudar o insulto racial.
Desenvolvi uma interpretao do insulto racial segundo a
qual sua funo institucionalizar um inferior racial. Isso significa
que o insulto deve ser capaz de, simbolicamente: a) fazer o insul-
tado retornar a um lugar inferior j historicamente constitudo e
b) re-instituir esse lugar.
A atribuio de inferioridade consiste na aposio de uma
marca sinttica, como a cor, e qualidades e propriedades negati-
vas (em termos de constituio fsica, moralidade, organizao so-
cial, hbitos de higiene e humanidade) a um certo grupo de pes-
soas consideradas "negras" ou "pretas".
Pelo que pude constatar, esse "inferior racial", no Brasil,
constitudo pelos seguintes estigmas: 1) pretensa essncia escra-
va; 2) desonestidade e delinqncia; 3) moradia precria; 4) devas-
sido moral; 5) irreligiosidade; 6) falta de higiene; 7) incivilid.tde,
m-educao ou analfabetismo. Esses estigmas so rcitcradans.-nie
associados a cor negra ou preta, que tais pessoas apresenam.
transformando-a em smbolo sinttico dc estigma. Interess inte
notar que nenhuma caracterstica fsica, alm da cor cab os,
lbios ou nariz, por exemplo loi invocada nos insultos r -gis-
trados. ameia que saibamos serem comuns em. canes e -. nos
populares.
As situaes de insulto, ou seja, aquelas em que a po-iao
de inferioridade do negro precisa ser reforada por rituais cb hu-
milhao pblica, encontra-se, principalmente, no trabalho -.- ne-
gcios, onde o cliente ou usurio sente-se ameaado pela amori-
dade de que o negro est investido; ou em situaes em que os
194 Classes, raas e demex r.wia
brancos se sentem incomodados pela conduta igualitria do ne-
gro. Existe mesmo, no Brasil, a expresso "tomar liberdade" ou
"metida a besta" para algum, que se cr superior, referir-se con-
duta "indevida" de outrem, que se cr socialmente igual a ele.
Ainda segundo os registros que tenho, no foi possvel con-
firmar a idia do senso comum de que, no Brasil, o insulto racial
ocorre como ltimo recurso de ataque numa disputa interpessoal
que se deteriora. Ao contrrio, na maioria das queixas que anali-
sei, o insulto foi o fato que instalou o conflito, no uma decor-
rncia deste.
Essas concluses, todavia, por conta do nmero restrito de
casos, no podem ser tomadas com definitivas. Devem, melhor,
servir de guia para investigao do insulto racial atravs de ou-
tros mtodos de observao e outras fontes.
O mito anverso: o insulto racial 195
Você também pode gostar
- Darcy Ribeiro - Confissões PDFDocumento16 páginasDarcy Ribeiro - Confissões PDFWalber MoraisAinda não há avaliações
- BARTH, F. Grupos Étnicos e Suas Fronteiras PDFDocumento23 páginasBARTH, F. Grupos Étnicos e Suas Fronteiras PDFAna Paula Dias100% (2)
- BLACKBURN, Robin. A Construção Do Escravismo No Novo Mundo. Do Barroco Ao Moderno (1492-1800) by Robin BlackburnDocumento364 páginasBLACKBURN, Robin. A Construção Do Escravismo No Novo Mundo. Do Barroco Ao Moderno (1492-1800) by Robin BlackburnNatalia100% (1)
- Formação Do Mundo Contemporâneo O Século Estilhaçado (Maurício Parada)Documento104 páginasFormação Do Mundo Contemporâneo O Século Estilhaçado (Maurício Parada)Pedro CarlosAinda não há avaliações
- Introdução Crítica À Sociologia Brasileira - Alberto Guerreiro RamosDocumento147 páginasIntrodução Crítica À Sociologia Brasileira - Alberto Guerreiro RamosAgnus Lauriano100% (3)
- A Teoria Crítica - Marcos NobreDocumento69 páginasA Teoria Crítica - Marcos Nobrerodrigosa183288% (8)
- WILLIANS Eric - Capitalismo e Escravidão PDFDocumento153 páginasWILLIANS Eric - Capitalismo e Escravidão PDFLuizBalaDEBorrachaWelber100% (1)
- Professores Gays, quem se Importa com Eles? Um Estudo Autoetnográfico da Homofobia contra Professores Gays nas EscolasNo EverandProfessores Gays, quem se Importa com Eles? Um Estudo Autoetnográfico da Homofobia contra Professores Gays nas EscolasAinda não há avaliações
- Manifestações e protestos no Brasil: Correntes e contracorrentes na atualidadeNo EverandManifestações e protestos no Brasil: Correntes e contracorrentes na atualidadeAinda não há avaliações
- Net-O Século XX - O Tempo Das Crises - Revoluções, Fascismos e Guerras 02 - Daniel Aarão R. Filho PDFDocumento139 páginasNet-O Século XX - O Tempo Das Crises - Revoluções, Fascismos e Guerras 02 - Daniel Aarão R. Filho PDFLuana BittencourtAinda não há avaliações
- Godelier. O-Enigma-Do-Dom PDFDocumento323 páginasGodelier. O-Enigma-Do-Dom PDFCristiano BarreroAinda não há avaliações
- ANDERSON, B. Comunidades Imaginadas. Capítulo 4Documento13 páginasANDERSON, B. Comunidades Imaginadas. Capítulo 4Rebeca ProuxAinda não há avaliações
- Mapeando As Margens - Kimberle CrenshawDocumento50 páginasMapeando As Margens - Kimberle CrenshawElder Luan100% (4)
- Ruy Mauro Marini - Dialética Da DependênciaDocumento30 páginasRuy Mauro Marini - Dialética Da DependênciaAghadir BakhanAinda não há avaliações
- BHABHA, Homi. Locais Da Cultura. (Resenha)Documento4 páginasBHABHA, Homi. Locais Da Cultura. (Resenha)Lucas RochaAinda não há avaliações
- Lovejoy - A Escravidao Na Africa, Pp. 395-443 PDFDocumento23 páginasLovejoy - A Escravidao Na Africa, Pp. 395-443 PDFjavier4comesa4a100% (2)
- CHASIN, José - A Miséria Brasileira - 1964-1994 - Do Golpe Militar À Crise SocialDocumento177 páginasCHASIN, José - A Miséria Brasileira - 1964-1994 - Do Golpe Militar À Crise SocialJCVictorAinda não há avaliações
- Hegemonia e Estratégia Socialista - PortuguêsDocumento144 páginasHegemonia e Estratégia Socialista - PortuguêsMarcio Carvalho100% (3)
- A Economia Politica o Capitalismo e A EscravidaoDocumento41 páginasA Economia Politica o Capitalismo e A EscravidaoMatheus Galvani LofranoAinda não há avaliações
- As Raças Humanas - Nina RodriguesDocumento206 páginasAs Raças Humanas - Nina Rodrigueszeholanda100% (1)
- Casa Grande e SenzalaDocumento333 páginasCasa Grande e SenzalaEloísa Dornelles75% (8)
- CARLOS FICO - Regimes Autoritários No Brasil RepublicanoDocumento19 páginasCARLOS FICO - Regimes Autoritários No Brasil RepublicanoAnderson TorresAinda não há avaliações
- SIMÕES, Júlio Assis & FACCHINI, Regina - Na Trilha Do Arco-ÍrisDocumento96 páginasSIMÕES, Júlio Assis & FACCHINI, Regina - Na Trilha Do Arco-Írisluiz claudio CandidoAinda não há avaliações
- Thales de Azevedo - A Democracia Racial, Mito e IdeologiaDocumento25 páginasThales de Azevedo - A Democracia Racial, Mito e IdeologiaGuilherme FelixAinda não há avaliações
- ABUD Katia Maria - O Sangue Intimorato e As Nobilíssimas Tradições - A Construção de Um Síbolo Paulista - o BandeiranteDocumento244 páginasABUD Katia Maria - O Sangue Intimorato e As Nobilíssimas Tradições - A Construção de Um Síbolo Paulista - o BandeiranteDanielAinda não há avaliações
- Celso Furtado - Dialética Do Desenvolvimento (1 Parte) (1964) PDFDocumento44 páginasCelso Furtado - Dialética Do Desenvolvimento (1 Parte) (1964) PDFguilmoura100% (6)
- DREIFUSS-Rene Armand-A-Internacional-CapitalistaDocumento273 páginasDREIFUSS-Rene Armand-A-Internacional-CapitalistaElaine De Almeida BortoneAinda não há avaliações
- Chimamanda Adichie - o Perigo de Uma Única História - GeledésDocumento5 páginasChimamanda Adichie - o Perigo de Uma Única História - GeledésGilson José Rodrigues Junior de AndradeAinda não há avaliações
- REIS, José. As Identidades Do Brasil Vol 3Documento485 páginasREIS, José. As Identidades Do Brasil Vol 3Milena Pinillos0% (1)
- Metamorfoses Do EscravoDocumento12 páginasMetamorfoses Do EscravorefuseitAinda não há avaliações
- Negras Lesbicas PDFDocumento12 páginasNegras Lesbicas PDFAndréa Marques Chamon100% (1)
- Pedro Paulo de Oliveira - A Construção Social Da Masculinidade-Editora UFMG (2004)Documento356 páginasPedro Paulo de Oliveira - A Construção Social Da Masculinidade-Editora UFMG (2004)Arlene Ricoldi50% (2)
- O Brasil em dois tempos: História, pensamento social e tempo presenteNo EverandO Brasil em dois tempos: História, pensamento social e tempo presenteAinda não há avaliações
- Da roda ao auditório: Uma transformação do samba pela Rádio NacionalNo EverandDa roda ao auditório: Uma transformação do samba pela Rádio NacionalAinda não há avaliações
- O Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresNo EverandO Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresAinda não há avaliações
- NAPOLITANO. Coracao Civil TESDocumento374 páginasNAPOLITANO. Coracao Civil TESNatanael Silva100% (4)
- REIS FILHO, D. A. FERREIRA, J. ZENHA, C. Século XX Vol I - Tempo Das Certezas - PDF Versão 1Documento147 páginasREIS FILHO, D. A. FERREIRA, J. ZENHA, C. Século XX Vol I - Tempo Das Certezas - PDF Versão 1Débora Strieder KreuzAinda não há avaliações
- Hayden White - O Texto Histórico Como Artefato LiterárioDocumento10 páginasHayden White - O Texto Histórico Como Artefato LiterárioDarcio RundvaltAinda não há avaliações
- Guerreiro Ramos - A Redução Sociologica PDFDocumento137 páginasGuerreiro Ramos - A Redução Sociologica PDFnapoleo02Ainda não há avaliações
- História Local Por Pierre GoubertDocumento8 páginasHistória Local Por Pierre GoubertCastro Ricardo100% (1)
- Genero A Historia de Um ConceitoDocumento18 páginasGenero A Historia de Um ConceitoAndré Geraldo Ribeiro Diniz100% (2)
- RAGO, Margareth. Relações de Gênero e Classe Operária No Brasil 1889-1930Documento19 páginasRAGO, Margareth. Relações de Gênero e Classe Operária No Brasil 1889-1930Igor MarquezineAinda não há avaliações
- Abrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsNo EverandAbrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsAinda não há avaliações
- Aula17.) ROLLEMBERG, Denise. O Esquecimento Das Memórias.Documento11 páginasAula17.) ROLLEMBERG, Denise. O Esquecimento Das Memórias.Vitor Dias100% (1)
- Usos e Abusos Da Mestiçagem e Da Raça No Brasil - Teorias Raciais Século XIXDocumento25 páginasUsos e Abusos Da Mestiçagem e Da Raça No Brasil - Teorias Raciais Século XIXJéssica NunesAinda não há avaliações
- Políticas da raça: Experiências e legados da abolição e da pós-emancipação no BrasilNo EverandPolíticas da raça: Experiências e legados da abolição e da pós-emancipação no BrasilAinda não há avaliações
- Imigrante ideal: O Ministério da Justiça e a entrada de estrangeiros no Brasil (1941-1945)No EverandImigrante ideal: O Ministério da Justiça e a entrada de estrangeiros no Brasil (1941-1945)Ainda não há avaliações
- A Prática de Ensino e A Produção de Saberes Na EscolaDocumento10 páginasA Prática de Ensino e A Produção de Saberes Na EscolaRodrigo TeixeiraAinda não há avaliações
- IANNI, Octavio - Pensamento Social BrasileiroDocumento76 páginasIANNI, Octavio - Pensamento Social BrasileiroDarlan CamposAinda não há avaliações
- Michel de Certeau - A Operação HistoriográficaDocumento55 páginasMichel de Certeau - A Operação HistoriográficaDarcio Rundvalt100% (9)
- SOARES - Glaucio - A Democracia InterrompidaDocumento194 páginasSOARES - Glaucio - A Democracia InterrompidaTeresinha Melo100% (1)
- America Latina No Seculo Xix Tramas Telas e Textos PDFDocumento4 páginasAmerica Latina No Seculo Xix Tramas Telas e Textos PDFJana LopesAinda não há avaliações
- LUIZETTO, Flávio - Reformas ReligiosasDocumento138 páginasLUIZETTO, Flávio - Reformas ReligiosasRodrigo Kummer0% (2)
- O Nome e A Coisa o Populismo Na Política BrasileiraDocumento68 páginasO Nome e A Coisa o Populismo Na Política BrasileiraStefan Gerzoschkowitz100% (1)
- Marilena Chaui Repressao Sexual Essa Nossa Des ConhecidaDocumento158 páginasMarilena Chaui Repressao Sexual Essa Nossa Des ConhecidaAylla MilanezAinda não há avaliações
- TODOROV Tzvetan Nós e Os OutrosDocumento2 páginasTODOROV Tzvetan Nós e Os OutrosCládio Marcos0% (2)
- CUTI. Edisse o Velho Militante José Correia Leite - CompressedDocumento52 páginasCUTI. Edisse o Velho Militante José Correia Leite - CompressedMariana Machado RochaAinda não há avaliações
- GINZBURG, Carlo. O Inquisidor Como Antropólogo.Documento7 páginasGINZBURG, Carlo. O Inquisidor Como Antropólogo.Roberto AfonsoAinda não há avaliações
- Sociedade movediça: Economia, cultura e relações sociais em São Paulo: 1808-1850No EverandSociedade movediça: Economia, cultura e relações sociais em São Paulo: 1808-1850Ainda não há avaliações
- Cap 2 - História Da Psicologia Moderna PDFDocumento33 páginasCap 2 - História Da Psicologia Moderna PDFAndréa Marques ChamonAinda não há avaliações
- Sá, C. P. De. (1998) - A Construção Do Objeto de Pesquisa em Representações Sociais PDFDocumento108 páginasSá, C. P. De. (1998) - A Construção Do Objeto de Pesquisa em Representações Sociais PDFAndréa Marques ChamonAinda não há avaliações
- Anjo Negro Sexo e Raça No Teatro BrasileiroDocumento9 páginasAnjo Negro Sexo e Raça No Teatro BrasileiroAndréa Marques ChamonAinda não há avaliações
- 2018 Arti Lsilva PDFDocumento16 páginas2018 Arti Lsilva PDFAndréa Marques ChamonAinda não há avaliações