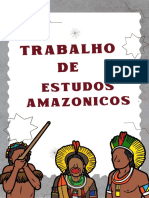Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Notas Taquigraficas Audiencia Publica - Cotas Raciais
Notas Taquigraficas Audiencia Publica - Cotas Raciais
Enviado por
ariemal0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações453 páginasTítulo original
Notas Taquigraficas Audiencia Publica- Cotas Raciais
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações453 páginasNotas Taquigraficas Audiencia Publica - Cotas Raciais
Notas Taquigraficas Audiencia Publica - Cotas Raciais
Enviado por
ariemalDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 453
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS FILHO
(MESTRE DE CERIMNIAS) - Senhoras e Senhores, solicito a
todos que ocupem os seus lugares para darmos incio
imediato a esta audincia pblica.
Mais uma vez, solicitamos a todos que ocupem
imediatamente os seus lugares e que a partir deste momento
mantenham seus telefones celulares desligados.
Senhoras e Senhores, bom-dia a todos!
Mais uma vez, agradecemos a gentileza de
desligarem os seus telefones celulares.
As audincias pblicas organizadas pelo
Supremo Tribunal Federal seguem formalidades para sua
viabilizao. Assim, em respeito s tradies desta Corte e
aos argumentos defendidos pelos palestrantes, no sero
permitidos aplausos, vaias, cartazes, faixas, camisetas ou
outras formas de manifestaes relativas ao tema a ser
debatido. Solicitamos que atentem para a limitao de tempo
de quinze minutos oferecidos a cada palestrante,
considerando que, ao final desse tempo, o udio ser
automaticamente cortado. Informamos que o cronmetro
situado no fundo do auditrio ser acionado ao incio de
cada palestra, para evitar incorrees relacionadas
contagem do tempo.
Solicitamos aos presentes que fiquem de p
para receber a Corte.
Compem a Mesa o Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, Presidente da Mesa e Relator da ADPF 186 e do
RE 597.285, Rio Grande do Sul; o Senhor Ministro Gilmar
Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do
Conselho Nacional de Justia; Senhor Ministro Joaquim
Barbosa, Ministro do Supremo Tribunal Federal; Doutora
Deborah Duprat, vice-Procuradora-Geral da Repblica.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Vamos nos sentar, por favor.
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS FILHO
(MESTRE DE CERIMNIAS) - Com a palavra o Senhor Ministro
Ricardo Lewandowski.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Bom-dia a todos.
Gostaria de saudar inicialmente o eminente
Presidente Gilmar Mendes, deste Supremo Tribunal Federal; o
eminente Ministro Joaquim Barbosa, tambm desta Casa; a
vice-Procuradora-Geral da Repblica, Deborah Duprat; as
demais autoridades presentes; todos aqueles que se
encontram no auditrio e tambm os funcionrio da Casa que
nos auxiliam.
Declaro aberta esta Audincia Pblica, que
tem por objetivo subsidiar o Supremo Tribunal Federal no
julgamento da Arguio de Descumprimento de Preceito
Fundamental 186, da qual requerente o Partido Democratas
- DEM, e que foi ajuizada com base no artigo 103, VIII, da
Constituio Federal, e que figura como requerido o
Conselho de Ensino, Pesquisa, Extenso da Universidade de
Braslia - Cepe, o reitor da Universidade de Braslia,
Centro de Seleo e Promoo de Eventos da Universidade de
Braslia e tambm para subsidiar o julgamento do Recurso
Extraordinrio 597.285, do Rio Grande do Sul, em que figura
como recorrente Giovane Pasqualito Fialho e recorrido a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este recurso
especial teve a sua repercusso geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal em 18/9/2009.
Gostaria de fazer umas brevssimas
consideraes a respeito da Audincia Pblica antes de
iniciarmos o evento.
Ressalto dois aspectos, Senhor Presidente,
com relao a esse magno tema: em primeiro lugar, dizer que
a Constituio Federal de 1988 deu, a meu ver, um
extraordinrio salto qualitativo ao superar uma democracia
meramente representativa para ingressar no mbito novo das
relaes entre o povo e o poder, que exatamente a
democracia participativa. Isso est consignado, com todas
as letras, no artigo 1, pargrafo nico, da Carta Magna,
que estabelece que o poder exercido pelo povo atravs de
representantes eleitos ou diretamente nas hipteses em que
a prpria Constituio estabelece. E so vrias essas
hipteses. O artigo 14, por exemplo, determina a
participao popular, a participao dos cidados, mediante
referendo, do plebiscito, da iniciativa popular. Existem
outras situaes tambm em que a cidadania participa da
gesto da coisa pblica. Por exemplo, no planejamento
urbano, na fiscalizao das contas pblicas, no
estabelecimento de polticas pblicas no mbito da sade,
da educao, do meio ambiente.
As audincias pblicas, a meu ver, Senhor
Presidente, eminente Ministro Joaquim Barbosa e dignos
presentes, se inserem dentro dessa ideia de democracia
participativa. Ou seja, de uma participao do povo, da
cidadania, no processo de tomada de decises.
A Lei n 9.882/99, em seu artigo 5, I,
faculta ao relator das aes de carter objetivo, sobretudo
das aes diretas de inconstitucionalidade, convocar
audincias pblicas para subsidiar os ministros no seu
julgamento ou, eventualmente, convocar peritos,
especialistas sobre a matria.
O Regimento Interno, no artigo 21, inciso
XVII, reproduz e regulamenta esta disciplina da lei das
aes diretas de inconstitucionalidade. Portanto, a mim me
parece que as audincias pblicas, o instituto do amicus
curiae, que so os amigos da Corte, que colaboram no
julgamento das questes submetidas ao Supremo Tribunal
Federal, e mesmo o televisionamento das sesses de
julgamento fazem parte deste processo de aproximao da
cidadania dos Poderes da Repblica, em especial do Poder
Judicirio.
O segundo aspecto que gostaria de salientar,
alm deste primeiro mais geral, que as audincias
pblicas realmente representam uma oportunidade que tem o
Supremo Tribunal Federal de ouvir no apenas a sociedade
civil de modo geral, mas os membros dos demais Poderes e
tambm os especialistas nos assuntos.
As audincias pblicas so convocadas no de
forma rotineira, mas de forma muito excepcional, quando
algum tema tenha uma grande repercusso na sociedade, como
foi o caso do julgamento das clulas-tronco embrionrias,
da questo dos territrios indgenas, e este, a meu ver,
que a questo da reserva de vagas nas universidades
pblicas, um tema magno que deve ser decidido pelo Supremo
Tribunal Federal com a audincia da sociedade em geral, dos
cidados brasileiros.
Quero dizer, Senhor Presidente e eminente
Colega Ministro Joaquim Barbosa, que deposito uma enorme
expectativa nesta sequncia de audincias que se
prolongaro durante os prximos trs dias, e temos certeza
que elas dotaro os Ministros do Supremo Tribunal Federal
de muitos e importantes subsdios para que ns todos
possamos apreciar melhor a questo.
Agradeo mais uma vez a presena de todos e
passo a presidncia da sesso ao eminente Ministro Gilmar
Mendes.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) - Bom-dia a todos.
Senhores participantes, Ministro Ricardo
Lewandowski, Relator desta importante ao, Ministro
Joaquim Barbosa, Senhora Vice-Procuradora-Geral, senhores
participantes deste processo importante de audincia
pblica, com muita satisfao que me associo s palavras
do Ministro Lewandowski sobre a importncia deste evento.
Embora venha se tornando frequente a
realizao de audincia pblica, no se trata, como sabem,
de um evento comum, dada a complexidade da sua realizao e
dos pressupostos estabelecidos na prpria legislao para o
seu deferimento.
Em geral so temas que despertam grande
interesse na sociedade e de elevada complexidade que
demanda a viso dos interessados e tambm dos experts, e
esta a oportunidade talvez mais expressiva desta
participao plural destes vrios setores nesse complexo
processo.
Passo a palavra agora ao Ministro Joaquim
Barbosa para suas consideraes.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Senhor
Presidente, Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, senhores
participantes, com muita satisfao que tambm participo
dessa cerimnia de abertura das audincias pblicas que
visam a colher subsdios de experts e representantes
governamentais e da sociedade civil sobre o magno tema
relacionado questo da igualdade substancial ou da
tentativa de insero consequente de minorias no sistema
produtivo e educativo do nosso Pas.
Vejo como extremamente alvissareira essa
nossa primeira experincia. Vejo como o encontro da
sociedade sobre um tema sobre o qual ela nem sempre quis
discutir com a devida abertura. Vejo como extremamente
positivo, e um prazer estar aqui neste momento.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) - Ao encerrar os trabalhos da
abertura da 5 Audincia Pblica realizada pelo Supremo
Tribunal Federal, eu gostaria de desejar todo xito a este
trabalho e cumprimentar a iniciativa corajosa do eminente
Relator, que, percebendo o grau de controvrsia que envolve
esta temtica, esforou-se no s para deferir a audincia
pblica, como tambm para selecionar os diversos
participantes, os diversos seguimentos que pudessem trazer
para a Corte as mltiplas vises existentes sobre o tema, o
que possibilita, num espao de tempo que espero no muito
longo, um julgamento bastante refletido sobre uma das
questes talvez mais controvertidas do atual estgio do
nosso desenvolvimento constitucional. Desejo a todos bom
trabalho e deixo essas palavras de cumprimento e
felicitaes iniciativa do eminente Relator deste
processo.
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS FILHO
(MESTRE DE CERIMNIAS) - Neste momento, desfaz-se a Mesa.
Na sequncia, reiniciaremos os trabalhos mantendo o
cronograma de sustentaes previstas.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Declaro reiniciados os trabalhos
e, segundo o cronograma preestabelecido, teremos a honra de
ouvir a manifestao da Doutora Deborah Duprat, Vice-
Procuradora-Geral da Repblica, que far uso da palavra
pelo tempo regulamentar.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
A SENHORA DEBORAH DUPRAT (VICE-PROCURADORA-
GERAL DA REPBLICA) - Obrigada. Senhor Presidente, Senhor
Ministro Joaquim Barbosa, todos os presentes, senhoras e
senhores, acho que este o momento em que cabe ao
Ministrio Pblico fazer uma abordagem diferente daquela
lanada no seu parecer que j integra os autos desta ao
direta de inconstitucionalidade. No se trata de uma
abordagem diferente; trata-se mais certamente de uma
abordagem complementar.
Eu gostaria, portanto, de inserir o tema
"cotas" dentro da Constituio - esse o grande propsito
ao final desta reunio -, e lembrar que toda Constituio
, ao fim e ao cabo, uma ruptura com uma ordem anterior e
um projeto de futuro para uma sociedade.
Eu gostaria de fazer essa abordagem da
ruptura em trs perspectivas: filosfica, jurdica e
poltica. Eu pretendo no ser enfadonha; conheo vrios dos
presentes e, para eles, esse tema por demais conhecido,
mas eu insisto, porque importante que ns, para tratarmos
desse tema, tenhamos a exata compreenso do que significou
essa ruptura no mbito da Constituio de 1988. Para
falarmos em ruptura, ns precisamos saber o que o momento
anterior. O momento anterior, que vou identificar aqui,
nessas trs vertentes, aquele que na filosofia
correspondeu ao iluminismo, ao perodo do racionalismo
construtor kantiano, porque o modelo que se seguiu a esse
padro filosfico foi o do sujeito cognoscente, do sujeito
que, de certa forma, constri o mundo. Mas, se o sujeito
que, a partir de conceitos apriorsticos, constitui o
prprio mundo, esse sujeito no pode ser pelas suas
diferenas reconhecidas; esse um sujeito que vai ter de
ser exemplar de todos os demais. Ento, o sujeito racional
kantiano um nico sujeito, sem qualidades, indefinido, e
representativo de todos os outros sujeitos.
Na percepo poltica, na vertente poltica,
eu gostaria de lembrar que o grande episdio desse momento,
dessa conjuntura a Revoluo Francesa, e pegar dentro da
Revoluo Francesa no s o princpio da igualdade que ela
proclamou, mas principalmente a instituio do Estado-
nao. E o que veio a ser o Estado-nao? O Estado-nao
aquele cadinho da homogeneidade, onde se presume que, sobre
um nico territrio, h sujeitos que compartilham cultura,
que compartilham lngua, enfim, h um nico povo ali
assentado. Esse foi o modelo constructo do Estado-nao. E
qual o direito desse perodo? O direito vai ser o
repositrio de todas essas ideias. um direito que tambm
busca uma homogeneidade sob a perspectiva da igualdade
formal, um direito, em princpio, indiferente s
diferenas, porque essa igualdade de todos perante a lei,
e um direito que trabalha com a lgica kantiana, muito
inspirada nas leis da cincia natural, em que observa
regularidades e, a partir da, lana leis gerais e
universais.
Esse ambiente de absoluta homogeneidade teve
o seu paroxismo na Segunda Grande Guerra. Ns temos talvez
o episdio mais dramtico da histria mundial com essa
pretenso de absoluta homogeneidade de uma sociedade
nacional. Talvez essa grande dama seja o motor das
transformaes que se iniciam a partir da nessas trs
vertentes tambm, e, a, eu passo para a ruptura.
Na vertente filosfica, essa denncia da
colonizao do diferente pelo sempre igual, que vem de
Nietzsche, que vem de Heidegger, que vem de Foucault,
Derrida, e vrios outros, mostrando que essas grandes
verdades universais sempre so um recorte eleito de uma
realidade multifacetada, a realidade extremamente plural
para poder ser recortada em verdades universais.
Em relao ao Estado-nao, tambm, acabou-
se com aquela viso quase naturalizante de que isso era a
sequncia natural das coisas; desfaz-se a viso, portanto;
mostra-se que o Estado nacional uma construo e essa
homogeneidade foi produto de dominao. Um grupo que se
sagrou vencedor e conseguiu impor sua lngua, sua viso de
mundo, sua cultura, portanto. Ento, o Estado nacional
essa situao em que um grupo domina e impe todos os
demais valores que so, supostamente, compartilhados pela
sociedade nacional.
E o Direito? Bom, No mbito do Direito, os
movimentos sociais comeam a denunciar essa farsa da
igualdade de todos perante a lei. A dcada de 60 prdiga
em movimentos, como o feminismo, por exemplo, mostrando
que, se a mulher for tratada igual ao homem, aquilo que lhe
mais peculiar, como o aleitamento, a maternidade, lhes
so dados prejudiciais no trabalho, na vida poltica. E
vrios outros movimentos: o movimento dos homossexuais, o
movimento dos negros, o movimento dos ndios, sempre
mostrando que essa situao de igualdade de todos perante a
lei, da igualdade formal, uma situao que lhes
desfavorece.
Outra coisa que se denuncia que o Direito,
rigorosamente, nunca foi alheio s diferenas. Pelo
contrrio, tratou delas cuidadosamente, mas elegeu um
determinado modelo que lhe interessava.
Ento, o Direito anterior Constituio de
88 trabalhava com classificaes binrias. Era de um lado
homem, de outro, mulher. Homem heterossexual, mulher de um
lado; de um lado, branco, do outro lado, negros, ndios;
de um lado, adulto, de outro lado, criana, adolescente,
idosos; de um lado, so, de outro, doente; de um lado
proprietrio, de outro, despossudo. A esse primeiro grupo,
ele deu um valor positivo e a esse segundo grupo, um valor
negativo.
O sujeito de Direito, portanto, desse
perodo, tem cara, sexo, cor, condio financeira. Ele
homem, masculino, heterossexual, branco, proprietrio, so
e adulto. Esse o sujeito de Direito da sociedade
hegemnica. Aos demais, o Direito coloca um determinado
dado que o desqualifica perante o Direito: a mulher em
relao sua incapacidade relativa; at pouco tempo atrs,
os ndios, que s conseguiam a sua possibilidade de
ingresso na sociedade nacional quando se livrassem da sua
identidade. Ento, era o fenmeno da antecipao que
permitia ao ndio fazer parte da sociedade nacional.
Enfim, crianas adolescentes, idosos,
pessoas portadoras de deficincia eram absolutamente
invisveis a esse Direito e no considerados rigorosamente
sujeitos de Direito. E, mais grave do que isso, esse
Direito reserva apenas para o sujeito ideal, branco,
masculino, enfim, a presena no espao pblico, todos os
demais esto confinados a determinados espaos.
Ento, a sociedade hegemnica cria os
guetos, coloca os diferentes em guetos; reserva mulher o
espao do lar; pessoa portadora de deficincia fsica ou
mental, os hospitais, os sanatrios; s crianas portadoras
de deficincias, escolas particulares. Ento, ela uma
sociedade que divide, que reserva aos seus diferentes
espaos de invisibilidade.
Esse o grande projeto de uma sociedade
hegemnica.
O que acontece com a Constituio de 1988?
Ela vem reconhecer exatamente o carter plural da nossa
sociedade nacional. Diz isso expressamente nos artigos 215
e 216, quando trata da cultura e dos grupos formadores da
sociedade nacional; fala dos negros, dos ndios, dos
afrodescendentes e, espalhada no texto da Constituio
vrios dispositivos, que vo tratar especificamente da
mulher, das pessoas portadoras de deficincia, dos ndios,
dos remanescentes de quilombo, das crianas, dos idosos,
enfim, uma Constituio que recupera o espao ontolgico
da diferena.
Agora, qual o grande desafio neste
contexto de ruptura? Como ns passamos de uma sociedade
hegemnica em que todos os espaos pblicos esto ocupados
por um nico sujeito de direito para uma sociedade plural.
Isso da em todos os campos. Ns estamos tratando hoje de
universidades, mas j tratamos atrs de cargos pblicos, de
espao no Parlamento e a prpria Constituio trouxe a
soluo. Ela fala de cotas especificamente para mulheres no
mercado de trabalho, nos cargos pblicos para pessoas
portadoras de deficincia, por qu? Porque as cotas -
antes de atentar contra o princpio da igualdade - realizam
a igualdade material; por outro lado, elas so a porta de
entrada para que estas instituies assumam o carter
plural. O suposto saber universal, veiculado pela
universidade, ainda o saber do grupo hegemnico, do grupo
que durante muito tempo logrou esse espao de permanncia
na sociedade nacional. No nos equivoquemos em relao a
isso.
Quando se fala em meritocracia, fala-se de
mrito a respeito deste tipo de saber. Por que ns temos
tanta dificuldade em implementar uma disciplina nas escolas
pblicas que trata da histria dos povos indgenas e dos
afrodescendentes? Porque no tem quem as conte, ainda a
escola ocupada por esse grupo, pela sua histria e pela
viso que ele tem da histria dos outros. Essa a grande
dificuldade da mudana. Os espaos pblicos ainda esto
ocupados por esse grupo hegemnico.
Por outro lado, as cotas tm um carter de,
ao mesmo tempo em que elas permitem um pluralismo nas
diversas instituies nacionais, poltica inclusiva. uma
poltica onde as diferenas se encontram e se celebram, ao
contrrio da sociedade hegemnica, que confina os
diferentes aos espaos privados. Ento diferentemente do
discurso de que a poltica de cotas cria diferenas,
castras, ela inclui, traz para o espao pblico essa
multiplicidade da vida social.
Acho que essa experincia, hoje em dia, nas
praias est se vendo, abrindo-se espao para que os
cadeirantes cheguem ao mar - ontem teve uma cena na novela
- e que todos possam estar presentes no espao pblico.
Elas vo realizar, portanto, esse projeto da constituio
de sociedade nacional.
Por que as cotas com este recorte tico-
racial incomodam tanto? Essa um questo imposta.
Primeiro, com aquele surado argumento de que no existem
raas numa viso positivista, naturalizante de raa.
bvio que raa, nessa viso biolgica, no
existe. Isso da no tem nenhuma dificuldade, o Supremo j
disse isso naquele caso das publicaes antissemitas. Mas,
o Ministro Maurcio Corra falou expressamente: o racismo
persiste enquanto fenmeno social. A raa, portanto, entra
naquela questo do "Ludwig Wittgenstein", questo de
linguagem, questo de como o conceito ressemantizado,
reformulado e apropriado por todos, por quem olha e v
naquilo, raa, e por quem vtima e colhe aquilo, tambm,
como projeto de mobilizao.
A outra coisa a to falada miscigenao,
como se a miscigenao tambm aqui, numa viso positivista,
naturalizante, como se a viso colonial fosse sempre assim,
uma colonizao que privilegiou a harmonia ao invs do
embate. S que a miscigenao tambm foi uma construo, a
miscigenao consta desde as ordenaes pombalinas, uma
engenharia social para as colnias, to curiosa que o
casamento inter-racial dessas leis possvel para o homem,
mas no possvel para a mulher branca. Ento, uma
estratgia de povoamento, uma estratgia de gerar fora,
mais escravos para aquele mercado. Ento, no to simples
assim a miscigenao.
Lembrar que, mesmo depois de Casa Grande e
Senzala, que o grande marco da miscigenao, Gilberto
Freire, aquela sociedade cordial ali dita, tem uma lei no
Brasil, de 1945, uma lei de migrao que estimula, ainda,
naquela poca, a vinda dos trabalhadores europeus para o
Brasil. E ela diz, expressamente, qual o propsito dela:
a necessidade de preservar e desenvolver na composio
tnica da populao as mais desejveis caractersticas de
sua ancestralidade europia. Ento, a miscigenao, muito
mais do que um retrato da nossa sociedade, uma retrica
oficial e os indicadores sociais esto todos a para
demonstrar isso. Lembrar tambm que, mesmo no perodo
Colonial, mesmo no perodo anterior e posterior abolio
da escravatura foi condenada pela nossa intelectualidade;
Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Paulo Prado, Slvio
Romero, Oliveira Viana.
E, por fim, s um ltimo dado. A questo que
incomoda: do critrio adotado. E, um nico critrio
possvel do autorreconhecimento, por qu? Numa sociedade,
apenas numa sociedade hegemnica que o grupo que tem o
poder tem o poder tambm das classificaes e das
definies. De estabelecer fronteiras, de dizer quem est
dentro e quem est fora, numa sociedade plural cada um tem
essa possibilidade de dizer quem . E afirmar quem traz
consequncias muito alm do mero ingresso numa
universidade, do mero ingresso no concurso. Afinal, dizer
que voc negro traz consequncias posteriores ao
ingresso, traz consequncias para o mercado de trabalho e
isso a pessoa vai ter que carregar.
Ento, o estelionato no to fcil, ou no
essa coisa to rasa como se pretende fazer crer.
Desculpem-me pelo excesso, eu tinha
contabilizado um tempo menor, muito obrigada Ministro pela
gentileza de me conceder esse tempo adicional.
Obrigada.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeo a Doutora Dbora
Duprat, Vice-Procuradora-Geral da Repblica, pela
substanciosa interveno que fez.
Eu convido, agora, para fazer uso da
palavra, o Doutor Miguel Angelo Canado, Diretor-Tesoureiro
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que
nesse ato representa a OAB e que ter o prazo de quinze
minutos. Eu peo especial ateno a esses prazos porque ns
temos que chegar a bom termo nessas nossas audincias
porque tarde teremos a sesso Plenria do Supremo
Tribunal Federal.
Vossa Excelncia est com a palavra.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR MIGUEL NGELO CANADO (DIRETOR-
TESOUREIRO DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL) - Bom-dia a todos. Excelentssimo Senhor Ministro
Ricardo Lewandowski, Presidente da presente audincia
pblica e Relator da ADPF em pauta; Excelentssimo Senhor
Ministro Joaquim Barbosa do Supremo Tribunal Federal;
Excelentssima Senhora Vice-Procuradora-Geral da Repblica
Doutora Deborah Duprat, a quem cumprimento tambm pela
manifestao aqui produzida; Senhoras e Senhores Ministros
de Estado; Parlamentares; representantes das diversas
instituies aqui presentes; senhoras e senhores.
Em primeiro lugar, quero fazer coro ao que
disse o Excelentssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski,
quando da abertura desta audincia pblica, no que se
refere participao da sociedade nas decises do Supremo
Tribunal Federal, a importncia disso para o momento atual
em que vivemos e o quanto reconhece o Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil a importncia de eventos como
este, de iniciativas como esta.
H at bem pouco tempo, Senhores Ministros,
o Supremo Tribunal Federal era uma Corte conhecida apenas
por ns, integrantes da comunidade jurdica, do mundo
jurdico do Pas. Hoje, ele se aproxima da sociedade, e
bom que seja assim, bom que a sociedade consiga ter essa
viso, o Senhor Ministro tem absoluta razo.
Com relao ao tema em pauta, quero
registrar que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil no adotou uma posio quanto ao mrito da discusso
posta na presente ADPF. A Ordem dos Advogados do Brasil no
questiona em absoluto - evidentemente no podia ser
diferente - a constitucionalidade e a importncia histrica
das aes afirmativas, at porque j positivadas no nosso
ordenamento jurdico desde 2002. E, talvez, por essa ainda
no tomada de posio por parte do Conselho Federal, Senhor
Ministro Ricardo Lewandowski, o tempo aqui no me falte
como faltou Doutora Deborah, at talvez me sobre, porque
interessa ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e ele est atento deciso que venha a ser tomada
na presente ADPF, que, como dito aqui pelo Ministro Gilmar
Mendes, contm um contexto de importncia, um contexto de
debate intenso, de importncia histrica para o Pas.
A causa certamente que ser objeto da
discusso travada aqui e das discusses que sero
estabelecidas perante o Supremo Tribunal Federal quando da
discusso efetivamente do mrito da ADPF so as razes
endmicas, histricas e mesmo a realidade atual do racismo
no Brasil. O que a Doutora Deborah chamou de "farsa da
igualdade no Pas" talvez se possa situar, e o que se h de
perquirir se aes afirmativas como essa, estabelecida
pela Universidade de Braslia, esto efetivamente em
sintonia com a Constituio Federal. E cito aqui um exemplo
tambm adotado pela Universidade Federal de Gois, que
implantou o curso de Direito, e esse tema foi amplamente
discutido no mbito do Conselho Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil, foi, inclusive, quem provocou o
debate, trazendo a si a responsabilidade dessa discusso, e
entendendo a importncia daquela ao afirmativa quando da
implantao de um curso de Direito especfico para os
integrantes dos assentamentos rurais do Brasil,
especialmente no Estado de Gois.
Entendeu ali a Ordem dos Advogados do
Brasil, Seo de Gois - e naquela oportunidade eu era seu
presidente seccional -, da importncia, da relevncia, e
mesmo da constitucionalidade da criao daquele curso. De
modo que a discusso que se trava aqui, e conforme posto na
petio estabelecida pelo Partido Democratas, parece que
no se deve ter anlise da matria sob uma tica
maniquesta, do bem e do mal. Estou em sintonia com o bem
ou estou em sintonia com o mal, e as entidades na mesma
condio, de acordo com a viso que tenha do acerto ou
desacerto da constitucionalidade ou da
inconstitucionalidade da iniciativa adotada pela
Universidade de Braslia. Parece-nos instituio que aqui
represento, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem
absoluta sintonia, absoluta sinergia e proximidade com os
movimentos sociais, com as reivindicaes das minorias, com
os movimentos das minorias, mas h de se estabelecer mesmo
- isso que se espera, e com certeza o far o Supremo
Tribunal Federal, a Ordem tem certeza que far -se a
conduo que se deu ao acesso instituio de ensino pelos
afrodescendentes, pelos negros no Brasil, a mais adequada
nesta dicotomia entre racismo e a questo social, como
defende, alis, o Partido Democratas, ou seja, o no
estabelecimento de cotas raciais, mas sim, o
estabelecimento de cotas sociais.
essa discusso, reconheo aqui que o
Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil naturalmente
entende como absolutamente relevante; como absolutamente
pertinente, inclusive para o momento em que vivemos. Como a
Constituio, que j ultrapassa a maioridade, j com vinte
e um anos de idade, ainda no sistema antigo de vinte e um
anos, mas uma Constituio ainda em interpretao pela
Suprema Corte.
De modo que esta a manifestao da Ordem
dos Advogados do Brasil, esperando, Senhor Ministro-
Relator, Senhoras e Senhores representantes de instituies
e entidades aqui presentes, prezados colegas Advogados, que
o Supremo Tribunal Federal, no caso da presente ADPF, que
ser certamente uma referncia futura para situaes do
gnero, adote a deciso que venha a conduzir ao Brasil -
conforme, alis, tem feito, na questo do estabelecimento
de cotas, o Supremo Tribunal Federal, em precedentes nos
quais foram relatores os Ministros Carlos Mrio Velloso e,
se no me trai a memria, o prprio Ministro Gilmar Mendes,
em situaes anteriores estabelecidas, por exemplo, em
relao Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Espera a Ordem dos Advogados do Brasil a
deciso serena e sbia da Suprema Corte do Pas.
Muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo Ordem dos Advogados do
Brasil, que se fez presente pelo eminente Doutor Miguel
ngelo Canado.
Chamo agora, para fazer uso da palavra, o
eminente Ministro Lus Incio Lucena Adams, Advogado-Geral
da Unio, que falar tambm por quinze minutos.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR MINISTRO LUIS INCIO LUCENA ADAMS
(ADVOGADO-GERAL DA UNIO) - Excelentssimo Senhor Ministro
Ricardo Lewandowski, Presidente desta Audincia Pblica;
Excelentssimo Senhor Ministro Joaquim Barbosa, que nos
prestigia e nos acompanha neste debate com ateno; Senhora
vice-Procuradora-Geral da Repblica, Deborah Duprat;
Excelentssimo representante da OAB, Doutor Miguel ngelo
Canado; dson Santos, em nome dos quais eu sado todos os
demais palestrantes e tambm presentes desta Audincia.
A Audincia Pblica que ora se inicia
compreende um dos mais delicados debates j colocados sob o
crivo da conscincia pblica nacional. A popularidade do
tema diretamente proporcional secularidade do problema
da discriminao racial.
A Constituio Federal de 88,
preambularmente, exaltou a igualdade e a justia como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos. Logo adiante, estabeleceu a construo de
uma sociedade livre, justa e solidria; a erradicao da
marginalizao e a reduo das desigualdades sociais como
trs das vontades fundamentais que devero inspirar a
atuao do Estado brasileiro. Inevitvel a constatao de
que, ao se apoiar nos valores de fraternidade, pluralismo,
igualdade e justia e elencar os objetivos fundamentais a
serem perseguidos pela Repblica Federativa do Brasil, o
Constituinte verbalizou, de maneira contundente, o
inconformismo da Nao com a perpetuao das desigualdades
derivadas da cultura do preconceito racial. A Constituio
Federal exigiu, pois, que evolussemos de uma realidade
esttica, marcada pela ineficcia das garantias da
igualdade formal, em direo de um estado de coisas mais
dinmico, democrtico e plural, diferente daquele ideal que
se usou chamar de igualdade material - e acredito que a
vice-Procuradora, Doutora Deborah Duprat, levantou muito
bem o debate sobre isso.
A busca pela igualdade material no se
contenta apenas com medidas repressivo punitivas das
atitudes discriminatrias, demanda tambm a implantao de
aes estatais de cunho promocional. Para lograr a
realizao deste mandamento constitucional o Estado deve
atuar de maneira vanguardista, promovendo uma poltica de
superao de hbitos, de modo a afastar qualquer
possibilidade em que a discriminao racial seja encarada
como um fruto de um determinismo social indelvel.
Nesse sentido, nada mais natural que os
primeiros projetos estatais vocacionados superao da
discriminao racial surgissem no mbito das universidades
pblicas, espao cultural tradicionalmente dedicado
formao do conhecimento crtico e da produo intelectual.
Assim, as universidades brasileiras foram responsveis pela
elaborao de uma iniciativa pioneira e arrojada,
consubstanciada no sistema de reserva de vagas. Em boa
hora, as universidades pblicas fizeram uso de sua
autonomia, previsto no artigo 207, caput, da Constituio
Federal, criando um programa de incluso que se imps
dentro das balizas da proporcionalidade, artigo 5, LIV, da
Constituio, para reverenciar uma leitura igualitria,
artigo 5, II, do princpio da meritocracia, artigo 208, V,
de modo a implementar valores sociais proclamados pela
Constituio Federal, artigos 1 e 3 da Constituio.
Nesse ponto, mostra-se pertinente tecer
algumas consideraes s objees mais enrgicas que vm
sendo erigidas contra a poltica de cotas, que,
invariavelmente, compartilham de um fundo terico comum.
Primeiro, a contestao que ganhou maior
nmero de adeptos aduz que a desigualdade, de fato, que
impede a fruio do direito ao ensino superior no
encontraria justificativa na discriminao racial, mas,
sim, em questes econmicas. Sustenta-se como justificativa
que a raa no, por si s, elemento gerador de qualquer
tipo de atitude discriminatria, capaz de obstaculizar o
ingresso de negros no ensino superior. A dificuldade de
acesso universidade e s posies sociais mais elevadas
decorreriam, antes de tudo, da precria situao econmica
experimentada pela maioria da populao negra. Essa
compreenso padece de um grave erro de perspectiva, pois
reflete, a um s tempo, uma reviso reducionista do
problema da discriminao racial e uma tentativa de
subverter os objetivos da poltica de reserva de vagas.
Esse cenrio, historicamente determinado de
ampla desigualdade, v surgir a necessidade de
estabelecimento de uma srie de medidas compensatrias,
consubstanciadas tanto em aes distributivas quanto de,
inclusive, destinadas a integrar a comunidade negra a todos
os campos de expresso humana, e no apenas seara
econmica. Na verdade, a desigualdade econmica,
considerada como um problema isolado, recebeu solues
diversas ao longo do texto constitucional, reunidas
essencialmente no captulo relativo aos direitos sociais. A
discriminao racial foi contemplada com outro tipo de ao
normativa muito mais abrangente, e no se esgota com o
aprimoramento da condio econmica dos beneficirios.
A Constituio Federal de 88 no encampou
uma viso puramente econmica das igualdades. O
constituinte percebeu que a consecuo da igualdade no
depende apenas do aprimoramento da distribuio de bens
escassos, mas, tambm, do reconhecimento da valorizao das
identidades de grupos no hegemnicos no processo social,
como demonstram os artigos 215 e 216 da Lei Maior, que
preconiza a valorizao das contribuies indgenas e afro-
brasileiras cultura nacional. Para tanto, nada melhor do
que ampliar o acesso dos negros aos bancos do ensino
superior, porquanto as universidades so locus natural para
formao do saber cientfico e da identidade cultural
intelectual nacional.
Resta evidente, portanto, que a finalidade
do sistema de reserva de vagas no est apenas na incluso
econmica. As disposies da Constituio Federal pretendem
resgatar as minorias historicamente desprestigiadas do
alimento poltico, social e cultural a que foram
submetidas, implementando um canal difusor de seus valores,
concepes e manifestaes.
A segunda tese contrria aos modelos de
incluso racial pelo sistema de reserva de cotas tambm se
revela equivocada, pois est fundamentada na afirmao de
que raa um conceito inexato, ou mesmo inexistente, tanto
sob o prisma gentico quanto sob o prisma sociolgico.
Consoante reconhecido por este Supremo Tribunal Federal no
emblemtico julgamento do HC 82.424, conceito e raa
exprime, na verdade, um representao mental para uma
realidade histrico-social de discriminao e que grupos
sociais dominantes criam e reproduzem padres de valor
cultural hbeis a subjugar um determinado segmento de menor
expresso.
No Brasil, a discriminao racial um
fenmeno que tem a sua razo de ser no fentipo do
indivduo e no em sua cadeia de ancestralidade. Costuma-se
afirmar que aqui se pratica o racismo (e estampa), ao invs
do racismo de origem. Esse modo, ser fenotpico, pelo qual
se revela a discriminao racial no Brasil suficiente
para desconstruir a tese de que o fato gentico da
miscigenao constitua justificativa para negar a
existncia de preconceito de cor em nosso Pas.
Ademais disso, a ideia de existncia de uma
democracia racial no Brasil tambm no se confirma, pois
como atualmente se sabe a discriminao opera por vias
diretas e indiretas. Convm salientar aqui que justamente
esse modelo de discriminao indireta radicado no fentico
do indivduo que torna o critrio de autodeclarao
adequado a selecionados beneficirios do tratamento
diferenciado nos programas de cotas.
Cumpre-se sublinhar, neste ponto, que os
programas de incluso existentes no esto isentos de
falhas. natural que a execuo de uma poltica inovadora
exija constante aperfeioamento, o que todavia no ilude a
relevncia no cenrio nacional.
Tambm procede a tese segundo a qual a
afirmao da existncia da raa pelo Estado seria uma ao
ilegtima, potencialmente incitadora de uma discriminao
reversa. Antes de mais nada importante ressaltar, aqui,
que a poltica de cotas no revela uma disposio estatal
de afirmar a existncia de diferentes raas, mas sim o
intuito de erradicar a discriminao racial, o que vem a
ser algo essencialmente diferente.
Esse objetivo deve ser realizado atravs da
conjugao de dois tipos de medidas: reconhecimento de uma
situao discriminatria e historicamente determinada, que
o reconhecimento; e a incluso definitiva de seus valores
e interesses na formao do mosaico cultural que expressa a
identidade nacional, viabilizando a construo de uma
sociedade efetivamente plural e, portanto, redistributiva.
Afinal, para se atingir a igualdade
necessrio antes de tudo reconhecer as diferenas. Os
grupos socialmente fragilizados devem receber um tratamento
jurdico que reconhea as especificidades e as
peculiaridades de sua condio social nas palavras
insuperveis de Boaventura Souza Santos:
Temos o direito a ser iguais quando
a nossa diferena nos inferioriza; e temos o
direito a ser diferentes quando a nossa
igualdade nos descaracteriza. Da a
necessidade de uma igualdade que reconhea
as diferenas e de uma diferena que no
produza, alimente ou reproduza as
desigualdades
Com efeito, o reconhecimento de um fato
histrico baseado em dados antropolgico, sociolgico e
econmico um ato de afirmao da existncia de diferenas
e da necessidade de confraterniz-los no ambiente de
pluralidade.
E esse um ponto chave, aqui. Quando ns
falamos em discriminao racial, o que na verdade so
discriminaes culturais, ou seja, a necessidade de
apropriar-se culturalmente em um pas, por reconhecer essa
diferena e apropriar no seu contexto um elemento que
compe, no nosso entender, a poltica afirmativa.
Tambm no procede o argumento que preconiza
que a poltica de cotas exortaria a discriminao reversa e
potencializaria o surgimento de um estado de tenso racial
no Brasil. A uma, porque essa tese se baseia em meras
conjecturas, uma vez que nunca houve qualquer episdio de
tenso racial que pudesse ser associada a tais medidas.
Ademais, ao contrrio dos que pregam quanto discriminao
diversa, a poltica de reserva de cotas tem por objetivo
promover o sadio convvio entre as pessoas, a integrao
mediante a preservao de suas identidades.
Por fim, necessrio rechaar a percepo
de que a poltica de cotas seria colidente com o sistema
meritocrtico, constitucionalmente definido para acesso ao
ensino superior. Isso porque o comando do artigo 208, V, da
Constituio Federal deve ser lido a partir do influxo dos
valores de igualdade, fraternidade e pluralismo que,
somados, impem a desigualao dos candidatos a uma vaga de
ensino superior, de modo a compensar as injustias
histricas cometidas contra os negros, permitindo a
concretizao do primado da igualdade material.
Alm disso, a afirmao de que o mrito
individual de cada um deve ser critrio exclusivo a balizar
o ingresso nas universidades pblicas encobre uma
indisfarvel manifestao de indiscriminao direta, pois
acaba por ignorar uma situao pretrita de desigualdade na
formao intelectual dos candidatos e contribui para a
perenizao do crculo vicioso que exclui grande parte da
populao da educao e de qualidade.
Tem-se, assim, que as polticas de cotas
raciais revelam uma atuao estatal amplamente consentnea
com a Constituio Federal, pois foram elaboradas a partir
da autonomia universitria com o propsito de projetar para
a realidade os valores e objetivos estabelecidos pela
constituinte.
Preservando os meus exatos quinze minutos,
eu gostaria de registrar apenas a evidente importncia
deste evento no sentido de produzir um maior grau de
legitimidade, de legitimao da deciso que a Corte ainda
vir a tomar sobre o tema.
Muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo ao Ministro Lus Incio
Lucena Adams e digo que a presena de Vossa Excelncia
valoriza ainda mais o evento.
Convido agora a fazer uso da palavra o
Senhor Ministro Edson Santos de Souza, Ministro da
Secretaria Especial de Polticas Pblicas de Promoo de
Igualdade Racial. Falar tambm por at quinze minutos.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR MINISTRO EDSON SANTOS DE SOUZA
(MINISTRO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLTICAS PBLICAS DE
PROMOO DE IGUALDADE RACIAL) - Em primeiro lugar, quero
cumprimentar o Ministro Lewandowski, o Ministro Joaquim
Barbosa e a Vice-Procuradora Deborah Duprat, e dizer que
entendo que este um momento de grande importncia
histrica para o nosso Pas e que o Supremo Tribunal
Federal, sabiamente, convoca a sociedade para auscult-la
sobre uma matria, cuja deciso ter um impacto muito
grande na sociedade brasileira.
Quero, em primeiro lugar, dizer que, do
ponto de vista, inclusive, da autodeclarao, hoje a
pesquisa nacional por amostragem de domiclio aponta a
populao brasileira se declarando negra, ou seja, preta,
ou parda 50,06% da populao de nosso Pas, o que mostra
que se est discutindo, tratando-se aqui de um tema que vai
ao encontro da maioria da populao brasileira.
O Brasil, ainda em tempo, est recuperando
um debate que ocorreu ao final do sculo XIX, quando se deu
a Campanha Abolicionista.
Todos os senhores tm conhecimento de que a
Campanha Abolicionista havia, queles que a defendiam,
medidas mais radicais acompanhando o processo de libertao
dos negros e do fim da escravido no Brasil. Havia aqueles
que defendiam inclusive uma reforma agrria que
possibilitasse o acesso a terra populao negra
brasileira - e terra era o principal instrumento de
produo no Brasil. Infelizmente, a abolio da escravido
no veio acompanhada dessas medidas, o que deixou um legado
para a posteridade que, felizmente, no Brasil, temos a
felicidade de estarmos vivendo esse momento em nosso Pas,
onde se trata da reviso do processo de formao de nosso
Pas, recuperando a contribuio de homens e mulheres que
aqui chegaram escravizados e eram o principal instrumento
de produo naquele perodo, da cultura do algodo, da
cultura do caf, da extrao de minrios nas Minas Gerais,
e que, durante trs sculos, foram os principais
responsveis pela economia do nosso Pas, tanto do ponto de
vista produtivo como do ponto de vista tributrio, at
porque uma das grandes fontes de arrecadao da Coroa
brasileira era a transao de comrcio de escravos no
Brasil.
O Brasil, naquele perodo, tinha uma relao
muito intensa com o Continente Africano, por conta de que o
trabalho escravo era o meio pelo o qual o Brasil produzia
riquezas e, com isso, mantinha a sua economia. Relao
muito intensa de comrcio com o Continente Africano que,
felizmente, Ministro Lewandowski, Ministro Joaquim Barbosa,
hoje comeamos a recuperar com a abertura de escritrios e
embaixadas no Continente Africano. Isso foi interrompido
com o fim do trfico de escravos, em 1850, mas a herana
permanece at hoje nos costumes, nas religies praticadas
em nosso Pas, na culinria, nas mais diferentes reas da
vida de nosso Pas tem a presena, s vezes no to visvel
quanto deferia ser, da contribuio dos africanos ou dos
descendentes de africanos.
importante a gente situar o debate nesse
campo, porque preciso que o Brasil faa um reencontro com
a sua histria. A Constituio da Repblica, como aqui bem
colocou a vice-Procuradora Deborah Duprat, o Advogado-Geral
da Unio, Lus Incio Adams, nos oferece os instrumentos
para o Estado agir nesse campo, o campo da reduo das
desigualdades raciais e da consequente promoo da
igualdade em nosso Pas.
Eu quero colocar, tambm, um dado em relao
aos acordos firmados pelo Brasil no mbito internacional. O
Brasil participou com muito entusiasmo, em 2002, da
Conferncia Contra o Racismo, realizado em Durban, que tira
uma agenda onde os Estados se comprometem com polticas e
com a criao de instrumentos para a reduo das
desigualdade raciais e o combate ao racismo nos respectivos
pases. O Brasil foi signatrio, signatrio desse
documento, e o Brasil tem sido referncia no mundo nas
aes no mbito da promoo da igualdade racial. No
devemos nos contentar com isso, Senhor Ministro, at porque
a demanda histrica e social muito grande. Ento, vale o
ditado do poeta: se muito vale o j feito, mais vale o que
ser. E muito precisa ser feito no Brasil para que sejamos
efetivamente uma nao de iguais. O quadro de desigualdade
no Brasil, se formos ver ao longo da histria, estampa uma
tragdia, o negro ficou absolutamente desprovido dos
instrumentos de incluso de forma qualificada na sociedade
brasileira.
Fiz meno ao acesso terra. Poderia faz-
lo, tambm, em relao ao acesso ao trabalho e educao,
que no foram observados no perodo da abolio da
escravido, o que gera esse verdadeiro hiato, esse
verdadeiro abismo entre negros e no negros em nosso Pas,
em nossa pirmide social, e que tm consequencias trgicas
ao verificarmos os nmeros - eu queria, aqui, muito
rapidamente, dar cincia aos senhores - da mdia de anos de
estudo da populao negra.
Com quinze anos ou mais, menor 1.8 anos do
que a observada para os indivduos brancos na mesma faixa
etria.
A taxa de analfabetismo da populao negra,
com quinze anos ou mais, 2.2% maior que a do segmento
branco de nosso Pas.
No que se refere questo do trabalho e
renda, entre os 10% mais pobres, os negros so 73.7% contra
25.4% dos brancos. E entre os 10% mais ricos, os negros so
15% contra 82.7% da populao branca.
Ento, tudo isso j demonstra a necessidade
de uma interveno do Estado. O Estado no deve se manter
distante e neutro diante de um quadro de desigualdades que
este Pas expe.
Aristteles, na Grcia antiga, j falava do
tratamento desigual para os desiguais. Rui Barbosa
recupera, tambm, na Orao dos Moos, quando diz que a
igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais.
Ento, cumpre-nos, nessa fase da histria do
Brasil, darmos conta desse desafio, dessa necessidade de
fazer do Brasil uma efetiva democracia racial. "Cotas" no
uma panaceia, no a soluo definitiva para o problema
da reduo da desigualdade, para o problema da
democratizao do Pas do ponto de vista das relaes
raciais, mas "cotas" um instrumento que vai oferecer - e
oferece - uma perspectiva de futuro para uma parcela
expressiva de nosso povo, de jovens negros que sonham com a
universidade e em formarem-se nas mais diferentes reas
biomdicas, tecnolgicas e humanas, e cabe ao Estado
assegurar isso nossa populao.
Alguns colocam o seguinte argumento: investi
na formao de meu filho para que ele pudesse passar em uma
universidade pblica, seja ela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, seja ela Universidade de Braslia. Mas esse
investimento compartilhado, tambm, com toda a populao
de nosso Pas, na medida em que h uma renncia fiscal por
parte do Estado na deduo do imposto de renda daqueles que
colocam seus filhos na escola. E deduo de imposto de
renda significa menos recurso para que o Poder Pblico
possa atuar no oferecimento das polticas pblicas,
principalmente de educao, que visa a atender o conjunto
da populao brasileira.
Ento, a tambm h um processo de
discriminao, e no estou aqui a dizer que deva acabar,
que deva ser extinto, muito pelo contrrio, mas gostaria de
chamar a ateno para esse dado de discriminao que atende
queles que tm a possibilidade de ter os seus filhos em
escolas particulares.
Um outro dado que eu gostaria de colocar
referente possibilidade de trazermos conflitos raciais
sociedade brasileira. Ora, ns temos a Universidade de
Braslia e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro que,
desde 2002, j tm o instituto de cotas, e no temos
notcias de grandes conflitos ou de diviso e segregao no
ambiente universitrio entre os estudantes beneficiados por
cotas e os estudantes que entram por outros caminhos nessas
universidades.
Ento, eu acho que a Cincia Social deve se
apoiar em fatos, at para, a partir da anlise dos fatos,
definir perspectiva de futuro para aquele fato histrico. E
o que se observa em relao ao instituto de cotas que no
h assim indcios de grandes conflitos na sociedade
brasileira pela adoo. So perto de sessenta universidades
que adotam cotas, e ns no temos notcias de grandes
conflitos.
Um outro dado que gostaria de colocar, um
exemplo que gostaria de trazer o da Pontifcia
Universidade Catlica do Rio de Janeiro, que, h quinze
anos, tem recepcionado estudantes oriundos do pr-
vestibular para negros e carentes. E h um convvio muito
positivo entre os jovens beneficiados por esse instrumento
pela Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro -
que todos conhecem aqui o seu padro de excelncia - e
aqueles que tm historicamente ingressado nessa
Universidade. E o convvio tem sido absolutamente cordial e
democrtico.
Por isso, eu aqui encerro a minha
interveno, dizendo que aguardo com ansiedade a deciso do
Supremo Tribunal Federal ao mesmo tempo em que aplaudo a
iniciativa de Vossa Excelncia no sentido de convocar uma
audincia pblica, de convidar a sociedade para participar
desse momento, que eu diria, que daqui a alguns anos ns
iremos avali-lo do ponto de vista da importncia histrica
que esse momento tem para o nosso Pas.
Muito obrigado e um prazer estar
compartilhando esta manh aqui com as senhoras e senhores.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo a participao do
Excelentssimo Senhor Ministro Edson Santos de Souza.
Anuncio tambm que o Ministro Joaquim
Barbosa se retirar por alguns instantes, dever retornar.
Em seguida, ouviremos o pronunciamento do
Senhor Erasto Fortes de Mendona, Doutor em Educao pela
UNICAMP e Coordenador-Geral de Educao em Direitos Humanos
da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que falar
tambm por at quinze minutos.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR ERASTO FORTES DE MENDONA (DOUTOR
EM EDUCAO E COORDENADOR-GERAL DE EDUCAO EM DIREITOS
HUMANOS DA SEDH) - Senhor Ministro Ricardo Lewandowski e
demais autoridades aqui presentes; senhoras e senhores.
Quero, em primeiro lugar, fazer uma saudao
pela convocao desta audincia pblica e manifestar o
agradecimento da Secretaria Especial dos Direitos Humanos
da Presidncia da Repblica, que se sente honrada por ter
sido chamada para prestar a sua colaborao, a sua
contribuio para o aprofundamento da questo das polticas
pblicas de ao afirmativa, em particular em relao s
polticas de reserva de vagas no ensino superior.
A Secretaria Especial dos Direitos Humanos
da Presidncia da Repblica tem um mandato de articulao
interministerial e intersetorial das Polticas de Promoo
e Proteo dos Direitos Humanos no Brasil. E ela procura
cumprir esse mandato pautada por orientaes internacionais
e pela legislao e normas nacionais.
H um grande complexo de declaraes,
acordos e tratados, convenes internacionais, bem como
imperativos constitucionais e infraconstitucionais de nosso
Pas que demarcam a compreenso sobre a dignidade do gnero
humano ao longo do tempo, numa espcie de viagem
civilizatria sem volta, para usar uma expresso do ilustre
Ministro Carlos Ayres Britto.
Dentre os inmeros instrumentos
internacionais que afirmam os direitos humanos, cabe citar
diversas declaraes de direitos das revolues liberais,
como a Declarao de Direitos de Virgnia, de 1776; a
Declarao dos Direitos do Homem e do Cidado, produto da
Revoluo Francesa em 1789, quando ainda existia o
apartamento das mulheres da amplitude dos direitos civis e
polticos. E chamar a ateno para o trduo de valores: da
liberdade, da igualdade e da fraternidade que essa
Revoluo traz nossa compreenso. E, finalmente, talvez a
mais importante contemporaneamente, a Declarao Universal
dos Direitos Humanos de 1948. Recuperando os valores
revolucionrios de igualdade, liberdade e fraternidade no
seu primeiro artigo, que afirma:
"Artigo 1:
Todos os seres humanos nascem livres
e iguais em dignidade e em direitos. Dotados
de razo e de conscincia, devem agir uns
para com os outros em esprito de
fraternidade."
O prembulo da Declarao Universal dos
Direitos Humanos j nos chama a ateno para a necessidade
de que os indivduos e as entidades se esforcem para um
processo de educao para os direitos humanos. Anunciando e
colaborando para forjar a inquietao de Hannah Arendt de
que os homens no nascem livres e iguais, mas conquistam
esses direitos em processo de construo e reconstruo, de
organizao e de luta poltica, ou, como nos lembra Bbbio,
de que os direitos humanos no nascem todos de uma vez e
nem de uma vez por todas.
O desdobramento da compreenso dos Direitos
Humanos em tratados, acordos, pactos internacionais,
protocolos facultativos, abrangendo direitos focais, como
de mulheres, de crianas, de pessoas com deficincias, de
pobres originais, contra a tortura e tratamentos cruis e
degradantes, ou a eliminao de todas as formas de
discriminao racial contra o racismo, a discriminao
racial, a xenofobia e intolerncias correlatas, dentre
outros instrumentos, so aqueles que nos orientam.
No Brasil, j referido aqui pelos que nos
antecederam, a Carta Magna de 1988, marcada pela volta do
Pas normalidade democrtica e ao Estado democrtico de
Direito, no poderia deixar de incorporar esses ideais. Seu
prembulo, tambm aqui j lembrado, embora no tendo fora
de norma, elucida o esprito dos Constituintes, ao
asseverar que a Assembleia Nacional Constituinte reuniu-se
para instituir um democrtico Estado de Direito, destinado
a assegurar o exerccio dos direitos sociais, individuais,
a igualdade, a justia como valores supremo de uma
sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos.
Considerar o ser humano na sua vocao
ontolgica nos conduz ideia de que a dignidade humana
inata, no cabendo ao Direito outro papel seno o de
declar-la. Apesar disso, ao lado desse arcabouo
legislativo que contempla a dignidade da pessoa humana,
foroso reconhecer que a legislao brasileira j tambm
imps impedimento de acesso a direitos fundamentais e de
direitos de cidadania. dispensvel, aqui, resgatar as
razes histricas, como a escravido e o massacre indgena
e de outros segmentos da sociedade brasileira que
contriburam para a situao de desigualdade ou de excluso
de negros e de ndios, gerando uma dvida do Poder Pblico
para com esses setores e edificando um trajetria
inconclusa das cidadanias dos negros no Brasil; pas que
mais importou negros escravizados e o ltimo do planeta a
abolir legalmente a escravido.
At o sculo XIX, negros, mesmo libertos,
deveriam solicitar a chamada dispensa dos defeitos de cor,
espcie de atestado por meio do qual se abdicava da
negritude para ocupar cargos pblicos, militares, civis e
eclesisticos. Como ocorrido com o primeiro governador
negro, Eduardo Ribeiro, instado a declarar que, apesar de
ter a cor errada, era civilizado, assimilado aos bons
costumes da sociedade dos homens livres, pedindo dispensa
da observao de seus defeitos de origem.
No campo educacional, a histria da educao
brasileira tem a vigncia de instrumentos legais que
impediam o acesso de negro aos bancos escolares, como por
exemplo o Decreto n 1.331, de 1854, conhecido como a
Reforma Couto Ferraz, que instituiu a reforma do ensino
primrio e secundrio no Brasil e institua a
obrigatoriedade da escola pblica para crianas maiores de
sete anos. Porm, no seu artigo 69, consignava:
"Art. 69. No ser admitidos
matricula, nem podero frequentar as
escolas:
1 Os meninos que padecerem
molestias contagiosas.
2 Os que no tiverem sido
vaccinados.
3 Os escravos."
A abolio da escravido no foi capaz de
dar aos negros o reconhecimento da sua dignidade como
pessoa humana. Ao contrrio, simultaneamente foi se
instilando no imaginrio coletivo a licena para
preconceituar e discriminar negros. Como revela um pequeno
exemplo, que pode ser tomado como cone dessa licena, na
marchinha carnavalesca revestida de ideolgica inocncia:
"O teu cabelo no nega mulata, porque s mulata na cor, mas
como a cor no pega, mulata, mulata eu quero o teu amor."
ao enfrentamento dessas questes que
chamado o Estado brasileiro e so diversos os instrumentos
internacionais que pactuam a ao do Estado para o
enfrentamento da discriminao racial, dentre os quais a j
citada conveno sobre eliminao de todas as formas de
discriminao racial da ONU e a primeira Conferncia
Mundial contra o Racismo, a Discriminao Racial, a
Xenofobia e Intolerncias Correlatas, em Turbo, em 2001.
Essa especificamente insta os Estados a estabelecerem
programas e aes afirmativas ou medidas de ao positiva,
incluindo o campo da educao.
O Brasil adotou medidas protetivas e aes
corretivas voltadas para grupos tradicionalmente excludos.
E a prpria Constituio brasileira de 1988 sinalizou seu
acolhimento dessas medidas. A Constituio estabelece que
os objetivos fundamentais da Repblica so definidos em
termos de aes transformadoras do quadro social e
poltico, como: construir uma sociedade livre, justa e
solidria; erradicar a pobreza; promover o bem de todos,
sem preconceito de origem, raa, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminao.
Como ressalta a ilustre Ministra Crmen
Lcia Antunes Rocha, em atento artigo sobre a ao
afirmativa: O contedo democrtico do princpio da
igualdade jurdica, os verbos utilizados pelos
constituintes, ao definir os objetivos fundamentais da
Repblica, reclamam do Estado um comportamento ativo,
obrigaes transformadoras do quadro social e poltico,
retratado quando da elaborao do texto constitucional.
Portanto, aqui no se trata apenas de
impedir o preconceito e a discriminao, mas de agir para
mudar com adoo de polticas afirmativas. Universaliza-se
a igualdade como a conduta ativa, positiva e afirmativa,
obtendo a transformao social, que o objetivo
fundamental da Repblica.
A educao vista, assinalada,
consignada como um direito humano em seu artigo 26 da
Declarao Universal dos Direitos Humanos. E a excluso
sistemtica a que foi submetida parcela da populao
brasileira caracteriza, portanto, como uma violao dos
Direitos Humanos educao. A Secretaria Especial dos
Direitos Humanos nesse sentido compreende a justeza da
adoo de aes afirmativas, de instituio de cotas racias
para o ingresso no ensino superior brasileiro, uma vez que
compreende tambm que as polticas universais de acesso no
lograram xito no sentido de incluir essa parcela da
populao, como de resto creio que ficar demonstrado em
outras explanaes sobre indicadoras sociais, educacionais
brasileiros.
A Secretaria Especial dos Direitos Humanos
compreende tambm a especificidade da discriminao racial,
cuja correo no capaz de ser alcanada por medidas de
proteo dirigidas a segmentos vulnerveis economicamente,
ainda que se evidencie a presena marcante de negros nesse
segmento. No parece ter o mesmo significado no Brasil ser
branco pobre e negro pobre, uma vez que este discriminado
duplamente pela sua condio socioeconmica e pela sua
condio racial. O racismo no pergunta s suas vtimas a
quantidade de sua renda mensal.
A Secretaria Especial dos Direitos Humanos
compreende ainda que o princpio da igualdade de
oportunidades requer atuao do Estado para corrigir
desigualdades artificialmente criadas pela sociedade. A
funo dessa atuao corretiva a promoo de
oportunidades iguais para vtimas de discriminao, de
maneira que os beneficirios possam competir efetivamente
por servios educacionais. A incluso por regime de
cotas em uma universidade, instituio baseada no sistema
de mrito, nos conduz compreenso de que o pertencimento
ao grupo discriminado no condio suficiente para ser
beneficiado, pois o critrio de mrito tambm deve ser
satisfeito.
As aes afirmativas no querem, por outro
lado, ser uma discriminao em desfavor das maiorias. Por
isso, h necessidade de fixao de percentuais mnimos que
garantam a presena de minorias que se quer igualar, bem
como a natureza temporria dessas aes. As polticas de
ao afirmativa de ingresso por cotas de ensino superior
no so excludentes com relao a polticas universalistas
de ampliao da qualidade da educao bsica. Ao contrrio,
elas devem fazer-se como uma combinao, como tem sido o
empenho do governo brasileiro ao compreender a educao
como um processo sistmico em que os diversos nveis
educacionais se complementam solidariamente.
Dentre as iniciativas normativas do governo
brasileiro no campo das aes afirmativas, o documento que
est anexo e fornecido pela Corte, nos ampara em alguns
deles, mas quero aqui lembrar tambm os Programas Nacionais
de Direitos Humanos em suas trs verses, 1996, 2002 e a
ltima, dezembro de 2009, que asseguram a necessidade da
ampliao das polticas de ao afirmativa.
Finalmente, Senhor Presidente, penso que ns
todos somos convidados a enxergar o sistema de cotas no
como um favor concedido pela universidade, mas como um
benefcio que populao excluda at este presente
momento presta a universidade.
Ao tornar-se sua usuria, a populao negra
colabora decisivamente para a democratizao do espao
acadmico. Ressalte-se que a sociedade tem sabido usar com
responsabilidade e maturidade institucional a autonomia
universitria desde 2001, para experimentar diferentes
modalidades de ingresso no ensino superior por meio de
polticas de cotas.
Por fim, quero aqui resgatar os valores
fundamentais que inspiraram a Revoluo Francesa, de
liberdade, igualdade e fraternidade. O valor fundamental da
fraternidade, esvaziado de seu contedo civil e poltico,
ressignificado como valor superficial, puramente
sentimental, vago e inoperante, parece ter colaborado para
nos dificultar a compreenso de que todos somos iguais nas
diferenas que carregamos. Recuperar o sentido civil e
poltico da fraternidade, como fundamento dos direitos
humanos, pode, creio, colaborar decisivamente para a
mudana de mentalidade que permita a construo de uma
cultura de direitos humanos na sociedade, uma cultura que
nos permita olhar o outro na mesma altura do olhar de seus
olhos, independente de sua pertena racial, e apontar para
uma sociedade verdadeiramente igualitria em nome da
dignidade eminente da cada ser humano indistintamente.
Quero, por fim, transmitir o aplauso da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos e o meu aplauso
pessoal pela iniciativa do Senhor Presidente na convocao
desta audincia.
Muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo ao Doutor Erasto Fortes
de Mendona pela sua interveno.
Convido agora a eminente Professora Maria
Paula Dallari Bucci, Doutora em Polticas Pblicas,
Professora da Fundao Getlio Vargas e Secretria Adjunta
do Ensino Superior do Ministrio da Educao.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
A SENHORA MARIA PAULA DALLARI BUCCI
(SECRETRIA DE ENSINO SUPERIOR DO MINISTRIO DA EDUCAO) -
Muito bom-dia. Quero comear cumprimentando o Ministro e
Professor - foi meu professor - Enrique Ricardo Lewandowski
e, na sua pessoa, toda a Corte, e cumprimentar pela
iniciativa de promover esta importante Audincia Pblica.
Cumprimento tambm a digna representante do
Ministrio Pblico e cumprimento as autoridades e demais
pessoas presentes acompanhando esta Audincia Pblica.
Quero iniciar dizendo que subscrevo as falas
que me antecederam, no sentido do embasamento filosfico
das aes afirmativas e, dentre elas, aquelas com recorte
racial, no sentido de reconhecer que a Constituio de 88
consubstancia uma ruptura na ordem jurdica antiga, e,
portanto, a base para a construo de uma nova ordem e, com
isso, me focar de imediato naquilo que uma contribuio
que o Ministrio da Educao pode trazer, pode agregar,
pode contribuir para a formao do juzo desta Corte na
deciso desse caso.
Em primeiro lugar, quero dizer que essa
apresentao foi construda em conjunto com a colaborao
da Secretaria de Alfabetizao, Educao Continuada e
Diversidades, do Ministrio da Educao, representada pelo
Secretrio Andr Lzaro aqui presente.
Essa apresentao focada em trs tpicos e
trs teses. O primeiro deles vou ilustrar com uma figura
que acho que ficar na cabea de todos. Ele procura opor o
valor jurdico da igualdade desigualdade de fato. Aqui,
mais do que repetir aquilo que j foi dito, quero focar no
seguinte ponto: existe uma distncia histrica no campo da
educao, e essa distncia se reproduz ao longo dos anos
quando comparamos os dados educacionais de negros e
brancos.
Portanto, isso esvazia um pouco a tese de
que, para a incluso dos negros, o ideal seria melhorar o
ensino como um todo. O que temos visto que,
historicamente, a melhora do ensino como um todo no
suficiente para quebrar uma desigualdade histrica e
persistente.
Aqui, neste primeiro grfico - no sei se o
Ministro tem acesso a ele - aparece a evoluo da
escolaridade mdia no Brasil. Para aqueles que no esto
familiarizados, muita coisa. Isso significa a evoluo,
em nmero de anos, da escolaridade dos brasileiros. H uma
evoluo em dois sentidos: h mais brasileiros frequentando
a escola de maneira geral e os brasileiros tm mais anos de
escolaridade. Isso indica uma melhora geral no panorama
educacional brasileiro.
No entanto - e passarei rapidamente por isso
para me focar nas duas curvas -, essa curva vermelha a
que mostra a escolaridade dos negros; a azul, a
escolaridade dos brancos. O que impressionante nesse
desenho que h uma distncia que permanece intocada nos
ltimos 20 anos - que o que mostra esse grfico -, a
despeito da melhora educacional mostrada no primeiro
grfico. Quer dizer, houve uma melhora educacional, mas ela
no fez nenhum movimento na escolaridade dos negros, que
deveria ter essa curva - deveria haver a expectativa de que
ela subisse. O que vemos que a distncia at mesmo
aumentou.
Essa diferena, se compararmos outros
segmentos: aqui a escolaridade geral aos 25 anos. Se eu
analisar o ensino mdio dos jovens entre 15 e 17 anos, o
fenmeno se repete e at mais agudo, porque houve uma
melhora substancial da escolaridade no tocante ao ensino
mdio, existe uma expanso - mais alunos na escola e mais
permanncia -, mas a diferena da curva continua
praticamente igual. Os jovens de 15 a 17 anos tambm tm
uma diferena substancial e persistente quando comparados
negros e brancos.
Vamos adiante.
A mesma coisa ocorre se ns compararmos - e
aqui passo mais depressa - especificamente o que estamos
focando: a diferena de acesso ao ensino superior. A curva
de cima, a azul, a dos brancos; a curva de baixo, a dos
negros. Quer dizer, toda melhora que se produza, se
levarmos apenas a evoluo natural dos fatos, reproduz essa
tendncia.
Isso significa que no basta a passagem do
tempo. Est demonstrado que nos ltimos dez anos, nos
ltimos vinte anos - enfim, no perodo que se comparar, em
que haja indicadores confiveis -, a simples passagem do
tempo no muda o estado de coisas. Essa desigualdade no
campo educacional permanente e tende a se perpetuar.
Portanto, se as polticas pblicas, se os governos
pretendem atacar esse problema, preciso assumir a
necessidade de se fazer uma reflexo.
Quero, ento, aqui acentuar a questo da
legitimao das aes afirmativas, em especial aquelas que
tm corte racial, menos pelo passado e mais pelo futuro. Se
h a inteno de se produzir um quadro de incluso de uma
sociedade participativa, preciso fazer uma reflexo:
assumir que a mera passagem do tempo no vai modificar o
estado de coisas. preciso assumir ativamente essa
modificao. Mais do que isso, por dois movimentos: pela
incluso, porque o acesso educao superior pode ser
enfocado como um direito dos negros, que so contemplados
com uma forma especial de acesso, mas tambm mais ao futuro
ainda, porque o acesso desses negros representa a incluso
na sociedade brasileira - aqui no estamos mais focando a
universidade - de pessoas diplomadas. E sabemos - e pelas
pesquisas possvel trabalhar esse dado - o que representa
ter pessoas diplomadas, graduadas em seus interesses,
conhecedoras da histria daquele grupo social. disto que
estamos falando: a legitimao dessa poltica pelo futuro.
Passo, ento, ao segundo ponto da minha
exposio: a questo da autonomia universitria.
A autonomia universitria igualmente um
princpio, um valor constitucional. Quero, aqui, trabalhar
duas ideias.
A primeira que a autonomia universitria
um princpio constitucional e tem sido usada aqui
materialmente, no apenas com um sentido formal, um sentido
de blindagem a controle, que alguma coisa, ns sabemos,
que muitas vezes merece um certo estranhamento, mas a
autonomia universitria no seu sentido mais prprio e mais
profundo. Isso a Universidade como locus de discusso e
de elaborao das polticas e das estratgias capazes de
produzir a insero que se quer produzir, exatamente para
quebrar aquela curva, aquele paralelismo perverso que
afasta constantemente a populao branca da populao
negra.
Quero frisar aqui que as universidades tm
sido capazes, acho que tm sido protagonistas da evoluo
dessa questo. E, primeiro, preciso focar que as decises
que a universidade produz so feitas com base em
deliberaes de rgos colegiados que esgotam a questo.
Enfim, h muitas tenses no seio da universidade e, ainda
assim, nos ltimos menos que dez anos - isso um fato
importante a marcar, porque a histria das cotas no Brasil
data de 2001; ento, em menos dez anos, se produziu um
vasto leque de aes afirmativas, nem todas com carter
racial, mas frequentemente combinando o carter racial, o
de renda, o de escolaridade, e essa figura se dissemina
progressivamente no Pas, se alastra, e vem ganhando
legitimidade. Eu concordo com o Ministro Edson Santos, que
no h esse conflito, ele est absorvido, e no nada que
o corpo universitrio no saiba processar.
Aqui, mais um aspecto a destacar que as
aes afirmativas com mais frequncia combinam quatro
ingredientes. O ingrediente social tem-se disseminado nas
polticas mais recentes com muita intensidade, seja
expresso no trao renda, seja expresso na escolaridade,
isto , alunos egressos da escola pblica. E a h uma
grande variedade, considerando-se o ensino mdio,
considerando-se os ltimos oito anos da escolaridade, e uma
combinao desses fatores, tambm o elemento raa e muitas
vezes o elemento territorial. O elemento da origem, em
algumas circunstncias, a justificativa da concesso de
bnus a determinados alunos, como uma maneira que se
entende legtima para fazer a inflexo naquela curva
inicial, que eu repito, muito importante que permanea
nas nossas memrias. Existe uma evoluo educacional que
ns precisamos aproximar, precisamos aproximar as duas
curvas e buscar a convergncia.
Um exemplo de afirmao dessa diversidade:
tivemos recentemente, no processo de seleo unificada, que
indicou que, de cinquenta e uma instituies participantes,
havia uma combinao de sessenta e quatro componentes
diferentes de opo de aes afirmativas.
Esse quadro que consta a meramente
exemplificativo, h outros; mas h diversos padres que vm
de uma discusso que cada universidade faz ao longo do
tempo combinando as suas caractersticas pessoais e gerando
respostas para responder a esses problemas. E essas
respostas comportam muitas vezes uma variao no tempo, uma
evoluo de acordo com o acompanhamento ps-acesso. Esse
um ponto a frisar, que importa que a universidade tenha a
condio de cuidado depois do acesso, porque o problema
dela no s receber estudantes que no chegariam num
caminho normal; o problema dela lograr que esses
estudantes obtenham a sua diplomao para que, no espao de
uma gerao - e a educao precisa pensar nessa questo -
de estudantes eu tenha pessoas diplomadas que vo, ento,
influir sobre a sociedade e produzir a igualdade que ns
tanto esperamos.
Vou passar rapidamente agora para esse ponto
para chegar ao terceiro aspecto, que o que quero frisar.
Ento, o ltimo ponto : As aes
afirmativas tm sido eficientes no seu propsito? E o MEC
fez essa pergunta, tem alguns elementos, no h uma
sistematizao perfeita desses dados; h uma certa
dificuldade de colet-los, mas ns podemos, a partir de
alguns indicadores, afirmar que a medida do desempenho
acadmico tem revelado que essa igualdade e oportunidade
tem correspondido ao princpio constitucional da igualdade.
Ento, essa desigualao tem gerado a resposta que se
espera, e ela ento promete para o futuro realizar a
igualao material que justifica a desigualao formal
nesse momento.
Alguns indicadores so importantes para
isso. Ns colhemos recentemente, no final do ano passado,
uma pesquisa com as universidades federais e estaduais e
institutos; houve cinquenta e nove respostas a respeito,
exatamente, dos mecanismos de acompanhamento das aes
afirmativas e algumas respostas importantes. No vou me
deter sobre todas elas, porque quero chegar num ltimo
ponto, mas elas mostram que h uma diferena substancial.
Vejam, por exemplo, esse primeiro que est na tela. Alunos
de cotas tm desempenhos abaixo daqueles oriundos de
escolas privadas no primeiro ano desses cursos. H uma
diferena ntida de ingresso. Ento, o cotista ingressa com
uma diferena ntida de empenho. por isso at que a cota
se justifica. Essa diferena cai, at que no fim do curso
os alunos tm desempenho praticamente uniforme.
Eu vou focar na finalizao da minha fala um
estudo feito em relao ao ProUni, o maior programa de ao
afirmativa no Brasil. Embora seja um programa destinado a
bolsas em instituies privadas, ele se vale de renncia
fiscal, portanto um programa que se vale de recursos
pblicos. Foi um estudo feito a partir do Enad/2006. Para
aqueles que no conhecem, o Enad um exame aplicado aos
ingressantes e aos concluintes de cada curso. Ento, uma
base de dados muito propcia para se fazer uma comparao
entre quem entra e quem sai. Esse estudo - eu no o
entreguei, mas vou entreg-lo ao Ministro depois - mostra
que foi feita uma comparao com dez cursos, e nesses dez
cursos os ingressantes, nos dez cursos, tinham nota
inferior aos concluintes. Feito um estudo trs anos depois,
porque o Enad de cada disciplina se repete a cada trs anos
- ps-concluintes bolsistas. Vou ser um pouco mais clara:
nos ingressantes, fez-se uma comparao entre os bolsistas
do ProUni, portanto cotistas, se quisermos usar essa
figura, e os no bolsistas. O desempenho dos prounistas,
portanto dos cotistas, nos dez cursos no ingresso, foi pior
do que os demais. O bolsista entra com uma defasagem
educacional. Na sada, na concluso do exame feito trs
anos depois, o que se demonstra que em oito cursos, oito
daqueles dez cursos, os alunos percorrem a diferena e
conseguem se equivaler em termos de desempenho acadmico.
Isto , a concesso da oportunidade d aos estudantes as
condies de superar as defasagens de incio, e faz com que
a reta de chegada seja uma reta igualitria.
Portanto, esse mecanismo do ProUni, que no
distinto, em rigor, dos mecanismos de cotas, demonstra -
e eu tenho aqui vrios depoimentos nesse sentido. Quero me
lembrar da Federal da Bahia, quero me lembrar de outras que
esto demonstradas aqui que demonstram a mudana de padro
acadmico. O aluno cotista, bolsista, um aluno que
frequenta muito a biblioteca, aproveita todas as
oportunidades que a universidade concede.
Por isso, concluo, ento, dizendo que, at
pela sua realizao, no resta dvida de que essa inflexo
jurdica contribuir para uma sociedade mais igualitria.
por essa razo que ela perfeitamente
constitucional, Senhor Ministro, na avaliao do Ministrio
da Educao.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeo a eminente Professora
Maria Paula Dallari Bucci, que traz no s consideraes de
natureza terica, mas tambm estatsticas e dados da
realidade ftica para contribuir com o debate neste Supremo
Tribunal Federal.
Convido agora o Doutor Carlos Frederico de
Souza Mares, Procurador-Geral do Paran, Professor-titular
da Pontifcia Universidade Catlica do mesmo Estado para
prestar seu depoimento pelo prazo de at quinze minutos
tambm.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR CARLOS FREDERICO DE SOUZA MARES -
Senhores Ministros presentes, Senhora Procuradora da
Repblica, senhoras e senhores, eu agradeo, enormemente,
Fundao Nacional do ndio, que me convidou para
represent-la aqui e, representando a Fundao Nacional do
ndio, falar em nome dos ndios brasileiros. Agradeo,
muito especialmente, porque tenho a elevada honra de ter
sido, em uma poca j que se vai distante, seu presidente.
Senhoras e senhores, quando das guerras de
libertao e independncia da Amrica, o General Santander,
que acabava de vencer uma durssima guerra contra a Espanha
no norte da Amrica do Sul, reuniu seu povo e disse com
muita propriedade: as armas devolveram sua liberdade, a lei
lhes dar a igualdade.
No tenho muita certeza se o General
Santander, sua histria e o que ele fez depois, tinha
exata clareza do que ele estava dizendo. Porque ele dizia
que a igualdade no nasce da natureza, no vem diretamente
da sociedade natural. Ao contrrio, a igualdade conquista
da assim chamada sociedade civil; portanto, necessrio
ter lei para que se tenha igualdade. No basta ter
natureza. A lei d a igualdade, no a natureza.
O permanente conflito, desde o descobrimento
at hoje, entre Oriente e Ocidente, maldito Oriente, porque
embora o nome de ndio remeta s ndias, no so os povos
indgenas nem os afrodescedentes orientais, so s no
ocidentais. Esto fora; fora inclusive das guerras de
libertao da Amrica que construram os estados nacionais.
Mas este permanente conflito entre o Ocidente imposto e
criado gerou, desde o incio, por Espanha com leis de
ndias e Portugal com suas leis nacionais, suas leis
portuguesas, polticas pblicas, e polticas pblicas assim
chamadas de integrao. Assim foi colocado, desde o incio
aqui nesta colnia e nas colnias espanholas: polticas de
integrao.
A proposta era integrar. S que essas
polticas de integrao eram polticas tambm de imposio.
Duras polticas de imposio que se impunha a integrao,
quer dizer, a chamada para dentro do Ocidente, tambm um
castigo, uma punio de no se manter fora do Ocidente.
Precisou duzentos anos para os nossos Estados nacionais
reconhecerem que essas polticas de integrao, essas
polticas que chamavam para dentro do Ocidente tivessem que
perder o carter punitivo da perda da nacionalidade, da
etnia, da raa, da lngua, da cultura.
No Brasil, em 1988, a marca dessa diferena.
Em outros pases, como no pas de Santander, do General
Santander, em 1992.
Para se cumprir o que queriam as sete etnias
do Equador, cuja Constituio s veio muito depois -
rigorosamente s agora com a ltima Constituio que ns
temos essa integrao no punitiva -, as sete etnias do
Equador sempre proclamaram, e proclamavam em suas
bandeiras, em seus discursos, em suas reivindicaes: posso
ser como tu s sem deixar de ser o que sou.
Essa era a reivindicao clara, profunda,
dos ndios latino-americanos, mas no estavam ss e no
esto ss. muito fcil ver isso para os ndios, e por
isso - felizmente para mim como terico - tenho exemplo
indgena, e o exemplo indgena muito fcil, porque o
exemplo claro de que nunca foram e nunca quiseram
diretamente ser integrados ao Ocidente, sem deixar opo,
sem deixar de ser xavante, guarani, caiagangue, ianommis;
fcil. J quando se toma outros povos, que no querem ser
totalmente ocidentalizados, que querem manter sua cultura,
que querem manter a sua clara opo pela no modernidade
clssica do capitalismo, mais difcil. claro que mais
difcil. Mas me toca aqui falar muito mais do exemplo
indgena.
evidente que a integrao, aquela poltica
integracionista da Colnia e de nossas Repblicas
fracassou. E fracassou redondamente, exatamente porque eram
polticas pblicas que carregavam uma punio.
Em 1988 se rompe com isso - como eu disse -
em praticamente todos os pases da Amrica, alguns muito
recentes, como o caso do Equador, e o caso mais bvio
da Bolvia e mais profundo; essa ruptura se faz no sentido
de ter-se clareza de que, para se ter igualdade
necessrio ter polticas pblicas. Quer dizer, para se ter
igualdade, necessrio ter leis que faam dos desiguais
iguais. Essa a questo central mais profunda. E no
possvel que o Supremo Tribunal Federal, o guardio das
liberdades e desigualdades enquanto Direitos Fundamentais
inscritos na Constituio, seja quem diga que
inconstitucional fazer polticas pblicas para a igualdade,
porque as polticas pblicas para a igualdade so as nicas
que conseguem faz-lo, caso contrrio, se no houver essas
polticas pblicas, se manter a desigualdade.
Na verdade, no h notcias de que haja
polticas pblicas especficas para a reserva de vagas ou
cotas nas universidades diretamente para povos indgenas ou
para ndios individualmente. Poder-se-ia perguntar: isto
uma reivindicao indgena? Claro que uma reivindicao
indgena. presente? No, no to presente. E no to
presente, por qu? Exatamente porque os povos indgenas tm
conseguido, a partir dos direitos que a Constituio
colocou, relaes que tm permitido prpria FUNAI e a
algumas universidades e cursos tcnicos a possibilidade de
ter ingressos indgenas nesses cursos.
Se no h formalizadas cotas para ndios
porque h mais facilidade para os ndios nessa transao
nas universidades. E aqui repito, Senhor Ministro, mais
fcil a situao indgena, porque mais clara e evidente a
diferena. Exatamente por isso, embora possa vir a ser uma
reivindicao indgena a existncia de cotas especficas
para essas populaes; exatamente por isso. absolutamente
fundamental que se tenha cotas para negros que no tenham a
mesma situao, as mesmas garantias constitucionais, as
mesmas leis que garantem os direitos indgenas. Enquanto no
Brasil clara e explicitamente se diz que os povos indgenas
podem ser o que somos, continuando a ser o que so, no os
h para os outros povos. No os h para negros, para
ciganos, ribeirinhos, para outras populaes assim chamadas
tradicionais, at porque o prprio conceito de populaes
tradicionais no indgenas um conceito difcil de ser
construdo. Difcil na lei e difcil nos caminhos e nos
entrecaminhos da nossa Constituio. a nossa tarefa faz-
lo, e esta a colocao, a apresentao pelas
universidades de cotas para negros um bom comeo.
Senhor Ministro, na Universidade Federal do
Paran, onde leciono, o curso de mestrado e doutorado tem
como base fundamental o Direito socioambiental, a defesa da
questo socioambiental. E, portanto, na questo
socioambiental ns entendemos que exatamente o melhor
exemplo do socioambientalismo so as populaes indgenas
da Amrica, e desenvolvemos disciplinas especficas de
direitos indgenas nas Amricas.
Pois bem, j tivemos, Senhor Ministro, dois
indgenas que j concluram mestrado, e concluram mestrado
com extraordinrio brilho, no s para eles. Quero dizer
que os dois Mestres, um Pankararu e um Guarani, esto hoje
trabalhando para as comunidades indgenas como advogados.
Portanto, voltaram para atender s comunidades nas questes
jurdicas pertinentes a elas.
Mas quero dizer, como professor daquela
Universidade, que a grande vantagem tirada da participao
desses dois indgenas naquele curso no foi dos dois
indgenas, obviamente no foi dos dois indgenas, eles
ganharam muito, ganharam um ttulo de mestre, mas quem
ganhou efetivamente foi a pesquisa da Universidade, quem
ganhou efetivamente foram os alunos que cursaram com eles
as nossas disciplinas. E digo mais profundamente: quem
ganhou com a participao desses dois indgenas no nosso
curso de mestrado fomos ns, os professores, porque a se
possibilitou claramente um intercmbio de conhecimentos.
Eu imagino que se eu falo dessa cincia meio
aplicada, que o Direito, quanto no se dir dos outros
conhecimentos, quanto no se dir da Biologia, da Zoologia
e das outras tcnicas relativas diretamente natureza pelo
conhecimento e a forma de conhecimento que tm essas
populaes tradicionais na sua relao direta com a
natureza. Portanto, Senhor Ministro, seria no s ilegal,
inconstitucional e ruim reduzir essas cotas, mas seria,
sobretudo, atcnico e profundamente contra o prprio
desenvolvimento da nossa cincia e do nosso conhecimento.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado Professor Carlos
Frederico de Souza Mares pela sua interveno.
Convido agora, sem mais delongas, o Senhor
Mrio Lisboa Theodoro, Diretor de Cooperao e
Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa Econmica
Aplicada. Falar, tambm, por at quinze minutos.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR MRIO LISBOA THEODORO (DIRETOR DE
COOPERAO E DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO DE PESQUISA
ECONMICA APLICADA) - Bom-dia, Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, Doutora Deborah Duprat e colegas de mesa.
uma honra muito grande estarmos aqui em nome do IPEA para
essa audincia sobre desigualdade racial e polticas
pblicas no Brasil.
Eu gostaria de comear - no tenho muito
tempo - falando dos estudos que o IPEA tem feito sobre essa
ideia de desigualdade racial. Na verdade, h dez anos, a
partir de Durban, o IPEA foi convidado a fazer estudos
sobre a questo racial no Brasil, e o que ns percebemos
foi que, incrivelmente, um assunto to importante, se tinha
muitos poucos estudos sobre a questo.
Ento, nos deparamos inicialmente com dados,
nmeros, sobre a desigualdade racial no Brasil, que so
nmeros contundentes. Por exemplo: um trabalhador negro
ganha em mdia metade do que um trabalhador branco ganha; o
percentual de negros abaixo da linha de indigncia duas
vezes e meia maior do que o percentual de brancos; a
populao negra pobre quase setenta por cento dos pobres;
a populao negra indigente setenta e um por cento do
total de indigentes neste Pas. Essa desigualdade tambm
pode ser mostrada por outros nmeros, os nmeros sobre a
questo do estudo. J foi falado aqui pela secretria Maria
Paula sobre a diferena entre populao negra e branca, mas
eu gostaria de ressaltar principalmente o ltimo dado que
ns temos sobre crianas fora da escola de sete a quatorze
anos. De um total de quinhentas e setenta e uma mil
crianas, sessenta e dois por cento so crianas negras.
Isso tudo nos mostra dados iniciais, mas nos ressalta
principalmente que h uma renitente estabilidade entre essa
desigualdade, no um retrato apenas no dia de hoje, mas
alguma coisa histrica e que se reproduz daqui para frente.
As desigualdades raciais no Brasil no so
apenas expressivas e disseminadas, como tambm so
persistentes ao longo do tempo, e essa a nossa tragdia,
Ministro. As desigualdades raciais continuam se
reproduzindo a cada gerao, mantendo uma significativa e
perversa estabilidade e dando ao Brasil, a despeito de sua
pujana econmica, o ttulo de Pas mais desigual das
Amricas, infelizmente. Essa desigualdade continua mesmo
com o crescimento econmico; mesmo com performances
econmicas bastante significativas. Esse o grande desafio
que me parece ser colocado.
Aqui nesse quadro, ns vemos, como foi no
caso da educao, a trajetria da desigualdade e da
pobreza. Ento, ns vemos, na linha azul acima, os pobres
negros. O que ns vemos que continua a existir uma
diferena significativa entre negros pobres e brancos.
Eu gostaria de mostrar tambm que disso tudo
- eu no vou me alongar nesses dados, pois j foram falados
aqui - duas coisas me parecem importantes: primeiro,
qualquer que seja a varivel que peguemos, sempre a
situao do negro de inferioridade em relao ao branco,
qualquer que seja a varivel, e uma inferioridade
significativa.
Ento, os estudos do IPEA apontam para
algumas concluses. E a chamo a ateno, porque o IPEA
uma instituio que tem atualmente mais de trezentos
pesquisadores, em vrias reas, e uma instituio muito
plural, que tem opinies diversas - o que d riqueza
nossa instituio -, sobre vrios assuntos. Mas,
impressionante como no caso da questo racial, ns no
temos, dentro da instituio, palavras diferentes das que
estamos mostrando aqui, ou seja, existe um certo consenso,
mesmo dentro dos ambientes de maior dissenso de vises, de
que esta uma questo premente e os estudos apontam, por
exemplo, duas coisas, a meu ver, importantes: primeiro, a
consistncia do sistema de classificao de cores, ou seja,
o sistema adotado atualmente consistente
estatisticamente, no uma questo de modismo se falar de
negros e brancos, mas so dois grupos que, por suas
caractersticas, so estatisticamente consistentes, e isso
nos mostra que deve haver um tratamento desigual para,
enfim, os grupos atingirem a igualdade.
Outra questo que o estudo nos mostra,
Ministro, senhoras e senhores, que essa dimenso no pode
ser explicada unicamente por efeitos inerciais. Existe uma
histria, claro, ns temos a histria de quase quatro
sculos da escravido, mas essas diferenas atuais entre
negros e brancos dada tambm por condies histricas e
condies vigentes atualmente. Parte significativa das
desigualdades existentes hoje decorrem de mecanismos
relativos questo racial, barreiras sociais, que operam
na sociedade brasileira, produzindo tratamentos desiguais.
Tem uma outra pesquisa no IPEA que mostra o
seguinte: quando controlamos todas as variveis, ainda
assim, em termos de renda, os negros recebem de quarenta a
cinquenta por cento a menos que os brancos, isso
controlando educao, educao dos pais, nvel de renda,
etc. Ou seja, existe um fenmeno, que o fenmeno da
discriminao racial, que, numa parte significativa,
explica a nossa desigualdade.
Ento, o Brasil obteve um grande avano com
a Carta Constitucional. A Carta Magna proporcionou
instrumentos de polticas sociais, de universalizao, que
so muito importantes e que marcam a vida deste Pas,
entretanto, alguns estudos mostram, em que pese a melhoria
do acesso aos servios pblicos em geral, que a populao
negra encontra-se em desvantagem. Vamos dar alguns
exemplos: os estudantes negros, sejam homens ou mulheres,
encontram-se em desvantagem em relao aos seus colegas
brancos em todas as sries e nveis de ensino, conforme
mostrado aqui pela secretria.
No caso dos matriculados no ensino
fundamental, os alunos negros so menos estimulados e
sofrem mais discriminao nas escolas, o que mostrado por
vrios estudos. As professoras no tm tido o mesmo tipo de
preocupao, de estmulo com os alunos negros que tm com
os alunos brancos.
No caso da sade. A razo de mortalidade
materna na mulher negra quase trs vezes maior do que a
razo para as mulheres brancas, mesmo depois de implantado
o Sistema nico de Sade, a universalizao da sade.
Entre as gestantes, as mulheres negras tm
em mdia um nmero menor de consultas e um nmero maior de
no realizao de pr-natal; os jovens negros so mais
assediados pela polcia, o que significa dizer que as
polticas universais, embora importantes, no conseguem
enfrentar essa desigualdade proveniente da discriminao. A
discriminao um fenmeno social ativo no Brasil e
precisa ser enfrentado. Est sempre presente no quotidiano
brasileiro e estreitando as oportunidades, ou seja, o que
ns queremos dizer que a discriminao racial refora os
padres de excluso da sociedade brasileira, e um
obstculo ascenso social da populao negra maior
integrao da sociedade nacional. Ela impede, essa
discriminao, o exerccio da desigualdade.
Temos, ento, um problema, alm do problema
da desigualdade clssica dos pases ditos desenvolvidos,
que enfrentaram com sucesso a partir das polticas
universais. A nossa desigualdade centralizada pela
questo racial. A questo racial naturaliza a desigualdade;
a questo racial naturaliza o fato de que pessoas, por
terem determinada cor na pele, natural que no tenham
abrigo, natural que peam esmolas, naturalizado isso na
sociedade, e isso deve ser mudado. E a nica forma que ns
pensamos que pode se mudar a partir de polticas
complementares s polticas universais. As polticas
complementares so polticas de nova gerao, polticas que
ns chamamos de ao afirmativa. So essas polticas que
vo fazer com que as professoras valorizem mais a criana
negra, os hospitais passem a ter um atendimento igual,
embora, formalmente, o acesso seja igualitrio, na hora do
atendimento o racismo institucional, o preconceito que
colocado pelos prprios atendentes e funcionrios, ele
coloca barreiras. Ento, as polticas de ao afirmativa
so polticas de valorizao da igualdade entre negros e
brancos. Entre essas polticas, uma que a mais presente
hoje a questo da ao afirmativa, a questo das cotas no
ensino superior - desculpe - elas so a ponta de lana das
aes afirmativas no Brasil, so feitas a partir das
universidades e constituem o principal mecanismo de
equalizao de oportunidades, nessa sociedade nossa que
convive com preconceito e discriminao racial em
diferentes instncias.
O que tem significado essas polticas nos
ltimos dez anos? Elas tm significado a abertura de portas
para um contingente significativo de estudantes negros que,
se no houvesse programa de cotas, no teriam acesso
universidade. E nesse caso, falando especificamente das
universidades pblicas, o IPEA fez um clculo de que, at
hoje, foram cinquenta e dois mil estudantes negros
beneficiados com as cotas, o que significa que teremos
cinquenta e dois mil profissionais que vo disputar em
igualdade de condies com outros profissionais os melhores
postos de trabalho dessa nossa sociedade. Significa dizer,
ento, que estamos tentando equalizar, a partir de algumas
iniciativas que so complementares s polticas universais.
No existe uma dicotomia, no existe uma divergncia entre
universalismo e focalizao nesse caso, mas, ao contrrio,
as polticas universais no Brasil s vo fazer sentido
pleno, s vo ser eficientes se forem complementadas por
aes de valorizao, e uma delas a questo das cotas.
Eu gostaria, antes de encerrar, de fazer um
breve comentrio sobre a questo das cotas na universidade,
no seguinte sentido: cotas sempre foram e vo ser para
entrar na universidade, ningum sai da universidade por
cotas. A cota simplesmente um mecanismo que pode
equalizar uma situao de portas fechadas, para um conjunto
significativo de pessoas brasileiras. Hoje, as pessoas
brasileiras negras tm mais portas fechadas, oportunidades
fechadas, do que a populao de origem branca. Ento, as
cotas viriam, na verdade, abrir portas para que consigamos
equalizar oportunidades, consigamos fazer com que a mxima
de igualdade, que est presente na Constituio como um dos
preceitos fundamentais, seja, enfim, contemplada a partir
de uma questo que posta para a gente.
Ns do IPEA, finalizando, temos muito
orgulho de ter trabalhado essa questo racial nos ltimos
anos, e nos chamou ateno duas coisas: a primeira, quando
os primeiros dados apareceram, ns pensamos que a questo
racial ia ser colocada para discusso na sociedade, mas no
foi, houve um silncio da sociedade. E esse silncio nos
mostra que a questo racial no Brasil ainda uma questo
de discriminao e preconceito presente em toda a
sociedade. E o Estado tem uma funo importante de trazer
essa discusso tona, de fazer mudar essa viso e,
principalmente, de fazer com que a sociedade se veja como
uma sociedade de iguais. E assim a gente consiga, de fato,
ter uma democracia neste Pas.
Muito obrigado. Era isso que eu tinha a
falar.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo ao Doutor Mrio Lisboa
Theodoro, Diretor do IPEA.
Assinalo o retorno do eminente Ministro
Joaquim Barbosa e tambm a minha satisfao pela sua
presena permanente e valiosa aqui nestas Audincias
Pblicas.
Passo a palavra, agora, Doutora Roberta
Fragoso Menezes Kaufmann, Advogada do Partido arguente. A
Doutora Kaufmann dispor de quinze minutos, mas concedo a
ela mais dois minutos e meio, tendo em vista o fato de que
a eminente representante do Ministrio Pblico participou
do processo, interveio emitindo parecer, ultrapassou em
cinco minutos o seu tempo, com anuncia desta Presidncia,
dado o aspecto substantivo de sua interveno, e tambm
concederei mais dois e meio minutos ao Advogado Caetano
Cuervo Lo Pumo, que advogado do recorrente. Vossa
Excelncia tambm dispor de quinze minutos, mais dois e
meio.
Ento, a Doutora Kaufmann est com a
palavra.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
A SENHORA ROBERTA FRAGOSO MENEZES KAUFMANN
(ADVOGADA DO PARTIDO ARGUENTE) - Bom-dia a todos,
Excelentssimos Senhores Ministros, Excelentssima Senhora
Vice-Procuradora-Geral da Repblica, demais autoridades
presentes. Vamos iniciar nossa exposio acerca das cotas
raciais, infelizmente, a partir de uma srie de negativas
para que no haja qualquer dvida acerca dos verdadeiros
propsitos desta ao.
Inicialmente, no se discute nesta ao
sobre a constitucionalidade de aes afirmativas como
gnero para proteo de minorias. importantssimo
destacar esse fato porque, incompreensivelmente, ns
estamos verificando que, dentre os convocados para falar
sobre as cotas raciais, est o representante da FUNAI e
tambm, no ltimo dia, o vice-reitor da Universidade do
Estado do Amazonas. Fao essa constatao e essa
observao porque ns no discutimos nesta ao as cotas
para ndios. importante identificar esse fato, porque no
plano de metas da Universidade de Braslia h previso de
cotas para ndios, mas ns fizemos questo de no atac-
las, porque a discusso que se trata neste tema apenas
relativa a cotas para negros, cotas raciais.
Por outro lado, tambm no se discute nesta
ao sobre o modelo de estado social implementado no
Brasil. Ningum aqui discorda que ns vivenciamos um modelo
de estado social que em oposio ao estado liberal objetiva
justamente a integrao das minorias na sociedade. Esta
observao tambm importantssima, principalmente quando
se observa que praticamente a totalidade da argumentao
jurdica relacionada ao assunto parte de uma viso de
princpio da igualdade, da igualdade formal para a
igualdade material e, por outro lado, utilizando-se da
mxima de Aristteles, de Rui Barbosa: tratar desigualmente
os desiguais, na medida das suas desigualdades.
Dessa perspectiva kantiana, idealista ou
platnica ningum discorda e, por outro lado, no resolve a
nossa questo. Por qu? Qual o conceito de minoria? Essa
argumentao de tratar desigualmente os desiguais, ou
argumentao de estado social da igualdade formal para a
igualdade material, no nos define o que em cada contexto
social, em cada contexto cultural, venha a ser considerado
minoria. Em outras palavras, no porque existem cotas
para os descendentes de esquim, no Canad, ou porque
existem cotas para os dalitis, os excludos na ndia, que
necessariamente qualquer medida afirmativa vlida pela
perspectiva idealista, em qualquer localidade do mundo.
preciso, nesse sentido, identificar o que
em cada sociedade deva ser considerada minoria apta
proteo estatal. importante que isso seja analisado,
porque aqui ningum discute, por exemplo, aes afirmativas
para mulheres, para deficientes fsicos, para idosos, para
deficientes mentais; no se discute isso nesta ao.
E, por fim, tambm no se discute nesta
ao, porque indiscutvel e inquestionvel, a
existncia de racismo, de preconceito e de discriminao em
nossa sociedade.
Somos, sim, uma sociedade muito racista.
Porm o racismo deve ser exemplarmente combatido, como de
fato o aqui no Brasil, a partir de leis severas que punem
a pessoa racista, inclusive transformando o racismo como
prtica de crime inafianvel e imprescritvel, tal qual
tambm em relao a outras minorias que so objeto de
racismo, de preconceito e de discriminao e que no
necessariamente so objeto de uma poltica estatal por meio
de cotas, como, por exemplo, o nordestino, os homossexuais,
os testemunhos de Jeov, os Hare Krishnas, as diversas
minorias presentes em nossa sociedade em que no
necessariamente ser combatida a discriminao por meio de
poltica de cotas.
Dito o que na ao no se discute, vamos
agora para o que verdadeiramente a ao discute.
O que se discute nesta ao se a imposio
de um Estado racializado, ou seja, se o racismo
institucionalizado, quando a segregao de direitos vai se
dar com base na cor da pele, a medida mais adequada, mais
exigvel e mais justa para a construo de um pas melhor e
solidrio, porque, no fundo, isso que todos ns queremos.
importante caracterizar que essas
polticas de segregao com base em cor da pele foram
polticas implementadas no Direito comparado, como, por
exemplo, nos Estados Unidos, em Ruanda e na frica do Sul,
com resultados desastrosos, como agora passaremos a expor.
Nesse sentido, no podemos mitigar as
diferenas entre Brasil e Estados Unidos, pas que
verdadeiramente iniciou a implementao das cotas raciais.
L nos Estados Unidos, nunca houve uma
miscigenao tal qual houve aqui no Brasil, porque l,
desde o incio da colonizao, houve leis que proibiam as
relaes inter-raciais. Casamento entre pessoas de raas
"diferentes" era considerado crime at 1977. No toa
que l nos Estados Unidos houve, na verdade, a
implementao de uma poltica segregacionista, o racismo
institucionalizado, que tambm foi conhecido como Leis de
Jim Crow, e essas leis significavam o seguinte: desde o
hospital em que o indivduo nascia at o cemitrio onde o
indivduo era enterrado, todas as instituies sociais eram
rigidamente segregadas com base na cor da pele. E eu me
refiro a escolas, universidades, restaurantes, bares,
transportes pblicos, parques, qualquer espao de
convivncia social era rigidamente segregado com base na
raa.
Obviamente que nesse modelo de sociedade o
que houve foi a implementao de culturas paralelas -
brancos e negros no se misturam.
No toa que, por exemplo, l, houve um
suporte social, porque um dos principais movimentos sociais
nos Estados Unidos foi a Ku Klux Klan, instituio essa que
chegou a ter 5 milhes de membros em 1915, dentre os quais
presidentes da repblica, senadores, congressistas em
geral.
Ronald Dworkin, que um dos principais
jusfilsofos e que a favor de cotas raciais nos Estados
Unidos, o argumento que Dworkin se utiliza para defender as
cotas raciais revelador. Ele no se vale do argumento de
justia compensatria. Dworkin se vale do argumento da
diversidade, porque ele diz: importantssimo que brancos
e negros, pelo menos uma vez na vida, consigam conviver no
mesmo espao pblico, porque, se no for de uma maneira
imposta, talvez eles nunca convivam. E nesse sentido
Dworkin revela a importncia de voc observar os valores
diferentes daquele outro povo, porque so culturas
verdadeiramente separadas.
Bem, essa ideia de pas racializado,
implementada l nos Estados Unidos, ele teve o beneplcito
inclusive da Suprema Corte, com a famosa deciso em 1896,
no caso Plessy v. Ferguson, quando ento se deu incio a
doutrina do iguais, mas separados. No podemos esquecer que
todos os poderes, todas as esferas de governo praticavam a
segregao racial.
L nos Estados Unidos tambm importante
destacar que o critrio de definio racial era muito
preciso, porque l nos Estados Unidos s havia dois grupos:
ou voc branco ou voc negro. Essa definio se dava
com base na regra da one-drop rule, ou regra da uma gota de
sangue, em que uma gota de sangue tornava a pessoa negra
ainda que aparentemente a pessoa tivesse o fentipo louro
do olho azul, e, mesmo se adotando o critrio da
ascendncia, nunca nos Estados Unidos a populao negra foi
mais do que treze por cento da sociedade, porque nunca
houve miscigenao efetiva.
Bem, para concluir a parte de Direito
comparado, importante destacar que as cotas raciais nos
Estados Unidos sugiram, inacreditavelmente e ironicamente,
a partir de um presidente que era branco, racista,
conservador e que, em campanha, se havia declarado contra
as cotas raciais, que era Richard Nixon.
O primeiro plano de cotas raciais nos
Estados Unidos surgiu em 1969, foi o Plano Filadlfia. Os
presidentes que antecederam, que foram John Kennedy, Lyndon
Johnson, apenas proibiram a discriminao, sem jamais atuar
de uma maneira inclusiva. E por que coube a Nixon a
implementao dessas medidas? Ora, Nixon, na verdade, no
pde fugir aos desideratos histricos e contextualizados
naquele momento. Houve o assassinato de Martin Luther King,
houve o assassinato, anos antes, de John Kennedy, que era
um lder negro, apesar de esses lideres negros nunca terem
sido a favor de cotas raciais, porque Luther King disse: eu
no justifico cotas raciais diante de tantos brancos
pobres. O que aconteceu foi que Nixon foi o primeiro
implementador dessas polticas, porque a situao nos
Estados Unidos estava de tamanha afronta que a sociedade
havia se transformando num barril de plvora prestes a
explodir. Havia sido capa da revista Time por cinco vez
consecutivas, e Nixon no iria fazer com que, em seu
governo, insurgisse a segunda guerra civil.
Bem, apesar de ter havido a implementao de
cotas raciais nos Estados Unidos, importante destacar
para todos que jamais as cotas racias foram consideradas
vlidas em matria de educao. E eu posso destacar para
vocs os julgamentos da Suprema Corte realizados no caso
Bakke, em 1978, e nos casos envolvendo a Universidade de
Michigan, em 2003, em que a raa pde ser considerada um
dos critrios para implementao de ao afirmativa, mas
jamais por meios de cotas.
Recentemente, em 2007, a Suprema Corte
norte-americana retomou essa questo das aes afirmativas
raciais e proibiu a utilizao da raa, no caso envolvendo
uma escola em Seattle, dizendo que nem sequer um critrio
levado em considerao, mas isso no poderia ser.
Bem, em suma: quais so os desafios para a
implementao de aes afirmativas racialistas no Brasil?
Primeiro grande desafio: defina quem negro no Brasil.
Esse um problema relacionado aos pardos especificamente.
Eu me refiro, aqui, em relao nossa ao, ao Tribunal
Racial que foi implementado na Universidade de Braslia.
Em pleno sculo XXI, a quinhentos metros da
Corte Constitucional, uma universidade pblica implementa
um tribunal racial de composio secreta, que, com base
em critrios tambm secretos, objetiva definir, com base em
critrios impossveis, quem branco e quem negro no
Brasil. Junto fiz anexar, ns do Partido Democrtico
fizemos anexar petio inicial um estudo de dois
antroplogos do Rio de Janeiro, que fizeram entrevistas com
os candidatos que haviam acabado de passar pela entrevista
na Banca Racial da Universidade de Braslia. Qual no foi a
nossa surpresa ao verificar que as perguntas decisivas para
definir, no Brasil, quem branco e quem negro foram as
seguintes: 1- Voc j namorou um negro? 2 - Voc j
participou de passeatas em favor da causa negra? Se a
resposta for sim, voc negro.
Que tipo de violao ao princpio da
igualdade? Que tipo de violao dignidade da pessoa
humana? Na dimenso objetiva dos Direitos Fundamentais,
cabe ao Estado proteger a dignidade dos negros, ainda que
esses no a queiram protegida, porque isso uma ofensa
demasiada a qualquer pessoa, especialmente em relao sua
autoidentificao.
Outro tipo de problema relacionado
implementao das cotas raciais vem a ser a questo do mito
da democracia racial. Sabemos que o mito obviamente um
mito porque ele no implementado na sua totalidade. No
entanto, o mito pode ser analisado como uma mentira, ou ele
pode ser analisado como um ideal a ser perseguido.
Nesse sentido dizemos que revelador o fato
de que, em recente pesquisa publicada pela Fundao Perseu
Abramo, 96% dos brasileiros se declaram no preconceituosos
e no racistas.
Ora, sabemos que esse nmero uma mentira,
porque existe racismo no Brasil, e esse racismo escondido
nessa estatstica. No entanto, esse nmero importante
porque mostra que conseguimos atingir uma maturidade social
que, hoje em dia, o brasileiro tem vergonha de ser
preconceituoso em relao ao negro. O brasileiro no tem
essa vergonha em relao s outras minorias como, por
exemplo, homossexuais e nordestinos, mas em relao ao
negro, o brasileiro tem vergonha.
Isso importante porque faz com que
possamos conseguir inserir os negros na universidade sem
ter que passar por essa poltica mais gravosa. medida que
adotarmos cotas sociais, e considerando a estatstica aqui
largamente apresentada de que 70% dos pobres so negros,
atingiremos o desiderato da integrao sem correr o risco
da racializao do Pas. No podemos ignorar o preo que
pagaremos por essa racializao.
Por outro lado, tambm importa destacar -
digo isso em relao s estatsticas que foram apresentadas
- que muitos desses ndices so manipulados quando
conveniente. Primeiro, porque, quando voc faz a
apresentao dos dados relacionados ao negros, ningum
discorda que o negro est numa situao pior e numa
situao de base da pirmide social. No entanto, a
interpretao possvel para isso ora pode ser o racismo,
ora pode ser o fato de que, infelizmente, no Brasil, os
negros so a grande maioria dos pobres.
Ento, quando voc diz, por exemplo, que 90%
dos negros no tm acesso a esgoto e que 90% dos brancos
tm acesso a esgoto, ser que por trs desse dado
estatstico no est uma condio de renda?
No podemos, aqui, ignorar o caso trgico de
Ruanda. Por que? Porque toda a poltica pblica de ao
afirmativa e de cotas se inicia com a melhor das intenes.
E foi isso que aconteceu em Ruanda, na dcada de 30, a
partir da mentalidade do colonizador belga que, cheio de
problemas tnicos e de divises tnicas, importou para
Ruanda - todos negros, todos pertencentes a uma mesma
nao, a uma mesma cultura, a um s povo e a um s
sentimento nacional - a diviso artificial e legal das
etnias e da diviso de direitos com base em critrios
nfimos como: formato do rosto, formato de nariz e grau de
espessura do cabelo. Esses so os critrios para voc fazer
a diviso entre os grupos. As consequncias, sessenta anos
depois, foi a guerra civil em Ruanda.
isso que ns queremos para o Brasil?
Muito obrigada, Ministro.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado, Doutora Kaufmann, pela
sua interveno.
Quero anunciar a honrosa presena do
eminente Senador Demstenes Torres, Presidente da Comisso
de Constituio e Justia do Senado, que convidado
especial do Relator desta ao de inconstitucionalidade, e
tambm anuncio que convidei o Presidente da Comisso de
Justia da Cmara dos Deputados, mas que, at agora, no
confirmou a sua presena, mas parece-me que est havendo
uma substituio nesse importante cargo de uma das Casas do
Congresso Nacional.
O eminente Senador Demstenes Torres, em
querendo, far uso da palavra ao final do rol de
convidados, e digo que temos mais treze intervenes e, ao
final, Vossa Excelncia far uso da palavra, se quiser.
Ouviremos, agora, o pronunciamento do Doutor
Jos Jorge de Carvalho, da Universidade de Braslia,
Socilogo e Professor Titular da USP e Professor da UnB,
que falar em nome do arguido e que ter tambm o tempo de
at quinze minutos.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR JOS JORGE DE CARVALHO (PROFESSOR
DA UnB) - Excelentssimo Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, demais autoridades, senhoras e senhores, bom-
dia.
Falo nesta audincia na condio de
Professor da Universidade de Braslia e Propositor, junto
com a Professora Rita Segato, do Sistema de Cotas aprovado
na UnB em 2003. Sou tambm Coordenador do Instituto
Nacional de Cincia e Tecnologia do CNPq e INCT de Incluso
no Ensino Superior e na Pesquisa.
Um dos objetivos centrais do INCT
organizar um banco de dados sobre todas as polticas de
aes afirmativas em todas as universidades do Pas: cotas,
bnus, cursos interculturais indgenas etc.
O INCT pretende ser observatrio que
monitorar esse rico processo de incluso tnica racial no
Ensino Superior brasileiro.
Tentarei mostrar aqui j uma recompilao
recente que fizemos, no mbito do INCT, da situao atual
das cotas nas universidades que as adotaram h mais tempo
at o ano de 2004.
A proposta de cotas na UnB surgiu como uma
resposta a uma constatao de que o espao acadmico da
Universidade era altamente segregado racialmente. Mais
ainda, tambm como consequncia dessa segregao, foi
gerado um ambiente hostil para os poucos estudantes negros
que dele faziam parte. Para compensar esse clima, o
movimento em torno das cotas congregou um coletivo
multirracial de estudantes negros, estudantes brancos, de
professores negros e professores brancos e do prprio
movimento social negro.
Foi um incidente racial que nos levou a uma
concentrao surpreendente. Em vinte anos de existncia, o
nosso programa de doutorado em Antropologia no havia ainda
recebido nenhum estudante negro. Em seguida, observamos
essa mesma excluso se repetir em outros programas.
No ano 2000, j como parte da formulao da
proposta de cotas, realizamos dois censos de identificao,
e no de entrevistas, de importncia estratgica para a
defesa da necessidade das cotas para negros.
O primeiro censo foi dedicado a saber a
quantidade dos professores negros na Universidade. Sem
muita dificuldade, constatamos que a UnB tinha apenas
quinze professores negros no seu quadro de mil e quinhentos
docentes. Ou seja, quarenta anos aps ter sido criada como
proposta de modernizao do Ensino Superior no Brasil, a
UnB apresentava um perfil de extrema desigualdade racial,
noventa e nove por cento dos seus professores eram brancos
e apenas um por cento dos docentes negros, em um Pas em
que os negros eram ento quarenta e oito por cento da
populao nacional.
Outro censo realizado simultaneamente visava
identificar a porcentagem de estudantes negros pobres na
UnB, justamente para testar a hiptese das chamadas cotas
sociais. A UnB contava naquele momento com vinte mil
estudantes de graduao e, desses, quatrocentos residiam na
Casa do Estudante da UnB - CEU. Reconhecidamente ali
residiam dois por cento de estudante de renda mais baixa da
Universidade. Para a nossa grande surpresa, havia apenas
dez estudantes negros no CEU, no contando obviamente com
estudantes africanos que l residiam.
Se a tese de que os estudantes negros
estariam includos entre os pobres fosse correta, e por
este motivo as quotas raciais no seriam necessrias,
deveriam existir pelo menos cento e oitenta estudantes
negros residentes na casa do estudante, porm no era isso
que acontecia. Ao invs de 48% de estudantes negros, apenas
2,5% dos estudantes mais pobres. Em outras palavras, se a
desigualdade social explicasse a hierarquia racial
brasileira, os negros no poderiam ser to poucos,
numericamente, justamente na faixa dos estudantes mais
carentes. Na verdade, seguindo a pirmide geral da
desigualdade brasileira, eles deveriam ser maioria nessa
faixa de renda. Como me acaba de informar o especialista
Professor Mrio Theodoro, a maioria dos negros pobres no
chegam ao segundo grau. A constatao da excluso racial,
nos dois extremos da hierarquia acadmica, foi decisiva
para fundamentar a necessidade de quotas para negros na
Unb.
A pergunta que formulamos, naquele contexto,
persiste: Como fazer para sair desse patamar de 1% de
professores negros sem aumentar expressivamente o
contingente de estudantes negros na graduao? Foi com base
em constataes desse tipo que as universidades brasileiras
comearam a implementar quotas, gerando a efervescncia
inovadora e democratizante, sem paralelos, na histria das
nossas universidades ao longo de todo sculo XX. A primeira
federal a adotar o sistema, a UnB, conta com a poltica de
quotas inteiramente consolidada. J possui, desde o segundo
semestre de 2004, cerca de quatro mil e trezentos quotistas
negros. Um resultado visvel dessa poltica que o
percentual de estudantes negros na UnB j alcana os 12%
transversais, cobrindo todos os cursos oferecidos pela
instituio. Esse nmero um avano considervel quando
comparada com a pesquisa que fizemos em 2000, cujos
resultados exibiram a marcante disparidade da presena de
estudantes negros nos cursos considerados socialmente de
alto prestgio. Cursos de medicina, odontologia,
arquitetura, comunicao eram cursos praticamente de
estudantes brancos. Isso no existe mais. A UnB j diplomou
quatrocentos estudantes pelo sistema de quotas - dados
recentes que me foram fornecidos na semana passada. Jovens
negros que agora entram no mercado de trabalho ou se
dirigem ps-graduao. Um dos dados recentes e mais
positivos que podemos trazer para essa audincia a mdia
de rendimento acadmico dos nossos quotistas, que
praticamente a mesma dos rendimentos dos estudantes que
entravam pelo sistema universal. O IRA - ndice de
Rendimento Anual - de 3,42 para os quotista e 3,53 para
os demais estudantes.
Aqui, ento, podemos afirmar: a previso
negativa de catstrofe acadmica no se cumpriu; a previso
negativa de catstrofe das relaes de convivncia entre os
estudantes no se cumpriu. Tanto a UnB como as demais
sessenta e sete universidades que adotam recorte tico
racial esto pacificadas e funcionam sem nenhuma crise
institucional. No presente momento, completamos de alguma
forma, avanamos no sistema de quotas da UnB com um novo
projeto chamado "Encontro dos Saberes", que uma parceria
com o Ministrio da Cultura e com a SESU - MEC que
complementa o sistema de incluso tnico e racial na
Universidade de Braslia. Enquanto lutamos, num primeiro
momento, para trazer os jovens que estavam excludos da
universidade, negros e indgenas, agora ns traremos os
mestres, os sabedores, os Shamans, os mestres das culturas
populares, os mestres das tradies afro-brasileiros e
indgenas para entraram na Universidade de Braslia, neste
ano, como professores da Universidade.
A produo de conhecimento se amplia nas
universidades com as aes afirmativas. O eurocentrismo foi
a marca e todos os saberes africanos e indgenas foram
desprezado e eliminados do nosso sistema universitrio. O
confinamento racial e tnico da nossa universidade
significou tambm uma limitao do nosso horizonte. No ano
2000, a UnB era uma universidade monorracial, monolgica,
monoepistmica, eurocntrica. Esperamos que a partir desse
ano ela passe a ser uma universidade multirracial,
multitnica, pluriepistmica, descolonizada
definitivamente.
Gostaria de enfatizar que a necessidade das
cotas raciais toma outra sentido se olharmos para o topo da
pirmide do mundo acadmico e no apenas para sua base.
Intervir na base necessrio, porm, diante de um quadro
de excluso to dramtico, temos que pensar imediatamente
em aes afirmativas no mestrado, no doutorado, nos
concursos para docentes e na carreira de pesquisador para
acelerar o processo de incluso racial. Estamos falando do
ensino superior como um todo e no h nenhuma justificativa
tica para continuar mantendo a desigualdade racial to
extrema, justamente na faixa de maior poder e influncia.
Caso contrrio, a poltica de quotas acabar reproduzindo a
nossa crnica hierarquia racial agora e o novo patamar.
Os brancos podero continuar fazendo
mestrado, doutorado, ps-doutorado, ser professores e
pesquisadores e os negros tero que sair da graduao pelas
cotas e entrar logo no mercado de trabalho, pois no haver
poltica de incluso em um mundo muito mais fechado e ainda
mais excludente que o da prpria graduao.
Por outro lado, para trazer esse debate a
uma concretude existencial da qual no podemos escapar
enquanto seres inseridos na histria, preparei um outro
senso de identificao especificamente para esta
apresentao. Foram convocadas quarenta e trs pessoas para
este trs dias de audincia. Como se trata de discutir o
ensino superior, compreensvel que o nmero de
professores seja majoritrio na composio dos
palestrantes. Das quarenta e trs pessoas convocadas a
falar, trinta so professores - alguns evidentemente,
assumiram o cargo de administrao do Estado e outros
espaos especializados. O problema que desses trinta
professores, vinte e oito deles so brancos e apenas dois
so negros: o Professor Kabengele Munanga e Mrio Theodoro.
Ou seja, reproduzimos aqui, de um modo absolutamente no
intencional, essa profunda segregao racial que a marca
do nosso sistema acadmico. Temos aqui 93% de professores
brancos decidindo se devemos ou no consolidar aes
afirmativas para negros nas universidades.
Essa desproporo ou confinamento racial -
como costumo cham-lo - j em si mesma uma resposta
possvel pergunta da audincia sobre a legitimidade e
premncia das cotas raciais. A porcentagem incmoda de 93%
de brancos, no topo da pirmide do mundo acadmico, sempre
foi naturalizada no Brasil. Agora, na era das cotas, ela
revela que o nosso mundo acadmico no resolveu a
desigualdade racial iniciada com a Repblica em 1889. Pelo
contrrio, ele concentrou e ampliou essa desigualdade,
tornando o sistema docente das nossas universidades
pblicas como um dos mais segregados racialmente do
planeta.
Quero apenas dizer que isso uma pesquisa
que ando fazendo dos cinco continentes do planeta. No
conheo nenhum pas praticamente que tenha dois grupos
tnicos, grupos raciais dominantes em que um dos grupos
tnicos ou raciais tenha confinado um outro, apenas 1%, num
grupo de professores universitrios. Vocs me digam se
conhecem algum pas parecido com esse.
Convido o nobre julgador a avaliar as
poltica de cotas nos vestibulares na perspectiva dessa
excluso quase absoluta de negros no topo da carreira
universitrias. Essa audincia uma vitrine, malgrado ns
mesmos do que conseguimos incluir at agora aps um sculo
de universidades.
H uma correlao importante que precisa ser
explicitada que quase sempre escapa ao presente debate: a
pequena escala numrica das cotas sociais e a grande reao
e mobilizao que provoca no ambiente acadmico e nos meios
de comunicao. As aes afirmativas so uma interveno em
um ponto estratgico da reproduo do sistema e devem
funcionar paralelamente e no em oposio s polticas
universitalistas - como vrios dos meus colegas aqui
disseram.
Vimos na exposio do secretrio do MEC, do
IPEA, como vem se ampliando a cobertura de educao no
Brasil.
Faamos a pergunta: o que representam as
cotas em sessenta e oito universidades hoje - aes
afirmativas -, no ensino superior brasileiro como um todo?
Lembremos em primeiro lugar que 80% dos universitrios
brasileiros esto cursando instituies privadas de ensino;
apenas 20% so alunos de instituies pblicas. O total de
ingresso no ensino superior brasileiro j alcana mais de
um milho e setecentos mil estudantes, dos quais -
lembremos - um milho trezentos e sessenta mil estudam em
instituies privadas. O novo contingente de trezentos e
quarenta mil estudantes que acabaram de ingressar nas
instituies pblicas dever incluir uma parcela de
aproximadamente doze mil cotistas negros - a simulao
que fizemos. Se somarmos esses novos cotistas ao
contingente de cinquenta e dois mil cotistas atualmente
matriculados nas sessenta e oito instituies pblicas,
teremos uma dimenso do baixo alcance quantitativo do nosso
sistema de cotas. Eles incidiro sobre apenas 3,5% do total
de ingressos no nosso sistema de ensino superior. Por que a
garantia de uma porcentagem to pequena de estudantes
negros na graduao causa tamanha reao? Porque essas so
cotas de acesso ao grande poder acadmico. Por exemplo, o
CNPq, em parceria com o CEPIR, lanou no ano passado um
programa de bolsa de iniciao cientfica especfica para
estudantes cotistas. Com esse gesto do CNPq, podemos sonhar
com um aumento no to distante do ingresso de jovens
negros no mundo da pesquisa que, como a docncia,
dominada por 99% de brancos. A pequena cota de 3,5% insere
os negros no grande poder acadmico. Aqui unimos pequena
quantidade com grande qualidade. O pensamento das cotas
um pensamento complexo na sua origem, na sua concepo.
H uma polarizao tambm desnecessria do
debate das cotas que gostaria de acrescentar. A UnB adotou
cotas para negros porque necessitou enfrentar a sua
excluso racial crnica. Isso feito, nada impede, por
exemplo, que ela possa adotar cotas para estudantes de
baixa renda e cotas para egressos de escolas pblicas
tambm. O que no construtivo a polarizao entre um
tipo de ao, como se fosse uma ao afirmativa ou outra.
Acredito que o modelo possvel da UnB, e que
devemos avanar para isso, seria 20% de cotas para negros,
20% de cotas para o estudante de baixa renda e 30% de cotas
para a escola pblica. Isso no daria 70%; isso daria
aproximadamente 32%, entre 30 e 33%, porque evidentemente
h uma superposio. Ou seja, deveramos pensar em trs
recortes autnomos e superpostos, melhor que um recorte
nico que sobredetermine todos os outros.
complexa a situao da escola pblica. Ela
no homognea. Ela tambm tem seus problemas. Ela tem que
ser pensada por seu lado.
A questo racial j foi pensada e finalmente
a questo da renda. O prprio Ministrio da Educao
poderia ento propor que cada universidade fizesse a sua
simulao e propusesse o seu modelo que combinasse ento
estes trs recortes, e que esses trs recortes fizessem a
justia social e, ao mesmo tempo, a justia racial.
Muito obrigado, senhores.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo ao Professor Jos Jorge
de Carvalho pela sua interveno.
Vamos ouvir agora o Doutor Caetano Cuervo Lo
Pumo, que advogado do recorrente. O eminente advogado
dispor de quinze minutos e mais 2,5 minutos para compensar
o tempo daqueles que falaram a favor das cotas.
Vossa Excelncia est com a palavra.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR CAETANO CUERVO LO PUMO (ADVOGADO DO
RECORRENTE) - Obrigado, Senhor Presidente.
Inicialmente cumprimento Vossa Excelncia e
o Ministro Joaquim Barbosa. E, ao cumpriment-los,
cumprimento todos os demais presentes.
Gostaria de aproveitar a ocasio, Senhor
Ministro, para cumprimentar Vossa Excelncia e tambm
parabeniz-lo pela brilhante iniciativa, ao mesmo tempo em
que lamento que nada parecido tenha ocorrido quando da
implementao do sistema nas universidades. Nada parecido
com isso ocorreu. A sociedade no discutiu da forma como
deveria ter discutido - e dessa forma aqui - os critrios
da implementao do sistema.
Gostaria de saudar tambm a Doutora Juliana
Magalhes de Bem, que minha colega, autora do recurso
extraordinrio que gerou a presente audincia.
E, em especial, o jovem professor Giovane
Pasqualito Fialho, o recorrente, que um jovem de vinte
anos, professor de Msica do Ensino Fundamental, e que foi
o 132 colocado no vestibular do curso de Administrao da
UFRGS, para um universo de 160 vagas, que teria se
classificado pelo critrio do mrito, mas que foi excludo.
Porque, Excelncia, fundamental que ns lembremos que
esse critrio das cotas inclui, mas exclui. Isso no pode
ser deixado de fora do debate.
At agora ns discutimos em abstrato apenas
os includos e esquecemos que alguns que, pelo mrito,
estariam dentro da Universidade, esto fora. O Professor
Giovane estaria no 5 semestre hoje, que tem o sonho de ser
um administrador. Est fora da Universidade, como se fosse
um privilegiado e no . Ele estudou na Escola ACM, uma
escola privada do centro de Porto Alegre, que um bairro
de classe mdia, e onde ele leciona msica hoje, num
bairro de classe mdia da capital, e saiu do sistema, saiu
da universidade, no obstante tivesse o mrito, porque o
sistema, Excelncias - e esse vai ser o ponto essencial do
debate -, cego.
Gostaria de saudar tambm o DCE, o Diretrio
Central dos Estudantes da UFRGS, nas pessoas do presidente
Renan, da vice-presidente Cludia Thompson e de Marcel Van
Hatten, um outro membro da diretoria, que est aqui
presente na sesso representando o Diretrio, porque esse
diretrio passou por uma eleio acirradssima em dezembro
e venceu uma chapa de oposio, que era a nica chapa
contrria ao sistema de cotas da UFRGS, ou seja, a
representao dos estudantes da UFRGS atual votou e elegeu
uma diretoria contrria ao sistema de cotas. Isso tambm
deve ser considerado.
Feitas essas consideraes iniciais, quero
dizer que tive a mesma dificuldade, e vinha tendo a mesma
dificuldade da Doutora Roberta nos ltimos trs anos em que
tratei do tema.
No conseguimos discutir do que se trata
efetivamente, e eu preciso partir de duas premissas.
Assim como a Doutora Roberta falou, eu
preciso deixar bem claro que no estamos discutindo a
necessidade de aes afirmativas aqui. Aes afirmativas
so essenciais no Estado de direito, e, graas a Deus,
tivemos uma Constituio brilhante, que vem sendo aplicada
desde 1988 por este egrgio Tribunal. Isso ponto
pacfico. Essa premissa bsica!
preciso partir tambm de uma outra
premissa. Na verdade, Excelncias, at agora falou-se da
necessidade de aes afirmativas, mas no se falou como e
quando; os critrios ainda no foram definidos.
A segunda premissa importantssima - porque
estamos tambm debatendo um caso concreto - tratar do
caso da UFRS.
O caso da UFRGS no fala do critrio racial
de uma forma primordial; o critrio racial complementar.
Trinta por cento das vagas so para os alunos de escola
pblica; destes, 50% negros. Ou seja, o fator essencial da
discriminao na UFRGS - Universidade Federal do Estado do
Rio Grande do Sul - o critrio social de origem escolar.
Ponto. nico critrio.
Essas duas premissas so fundamentais.
Ento, nossa irresignao versa sobre a
forma como foi feito o processo para a criao do critrio.
A forma: lei; resoluo administrativa. Segundo ponto: o
critrio escolhido. Por que se chegou a esse critrio.
Terceiro ponto: o momento, o local dessa discriminao, ou
seja, o ensino superior.
Essas so as trs premissas bsicas da
discusso que travamos em relao s cotas da UFRGS.
Em relao forma, Excelncias: pode uma
universidade criar esse critrio sem lei?
Esse j um grande questionamento, e no
quero aqui fazer um discurso apegado ao princpio da
legalidade. Longe disso, longe disso! Entretanto, podemos
lembrar que, alm da natural representatividade do
Congresso Nacional, l - no Congresso Nacional - temos uma
discusso na Comisso de Constituio e Justia; temos uma
discusso na Comisso de Educao. E l possvel, se
entendermos necessrio criar um sistema, chegar-se a um
critrio melhor. Esse o primeiro ponto.
Se formos imaginar a possibilidade de cada
universidade criar o seu critrio ao bel prazer - posso
dizer isso -, sem o devido debate pblico que ocorreria no
Congresso, pois no ocorreu debate pblico na Universidade
Federal do Estado do Rio Grande do Sul - no conheo o caso
de Braslia, mas l no ocorreu.
Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa
Excelncia falou da participao, para que a sociedade no
opine apenas por meio da representao, mas tambm pela
participao - como nas grandes conquistas, como a de 1988.
Temos de ter especial ateno com a falsa
legitimao da participao, fora os que aparentemente
seriam apropriados para um debate - mas onde o debate no
ocorre -, e o Conselho da UFRGS formado basicamente, em
sua maioria, por membros da UFRGS. Ento, por trs dessa
legitimao, existem outros instrumentos de poder que criam
os critrios. Por qu? Por outros motivos.
Todos os representantes das instituies que
falaram at agora, do governo federal, foram favorveis ao
sistema de uma forma bem evidente; ou seja, uma poltica de
governo. Isso me parece bem evidente. E evidente, tambm,
que existe a possibilidade de persuaso maior sobre os
conselhos universitrios. Ento, por interesse poltico, s
vezes os conselhos fazem de tudo para aprovar o sistema.
Entrego a Vossa Excelncia cpia de um
processo que corre at hoje em primeiro grau, onde a
conselheira do Conselho universitrio, a Presidente dos
Alunos, Cludia Thompson, questionou o sistema - e
questiona at hoje a forma como isso foi feito. Vossa
Excelncia vai ler diversas manifestaes de conselheiros
do CONSUN, a troca de e-mails - l, o debate foi aprovado
em duas sesses. Chegou a ocorrer uma liminar suspendendo,
e essa liminar foi reconsiderada no dia da votao, onde
existia ordem de "corredor polons" esperando a votao do
CONSUN. Ento, no houve efetivo debate; houve presso no
legtima.
Excelncias, em relao ao segundo ponto: o
critrio. E aqui a inconstitucionalidade do sistema ainda
mais gritante. necessrio que se escolham critrios
justos, racionalmente aceitos, socialmente justificados,
Excelncias.
Um dos problemas maiores que o Brasil, de
fato, um pas muito injusto e muito desigual. Ento,
prima facie, qualquer ao afirmativa bem-vinda, e assim
que tem funcionado. Fala-se em ao afirmativa, a
Universidade ganha o selo: esta Universidade tem ao
afirmativa, o selo. Que bom. Ela socialmente justa.
Implementa-se uma deciso afirmativa. Eu estou escolhendo,
necessariamente eu estou praticando justia social.
Excelncias, so mil vagas. Mil entram, mil saem. Quem
entra e quem sai? Ningum sabe. Excelncias, ser que as
pessoas que foram includas, que passaram frente no
mrito, realmente precisavam ser includas? O critrio
origem por escola meramente um critrio baseado na
presuno. Excelncias, alunos do Colgio Militar de Porto
Alegre so beneficiados pelas cotas. O Colgio Militar de
Porto Alegre instituio que formou seis ex-Presidentes
da Repblica. Alunos do Colgio Militar governaram o Brasil
por mais de quarenta anos, e os alunos desta escola, deste
Colgio Militar tm direito a cotas. admissvel esse
sistema? Alunos do Colgio Aplicao Federal, um colgio da
elite gacha, tm direito a cotas! Alunos do Colgio
Militar Santa Maria tm direito a cotas. Alunos do
Politcnico de Santa Maria tm direito a cotas, e diversas
outras instituies, que foram muito acima das instituies
privadas no exame do ENEM. A mdia das instituies
privadas foi de sessenta e quatro pontos no ENEM de 2008; o
Militar foi setenta e quatro. Foi a maior pontuao do
Estado do Rio Grande do Sul. Tem aula de manh, de tarde,
tem preparao especfica para o vestibular. O
contribuinte, Excelncias, paga esses estudos. J so
beneficiados e vo ser beneficiados de novo. So apenas mil
vagas. Quem que so os mil escolhidos? Os mil escolhidos
so a elite do ensino pblico. O critrio, portanto,
cego, e se torna perverso, porque no v quem exclui e no
v quem inclui.
Eu tive oportunidade de defender diversos
alunos excludos e atendi dezenas de alunos e pais, e ouvi
as mais incrveis histrias de vida, alunos que estudaram
por bolsa; um menino que trabalhou para pagar os estudos. O
caso do professor Giovane, que tem o sonho de ser
administrador e, aos vinte anos, um professor de msica
no centro da capital. Mas tudo isso desconsiderado. A
sentena de primeiro grau, no caso em tela, Excelncias, eu
peo bastante ateno, porque a eminente Magistrada de
Primeiro Grau, quando deu sentena, julgou procedente a
ao, lembrou que o sistema de cotas, a ttulo de promover
aes afirmativas, no razovel, e acaba ocasionando
efeito inverso, outra discriminao, que atinge justamente
queles a quem o sistema quer proteger. Ns no podemos
correr o risco de privilegiar quem privilegiado. O
cobertor do Estado curto, no pode correr esse risco. O
DCE, na gesto passada, amplamente favorvel a cotas, fez
uma proposio Universidade, para que fosse excludo o
Colgio Militar, que o Colgio Militar fosse excludo desse
benefcio. E eu vou lhe entregar esse processo
administrativo, tambm, Senhor Ministro, para que o senhor
veja que a Procuradoria se manifestou de forma contrria;
porque, afinal, um colgio pblico, que feriria o
princpio da igualdade excluir uma escola pblica. Essa foi
a concluso da UFRGS. E neste parecer consta que sessenta e
um alunos do Colgio Militar de Porto Alegre foram
aprovados pelo sistema de cotas - um documento oficial da
Universidade que lhe entrego - no ano de 2009. Sessenta e
um alunos, que receberam o melhor ensino do Estado do Rio
Grande do Sul de forma gratuita; ingressaram, no obstante
tenham sido pior classificados pelo critrio de mrito.
Ento, ns temos de discutir de forma
abstrata at aqui, mas eu lembro que esta Audincia Pblica
visa buscar a melhor soluo constitucional para dois casos
especficos. Claro, embasar tantos outros julgamentos, mas
ns estamos discutindo dois casos especficos; eu estou
discutindo particularmente um deles. Ento, se ns fizermos
apenas a defesa em abstrato, ns vamos esquecer o que est
acontecendo de fato no Estado do Rio Grande do Sul, onde as
cotas no esto beneficiando quem precisa ser beneficiado,
especialmente porque no houve o debate jurdico, social
que deveria ter tido.
Excelncias, no h necessidade de nenhuma
comprovao de insuficincia ou de necessidade, basta que
venha de escola pblica, no importa nem de que escola
pblica venha. Lembro que o ProUni, citado aqui - muito bem
citado -, faz uma ampla investigao, faz entrevistas com
pais, pede imposto de renda da famlia, vai casa do
estudante. Esse um critrio justo. Simplesmente dizer
"escola pblica" no significa nada, e esse o critrio
escolhido pela UFRGS. At para obter o benefcio da
assistncia judiciria gratuita, eu tenho que assinar uma
declarao de que eu preciso - sob pena de responder, eu
tenho que assin-la. Na URGS, sequer essa declarao
necessria. No importa. O que era importante ter o selo:
aes afirmativas. Isso a universidade ganhou.
Excelncia, por fim, eu lembro que a
discusso sobre relativizao do mrito no ensino superior
pode trazer graves consequncias ao Brasil no mbito
internacional. O Brasil signatrio do Protocolo de So
Salvador, que, como nossa Constituio, busca garantir um
ensino fundamental e bsico a todos e o ensino superior
conforme o mrito, conforme a capacidade.
No diferente da declarao da ONU de
1948: o ensino bsico e fundamental a todos; o superior
conforme a capacidade. E se for chancelada essa espcie de
poltica, tenho certeza, o Brasil ser responsabilizado,
sim, perante as Cortes internacionais e ter que explicar
como exclui com base em presuno. Ainda que as Cortes
internacionais aceitassem uma poltica desse gnero, jamais
aceitariam baseadas na presuno, porque vai ter que
explicar o Estado brasileiro por que exclui um professor de
vinte anos de msica, por que exclui quem estudou um ano
numa escola superior com uma bolsa ou que de uma famlia
carente que, por algum motivo, conseguiu passar um ano ou
dois numa escola privada. Como se excluem essas pessoas sem
saber quem elas so? E como incluem outras, como no caso da
URFGS, alunos beneficiados pelo melhor ensino pblico e
beneficiados com ensino gratuito, pagos pelo contribuinte?
Como se incluem esses e excluem aqueles?
Excelncias, estamos falando do caso da
UFRGS, estamos falando abstratamente de cotas em geral, mas
estamos falando tambm do caso da UFRGS. E, ainda que se
aceite um critrio de cotas, ainda que se aceite que seja
por meio de resoluo administrativa, o critrio da UFRGS
de nenhuma forma pode ser aceito, Excelncias.
Muito Obrigado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo a interveno, Doutor
Caetano Lo Pumo.
Chamo agora para pronunciar-se a Professora
Denise Fagundes Jardim, que far o contraponto, que leciona
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no
Departamento de Antropologia e Programa de Ps-Graduao em
Antropologia, e que se pronunciar pela recorrida,
exatamente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
dispondo de at quinze minutos.
A SENHORA DENISE FAGUNDES JARDIM (PROFESSORA
DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA E PROGRAMA DE PS-GRADUAO
EM ANTROPOLOGIA SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL) -
"Excelentssimo ministro relator
Senhor Ricardo Lewandowski e demais
participantes. Minha exposio retoma em 6
tpicos fundamentais os argumentos que
apresentam e sustentam a importncia das
polticas de aes afirmativas por reserva
de vagas no ensino superior em uma
plataforma democrtica adotada nas
universidades.
Esse texto decorre do documento j
disponibilizado no portal do Supremo
tribunal federal.
1.O papel da universidade pblica e
a atualizao na plataforma
democrtica.
Como professora e pesquisadora do
Ncleo de Antropologia e Cidadania, quero
apresentar o processo democrtico e
participativo que resultou na implementao
da reserva de vagas por cotas tnico-raciais
e sociais na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul em junho de 2007.
A adoo de ingresso por cotas na
UFRGS o resultado de um extenso debate,
realizado desde 2004, quando da apreciao
da reforma universitria. Naquele momento,
as aes afirmativas j eram apontadas como
um recurso fundamental para o acesso ao
ensino superior e a ampliao de espaos
democrticos.
A reserva de vagas o resultado de
um percurso construtivo e propositivo
travado em fruns e seminrios pblicos. A
temtica fora potencializada por um projeto
de extenso universitrio que visava
amadurecer propostas e colocar em dilogo
diferentes segmentos da sociedade,
estendendo a atuao a institutos e
conselhos representativos da universidade.
Esse Grupo de trabalho de aes
afirmativas intensificou suas atividades no
segundo semestre de 2006, realizando
seminrios e painis nas unidades da
universidade e participando de iniciativas
como o programa Conexes e Saberes da Pr-
Reitoria de Extenso, orientado pelo Plano
Nacional de Educao de 2001. desse
intenso trabalho de interlocuo e escuta
que surgiram as propostas e se externaram os
possveis encaminhamentos.
A formulao votada pelo Conselho
Universitrio em junho de 2007, que aprova
as cotas tnico-raciais e as cotas sociais,
o resultado de uma trajetria que comps
uma proposta singular, de acordo com o campo
de foras e desdobramentos de um processo
democrtico e representativo, acalorado e
cheio de expectativas.
2. Requisitos anlise sobre o
alcance da reserva de vagas nas
universidades pblicas.
2.1. Em primeiro lugar, entendo que
extremamente cedo para avaliar de modo
abrangente o impacto das cotas, instigar
temores ou projetar insuficincias, quando
de fato elas no esto plenamente em curso,
na medida em que esto a enfrentar uma srie
de obstculos. Se, em algumas universidades
elas esto em uma fase meramente
programtica, outras instituies avanam e
aprimoram polticas de manuteno
dos cotistas. Outras ainda elaboram a
implementao das cotas, o que requer um
trabalho continuado e inovador.
2.2 Segundo, muitas das polticas
relativas s aes afirmativas sofrem desse
mesmo constrangimento, a de serem avaliadas
sem ao menos terem sido postas em marcha.
Esta sim uma tica precipitada posto que
gera instabilidade e causa danos a uma
elaborao que vem sendo concebida de forma
democrtica. Celebradas como conquistas
programticas so, de fato, vivenciadas
nesse momento como um captulo a mais do
desafio por superar as ticas institucionais
que ignoram a visibilidade democrtica
alcanada por todos os envolvidos na
implementao das cotas.
Analiso que h coerncia da adoo
de cotas tnico-raciais, como parte das
aes afirmativas, pois consistem em uma
formulao singular brasileira, de uma
experincia participativa e democrtica
atravs das instncias representativas das
instituies pblicas de ensino e que
reforam um dilogo entre movimentos
sociais, representantes da sociedade
organizada e instituies de ensino
superior. O que sinalizamos sociedade
quando barramos exatamente processos que se
pautam pelos caminhos da representao
democrtica? O que est em votao aqui
nesta Corte no so apenas as cotas tnico-
raciais, mas a prpria validade dos
processos democrticos e de representao
participativa que se desdobram, em formas
singulares, em mais de 80 instituies de
ensino.
3. O princpio da dignidade humana
para compreender e avaliar a importncia das
cotas. Nossa capacidade de avaliar a
importncia das cotas depende da compreenso
das respostas concretas elaboradas nesses
processos e que atendem aos princpios de
dignidade humana e direitos humanos. No h
como dissociar a questo racial da
prioridade dada ao confronto das drsticas
desigualdades raciais. As noes de raa e
racismo so temas constitutivos dos direitos
humanos em mbito internacional. Avanamos
na crtica ao papel da cincia na
sustentao de noes racistas. Hoje, essas
noes reverberam nos debates pblicos na
sociedade brasileira quanto s
formas de enfrentamento ao racismo. Noes
de minorias e direitos de minorias no
devem ser esvaziadas das preocupaes que
marcam sua gnese, qual seja, a anlise das
desvantagens e os processos histricos que
reiteram a marginalizao e que se mostram
mais visveis no domnio dos cdigos
hegemnicos.
4. A perspectiva mica de incluso
tnico-racial. pertinente utilizar antigas
concepes e um conceito impreciso de
minorias para enunciar a questo racial no
Brasil? necessrio sim se pautar pela
perspectiva mica da incluso racial que se
encontra presente no debate sobre os rumos
da educao. Hoje este tema minoria/maioria
encontra-se em disputa dos seus sentidos
semnticos e usos polticos. Desde o perodo
das redemocratizaes sul-americanas, as
noes de minorias e raa vm sendo
atualizadas e adquirindo sentidos de
incluso social, como ensina Ilka Boaventura
Leite (2002 & 2008), sentidos mais amplos do
que aqueles que dependem do crivo do debate
cientfico
e do poder discricionrio da
definio de unidades sociais caracterstico
de Estados coloniais.
No contexto brasileiro, as noes de
raa ressurgem como uma referncia a uma
trajetria de ancestralidade e de
enfrentamento discriminao racial e que
converge s preocupaes sobre a ampliao
das noes de dignidade humana presentes nos
novos desenhos constitucionais dos Estados
ps-coloniais. Esses colocam em questo os
processos de invisibilizao que relegaram
segmentos da sociedade a uma desvantagem
histrica de no participao e
representao social. Procuram sim reparar
danos ocasionados pela negligncia do Estado
no acesso a direitos como justia social,
sade, educao, territrios.
No Brasil, as perspectivas atuais
convergem para o que Jos Carlos do Anjos
(2004) aponta como um necessrio processo de
desrracializao das relaes sociais e na
problematizao da biopoltica de Estado.
Quer dizer, da crtica s prioridades e
invisibilidades adotadas na distribuio dos
benefcios das polticas pblicas; do
direito de viver, ou o deixar a sua prpria
sorte, ocasionadas pelo no reconhecimento
de segmentos da populao por instituies e
agentes de Estado. Essa viso histrica
sobre a atuao do Estado urgente de ser
resgatada, uma lacuna que deve ser atendida
em diversos mbitos das polticas de Estado.
atravs de recursos concretos, como as
aes afirmativas que se tem esboado esse
enfrentamento s formas de biopoder do
racismo institucional. Ou seja, colocando em
questo todas as formas de invisibilizao
de segmentos e que se expressam como uma
geocultura das instituies: 1) que
consideram os sujeitos como inadequados s
lgicas institucionais, 2) que os retiram de
sua posio de sujeitos no mundo,
desqualificando seus registros e linguagens
prprias. 3) que desqualificam os sujeitos
que desafiam os limites do entendimento das
polticas universalistas os relegando a
condio de exceo.
Essas formas de ocultamento do
racismo institucional s podem ser
enfrentadas quando uma elaborao de
conhecimento permeado pela perspectiva
tnico-racial se fizer presente na formao
de quadros tcnicos, nas diversas reas de
conhecimento e convertidas em prioridade na
pauta dos agentes de Estado.
5. Os fundamentos e condies para a
concretizao das polticas pblicas das
cotas. A adoo de aes afirmativas alm de
reverter os preconceitos raciais que causam
impacto na estrutura social constituem
importante contribuio s polticas
pblicas de promoo cidadania por
sinalizarem direitos constitucionais a
coletividades que foram relegadas s margens
da dignidade humana.
A Carta Constitucional oferece a
estabilidade necessria para que tais
instrumentos jurdicos proporcionem a
explicitao dos sentidos conferidos
dignidade humana e s formas de reparao
histrica e reconhecimento social que visam
a promoo do bem comum. As cotas garantem a
necessria habilitao de mediadores que
potencializem a capacidade de grupos de se
inscreverem na economia poltica da
produo (da diferena) cultural.
(Restrepo:2002:p.35) e assim rompam com a
invisibilidade a que foram relegados
historicamente. Elas emergem dos mandamentos
constitucionais com significados mais amplos
que uma mera promoo individual, inclusive
porque ensejam uma rede de aes
afirmativas, que se reforam mutuamente, e
que vem sendo desenhadas como polticas de
Estado. Introduz-se assim a possibilidade de
contar com a atuao decisiva de
afrodescendentes e indgenas, e de
habilidades que a sociedade brasileira
precisa para elaborar um conhecimento
qualificado na promoo de justia social.
As cotas reforam duas frentes de
atuao:
5.1) A primeira diz respeito ao
necessrio envolvimento das universidades
pblicas nesta rede de aes afirmativas. O
ingresso de cotistas visa garantir e
agilizar essa qualificao contemplando as
perspectivas tnico-raciais em diferentes
campos do conhecimento.
5.2) Uma segunda frente vem sendo
constatada no decorrer do trabalho direto
dos pesquisadores do Ncleo de Antropologia
e Cidadania, em seus projetos de
monitoramento e relatrios tcnicos de
regularizao fundiria de terras de
quilombolas e sade da populao negra.
Testemunhamos os inmeros
obstculos institucionais que so
vivenciados pela populao afrodescendente e
indgena, tanto com os saberes tcnicos
quanto com as lgicas de padronizao
burocrtica, e que impedem a implementao
das polticas pblicas: respaldados em
certezas retricas da no-existncia desses
outros demandantes, ou por consider-los
meras excees.
A presena de afrodescendentes e
indgenas, na condio de pares que
interfiram na vida acadmica e na formulao
das polticas pblicas uma condio
fundamental para seu formato participativo
no sentido de promover a dignidade humana,
para faz-las prioridade de Estado, mantendo
esses segmentos longe dessa histrica linha
de sombra da invisibilidade e no
participao.
6. O valor de cidadania na
contribuio social das cotas.
Constatamos inmeros desafios a
serem transpostos, decorrentes da
dificuldade de compreendermos os princpios
de entendimento das chamadas populaes
alvo e de partilhar os pontos de vista
permeados por uma experincia cotidiana e
histrica com o preconceito racial e com o
racismo institucional. Se possvel
projetar algo sobre as cotas, que sendo um
instrumento gestado de forma participativa
adquire um valor diferenciado e um alcance
amplificado para intensificar a democracia
das relaes em todos os mbitos e que
merecem deixar de ser um programa de
intenes. So resultado do aprimoramento do
debate democrtico que tem um efeito
positivo correlato nas universidades
pblicas.
A contribuio das cotas se expressa
pelo valor social que conferimos ao
exerccio da cidadania e das formas de
representao que ela chancela na
institucionalizao das polticas pblicas
de promoo de equidade. esse processo de
qualificao, em que se buscam elementos e a
visualizao das capacidades democrticas,
que as cotas propiciam e que no pode se
perder, sob pena de um retrocesso social,
considerando o patamar democrtico que nos
encontramos.
O que merece apreciao neste
momento que o conjunto de aes
respaldadas legalmente, aqui examinados,
possam gozar da estabilidade jurdica que a
constituio de 1988 lhe confere, como aes
que visam a promoo da cidadania.
Sobretudo, precisam ser intensificadas com
inteligncia. Inclusive, ao retomarmos aqui
esse espao de explanao e anlise sobre as
cotas com vozes de diferentes saberes
deixamos claro ao ambiente jurdico e
exemplificamos nesta Corte esse percurso
democrtico. o debate propiciado pelas
cotas que nos permite atualizar, refletir e
decidir sobre os rumos da cidadania no
Brasil."
Se me permite um adendo minha fala, eu
gostaria que fossem consideradas algumas notas que tambm
esto nesse texto, entre elas a nota 4, aqui foi falado
sobre casos concretos. A anlise de Joo Vicente Souza, do
"Conexes e Saberes", na nota 4, aponta as alteraes
introduzidas pelo sistema de reservas na valorizao do
sistema do ensino pblico. E, na nota 4, tem alguns dados
estatsticos levantados pelo Joo Vicente Souza:
"H inmeros desafios a enfrentar,
os dados apresentam a dinamicidade desse
processo em que pese a UFRGS ainda receber
menos inscritos do ensino pblico e, alguns
cursos, cuja nota de corte muito alta,
sequer terem classificado auto-declarados
negros oriundos do ensino pblico, no
primeiro ano de cotas. Dados que se alteram
felizmente, mas demonstram que esses so os
aspectos gerais que merecem ateno em sua
dinamicidade para avanar e cumprir as metas
de democratizao do acesso universidade
pblica."
Obrigada.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo a Professora Denise
Fagundes Jardim.
Antes de dar continuidade aos trabalhos, eu
gostaria de assinalar a honrosa presena do ilustre
Deputado Ronaldo Caiado, agradecendo o seu interesse, e que
lder do Partido dos Democratas na Cmara Federal.
Convido agora o eminente Senador Demstenes
Torres, que Presidente da Comisso de Constituio,
Justia e Cidadania do Senado Federal, para fazer uso da
palavra. No assinalarei tempo a Sua Excelncia, que ficar
ao seu prudente critrio, porquanto o Senador Demstenes
Torres o nico representante do Congresso Nacional que
comparece para falar no dia de hoje. Ento, Vossa
Excelncia, que em princpio teria quinze minutos, ter a
discricionariedade para utilizar o tempo como melhor lhe
aprouver, sendo certo que Vossa Excelncia o ltimo que
falar na manh de hoje.
Vossa Excelncia est com a palavra.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR SENADOR DEMSTENES TORRES
(PRESIDENTE DA COMISSO DE CONSTITUIO, JUSTIA E
CIDADANIA DO SENADO FEDERAL) - Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, muito obrigado pelo convite, uma honra estar
aqui. Devo lhe dizer que Vossa Excelncia toma uma medida
extremamente saudvel: chamar aqueles que so contra e a
favor das cotas raciais, aqueles que estudaram o problema e
que podem lhe dar uma contribuio valorosa no voto que ir
proferir. Nossa querida Procuradora Deborah Duprat, a quem
tenho a honra de pertencer mesma instituio, embora
licenciado, a quem tenho a honra de pertencer mesma
instituio, embora licenciado, e tambm pude acompanhar o
seu perodo de interinidade frente do Ministrio Pblico
Federal, onde desempenhou a funo de Procuradora-Geral,
com todo denodo e sabedoria que lhe peculiar; Senhor
Ministro da Igualdade Racial, dson Santos, tambm nos
encontramos sempre na discusso desse problema no intuito
de procurar uma soluo que contente a todos os
brasileiros; Senhor representante da Ordem dos Advogados do
Brasil, Doutor Miguel ngelo Canado, nosso respeito e
parabns pela assuno do cargo, no qual ficar por um
grande perodo e, com certeza, honrar a Ordem dos
Advogados; senhores cientistas, senhores professores,
reitores; Deputado Ronaldo Caiado; senhores advogados;
senhores do Movimento Social.
Ministro Ricardo Lewandowski, confesso a
Vossa Excelncia que sou oriundo tambm do movimento
social. Aos dezesseis anos de idade eu militava no Comit
Goiano pela Anistia, para que os nossos presos polticos
pudessem voltar ao Brasil. Confesso a Vossa Excelncia que
mais por mpeto do que por conhecimento; mais por vontade
prpria do que propriamente por saber exatamente o que
acontecia, mas confesso que estava do lado certo. Desde
esse perodo buscava, dentro desse sentimento de justia
que eu tinha, fazer com que o Brasil pudesse ser mais
justo; achava um equvoco, como acho, que algumas pessoas,
por pensarem de forma diferente sejam, de certa forma,
banidas, do pas ou de determinado meio.
Quando comecei a enfrentar esse tema, como
membro da Comisso de Constituio e Justia e Cidadania
do Senado, e, posteriormente, como Presidente da Comisso
de Constituio e Justia do Senado, pude perceber que um
tema extremamente apaixonante que leva, muitas vezes, no
por vontade prpria, a criar uma espcie de animosidade com
aqueles que advogam tese contrria. O tema to
apaixonante que as pessoas se tornam quase que inimigas,
quando no deveria ser assim.
Quando ns discutimos no Senado no estamos
discutindo a escolha de uma ao afirmativa. O que ns
achamos mais importante para o Brasil dentro das
alternativas que nos so colocadas? Ento, hoje ns
discutimos se vamos implantar no Brasil, nas Universidades,
as cotas raciais ou as cotas sociais? Perdoem-me os que
pensam de forma diferente, no h como tratar da questo
alternativamente.
O Reitor da Universidade Federal de
Pernambuco esteve conosco numa audincia pblica e tivemos
a oportunidade de ouvir mais ou menos uma centena de
pessoas ao longo desses anos, e ele dizia o seguinte: se a
cota for superior a vinte por cento, ns estamos matando a
autonomia universitria. Qualquer que seja a cota, se ns
encontrarmos um recorte maior do que isso, ns estamos
matando o mrito dentro da discusso que devemos ter,
levando-se em conta que temos de buscar aqueles que no
alcanaram ainda a condio de ingressarem nos bancos
universitrios. Ento, a discusso simplesmente essa que
ns travamos, e ns aguardamos a deciso do Supremo
Tribunal Federal.
Confesso a Vossa Excelncia que fui eu mesmo
que incitei o meu partido a vir aqui buscar uma definio
do Supremo Tribunal Federal, porque uma responsabilidade
extraordinria; uma responsabilidade do Congresso. No
foi para discriminar "a" ou "b"; no foi para evitar que
determinado fentipo estivesse ou no nos bancos
universitrios, foi para que compartilhssemos uma
responsabilidade com o futuro. Os nmeros apresentados so,
muitas vezes, duvidosos ou analisados sem muito rigor e
critrio.
A pergunta que fao se ns, realmente,
devemos criar uma legislao brasileira para os negros no
Brasil? Temos que criar uma legislao para os negros no
Brasil? Os negros merecem esse tratamento? E no caso do
merecer o tratamento at pensando num futuro em que essa
discriminao positiva pode lhe ser totalmente contrria?
Lembrando a tradio que ns temos no Brasil, desde 1831
toda e qualquer lei feita no Brasil foi numa nica direo:
ou minimizar os efeitos da escravatura ou combater o
racismo no Pas. A primeira lei de 1831, que era uma lei
tentando enganar a Inglaterra, uma lei que proibia o
trfico de escravos, por exigncia da Inglaterra que era a
maior potncia e senhora dos mares, ficou conhecida como
"lei para ingls ver". Por qu? Porque foi uma lei para
enganar os ingleses que queriam o fim do trfico
obrigatoriamente. O Brasil j foi, efetivamente, um pas
negro.
Quando chegaram aqui as cortes portuguesas,
em 1808, o Rio de Janeiro era a maior cidade negra do
mundo, tnhamos duzentos mil negros no Rio de Janeiro. E
hoje, ainda, correm em nossas veias, em 87% dos brasileiros
corre nas veias o sangue negro, entre eles, com muito
orgulho, eu. E digo at o seguinte, quando eu digo "minha
me era mulata", fui at tripudiado, e falavam assim:
mulato filho de mula. Porque at a palavra hoje passou a
ser preconceituosa, Ministro. O pardo no existe, o pardo
filho de pardal. Ento, 87% dos brasileiros tm o sangue
negro, mais de 90% tm o sangue branco, mais de 60% tm o
sangue indgena, como que ns vamos fazer esse recorte?
Como que ser feito esse recorte racial dentro do Brasil?
E a entramos numa esfera, que a esfera do curso
superior, que alguns brasileiros tm. Em torno de 9% dos
brasileiros, 20% dos franceses, 40% dos americanos, ou
seja, ns estamos num estrato ainda bem inferior quele
patamar que podemos chegar em termos de pas civilizado,
que estamos nos transformando, e vamos nos tornar, com
certeza. Agora, fato que se transformou num mito e se
transformou numa verdade convencional dizermos que a
universidade pblica no Brasil feita para os ricos, e a
universidade privada feita para os pobres.
Na realidade, Ministro, infelizmente, todas
duas universidades so feitas para os ricos. Basta lembrar
que ns temos aqui um dado muito interessante, que o dado
referente s universidades brasileiras, e que diz,
claramente, ns temos hoje na universidade pblica, mais ou
menos, dos 20% mais pobres do Brasil 3,1% que vem do
estrato mais pobre, independentemente de sua cor, e mais ou
menos 1% nas universidades privadas. Ou seja, o ensino
pblico no Brasil feito mesmo para os ricos. esse um
tipo de modelo que ns temos que tratar de forma diferente,
surge a um outro problema. O problema do Brasil: quem
discriminado no Brasil apenas o negro? O negro que o
alvo de toda discriminao que ns temos, ou ser que o
nosso problema em relao ao pobre? Ou ser que o nosso
problema em relao quele que nada possui
independentemente da sua cor? Ns temos hoje no Brasil
dezenove milhes de brancos pobres, segundo o IBGE, qual
tratamento ns vamos dar para esses brancos pobres no
Brasil? O branco pobre tambm no tem uma escola boa,
tambm recebe um salrio inadequado, tambm no frequenta
lugares em que lhe possa acender as luzes de um
enriquecimento cultural ou educacional.
E a ns chegamos a um dado ainda mais
estarrecedor, Ministro: o dado da educao pblica no
Brasil.
De acordo com o INEP, Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais, que fez o ltimo ndice
de Desenvolvimento da Educao Bsica, o IDEB, de uma
escala de zero a dez, os alunos do primeiro ciclo do ensino
fundamental obtiveram a pontuao de 4,2; j os alunos do
segundo ciclo do ensino fundamental conseguiram em mdia
3,8; enquanto os alunos do ensino mdio conseguiram 3,5
pontos. Ento os alunos brasileiros, infelizmente, so
analfabetos. Independentemente da cor que ele tenha ao
estudar, ao frequentar uma escola pblica, ele no
consegue aprender. O ENEM 2008, numa escala de zero a cem,
a mdia nacional foi de 41,69 pontos. Os alunos da escola
pblica conseguiram alcanar a mdia de 37,27 pontos e os
estudantes da rede privada de ensino obtiveram a mdia de
56,12 pontos; nota inferior: 11,3 pontos em relao a 2007.
Ento, ineficaz e discriminatria a nossa
escola pblica, Ministro. Veja s que o PISA - Programa
Internacional de Avaliao de Alunos, 2006, coordenado pela
Organizao para a Cooperao do Desenvolvimento Econmico
- OCDE, cuja finalidade produzir indicadores comparados
de desempenho educacional de estudante na faixa dos quinze
anos, o Brasil, entre os 57 pases participantes, ocupa a
53 posio em matemtica. A 52 em cincias e a 48 em
leitura. Qualquer que seja a qualidade da nossa faculdade,
perdoem-me aqueles que tm dados estatsticos contrrios,
no haver um resultado bom para aqueles que chegarem s
universidades do Brasil oriundos das escolas pblicas.
E sobre o analfabetismo funcional, que foi
feita pelo Instituto Paulo Montenegro uma pesquisa, ainda
no ano de 2007, que considerado o mais completo estudo
brasileiro nesse sentido, mostra que, dentre os que cursam
entre a 5 e a 8 sries, apenas 20% podem ser considerados
plenamente alfabetizados. Dos que cursaram ou esto
cursando o ensino mdio, so alfabetizados plenos 47% ou
menos da metade. Ento tambm soltamos um grande nmero de
diplomados analfabetos neste Pas.
Da vem a indagao: ser que o recorte
estratificado racialmente, ser que realmente ns somos uma
maioria de negros no Brasil? Pegando os dados ltimos do
IBGE ns verificamos o seguinte, Ministro, e aqui ns
podemos atentar para um fato interessante: como as
estatsticas podem s vezes ser manipuladas para sustentar
um ponto de vista. Ento, o que fez o IBGE? O IBGE - vou
usar a terminologia do IBGE - ns temos no Brasil 5,9% de
pretos, ns temos 42% de pardos, que so, isso os
autodeclarados, o IBGE faz nesse sentido. Cientificamente
ns sabemos que o nmero de pardos muito maior, o nmero
que tem sangue negros, brancos e indgenas muito maior,
mas autodeclarados: 5,9% so pretos, 42% so pardos,
portanto mestios, 51,4% so brancos. Muito bem, para
termos 48% de negros, quando eu cresci, se eu for ao
dicionrio, ns aprendemos que a palavra "preto" era uma
palavra discriminatria, que deveramos mudar para "negro",
porque dava uma conotao racial. Se ns somarmos esses
dois nmeros, pretos e pardos viraram negros no Brasil,
Ministro.
por isso que temos um grande nmero de
negros no Brasil, porque, segundo o IBGE, o pardo tambm
negro. Se pegarmos os 58,6 milhes de pobres no Brasil, o
que que dizemos? Que temos, no Brasil, 65,8% de negros
pobres, no isso? Mas qual a estratificao real? Ns
temos 7.1% de pretos pobres; temos 58.7% de pardos pobres e
temos 34,2% de brancos pobres no Brasil.
Ento, quando transformamos o pardo tambm
em negro, a a situao, realmente, passa a ser o negro a
grande vtima do Brasil. Mas temos de lembrar que o pardo
tambm branco, que nas veias do pardo corre o sangue
branco.
No mapa da violncia, 4-UNESCO-2004, sob
dados referentes de 2002.
Nmero de homicdios. Cansei de ver o
movimento social, com faixas, mostrando que morrem muito
mais negros no Brasil do que brancos, porque a diviso que
querem fazer no Brasil essa - de negros e brancos. No
existem outras cores. Lembrando que no PNAD, feito em 1975,
ltimo feito, o brasileiro se identificou, Ministro, em
quase 150 tipos de cores diferentes. Vejam s!
No mapa da violncia, portanto, segundo
apregoam, morreram 65% mais negros adultos e 74% mais
negros jovens que os brancos.
Eu mesmo fiz questo de pegar, porque a vem
a diviso, e mais: a UNESCO usou do mesmo golpe estatstico
e disse que o fazia por uma questo de metodologia. Era
mais fcil compreender, era como se no Brasil no houvesse
mestiagem. s: no Brasil ns temos brancos e temos
negros.
Dos 45.767 homicdios, 55,3% eram de pardos;
41,1% eram de brancos e 3,5% eram de pretos, na
terminologia do prprio IBGE.
Ministro, ainda temos, senhoras e senhores,
os dados do ltimo InfoPen do Ministrio da Justia, 2008,
sobre o nmero de presos no Brasil.
Tm at frases: "cadeia no Brasil feito
pra isso, isso e isso", "a cadeia no Brasil est cheia de
negros".
Pelos dados do InfoPen do Ministrio da
Justia, tnhamos, em 2008, 372.064 presos. Desses, 149.774
eram brancos; 144.701 eram pardos e 62.218 eram pretos. Se
somarmos, obviamente, pretos e pardos e transformamos em
negros, temos uma maioria de negros tambm presos no
Brasil.
Ministro, o que podemos dizer, na realidade,
que, se algum racialmente discriminado no Brasil, esse
algum o pardo. Se algum que sofre, com todas as letras,
a discriminao aquele que mestio no Pas e que a
nossa grande maioria.
Tambm ouvi, aqui, dizer, Ministro, que
temos, no Brasil, um racismo institucional. Qual a
instituio que vem empregando o racismo no Brasil? Porque
as nossas leis so to severas e aplicadas em ltima
instncia pelo guardio que o Supremo Tribunal Federal
que, se algum for racista no Brasil, tem de entrar em seu
quarto e ficar escondido, porque, seno, a instituio
brasileira, as leis brasileiras, o Poder Judicirio, o
Ministrio Pblico vo agir duramente para que essa pessoa
seja efetivamente punida.
E vou relembrar: s da edio da
Constituio de 1988 at 2005, foram 16 diplomas legais com
o objetivo de combater a discriminao racial. Endurecendo
muito, inclusive, as penalidades nesse sentido.
Digo para Vossa Excelncia, sem medo de
errar, no existe nenhuma instituio no Brasil que tenha
somente 2% de negros. No existe, nem o Supremo Tribunal
Federal, no existe no Brasil nenhuma instituio, na OAB,
no Senado Federal, na Cmara, na UnB, no existe. Por qu?
Porque a, tambm, uma manipulao estatstica. Quando
querem que os pardos se agreguem aos pretos para formar uma
maioria so agregados, quando no querem os retiram. A
sim, se ns formos chamar, formos considerar os pretos,
possvel que na UnB ns tenhamos 2% de pretos, mas se
agregarmos os pardos, em nenhuma hiptese, em nenhuma
instituio brasileira ns teremos esse dado. Isso no quer
dizer de forma alguma que os pretos, os pardos e os brancos
no sejam discriminados no Brasil. Que no exista o racismo
no Brasil. Existe o racismo no Brasil, mas ns, a duras
penas, estamos combatendo isso.
A ideia de colocar as cotas raciais ser que
no vai reavivar o sentimento racista? Ser que aquele que
perdeu a sua vaga na universidade no vai dizer amanh:
perdi porque ele tem uma cor diferente da minha. E comear
a tomar dio dessa cor.
Ser que a melhor maneira que temos no
Brasil de enfrentar as desigualdades, Ministros?
A, surgem o que eu chamo de histrias e
ideias amalucadas, que justamente aparecem algumas
estatsticas completamente dissociadas da realidade. Por
exemplo: as mulheres negras no Brasil recebem por parte do
Sistema nico de Sade um atendimento preconceituoso por
qu? Porque elas, na realidade, esto sendo discriminadas
no atendimento de maior complexidade. Ser que isso
verdade? Ser que os mdicos brasileiros esto, realmente,
sonegando s mulheres negras o direito tomografia
computadorizada, o direito a fazer uma cirurgia cardaca?
Ser que tem algum fundo de verdade esse tipo de
estatstica? Um estudante secundarista, numa audincia
pblica que tivemos l no Senado, Ministro, disse o
seguinte: ns somos os responsveis pela escravido na
frica, porque ns fomos l e sequestramos os africanos.
Vou mandar para Vossa Excelncia as notas taquigrficas,
tudo que eu disser aqui vou mandar para Vossa Excelncia, o
que ns temos l, para que Vossa Excelncia tambm possa
analis-los no parecer e no voto que ir fazer.
Agora, todos ns sabemos que a frica
subsaariana forneceu escravos para o mundo antigo, forneceu
escravos para o mundo islmico, forneceu escravos para a
Europa e forneceu escravos para a Amrica, lamentavelmente.
No deveriam ter chegado aqui na condio de escravo ou
escravos, mas chegaram.
Ento, parece, sim, que algo, imaginem os
brasileiros sequestrando os africanos e trazendo para c
para serem escravos e lembrando, como dizia o Darcy
Ribeiro, temos uma histria to bonita de miscigenao,
Darcy Ribeiro que hoje tambm excomungado pelo movimento,
porque diz que aqui um caldeiro maravilhoso de cores e
raas, como que ns podemos tratar, portanto, dessa
questo do africano escravizado. to equivocada essa
viso, que, por exemplo, Paul E. Lovejoy, que escreveu um
livro acerca especificamente do tema, mostra
lamentavelmente que, at o incio do sculo XX, o escravo
era o principal item de exportao da pauta econmica
africana. Incio do sculo XX.
As negras foram estupradas no Brasil. A
miscigenao se deu pelo estupro. Foi algo absolutamente
forado. Gilberto Freire, que hoje completamente
renegado, mostra que isso se deu de uma forma muito mais
consensual e que, felizmente, isso levou o Brasil a ter
hoje essa magnfica configurao racial.
Tambm j li que Portinari era racista
porque na tela "Os lavradores de caf" colocou ps
proeminentes nos negros. Ou que Jorge Amado rebaixa
moralmente o negro em sua obra. E assim caminha a
humanidade. Princesa Isabel j foi descartada
historicamente, j no existe mais. Joaquim Nabuco...
Agora - j caminhando para o encerramento -,
lembrando o que disse Joaquim Nabuco em um texto
espetacular, naturalmente na poca em que viveu, sobre a
peculiaridade da escravido no Brasil - sofrida,
naturalmente. Mas o fato de termos no Brasil negros
traficantes de escravos, o fato de termos no Brasil
senhores de escravos negros, o fato de termos no Brasil
pessoas proeminentes em decorrncia de sua riqueza, negros
ainda em pleno apogeu da escravatura no Brasil.
Diz ele:
A escravido, ainda que fundada
sobre a diferena das duas raas, nunca
desenvolveu a preveno de cor no Brasil. E,
nisso, foi infinitamente mais hbil em
relao ao modelo do sul dos Estados Unidos.
Os contatos entre aquelas, desde a
colonizao primitiva dos donatrios at
hoje, produziram uma populao mestia, como
j vimos, e os escravos, ao receberem a
carta de alforria, recebiam tambm a
investidura de cidado. No h assim, entre
ns, castas sociais perptuas, no h,
mesmo, diviso fixa de classes. O escravo
que, como tal, praticamente no existe para
a sociedade porque o senhor pode no o ter
matriculado, e se o matriculou, pode
substitui-lo. E a matrcula, mesmo, nada
significa desde que no h inspeo nas
fazendas nem os senhores so obrigados a dar
conta dos seus escravos s autoridades, esse
ente, assim equiparado, quanto proteo
social, a qualquer outra coisa de domnio
particular, no dia seguinte a sua alforria
um cidado como outro qualquer, com todos os
direitos polticos e o mesmo grau de
elegibilidade. Pode mesmo, ainda na penumbra
do cativeiro, comprar escravos. Talvez, quem
sabe, algum filho do seu antigo senhor.
Essa a realidade social do Brasil,
Ministro Ricardo Lewandowski. No podemos, de forma alguma,
olvidar isso.
S para relembrar: em Porto Alegre, que, na
sabedoria convencional, temos como uma cidade branca, 69%
dos porto-alegrenses tm descendncia europia, 21%
amerndia e 10% africana.
A realidade que somos mestios. Nosso
grande problema a pobreza que, a sim, estrutural. O
racismo no Brasil no estrutural, nem institucional. A
pobreza, essa marginaliza, essa tira o cidado de qualquer
tipo de benefcio. E veja bem, Ministro, onde estamos
entrando: ao estabelecermos as cotas raciais, estamos
estabelecendo, tambm, que os negros ricos podero entrar
atravs das cotas raciais. A estaremos, sim, estabelecendo
uma discriminao grave.
Mas eu acredito, busquei algumas
terminologias para identificar quem pobre no Brasil. Os
negros, temos muitos pobres; os pardos, os brancos, os
amarelos, os cafuzos, os mamelucos, os caboclos, os
curibocas, os catiretes, os cafuus, os caiaras, os
ndios, as mulatas; temos pobres, grande nmero de pobres
no Brasil. E certamente, Ministro, Vossa Excelncia ter de
fazer, primeiro que todos, a "escolha de Sofia". Vossa
Excelncia ter de levar adiante esse estudo, felizmente
numa discusso absolutamente desapaixonada; felizmente numa
discusso cordial.
No verdade, no verdade que, em algum
momento, foram questionadas as aes afirmativas no Brasil
em favor de quem quer que seja. No verdade, ao
contrrio. O que o Senado, hoje, tenta descobrir, com a
ajuda importante do Supremo Tribunal Federal, qual
caminho ns devemos seguir no Brasil: se ns devemos acudir
os negros ou devemos acudir todos os pobres brasileiros,
inclusive os negros?
Agradeo a Vossa Excelncia, muito obrigado
pela tolerncia.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeo a valiosa interveno
de Vossa Excelncia, Senador Demstenes Torres, que ser
levada em conta como as demais intervenes, dos
especialistas e representantes das universidades, do
Governo, no apenas por mim, mas tambm pelos demais
Ministros que integram esta Corte.
Conforta-me sobremaneira, assim como
confortou a Vossa Excelncia, que essa deciso importante
ser compartilhada pelo Congresso Nacional e o Supremo
Tribunal Federal, e, no que me concerne, eu compartilharei
essa deciso com os demais Membros desta Casa.
Encerradas as apresentaes do primeiro dia
da quinta audincia pblica do Supremo Tribunal Federal, eu
registro e agradeo a presena do Excelentssimo Ministro
Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, e, antes dele
ainda, do eminente Presidente desta Corte, Ministro Gilmar
Mendes, que nos deu a honra de abrir os trabalhos na manh
de hoje; agradeo tambm a presena da eminente Doutora
Deborah Duprat, Vice-Procuradora-Geral da Repblica, demais
autoridades presentes; o Senhor Ministro Lus Incio Lucena
Adams, Advogado-Geral da Unio; o Senhor Ministro Edson
Santos, da Secretaria Especial de Polticas de Promoo da
Igualdade Racial; do eminente Senador Demstenes Torres,
Presidente da Comisso de Constituio e Justia e
Cidadania do Senado Federal, que ocupou o tempo tambm
destinado ao Presidente da Comisso anloga da Cmara dos
Deputados; agradeo a presena do ilustre Deputado Ronaldo
Caiado, lder dos Democratas na Cmara Federal; do Senhor
Doutor Miguel ngelo Canado, representando o Doutor Ophir
Filgueiras Cavalcante, Presidente Nacional da OAB; do
Senhor Professor Erasto Fortes de Mendona, representando a
Secretaria Nacional dos Direitos Humanos; da Senhora
Professora Maria Paula Dallari Bucci, Secretria de Ensino
Superior do Ministrio da Educao, representando o
Ministro Fernando Haddad, Ministro da Educao; do Senhor
Professor Carlos Frederico de Souza Mares, representando a
Fundao Nacional do ndio; do Senhor Professor Mrio
Lisboa Theodoro, representando o Instituto de Pesquisa
Econmica Aplicada; da Senhora Doutora Roberta Fragoso
Kaufmann, Procuradora do arguente; do Senhor Professor Jos
Jorge de Carvalho, representando a Universidade de
Braslia; do Senhor Doutor Caetano Cuervo Lo Pumo,
Procurador do Recorrente; da Senhora Professora Denise
Fagundes Jardim, representante da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul; magistrados presentes; das Professoras
Mnica Herman e Nina Ranieri, da Universidade de So Paulo,
que nos honram a sua presena; demais autoridades,
servidores da Corte, as senhoras e os senhores presentes
que nos prestigiaram, muito obrigado.
Declaro encerrada a sesso.
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS FILHO
(MESTRE DE CERIMNIAS) - Informamos aos representantes da
imprensa que o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski
conceder entrevista coletiva aqui mesmo nesta sala.
Solicitamos a gentileza de todos que
devolvam os crachs de credenciamento para a equipe do
cerimonial, pois o modelo adotado para o segundo dia de
atividades no ser o mesmo.
O Supremo Tribunal Federal agradece a
presena e deseja a todos um bom-dia.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS FILHO
(MESTRE DE CERIMNIAS) - Senhoras e Senhores, bom-dia a
todos!
Solicito que ocupem seus lugares para darmos
incio, imediato, a esta audincia pblica.
Lembramos a todos da importncia dos
telefones celulares serem mantidos desligados a partir
deste momento.
Senhoras e Senhores, bom-dia a todos!
Mais uma vez agradecemos a gentileza por
desligarem seus telefones celulares e solicitamos que
fiquem de p para receber o Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, Relator da ADPF n 186 e do RE n 597.285, do
Rio Grande do Sul, e a Doutora Deborah Duprat, vice-
Procuradora-Geral da Repblica.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Bom-dia a todos! Vamos sentar, por
favor.
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS FILHO
(MESTRE DE CERIMNIAS) - As audincias pblicas organizadas
pelo Supremo Tribunal Federal seguem formalidades para a
sua viabilizao. Assim, em respeito s tradies desta
Corte e aos argumentos defendidos pelos palestrantes, no
sero permitidos aplausos, vaias, cartazes, faixas,
camisetas ou outras formas de manifestaes relativas ao
tema a ser debatido.
Solicitamos, ainda, que atentem para a
limitao de tempo de quinze minutos oferecido a cada
palestrante, considerando que ao final deste tempo o udio
ser automaticamente cortado.
Informamos que o cronmetro situado ao fundo
do auditrio ser acionado ao incio de cada palestra para
evitar incorrees relacionadas contagem do tempo.
Com a palavra o Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu declaro aberta a sesso de
audincia pblica para ouvir o depoimento de pessoas, de
especialistas com autoridade na matria, de Polticas de
Ao Afirmativa no Ensino Superior.
Como todos sabem, ns estamos promovendo
essas audincias pblicas para subsidiar a Suprema Corte no
julgamento da Arguio de Descumprimento de Preceito
Fundamental n 186 e tambm do Recurso Extraordinrio n
597.285/RS, ao qual foi dada repercusso geral.
Eu tenho a grata satisfao e a honra de
anunciar a presena do Senador Paulo Paim. um dos
polticos comprometidos com a luta pela emancipao de
vrios setores sociais e, para ns, uma extraordinria
honra t-lo presente no auditrio para acompanhar as nossas
audincias pblicas. Obrigado pela presena.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu vou reiniciar os trabalhos
ouvindo, inicialmente, a Doutora Wanda Siqueira, do
Movimento contra o Desvirtuamento do Esprito da Reserva
das Quotas sociais. A Doutora Wanda ter 15 minutos para
fazer o seu pronunciamento.
Est presente a Doutora Wanda? Pois no. A
senhora usar da tribuna. J est com a palavra.
A SENHORA WANDA MARISA GOMES SIQUEIRA
(MOVIMENTO CONTRA O DESVIRTUAMENTO DO ESPRITO DA RESERVA
DE QUOTAS SOCIAIS) Excelentssimo Ministro Ricardo
Lewandowski, Excelentssima representante da Procuradoria
da Repblica, ilustre Senador do nosso Estado, demais
componentes da mesa, a sociedade civil aqui representada
nos cumprimentos, e especialmente quero cumprimentar o
Ministro pela sensibilidade de oportunizar sociedade
reflexo sobre um tema de enorme importncia, tema este das
cotas sociais, que gerou tenso na sociedade, gerou tenso
nas famlias, gerou tenso nos meios acadmicos, tal a
complexidade do tema.
Eu advogo para estudantes h trinta anos,
desde a poca da "Lei do Boi". Talvez o Ministro recorde, a
"Lei do Boi" era uma lei que reservava vagas para filhos de
agricultores residentes na zona rural, nos cursos de
agronomia e veterinria das universidades pblicas. Ela
tinha o apelido de "Lei do Boi", mas o nmero 5.465/68.
Essa lei vigorou durante 18 anos e, lamentavelmente, ela
nunca atendeu os interesses sociais a que se destinava, ao
invs de filhos de agricultores, ingressavam na
universidade filhos de latifundirios. Durante 18 anos foi
assim. Eu ainda jovem advogada, no incio da dcada de 80,
tive a oportunidade de questionar o desvirtuamento dessa
lei, at porque fui professora de histria durante largos
anos e, na prtica, observei que ela no atendia os
interesses sociais a que se destinava. Lembro-me
perfeitamente de que as vitrias com relao a essa lei
foram aqui em Braslia, no extinto Tribunal Federal de
Recursos, de quem eu guardo saudosa memria de Ministros
como Gueiros Leite, Adhemar Raymundo, Washington Bolvar, e
todos se posicionaram a favor da constitucionalidade da
lei, mas contra o odioso desvirtuamento dessa lei, que ao
invs de trazer para a universidade os estudantes que
trabalhariam no campo depois, na verdade, abriram suas
portas as universidades pblicas para os estudantes de
origem muito rica, filhos de grandes latifundirios de todo
o Pas.
Temo que acontea o mesmo com as cotas
sociais. Somos absolutamente a favor da implantao de
programas de aes afirmativas, sempre fui a favor de
incluso social, mesmo quando estive frente da Diretoria
da OAB do Rio Grande do Sul, inclu na OAB colegas nossos
que estavam afastados da Instituio, porque eram os
advogados jubilados.
Ento, minha posio, Senhores, Senhor
Ministro, a favor da incluso social, sim, mas no da
forma odiosa como est sendo feita no Rio Grande do Sul.
Eu gostaria de ter serenidade para abordar
essa questo, mas me revolta, por exemplo, ver os prdios
de luxo onde moram os cotistas de Porto Alegre, que
ingressaram pelas cotas sociais por erros editalcios, por
fraude at, por desvio de poder, aquela teoria do
dtournement de pouvoir, dos franceses, que uma volta que
a administrao faz, um desvio para dar aparncia de
legalidade aos seus atos, aconteceu na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.
Ento, a indignao - eu represento aqui um
movimento que se constituiu e formado por cem estudantes
que questionaram as cotas e est representado pelo David
Minus, nosso cliente, que coordena esse movimento contra o
desvirtuamento do esprito das cotas. A Universidade
Federal do Rio Grande do Sul no soube elaborar o edital,
mas no soube porque no quis. Porque a Universidade, todos
sabem, os representantes das universidades que esto aqui,
formada por pessoas muito qualificadas, eu quero fazer
uma ressalva de que os professores so bons, mas que os
tecnocratas so maus, praticam atos eivados de vcios para
proteger os apaniguados. Sempre foi assim e continuar
assim enquanto o poder Judicirio felizmente, Ministro,
Vossa Excelncia est tendo a sensibilidade de debater este
tema.
Eu advogo na Justia Federal h trinta anos
e quero agradecer a sensibilidade dos desembargadores
federais, dos procuradores da Repblica que acolheram a
nossa tese do desvirtuamento.
Inicialmente, as liminares foram indeferidas
porque no tnhamos prova do desvirtuamento. Foi necessrio
ajuizar uma medida cautelar de exibio de documentos para
trazer luz os endereos dos cotistas que so mantidos a
sete chaves na Universidade. uma caixa-preta. Foi
necessria uma medida cautelar; uma liminar concedida por
uma juza federal para requisitar os documentos dos
cotistas porque ningum sabe quem eles so. So fantasmas?
So pessoas que no aparecem, que no se tem o nome, mas
que se sabe que estudam nas escolas de excelncia.
Ento, o erro editalcio que tem a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que se repete a
trs vestibulares, como se o Judicirio no tivesse
examinado com profundidade essa questo. O Desembargador
Thompson Flores, a Desembargadora Marga Tessler e tantos
outros reconsideraram suas decises anteriores quando viram
essas fotos.
Eu gostaria de passar outras fotos, se for
possvel, para mostrar onde moram os cotistas do Rio Grande
do Sul. bom que o Senador saiba disso.
Ento, enquanto existirem cotas sociais,
penso que deva ser pelo critrio hipossuficincia. E eu
pedi isso muitas vezes nos processos que a reitoria e que
os responsveis pelas normas do vestibular acrescentassem
norma comprovante de renda. At hoje no tem esse
comprovante de renda, porque a Universidade no quer. Ela
conveniada com o Colgio Militar, que s pblico porque
recebe verbas do Errio pblico, mas cobra mensalidades dos
estudantes. L estudam filhos de mdicos, de toda a elite.
No somos contra os estudantes e at entendemos que a
Universidade deve arcar com o nus de manter esses
estudantes at o final do curso e manter tambm os nossos
clientes que esto no quinto semestre. Muitos deles
ganharam liminar, frequentam o Curso de Cincias Jurdico-
sociais, Comunicao Social. Eles tm em mdia duzentos
pontos acima dos cotistas. Isso gerou um sentimento de
angstia, de tristeza e de injustia que eles foram
obrigados a bater s portas do Poder Judicirio, e,
felizmente, o Poder Judicirio aproxima-se mais da
sociedade.
Esta Casa, a Casa de Justia est resgatando
a sua histria de honra do passado, inclusive no perodo
de ditadura em que nunca os juzes se curvaram aos atos de
arbtrios de gestores que sombra da autonomia
universitria e aproveitando o programa de aes
afirmativas esto fazendo isto: colocando na universidade
estudantes que recebem como prmio uma viagem, um tour pela
Europa, por terem passado com um nico acerto na prova de
matemtica, por exemplo, e ainda no Orkut, riem dos demais.
- Eu acertei s uma e estou aqui, cara! triste dizer.
Eu adoro os estudantes brasileiros; advogo
pra eles h trinta anos. Mas triste, doloroso ver jovens
que, no incio de suas vidas - esto nos escutando agora -
foram frustrados no acesso ao ensino superior por normas.
No Rio Grande do Sul, a norma esta: ser oriundo de escola
pblica e autodeclarado negro. Esse "autodeclarado negro"
na verdade - como disseram as colegas que me antecederam
ontem - um tribunal racial que divide a sociedade em
negros e brancos. Ns queramos, sim. Eu fui professora de
escolas de periferias durante muitos anos. Comecei a
lecionar com quinze anos. Eu conheo a importncia e a
inteligncia dos jovens bem-alimentados, bem-nutridos,
independente de cor ou de raa. E isso que a universidade
quer fazer, separar negros e brancos. Inclusive advogamos
para um jovem negro. Veja o desvirtuamento: negro oriundo
da escola pblica,fez o ensino fundamental todo ele em
escola pblica, o ensino mdio em escola pblica e, no
final do ensino mdio, por necessidades de trabalho, ele
teve que fazer duas disciplinas num curso supletivo - EJA,
com bolsa de estudo - ele passou para engenharia mecnica
ou eltrica - e esse tribunal no aprovou ele, porque ele
tinha duas disciplinas num curso supletivo particular, mas
comprovamos que ele tinha com bolsa e o Judicirio concedeu
a liminar e ele est no quinto semestre de engenharia da
UFRGS.
Ento, esse desvirtuamento, ele causa
prejuzos para cotistas e no cotistas. Os nossos clientes
so meninos. E eu posso dizer que trago assim a lembrana
do rosto, das lgrimas dos pais desses alunos por terem
sido privados durante toda a sua vida de gozar frias com
seus filhos, de veranear, pagando escola privada com
sacrifcios extremos para que eles ingressassem numa
universidade. E, na hora do acesso, eles foram preteridos
no por pessoas desiguais, no pelos pobres, porque somos
todos a favor do critrio "hipossuficincia". Os meus
clientes, eles dariam a sua vaga para os pobres, sejam eles
brancos ou negros. O que eles se indignam pelo fato de
serem privados do ensino superior por jovens que
frequentaram os melhores cursos pr-vestibulares - cursos
com mensalidades de trs mil reais -, que frequentaram as
melhores escolas de Porto Alegre e que esto na
universidade no pelo princpio do mrito, mas pelo
princpio do desvio de poder, pelo odioso princpio do
apaniguamento. A universidade brasileira tem que ser
repensada, como dizia o saudoso professor Darcy Ribeiro.
Ela tem que ser repensada; ela no pode querer ingessar o
Judicirio ao argumento de que tem autonomia universitria
explcita no art. 207. Autonomia tem limites morais,
limites constitucionais. E a Constituio brasileira, como
diz o professor Canotilho. O problema no a Constituio.
O problema - diz o professor Canotilho - est nas ruas. Eu
diria: o problema est nas universidades, que formam
cidados, que formam polticos, que formam mdicos, que
formam advogados, mas que no respeitam os princpios como
o da dignidade da pessoa humana. No respeitam princpios
nsitos no art. 37 da Constituio Federal, que a
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficincia de seus atos. Eu fico triste quando vejo um
jovem juiz indeferir uma liminar, numa situao como esta,
em que tem percia comprovando fraude nos histricos
escolares - porque a entra o problema da fraude. Os
histricos escolares muitos foram fraudados - o Ministrio
Pblico est investigando isso. E jovens que estudaram em
escolas privadas argentinas ingressaram nos cursos da
UFRGS.
Ministro, triste ver quando um jovem juiz
indefere uma liminar porque a universidade tem autonomia
universitria. Goza de autonomia nos limites da lei, mas o
Poder Judicirio est acima da autonomia universitria. E
h de haver uma sincronia entre autonomia universitria -
somos a favor da autonomia universitria, mas autonomia
universitria com limites; no autonomia como passaporte
para o crime. Autonomia universitria.
E, felizmente - posso dizer -, sou uma
advogada bem-sucedida porque, ao longo da minha carreira
profissional, juzes, mesmo na poca da ditadura,
entendiam. Vrias mandados de prises foram expedidos
contra reitores - desculpem-me se tem algum reitor aqui -
porque no queriam cumprir decises judiciais. Foi
necessrio prevalecer sempre a fora do direito em
detrimento do direito da fora. Ainda hoje, quando se ganha
uma liminar para matrcula desses jovens, tem que requerer
a priso do reitor, porque eles no cumprem decises
judiciais. E a universidade funciona como um polvo. Ela tem
seus tentculos em todos os rgos pblicos. At meu
analista disse que, se eu vivesse na Grcia antiga, eu j
teria morrido, porque eu no gosto de dizer isso. Eu causo
um mal-estar, porque a sociedade no quer ouvir, muitas
vezes, essa verdade, e necessrio dizer, necessrio
desvelar a verdade. Dizia Freud, muito bem, que as grandes
verdades so os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes
desse edital so a omisso editalcia, porque no exige o
comprovante de renda. E no por erro. E vou dizer porque
no por erro que a universidade fez assim. Porque, no
edital, para iseno da taxa de inscrio, a Universidade
exigiu comprovante de renda de todos os vestibulandos.
Ento, parece-me que a seleo dos quotistas deveria ser
aqueles que forem investigados para ficarem isentos dos
pagamentos das taxas. Ento a Universidade sabe fazer, mas
no quer fazer. No quer fazer porque evidentemente existem
interesses dos mais esprios, existem interesses, por
exemplo, o Colgio de Aplicao da Universidade, os
estudantes do Colgio de Aplicao tm excelentes notas. O
Colgio Militar o melhor colgio do Pas, j formou seis
presidentes da repblica. Ento a universidade conveniada
com o Colgio Militar. Estudantes do Colgio Militar passam
no vestibular no primeiro ano, e eles esto preterindo os
negros. Os negros - s para concluir -, as vagas destinadas
aos negros, que seriam 15% das vagas da universidade, no
foram preenchidas. Eu tenho aqui documentos comprobatrios.
No foram preenchidas nos trs vestibulares. Tem cursos que
no entrou nenhum autodeclarado negro. Primeiro, porque os
negros at no querem esse privilgio. Os negros, no meu
estgio, eles querem entrar pelo critrio de mrito.
(Interrupo do udio).
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeo a Doutora Wanda
Siqueira.
O Senador Paulo Paim, que nos honra com a
sua presena, autor do Estatuto da Igualdade Racial e autor
de oito outros estatutos que visam a incluso de vrios
segmentos sociais, dos espaos, de direito da sociedade,
um dos primeiros Senadores afro-brasileiros a ocupar um
cargo importante, Senador Federal, deseja fazer uso da
palavra, embora no estivesse escrito. Eu quero dizer que
esta Casa se sente muito honrada em conceder ao ilustre
membro do Congresso Nacional, at por uma questo de
isonomia, a possibilidade de fazer uso da palavra a partir
da tribuna.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR PAULO PAIM (SENADOR) - Senhores e
Senhoras, bom-dia a todos. Bom-dia Ministro Relator, bom-
dia Doutora Deborah, que seguidamente est no Congresso
participando das audincias pblicas.
com satisfao que eu quero dar esse
rpido depoimento. Vou tentar ser o mais objetivo possvel,
mediante o que me foi solicitado.
Primeiro, no vou eu aqui discorrer de
dados, de nmeros. Qualquer homem de bem deste Pas sabe
que infelizmente, no nosso Pas, o preconceito contra o
negro muito, muito forte. Ningum tem dvida quanto a
isso. Isso unifica esse Plenrio. Isso eu tenho certeza
absoluta e aqueles que esto l fora assistindo esse
momento. s pegar os dados do IPEA, do IBGE, do DIEESE,
de qualquer fundao, todos mostram o quanto que o negro e
a negra so discriminados neste Pas.
Eu queria, nesses poucos minutos, dizer
para vocs que quem negro ou negra e que disser, para
mim, que no longo de sua vida no teve, numa nica vez,
sofrido o ato da discriminao, eu diria aqui, com toda a
segurana, que ele est faltando com a verdade. Todos,
negras e negros, sentiram isso na pele o que ser negro
neste querido Pas chamado Brasil.
Segundo, eu queria tambm dizer a vocs que
nos debates que j participei dessa questo do preconceito
e do racismo, eu ouvi de tudo j. Ouvi, por exemplo, num
certo momento que no Estatuto da Igualdade Racial, eu vou
ter oportunidade de dizer aqui onde que eu aprovei e
quem me ajudou a aprovar. Eu ouvi algum me dizer; mas
Paim, como que tu quer cota de negro na mdia e se eu for
fazer algum filme sobre Jesus Cristo? Ouvi isso de
diretores da imprensa. E se for um filme sobre anjos, como
eu vou botar o negro? Fica para reflexo dos senhores.
Eu j ouvi e no tem nada a ver com o que
houve aqui. Podem ficar muito tranqilo quanto ao que eu
vou dizer agora: de pessoas dizerem para mim em audincias
pblicas, no bem assim essa histria de que as mulheres
negras foram violentadas. Elas consentiam e at gostavam. E
a pergunta que eu fiz a esse cidado e ele ficou sem
resposta: voc acha que se a tua me, a tua irm, se a tua
filha fosse violentada, voc gostaria? Ele ficou mudo, no
teve resposta. Ento, este um tema que eu no quero nem
trazer para o debate.
Todos sabem o quanto importante esta
audincia pblica. Eu diria que esta audincia pblica
histrica pela sua importncia e pela deciso que vai ser
tomada aqui no Supremo Tribunal Federal.
Eu confesso com todo o respeito aos que
pensam diferente, eu respeito a todos e vou dizer aqui, mas
estou me sentindo assim, neste momento, como se eu
viajasse no tempo e a caminhar, acompanhasse a caminhada de
Martin Luther King, na marcha dos cem mil, l nos Estados
Unidos, quando a Suprema Corte reconheceu os direitos dos
negros civis norte-americanos.
E me lembro, quando eu fui frica do Sul,
Nelson Mandela, no crcere;, eu recebi a carta da liberdade
em mos da Windy Mandela. Depois, todos ns assistimos,
Mandela se tornar o maior lder vivo, eu diria, em matria
de Direitos Humanos.
E claro que eu viajo no tempo e, se eu viajo
no tempo, eu volto a 1888, qual o debate na poca? Ser
correto os negros deixarem de ser escravos e o prejuzo que
o pas poderia ter no campo econmico? Foi um debate duro
entre os abolicionistas e os escravocratas. Lembrando
quela poca, claro, e, para mim, lembro-me do nome dos
abolicionistas, no consigo lembrar o nome de nenhum dos
escravocratas.
Esse debate, com todo o respeito aos que
pensam diferente e no estou fazendo comparaes, eu queria
dizer que ns estamos debatendo aqui se os negros tero
direito ou no de ter acesso universidade pblica e
gratuita; na poca, o debate era com o poder econmico;
agora tambm . Porque, para mim, a educao liberta a
educao que vai assegurar, efetivamente, mudarmos essa
situao onde os negros esto, sem sombra de dvida, na
base da pirmide.
Por isso, esse debate no um debate do PT,
do PSDB, do PDT, contra o DEM. Sou contra inclusive que a
gente aqui nesse debate transforme o DEM como se fosse um
demnio. E vou dizer o porqu. No Estatuto da Igualdade
Racial, esto l as cotas includas para os negros. Sabe
quem que mais me ajudou a me aprovar no Congresso
Nacional? Relator Rodolfo Tormin do DEM, hoje assessor da
FIESP; Relator Cesar Borges, na poca do DEM, Senador da
Repblica; Roseane Sarney do DEM, que hoje Governadora do
seu Estado. Eles foram fundamentais na aprovao do
Estatuto da Igualdade Racial que agora est para ltima
deciso do Congresso Nacional.
Eu trago aqui, para mostrar que essa questo
no partidarizada, que no todo o DEM que tem essa
posio, um documento assinado por 39 deputados estaduais
do Rio Grande do Sul. Trinta e nove. Ningum tem dvida.
Podia at ser emenda constitucional que passava. Todos os
partidos assinam inclusive o DEM, fazendo o apelo a Vossa
Excelncia. O DEM aqui assina e vou ler o nome do deputado
Paulo Borges, meu amigo do DEM, que um dos que encabeam
uma das folhas, deixando muito claro a importncia da
aprovao do Supremo Tribunal Federal da permanncia das
cotas. Documento muito bem elaborado e claro que no vou
l-lo -, dirigido a Vossa Excelncia, Ministro-Relator,
para que Vossa Excelncia, com esse documento, entenda que
essa questo no partidarizada. uma viso, para mim, de
todos os homens de bem.
Vejam bem os Senhores eu quero concluir
com essa posio -, quantos negros ns temos no Senado da
Repblica? Um negro, o senador que vos fala. Um negro em
oitenta e um. Quantos ns temos deputados federais aqui na
nossa Cmara dos Deputados? Talvez uma dzia de negros que
assumem, efetivamente, a sua negritude.
Essa a grande oportunidade. A deciso que
Vossa Excelncia tomar aqui pode ter reflexo no PROUNI. A
deciso que Vossas Excelncias tomarem aqui vai fazer com
que milhares de negros, negras e pobres que sonham neste
querido Pas e que vai se tornar rapidamente uma economia
eu diria que vai estar entre os cinco maiores do mundo
ter acesso a uma universidade.
A iniciativa de mais de cem instituies que
adotaram uma poltica de cotas, eu sempre digo, como
legislador, eu devo ser e digo isso com o maior respeito
a todos o parlamentar que mais tem propostas apresentadas
e aprovadas no cenrio do Congresso da Repblica, porque
estou aqui h vinte e quatro anos. Entrei e nunca mais sa.
Quatro vezes deputado federal e agora, no oitavo ano, como
senador, a lei tem reflexo do rufar dos tambores nas ruas.
Quando eu apresento um projeto de lei, uma demanda da
sociedade. Eu no deito, noite, e chego no outro dia de
manh com uma nova lei. No! E a poltica de cotas, aqui no
Brasil, j uma conquista da sociedade, de brancos e
negros. Aqui nessa relao dos deputados, no tem nenhum
negro. Todos so brancos. Os deputados estaduais do Rio
Grande do Sul e que empenham aqui com a sua assinatura, de
todos os partidos, integral solidariedade poltica de
cotas. Como isso bom! Como isso bom!
Por isso, Ministro-Relator, esta audincia
de Vossa Excelncia uma audincia histrica. Eu confesso
que, quando vim pra c, eu sabia que Vossa Excelncia ia me
dar a palavra. Eu pedi, pedi mesmo, do fundo do meu
corao, que o esprito de Zumbi, com a liderana de
Mandela, que a histria de Gandhi me iluminasse nesse
momento. Eu no quero nada. S deem oportunidade para o
povo que foi sempre excludo. S quem negro sabe o quanto
difcil essa caminhada, mas no a minha inteno fazer
do meu pronunciamento uma declarao mais de emoo.
Esse o Tribunal na verdade. Esse o
Tribunal da verdade. Est em vossas mos, Ministro-Relator,
pode saber. Eu estou no Senado da Repblica, no me
considero mais nem classe mdia, j estou numa classe alta,
mas jamais posso esquecer as minhas razes. E eu sei como
vivem os negros e negras nas favelas, nas periferias, o
sonho de concluir uma universidade e um dia poder dizer: eu
consegui o meu ttulo, eu tambm sou doutor.
a esse povo que eu fao um apelo a Vossa
Excelncia. E todos sabem que eu no apresentei s o
Estatuto da Igualdade Racial. o Estatuto do Idoso, o
Estatuto da Pessoa com Deficincia, o Estatuto dos
Profissionais de Volante, os nossos queridos caminhoneiros,
trabalhei no Estatuto da Criana e do Adolescente, estou
trabalhando agora muito e muito na PEC da Juventude.
Percebo que tudo avana, mas quando chega a
questo do povo negro, tudo, tudo mais difcil.
Eu sei que o meu tempo terminou. Mas vejam
bem o que eu disse: ele j faleceu, eu falei isso com o
filho dele, e ele me disse Paim eu sei da posio.
O senador Antnio Carlos Magalhes chegou a
atropelar todos os prazos, como presidente da CCJ, para
aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, todos os prazos,
inclusive no Plenrio, para me ajudar a aprovar o Estatuto.
Mesmo o debate, agora l na Cmara, do Estatuto que mantm
a poltica de cotas, por exemplo, para os partidos
polticos, que 30% (por cento) tem que destinado para os
negros. Houve esse debate l, e a bancada do DEM acompanhou
entendimento feito junto com a Cepir e o Ministro Edson
Santos.
Ministro, um grande momento.
Vejam bem que tentei aqui no fazer um
debate partidarizado, mas um debate humanitrio.
Termino dizendo, tenho certeza que todos os
homens de bem deste Pas no vo frustra milhares e
milhares de estudantes negros que pela poltica de cotas
demonstraram que no so melhores, mas so iguais. Depois
que tiveram oportunidade os resultados esto a.
Ministro, minha querida Deborah, muito
obrigado e desculpem um pouco a emoo, eu vou passar em
mos a Vossa Excelncia esse documento que assinado,
inclusive, pelo Presidente da Assemblia Legislativa do Rio
Grande do Sul, eu diria: s no assinaram l os deputados
que no estavam presentes. Nenhum deputado se negou a
assinar esse documento, e aqui esto exatamente a
assinatura de exatamente trinta e nove deputados estaduais
do Rio Grande do Sul.
Peo desculpas a todos, um pouco pela
emoo, e acredito que a deciso deste Tribunal ser a
favor da incluso, ser a favor de que negros e negras
tenham acesso, tambm, universidade.
Muito obrigado!
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo ao Senador Paulo Paim o
susbstancioso pronunciamento.
Ouviremos, agora, o professor Srgio Danilo
Junho Pena, Mdico Geneticista formado pela Universidade de
Manitoba, Canad; Professor da Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG - e ex-professor da Universidade McGill
de Montreal, Canad.
O Senhor dispe de quinze minutos para o seu
pronunciamento.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR SRGIO DANILO JUNHO PENA (MDICO
GENETICISTA) - Excelentssimo Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, em nome do qual cumprimento todos membros da
mesa; senhoras e senhores bom-dia.
Permitam-me que me apresente: meu nome
Srgio Danilo Pena, eu sou mdico geneticista, sou
Professor Titular de Bioqumica, Imunologia da UFMG,
Pesquisador 1-A do CNPq, h quinze anos dirijo na UFMG um
grupo de pesquisas genticas sobre a origem e estrutura da
populao brasileira. Sou tambm Presidente do Laboratrio
Gene que introduziu no Brasil os testes de paternidade em
DNA, e Presidente da Fundao Danilo Pena, entidade
filantrpica que d bolsas de estudos para menores carentes
de alto potencial intelectual. Sou membro titular da
Academia Brasileira de Cincias e recebi das mos do
Presidente Lula a Gr-Cruz da Ordem Nacional do Mrito
Cientfico.
Poder-se-ia perguntar qual a minha
experincia em audincias pblicas, como essa aqui hoje,
devo dizer que limitada. Participei, como membro de um
comit que assessorou o Senado americano, dos Estados
Unidos, na questo de patenteamento de genes, e participei
da audincia pblica sobre clulas tronco no Congresso
brasileiro.
Por que estou aqui? Cumpro o meu dever
cvico de colaborar como cientista e geneticista, que faz
pesquisa ativa sobre a formao e estrutura da populao
brasileira. Vale lembrar que em questes morais e polticas
o papel da cincia seria informativa e nunca prescritiva.
Em outras palavras, a cincia nunca pode dizer o que deve
ser, mas a cincia pode dizer o que no . Assim, a cincia
serve para afastar falcias e preconceitos e desempenha um
papel libertador no exerccio das escolhas morais. E a
cincia possui uma nica ferramenta para cumprir o seu
papel, a das evidncias empricas, ou seja, dos fatos
experimentais. Nada mais conta. A cincia nunca acredita
s em palavras, ela sempre questionadora e busca a
realidade por trs das aparncias, das opinies e dos
apelos emocionais que, infelizmente, so muitos.
Nos prximos quinze minutos, farei um rpido
relato da origem e evoluo da humanidade moderna e
mostrarei resultados de pesquisa sobre ancestralidade do
povo brasileiro que so relevantes para o debate em pauta.
Vamos aos fatos.
A humanidade moderna teve uma origem nica,
na frica, a menos de duzentos mil anos. Cerca de sessenta
mil anos atrs, a humanidade moderna deixou a frica para
ocupar todos os outros continentes. Assim, como diz Svante
Pbo, geneticista sueco, somos todos africanos, ou morando
na frica ou em recente exlio da frica. No processo
migratrio, a humanidade se diversificou, atravs da
ocorrncia de novas mutaes e adaptaes aos diversos
ambientes continentais. O importante foi essa
diferenciao. H um trabalho fundamental, com quase
quarenta anos, feito por Richard Lewontin, nos Estados
Unidos. Na poca, ele estudou a variabilidade gentica de
vrias regies genticas e separou, usando tcnicas
estatsticas, a variabilidade dentro das populaes, dentro
das chamadas raas entre populaes e entre as raas. O que
ele observou? 85,4% da variao gentica humana estava
contida dentro das populaes. Apenas 6,3% da variao
gentica ocorria entre as chamadas raas. Este e muitos
outros estudos mostram que do ponto de vista biolgico no
ocorreu diferenciao significativa de grupos humanos, ou
seja, as chamadas raas. Podemos, assim, afirmar que do
ponto de vista cientfico raas humanas no existem. Algum
poderia perguntar: Se raas no existem, como ento
possvel inferir com alta probabilidade que essa bela jovem
africana e no escandinava. No apropriado falar aqui
de raa e sim de variaes de pigmentao da pele e de
caracterstica morfolgicas que representam adaptaes
evolucionrias s condies locais. Raas no existem,
cores de pele existem, mas so coisas diferentes e no
devem ser confundidas e nem misturadas em nenhum tipo de
discurso.
Nesse slide mostramos a grande concordncia
que existe entre a exposio ultravioleta luz do sol e a
cor da pele. Observe que a radiao solar mxima ocorre no
Equador, onde tambm h a pigmentao da pele mais forte em
todo mundo. Nos ambientes de baixa radiao solar, h
evoluo adaptativa para menor pigmentao e para permitir
a sntese de vitamina D na pele. O genma humano,
recentemente elucidado, tem aproximadamente vinte mil
genes. Menos de vinte desses genes esto relacionados para
determinao da cor da pele. A cor da pele no est
geneticamente associada com nenhuma habilidade intelectual,
fsica e emocional. Assim, argumentos usados pelos racistas
no tm nenhuma credibilidade cientfica. O pequeno nmero
de genes associados cor da pele permite de que mesmo
irmos, com nvel de ancestralidade idnticos, possam
diferir significantemente em pigmentao. Isso ocorre
porque a varincia aumenta com a diminuio do nmero de
genes. o caso dessas famosas gmeas inglesas, filhas
desse casal - isso no um fato raro -, e temos tambm
gmeas, em Belo Horizonte, com o mesmo padro. importante
lembrar aqui que a cor da pele sofre significativas
influncias ambientais, como exposio ao sol.
Indivduos com a mesma constituio gentica
teriam certamente nveis de pigmentao diferente da pele
em Belm do Par e em Santa Catarina. Voltaremos a esse
ponto mais tarde.
Finalmente, deve ser mencionado que a
percepo da cor da pele depende da subjetividade do
observador, como mostrado neste caso dos gmeos
monozigticos, que foram classificados como tendo cor
diferente, pela Universidade de Braslia.
Vamos agora falar um pouco do Brasil, da
formao da estrutura do povo brasileiro. Cerca de vinte
mil anos atrs, os amerndios vieram da Sibria para
popular o Brasil e, por muito tempo, como dizia Jorge Ben
Jor, todo dia era dia de ndio. Em 1500, chegaram os
europeus, para o bem ou para o mal, e a mistura gnica com
os amerndios comeou. A partir de 1550 aproximadamente
foram trazidos, contra a sua vontade, aprisionados, os
africanos, mas a mistura gnica continuou. E essas trs
razes - amerndia, europeia e africana - formaram o povo
brasileiro. Nada mais representativo do nosso povo que esse
quadro intitulado "Os Operrios" da grande Tarsila do
Amaral.
O nosso grupo de pesquisa na UFMG
desenvolveu um painel de teste de DNA que permite a
separao, a nvel genmico, de europeus, amerndios e
africanos. Como vocs podem ver nesse grfico, estudos de
DNA nos permitem definir claramente a ancestralidade das
pessoas, e, usando essa metodologia, podemos analisar
qualquer brasileiro e estimar as suas propores ancestrais
amerndias, europeias e africanas.
Recentemente, como parte da Rede Brasileira
de Farmacogentica, completamos o estudo molecular de 934
brasileiros amostrados em quatro regies geogrficas: o
Norte, representado pelo Par; o Nordeste, Cear e Bahia; o
Sudeste, Rio de Janeiro; e, o Sul, Santa Catarina.
O objetivo desse estudo era determinar de
onde viemos e quem somos, e como isso influencia a resposta
a medicamentos. Usamos o DNA como ferramenta de
investigao. Aqui, ento, so os locais que foram
amostrados no estudo. Esse slide mostra 934 brasileiros do
estudo em ordem totalmente aleatria, cada indivduo uma
linha vertical, que tem segmentos vermelhos, representando
ancestralidade amerndia, segmentos pretos, representando a
raiz africana e segmentos verdes, representando a raiz
europeia. A ordem est independente de regio, independente
de cor, e observem a enorme variao entre os brasileiros
em suas propores ancestrais. Praticamente todos os
brasileiros tm as trs razes ancestrais presentes no seu
genoma. Aqui, so os mesmos 934 indivduos, mas mostrados
em ordem decrescente da proporo genmica africana.
Observem que, na medida em que diminui a proporo genmica
africana, h uma tendncia para o aumento da ancestralidade
genmica europeia. A ancestralidade amerndia, em vermelho,
varivel e, em grande parte, independente das
ancestralidades africana e europeia.
Nesses slides esto mostrados novamente os
mesmos 934 indivduos, mas agora em ordem decrescente da
proporo genmica europeia, que a predominante no
Brasil. A razo para a predominncia da ancestralidade
europeia foi o fenmeno demogrfico chamado branqueamento
do Brasil, que foi promovido pelo governo brasileiro, tanto
imperial, quanto republicano. As causas desse fenmeno so
mltiplas, mas infelizmente ideologias racistas, com
certeza, influenciaram a sua ocorrncia. Nos 100 anos,
entre 1870 e 1970, vieram para o Brasil quase seis milhes
de europeus, que se misturaram aos que aqui estavam para
formar o atual povo brasileiro.
At agora no falei da cor dos brasileiros.
O IBGE, nos seus censos, no computa ancestralidade, ele
computa cor, e usa o critrio de autocategorizao. As
categorias de cor branca, parda e preta so responsveis
por mais de noventa e nove por cento da populao
brasileira. Ento, ns podemos fazer a anlise de
ancestralidade agora segmentando os indivduos por
autodeclarao de cor segundo a classificao do IBGE. O
que observamos agora, ento, que o perfil de
ancestralidade extremamente similar em brasileiros
autodeclarados brancos, pardos e pretos e em termos de
ancestralidade europeia, africana e amerndia. Obviamente e
certamente h diferenas quantitativas, que podem ser
demonstradas, mas elas no so predominantes.
Voltamos agora, ento, ao slide mostrando os
indivduos em ordem aleatria, de acordo com os grupos de
cor.
O que se observa que no existe uma
diferenciao de ancestralidade pronunciada entre os trs
grupos, mas existe uma enorme variabilidade a nvel
pessoal. A concluso a de que a nica maneira de entender
a viabilidade gentica dos brasileiros no por grupos de
cor, nem por sexo, nem por nenhum outro critrio,
individualmente, como cento e noventa milhes de
indivduos, nicos e singulares, nas suas ancestralidades,
nos seus genomas, nas suas histrias.
Rapidamente vamos ver as regies do Brasil.
Esses so os dados do IBGE de 2008 e mostram que medida
que a gente vai do Norte para o Sul diminui, h um
gradiente de diminuio da proporo de indivduos
autodeclarados brancos e h um aumento dos brancos e uma
diminuio dos pardos. Os indivduos autodeclarados pretos
so variveis, mas tm sua predominncia na Bahia e no Rio
de Janeiro. Este um slide infelizmente complicado, mas
que tem tudo aqui dentro. Ele mostra que indivduos de cor
parda no Norte do Brasil tem uma predominncia na
ancestralidade europeia seguida da ancestralidade
amerndia; os indivduos de cor parda no Nordeste tm uma
predominncia da ancestralidade europeia seguida da
ancestralidade africana. J no Sul do Brasil, os indivduos
de cor parda tem um empate entre a ancestralidade europeia
e a africana. Os indivduos no Norte e no Nordeste,
indivduos de cor preta, tem uma ancestralidade
predominantemente europeia, enquanto no Sudeste e no Sul a
ancestralidade dos indivduos autodeclarados pretos
predominantemente africano. Podemos? No Sudeste vemos algo
muito importante de que os pardos so exatamente
intermedirios entre os brancos e os pretos; eles no se
ajustam nem com um, nem com o outro.
Ento, podemos tirar algumas concluses
rpidas deste slide que em termos de ancestralidade
genmica as categorias de cor parda e preta possuem
significados diversos em diferentes regies do Brasil. No
Norte, elas so principalmente amerndias; no Nordeste,
elas so principalmente africanas. Parece ento no haver
consenso no Brasil sobre como se enquadrar nas diferentes
categorias de cor, disponibilizadas pelo IBGE.
E, finalmente, os dados mostram que no
existe justificativa cientfica para unir as categorias
parda e preta em uma nica categoria negra no Brasil.
Concluses finais: cada brasileiro tem uma
proporo singular de ancestralidade europeia, amerndia e
africana. A relao entre cor da pele e ancestralidade no
Brasil tnue, nas vrias regies do Brasil cores de peles
possuem significados diversos. A nica diviso
ideologicamente coerente dos brasileiros em cento e noventa
milhes de pessoas. E cientificamente no se justifica a
segmentao dos brasileiros (Interrupo do udio).
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo ao Professor Srgio
Danilo Junho Pena, mdico geneticista, pela sua
interveno.
Ns ouviremos, neste momento, o Professor
George de Cerqueira Leite Zarur, Antroplogo e Professor da
Faculdade Latino-Americana de Cincias Sociais.
O Professor far a leitura de um texto
elaborado pela Professora Yvonne Maggie, que cancelou a sua
participao em virtude de problemas de sade. Aps a
leitura da carta, o Professor George de Cerqueira Leite
Zarur far o seu pronunciamento de quinze minutos.
Vossa Excelncia est com a palavra.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR GEORGE DE CERQUEIRA LEITE ZARUR -
(ANTROPLOGO E PROFESSOR DA FACULDADE LATINO-AMERICANA DE
CINCIAS SOCIAIS) - Senhor Ministro Ricardo Lewandowski,
Senhora Procuradora da Repblica, minhas Senhoras e meus
Senhores, vou ler o texto da Professora Yvonne, a quem com
muito prazer represento, uma vez que ela honra a
antropologia brasileira.
O texto intitulado: Um ideal de
democracia.
"O Brasil, como todos ns sabemos,
um pas desigual e injusto, onde os mais
desafortunados tm, desgraadamente, muito
menos oportunidades do que os mais
aquinhoados pela riqueza e pela herana
educacional.
Sobretudo a partir dos anos 1990,
alguns setores do governo brasileiro e
grupos organizados em Ongs, ansiosos por um
atalho que conduzisse a maior justia,
propuseram a criao de leis raciais que nos
levassem mais rpido ao fim das
desigualdades. Tal atalho foi construdo
sobre o argumento de que o racismo um dos
fatores mais importantes na produo das
desigualdades da nossa sociedade".
Diz a professora Yvonne, verbis :
"Quero, nos limites desta
comunicao, afirmar que a proposta de
instituir leis raciais no tem o objetivo de
combater desigualdades.
Quem pagar a conta de uma poltica
pblica de alto risco como esta?
A proposta que se apresenta hoje, a
poltica de cotas raciais, colocar o peso e
a responsabilidade das mudanas nos ombros
dos j to sofridos e to despossudos em
nossa sociedade. Tenho observado ao longo
dos ltimos anos as escolas pblicas do Rio
de Janeiro onde esto os mais pobres
estudantes do estado. Estas escolas formam a
maior parte da pequena parcela de jovens
brasileiros que termina o ensino mdio e
so, portanto, candidatos s cotas raciais e
esto repletas de crianas e jovens de todas
as cores, majoritariamente pretas e pardas
conforme a definio do IBGE.
Nelas existe entre os estudantes um
sentimento de igualdade forjado no dia a dia
da vida escolar e um desprezo em definir as
pessoas a partir da cor da sua pele. Ao
longo de minha vida de pesquisa nessas
escolas do Rio de Janeiro, perguntei aos
jovens estudantes se na escolha de seus
namorados ou amigos levavam em conta a cor.
A maioria esmagadora respondeu que isso era
irrelevante. A observao de campo ao longo
dos ltimos cinco anos do cotidiano dessas
escolas mostra, alm disso, que os
estudantes, como a maioria dos brasileiros,
preferem no levar em considerao a cor na
hora de escolher os amigos ou parceiros.
So estudantes misturados na cor, fruto do
que j foi detectado ao longo dos ltimos
censos, o aumento dos casamentos mistos em
relao ao total de casamentos.
Pensando nessas escolas e seus
estudantes pergunto: Qual o sentido de se
escolher uma poltica que se defina "raa"
como critrio de distribuio de justia e
definio de cidadania? As leis raciais
sero criadas para serem seguidas pela
populao jovem e pobre das escolas
pblicas. No entanto, um olhar atento para
estas classes onde estudam jovens e crianas
de camadas sociais baixas torna evidente que
uma poltica que proporcionasse maiores
oportunidades de acesso ao nvel
universitrio aos pobres, produziria efeito
mais radical no sentido de colorir o
cenrio claro e rico das salas de aula das
universidades pblicas. E com uma grande
vantagem: os estudantes no seriam obrigados
a se definir e a serem definidos pela cor da
sua pele.
A realidade dos princpios
Em um pas onde a maioria do povo se
v misturada, como combater as desigualdades
com base em uma interpretao do Brasil
dividido em "negros" e "brancos"? O primeiro
passo j foi dado com a criao da lei que
instituiu o ensino da histria da frica e
da cultura afro-brasileira em todas as
escolas pblicas e privadas do ensino bsico
do Pas. Quem seria contra ensinar a
histria dos "negros" no Brasil e a histria
da frica? Quem se oporia a contar a
histria da cultura afro-brasileira? A
iniciativa de introduzir esta disciplina
em si importante, porm est envolta em uma
trama maquiavlica. Regulamentada pelas
Diretrizes Nacionais Curriculares para a
Educao das Relaes tnico-Raciais e para
o Ensino da Histria e Cultura Afro-
Brasileira e Africana orienta os professores
sobre como ensinar as relaes tnico-
raciais e infundir nos estudantes o que
chamado de "orgulho tnico". Trata-se de
ensinar aos brasileiros que eles no so
cidados iguais, mas diversos e merecedores
de direitos diferenciados segundo a sua
"raa", que algumas vezes mencionada
abertamente, outras eufemisticamente com a
categoria "etnia".
Este instrumento legal exarado pelo
Ministrio da Educao vai contra todo e
qualquer senso de razoabilidade. Conclamo os
senhores ministros a se deterem por alguns
minutos na leitura desse chamamento ao
"orgulho tnico" e a explcitas ameaas de
revanche pelo passado escravista.
Certamente, os ministros ao lerem
essas Diretrizes compreendero o intuito de
ser ensinado aos alunos aquilo que estes
nunca deveriam aprender na escola: que h
raas humanas e que os brasileiros se
dividem em brancos opressores e negros
oprimidos. Pretende-se ensin-los a se
definirem a partir da cor de sua pele e
esclarecer os estudantes acerca do
equvoco quanto a uma identidade humana
universal, como est escrito no documento.
As Diretrizes so o instrumento mais eficaz
para criar classes divididas em jovens
pobres brancos e negros, que devero
sentir-se pertencentes a comunidades
tnicas. Depois de divididos, podero ento
lutar entre si por cotas, no pelos direitos
universais, mas por migalhas que sobraram do
banquete que continuar sendo servido
elite.
Estas Diretrizes so, sem qualquer
sombra de dvida, a estrela-guia de um
pequeno grupo de organizaes no
governamentais encastelado no poder,
querendo impor ao Brasil polticas j
experimentadas em outras partes do mundo e
que trouxeram mais dor do que alvio. As
Diretrizes vo nos tirar do rumo que fez o
Brasil ser um dos raros pases a no
escolher o caminho de legislar por meio da
raa. No sero mais os princpios da
Declarao Universal dos Direitos Humanos a
servir de guia para os mais jovens.
Os ministros do Supremo Tribunal
Federal ao analisarem a constitucionalidade
das leis raciais e das cotas na UnB tero de
decidir agora o caminho a seguir. H apenas
dois: ou seguem os princpios expressos
pelas Diretrizes acima citadas e decidem que
o Brasil deve trilhar o caminho da separao
dos cidados e dos jovens, legalmente, em
raas, ou, ao contrrio, seguem os
princpios expressos na Declarao Universal
dos Direitos Humanos e na Constituio
Brasileira que afirma a igualdade dos
cidados.
O princpio de realidade
Infelizmente os proponentes das
leis raciais querem o caminho traado pelas
Diretrizes mencionadas acima, embora este
no seja o caminho demandado pelo povo
brasileiro. E tem mais. Este mal, este ovo
da serpente da separao dos estudantes em
raas, se far por to pouco. Bastaria
oferecer cotas para estudantes pobres porque
eles so majoritariamente pretos e pardos,
com a vantagem de no carimbar em suas
testas a marca da cor e o estigma que
certamente lhes ser imposto. Dados
elaborados a partir da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicilio (Pnad) indicam que se
fizermos esta escolha o nmero de pretos e
pardos beneficiados ser muito maior do que
se escolhermos o caminho de separar os
estudantes em brancos e negros legalmente.
Se o foco da poltica for sobre os
estudantes pobres, os mais beneficiados
sero os negros, pois estes representam
56,1% do universo de estudantes pobres, o
que supera sua participao percentual na
populao, em torno de 48%.
Fica evidente que o movimento pr-
cotas raciais no est interessado em
promover a justia social e muito menos em
diminuir as desigualdades. Seu objetivo
produzir identidades raciais bem delimitadas
fazendo os brasileiros optarem pelo mesmo
sistema dos pases que adotaram leis raciais
como os EUA, Ruanda e frica do Sul. E no
se iludam os que pensam que as leis raciais
sero temporrias. Elas viro para ficar e
iro se espalhar, como erva daninha, em
todas as instituies, na mente e no corao
dos brasileiros transformados em cidados
diversos e legalmente definidos pela cor de
sua pele.
Uma histria retirada dos anais do
esporte talvez sirva para explicar a mudana
pretendida por estes grupos que lutam
ferozmente pelas leis raciais e tambm o seu
sentido.
Em 1959, o clube de futebol
Portuguesa Santista excursionava pela frica
e iria se apresentar na frica do Sul. No
dia do jogo, quando o escrete santista
estava pronto para entrar em campo, o
dirigente do time adversrio da frica do
Sul apareceu inesperadamente. No era uma
visita de cortesia, pois vinha informar que
os jogadores negros no poderiam
participar da partida porque assim
determinavam as leis do pas. Os membros do
time brasileiro, em unssono, disseram que
ou jogavam todos ou nenhum, se recusando a
participar do certame. Nesta hora o cnsul
do Brasil interveio anunciando oficialmente
a posio do Governo brasileiro que no
admitia nem o racismo e nem o regime do
apartheid. O presidente Juscelino
Kubitscheck enviou telegrama ao Governo sul-
africano manifestando-se contra o regime
vigente naquele pas. O time saiu do estdio
e no houve jogo. Com esta atitude oficial o
Brasil se tornou o primeiro pas fora da
frica a protestar contra o regime do
apartheid. Alguns dos jogadores
entrevistados, recentemente, disseram com
emoo que os brasileiros no aceitavam
racismo nem no esporte nem fora dele e menos
ainda a diviso dos cidados em raas.
Outra histria do esporte, desta vez
ocorrida na frica do Sul com a vitria de
Mandela nas eleies presidenciais, mostra a
diferena entre aqueles jogadores santistas
de 1959 e os sul-africanos aps o fim do
regime do apartheid. A famosa histria do
rugby contada em recente filme de Clint
Eastwood, Invictus, mostra bem esta
diferena! Nelson Mandela, sabiamente, usou
a simbologia do esporte para unir os sul-
africanos em torno do time de rugby que
levava as cores da frica do Sul sob o
regime do apartheid. Aquele esporte e seus
jogadores eram odiados pelos negros que
foram as vtimas do regime que fez da frica
do Sul a escria do mundo. Que fora
representou a entrada de Nelson Mandela no
estdio vestido com o uniforme e o bon
verde e dourado do tradicional time de rugby
transformado agora em escrete da frica do
Sul? Conclamando os jogadores e o povo a
lutar pela frica do Sul, nao arco-ris, e
no mais viver a dor de uma nao dividida,
naquela memorvel Copa do Mundo do esporte,
em Johanesburgo em 1995, o presidente fez
muito contra as divises tnicas no seu
pas, at hoje sangrando em consequncia
delas.
Os dois estadistas mencionados acima
buscaram a unio de cidados e combateram o
afastamento deles em nome de identidades
tnicas ou raciais. No entanto, como nenhuma
poltica perfeita, a frica do Sul ainda
sofre as consequncias do regime criador de
identidades tnicas e raas e o Brasil,
nunca tendo apartado legalmente cidados em
nome de identidades tnicas ou raciais, tem
muito a fazer para aperfeioar o nosso ideal
de no racismo. Porm o governo brasileiro,
infelizmente, no est cumprindo sua
obrigao e tenta impor uma lei que separa
os cidados uns dos outros em nome da
raa. O que hoje est sendo proposto o
caminho inverso feito pela frica do Sul de
Nelson Mandela. Nelson Mandela, depois de 27
anos na priso, buscou a trilha da igualdade
pela destruio de identidades raciais e
tnicas forjadas legalmente ao longo de anos
de dominao do regime do apartheid.
O Brasil, que conseguiu a faanha de
no criar essas terrveis identidades
tnicas insuperveis no o mesmo que quer
agora cri-las para combater desigualdades.
A justia que os brasileiros desejam no se
baseia na separao entre afrodescendentes e
eurodescendentes. Os brasileiros no querem
abandonar o ideal de uma nao arco-ris,
que se expressa h tantos anos a ponto de
sermos um pas de 43% de autodeclarados
pardos, ou seja, misturados, nem brancos e
nem pretos," - negros - "um gradiente de cor
que aproxima em vez de separar.
Ser mesmo sbio fazer o caminho
inverso da frica do Sul e criar primeiro um
regime de separao legal para depois tentar
reunificar os cidados? No seria mais
prudente reforar nossa noo de igualdade e
nosso ideal de democracia to bem
representados na tocante histria dos
jogadores do time da Portuguesa Santista na
frica do Sul?
Disse, nos limites desta minha
comunicao, e reafirmo nas minhas palavras
finais: os que hoje propem um Brasil
dividido em raas ou querem criar dois
Brasis, esto no caminho errado. Esto
errados porque propugnam, justamente, criar
etnias onde havia uma nao de brasileiros e
onde todos se pensavam como uma nica raa
humana, no dizer dos incontveis pais que
anualmente respondem ao censo escolar que os
obriga a definir seus filhos segundo uma
'raa'."
Em nome da Professora Ivonne, que me honra
por ter pedido para eu ler esse trabalho, muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - O Senhor dispor, ainda, de quinze
minutos para fazer um pronunciamento se assim o desejar.
O SENHOR GEORGE DE CERQUEIRA LEITE ZARUR
(ANTROPLOGO E PROFESSOR DA FACULDADE LATINO-AMERICANA DE
CINCIAS SOCIAIS) - claro.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Ou Vossa Excelncia vai se limitar
leitura?
O SENHOR GEORGE DE CERQUEIRA LEITE ZARUR
(ANTROPLOGO E PROFESSOR DA FACULDADE LATINO-AMERICANA DE
CINCIAS SOCIAIS) - Vou me limitar leitura do meu prprio
trabalho.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Pois no. Ento, Vossa Excelncia
poder prosseguir.
O SENHOR GEORGE DE CERQUEIRA LEITE ZARUR
(ANTROPLOGO E PROFESSOR DA FACULDADE LATINO-AMERICANA DE
CINCIAS SOCIAIS) - Poderei prosseguir falando - se no me
engano. Eu posso falar mais tarde, isso?
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Exatamente. No. Vossa Excelncia
teria o tempo destinado leitura da carta, mas tambm
reservamos o tempo. Se Vossa Excelncia assim o desejar,
poder utiliz-lo tambm.
O SENHOR GEORGE DE CERQUEIRA LEITE ZARUR
(ANTROPLOGO E PROFESSOR DA FACULDADE LATINO-AMERICANA DE
CINCIAS SOCIAIS) - Muito obrigado.
"A etnicidade tem sido a causa dos
maiores tragdias da humanidade e com
enorme apreenso que assisto introduo de
polticas raciais no Brasil. Tenho boas
razes para ter dedicado minha vida ao
estudo da etnicidade, pois consta que meus
bisavs paternos, cristos libaneses, teriam
sido assassinados por soldados turcos em um
pogrom contra sua pequena aldeia - no norte
do Lbano. Assim como meus avs, rabes
cristos e muulmanos, judeus, ciganos,
armnios e muitos outros povos vtimas do
horror tnico encontraram no Brasil, se
abrigaram no Brasil, a tolerncia que no
existia em sua terra de origem. Outros
fugiam da servido feudal, caso de muitos
italianos, ou da extrema pobreza, como
aconteceu com os portugueses. Aqui se
casaram, se amorenaram - e se mestiaram.
Foi aqui que, na literatura, foi nesse
momento que o turco Nassib conheceu sua
Gabriela. Procuro interpretar o sentimento
de todos os filhos, netos e bisnetos - como
eu - desses deserdados da terra, povos que
ningum queria, que em nosso Pas
encontraram abrigo e paz. Tenho no
pensamento, os pobres de todas as origens e
cores de pele que cedero seus empregos e as
oportunidades de educao de seus filhos a
outros nem sempre to pobres. Lembro, em
especial, os sertanejos nordestinos - como
vo explicar ao favelado sertanejo que um
tem direito cota e o outro no tem por
causa da cor da pele?
A lealdade dos ndios com quem
convivi por anos durante a minha vida -
enquanto antroplogo da Funai - outro
motivo para me preocupar com a poltica de
raa.
A antropologia tica tem sempre
combatido o conceito de raa. Darcy Ribeiro
escreveu, em 1957, o artigo Lnguas e
Culturas Indgenas do Brasil onde formula
sua seminal definio de ndio, at hoje
presente na legislao. Para Ribeiro,
ndio um indivduo reconhecido como
participante de uma comunidade de origem
pr-colombiana e considerado como tal pela
sociedade envolvente. O ncleo da definio
a relao do indivduo com uma dada
comunidade. Ficam de fora, os milhes de
descendentes de ndios com fisionomia
indgena e, uma vez participantes de uma
comunidade de origem pr-colombiana,
existiro ndios - assim chamados legalmente
- descendentes de europeus, de negros ou de
mestios. Desta forma, Ribeiro evitou a
aparncia ou a raa, a biologia popular,
para definir um ndio.
Do ponto de vista da definio de
Darcy Ribeiro e da melhor tradio em
antropologia, no se pode distinguir as
pessoas pela aparncia ou pela raa. Do que
se deduz que no se aplica, neste caso, a
regra de se tratar desigualmente os
desiguais, pois seres humanos pretos,
brancos ou quaisquer outros no so
desiguais.
O tratar desigualmente os
desiguais, legtimo quando se aplica a
mulheres ou deficientes fsicos, se usado
para justificar polticas raciais cai na
vala comum do modismo do juridicamente
correto, a verso forense do politicamente
correto - superficial. A expresso
discriminao positiva representa uma
contradio em termos. o mesmo que falar
em crueldade positiva ou em tortura
positiva. Toda discriminao negativa. O
crime do racismo se combate com leis
penais, no com mais crime de racismo
agravado pela co-autoria do Estado que
deveria coibi-lo! Se negros e pardos so a
maioria dentre os pobres, sero eles os
maiores beneficirios de polticas sociais
de combate pobreza que atinjam a todos os
brasileiros, sem a necessidade da introduo
do racismo travestido de poltica de Estado.
Boas escolas pblicas e cotas sociais, no
cotas raciais, que democratizam o acesso
educao superior."
Ainda, como constatei em recente pesquisa
sobre etinicidade em Cuba, as polticas raciais so
consideradas incompatveis com a igualdade socialista.
"Para que haja polticas raciais, as
diferenas tnicas devem ter expresso
demogrfica. Por manipulao estatstica, a
populao negra foi multiplicada por dez no
Brasil, que fica rachado ao meio entre
negros e brancos. No censo de populao, aos
cinco por cento dos autodeclarados negros
foram indevidamente agregados dita
populao negra os quarenta e cinco por
cento dos autodeclarados pardos, que no
so negros, mas, na verdade, mestios.
Transformam-se - fora - em
afrodescendentes, quando, na verdade, so
afro, euro, asio e
indiodescendentes. Por isto, as
estatsticas tnicas governamentais
brasileiras no merecem credibilidade - e
devem ser colocadas sob severa suspeita.
Como resultado desse critrio
demogrfico, os ndios vem negada sua
expressiva contribuio formao do povo
brasileiro e identidade nacional. Trata-se
de um mestiocdio e de um ndiocdio
simblicos. Por isto, este velho indigenista
- que vivei e tem um nome indgena do qual
muito se orgulha - lamenta profundamente que
a FUNAI traia os povos indgenas ao advogar
a racializao do Brasil."
Alis, no reconheo que a FUNAI fale em
nome dos ndios. Quem fala em nome dos ndios so eles
mesmos, atravs das suas associaes, no o Estado,
corporativista, que fala em nome deles.
"A identidade tnica forada,
imposta, ironicamente, por meio do chamado
Decreto dos Direitos Humanos e pelo
chamado Estatuto da Igualdade Racial
representa uma brutalidade contra a
diversidade e a liberdade, pois, nas
democracias, as pessoas tm o direito de
assumir as identidades tnicas, de gnero,
polticas ou religiosas e outras que
escolherem - forar uma identidade uma
violncia contra a democracia.
Ao fazer meu PhD nos Estados Unidos,
fui o primeiro antroplogo latino-americano
a realizar trabalho de campo naquele pas e
o nico brasileiro, at o presente, a
estudar o conflito entre negros e brancos
americanos in situ. Meu estudo sobre cotas
raciais em escolas - americanas - comeou em
1972, no gueto negro da cidade de
Gainesville, na Flrida. Um amigo negro
envolveu-se em uma briga com brancos e, dias
depois, foi assassinado - eu estava presente
e lutei do lado dele. Em 1974, fui estudar
uma comunidade branca no Golfo do Mxico.
Descobri que ali ocorrera um massacre de
negros patrocinado pela KuKluxKlan. O
massacre de Rosewood, que denunciei,
transformou-se em filme com conhecidos
atores como John Voigt, de Midnight
Cowboy. Lembro-me do alvio que senti ao
retornar ao Brasil. Aqui no existia
massacres, no existia a segregao que
induz ao dio, a assassinatos e massacres
raciais. Qual no foi, ento, meu espanto ao
me deparar, recentemente, com um prdio na
Universidade de Braslia anunciado por uma
enorme placa Centro de Convivncia Negra,
um verdadeiro monumento segregao,
senhores!
Conflitos tnicos so estimulados
por colonialistas europeus e norte-
americanos. Em recentes reunies da American
Anthropological Association, a questo
central consistiu no intenso emprego de
antroplogos em unidades do exrcito norte-
americano no Iraque e no Afeganisto, com o
fim de dividir as populaes locais. O
racialismo no Brasil resulta de dcadas de
investimento financeiro macio de fundaes
norte-americanas em ONGs e movimentos
sociais. Responde a premissas bsicas da
cultura norte-americana e a interesses
polticos dos Estados Unidos. Fere a
identidade nacional brasileira e resgata a
norte-americana, pois enquanto a nossa
mestiagem caracterstica da nossa
identidade condenada, o universalmente
repudiado separated but equal
segregacionista promovido a virtude
democrtica. Trata-se de um processo, como o
descrito por tericos anticolonialistas como
Franz Fannon, em que os colonizados passam a
se ver atravs dos olhos colonizador,
consideram-se inferiores, rejeitam sua
identidade e pensam e agem como seus modelos
europeus e norte-americanos.
Outro argumento esgrimido a favor de
cotas raciais o da reparao histrica
devido opresso dos negros ao longo dos
sculos.
Mestio com muito orgulho declaro
no sentir a menor culpa pelo fato de minha
bisav materna de pele mais clara ter,
talvez, maltratado minha outra bisav
materna de pele mais escura - talvez o
inverso tivesse acontecido tambm. Alm
disto, ningum pode ser considerado culpado
por supostos crimes cometidos por seus
antepassados.
Porm, a associao entre culpa,
dvida de sangue e reparao material,
estranha a nosso Direito, muito antiga no
Direito anglo-germnico como demonstra o
instituto do wergeld. Sua insero na
cultura americana tem, ainda, razes no
fundamentalismo religioso, da mesma forma
que o criacionismo na explicao do
surgimento dos seres vivos. A reparao
pressupe comunidades endogmicas, ofensora
e ofendida, definidas pelo sangue e pela
raa. A culpa de uns e o direito reparao
de outros so transmitidos atravs das
geraes, como em vrias passagens do Velho
Testamento. A vida social torna-se um tenso
e permanente processo de negociao de
verses de supostos crimes histricos e do
custo de sua reparao." - A viagem no tempo
do Senador Paim me lembrou essa verso
histrica, a disputa pela verso histrica -
" muito freqente o recurso violncia,
pois, as pessoas se sentem em guerra por uma
sagrada causa tnico-nacional.
Os princpios de sangue e raa na
definio de comunidades, povos e naes
manifestam o jus sanguini como critrio de
cidadania. A prevalncia do jus sanguini,
recentemente abolida na Alemanha, foi fonte
de enorme sofrimento testemunhado pelo
holocausto de judeus, ciganos e eslavos. Os
Estados Unidos, pas de imigrantes, sempre
adotaram o jus solis na definio da
nacionalidade em seu sentido mais amplo, mas
a discriminao e a segregao de fato
derivadas do princpio do sangue continuam a
ordenar a vida cotidiana. Direitos civis
formalmente iguais e cidadania plena para
todos so um conquista recente, mas a
aplicao desses direitos ainda faz toda a
diferena, pois o jus sanguini, na sua
verso consuetudinria to importante para o
Direito Anglo-Saxo, continua a hierarquizar
a sociedade americana.
O jus sanguini se manifesta, nos
Estados Unidos, na comum referncia aos
ndios como uma nao, aos negros como
outra e assim, por diante. O conceito de
nao est associado a etnias
contrastantes articuladas pelo mercado
econmico, desconfortavelmente submetidas ao
mesmo estado. Os negros confinados em guetos
constroem a diferena cultural aps a
herana africana ter desaparecido. Assim, o
dialeto negro ininteligvel para os
brancos. As igrejas crists negras so
diferentes das brancas e tradues inglesas
do Coro so lidas na comunidade negra.
No Brasil, a herana cultural
africana de todos, como se v nos
terreiros de Umbanda e nas relaes de
vizinhana. Negros, brancos e mestios falam
o mesmo portugus e casam entre si. Ainda,
apesar dos esforos efeitos por muitos, no
se odeiam mutuamente. Seus filhos so
considerados "mulatos", isto , so negros e
brancos ao mesmo tempo. Nas favelas e nos
bairros co-existem pessoas de todas as
tonalidades de pele, embora se multipliquem
guetos mentais das cotas universitrias e
guetos fsicos, como o Centro de Convivncia
Negra da UnB.
Logo, o transplante do modelo tnico
segregacionista americano, baseado no jus
sanguini encontra dois obstculos: a
ausncia de comunidades que lhe sirvam de
base e o partilhamento da cultura afro-
brasileira por toda a nao. Por isso, no
tem sentido falar em diversidade, porque o
Brasil um s.
Senhor Ministro, minhas senhoras,
meus senhores, para concluir, esta Corte no
julga apenas o sistema de cotas da UnB, mas
a racializao que despreza a mestiagem que
forjou o povo brasileiro, afronta a
dignidade do cidado e fere a unidade
nacional! Muito obrigado!"
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado, Professor George de
Cerqueira Leite Zarur, pela sua interveno.
Anuncio, com satisfao e honra, a presena
do eminente Ministro Joaquim Barbosa que, apesar dos seus
inmeros afazeres, responsabilidades e tambm os seus
problemas que enfrenta, de sade, tem-nos prestigiado
nessas audincias pblicas.
Obrigado, Ministro Joaquim Barbosa.
Ns temos mais dois pronunciamentos, agora -
esclareo aqueles que nos ouvem e nos assistem -, que se se
manifestaro contra a poltica de cotas e, em seguida, ns
teremos uma srie de intervenes que defendero o ponto de
vista contrrio, exatamente para manter um estrito
equilbrio entre aqueles que se pronunciam neste auditrio.
Ouviremos agora a manifestao da Professora
Eunice Ribeiro Durham, que antroploga, Doutora em
Antropologia Social pela Universidade de So Paulo,
Professora Titular do Departamento de Antropologia da USP
e, atualmente, Professora emrita da Faculdade de
Filosofia, Cincias e Letras Humanas da USP.
A Professora Eunice Durham cancelou a sua
participao no evento porque teve um problema de sade.
Entretanto, enviou uma carta que ser lida pela Doutora
Roberta Fragoso Menezes Kaufmann. Esta carta ser lida
dentro do prazo de quinze minutos.
Convido a Doutora Roberta para que faa uso
da tribuna.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
A SENHORA ROBERTA FRAGOSO MENEZES KAUFMANN
(PROCURADORA) - Bom-dia a todos, bom-dia, Senhores
Ministros, Senhora Procuradora da Repblica, demais
presentes, o ttulo do texto : Desigualdade educacional e
quotas para negros nas universidades.
"A proposta de criar quotas para
facilitar a admisso e aumentar a
participao de negros nas universidades
brasileiras teve o mrito de expor e colocar
em debate a gravssima questo da
discriminao racial e da desigualdade
educacional que envergonham a sociedade
brasileira. Para as pessoas que condenam o
racismo difcil se opor a uma ao
afirmativa que tem por objetivo corrigir uma
desigualdade to gritante, especialmente
porque o campo educacional influi fortemente
nas perspectivas futuras de participao
social e de acesso s posies melhor
remuneradas do mercado de trabalho. Alm
disto, a escolarizao dos pais um fator
decisivo para o sucesso educacional dos
filhos e o menor nvel de escolarizao da
populao de ascendncia africana, afeta
negativamente as geraes futuras.
Entretanto, a soluo das quotas apresenta
inmeros aspectos negativos que precisam ser
seriamente considerados face a outras
alternativas talvez mais justas e mais
eficazes.
Uma das deficincias da proposta
que ela incide sobre uma das conseqncias
da discriminao racial e da desigualdade
educacional sem que estas, em si mesmas,
sejam corrigidas.
Existe discriminao racial quando
as pessoas no so avaliadas, selecionadas,
admitidas, promovidas e remuneradas de
acordo com as suas capacidades e
competncias, mas por critrios irrelevantes
para o seu desempenho como cor da pele, tipo
de cabelo, traos faciais e origem tnica.
Numa sociedade complexa, diferenciada e
competitiva, o combate a todas as formas de
discriminao e de racismo consiste
primordialmente em exigir a aplicao de
critrios universalistas todas as vezes em
que for necessrio estabelecer uma seleo
para qualquer emprego, cargo, funo ou
posio social e em exigir o respeito a
padres universais de respeito dignidade
das pessoas. Quando se precisa selecionar um
tcnico em computao, por exemplo, os
candidatos devem ser avaliados por sua
competncia em computao e no pelo fato de
serem brancos ou negros; o mesmo se pode
dizer quando se trata de contratar
vendedores de loja, gerentes de empresas,
funcionrios pblicos, jogadores de futebol,
ou ingressar na universidade.
Claramente, no isto que acontece
no Brasil, mas a discriminao racial no
permeia de modo uniforme todo o tecido
social. O mercado de trabalho, por exemplo,
um dos campos onde o preconceito se
manifesta de forma especialmente perversa,
dificultando enormemente, ou mesmo impedindo
o acesso de negros s posies melhor
remuneradas e de maior prestgio social,
perpetuando uma desigualdade inaceitvel.
Outro setor onde o preconceito se
manifesta de forma particularmente cruel,
embora com intensidade varivel, nas
relaes sociais, onde formas abertas ou
sutis de discriminao atuam no sentido de
diminuir o valor e a auto-estima dos negros.
este campo, inclusive, aquele no qual o
combate discriminao mais difcil e
onde a escola poderia desempenhar um papel
crucial no combate ao racismo.
Infelizmente, a escola no cumpre
este papel. Manifestao de preconceito e
discriminao, conscientes e s vezes
inconscientes ocorrem entre alunos,
funcionrios e mesmo professores. O
preconceito na escola especialmente grave
quando incide nas sries iniciais, com
crianas que ainda no desenvolveram
mecanismos de defesa contra a projeo de
identidades negativas. Da parte dos
professores, o que acontece com mais
freqncia do que se imagina, a
pressuposio do fracasso, o que constitui
um estmulo negativo particularmente
destrutivo, pois leva as crianas a
acreditarem que so incapazes de aprender,
prejudicando assim todo o seu
desenvolvimento escolar posterior.
Entretanto, h outros setores e
instituies sociais nos quais a
discriminao racial e a manifestao do
preconceito foram de fato neutralizados: o
vestibular para ingresso nas universidades
pblicas um deles. De fato, a instituio
do exame do vestibular consiste numa vitria
democrtica contra as pragas do
protecionismo, do machismo, do clientelismo
e do racismo que permeiam a sociedade
brasileira. O ingresso depende
exclusivamente do desempenho dos alunos em
provas que medem razoavelmente bem a
preparao, as competncias e as habilidades
dos candidatos que so necessrias para o
bom desempenho num curso de nvel superior.
Alunos de qualquer raa, nvel de renda,
sexo, so reprovados ou aprovados
exclusivamente em funo de seu desempenho.
Isto significa que os descendentes de
africanos no so barrados no acesso ao
ensino superior por serem negros, mas por
deficincias de sua formao escolar
anterior. Por isto mesmo, de certa forma
estranho que a primeira grande iniciativa de
ao afirmativa no campo educacional incida
justamente sobre o vestibular, sem propor
medidas de correo das deficincias de
formao que constituem a causa real da
excluso.
De fato, do ponto de vista
estritamente formal, o vestibular
corresponde ao exemplo anterior de um
concurso para contratar tcnicos em
computao, no qual o critrio seja a
competncia no uso do computador.
Foroso reconhecer, entretanto,
que, do ponto de vista social e da
perspectiva de construir uma sociedade mais
igualitria, o acesso ao ensino superior
feito desta forma perpetua ou d
continuidade a desigualdades que permeiam
todo o processo escolar anterior.
necessrio democratizar o acesso ao ensino
superior diminuindo a desigualdade
existente. A pergunta que precisa ser
respondida se as quotas constituem a
melhor forma de faz-lo.
A idia do estabelecimento de um
sistema de quotas tnicas para o ingresso
nas universidades como forma de combate
discriminao originou-se nos Estados
Unidos. Quotas, de fato, faziam um certo
sentido naquele pas, com sua longa tradio
de universidades brancas, que no admitiam
negros e de todo um sistema educacional
segregado que proibia a coexistncia de
negros e brancos nas mesmas escolas. Convm
lembrar que, nos Estados Unidos, os
critrios de admisso para o ensino superior
no so baseados exclusivamente em provas
que avaliem a capacidade de desempenho
escolar, mas incluem inmeras outras
consideraes, variveis de uma universidade
para outra, as quais podem levar em conta o
fato dos candidatos serem filhos de ex-
alunos, ou dos pais terem feito doaes
financeiras para a instituio, ou terem
talento para os esportes, ou serem homens ou
mulheres ou ainda, inclusive, a origem
tnica dos postulantes. Este sistema
permitiu, no passado, que negros fossem
impedidos de ingressar nas universidades em
virtude de sua condio racial e mulheres
fossem excludas em funo do gnero, o que
no acontece nos vestibulares brasileiros.
Neste contexto, as quotas podiam de fato ser
defendidas, especialmente porqu o
preconceito racial nos Estados Unidos de
tal forma agressivo que classifica como
negros toda a parcela da populao que
possui algum ancestral africano, tornando a
separao entre negros e brancos
extremamente rgida.
A diviso da populao em duas
categorias fechadas e excludentes brancos
e negros - permeou o conjunto das
instituies e servios pblicos norte-
americanos. Classificaes desse tipo esto
na base de todas as formas mais violentas de
racismo, especialmente quando so
oficialmente e legalmente reconhecidas como
critrio para acesso a benefcios, servios
e posies sociais. O anti-semitismo oficial
da Alemanha nazista, como o apartheid sul-
africano, so exemplos muito claros disto,
assim como a segregao racial que existiu
no sistema educacional norte-americano. O
artificialismo perverso destas
classificaes fica especialmente claro no
caso da populao mestia, para as quais o
problema da identificao racial ou tnica
se torna particularmente espinhoso. Nos
pases de preconceito mais violento, a
questo tendeu a ser resolvida com uma
ampliao desmesurada dos excludos,
incluindo entre eles todos que possussem
qualquer ascendente, mesmo que remoto, da
minoria desprezada. H uma perverso
especial nesta forma de classificao,
porque ela pressupe um poder
extraordinariamente contaminador da raa
considerada inferior, a qual corrompe, por
assim dizer, a contribuio gentica dos
brancos na descendncia mestia. No caso da
frica do Sul, a soluo foi um pouco
diferente: toda a populao foi rigidamente
classificada oficialmente nas categorias
brancos, pretos, indianos e mestios e
rigidamente segregada social, sexual e
espacialmente. O absurdo desta medida fica
patente quando se verifica que ela dividiu
membros de uma mesma famlia, irmos
inclusive, em categorias diferentes,
impedindo que morassem na mesma casa, no
mesmo bairro e freqentassem as mesmas
escolas.
Pode-se argumentar que estabelecer
quotas para impedir o acesso de minorias a
posies vantajosas na sociedade
condenvel, mas o contrrio (estabelecer
quotas para forar a incluso) desejvel.
Mas, mesmo que seja para o bem, as quotas
possuem um pecado de origem que consiste
justamente em estabelecer categorias
artificiais que tomam como critrio
caractersticas raciais. Com isto se cria um
precedente perigoso, pois se rompe com a
base da luta mundial contra o racismo que
consiste justamente em negar, com o apoio da
cincia, a validade da utilizao de
critrios deste tipo. De fato, o racismo se
apia numa teoria que toda a cincia moderna
tem demonstrado ser falsa: a de que existem
diferenas genticas na capacidade mental
das diferentes raas, as quais, por isso
mesmo, so insuperveis e se perpetuam
atravs das geraes. O prprio conceito de
raa humana dificilmente utilizado
cientificamente, porque praticamente no
existem geneticamente raas isoladas e
uniformes. A raa uma criao social
discriminatria e no uma classificao
cientfica. E por isso que a Declarao
dos Direitos Humanos consagra o princpio da
igualdade de todos perante lei. Sacrificar
este princpio fundamental para resolver um
problema muito especfico, isto , a
ampliao do acesso dos negros ao ensino
superior, constitui um risco demasiado
grande e desproporcional aos benefcios que
as quotas podem promover. preciso
encontrar outra soluo, inclusive porque,
no Brasil, a separao da populao em duas
categorias, negros e brancos, que as quotas
oficializam, particularmente artificial
no s porque no possui qualquer base
cientfica, mas tambm porque contraria a
evidncia gritante da imensa heterogeneidade
racial da populao brasileira. Contraria
inclusive o prprio bom-senso dos
brasileiros, para os quais, se meu pai
negro e minha me branca ou vice-versa, eu
no sou exatamente branca nem negra.
Gilberto Freyre, apesar de todas as
crticas que lhe podem ser feitas, tem razo
pelo menos quando insiste em que a populao
brasileira majoritariamente mestia e que
a soluo brasileira para o racismo s pode
passar pelo reconhecimento e valorizao da
mestiagem. E isto se aplica tanto s
caractersticas fsicas quanto culturais.
extremamente difcil separar uma cultura
negra em oposio a uma cultura branca no
Brasil porque esta est intensamente
permeada por influncias africanas: na
msica, na dana, nas artes plsticas, nas
posturas corporais, na alimentao, na
literatura e na religio. Alis, uma das
maiores violncias que se comete com os
descendentes de africanos no Brasil reside
no fato da contribuio africana para a
formao da cultura brasileira no ser
devidamente reconhecida, pelo fato mesmo de
estar to profundamente incorporada nos
costumes do pas. No sendo reconhecida, no
pode ser utilizada, como precisaria ser,
como base para a valorizao da ascendncia
africana e para a constituio de uma auto
identificao positiva por parte dos
brasileiros com a mestiagem e com a base
luso-africana da cultura nacional.
Entretanto, se a mestiagem cultural pouco
reconhecida no Brasil, a racial est
bastante presente na conscincia nacional.
De fato, no Censo Demogrfico de
2000 apenas 5,4% da populao se auto-
classificou como preta; 40% se identificou
como parda e 54% como branca. O
reconhecimento da extenso da mestiagem
ainda maior do que o Censo indica, pois uma
parcela dos que se classificam como brancos,
difcil de quantificar mas certamente muito
grande, reconhece (mesmo que procure
ocultar), que possui algum ascendente
africano. em virtude da amplitude da
mestiagem e do seu reconhecimento por parte
da populao que o Brasil havia escapado at
agora do perigo das divises raciais rgidas
e evitado assim as formas mais virulentas do
racismo. Porque, paradoxalmente, ao
oficializar a categoria negro, criamos
tambm, artificialmente, aqueles que so
oficialmente brancos.
Pode-se, verdade, tambm
argumentar que, na proposta brasileira das
quotas, evitamos a violncia da
classificao pseudo-racial na medida em que
a incluso na categoria branca ou negra for
feita voluntariamente. Mas, a opo forada
por uma outra categoria constitui em si uma
violncia, porque as pessoas podem de fato
no ser e por isto mesmo no se reconhecer
como parte nem de uma, nem de outra dessas
divises artificialmente criadas. Mas, com o
sistema de quotas, se optarem por no se
declararem negros, prejudicaro suas chances
de ingresso na universidade, o que cria
problemas de escolha muito srios.
Estabelecer um benefcio que exija a auto-
classificao das pessoas como sendo negras
implica forar uma opo que as pessoas
podem preferir no fazer e constitui, creio
eu, um desrespeito efetiva condio e
identificao tnica da maioria da populao
brasileira.
A artificialidade desta opo fica
patente quando se verifica que mesmo sendo
voluntria, a opo vai incidir sobre as
famlias, dividindo-as, pois, na situao de
ampla miscigenao que caracteriza a
populao brasileira, encontramos muitos
casos nos quais os filhos apresentam graus
diferentes de negritude e brancura. Como
se auto-classifica um jovem aparentemente
branco quando seu irmo mais escuro entrou
na universidade pelo benefcio das quotas?
No h, no Brasil, uma verdadeira
democracia racial. Mas o fundamento para sua
construo reside nos preceitos
constitucionais que tornam, perante a lei,
irrelevante a auto-classificao racial das
pessoas e crime a discriminao. Se a
aplicao da lei falha, a soluo no est
em oficializar desigualdades, aplicando
critrios legalmente diversos para negros e
brancos.
As quotas partem do pressuposto de
que os negros no esto conseguindo
competir com os brancos no vestibular. De
fato, isto verdade na medida em que esta
populao enfrenta obstculos sociais muito
srios na sua trajetria escolar, que
dificultam o acesso ao ensino superior.
Alguma coisa precisa ser feita para diminuir
esta desigualdade. Mas a soluo das quotas
no se encaminha no sentido de propor uma
ao afirmativa que permita aos brasileiros
com ascendncia africana superar
deficincias do seu processo de
escolarizao e o estigma da discriminao
mas a de reivindicar que, para os negros,
os critrios de admisso precisam ser menos
rigorosos. Segregam-se os mecanismos de
entrada: um mais rigoroso, para brancos e
orientais e outros menos rigoroso para
negros. Por menos que se queira, as
implicaes negativas so inevitveis: a
universidade ficar dividida entre os alunos
da quota, menos bem preparados, e os demais,
que ingressam com uma formao melhor.
No podemos admitir que as
dificuldades de ingresso dos negros no
ensino superior se devam a caractersticas
genticas dos descendentes de africanos que
os tornem incapazes de atingir um bom
desempenho escolar. Mas, ao oficializar a
raa como critrio de admisso,
pressupomos que todos os portadores de
traos negrides, mesmo os de famlia de
faixa de renda mais elevada, filhos de pais
mais escolarizados, e que tiveram melhores
oportunidades de receber uma boa formao
escolar, so igualmente incapazes de
competir com os brancos e que por isso devem
ser igualmente beneficiados pelo sistema de
quotas. Fortalece-se, deste modo, a falsa
identificao entre ascendncia africana e
inferioridade intelectual, ao pressupor que
nenhum negro pode competir com os brancos.
o perigo deste tipo de generalizao
perversa que tem levado muitos estudantes
universitrios negros a se oporem ao sistema
de quotas.
Uma outra conseqncia negativa
deste tipo de reivindicao que ela de
fato desvaloriza a boa formao escolar
bsica, como se ela no fosse necessria
para o prosseguimento dos estudos. O
importante parece ser conseguir um lugar na
universidade e no criar oportunidades de
formao que permitam s pessoas que so
vtimas de discriminao, disputar um lugar
na universidade. Esta desvalorizao
acarreta um risco: o de que esta distino
inicial se perpetue por todo o curso porque,
infelizmente, a qualidade da formao
escolar anterior um fator que influi
fortemente no sucesso escolar posterior
tanto no caso dos brancos como no dos
negros. Alunos que ingressam no ensino
superior com srias deficincias em sua
formao, como as que referem capacidade
de compreenso de textos, de redao, de
clareza na argumentao, de familiaridade
com o mtodo cientfico, de utilizao do
raciocnio matemtico, encontram grandes
dificuldades para conseguir um desempenho
satisfatrio nos cursos universitrios. Alm
disto, h tambm deficincias de informao
na rea das cincias, da literatura, da
histria e da geografia que limitam o
horizonte cultural daqueles que no tiveram
oportunidade de cursar boas escolas que
precisariam tambm ser corrigidas. Para
serem bem sucedidos, os alunos da quota
menos bem preparados necessitariam de um
programa paralelo que lhes permitisse
superar essas deficincias de sua formao.
Esta no uma tarefa que as universidades
possam desempenhar durante os cursos
regulares, porquanto este trabalho exige
competncias especficas por parte dos
professores e uma pedagogia adequada. Alm
do mais, isto poderia significar a
formulao de cursos ou currculos
especficos para os alunos negros, o que por
sua vez, segregaria os estudantes
universitrios em programas para negros e
programas para brancos. Soluo muito melhor
seria que esta compensao curricular fosse
oferecida antes do ingresso no ensino
superior e no depois.
Chegamos com isto mais perto das
razes do problema da desigualdade de acesso
ao ensino superior e da formulao de aes
afirmativas que permitam compensar o
processo cumulativo da desigualdade da
formao escolar prvia. Porque, se no h
discriminao racial no vestibular,
preciso reconhecer que no podemos continuar
a conviver com um processo educativo que, de
fato, exclui a populao de ascendncia
africana do acesso s universidades
pblicas.
Mas preciso para isso, analisar
melhor a extenso da desigualdade
educacional na sociedade brasileira e a
natureza dos obstculos que se constituem ao
longo da trajetria escolar dos alunos
negros para formular uma poltica afirmativa
e compensatria que no perpetue, no ensino
superior, a desigualdade presente nos nveis
anteriores e a repetio de uma experincia
de fracasso escolar. E, para no cometer
injustias, necessrio tambm reconhecer
que a desigualdade de escolarizao no
ocorre apenas com a populao de ascendncia
africana.
Esta anlise to mais importante
porquanto a luta em torno do estabelecimento
de quotas no pode monopolizar a ateno da
sociedade, deixando em segundo plano a
questo mais geral e fundamental que a
desigualdade educacional que atinge os
negros em todos os nveis de ensino e que
engloba tambm grande parte da populao que
se auto-classifica como branca.
Uma anlise feita por Sampaio e
Limongi (2001) revela fatos bastante
assustadores.
Levando em considerao apenas a
faixa etria de 18 a 24 anos, isto , aquela
na qual os jovens estariam ingressando no
ensino superior, qualquer que seja a sua
cor, verificamos que apenas 16,5% da
populao completou 11 anos de estudo, isto
, terminou o nvel mdio e possui portanto
a possibilidade formal de ingressar no
ensino superior.
O percentual que acusa 12 anos de
escolaridade, isto , que freqenta ou
freqentou algum tipo de curso superior de
reduzidssimos 6,4%. Para o conjunto dessa
populao jovem, independentemente da auto-
classificao por cor, a mdia de anos de
estudo inferior a sete, o que significa
que a grande maioria dos jovens brasileiros
(58,7%) no completou sequer os oito anos do
ensino fundamental obrigatrio."
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) Doutora Roberta, o texto da
Professora Eunice extremamente interessante, eu verifico
que Vossa Excelncia j ultrapassou em muito o tempo de 15
minutos. Eu pediria que, se fosse possvel, Vossa
Excelncia lesse, talvez, os pargrafos finais do
pronunciamento da Professora Eunice e, depois, ns faramos
chegar s mos dos eminentes colegas o texto integral, e a
transcrio, como todos os demais pronunciamentos, far
parte do processo como um anexo.
Ento, peo a Vossa Excelncia a gentileza
de passar para os pargrafos finais.
A SENHORA ROBERTA FRAGOSO MENEZES KAUFMANN
(PROCURADORA) - Com certeza.
A Professora prossegue falando da
necessidade vou fazer um resumo ento para poder
compreender, porque eu no tenho como ler s o ltimo
pargrafo, seno acho que ningum vai entender nada.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) Fica a seu critrio.
A SENHORA ROBERTA FRAGOSO MENEZES KAUFMANN
(PROCURADORA) - A ideia da Professora que, em vez de
cotas para universidade, haja ao afirmativa para negros
antes das cotas na universidade. Ento, nesse sentido ela
aponta o caminho de cursinhos pr-vestibulares para alunos
carentes como a melhor forma de ao afirmativa do que
efetivamente a poltica de cotas. E, ao fim, ela diz que:
"Dificilmente um curso pr-
universitrio gratuito poder abrigar todos
os interessados."
Ento, a concluso da Professora :
"Finalmente, como estamos falando em
aes afirmativas, h uma outra de mxima
importncia que consiste em despertar a
universidade para o cumprimento de sua
obrigao inadivel de formar futuros
professores capacitados para combater o
racismo em si prprios, na sala de aula e na
escola. Esta questo precisa ser includa no
currculo dos cursos de pedagogia e nas
licenciaturas. E no se trata apenas de um
tratamento terico e abstrato dos males do
racismo. Trata-se de capacitar os
professores para diagnosticar o racismo na
prtica da sala de aula, mostrar
concretamente como combat-lo e
conscientiz-los da importncia, para as
crianas, do estmulo de um professor que
acredita nelas e no seu potencial. Desta
forma, a universidade contribuir para sanar
o mal pela raiz, isto , no prprio ensino
fundamental.
A conjuno destas duas aes
afirmativas, os cursinhos pr-
vestibulares para negros carentes uma na
ponta e outra na base, - posteriormente
com a insero do racismo como uma
disciplina de sala de aula, contra o
racismo, claro far mais para diminuir a
desigualdade educacional no Brasil do que o
sistema de quotas."
Obrigada.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) Obrigado, Doutora Roberta
Kaufmann.
Eu tenho a honra e a satisfao de anunciar
a presena da Senadora Serys Slhessarenko entre ns. Muito
obrigado.
Eu passarei agora a palavra ao Professor
Ibsen Noronha, Professor de Histria do Direito do
Instituto de Ensino Superior de Braslia IESB, e tambm
da Associao de Procuradores de Estado ANAPE. O
Professor Ibsen dispor de at 15 minutos para fazer a sua
interveno.
Est com a palavra.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR IBSEN NORONHA (PROFESSOR DE
HISTRIA DO DIREITO DO IESB) - Eu inicio saudando esta
Corte pela convocao da audincia pblica, que busca alar
o debate para o elevado nvel de argumentao, muitas vezes
preterido pelas paixes que abandonam a lgica e o bom-
senso. E sado esta Corte na pessoa de Sua Excelncia o
Ministro Ricardo Lewandowski e de Sua Excelncia o Ministro
Joaquim Barbosa, que nos d a honra da sua presena.
Dar a cada um o que seu, no lesar a
ningum. Especulao da filosofia grega, que informou o
Direito romano, inspirando a teologia crist. Essa mxima
atravessou os sculos. E com o pensamento voltado para
essa mxima, que toca a todos os homens de boa-vontade, que
passo a fazer esta breve exposio.
Na busca de fontes, deixo de lado todo o
partie prix, seja ele idiossincrtico, seja idelgico, sob
pena de a pesquisa dar luz um panfleto e voc ficar cego
para importantssimas informaes.
Esse foi o precioso conselho que ouvi do
catedrtico de Histria do Direito da Universidade de
Coimbra, Professor Doutor Rui de Figueiredo Marcos, h
quando do incio das minhas pesquisas naquela veneranda
instituio. Precioso conselho, repito, pois nada pior do
que a construo de uma histria que medra da ideologia e
visa o ressentimento.
A vida do professor tem este imperativo: a
honestidade na busca da verdade. O meu contributo nesta
audincia h de ser no campo da Histria. A apresentao
ser, evidentemente, panormica, mas fruto de longa
reflexo.
A Histria forma, molda e cria mentalidades.
A criteriologia utilizada para ver e julgar os
acontecimentos, interpret-los, se quiserem, produzir uma
atitude perante o presente, culto ou inculto, o homem tem
alguma referncia para suas atitudes perante vida
vinculadas sua compreenso da Histria. O cultor da
Histria aquele que apresentar esses critrios, que
logo, por diversos meios de filtragem ou destilao,
chegar s pessoas pelas mais diversas formas: escola,
universidade, livros de divulgao, televiso, cinema etc.
Gilberto Freyre na sua tese de mestrado,
pouco lida, intitulada "Vida Social no Brasil nos Meados do
Sculo XIX", defendeu essa tese na Faculdade de Cincias
Polticas Jurdicas e Sociais, na Universidade de Columbia,
afirmou:
"A Histria deve produzir alegria
pela compreenso do passado."
Estou seguro de que essa afirmao surgiu na
medida em que procurava obviar uma corrente que j ento se
fazia presente nos meios da Histria, que produzia dios e
revanchismo na interpretao da Histria. E criava
justiceiros de toda a espcie.
Aqui temos um flagrante perigo: a Histria
refm da ideologia, a Histria que produziu o dogma da luta
de classes, por exemplo, gerou milhes de assassinatos
atravs dos totalitarismos comunista, nazista e fascista,
pretenderam-se justiceiros da Histria.
Estou aqui para discorrer como Professor de
Histria do Direito, oferecendo algum subsdio para o
debate acerca das cotas raciais nas universidades
brasileiras. Devo dizer que o debate j fez correr rios de
tinta, ainda bem que no rios de sangue, como em Uganda.
Preocupei-me com o assunto, percorri muitos
desses rios, constatei que os diversos argumentos formam um
verdadeiro cipoal, falcias das mais diversas, desde os
falsos dilemas, at as manobras de diverso, constituem
este cipoal. Que falta faz a lgica quando um debate j no
marcado pelo lumen rationes! Argumento recorrente o da
dvida histrica. Vejamos.
Quando se fala em dvida histrica no
Brasil, no outra coisa que passe pela cabea das pessoas
seno a escravido. Que, de chofre, apresenta-se como
referncia para raciocnios; esta chaga social, de fato,
parte da nossa histria.
No h como apagar, Senhor Ministro, podemos
lamentar, mas far sempre parte da histria do Brasil a
escravido, e faz parte ainda hoje, Meus Senhores, na
frica, tenho aqui um recorte recente, um milho de
escravos, e aqui tm retratos indignates de crianas com
grilhes, em um jornal de grande divulgao, o qual est
disponvel para os Senhores Ministros. Faz parte hoje na
frica. Eu posso at sentir a indignao de todos aqui, pr
ou contra as cotas, e a vontade de todos se levantarem j e
partirmos para a frica lutar contra isso. Sinto
perfeitamente, mas no cabe a mim aqui incitar aes
herica na frica, e, sim, dar alguns subsdios sobre o
problema das cotas.
Ora, mas importante - eu registro - haver
escravido hoje na frica, til, para raciocinarmos
historicamente.
A abolio da escravido no Brasil pode ser
estudada sob diversas perspectivas: a religiosa, a
econmica, a sociolgica, a cultura e outras mais. Importa
aqui observ-la sob o prisma jurdico. Foi um processo, e a
histria deve ser sempre vista como processo que, sob a
lente jurdica-histrica, permite uma viso panormica.
Desde a independncia at a lei de 13 de
maio de 1888, vemos as aes legislativas do Imprio do
Brasil voltadas para libertao de todos os que estivessem
no Brasil. Note-se: nascidos no Brasil ou em frica. Sobre
esse tema remeto a Vossas Excelncias, Senhores Ministros,
para que se dignem a passar os olhos pelo artigo - uma aula
que disponibilizei sobre o assunto. Os diversos e copiosos
textos de lei que so analisados favorecem ineludivelmente
a compreenso do que se passou. So fontes primrias e
evitam uma histria de segunda ou terceira mo, cheia de
ideologia.
Lembro, contudo, que, neste processo,
tivemos a chamada "Lei do Ventre Livre", lei que tornou
irremedivel o fim do cativeiro no Brasil, estava presente
nas galerias do parlamento, quando da votao em 28 de
setembro de 1871, o Embaixador norte-americano James
Rudolph Partridge. Aprovada a lei, houve muito
brasileiramente uma chuva de flores sobre o plenrio. O
embaixador procurou o presidente do conselho para felicit-
lo e, colhendo algumas flores disse: "Vou mandar estas
flores ao meu pas, para mostrar como aqui se fez deste
modo uma lei que l custou tanto sangue. H uma alegria em
compreender aquele processo com esta cena da petit us tous,
mas para os que tm critrios de interpretao que incitam
ao dio.
A escravido africana no Brasil surge na
segunda metade do sculo XVI; portanto, no Brasil Colnia.
Os motivos da opo pela escravido africana so dos mais
diversos. minha misso apontar ao menos um relacionado
especificamente com a histria do Direito brasileiro,
amplamente estudado na minha tese de mestrado, que tambm
est disposio de Vossas Excelncias.
A legislao de proteo ao ndio contra os
cativeiros injustos que grassavam nos primrdios de nossa
histria foi de extrema importncia para o incio do
trfico africano. Do perodo colonial possumos
documentados, vrios casos de assimilao dos ndios na
sociedade que nasciam. Muitos foram juzes - isto pouco
conhecido - e chegaram a receber ttulos de nobreza. Quanto
ao negro tambm j temos Del Gracias, documentada e
estudada a sua insero como homens livres na sociedade
durante o perodo colonial. So os libertos. Hoje podemos
considerar razoavelmente bem-estudado o tema dos "Escravos
Forros". Eles ingressaram na sociedade, muitos enriqueceram
e possuram escravos. Temos notcias tambm de africanos
que ingressaram no clero, chegando alguns a alcanar a
honra de bispos. Outros, por exemplo, alcanaram cargos
importantes na magistratura, a chamada "noblesse de robe".
preciso circunspeo na anlise dos
argumentos, seja relativamente ao caso presente das cotas,
seja na viso de mundo que se cria pela anlise histrica.
Falcia comum e contumaz de projetar uma viso
antropolgica pessimista de maneira unilateral, ou seja,
considerar a categoria de homem branco robesianamente e,
por outro lado, conceber a categoria de homem negro sob as
poticas tintas do Bo Sovage. Ou mais claramente a La
Rosseau. A finalidade destes e de outros argumentos - e eu
remeto a uma tese defendida na faculdade defendida na
Faculdade de Filosofia da Unb, por um ex-membro que
trabalhou no Supremo, Paulo Penteado, que estuda todos os
argumentos sobre a tica da lgica - produzir discursos.
Apesar de bastante difundidos tais discursos, no resistem
anlise disciplinada pela lgica, pois so falcias
prticas. Discursos repletos de falhas e imperfeies
facilmente identificveis pelos intrpretes que se servirem
da lgica como cincia.
Vejamos duas proposies que eu retiro de
documentos pr-cpias: a desigualdade racial vigente hoje
no Brasil tem fortes razes histricas. Segunda: as razes
do problema esto vinculadas ao escravismo. O perigo de
tomar essas proposies como premissa de raciocnio vlido
e verdadeiro manifesto nas consequncias possveis.
Estamos perante falcias de causalidade. A causa das
mazelas a escravido, afirma-se. Consequncia:
compensemos com as quotas.
O perigo de tomar essas proposies como
premissas de raciocnio vlido e verdadeiro manifesto nas
consequncias possveis. H real perigo - e por isso que
estou aqui, minha inteno colaborar com isso - de
injustia ao se buscar a soluo com a premissa vinculada
nessa causalidade. Por qu? Documentos histricos provam
que, no sculo XVI, j temos negros livres no Brasil. Nos
nossos dias, como j disse, j est relativamente bem
estudada a condio do liberto e podemos afirmar que muitos
prosperaram econmica e socialmente. Os nmeros de libertos
aumentaram sensivelmente nos sculos XVII, XVIII e XIX, ao
ponto de, em 1888, ano da clebre lei assinada pela
Princesa Isabel, contar o imprio com apenas 5% da
populao de escravos. Estudos apresentam a dinmica
natural dos libertos vinculada miscigenao e,
naturalmente, aquisio de escravos. Campos de
Goytacazes, no estudo feito por um americano, no final do
Sculo XVIII, Brasil colonial, um tero dos senhores de
escravos era negro. Desta forma, a no ser que os
genealogistas, um tanto esquecidos e at desprezados depois
de 1789, sejam contratados em massa para as comisses que
decidem acerca das quotas na universidade, temos o real
perigo de cometer uma injustia baseada na dvida histrica
- o que, alis, j pode ter sido cometida. Ou seja, dvida
que, se existisse, no seria paga, mas, isso sim, teramos
produzido uma verdadeira e palpvel dvida nos dias que
correm.
Um descendente de escravocrata poder se
beneficiar de uma vaga, enquanto um descendente de migrao
recente, como, por exemplo, japoneses, italianos,
poloneses, alemes e at finlandeses - o Brasil
tradicionalmente generoso na sua acolhida -, sero lesados,
preteridos por um argumento falacioso, fundado na histria.
Suum quique tribuere, neminem laedere: duas manifestaes
concretas. A tomada de posio em relao compensao
histrica, a partir da dvida histrica, certamente no
exerccio acadmico. As posies fruto de uma viso de
mundo se concretizam. Raciocinemos a partir de duas
posies antagnicas, tais posies parecem teis para o
nosso saudvel desejo de analisar o problema com seriedade.
O antigo reitor da UnB, ex-Ministro da Educao e atual
Senador, Cristvam Buarque, afirmou que admitir as quotas
prejudicaro alguns brancos ao cederem seus lugares aos
estudantes com nota inferior. Contudo, considerou ser
preciso cometer injustias pontuais para corrigir uma
enorme injustia histrica. J o atual vice-governador de
So Paulo, Alberto Goldman, quando Deputado, manifestou-se
perplexo acerca da instituio das quotas raciais. Seu
neto, filho de um quatrocento paulista, portanto fruto de
grande miscigenao, poderia ter acesso a essa vantagem,
enquanto que sua empregada, filha de ucraniano, casada com
filho de ucraniano, no poderia pleitear tal vantagem para
o seu filho. Eis dois raciocnios bastante distintos acerca
do problema: dar a cada um o que seu, sem lesar a
ningum. Em qual deles est mais evidente essa preocupao?
Eu tinha um raciocnio de um professor de lgica da UnB
contrrio s quotas tambm, por um raciocnio lgico,
professor de lgica da UnB, mas vou deixar de ler para ser
fiel ao tempo.
Termino, ento. Fica, assim, em linhas
gerais, o meu contributo para o debate acerca das quotas.
Saliento que o texto com aparato acadmico e documentao
est a disposio dos Ministros desta excelsa Corte.
Encerro a exposio com uma derradeira observao: Buscar
na histria de um Pas, como o Brasil, uma vocao
perfeitamente legtimo. O fenmeno histrico permite, luz
da filosofia de histria e da teologia da histria, tal
ilao. A harmonizao dos povos que para aqui vieram ao
longo dos nossos cinco sculos de vida faz parte do
pulchrum da nossa histria. (Interrupo do udio)
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeo a participao do
Doutor Ibsen Noronha.
Eu chamo agora o Professor Doutor Luiz
Felipe de Alencastro, que Titular da Ctedra de Histria
do Brasil da Universidade de Paris-Sorbonne e representante
da Fundao Cultural Palmares.
O Professor dispor de at quinze minutos
para o seu pronunciamento.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR LUIZ FELIPE DE ALENCASTRO
(REPRESENTANTE DA FUNDAO CULTURAL PALMARES) -
Excelentssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Senhor
Ministro Joaquim Barbosa, Excelentssima Procuradora-Geral
Deborah Duprat, Excelentssima Senadora Ceres Cesarenko, eu
queria inicialmente declarar que me sinto honrado de ter
sido convidado para falar nesta Suprema Corte representando
a Fundao Palmares e nesta audincia pblica numa causa de
tanta importncia para o Pas.
Conforme foi lembrado numa das intervenes
da sesso de ontem, neste ano de 2010 os brasileiros
afrodescendentes, os cidados que se autodefinem como
pretos e pardos passam a formar a maioria da populao do
pas. A mudana vai muito alm da demografia, ela traz
ensinamentos sobre o nosso passado e traz, tambm, desafios
para o nosso futuro. Os ensinamentos sobre o nosso passado
refere-se densa presena da populao negra na formao
do povo brasileiro.
Todos ns sabemos que esta presena
originou-se e desenvolveu-se na violncia. Contudo, a
extenso e o impacto do escravismo no tem sido
suficientemente sublinhada. No vou aqui retomar uma
divagao geral sobre o escravismo, vou entrar em trs
pontos precisos que tem a ver com o direito brasileiro e
com a situao atual.
Na realidade, nenhum pas americano
praticou a escravido em to larga escala como o Brasil. Do
total de cerca de onze milhes de africanos deportados e
chegados vivos nas Amricas, quarenta e quatro por cento,
perto de cinco milhes vieram para o territrio brasileiro
no perodo de trs sculos (1550/1856). Durante este
perodo vieram para este lado do Atlntico milhes de
africanos que, em meio a misria e ao sofrimento, tiveram a
coragem, a esperana para constituir famlias e as culturas
formadoras de uma parte essencial do povo brasileiro.
Arrancados de suas famlias, de sua aldeia e de seu
continente eles foram deportados por negreiro, luso-
brasileiros, e, em seguida, por traficantes genuinamente
brasileiros que os trouxeram acorrentados em navios
arvorando auriverde pendo de nossa terra como narram
estrofes menos lembradas do poema de Castro Alves, que
sabia do assunto porque seu padastro era negreiro.
Eu no vou entrar em fatos histricos
amplamente conhecidos; aqui, ontem, evocou-se o fato de que
o Brasil era meio estranho a esse trfico negreiro
evidentemente notrio que nas trinta e cinco mil viagens
ocorridas atravs do Atlntico no h nenhum barco africano
envolvido nesse trfico.
No Sculo XIX, o Imprio do Brasil aparece,
ainda, como a nica nao independente que praticava o
trfico negreiro em grande escala. Alvo da presso
diplomtica britnica o comrcio ocenico de escravo passou
a ser proscrito na sequncia do Tratado Anglo-Brasileiro de
1826, a Lei de 1831 proibiu a totalidade do comrcio de
africanos no Atlntico.
Entretanto, setecentos e sessenta mil
indivduos vindos de todas as partes da frica so trazidas
at 1856, num circuito de trfico clandestino. Ora, a Lei
de 1831 assegurava plena liberdade aos africanos
introduzidos no Pas desde que pisassem numa praia
brasileira. Isso explicitado na lei. Em consequncia, os
alegados proprietrios desses indivduos livres eram
considerados sequestradores, incorrendo nas sanes do
artigo 179 do Cdigo Criminal, de 1830, que puniu o ato de
"reduzir escravido a pessoa livre que se achar em posse
de sua liberdade". Tais sanes so reiteradas pela Lei
Eusbio de Queirs, de 1850.
Porm o governo imperial anistiou, na
prtica, os senhores culpados do crime de sequestro, mas
deixou livre curso ao crime correlato, a escravizao de
pessoas livres. De golpe, os setecentos e sessenta mil
africanos desembarcados, at 1856, e a totalidade de seus
descendentes, filhos e netos continuaram sendo mantidos
ilegalmente na escravido at 1888, ou seja, boa parte das
duas ltimas geraes de indivduos escravizados no Brasil
no eram escravos. Moralmente legtima, a escravido do
Imprio era ainda, primeiro e sobretudo, ilegal. Tenho,
para mim, que esse pacto dos sequestradores constitui o
pecado original da ordem jurdica brasileira.
Firmava-se duradouramente o princpio da
impunidade e do casusmo da lei que marca a nossa histria
e permanece como um desafio constante aos Tribunais e a
esta Suprema Corte. Consequentemente, no so s os negros
brasileiros que pagaram e pagam o preo da herana
escravista.
Outra deformidade gerada pelos "males que a
escravido criou", na expresso de Joaquim Nabuco, refere-
se violncia policial. E, para isso, vou voltar de novo
ao Cdigo Criminal do Sculo XIX que os senhores conhecem
bem, mas peo licena para relembrar.
Depois da independncia, no Brasil, como no
sul dos Estados Unidos, o escravismo passou a ser
consubstancial a organizao das instituies nacionais.
Entre as mltiplas contradies engendradas por essa
situao, uma relevava do Cdigo Penal: como punir o
escravo sem encarcer-lo, sem privar o senhor do usufruto
do trabalho do cativo que cumpria pena de priso?
Para solucionar o problema, o quadro legal
foi definido em dois temas. Primeiro, a Constituio de
1824 garantiu, em seu artigo 179, a extino das punies
fsicas:
"Desde j, ficam abolidos os
aoites, a tortura, a marca de ferro quente,
e todas as mais penas cruis".
E ainda:
"As cadeias sero seguras, limpas e
bem arejadas."
Conforme o princpio do Iluminismo, ficavam
assim preservadas as liberdades e a dignidade dos homens
livres.
Num segundo tempo, o Cdigo Criminal tratou
especificamente da priso dos escravos. E, aqui, eu quero
aludir ao fato de que pesava sobre toda a populao negra
livre a suspeita de ser escravos em fuga. Essa a sndrome
da escrava Isaura, como eu poderia chamar, que pesava
enquanto o princpio jurdico da propriedade escrava
perdurava no pas. As cadeias do Rio de Janeiro e das
grandes cidades, no Sculo XIX, estavam cheias de
indivduos que, alegadamente, eram livres, mas que eram
retidos na cadeia sob a suspeio de serem escravos de fuga
de lugares longnquos.
Evidentemente o Cdigo ento atingia uma
populao bem vasta e no artigo 60 dizia:
"Se o ru for escravo e incorrer em
pena que no seja a pena capital ou de
gals, ser condenado na de aoites."
Com o aoite, com a tortura, poderia-se
punir sem encarcerar. Estava resolvido o dilema. De maneira
mais eficaz que a priso, o terror da ameaa do aoite em
pblico servia para intimidar o escravo.
Oficializada at o final do Imprio, essa
prtica punitiva, a tortura policial, estendeu-se s
camadas desfavorecidas, aos negros em particular e aos
pobres em geral. De novo, fica claro que no so s os
negros brasileiros que pagaram e pagam um preo da herana
escravista.
Enfim, h uma terceira deformidade gerada
pelo sistema. sabido que at a Lei Saraiva, at 1881, os
analfabetos, incluindo os negros alforriados, podiam ser
votantes.
Com a Lei Saraiva foram suprimidos os dois
graus de eleitores exigncia de renda anual, para ser
votante o eleitor, mas o voto do analfabeto foi vetado.
Decidida no conceito pr-abolucionista a lei buscava
atingir, bloquear o acesso ao corpo eleitoral maioria dos
libertos, ou futuros libertos. Gerou-se um estudo de
infracidadania que perdurou at 1985, quando foi autorizado
o voto do analfabeto. O conjunto dos analfabetos foi
atingido, mas a excluso poltica foi mais impactante na
populao negra, onde o analfabetismo registrava, e
continua registrando, taxas bem mais altas.
Pelos motivos apontados acima, v-se que
essas taras, nascidas no sculo XIX, atingem o pas
inteiro. Por esta razo, ao agir em sentido contrrio
reduo das discriminaes que ainda pesam sobre os negros,
consolidar a nossa democracia. Portanto, no se trata,
aqui, de uma simples lgica indenizatria destinada a
quitar dvidas da histria. Como foi o caso, em boa medida,
nos memorveis julgamentos desta Corte sobre a demarcao
de terras indgenas. No presente julgamento, trata-se,
sobretudo, de descrever a discusso sobre a poltica
afirmativa e as cotas raciais no aperfeioamento da
democracia, no vir a ser da Nao.
Ora, se falou aqui em Ruanda e os perigos de
uma situao similar, qual o paralelo entre o Brasil e
Ruanda, um pas que teve a sua independncia em 1962. Esse
alarmismo sobre a situao potencial de conflito das cotas
raciais despropositado, pelo simples fato de que a
arguio de inconstitucionalidade tambm no toma em conta,
as cotas j existem. Ontem, ns tivemos os nmeros, aqui,
muito impressionante, das dezenas de milhares de estudantes
beneficiados no quadro do Prouni e dos cinquenta e dois mil
que se beneficiam no mbito das universidades pblicas. Os
conflitos tm sido resolvidos, e so conflitos mnimos, em
nada comparveis, por exemplo, com a brutalidade do trote
universitrio. A situao dos eventuais incidentes das
cotas so insignificantes no mbito universitrio, que
muito se enriqueceu com a presena na comunidade
universitria e cientfica da presena desses estudantes.
Na poca, nos anos 30, os setores
tradicionalistas alegavam que o voto feminino iria dividir
as famlias, que a presena das mulheres na universidade
esterilizava, desperdiava vagas universitrias, porque as
mulheres depois iriam casar, criar seus filhos e no iriam
exercer as profisses. E foram essas normas consensuais que
impediram a plena cidadania, e foram sendo progressivamente
reduzidas, segundo o preceito aplicvel tambm na questo
racial, de que se deve tratar de maneira desigual o
problema gerado por uma situao desigual.
H, tambm, o fato de que as estatsticas -
e isso foi dito ontem na apresentao do doutor Mrio
Theodoro e da doutora Maria Paula Dallari Bucci -, mostram,
massivamente, que a entrada na universidade constitui o
ponto de estrangulamento essencial da discriminao racial
e da diferena de oportunidades, que h no Brasil.
Eu penso que essa questo - que uma
questo bastante carregada de emoo, no Brasil - no
deveria ser apresentada - e isso o senador Paim falou a
pouco, com muito mais experincia e autoridade do que eu
possa fazer aqui - como um corte entre a esquerda e a
direita, e o governo e a oposio. Como no caso do
plebiscito de 1993 sobre o presidencialismo e o
parlamentarismo, a clivagem atravessa linhas partidrias e
ideolgicas. Alis, as primeiras medidas de poltica
afirmativa relativas populao negra foram tomadas, como
conhecida, pelo governo Fernando Henrique Cardoso.
Como deixei claro, utilizei-me de vrios
estudos do IPEA para embasar meus argumentos. Ora, o IPEA
foi dirigido no segundo governo de Fernando Henrique
Cardoso pelo professor Roberto Borges Martins, e o IPEA
dirigido, no atual governo, pelo professor Mrcio Pochmann,
ambos colegas, por quem tenho respeito e admirao, os dois
so favorveis s polticas afirmativas e s polticas de
cotas raciais. A existncia de alianas transversais devem
nos conduzir, mesmo no ano de eleies, a um debate menos
ideologizado, onde os argumentos de um e de outros possam
ser analisados, levados ao sbio juzo desta Corte a fim de
contribuir para a superao da desigualdade racial que pesa
sobre os negros e a democracia brasileira.
Muito obrigado!
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo a participao do
Professor Luiz Felipe de Alencastro.
Chamo agora o Professor Oscar Vilhena
Vieira, Doutor e Mestre em Cincia Poltica pela
Universidade de So Paulo, Mestre em Direito pela
Universidade de Columbia, e aqui representando a Conectas
Direitos Humanos.
Esclareo aos ouvintes e assistentes que
houve uma pequena inverso na ordem dos trabalhos, porque
estaria escalado para falar agora o Professor Kabengele
Munanga. Parece-me que o Professor Oscar Vilhena tem um voo
agendado, ento houve uma troca.
O Professor Oscar Vilhena tem a palavra por
quinze minutos.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR LUIZ FELIPE DE ALENCASTRO
(REPRESENTANTE DA FUNDAO CULTURAL PALMARES) -
Excelentssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Senhor
Ministro Joaquim Barbosa, Excelentssima Procuradora-Geral
Deborah Duprat, Excelentssima Senadora Ceres Cesarenko, eu
queria inicialmente declarar que me sinto honrado de ter
sido convidado para falar nesta Suprema Corte representando
a Fundao Palmares e nesta audincia pblica numa causa de
tanta importncia para o Pas.
Conforme foi lembrado numa das intervenes
da sesso de ontem, neste ano de 2010 os brasileiros
afrodescendentes, os cidados que se autodefinem como
pretos e pardos passam a formar a maioria da populao do
pas. A mudana vai muito alm da demografia, ela traz
ensinamentos sobre o nosso passado e traz, tambm, desafios
para o nosso futuro. Os ensinamentos sobre o nosso passado
refere-se densa presena da populao negra na formao
do povo brasileiro.
Todos ns sabemos que esta presena
originou-se e desenvolveu-se na violncia. Contudo, a
extenso e o impacto do escravismo no tem sido
suficientemente sublinhada. No vou aqui retomar uma
divagao geral sobre o escravismo, vou entrar em trs
pontos precisos que tem a ver com o direito brasileiro e
com a situao atual.
Na realidade, nenhum pas americano
praticou a escravido em to larga escala como o Brasil. Do
total de cerca de onze milhes de africanos deportados e
chegados vivos nas Amricas, quarenta e quatro por cento,
perto de cinco milhes vieram para o territrio brasileiro
no perodo de trs sculos (1550/1856). Durante este
perodo vieram para este lado do Atlntico milhes de
africanos que, em meio a misria e ao sofrimento, tiveram a
coragem, a esperana para constituir famlias e as culturas
formadoras de uma parte essencial do povo brasileiro.
Arrancados de suas famlias, de sua aldeia e de seu
continente eles foram deportados por negreiro, luso-
brasileiros, e, em seguida, por traficantes genuinamente
brasileiros que os trouxeram acorrentados em navios
arvorando auriverde pendo de nossa terra como narram
estrofes menos lembradas do poema de Castro Alves, que
sabia do assunto porque seu padastro era negreiro.
Eu no vou entrar em fatos histricos
amplamente conhecidos; aqui, ontem, evocou-se o fato de que
o Brasil era meio estranho a esse trfico negreiro
evidentemente notrio que nas trinta e cinco mil viagens
ocorridas atravs do Atlntico no h nenhum barco africano
envolvido nesse trfico.
No Sculo XIX, o Imprio do Brasil aparece,
ainda, como a nica nao independente que praticava o
trfico negreiro em grande escala. Alvo da presso
diplomtica britnica o comrcio ocenico de escravo passou
a ser proscrito na sequncia do Tratado Anglo-Brasileiro de
1826, a Lei de 1831 proibiu a totalidade do comrcio de
africanos no Atlntico.
Entretanto, setecentos e sessenta mil
indivduos vindos de todas as partes da frica so trazidas
at 1856, num circuito de trfico clandestino. Ora, a Lei
de 1831 assegurava plena liberdade aos africanos
introduzidos no Pas desde que pisassem numa praia
brasileira. Isso explicitado na lei. Em consequncia, os
alegados proprietrios desses indivduos livres eram
considerados sequestradores, incorrendo nas sanes do
artigo 179 do Cdigo Criminal, de 1830, que puniu o ato de
"reduzir escravido a pessoa livre que se achar em posse
de sua liberdade". Tais sanes so reiteradas pela Lei
Eusbio de Queirs, de 1850.
Porm o governo imperial anistiou, na
prtica, os senhores culpados do crime de sequestro, mas
deixou livre curso ao crime correlato, a escravizao de
pessoas livres. De golpe, os setecentos e sessenta mil
africanos desembarcados, at 1856, e a totalidade de seus
descendentes, filhos e netos continuaram sendo mantidos
ilegalmente na escravido at 1888, ou seja, boa parte das
duas ltimas geraes de indivduos escravizados no Brasil
no eram escravos. Moralmente legtima, a escravido do
Imprio era ainda, primeiro e sobretudo, ilegal. Tenho,
para mim, que esse pacto dos sequestradores constitui o
pecado original da ordem jurdica brasileira.
Firmava-se duradouramente o princpio da
impunidade e do casusmo da lei que marca a nossa histria
e permanece como um desafio constante aos Tribunais e a
esta Suprema Corte. Consequentemente, no so s os negros
brasileiros que pagaram e pagam o preo da herana
escravista.
Outra deformidade gerada pelos "males que a
escravido criou", na expresso de Joaquim Nabuco, refere-
se violncia policial. E, para isso, vou voltar de novo
ao Cdigo Criminal do Sculo XIX que os senhores conhecem
bem, mas peo licena para relembrar.
Depois da independncia, no Brasil, como no
sul dos Estados Unidos, o escravismo passou a ser
consubstancial a organizao das instituies nacionais.
Entre as mltiplas contradies engendradas por essa
situao, uma relevava do Cdigo Penal: como punir o
escravo sem encarcer-lo, sem privar o senhor do usufruto
do trabalho do cativo que cumpria pena de priso?
Para solucionar o problema, o quadro legal
foi definido em dois temas. Primeiro, a Constituio de
1824 garantiu, em seu artigo 179, a extino das punies
fsicas:
"Desde j, ficam abolidos os
aoites, a tortura, a marca de ferro quente,
e todas as mais penas cruis".
E ainda:
"As cadeias sero seguras, limpas e
bem arejadas."
Conforme o princpio do Iluminismo, ficavam
assim preservadas as liberdades e a dignidade dos homens
livres.
Num segundo tempo, o Cdigo Criminal tratou
especificamente da priso dos escravos. E, aqui, eu quero
aludir ao fato de que pesava sobre toda a populao negra
livre a suspeita de ser escravos em fuga. Essa a sndrome
da escrava Isaura, como eu poderia chamar, que pesava
enquanto o princpio jurdico da propriedade escrava
perdurava no pas. As cadeias do Rio de Janeiro e das
grandes cidades, no Sculo XIX, estavam cheias de
indivduos que, alegadamente, eram livres, mas que eram
retidos na cadeia sob a suspeio de serem escravos de fuga
de lugares longnquos.
Evidentemente o Cdigo ento atingia uma
populao bem vasta e no artigo 60 dizia:
"Se o ru for escravo e incorrer em
pena que no seja a pena capital ou de
gals, ser condenado na de aoites."
Com o aoite, com a tortura, poderia-se
punir sem encarcerar. Estava resolvido o dilema. De maneira
mais eficaz que a priso, o terror da ameaa do aoite em
pblico servia para intimidar o escravo.
Oficializada at o final do Imprio, essa
prtica punitiva, a tortura policial, estendeu-se s
camadas desfavorecidas, aos negros em particular e aos
pobres em geral. De novo, fica claro que no so s os
negros brasileiros que pagaram e pagam um preo da herana
escravista.
Enfim, h uma terceira deformidade gerada
pelo sistema. sabido que at a Lei Saraiva, at 1881, os
analfabetos, incluindo os negros alforriados, podiam ser
votantes.
Com a Lei Saraiva foram suprimidos os dois
graus de eleitores exigncia de renda anual, para ser
votante o eleitor, mas o voto do analfabeto foi vetado.
Decidida no conceito pr-abolucionista a lei buscava
atingir, bloquear o acesso ao corpo eleitoral maioria dos
libertos, ou futuros libertos. Gerou-se um estudo de
infracidadania que perdurou at 1985, quando foi autorizado
o voto do analfabeto. O conjunto dos analfabetos foi
atingido, mas a excluso poltica foi mais impactante na
populao negra, onde o analfabetismo registrava, e
continua registrando, taxas bem mais altas.
Pelos motivos apontados acima, v-se que
essas taras, nascidas no sculo XIX, atingem o pas
inteiro. Por esta razo, ao agir em sentido contrrio
reduo das discriminaes que ainda pesam sobre os negros,
consolidar a nossa democracia. Portanto, no se trata,
aqui, de uma simples lgica indenizatria destinada a
quitar dvidas da histria. Como foi o caso, em boa medida,
nos memorveis julgamentos desta Corte sobre a demarcao
de terras indgenas. No presente julgamento, trata-se,
sobretudo, de descrever a discusso sobre a poltica
afirmativa e as cotas raciais no aperfeioamento da
democracia, no vir a ser da Nao.
Ora, se falou aqui em Ruanda e os perigos de
uma situao similar, qual o paralelo entre o Brasil e
Ruanda, um pas que teve a sua independncia em 1962. Esse
alarmismo sobre a situao potencial de conflito das cotas
raciais despropositado, pelo simples fato de que a
arguio de inconstitucionalidade tambm no toma em conta,
as cotas j existem. Ontem, ns tivemos os nmeros, aqui,
muito impressionante, das dezenas de milhares de estudantes
beneficiados no quadro do Prouni e dos cinquenta e dois mil
que se beneficiam no mbito das universidades pblicas. Os
conflitos tm sido resolvidos, e so conflitos mnimos, em
nada comparveis, por exemplo, com a brutalidade do trote
universitrio. A situao dos eventuais incidentes das
cotas so insignificantes no mbito universitrio, que
muito se enriqueceu com a presena na comunidade
universitria e cientfica da presena desses estudantes.
Na poca, nos anos 30, os setores
tradicionalistas alegavam que o voto feminino iria dividir
as famlias, que a presena das mulheres na universidade
esterilizava, desperdiava vagas universitrias, porque as
mulheres depois iriam casar, criar seus filhos e no iriam
exercer as profisses. E foram essas normas consensuais que
impediram a plena cidadania, e foram sendo progressivamente
reduzidas, segundo o preceito aplicvel tambm na questo
racial, de que se deve tratar de maneira desigual o
problema gerado por uma situao desigual.
H, tambm, o fato de que as estatsticas -
e isso foi dito ontem na apresentao do doutor Mrio
Theodoro e da doutora Maria Paula Dallari Bucci -, mostram,
massivamente, que a entrada na universidade constitui o
ponto de estrangulamento essencial da discriminao racial
e da diferena de oportunidades, que h no Brasil.
Eu penso que essa questo - que uma
questo bastante carregada de emoo, no Brasil - no
deveria ser apresentada - e isso o senador Paim falou a
pouco, com muito mais experincia e autoridade do que eu
possa fazer aqui - como um corte entre a esquerda e a
direita, e o governo e a oposio. Como no caso do
plebiscito de 1993 sobre o presidencialismo e o
parlamentarismo, a clivagem atravessa linhas partidrias e
ideolgicas. Alis, as primeiras medidas de poltica
afirmativa relativas populao negra foram tomadas, como
conhecida, pelo governo Fernando Henrique Cardoso.
Como deixei claro, utilizei-me de vrios
estudos do IPEA para embasar meus argumentos. Ora, o IPEA
foi dirigido no segundo governo de Fernando Henrique
Cardoso pelo professor Roberto Borges Martins, e o IPEA
dirigido, no atual governo, pelo professor Mrcio Pochmann,
ambos colegas, por quem tenho respeito e admirao, os dois
so favorveis s polticas afirmativas e s polticas de
cotas raciais. A existncia de alianas transversais devem
nos conduzir, mesmo no ano de eleies, a um debate menos
ideologizado, onde os argumentos de um e de outros possam
ser analisados, levados ao sbio juzo desta Corte a fim de
contribuir para a superao da desigualdade racial que pesa
sobre os negros e a democracia brasileira.
Muito obrigado!
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo a participao do
Professor Luiz Felipe de Alencastro.
Chamo agora o Professor Oscar Vilhena
Vieira, Doutor e Mestre em Cincia Poltica pela
Universidade de So Paulo, Mestre em Direito pela
Universidade de Columbia, e aqui representando a Conectas
Direitos Humanos - PUC, So Paulo e Fundao Getlio Vargas
de So Paulo.
Esclareo aos ouvintes e assistentes que
houve uma pequena inverso na ordem dos trabalhos, porque
estaria escalado para falar agora o Professor Kabengele
Munanga. Parece-me que o Professor Oscar Vilhena tem um voo
agendado, ento houve uma troca.
O Professor Oscar Vilhena tem a palavra por
quinze minutos.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR OSCAR VILHENA (PROFESSOR DOUTOR E
MESTRE) - Bom-dia a todos.
Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a
oportunidade que o Excelentssimo Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski nos deu para debater esse tema. Tambm gostaria
de congratular-me com os Senhores Ministros, com a
Subprocuradora-Geral da Repblica presente nessa mesa e
agradecer ao carssimo amigo Kabengele por me permitir
falar antes dele.
Em primeiro lugar, gostaria de colocar que
esse um momento histrico para esta Corte. Isso falado
em muitos casos, mas esse, sem dvida nenhuma, um dos
casos que vai fazer com que esta Corte construa, nesse
caminho que ela tem, uma posio vanguardeira entre as
grandes cortes constitucionais no mundo. muito importante
desmistificar uma coisa: a ao afirmativa no uma
inveno americana. A ao afirmativa foi inventada pela
Constituio Indiana, por dois senhores. Um, que havia
morrido pouco antes da constitucionalizao, chamado Ghandi
e outro chamado Neru. Foram eles que colocaram, na
Constituio Indiana, a necessidade de que o estado tomasse
medidas claras para reverter um processo secular de
estratificao dos mais perversos que existe na humanidade.
Os americanos aprenderam com os indianos. O sul-africanos
aprenderam com os indianos, os brasileiros esto aprendendo
com os indianos, os hngaros esto aprendendo com os
indianos. Ento, isso no uma inveno americana, isso
algo que ns sentimos necessidade, se quisermos mudar a
nossa sociedade.
Ministro, dado que ns temos um grupo muito
grande de pessoas que iro focar distintos pontos,
inclusive, ontem, magnificamente expostos tanto pelo IPEA
quanto pelo MEC, eu gostaria de chamar ateno apenas para
uma questo que me parece ser o principal divisor de guas.
Afinal, a incluso do critrio "raa" em processo de
seleo para o ensino universitrio, por intermdio de
aes afirmativas - no necessariamente quotas -, viola a
constituio ou no? Se o Senhor me permite, s sobre
isso que gostaria de falar.
A minha resposta evidentemente negativa.
No s os programas de ao afirmativa que incluem raa -
no apenas raa, que incluem pobreza, inclui origem escolar
e outras coisas - no s no so compatveis com o
princpio formal da igualdade, como eles so uma exigncia
constitucional para a realizao de uma srie de princpios
e polticas e objetivos constantes de diversos artigos da
Constituio. sobre isso que eu gostaria de tomar a
ateno de Vossas Excelncia. Em primeiro lugar, qualquer
mecanismo de escolha dentro do Estado exige critrios de
discriminao. Se ns pegarmos vestibulares, ele tem
critrios, saber, acmulo de saber.
Portanto, se a prova de ingls de uma
universidade como a que eu partilhei com o Ministro
Lewandowski, a Universidade de So Paulo, exige um
determinado ndice, esse o critrio de excluso, quem
adquiriu esse ndice de Ingls, entra, quem no adquiriu,
sai. evidente, todos ns sabemos, que isso leva a uma
enorme e desproporcional excluso de determinados grupos
dentro da nossa sociedade. No vejo exemplo mais cabal do
que o seguinte: Martin Luther King, que reconhecido como
um dos maiores oradores do Sculo XX, foi excludo, repetiu
o exame do vestibular da Universidade de Boston em
expresso oral.
evidente, como falava um dos meus
antecessores, que a lngua que se fala nos guetos
incompreensvel. Se o vestibular no feito por estes,
evidentemente que a lngua que se fala nos guetos no ser
suficiente para atingir os critrios universais,
meritocrticos, igualitrios, que se exige no vestibular.
Um jovem que faz uma escola que tem uma durao duas vezes
maior do que o jovem que vai para a escola pblica, que tem
livros em casa, que tem pais que falam lnguas, que fazem
intercmbios, como podemos dizer, como disse a professora
Eunice, que vestibular meritocrtico? O vestibular no
meritocrtico, o vestibular uma forma de premiar o
investimento que os pais foram capazes de fazer sobre seus
filhos, os filhos tambm tm mrito porque estudaram e
aproveitaram as oportunidades que os pais deram, mas um
investimento. Ns no podemos pegar um recurso pblico to
dispendioso, numa sociedade to desigual, e d-la como
prmio aos filhos dos pais que tiveram algum tipo de
mrito. Isso o vestibular hoje em dia, especialmente nos
cursos mais concorridos das universidades pblicas.
A consequncia disso uma desproporcional
excluso de determinados setores da sociedade, e a nossa
ordem jurdica - ao ratificar a conveno contra todas as
formas de discriminao racial, ao estabelecer que
discriminao no s o ato que tem por objetivo excluir
uma pessoa de direitos, mas tambm aquele ato que tem por
resultado a excluso dessas pessoas - impe que processos
seletivos desproporcionalmente excludentes no sejam
tolerados.
nessa medida que a ao afirmativa tem uma
primeira funo, que no tem nada a ver com distribuio ou
com raa, ela tem a funo de corrigir os processos
seletivos. Ela corrige, porque ela ajusta aquelas condies
que no foram dadas a determinados grupos atravs da
pontuao, criando uma cesta de critrios para que todos
possam, sim, concorrer em igualdade de condies. Alis,
isso que determina a Constituio brasileira quando fala
sobre a educao: o acesso deve se dar em igualdade de
condies, e o acesso educao universitria deve ser
segundo a capacidade.
O nosso vestibular no mede a capacidade, o
nosso vestibular mede outra coisa, mede investimento. Quem
sabe mais? Quem tem mais capacidade? Um jovem que estudou
no Saint Paul em So Paulo e tirou nove na prova de Ingls
ou um jovem que estudou precariamente numa escola pblica
de periferia e tirou cinco? Quem tem mais capacidade de
aprender? No tenho dvida de que esse jovem tem muito mais
capacidade.
Senhor Ministro, ento, nesse sentido, as
aes afirmativas so suavemente aceitveis pela nossa
Constituio para aliviar a inconstitucionalidade de
processos seletivos altamente excludentes. Mas no apenas
isso: as aes afirmativas no servem apenas para corrigir
um defeito hoje existente. As aes afirmativas tm uma
outra funo: elas so uma exigncia constitucional entre
as diversas polticas pblicas que a nossa Constituio
determina, ela exige que coisas sejam feitas, muitas
coisas. Vamos l ao que ela exige educao.
A educao no transferncia de
conhecimento de uma gerao para a outra, muito menos um
prmio para aqueles que tiveram condies de investimento.
A educao serve ao pleno desenvolvimento da personalidade
humana e formao da cidadania, est no artigo especfico
sobre a educao. Mais do que isso: a educao
universitria serve ao ensino, pesquisa e extenso. O
que significa extenso? Interveno na sociedade,
contribuio com a sociedade.
Pergunto-me, Ministro: como uma universidade
predominantemente branca - eu fui uma escola branca, fui
uma universidade branca, tive alunos, durante vinte anos,
brancos, com exceo de alguns que vieram do intercmbio
com a frica e algo que cabe na minha mo daqueles que
eram brasileiros. Vinte e um anos de ensino na
universidade, uma universidade branca. Ser que a
universidade branca, que no plural, que no tem
diversidade, oferece condies para a realizao da sua
misso constitucional? Ser que ela capaz de atender ao
pluralismo exigido pela nossa Constituio? Ser que ela
capaz de enfrentar os problemas de erradicao de pobreza,
de justia e de solidariedade? E mais especificamente:
possvel fazer boa pesquisa com grupos que no tenham
diversidade? possvel ter ensino plural com grupos que
sejam homogneos? possvel ter extenso quando a escola
sequer se abre para esses grupos ao qual ela deveria
dialogar? Parece-me que no.
Ento, as aes afirmativas que incluem
raa, porque esse o critrio que o IPEA, o IBGE e o MEC
demonstram que gera uma desproporcional excluso, no s
pobreza, pobreza tambm gera, educao e escola pblica
tambm gera, mas a raa se sobrepe a todos esses; ento, a
ao afirmativa um mecanismo legtimo, exigido pela
Constituio, para que a educao universitria possa ser
plural e que possa haver diversidade.
Ns sabemos, Ministro, que somente quando o
nmero de pessoas no-brancas que fizeram universidade e
puderam alar a postos importantes, a exemplo do Ministro
Joaquim, que haver a ruptura desta lgica de que a nossa
sociedade uma sociedade hierarquizada e que o papel dos
negros no no Supremo Tribunal Federal, mas que o papel
do negro em posies subalternas a essa sociedade.
isto. A universidade o principal mecanismo pelo qual ns
inclumos as pessoas e damos a elas a possibilidade de
representao social. Fechar as portas da universidade,
como ns fechamos nesses magnficos anos de Repblica, aos
no-brancos, gerou uma sociedade desigual, uma sociedade
perversa, uma sociedade injusta.
Concordo com o meu colega Luiz Felipe
Alencastro: no h risco. A inrcia que foi o desastre.
Todos esses anos aps o fim da escravido nos legaram uma
sociedade fragmentada, uma sociedade violenta, quarenta e
sete mil homicdios no ano passado, uma sociedade
fragmentada. Ns temos aqui uma chance de reconstruir a
nossa sociedade. Este um risco que ns no podemos
correr: nos dar a chance de reconstruir a nossa sociedade.
Muito obrigado a todos.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado, Professor Oscar Vilhena
Vieira, por sua participao.
Antes de dar continuidade aos trabalhos,
registro a grata presena do Senhor Ministro Edson Santos,
da Secretaria Especial de Polticas de Promoo Igualdade
Racial, registro tambm a presena dos Senhores Deputados
Federais Luiz Alberto e tambm Carlos Santana. Agradeo a
presena dessas autoridades.
Chamo agora para fazer uso da palavra o
eminente Professor Kabengele Munanga, Professor da
Universidade de So Paulo, aqui representando o Centro de
Estudos Africanos desta instituio de ensino.
O eminente Professor dispe de at quinze
minutos para fazer o seu pronunciamento.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR KABENGELE MUNANGA (REPRESENTANDO O
CENTRO DE ESTUDOS AFRICANOS DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO) -
Excelentssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski,
Excelentssimo Senhor Ministro Joaquim Barbosa,
Excelentssima Senhora Vice-Procuradora-Geral da Repblica
Doutora Deborah Duprat, Senadora Ceres Cesarenko, Ministro
Edson Santos, Deputados Luiz Alberto e Carlos Santana.
"Bem, eu ingressei no Programa de
Ps-Graduao em cincias sociais da
Universidade de So Paulo em 1975. Fui o
primeiro negro a concluir o doutorado em
antropologia social nessa universidade em
1977. Por mera coincidncia, esse primeiro
negro era oriundo do continente africano e
no do prprio Brasil. Trs anos depois,
ingressei na carreira docente na mesma
instituio, no atual Departamento de
Antropologia onde fui o primeiro e o nico
negro professor, desde sua fundao. Daqui a
trs anos, estarei compulsoriamente me
aposentando, sem ainda vislumbrar a
possibilidade do segundo docente negro nesse
Departamento.
Creio que esta a histria dos
brasileiros afrodescendentes, no apenas nas
universidades, mas tambm em outros setores
da vida nacional que exigem formao
superior para ocupar cargos e postos de
comando e responsabilidade. Geralmente so
ausentes ou invisveis nesses postos e
cargos. Quando se tem um, sempre o
primeiro e o nico, - no vou dar exemplos
constrangedores - raramente o segundo e o
terceiro. Encontrar trs ou quatro juntos
numa mesma instituio j motivo de festa!
Esse quadro considerado como gritante
quando comparado ao dos outros pases que
convivem ou conviveram com as prticas
racistas como os Estados Unidos e a frica
do Sul. Os dados ao nosso conhecimento
mostram que, na vspera do fim do regime do
apartheid, a frica do Sul tinha mais negros
com diploma superior que o Brasil de hoje,
incluindo o lder da luta antiapartheid,
Nelson Mandela. S este exemplo basta para
mostrar que algo est errado no pas da
democracia racial que precisa ser
corrigido.
Da o sentido e a razo de ser das
polticas de ao afirmativa cujo processo
se desencadeou principalmente aps a
Terceira Conferncia Mundial contra o
Racismo realizada na frica do Sul, em 2001.
Nos ltimos oito anos, a comear
pelas universidades estaduais do Rio de
Janeiro (UERJ) e do Norte Fluminense (UENF)
onde a poltica de cota foi implementada por
meio de uma lei aprovada em 2001 na
Assembleia Estadual do Rio de Janeiro,
dezenas de universidades pblicas federais e
estaduais adotaram o sistema de cotas a
partir da deciso de seus rgos internos e
conselhos universitrios. Contrariando todas
as previses escatolgicas daqueles que
pensam que essa poltica provocaria um
racismo ao contrrio, consequentemente uma
guerra racial devido racializao de todos
os aspectos da vida nacional, a experincia
brasileira destes ltimos anos mostra
totalmente o contrrio. No houve distrbios
e linchamentos raciais em nenhum lugar como
no apareceu nenhum movimento Ku Klux Klan
brasileira, prova de que as mudanas em
processo esto sendo bem digeridas e
compreendidas pelo povo brasileiro. Mais do
que isso, as avaliaes feitas at o momento
comprovam que apenas nesses ltimos oito
anos da experincia das polticas de ao
afirmativa, houve um ndice de ingresso e de
diplomados negros e indgenas no ensino
superior jamais alcanado em todo o sculo
passado.
O que se busca pela poltica de
cotas para negros e indgenas, no para
ter direito s migalhas, mas sim para ter
acesso ao topo em todos os setores de
responsabilidade e de comando na vida
nacional onde esses dois segmentos no so
devidamente representados como manda a
verdadeira democracia.
A educao e formao profissional, tcnica,
universitria e intelectual de boa qualidade
oferece a chave e a garantia de
competitividade entre todos os brasileiros.
Neste sentido, a poltica de cotas busca a
incluso daqueles brasileiros que por razes
histricas e estruturais que tm a ver com o
nosso racismo brasileira, encontram
barreiras que a educao e a formao
superior podem em parte remover.
Infelizmente, alguns invertem a lgica da
proposta e vem na poltica de cotas a
possibilidade de uma fratura da sociedade.
Outros confessam que tm medo, mas medo de
qu? De errar ou de acertar? Uma sociedade
que quer mudar no deve ter medo de
conflitos, pois no h mudana possvel sem
erros e sem conflitos, penso eu.
Alguns obstculos propositalmente colocados
sobre as chances de sucesso das polticas de
cotas se fizeram entender desde o incio do
processo em 2.002. Felizmente, foram, no
decorrer do tempo e do processo, removidos
um a um pela prpria prtica e experincia
das cotas nas universidades que as adotaram.
Dizia-se no incio que era difcil definir
quem negro ou afro-descendente no Brasil
por causa da intensa miscigenao ocorrida
no pas desde o seu descobrimento. Falsa
dificuldade, porque a prpria existncia da
discriminao racial anti-negro prova de
que no impossvel identific-lo.
Existem evidentemente casos limites que
mereceriam uma ateno desdobrada para no
se cometer erros, casos esses que dependem
da auto-identificao dos candidatos. A bem
da verdade, no houve dvidas sobre a
identidade da maioria dos estudantes
brasileiros que ingressaram na universidade
atravs das cotas.
Diz-se tambm, que essa poltica importada
em vez de ser uma soluo nacional, baseada
na realidade brasileira. Ora, Senhor
Ministro, sabemos todos que na histria da
humanidade nenhum povo inventou a totalidade
de suas solues. Nesse sentido, parte
importante de nossos modelos, seja no campo
do pensamento, cincia, tecnologia,
poltico, jurdico, etc., foi inspirada em
ou importada de outros pases onde obtiveram
sucesso.
A questo fundamental saber reinterpret-
las e adapt-las a nossas realidades antes
de nos apropriarmos delas. Penso que no
devemos sucumbir-nos ao sofisma diante de
uma desigualdade racial to gritante em
matria de educao entre brasileiros.
Dizia-se tambm que a poltica das cotas
violaria o princpio do mrito segundo o
qual na luta pela vida os melhores devem
ganhar. Pois bem, os melhores so aqueles
que possuem armas mais eficazes, que em
nosso caso seriam alunos oriundos dos
colgios particulares melhor abastecidos. Os
outros, que, por questo social ou de origem
nacional, no nasceram com essas
possibilidades, que se conformem - ou que
esperem at melhorar a escola pblica.
Finalmente, alegou-se que a poltica das
cotas iria prejudicar o princpio de
excelncia muito caro para as grandes
universidades. Mas, felizmente, tambm as
avaliaes feitas sobre o desempenho dos
alunos cotistas na maioria das universidades
que aderiram ao sistema, no comprovou a
catstrofe - como j foi demonstrado ontem.
Surpreendentemente, os resultados do
rendimento acadmico desses alunos foram
iguais e at mesmo superiores. Nem tampouco
baixou o nvel de excelncia dessas
universidades contrariando o binculo de
certos acadmicos e ensastas.
Sobrou apenas uma acusao, que explica a
nossa presena nesta Magna Casa: a
inconstitucionalidade da poltica de ao
afirmativa para indgenas e
afrodescendentes. Pois bem! Seria descabvel
e at mesmo um contrasenso da minha parte,
pela minha formao como antroplogo, ter a
ousadia e o atrevimento para defender a
constitucionalidade da poltica das cotas
numa casa composta pelos especialistas da
Lei e das leis e diante de juristas
altamente qualificados e conceituados para
defender a constitucionalidade ou acusar a
inconstitucionalidade das cotas com
competncia e propriedade. Como no me
considero um franco atirador, prefiro ser
aluno e repetir fielmente o que alguns
juristas, inclusive nesta Casa, j disseram
a respeito.
Escreve Sidney Madruga, Procurador
da Repblica, em seu livro Discriminao
Positiva: Aes Afirmativas na Realidade
Brasileira:
A distino entre o princpio da
isonomia formal e substancial ou material,
sobressai ante o tema das aes afirmativas,
as quais, como destaca Mnica de melo,
buscam revigorar o princpio da igualdade a
partir de sua tica material, da efetiva
igualdade entre todos (...) [p.32] A
igualdade formal seria a igualdade perante a
lei. Ante a lei todos somos iguais sem
distino [op.cit.]. A igualdade
substancial, portanto, a busca da
igualdade de fato, da efetivao, da
concretizao dos postulados da igualdade
perante a lei (igualdade formal) (...)
[p.41] Ainda assim, no se pode falar em
desconexo, mas numa diferenciao entre a
igualdade formal e substancial, p.42 A
isonomia constitucional, registra Manoel
Gonalves Ferreira Filho, citado por Hdio
Silva Jr, tambm abarca desigualaes, a fim
de promover o bem de todos. Vale dizer, o
princpio da igualdade no probe de modo
absoluto as diferenciaes de tratamento,
vedando apenas aquelas diferenciaes
arbitrrias. V-se, portanto, conforme
atesta Maria Garcia, que a igualdade traz em
seu bojo um conceito relativo e relacional.
Relativo, pois no pode ser compreendido num
sentido absoluto; isto , a mxima todos
so iguais perante a lei passa a ser
entendida como a composio de duas
afirmaes distintas, a saber: o igual deve
ser tratado igualmente e o desigual
desigualmente, na medida exata de sua
diferena (...) [p. 49-50].
Assim, igualdade tanto no
discriminar, como discriminar em busca de
uma maior igualizao (discriminar
positivamente) [p.50].
Na interpretao de muitos, essa
concretude de direitos passa pela
implementao de aes afirmativas, que vo
alm das barreiras a condutas
antidiscriminatrias, em desfavor de
grupamentos humanos discriminados. Note-se,
ainda, que a discriminao positiva no tem
apenas o escopo de prevenir a discriminao,
na medida em que, como possui duplo carter,
qual seja o reparatrio (corrigir injustias
praticadas no passado) e o distributivo
(melhor repartir, no presente, a igualdade
de oportunidades) direcionados,
principalmente para reas da educao, da
sade e do emprego. Os pronunciamentos de
alguns ministros desta Casa so clarssimos
e sem nenhuma ambigidade sobre este
assunto.
Para concluir, penso que existe um
debate na sociedade que envolve pensamentos,
filosofias, representaes do mundo,
ideologias e formaes diferentes. Esse
pluralismo socialmente saudvel, na medida
em que pode contribuir para a
conscientizao de seus membros sobre seus
problemas e auxiliar a quem de direito, na
tomada de decises esclarecidas. Este debate
se resume a duas abordagens dualistas. A
primeira compreende todos aqueles que se
inscrevem na tica essencialista, segundo a
qual existe uma natureza comum a todos os
seres humanos em virtude da qual todos tm
os mesmos direitos, independentemente de
suas diferenas de idade, sexo, raa, etnia,
cultura, religio, etc. Trata-se de uma
defesa clara do universalismo ou do
humanismo abstrato, concebido como
democrtico. De fato, esse humanismo
abstrato se ope ao reconhecimento pblico
das diferenas entre brancos e no brancos,
entre homens e mulheres, jovens, crianas e
adultos. As melhores polticas pblicas,
capazes de resolver as mazelas e as
desigualdades da sociedade brasileira,
deveriam ser somente macrossociais ou
universalistas. Qualquer proposta de ao
afirmativa vinda do Estado que introduza as
diferenas para lutar contra as
desigualdades, considerada, nessa
abordagem, como um reconhecimento oficial
das raas e, conseqentemente, como uma
racializao do Brasil, cuja caracterstica
dominante fundante a mestiagem. Ou, em
outras palavras, as polticas de
reconhecimento das diferenas poderiam
incentivar os conflitos raciais que, segundo
postula, nunca existiram. Nesse sentido, a
poltica de cotas uma ameaa mistura
racial, ao ideal da paz consolidada pelo
mito de democracia racial.
A segunda abordagem rene todos
aqueles que se inscrevem na postura
nominalista ou construcionista, ou seja, os
que se contrapem ao humanismo abstrato e ao
universalismo, rejeitando uma nica viso do
mundo em que no se integram as diferenas.
Eles entendem o racismo como produo do
imaginrio destinado a funcionar como uma
realidade a partir de uma dupla viso do
outro diferente, isto , do seu corpo
mistificado e de sua cultura tambm
mistificada. O outro existe primeiramente
por seu corpo antes de se tornar uma
realidade social. Neste sentido, se a raa
no existe biologicamente, histrica e
socialmente ela dada, pois no passado e no
presente ela produz e produziu vtimas.
Apesar do racismo no ter mais fundamento
cientfico, tal como no sculo XIX, e no se
amparar hoje em nenhuma legitimidade
racional, essa realidade social da raa que
continua a passar pelos corpos das pessoas
no pode ser ignorada.
Grosso modo, eis as duas abordagens
essenciais que nos dividem: intelectuais,
estudiosos, miditicos, ativistas e
polticos, no apenas no Brasil, mas no
mundo todo. Ambas produzem lgicas e
argumentos inteligveis e coerentes, numa
viso que eu considero maniquesta. A melhor
abordagem, do meu ponto de vista, seria
aquela que combina a aceitao da identidade
humana genrica com a aceitao da
identidade da diferena. Para ser um cidado
do mundo, preciso ser, antes de mais nada,
um cidado de algum lugar, observou Milton
Santos num de seus textos. A cegueira para
com a cor uma estratgia falha para se
lidar com a luta antirracista, pois no
permite a autodefinio dos oprimidos e
institui os valores do grupo dominante e,
conseqentemente, ignora a realidade da
discriminao cotidiana. A estratgia que
obriga a tornar as diferenas salientes em
todas as circunstncias obriga a negar as
semelhanas e impe expectativas
restringentes. No entanto, a discusso fica
empobrecida quando se busca um
posicionamento para saber se essa
desigualdade na igualdade bom ou ruim,
pois a sociedade no funciona de maneira
binria (ou isso ou aquilo) prpria dos
desajustados maniquestas, mas sim na
permanente tenso entre diferentes foras
Visto deste ngulo, no creio que haja lei
capaz de suprimir a mestiagem ou de
instituir a raa na sociedade brasileira,
at porque no e isso que a lei busca. As
aes afirmativas nos Estados Unidos e na
ndia no foram para criar raas ou castas
que j existiam antes naquelas sociedades.
As leis que proibiram os intercursos sexuais
entre brancos e negros nos Estados Unidos e
na frica do Sul em busca da pureza racial,
no tiveram o xito que delas se esperavam.
A constituio da ndia de 1950 aboliu o
sistema de castas naquele pas, embora,
passados 60 anos, ele continue a vigorar na
prtica, prova de que as leis sozinhas no
resolvem todos os problemas de uma
sociedade. As polticas de ao afirmativa
foram implementadas nesses pases para
corrigir os efeitos negativos acumulados e
presentes causados pelas discriminaes e
sobretudo pelo racismo institucional. Creio
que isso tambm a lgica dessa poltica no
Brasil que defendemos.
Se a questo fundamental como
combinar a semelhana com a diferena para
podermos viver harmoniosamente, sendo iguais
e diferentes, por que no podemos tambm
combinar as polticas universalistas com as
polticas diferencialistas? Diante do abismo
em matria de educao superior, entre
brancos e negros, brancos e ndios, e
levando-se em conta outros indicadores
scio-econmicos provenientes dos estudos
estatsticos do IBGE e do IPEA, os demais
ndices do desenvolvimento humano
provenientes dos estudos do PNUD, as
polticas de ao afirmativa se impem com
urgncia, sem que se abra mo das polticas
macrossociais.
No conheo nenhum defensor das
cotas que se oponha melhoria do ensino
pblico. Pelo contrrio, os que criticam as
cotas e as polticas diferencialistas se
opem categoricamente a qualquer poltica de
diferenciao por consider-las a favor da
racializao do Brasil. As leis para a
regularizao dos territrios e das terras
das comunidades quilombolas, de acordo com o
artigo 68 da Constituio, as leis 10639/03
e 11645/08 que tornam obrigatrio o ensino
da histria da frica, do negro no Brasil e
dos povos indgenas; as polticas de sade
para doenas especficas da populao negra
como a anemia falciforme, etc., tudo isso
considerado como racializao do Brasil, e
virou motivo de piada. Para alguns, a defesa
da melhoria da escola pblica apenas um
bom libi para criticar as polticas focadas
de ao afirmativa.
Creio, Senhor Ministro, que uma
poltica que integre os cidados
brasileiros, que por motivos histricos e
estruturais vinculados ideologia racista,
no deveria ser considerada
anticonstitucional, ou como uma poltica que
divide a sociedade brasileira. Mas como no
h unanimidade em matria de interpretao
das leis e da Carta magna da nao
brasileira resta, para ns, as pessoas
comuns, apenas a esperana de que os que de
direito possam nos oferecer a sentena que
desejamos.
Muito lhe agradeo, Senhor Ministro,
pela oportunidade de defender, sem medo de
errar, os interesses de um segmento
importante da sociedade brasileira, que so
tambm os interesses do Brasil."
(Interrupo do udio)
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado pela sua interveno,
Professor Kabengele Munanga.
Chamo agora para fazer uso da palavra o
Professor Leonardo Avritzer, que foi pesquisador visitante
do Massachusetts Institute of Tecnology, participou de
reunies de elaborao do Amicus Curiae apresentado pelo
MIT tambm no caso Grutter v. Bollinger. Professor de
Cincia Poltica da Universidade Federal de Minas Gerais.
O Professor Leonardo dispor de at quinze
minutos tambm para fazer o seu pronunciamento.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Chamo agora para fazer uso da
palavra o Professor Leonardo Avritzer, que foi pesquisador
visitante do Massachusetts Institute of Tecnology,
participou de reunies de elaborao do Amicus Curiae
apresentado pelo MIT tambm no caso Grutter v. Bollinger.
Professor de Cincia Poltica da Universidade Federal de
Minas Gerais.
O Professor Leonardo dispor de at quinze
minutos tambm para fazer o seu pronunciamento.
O SENHOR LEONARDO AVRITZER (PROFESSOR
DE CINCIA POLTICA DA UFMG) - Em primeiro lugar, gostaria
de agradecer ao Excelentssimo Ministro Ricardo Lewandowski
pela oportunidade de falar aqui. Gostaria tambm de saudar
o Ministro Joaquim Barbosa, a Subprocuradora-Geral da
Repblica. Gostaria tambm de parabenizar o Ministro. Eu
sou um estudioso da participao, da importncia da
participao da democracia. Realmente, acho que as
audincias pblicas so aquilo que tornam a nossa
democracia real, palpvel para os cidados brasileiros. Me
d muito prazer por de ter tido a oportunidade de me
manifestar aqui.
Nessa pequena contribuio, tambm no vou
falar sobre todos os pontos, mas vou falar apenas sobre um
ponto. Vou abordar a questo da Ao Afirmativa s sob uma
perspectiva: sob o ponto de vista do conceito de
universidade e das suas funes.
Eu irei defender uma posio clara:
A de que a Ao Afirmativa conecta-se com o
objetivo principal da instituio universitria, a produo
de um saber diversificado. Para se criar um saber
diversificado, necessrio tomar a questo da raa como um
dos critrios, ainda que no nico, para introduo da Ao
Afirmativa na instituio universitria.
Senhor Ministro, entre as 85 instituies
existentes no mundo hoje que j existiam no ano de 1500, 72
eram universidades. E o fato acima expressa uma das
caractersticas mais notveis da instituio universitria:
a sua durabilidade. As universidades do mundo tiveram trs
grandes momentos de definio da sua organizao
institucional: perodo medievel, a reforma humbolditiana do
sculo XIX e a adaptao da reforma humboldtiana aos
Estados Unidos, que gerou o modelo de colleges associados
ao modelo de instituto de ps graduao.
Ao longo de todo esse perodo de mais de 500
anos - coincidiu com a formao da economia de mercado, com
a consolidao do Estado moderno -, a universidade foi se
adaptando s diferentes caractersticas da sociedade. No
entanto, a universidade soube adaptar-se a ambos os
processos sem perder aquilo que a torna universidade; e o
que a torna universidade autonomia do processo de
produo do saber e seu impacto sobre a sociedade.
Nos ltimos 50 anos, a instituio
universitria, como aqui foi mencionada, a partir da ndia,
depois dos Estados Unidos, depois da frica do Sul e depois
do Brasil nesse momento, a universidade, ela foi se
introduzindo processos de ao afirmativa. E o mais
interessante que esses processos de ao afirmativa, eles
no foram introduzidos a partir de critrios que negavam a
ideia de igualdade. Pelo contrrio. A ao afirmativa, ela
introduzida no sentido de aprimorar a ideia de igualdade
civil. Esse consiste no motivo que, mesmo nas sociedades
mais liberais, a ao afirmativa existe como princpio. Ela
est fundada naquilo que John Rawls - provavelmente, na
minha opinio, principal terico do Direito da segunda
metade do sculo 20, ou talvez do sculo inteiro -, ele
denominou do princpio da diferena. E como que John
Rawls justifica o princpio da diferena? Ele justifica o
princpio da diferena no interior da tradio liberal, n?
Que N. Rawls vai dizer - e aqui estou citando - que
"(...) A diferena na tradio liberal justificvel, se
ela ocorre na expectativa de beneficiar aqueles que esto
em situao desfavorvel". Ou seja, a igualdade civil
liberal, ela no faz tbula rasa das condies que
antecederam a sua prpria vigncia. Pelo contrrio. A
igualdade civil um esforo que exige a produo ativa
pelo Estado dessa prpria igualdade. E nenhuma instituio
mais relevante nesse processo que as instituies de
ensino superior, que as instituies universitrias.
Senhores Ministros, a universidade s
capaz de cumprir sua misso de produzir conhecimento se h
diversidade de atores e de saberes no seu interior.
Em um debate muito importante sobre
conhecimento travado ainda nos anos 70, um dos principais
autores de Metodologia da Cincia do sculo 20, Paul
Feyerabend, ele fez a seguinte colocao:
"O conhecimento no uma srie de
teorias autoconsistentes que converge em
direo a um ponto de vista ideal; no uma
aproximao gradual verdade. Ao contrrio,
um oceano de alternativas mutuamente
incompatveis(...)".
Esta colocao, quando estendida pro campo
das humanidades em geral, mas segundo muitos autores e
tambm segundo o prprio amicus do MIT para a cincia, ela
coloca a questo da diversidade dos atores presentes no
processo de produo do conhecimento. Ou seja, a inovao
no campo do saber implica na presena de atores com
experincia de vida, distintos no campo do saber. E esse,
na verdade, foi o princpio de admisso da Universidade de
Michigan, que foi questionado no caso Grutter v. Bollinger.
Nesse caso, a Faculdade de Direito da Universidade de
Michigan - uma das principais faculdades de Direito dos
Estados Unidos -, defendeu a legalidade constitucional do
objetivo de selecionar o seu corpo docente, a partir tanto
do talento dos estudantes - evidentemente, no existe aqui
a negao de ideia de talento -, como tambm da sua
experincia com a diversidade. E, ao ter esse princpio
desafiado, o mais importante aqui que me parece - isso
que eu gostaria de assinalar aqui com a minha contribuio
- que as principais instituies de excelncia, nos
Estados Unidos, universitrias, mas tambm de empresas,
fizeram um amicus pra defender a importncia da diversidade
na produo do saber do conhecimento; o amicus, que o MIT
fez junto com a Universidade de Stanford, mas junto com a
IBM, com a Dupont e com a Associao Americana de
Engenheiros Eletrnicos. E, na posio do MIT, o que o MIT
falou nesse amicus que me parece que extremamente
importante? - ele fala e eu aqui, mais uma vez, eu cito.
"A diversidade racial tnica e de
outros tipos essencial para a gerao de
uma educao de alta qualidade, nas reas da
cincia e da engenharia. A diversidade to
crtica nesses campos, como no campo das
humanidades e das cincias sociais. O
progresso na cincia e na engenharia advm
da colaborao entre pessoas com diferentes
degraus, formaes, ideais e perspectivas; a
qualidade da cincia e da educao
engenharia ampliada pela experincia de
estudar, morar e trabalhar com outros
estudantes e professores e pessoais tcnicos
administrativos em uma comunidade acadmica
que se estende para alm das salas de aula".
Portanto, conceito de comunidade acadmica
no s o conceito do estudo, mas o conceito da
convivncia, o conceito da moradia - como a Universidade
de Braslia, muito bem entendeu - e o conceito de que a
convivncia produz laos duradores que vo ter efeitos
benficos sobre a sociedade, no ? - e o MIT continua no
seu amicus.
Ele fala:
"Pesquisas aplicadas com os ex-
alunos do MIT mostraram que a sua educao
contribuiu de maneira importante, essencial
na sua capacidade de se relacionar bem com
os indivduos de diferentes raas e que essa
habilidade foi decisiva na sua vida
profissional posterior".
Portanto, Senhor Ministro, o que estamos
falando aqui no de racializao da instituio
universitria. O que estamos falando aqui de
diversificao do processo de saber na instituio
universitria. E vale a pena a gente pensar que esse
processo de diversificao, ele tem como seu primeiro
elemento fundamental o processo de admisso na instituio
universitria. E, aqui, muito respeitosamente, gostaria de
discordar da colocao da professora Eunice Durham. Porque
o que me parece que as instituies acadmicas
cientficas mais importantes do pas - de ponta -, da
cincia mundial, o que eles julgam que a diversidade no
processo de admisso ele que o critrio fundamental
para a constituio de uma instituio universitria de
excelncia. O que temos no Brasil - e eu realmente no sou
um defensor do sistema de vestibular - um padro de
admisso na universidade que ns podemos denominar de
"burocrtico-administrativo"; ele afere caractersticas
lgicas que aparecem de forma repetitiva em grupos
especficos da populao, mas que se encontram tambm menos
presentes em outros grupos.
Portanto, se o vestibular mede o talento -
claro que o talento tem que ser medido -, ele tambm tem
que criar ou a instituio universitria, ela tem que ser
capaz de criar outros critrios que nos permitam conjugar o
talento com a diversidade, porque isso que a instituio
universitria precisa para ser uma boa instituio
universitria.
E aqui vale a pena tambm dizer, sob o
ponto de vista da admisso na instituio universitria no
Brasil, s para citar um dado de 1980. Em 1980 o nmero de
negros nas universidades brasileiras era igual ao nmero de
negros nas universidades americanas ou a porcentagem de
negros nas universidades brasileiras era igual a
porcentagem de negros nas universidades americanas em 1950.
Ento eu diria o seguinte: se a mestiagem evidentemente
no vai nenhuma crtica, pelo contrrio, o caminho da
mestiagem foi muito positivo do que o caminho das
chamadas dimming cross of law, as leis de excluso nos
Estados Unidos.
Por outro lado importante aqui reconhecer
que a mestiagem no foi capaz de trazer o negro para
dentro da universidade americana, porque ns temos
exatamente a mesma porcentagem de negros em 1980 na
universidade brasileira. Na universidade americana de 1950,
no auge das leis de segregao, portanto, no se trata de
racializar, trata-se de diversificar.
E, por ltimo, Senhor Ministro, para
terminar gostaria de dizer que a questo do papel da
universidade na produo ativa da igualdade, essa produo
que nos fala John Ross exige experincias de ao
afirmativa que sejam introduzidas nas universidades para
que elas tenham impacto sobre a sociedade, esta por sua
vez, passa a conviver melhor com a diversidade como um
conjunto ativamente produzido de experincias que podem
ter impacto sobre o mercado de trabalho. Portanto, ns
estamos falando aqui e eu acho muito importante, de que a
ao afirmativa no tem o seu limite na universidade. A
ao afirmativa importante para alm de universidade,
para constituir um mercado de trabalho tambm
diversificado, foram apresentados dados aqui muito
importantes tanto pelo IPEA, quanto pelo MEC, que mostram
diferenas gritantes de salrio, ainda, na sociedade
brasileira. Portanto, universidade e sociedade se conectam
no processo de desfazer estruturas de desigualdades que no
propiciam a existncia de uma prtica universitria de alta
qualidade e nem favorecem a constituio de uma sociedade
na qual a igualdade civil deve prevalecer. Ao reverter
ambas as estruturas, a ao afirmativa pode colocar o
Brasil na trilha da sociedade que acertaram conta com o
passado de desigualdades e que aceitam os desafios do
Sculo XXI, entre eles cabe destacar, a produo de novas
estruturas de igualdade e de estruturas de saber baseadas
na diversidade cultural e racial.
Obrigado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado pela sua interveno,
Professor Leonardo Avritzer.
Eu queria comunicar - dado o fato de que
vrios palestrantes fizeram referncia ao texto da
Professora Eunice Duran, que no foi lida na sua
integralidade, faltou um pequeno trecho em virtude do
horrio apertado em que nos encontramos - que j determinei
que ele fosse integralmente colocado disposio todos
aqueles que por eles se interessem na internet, no stio
eletrnico do Supremo Tribunal Federal. Tambm os demais
textos que j recebemos sero divulgados por esse mesmo
meio.
Ns vamos ouvir agora o ltimo
pronunciamento que ser do Professor Jos Vicente,
Presidente da Afrobras e Reitor da Faculdade Zumbi dos
Palmares, representando aqui a Sociedade Afro-brasileira de
Desenvolvimento Scio-Cultural, Afrobras.
O professor ter at quinze minutos para sua
interveno.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR JOS VICENTE (PRESIDENTE DA
AFROBRAS E REITOR DA FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES) -
Excelentssimo Senhor Doutor Ricardo Lewandowski,
dignssimo Ministro deste Supremo Tribunal Federal.
Preliminarmente, em nome da Afrobras
Sociedade Afro-brasileira de Desenvolvimento Scio-Cultural
e da Faculdade Zumbi dos Palmares, seus conselheiros e
comunidades acadmicas, eu quero manifestar os nossos mais
ldimos e profundos sentimentos de respeito, considerao e
estima a pessoa de Vossa Excelncia.
Quero registrar a minha honrosa satisfao e
gratido pela deferncia de participar dessa histrica
audincia pblica e peo vnia pessoa de Vossa Excelncia
para estender minhas homenagens e sentimentos aos demais
Senhores Ministros e Ministras desta Corte Suprema de
Justia, s demais autoridades e personalidades que se
fazem presentes neste recinto.
Peo vnia a Vossa Excelncia para,
posteriormente, passar s vossas mos o memorial contendo a
assinatura de todos os alunos e professores da Zumbi dos
Palmares no sentido de que esta Corte decida a favor da
constitucionalidade das cotas na UnB.
Senhor Ministro, a Afrobras - Sociedade
Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, fundada
em 97, iniciou suas atividades fazendo cursinho
preparatrio para a incluso de jovens negros na
Universidade de So Paulo.
Em 1999, com parceria das Universidades
Metodistas de So Paulo e Piracicaba; da Unisa,
Universidade de Santo Amaro; UNIP - Universidade Paulista e
Faculdade Cenecista de Capivari, criamos o Programa Mais
Negros nas Universidades, que reservava vagas para esses
jovens nessas instituies. O Programa reuniu oitocentos
cotistas, em 2001, e sua gesto permitiu Afrobras a
condio para a criao e instituio da Zumbi dos
Palmares.
Com o apoio de parceiros do ambiente
empresarial, criamos o Programa de Incluso de Jovens
Negros no Mercado de Trabalho. E desde 2003 os Bancos
Bradesco, Ita, Santander, Real, HSBC, Citibank e Safra
recebem, em conjunto, centenas de jovens negros nesse
programa.
No dia 17 de maro prximo, a Faculdade
Zumbi dos Palmares forma a terceira turma de Administrao.
So 87% os negros autodeclarados da sua totalidade de 1.600
alunos. Atualmente, 250 jovens alunos participam dos
programas afirmativos junto aos parceiros empresariais. Dos
600 jovens formados, 200 deles foram efetivados e o nmero
significativo j inclusive encontram-se promovidos no mesmo
emprego; 50% dos professores da Zumbi dos Palmares so
mestres e doutores negros.
Os Municpios de Piracicaba e Jundia, no
Estado de So Paulo, j em 2001, so os primeiros de muitos
a institurem cotas para negros nos concursos pblicos. O
Programa Nacional de Aes Afirmativas, institudo pelo
Decreto Presidencial 4.228, prev a incluso e o
desenvolvimento de aes afirmativas para acessar negros no
servio pblico federal. Isso desde 2002.
Dissdio coletivo entre o Sindicato dos
Comercirios, no Setor do Vesturio, de h muito reconheceu
e pactuou cotas para negros nesses ambientes. Mesmo esta
Suprema Corte, atravs de portaria do ento Presidente
Ministro Marco Aurlio Mendes de Farias Mello, instituiu
poltica de cotas para negros no preenchimento de cargos em
comisso na rea de comunicao. Isso em 2002.
Portanto, Vossa Excelncia, h mais de
dcadas, aes afirmativas e cotas esto sendo
desenvolvidas e implantadas nos mais variados espaos
sociais do pas. Mais de centenas de universidades pblicas
e privadas tm institudo medidas semelhantes muito antes
da Universidade Federal de Braslia.
No ambiente educacional, as informaes de
que esta ao produziu interao e integrao entre negros
e brancos, tornou o processo mais representativo da
sociedade e promoveu o reflexo da reformulao dos
conceitos.
No ambiente empresarial, produziu, conforme
relato desses parceiros, uma mudana virtuosa, pois
estimulou o aprimoramento da cultura organizacional,
motivou o grau de cooperao e solidariedade, alcanou a
simpatia e a satisfao dos clientes e demais pblicos de
relacionamento.
Ns sabemos que papel do Estado, no regime
democrtico e no Estado democrtico de direito, manter a
ordem, assegurar a paz social e promover o alcance da
felicidade dos cidados. Onde houver desigualdade -
principalmente desigualdade estrutural - obrigao e
dever moral, tico e constitucional do Estado de agir de
modo prprio, ainda que de forma extraordinrio e
excepcional para equalizao das oportunidades, s isso
torna esse Estado legtimo.
O caso dos negros brasileiros, Excelncia,
um caso evidente, profundo e angular de desigualdade
estrutural. Foram mais de trezentos anos de escravido sem
qualquer tipo de reparao. Por quase quatro sculos,
homens, mulheres e crianas negras foram sequestradas,
subjugadas, seviciadas, torturadas e assassinadas em praas
pblicas, com a complacncia e indiferenas das muitas
instituies sociais do nosso pas, naquela poca, com a
omisso e mesmo participao do Estado, e no mais das vezes
com o beneplcito da prpria Justia.
Diferentemente os negros norte-americanos,
por exemplo, tambm vtimas da escravido, tiveram a sua
mula e o seu acre de terra; tiveram a subveno do Estado e
puderam criar, por exemplo, suas escolas, suas igrejas e
suas universidades. Quando ramos escravos aqui a Shane
University na Pensilvnia, nos Estados Unidos da Amrica,
fundada em 1837, j recebia a sua primeira turma de jovens
negros. E mesmo hoje nos Estados Unidos cento e dezessete
universidades, historicamente negras, completam esse
servio de incluir e permitir o acesso ao conhecimento aos
negros nos Estados Unidos.
Tambm os imigrantes brasileiros das mais
variadas etnias tiveram acesso propriedade da terra;
tiveram a garantia da sua integridade fsica e da sua
estrutura familiar; tiveram o direito e a liberdade para
praticar suas crenas, sua cultura e tambm o direito de
usufruir e participar intensamente da vida nacional.
Melhor sorte tiveram os nossos consortes
indgenas, alm da tutela do Estado, mantiveram a
propriedade da terra; tiveram resguardada a sua cultura e
puderam operar os resultados mesmo da produo econmico
financeira de suas reservas, seja da extrao mineral, seja
do comrcio como um todo.
Mesmo os bravos brasileiros dos arroubos da
ditadura tm tido a compreenso e o reconhecimento do
Estado, quanto ao valor da sua luta, promovendo-se a
restituio de direitos, a reparao pecuniria e dignas e
justas aposentadorias.
Os negros brasileiros, Excelncia, nunca
puderam ou tiveram nada, nem a propriedade da terra, nem o
acesso educao, nem direito reparao e nem
reconhecimento social pela contribuio da construo do
pas. declarada e extinta a escravido do Brasil,
revogam-se as disposies em contrrio.
Esse foi o nosso nico legado.
A miscigenao de fora desse pas uma
miscigenao que no se apresenta por dentro desse pas
"cursei Direito, Administrao e Filosofia na Universidade
de So Paulo, durante os quinze anos que passei como aluno,
no tive um nico amigo negro em sala de aula. Os
privilegiados dessa turma que se forma so os brancos,
porque diferentemente de mim puderam conviver com os
negros. Atravs de iniciativas como esta vamos ter um
Brasil cada vez mais coeso, justo e igual, conscientes que
esta igualdade somente ser alcanada com a promoo da
diversidade". Fernando Haddad, Ministro da Educao, em
discurso proferido no dia 13 de maio de 2008, por ocasio
da formatura da primeira turma de formandos em
Administrao da Universidade Zumbi dos Palmares.
E mesmo impossvel de se imaginar qualquer
sentido de normalidade, Senhor Ministro, se no espao do
ensino superior somente uma categoria de brasileiros deles
possa participar. Ser terrivelmente cruel e insano pensar
em manter um status onde negros e brancos, por emancipao,
esto impedidos pelo resto da vida de sentar lado a lado
num banco escolar. Alis se transcreva como um registro nos
anais da histria, na Universidade de So Paulo, a maior da
Amrica Latina, os negros continuem invisveis, e dos quase
cinco mil e quinhentos professores meia dzia deles so
negros. Mas faamos justia Universidade de So Paulo,
nada diferente nas demais universidades pblicas e
privadas desse pas, nas escolas e nos colgios, e nada
diferente, tambm, na comunicao social, escrita, falada e
televisada, nada diferente nos cargos de primeiro,
segundo e terceiro escalo de todas as empresas pblicas e
privadas do nosso pas. Nada diferente nas passarelas da
moda ou em qualquer restaurante de terceira categoria deste
nosso Brasil. E esse estado de coisas denominamos
democracia, e a esse estado de coisa, chamamos de
Repblica. O papel das quotas da Universidade de Braslia,
Senhor Ministro, alm de promover e homenagear a justia,
tem a importncia imperativa de devolver a sanidade ao
nosso Pas. Ele tem a capacidade de calcinar a profunda
fratura exposta que mantm separados e desiguais negros e
brancos no nosso Pas. O papel das quotas impedir a
manuteno de um determinismo artificial, onde negros e
brancos estejam para sempre impedidos de interagir na vida
social, impedidos de participar das discusses e decises
da vida nacional, impedidos de dividir seus sonhos e falar
de suas paixes, impedidos de sentarem-se, lado a lado, num
banco da praa, ou numa carteira escolar das universidades
pblicas e privadas do nosso Pas. No seu sentido
simblico, o papel das quotas da UnB promover a
refundao da Repblica e reescrever os cnones da nossa
particular democracia, promovendo e garantindo, de forma
efetiva e objetiva, a coeso, a justia, a igualdade e a
diversidade como valores intrnsecos nao. O papel
central das quotas na Universidade de Braslia, Senhor
Ministro, ser impedir definitivamente que a terrvel
experincia, to tristemente relatada pelo nosso Ministro
da Educao Fernando Addad, se repita na vida de qualquer
cidado deste Pas.
Peo vnia a Vossa Excelncia, o tempo
talvez no me permita, mas eu havia solicitado para passar
um vdeo de trs minutos. Consulto Vossa Excelncia se
possvel.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu verifico que Vossa Excelncia
tem exatamente trs minutos, portanto est dentro do tempo
para passar o vdeo.
O SENHOR JOS VICENTE (PRESIDENTE DA
AFROBRAS E REITOR DA FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES) -
Agradeo a gentileza e estou muito feliz nesta manh.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado.
(PASSA-SE O VDEO)
TRADUO DO VDEO: Estudam menos,
trabalham mais, ganham menos, morrem mais de
tiro, de AIDS, de parto. Vem do DIEESE a
notcia de que o salrio dos negros menor
do que o dos brancos em todas as regies do
Pas. Salvador tem o maior contraste. O
salrio mdio de um negro, na capital
bahiana, de setecentos e quinze reais,
pouco mais da metade do que ganha um branco
por l. H dez anos, era ainda pior. O IBGE
confirma o abismo econmico. Pretos e pardos
so absoluta maioria entre os dez por cento
mais pobres da populao e mal aparecem no
topo da pirmide entre os mais ricos do
Pas. Lideram os ndices de desemprego e
trabalho infantil, mas ficam no fim da fila
quando o assunto carteira assinada e
cargos de chefia. A taxa de analfabetismo
entre pretos e pardos o dobro da
registrada na populao branca, mas a
desigualdade aumenta quando se analisa o
grupo que terminou o ensino superior. Dos
formados que fizeram o provo em 2000, 80%
eram brancos, 13,5% pardos e 2,2% negros.
O resultado chega ao mercado de
trabalho. Segundo o IBGE, negros e pardos
so menos de 10% dos mdicos, engenheiros e
dentistas brasileiros, em contrapartida, so
quase 70% dos garimpeiros, carpinteiros e
ambulantes do Pas. O governo viu na
poltica de quotas uma tentativa de reverter
esse quadro.
'O SENHOR LUIZ INCIO LULA DA SILVA
(PRESIDENTE DA REPBLICA) - A verdade, nua e
crua, que o ensino superior no Brasil no
foi feito nem para pobre nem para negro. A
quota gerou todo o conflito, mas onde ela
foi implantada o resultado tem sido
extraordinrio.'
O mundo est mudando.
Quanto custa um sonho? O que torna a
experincia humana nica a possibilidade
de realizar um sonho. nas motivaes
internas de cada alma, no desejo e na
esperana de ser melhor que conseguimos
encontrar as respostas, visualizar nossas
conquistas e alcanar nossas vitrias.
Qualquer um pode sonhar! Mas, quanto custa
sonhar? Em alguns momentos da vida,
desejamos ser heris, queremos ser nicos,
fazer coisas especiais aos olhos dos outros,
sonhamos em mudar o mundo, e por que no?
Ns podemos.
'O SENHOR LUIZ INCIO LULA DA
SILVA (PRESIDENTE DA REPBLICA) - Eu penso
que o que vocs esto fazendo, aqui, na
Unipalmares um exemplo extraordinrio. O
que ns precisamos construir um pas em
que todos, sem distino de cor e sem
distino de origem social, tenham a mesma
oportunidade de sentar nos bancos das
universidades deste Pas.'
O Brasil est mudando e o sonho se
realizando. Por todo o Brasil, artistas,
profissionais liberais, personalidades e
empresas so parceiros da Faculdade Zumbi
dos Palmares. Todos comprometidos com as
realizaes de incluso, valorizao,
qualificao e visibilidade do negro atravs
de aes afirmativas.
A Faculdade Zumbi dos Palmares
uma instituio de ensino superior, voltada
para a comunidade, sem fins lucrativos, e
a primeira com poltica de incluso de
jovens negros ao ensino superior brasileiro,
focada na promoo dos valores da cidadania
e diversidade racial. Estar na Zumbi dos
Palmares fazer uma escolha.
OS SENHORES ALUNOS - Uma realizao,
um sonho, um futuro, um sonho realizado,
projeto de vida.
Atravs do estudo voc vai conseguir
um emprego melhor, uma promoo, respeito na
sua comunidade ou ainda ajudar a sua famlia
ter um futuro diferente do que tinha seus
pais.
A SENHOR ALUNA - Parabns aos pais
que criaram seus filhos e fizeram com que
eles chegassem l. Com certeza vocs fizeram
a diferena.
Seja como aluno, professor,
colaborador ou parceiro, fazer parte da
Zumbi ser responsvel por manter a
estrutura que permite que muitos faam a
diferena, o que faz voc acreditar que vale
a pena lutar para realizar este sonho.
A SENHORA - Mais do que orgulhosa,
eu me sinto realizada porque a determinao
importante, mas a alegria de chegar l
indispensvel.
O SENHOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
E hoje ns estamos vendo aqui a formao de
jovens que j esto, muitos deles, no
mercado de trabalho. E numa rea sensvel,
que a rea financeira. Outros esto na
rea da administrao, tm formao, esto
l porque tiveram a chance de estudar, no
porque so negros. So negros que tiveram a
chance de estudar. E a escola deu a chance
aos negros que eles pudessem entrar em
igualdade de condies de estudar.
Zumbi dos Palmares. Sem educao,
no h liberdade.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo a interveno do
Professor Jos Vicente, Presidente da Afrobras e Reitor da
Universidade Zumbi dos Palmares. Agradeo tambm a exibio
do vdeo. Fico tranquilizado que o vdeo pluripartidrio,
apareceram lderes de todos os partidos, no apenas o
Presidente Lula, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, os
Governadores Alckmin e Serra. Portanto, a mensagem
universal.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Declaro encerradas as
apresentaes do segundo dia de audincia pblica do
Supremo Tribunal Federal. Registro e agradeo a presena do
Senhor Ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal
Federal; da Senhora Doutora Deborah Duprat, Vice-
Procuradora-Geral da Repblica; do Senhor Ministro Edson
Santos, da Secretaria Especial de Polticas de Promoo da
Igualdade Racial; do Senador Paulo Paim; da Senhora
Senadora Ceres Cesarenko; do Deputado Federal Luiz Alberto;
do Senhor Deputado Federal Carlos Santana, que foi
Presidente da Comisso Especial do Estatuto da Igualdade
Racial na Cmara dos Deputados e da Frente Negra; agradeo
tambm, uma especial ateno, presena do Deputado
Federal Vicentinho; tambm manifesto meu reconhecimento,
minha gratido, pela presena da Doutora Wanda Siqueira; do
Professor Srgio Danilo Junho Pena; do Professor George de
Cerqueira Leite Zarur; da Doutora Roberta Fragoso Kaufmann;
do Professor Ibsen Noronha, que , alm dos ttulos que
enunciei, Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra e
Professor de Histria do Direito; a presena do Professor
Luiz Felipe de Alencastro; do Professor Oscar Vilhena
Vieira, que representou a Conectas Direitos Humanos; a
presena do Professor Kabengele Munanga; do Professor
Leonardo Avritzer; do Professor Jos Vicente; agradeo a
presena dos Magistrados; Membros do Ministrio Pblico;
presena do Professor Jos Geraldo de Souza Jnior, Reitor
da Universidade de Braslia; agradeo tambm a presena das
Professoras Mnica Herman e Nina Raniere, da Universidade
de So Paulo, minhas colegas de universidade, agradeo a
presena de todas as demais autoridades, servidores desta
Casa e todos os presentes que nos honraram neste auditrio
e no auditrio da Segunda Turma.
Com as respectivas presenas, declaro
encerrada a sesso.
Muito obrigado.
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS FILHO
(MESTRE DE CERIMNIAS) - Lembramos a todos que os crachs
utilizados hoje devem ser devolvidos na sada do auditrio,
pois os mesmos no sero utilizados amanh.
Boa tarde a todos.
******
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Declaro encerradas as
apresentaes do segundo dia de audincia pblica do
Supremo Tribunal Federal. Registro e agradeo a presena do
Senhor Ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal
Federal; da Senhora Doutora Deborah Duprat, Vice-
Procuradora-Geral da Repblica; do Senhor Ministro Edson
Santos, da Secretaria Especial de Polticas de Promoo da
Igualdade Racial; do Senador Paulo Paim; da Senhora
Senadora Ceres Cesarenko; do Deputado Federal Luiz Alberto;
do Senhor Deputado Federal Carlos Santana, que foi
Presidente da Comisso Especial do Estatuto da Igualdade
Racial na Cmara dos Deputados e da Frente Negra; agradeo
tambm, uma especial ateno, presena do Deputado
Federal Vicentinho; tambm manifesto meu reconhecimento,
minha gratido, pela presena da Doutora Wanda Siqueira; do
Professor Srgio Danilo Junho Pena; do Professor George de
Cerqueira Leite Zarur; da Doutora Roberta Fragoso Kaufmann;
do Professor Ibsen Noronha, que , alm dos ttulos que
enunciei, Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra e
Professor de Histria do Direito; a presena do Professor
Luiz Felipe de Alencastro; do Professor Oscar Vilhena
Vieira, que - fao uma correo - representou a Conectas
Direitos Humanos, e no a Fundao Getlio Vargas, como foi
anunciado; presena do Professor Kabengele Munanga; do
Professor Leonardo Avritzer; do Professor Jos Vicente;
agradeo a presena dos Magistrados; Membros do Ministrio
Pblico; presena do Professor Jos Geraldo de Souza
Jnior, Reitor da Universidade de Braslia; agradeo tambm
a presena das Professoras Mnica Herman e Nina Raniere, da
Universidade de Braslia, minhas colegas de universidade,
agradeo a presena de todas as demais autoridades,
servidores desta Casa e todos os presentes que nos honraram
neste auditrio e no auditrio da Segunda Turma.
Com as respectivas presenas, declaro
encerrada a sesso.
Muito obrigado.
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS FILHO
(MESTRE DE CERIMNIAS) - Lembramos a todos que os crachs
utilizados hoje devem ser devolvidos na sada do auditrio,
pois os mesmos no sero utilizados amanh.
Boa-tarde a todos.
******
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS (MESTRE DE
CERIMNIAS) - Senhoras e Senhores, peo a todos que ocupem
seus lugares para darmos incio imediato a esta Audincia
Pblica.
Lembramos, ainda, que, a partir deste
momento, os telefones celulares devem ser mantidos
desligados.
Senhoras e Senhores, bom-dia!
Mais uma vez agradecemos a gentileza de
desligarem seus telefones celulares.
As Audincias Pblicas organizadas pelo
Supremo Tribunal Federal seguem formalidades para sua
viabilizao. Assim, em respeito s tradies desta Corte e
aos argumentos defendidos pelos palestrantes, no sero
permitidos aplausos, vaias, cartazes, faixas, camisetas ou
outras formas de manifestaes relativas ao tema a ser
debatido.
Solicitamos, ainda, que atentem para a
limitao de tempo de quinze minutos oferecido a cada
palestrante, considerando que, ao final desse tempo, o
udio ser automaticamente cortado.
Informamos que o cronmetro situado ao fundo
do auditrio ser acionado ao incio de cada palestra para
evitar incorrees relacionadas contagem do tempo.
Solicitamos aos presentes que fiquem de p
para receber o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Relator
da ADPF n 186 e do RE n 597.285, do Rio Grande do Sul, e
o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Vamos sentar, por favor.
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS (MESTRE DE
CERIMNIAS) - Com a palavra o Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Bom-dia a todos!
Declaro reaberta a Audincia Pblica que
trata da discusso das aes afirmativas no ensino
superior, agradeo a presena de nossos ilustres
convidados, mas agradeo, especialmente, a presena do
eminente Ministro Joaquim Barbosa que nos tem prestigiado
com a sua presena, ao longo dessas Audincias,
reconhecidamente um estudioso do assunto e certamente trar
uma grande colaborao no momento do julgamento deste
momentoso tema.
Eu peo escusas aos participantes e tambm
queles que nos prestigiam com a sua presena, daqui de
Braslia e de fora, pelo pequeno atraso que tivemos que
estvamos aguardando a presena de todos os participantes e
tambm daqueles que vm de fora e que tm dificuldades de
locomoo.
Eu tenho o prazer e a honra de dar a palavra
ao eminente Professor Fbio Konder Comparato, Professor
titular e emrito da Universidade de So Paulo e que aqui
representa a Educafro. O Professor falar, se quiser, da
tribuna, ou, se preferir, podemos deslocar o microfone e
ter at quinze minutos para fazer a sua interveno.
*****
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR FBIO KONDER COMPARATO -
Excelentssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski,
Excelentssimo Senhor Ministro Joaquim Barbosa, minhas
senhoras e meus senhores, a Constituio de 1988 criou - ou
tentou criar - no Brasil um estado social. Estado social
aquele que se rege por princpios finalsticos ou
teleolgicos. No se trata, para o Estado, simplesmente de
promulgar leis e deixar que cada membro da sociedade civil
escolha o destino de suas vidas. Trata-se de dar um rumo ao
pas. E esse rumo indicado, sobretudo, pelo disposto no
artigo 3 da Constituio:
"Art. 3 Constituem objetivos
fundamentais da Repblica Federativa do
Brasil:
....................................
......
III - erradicar a pobreza e a
marginalizao e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem
discriminao de qualquer espcie..."
Trata-se de normas cogentes e no
simplesmente de disposies facultativas.
O inciso III mostra que o objetivo final a
eliminao das desigualdades scio-econmicas. E aponta,
esse dispositivo, em especial, para a erradicao da
pobreza e da marginalizao social.
E o inciso IV, repito, tem sido mal
interpretado, porque no se percebe o contedo ativo que
est dentro dessa norma constitucional: "promover o bem de
todos". No se trata simplesmente de deixar o Estado se
mover de acordo com os movimentos ou com as presses.
Promover indicar um rumo. E esse rumo republicano, o
bem comum de todos. E acrescenta o dispositivo: proibidas
as discriminaes.
Ora, o que se demora muito a entender que
a discriminao de duas espcies: ela pode ser uma
discriminao ativa, que a discriminao clssica, um
azar, uma discriminao omissiva, que absolutamente
contrria ao Estado social. Ou seja, quando os poderes
pblicos no tomam as medidas indispensveis para fazer
cessar uma situao de inferioridade injusta, inaceitvel
de determinados grupos sociais.
Eu quero assinalar tambm para o fato de
que, na prpria Constituio, h duas disposies
especficas em aplicao ao princpio da reduo das
desigualdades sociais.
O artigo 7, inciso XX determina a "proteo
do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos
especficos". Ora, seria ridculo, como se fez em relao
poltica de cotas para negros nas universidades, dizer que
a Constituio a seccista, uma vez que ela estabelece a
obrigao de se proteger o mercado de trabalho da mulher. O
artigo 37, inciso VIII:
"VIII - a lei reservar percentual
dos cargos e empregos pblicos para as
pessoas portadoras de deficincia e definir
os critrios de sua admisso;"
Exatamente como na poltica de vagas para
alunos negros no ensino superior. Esse prprio dispositivo
constitucional, implicitamente responde objeo de que a
poltica de reserva de vagas nas universidades contraria o
critrio do mrito, que essencial ao ingresso na
universidade e na obteno do diploma. Ora, se se trata no
artigo 37, inciso VIII, de reserva de vagas para "cargos e
empregos pblicos", evidente que esses beneficiados, com
a reserva de vagas, no so dispensados do concurso. Eles
fazem o concurso de ingresso, e exatamente como se quer, se
pretende, no caso da poltica de reserva de vagas para o
ensino superior, em benefcio da populao negra.
Quero assinalar fato que se procura, desde
sempre, esconder no Brasil, do total da populao
estatisticamente considerada pobre, 14,5% (quatorze e meio
por cento) so brancos e 33,2% (trinta e trs vrgula dois
por cento) so negros, a grosso modo, o dobro. Mas no grupo
dos 10% (dez por cento) mais pobres da populao, mais de
dois teros, ou seja, 70% (setenta por cento) so negros e
pardos.
No mercado de trabalho, com a mesma
qualificao e escolaridade, negros e pardos recebem, em
mdia, quase a metade dos salrios pagos aos brancos. Em
nossas cidades, mais de dois teros dos jovens assassinados
entre quinze e dezoito anos so negros.
No ensino mdio, 58,4% (cinqenta e oito
vrgula quatro por cento) dos alunos so brancos, e 37,4%
(trinta e sete vrgula quatro por cento) so negros - no
ensino mdio -, mas no ensino superior essa desigualdade
escandalosa. Na Universidade de So Paulo, a maior
universidade do Brasil, temos menos de 2% (dois por cento)
de alunos negros.
Em concluso, Senhores Ministros, se se
trata de discutir - como o caso - nesta argio de
descumprimento de preceito fundamental constitucionalidade
ou inconstitucionalidade da poltica de reserva de vagas
para negros nas universidades, devemos chegar a uma
concluso, a meu ver, muito clara, at hoje a Constituio
foi descumprida, uma inconstitucionalidade por omisso, no
que diz respeito proteo dos negros e pardos no ensino
superior.
Dir-se- que isto no resolve o problema da
pobreza, mas eficincia ou ineficincia de uma poltica
pblica no assunto que seja decidido no Supremo Tribunal
Federal. O Supremo Tribunal Federal decide sobre a
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de polticas
pblicas e, a meu ver, o descumprimento do artigo 3 da
Constituio representa a desfigurao, por completo, do
perfil de justia social que a Constituio procurou
imprimir ao Estado brasileiro.
Ns j conhecemos a inconstitucionalidade
por omisso em relao ao Legislativo. hora de se pr na
pauta das discusses a inconstitucionalidade por omisso
por parte do Poder Executivo, pois ele que tem a
iniciativa das polticas pblicas.
Encerro, Senhores Ministros, com uma
manifestao de profunda tristeza, mais de um sculo depois
da abolio da escravatura nesse pas, ns ainda estamos a
discutir uma poltica que, certamente, no suficiente
para dar aos negros e pardos, que vivem no territrio
brasileiro, uma posio de relativa igualdade com os demais
brasileiros. Mas nada se disse e nada se diz at hoje do
fato de que quase quatro sculos de escravido no suscitam
a menor, a mais leve discusso sobre a necessidade tica e
jurdica de se dar aos descendentes de escravos uma mnima
compensao, por um estado de bestialidade ao qual eles
foram reduzidos pelos grupos dirigentes. Muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado, Professor Fbio
Konder Comparato, pela objetividade e densidade de sua
interveno.
Eu convido, agora, a ilustre Professora
Flvia Piovesan, Professora Doutora da Pontifcia
Universidade Catlica de So Paulo - PUC/SP e da Pontifcia
Universidade Catlica do Paran - PUC/PR, que aqui
representa a Fundao Cultural Palmares. A eminente
Professora dispe tambm de quinze minutos.
*****
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
A SENHORA PROFESSORA FLVIA PIOVESAN - Um
bom dia a todos.
Excelentssimo Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, Excelentssimo Senhor Ministro Joaquim
Barbosa, inicialmente eu expresso a minha maior gratido
pela honra em participar dessa audincia pblica como
representante da Fundao Cultural Palmares. Cumprimento o
Ministro Ricardo Lewandowski pela to relevante iniciativa
que simboliza um momento emblemtico desta Corte no
exerccio da salvaguarda dos direitos humanos como
requisito, como pressuposto para a consolidao do Estado
democrtico do Direito brasileiro.
Minha interveno enfocar trs questes
centrais. A primeira: Como compreender as aes afirmativas
sob as perspectivas dos direitos humanos? A segunda
questo: As cotas raciais em universidades so compatveis
com a ordem internacional? E a terceira: As cotas raciais
em universidades esto em consonncia com a ordem
constitucional de 88?
Comeo com a primeira indagao: Como
compreender as cotas e as aes afirmativas sob a
perspectiva dos direitos humanos? E comeo frisando que a
tica dos direitos humanos a tica que v no outro um ser
merecedor de igual considerao e profundo respeito, dotado
do direito de desenvolver as potencialidades humanas de
forma livre, autnoma e plena. a tica orientada pela
afirmao da dignidade e pela preveno ao sofrimento
humano.
Ao longo da histria as mais graves
violaes aos direitos humanos tiveram como fundamento e
radical a dicotomia do "eu versus o outro", em que a
diversidade era captada como elemento para aniquilar
direitos. A diferena era visibilizada para conceber o
"outro" como um ser menor em dignidade e direitos, ou, em
situaes limites, como um ser esvaziado mesmo de qualquer
dignidade, um ser descartvel, um ser suprfluo, objeto de
compra e venda, como na escravido, ou de campos de
extermnio, como no nazismo. Da as violaes da
escravido, do nazismo, do sexismo, do racismo, da
homofobia, da xenofobia e de outras prticas de
intolerncia.
O temor diferena fator que
permite compreender a primeira fase de proteo dos
direitos humanos, marcada pela tnica da proteo geral,
genrica e abstrata, com base na igualdade formal. Torna-
se, contudo, insuficiente tratar o indivduo dessa forma.
necessria a especificao do sujeito de direito, que passa
a ser visto em sua peculiaridade e especificidade.
Portanto, mulheres, crianas, povos indgenas, afro-
descendentes, pessoas com deficincia, migrantes, dentre
outras categorias, demandam proteo especial. Rompe-se com
a indiferena as diferenas. Ao lado do direito
igualdade, surge o direito diferena. Portanto, a
diferena no mais utilizada para aniquilar direitos, seno
para afirm-los e promov-los. Se, para a concepo formal
da igualdade, esta tomada como um dado, como um
pressuposto e um ponto de partida abstrato, para a
concepo material de igualdade, esta tomada como um
resultado ao qual se pretende chegar.
Aqui, recorro ao carter bidimensional da
justia: redistribuio somada ao reconhecimento de
identidades. O direito retribuio requer medidas que
enfrentem a injustia econmica e social da marginalizao
e das desigualdades, por meio da transformao nas
estruturas scio-econmicas. J o direito ao reconhecimento
requer medidas que enfrentem a injustia cultural, dos
preconceitos e dos padres discriminatrios, por meio da
transformao cultural e por meio da adoo de uma poltica
de reconhecimento. Portanto, sob a perspectiva de direitos
humanos, as aes afirmativas, em prol da populao afro-
descendente, surgem tanto como um instrumento capaz de
enfrentar a injustia social e econmica, traduzindo a
bandeira do direito redistribuio como tambm capaz de
enfrentar a injustia cultural dos preconceitos, traduzindo
a bandeira do direito ao reconhecimento.
Passo segunda questo: as cotas em
universidades, as cotas raciais so compatveis com a ordem
internacional? A Conveno sobre a Eliminao de todas as
formas de Discriminao Racial, ratificada pelo Estado
brasileiro em 68, no seu artigo 1, traz a definio
jurdica de discriminao racial. O que vem a ser
discriminao racial? Qualquer distino, excluso,
restrio ou preferncia baseada em raa, que tenha como
propsito ou efeito anular, restringir, debilitar o gozo ou
exerccio dos direitos humanos.
Portanto, o combate discriminao requer,
juridicamente, duas estratgias: a repressivo-punitiva, que
objetiva punir e proibir a discriminao; mas tambm a
promocional, que objetiva promover, fomentar e avanar no
processo da igualdade.
Para assegurar a igualdade no basta apenas
proibir a discriminao, mediante legislao repressiva,
pois a proibio da excluso, em si mesma, no resulta
automaticamente na incluso. Logo, no suficiente proibir
a excluso, quando o que se pretende a garantia da
igualdade de fato.
Esta Conveno prev ainda, no seu mesmo
artigo 1, 4, as aes afirmativas como medidas
especiais de proteo, tomadas com objetivo de assegurar o
progresso de certos grupos raciais ou tnicos. As aes
afirmativas so consideradas medidas necessrias e
legtimas para remediar e transformar o legado de um
passado discriminatrio. Devem ser compreendidas no s sob
o prisma do passado, retrospectivo, no sentido de aliviar a
carga de um passado discriminatrio, mas tambm
prospectivo, presente e futuro, no sentido de fomentar a
transformao social e a composio de uma nova realidade.
O Estado brasileiro ratificou - reitero -
esta Conveno em 68, assumindo, no livre e pleno exerccio
de sua soberania, obrigaes jurdicas internacionais em
matria de direitos humanos, no combate discriminao
racial e na promoo da igualdade racial. Quando o Estado
ratifica um tratado internacional, o Poder Judicirio, como
parte do aparato do Estado, tambm a ele se submete,
cabendo-lhes zelar pelo cumprimento dos dispositivos da
Conveno.
ltima questo: as cotas raciais em
universidades so consonantes com a ordem constitucional de
1988? A partir da Carta de 88, os mais importantes tratados
de direitos humanos foram ratificados pelo Brasil. O ps-
1988 apresenta essa pavimentao jurdico-normativa. H um
direito, dos direitos humanos, pr e ps-88. Em dezembro de
2008, ao julgar o Recurso Extraordinrio n 466.343, esta
Casa, por unanimidade, convergiu em conferir aos tratados
de direitos humanos um regime especial e diferenciado,
restando esta Casa dividida entre a tese da supra-
legalidade dos tratados dos direitos humanos ou mesmo a
tese da constitucionalidade a que eu aqui aludo. Rompeu,
assim, com a jurisprudncia anterior, que, desde 1977, por
mais de trs dcadas, parificava quaisquer tratados s leis
ordinrias. Portanto, a deciso emblemtica de dezembro de
2008 h de ter a fora catalisadora de impactar a
jurisprudncia nacional, a fim de assegurar, aos tratados
de direitos humanos, esse regime privilegiado, propiciando
a incorporao dos parmetros protetivos internacionais, na
esfera interna, e o advento do controle da
convencionalidade das leis. Portanto, a conveno racial
foi recepcionada pela ordem jurdica brasileira, tem status
privilegiado, supra legal ou constitucional, conferindo
amplo, consistente e slido amparo jurdico adoo das
cotas raciais.
Ainda enfatizo a Carta brasileira de 1988,
realando as preciosas lies do Professor Fbio Comparato:
os objetivos da Repblica Federativa do Brasil na
construo de uma sociedade que se quer livre, justa e
solidria mediante a reduo das desigualdades sociais e a
promoo do bem de todos. Os dispositivos citados pelo
Professor Comparato que traduzem a busca da igualdade
material, prevendo para as mulheres e para as pessoas com
deficincia a possibilidade de aes afirmativas. Lembro
ainda dispositivo constitucional, artigo 215, que valoriza
a contribuio indgena e afro-brasileira cultura
nacional e a dispositivos pertinentes educao que
enaltecem o princpio da diversidade na educao na voz do
artigo 206, inciso III.
Concluo assim que a adoo das cotas raciais
est em plena harmonia, compatibilidade, consonncia com a
ordem internacional e com a ordem constitucional. As cotas
so o imperativo democrtico a louvar o valor da
diversidade. So imperativos de justia social a aliviar a
carga de um passado discriminatrio e a fomentar
transformaes sociais necessrias. Devem prevalecer as
cotas em detrimento desse suposto direito perpetuao das
desigualdades estruturais que tanto comprometem a sociedade
brasileira.
E, aqui, comungo da viso do Professor Fbio
Comparato, que o silncio, a negligncia e a inoperncia
estatal significariam uma discriminao indireta,
perpetuando estas desigualdades.
Lembro, tambm, que o Brasil o segundo
pas do mundo com o maior contingente populacional afro,
sendo, contudo, o ltimo pas do mundo ocidental a abolir a
escravido.
Faz-se, assim, urgente a adoo de medidas
eficazes para romper com o legado de excluso tnico-racial
e com esse racismo institucional radicado na desigualdade
racial persistente, estvel, que asfixia a riqueza, a
diversidade da sociedade brasileira.
Se no incio acentuava que os direitos
humanos no so um dado, mas um construdo, realo agora
que as violaes a estes direitos tambm o so. As
discriminaes, as injustias sociais so um construdo
histrico a ser urgentemente desconstrudo.
Destacam-se, nesse sentido, as palavras de
Abdias de Nascimento, ao apontar para a necessidade da
"incluso do povo afro-descendente, um povo que luta
duramente h cinco sculos no pas, desde os seus
primrdios, em favor dos direitos humanos. o povo" -
salienta ele - "cujos direitos humanos foram mais
brutalmente agredidos ao longo da histria do pas: o povo
que durante sculos no mereceu tampouco o reconhecimento
de sua prpria condio humana".
Nesse contexto, a responsabilidade do Poder
Judicirio alcana especial relevncia como instrumento
concretizador das liberdades constitucionais e dos direitos
fundamentais, porque dever do Poder Judicirio respeitar
e promover a efetivao dos direitos humanos.
Da a importncia histrica deste
julgamento, que lana a esta Suprema Corte o desafio de
assegurar um marco jurdico-normativo inspirado no valor e
no princpio da dignidade humana, fortalecendo a
incorporao do valor da igualdade tnico-racial na cultura
jurdica brasileira, na expresso vivaz de uma sociedade
que se quer pluritnica e multirracial revitalizada pelo
respeito diversidade.
Que esta Corte honre sua maior vocao
constitucional ao implementar o direito igualdade racial!
Que esta Corte, portanto, seja capaz de implementar o
direito igualdade racial celebrando o triunfo dos
direitos fundamentais, dos quais a maior guardi.
Muito obrigada.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado, Professora Flvia
Piovesan, eu peo a gentileza, ilustre Professora, que,
se for possvel, nos fornea o texto tambm como os demais
palestrantes, se tiver em mos, para que ns j, desde
logo, o divulguemos na Internet.
Ento, eu peo a nossa assessoria que
recolha, depois das palestras, os textos dos eminentes
intervenientes para que ns j possamos dar maior
divulgao, independentemente, depois, de apensarmos todas
essas intervenes, reduzidas a termo, ao processo para que
todos os Ministros tenham acesso amplo a tudo que foi
discutido aqui.
Eu agora tenho o prazer de convidar, para
que faa uso da tribuna, a Senhora Denise Carreira,
Relatora Nacional para o Direito Humano Educao, que
aqui representa a Ao Educativa.
A eminente Senhora Denise tambm tem 15
minutos para fazer a sua exposio.
*****
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
A SENHORA DENISE CARREIRA (RELATORA NACIONAL
PARA O DIREITO HUMANO EDUCAO) - Bom-dia, Senhores
Ministros; bom-dia a todos e a todas presentes. Agradeo a
oportunidade e parabenizo o STF pela iniciativa da
Audincia Pblica sobre tema to estratgico para a
democracia brasileira.
Minha fala vai abordar os dados e os
resultados preliminares da Misso de Investigao, Educao
e Racismo no Brasil, em desenvolvimento pela Relatoria
Nacional para o Direito Humano Educao, vinculada
Plataforma DESC Brasil. Assim como os relatores especiais
da ONU, os relatores nacionais, eleitos para um mandato de
dois anos, elaboram relatrios sobre violaes de direitos
humanos no Brasil, que so divulgados junto s autoridades
e sociedade civil nacional e de instncias
internacionais.
Os relatrios apresentam um conjunto de
recomendaes ao Estado brasileiro, visando o enfrentamento
da situao de violao.
Em especial, buscarei trazer elementos que
permitam abordar a polmica sobre se o caminho para
enfrentar as desigualdades raciais no acesso ao ensino
superior a melhoria da escola pblica ou o investimento
no aprimoramento de programas de ao afirmativa.
A partir da base normativa internacional,
presente em convenes, tratados e declaraes dos quais o
Brasil signatrio, e da legislao brasileira, e
sintonizada com o entendimento que o STF fixou, por meio do
julgamento do Caso Elvanger, assumimos aqui que a categoria
"raa" uma construo social que nos permite compreender
determinados processos de excluso, discriminao,
dominao e produo de desigualdades entre grupos humanos,
baseadas em caractersticas fsicas e identidades tnico-
culturais, e que formas contemporneas de discriminao que
veiculam imagens depreciativas de determinados grupos
contribuem para as desigualdades de oportunidades no acesso
a bens, poder, conhecimentos e servios na sociedade. Esses
processos so entendidos como constitutivos do chamado
"racismo".
No Brasil, podemos dizer que as polticas
universais de educao, da educao infantil ao ensino
superior, tm sido insuficientes para enfrentar as
desigualdades raciais que marcam historicamente a educao
brasileira, tanto no que se refere ao acesso quanto
permanncia e aprendizagem.
Tal situao amplamente constatada por
meio de informaes e anlises de diferentes fontes, das
governamentais, das agncias da ONU, de institutos
acadmicos e organizaes da sociedade civil, que apontam
que, apesar da melhoria de vrios indicadores educacionais,
a desigualdade entre pessoas negras e brancas se mantm nas
ltimas dcadas.
Destacamos aqui alguns dados.
Das 680 mil crianas de 7 a 14 anos fora da
escola, 450 mil so negras. O analfabetismo entre jovens
negros de 15 a 29 anos quase duas vezes maior do que
entre brancos.
Das crianas que entram no ensino
fundamental, 70% das crianas brancas conseguem conclu-lo,
e somente 30% das crianas negras chegam ao final da etapa.
A freqncia lquida no ensino mdio de
49,2% maior entre os jovens brancos do que entre os negros.
A diferena de dois anos de estudo entre
brancos e negros mantm-se praticamente inalterada desde o
incio do sculo XX. No ensino superior, em 1976, 5% da
populao branca tinha um diploma de educao superior, aos
30 anos, enquanto somente 0.7% da populao negra na mesma
idade havia concludo o ensino superior. Em 2006, 18% dos
brancos com 30 anos tinham concludo o ensino superior,
enquanto somente 4.3% dos negros.
O hiato racial entre negros e brancos, que
era de 4.3 pontos em 1976, quase que triplicou para 13
pontos em 30 anos.
Para alm das estatsticas nacionais, esta
relatoria pde comprovar que no cotidiano das creches,
escolas e universidades o racismo est ali presente, muitas
vezes silenciado e invisibilizado pelo discurso da
democracia racial. Ele se concretiza por meio, no s de
atitudes ativas, como agresses, humilhaes, apelidos e
violncias fsicas, mas de forma mais sutil por meio da
falta de reconhecimento de estmulo, da negao de uma
histria e de identidades, da desateno, da distribuio
desigual de afeto e da baixa expectativa positiva com
relao ao desempenho de crianas, jovens e adultos negros.
Como diversas pesquisam apontam, essas situaes tm um
impacto terrvel na aprendizagem e no desenvolvimento da
auto-estima de pessoas negras, identificada de forma
explcita na situao dos indicadores referentes aos
meninos e jovens negros no ensino fundamental e mdio; tem
um impacto terrvel na manuteno de culturas
discriminatrias no ambiente escolar.
Em 2009, uma pesquisa nacional divulgada
pela FIPE, da Universidade de So Paulo, e pelo INEP,
chamou a ateno para a realidade do chamado bullying, em
nvel internacional o termo bullying vem sendo utilizado
para descrever o fenmeno da violncia cotidiana ocorrida
no ambiente escolar e caracterizada por agresses e
humilhaes fsicas, psicolgicas, simblicas e sexuais,
constantes contra aqueles e aquelas considerados
diferentes, em decorrncias de caractersticas fsicas e/ou
identidades de gnero, raa/etnia, orientao sexual,
origem regional e scio-econmica, deficincias,
identidades religiosas, entre outras.
Segundo a pesquisa nacional, as crianas e
jovens negros esto entre aqueles e aquelas que mais
enfrentam o problema no Brasil, o chamado "bullying
racista".
Em decorrncia de todo esse quadro e da
dimenso do problema caracterizado por desigualdades e
discriminaes raciais da educao bsica educao
superior, entendemos que o Estado brasileiro, em busca de
justia social, deve avanar com relao ao enfrentamento
do racismo como questo estruturante da educao
brasileira, reconhecendo a necessidade de que ela adquira
um lugar de maior centralidade nos desenhos das polticas
pblicas comprometidas com a qualidade educacional, com os
processos de aprendizagem e com a melhoria do desempenho
escolar na educao bsica, mas muito importante
reconhecer que vrios passos fundamentais foram dados na
ltima dcada e que outros muitos precisam ocorrer. Nesse
sentido, a concretizao do Plano Nacional de Implementao
da Lei n 10.639, lanada em 2009, constitui ponto
estratgico dessa agenda.
Nesse contexto, importante ressaltar que
no se trata de esperar a melhoria da qualidade da escola
pblica para se alcanar a maior democratizao do acesso
ao ensino superior para populaes negras, indgenas e
pobres, entre outras. necessrio conjugar no tempo
estratgias, aes e polticas que agilizem o processo
histrico rumo a uma maior igualdade na educao brasileira
e a superao de um modelo educacional ainda
predominantemente eurocntrico.
No podemos esperar 67 anos, como previsto
em vrios estudos, para que os indicadores educacionais de
brancos e negros se encontrem. Esse tempo sacrificaria mais
trs geraes, alm de dezenas que, ao longo da histria
brasileira, foram penalizadas pelo racismo.
tambm fundamental reconhecer que nenhuma
poltica universal igualmente para todos ou neutra quando
falamos em desigualdades, argumento utilizado para
questionar as aes afirmativas. Toda poltica universal,
de uma forma ou de outra, contribui para a manuteno, o
acirramento, ou a transformao das desigualdades entre
grupos humanos, e muitas geram at verdadeiras violncias
institucionais justificadas por princpios ditos
universais.
Entendemos que a experincia das aes
afirmativas em mais de 80 universidades brasileiras
constitui experincia criativa e inovadora, tanto no plano
nacional como no internacional, sintonizada com os desafios
e as especificidades da realidade do pas e com os
documentos internacionais dos quais o pas signatrio,
que prevem a criao de mecanismos que acelerem a correo
das desigualdades tnicas e raciais, entre eles a Conveno
contra a discriminao no ensino, a Declarao e o Programa
de Ao de Durban e a Conveno Internacional sobre a
Eliminao de Todas as Formas de Discriminao Racial
adotada pela ONU em 65 e ratificada pelo Brasil em 1968.
A experincia das aes afirmativas no
constitui modismo ou a imposio de um modelo fechado dos
Estados Unidos, da ndia ou de qualquer pas. Afirmar isso
negar que o pas j tem uma histria de aes afirmativas
desde a dcada de 1930 e desqualificar e subestimar a
capacidade brasileira, presentes em universidades, governos
e sociedade civil, de construir alternativas que enfrentem
nossos problemas estruturais. negar tambm que as aes
afirmativas esto trazendo para as universidades pblicas
sujeitos, realidades, trajetrias, perspectivas, desafios,
competncias e talentos at ento quase invisveis no
universo acadmico. Essa maior diversidade tnico-racial
tem levado a um crescimento e diversificao dos temas de
pesquisa, fazendo com que a universidade pblica
brasileira, historicamente branca e de classes mdia e
alta, dialogue mais com a realidade do pas e passe a ter
uma face mais prxima daquela que constitui a maioria da
populao brasileira. Populao que com o seu trabalho
garante as condies de sustentao dessas mesmas
universidades.
Esta relatoria nacional vai recomendar, em
seu relatrio a ser divulgado nacional e
internacionalmente, a necessidade de garantir condies
para o amadurecimento da experincia das aes afirmativas
nas universidades brasileiras, aprendendo com os desafios e
problemas e aprimorando procedimentos e critrios ao longo
do tempo, que tais aes se fizerem necessrias para
corrigir desigualdades. Nesse sentido fundamental a
aprovao do PL n 180, que se encontra parado no Senado
Federal.
Entendemos que o que est em jogo no
julgamento, no STF, no so as aes afirmativas em si, j
que o pas utiliza esses instrumentos para corrigir
desigualdades h dcadas, mas o critrio racial como base
para definio de aes afirmativas. Os dados anteriormente
apresentados, nesta e em outras falas, escancaram que o
argumento da pobreza insuficiente para explicar todas as
nossas desigualdades e que o pas no pode mais perder
tempo para enfrentar aquele que um dos grandes desafios
to, mais to negado da democracia brasileiro.
Com esse julgamento, o STF, sintonizado com
o princpio maior da nossa Constituio de promover a
justia social, pode contribuir decisivamente para o
aprimoramento e consolidao de instrumentos, mecanismos e
polticas pblicas inovadoras que respondam gigantesca
dvida social e fortaleam uma sociedade democrtica
comprometida efetivamente com a garantia do direito humano
educao de todos e todas.
Obrigada!
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo a Doutora Denise
Carreira, relatora nacional para o Direito e Educao, por
sua interveno.
Convido agora o Senhor Marco Antnio
Cardoso, da Coordenao Nacional de Entidades Negras -
CONEN - que tambm dispor de 15 minutos.
*****
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR MARCOS ANTNIO CARDOSO -
Excelentssimos Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e
Joaquim Barbosa, a nossa luta pelas aes afirmativas e por
cotas raciais no Brasil tem uma perspectiva de futuro,
porque pra ns o racismo no escolhe tempo, nem espao, nem
lugar. O racismo mais que uma ideologia, uma
instituio em si, constituda na Histria. O racismo se
realimenta, se retroalimenta cotidianamente, pois se
refora no apoio incondicional das elites econmicas,
movidas que so pelos seus privilgios e pelo que o
eurocentrismo legou Cincia e ao Mercado. As doutrinas
eurocntricas influenciaram, alm de formar parte
significativa dos intelectuais brasileiros, influenciaram,
sim, as instituies do Estado e as instituies privadas,
e sobretudo as instituies educacionais. De modo que o
processo de excluso racial na sociedade brasileira
funciona sem conflitos e na base de pseudos consensos.
Entretanto, ns do movimento negro
brasileiro sabemos que explicitar o racismo e, por ventura,
os conflitos tnicos e raciais, necessrio e fundamental
para evidenciar a desigualdade entre campos de Poder e
romper com a cristalizao e a naturalizao das
desigualdades raciais na sociedade brasileira.
Ao fazer isso, o Movimento Negro Brasileiro
revela, pe a nu, o quadro de violncia fsica, material e
simblica a que a populao negra est submetida. Por essa
razo essa Audincia Pblica sobre a constitucionalidade
das polticas de aes afirmativas para grupos sociais
historicamente excludos importantssima pelos seus
resultados no futuro, pelos impactos que poder produzir no
nosso processo histrico de luta pela reduo da violncia
que o racismo - na realidade, o racismo a violncia em
si - e na promoo do desenvolvimento humano, porque o que
estamos falando aqui de humanidade, da humanidade negro-
africana que o racismo busca a todo o momento negar.
Ento, proibir, tentar criar mecanismos para
excluir, mais uma vez, essa populao uma violncia em si
e negar, novamente, a humanidade negro-africana presente
na Constituio deste Pas.
Senhores Ministros, as aes promovidas na
Justia brasileira com o objetivo de derrubar o sistema de
cotas partem das mesmas alegaes. Argumenta-se que o
sistema de cotas fere o princpio da isonomia, que as
Universidades no teriam autonomia para legislar sobre a
matria, que o conceito de raas est superado com o avano
das Cincias biolgicas e da Gentica, que os problemas da
realidade social brasileira restringem-se dicotomia entre
ricos e pobres, enfim, uma repetio enfadonha da cantilena
de gilbertofreyriana e dos seus seguidores, inconformados
com a emancipao e autonomia dos histricos sujeitos
sociais subalternos.
Todavia, toda deciso jurdica um palco de
lutas e de conflitos polticos duros e polmicos. Assim,
entendemos que a discusso sobre as polticas de aes
afirmativas e as cotas raciais precisam ser pensadas a
partir do que representa o racismo na sociedade brasileira.
Esse o centro do nosso debate.
E por a que o movimento negro entende o
atual debate que se estabeleceu no Brasil em torno das
aes afirmativas e da questo das cotas raciais.
Marcada pela hierarquizao racial, a nossa
sociedade moldou-se como um modelo racista sui gneris.
Aqui, no se precisa de um instrumento legal para excluir
objetivamente a populao negra das possibilidades efetivas
de emancipao econmica, poltica, acadmica e social. A
partir do discurso da sociedade harmnica e pacfica
articularam-se frmulas objetivas e eficazes que geram
barreiras para a ascenso social negra, de forma que,
cotidianamente, negras e negros so postos prova tendo
que demonstrar genialidade para aquilo que, em verdade,
bastaria algum esforo. o racismo institucionalizado pela
imprensa, pelo judicirio, pelo senso comum, pela escola e
sobretudo pela Academia.
A legitimao simblica e poltica se d
pela reproduo de que somos todos iguais, que vivemos numa
sociedade multicultural e de que o cruzamento racial se deu
a partir de bases integradoras. Na realidade, porm,
vivemos num pas de tamanha iniqidade racial ao ponto de
se passar, conforme disse algum aqui, na Audincia, no
primeiro dia, a responsabilizar os (as) negros (as) pela
sua prpria excluso, vitimizar a prpria vtima, alegando
que todos so iguais, com as mesmas oportunidades e que no
progridem, porque so preguiosos, indolentes e
incompetentes, a mesma mentalidade do Sculo XIX, em pleno
Sculo XXI, falado por um Senador da Repblica.
inadmissvel e isso indigna o movimento negro no Brasil. Ou
a afirmativa de que com a aplicao das aes afirmativas e
as quotas raciais, negros e negras estariam sendo
beneficiados por um sistema inconstitucional e
discriminatrio, reforando a idia em que as vtimas so
postas como algozes e que a poltica de quotas estaria
tomando o lugar dos jovens brancos da sociedade brasileira.
Esta a operao social que faz uma inverso e justifica o
racismo do Estado e a vitria da falsa neutralidade estatal
e a vitria da falsa neutralidade cientfica.
Outra alegao que no haveria nos conselhos
das universidades pblicas a prerrogativa para implementar
a poltica de cotas. Esse argumento tambm refora a
tentativa de controle externo das instituies do ensino
superior que fere o princpio tico, acadmico, poltico e
constitucional da autonomia universitria, sobretudo nesse
momento em que a fria neoliberal avana sobre as
universidades pblicas impondo-lhes forma de regulamentao
e controle.
Outro argumento o da impertinncia do
critrio raa/cor na definio das polticas pblicas, que
o fator de discriminao relativa cor ou tonalidade da
pele apenas resultar em casusmos e arbitrariedades e que
a cincia contempornea aponta de forma unnime que o ser
humano no dividido em raas, no havendo o critrio
preciso para identificar algum como negro ou branco. Essa
alegao constitui a estrutura do discurso racista, so
tentativas de negar a realidade, afirmando no haver um
critrio social e poltico que especifique definitivamente
quem so os negros e brancos na sociedade brasileira.
Quer dizer, uma rpida anlise dos dados
bastar para percebermos objetivamente que construir um
conceito poltico e social da raa que existe e funciona d
definio de lugares e barreiras raciais. Antigamente
dizia-se para o movimento negro, vocs no tm dados, vocs
no conseguem provar e agora vm os institutos de pesquisa,
os centros de pesquisa do Brasil, produzem uma srie de
dados para provar a existncia do racismo e vm as pessoas
aqui dizer que esses dados esto sendo manipulados. Como
que pode? Que loucura essa? Os opositores das cotas
raciais manifestam seu incomodo com essas medidas. Eles no
apresentam suas verdadeiras razes, ocultam seu
preconceito. Silenciam e inventam os mais enviesados
argumentos para desqualificar essas polticas, porm
sabemos que o pano de fundo a existncia do racismo
revestido de novas roupagens, porque o racismo muda, ele
sofistica-se.
Muitos acham que o caminho para corrigir
essas disparidades so as polticas universais, o que
tornaria os cidados brasileiros capazes de competir nesse
sistema, mas para ns esse um discurso que quer manter o
statu quo, por qu? Na medida em que essas polticas no
incidem, elas no impactam positivamente na ponta da
pirmide social onde esto os pobres, onde est a juventude
negra, onde est a juventude da periferia desse Pas.
Ento, essas polticas no conseguem chegar. Ns defendemos
as polticas compensatrias, as polticas focadas com o
objetivo de que essas polticas pblicas consigam chegar na
ponta. nessa perspectiva que ns defendemos a necessidade
de que o Estado implemente as polticas focadas. Isso no
significa de maneira alguma que ns estamos excluindo as
polticas de carter mais universal, porque, para o
Movimento negro, embora h dcadas ns propomos polticas
para superar a desigualdade racial, no Brasil, acreditamos
tambm que somente uma poltica articulada, capaz de
reduzir essa tremenda dvida histrica, na medida em que
nossa populao considerada, segundo esses mesmos dados,
os mais pobres entre os pobres, necessrio que o Estado,
de fato, tenha uma poltica com oratura. E para tornar
eficazes esses direitos, tanto individuais como coletivos,
os direitos sociais, os direitos culturais e, sobretudo, os
direitos educacionais, o Estado tem que redefinir o seu
papel no que se refere prestao de servios pblicos, de
forma a ampliar sua interveno nos domnios das relaes
tanto subjetivas e privadas, buscando reduzir a igualdade
formal em igualdade de oportunidade e tratamento. Entre
essas polticas, defendemos a implementao das Aes
Afirmativas e poltica por Cotas Raciais como medida capaz
de efetivar com mais equidade o acesso da juventude negra,
da juventude pobre e dos povos indgenas, nas instituies
federais e estaduais pblicas do ensino superior e do
ensino de tecnolgica.
Segundo o Professor Antonio Srgio
Guimares, da Universidade de Braslia, a democracia na
Europa ou nos Estados Unidos se estabeleceu pela negao
das diferenas raciais e tnicas no essenciais
cidadania, em pases regidos por esta ideologia democrtica
e universalista como o Brasil, que impede que tais
diferenas sejam nomeadas, mas onde subsistem privilgios
materiais e culturais associados raa, cor ou classe,
o primeiro passo para uma democratizao efetiva consiste
justamente em nomear os fundamentos destes privilgios:
raa, cor, classe. Tal nomeao racialista transforma
estigmas em carismas. Para o Movimento Negro Brasileiro, as
aes afirmativas e as cotas raciais so medidas
necessrias para o ingresso da juventude negra, da
juventude pobre e dos povos indgenas no ensino superior
pblico, tem um efeito agregador sobre a nacionalidade,
muito longe do efeito desagregador daqueles que temem o
racialismo, ou seja, que nomeiam essas polticas como
polticas racialistas.
Nesse sentido, ns conclumos, aguardando do
Supremo Tribunal Federal uma deciso que seja favorvel
luta do povo brasileiro, luta por aes afirmativas,
luta por cotas raciais nas universidades, porque, na nossa
viso, essa poltica uma poltica que tem uma perspectiva
de futuro. Ela no uma poltica, como algum disse aqui,
no sentido de ter um revanchismo em relao ao passado.
Muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo a interveno do Senhor
Marcos Antonio Cardoso, da Coordenao Nacional das
Entidades Negras.
Chamo, agora, para fazer uso da palavra, a
Doutora Sueli Carneiro, Doutora em Filosofia da Educao
pela Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo,
Fellow da Ashoka Empreendedores Sociais. Foi Conselheira e
Secretria-Geral do Conselho Estadual da Condio Feminina
de So Paulo.
Ela far o seu pronunciamento pelo Instituto
da Mulher Negra de So Paulo - Geleds. Tambm, por quinze
minutos, far uso da palavra.
*****
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
A SENHORA SUELI CARNEIRO - Excelentssimo
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Excelentssimo
Ministro Joaquim Barbosa, senhoras e senhores.
Senhor Ministro, como todos os que me
antecederam, ressalto inicialmente a importncia de sua
iniciativa de convocao dessa audincia pblica que est
permitindo que a pluralidade de vozes que se posicionam a
favor da poltica de cotas para negros no ensino superior
possam ser ouvidas por esta Corte e pelo conjunto da
sociedade. Sabemos perfeitamente que essa diversidade de
apoios de que gozam as cotas para negros no est
democraticamente presente no debate pblico sobre o tema, o
que torna a sua iniciativa ainda mais relevante.
Quero comear lembrando o Seminrio
Internacional "Multiculturalismo e Racismo: o papel da ao
afirmativa nos Estados democrticos contemporneos,
realizado pelo Ministrio da Justia, em julho de 1996.
Naquela oportunidade, o ento Vice-
Presidente Marco Maciel postulou que a realizao daquele
seminrio era um indicativo de que o "Estado brasileiro
estaria finalmente engajado em um aspecto que diz respeito
s suas responsabilidades histricas, em relao s quais
sucessivas geraes da elite poltica brasileira sempre
demonstraram um inconcebvel alheamento."
E continuava o ento Vice-Presidente Marco
Maciel, dizendo:
Creio que este o grande legado da
lio de Nabuco, cuja atualidade (...)
assenta-se na viso proftica de que 'a
escravido permanecer por muito tempo como
caracterstica nacional do Brasil', uma vez
que a abolio no foi seguida de 'medidas
sociais complementares em benefcio dos
libertados, nem de qualquer impulso
interior, de renovao da conscincia
pblica.
Assinalava tambm o Vice-Presidente Marco
Maciel:
chegada a hora de resgatarmos
esse terrvel dbito que no se inscreve
apenas no passivo da discriminao tnica,
mas sobretudo no da quimrica igualdade de
oportunidades virtualmente assegurada por
todas as nossas Constituies aos
brasileiros e aos estrangeiros que vivem em
nosso territrio.
Coerente com essa leitura de nosso processo
histrico, foi naquele governo que se iniciaram as
primeiras medidas para a promoo social dos negros
brasileiros, medidas que se ampliam no governo atual.
Excelentssimo Ministro, sirvo-me das
palavras do hoje Senador Marco Maciel, do Partido
Democrata, para reiterar alguns dos desafios colocados no
debate sobre as cotas para negros nas universidades, e que
j foram aqui abordadas. Isto por que aqueles que as
condenam, ou melhor, atacam - para resgatar o verbo que foi
utilizado aqui, ontem, nesta audincia -, satisfazem-se, a
meu ver, com essa noo quimrica e virtual de igualdade
apontada pelo Senador Marco Maciel.
Tal concepo, intencionalmente, omite do
debate pblico todo o acmulo terico empreendido no mbito
da cincia poltica, no sentido da superao da noo
abstrata de igualdade que desconsidera a forma concreta
como ela se realiza ou no na experincia humana. Dentre
vrios autores, Norberto Bobbio, por exemplo, nos mostra
sob que condies possvel assegurar a efetivao dos
valores republicanos e democrticos. Para ele impe-se a
noo de igualdade substantiva, um princpio igualitrio
porque elimina uma discriminao precedente:
na afirmao e no reconhecimento
dos direitos polticos, no se podem deixar
de levar em conta determinadas diferenas,
que justificam um tratamento no igual. Do
mesmo modo, e com maior evidncia, isso
ocorre no campo dos direitos sociais.
No entanto, essa exigncia de reconhecimento
das diferenas, assinalada por Bobbio, e da necessidade de
enfrentamento objetivo dos obstculos plena realizao do
princpio da igualdade so estigmatizadas por alguns
setores, no debate nacional, como racializao das
polticas pblicas por se referirem a negros, sabidamente
expostos a processos de excluso de base racial.
Compreendem, ainda, que as cotas teriam o
poder de ameaar os fundamentos polticos e jurdicos que
sustentam a nao brasileira, ferir o princpio do mrito,
colocar em risco a democracia e deflagrar o conflito
racial. Poderosas essas cotas.
Na direo oposta a esses argumentos, o
Senador Marco Maciel vem novamente em meu socorro, segundo
ele medidas compensatrias, em favor dos negros, no
representam apenas uma etapa da luta contra a
discriminao, mas o fim da era de desigualdade, da
excluso, se pretendemos uma sociedade igualitria e mais
justa.
Indo alm afirmou o Vice-Presidente que:
O caminho da ascenso social, da
igualdade jurdica, da participao poltica
vale dizer, o fim da discriminao ter
de ser cimentado pela igualdade econmica
que, em nosso caso, implica o fim da
discriminao dos salrios, maiores
oportunidades de emprego e participao na
vida pblica. Nesse sentido parece-me - diz
o ento vice- Presidente - que o papel da
educao ser essencial.
Aqueles que a condenam ou atacam as cotas
utilizam-se ainda da retrica da diversidade, da
miscigenao, para destituir as racialidades socialmente
institudas. No entanto - e mais uma vez recorrendo ao
Senador Marco Maciel -, afirmo com ele que "A riqueza da
diversidade cultural brasileira no serviu, em termos
sociais, seno para deleite intelectual de alguns e para
demonstrao de ufanismo de muitos". (ibidem, p.19)
Por fim, os que condenam ou atacam as quotas
se utilizam de estudos genticos para negar a existncia
das racialidades historicamente construdas. Nesse caso,
ofereo breve descanso ao Senador Marco Maciel, porque,
felizmente, temos precedente animador oferecido por esta
Corte sobre esse tema.
O caso Siegfried Ellwanger, condenado pelo
crime de racismo por edio de obre anti-semita,
emblemtico nessa direo. Ele ofereceu a oportunidade para
que o STF debatesse e examinasse o sentido da noo de
raa. Na ementa do acrdo dessa ao, o STF explicita que:
"A diviso dos seres humanos em
raas resulta de um processo de contedo
meramente poltico-social. Deste pressuposto
origina-se o racismo, que, por sua vez, gera
a discriminao e o preconceito
segregacionista".
As diversas manifestaes dos
Ministros nesse caso reafirmaram com
absoluta pertinncia que a racialidade no
est assentada em determinaes biolgicas.
O Excelentssimo Ministro Gilmar Mendes
defendeu que a Constituio compartilha o
sentido de que o racismo configura conceito
histrico e cultural assente em referncias
supostamente raciais, includo a o anti-
semitismo.
Em consonncia, o ento Ministro do STF
Nelson Jobim recusou o argumento da defesa de Ellwanger
segundo a qual judeus seriam povo e no raa, portanto no
estariam ao abrigo do crime de racismo conforme a
Constituio. Por sua vez, a Ministra Ellen Gracie cunhou
uma interpretao da maior importncia para o entendimento
das relaes raciais no Brasil. Disse ela: impossvel,
assim me parece, admitir-se a argumentao segundo a qual
se no h raas, no possvel o delito de racismo.
Excelentssimo Senhor Ministro, se esta
Corte entende que pode haver racismo mesmo no havendo
raas, se esta Corte tambm entende que o racismo est
assentado em convices raciais que geram discriminaes,
preconceitos segregacionistas, se todas as evidncias
empricas e estudos demonstram o confinamento dos negros
nos patamares inferiores da sociedade e se a inferioridade
social no inerente ao negro, posto que no existem
raas, ento essa persistente subordinao social s pode
ser fruto do racismo, que, como afirma a ementa do referido
acrdo, repito, gera a discriminao e o preconceito
segregacionista. Isto requer, ento, medidas especficas
fundadas na racialidade segregada para romper com os atuais
padres de apartao social.
Ento, Senhor Ministro, entendemos que o que
est em jogo, no debate sobre as cotas, so duas
perspectivas distintas de nao e dois projetos distintos
de nao. Em cada um deles, como esta audincia tem
demonstrado, encontram-se negros e brancos de diferentes
extraes sociais de campos polticos, ideolgicos,
semelhantes ou concorrentes.
O primeiro desses projetos est ancorado no
passado. Sobre esse projeto passadista, o psicanalista
Contardo Calligaris empreende a seguinte reflexo:
"De onde surge, em tantos brasileiros
brancos bem intencionados, a convico de viver em uma
democracia racial? Qual a origem desse mito? A resposta
no difcil, diz ele, o mito da democracia racial
fundado em uma sensao unilateral e branca de conforto nas
relaes inter-raciais. Esse conforto no uma inveno,
ele existe de fato, ele efeito de uma posio dominante
incontestada. Quando eu digo incontestada, diz Calligaris,
no que concerne sociedade brasileira, quero dizer que no
s uma posio dominante de fato - mais riqueza, mais
poder -, mais do que isso, uma posio dominante de
fato, mas que vale como uma posio de direito, ou seja,
como efeito no da riqueza, mas de uma espcie de
hierarquia de castas. A desigualdade no Brasil a
expresso material de uma organizao hierrquica, ou
seja, a continuao da escravatura. Corrigir a
desigualdade que herdeira direta, ou melhor, continuao
da escravatura, diz Calligaris, no significa corrigir os
restos da escravatura, significa tambm comear,
finalmente, a aboli-la".
Neste contexto, Calligaris conclui que:
"Sonhar com a continuao da pretensa
democracia racial brasileira aqui a expresso da
nostalgia de uma estrutura social que assegura, a tal
ponto, o conforto de uma posio branca dominante, que o
branco e s ele pode se dar ao luxo de afirmar que a raa
no importa".
O segundo projeto de nao dialoga com o
futuro, como j foi dito. O que dele apostam, os que nele
acreditam, que o Pas que foi capaz de construir a mais
bela fbula de relaes raciais capaz de transformar este
mito numa realidade de conforto nas relaes raciais para
todos e para todas.
Os que vislumbram o futuro acreditam que se
as condies histricas nos conduziram a um Pas em que a
cor da pele ou a racialidade das pessoas tornou-se fator
gerador de desigualdades, essas condies no esto
inscritas no DNA nacional, pois so produto da ao ou
inao de seres humanos e, por isso mesmo, podem ser
transformadas, intencionalmente, pela ao dos seres
humanos de hoje.
o que esperamos desta Suprema Corte, que
ela seja parceira e protagonista de um processo de
aprofundamento da democracia, da igualdade e da justia
social. E, num esforo cvico de tamanha envergadura, as
cotas para negros, mais do que uma conquista dos movimentos
negros, so parte essencial da expresso da vontade...
(PARTE FINAL SEM SOM).
Muito obrigada.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado, Doutora Sueli Carneiro,
pela sua interveno.
Vamos chamar, agora, Sua Excelncia, o
Senhor Juiz Federal Carlos Alberto da Costa Dias, da 2
Vara Federal de Florianpolis, que tambm falar por at
quinze minutos.
*****
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR JUIZ CARLOS ALBERTO DA COSTA DIAS
(JUIZ FEDERAL DA 2 VARA FEDERAL DE FLORIANPOLIS) -
Ministro Lewandowski, Ministro Joaquim Barbosa, bom dia.
Senhoras e senhores, agradeo a oportunidade, como juiz
federal, de compartilhar a aflio de, no julgamento desse
caso, que so os das cotas raciais. um caso difcil, um
caso que tenho enfrentado, como juiz de primeiro grau, s
dezenas, diariamente, e me parece que da maior
dificuldade.
Eu gostaria, com toda a franqueza, de
compartilhar de uma soluo simplista de que,
estatisticamente, se v que no h acesso a negros na
universidade e - de forma mgica - com as aes
afirmativas, j haveria a soluo do problema.
Eu no vou tratar de estudos feitos, vou
fazer simplesmente uma remisso a um artigo publicado na -
de fcil acesso, pela rede - "Stanford Law Review", de maio
de 2005, em que os cientistas americanos analisaram, na
Universidade de Michigan, que as aes afirmativas no
foram hbeis a aumentar o nmero de advogados durante o
perodo dessas aes afirmativas.
A questo que eu queria cingir aqui e trazer
luz, exclusivamente - que me parece fundamental -, a
impossibilidade de atribuir "raa" ou a "idia de raa",
fator de discrmen necessrio outorga de direitos. esse
exclusivamente o ponto que me parece relevante, a raa, o
fentipo racial no pode ser, na minha forma de pensar, um
fator que diferencie a pessoa concesso de direitos.
Evidentemente, a Constituio faz vrias
discriminaes positivas com relao mulher, com relao
ao deficiente, mas a diferena dessas discriminaes
positivas que a Constituio tem com relao idia de
negro ou o fator de discrmen, qualidade de negro, que o
fator de discrmen no pode ser arbitrrio, ele no pode
no ter uma relao de causa e efeito, ele tem que ser
determinante relao de diferena que ele visa resolver.
Ento, presumindo-se verdadeira a hiptese
de que a poltica afirmativa pretende modificar, ou seja, a
dificuldade do acesso ao ensino pblico ao denominado
"negro" prevalece, ainda assim, como obstculo ao acesso do
negro ao ensino universitrio, no o atributo de ser negro,
em si, mas ao fato de o ensino pblico anterior ao
vestibular no ser de boa qualidade, sua condio,
eventualmente, no possibilitar a dedicao a maiores
estudos ou outros fatores que sejam objeto de estudo e de
aprofundamento. Parece-me muito simplista o Governo no
aplicar um tosto no ensino pblico e o caso decidido no
primeiro grau e que vai ser decidido na Suprema Corte
eleger um adolescente que, por motivos polticos, por
motivos ideolgicos no acredite que deva se
autodiscriminar como negro ou no para dizer: voc,
adolescente, vai representar a idia de escravatura, a
idia de dominao e vai perder a sua vaga por conta de
fentipo racial de outras pessoas que se consideram negras.
No admitir - esse o ponto que eu quero
gizar, com a mxima objetividade - que o fator de discrmen
"ser negro" seja como poltica pblica determinante da
dificuldade ao acesso ao ensino , por si s,
discriminatrio e estigmatizante.
Ento, na Suprema Corte americana a questo
que decidida no Supremo e, tambm, na magistratura de
primeiro grau a do estudante que no se denomina branco
perder a vaga.
Ento, na Suprema Corte americana, no caso
Parents v. Seattle e Meredith v. Jefferson, se entendeu a
inconstitucionalidade do sistema de cotas, porque o
fundamento um fundamento racial.
O enfrentamento, a superao da questo do
racismo, ento, na minha forma de entender, demanda uma
poltica pblica de natureza muito mais difcil, muito mais
complexa, muito mais onerosa que a simples criao de cotas
raciais nas universidades.
Em sntese, parece-me - e a a aflio do
juiz do primeiro grau essa - que a instituio das cotas
transforma o juiz federal, ou o Judicirio, nos casos
difceis, no rbitro, segundo um critrio absolutamente
artificial, ou seja, o fentipo, e dizer: olha, voc tem
direito e voc vai perder o direito, sendo que a
Constituio probe discriminao em funo da cor; sendo
que a prpria Constituio estabelece j o critrio ao
acesso ao ensino superior pelo critrio de capacidade.
Essa deciso do Supremo, se vier a decidir
que o critrio de raas o critrio prevalente, parece-me
que vai criar em si s um paradoxo, porque a prpria
discriminao racial, pelo Projeto de Lei n 6.264/2005,
a prpria distino, excluso, restrio, preferncia
baseada em raa.
Bom, o sujeito, o jovem que no tiver a cor
certa vai perder um lugar na universidade. Ento, a prpria
poltica me parece paradoxal, porque ela parte de um
pressuposto racista e, nos casos difceis, nos casos que
so os mais difceis, ou seja, identificar se o sujeito
branco ou negro, como se fosse to simples, haveria a o
problema de transferir ao Judicirio um critrio racial e
no um critrio de mrito.
Ento, em sntese, a minha interveno
compartilhar essa aflio que eu tenho de transformar o
Judicirio no rbitro, com o critrio racial, para conceder
direitos. Parece-me que as polticas pblicas que se
utilizaram ou os regimes que se utilizaram de critrios
raciais para definir polticas pblicas marcaram a histria
de forma perversa.
essa a minha interveno. Agradeo a
pacincia.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado a Sua Excelncia o Senhor
Juiz Federal Carlos Alberto da Costa Dias, da 2 Vara
Federal de Florianpolis, que nos traz uma perspectiva
distinta para a reflexo.
Eu quero assinalar a grata e honrosa
presena da Procuradora da Repblica Deborah Duprat, que
tem nos prestigiado com a sua participao desde o primeiro
dia e que fez uma importantssima interveno tambm, logo
no incio dos trabalhos. Portanto, fica assinalada a
presena de Sua Excelncia, que se escusa por no ter
comparecido desde o incio da manh de hoje, porque estava
com compromissos institucionais.
Eu convido agora para manifestar-se o Doutor
Jos Roberto Ferreira Milito, advogado e membro da
Comisso Nacional de Assuntos Antidiscriminatrios - CONAD.
O senhor dispor de 15 minutos.
*****
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR JOS ROBERTO FERREIRA MILITO
(CONAD) - Excelentssimo Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, Excelentssimo Senhor Ministro Joaquim
Barbosa, Excelentssima Senhora Vice-Procuradora-Geral da
Repblica Doutora Deborah Duprat, ilustres debatedores, em
que, na pessoa do Doutor Fbio Comparato, ficam todos
homenageados, senhoras e senhores, militantes ativistas do
movimento negro, militantes ativistas por direito humanos.
Agradeo a oportunidade, Senhor Ministro, de
comparecer perante esta egrgia excelsa Corte, no exerccio
da participao cidad e popular, nos destinos da Nao.
Sou um brasileiro comum, que me inscrevi e,
provavelmente, pela histria de ativista contra o racismo,
sem nenhum lobby, tenha sido convidado pelo Senhor Ministro
para este debate; sou um ativista por aes afirmativas;
sou a favor do investimento pblico em cotas sociais; sou
favorvel a que as universidades criem critrios de seleo
reservando pelo menos 50% das vagas para acesso pelo
critrio de rendas; sou um crtico radical do racialismo
estatal; participo ativamente dos debates sobre leis
raciais desde os anos 80, por ocasio dos trabalhos
constituintes. Venho alegar nesta oportunidade, talvez
nica e ltima, que o sistema democrtico nos oferece, para
trazer reflexo de quem pensa em termos de futuro.
Espero demonstrar nesta breve exposio que
o Estado no pode, sob pena de violar a dignidade humana
dos brasileiros e dos afro-brasileiros em especial, nos
outorgar uma identidade racial, dizer que o Estado no pode
nos submeter aos velhos ideais do racismo.
Senhoras e senhores, Senhores Ministros,
venho falar em igualdades. Esse que o ncleo fundamental
da mensagem do Iluminismo e que, ao mesmo tempo em que
surge o Iluminismo, trazendo novas luzes para a humanidade,
surge para se contrapor a ele a idia do racismo, e disso
que 250 anos depois estamos aqui falando. A idia da
igualdade trazida pelo Iluminismo a igualdade em que os
seres humanos seriam tratados no mesmo plano. E o racismo
veio, na mesma poca, contrapor-se a isso e estabelecer,
dizer que entre os humanos existia uma diviso e que nessa
diviso havia uma hierarquia e que essa hierarquia era
racial; e que nessa hierarquia h uma raa superior; e que
nessa hierarquia h as raas inferiores, sendo que a "raa
negra" seria a base inferior dessa hierarquia.
Esse conceito de raa o conceito social
construdo l no sculo XVIII, que permeou profundamente a
sociedade do sculo XIX e no sculo XX, levando at a
Segunda Guerra Mundial.
Encaminhei um vdeo do Professor Milton
Santos e gostaria de ver se era possvel ser exibido agora.
E o que viemos hoje, duzentos e cinqenta
anos depois do advento do Iluminismo e do racismo, trazer
Suprema Corte do Brasil alguns pontos para essa deciso
histrica.
O grande lder afro-brasileiro Abdias
Nascimento, em julho de 2006, publicou um artigo na Folha
de So Paulo, digno da sua prpria histria. Na poca,
havia dois manifestos a favor e contra as cotas; as leis
raciais eram sobre o estatuto da igualdade racial. E ele
dizia que: "A realizao em poucos dias de duas
manifestaes mostra que existe vida inteligente dos dois
lados. A discusso no ser decidida no mbito das cincias
jurdicas e sociais, j que nelas encontramos elementos
favorveis s duas posies". E hoje, ontem, nesses trs
dias, temos ouvido aqui argumentos apreciveis e
respeitveis dos dois lados.
E conclui, nesse tpico, o Senador Abdias:
"Trata-se de um debate eminentemente poltico que reflete a
viso do mundo dos que dele participam".
Este um debate poltico e esta Corte a
Corte constitucional e poltica da nao, assim que ela foi
erigida na Constituio de 88. Caber Suprema Corte
decidir se a igualdade, como conceito do Iluminismo, a
igualdade, que o Professor Comparato nos ensina, que
condio da dignidade humana, se ele pode conviver com a
classificao de "raa". Se o brasileiro quer, se o
brasileiro precisa dessa classificao. Se, conforme o
conceito do racismo, os afro-brasileiros querem pertencer
quela que o racismo diz que a raa inferior. O Supremo
Tribunal h de decidir se isso compatvel com a dignidade
humana; se renegamos a miscigenao e se renegamos o
chamado "mito da democracia racial". A Suprema Corte h de
decidir neste tema se essa opo compatvel com a nossa
histria e com a vontade popular expressa na Carta Magna de
88.
Por final, h de avaliar se os efeitos
colaterais de polticas raciais so danosos ou no.
Portanto, ao Supremo caber dizer para o futuro qual a
viso poltica de mundo a que os brasileiros estaro
condenados ou premiados, porque o problema, embora a ao
se refira s cotas da UnB, no das universidades. Eu,
particularmente, entendo que as universidades deveriam,
sim, ter polticas de aes afirmativas; deveriam ter de
seu oramento retiradas verbas para cursos preparatrios
dos jovens afro-descendentes que tm a deficincia da
pobreza e da escola pblica; deveria o Estado tambm fazer
investimentos subvencionando as Educafros do Brasil
inteiro, para que os jovens afro-brasileiros se preparassem
para competir em igualdade de condies. E como diz o
Professor Milton Santos - no vdeo, o endereamento est no
You Tube -, "O Estado no tem o direito de fazer o caminho
mais fcil". A poltica de cortar caminho e no enfrentar a
realidade das desigualdades raciais e das desigualdades
sociais.
H, no Congresso Nacional, diversos projetos
de leis raciais. O prprio Estatuto da Igualdade Racial j
traz em seu nome a idia de raa. H, em todos os Estados
da federao e certamente em centenas de municpios,
projetos de leis raciais. Se a Suprema Corte autorizar a
produo de leis raciais, ns teremos, em cinco, dez anos,
milhares de leis raciais; todos os municpios, todos os
distritos, todas as universidades, todas as escolas sero
submetidos a um regime de legislao racial.
Quais os efeitos colaterais disso,
especialmente a ns afro-descendentes, vtimas do racismo?
Montesquieu dizia que ns recebemos trs educaes: a da
famlia, a dos pais; a dos mestres, educadores e a do
Estado. Esta ltima, a do mundo, a do Estado, destri
cabalmente as duas primeiras.
Imaginem, senhores, a sociedade brasileira
sob a gide de milhares de leis raciais, segregando
direitos, outorgando a alguns a incluso, e no se inclui
sem fazer a excluso, das nossas crianas dos nossos jovens
da periferia de So Paulo, de Salvador, de Braslia, de
Porto Alegre, daquelas crianas que nasceram na mesma rua,
no mesmo conjunto habitacional do BNH, que freqentam a
mesma escola, a mesma creche, o mesmo colegial, e que, no
florescer da idade - hoje trarei o meu filho de 17 anos,
que vai prestar vestibular esse ano; um outro prestou, h
dois anos, est na USP -, ns pais sabemos a fragilidade
emocional de um garoto de dezessete e de dezoito anos, e
nessa idade, os melhores talentos da nao brasileira, os
melhores talentos afro-brasileiros estaro sendo submetidos
a uma experincia demarcadora da trajetria de suas vidas,
alguns para serem includos com um recurso de uma muleta
estatal, que carregaro, sem dvida alguma, por sua vida
inteira aquele estigma. Um nmero, se no me engano o
professor Jos Jorge forneceu ontem, h cerca de trinta mil
cotistas nas universidades brasileiras. Eu tenho certeza
que se esses trinta mil tivessem passado pelo Educafro, com
algum recurso, com uma bolsa de estudo, por um ano, 90%
deles ingressariam nas universidades. Portanto, toda essa
poltica estaria beneficiando, na verdade, 10%, trs mil
cotistas que no teriam condies de ingresso, mesmo aps
um ou dois anos de cursinho. E, a, vem transmitido ao
Supremo Tribunal Federal. Se for correto, se plausvel,
se respeitvel, que se coloque para toda a sociedade
brasileira, sob um racialismo estatal, aquela educao que
destri todas as outras que recebemos - segundo Montesquieu
-, para beneficiar um percentual menor, pequeno, e que
poderia receber do Estado outro encaminhamento na vida, que
no seja necessariamente o ingresso na universidade, porque
se os nossos melhores talentos tiverem a oportunidade de
estudar, de terem a complementao, a suplementao que a
escola pblica no ofereceu, eles, inclusive pelos dados do
MEC, fornecidos aqui, ingressam na universidade em
condies inferiores e terminam em igualdade e at em
condies superiores porque so talentos, so jovens
esforados como a maioria de ns pretos, pobres que nos
esforamos, trabalhamos, estudamos noite, sbados e
domingos, esses jovens, tendo oportunidades, tendo um curso
preparatrio, eles vo ingressar. Entretanto, se a lei,
atravs de uma poltica pblica, vinda de uma instituio
pblica, com fora de direo da Administrao Pblica,
determinar que ele deve ter o privilgio, pelo simples fato
da cor da pele, admitindo que isso seja raa, admitindo que
hajam comisses, tribunais para apreciar a sua condio
racial ou no, e o Supremo autorizando isso, autorizar o
Estatuto da Igualdade Racial federal, estadual e municipal
e milhares de leis sero reproduzidas no Brasil nessa mesma
direo. E o que Abdias nos alertava e apontava em 2006 a
nossa escolha de uma deciso eminentemente poltica.
Queremos viver em uma sociedade racializada ou...
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo a participao do Doutor
Jos Roberto Ferreira Milito e convido, agora, para fazer
uso da palavra, mas antes anuncio a sada do eminente
Professor Fbio Konder Comparato, que se retira em virtude
de compromissos anteriormente assumidos. Agradeo a
presena de Sua Excelncia.
Eu convido para fazer uso da palavra o
Senhor Serge Goulart, autor do livro "Racismo e Luta de
Classes", que pertence ao Partido dos Trabalhadores.
editor do jornal "Lutas de Classes" e da revista "Terica
Amrica Socialista".
No se encontra presente. Ento, ns vamos
chamar o Senhor Jos Carlos Miranda, do Movimento Negro
Socialista, que tambm dispor de quinze minutos. Parece
que Vossa Senhoria far uma justificativa relativamente
ausncia do Senhor Srgio.
O SENHOR JOS CARLOS MIRANDA - Exatamente.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ento o Senhor poder faz-la e esse tempo
ser descontado para que o Senhor disponha dos quinze
minutos regulamentares.
*****
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR JOS CARLOS MIRANDA - Muito
obrigado a Vossa Excelncia. Bom dia, Excelncia, Ministro
Ricardo Lewandowski; Vice-Procuradora Doutora Deborah
Duprat; Senhoras e Senhores, em primeiro lugar eu gostaria
de justificar a ausncia do Doutor Serge Goulart justamente
porque houve um comunicado, ele est em viagem de
conferncia no exterior, de que ele conseguiria chegar a
tempo da audincia. Foi comunicado que o seu vo teve um
cancelamento, porque teria um vo de escala e ns j
sabemos como a aviao nesses casos. Infelizmente, no
foi possvel ele chegar hoje, aqui, para fazer a exposio.
Ento, essa a justificativa da ausncia de Serge Goulart.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois no, fica registrado.
O SENHOR JOS CARLOS MIRANDA - Eu gostaria
que aguardassem um instante, pois h uma imagem e h um
velho ditado, Senhoras e Senhores e Vossas Excelncias, que
uma imagem vale muito mais do que mil palavras. Essa foto
que ganhou o dcimo-quarto prmio Cristina Tavares,
promovido pelo "Jornal do Comrcio", pelo "Dirio de
Pernambuco", foi tomada, pelo fotgrafo Osmrio Marques,
num quilombo, numa comunidade quilombola que ainda luta
para ser reconhecida como um quilombo, a Comunidade do
Serrote do Gado Bravo, onde ns vemos dois quilombolas. Ns
podemos ver, pelo seu fentipo, que eles tm uma diferena
interessante. Eu gostaria de, ao mesmo momento, externar as
nossas posies para reflexo das senhoras, dos senhores e
da Corte, a posio do Movimento Negro Socialista que tem
levado - e eu tenho visto aqui vrios professores, reitores
de universidades que o nosso movimento, desde as periferias
da grande So Paulo, Salvador, no Norte, em todas as
regies do Pas -, ns temos levado a fazer essa discusso
da luta contra o racismo e contra o racialismo.
Em primeiro lugar, aqui ns ouvimos duas
verses da histria, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores.
Uma, a de que os brancos so os culpados pela escravido e
a outra, a de que os negros so culpados pela escravido.
Obviamente que so duas verses falsas. So falsas porque a
histria no foi feita pela luta de homens de cor contra
homens de outras cores. A histria se movimenta pelo
conflito das classes sociais. E quem o culpado pela
explorao, pela opresso, pela colonizao, pela
espoliao do continente africano e do continente americano
no so os homens de cor branca, indistintamente. Insistir
nessa espcie de romantismo histrico distorcer os fatos
e buscar caminhos diferentes dos ensinamentos da Histria.
Foi a necessidade da explorao intensiva de mo de obra da
produo de mercadorias com baixa tecnologia e alta
rentabilidade que criaram as premissas da escravido nos
perodos iniciais do capitalismo.
A escravido foi praticada sistematicamente
pelos capitalistas no Haiti para a produo de acar; nos
Estados Unidos do Sul, as grandes plantations para a
produo de algodo, necessrio ao funcionamento das
fbricas inglesas; na Amrica Latina, na Amrica Espanhola,
os Astecas e os Incas foram escravizados para a extrao do
ouro e da prata. No Brasil, a escravido negra foi feita
para a produo do algodo, da cana de acar, para a
extrao de ouro e diamantes.
Em outras palavras, toda escravido, tanto
de negros africanos como de ndios teve um objetivo: a
acumulao primitiva do capital, o desenvolvimento do
capitalismo.
Portanto, se houve o pecado capital da
escravido, ela no foi culpa de homens brancos contra
homens negros e, sim, de uma nova classe social que surgia:
a burguesia e seu sistema de explorao. Os beneficirios
dessa superexplorao foram as elites que esto na Europa e
suas scias menores nas Amricas e na frica.
O racismo, seja ele praticado contra os
negros, contra os ndios, contra qualquer povo, tem um
objetivo concreto: dividir os trabalhadores e impedir que
eles mostrem os verdadeiros culpados pela existncia dessa
excrescncia que o capital e os capitalistas.
J no Sculo XIX, o grande filsofo Karl
Marx dizia, no captulo n 24, do primeiro livro de "O
Capital", que esse sistema nascia soltando sangue por seus
poros. E foi assim que se iniciou a acumulao primitiva do
capital e a ascenso de uma nova classe social, a
burguesia, sobre os escombros da nobreza inclusive com os
ideais - arrastando todo o proletariado, principalmente o
europeu - de liberdade, igualdade e fraternidade que ainda
no se realizaram, nesses mais de duzentos anos, do sistema
capitalista em todo o planeta.
Por isso que o lema do nosso movimento
racismo e capitalismo. Portanto, a sociedade de classes so
faces da mesma moeda. A retrica que temos ouvido em todos
os debates de que existe uma dvida "com o povo negro" s
possvel ser afirmada, distorcendo e escondendo a
verdadeira histria, o sistema e a pequena minoria que da
escravido se beneficiou. S possvel essa situao a
partir de esconder os fatos, as lutas de classes e as
elites que existiam e se constituam e acumularam riquezas
na frica, nas Amricas e na Europa. possvel modificar a
atual situao das imensas desigualdades sociais, mesmo
nesse sistema nas sociedades de classe? possvel.
Repito aqui uma declarao do Governador
Wellington Dia, do Piau que alerta que as cotas, inclusive
com recorte de renda, as chamadas cotas sociais, e as cotas
raciais a aplicao delas s pode ser um atestado de
incompetncia do Estado brasileiro que no conseguiu dar os
servios pblicos gratuitos de qualidade, em especial a
educao para seu povo.
Por isso, eu diria: possvel diminuir
essas imensas desigualdades sociais? claro que
possvel. E isso s pode comear oferecendo educao de
qualidade gratuita para todos no ensino bsico,
fundamental, e aumentando, radicalmente, o nmero de vagas
nas universidades pblicas. Como possvel que nesse pas,
que no tem universidades pblicas para todos, os governos
despejem milhes e milhes de reais nas universidades
particulares, via iseno de impostos, subsidiando os
chamados tubares do ensino, que, alis, onde muitos cursos
mal chegam mdia de avaliao do MEC. Como possvel que
se pague bilhes e bilhes de reais para os capitais,
banqueiros e para as grandes multinacionais, enquanto o
povo sofre com a falta de sade, de educao, de moradia
digna e de emprego digno. Os recursos existem e esto no
oramento h muito tempo, e o que falta a vontade
poltica para reverter essa situao.
Mas voltemos cor da pele e aplicao de
polticas raciais para concesso de benefcios ou direitos
diferentes. No ltimo perodo, a partir de uma poltica
importante e eficaz do governo federal, ns vimos em vrios
Estados trabalhadores serem libertados da condio anloga
ao trabalho escravo. Se ns lembrarmos, agora, e fizermos
uma pequena reflexo, quem eram esses trabalhadores que
foram libertos agora, em pleno sculo XXI, da condio
anloga de trabalho escravo? Eram trabalhadores brasileiros
e de todas as cores. No eram de pele mais escura ou de
pele mais clara, eram trabalhadores, no sculo XXI, em
fazendas no interior desse pas, tratados condio de
escravos, e ns no olhamos para a cor da pele deles.
Mas, aqui, temos de ir um pouco mais
adiante, porque as cotas raciais nas universidades so a
ponta do iceberg de um profundo significado e mudana da
sociedade brasileira. Por qu? Porque a partir da educao,
desde a infncia, que estaremos ensinando s crianas -
iguais a esses quilombolas do Recife que vemos na foto -
que elas tero direitos diferentes, que elas tero
adversrios de cor diferente para conseguir ter os mesmos
direitos e a mesma oportunidade na vida. Comeamos desde a
infncia, porque o problema central das cotas raciais nas
universidades no somente o pblico que atinge que
muito pequeno do ponto de vista da populao brasileira,
mas ele comea a incidir como a ponta do iceberg at o
final, chegando no mercado de trabalho.
Por coincidncia, mais uma vez, o Estatuto
da Igualdade Racial, que eu s posso chamar de Estatuto
Racial, ele aprovado no Legislativo sem o voto nominal
dos parlamentares. aprovado na Cmara dos Deputados onde
se retiram, por um acordo entre vrios partidos, as cotas
raciais nos programas de televiso, se retiram as cotas nas
universidades, e o que se mantm?
O art. 45, no Captulo V, que fala o
seguinte:
Art. 45. O Poder Pblico poder
disciplinar a concesso de incentivos
fiscais s empresas com mais de vinte
empregados que mantenham uma cota de, no
mnimo, vinte por cento de trabalhadores
negros.
Ns sabemos o que a luta pela
sobrevivncia do ser humano, do homem e da mulher. Essa
poltica, chegando ao mercado de trabalho, s pode se
configurar em uma oposio, em uma diviso do povo
trabalhador brasileiro, dos filhos dos trabalhadores,
porque finalmente a elite no precisa das cotas para entrar
na universidade pblica. A elite inclusive vai para o
exterior colocar seus filhos e tem condies de fazer isso
e quem ser afetado sero os filhos dos trabalhadores.
Imaginem dois pais, ou mes, chefes de famlias que tm a
mesma vida dura, que moram na mesma comunidade, um de pele
clara e outro de pele escura. Imagine o trabalhador de pele
mais clara perder a oportunidade de emprego em detrimento
de seu vizinho que tem a pele mais escura, imaginem essa
situao ser repetir milhes de vezes numa situao de
crise econmica. A histria j nos ensinou em que lugar vai
parar a oposio da classificao racial. Em toda a
histria, os argumentos com base em raas sempre foram
usados pelos reacionrios e pelos conservadores: De Loius
Farracan a Idi Amim Dada; De Mussolini a Botha; De Hitler a
Radovan Karadzic. Todos levaram seus povos tragdia. No
esse o futuro, mesmo que longnquo, que queremos para os
nossos filhos e nossos netos. Essa poltica adotada de
cotas raciais por Nixon, exportada pela bilionria Fundao
Ford, tem um objetivo: acabar com a luta por direito
universais, ou melhor dizendo, por recursos pblicos para o
povo trabalhador. a poltica da diviso da carncia, da
repartio da misria para que os mesmo de sempre continuem
cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres e
ainda por cima opondo trabalhadores e filhos dos
trabalhadores, que lutam todos os dias pelos seus direitos
e pela sua sobrevivncia, criando uma diviso que no
existe em nosso Pas. Nos Estados Unidos, pas mais rico e
poderoso do mundo, desde o incio dessa aplicao dessas
polticas, a distncia entre ricos, brancos e negros
aumentou. E como ns podemos ver na crise recente, na
tragdia do Furaco Catrina, a situao do black people
americano no melhorou. Ou seja, as polticas afirmativas
nos Estados Unidos criaram uma elite, e essa elite se
distanciou e se integrou ao sistema junto com toda a elite,
e o sistema continua funcionando, o racismo vigorando e a
situao dos pobres, sejam ele negros ou brancos, s
piorando.
Ministros desta Corte, senhoras e senhores,
hoje, no Brasil devem existir centenas, talvez milhares de
leis com base na idia da classificao racial. Est em
vossas mos uma importante deciso que pode ou no marcar
as futuras geraes com a retrgrada idia de classificao
racial que s trouxe tragdia a todos os povos onde foram
implementados. Est em vossas mos evitar que o mal maior
se faa. De nossa parte, continuamos confiantes na fora do
povo trabalhador brasileiro, essa brava gente que tantas
lutas travou por liberdade e igualdade; temos a convico
de que atravs dessa fora e energia que as imensas
desigualdades sero superadas. As defesas dessas polticas
raciais s possvel para aqueles que desistiram da
verdadeira luta por igualdade. Ns queremos viver numa
sociedade onde a palavra felicidade no seja de um futuro
distante e sim do cotidiano do povo trabalhador brasileiro
e onde as pessoas sejam avaliadas pela fora de seu
carter.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu
agradeo ao Senhor Jos Carlos Miranda, do Movimento Negro
Socialista, por sua interveno.
Convido, agora, a Senhora Helderli Fideliz
Castro de S Leo Alves, do Movimento-Pardo Mestio
Brasileiro e da Associao dos Caboclos e Ribeirinhos da
Amaznia, para que faa sua interveno, por at quinze
minutos, anunciando, desde logo, que esta a ltima
interveno da manh de hoje.
A senhora est com a palavra.
*****
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
A SENHORA HELDERLI FIDELIZ CASTRO DE S LEO
ALVES (MOVIMENTO PARDO-MESTIO BRASILEIRO (MPMB) E
ASSOCIAO DOS CABOCLOS E RIBEIRINHOS DA AMAZNIA (ACRA)) -
Excelentssimo Senhor Ministro, na figura de quem eu
cumprimento toda a mesa. As observaes que faremos
resultam do trato de 2001, com idias e prticas de
polticas tnicas e raciais no Brasil e em outros pases.
Esta atuao nos faz ter a convico de que o Sistema de
Cotas para Negros, na UnB, no , a rigor, medida de ao
afirmativa.
Ele no visa combater discriminao racial,
de cor, de origem, nem corrigir efeitos de discriminaes
passadas, nem de assegurar os direitos e as liberdades
fundamentais de grupos tnicos e raciais, como exige a
Conveno Internacional Sobre Todas as Formas de
Discriminao Racial para distinguir uma medida especial de
uma medida de discriminao racial.
O Sistema de Cotas para Negros na
Universidade de Braslia, inversamente ao que defendia
Darcy Ribeiro, idealizador, fundador e primeiro reitor da
UnB, tem por base uma elaborada ideologia de supremacismo
racial que visa eliminao poltica e ideolgica da
identidade mestia brasileira e absoro dos mulatos, dos
caboclos, dos cafuzos e de outros pardos pela identidade
negra, a fim de produzir uma populao composta
exclusivamente por negros, brancos e indgenas.
Exige a UnB que "Para concorrer s vagas
reservadas por meio do sistema de cotas para negros, o
candidato dever ser de cor preta ou parda, declarar-se
negro e optar pelo sistema de cotas". Assim, as cotas da
UnB no se destinam a proteger pretos e pardos em si;
pretos e partos que se auto declarem mestios, mulatos,
caboclos so excludos do sistema de cotas da UnB; tambm
so excludos aqueles afro-descendentes que se auto
declaram negros, mas so de cor branca.
Para que estas cotas fossem medidas de ao
afirmativa seria necessrio que se identificassem como
negro fosse causa de discriminao racial, mas ao excluir
os auto declarados negros de cor branca das cotas a prpria
UnB tacitamente reconhece que somente identificar-se como
negro no expe uma pessoa a discriminaes raciais no
Brasil, como ocorre em outros pases. Do contrrio, a UnB
estaria tambm os discriminando.
Elas tambm no visam corrigir os efeitos
presentes da discriminao praticada no passado, pois neste
caso o segmento beneficiado seria em funo da
ancestralidade e no da cor e muito menos da
autodeclarao.
Por que, ento, a UnB, em vez de estabelecer
um sistema de ao afirmativa para todos os pretos e
pardos, decidiu excluir os pretos e pardos que no se
identificam como negros? A histria do racismo e,
especificamente, da mestiofogia, elucida as motivaes que
conduziram ao atual projeto racial para o povo brasileiro
implementado pelo Governo Federal.
A UnB no foi a primeira universidade
brasileira a veicular idias e a defender polticas
pblicas de base racial no Brasil. No sculo XIX e at
metade do sculo XX, em diversas universidades do pas e do
estrangeiro, idias racistas faziam parte do contedo
lecionado, refletido o poder da autoridade cientfica que
as universidades possuem, muitos, inclusive governantes e
legisladores, acreditavam que havia raas superiores em
inteligncia, em resistncia fsica, em aptides morais.
Ensinam, tambm, que seria um prejuzo para uma nao
formada por pessoas de suposta raa superior gerar filhos
mestios com pessoas de raa inferior.
Alguns racistas defendiam que o mestio
seria um ser intermedirio entre a raa superior e a
inferior; outros que seria inferior raa inferior. Esta
ltima corrente racista afirmava que o mestio,
diferentemente das raas superiores e inferiores, e por no
ser uma raa, seria um ser anormal, no adaptado a qualquer
ambiente, propenso a doenas fsicas e psicolgicas,
destitudo das melhores qualidades das raas que lhe deram
origem e tanto pior quanto mais se diferenciasse delas.
No Brasil, com grande e crescente populao
mestia, isto foi visto pelo racismo acadmico como um
problema que comprometeria as possibilidades de progresso
do pas. Nina Rodrigues defendia polticas criminais
diferenciadas racialmente. Sylvio Romero e Oliveira Viana
defendiam o desaparecimento gradual dos mestios pelo
branqueamento. O racismo teve tambm grandes opositores.
Intelectuais como Darcy Ribeiro e Gilberto Freyre
defenderam que a miscigenao no era um problema para o
Brasil, mas uma vantagem que, entre outras, formava a
identidade nacional e protegia a Nao dos conflitos
raciais e tnicos.
Em outros pases, os idelogos do racismo
forneceram o material para os discursos polticos que na
Alemanha levaram os nazistas ao poder e mestios a campos
de concentrao e a cirurgias de esterilizao. Na
Austrlia, mestios foram separados de suas mes
aborgenes. Na frica, foram segregados pelo apartheid. Nos
EUA, a partir do final do Sculo XIX, junto com leis
proibindo casamentos inter-raciais, organizaes racistas,
como a ku klux klan, conseguiram paulatinamente impor,
inclusive legalmente, uma inovao, a Regra da nica Gota,
pela qual uma gota de sangue africano faria com que uma
pessoa fosse classificada como Negro (palavra, tambm, que
existe no vocabulrio ingls). No censo dos EUA at 1920
no havia categoria Negro. Desde 1850, havia as categorias
Black (ou seja, preto) e Mulato. No censo de 1930, porm,
pela regra da nica gota, pretos e mulatos tiveram apenas
uma opo, Negro.
Estas normas visam delimitar espaos de
poder racial, da a necessidade de eliminar politicamente
e, tambm ideologicamente o mestio e a mestiagem. Apenas
em 1970, aps o assassinato de Martin Luther King, o termo
Black voltou ao censo; no censo de 2000, os mestios
conseguiram voltar a ser contados (e outra vez no censo dos
EUA deste ano).
No Brasil, seu primeiro censo oficial, de
1872, tinha para a varivel "cor/raa", as opes 'branca',
'preta', 'parda' e 'cabocla'; no censo de 1890, a opo
'parda' foi substituda por 'mestia', retornando o termo
'pardo' em todos os censos seguintes que tiveram o quesito
"cor/raa", passando a incluir tambm os mestios caboclos.
Assim, o censo brasileiro sempre trouxe um
espao para a expresso da identidade mestia. As opes
'preta' e 'branca' sempre constaram nos quesitos "cor/raa"
dos censos, os quais nunca trouxeram a opo 'negra'. Somar
'pretos' e 'pardos' e inclu-los numa categoria 'negra'
tornou-se, porm, uma reivindicao de movimentos negros,
inclusive junto ao IBGE.
Com o fim da II Guerra Mundial, a idia de
raa foi perdendo a credibilidade acadmica. No Brasil,
porm, os mestios passaram tambm a ser vistos como um
problema ideolgico e poltico. O socilogo Florestan
Fernandes, da Universidade de So Paulo (USP), afirma que
"dentro da populao negra e mestia no h homogeneidade.
Criar esta homogeneidade um problema preliminarmente
poltico".
Caberia levar o mulato "a aceitar sua
condio de negro". E questionava, "(...) Como fazer para
reeducar o mulato, como lev-lo a sair de um comportamento
egostico e individualista?" Antes havia uma raa superior
e uma inferior e os mestios deveriam ser miscigenados, at
no se diferenciarem de uma delas, a branca; agora, haveria
uma raa opressora e uma oprimida e os mestios deveriam
ser reeducados para identificarem-se com uma delas, a
negra.
O antroplogo Kabengele Munanga, da USP,
sobre o mesmo tema, assim se expressou: "Se no plano
biolgico, a ambigidade dos 'mulatos' uma fatalidade da
qual no podem escapar, no plano social e poltico-
ideolgico, eles no podem permanecer 'um' e 'outro';
'branco' e 'negro', e acrescentou; Construir a identidade
'mestia' ou 'mulata' que incluiria 'um' e 'outro' ou
excluiria um e outro considerado, por mestios
conscientes e politicamente mobilizados, como uma aberrao
poltica e ideolgica, pois supe uma atitude de
indiferena e de neutralidade perante o processo de
construo de uma sociedade democrtica".
Este modo de ver o mestio, porm, no
apenas marginalizador e moralmente ofensivo; ele tambm
leva a um preconceito de carter biolgico: seria normal o
branco ter identidade branca, o negro identidade negra, o
ndio identidade indgena, mas no o mestio ter identidade
mestia; ele seria um ser incompleto, necessitado da
identidade negra.
Chegam a atribuir ao mestio um risco de
problemas psicolgicos em funo de uma suposta
ambivalncia.
A prpria mestiagem, que em regra ocorreu e
ocorre no Brasil de forma harmoniosa, tambm passou a ser
apresentada de forma equivocada e negativa. Afirma um
etnlogo cubano com livro recentemente publicado no Brasil:
'o mestio surge nas sociedades violentadas e complexadas.
Ou seja, a inseminao violenta das fmeas do grupo
dominado pelo macho do grupo dominante e a eliminao
fsica dos machos do grupo dominado-conquistado'. Ou seja,
esto ensinando o mestio a ter vergonha de suas origens, a
negar o sangue de seu pai ou de sua me.
Estas depreciaes se reproduzem em
agresses morais fora do meio acadmico.
Tambm se refletiram no recente decreto do
Programa Nacional de Direitos Humanos, assinado pelo
Presidente Luiz Incio Lula da Silva, que determina a
incluso dos mulatos e dos pardos na categoria negra. Nisto
no h inovao: pelo Alvar Rgio de 4 de abril de 1755, o
rei de Portugal, D. Jos I, proibiu o emprego do termo
caboclo para os filhos mestios de portugueses e indgenas
e ns desaparecemos por dcadas dos documentos oficiais.
Estes discursos visando incorporao dos
pardos pelos negros ativeram-se aos mulatos e silenciaram
em regra sobre os milhes de caboclos do pas, cuja
populao possivelmente mais numerosa do que a preta
tambm nacionalmente. Na regio Norte, h cerca de 14
pardos (em sua maioria caboclos) para cada preto e aqui no
Centro-Oeste a proporo de cerca de 11 para 1. Mesmo no
Sudeste, onde a proporo entre pardos e pretos de 4 para
1, parte destes pardos so mamelucos. Mestios de brancos e
indgenas j habitavam o Brasil dcadas antes da chegada de
africanos.
Nossa Constituio assegura a valorizao da
diversidade tnica e regional e a proteo de todos os
grupos participantes do processo civilizatrio nacional. O
mestio brasileiro, organizando-se em associaes para a
defesa de sua identidade, tem esta reconhecida oficialmente
por leis como as que instituram o Dia do Mestio nos
Estados do Amazonas, de Roraima e da Paraba, e tambm o
Dia do Caboclo.
Contradizendo sua poltica interna, o Brasil
tornou-se signatrio dos documentos finais da Conferncia
Mundial contra o Racismo, Discriminao Racial, Xenofobia e
Intolerncia Correlatas, e de sua Conferncia de Reviso,
promovidas pela ONU em 2001 e 2009:
"Reconhecemos, em muitos pases, a
existncia de uma populao mestia, de origens tnicas e
raciais diversas, e sua valiosa contribuio para a
promoo da tolerncia e respeito nestas sociedades, e
condenamos a discriminao de que so vtimas,
especialmente porque a natureza sutil desta discriminao
pode fazer com que seja negada a sua existncia".
As prprias comisses de seleo, porm, tm
demonstrado que pardo no negro. Diversos casos tm sido
noticiados envolvendo duas pessoas com parentesco
sangneo, inclusive de gmeos idnticos, em que uma
aceita como negra e outra no. E tambm de excluso de
cotista quando j cursando a faculdade.
Desconhecemos um nico caso em todo o Brasil
no qual isto tenha ocorrido com dois parentes de cor preta;
todos os casos de que temos conhecimento ocorreram com
pessoas pardas. Informa a UnB que a sua comisso
responsvel pela deciso formada por representantes de
movimentos sociais ligados questo, especialistas no
tema. De movimentos negros, pois pardos no compem tais
comisses.
Cotas para estudantes provenientes das
escolas pblicas e carentes valorizam o ensino pblico, a
meritocracia, a solidariedade, estimula o investimento e
no o conflito racial. necessrio instituir o ensino
fundamental em perodo integral - Inclusive existe uma PEC,
a 94/03 no Senado, e seria muito interessante ser
implementada - e aumentar o nmero de vagas nas
universidades. Cotas raciais no custam um centavo ao
Governo.
Aes afirmativas no visam criar
diferenas, pelo contrrio, visam superar discriminaes
motivadas por diferenas. Visam levar cidadania, no a
relativizar. Harmonizam com a Constituio cidad que esta
Suprema Corte tem defendido.
Muito obrigada.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo a participao da Senhora
Helderli Fideliz Castro de S Leo Alves, do Movimento
Pardo-Mestio Brasileiro e da Associao dos Caboclos e
Ribeirinhos da Amaznia (ACRA).
*****
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
ENCERRAMENTO DA SESSO OCORRIDA PELA MANH
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Encerradas as apresentaes da
manh do terceiro dia da V Audincia Pblica do Supremo
Tribunal Federal, registro e agradeo a presena do ilustre
e eminente Ministro Joaquim Barbosa, desta Casa, da Doutora
Deborah Duprat, Vice-Procuradora-Geral da Repblica, na
pessoa de quem cumprimento os membros do Ministrio
Pblico. Agradeo a presena dos palestrantes: do Professor
Fbio Konder Comparato, da Professora Doutora Flvia
Piovesan, da Senhora Denise Carreira, do Senhor Marcos
Antonio Cardoso, da Doutora Sueli Carneiro, do Senhor Juiz
Federal Carlos Alberto da Costa Dias, do Doutor Roberto
Ferreira Milito, Jos Carlos Miranda, da Senhora Helderli
Fideliz de Castro de S Leo; tambm a presena do Juiz
Federal Marcelo Guerra, na pessoa de quem cumprimento os
demais magistrados presentes; e tambm sado a Professora
Mnica Herman, que a Chefe da Ps-Graduao da Faculdade
de Direito da Universidade de So Paulo. Cumprimento as
demais autoridades presentes, os servidores da Corte e
todos que nos honraram com sua participao.
Est encerrada esta sesso. Retornaremos s
14h00 para a continuidade dos trabalhos. Obrigado.
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS FILHO
(MESTRE DE CERIMNIAS) - Queremos solicitar a gentileza de
todos os palestrantes e ouvintes que porventura no
retornaro no perodo da tarde que devolvam o crach ao
pessoal do cerimonial na sada.
*****
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS FILHO
(MESTRE DE CERIMNIAS) - Senhoras e Senhores, eu peo a
todos que ocupem imediatamente seus lugares para darmos
incio aos trabalhos. Pedimos, ainda, a gentileza que, a
partir desse momento, os telefones celulares sejam mantidos
desligados. Boa-tarde a todos.
As audincias pblicas organizadas pelo
Supremo Tribunal Federal seguem formalidades para sua
viabilizao. Assim, em respeito s tradies desta Corte e
aos argumentos defendidos pelos palestrantes, no sero
permitidos aplausos, vaias, cartazes, faixas, camisetas ou
outras formas de manifestaes relativas ao tema a ser
debatido.
Solicitamos a todos que fiquem de p para
recebermos o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Relator
da ADPF n 186, do RE n 597.285/RS; Senhor Ministro
Joaquim Barbosa; Senhora Ministra Crmen Lcia; Doutora
Deborah Duprat, Vice-Procuradora-Geral da Repblica.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Boa-tarde a todos. Vamos sentar,
por favor.
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS FILHO
(MESTRE DE CERIMNIAS) - Solicitamos, ainda, que atentem
para a limitao de tempo de quinze minutos oferecidos a
cada palestrante, considerando que ao final desse tempo o
udio ser automaticamente cortado. Informamos que o
cronmetro situado no fundo do auditrio ser acionado ao
incio de cada palestra, para evitar incorrees
relacionadas contagem do tempo.
Com a palavra o Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Declaro reaberta a sesso de
audincia pblica para ouvir o depoimento de pessoas
especialistas e autoridades em matria de Polticas de Ao
Afirmativa no Ensino Superior.
Ns todos sabemos, estamos aqui,
especialmente os senhores, que nos honram com a presena, e
as Senhoras tambm, para subsidiar esta Suprema Corte no
julgamento da ao de Arguio de Descumprimento de
Preceito Fundamental n 186 e no Recurso Extraordinrio n
597.285/RS, em que se discute exatamente as aes
afirmativas nas universidades federais, ou nas
universidades pblicas.
Quero registrar, de incio, o meu
agradecimento e minha honra pela presena da eminente
Ministra Crmen Lcia, que tem acompanhado os trabalhos
atravs da TV Justia. Por excesso de tarefas que tem, no
pode comparecer pessoalmente, mas agora nos honra, na
ltima sesso desta audincia, com a sua presena fsica.
Agradeo, tambm, a reiterada participao do eminente
Ministro Joaquim Barbosa, conforme disse hoje de manh, um
dos grandes especialistas sobre o tema, inclusive publicou
livro a respeito do assunto. Alis, a Ministra e Professora
Crmen Lcia tambm tem escrito sobre a matria. A sua
contribuio tem sido bastante procurada e bastante citada
por todos aqueles que se dedicam a esse assunto, a esse
tema.
Reiniciando os trabalhos, ns vamos ouvir,
agora, em primeiro lugar, a manifestao do Professor Alan
Kardec Martins Barbiero, da Associao Nacional dos
Dirigentes das Instituies Federais de Ensino Superior -
ANDIFES.
Est com a palavra, poder falar do plpito
e dispor de quinze minutos.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR ALAN KARDEC MARTINS BARBIERO
(ASSOCIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIES
FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES) - Boa-tarde a todos,
Excelentssimos Senhores Ministros, Ministra e demais
autoridades.
Primeiramente, a ANDIFES que representa
cinquenta e nove instituies federais de ensino superior,
dentre as quais todas as universidades federais, gostaria
de enaltecer e parabenizar o Supremo Tribunal Federal pela
iniciativa desta audincia pblica.
O debate sobre este tema, sobre as
populaes historicamente excludas requer uma reflexo
profunda na sociedade brasileira e ainda h necessidade de
diversos espaos para este debate; este um espao
privilegiado. Gostaria de falar sobre as experincias das
universidades federais, principalmente, sobre pontos
positivos alcanados, dificuldades e, por fim, a posio da
nossa Associao, da ANDIFES com relao s aes
afirmativas.
Ns fizemos um levantamento nas nossas
instituies e vimos uma quantidade grande de iniciativa de
aes afirmativas implantadas no Brasil. Pudemos perceber
que estas experincias apontam aspectos positivos como, por
exemplo, a promoo da insero social de segmentos
historicamente excludos. perceptvel pelos dados
apresentados por diversas instituies que ampliamos a
participao de populaes negras, afrodescendentes,
populaes indgenas como tambm categorias sociais de
baixa renda. Percebemos, tambm, como um ponto positivo, a
promoo do debate sobre as questes tnico-raciais no
Brasil. interessante perceber como este debate, aps a
introduo de cotas em algumas universidades, passou a ter
uma dimenso maior. As cotas para as mulheres nos partidos
polticos para as candidaturas talvez no tenha suscitado
tanto debate quanto as cotas para os afrodescendentes,
populaes indgenas ou mesmo de escola pblica no Brasil.
Ento a implantao dessas aes tem fomentado o debate, o
que j um grande ganho para a nao.
Vimos, tambm, que houve uma contribuio
na concepo e implantao do aprimoramento de algumas
polticas pblicas, comisses especiais de polticas de
igualdades raciais, como, por exemplo a CEPIR, que cada
instituio universitria hoje tem, em sua organizao,
ajudado a implementar o debate sobre polticas pblicas
sobre essa temtica.
Vimos, tambm, que essas aes so
implantadas aps uma discusso com a comunidade
universitria. As decises so colegiadas atravs dos
conselhos superiores de cada instituio. Ns publicamos
editais e definimos normas e regras para a implantao
dessas aes, com toda a transparncia e com o debate
necessrio. As propostas em implantao so diversas, ns
podemos perceber aes no sentido de abrigar cotas para as
populaes indgenas, a gente percebe isso em diversas
universidade federais da Regio amaznica, mas em outras
regies tambm, como a possibilidade de bonificao para
estudantes de escolas pblicas em uma determinada etapa do
vestibular ou, ento, cotas para afrodescendentes ou mesmo
portador de necessidades especiais. Isso varia de acordo
com a regio, de acordo com o nvel de amadurecimento de
cada instituio e com o debate realizado na comunidade
local.
Tambm percebemos um aspecto positivo que
foi a ampliao da produo cientfica sobre esta temtica.
Vrios grupos de pesquisa foram organizados nas nossas
universidades, com dados reais, hoje esto fazendo
discusso e teses de doutorados, dissertaes de mestrado
atravs desta experincia. Mas ns percebemos tambm
algumas dificuldades, e essas dificuldades aparecem no
levantamento que fizemos do conjunto das nossas
instituies. Primeiro, h uma incompreenso, uma
dificuldade de percepo por parte da sociedade, mesmo na
comunidade universitria, sobre a problemtica da
discriminao tnico-racial e socioeconmica no interior
das nossas instituies. Posso cita o meu exemplo, sou
Professor de Sociologia na Universidade em que sou reitor,
Universidade Federal de Tocantins, em todas as minhas da
Universidade em que sou Reitor, na Federal do Tocantis, em
todos os meus semestres eu coloco esse tema e vejo a falta
de informao, de compreenso, que os nossos alunos ainda
tem sobre esta temtica, por mais que ns estejamos
ampliando o debate.
E essa dificuldade de compreenso no se d
somente no conjunto das universidades porque as
universidade reproduzem o que acontece no pas. O pas,
ainda, debateu pouco esse tema.
Percebemos dificuldades no processo de
seleo dos cotistas em relao definio de critrios
para realizao de averiguaes, seja scio-econmico, seja
tnico-racial, at mesmo pela condio histrica do Brasil.
Podemos perceber que no imaginrio scio-
cultural do Brasil ainda predomina uma viso harmnica em
relao s relaes sociais estabelecidas entre negros,
brancos, indgenas, pobres, ricos. Ns temos uma percepo
e isso foi desenvolvido, inclusive, nas Cincias Sociais
algumas teorias para dar conta dessa possibilidade de uma
harmonia nessas relaes sem dar conta da dimenso e do
desafio que ns temos para incorporar populaes que
historicamente foram excludas.
H um desconhecimento, um certo
desconhecimento da populao brasileira, inclusive dos
elevados ndices de desigualdade tnico-racial e scio-
econmica no Brasil.
Isso foi identificado em praticamente todos
os relatrios das universidades federais. Mas eu gostaria
aqui de defender a posio da ANDIFES, a posio da
Associao que representa o conjunto de universidades. Ns
temos universidades que implantaram aes afirmativas, ns
temos universidades que no implantaram aes afirmativas.
Eu gostaria de evocar o princpio
constitucional que est no artigo 207. A Constituio
Federal diz o seguinte, verbis:
"Art. 207. As universidades gozam de
autonomia didtico-cientfica,
administrativa e de gesto financeira e
patrimonial, e obedecero ao princpio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extenso. "
Ns, aqui, estamos defendendo a autonomia
das universidades. Um tema que bastante caro para este
pas porque as nossas instituies so dinmicas e esto
inseridas em diferentes contextos econmicos, sociais,
polticos e culturais. E, muitas vezes, estamos
praticamente engessados em um situao normativa do pas
que no nos d a possibilidade de exercer plenamente a
autonomia. As aes afirmativas esto sendo implantadas nas
IFES, amparadas pelo princpio da autonomia; como o poder
de autonormao, dentro dos limites estabelecidos pela
Constituio.
Ns defendemos que a autonomia garante a
universidade de implantar as aes afirmativas como tambm
garante as universidades em no implant-las. E a forma
como essas aes sero implantadas ou no compete aos
conselhos superiores das nossas instituies.
Portanto, as IFES tem o direito de regular,
com normas prprias, situaes intencionalmente no
alcanadas pela lei, tendo em vista a garantir e proteger o
interesse para os quais foram criadas.
Gostaria de reforar esse debate sobre a
autonomia das universidades, um debate em que a Andifes
tem feito bastante ao longo de sua histria de vinte e um
anos. Mas ns estamos num momento em que h uma
possibilidade de alargarmos a autonomia e este Supremo
Tribunal Federal, seguramente, um espao importante para
o debate sobre esse princpio constitucional.
A ANDIFES, conforme determinao
constitucional, entende que as universidades brasileiras
so instituies normativas produtoras de direitos e
obrigaes, o poder de autodeterminao as individualizam,
bem como possibilitam a sua auto-organizao.
Gostaria, para terminar, para as pessoas
terem a percepo da complexidade da diversidade de dar
alguns exemplos que ns capitamos no conjunto das nossas
instituies.
Vamos ter outras apresentaes especficas
de algumas instituies que aplicam aes afirmativas, que
tm resultados positivos, como tambm identificamos aquelas
que no possuem essas aes.
Mas eu posso dar exemplos: a Universidade
Federal do Par destina cinquenta por cento de suas vagas
para os estudantes das escolas pblicas, dentre os quais
quarenta por cento para a populao negra.
A Universidade Federal de Roraima j reserva
vagas para as populaes indgenas. A Federal do Tocantins,
cinco por cento de suas vagas so para as populaes tambm
indgenas. J a Universidade Federal da Bahia reserva
quarenta e cinco por cento para as escolas pblicas, sendo
que trinta e sete ponto cinco, uma parte dessas vagas das
escolas pblicas para as populaes afrodescendentes.
Ns temos casos como, por exemplo, de vrias
universidades que esto destinando vagas, que no o caso
das aes afirmativas vinculadas situao tnico-raciais,
mas a portadores de necessidades especiais. Ns temos
inclusive um caso, para alguns cursos, em que h reserva de
vagas para mulheres, como em alguns cursos de engenharias
na Universidade Federal de Alagoas.
Ento, h uma diversidade muito grande de
aes das universidades. E defendemos o princpio da
autonomia, que cada conselho universitrio tenha a
condio, a capacidade de fazer uma reflexo, interagindo
com a sociedade, interagindo com os movimentos sociais,
observando a legislao de implantar a sua ao afirmativa,
ou no, da forma mais adequada, segundo a sua histria,
segundo a sua maturidade, segundo o debate que se faz no
dia-a-dia das nossas comunidades. Algo diferente disso
estaria ferindo um princpio constitucional.
essa a nossa apresentao das instituies
federais de ensino superior, aqui representadas pela
ANDIFES.
Muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado, Professor Alan Kardec
Martins Barbiero, que falou pela Associao Nacional dos
Dirigentes das Instituies Federais de Ensino Superior, e
traz a experincia dessas instituies, que deveras
importante, como todos podem entender.
Eu convido agora para fazer uso da palavra o
Senhor Augusto Canizella Chagas, que o Presidente da
Unio Nacional dos Estudantes, a histrica UNE.
O Senhor Augusto Canizella Chagas est com a
palavra por at quinze minutos.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR AUGUSTO CANIZELLA CHAGAS
(PRESIDENTE DA UNE) - Boa-tarde a todos e todas. Eu
gostaria de agradecer o Ministro Lewandowski, agradecer
pela meno da "histrica", quando se referiu nossa
entidade, e parabeniz-lo pela iniciativa desta audincia
to importante, que engrandece o debate sobre a democracia
brasileira e sobre o ensino superior no nosso Pas.
Cumprimento o Ministro e estendo o
cumprimento a todos os Ministros do Supremo, aos Ministros
presentes. Eu queria especialmente cumprimentar o movimento
negro brasileiro, as organizaes que lutam contra o
racismo no Brasil, que se mobilizaram com tanta qualidade
para vir participar desta audincia e exercer a legtima
presso em relao a um tema to fundamental.
Eu queria aproveitar do meu tempo para
apresentar um pouco a opinio dos estudantes do Brasil, a
opinio da UNE, opinio essa que so consolidadas dos
congressos que a Unio Nacional dos Estudantes realiza a
cada dois anos, e so nesses congressos que a UNE procura
tomar o seu posicionamento, o posicionamento defendido
pelos estudantes do Brasil a respeito desse tema da questo
das cotas, das polticas de reservas de vagas. E a UNE tem
uma posio favorvel a essas polticas. Essa uma posio
j consolidada h alguns anos nos congressos da UNE, a cada
perodo que temos enfrentado essa discusso nos fruns da
UNE esse tema tem ficado mais unnime. A cada congresso ns
percebemos que h uma unidade maior no movimento estudantil
brasileiro em relao a essa questo, e eu gostaria de
aproveitar o meu tempo para apresentar os elementos
fundamentais que levam a UNE a ter essa percepo e
construir essa opinio.
O primeiro deles, muito fundamental e que
tem muito da trajetria histrica da UNE, do que a UNE
sempre defendeu, isso foi tradio da nossa entidade dos
estudantes do Brasil, o debate a respeito da excluso que
o ensino superior no nosso Pas carrega, na sua estrutura e
na sua oferta de vagas. Se h uma caracterstica
fundamental da universidade no Brasil, esse um ttulo
negativo que ns carregamos, o ttulo de ser uma
universidade excludente. Isso ao longo de toda a nossa
histria, se pegarmos dados da dcada de 80, o Brasil
iniciava a dcada de 80 com aproximadamente sete por cento
dos jovens com a idade para estar na universidade, que
conseguiam acesso a essa matrcula, ns iniciamos o ano
2000 com pouco mais de dez por cento e entramos em 2010 com
o nmero treze vrgula nove por cento. Esse o ltimo dado
de ensino superior no Brasil, de jovens de 18 a 24 anos que
conseguem ter acesso a uma matrcula na universidade
brasileira. Esse um nmero muito baixo se comparado
inclusive a pases latino-americanos, pases vizinhos ao
nosso. O Chile, por exemplo, tem um nmero de trinta e um
por cento; a Bolvia tem um nmero de vinte e quatro por
cento; a Argentina tem um nmero de quarenta e dois por
cento; e, se compararmos com pases desenvolvidos, os
Estados Unidos superam o nmero de oitenta por cento e a
Europa supera sessenta por cento dos jovens conseguindo
ingressar na sua universidade.
Portanto, a universidade no Brasil carrega
essa marca de excluir boa parte da nossa juventude pela
ausncia de vagas, em especial de vagas pblicas. E essa
sempre foi uma luta da nossa entidade, a luta de expandir o
sistema pblico de educao superior, que a poltica mais
efetiva para o ingresso da maioria da juventude ao ensino
superior brasileiro.
O Professor Alan Kardec me antecedeu, e eu
queria fazer uma meno ao papel que a ANDIFES tem cumprido
nesses ltimos anos. O Brasil, agora em 2010, vai completar
um ciclo de duplicao da oferta das vagas pblicas nas
nossas universidades federais. o maior ciclo de expanso
que a universidade pblica brasileira j passou num perodo
de tempo to curto. Isso, na nossa opinio, muito
significativo e precisa ser acompanhado de uma poltica
efetiva que consiga permanecer nessa direo nas prximas
dcadas, para que o Brasil possa enfrentar essa situao.
Mas se verdade que o Brasil tem uma
universidade que exclui boa parte da sua juventude, acho
fundamental que possamos analisar quem so, portanto, esses
jovens que hoje conseguem ter acesso universidade
brasileira.
Para isso, procurei trazer aqui alguns
nmeros de uma das universidades mais concorridas do nosso
Pas, a Universidade de So Paulo - USP. Nos dados da
FUVEST, agora de 2009, um vestibular que mobiliza, se no
me engano, mais de cem mil inscritos nesse ltimo
vestibular, em nmeros gerais, uma quantidade enorme de
jovens que disputam o ingresso Universidade de So Paulo
e a algumas outras universidades atravs desse
instrumento. Importante compararmos alguns dados sobre quem
so esses jovens que hoje se inscrevem no vestibular, quais
so esses aprovados. Tomei a liberdade de pegar os dados do
curso de Medicina, um dos cursos mais disputados das
universidades brasileiras. Se pegarmos, por exemplo, os
dados sobre quantos estudantes fizeram algum tipo de
cursinho pr-vestibular, veremos que os dados da
FUVEST/2009, apresentam que mais de cinquenta e dois por
cento dos inscritos fizeram algum tipo de cursinho pr-
vestibular: dos aprovados, so mais de sessenta e quatro
por cento, na Universidade de So Paulo que fizeram algum
curso pr-vestibular; e no curso de Medicina: mais de
noventa e um por cento, dos jovens que tiveram acesso a um
cursinho pr-vestibular; que vieram de escola particular do
ensino fundamental: dos inscritos, mais de cinquenta e
quatro por cento, dos aprovados, mais de sessenta e um por
cento; em Medicina: mais de setenta e um por cento; do
ensino mdio de escola particular: dos inscritos, mais de
sessenta e dois por cento, dos aprovados, mais de sessenta
e sete por cento; e na Medicina: mais de setenta e dois por
cento. O pai com ensino superior: dos aprovados, mais de
sessenta e quatro por cento; no curso de Medicina, mais de
setenta e oito por cento. Os que se reconhecem enquanto
brancos: dos inscritos, so mais de setenta e cinco por
cento dos inscritos na FUVEST de 2009; dos aprovados, so
mais de setenta e sete por cento; e dos aprovados em
Medicina: so mais de setenta e seis por cento. Aqueles que
so considerados pobres pela sua condio socioeconmica:
dos inscritos, so apenas pouco mais de vinte e um por
cento; dos aprovados, so doze por cento; e na Medicina:
so pouco mais de cinco por cento os pobres aprovados nesse
vestibular.
Importante tambm que faamos um recorte
racial desta questo, que um tema fundamental aqui tambm
desta Audincia, e procurei ter acesso a alguma informao
em relao Universidade de So Paulo. Eu tive acesso a um
estudo de 2001, que foi o primeiro senso tnico-racial da
USP, o qual apresenta que, dos estudantes da USP que se
consideram de cor preta, apenas um vrgula trs por cento,
e pardos, apenas oito vrgula trinta e quatro por cento dos
estudantes da Universidade de So Paulo.
Os ltimos dados do IBGE apontam que a
populao da regio Sudeste que se considera com essa cor
de pele supera os quarenta por cento da populao - no
Brasil, mais de quarenta e quatro por cento. Os que se
consideram amarelos nove vrgula oitenta e quatro por
cento, que se consideravam brancos em 2001, setenta e nove
vrgula cinco por cento dos estudantes da Universidade de
So Paulo. Procurei apresentar esses nmeros aqui, mesmo
verbalizando apenas eles, para dizer que eu acho que um
dado inquestionvel, que a universidade brasileira. Este
um recorte da USP, que uma universidade muito
concorrida, uma das universidades mais disputadas para se
ingressar no Brasil. Mas que tenho a impresso que agente
poderia estender essa comparao ao conjunto das
universidades pblicas brasileiras, minimizando um pouco
essas informaes e por que no o conjunto da universidade
brasileira. Mesmo as universidades privadas, porque sabemos
que a grande maioria, a, sim, j h uma democratizao do
acesso, mas ainda assim os dados de acesso universidade
brasileira so muito concentrados. A realidade da
universidade do brasil que uma universidade elitizada e
uma universidade branca em relao ao nmero da maioria da
nossa populao. E, diante de uma situao como essa, esse
o debate fundamental, que penso que estamos fazendo ao
debater esse tipo de poltica, nessa audincia; avaliar
como enfrentar esse problema sociedade brasileira. Quando
se depara com essa situao, ela pode avaliar em se
contentar, em acreditar que em 20, 30, 50, 100 anos vamos
poder enfrentar e minimizar esses nmeros aqui, como temos
feito nos ltimos 50 anos, ou ns no vamos nos contentar e
vamos pensar em polticas que possam enfrentar essa
situao, democratizar o acesso universidade brasileira.
E dessa maneira precisamos debater justamente esse
instrumento que hoje oferece acesso s matrculas da
universidade, no Brasil, que o vestibular. O vestibular,
que um instrumento que procura apresentar os seus
elementos como sendo um instrumento de seleo de mrito,
como mrito individual do estudante que, em iguais
condies, disputa com outros estudantes, no um
instrumento que apresenta essa caracterstica. O vestibular
hoje - e os nmeros da Universidade de So Paulo mostram
isso - um instrumento que seleciona social e
economicamente os jovens brasileiros. Ele oferece acesso
maioria dos jovens que tiveram acesso a boas escolas
privadas e oferece acesso aos jovens que tiveram acesso a
bons cursinhos pr-vestibulares. Esse um instrumento do
vestibular que, na nossa opinio, precisamos questionar.
Por isso que UNE defende o fim do vestibular; por isso que
a UNE defende a ampliao da oferta de matrculas na rede
pblica brasileira e por isso que a UNE defende as
polticas afirmativas: alternativas que tm sido
construdas no Brasil para mudar esse cenrio, como tm
sido as cotas raciais, as reservas de vagas que vrias
universidades pblicas brasileiras tm adotado e como tem
sido o PROUNI, que tambm um instrumento que seleciona
social e economicamente jovens pra ingressarem na
universidade, ainda que na universidade privada. A UNE teve
a oportunidade de realizar uma srie de encontros de
estudantes prounistas e ali tivemos a oportunidade de
conhecer pessoalmente essa realidade. So jovens pobres.
Jovens que, se a gente pegar o nmero, por exemplo, e
comparar com esses de quantos pais tiveram a oportunidade
de concluir o ensino superior, vamos ver que os jovens do
PROUNI, os estudantes matriculados atravs do PROUNI, no
chegam a 10% dos pais ou mes que tiveram acesso ao Ensino
Superior brasileiro e, portanto, um programa que consegue
mudar a lgica desse ciclo - que infelizmente a histria
do Ensino Superior brasileiro carrega.
por isso que ns defendemos essas
polticas; por isso que a opinio da UNE, o projeto de
reforma universitrio da UNE - inclusive tramita no
Congresso Nacional - defende uma proposta objetiva: na
opinio da UNE, deveria ser atravs de um projeto de lei,
atravs de fora da lei; garantir que as universidades
federais brasileiras tivessem o acesso de 50% das suas
vagas para estudantes oriundos das escolas pblicas e que,
pra dentro desta reserva, pudesse garantir as cotas raciais
de acordo com as populaes que o IBGE identifiquem em cada
Estado da Federao. Na nossa opinio, essa poderia ser uma
poltica nacional que poderia enfrentar essa realidade.
Para finalizar - nos meus ltimos trs
minutos - eu queria apenas rapidamente enfrentar alguns
argumentos que, na opinio da UNE, so frgeis pra
contestar essas polticas e pra dizer que essas polticas
no deveriam ser adotadas. Um dos critrios o critrio do
dio racial, da diviso da nao. Eu gostaria de respeitar
esse critrio, porque, quando se fala em diviso da unidade
nacional, diviso da identidade de um povo, ns estamos
falando de algo muito srio, algo muito caro para uma
nao, mas, na opinio da Unio Nacional dos Estudantes, o
Brasil no enfrenta essa possibilidade. O povo brasileiro
um povo miscigenado, o povo brasileiro um povo tolerante
por essncia e na nossa opinio no existe um histrico de
dio racial, de diviso, de enfrentamento nesse sentido, e
essas polticas, na nossa opinio, no desencadeariam esse
problema, assim, racismo no Brasil; assim, preconceito;
assim, excluso dos espaos de poder e so necessrias
polticas efetivas para enfrentar essa situao.
E um outro argumento que eu gostaria de
questionar o argumento da qualidade. Quando se iniciou o
debate sobre essas polticas no Brasil, em especial quando
o PROUNI foi implementado e se comeou a buscar, e as
quotas, tambm, quando se comeou a buscar mecanismos que
no s o vestibular, para oferecer matrcula no ensino
superior brasileiro, uma parte veio com um discurso,
apresentando que isso iria acabar com a qualidade do ensino
superior brasileiro, e que esses estudantes que tivessem
ingresso atravs dessas polticas, no conseguiriam
acompanhar o desempenho dos demais. Esse tambm um
argumento que veio por terra, um argumento que naufragou,
essa no a realidade. Todos os estudos com estudantes que
tiveram ingresso universidade atravs dessas polticas,
em que pese que uma srie de casos mostra, sim, que eles
tm alguma dificuldade no estudo de matemtica, at no
estudo de portugus, e so necessrias polticas para
enfrentar essa situao, mas do ponto de vista do
desempenho desses estudantes todas as comparaes mostram
que esses estudantes, pela oportunidade que tm, para
assegurar essa oportunidade, com afinco se dedicar a esses
cursos, eles tm desempenho equivalente ou at superior aos
demais estudantes. Portanto, esse argumento, na nossa
opinio, ele tambm no legtimo para dizer que essas
polticas no devem ser implementadas. Por isso que a UNE
traz aqui essa opinio, e assim eu encerro e encerro
dizendo que para aqueles que acreditam que essas polticas
poderiam dividir a Nao, pelo contrrio, na nossa opinio,
a construo da unidade nacional, da identificao do nosso
povo, da construo da verdadeira democracia brasileira ela
vai se dar com igualdade de oportunidades a todos os
brasileiros e por isso que a UNE defende essas polticas
e espera que as interpretaes deste Tribunal no prximo
perodo sejam positivas.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo a fala do Presidente da
UNE, Augusto Canizella Chagas, que traz o testemunho dos
estudantes brasileiros.
Convido, agora, a fazer uso da palavra o
Professor Joo Feres, que Mestre em filosofia poltica
pela UNICAMP, Mestre-Doutor em cincia poltica pela City
University de Nova Iorque, Professor do Instituto
Universitrio de Pesquisa do Rio de Janeiro.
Assinalo, tambm, novamente, a grata
presena da Vice-Procuradora-Geral de Repblica, Doutora
Deborah Duprat, que tem nos acompanhado desde o incio dos
trabalhos e concedo a palavra ao Professor Joo Feres por
at quinze minutos.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR JOO FERES (PROFESSOR DO INSTITUTO
UNIVERSITRIO DE PESQUISAS DO RIO DE JANEIRO -IUPERJ) -
Excelentssimos Ministros Lewandowski, Joaquim Barbosa,
Crmen Lcia, Vice-Procuradora Deborah Duprat e demais
presentes.
"Antes de qualquer coisa, gostaria
de agradecer a iniciativa dessa corte de
ouvir a sociedade ao julgar uma das questes
mais candentes do debate pblico atual em
nosso pas: as polticas de ao afirmativa.
Sou cientista poltico, e estudo a ao
afirmativa desde sua implantao em 2003.
Concentro minha pesquisa nos fundamentos
filosficos, tericos e jurdicos dessa
poltica e tambm no debate pblico sobre
ela. Na ocasio presente, gostaria de
oferecer alguns argumentos que a meu ver so
cruciais para o assunto em questo, mas que
nem sempre aparecem explicitados claramente
no debate pblico. Eles dizem respeito a 3
tpicos especficos:
1. A justificao das polticas de
ao afirmativa;
2. Estado, cidadania e ao
afirmativa
3. Raa e polticas pblicas
1. A JUSTIFICAO DAS POLTICAS DE
AO AFIRMATIVA
As polticas de ao afirmativa para
grupos tnicos foram criadas pela primeira
vez na ndia, com a constituio de 1950, e
no nos EUA, como muitos acreditam.
Historicamente, em todos os contextos
sociais e polticos em que foi implantada
essa poltica, ela se baseou em trs
justificaes bsicas: reparao, justia
social e/ou diversidade. No Brasil no
diferente, ainda que aqui o argumento da
diversidade no seja to popular como os
outros dois.
O importante notar que essas
justificaes se assentam em bases
argumentativas diversas. A reparao
talvez a mais popular delas" - como j
ouvimos muito aqui nesta audincia - "Seu
fulcro a ideia de que uma injustia
profunda foi cometida no passado de uma
nao e de que, portanto, medidas
reparatrias devem ser tomadas para dirimir
essa injustia. Ou seja, esse argumento
requer uma interpretao do passado
histrico de nosso pas. No caso dos negros
no Brasil, essa injustia foi a escravido.
O fato de que alguns poucos senhores de
escravos tenham sido negros, ou que os
africanos foram tambm escravizados por
outros africanos no diminui em nada o
horror perpetrado contra a populao
africana e seus descendentes em nosso pas.
Basta notarmos que os brancos no foram
escravizados e seus descendentes no
sofreram discriminao racial ao longo da
nossa histria, para nos dar conta dessa
injustia.
Cada argumento de justificao
aponta para um tipo de beneficirio. No caso
da reparao que advm do crime de
escravido, os beneficirios devem ser os
afrodescendentes, ou seja, aqueles que
descendem dos africanos trazidos para c na
qualidade de escravos. As polticas de
reparao podem ter vrios desenhos, alguns
melhores que outros, bvio. Por exemplo, o
pagamento de restituio em espcie, em
dinheiro esbarra no problema da
identificao de beneficirios e de pagantes
em uma populao, como a nossa, por exemplo,
que j est muitas geraes distantes do
crime original. Por isso que, como argumenta
Andrew Valls, polticas de promoo de
igualdade e oportunidade, como aes
afirmativas, seriam mais adequadas para a
consecuo desse objetivo, do objetivo da
reparao. Como por razes prticas e
ticas, a identificao direta dos afro-
descendentes - por exemplo, testes genticos
- no deve ser feita, razovel que
adotemos a categoria negro, preto ou pardo
para os beneficirios. Essas categorias
funcionam como proxys - como se diz aqui em
estatstica -, por ser alta a probabilidade
de que as pessoas que hoje assim se
identificam sejam de fato descendentes de
escravos.
As categorias preto, pardo, trazem a
vantagem adicional de melhor atender ao
segundo argumento, da justia social. Ao
contrrio da reparao, o argumento da
justia social prescinde de uma
interpretao da histria da nao. Para
justificarmos a ao afirmativa estatal,
basta constatar que em nossa sociedade
grupos especficos de pessoas so
sistematicamente marginalizados e alijados
das posies de maior prestgio e afluncia.
Se assumirmos a premissa de que os seres
humanos so em mdia potencialmente iguais,
somos forados a concluir que esse estado de
marginalizao constitui uma injustia em
si, como John Ross argumenta, a despeito do
processo histrico que o produziu. Sabemos
que em nossa sociedade, como em outras,
temos conhecimento prtico disso, grupos so
marginalizados, devido a preconceitos
culturais, de gnero e tambm raciais.
claro que a "descoberta" recente da biologia
molecular de que raa no um conceito
cientificamente consistente no diminui em
nada os efeitos sociais do racismo e do
preconceito racial. S para dar um exemplo:
a cultura tambm no est inscrita em nossos
genes, no entanto, o dio diferena
cultural tem consequncias graves onde quer
que eles se instaurem. Um exemplo recente
a guerra da Bsnia, o genocdio dos
muulmanos na Bsnia, aquilo preconceito
cultural.
Polticas de igualdade de
oportunidades, como ao afirmativa, so as
mais adequadas para combater a injustia
social, que marginaliza grupos por meio de
preconceito racial. Resta saber, no caso em
questo, se o preconceito racial que existe
em nosso pas contra negros de fato gera
marginalizao. Os dados sobre desigualdade
produzidos por socilogos e economistas nos
ltimos trinta anos so evidncia mais do
que razovel de que essa marginalizao de
fato ocorre e de que significativa. Cito o
IPEA: "Pretos e pardos... tm menos que a
metade da renda domiciliar per capita dos
brancos".
E aqui eu gostaria de chamar ateno, porque
muito importante quando se est julgando e concebendo
polticas pblicas de atentar para dados estatsticos que
levem em conta todo a populao e no ficarmos nos atendo a
histrias, anedotas, porque histrias e anedotas s falam
de um caso e no dizem nada sobre a sociedade em geral.
O argumento de que a desigualdade no Brasil
de classe e no de raa parece primeira vista muito
convincente, mas no verdadeiro. Ele falsificado por
estudos de mobilidade social, que mostram o qu?
1. Para o mesmo nvel de renda, ou seja,
mesma origem social, brancos tm probabilidade de ascenso
bem maior que pretos e pardos.
Cito Nelson do Valle autoridade no assunto:
a. "Brancos so muito mais eficientes em
converter experincias e escolaridade em retornos
monetrios, enquanto que os no-brancos sofrem desvantagens
crescentes ao tentarem subir na escala social".
Carlos Hasenbalg, outra autoridade no
assunto:
As probabilidades de fugir s limitaes
ligadas a uma posio social baixa so consideravelmente
menores para os no brancos, ou seja, pretos e pardos, que
para os brancos de mesma origem social. Em comparao com
os brancos, os no-brancos sofrem uma desvantagem
competitiva em todas as fases do processo de transmisso do
status.
muito importante atentarmos para dados de
mobilidade, porque muitas vezes as pessoas s falam de
dados de desigualdade, que podem contra-argumentar que eles
so causados pela condio inicial de desigualdade da
escravido.
A diferena de mobilidade social mostra que
na sociedade atual existe, sim, discriminao, tratamento
desigual, baseado em raa. Por isso que importante a
mobilidade social.
"Portanto, polticas de ao
afirmativa de vis tnico/racial tm por fim
combater a injustia produzida pela
discriminao racial. Do ponto de vista
prtico, as categorias mais adequadas para
se identificar beneficirios so, a meu ver,
preto e pardo, pois os dados que temos
colhido em nossa sociedade sobre
desigualdade racial, mormente pelo IBGE,
utilizam exatamente essas categorias."
E mostram uma coisa muito importante para a
gente saber que, a despeito de uma ideia de contnuo de
raas, no Brasil, existe uma defasagem imensa, um fosso
entre o nvel socioeconmico de brancos e o nvel
socioeconmico de no brancos, de pretos e pardos.
Por isso, importante que as polticas de
aes afirmativas incluam pretos e pardos, que so uma
parte significativa da populao que tem o nvel
socioeconmico inferior ao dos brancos.
"A ttulo de concluso do tpico,
gostaria de chamar ateno para o fato de
que as trs justificaes - eu no vou falar
de diversidade, Leonardo Avritzer, eu acho
que ele falou o suficiente aqui - no so
mutuamente excludentes - reparao de
justia social e diversidade - e, sim, na
maioria das vezes, complementares. Uma
poltica de ao afirmativa para a incluso
de pretos e pardos na universidade cumpre o
objetivo de reparar (em parte) - obviamente
- as consequncias nefastas da escravido e
de promover a justia social e a
diversidade.
Agora peo que nos voltemos para a
questo da relao entre Estado, cidadania e
ao afirmativa. As polticas de ao
afirmativa tm sido acusadas de violar o
princpio republicano da igualdade de todos
perante a lei, de constituir uma
interferncia maligna do Estado nas relaes
sociais e de provocar a racializao da
nossa sociedade e o aumento do conflito
racial inclusive no texto da ADPF que agora
apreciamos.
Polticas de ao afirmativa so
baseadas no princpio da discriminao
positiva - isso precisa ser dito - que
funciona como uma violao tpica, ou seja,
limitada, da igualdade formal - isso tambm
verdade, como diz Iris Marion, por sinal
Quase todas as polticas do Estado
de Bem-Estar Social operam da mesma forma:
distribuem recursos (pblicos) que pertencem
igualmente a todos, num primeiro momento, de
maneira desigual para promover o bem geral,
o interesse comum, ou mesmo o interesse
nacional. No h portanto, bases para se
argumentar que a ao afirmativa
inconstitucional porque ela opera um tipo de
discriminao. Se assim procedermos,
estaremos igualando discriminao positiva e
discriminao negativa, seremos obrigados a
declarar como inconstitucionais tambm as
polticas do BNDES, do Bolsa Famlia e
demais aes estatais que operam
estritamente por meio da discriminao
positiva.
Excelentssimos ministros, crucial
reconhecermos no plano moral e legal a
distino entre discriminao negativa,
aquela que tem por fim o malefcio daqueles
que so discriminados, e a discriminao
positiva, aquela que tem por objetivo
promover aqueles que se encontram em
situao de marginalizao social. No
concebvel que nos aferremos a um sistema
moral incapaz de distinguir, por exemplo, a
ao de confinar um grupo de pessoas em
campos de concentrao e extermin-las
coletivamente em cmaras de gs, da ao de
dar maiores oportunidades de educao para
um grupo ao qual esteve alijado do espao
universitrio na histria do nosso Pas.
Essas so medidas radicalmente opostas.
Se no fizermos tal distino,
seremos obrigados a reconhecer como justo
somente o estado mnimo do liberalismo
clssico, que brutalmente cego s
desigualdades sociais e frontalmente
contrrio ao esprito da nossa Constituio
Federal.
RAAS E POLTICAS PBLICAS
Por fim, temos a questo da
racializao e do conflito racial. Meus
estudos sobre o debate pblico mostram que
esse argumento o mais frequentemente usado
contra a ao afirmativa em nosso Pas, e
tambm um dos pilares da argumentao da
ADPF ora em debate. Esse entretanto, um
pilar de barro.
Ora, a afirmao de que a ao
afirmativa promove a racializao e o
aumento ou criao de conflito racial um
argumento descritivo, e, portanto, passvel
de ser comprovado ou falsificado por
evidncia emprica. As polticas de ao
afirmativa j esto em funcionamento h mais
de seis anos em nosso Pas, sem produzirem
qualquer sinal de aumento do conflito
racial, seja na universidade ou fora dela.
Pelo contrrio, o que vemos so os
testemunhos de reitores - como hoje - e
administradores pblicos atestando os
efeitos benficos da democratizao do
espao universitrio trazidos por essas
polticas."
Isso tambm verdade nos Estados Unidos.
Isso tambm verdade na ndia. No razovel argumentar
que ao afirmativa causou ou aumentou a racializao e o
conflito racial em qualquer um desses contextos nacionais.
"Tambm no claro que a ao
afirmativa promova a racializao das
relaes sociais em nosso pas. Desde sua
implementao, no h sinais de que isso
esteja ocorrendo. Tal argumento tambm sofre
de uma contradio interna, pois, se a
identidade racial brasileira contextual e
elstica, como querem muitos opositores da
ao afirmativa tnico/racial, ento nada
indica que o simples fato de algum optar
pela cota no ato da inscrio do vestibular
v redefinir sua identidade racial para o
resto da vida."
Pelo contrrio, intuitivamente somos levados
a crer que as pessoas tendero a desfrutar o direito
oferecido a elas, sem ter que passar por algum tipo de
converso identitria. Ademais, a despeito do alvoroo que
se faz acerca da mirade de categorias raciais que os
brasileiros se auto atribuem, vrios trabalhos sociolgicos
j mostraram que as identidades raciais estatisticamente
significativas, ou seja, aquelas que so usadas pela
maioria da populao brasileira, se aproximam
impressionantemente das categorias adotadas pelo IBGE:
branco, preto e pardo.
O prprio IBGE utiliza essas categorias
censitrias - isso importante notar tambm -, com quase
nenhuma alterao - como foi mostrado aqui hoje -, desde do
final o sculo retrasado. Ser que devemos interpretar isso
- como quer, inclusive, uma das pessoas que foi arrolada
como autoridade sobre relaes raciais na ADPF - como uma
prtica de racializao da sociedade conduzida pelo Estado,
o fato de o IBGE usar as categorias raciais? Acho que no.
Sem a utilizao de tais categorias, no teramos sequer
dados para auferir a desigualdade racial em nosso pas, e,
portanto, faltariam bases slidas para agirmos contra ela.
Se tomarmos uma perspectiva histrica
comparada, veremos que as aes afirmativas tico-raciais
foram adotadas por pases que passaram por processos de
refundao democrtica, mais ou menos radicais. Esse foi o
caso da ndia, ao se libertar do colonialismo britnico.
Foi o caso dos Estados Unidos com o Movimento dos Direitos
Civis; o caso da frica do Sul, com o final do Apartheid; e
esse, tambm, o caso do nosso Brasil democrtico, surgido
na luta contra a ditadura militar, e que tem como marco
definitvo - ou pelo menos at agora definitivo - a Carta de
1988.
O esprito de reforma social, consagrado na
nossa nova Constituio continua a inspirar a luta por
direitos e pela realizao do sonho democrtico da
igualdade. As polticas pblicas so um instrumento
poderoso por meio do qual o Estado responde a esses anseios
da sociedade. Elas lidam como material humano, imperfeito e
inexato como ele , e por isso requerem responsabilidade,
mas tambm coragem e ousadia para a experimentao.
Peo aos Ministros que, nessa hora de suma
importncia, no se deixem levar pela retrica da ameaa da
futurologia sem fundamentos, que s pode ter como
consequncia o imobilismo social e a continuao das
mazelas que j tanto nos afligem e impedem nosso de cumprir
o seu destino.
Obrigado!
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado Professor Joo Feres,
Professor do Instituto Universitrio de Pesquisas do Rio de
Janeiro.
O eminente Professor nos traz um texto, e eu
peo licena para que o divulguemos pela Internet. Se o
senhor, eventualmente, tiver isto em meio eletrnico
facilitaria bastante essa divulgao j no site do Supremo
Tribunal Federal.
O SENHOR JOO FERES (PROFESSOR DO INSTITUTO
UNIVERSITRIO DE PESQUISAS DO RIO DE JANEIRO -IUPERJ) - J
passei.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Pois no. Muito obrigado!
Convido, agora, a fazer uso da palavra o
Professor Renato Hyuda de Luna Pedrosa, Coordenador da
Comisso de Vestibulares da Universidade Estadual de
Campinas, Unicamp, e que falar por at quinze minutos,
tambm.
Pediria a todos os presentes que faam o
mximo de silncio, por gentileza, porque estamos gravando
e transmitindo ao vivo esta sesso.
Muito obrigado!
Com a palavra professor.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR RENATO HYUDA DE LUNA PEDROSA
(COORDENADOR DA COMISSO DE VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS) - Excelentssimo Senhor Ministro
Ricardo Lewandowski; Excelentssima Senhora Ministra Crmen
Lcia; doutora Deborah Duprat; colegas expositores e demais
autoridades; senhoras e senhores. Boa-tarde!
com muita honra e grande senso de
responsabilidade que vimos apresentar a essa Corte o
Programa de Ao Afirmativa, utilizado pela Unicamp no
processo de seleo de seus estudantes. Agradecemos por nos
conceder a oportunidade de aqui trazer essa experincia.
Como todos que me antecederam, parabenizo o
STF e, em particular, o eminente Ministro Lewandowski pela
iniciativa de convocar essa audincia pblica sobre tema de
tal importncia. Esperamos que a Unicamp possa contribuir
com dados e anlises relacionadas ao seu programa de ao
afirmativa para subsidiar os trabalhos e decises desta
Corte sobre o tema.
Vou iniciar mencionando os princpios que
regeram a formulao do programa da Unicamp. Em primeiro
lugar, a respeito da autonomia universitria, eu no vou
falar sobre isso, o Professor Alan Kardec j exps
claramente o consenso entre as universidade sobre esse
ponto. O segundo ponto que orientou o programa da Unicamp
foi a busca da excelncia acadmica. A Unicamp tem uma
caracterstica de ser uma universidade que valoriza
bastante esse aspecto e, no desenvolvimento do seu
programa, ela considerou a importncia disso. Finalmente,
no menos importante, a questo da incluso social de
grupos desfavorecidos.
Em relao da excelncia acadmica, a
Unicamp procurou, de forma bastante explcita, respeitar a
norma constitucional. No art. 208, diz o seguinte:
"Art. 208. O dever do Estado com a
educao ser efetivado mediante a garantia
de:
(...)
V - acesso aos nveis mais elevados
do ensino, da pesquisa e da criao
artstica, segundo a capacidade de cada um;"
Seguindo esse preceito, a Unicamp procurou
preservar, na verdade aprimorar, a qualificao acadmica
dos futuros alunos da universidade e para isso utilizou-se,
na formao da proposta, de um estudo, uma pesquisa sobre o
desempenho de seus estudantes. Esse estudo indicou que
aqueles estudantes que vinham de rede pblica de ensino da
educao bsica, desempenham melhor do que o esperado, aps
o ingresso da Unicamp, quando a gente toma como referncia
o vestibular. Ou seja, ter estudado na rede pblica,
durante a educao bsica, poderia ser um critrio
relevante, positivo na deciso sobre a seleo dos
ingressantes. Finalmente, o programa da Unicamp foi
formulado para ampliar a probabilidade de acesso, em
particular aos cursos mais procurados, como Medicina,
Engenharias e outros, de jovens com perfis socioeconmico
mais baixo, incluindo ai os que se declarasse pretos,
pardos ou indgenas.
As origens do programa, esses estudos, eu
gostaria de detalhar um pouquinho, porque so pontos
bastante criticados em relao a programas de aes
afirmativas. J se reduziu um pouco essa questo no debate
pblico, mas h a questo da possibilidade de que as aes
afirmativas pudessem reduzir a qualidade do corpo de ciente
e introduzir as dificuldades s universidades.
A principal fonte conceitual do programa da
Unicamp foram os resultados dessa pesquisa que mencionei.
Em primeiro lugar, ela tratou - no est mencionado ali -
de um grupo de estudantes, mais de seis mil estudantes que
ingressaram na Unicamp de 94 a 97, e buscou determinar para
esses estudantes quais as caractersticas educacionais ou
socioeconmicas, poca do vestibular, que estariam
associadas ao melhor desempenho ao longo de sua vida futura
na universidade. Ento esse foi o objetivo do estudo e os
resultados desse estudo mostraram o seguinte - no s
gostaria de mencionar como foi o desempenho, mas como ele
foi avaliado. Ns temos a classificao do vestibular e a
classificao ao fim do curso. E basicamente a gente
comparava individualmente como que isso ocorria, se o
candidato tinha avanado ou tinha recuado na sua
classificao na turma -: Alunos que vinham de famlias com
baixa renda, at cinco salrios mnimos, com mes com
formao no alm da educao fundamental, e aqueles
estudantes que cursaram o ensino mdio e o ensino
fundamental na rede pblica apresentaram desempenho
positivo ao longo do curso universitrio. Ou seja, a sua
classificao na turma, ao final, foi, em mdia, mais alta
do que a classificao de quando eles entraram no
vestibular. Ento esse foi o mote que justificou o programa
formulado pela Unicamp.
Gostaria de observar que, no perodo
estudado, de 94 a 97, a Unicamp no tinha, entre as
perguntas que se fazem aos estudantes no questionrio
socioeconmico, a questo relativa cor, raa e etnia.
Esse estudo, para ns, mostrou o seguinte - e acho isso
importante: O vestibular, por si s, no prev de forma
exclusiva e cabal o potencial dos candidatos para o
desempenho futuro nos bancos universitrios.
Ento, a partir desse estudo, a Unicamp
formulou seu programa. O programa foi aprovado em 2004, ele
no tem cotas, no h reserva de vagas, ele inclui uma
bonificao de pontos e foi aplicado pela primeira vez na
turma de 2005: so trinta pontos para os estudantes que
concluram o ensino mdio da rede pblica e dez pontos para
aqueles que entre eles se declaram pretos, pardos ou
indgenas. Como referncia, eu gostaria de mencionar que
essa pontuao na Unicamp tem impacto muito grande no
resultado final. Num curso de alta demanda, como a
Medicina, trinta ou quarenta pontos, no caso, pode
significar um avano de mais de cem posies na
classificao. Mesmo assim, como vou mostrar mais frente,
o desempenho futuro desses candidatos no prejudicado.
Alm desse programa de bonificao, h uma
parte de iseno da taxa de vestibular, nesse caso o
recorte claramente scio-econmico, o candidato deve ter
cursado toda a educao bsica na rede pblica e a famlia
no pode ter renda maior do que cinco salrios mnimos.
Gostaria de mencionar que, em relao
bonificao sobre grupo de candidatos oriundos da rede
pblica que se declaram pretos, pardos ou indgenas, a
Unicamp considerou que esse grupo apresentava outras
caractersticas socioeconmicas que se associam ao melhor
desempenho acadmico. Entre elas a baixa renda, como foi
mencionada, e a baixa escolaridade dos pais, em particular
das mes. Observamos ainda, eu gostaria de chamar a ateno
de que na Unicamp no existe uma comisso ou procedimento
de verificao da autodeclarao, ela suficiente e final
para os efeitos da participao no programa.
Com relao aos resultados do programa, fiz
uma tabela bastante simples, aqui, com o resumo do perodo
imediatamente anterior ao programa 2003/2004 e
imediatamente posterior at o vestibular do ano passado,
2005 a 2009. Gostaria de mencionar, ento, que ali so
colocados os dados para os inscritos no vestibular e depois
para os matriculados. Para os trs grupos beneficiados pelo
programa: pessoal da escola pblica, os pretos, pardos e
indgenas e os isentos, aquele grupo mais focado por vista
socioeconmico. Ento, neste, quando a gente compara os
dois perodos - vou comentar escola pblica mais frente -
, mas para pretos, pardos e indgenas a Unicamp tinha cerca
de dez, doze por cento entre inscritos e matriculados. Ou
seja, o vestibular da Unicamp tem uma caracterstica que,
alis, vem pela sua estrutura acadmica e mostra que ele
no discriminatrio no sentido de grupos desfavorecidos,
poderamos dizer, exceto no caso dos isentos, ali realmente
h uma queda de oito para quatro por cento na participao,
havia antes do programa. Aps o programa, tivemos um
pequeno acrscimo na escola pblica - vou mencionar mais
frente, em detalhes -, mas entre pretos, pardos e indgenas
e entre isentos, se olharmos os nmeros vamos ver um
crescimento em cerca de cinqenta por cento na participao
desse grupo a partir do programa. E eu gostaria de
mencionar que o nmero que est ali de inscritos nesse
perodo para pretos, pardos e indgenas, de dezoito por
cento, ele se aproxima bastante dos dados do IBGE para o
Estado de So Paulo, que indicam cerca de vinte e trs por
cento da populao concluinte, no ensino mdio, se declaram
pretos, pardos e indgenas. Na populao como um todo so
trinta, mas o ensino mdio j um momento decisivo,
restritivo do acesso para o grupo de pretos, pardos e
indgenas no Estado de So Paulo, como no Brasil todo.
Em relao questo do ensino mdio,
gostaria de chamar a ateno que apesar dos nmeros ali
parecerem pouco afetados, quando a gente foca a anlise nos
cursos demandados a a mudana foi significativa.
Praticamente todo aquele crescimento de trs pontos
percentuais se deu nos cursos de alta demanda.
Eu gostaria de analisar com mais detalhes o
curso de Medicina, porque este certamente o curso que
todos prestam muita ateno na sua situao.
Antes disso, o resultado de desempenho dos
estudantes bonificados na Unicamp seguiram os mesmos
padres daqueles constatados para o estudo que orientou a
elaborao do programa, ou seja, candidatos da rede
pblica, de baixa renda e com menor patrimnio educacional
na famlia tiveram desempenho melhor do que os grupos
complementares. Ou seja, o programa, a previso que foi
feita a partir de um estudo, anterior, a aplicao do
programa confirmam esse resultado.
Agora, gostaria de comentar, coloquei uma
figura aqui, acho que a nica figura que eu consegui fazer
para explicar como - talvez eu gaste o resto do meu tempo
aqui falando dessa figura - ela . Cada linha que aparece
nessa figura, em cada uma dessas colunas, um aluno do
curso de Medicina da Turma de 2005. Eles esto
classificados em ordem descendente, de cima para baixo na
sua nota. O primeiro, eu tenho a nota mais alta e o ltimo
abaixo a ltima nota. A coluna da esquerda a
classificao no vestibular com a bonificao, com o bnus
de trinta a quarenta pontos. Os traos coloridos, numa
gradao para podermos localiz-los depois, eles so os
alunos bonificados - que vieram de escolas pblicas, so
trinta e trs dos cento e dez, ou, exatamente, trinta por
cento da turma. Gostaria de observar que antes do programa
a mdia tpica de participao de escola pblica no curso
de Medicina na Unicamp era dez por cento; neste ano foi
trinta por cento.
Na segunda coluna, ainda com a classificao
do vestibular, mas sem a bonificao. Isso significa,
claro, que esse grupo aqui o mesmo grupo, a parte de
baixo, o mesmo grupo das linhas coloridas, sem a
bonificao eles vo para o fundo da turma na
classificao, claro. E, na verdade, quase todos, dois
teros desse grupo no estariam hoje terminando seu curso
se no houvesse a bonificao. Cerca de vinte, dos trinta e
trs, no estariam l.
A ltima coluna a classificao desses
mesmos alunos pelos seus desempenhos acadmicos na
universidade depois de quatro anos no curso de Medicina.
Gostaria de chamar ateno para as linhas
mais longas, esses so os alunos desistentes ou jubilados.
Nenhum deles foi bonificado, todos vieram da rede privada
de ensino bsico.
Se olharmos o grupo que est na metade da
classificao para cima, na ltima coluna, ns vemos que a
maior parte daquele grupo, ali, so as linhas vermelhas
mais escuras, o pessoal que estava l embaixo.
Ento, a Unicamp quando props isso em seu
programa ela tinha essa preocupao, quer dizer, essa uma
preocupao constante na anlise dessa situao de buscar
trazer mais jovens para o ensino superior.
uma Universidade extremamente competitiva,
este ano na Unicamp ns tivemos noventa candidatos para
cada uma dessas vagas. Esses candidatos so todos
brilhantes! A diferena acadmica na preparao desses
jovens antes de entrar na Unicamp mnima a diferena,
poderamos dizer que, tecnicamente, esto empatados. No no
desempenho do vestibular, mas como previso para o seu
futuro desempenho na universidade.
Ento, encerro aqui dizendo o seguinte: a
Unicamp reitera o seu compromisso com a autonomia
universitria, com a incluso social associada excelncia
acadmica.
Muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo o Professor Renato e peo
que fique mais um minuto no microfone que eu gostaria de
fazer uma questo apenas, no fiz nenhuma pergunta a nenhum
dos participantes, seria o seguinte: um tema bastante
discutido a questo do autorreconhecimento dos cotistas.
A Unicamp, pelo que eu vi, em seu vestibular contenta-se
com o autorreconhecimento e no faz nenhuma averiguao,
nem prvia, nem posterior. Esse tem sido um critrio
adotado de maneira linear, h excees e por que a Unicamp
optou por esse autorreconhecimento, o senhor poderia
explicar em brevssimas palavras.
O SENHOR RENATO HYUDA DE LUNA PEDROSA
(COORDENADOR DA COMISSO DE VESTIBULARES DA UNVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS) - Eu poderia explicar. Eu participei
ativamente do processo, era da comisso que fez a proposta.
A Unicamp levou em conta nessa questo a
opinio de antroplogos especialistas da universidade, e
considerou que haveria uma grande dificuldade estabelecer
uma comisso que avaliasse isso.
Eu gostaria de observar que ns no podemos
negar que h uma dificuldade com a autodeclarao. Os
estudos estatsticos de populao do Estado de So Paulo,
da incidncia da declarao em certos grupos de renda
maior, mostram que pode haver uma inflao, digamos, na
autodeclarao. No uma coisa pacfica no sentido de,
vamos dizer, no existe a fraude, no existe, mas
simplesmente h uma questo que precisa ser mais... Eu no
mencionei porque ns ainda estamos comeando esse estudo de
forma sistemtica, a Unicamp certamente, em algum momento,
ter uma posio mais clara de avaliao do seu programa.
Mas realmente essa foi a posio da Unicamp,
deliberada pelo Conselho Universitrio, e vem sendo adotada
de forma, desde aquele momento, sem nenhuma mudana. Mas
certamente ns estamos num processo de avaliao, como esse
estudo que eu acabei de mostrar aqui, esses dados, que
podem levar a uma discusso sobre essa questo. uma
questo bastante delicada.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeo ento essa resposta e
me dou por satisfeito. E agradeo a substanciosa
interveno que o senhor nos proporcionou.
Ns vamos agora ouvir a manifestao do
Professor Eduardo Magrone, que Pr-reitor de Graduao da
Universidade Federal de Juiz de Fora/MG, que dispor tambm
de quinze minutos para a sua exposio.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR EDUARDO MAGRONE (PR-REITOR DE
GRADUAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA -UFJF) -
Boa-tarde Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Senhora
Ministra Crmen Lcia e Excelentssima Vice-Procuradora-
Geral da Repblica Deborah Duprat.
Para a UFJF um orgulho estar participando
desta audincia pblica, saudamos a iniciativa desta Casa e
a oportunidade de apresentar uma avaliao parcial da nossa
Poltica de Ao Afirmativa iniciada em 2006.
Foi constituda uma comisso com aqueles
professores e tcnicos, e o que iremos exibir aqui a
avaliao que ns conseguimos concluir at o momento. Essa
avaliao prossegue dentro da Universidade.
Um breve histrico. Houve uma resoluo do
conselho superior, em 2004, que aprovou a Poltica de Ao
Afirmativa na Federal de Juiz de Fora. Essa poltica
buscava a incluso dos grupos sistematicamente excludos,
mas ela faz parte de um projeto global de incluso dentro
da Universidade, que conta tambm com o reforo do nosso
curso pr-vestibular popular, bancado pela Instituio.
Temos tambm uma crtica muito grande
arquitetura curricular das universidades brasileiras, que
diz para o estudante de 16 e 17 anos, pergunta o que ele
vai fazer depois dos 40; a ideia dos bacharelados
intradisciplinares; a mudana nossa curricular tambm faz
parte desse projeto global de incluso; e tambm, no ano
passado, ns implantamos o nosso ncleo de estudos afro-
brasileiros. No nosso entendimento, a poltica de cotas tem
que ter uma consequncia, e uma dessas consequncias
fazer com que uma universidade tambm seja produtora de um
saber sob essa populao e outras populaes da nossa
regio, que, historicamente, se viram alijadas do ensino
superior.
Essa poltica tem vigncia de 10 anos, at
2015, e ela avaliada a cada 3 anos. Ento, o que vamos
exibir aqui essa avaliao que temos preliminar. Irei
apresentar sumariamente como funciona o nosso modelo de
ao afirmativa. No vestibular de 2008, o ltimo dado da
anlise, temos 50% das vagas de todos os cursos de
graduao reservados para o aluno cotista, para as cotas: o
aluno que se autodeclara egresso de escolas pblicas e 25%
dessas vagas so de candidatos autodeclarados negros. A
UFJF, a exemplo da Unicamp, conta apenas com a
autodeclarao, pelas razes anlogas aqui expostas.
A distribuio dessas vagas destinadas aos
grupos de alunos cotistas, ns dividimos em trs grupos de
ingresso: o Grupo "A", que seria o grupo de alunos egressos
de escolas pblicas, autodeclarados negros; o Grupo "B",
que seria aluno egresso de escola pblica. O critrio de
escola pblica o critrio jurdico, a instituio pblica
de ensino bsico, e o candidato tem de ter cursado pelo
menos sete sries do ensino fundamental em 2008. Ns j
alteramos esse critrio, hoje so quatro sries do ensino
fundamental e a totalidade do ensino mdio na escola
pblica, mas em 2008 ainda prevalecia esse critrio. E o
Grupo "C", que seria o grupo dos alunos no-cotistas, no
optantes pelas cotas. A primeira etapa eliminatria, a
segunda etapa classificatria, e a classificao final
nos Grupos "A", "B", "C", em ordem decrescente de pontos
obtidos, na segunda etapa do vestibular at o limite de
vagas para cada curso. As vagas no preenchidas em um grupo
so transferidas para o grupo seguinte: o Grupo "B" e o
"C". Esse basicamente o mecanismo da nossa poltica de
ao afirmativa.
Ento, vamos a algumas avaliaes: temos
aqui um grfico que discrimina na coluna da esquerda que,
para cada curso de graduao, o Grupo "A" - grupo do
cotista, autodeclarado negro em escola pblica -; o Grupo
"B" - cotista em escola pblica; o Grupo "C", de no
cotista.
Nas linhas, temos o Grupo Amarelo, que o
Grupo "A"; na extremidade, tendendo para a esquerda, temos
o que chamamos de "ponto de corte" no vestibular, a nota
mnima do ltimo candidato que ingressou no curso. Na
extremidade oposta, a nota mxima do candidato que passou
em primeiro lugar no curso. Ns colorimos os grupos:
Amarelo, Grupo "A"; O Grupo Verde, grupo de escola pblica;
e o Grupo Azul, grupo do no optante.
Podemos observar que, caso no tivssemos a
poltica de cotas, muitos candidatos que ingressaram na
Universidade Federal de Juiz de Fora, por essa poltica,
estariam excludos. Basta observar esses cursos da rea da
Sade, Medicina encabea esses cursos. Nota mnima, tanto
na escola pblica como o candidato negro oriundo de escola
pblica e o candidato oriundo de escola pblica, esses
grficos mostram curso a curso, no vestibular de 2008 - eu
peguei s 2008 para efeito de exposio -, como se deu o
desempenho do pior candidato aprovado e do melhor
candidato aprovado em cada curso. Ns observamos que por
vezes h alguma mudana, mas, de fato, a tendncia, em
todos os cursos, de um desempenho - digamos assim - mais
modesto do candidato cotista em relao ao no-cotista. Nos
cursos de Sade, nos cursos de Cincias Humanas, nos cursos
de Cincia e Tecnologia, ns temos sempre candidatos que
estariam excludos da universidade, caso ns tivssemos um
critrio de seleo linear, como antes no vestibular
tradicional, sem a poltica de cotas para escolas pblicas
e raciais.
Para exibir isso de maneira mais visvel,
vou mostrar como o desempenho agregado dos candidatos por
grupo. O grupo Amarelo, Grupo "A", o de candidatos
autodeclarados negros em escola pblica, o desempenho dele
tende para escores prximos do nvel mnimo da escala de
desempenho l no topo da tabela. Todas essas notas, mnimas
e mximas, tendem para a esquerda, que onde se localizam
os escores mais baixos de desempenho dos candidatos. J os
candidatos cotistas de escola pblica tendem para um
desempenho superior aos candidatos negros oriundos de
escola pblica, ou seja, eles esto mais prximos dos
escores mais elevados da tabela. E j os candidatos do
grupo no optantes pelas cotas, em relao at aos
candidatos que optaram pelas cotas da escola pblica,
tambm se aproximam mais ainda desses escores mximos. Com
isso, temos uma compreenso de que, caso no tivesse sido
implantado na UFJF a poltica de cotas, ns certamente
estaramos excluindo candidatos que hoje se encontram l.
Porm esse um problema que a UFJF est lidando - ns
iremos ver em seguida quanto ao desempenho dos integrantes
na universidade, Mas temos um outro problema em relao s
cotas. o seguinte: elas no esto sendo aproveitadas por
aqueles candidatos cujo perfil adequado a essa disputa
dentro dos grupos. Ento, temos o Grupo C com 67% do total
de candidatos disputando as vagas desse grupo. J no Grupo
B, temos apenas 25% dos candidatos disputando as vagas
destinadas a alunos oriundos de escola pblica e, no grupo
dos candidatos negros oriundos de escola pblica, Grupo A,
apenas 8% do total dos candidatos disputam essas vagas.
Ns ainda no sabemos direito por que isso
acontece, mas certamente ns j detectamos problemas de
redao no nosso edital e tambm uma desinformao muito
grande por parte dos candidatos quando da inscrio nos
processos seletivos. Os estudos permanecem - preocupante
-, uma vez que, se ns observarmos esses dois grficos em
forma de pizza, vemos embaixo a populao de Juiz de Fora e
regio, os Grupos A e B estariam em ampla maioria
representados nela.
Em cima, o que acontece, de fato, na UFJF,
no que respeita distribuio dos grupos: uma super-
representao do Grupo C, do grupo dos no optantes pelas
cotas.
Constataes: o desempenho entre os grupos
desigual - a poltica de cotas hoje prevalece. Sem a
poltica de cotas, alunos que hoje esto estudando em
cursos de alta demanda, como Medicina, por exemplo, que
aqui foi citado anteriormente, certamente hoje no
estudariam na UFJF. E h tambm o fato de se destinar vagas
para o sistema de cotas e no conseguimos garantir ainda
uma ocupao integral nessas vagas destinadas a esses
grupos.
Agora, a parte mais interessante acredito
que seja a avaliao do desempenho desses candidatos
cotistas, uma vez ingressando na universidade. Para
calcularmos isso, dividimos os cursos da UFJF em trs
grandes grupos de curso, baseado no ndice de rendimento
acadmico do estudante. O ndice de rendimento acadmico
um ndice que pondera; uma mdia ponderada que leva em
conta o desempenho do estudante nas disciplinas e o nmero
de disciplinas que ele cursou no seu curso. Ento, podemos
observar que o primeiro grupo, que eu chamaria de "grupo de
alto desempenho acadmico", ele constitudo basicamente
por cursos da rea de Cincias Humanas. Mas ns temos ainda
representantes novos, na rea de sade, como Medicina,
Fisioterapia, Enfermagem e tambm temos Cincias
Biolgicas. Ento, esse grupo aquele grupo cujo ndice de
rendimento acadmico 80 ou superior a 80. Ou seja, os
ndices de rendimento acadmico de todos os alunos do curso
acusou um valor igual a 80 ou superior a 80. J no caso do
grupo intermedirio, que eu chamaria de "ndice de
rendimento acadmico mdio ou bom", esses cursos obtiveram
um ndice de regimento acadmico maior que 70 e menor que
80. E tambm predomina a rea de Cincias Humanas, como
alguns cursos de 3 Odontologia, Farmcia - Educao Fsica
fora dessa rea.
E, por fim, o grupo 3, que seria o grupo de
"ndice de rendimento acadmico crtico", menor que 70,
constitudo quase que exclusivamente por cursos da rea de
Cincia e Tecnologia.
Bem, a nossa anlise capturou o seguinte
resultado: no grupo 1, aqueles cursos que tm alto
rendimento acadmico, os alunos autodeclarados negros de
escola pblica, eles comeam no ano de 2006 com muita
reprovao por nota. Observam uma certa melhora, abaixo da
reprovao, e terminam em 2008 num patamar bastante
satisfatrio em termos de reprovao por nota. mnima,
menos de cinco por cento, ou seja, chega a trs por cento.
O mesmo ns podemos observar, com uma certa oscilao, no
grupo "b", o grupo de alunos oriundos de escola pblica e
no grupo "c", os no optantes pela quotas. J no grupo 2,
aqueles cursos cujos ndices de regimento acadmico est
maior que setenta e menor que oitenta, ns temos ali
algumas oscilaes bastante interessantes. O primeiro ano
das quotas mostra que o grupo "a" teve um desempenho, muita
reprovao por notas, um desempenho muito ruim. O grupo "a"
foi o grupo de alunos auto declarados negros e oriundos de
escola pblica. J o grupo "b" tambm teve registrado nos
trs anos um desempenho abaixo de, um pouco acima de cinco
por cento, mas a grande questo, para ns, o nosso grande
desafio, ainda so aquele Grupo 3, o grupo dos cursos de
cincia e tecnologia. Hoje ns observamos um alto ndice de
reprovao, um alto ndice de reprovao por nota, mas em
todos os grupos, tanto o grupo "a", negros de escola
pblica, como o grupo "b" de escola pblica, como os no
optantes. H uma dificuldade nesses cursos, sendo que essa
dificuldade se expressa com maior magnitude no grupo dos
quotistas negros em escola pblica o que faz com que a UFJF
tenha que providenciar uma soluo tpica para conseguir
neutralizar, contra-arrestar essa tendncia, no caso, do
grupo "b", dos quotistas.
A reprovao por infrequncia, fora aquela
anomalia que ns observamos ali no Grupo 2, do "a", negro
de escola pblica, que foi no primeiro ano das quotas, ns
observamos essa anomalia, ns temos tambm fatores
preocupantes quanto aos cursos de cincia e tecnologia, os
cursos de baixo rendimento acadmico, quanto aos alunos
quotistas.
Ento, eu diria que ns precisamos do ponto
de vista mais pontual considerar que esses alunos precisam
de um nivelamento, de um apoio pedaggico da instituio,
alm do apoio estudantil convencional para prosseguirem na
universidade com um rendimento aceitvel e principalmente
ns descobrimos uma questo que muito importante para
essa audincia pblica: o critrio de escola pblica nem
sempre um critrio confivel. Na regio da zona da mata
mineira, em Juiz de Fora, ns temos cerca de dez
instituies federais de ensino mdio e de ensino
fundamental e elas esto enquadradas no grupo "b", grupo de
escola pblica. E algumas dessas instituies fazem at
seleo prvia para o ingresso de seus alunos.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Professor Eduardo, peo licena
para interromp-lo. O tempo do senhor j esgotou, mas eu
lhe concedo mais um minuto para terminar o raciocnio, se
quiser.
O SENHOR EDUARDO MAGRONE (PR-REITOR DE
GRADUAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA -UFJF) -
Apenas para dizer isto: se faz necessrio um ajuste, no
caso da nossa poltica, para contemplar os alunos que esto
ingressando e fechar algumas portas, algumas janelas que
subvertem o esprito da poltica de ao afirmativa.
Muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado Professor Eduardo Magrone
da Universidade Federal de Juiz de Fora. O pronunciamento
que o Senhor acaba de fazer rebate as crticas que ns
sofremos inicialmente que teria havido um desequilbrio
entre aqueles que falam a favor e contra as cotas, porque
quando ns convidamos, na ltima parte das audincias, que
as universidades pblicas viessem at o Supremo Tribunal
Federal e oferecessem os seus testemunhos, ento, imaginou-
se, inicialmente, por parte de alguns que tinham uma viso
mais crtica desse processo desencadeado aqui no Supremo
Tribunal Federal que seriam depoimentos totalmente
favorveis poltica de quotas, de ao afirmativa, mas,
como eu esperava, as universidades esto trazendo pontos
negativos e pontos positivos e fazendo uma avaliao
crtica, como prprio do esprito universitrio da
experincia que tiveram com relao a esse assunto.
Obrigado pela sua participao, Professor Eduardo Magrone.
Ns vamos ouvir agora o pronunciamento da
Professora Jnia Maria Lopes Saldanha, da Universidade
Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul, que tambm
falar por at quinze minutos.
AUDINCIA PBLICA
ARGUIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
A SENHORA JNIA MARIA LOPES SALDANHA
(PROFESSORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA -UFSM) -
Boa-tarde, Doutor Ministro Ricardo Lewandowski, Doutora
Crmen Lcia, Doutora Duprat, Senhoras e Senhores, meus
colegas de mesa.
Esta apresentao seguir de forma quase que
fiel a proposta feita a esta Corte quando do credenciamento
da Universidade Federal de Santa Maria para participar
desta audincia pblica.
A minha exposio se dividir em trs itens.
Falarei brevemente sobre a importncia desta audincia
pblica; em segundo lugar, aes afirmativas de democracia;
e, em terceiro lugar, sobre o processo de adoo e a
experincia, ainda de um certo modo embrionria, da
Universidade Federal de Santa Maria na Poltica de Ao
Afirmativa, especificamente no que se refere s cotas
raciais, que o tema e a pretenso exposta nas duas
demandas em julgamento por esta Corte neste perodo.
Sobre a audincia pblica, a Universidade
Federal de Santa Maria agradece vivamente a esta Corte a
oportunidade de estar aqui. Trata-se de um momento mpar no
processo civil brasileiro, no Direito Processual
brasileiro, no propriamente de democracia participativa,
mas que se pode considerar como de democracia
representativa alargada, porque admite no processo novos
atores e com isso rompe o perfil privatista e
individualista de um processo que nos foi legado nesses
quase duzentos anos de formao do Direito Processual
Brasileiro.
A audincia pblica, portanto, torna-se um
espao democrtico de participao da sociedade; ela
contribui de forma eficaz e potente para que a sociedade se
manifeste junto ao Poder Judicirio para que esse ento, a
partir disso, forme a sua deciso. Essa prtica inverte a
lgica da decidibilidade judicial, porque agrega elementos
que veem na sociedade a convico e a concluso a que os
juzes chegaro.
Portanto, a palavra falada vem de muitas
vozes e inverte essa lgica. Em tempos de virtualizao do
processo, a oralidade resgata o seu lugar e o seu espao
no processo brasileiro.
Quanto s aes afirmativas de democracia,
apenas breves consideraes. A universidade poderia invocar
aqui grandes pensadores clssicos que tratam de teoria
poltica, de teoria poltica clssica, mas, no. A
Universidade Federal de Santa Maria, lembrando da mulher de
Trcia, que, ao ver Tales de Mileto cair num buraco, deu
gargalhada e ela riu porque pensou: Ora, ele olhando para o
cu, no v o que est mais prximo dele.
Ento, a Universidade invoca aqui uma
brasileira "Ptria me vil:
"Onde j se viu tanto excesso de
falta? Abundncia de inexistncia... Exagero
de escassez... Contraditrios? " Ento est!
Esse o novo nome do nosso Pas! No pode
haver sinnimo melhor para o BRASIL.
(...)
A minha me no "tapa o sol com a
peneira", no me daria um lugar na
universidade sem ter-me dado uma bela
formao bsica.
E mesmo h 200 anos atrs no me
aboliria da escravido se soubesse que me
restaria a liberdade, apenas para morrer de
fome. Porque a minha me no iria querer me
enganar, iludir. Ela me daria um verdadeiro
Pacote que fosse efetivo na resoluo do
problema e que contivesse educao + mais
liberdade + mais igualdade. Ela sabe que de
nada me adiantaria ter educao pela metade,
ou t-la aprisionada na falta de
oportunidade, na falta de escolha,
acorrentada na minha voz-nada-ativa. A minha
me sabe que eu s vou crescer se a minha
educao gerar liberdade e esta, por fim,
gerar igualdade. Uma segue a outra... Sem
nenhuma contradio!".
A UFSM escolheu essa passagem, nesse rico
momento da democracia brasileira, da prestao
jurisdicional brasileira, citando uma estudante brasileira
de uma universidade pblica brasileira a Clarice Zeitel
Viana da Silva, que ganhou recentemente um prmio da UNESCO
e concorreu com cinquenta pessoas, porque ela descreveu
olhando para o cho e para a realidade brasileira as
desigualdades com as quais convivemos h mais de quinhentos
anos.
Apesar das constituies dos estados
democrticos da atualidade, como o Brasil prev, e o fim
das desigualdades - e hoje aqui foi referido isso -, essas
desigualdades so coletivas. E notrio que as sociedades
mantm vivamente mecanismos de excluso social, seja por
questes raciais, seja por questes religiosas, seja por
questes de orientao sexual ou por questes de gnero ou
de condio fsica.
Portanto, h um grupo de brasileiros que so
vtimas dessa desigualdade central que aquela que, no
caso especfico da educao superior brasileira, nega
acesso a um contingente bastante significativo da populao
brasileira aos bancos das universidades.
E justamente ancorado nessa noo de
desigualdade nociva que o Estado brasileiro, por seus
rgos, especialmente por seu Ministrio da Educao, tem
empreendido, nos ltimos tempos, uma verdadeira campanha de
adoo de polticas de ao afirmativa nas universidades
pblicas brasileiras e tambm nas universidades privadas,
do que exemplo o PROUNI. E se trata, evidentemente,
daquilo que se chama de discriminao positiva para o
acesso ao ensino superior.
relevante considerar que, no que diz
respeito s universidades pblicas brasileiras, a
universidade um espao de poder. Por que ela um espao
de poder? Porque ela concede aos estudantes um passaporte
para o mundo do trabalho, mas pouco se fala do saber que a
universidade produz como meio de poder, algo, todavia, que
no foi esquecido, por exemplo, por Michel Foucault. Poder
e saber so inseparveis. Comunicao e transmisso de
saber entre indivduos e grupos, assim como a recusa em
transmitir saber, no dizem apenas respeito s esferas
cognitivas das relaes humanas, mas incluem,
invariavelmente, relaes de poder que se corporificam em
dois elementos: no establishment e nos outsiders. Naqueles
que exercem as funes preponderantes na sociedade e que
decidem a vida da sociedade e aqueles que esto fora, os
outsiders. E esta a questo central da poltica de
incluso por cotas raciais na universidade pblica
brasileira.
A Universidade Federal de Santa Maria teve
um processo interessante de adoo da poltica de ao
afirmativa, que se dividiu em cinco fases que eu brevemente
irei abordar, de exerccio de democracia.
A primeira fase, no ano de 2007, houve uma
discusso em Seminrio Internacional acerca da
possibilidade de adoo da poltica de ao afirmativa.
Reunimos professores de universidades que j detinham a
experincia, mesmo que embrionria, na adoo da poltica
de ao afirmativa.
Aps isso, redigimos a minuta de resoluo,
entregue ao nosso reitor, no incio do ano de 2008. Em maio
de 2008, um novo seminrio foi realizado onde todos os
diretores dos nove centros de ensino da nossa instituio
se manifestaram favoravelmente e contra a adoo da
poltica de ao afirmativa. Ouvimos dois juzes federais
do Tribunal Regional Federal da 4 Regio, ouvimos colegas
de universidades que j adotavam, novamente, a poltica de
ao afirmativa.
A resoluo foi a votao no Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extenso e foi aprovada tal qual foi
escrita, como segue: cidado, cotas para afro-brasileiros,
progressivamente, at 15%; cotas para pessoas com
necessidades especiais, 5%; cotas para estudantes de
escolas - 100% estudantes de perodo integral - pblicas,
ensino fundamental e mdio, 20%; vagas definidas para
ndios, inicia-se com 5 e chega-se a 10 vagas para os
ndios.
E a Universidade, como antes foi referido,
tambm possui um programa especial de acesso a ela, que se
chama phase, que j uma experincia bem mais antiga.
Aps isso, chega-se quinta fase, que a
nomeao da Comisso de Acompanhamento da Poltica de Ao
Afirmativa. Essa Comisso de Acompanhamento - aqui ns
temos dados dos classificados no vestibular, nos anos de
2008, 2009 e 2010. Vejam que h uma progresso dos
classificados. Explico plateia e aos Ministros desta
Corte que, no edital do vestibular, criou-se as seguintes
denominaes: o cidado presente A, para os afro-
brasileiros ; cidado presente B, para as pessoas com
necessidades especiais; cidado presente C, para os
oriundos de escola pblica, e cidado presente D, para os
ndios.
Esta uma experincia em construo, e
mostra, vivamente, o quanto a Universidade Federal de Santa
Maria est preocupada, hoje, com a permanncia dos alunos
cotistas junto ela. Ento, a universidade j dispe das
seguintes experincias de permanncia: Programa de Moradia
Estudantil, implementado com a Casa do Estudante, que teve
nos ltimos anos o seu nmero de vagas significativamente
ampliado. O Programa de Alimentao, concretizado atravs
do funcionamento de trs restaurantes universitrios em
Santa Maria, e de mais dois restaurantes universitrios no
Campi da universidade em outras localidades. O almoo custa
R$ 0,50 (cinquenta centavos) e o caf da manh custa R$
0,20 (vinte centavos). Bolsa de Assistncia ao Estudante,
no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), que
beneficia mais de trs mil estudantes.
Para o conhecimento dos senhores, a
universidade hoje tem hoje em torno de vinte e um mil e
quinhentos alunos. Ela tem cem cursos de graduao e, ao
final de 2010, chegar a cento e trs cursos de graduao.
Outras aes afirmativas de permanncia que
a universidade possui: o Programa de Informtica,
desenvolvido por um laboratrio especfico, sob a
orientao da pr- reitoria de assuntos estudantis.
Programa de Linguagem, desenvolvido em parceria com o
laboratrio de redao da universidade; o Programa de Apoio
Psicopedaggico no projeto que se chama ANIMA; e, alm
disso, existem perspectivas de avano na poltica.
A comisso de acompanhamento da
implementao da poltica de ao afirmativa estabeleceu
quatro eixos importantes, que devem ser considerados e
trabalhados ao longo do tempo. O primeiro eixo se relaciona
s aes voltadas para a preparao dos candidatos no
vestibular, que alguns colegas aqui j referiram. A
preocupao da universidade com a formao inicial de
professores, com a formao continuada de professores, com
a elevao do nvel de informaes dos candidatos acerca do
prprio vestibular, e do papel do AFIRME, que o
observatrio de aes afirmativas da nossa universidade.
O eixo nmero dois, que eu passo
rapidamente, se preocupa com asa aes voltadas
especificamente para realizao de concurso vestibular. E
tambm esclareo a Vossas Excelncias que o nosso
vestibular tambm conta com a autodeclarao. A perspectiva
a consolidao de critrios e a manuteno do
quantitativo de isenes de taxas de inscrio no
vestibular, divulgao por meio de edital dos critrios de
iseno de pagamento, ampliao do nmero de vagas de
ingresso por meio do vestibular, e reserva de vagas de
acordo com a Resoluo n011. Realizao de estudos
comparativos sobre o desempenho dos candidatos no concurso
vestibular.
O terceiro eixo se refere s aes voltadas
para o favorecimento da permanncia dos aprovados:
Concentrar a oferta dos cursos em um nico turno; ampliar a
oferta de cursos noturnos; aumentar o nmero de bolsas
oferecidas a estudantes de graduao; e estruturar o
sistema de acompanhamento acadmico tutorial dos estudantes
nos cursos, para que se identifique, paulatinamente, as
necessidades dos ingressantes e a viabilidade da
universidade de realizar.
Mais uma vez, esclareo a Vossas Excelncias
que a nossa universidade uma universidade que gasta
trinta por cento de seu oramento nas questes estudantis.
O quarto eixo seriam as aes voltadas para
o acompanhamento e avaliao das poltica adotadas. A
necessidade, portanto, e j estamos em incio de realizar
estudos do perfil socioeconmico dos estudantes
ingressantes no percentual das cotas; monitorar os
resultados acadmicos dos ingressantes no percentual das
cotas; realizar estudo dos egressos; e pensar a poltica de
ao afirmativa a partir de agora, no mdio e longo prazos,
muito mais no que se refere, efetivamente, permanncia
dos nossos alunos na universidade. Garantir a eles um
estudo de qualidade, estimul-los a ter uma vida acadmica
integral para o seu desenvolvimento.
O meu prazo est terminando, mas eu apenas
gostaria de terminar para esclarecer a Vossas Excelncias
da importncia do auto reconhecimento.
Falar em poltica de ao afirmativa
lembrar de Axel Honneth, quando ele fala na luta por
reconhecimento. E a luta pelo reconhecimento a luta
contra qualquer violao dignidade, honra, porque
isso que favorece a autoestima, isso que favorece a
emancipao humana.
Eu termino com uma citao de Mia Couto: Os
homens criaram fronteiras, ergueram bandeiras, mas s h
duas naes: a dos vivos e a dos mortos.
Muito obrigada.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeo a Professora Jnia
Saldanha pela relevante contribuio que traz para esse
debate.
Eu convido, agora, para manifestar-se, o
magnfico Vice-Reitor Professor Carlos Eduardo de Souza
Gonalves, da Universidade do Estado do Amazonas. Far uso
da palavra por at quinze minutos.
05.03.2010 (Sesso ocorrida tarde)
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR CARLOS EDUARDO DE SOUZA GONALVES -
Excelentssimo Professor, Ministros do Supremo Tribunal
Federal, a Universidade do Estado do Amazonas uma
universidade recm criada em 2001. Ns somos de um Estado
onde o ensino superior foi desprezado ou no teve
oportunidade durante muito tempo. Embora comeando em
1907, at 1987 s existia uma instituio de ensino
superior no Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas um
Estado gigantesco, em termos territoriais. So um milho e
quinhentos mil quilmetros quadrados e uma populao de
apenas trs milhes e duzentos mil habitantes. O problema
da ocupao populacional do Estado muito grande,
considerando-se que Manaus concentra mais de 50% da
populao de todo o Estado. H, portanto, um grande vazio
demogrfico, em termos de, no interior, a relao de um
habitante por quilmetro quadrado. A distncia entre as
cidades e os municpios dificultada pela forma, pelo
sistema logstico do Estado. Temos como exemplo uma
distncia entre Manaus e o Rio Juru, a cidade de Eirunep,
que fica no extremo oeste do Amazonas, dista de Manaus mil
e trezentos quilmetros em linha reta; j atravs do Rio
Juru, so cinco mil quilmetros. O motor comum de linha do
Estado do Amazonas leva de quinze a vinte dias de Manaus a
Eirunep. Quando foi criada a Universidade do Estado do
Amazonas, ns tnhamos a seguinte situao: uma populao
de trs milhes, duzentos e vinte um mil, novecentos e
trinta e nove habitantes em sessenta e dois municpios, uma
populao indgenas distribuda em sessenta e seis povos,
vinte e nove lnguas faladas e o acesso s diversas regies
do Estado feito apenas por via fluvial e via area. Para
resolver esse problema, foi criada a Universidade do Estado
do Amazonas com o objetivo de interiorizar a formao do
ensino superior. As escolas pblicas, a rede pblica de
ensino no interior tinha apenas 3% dos professores, de
primeira quarta srie, formados em nvel superior. Todo o
magistrio era formado apenas em curso de magistrio,
ensino mdio ou em programas especiais do Ministrio da
Educao.
Ao ser criada a universidade, em 2001, no
primeiro vestibular, ns nos deparamos com uma situao
muito complicada, resultante da prpria inexperincia na
sua criao. Fez-se um vestibular gratuito e inscreveram-se
nesse primeiro vestibular cento e oitenta mil candidatos.
Uma parte deles tambm de Estados vizinhos como Acre,
Rondnia, Roraima, Amap e Par. Na primeira prova, tivemos
uma ausncia de trinta mil candidatos, isso representa o
nmero de inscritos no vestibular da universidade federal.
Ento se estabeleceu o sistema de cotas e de reserva de
vagas para o ingresso na universidade. Em 2004, a
Assemblia Legislativa votou uma lei, a Lei n 2.894, com o
objetivo de corrigir os desvios de formao e as
dificuldades de formao superior no interior do Estado.
Este sistema de cotas estabelecia o
seguinte: do total de vagas do vestibular, 80% (oitenta por
cento) seriam destinados a candidatos que tivessem feito o
ensino mdio no Estado do Amazonas e 20% (vinte por cento)
para candidatos de qualquer origem. Os 80% (oitenta por
cento) dos candidatos oriundos do Estado do Amazonas, no
necessariamente nascidos l, mas que tivessem vivido os
ltimos trs anos l, se dividiram em dois grupos: 40%
(quarenta por cento) para qualquer tipo de escola e 60%
(sessenta por cento) para as escolas pblicas. Os cursos da
rea da sade foram divididos em dois grupos: 50%
(cinqenta por cento) para as inscries abertas, mas de
acordo com aquele sistema anterior, e 50% (cinqenta por
cento) para candidatos que residissem ou tivessem feito
oito anos do ensino bsico no interior. Por que isso? No
interior do Estado do Amazonas a maioria dos mdicos foi
formada na Bolvia ou na Colmbia, porque so os mdicos
que esto disponveis l e eles no conseguem registrar
seus diplomas, uma vez que no tm curso reconhecido no
Brasil. Hoje o Ministrio da Educao, junto com vinte e
duas universidades, est fazendo um esforo para tentar
resolver a situao dessas pessoas, mas so eles, no
interior do Estado do Amazonas, que esto nos hospitais
medicando, clinicando, sem o devido registro no Conselho
Regional de Medicina.
Esses percentuais foram distribudos em
grupos, de tal maneira que o candidato se inscreve no grupo
conforme o perfil definido para grupo. Ento nos temos os
grupos I e II, destinado a candidatos que estudaram o
ensino mdio no Amazonas e escola pblica e que no tenham
curso superior nem estejam cursando curso superior em
escola pblica. Os grupos II e VII se destinam a candidatos
que so egressos do ensino mdio de qualquer natureza e que
no tenham curso superior. Os grupos III e VIII so
egressos do ensino mdio de qualquer tipo de escola, fora
do Estado ou de qualquer regio, mesmo fora do pas, e que
tenha curso superior, no importa a sua formao e a
escola. Os grupos IV, V e IX repetem na rea da sade a
mesma origem. O grupo IX especial, destinado aos alunos
candidatos que venham do interior e que ocupam numa
distribuio de vagas por plos regionais. So dez plos,
de tal maneira que os candidatos daquela rea, daquela
regio, disputam as vagas destinadas quele plo. E,
finalmente, o grupo X o destinado formao de indgenas
declarados pelo Estatuto do ndio que define a documentao
apresentada. Para o controle disso - da candidatura e da
matrcula dos alunos comprovados -, feito atravs do
histrico escolar. Portanto, a exigncia de que sejam
oriundos de escolas pblicas, eles comprovam apenas com o
histrico escolar. E o grupo X, dos ndios, o grupo que
comprova a sua condio atravs da documentao exigida
pelo Estatuto do ndio.
Com o estabelecimento desse sistema de
cotas, a partir de 2005, ns tivemos uma demanda judicial
muito alta e essa demanda judicial, aparece a, so, no ano
de 2004, trezentas e oitenta liminares concedidas, no ano
de 2005, so quatrocentos e cinqenta liminares
concedidas. Se ns considerarmos que essas liminares se
concentram em alguns cursos de maior demanda, como o caso
de Medicina e Direito, elas, somadas, representam um nmero
maior do que o nmero de vagas existentes para aqueles
cursos. O que ocorria era que ns ramos obrigados a
matricular mais alunos daqueles cursos do que os nmeros
disponveis no vestibular.
Com a existncia da lei a partir de 2005
essa demanda e essas liminares concedidas caram para
cinqenta e sete, e em 2007 para quinze. H um crescimento
no ano de 2008 por conta, exatamente, do retorno
discusso ao assunto. Surgiram as primeiras demandas nos
tribunais com relao inconstitucionalidade das cotas,
isso trouxe baila, de novo, o problema. E, a, houve uma
demanda que j estava retida, j havia diminudo,
consideravelmente.
Dessas demandas, o grupo que est chegando
ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ, os nmeros so
resultado daquelas liminares concedidas entre 2004 e 2006.
Elas esto chegando agora ao Tribunal.
O resultado deste trabalho, feito na
Universidade, que ns conseguimos universalizar o ensino
universitrio em todo o territrio do Estado do Amazonas.
Hoje, foram diplomados pela Universidade do
Estado, de 2005 at a metade deste ano, 22.000(vinte e dois
mil) alunos, destes 17.000(dezessete mil) so do interior
do Estado.
O corpo docente das escolas pblicas, do
ensino bsico, eram compostos de 3% (trs por cento) de
formao de ensino superior. Hoje, na rede pblica de
ensino 98% (noventa e oito por cento) dos professores tm
curso superior.
Oferecemos este ano 4.700 vagas para o
vestibular e dessas 4.700 apenas 1.300 so para Manaus, o
restante so destinadas ao interior do Estado. O desempenho
dos alunos que entraram atravs das cotas muito bom,
consideradas as deficincias de formao original.
O ENEM de 2002, o ENADE de 2002, apresentou
um resultado negativo com relao ao desempenho dos
estudantes do Amazonas, que atingiu os ltimos lugares em
desempenho escolar. E isso foi revertido nos ltimos anos,
na ltima prova, o Amazonas pulou de 25 para o 14 lugar
nos resultados dos exames de avaliao. Isso por conta da
formao dos professores que hoje atuam no Estado do
Amazonas, no interior do Estado.
Em nosso entendimento, as cotas, para ns,
significam uma maneira de distribuir melhor o nosso
potencial no Estado e eliminar ou desfazer o desequilbrio
entre Manaus, que tem hoje dois milhes de habitantes, e o
interior do Estado que tem apenas um milho e setecentos
mil, vivendo beira dos rios, escondidos nas matas.
Atravs da tecnologia, ns estamos tambm chegando a esses
lugares. E as cotas nos ajudam sobremaneira para corrigir
essa situao.
Obrigado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado, Professor. Eu peo
tambm para fazer uma pequenssima pergunta, mais uma
curiosidade.
O Estado do Amazonas quase um pas, tem as
dimenses de um pas europeu, ou supera em dimenses muitos
pases europeus. A Universidade do Estado est fisicamente
distribuda no territrio, ou ela se concentra em Manaus?
O SENHOR CARLOS EDUARDO DE SOUZA GONALVES
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS) - No, a Universidade
do Estado do Amazonas hoje est em 19 municpios com sede
prpria, mas dispe, em todos os municpios, de 168 salas
de aulas equipadas com biblioteca, com tecnologia de
transmisso de TV, internet etc., para todos os trabalhos
que ns fazemos.
Dentro dos prximos 15 anos, ns deveremos
ter uma base fsica em cada um dos municpios. Este ano
sero construdas mais 10, passando, portanto, a 26 sedes
fixas no interior. Ns temos 62 municpios apenas.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Est bem. Muito obrigado,
Professor, por sua participao. Foi muito elucidativa.
Eu agora convido para fazer uso da palavra o
Professor Marcelo Tragtenberg, da Universidade Federal de
Santa Catarina.
Professor Marcelo, o senhor filho do
Professor Maurcio Tragtenberg? Eu fui aluno dele na Escola
de Sociologia e Poltica de So Paulo.
O SENHOR MARCELO TRAGTENBERG (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CATARINA) - um prazer.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Um grande admirador do Professor
Maurcio, Professor de Cincia Poltica de grande renome.
Tenho uma grande satisfao de rev-lo agora no filho, com
essa projeo tambm que j ombreia com o seu pai.
Portanto, o senhor est com a palavra por
at 15 minutos.
*****
05.03.2010 (Sesso ocorrida tarde)
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR MARCELO TRAGTENBERG (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CATARINA) - Excelentssimos Ministros
Ricardo Lewandowski e Crmen Lcia, Excelentssima vice-
Procuradora-Geral Deborah Duprat. Eu agradeo imensamente a
oportunidade de expor o Programa de Aes Afirmativas da
UFSC, seus fundamentos e resultados preliminares.
Cumprimento Vossa Excelncia pela convocao desta
Audincia Pblica, que representa um momento histrico de
discusso de um tema to relevante para o desenvolvimento
do Pas, como as cotas raciais e scio-econmicas. E muito
agradecido pela referncia pessoal. um prazer estar aqui.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado.
O SENHOR MARCELO TRAGTENBERG (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CATARINA) - Eu sou do Departamento de
Fsica da UFSC e da Comisso de Aes Afirmativas, que
acompanha o programa, e do Instituto Nacional de Cincia e
Tecnologia de Incluso no Ensino Superior e na Pesquisa do
CNPq.
Quero dedicar essa apresentao a Martin
Luther King Jr., defensor das cotas raciais no mundo do
trabalho e de aes reparatrias para negros de forma geral
e dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos.
Inicialmente eu gostaria de fixar a ateno
nas polticas afirmativas para o ensino superior voltadas
para a neutralizao de efeitos de discriminaes scio-
econmica e racial - do ponto de vista dos indgenas, no
estamos discutindo nesta Audincia Pblica.
A desigualdade econmica brutal existente no
Brasil um consenso, ningum discute essa questo. H
pessoas que recebem mil vezes mais do que outras; h cursos
universitrios onde no entra nenhum aluno de escola
pblica - era o caso do Curso de Cinema e Jornalismo da
UFSC. H ainda esses cursos mesmo em universidades com
aes afirmativas, como a Universidade So Paulo, porque
elas no prevem reservas de vagas, que prev um mnimo de
uma meta de diversidade scio-econmica em todos os cursos.
Aes afirmativas de recorte scio-econmico, ento, so
essenciais para garantir direitos universais que polticas
universalistas no garantem e possibilitar a diversidade e
a convivncia de diferentes.
Eu vou falar basicamente sobre os
fundamentos e os resultados preliminares do programa de
aes afirmativas. Entre um dos fundamentos do programa
est a discusso da questo racial. Ns temos no Brasil um
apartheid racial. Se acompanharmos no estudo apresentado
pelo Professor Roberto Martins, na Unifesp, em 2004 - em
amarelo est a frica do Sul e em azul o Brasil - vemos
que, em termos de percentual de negros que freqentaram e
se formaram nas universidades, o percentual
aproximadamente igual ao da frica do Sul, porm no ensino
fundamental e mdio, a frica do Sul tratou melhor os seus
negros durante o apartheid do que o Brasil. Portanto, temos
um apartheid igual ou pior do que o da frica do Sul no que
se refere questo racial. Qual o impacto disso? o
impacto econmico. Estou aqui compilando um estudo de Simon
Scwartzmann, o qual mostra que as pessoas com ensino
superior e ps-graduao ganham muito mais do que as
pessoas com ensino fundamental e mdio completo. Portanto,
isso implica uma reduo, tambm, uma excluso scio-
econmica da populao negra.
Aqui se discutiu muito se o racismo ou se o
problema de acesso ao ensino superior se d pela cor da
pele ou pela questo scio-econmica. Quero mostrar que
pelas duas coisas e independentemente. Vou citar casos de
estudantes que foram impedidos de realizar o vestibular na
Federal do Rio Grande do Sul porque eram negros, estavam
correndo para os portes da universidade e foram barrados
porque eram suspeitos. Vou citar o caso de um dentista
negro assassinado uma semana depois de se formar porque foi
levar sua namorada sua para o aeroporto de Guarulhos, ela
ia retornar ao seu pas. Portanto, no Brasil, os negros so
sempre suspeitos.
Eu queria retomar o que o Professor Joo
Feres colocou aqui: preciso estudar se existe
discriminao racial em toda escala econmica a partir da
mobilidade social diferencial entre negros e brancos. Um
estudo de Carlos Costa Ribeiro, que contrrio s cotas
raciais, mostra que a mobilidade diferente para negros e
brancos acima de sete anos de escolaridade e vai piorando
conforme cresce o nvel de escolaridade. Portanto, h mais
desigualdade racial de mobilidade para negros de classe
mdia em relao a brancos do que para negros pobres.
Queria mostrar agora um slide que diz
respeito a uma acusao bastante grave feita ao IPEA, ao
IBGE e s universidades que esto com programas de ao
afirmativa de recorte racial, que a manipulao de
ndices na considerao de que pretos e pardos devem ser
juntados como negros. No acesso ao ensino superior, o que
temos nesse grfico que o percentual da populao entre
vinte e quatro e sessenta e quatro anos que completou a
universidade por cor tem um crescimento cinco vezes maior
para brancos do que para pretos e pardos, entre 1960 e
1999. Se tivermos ateno com relao aos pretos e pardos,
podemos dizer que, no acesso ao ensino superior, Senhor
Ministro, os pretos e pardos tm, aproximadamente, o mesmo
perfil. Logo, podem ser juntados em uma categoria
classificatria de negros. Portanto, no h manipulao
alguma.
Por outro lado, tambm foi levada durante
vrias intervenes a idia - que eu diria ser de senso
comum - de que se se reservarem vagas para pessoas de
escolas pblicas, isso automaticamente inclui negros nas
universidades. No entanto, devo chamar a ateno de que no
foi apresentado nenhum estudo sobre isso. Ns realizamos um
estudo sobre isso em Santa Catarina, em que fizemos uma
simulao na qual reservamos metade das vagas de cada curso
da universidade para pessoas com ensino mdio pblico. Isso
no mudou o perfil racial da Universidade Federal de Santa
Catarina.
Portanto, o senso comum s vezes nos engana.
No adianta reservar vagas para escola pblica, que isso
no necessariamente, no automaticamente inclui negros.
outra linha de interveno que tem que ser dada no sentido
da incluso de negros. Isso pode ser mostrado negativamente
pela experincia do INCLUSP, que o Programa de Incluso
da USP. Ele aumentou o acesso de candidatos de Ensino Mdio
Pblico, na USP - temos 30% at no curso de medicina, uma
marca histrica -, no entanto, no mudou estatisticamente,
significativamente o nmero de negros na universidade. A
prpria universidade estadual de Campinas, que tambm
realizou um estudo em que simulou a aplicao de bnus
somente para alunos de escolas pblicas, verificou que isso
reduziria o percentual de negros. por isso que surgiu o
bnus para pretos, pardos e indgenas, que est no programa
que recentemente foi apresentado.
O nosso Programa de Ao Afirmativa da
Universidade Federal de Santa Catarina um programa que
pretende atingir vrios nveis de incluso. O primeiro a
ampliao do pr-vestibular gratuito. O segundo se d, com
relao s cotas de 20% pra estudantes do Ensino
Fundamental e Mdio pblico, 10% para negros
prioritariamente do Ensino Fundamental e Mdio pblico e
vagas suplementares para indgenas. H uma srie de
iniciativas de permanncia e uma iniciativa de
acompanhamento dos egressos. A implantao se deu a partir
de 2008 e vai haver uma reavaliao aps cinco anos.
Ento, com isso, gostaria de salientar um
ponto, Senhor Ministro, que muito importante. Temos
desigualdades em vrios nveis: desigualdades no acesso ao
curso pr-vestibular, como a professora Eunice Duran notou;
desigualdade de acesso scio-econmico, tnico-racial - e
para indgenas - e dificuldade de acesso do conjunto dos
inscritos no vestibular. No h vagas suficientes. Alm
disso, h um problema de interiorizao da Universidade
Federal de Santa Catarina. Ela s tinha uma sede em
Florianpolis. O programa e as iniciativas da administrao
central se dispem a atacar em todas as frentes. As
desigualdades so enormes, todas precisam ser atacadas. Vou
citar inicialmente a do pr-vestibular. O pr-vestibular,
nas figuras grens, em 2007, aprovou 15% dos estudantes na
Universidade Federal de Santa Catarina; 2008, 20%; 2009,
30% e, segundo o reitor, em audincia, nos comunicou que
foram aprovados 40%, em 2010, no pr-vestibular gratuito
para pessoas de baixa renda e com Ensino Mdio pblico. E
isso ... Podemos ver que, em 2008 e em 2009, tambm h uma
participao da poltica de cotas para escola pblica e
para negros.
preciso, ento, coordenar a preparao
pr-vestibular com uma poltica de cotas e com o aumento de
vagas. A Universidade Federal de Santa Catarina, em quatro
anos, aumentou cinqenta por cento de suas vagas.
O acesso do ponto de vista do Ensino
Fundamental e Mdio pblico, na Universidade Federal de
Santa Catarina, em 2007, entre os inscritos em azul e os
classificados em gren, vemos que havia, antes do Programa
de Aes Afirmativas, Senhor Ministro, uma seletividade
scio-econmica. Somente 2/3 dos que se inscreviam
aproximadamente, do percentual dos que se inscreviam,
entravam na universidade. Em 2008, h uma promoo scio-
econmica e, em 2009, h um equilbrio entre o percentual
de inscritos e de classificados, mostrando que o Programa
de Aes Afirmativas tem um resultado de incluso scio-
econmico. E, do ponto de vista dos negros, o Programa de
Aes Afirmativas, antes dele, em 2007, havia uma pequena
seletividade racial entre os inscritos e os classificados.
A partir de 2008 e 2009, temos uma promoo racial. Ento,
sinteticamente, do ponto de vista scio-econmico e tnico-
racial, houve uma promoo desses grupos sociais.
Existem outros dados que no vou poder
mostrar, devido ao pouco tempo, mas vou falar rapidamente
que a seletividade de negros, na classificao geral e nas
cotas para escola pblica, revelou-se semelhantes.
Portanto, no suficiente cotas da escola pblica para
negros - agora, de um ponto de vista experimental, a partir
da experincia das cotas da escola pblica.
As cotas para negros abrangem negros que no
fizeram todo o Ensino Fundamental em escola pblica. Os que
fizeram ensino pblico so insuficientes para o
preenchimento das cotas, eles so aproximadamente metade
dos estudantes. Isso se d, segundo a nossa interpretao,
pela dizimao da populao negra atravs do trajeto
educacional e social para a universidade. No h estudantes
formados que possam entrar na universidade que venham s de
escola pblica, da a necessidade de priorizar os de escola
pblica, mas abrir a possibilidade aos de outro percurso
escolar que possam ingressar na universidade.
H outra questo bvia que o racismo
atinge a todos, os de escola pblica e os de escola
particular.
As cotas tambm para negros em escola
pblica aumentaram o percentual dos isentos da taxa do
vestibular entre os classificados.
Isso eu j mencionei que aproximadamente
metade dos estudantes que entraram pelas aes afirmativas
para negros so de outro percurso escolar.
Com relao questo da verificao da
autodeclarao de negro/indgena, ns temos uma comisso
que no secreta, que entrevista o candidato e se baseia
no reconhecimento social do fentipo. Qual o resultado do
trabalho dessa comisso? Em 2008, 3% dos optantes pelas
cotas para negros no tiveram a autodeclarao validada. Em
2009 e 2010, 5% no a tiveram validada tambm. E a
justificativa dessa deciso que foi unnime no Conselho
Universitrio, em 2007, que qualquer poltica pblica
dirigida para um determinado grupo precisa ser fiscalizada,
para saber se realmente vai estar voltada para este grupo,
como, por exemplo, o bolsa famlia, voc precisa saber se
as pessoas, efetivamente, que a esto recebendo,
necessitam. E qual a fundamentao tcnica dessa idia? A
fundamentao a consistncia entre a autodeclarao de
preto/pardo/branco com a heterodeclarao.
Ento, eu poderia exibir aqui dois estudos:
um do Plano Nacional de Desenvolvimento da Sade de 1996 e
o estudo que foi realizado com uma grande amostra da
populao de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em que foi
encontrada de 89 a 92% de concordncia entre a hetero e a
autodeclarao, o que, em estudos de sade pblica,
considerado uma excelente concordncia.
Portanto, sabe-se muito bem quem negro e
quem no , e isso tem uma fundamentao estatstica.
Por outro lado, o genoma intil, a
gentica intil para dizer quem negro e quem no . Se
Daiane dos Santos e Neguinho da Beija-flor tem 60% de
marcadores africanos, quem atribuiria a eles o absurdo de
serem brancos? Ningum faz exame de DNA, Senhor Ministro,
para discriminar racialmente, isso se faz pela aparncia.
No entanto alguns erros podem ocorrer, como ocorreram na
UnB, mas se ocorre um erro ele deve ser corrigido e no se
deve inutilizar o sistema como um todo.
Minha ltima observao: se faltaram
brancos, pobres, na UnB, deve ser a UnB, mediante uma
avaliao e no gozo da autonomia universitria de auto-
reflexo sobre os critrios de ingresso, que deve instituir
cotas para a escola pblica e no eliminar as cotas para
negros. Eu gostaria s de mostrar uma pequena incoerncia
que existe nos contrrios s cotas raciais. Eles se referem
a negros em vrios momentos, portanto, os identificam. Os
negros so mais pobres, no entanto eles dizem ser
impossvel saber quem negro e quem no .
Para finalizar, eu gostaria de dizer muito
rapidamente que a reprovao dos estudantes negros cerca
de 50% maior no primeiro semestre do programa do que a da
classificao geral que igual ao dos estudantes de escola
pblica. No entanto, os negros so os que mais permanecem.
So guerreiros, pessoas acostumadas s adversidades.
Muito obrigado, Senhor Ministro.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Peo que no aplaudam, por favor.
Aqui uma sesso do Supremo Tribunal Federal, embora seja
uma sesso pblica, administrativa, mas uma sesso que
observa todo um ritual e um protocolo.
Eu agradeo ao Professor Maurcio
Tragtenberg e ouviremos agora a manifestao de Sua
Excelncia a Juza Federal, Fernanda Duarte Lopes Lucas da
Silva, da Seo Judiciria Brasileira.
Mas antes da eminente Magistrada assomar ao
plpito, a Ministra Crmen Lcia tem uma indagao ao
Professor Tragtenberg. Talvez o Professor pudesse
compartilhar a tribuna com a eminente Magistrada para
responder a questo da Ministra Crmen Lcia.
A SENHORA MINISTRA CRMEN LCIA - Na
verdade, professor, o que eu gostaria era basicamente de
ter a convico a respeito de um dado - se entendi bem -
que Vossa Senhoria ofereceu. Ns sempre ouvimos, desde
sempre, no sei se um pouco folclore, se fato, se h
comprovao, inclusive dos outros membros deste debate, que
na classe artstica - e na primeira fileira temos aqui uma
grande artista brasileira, a quem Papai do Cu honrou,
pondo a mo na garganta e fazendo com que todos ns
cantssemos com ela -, mas sempre se entendeu que na classe
artstica estaria um pouco, seno dissolvida - repito, no
sei se isso dado ou folclore ou se s discurso - e,
no entanto, professor, o senhor disse que em alguns cursos
como o de Cinema e Jornalismo, eu vou chamar ateno para
cinema, porque seria uma manifestao; alis, uma das
artes excelentes que ns temos. E mesmo l, ou nesses dois,
eu quero ter certeza de que o senhor apontou que neste caso
no haveria nenhum negro, fato?
O SENHOR PROFESSOR MARCELO TRAGTENBERG
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA) - No, no fato.
Em 2006, no ingressou nenhum estudante de escola pblica
no ensino fundamental e mdio nesses dois cursos. Entraram
estudantes negros, no saberia lhe dizer de cabea os
percentuais, so percentuais baixos, porm; porque so
cursos extremamente seletivos e foi onde as cotas
representaram.
A SENHORA MINISTRA CRMEN LCIA - A
seletividade, portanto, aumenta a demonstrao de todos
esses problemas que esto sendo levantados nestes dias.
Certo?
O SENHOR PROFESSOR MARCELO TRAGTENBERG
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA) - Tanto o scio-
econmico, quanto o tnico-racial.
A SENHORA MINISTRA CRMEN LCIA - Quanto ao
tnico-racial, haveria algum dado relativo - que no
objeto inclusive da ADPF, nem do recurso extraordinrio,
mas como o tema est posto, e a eu falo de ctedra, embora
com a toga, no como juza, mas, como mulher ns sofremos
preconceito, e o preconceito um sofrimento -, h alguma
dado que tenha sido feito considerando-se se haveria
preconceito ou, enfim, se haveria algum bice maior
mulher negra? Foi feito algum tipo de estudo dessa
natureza?
O SENHOR PROFESSOR MARCELO TRAGTENBERG
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA) - Com relao ao
gnero, ns no estudamos.
A SENHORA MINISTRA CRMEN LCIA - Unindo o
gnero e o preconceito racial, no?
O SENHOR PROFESSOR MARCELO TRAGTENBERG
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA) - No foi feito
isso.
A SENHORA MINISTRA CRMEN LCIA - Muito
obrigada, de toda a sorte.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu agradeo a questo da Ministra
Crmen Lcia e vejo que ao longo dos debates, salvo
engano, no foi feito um estudo a respeito da eventual
discriminao da mulher negra com relao ao homem negro.
A SENHORA MINISTRA CRMEN LCIA - Nem a
mulher na questo scio-econmica tambm, porque para ns
que samos de uma situao de pobreza muito mais difcil
a ascenso. Pelo menos a sensao que ns temos essa.
Eu perguntei porque os dados apresentados
foram muito bem postos, todos da mesa, inclusive com
estatsticas mostrando esses acompanhamentos, a
continuidade. Da a preocupao que eu tive com relao a
um dado especfico, apresentado pelo professor.
Eu agradeo muito o esclarecimento.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu tenho a impresso de que a
Ministra Crmen Lcia est imaginando, provavelmente, com
um grau muito grande de certeza, que a mulher, por ser
mulher e ser negra, duplamente discriminada.
A SENHORA MINISTRA CRMEN LCIA - Por ser
mulher, eu tenho certeza, porque eu falo de ctedra. A eu
fao coisa julgada. Infelizmente, somos, sim. Continuamos
sofrendo muito preconceito - eu falo por mim, mas tenho
certeza de que se se perguntasse...
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Antes de dar a palavra eminente
Magistrada Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva, quero
anunciar a grata e honrosa presena do Ministro Dias
Toffoli, que agora participa aqui das nossas sesses e j
tinha manifestado anteriormente seu interesse pelo assunto,
tem acompanho pela TV Justia e anuncio tambm o retorno do
eminente Ministro Joaquim Barbosa.
Ns temos uma ltima interveno da Juza
Federal Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva, que falar
por at quinze minutos. Eu abrirei uma exceo saindo um
pouco do programa inicial, porque tive um pedido por parte
de estudantes que ingressaram pelas cotas raciais na
Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pediram para
fazer um breve pronunciamento, relatando a sua experincia,
mas, tendo em conta exatamente essa necessidade de
preservarmos a isonomia, a igualdade, eu convidei para que
se manifestasse, tambm, um estudante da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul que manifestar, veicular um
ponto de vista contrrio.
Aps as palavras da eminente juza, ns
teremos o depoimento de dois estudantes que tm
experincias contraditrias.
Concedo a palavra doutora para que faa o
seu pronunciamento.
*****
05.03.2010 (Sesso ocorrida tarde)
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
A SENHORA FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA
SILVA - Excelentssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski,
Relator dos processos que deram ensejo presente
audincia, Excelentssimo Senhor Ministro Joaquim Barbosa,
Excelentssima Senhora Ministra Crmen Lcia,
Excelentssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, Excelentssima
Senhora Deborah Duprat, vice-Procuradora-Geral da
Repblica, demais autoridades presentes, meus colegas de
mesa, senhoras e senhores.
A Associao dos Juzes Federais do Brasil
AJUFE - sente-se honrada em participar deste momento
histrico.
inegvel a relevncia que o tema da
igualdade racial - ou de sua falta - traz para o debate
poltico nacional, contribuindo para um amadurecimento
democrtico da sociedade brasileira como um todo.
H um cenrio de excluso j explicitado
por dados de pesquisas cientficas - que marginaliza, quer
por discriminao de cor ou raa, quer por razes
econmicas, ou por quaisquer outros motivos, parte
expressiva da sociedade brasileira.
Tal situao desqualifica a cidadania
brasileira e demanda interveno imediata, pelo menos do
Poder Pblico, j mais do que tardia.
Entretanto, inegvel tambm que as formas
de combater e superar essa excluso histrica e endmica
abrigam diferentes estratgias e vises, inclusive muitas
vezes antagnicas, espelhando a diversidade de
posicionamentos pessoais e polticos, como deve ser em uma
democracia saudvel e plural. Os especialistas que me
antecederam colocam-se como testemunho dessa pluralidade de
discursos e possibilidades de aes.
Habilitada para participar nesta audincia
pblica sobre ao afirmativa, convocada pelo Supremo
Tribunal Federal, a AJUFE entende que sua melhor e maior
contribuio para o presente debate deve ter como paradigma
o respeito ao princpio do livre convencimento motivado que
dirige a atividade judicante de seus associados e que, de
igual forma, norteia as decises tomadas por esta Corte.
Assim, no represento aqui minha opinio pessoal, mas falo
em nome da Associao que, para esse tema especfico, no
adota a defesa ou a condenao do sistema de cotas, posto
que no possvel extrair-se um posicionamento nico e
consensual entre os juzes federais.
Desta forma, nesta breve interveno, a
AJUFE buscar explicitar os desafios a serem enfrentados
pelo Judicirio que, em pocas de judicializao da
poltica, precisa refletir e definir os limites de sua
atuao frente aos Poderes eleitos do Estado e ao mesmo
tempo manter firme seu compromisso com a proteo efetiva
dos direitos fundamentais, razo que justifica e legitima a
existncia de juzes em um Estado democrtico de direito.
Para tanto, dois so os eixos de nossa
interveno.
Em primeiro lugar, apresentaremos um pequeno
levantamento dos casos j julgados em segunda instncia em
todas as cinco Regies que integram o Poder Judicirio
Federal.
Em seguida, trataremos dos desafios que se
colocam e que provocam interveno hoje do Supremo Tribunal
Federal.
No que toca ao levantamento das decises,
nossos dados foram colhidos do Portal da Justia Federal,
administrado pelo Conselho da Justia Federal, em 02 de
maro passado. Em carter descritivo, temos hoje, na
Justia Federal, 32 casos julgados em segundo grau, por
rgo colegiado, sendo o mais antigo julgado em 2005. Os
casos so os mais diversos possveis, envolvendo apelaes
em aes cveis em mandados de segurana e em aes civis
pblicas para a implementao de cotas e se distribuem de
forma assimtrica nas cinco regies que compem a base
geogrfica da Justia Federal.
H 8 casos no TRF da 1
a
. Regio, nos quais a
tendncia do tribunal foi no sentido de referendar o
sistema de cotas.
H 2 casos no TRF da 2
a
. Regio, nos quais
foi reconhecido que a matria demanda disciplina legal.
No h registro de casos no TRF da 3
a
.
Regio.
H 21 casos no TRF da 4
a
. Regio. A maioria
macia dos julgados referenda o sistema de cotas.
H 1 caso no TRF da 5
a
. Regio no qual
tambm restou decidido que o sistema de cotas matria
sujeita reserva legal.
Assim, embora nos casos considerados
prevalea um entendimento que abriga a poltica de cotas, a
matria ainda pouco debatida na maior parte das Regies
que compem a Justia Federal. E de acordo com o caso em
concreto, implicam na considerao, por parte do juiz,
aspectos especficos para validao do sistema ou no,
sendo extremamente sensvel o problema da razoabilidade do
percentual a ser reservado, assim como o critrio a ser
utilizado para a identificao dos beneficirios da medida
afirmativa.
Quanto ao segundo eixo, os desafios, temos
trs nveis de reflexo, que embora possam ser apresentados
de forma separada, na verdade encontram-se intrinsecamente
imbricados e se determinando mutuamente. Temos a questo
jurdica em si; a questo poltica que subjaz ao jurdico e
o papel que nossa Corte deve assumir.
No que toca a questo jurdica, de forma
simplificada, nos parece que o debate gira em torno da
constitucionalidade da adoo de aes afirmativas,
calcadas no sistema de cotas reservadas ao grupo
desfavorecido, com base na aplicao do princpio da
igualdade. A medida da constitucionalidade das cotas est
em fazer ver o julgador que o tratamento diferenciado
adotado razovel e se justifica em razo de seus fins. Se
admitido que a nossa Constituio abriga a adoo de aes
afirmativas, toca ao juiz examinar, basicamente:
1) Se a medida atende aos fins a que ela se
destina, isto , fomenta o combate excluso e
discriminao mediante a incluso, compensao ou
reparao de grupos historicamente marginalizados, as
chamadas minorias; ou se a medida refora o preconceito,
impingindo mais fissuras em nosso tecido social.
2) Se os indivduos favorecidos pela medida
integram essa minoria e para a qual se busca a superao.
Aqui a questo se torna delicada, pois quais so os grupos
marginalizados a serem escolhidos: Negros? Afro-
descendentes? ndios? Pobres? Carentes? E como se
reconhece, se identifica tais sujeitos? Autodeclarao?
Renda per capita? Alunos oriundos da rede pblica de
ensino? Como e quem controla esse sistema de identificao,
coibindo os abusos?
3) Se o percentual das cotas proposto na
sua medida exata, deixando ao concurso universal a disputa
por vagas em nmero suficiente, o que a medida exata?
ndices do IBGE, que retratam os aspectos raciais e sociais
brasileiros? O percentual adotado pelo legislador, vez que
porta voz da vontade popular? O percentual estabelecido
pelas autoridades universitrias, com escopo no princpio
da autonomia universitria?
4) E no que toca ao ensino superior, indaga-
se se o nosso sistema tradicional de acesso por mrito pode
ser compatibilizado com um regime de cotas, que diferenciam
o mrito de uns e de outros, amplia ou reduz o acesso?
Amplia para quem e reduz para quantos?
Na verdade, a resposta a essas indagaes
jurdicas tem por pressuposto questes de natureza
poltica, que trazem baila paradoxos da nossa sociedade
que nem sempre queremos enfrentar, ou que nem sempre
queremos ver. Por outro lado, implicam em concepes de
mundo que expressam vises distintas do que seja a
igualdade e a justia. Ademais, em uma cultura como a
nossa, hierarquizada e desigual, como descrita por Roberto
da Matta, como entender as cotas, privilgios ou medidas de
restaurao de uma igualdade perdida? Como afinal
distribuir os bens de nossa cultura com base em critrios
de isonomia?
Especificamente, no que toca s cotas
raciais, o tema coloca em discusso o mito da democracia
racial brasileira. Afinal, as cotas combatem o preconceito?
Ou geram mais preconceito? Uma idia fora do lugar?
Reconhecimento de diversidade? Ou uma resposta a uma
demanda poltica legitimamente organizada que, no espao
pblico, se traduz na capacidade de gerar aes polticas e
jurdicas que sufragam suas reivindicaes?
O tema evidencia a necessidade de que
algumas afirmaes sejam investigadas e explicitadas.
Afinal de contas, o preconceito racial ou a excluso
scio-econmica? O que de fato somos e como nos
relacionamos com o outro, e como valorizamos o outro?
Em nossas relaes de fora, quem pode mais
e quem pode menos? Somos assimtricos, reproduzindo
relaes verticais que aprofundam o fosso das desigualdades
e privilgios?
Por fim, o terceiro desafio diz respeito ao
papel que o Supremo Tribunal Federal assumir; e, de certa
feita, define paulatinamente os rumos, propsitos e limites
de nossa jurisdio constitucional.
Na verdade, antes de decidir sobre a
constitucionalidade das cotas, o Supremo Tribunal dever
decidir a quem cabe, nesse tema, melhor decidir. Quem nesse
tema tormentoso melhor representa os anseios da sociedade
brasileira? Os juzes? Ou a prpria sociedade,
representada pelo Legislativo e pela Universidade? Deve a
Corte, sob a pecha de seu inevitvel carter contra
majoritrio, assumir para si a deciso poltica, traduzida
no debate jurdico? Ou deve a Corte assumir uma postura de
deferncia para com demais centros de poder envolvidos na
questo, reconhecendo que os mesmos so o frum adequado
para o exerccio do debate democrtico que leva melhor
deliberao?
Se assegurado o procedimento
democrtico que gerou as estruturas normativas ora em
cheque deve o Supremo decidir substancialmente sobre essa
matria, substituindo-se a essas instncias? Ou deve a
Corte resguardar a autonomia dessas mesmas instncias,
posto que na ausncia de violaes no h que se falar em
interveno judicial?
Enfim, se admitirmos que outros atores
participam da construo da Constituio, a fora normativa
da Constituio pode estar para alm das barras dos
tribunais, sugerindo uma nova dinmica de relao entre os
trs poderes do Estado e a prpria sociedade civil?
Muitas so as perguntas a serem feitas.
E so as respostas dadas em relao a
essas indagaes difceis e inquietantes que serviro de
arcabouo para a construo ou adoo de uma ou de outra
tese jurdica a favor ou contra o sistema de cotas raciais
e sociais.
So essas questes que a sociedade
brasileira v hoje postas a mesa, cujo debate agora se
desloca para esfera judicial. So essas respostas que o
Judicirio precisa construir, refletindo com serenidade e
maturidade sobre as implicaes de suas decises. Para
tanto, preciso saber escutar, para melhor decidir!
Por fim, a AJUFE - Associao dos Juzes
Federais do Brasil agradece a oportunidade e confia que a
deciso de questo to sensvel, sobre os limites de nossa
igualdade, a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
ser um elemento de fortalecimento para todos ns, cidados
brasileiros, compromissados com a consolidao de uma
democracia aberta ao dilogo plural, marcado por posies
antagnicas, mas com esprito de acolhimento e respeito
para com todas as divergncias.
Obrigada pela ateno.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado, Doutora Fernanda Duarte
Lopes Lucas da Silva, que representa a AJUFE, a combativa
Associao dos Juzes Federais do Brasil.
Eu convido agora para que se manifestem os
representantes dos estudantes que participaram, em Estados
diferentes, do sistema de cotas. Primeiramente, respeitando
o nosso sistema tradicional do contraditrio, adotado em
nosso sistema processual, falar o estudante que se
manifestar, digamos assim, desfavoravelmente s cotas,
ao afirmativa que foi levada a efeito em sua
universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Ele ter no quinze minutos, mas alguns minutos apenas para
fazer uma manifestao. Como no tem seu nome na lista,
porque est sendo convidado de improviso, peo que ele se
apresente tribuna e decline o seu nome, o curso que faz
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Peo silncio de todos os presentes, por
favor.
Vamos tentar regular o tempo, por uma
questo de isonomia. O tempo que esse estudante falar ser
concedido ao outro.
*****
05.03.2010 (Sesso ocorrida tarde)
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR DAVI CURA AMINUZO (ESTUDANTE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL) - Excelentssimo
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski e demais componentes da
mesa, autoridades, palestrantes de hoje, senhoras e
senhores presentes, surpreendeu-me, de certa forma, quando
o assessor do Ministro me procurou concedendo esse tempo.
Sei que esse tempo ser concedido tambm ao estudante da
UERJ.
O Ministro pediu para eu me apresentar: meu
nome Davi Cura Aminuzo, sou estudante de Museologia da
UFRGS e funcionrio pblico aposentado em 2008.
Retornando um pouquinho, h trs geraes
atrs, em 1910, meu bisav, fabricante de armas, na Europa,
decidiu no participar da I Guerra Mundial, ele se rebelou
e veio para o Brasil - ele tinha uma condio scio-
econmica excelente l. No Brasil, quando veio para c, em
1910, ele se tornou agricultor e trs geraes se seguiram,
eu sou da quarta gerao. O primeiro, da gerao do meu
bisav, que chega aos bancos universitrios. Hoje estou
cursando Museologia depois de estar aposentado, porque
antes eu no tive oportunidade, nem financeira nem de
tempo. Ou seja, quando as cotas foram institudas na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu, tendo
estudado em escola pblica minha vida toda, talvez o
prprio Ministro Lewandowski e muitos dos senhores aqui, se
se inscrevessem no vestibular da UFRGS teriam o direito a
fazer pelas cotas, hoje, no interessando a sua condio
financeira, sua condio scio-econmica, desde que fossem
oriundos de escola pblica o suficiente.
Bem, aposentado, entendi, quando da
implantao das cotas na UFRGS, que eu estaria usurpando o
direito de um jovem carente de se matricular pelas cotas,
ele perderia sua vaga para mim, e eu j estava aposentado.
Eu quero concluir um curso superior. Comear e concluir um
curso superior, era a minha chance, mas eu abdiquei de
fazer minha inscrio no vestibular por cotas, eu me
inscrevi apenas pelo sistema universal. Eram trinta vagas,
eu fui o vigsimo stimo; da vigsima primeira trigsima
vaga era concedida aos cotistas, como fui o vigsimo
stimo, perdi minha vaga. Mas eu no estava preocupado,
fazia trinta anos que eu no estudava, estudei pouco,
acreditei que havia estudado pouco.
Passaram-se cerca de dez, quinze dias eu vi
uma advogada apresentando-se em um programa de televiso,
no chegou a mostrar as fotos, mas mencionou fotos
publicadas por estudantes ditos "cotistas" em sites de
relacionamentos na internet, especialmente no Orkut, de
suas viagens a Paris, a Londres, a Bariloche, suas casas na
praia, apartamentos de cobertura da famlia, stios, moto,
carro zero quilmetro, que haviam ganho dos pais. Havia
comentrios de colegas, na internet, dizendo: poxa, mas tu
passaste por cotas e ganhaste um carro? Ah, no interessa,
o bom que eu entrei. Cotistas da UFRGS viajando para a
Europa, Estados Unidos, Miami, passeando de barco em frente
Esttua da Liberdade. Essas pessoas tiraram a vaga de
muitos estudantes na UFRGS. Procurei essa advogada, eu a
contratei e em quarenta e cinco dias eu estava, mediante
liminar, graas sensibilidade de juzes e desembargadores
l em Porto Alegre, sensveis como o nosso Ministro que
abriu esta Casa para esta audincia, esses juzes foram
sensveis e me concederam liminar. Hoje estou no quinto
semestre do curso de Museologia. Em janeiro deste ano de
2010 prestei novamente o vestibular, tendo estudado menos
ainda porque cursando e com muito trabalho, muita
dificuldade, mesmo assim logrei passar no vestibular. Fui o
nono colocado pelo sistema universal, apesar de ter me
matriculado pelos dois: pela universal e pelas cotas. Estou
agora regularizado diante da universidade, no apenas
legalmente com ao judicial, mas apenas pelo sistema
universal.
Represento um grupo de cerca de cem
estudantes, no contra os negros, no contra as cotas
sociais. Talvez o Ministro quando comeou deu a impresso
disso, eu no sou contra as cotas sociais muito menos
contra os negros. Vocs so gente batalhadora, gente linda,
que mora no meu corao e no corao deste pas; eu no
estou fazendo mdia com vocs, eu no sou contra as cotas,
sou a favor das cotas.
Agora, uma coisa, vocs esto sendo
ludibriados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Ludibriados. Ela reserva 15% (quinze por cento) das vagas
como est l, neste quadro de lotao, para alunos oriundos
de escola pblica: quatro anos no ensino fundamental e os
trs anos do ensino mdio em escola pblica o suficiente,
sem critrio de renda. E a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul realizou uma pesquisa, durante dois anos, e
constatou que a maior parte dos pobres, dos carentes e dos
desfavorecidos socialmente, so os negros. E esses no
esto sendo atendidos, muitos no esto sendo atendidos,
por qu? Por que isso, vocs no esto entendendo, porque a
maior parte das escolas pblicas do Rio Grande do Sul,
principalmente da Capital, de Porto Alegre, grande parte
delas so escolas de excelncia e nessas escolas de
excelncia estudam inclusive negros, em escola pblica,
negro pode estudar nela. E alguns poucos negros que esto
ali conseguem passar, mas a maior parte so brancos muito
bem scio-economicamente e que viajam para a Europa e que
tm carros importados. E, essas vagas que esto ali, zero
vaga, foram ocupadas pelos negros, na primeira, e doze
pelos de escola pblica. Aquelas vagas que nenhum negro
completou elas voltaram para os alunos de escola pblica,
sem critrio algum de renda, no houve critrio de renda na
seleo; simplesmente voltaram para a escola pblica.
Tudo indicava excelente condio scio-
econmica deles, quando ns vimos no Orkut, com os
endereos obtidos judicialmente constatamos o
desvirtuamento. A nossa advogada que ns contratamos, ns,
os cem estudantes, do movimento contra o desvirtuamento,
no contra as cotas, nem contra as cotas raciais,
Movimento Contra o Desvirtuamento do Sistema de Cotas da
UFRGS, o esprito da lei foi burlado, est sendo burlado.
Nosso movimento, ento, contratou essa advogada e a tese
dela no inconstitucionalidade, nem constitucionalidade,
nem contra os negros, contra as cotas raciais, e, sim, a
tese do desvirtuamento. O dinheiro que est sendo aplicado
do Governo Federal na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul no est sendo aplicado nas cotas. Nas cotas que
beneficiem estudantes carentes e, sim, estudantes oriundos
apenas de escola pblica que curtem frias no exterior. E
que, pela manh, muitos deles, estudam numa escola pblica,
de excelente qualidade, tarde ainda fazem um cursinho,
que pagam cerca de R$3.000,00 (trs mil reais) para fazer
aquele vestibular e logram tirar a vaga de negros e de
brancos pobres.
Estou encerrando por aqui e agradeo a sua
sensibilidade. Tenho certeza que o Senhor vai verificar
isso com mais afinco, os professores que palestraram aqui
eu vi que realmente lhe trouxeram subsdios e o senhor ter
um grande trabalho, um quebra-cabea, mas Deus abenoe o
Senhor!
Muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado pela sua participao,
foi muito ilustrativa para mostrar que esse sistema pode,
tambm, ter distores.
Convido, agora, o estudante que falar ou
relatar sua experincia como cotista na Universidade
Estadual do Rio de Janeiro.
O senhor tambm ter o mesmo tempo
aproximado do seu colega do Rio Grande do Sul, so oito
minutos.
*****
05.03.2010 (Sesso ocorrida tarde)
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
O SENHOR MOACIR CARLOS DA SILVA (ESTUDANTE
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO) - Boa-tarde.
Excelentssimo Senhor Ministro Lewandowski,
queremos agradecer a sensibilidade que o Senhor teve ao
fazer essa abertura de fala.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu gostaria de reiterar o meu
pedido de silncio, porque ns estamos gravando e
transmitindo ao vivo.
Muito obrigado.
O SENHOR MOACIR CARLOS DA SILVA (ESTUDANTE
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO) -
Primeiramente, eu queria falar como sou conhecido, todo
mundo sabe, "Cizinho", fui registrado como Moacir Carlos da
Silva. Fao parte do Coletivo de Estudantes Negros e Negras
- Denegrir, da UERJ, por trs da minha fala tem o apio do
CAUC - Centro Acadmico de Direito; DCE; ASDUERJ -
Associao de Professores da UERJ, ns temos uma moo que
podemos, depois, por problemas burocrticos, trazer de
apoio, proposto pela Sub-reitora de Graduao da UERJ, ao
sistema de cotas.
Foi a nossa solicitao a questo da
problematizao da no-fala de um beneficirio do sistema
de cotas. A UERJ pioneira nessa poltica, foi a primeira
no Brasil a instituir o sistema de cotas e ela no poder
contribuir de alguma forma para o aprimoramento desse
sistema.
Achamos que os argumentos que tm
sustentado, aqueles que so contrrios ao sistema de cotas,
so anacrnicos, pois eles tratam de coisas que poderiam
acontecer. Ns aqui estamos como uma prova viva do que est
acontecendo dentro da UERJ. Todos que acompanham a mdia
sabem que, desde 2003, quando instituda a cota na UERJ,
no teve nenhum tipo de morte de alunos pretos ou brancos
devido questo por ter entrado pelo sistema de cotas,
porque isso alegado na questo do acirramento racial. E a
gente sabe, assim como o relator, o Professor Kabengele
Munanga, a questo do conflito de idias. E a gente sabe
que a UERJ tem essa caracterstica prpria de
enriquecimento de idias, esse debate, tem alguns
professores aqui que a gente v que tm participado de
proposies que temos feito, que temos trazido para aquela
universidade, que, com certeza, se ns negros ali no
estivssemos, no seria trazida por ningum.
E eu aproveito aqui para enfatizar que a
minha fala no legtima para falar em nome de todos os
cotistas do Brasil. Eu quero tratar de uma experincia
muito particular. Eu tinha dado uma entrevista antes,
algum estranhou a minha idade, mas fato, eu tenho 38
anos, fui o primeiro da minha famlia a entrar na
universidade. uma realidade que aqueles que trabalham com
os dados estatsticos sabem que uma das problemticas do
nosso grupo racial a questo da inadequao da faixa
etria nos bancos escolares, e eu sou prova disso. Eu estou
estudando, mas eu trabalho, estou de frias, mas eu
trabalho para poder estudar. E se a gente for colocar a
questo de quando foram criadas as universidades aqui no
Brasil e quanto a gente esteve fora delas.
Eu costumo falar da responsabilidade que
estar aqui falando para o Brasil inteiro. Minha av no
teve fala, minha tatarav, nem sei quem foi minha bisav, a
gente sabe disso, o que aconteceu com a populao negra que
no consegue fazer essa linha retrospectiva da sua
descendncia. Ento um fato, no uma exceo, isso
uma regra.
E a eu queria enfatizar a questo de que o
que a gente est tratando aqui uma questo tica. Ns, s
vezes, gostamos de utilizar algum exemplo dos judeus, da
reparao que foi feita em relao questo do holocausto,
do que eles sofreram, todos ns nos sensibilizamos com
isso, mas quando a gente fala de uma histria de 400 anos
de escravido, que construiu todos esses prdios que a
gente v, a gente sabe que o nosso sangue est ali, nossa
mo de obra foi apropriada, nossa renda foi apropriada, e,
quando a gente fala de reparao, o discurso parece ser o
contrrio: que ns somos racistas, que ns vamos suscitar o
racismo ao contrrio e no verdade; no verdade.
Eu acho que deu para a gente perceber a
qualidade da fala, dos argumentos daqueles que so a favor.
E ns viemos falar sobre um fato.
E outra questo que se perde, no discurso
dos que so contrrios, como se ainda fosse algo que
fosse ser implementado: as cotas vo ser implementadas, vai
acontecer morte, vai baixar rendimento! No, ns somos
prova. Teve uma estudante que teve que ir embora, mas ela
j formada, advogada, passou h pouco tempo para, ela
residente da Procuradoria do Rio de Janeiro, e nica mulher
negra l, e a gente sabe que, se no tivesse as cotas, ela
no estaria disputando essa vaga. Foi qualificada. A gente
sabe que o que a gente est tratando aqui a gente lembra um
pouco daquela discusso do sculo passado dos
abolicionistas e dos no-abolicionistas. Vem minha mente
essa lembrana dos que so a favor da abolio e dos que
so contra a abolio. Mas se sabe que h uma questo
histrica do nosso pas em ter um retrocesso. Na verdade, o
que deveramos estar discutindo o aprimoramento das
polticas de ao afirmativa. Pegando esse gancho, a UERJ
um exemplo muito importante e enriquecedor nesse sentido,
porque todos esses outros argumentos - que a questo do
pobre - sabemos que, independente de ser negro ou oriundo
da escola pblica, na UERJ, tem o recorte econmico. No
basta ser negro para pleitear a vaga, o acesso por esse
sistema. Ele tem que comprovar a questo de renda. A so
contemplados: estudantes de escola pblica, preto ou
branco, negros, indgenas. E tem outra coisa que foi
aprimorada, tambm, dentro da lei, a questo dos
policiais - sabemos o quanto precria a situao dos
policias, que em sua maioria tambm so negros, mortos em
combates -, dos bombeiros, dos agentes penitencirios, os
filhos deles tm direito tambm a esse tipo de acesso. A
UERJ serve de exemplo para outras universidades aprimorarem
esse sistema, que tem sido um sucesso. O Brasil ocupa hoje
a quinta potncia econmica no mundo, mas em questo de
desigualdade somos comparados aos pases africanos.
nesse sentido que vai a nossa
argumentao, nossa fala. Sabemos que ns fomos "forjados"
para esse dia. Nossa movimentao para estarmos aqui
presentes, Senhor Ministro, tem sido movimentada desde
novembro. Como falei, fizemos a inscrio, o reitor fez a
inscrio, e fomos preparados para este dia e sabemos a
responsabilidade que e o que representa para um grupo que
historicamente foi excludo de tudo; que tm morrido muitos
jovens, homens pretos, mortos pela polcia. H sempre o
paralelo: que a polcia usando, s vezes, o prprio negro
para fazer alguns tipos desse servio - a gente sabe. E tem
aquele outro argumento contrrio: _ Mas foi um preto que
matou! E sabemos quem estruturou todo esse sistema, quem
engendrou todas essas questes.
Ento, acreditamos que a questo tnica tem
que ser levada em conta, no uma questo simplesmente
constitucional.
Ns queremos agradecer a sensibilidade de
Vossa Excelncia a esta questo. Muito obrigado.
Boa tarde a todos.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado por esse depoimento
importante, contundente, que enriqueceu os nossos
trabalhos.
*****
05.03.2010 (Sesso ocorrida tarde)
AUDINCIA PBLICA
ARGIO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
186
RECURSO EXTRAORDINRIO 597.285
ENCERRAMENTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Chegamos ao final deste ciclo de
audincias pblicas, e eu quero fazer breves registros.
Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que
essas audincias pblicas - acabei de dizer isso ao
Ministro Joaquim Barbosa - representam uma quebra de
paradigma. Alis, isso foi ressaltado j da tribuna tambm
porque uma experincia que traz a cidadania para dentro
do Judicirio, para dentro do Supremo Tribunal Federal. A
experincia dos vrios setores sociais para que os
Ministros possam melhor fazer os seus julgamentos a
respeito das magnas questes que lhes so apresentadas.
uma experincia, a meu ver, bastante enriquecedora e,
insisto em dizer, uma quebra de paradigmas. Tenho a
impresso de que ser uma experincia a ser retomada em
outros momentos quando ns discutirmos temas de impacto
para a sociedade.
Eu quero ressaltar que os pronunciamentos,
todos eles, foram de elevadssimo nvel; eles abordaram os
mltiplos aspectos que envolvem a questo das polticas
afirmativas e das cotas nas universidades pblicas. Ao
longo dos debates foram evidenciados os aspectos
histricos, os aspectos sociolgicos, aspectos polticos,
os aspectos econmicos, os aspectos filosficos, os
aspectos biolgicos, os aspectos demogrficos, os aspectos
estatsticos e tambm os aspectos jurdicos desta
importante questo, dentre outras abordagens que foram
feitas.
Outro aspecto que eu gostaria de destacar
foi a intensa participao dos diferentes setores da
sociedade brasileira que acorreram ao Supremo Tribunal
Federal dos mais diversos recantos do pas. Valorizou muito
esses debates, essa intensa participao da sociedade, que
no se furtou a dar a sua contribuio ainda que fosse com
a sua presena, prestando ateno e certamente
multiplicando os resultados desse debate, que, alis, j
anuncio, desde logo, sero transcritos em mdia eletrnica
e, dentro de quinze dias, j estaro disposio de todos.
Portanto, um material que se tornar pblico e poder ser
utilizado por quem quiser - por universidades, por
organizaes sociais, enfim, um material que ser
distribudo a todos que tenham interesse relativamente ao
mesmo.
Outro dado que eu gostaria de ressaltar e
que tambm me impressionou bastante que, embora as
audincias tivessem como objeto um tema que suscita
intensas emoes - como todos ns sabemos -, as sesses
transcorreram num clima de serenidade, de respeito e de
cortesia e que bem traduz o esprito cordial que
caracteriza o povo brasileiro, que extraordinrio.
Reitero que todas as participaes vo
subsidiar os Ministros da Suprema Corte - representam sem
dvida nenhuma uma contribuio extraordinria. Todos os
membros da Casa recebero a transcrio dos debates no
apenas em mdia eletrnica, mas tambm vamos reduzir a
termo esses debates e eles figuraro como um anexo no
apenso dos dois processos que sero julgados pelo Supremo
Tribunal Federal.
Agradeo a presena de todos. Pergunto se
algum Colega quer fazer uso da palavra. A Senhora vice-
Procuradora-Geral.
A SENHORA DEBORAH DUPRAT (VICE-PROCURADORA-
GERAL DA REPBLICA) - S para parabeniz-lo, Ministro.
Mais uma vez eu gostaria s de deixar
registrada a iniciativa de Vossa Excelncia, porque h uma
particularidade nessa audincia pblica que a distingue das
anteriores, que a questo posta para o Supremo foi uma
questo jurdica. As cotas so constitucionais ou no. No
obstante ser uma questo s jurdica, tivemos a iniciativa
de um Magistrado que se preocupa com a repercusso das suas
decises, num mundo real. E isso de ser louvado e muito.
Ento, meus parabns, do fundo do meu
corao.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado.
Quero ressaltar tambm que a participao do
Ministrio Pblico Federal enriqueceu muitssimo os nossos
trabalhos e em especial a participao, logo no primeiro
dia, da Doutora Deborah Duprat, vice-Procuradora-Geral da
Repblica, que fez um pronunciamento muito tcnico, muito
incisivo, muito objetivo a respeito da questo. Muito
obrigado tambm a Senhora e, em seu nome, agradeo ao
Ministrio Pblico Federal e ao Procurador-Geral da
Repblica, que consentiu a sua presena nesses trabalhos.
Eu, antes de declarar encerrada esta sesso,
e, por conseqncia, os trabalhos das audincias pblicas
que realizamos ao longo de trs dias, anuncio, a pedido de
um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, que esta
corporao, ela tambm realizar brevemente audincias
pblicas em torno do tema, envolvendo as seccionais e
subseccionais de todo o Brasil. Tenho a impresso, tenho
certeza, alis, de que ser tambm um debate muito profcuo
e poder ter como ponto de incio, enfim, os debates que
foram travados nesta Casa.
Eu quero agradecer a Sua Excelncia, o
Senhor Ministro Joaquim Barbosa, pela presena constante e
o interesse que demonstrou por essas audincias; a presena
da Ministra Crmen Lcia, que tambm se mostrou presente
fisicamente hoje, mas tambm ao longo de todos os debates,
acompanhando, manifestando seu interesse. Da mesma forma
agradeo ao Ministro Dias Toffoli, que tambm tem se
inteirado dos nossos trabalhos e, hoje, comparece
pessoalmente nesta sesso de encerramento.
Agradeo, mais uma vez, Senhora Doutora
Deborah Duprat, Vice-Procuradora-Geral da Repblica e,
tambm, na pessoa de quem novamente, repito, cumprimento a
todos os integrantes do Ministrio Pblico, no apenas
Federal, como dos Estados, que tm se caracterizado por uma
luta em prol do avano dos setores mais sofridos de nossa
sociedade.
Agradeo s autoridades presentes, alm
daquelas que j nos prestigiaram nas sesses anteriores, ao
Deputado Estadual de So Paulo Vicente Cndido, ao
magnfico Reitor da UnB, Professor Jos Geraldo de Souza
Jnior, que tem acompanhado todos os trabalhos desde o
incio. Sua presena muito valiosa para ns, at porque a
experincia da UnB que ser discutida no nosso julgamento
do Supremo Tribunal Federal.
Agradeo aos participantes, ao magnfico
Reitor, Professor Alan Kardec Martins Barbiero, ao Senhor
Augusto Canizella Chagas, ao Professor Joo Feres, ao
Professor Renato Hyuda de Luna Pedrosa, ao Professor
Eduardo Magrone, Professora Jnia Saldanha, ao magnfico
Reitor Professor Carlos Eduardo de Souza Gonalves, ao
Professor Maurcio Tragtenberg, Juza Federal Fernanda
Duarte Lopes Lucas da Silva.
Menciono com os agradecimentos a honrosa e
prestigiosa presena da artista Lecy Brando.
Agradeo aos demais presentes, aos
servidores da Corte, que fizeram um esforo inaudito,
porque as senhoras e os senhores no sabem o esforo que
temos que fazer adicional para realizar uma audincia
pblica desta natureza. H dispndios evidentemente em
dinheiro, materiais, h todo um esforo humano, h
disponibilizao no apenas do espao das nossas sesses
das Turmas, mas tambm de todos os equipamentos. Os
funcionrios da Casa, de forma muito generosa, doaram o seu
tempo para trabalhar um pouco mais em favor da comunidade e
do sucesso destas audincias.
Portanto, declaro encerradas as Audincias
Pblicas, agradecendo a presena de todos.
O SENHOR NIO CURSINO DOS SANTOS FILHO
(MESTRE DE CERIMNIAS) - Solicitamos a todos a gentileza de
devolverem os crachs de credenciamento equipe do
cerimonial, que est localizada na sada do auditrio.
O Supremo Tribunal Federal agradece a
presena e deseja a todos um bom final de semana.
*****
Você também pode gostar
- A Companheira Misteriosa Do AlfaDocumento2.006 páginasA Companheira Misteriosa Do AlfaAndreia Oliveira80% (10)
- Edward Bulwer-Lytton Os Últimos Dias de PompeiaDocumento410 páginasEdward Bulwer-Lytton Os Últimos Dias de PompeiaRebeca SilvaAinda não há avaliações
- Diário Do Pioneiro Gunnar Vingren - Ivar VingrenDocumento233 páginasDiário Do Pioneiro Gunnar Vingren - Ivar VingrenFabio Fernanda Neto50% (2)
- Robert Southey Historia Do Brasil 1Documento511 páginasRobert Southey Historia Do Brasil 1Fabio Fernanda NetoAinda não há avaliações
- Banalidades de Base PDFDocumento48 páginasBanalidades de Base PDFEduardo MedeirosAinda não há avaliações
- Ead - Medicina: Iências Umanas E Suas EcnologiasDocumento7 páginasEad - Medicina: Iências Umanas E Suas EcnologiasHiago Leite da Silva hiagolsAinda não há avaliações
- Leis AbolicionistasDocumento2 páginasLeis AbolicionistasKauan Brito100% (1)
- Fichamento-Boris Fausto-A História Do BrasilDocumento35 páginasFichamento-Boris Fausto-A História Do BrasilWilson Paulino100% (1)
- Resumo Descritivo CevascoDocumento7 páginasResumo Descritivo CevascoFabio Fernanda Neto100% (1)
- DILTHEY Wilhelm O Surgimento Da HermeneuticaDocumento22 páginasDILTHEY Wilhelm O Surgimento Da HermeneuticaFabio Fernanda NetoAinda não há avaliações
- O Uso Da Imagem Nas Aulas de HistóriaDocumento6 páginasO Uso Da Imagem Nas Aulas de HistóriaFabio Fernanda NetoAinda não há avaliações
- CCCS MonoDocumento15 páginasCCCS MonoFabio Fernanda NetoAinda não há avaliações
- Identidades em Trânsito Um Conto de Agualusa Sob o Olhar de BhabhaDocumento15 páginasIdentidades em Trânsito Um Conto de Agualusa Sob o Olhar de BhabhaFabio Fernanda NetoAinda não há avaliações
- Mimesis v19 n1 1998Documento154 páginasMimesis v19 n1 1998Fabio Fernanda NetoAinda não há avaliações
- Descolonizando o ConhecimentoDocumento10 páginasDescolonizando o ConhecimentoanabetuneAinda não há avaliações
- Hagada A de Pessach (Resumo)Documento11 páginasHagada A de Pessach (Resumo)Carine SantosAinda não há avaliações
- Avaliação GEOGRAFIADocumento3 páginasAvaliação GEOGRAFIAIvone CoelhoAinda não há avaliações
- 2012 MarianaBracksFonsecaDocumento177 páginas2012 MarianaBracksFonsecaLuciana De Oliveira Kuña Poty RendyAinda não há avaliações
- 2º Dia - História2011Documento11 páginas2º Dia - História2011ariandradeAinda não há avaliações
- Caderno de Questäes SIS UEA 2016-2017 - Prova de Acompanhamento IIDocumento24 páginasCaderno de Questäes SIS UEA 2016-2017 - Prova de Acompanhamento IIPastor da RebeliãoAinda não há avaliações
- Dissertação - Juliana Gil Bahia Knopp - 2022 - CompletoDocumento129 páginasDissertação - Juliana Gil Bahia Knopp - 2022 - CompletoBia SilvaAinda não há avaliações
- Apostila de Geografia Questão AgrariaDocumento7 páginasApostila de Geografia Questão AgrariaAnta Diop BomaniAinda não há avaliações
- 77941-Texto Do Artigo-285649-1-10-20201211Documento24 páginas77941-Texto Do Artigo-285649-1-10-20201211Mayara Santana da SilvaAinda não há avaliações
- Origem Da CapoeiraDocumento2 páginasOrigem Da Capoeiraanon-666362100% (14)
- Questões História AntigaDocumento14 páginasQuestões História AntigaLuiza RiosAinda não há avaliações
- Exercicios Gabarito Resolucao America EspanholaDocumento29 páginasExercicios Gabarito Resolucao America EspanholaAnderson HeringerAinda não há avaliações
- Tem Cor Na História Abril Indígena 2021Documento33 páginasTem Cor Na História Abril Indígena 2021Indiara TainanAinda não há avaliações
- Abertura Ao Atlantico para Chegarem À África No Seculo XV, Primeiros Contactos, Época Da Escravatura em ÁfricaDocumento8 páginasAbertura Ao Atlantico para Chegarem À África No Seculo XV, Primeiros Contactos, Época Da Escravatura em ÁfricaHerlander-2010100% (1)
- Boletim de QuestoesDocumento23 páginasBoletim de QuestoesAndré Luiz SantosAinda não há avaliações
- Tropico de CapricornioDocumento120 páginasTropico de CapricornioGiancarlo Roger HilárioAinda não há avaliações
- Revisitando A História Da Imigração e Da Colonização No Paraná ProvincialDocumento23 páginasRevisitando A História Da Imigração e Da Colonização No Paraná ProvincialAlisson Dias100% (1)
- Escrava IsauraDocumento3 páginasEscrava IsauraRoseli_direito100% (1)
- Trabalho DE: Estudos AmazonicosDocumento5 páginasTrabalho DE: Estudos AmazonicosMaicon dos santos da silvaAinda não há avaliações
- Dezembro Prova Final 2017Documento7 páginasDezembro Prova Final 2017sirlene pereira santos pereira santosAinda não há avaliações
- BRUM J Eliane - A Vagina Que Salvou o Réveillon Do BrasilDocumento7 páginasBRUM J Eliane - A Vagina Que Salvou o Réveillon Do BrasilRobson LoureiroAinda não há avaliações
- CULTURA ROMANA - A Era Da FelicidadeDocumento5 páginasCULTURA ROMANA - A Era Da FelicidadelolorouxAinda não há avaliações
- A Independência Do Brasil e Suas NarrativasDocumento1 páginaA Independência Do Brasil e Suas NarrativasEdu1273Ainda não há avaliações