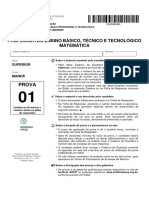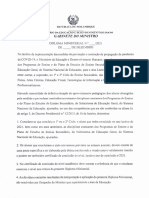Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Expensbio PDF
Expensbio PDF
Enviado por
Denise VianaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Expensbio PDF
Expensbio PDF
Enviado por
Denise VianaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
COLEO EXPLORANDO O ENSINO
VOLUME 6
BIOLOGIA
ENSINO MDIO
COLEO EXPLORANDO O ENSINO
Vol. 1 - Matemtica (Publicado em 2004)
Vol. 2 - Matemtica (Publicado em 2004)
Vol. 3 - Matemtica: ensino mdio (Publicado em 2004)
Vol. 4 - Qumica
Vol. 5 - Qumica
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
Centro de Informaes e Biblioteca em Educao (CIBEC)
Biologia : ensino mdio / organizao e seleo de textos Vera Rita da
Costa, Edson Valrio da Costa. Braslia: Ministrio da Educao,
Secretaria de Educao Bsica, 2006.
125 p. (Coleo Explorando o ensino; v. 6)
ISBN 85-98171-17-4
1. Ensino de Biologia. 2. Biologia educacional. I. Costa, Vera Rita da. II.
Costa, Edson Valrio da. III. Brasil. Secretaria de Educao Bsica.
CDU : 573:373.5
MINISTRIO DA EDUCAO
SECRETARIA DE EDUCAO BSICA
BIOLOGIA
ENSINO MDIO
BRASLIA
2006
SECRETARIA DE EDUCAO BSICA MEC
DEPARTAMENTO DE POLTICAS DE ENSINO
MDIO - SEB
COORDENAO-GERAL DE POLTICAS
DE ENSINO MDIO SEB
COORDENAO-GERAL DE ASSISTNCIA
AOS SISTEMAS DE ENSINO SEB
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAO - FNDE
DIRETORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - FNDE
CONSULTOR CIENTFICO
Diretor do Instituto Cincia Hoje
Franklin David Rumjanek
ORGANIZAO E SELEO DE TEXTOS
Vera Rita da Costa
Edson Valrio da Costa
REVISO
Elisa Sankuevitz
Maria Zilma Barbosa
PROJETO GRFICO
Claudia Fleury
Luiz Baltar
Raquel Teixeira
DIAGRAMAO
Christiana Lee
CAPA
Daniel Tavares
Tiragem 72 mil exemplares
MINISTRIO DA EDUCAO
SECRETARIA DE EDUCAO BSICA
Esplanada dos Ministrios, Bloco L, sala 500
CEP: 70.047 900 Braslia DF
Tel. (61) 2104-8177 / 2104-8010
http://www.mec.gov.br
Apresentao....................................................................................................................................... 7
1. A biologia una
Citologia, histologia, embriologia e sexualidade......................................... 9
2. Conhecer para criticar
Biologia molecular, gentica e evoluo............................................................ 21
3. O corpo como um todo
Corpo Humano ................................................................................................................................ 37
4. Sade para todos, em todas as dimenses
Sade......................................................................................................................................................... 65
5. O universo natural vivo
Biodiversidade e ambiente ................................................................................................ 87
S
U
M
R
I
O
6
APRESENTAO
A Secretaria de Educao Bsica do Ministrio da Educao apresenta aos pro-
fessores do Ensino Mdio o volume 6 da Coleo Explorando o Ensino - Biologia.
A Coleo tem por objetivo apoiar o trabalho do professor em sala de aula,
oferecendo-lhe material cientfico-pedaggico referente s disciplinas do Ensino
Mdio. Os volumes 1, 2 e 3 trataram de assuntos relativos ao ensino de Matem-
tica e os volumes 4 e 5 sobre o ensino de Qumica.
A seleo dos artigos deste volume ficou sob o encargo do Instituto Cincia
Hoje, responsvel pela publicao da revista Cincia Hoje. Valendo-se da experi-
ncia acumulada em mais de 20 anos de divulgao cientfica, a equipe do Cin-
cia Hoje selecionou textos que buscam garantir o atendimento aos interesses,
necessidades e expectativas que surgem em sala de aula.
Este livro est organizado em blocos temticos que se aproximam das reas
e disciplinas estabelecidas pela prtica cientfica. Os artigos aqui reunidos fo-
ram organizados segundo as grandes reas da Biologia, e vm acompanhados
de textos introdutrios que permitem ao professor situar-se em relao ao que
h de novo do ponto de vista cientfico e pedaggico em cada uma dessas gran-
des reas.
A nossa expectativa a de que este material venha a se tornar um instrumento
valioso para a divulgao da cincia e para o incentivo do ensino de Biologia.
Acreditamos que, ao encaminh-lo ao professor, estamos, tambm, fazendo com
que os alunos se beneficiem com esta publicao.
A Secretaria de Educao Bsica agradece a importante participao do Ins-
tituto Cincia Hoje na organizao deste volume. Com esse projeto o Ministrio
da Educao reafirma o pensamento de que possvel dar ao Ensino Mdio
uma identidade que atenda s expectativas de formao escolar para o mundo
contemporneo.
7
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
88
9
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
A BIOLOGIA UNA
A biologia una. Quer quando estuda, em seus aspectos
mais abrangentes, os ecossistemas, as populaes, os indiv-
duos ou os seus rgos, quer quando enfoca os mecanismos,
em seus menores e mais complexos detalhes, em nvel celular
ou molecular, o bilogo est sempre voltado compreenso
de um nico e mesmo fenmeno: a vida.
fundamental, portanto, que a vida, em toda a sua riqueza
e diversidade de manifestaes, seja, tambm, o fenmeno a
ocupar o centro das atenes do ensino de biologia, dando-
se prioridade aos seus aspectos integradores, em detrimento
de conhecimentos muito especficos e descontextualizados.
Em grande parte, essa nova proposta de como ensinar a
biologia est relacionada prpria mudana, ocorrida nas l-
timas dcadas e no seio da prpria disciplina, de seu conceito
fundamental a vida.
Se antes vida era caracterizada como substantivo, como
coisa, a ser conhecida a partir do estudo de suas partes e em
detalhes, hoje isso j no mais possvel. Integrados aos co-
nhecimentos gerados pela fsica e pela qumica, os conheci-
mentos atuais da biologia impem um novo conceito, em que
a vida, enquanto fenmeno a ser investigado, passa a ser vis-
ta como verbo, como processo, como ao.
Ao professor, essa nova viso sobre a vida impe tambm
uma mudana de metodologia no ensino: alm de dar impor-
tncia aos componentes que caracterizam a vida (os seus cons-
tituintes qumicos, as organelas, as clulas, os tecidos etc.), ele
dever, agora, preocupar-se tambm com os comportamentos
desses constituintes da vida, buscando tornar evidente a seus
alunos os processos mais amplos em que eles esto envolvidos.
1
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
10
Tendo em vista esse novo enfoque em relao vida e, portanto, em relao
tambm prpria biologia disciplinas, como a citologia, a histologia e a
embriologia, antes tratadas de maneira isolada e estanque, devem passar a ser
abordadas de maneira integrada, em vrios momentos do curso e sob enfoques e
nveis de aprofundamento tambm diferentes.
Sob o fio condutor da biodiversidade ou luz da evoluo, os contedos
especficos dessas disciplinas, antes considerados rduos e se prestando apenas
memorizao, devem agora adquirir novo significado para os alunos, uma vez
que se tornam chaves para a resoluo de problemas e a compreenso de proces-
sos importantes que envolvem, por exemplo, as interaes entre os seres vivos e
o ambiente.
Parte da riqueza de novas temticas e novos contextos que passam a envol-
ver a citologia, a histologia e a embriologia encontra-se representada nos tex-
tos a seguir, selecionados para compor uma das sees desse volume.
11
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
Houve mudanas recentes na biologia em relao
citologia e histologia animal e vegetal?
Na ltima dcada, houve consider-
vel progresso no conhecimento da or-
ganizao e funo das organelas e estruturas celulares e
da interao entre os diversos tipos de clulas que com-
pem os tecidos animais.
Pode-se citar, como exemplo, a identificao de canais inicos e receptores na
superfcie celular, de molculas de adeso, de protenas do citoesqueleto, de fato-
res de crescimento etc. A identificao e a localizao de diferentes molculas per-
mitiram maior compreenso de fenmenos celulares, tais como a migrao de clu-
las, a regenerao de neurnios e de fibras musculares, a compartimentalizao do
Complexo de Golgi ou mesmo a identificao de novas organelas em protozorios.
Esse progresso resultou do desenvolvimento de tecnologias que permitem a iden-
tificao precisa de macromolculas, no s no interior das clulas, mas tambm na
matriz extracelular. Com a microscopia confocal, por exemplo, pode-se visualizar a
organizao tridimensional de molculas marcadas com compostos fluorescentes. J
a tcnica de crioultramicrotomia que permite a obteno de seces muito finas
(60-100 nanmetros) de clulas/tecidos congelados permite o estudo de clulas
que no foram submetidas ao processo de fixao qumica, diminuindo, significati-
vamente, os artefatos resultantes desse processo.
A utilizao de sondas para detectar cidos nuclicos (segmentos de DNA e
diferentes tipos de RNA) permite estudar a expresso de genes em clulas sub-
metidas a diferentes condies experimentais e em diversas doenas. Como na
cincia moderna no h mais barreiras entre as diferentes reas do conhecimen-
to, essas tcnicas so utilizadas por pesquisadores de diferentes especialidades:
morfologistas, bioqumicos, microbiologistas, patologistas etc.
importante salientar que, embora os termos citologia e histologia tenham
conotao morfolgica, a pesquisa nessas reas tem adquirido, cada vez mais,
carter interdisciplinar. [CH 165 outubro/2000]
Elizabeth Ribeiro
da Silva Camargos
DEPARTAMENTO
DE MORFOLOGIA,
INSTITUTO DE CINCIAS
BIOLGICAS, UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
12
O que faz uma clula ligar-se apenas a clulas semelhantes?
Nem todas as clulas ligam-se apenas a clulas seme-
lhantes. Os macrfagos, por exemplo, clulas do sistema
de defesa do organismo, tm a capacidade de se ligar a
clulas do prprio organismo e tambm a protozorios,
bactrias e fungos.
A pergunta do leitor deve se referir aos tecidos, que so formados por um con-
junto de clulas iguais. Nesse caso, basicamente dois fatores fazem com que essas
clulas se associem: a composio protica de suas membranas e algumas molcu-
las de superfcie, que so especficas para esse tipo de interao clula a clula.
O outro fator a composio da matriz extracelular. Trata-se de substncias
secretadas pelas clulas do tecido que controlam toda a interao e especificidade
das clulas que formam o prprio tecido. [CH 194 junho/2003]
Por que as hemcias dos mamferos no tm ncleo
e como podem viver por 120 dias?
Durante o processo evolutivo, os mamferos elevaram sua
temperatura corporal e desenvolveram a capacidade de mant-
la relativamente constante (homeotermia). Esse aumento da
temperatura corporal foi acompanhado de um incremento
da taxa metablica e de uma exigncia maior no transporte de oxignio (O
2
).
Sendo o ncleo celular uma estrutura metabolicamente ativa, ele con-
some quantidades considerveis de O
2
. Com a perda do ncleo, as
hemcias dos mamferos deixaram de utilizar oxignio, tornan-
do-se mais eficientes no transporte desse gs. As hemcias dos
mamferos, por no possurem ncleo, no so rigorosamente
clulas: portanto, o correto dizer que elas duram, em vez
de vivem, 120 dias. [CH 171 maio/2001]
Marcelo Einicker Lamas
LABORATRIO DE FSICO-
QUMICA BIOLGICA,
INSTITUTO DE BIOFSICA
CARLOS CHAGAS FILHO,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
Germn Arturo
Bohrquez Mahecha
LABORATRIO
DE MORFOLOGIA DE AVES,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
13
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
Como a galinha forma a casca mineralizada do ovo
em tempo to curto?
H trs camadas formadoras da casca das aves (de dentro
para fora): as membranas da casca, que envolvem a clara; a
parte calcificada, tambm conhecida como testa; e a cu-
tcula, uma finssima camada externa de material orgnico
que determina se a casca spera ou lisa. A dvida do leitor est na formao da
testa, a parte em que o processo de mineralizao atua. A rapidez do processo est
relacionada espessura dessa camada, que varia de 60 micrmetros, em beija-
flores, a 4 mm, nas extintas aves-elefante. Ela composta, basicamente, por duas
regies, uma interna, o capuz basal, e outra que cresce sobre ela, a camada
estacada. A camada estacada forma a maior parte da testa e cresce na forma
de colunas de cristais de calcita a partir de centros de cristalizao
situados no capuz basal. Essas colunas, compostas por cristais de
crescimento rpido, entram em contato e passam a formar anis de
crescimento at completarem a espessura total da casca. O fato de a
calcificao ter vrios pontos de irradiao (colunas) ao mesmo tempo
tambm aumenta a velocidade do processo. [CH 205 junho/2004]
Como feito o congelamento de embries?
At que idade o embrio pode ser congelado e por quanto
tempo pode permanecer assim?
Para a fertilizao in vitro, a paciente produz de cinco a 20
vulos, sob estmulo hormonal, que sero fecundados em
laboratrio. So recolocados no tero no mximo quatro
embries, o que possibilita uma taxa de gravidez de 30% o excedente congela-
do. Um nmero maior de embries no aumenta significativamente a incidncia de
gestao mas sim, a possibilidade de gestao mltipla. Depois de 48 horas da
Marcos Raposo
DEPARTAMENTO
DE VERTEBRADOS,
MUSEU NACIONAL,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
Luiz Fernando Dale
CENTRO DE MEDICINA
DA REPRODUO
DO RIO DE JANEIRO
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
14
fecundao do vulo pelo espermatozide, quando apre-
senta quatro clulas, o embrio est pronto para ser trans-
ferido para o tero ou para ser congelado. possvel mant-
lo em cultura, no mximo, por mais dois ou trs dias, mas o
melhor transferi-lo ou congel-lo no segundo dia de cul-
tura para evitar sofrimento nas condies do laboratrio.
Os embries so colocados em um meio de cultura para evitar a formao de
cristais de gelo, capazes de destruir as estruturas contidas no citoplasma, durante o
congelamento. A absoro do meio de cultura pela clula depende exclusivamente
da qualidade do embrio; os que no o fazem so destrudos pelo congelamento.
Existe um programa computadorizado que reduz a temperatura do embrio progres-
sivamente, de acordo com uma tabela, de 37C positivos a 196C negativos. Em
seguida, o recipiente com os embries imerso em nitrognio lquido, onde fica por
perodo indefinido. O congelamento no causa danos ao embrio, tanto que resulta-
dos satisfatrios j foram obtidos com embries congelados por mais de 10 anos.
A idade da mulher tambm um fator importante em reproduo humana. Aci-
ma dos 39 anos, diminui gradativamente a capacidade de engravidar, assim como
os vulos perdem a capacidade de serem fecundados ou produzirem embries de
qualidade, o que aumenta os riscos de malformao gentica. Como ainda no
possvel congelar vulos, s espermatozides e embries, se a mulher nessa idade
no conseguir resultados satisfatrios com a estimulao hormonal, pode recorrer
a vulos doados para conseguir engravidar. [CH 169 maro/2001]
Por que o vulo se divide gerando gmeos univitelinos?
O que provoca essa diviso e como ela ocorre?
Na verdade, quem se divide o embrio, no o vulo.
A formao de gmeos univitelinos ou idnticos ou mo-
nozigticos corresponde a um tero dos casos. Esse fen-
meno acontece durante o desenvolvimento do embrio
Joo Batista
Alcntara Oliveira
CENTRO DE REPRODUO
HUMANA, MATERNIDADE
SINH JUNQUEIRA
(RIBEIRO PRETO/SP)
15
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
(multiplicao celular) quando, aps a fertilizao de um vulo
por um espermatozide, o embrio divide-se dando origem a
dois ou mais novos embries com idntico material gentico.
Essa forma de gemelaridade pode ser encarada em algumas
espcies como um caminho de adaptao para a sobrevivncia.
Esse princpio parece no se aplicar ao ser humano, onde a ocorrncia de gmeos
monozigticos aparentemente um fenmeno casual e fracamente hereditrio.
Contudo, observa-se que um nmero um pouco maior de gmeos monozigticos
tem nascido aps o uso de medicaes para induo da ovulao.
Existem vrias formas possveis de gmeos monozigticos. Quando o embrio se
divide pouco tempo aps a fertilizao, os gmeos monozigticos sero diamnitico-
dicorinico, ou seja, cada um tem seu prprio mnio (bolsa) e crion (placenta) o
fenmeno ocorre em torno de 8% das gestaes gemelares. O tipo mais comum de
gmeos monozigticos o diamnitico-monocorinico (cerca de 75% dos casos), em
que a diviso embrionria ocorre entre o 4 e 8 dia aps a fertilizao. Nesse caso,os
embries tm a sua prpria bolsa, mas dividem a mesma rea placentria. Se o embrio
se divide aps o 8 dia de sua fertilizao, chamado de monocorinico-monoamnitico,
isto , os gmeos tm a mesma bolsa e a mesma placenta. Esse tipo corresponde a
menos de 1% dos casos e normalmente o que apresenta mais complicaes durante
a gestao. Por fim, se a diviso embrionria ocorre aps o 12 dia, poder ser imper-
feita, levando a malformaes estruturais (xifpagos). [CH 203 abril/2004]
O que so as plulas contraceptivas de emergncia,
conhecida como Plula do Dia Seguinte?
A contracepo de emergncia baseia-se no uso de
plulas anticoncepcionais hormonais, nas formulaes ha-
bitualmente comercializadas, em dosagens mais
elevadas (ingesto de maior nmero de comprimidos) por
um curto intervalo de tempo (mais comumente duas do-
ses com intervalo de 12 horas).
Yula Franco Porto
MDICA COORDENADORA
DO PROGRAMA ATENO
SADE DA MULHER,
DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SADE
DE BELO HORIZONTE
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
16
No preconizada como mtodo anticoncepcional habitual, pois a maior
ingesto hormonal s se justifica em carter excepcional e de emergncia, para
prevenir uma gravidez que pudesse ocorrer a partir de um coito desprotegido ou
com falha presumvel do mtodo que vinha sendo usado.
Deve ser adotada com orientao mdica e at no mximo 72 horas aps a
relao sexual.
A plula atua alterando o processo reprodutivo, distinguindo-se assim dos
mtodos abortivos, que procuram interromper uma gestao j estabelecida.
procedimento tcnico aceito e preconizado pelo Ministrio da Sade, que ressal-
ta, no entanto, a importncia de se divulgar o mtodo e dar acesso sua utiliza-
o com a recomendao de que se trata de um procedimento de exceo, j que
a habitualidade pode trazer danos sade da mulher. [CH 134 dezembro/1997]
verdade que homem e mulher tm vises de mundo
diferenciadas? Em que se fundamentam essas diferenas,
em uma formao cerebral diversa ou em uma questo
social?
Sem dvida os crebros masculino e feminino so diferentes, tanto morfolgica
quanto funcionalmente. Essas diferenas podem ser mais
bem observadas em certas regies, como o hipotlamo, uma
pequena estrutura, na base do crebro, que controla o meio
interno do organismo. Alm de controlar parmetros como
temperatura, hidratao e ali-
mentao, o hipotlamo tambm controla o sistema
endcrino, responsvel pela regulao dos
hormnios.
Homens e mulheres possuem diferentes propor-
es de certos hormnios e alguns deles so libera-
dos em padres temporais diversos cclico nas mu-
Mario Fiorani Jr.
LABORATRIO DE FISIOLOGIA
DA COGNIO, INSTITUTO
DE BIOFSICA CARLOS CHAGAS
FILHO, UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
17
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
Ricardo Barini
DEPARTAMENTO DE
TOCOGINECOLOGIA,
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS
lheres e contnuo nos homens. Isso uma evidncia clara de que essa estrutura
cerebral bastante distinta entre os dois gneros. Quanto ao resto do crebro,
homens e mulheres tm, em mdia, performances diferentes em uma srie de tare-
fas. Por exemplo: quando abrem uma geladeira, a mulher observa os detalhes,
mais especfica, enquanto o homem enxerga o espao de maneira mais ampla. Ini-
cialmente, essas diferenas so pequenas. Alm disso, as diferenas existem apenas
entre as mdias das duas populaes, e, como as variaes so altas, existe uma
enorme superposio no desempenho dos indivduos das duas populaes. Dessa
forma, essas diferenas populacionais no se aplicam diretamente a pessoas espe-
cficas. [CH 201 janeiro/fevereiro/2004]
Por que o organismo da mulher no responde
imunologicamente ao espermatozide aps o ato sexual?
O organismo da mulher responde, sim, imunologicamen-
te ao espermatozide. No entanto, trata-se de uma re-
ao mnima se comparada a outras respostas imuno-
lgicas naturais ou adquiridas do organismo, como as
reaes alrgicas. O motivo uma deficincia de antgenos na su-
perfcie externa dos espermatozides, ou seja, eles no so re-
conhecidos como um antgeno (substncia capaz de provo-
car a formao de anticorpos) pelo organismo da mulher.
Por outro lado, bem documentada a produo de
anticorpos antiespermatozides pelo organismo femini-
no. No se sabe ao certo qual a funo desses anticorpos,
mas possvel que funcionem como um sistema de lim-
peza, cuja funo seria remover os espermatozides de-
pois de uma fecundao frustrada. Outra hiptese que
funcionem como uma proteo natural do organismo, pois
sabe-se que as mulheres que engravidam nas primeiras rela-
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
18
es sexuais esto mais sujeitas pr-eclmpsia patologia que ocorre no final
da gravidez provocando o edema, hipertenso arterial e proteinria (excreo de
urina com quantidades elevadas de protenas). Aquelas que tiveram apenas um
parceiro sexual tambm fazem parte desse grupo de risco.
Mulheres produtoras de grandes quantidades de anticorpos antiesper-
matozides tm dificuldades para engravidar e de levar a gestao adiante.
Esses anticorpos so secretados no muco cervical dentro do colo uterino e
impedem a migrao dos espermatozides da cavidade vaginal para dentro do
tero. Aqueles que conseguem atravessar essa barreira tambm podem ter
dificuldade para efetuar a fecundao propriamente dita. E, caso ocorra a fe-
cundao, essas mulheres esto mais propensas a ver sua gestao terminar
em aborto espontneo. [CH 195 julho/2003]
Como pode uma pessoa que nunca teve contato
com a Aids j nascer imune ao vrus, se seu organismo
no conhece a doena?
O HIV, vrus que causa a Aids, infecta principalmente c-
lulas que apresentam em sua superfcie uma molcula cha-
mada CD4 presente especialmente nos linfcitos T-helper
(os que coordenam a resposta do organismo a agentes
invasores) e nos macrfagos (leuccitos que ingerem e digerem os agentes invaso-
res, apresentando ao sistema imunolgico os antgenos que desencadeiam a respos-
ta contra os mesmos). A molcula CD4 serve como receptor do vrus, assemelhando-
se a uma fechadura que ele precisa abrir para entrar na clula.
Para infectar clulas humanas, porm, preciso abrir, ao mesmo tempo, outra
fechadura (uma molcula denominada receptor de quimiocinas), que serve de co-
receptor para o vrus. Quimiocinas so substncias usadas por clulas do sistema
de defesa como um sistema de comunicao, e a presena de seus receptores (entre
eles a molcula CCR5) na superfcie de clulas tambm essencial para que a
Mauro Schechter
LABORATRIO DE AIDS,
HOSPITAL UNIVERSITRIO,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
19
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
infeco ocorra. Segundo dados j conhecidos, os indivduos que apresentam
mutao em ambos os alelos (cpias) do gene que codifica a CCR5 (cerca de 1%
da populao caucasiana) seriam menos suscetveis infeco
pelo HIV, pois este no conseguiria abrir essa fechadura mo-
dificada. Nos que tm apenas um alelo mutado (cerca de 15%
das pessoas com ascendncia europia), a progresso da imu-
nodeficincia causada por esse vrus mais lenta.
[CH 185 agosto 2002]
Quais as funes dos linfcitos T e B?
Qual a origem de cada um?
Em primeiro lugar, vale lembrar que os linfcitos so
importantes componentes do sistema imunolgico. Os
linfcitos so uma subpopulao dos leuccitos, clu-
las brancas presentes no sangue, com apenas um n-
cleo. Eles tambm apresentam duas principais sub-
populaes, os linfcitos T e B. Os linfcitos T tm sua origem em clulas
indiferenciadas da medula ssea. Por sua vez, as clulas indiferenciadas, cha-
madas pr-timcitos, migram da medula ssea para o timo, onde sofrem, obri-
gatoriamente, processos de diferenciao at a completa maturao em clu-
las T. De maneira anloga, alguns bilhes de linfcitos B originam-se de clu-
las-mes (stem cells) na medula ssea diariamente. As clulas B tambm pas-
sam por um processo de diferenciao e maturao, que ocorre no fgado do
feto e na medula ssea do adulto, atingindo suas caractersticas funcionais
completas.
As duas classes de clulas, T e B, esto envolvidas no processo de imuni-
dade adquirida, ou seja, imunidade desenvolvida para ampliar e melhorar as
defesas naturais do organismo. A imunidade adquirida divide-se em celular e
humoral. A primeira responsvel pela defesa do organismo atravs de
Carlos Roberto
Veiga Kiffer
CASA DA AIDS
E DEPARTAMENTO
DE MOLSTIAS INFECCIOSAS
E PARASITRIAS,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
20
linfcitos especializados em dadas funes. Por imunidade humoral entende-
se aquela que atua atravs de anticorpos, substncias proticas existentes
no plasma.
Os linfcitos T so responsveis pela organizao, mediao e orques-
tramento da imunidade celular. Para executar essas funes, as clulas T apre-
sentam subpopulaes especializadas em diferentes funes, recebendo de-
nominaes diversas. Os linfcitos T-helper (ou auxiliadores) so respons-
veis pela especializao de outros linfcitos auxiliam na diferenciao de
outros linfcitos. Os linfcitos T citotxicos so responsveis pela destruio
de clulas infectadas por agentes infecciosos. Os linfcitos T supressores so
representados por uma ou mais classes de linfcitos com funo de suprimir
a atividade imune quando necessrio. E, por ltimo, os linfcitos T de mem-
ria so responsveis pelo armazenamento de uma informao imunolgica
mais duradoura, que se desenvolve aps o contato inicial com alguma subs-
tncia estranha (antgeno). Essas clulas podero ser resgatadas pelo orga-
nismo sempre que necessrio.
Os linfcitos B diferenciados e ativados (plasmcitos) so as nicas clulas
capazes de produzir anticorpos. Portanto, como os anticorpos so as substncias
caractersticas da imunidade humoral, pode-se dizer que os linfcitos B so pre-
cursores fundamentais dessa imunidade. A produo de anticorpos ativada toda
vez que um antgeno entra em contato com o organismo.
Portanto, tambm ocorre aproduo de clulas B de memria, capazes de manter
a informao imune humoral de forma duradoura. [CH 154 outubro/1999]
C
I
T
O
L
O
G
I
A
,
H
I
S
T
O
L
O
G
I
A
,
E
M
B
R
I
O
L
O
G
I
A
E
S
E
X
U
A
L
I
D
A
D
E
20
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
21
CONHECER PARA CRITICAR
A biologia molecular a rea da biologia que propi-
ciou, nas ltimas dcadas, os maiores avanos em conheci-
mentos e tecnologia. Associadas ao que j se conhecia an-
teri ormente graas genti ca, tcni cas como o
seqenciamento rpido de DNA, a hibridao in vitro de
clulas, o uso de enzimas de restrio, a transferncia de
genes e a clonagem esto permitindo a investigao de
questes altamente complexas, antes impossveis de serem
consideradas, ampliando-se, assim, consideravelmente as
fronteiras do conhecimento em biologia.
Uma das fronteiras que se expande rapidamente, incen-
tivada pela biologia molecular, , sem dvida, o estudo
das questes evolucionrias. Com o uso cada dia mais fre-
qente da comparao de seqncias de DNA de diferentes
organismos, tem sido possvel estabelecer, por exemplo,
relaes de proximidade entre as diferentes espcies. Tam-
bm tm sido significativos os resultados obtidos no estu-
do comparativo da constituio gentica das diferentes
populaes humanas, o que tem alargado os horizontes do
conhecimento a respeito de nossa prpria espcie e de sua
histria evolutiva.
Tantos so os avanos obtidos que relacionam a biolo-
gia molecular, a gentica e a evoluo que optamos por
reunir nessa seo os textos relativos a essas trs disci-
plinas da biologia. Ao faz-lo, nossa inteno foi facilitar
ao professor manter-se atualizado em relao ao que h
de novo e de inter-relacionado nesses trs campos de co-
nhecimento. Tambm foi nosso objetivo munici-lo com
informaes apresentadas em textos curtos e didticos,
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
,
E
E
V
O
L
U
O
22
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
22
de maneira que possa vir a utiliz-los diretamente com seus alunos, em
aula.
Os textos aqui reunidos abordam desde questes bsicas, como, por exem-
plo, a natureza do material gentico, at questes mais complexas, como o
papel do prprio DNA na diferenciao celular. Alm disso, tratam tambm de
temas considerados, por muitos, polmicos, como a transferncia de ncleos
e a modificao gentica de organismos.
Ao se tornarem mais e mais presentes no dia-a-dia da sociedade, impor-
tante que essas e outras tcnicas advindas dos novos conhecimentos gerados
na biologia, sobretudo aquelas que envolvam aspectos ticos, sejam motivo
de debate e de crtica em sala de aula. Alis, essa uma recomendao
enfatizada nos PCN para o Ensino Mdio, nos quais se considera que os co-
nhecimentos em biologia devem, justamente, servir a esse fim: subsidiar o
julgamento de questes polmicas.
Se os objetivos a serem atingidos no ensino de biologia fossem hierarquizados,
estabelecendo-se as metas prioritrias a serem conquistadas, sem dvida, a for-
mao de um cidado que domine a informao cientfica, a ponto de tornar-se
crtico em relao aos prprios avanos cientficos, ocuparia a primeira posio.
a esse fim que se devem destinar os esforos dos professores. Com os textos
apresentados a seguir, esperamos auxili-los nessa tarefa.
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
23
Como o material gentico de uma clula pode conter
toda a informao que dar origem s clulas
de um organismo inteiro?
Todo potencial de desenvolvimento embrionrio de um ani-
mal est contido em um ovo fertilizado. Quando o
espermatozide se une a um vulo, ocorre a reunio do
material hereditrio (genes) paterno e materno, com todas as instrues detalhadas
para o desenvolvimento de um novo ser, isto , uma poupana herdada de cerca de
100 mil genes com um imenso repertrio de funes para construir as clulas e todo
um organismo. Esses genes so os verdadeiros segredos do talento artstico da clu-
la: uma vez ativados, eles produzem mensagens especficas para a sntese de prote-
nas capazes de construir novas clulas e de modific-las de infinitas maneiras.
O que inicia o processo de diferenciao das clulas?
Eventos importantes ocorrem durante o desenvolvimen-
to de um animal, mesmo antes de o ovo ser fertilizado.
Ou seja, substncias nutritivas e determinantes so trans-
portadas para o ovo a partir de clulas maternas vizi-
nhas, fornecendo alimento para o futuro embrio e or-
ganizando o ovo para seu subseqente desenvolvimen-
to. Em algumas espcies, esses produtos gnicos mater-
nos traam o perfil do plano corporal bsico do embrio,
distinguindo a regio anterior da posterior e a dorsal da ventral.
Conforme as divises celulares progridem e mais e mais clulas compem o
embrio, elas comeam a conversar quimicamente entre si, especificando as infor-
maes mais complexas sobre a forma, funo e posio. Uma clula destinada a
formar a mo, por exemplo, deve enviar a mensagem qumica para a clula vizinha
originar um grupo de clulas descendentes e ativar os genes para formar um brao.
O ovo recm-fertilizado (zigoto) totipotente: ele d origem a todos os tipos celu-
lares do adulto. Em que ponto do desenvolvimento embrionrio as clulas comea-
ram a ficar irreversivelmente restritas em seus potenciais de desenvolvimento?
Lyria Mori
INSTITUTO DE BIOLOGIA,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
24
Existem casos de nascimentos mltiplos em que irmos idnticos so derivados
de um nico ovo fertilizado por um s espermatozide. Portanto, podemos con-
cluir que a informao gentica foi fielmente reproduzida durante pelo menos trs
divises celulares aps a fertilizao (duas divises produzem quatro clulas e
quntuplos idnticos j foram registrados). Muitos organismos diferenciados po-
dem regenerar novos rgos e tecidos. Por exemplo, uma lagartixa pode regenerar
a cauda, e um corpo humano pode regenerar um fgado lesado. At recentemente
pensava-se que isso s era possvel em determinados tecidos. Embora a regenera-
o de um organismo completo a partir de uma nica clula somtica (j diferen-
ciada) no tenha sido observada entre os animais na natureza, em laboratrio isso
j se tornou uma realidade com o nascimento da ovelha Dolly, a partir de um n-
cleo de uma clula mamria introduzido em um ovo anucleado. Esse experimento
mostra, de certo modo, que qualquer ncleo do organismo tem no seu material
gentico todas as informaes necessrias para o desenvolvimento completo de
um organismo, e que isso ocorrer desde que esse material esteja rodeado dos
determinantes adequados para ativar os genes do desenvolvimento.
No se sabe, ainda, como os genes e protenas do final da cascata realmente
constroem, por exemplo, os axnios no final das clulas nervosas, ou as densas
redes de fibras que compem o cristalino nos olhos. De fato, esses genes efetores
(em oposio aos reguladores) so na maior parte desconhecidos. Conhec-los
ser um desafio para o prximo milnio. [CH 157 janeiro/fevereiro/2000]
O DNA pode ser obtido a partir de impresses digitais?
H no genoma repeties de seqncias curtas de DNA
(cdigo gentico) altamente variveis, chamadas mi-
crossatlites. Com base no estudo de uma bateria de 12-
20 mocrossatlites, possvel obter perfis genticos praticamente indivduo-
especficos, muito teis na identificao de vtimas e criminosos.
Srgio Danilo Pena
INSTITUTO DE CINCIAS
BIOLGICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
25
Com o desenvolvimento da reao em cadeia da polimerase (PCR),
tcnica baseada na amplificao exponencial do nmero de molculas
de DNA, alcanamos sensibilidade para estudar mocrossatlites e obter
perfis genticos em quantidades mnimas de DNA. Hoje possvel obter
o perfil gentico de uma pessoa a partir, por exemplo, do filtro de um
cigarro ou de um selo ou envelope que ela tenha lambido. Em ambos os
casos um pequeno nmero de clulas epiteliais dos lbios fica preso no
papel. Alis, o terrorista que colocou uma bomba no World Trade Center, em Nova
York, foi identificado a partir de um envelope.
No nmero 387 da revista Nature, de 19 de junho passado, os cientistas aus-
tralianos Roland van Oorschot e Maxwell Jones reportaram sucesso na obteno
de perfis genticos a partir de impresses digitais. Amostras obtidas de cabos de
faca, copos e telefones, por exemplo, permitiram que se fizesse o perfil gentico
de pessoas que haviam tocado nesses objetos.
Essa descoberta poder nos proporcionar uma ferramenta muito importante
em criminalstica.
Por outro lado, tais resultados demonstram a necessidade de cautela na inter-
pretao de perfis genticos a partir de quantidades muito pequenas de DNA em
crimes, j que o manuseio sem luvas pode levar a contaminao inadvertida de
peas de evidncia. [CH 131 setembro/2003]
O nmero de protenas de um organismo igual
ao nmero de genes, maior ou menor?
Atualmente, sabe-se que a relao gene-protena nem sem-
pre de um para um. Relacion-los no uma questo
simples: em geral, o genoma de um organismo idntico
em todas as suas clulas, enquanto o conjunto de prote-
nas de cada uma delas varia, dependendo de sua fase de desenvolvimento, do
tecido analisado, do processamento do pr-RNA mensageiro (pr-mRNA) e, at,
do ambiente a que o organismo est submetido.
Blanche Christine
Bitner-Math
DEPARTAMENTO DE GENTICA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
26
Mas como genes e protenas esto relacionados? Em organismos eucariotos,
como o caso da espcie humana, a informao gentica armazenada no DNA
convertida em uma seqncia de aminocidos, formando as protenas molcu-
las fundamentais na determinao das caractersticas dos organismos. Contudo,
a informao gentica est organizada da seguinte forma: os genes incluem re-
gies codificadoras da seqncia de aminocidos, os exons, e regies no-co-
dificadoras, os ntrons. A primeira etapa na sntese de protenas a transcrio
do gene em uma molcula de RNA, o pr-mRNA. Este inclui ambas as regies e,
quando processado, os ntrons so removidos da molcula, transformando o
pr-mRNA no mRNA maduro, que ser, ento, traduzido em protena. Esse
processamento de um pr-mRNA pode variar, resultando na formao de mais de
um tipo de protena, a partir de uma mesma seqncia de DNA.
Um exemplo extremo descrito recentemente na mosca-da-banana, a Drosophila
melanoaster, revela que um mesmo gene desse inseto codifica cerca de 38 mil pro-
tenas. Na espcie humana, estima-se que o nmero de genes varie entre 50 mil
e 150 mil e que existam milhes de protenas diferentes. [CH 171 maio/2001]
Por que apenas o DNA nuclear do espermatozide
aproveitado na fecundao?
Nos espermatozides humanos, possvel reconhecer
uma cabea, ocupada quase que totalmente pelo material
nuclear, uma pea intermediria e uma cauda. Visto que a
pea intermediria contm mitocndrias, as quais tambm
possuem DNA o DNA mitocondrial (mtDNA) , por que s o DNA nuclear do
espermatozide aproveitado? Em outras palavras, por que
apenas as mulheres podem transmitir sua prole tanto o
DNA nuclear quanto o mtDNA contido nos ovcitos, enquan-
to os homens somente transmitem o DNA nuclear? Isso acon-
tece porque na espcie humana, a exemplo do que ocorre em
Bernardo Beiguelman,
PROFESSOR APOSENTADO
PELO DEPARTAMENTO
DE PARASITOLOGIA,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
27
outros mamferos, as mitocndrias so destrudas pouco tempo depois da fertiliza-
o. Assim, quando, por clivagens (divises) sucessivas, o zigoto atinge o nmero
de oito clulas (blastmeros) j no possvel detectar mtDNA paterno.
Na espcie humana, a excepcional persistncia de mtDNA paterno est asso-
ciada a alteraes que provocam aborto espontneo ou bito precoce. curio-
so que, em cruzamentos interespecficos de camundongos (Mus musculus com
Mus spretus) o mtDNA paterno no destrudo, sendo detectado em todos os
recm-nascidos. Isso sugere, pois, que no citoplasma dos ovcitos existe um
mecanismo espcie-especfico que reconhece e elimina as mitocndrias do
espermatozide. Resta descobrir qual a razo dessa repulsa espcie-especfica
manifestada pelos ovcitos em relao s mitocndrias paternas.
[CH 174 agosto/2001]
O que transplante de ncleo?
O transplante ou transferncia de n-
cleos consiste em retirar o ncleo de
uma clula e coloc-lo em outra, cujo
ncleo original foi removido.
O processo de transferncia realizado com a ajuda de um mi-
croscpio ptico, fundamental para a visualizao das clulas e para a correta
manipulao das micropipetas instrumentos utilizados para a retirada do n-
cleo, assim como para a injeo deste em outra clula.
A tcnica pode usar tanto ncleos retirados de clulas adultas quanto de clu-
las embrionrias. Em ambos os casos, o ncleo inserido em uma clula-ovo de
outro indivduo. Esse procedimento foi realizado por vrios grupos em meados
da dcada de 1980. Para a gerao da ovelha Dolly, divulgada em fevereiro de
1997, foi utilizado o ncleo de uma clula adulta. O ncleo da clula derivada do
bere (que contm as glndulas mamrias) de uma ovelha adulta foi transferido
para o ovo sem ncleo de outra ovelha.
Marcio Alves Ferreira
DEPARTAMENTO
DE GENTICA, INSTITUTO
DE BIOLOGIA, UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
28
A gerao de Dolly provou que o ncleo da clula de um mamfero adulto
totipotente (capaz de gerar um novo indivduo). [CH 191 maro/2003]
De que maneira feita a modificao gentica
de organismos, como no caso das moscas Drosophila?
H vrias tcnicas para transformar geneticamente or-
ganismos como as drosfilas, mas todas introduzem DNA
no ncleo de uma clula-ovo ou em uma clula embrion-
ria, ainda no-diferenciada, do organismo receptor para que
o gene se integre ao genoma da clula e seja transmitido s suas descendentes.
Quando se usa uma clula embrionria no-diferenciada, nem todas as clulas do
organismo adulto sero descendentes dela e, portanto, portadoras do gene. Mas
necessrio que as clulas germinativas sejam provenientes da clula transformada
para que os gametas (vulos ou espermatozides) do novo indivduo portem o
gene e possam pass-lo prxima gerao. O DNA pode ser introduzido no ncleo
por injeo, sob microscpio, usando-se uma microsseringa. Mas existem tcnicas
mais sofisticadas, como um revlver adaptado que atira microprojteis de tungstnio
cobertos por DNA. Uma vez no ncleo, o gene integra-se ao genoma do receptor
por um processo que pode ocorrer naturalmente, graas tendncia ao empare-
lhamento e recombinao entre seqncias semelhantes de DNA (recombinao
homloga).
Contudo, diversas espcies tm facilitadores dessa integrao a bactria de
solo Agrobacterium tumefaciens, por exemplo, capaz de infectar vrias
espcies de plantas e transferir um segmento de DNA para o
seu hospedeiro. No caso da modificao gentica da Drosophila
melanogaster (mosca-das-frutas), pode-se construir e injetar
na clula uma molcula de DNA que contenha o gene que se
quer transferir e uma seqncia de DNA capaz de se mover de
um ponto para outro qualquer do genoma (o elemento de
Blanche Christine
Bitner-Math
DEPARTAMENTO DE GENTICA,
INSTITUTO DE BIOLOGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
29
transposio P). No entanto, ainda existem alguns problemas para a transforma-
o gentica dos organismos eucariotos (os que tm ncleos diferenciados nas
clulas), como a morte de muitas das clulas injetadas e a integrao aleatria
do DNA injetado, que nem sempre ocorre em um local favorvel expresso do
gene. feito um grande nmero de tentativas para, com sorte, obter-se um orga-
nismo adulto transformado geneticamente. [CH 169 maro/2001]
Pode a ovelha Dolly ser considerada um Organismo
Geneticamente Modificado (OGM)?
Se entendermos a engenharia gentica no seu sentido es-
trito de tecnologia do DNA recombinante vigente na
biologia molecular , Dolly no pode ser considerada um
claro produto da engenharia gentica nem um OGM ortodoxo. Isso porque no
houve, estritamente falando, alterao uma recombinao de DNAs diferentes
, mas apenas manipulao, no sentido de uma transferncia de um pacote fe-
chado de DNA nuclear de uma clula doadora para uma clula receptora (ocito),
previamente enucleada (cujo ncleo foi retirado anteriormente), ou seja, sem
fuso nem recombinao entre DNAs diferentes.
Existe, no entanto, outras interpretao, que parte de uma distino entre
ontogenia e funo, isto , entre o que a clula enquanto ente e sua
funo (o que ela faz) no processo de clonagem.
Nesse caso, enquanto ente, o conjunto formado pelo
ncleo da clula diferenciada doadora e o ocito
enucleado receptor talvez no possa ser considera-
do um OGM. Mas, do ponto de vista funcional, hou-
ve manipulao gentica de clula germinativa e,
portanto, pode tambm ser considerado, pelo me-
nos funcionalmente, um OGM. esse desvio de fun-
o um dos aspectos mais relevantes da experincia
Fermin Roland
Schramm
ESCOLA NACIONAL DE SADE
PBLICA, DA FUNDAO
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
30
do embriologista escocs Ian Wilmut e de sua equipe, ao lado do fato de se
tratar da clonagem de uma ovelha adulta, sem passar pelo processo de re-
produo por fecundao. [CH 135 agosto/1997]
Qual foi a alterao introduzida na soja transgnica
Roundup Ready e que riscos ela pode trazer para
o meio ambiente e a sade humana?
A principal alterao da soja transgnica a introdu-
o de um segmento de DNA (material gentico), atravs
de tcnicas biotecnolgicas, que codifica a expresso de
protenas bacterianas at ento ausentes na planta original. Seqncias de
nucleotdeos de origem viral com funo regulatria tambm fazem parte do
material gentico introduzido. A nova soja resistente ao herbicida Roundup,
cujo princpio ativo o glifosate controla plantas daninhas inibindo a enzima
5'-enolpiruvato-chiquimato-3-fostato-sintase (EPSPS). Essa enzima catalisa uma
reao na cadeia de biossntese dos aminocidos aromticos (fenilalanina,
triptofano e tirosina) presente em plantas e microrganismos e ausente em ani-
mais, peixes e aves. Quando aplicado, o glifosate acaba matando as plantas de
soja, pois a enzima nativa tem baixa resistncia ao referido herbicida.
Genes heterlogos ao da soja j estudados em outras espcies apresentam
nveis variveis de resistncia ao herbicida. O gene CP4 EPSPS, que confere alto
nvel de resistncia ao herbicida, foi retirado da Agrobacterium estirpe CP4 e in-
troduzido na soja, onde responsvel pela produo da enzima CP4 EPSPS em
grandes quantidades (0,2% das protenas da semente). O grau de similaridade
com a enzima nativa da soja de 51%.
Vrios so os riscos sade humana segundo trabalhos de Mae-Wan Ho, da
Open University, na Inglaterra. A soja alterada geneticamente contm seqncias
de bactrias, de vrus e da petnia, que no fazem parte da nossa alimentao.
Tambm so desconhecidos seus efeitos no aumento ou na diminuio da
Rubens Onofre Nodari
DEPARTAMENTO
DE FITOTECNIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
31
alergenicidade (capacidade de provocar alergia) que a soja j apresenta natural-
mente. Seus possveis efeitos pleiotrpicos (produzidos por genes que levam a
duas ou mais caractersticas diferentes) ou epistticos (interferncia de um gene
na expresso de outros) no so conhecidos. Embora estudos j tenham compro-
vado que houve, na soja transgnica, um aumento na expresso do inibidor da
tripsina (protena alergnica) e que pode provocar desnutrio em ratos, a em-
presa que desenvolveu tal soja insiste em consider-la quimicamente equivalente
soja no-transgnica. Essa equivalncia foi aceita pela Comisso Tcnica Nacio-
nal de Biossegurana (CTNBio) em 24 de setembro de 1998, quando considerou
que o produto no apresentava risco sade humana e ao meio ambiente.
Outro aspecto importante que a soja contm fitoestrgenos substncias
envolvidas com anomalias reprodutivas em camundongos, ratos e humanos. Sabe-
se que o glifosate induz a sntese do fitoestrgeno em algumas leguminosas, o
que pode ocorrer tambm na soja. Como nenhum resultado experimental relacio-
nado ao assunto foi apresentado para a soja transgnica submetida aplicao
do herbicida glifosate, no possvel prever o risco que o produto consumido, se
contiver resduo do herbicida, pode causar. Resduos do herbicida j foram de-
tectados em moranguinho, alface, cenoura, cevada e peixes.
Tambm no constam do processo enviado CTNBio dados sobre os resduos do
glifosate em partes da planta ou em seus produtos. Na Califrnia, esse herbicida ,
entre os agrotxicos, o terceiro mais comum a provocar problemas, como irritao da
pele e dos olhos, depresso cardaca e vmitos. A toxicidade crnica do produto cau-
sou cncer nos testculos de ratos e reduziu seu nmero de espermas. Outros estudos
indicaram que frmulas contendo glifosate causam mutaes em genes.
Do ponto de vista ambiental os riscos tambm so altos. O herbicida usado mata
plantas indiscriminadamente, com efeitos diretos na
dinmica populacional de bactrias,
fungos e insetos. O herbicida pode ser
altamente txico para peixes, mi-
nhocas e fungos micorrzicos.
Outro aspecto que o
aumento da aplicao de
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
32
um mesmo produto qumico acelera o desenvolvimento de plantas resistentes. J
existem vrias espcies resistentes ao herbicida glifosate que podem causar pre-
juzos agricultura brasileira. No se exclui tambm a possibilidade da transfe-
rncia desse gene de resistncia ao herbicida para outras variedades ou espcies
por polinizao cruzada. A transferncia horizontal dos genes, via infeco, para
organismos do solo tambm um risco. Se microrganismos do solo suscetveis ao
glifosate adquirem resistncia ao herbicida, sua dinmica populacional dever se
alterar profundamente, sem que se saibam quais sero as reais conseqncias. Da-
dos os riscos que a soja transgnica apresenta, a SBPC considera sua liberao para
cultivo e consumo prematura, pois no h garantia de que o produto seja sadio,
seguro e vantajoso para a agricultura brasileira. [CH 146 janeiro/fevereiro/1999]
possvel usar o DNA como ferramenta para reconhecer
diferenas entre animais da mesma espcie, que vivem
em reas separadas ou distantes umas das outras?
Da mesma forma que o DNA tem sido utilizado para mos-
trar diferenas genticas em humanos, os demais ani-
mais tambm so passveis de estudo com essa mesma
ferramenta. A gentica ecolgica a rea de investiga-
o cientfica que usa a variabilidade gentica animal e
vegetal para estudar a biodiversidade.
A variabilidade do DNA de vrias espcies animais bastante estudada nos
pases desenvolvidos e comea a ser pesquisada no Brasil. Os objetivos desses
estudos vo alm de simplesmente discriminar populaes de uma mesma es-
pcie. Eles podem determinar graus de diferenciao entre populaes, alterao
de variabilidade pela ao antrpica (destruio de florestas etc.), nveis de
endogamia (acasalamento entre parentes), nveis de introgresso (transferncia
de genes de uma espcie para outra pela formao de hbridos frteis) etc. Tais
estudos j foram utilizados para promover o acasalamento de micos-lees-dou-
Fabrcio Rodrigues
dos Santos
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
GERAL, INSTITUTO
DE CINCIAS BIOLGICAS,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
33
rados menos aparentados (com menor grau de endogamia) e evitar a
extino dessa espcie brasileira. A diferena dos estudos em humanos e
outros animais que sobre os primeiros muito se conhece da seqncia de
DNA em suas clulas. Quanto mais se conhece o genoma (o mapeamento
completo de DNA de uma espcie), possvel utilizar ferramentas mais ade-
quadas para estudos desse tipo: seqncias de DNA, mutaes pontuais (alteraes
em bases nicas no DNA), seqncias repetitivas (micro e minissatlites) etc.
Quando no se conhece o genoma, empregam-se tcnicas menos precisas, como o
DNA fingerprinting ou RAPD (DNA polimrfico amplificado aleatoriamente), que pro-
duzem uma impresso digital capaz de diferenciar indivduos de uma mesma espcie
e tambm populaes. Vrios mtodos esto sendo desenvolvidos atualmente para
tentar melhorar as ferramentas de discriminao de animais de distintas espcies.
No nosso laboratrio iniciamos um banco de DNA de espcies animais no fim
de 1999 (ver http://www.icb.ufmg.br/~lbem/ddb). Com ele, pretendemos obter
uma coleo representativa de espcies de nossa fauna nativa na forma de DNA,
para promover o estudo em detalhe desses genomas e desenvolver ferramentas
para deteco de variabilidade gentica. Isso est sendo feito em colaborao
com vrios laboratrios e instituies de Minas Gerais (incluindo o Ibama), usan-
do-se sobretudo material de animais mortos.
Conhecendo-se as ferramentas adequadas para cada espcie nativa do Brasil
podemos propor estratgias de conservao e preservar nossa biodiversidade
com o auxlio da gentica molecular. [CH 164 setembro/2000]
Sabendo-se que leo e tigre podem cruzar, semelhante
caso pode ter ocorrido entre Homo sapiens
e Homo neanderthalensis gerando descendentes frteis?
Sim. Muitas vezes, criaturas que apresentam uma mor-
fologia muito diferente e que foram descritas original-
mente como espcies distintas mostram-se capazes de
cruzar e de deixar descendentes frteis.
Walter Neves
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA,
INSTITUTO DE BIOCINCIAS,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
34
Alis, isso muito mais comum na natureza do que mostram os livros de
evoluo. Esse fenmeno ocorre porque nem sempre os sistemas de reconheci-
mento de parceiros para acasalamento so afetados pela morfologia geral do
corpo. O isolamento reprodutivo s ocorre quando os sistemas de reconhecimen-
to de parceiros so modificados e muitas vezes esses sistemas so mediados por
comportamento ou por estmulos qumicos muito sutis.
Existem espcies de moscas drosfilas, por exemplo, que externamente se
mostram idnticas, mas que no acasalam
simplesmente porque houve uma diferenci-
ao no sistema de reconhecimentode par-
ceiros, isolando-as geneticamente.
[CH 202 maro/2004]
Dvida sobre especiao
Na CH n 202, de maro, encontrei na seo O leitor pergunta o seguinte tre-
cho de resposta elaborada por Walter Neves para uma pergunta sobre a fertili-
dade em hbridos: O isolamento reprodutivo s ocorre quando os sistemas de
reconhecimento de parceiros so modificados e muitas vezes esses sistemas
so mediados por comportamentos ou estmulos qumicos muito sutis. Como
sou professor de biologia no ensino mdio, estranhei a resposta, que poderia
dar a entender (...) que apenas existiriam mecanismos de isolamento reprodutivo
que fossem comportamentais (etolgicos). Como o autor da resposta no cita
outros tipos de isolamento reprodutivo pr-copulatrios possveis (isolamen-
to estacional, de hbitat, mecnicos) e nem ps-copulatrios (mortalidade de
gametas, do zigoto, inviabilidade do hbrido e esterilidade do hbrido), o lei-
tor poderia ter uma viso incompleta sobre o assunto.
Walter Neves, autor do texto citado, responde: Muito oportuna a observao
(...). Sempre que temos muita limitao de espao, as respostas so incompletas,
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
35
claudicantes. Ao se referir a outros mecanismos de isolamento reprodutivo (pr-
copulatrios e ps-copulatrios), o professor Eduardo est absolutamente certo,
desde que se levem em considerao outros modelos de especiao que no o de
espcie por reconhecimento, proposto por Hugh Paterson em 1985, uma revo-
luo em relao ao modelo antes predominante, de espcie por isolamento,
proposto (...) desde os anos 30 por Ernst Mayr e Theodosius Dobzhansky (1900-
1975) e repleto de contradies lgicas.
O modelo tradicional (...) diz que o grosso do isolamento reprodutivo
fixado quando as populaes irms so instadas alopatria [separao fsi-
ca], muito provavelmente por fatores geogrficos. Alguns autores (...) come-
aram a identificar uma grande inconsistncia lgica nesse modelo: como a
seleo poderia fixar isolamento reprodutivo entre dois conjuntos separados
(as duas populaes irms), se no esto em contato? Mayr e Dobzhansky de-
ram respostas distintas. Para Mayr,
(...) os mecanismos de isolamento fixados seriam apenas subprodutos da
seleo agindo sobre outros setores da vida do organismo. Para Dobzhansky,
o isolamento reprodutivo propriamente dito s seria fixado quando as popu-
laes irms, antes em alopatria, so postas de novo em simpatria, atravs de
um fenmeno que chamou de reforo secundrio (...). O trabalho de Paterson
(...) restaurou a qualidade lgica nesse contexto. Para ele, o que a seleo
fixa quando as duas populaes irms esto em alopatria so mecanismos
distintos de reconhecimento de parceiros especficos em cada uma e no iso-
lamento reprodutivo de uma em relao outra. Pode parecer uma diferena
apenas semntica, mas no ! Como muito bem enfatizou Paterson em seu
artigo, seleo natural age sobre reproduo e no sobre no-reproduo.
o fato de a seleo aperfeioar a cada dia mais o reconhecimento de parcei-
ros em cada uma das populaes irms em alopatria que leva ao isolamento
reprodutivo entre elas. No modelo tradicional, portanto, isolamento o ful-
cro do processo, enquanto no modelo de Paterson isolamento apenas
subproduto do processo. (...)
[Resposta Carta de leitor publicada em CH 206 julho/2004]
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
36
Por que no existem olhos de outras cores, alm dos
clssicos azul, castanho e verde?
Basicamente as cores que observamos nos olhos hu-
manos so aquelas resultantes da proporo do pigmen-
to melanina na ris. Assim, h casos nos quais a cor est
bem definida, como, por exemplo, olhos castanhos, azuis e verdes. Essas situa-
es representam propores definidas de melanina. Mas h tambm cores inter-
medirias que refletem uma srie de matizes derivados dessas cores, como, por
exemplo, olhos cinzentos, violetas, castanhos claros etc. H ainda a ausncia de
pigmento, caracterstica de albinos, o que gera uma cor avermelhada, resultante
da visualizao dos vasos sangneos.
Inicialmente, julgava-se que a cor dos olhos era determinada por apenas um par
de genes. Algumas situaes de herana de cor dos olhos podiam ser explicadas a
partir da gentica mendeliana clssica, assumindo que s estava em jogo um par de
genes e que a cor marrom era dominante sobre a azul e a verde. No entanto, logo
ficou claro que era necessrio postular a participao de mais genes. Isso confir-
mou-se e hoje sabemos que existem pelo menos trs genes que controlam a cor da
ris. Esses genes localizam-se nos cromossomos 15 e 19. Naturalmente, o estudo da
herana com trs pares de genes, levando em conta ainda dominncia e reces-
sividade, passa a ser muito mais complexo do que a herana monognica.
Apesar de sabermos que trs pares de genes controlam a cor, existem situa-
es em que no possvel explicar, por exemplo, como um casal de olhos azuis
gera uma criana com olhos castanhos (excetuan-
do-se, claro, casos de infidelidade). Assim, in-
teiramente provvel que mais genes controladores
da cor dos olhos sejam descobertos em breve. Fi-
nalmente, no observamos todas as cores do arco-
ris nos olhos porque as vrias propores de me-
lanina somente conseguem cobrir uma faixa do es-
pectro da luz visvel. [CH 206 julho/2004]
Franklin D. Rumjanek
DEPARTAMENTO DE BIOQUMICA
MDICA, UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
2
.
B
I
O
L
O
G
I
A
M
O
L
E
C
U
L
A
R
,
G
E
N
T
I
C
A
E
E
V
O
L
U
O
36 36
37
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
O CORPO COMO UM TODO
Controle da temperatura, fatores que definem a estatura
humana, morte celular, envelhecimento, controle da dor,
absoro de alimentos, regulao do sono, percepo de
cores... Reunimos nessa seo do volume exemplos de al-
guns dos muitos mecanismos de funcionamento do organis-
mo humano que, gradativamente, vm sendo esmiuados nas
pesquisas realizadas na interface biologia-medicina.
Acreditamos que vrios desses temas representam dvi-
das e indagaes freqentes nas aulas de biologia e que os
textos aqui apresentados possam ser teis na abordagem
dessas questes. O fundamental, no entanto, que sirvam
para despertar o interesse dos alunos e os motivem para a
aprendizagem de conceitos-chave em biologia, principalmen-
te aqueles relacionados biologia geral, como a citologia, e
imprescindveis para a compreenso dos mecanismos fisio-
lgicos que garantem o funcionamento pleno do corpo hu-
mano.
Entre as vrias temticas selecionadas para compor essa
seo do volume, todas relativas aos mecanismos de funcio-
namento do corpo humano, consideramos especial a que
procura desvendar os mecanismos de funcionamento do c-
rebro humano. Por isso, fizemos questo de incluir nessa
seo textos relativos s neurocincias.
Nas ltimas dcadas, o esforo de pesquisa empreendido
por equipes de neurocientistas em todo o mundo tem gera-
do grandes avanos, sobretudo no que diz respeito a uma
melhor compreenso dos mecanismos cerebrais. Parte des-
ses novos conhecimentos das neurocincias tem tambm se
refletido diretamente na qualidade de vida das pessoas, com
3
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
38
o desenvolvimento, por exemplo, de novos medicamentos para tratamento de
distrbios neurolgicos, como a depresso e a ansiedade.
Alm disso, ao demonstrar como mecanismos cerebrais interferem direta-
mente nos demais mecanismos de controle e funcionamento do corpo, como
por exemplo, nas estratgias de defesa do organismo, os conhecimentos
obtidos recentemente reforam a idia de que o ensino de biologia tambm
deve mudar, superando a maneira fragmentada de apresentar o corpo huma-
no atravs de seus retalhos, parte por parte, sistema por sistema, rgo por
rgo.
A viso que se prope atualmente para o ensino de biologia incorpora
novos conhecimentos no apenas das neurocincias, mas tambm de outras
disciplinas, e preconiza a abordagem do organismo humano como uma tota-
lidade, fruto da interao de todos os seus componentes, em seus vrios n-
veis de organizao.
O desafio que se coloca para o professor, na abordagem dos temas aqui
apresentados relativos ao organismo humano, , portanto, superar a viso
fragmentria (imposta pelas prprias disciplinas cientficas e pela tradicional
organizao do ensino) e abordar o corpo humano como um todo integrado,
em que pesem muito mais as idias de interdependncia, de complexidade e
de equilbrio dinmico, justamente aquelas consideradas fundamentais para
uma correta compreenso do fenmeno vida.
39
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
Como e por que a temperatura do corpo se altera?
Como os invertebrados no podem regular sua tempera-
tura corporal, eles esto merc do ambiente em que vi-
vem. Mas os vertebrados desenvolveram mecanismos para
manter sua temperatura corporal relativamente
constante, por meio de ajustes entre produo e perda de calor.
Nos animais pecilotrmicos (de sangue frio), esses mecanis-
mos de ajuste da temperatura corporal so rudimentares,
e sua temperatura corporal varia dentro de limites
considerveis. Nos mamferos e aves, animais
homeotrmicos (de sangue quente), a tempera-
tura corporal mantm-se relativamente constante, apesar de amplas variaes na
temperatura ambiente. Nos animais homeotrmicos, a temperatura normal varia de
espcie para espcie e, em menor grau, de indivduo para indivduo.
No homem, a temperatura corporal normal de cerca de 37C, com variaes
individuais de cerca de 0,5C e com variaes ao longo do dia de 0,5 a 0,7C. O
funcionamento normal do nosso organismo depende de uma temperatura corpo-
ral constante, pois a velocidade das reaes qumicas e a atividade das enzimas
envolvidas no metabolismo, alm de variar com a temperatura, possuem uma
funo tima dentro de limites estreitos de variao da temperatura.
No nosso organismo, o calor produzido por exerccios musculares, pela assi-
milao de alimentos e pelos processos metablicos vitais.
perdido pela radiao, pela conduo, pela conveco e pela evaporao da
gua atravs da pele e das vias respitarrias. O equilbrio entre produo e elimi-
nao de calor que determina a temperatura corporal.
No homem, o hipotlamo, localizado no crebro, responsvel pela regulao
trmica, sendo por isso denominado termostato humano. Est ajustado para 37,0
1,0C. Variaes na temperatura corporal dentro dessa faixa desencadeiam res-
postas reflexas de conservao (tremor e vasoconstrio perifrica) ou dissipa-
o (sudorese e vasodilatao perifrica) de calor.
Danusa Dias Soares
LABORATRIO DE FISIOLOGIA
DO EXERCCIO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
40
A febre, um dos mais conhecidos sinais de doena, ocorre no s nos mamfe-
ros, mas tambm em aves, peixes, rpteis e anfbios. No caso dos animais homeo-
trmicos, os mecanismos de regulao da temperatura comportam-se como se ti-
vessem sido ajustados para manter a temperatura corporal em nveis mais elevados
que o normal, isto , como se o termostato tivesse sido reajustado para um ponto
acima de 37C. Sendo assim, os receptores de temperatura indicam que a tempe-
ratura corporal est abaixo do novo ponto de ajuste, desencadeando a ativao
dos mecanismos de produo de calor pelo hipotlamo. [CH 132 outubro/1997]
Por que quando uma pessoa de pele clara se expe
muito tempo ao Sol fica com a pele avermelhada?
As pessoas de pele clara reagem com maior intensida-
de a menores doses de radiao ultravioleta em compara-
o com as de pele escura, por isso ficam com a pele ver-
melha com mais facilidade. Caracterstico da queimadura solar, o aspecto
avermelhado decorre de reao inflamatria aguda devido vasodilatao e
permeao atravs desses vasos de clulas leucocitrias. A principal radiao res-
ponsvel pela queimadura solar ultravioleta B (UVB), que tem
ao restrita epiderme e promove leso de clulas epiteliais,
com liberao de prostaglandinas (substncias vasodilatadoras).
Na queimadura solar, alm do eritema (vermelhido), h tam-
bm edema (inchao) e ardor local. Nos casos de inten-
sa exposio ao Sol podem surgir bolhas. De modo
geral, o eritema surge entre duas e oito horas aps
exposio intensa e atinge seu ponto mximo em 24
horas, regredindo em seguida.
A radiao ultravioleta A (UVA) atravessa a epi-
derme e, na derme,vai atuar promovendo vasodi-
latao e eritema. a radiao responsvel pela
Andr Luiz Vergnanini
SERVIO DE DERMATOLOGIA,
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE CAMPINAS
41
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
pigmentao tardia, ou seja, pelo escurecimento da pele. Tambm promove de-
generao do colgeno, sendo responsvel pelo envelhecimento cutneo. Cabi-
ne de bronzeamento tem radiao UVA, que no deixa a pele vermelha, mas causa
cncer e envelhecimento. O escurecimento cutneo uma caracterstica gentica,
ou seja, quem tem pele clara nunca conseguir escurecer. O risco de cncer de
pele 20 vezes maior para os indivduos de pele clara em relao s pessoas de
pele negra. A radiao ultravioleta promove nas clulas epidrmicas quebra das
cadeias do DNA, que so reparadas por mecanismos enzimticos. Todas as vezes
em que nos expomos radiao solar estamos provocando danos no DNA. Quan-
do isso ocorre de forma crnica, a partir de certo momento a reparao se d de
maneira imperfeita, favorecendo o aparecimento de tumores. O efeito cumulati-
vo da exposio solar promove, aps alguns anos, o aparecimento de leses
degenerativas da pele.
A exposio exagerada radiao solar tambm causa diminuio da resposta
imunolgica, aumentando a suscetibilidade s infeces. A exposio solar pre-
judicial em qualquer horrio do dia. Das 10h s 16h, a incidncia de UVB maior
(causa vermelhido na pele e cncer); j a radiao UVA est presente durante
todo o dia (causa envelhecimento cutneo e cncer). [CH 197 setembro/2003]
Faz mal praticar exerccios em piscina de gua quente?
Os exerccios fsicos produzem calor como resultado
do consumo de energia que a atividade requer, e esse
calor pode ser armazenado no corpo ou dissipado no
ambiente.
Um termostato cerebral controla a temperatura ideal do organismo a cada
momento: se o corpo est esfriando, ele age para armazenar calor internamen-
te; se h sinais de que a temperatura corporal est aumentando, procura dissi-
par calor no ambiente. No ser humano, o armazenamento de calor acontece por
meio da reduo do fluxo de sangue para a superfcie (palidez da pele) e da
Luiz Oswaldo
Carneiro Rodrigues
ESCOLA DE EDUCAO FSICA,
FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL, UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
42
produo de calor atravs do tremor. Para dissipar calor, o termostato manda
mais sangue para a pele e produz suor, que, se evaporado, retira calor da pele
e resfria o sangue que est passando por ela.
Quanto mais a temperatura da gua de uma piscina se aproximar da tempera-
tura da pele (aproximadamente 32C), mais agradvel ser permanecer nela em
repouso. No entanto, quanto mais aquecida for a gua, menor a capacidade do
organismo de dissipar o calor produzido durante os exerccios, pois haver me-
nos troca por conveco e no haver evaporao do suor. como realizar exer-
ccios no ambiente quente e mido de uma floresta tropical. O acmulo de calor
interno resulta na acelerao dos batimentos cardacos e em sintomas como ton-
tura, mal-estar e desmaio, devidos queda da presso
arterial, casada pelo desvio de parte do sangue para a
pele. Assim,para evitar esses efeitos indesejveis, quan-
to maior o gasto de energia da atividade fsica, menor
deve ser o aquecimento da piscina.
[CH 199 novembro/2003]
At que idade uma pessoa normal pode crescer?
Muitos acreditam que os jovens crescem at 18 ou 21
anos, associando crescimento em altura maioridade le-
gal. Entretanto, no a idade cronolgica que indica se a
pessoa crescer mais ou no. O crescimento ocorrer
enquanto os ossos apresentarem cartilagens de crescimento no calcificadas,
independentemente da idade. O amadurecimento e a calcificao das cartilagens
de crescimento dependem principalmente da puberdade.
Um jovem em estgio mais avanado da puberdade estar com as cartilagens
de crescimento mais calcificadas e, portanto, mais prximo de parar de crescer
do que outro que estiver no incio da puberdade. Assim, uma menina de 10 anos
com os plos pubianos e as mamas desenvolvidos e que j tenha apresentado
Margaret C. S.
Boguszewski
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA,
FACULDADE DE MEDICINA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARAN
43
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
a primeira menstruao dever parar de crescer antes que outra de 12 anos que
esteja apenas entrando na puberdade.
A melhor maneira de verificar o grau de amadurecimento dos ossos e o tempo
que o jovem ainda ter para crescer submet-lo a uma radiografia das mos
e dos punhos para avaliar a idade ssea. Nos meninos, a calcificao completa
das cartilagens de crescimento se d quando a idade
ssea est ao redor dos 17 anos. Nas meninas,
quando a idade ssea est em torno de 15 anos.
A idade cronolgica e a idade ssea podem co-
incidir em algumas pessoas, mas na maioria das
vezes no so concordantes. O mais seguro, por-
tanto, fazer a radiografia e avaliar o potencial de
crescimento. [CH 202 maro/2004]
O hormnio do crescimento faz realmente com que
uma pessoa adulta atinja uma estatura superior?
Todos ns herdamos informaes genticas de nossos pais,
que indicam um potencial final de crescimento. Para atin-
girmos esse potencial necessrio um somatrio de fatores
orgnicos e biolgicos com os fatores ambientais. Entre es-
ses fatores, poderamos citar os hormnios do crescimen-
to, da tireide e sexuais, alimentao adequada, atividade fsica, estmulos psicol-
gicos e emocionais e ausncia de enfermidades como sendo os mais relevantes.
Quando todos esses aspectos positivos esto presentes no cenrio, na intensidade
e hora desejadas, o crescimento e desenvolvimento ocorrem normalmente.
O hormnio do crescimento uma pea fundamental no desenvolvimento da
estatura humana. Portanto, sua falta absoluta ou relativa vai influenciar negati-
vamente esse aspecto. O uso teraputico do hormnio pode corrigir essa falha,
quando aplicado no tempo certo e nas doses corretas.
Jos Egdio Paulo
de Oliveira
DEPARTAMENTO
DE CLNICA MDICA,
FACULDADE DE MEDICINA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
44
Com o desenvolvimento da puberdade em ambos os sexos e a elevao dos
hormnios sexuais, tem incio uma fase de crescimento mais rpida. Com o pas-
sar do tempo, a velocidade de crescimento gradativamente reduzida, at parar
por completo. Portanto, para uma criana que tenha deficincia do hormnio do
crescimento, o uso teraputico deve ser iniciado antes da puberdade, ainda na
fase de atraso no desenvolvimento sseo, para que se possa obter o melhor
benefcio do tratamento. Na fase final da puberdade, com fechamento das epfises
sseas indicando cessao no crescimento, o custo-benefcio do tratamento tor-
na-se quase nulo. Na vida adulta, no existe indicao do hormnio com finali-
dade especfica de proporcionar crescimento.
A necessidade de administrao do hormnio do crescimento determina-
da pelo endocrinologista aps uma avaliao clnica detalhada, para verificar
se existe alguma deficincia nutricional, hormonal ou por qualquer outra causa
que justifique o tratamento. Ele feito com aplicaes subcutneas do horm-
nio do crescimento, de seis a sete vezes por semana, em geral noite, antes
de dormir. [CH 184 julho/2002]
A morte inevitvel para todos os seres vivos
ou existem alguns que no passam
pelo ciclo de envelhecimento e morte?
A morte faz parte do ciclo da vida, assim como o enve-
lhecimento. As estruturas e funes de um organismo,
logo aps o nascimento, mostram-se freqentemente em
um estado que no aquele que ser exibido quando o indivduo atingir a matu-
ridade. O processo de maturao de alguns sistemas, como o sistema nervoso por
exemplo, bastante lento em algumas espcies. Os mecanismos da maturao
so bastante complexos e alguns no so bem conhecidos.
Portanto, difcil estabelecer com clareza critrios que permitam identificar o
final da maturao e o incio do processo de envelhecimento. Na verdade, trata-
Mirian David Marques
MUSEU DE ZOOLOGIA,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
45
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
se de um desenvolvimento contnuo que atinge um patamar, a que costumamos
denominar vida adulta, e a partir dele inicia-se o envelhecimento. importante
notar que os diversos sistemas orgnicos digestivo, respiratrio, circulatrio
etc. apresentam diferentes estgios de desempenho ao longo desse processo,
e podem mostrar sinais de maturao e/ou envelhecimento em momentos dife-
rentes quando comparados entre si.
Existem espcies de organismos menos diferenciados, como unicelulares
e esponjas, por exemplo, que podem reproduzir-se por divi-
so simples de um nico indivduo, ou ento, por
brotamento de partes do corpo de um indivduo
inicial. Nesses casos, pode-se considerar que no
h morte do indivduo original, porque seu
prprio corpo que se divide e d origem a ou-
tros indivduos, precisamente iguais a ele.
[CH 185 agosto/2002]
O que a dor? Como ela acontece e o que se pode fazer
para alivi-la?
A dor um fenmeno subjetivo caracterizado por reaes
individuais. Aspectos psquicos, fsicos e sociais como
sexo e nacionalidade, por exemplo determinam a inten-
sidade dessas reaes que dependem, essencialmente, das
memrias que cada indivduo tem a respeito da dor em sua vida. Por isso, as
respostas aos estmulos dolorosos so to particulares e variveis.
A dor ocorre toda vez que um agente fsico atinge algum segmento do nosso
organismo, provocando uma leso que pode variar de insignificante a definitiva,
dependendo de sua intensidade. Tal leso capaz de excitar determinados gru-
pos de clulas que, por sua vez, levam o estmulo ao crebro, provocando uma
imediata sensao desagradvel a dor e reaes nos tecidos, como vasodi-
latao ou vasoconstrico, taquicardia e elevao da presso arterial.
Carlos Telles
FACULDADE DE CINCIAS
MDICAS, UNIVERSIDADE
DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
46
Para diminuir esses efeitos, existem tcnicas que bloqueiam a viagem dos es-
tmulos dolorosos at o crebro. Tais tcnicas podem ser divididas em qumicas
(medicamentos que bloqueiam os receptores cerebrais da
dor, como analgsicos de modo geral), mecnicas (cirur-
gias que visam a interromper a via de conduo da dor e
consistem na seo ou cauterizao de centros nervo-
sos especficos, assim como na estimulao de outros
centros capazes de liberar na corrente sangnea neuro-
hormnios ou endorfinas, que funcionam como anal-
gsicos naturais) e fsicas (utilizao de calor ou frio,
como na fisioterapia). [CH 182 maio/2002]
Como age a aspirina? A substncia totalmente
eliminada ou parte dela permanece no organismo?
O cido acetilsaliclico (AAS) ou aspirina o prottipo
de um grande grupo de medicamentos com propriedades
analgsica, antipirtica e antiinflamatria. Esses efeitos
decorrem da inibio da enzima ciclo-oxigenase dos ci-
dos graxos (COX), responsvel pelo incio da sntese de prostaglandinas (PGs),
tromboxanas (TXAs) e prostaciclinas (PGIs), que podem ser produzidas pratica-
mente por qualquer clula do nosso organismo. As PGs so responsveis pelo
aumento do fluxo sangneo e vermelhido e pela sensibilizao dor das termi-
naes nervosas sensitivas em locais inflamados (hiperalgesia). Alm disso, sua
produo no hipotlamo determina a elevao da temperatura corporal. Assim, o
AAS, ao inibir a sntese de PGs, reduz a vermelhido e o edema no local inflama-
do, abole a hiperalgesia e reduz a temperatura ao normal. Dor de dente, dor de
cabea e dor lombar so exemplos de hiperalgesia.
Dalton Luiz
Ferreira Alves
DEPARTAMENTO
DE FARMACOLOGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
47
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
Uma caracterstica particular do AAS a irreversibilidade da inibio da COX.
As clulas intactas recuperam-se graas sua capacidade de produzir COX de novo.
O mesmo no ocorre nas plaquetas ou trombcitos, que so fragmentos de clula,
impedindo permanentemente a sntese de TXA at que novas plaquetas sejam pro-
duzidas. A formao de cogulos em reas onde a parede vascular foi lesada de-
pende inicialmente da agregao de plaquetas, que estimulada pela TXA. A clula
da parede vascular produz PGI, que inibidora da agregao plaquetria ou forma-
o de trombo. Aps ingesto de um s comprimido de AAS, todo o salicilato levar
cerca de 20 horas para ser eliminado. O efeito antitrombocitrio persiste, entretanto,
at sete dias, porque as clulas endoteliais que forram a parede vascular se recupera-
ram com a sntese de nova COX, mas no as plaquetas. [CH 146 janeiro/fevereiro/1999]
Que problemas de sade a prtica de mergulho
pode trazer?
Existem trs modalidades de mergulho: amador ou
desportivo, tcnico e profissional. Este ltimo tambm
considerado um mergulho tcnico e est relacionado a al-
guma atividade como, por exemplo, a explorao de pe-
trleo. Quanto mais complexo for o tipo de mergulho, maior o nmero de exign-
cias para exerc-lo. Os interessados em quaisquer dessas modalidades devem sub-
meter-se a uma avaliao fsica detalhada e receber treinamento para maximizar a
segurana e evitar danos sade.
O homem vive sob o peso dos gases
da atmosfera. No nvel do mar, a pres-
so de 760 mmHg ou 1 ATA (atmosfe-
ra absoluta). Quando mergulhamos, adi-
cionamos ao peso dos gases o peso
dgua sobre ns. Como a gua mais
densa que o ar, a cada 10 m de profun-
Flvio Lopes Ferreira
ESPECIALISTA EM MEDICINA
HIPERBRICA, MERGULHADOR
DO CENTRO DE AVENTURAS
(BELO HORIZONTE)
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
48
didade o mergulhador sofre a ao de 1 ATA. Assim, ao mergulhar 20 m, o indiv-
duo sofre a ao de 3 ATA (20 m = 2 ATA + 1 ATA da atmosfera).
O aumento da presso ambiental pode provocar leses chamadas barotraumas,
devidas diferena de presso entre o meio externo e as cavidades internas do
corpo. Como estas no tm comunicao com a parte externa, as presses no se
equilibram e esses espaos podem ser comprimidos, provocando dor e descon-
forto progressivos. Os barotraumas podem comprometer ouvidos, seios da face,
dentes e pulmes.
A diferena de presso tambm pode causar paralisia facial ou ainda a
sndrome da hiperdistenso pulmonar. Esta decorre da expanso do volume de
gases no pulmo, quando h diferena de presso entre esse rgo e o meio
externo. Durante o mergulho autnomo (com utilizao de cilindro), o ar que
se respira comprimido. Se o mergulhador prende a respirao e se desloca
para uma rea menos profunda, o ar se expande exageradamente nos pulmes
(por diminuio da presso externa), podendo causar rompimento dos alvo-
los e pneumotrax. Por isso, uma regra bsica do mergulho autnomo respi-
rar continuamente, sem prender a respirao, sobretudo na subida em direo
superfcie.
Outra causa de leso a chamada doena descompressiva. O regime de
presso alta faz com que o nitrognio do ar respirado se dissolva nos tecidos.
A quantidade absorvida depende da profundidade e do tempo do mergulho,
ou seja, quanto maior a profundidade, menor deve ser o tempo de mergulho.
Se h nitrognio em excesso nos tecidos e no sangue circulante, bolhas de
nitrognio se formam por descompresso rpida durante a subida situao
comparvel formao de bolhas quando se abre um refrigerante. Os sinto-
mas podem variar entre formigamento, perda de sensibilidade e dores articu-
lares at paralisia, insuficincia respiratria, inconscincia e choque, que po-
dem levar morte.
A osteonecrose assptica e a narcose por nitrognio so tambm leses cau-
sadas pela diferena de presso entre o meio aqutico e o corpo do mergulhador.
A primeira consiste no entupimento dos vasos que irrigam os ossos devido
49
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
formao de bolhas; a segunda, provocada pelo aumento de nitrognio no san-
gue, pode evoluir para crises convulsivas e desmaio, j que, sob presso, esse gs
tem efeito anestsico.
Alm dos barotraumas, o mergulhador est exposto tambm hipxia (dimi-
nuio da quantidade de oxignio no sangue) e hipotermia, que decorre da
variao de temperatura (em regies mais profundas, costuma ser baixa). No
ambiente aqutico, o indivduo pode ainda ser vtima de afogamento, de leses
causadas por toxinas e de feridas que comprometem a integridade da pele e dos
msculos. Por essas razes, ao mergulhar, nunca devemos nos esquecer de que a
gua no o nosso meio natural, alm de tomar todas as precaues necessrias.
[CH 189 dezembro/2002]
Qual o tempo mdio para absoro dos nutrientes
contidos em alimentos como um ch,
uma barra de chocolate ou uma fatia de carne?
Milton Melciades
Barbosa Costa
DEPARTAMENTO DE ANATOMIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
Os alimentos, em
geral, inclusive os
citados acima, for-
necem em propor-
es variveis gua, eletrlitos, vitaminas,
protenas (aminocidos, di e tripeptdeos),
carboidratos (monossacardeos hexoses
e pentoses) e lipdios (triglicerdeos
glicerol e cidos graxos).
O tempo de absoro dos nutrientes
varia de acordo com o predomnio de um ou outro na composio da dieta. Existe
uma inter-relao entre as diversas absores, o que torna difcil a definio de
um tempo especfico para a absoro de cada tipo de nutriente. Mesmo dentro de
um mesmo grupo de alimentos, podemos observar diferenas na velocidade
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
50
de absoro. No entanto, em quatro ou cinco horas praticamente todo o alimento
ingerido ter sido absorvido.
O alimento vai da boca ao estmago em cerca de 10 segundos e, em uma dieta
balanceada, passa do estmago para o duodeno (primeira poro do intestino
delgado, onde a absoro de nutrientes se processa mais intensamente), em
cerca de duas a trs horas. Dietas gordurosas tornam mais lento o tempo de
passagem do alimento do estmago para o duodeno. Como conseqncia, o
tempo necessrio para digesto e absoro aumenta. As dietas ricas em
carboidratos (chamadas glicdicas) so mais facilmente absorvidas. Alguns ele-
mentos, como a gua, permanecem sendo absorvidos por todo o tempo, mesmo
no intestino grosso, o que explica as fezes duras e ressequidas da constipao
crnica. [CH 175 setembro/2001]
Como a glicose combate ou diminui os efeitos do lcool?
Apesar de a administrao de soro glicosado em
pacientes com sinais de alcoolismo nos servios de
emergncias ser um procedimento comum, no h pro-
vas de que a glicose acelere diretamente a metabolizao do lcool. Mas h
alguns efeitos que podem ser considerados benficos. Em pacientes com ali-
mentao precria ou doena heptica, por exemplo, o lcool acentua o blo-
queio da gliconeognese (a produo de glicose pelo fgado), provocando
uma reduo do acar no sangue
(hipoglicemia), que pode ser revertida
pela administrao da glicose. Por outro
lado, o lquido administrado por via ve-
nosa junto com a glicose pode melhorar
o estado de desidratao do indivduo,
facilitando a eliminao do lcool.
[CH 197 setembro/2003]
Adolpho Milech
FACULDADE DE MEDICINA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
51
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
verdade que as pessoas nascem com um estoque
determinado de insulina e que, esgotado esse estoque,
ela s pode ser reposta artificialmente?
Recentemente, a Associao Norte-americana de Diabetes
(ADA) publicou um documento sobre diagnstico e clas-
sificao do diabetes mellitus [Report of the Expert
Committee on the Diagnosis and Classification of Diabe-
tes Mellitus. Diabetes Care, 23 (Supl. 1): S4-S23, 2000] e no faz qualquer men-
o a respeito da questo apontada pelo leitor. Em um indivduo sadio, a insulina
produzida continuamente durante toda a vida, pelas clulas beta das ilhotas
de Langerhans. No diabetes tipo 1, ocorre uma destruio das clulas beta, o
que torna o paciente dependente de insulina por toda a vida. No diabetes tipo 2,
que surge mais comumente na maturidade, a insulina produzida mas o organis-
mo oferece resistncia a ela.
Nesse caso, o tratamento consiste na reduo do peso corporal (se o indivduo
for obeso) e, quando necessrio, no uso de um hipoglicemiante oral. Se essas con-
dutas no forem eficazes, recorre-se insulinoterapia. [CH 188 novembro/2002]
Como feita a produo industrial de insulina?
A insulina, hormnio produzido pelas clulas beta do pn-
creas e medicamento essencial ao tratamento da diabe-
tes, pode ser produzida industrialmente de vrias manei-
ras. A partir de pncreas de mamferos, em geral boi e
porco, ou a partir de microrganismos (bactrias ou leveduras) modificados por
engenharia gentica.
O pncreas congelado modo e adicionado a uma soluo alcolica para extra-
o da insulina. Depois de vrias etapas de filtrao e evaporao do lcool, a insu-
lina precipitada pela adio de sal soluo final. Aps cristalizao, trans-
Enio Cardillo Vieira
DEPARTAMENTO
DE BIOQUMICA
E IMUNOLOGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
Luciano Vilela
DEPARTAMENTO DE PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO
DA BIOQUMICA DO BRASIL
(BIOBRS)
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
52
formada em insulina humana por meio de uma reao catalisada por enzimas. Em
seguida, purificada em colunas cromatogrficas para eliminar protenas contami-
nantes. Altamente purificada, a insulina ento cristalizada na presena de zinco.
Quando se usam bactrias ou leveduras modificadas por engenharia gentica,
um precursor da insulina obtido inicialmente na fase de fermentao. Essa
protena precursora coletada por filtrao, quando se usa levedura, ou atravs
do rompimento das bactrias seguido de centrifugao e filtrao. Uma vez obti-
do, esse precursor sofre diferentes reaes qumicas e enzimticas para sua trans-
formao em insulina. Tambm nesse caso a insulina passa por vrias croma-
tografias visando obteno de um produto altamente purificado para cristali-
zao na presena de zinco.
Independente da origem clulas de mamferos ou de microrganismos , os
cristais de insulina so dissolvidos para a preparao de remdios de ao rpida
ou cristalizados para ter ao lenta, atendendo s diferentes necessidades dos
pacientes diabticos. [CH 132 outubro/1997]
A vitamina C de fato evita gripes e resfriados?
Centenas de artigos cientficos foram publicados, nos
ltimos 20 anos, sobre esse assunto. Acredita-se hoje,
com base em estudos consistentes, que o uso preventi-
vo de vitamina C ou cido ascrbico no tem efeito
significativo na reduo da incidncia de resfriado e gripe. Em
algumas pesquisas, o percentual de indivduos doentes di-
minuiu, de forma discreta, mas no se pode afirmar se
isso ocorreu por um efeito biolgico da
vitamina ou se apenas um des-
vio estatstico.
Estudos in vitro, porm, re-
velam que essa vitamina favo-
Antonio Zuliani
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA,
FACULDADE DE MEDICINA
DE BOTUCATU, UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA
53
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
rece a resposta imunolgica celular, em especial acelerando a proliferao dos
leuccitos (glbulos brancos) polimorfonucleares e potencializando a ao dos
linfcitos T e das clulas natural killer (outros tipos de leuccitos). Estudos clni-
cos em indivduos sadios e doentes so poucos e em geral sem os controles
adequados. No existe ainda qualquer comprovao experimental da hiptese de
que doses elevadas de vitamina C tornariam as pessoas menos suscetveis a infec-
es essa suplementao tem pouco efeito sobre a concentrao de anticorpos
no sangue. Essa vitamina, porm, tem reconhecidos efeitos antioxidantes, aju-
dando a eliminar os chamados radicais livres (radicais qumicos muito reativos,
que podem causar danos a clulas e tecidos do corpo).
Quanto ao uso teraputico da vitamina C, sua ingesto regular no necess-
ria para o alvio do resfriado comum. Ao contrrio, alguns especialistas afirmam
que o excesso dessa vitamina poderia ter efeitos colaterais txicos. Ela um
nutriente essencial, no sintetizado pelo organismo humano, e por isso deve ser
ingerida diariamente, para a manuteno de um estoque corporal. No entanto,
j est presente em diversos alimentos, como verduras, frutas ctricas e tomate, e
uma dieta bem balanceada suficiente para suprir as necessidades nutricionais.
[CH 187 outubro/2002]
Quais os males da vitamina C em excesso?
A vitamina C considerada uma das substncias mais se-
guras da farmacopia. No entanto, seu uso em altas do-
ses por tempo prolongado pode levar formao de cl-
culos renais, devido ao acmulo de um de seus deriva-
dos, o cido oxlico. Outra contra-indicao do uso prolongado de altas doses
o aumento da absoro de ferro pelo intestino, levando a uma intoxicao por
excesso desse elemento. Doses elevadas (2g ao dia) apenas com fim teraputico,
ou seja, por alguns dias, normalmente no ocasionam problemas.
[CH 154 outubro/1999]
Mauro Antonio Griggio
ESCOLA PAULISTA
DE MEDICINA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SO PAULO
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
54
O estresse pode causar reaes alrgicas na pele?
Os distrbios emocionais funcionam como importan-
tes fatores que agravam ou desencadeiam doenas alr-
gicas. No entanto, muito raramente eles so a causa do
problema. Nas alergias respiratrias como rinite e asma,
por exemplo, podemos observar claramente o incio
das crises ou o agravamento dos sintomas aps si-
tuaes de estresse, ansiedade ou emoes fortes.
Isso tambm comum nas urticrias, quando se
estabelece um crculo vicioso: o fator emocional de-
sencadeia o prurido e este leva ao estresse e ansi-
edade. Por outro lado, situaes de estresse inten-
so, como a morte de um parente querido, podem
levar a uma depresso imunolgica significativa e,
conseqentemente, ao aparecimento da doena.
[CH 196 agosto/2003]
Como o aspecto emocional de uma pessoa influencia
no desencadeamento do cncer?
Hoje conhecemos muito mais sobre as interaes
neuroimunoendcrinas, ou seja, as relaes entre o siste-
ma nervoso (que, entre outras funes, processa as emo-
es); o sistema imune (que nos protege contra infeces
e contra o aparecimento de clulas cancerosas) e o siste-
ma endcrino (que atravs da produo de hormnios integra e regula as ativi-
dades do nosso corpo).
Entre as clulas do sistema imune existe um tipo conhecido como NK (Natural
Killer), capazes de destruir sem imunizao (vacinao prvia) microrganismos
Vivian Rumjanek
DEPARTAMENTO
DE BIOQUMICA MDICA,
INSTITUTO DE CINCIAS
BIOMDICAS,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
Fbio Castro
SERVIO DE ALERGIA
E IMUNOLOGIA,
FACULDADE DE MEDICINA,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
55
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
intracelulares, clulas tumorais e infectadas por vrus. A clula NK no age efeti-
vamente contra uma grande massa tumoral, mas capaz de destruir clulas isola-
das. Por isso, fundamental impedir a proliferao inicial do tumor para limitar
o surgimento de metstases (tumor secundrio, disseminado a distncia por meio
de clulas tumorais que caem na circulao sangnea).
Hormnios e neurotransmissores, cuja produo desencadeada por emoes
positivas ou negativas, so responsveis por regular as clulas NK. Os glico-
corticides, por exemplo, liberados em situaes de estresse, podem inibir a ativi-
dade das NK, enquanto a endorfina pode aumentar a sua ao. Assim, fortes altera-
es emocionais podem indiretamente influenciar o desenvolvimento do cncer.
[CH 192 abril/2003]
Que fatores permitem que dois ossos articulados
possam se mover sem muito atrito?
Se no houvesse estrutura articular, a mobilidade do es-
queleto seria invivel devido ao desgaste dos ossos e s
dores que certamente acompanhariam os movimentos. Nas
extremidades dos ossos, existe uma estrutura complexa chamada cartilagem, ca-
paz de permitir o deslizamento das estruturas sseas. Essa cartilagem, portanto,
deve ser preservada, tomando-se cuidados para que ela no sofra agresses, j que
ela tem uma capacidade de regenerao muito pequena e at mesmo duvidosa.
Alguns fatores capazes de degenerar a estrutura articular so o excesso de
peso corporal e os processos inflamatrios. O excesso de
peso faz com que essas estruturas sofram uma presso
excessiva e contnua, levando ao desgaste precoce
da estrutura cartilaginosa. J os processos de dor
articular devem ser investigados e tratados rapi-
damente, evitando que se instale uma inflamao
crnica e, portanto, mais agressiva.
Eduardo Azzi
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA,
UNIVERSIDADE GAMA FILHO/RJ
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
56
Alguns fatores, porm, auxiliam a estrutura articular, proporcionando-lhe es-
tabilidade e evitando o desgaste. No caso dos joelhos, os meniscos atuam como
verdadeiros amortecedores, diminuindo o atrito sobre a cartilagem. Outros
estabilizadores importantes so os ligamentos, que permitem que a articulao
se movimente dentro de um eixo especfico, impedindo seu desgaste.
[CH 147 janeiro/fevereiro/1999]
Por que o ato de pensar e aprender to exaustivo?
Que energia essa que gastamos para conseguir formular
um pensamento ou aprender um conceito?
Por que nos recuperamos mais depressa de um trabalho
fsico do que de um trabalho intelectual?
O crebro consome energia para a realizao de tare-
fas, assim como todo o resto do organismo. Essa energia
vem da quebra de molculas, principalmente a glicose.
Seja para realizar um ato de pensamento ou um de esfor-
o conceitual, a energia utilizada ser proporcional ao
nmero de neurnios (clulas nervosas) envolvidas no processo.
Nada indica que aprender requeira mais energia do que subir uma ladeira. No
entanto, o trabalho cerebral pode exigir um nmero muito maior de etapas de
processamento neuronal do que a simples execuo de um programa muscular j
conhecido ou fcil.
Imaginar qualquer relao entre atividade mental e consumo de energia o
mesmo que perguntar se um motorista gasta mais gasolina se estiver dirigindo
com prudncia e habilidade do que se estiver conduzindo seu carro de maneira
deselegante e perigosa. No limite, pode haver uma relao entre dirigir com gra-
a e elegncia e consumir menos energia. Da mesma forma, o indivduo que gasta
mais energia para pensar pode estar realizando alguma tarefa acima de sua capa-
cidade ou de dificuldade exagerada.
Henrique Schtzer
Del Nero
PSIQUIATRA, COORDENADOR
DO GRUPO DE CINCIA
COGNITIVA DO INSTITUTO
DE ESTUDOS AVANADOS
DA UNIVERSIDADE
DE SO PAULO
57
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
No h uma relao importante entre gasto de energia, sensao subjetiva de
exausto (que depende tambm de outros fatores) e processamento mental
este em oposio ao processamento de planos motores, como os envolvidos em
um exerccio fsico.
possvel que a leitora esteja impressionada com alguma sensao prpria,
individual, procurando generalizar algo que varia enormemente de caso para caso.
[CH 133 novembro/1997]
verdade que caf com leite diminui o raciocnio?
No. Ao contrrio. O caf possui 1% a 2% de cafena, subs-
tncia que estimula a atividade intelectual, a memria e o
raciocnio, melhorando inclusive o aprendizado escolar.
O segredo est na dosagem: esses benefcios podem ser
sentidos desde que se tome caf com moderao. Entenda-se por moderao trs
a quatro xcaras ao longo do dia nunca noite , conforme a tabela abaixo.
Alm da cafena, o caf possui em maior quantidade cidos clorognicos, que
bloqueiam o desejo de autogratificao proporcionado por opiceos (drogas
base de pio) que pode levar depresso e ao consumo de drogas.
O caf pode ser tomado puro ou com leite, o que apenas aumentaria seu valor
nutritivo, algo importante para crianas e idosos.
Por isso, seu consumo dirio e moderado um
hbito saudvel e recomendado para me-
lhorar o raciocnio e o estado emocional
das pessoas. Nossas pesquisas, efetua-
das durante mais de 10 anos, permiti-
ram estipular dose e horrio certos para
o consumo de caf por adultos e crian-
as, com organismos sadios, conforme o
esquema a seguir. importante lembrar
Darcy Roberto Lima
INSTITUTO DE NEUROLOGIA
DEOLINDO COUTO,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
58
que cada xcara pequena possui 50 ml de caf e que a xcara grande tem 150 ml se
cheia e cerca de 100 ml se quase cheia (meia taa).
[CH 170 abril/2001]
Por que temos preferncia por certas cores, objetos,
comidas, roupas e at pessoas?
Seja na hora de escolher a comida ou um parceiro para
toda a vida, a preferncia provavelmente uma combina-
o da gentica com a experincia de vida de cada um.
Variaes naturais em genes que determinam a estrutura
de receptores no sistema nervoso podem direcionar desde preferncias alimenta-
res at o gosto por esportes radicais.
Quem possui, por exemplo, uma variante pouco sensvel de um receptor para
o gosto doce, encontrado sobretudo em mulheres, costuma
ser mais chegado em um docinho, ou seja, precisa comer
mais doce para obter a mesma satisfao. As mulheres,
alis, tambm so menos sensveis a substncias amar-
gas. Talvez por isso esse sabor, repulsivo para os ou-
tros, para elas to sutil que se torna agradvel.
Da mesma maneira, receptores naturalmente pouco
sensveis dopamina, substncia que o sistema de re-
Suzana
Herculano-Houzel
INSTITUTO DE ANATOMIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
DOSE IDEAL DE CAF PARA CONSUMO DIRIO
Consumo da caf Incio da manh Meio da manh Incio da tarde Meio da tarde
At 10 anos 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml
10 a 15 anos 100 ml 50 ml 100 ml 100 ml
15 a 20 anos 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml
20 a 60 anos 150 ml 150 ml 150 ml 150 ml
Acima de 60 anos 150 ml 100 ml 100 ml 50 ml
59
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
compensa do crebro interpreta como prazer, so encontrados em pessoas que
gostam de correr os riscos em esportes radicais. O comportamento de risco pro-
voca a liberao de grandes quantidades de dopamina, e assim os receptores
pouco sensveis ficam finalmente saciados.
Variaes genticas, no entanto, so apenas uma base sobre a qual agem
fatores ambientais, como a influncia social da famlia e da cultura. A prpria
preferncia alimentar influenciada diretamente pelos hbitos alimentares de
cada cultura. A escolha dos traos de personalidade em um candidato a parcei-
ro parece ser outro exemplo de influncia social, segundo a experincia com os
familiares mais prximos. [CH 189 dezembro/2002]
Quais as conseqncias no ciclo biolgico dos seres
humanos quando esto sob influncia do horrio de vero?
Ns, humanos, estamos ajustados ao ciclo dia/noite de
24 horas como praticamente todos os seres vivos. O hor-
rio de vero consiste em uma modificao desse ciclo em
dois momentos, na sua implantao (em meados de outu-
bro) e na sua retirada (em meados de fevereiro). Na im-
plantao nos imposto um dia de 23 horas e na retirada um dia de 25 horas.
Com o conhecimento acumulado principalmente nas ltimas dcadas e que
constitui uma rea do conhecimento chamada cronobiologia, sabe-se hoje que o
ajuste dos organismos vivos aos ciclos ambientais feito atravs
de mecanismos conhecidos como relgios biolgicos. Nossos
relgios biolgicos so ajustados a um dia de 24 horas a cada
dia, pois se ficarmos isolados dos sinais ambientais (como o dia
e a noite) que marcam a passagem do tempo, nosso dia esten-
de-se para 25 horas. Essa uma das razes pelas quais tende-
mos a dormir e acordar mais tarde nos finais de semana, quando
estamos menos presos a horrios rgidos como nos outros dias.
Luiz Menna-Barreto
GRUPO MULTIDISCIPLINAR
DE DESENVOLVIMENTO
E RITMOS BIOLGICOS,
INSTITUTO DE CINCIAS
BIOMDICAS,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
60
Por esse motivo, na retirada do horrio de vero, nos ajustamos com relativa
facilidade. O mesmo no acontece no incio, o tal dia de 23 horas, ao qual temos
muito mais dificuldade (e demora) em ajustar nossos relgios biolgicos. Por
isso, as pessoas tendem a se queixar mais dos efeitos no incio do que no final.
Essas queixas vo desde alteraes no humor at transtornos digestivos, passan-
do por problemas como insnia e sonolncia durante o dia. Esses problemas so
a expresso do desajuste pelo qual nossos relgios esto passando e, em alguns
indivduos, so bastante persistentes. [CH 161 junho/2000]
Por que os animais sentem sono?
Dada a evoluo dos organismos, no poderiam
permanecer em viglia 24 horas?
Nem tudo o que caracteriza os seres vivos reflete ne-
cessariamente uma utilidade ou funo. Os exemplos da
cauda do pavo e do apndice cecal humano ilustram bem
essa afirmativa. Ser que nosso sono, o de quase todos os
mamferos ou das aves pode ser considerado um acess-
rio sem utilidade do ponto de vista da sobrevivncia dos organismos?
Tudo indica que no. Mas se indagarmos sobre a utilidade do sono para quem
estuda o assunto, provavelmente a resposta ser que no h apenas uma, mas
muitas utilidades. Uma delas diz respeito coincidncia entre sono e certas ativi-
dades orgnicas, como a secreo de vrios hormnios em mamferos. O sono
no responsvel pela produo e liberao desses hormnios, mas sem dvida
as intensifica. Tal constatao caracteriza o papel do sono como facilitador dos
processos de produo desses hormnios.
Outra utilidade aparente do sono sua capacidade de propiciar distintos mo-
dos de funcionamento do crebro durante uma noite, que se manifestam sob a
forma de estgios: sono superficial, sono profundo e sono paradoxal. Esses dois
ltimos apresentam o que se convencionou chamar de efeito rebote: um indi-
Luiz Menna-Barreto
GRUPO MULTIDISCIPLINAR
DE DESENVOLVIMENTO
E RITMOS BIOLGICOS,
INSTITUTO DE CINCIAS
BIOMDICAS,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
61
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
vduo privado de uma noite de sono compen-
sa essa privao na noite seguinte, exibindo
preferencialmente os dois estgios. O sono
parece estar ligado capacidade do crebro
de adquirir e resgatar informaes, como ates-
tam os experimentos que associam sono e me-
mria. Alm de dificultar a aprendizagem, a
falta de sono induz modificaes importantes no humor das pessoas.
Tais fatos mostram a importncia do sono e talvez expliquem sua presena em
diversas espcies. Em invertebrados, embora seja discutvel chamar o estado de
inatividade de sono, a alternncia entre atividade e repouso uma regra. A su-
posta inutilidade do sono no tem, pois, fundamento cientfico, adequando-se
a um tipo de mentalidade que s entende a funcionalidade dos fenmenos bio-
lgicos quando esses tm relao imediata de causa e efeito. Por outro lado,
permanecer em viglia constante no compatvel com a especializao de ani-
mais de hbitos diurno e noturno. Os primeiros seriam presas fceis de eventuais
predadores noturnos. Voc j se imaginou fugindo de uma ona na floresta em
plena noite escura? [CH 148 abril/1999]
O que um aneurisma e como se desenvolve?
O aneurisma a dilatao da parede de uma artria. Exis-
tem diferentes tipos de aneurisma, que podem se desen-
volver em diversas artrias ao longo do corpo. Os aneu-
rismas cerebrais so os mais comuns, chegando a atingir
1% da populao. Os aneurismas cerebrais com maior ocorrncia so os saculares,
assim chamados devido sua forma. Eles se desenvolvem nas paredes de artrias
com defeitos congnitos em decorrncia do aumento de fluxo sangneo ou pres-
so arterial, entre outros fatores. comum esses aneurismas se romperem e pro-
vocarem hemorragia cerebral. Infelizmente, no h como evit-los. Existe,
Michel Frudit
DEPARTAMENTO
DE NEUROLOGIA
E NEUROCIRURGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SO PAULO
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
62
ainda, o aneurisma cerebral chamado dissecante de origem traumtica, que ocor-
re aps traumatismos cranianos causados por fatores externos (acidentes) ou
ps-operatrios. Esse tipo de aneurisma bastante perigoso e tambm acarreta
hemorragia com freqncia.
O tratamento dos aneurismas cerebrais que podem resultar em hemorragia a
microcirurgia com colocao de um clip metlico sobre o aneurisma. Mais recen-
temente foi criado o tratamento endovascular, que consiste na introduo de um
microcateter atravs da artria femoral, na regio da virilha, at o interior do
aneurisma, onde so depositadas microespirais de platina. Mecanicamente, isso
obstrui a passagem de sangue no aneurisma e evita a hemorragia.
Outro tipo de aneurisma bastante comum o que se manifesta na artria aorta
abdominal. Esse costuma ser provocado pela aterosclerose decorrente da eleva-
o do colesterol no sangue, da hipertenso arterial, do tabagismo, do estresse e
da vida sedentria, associados a predisposies individuais. [CH 180 maro/2002]
Pode um chip substituir uma rea lesada no crebro,
exercendo pelo menos parte da funo perdida?
Embora as chances sejam promissoras e entendendo-
se crebro como a parte do sistema nervoso dentro da
caixa craniana, a resposta no, pelo menos por enquan-
to. Os chips vm exercendo grande impacto na biologia e
devem acarretar descobertas importantes tanto para conhecimento do sistema
nervoso como para diagnsticos clnicos e reabilitao. Atualmente j existem
biochips que permitem identificar alteraes e detectar problemas em quanti-
dades nfimas de uma amostra. Esto em estudo outras possveis aplicaes
do chip, como substituto em reas alteradas do sistema nervoso, onde, aps
implantado, lanaria frmacos ou ativaria outras reas cerebrais, como no caso
do mal de Parkinson, inibindo os desconfortveis tremores. No sistema nervoso
perifrico, dispositivos mioeltricos, que aproveitam os impulsos eltricos do
Maria Ins Nogueira
e Adhemar Petri
INSTITUTO DE CINCIAS
BIOMDICAS,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
63
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
msculo para associ-los a chips, esto sendo implantados com sucesso em casos
de recuperao dos movimentos de flexo, extenso e rotao da mo.
Grande parte da dificuldade nesse campo vem da complexidade do sistema
nervoso. Para funcionar adequadamente, ele requer uma organizao estrutural
definida, bem como molculas e ons especficos. O sistema nervoso central com-
preende o crebro, o tronco cerebral e a medula espinhal. a regio do corpo
onde se processam as informaes que vm do ambiente e do prprio organismo
para poder manter o animal racional ou no vivo e interagindo com seu meio.
Ele composto por neurnios (clulas nervosas) e elementos responsveis pela
sua nutrio e sustentao, como as clulas da glia e os vasos sangneos. Os
neurnios so ativados pelos estmulos que chegam das diferentes partes do
corpo e do ambiente. Esses estmulos so captados, processados e conduzidos de
uma parte a outra do neurnio por impulsos eltricos gerados por ons (elemen-
tos qumicos com carga eltrica positiva ou negativa), principalmente de sdio,
potssio, cloro e clcio. A transmisso de informaes de um neurnio para ou-
tros neurnios, msculos ou glndulas depende, em geral, de molculas que o
neurnio produz, chamadas neurotransmissores.
A quantidade e o tipo de clulas envolvidas no desempenho de uma determi-
nada funo, como andar, falar, ouvir, ver ou alterar o ritmo respiratrio, formam
os chamados circuitos neurais. Essa denominao foi adotada em analogia aos
sistemas eletroeletrnicos. Vrios fatores podem
prejudicar o funcionamento de um circuito
neural, como um acidente vascular cere-
bral (AVC ou derrame), um agente in-
feccioso, um processo tumoral, o ac-
mulo de lquor no crebro (hidro-
cefalia) ou a perda de massa cerebral
provocada por traumatismo. Dependendo
da extenso e do local da rea lesada, o dano pode
incapacitar a pessoa atingida ou simplesmente no ser
detectado. possvel tambm que haja malformaes
4
.
S
A
D
E
64
congnitas ou provocadas por desnutrio ou drogas que impliquem a ausncia
de partes do sistema nervoso ou do circuito ou ainda deficincias na produo
de certas substncias necessrias para a comunicao neural.
Essa complexidade do sistema nervoso tem dificultado as abordagens e o
tratamento de disfunes e patologias. Contudo, sua plasticidade (capacidade
de reorganizar conexes, dentro de certos limites, para suprir deficincias de
determinadas reas) permite que alguns problemas sejam contornados.
Os procedimentos atuais para recuperar as funes perdidas abrangem desde
o uso de medicamentos, que ativam ou inibem o funcionamento de alguns
circuitos ou de suas partes; tcnicas cirrgicas para remoo de cogulos,
lquor, tumores ou agentes patognicos; tcnicas de regenerao de nervos
lesados; implantes de clulas de outros rgos (de glndula supra-renal ou
clulas de doadores) at prteses mioeltricas (dispositivos eltricos, eletr-
nicos ou mistos).
O uso de chips no sistema nervoso e em outros campos est em franco desen-
volvimento. As possveis aplicaes tm merecido muitas pesquisas e investi-
mento em todo o mundo. No Brasil, universidades paulistas, o governo federal e
empresas uniram-se para instalar o Latin0Chip, vinculado ao Laboratrio de Sis-
temas Integrveis da Escola Politcnica da Universidade de So Paulo, para pro-
duzir os primeiros chips da Amrica Latina. [CH 150 junho/1999]
3
.
C
O
R
P
O
H
U
M
A
N
O
64
65
4
.
S
A
D
E
SADE PARA TODOS, EM TODAS AS
DIMENSES
Os Parmetros Curriculares Nacionais so taxativos ao
considerar a educao para a sade um desafio a ser assu-
mido em todos os nveis da educao no Brasil, da pr-
escola srie terminal do ensino mdio. Mas, ao defender
a necessidade dessa abordagem, enfatizam, tambm, a im-
portncia de que a sade seja tratada em suas mltiplas
dimenses, individual e social, e de forma articulada.
Da mesma maneira como se prope que o corpo humano
seja estudado destacando-se as relaes que estabelecem
entre si as suas diferentes partes constituintes (clulas,
tecidos, rgos ou sistemas) e entre esse todo articulado,
que o corpo, com o ambiente, tambm se prope para a
sade uma abordagem abrangente, em que estejam presen-
tes, alm dos aspectos relativos biologia propriamente
dita, tambm, aspectos ambientais, sociais e at mesmo
polticos.
A sade, nessa perspectiva, deixa de ser vista apenas
como uma conquista individual, como a manuteno do
estado de equilbrio dinmico que caracteriza o organismo
vivo, e adquire tambm uma dimenso social, coletiva. Tra-
ta-se, sim, de preservar a sade individual, mas tambm de
agir para o bem comum, para a sade coletiva e ambiental.
Vista dessa maneira, a questo da sade envolve, alm de
conhecimentos essenciais a serem adquiridos, tambm valo-
res e atitudes a serem desenvolvidos nos alunos para que eles,
de fato, possam usufruir uma boa qualidade de vida.
Entre os valores que visam manuteno da sade indi-
vidual, esto, sem dvida, a valorizao auto-estima dos
S
A
D
E
4
4
.
S
A
D
E
66
jovens, o cuidado e o respeito para consigo e o estmulo sua autonomia
pessoal. Da mesma forma que aplicados ao plano individual, esses valores
podem ser estendidos sociedade (sade coletiva) e ao ambiente (sade
ambiental), ampliando ainda mais a necessidade de se trabalharem esses va-
lores entre os jovens, para que deles possam resultar atitudes em prol de
melhores condies de sade para todos, em todos os nveis.
Por envolver diferentes dimenses, o ideal que a educao para a sade
seja tratada no mbito escolar sob o enfoque diferenciado das varias discipli-
nas. Nesse sentido, a qumica, a geografia e a histria, em especial, podem se
tornar importantes interlocutoras da biologia no Ensino Mdio, na definio
de projetos comuns, em torno de temas relacionados sade. Atravs de
projetos comuns, aos alunos podero refletir sobre, por exemplo, os
condicionantes histricos e geopolticos e as conseqncias sobre a sade
(individual, coletiva e ambiental) de fatores como drogas, radiao, polui-
o, alm de muitos outros.
No sendo possvel a abordagem interdisciplinar, o prprio professor de
biologia poder obter excelentes resultados ao integrar os eixos ecologia-
sade e relacionar a degradao ambiental aos agravos sade humana e ao
bem estar da populao. A seleo de textos a seguir foi pensada para facili-
tar essa abordagem. Nela esto reunidos temas que relacionam fumo e polui-
o; presso social e tipo de alimentao; trabalho e dores; pesticidas e dis-
trbios no sistema central, entre muitos outros. Em seu conjunto, eles aca-
bam por tecer um panorama da sade em nosso pas.
67
4
.
S
A
D
E
Quais os problemas causados pelo cigarro
em nosso organismo?
A fumaa do cigarro contm cerca de 4.720 substn-
cias txicas. Entre elas, as principais so: a nicotina,
que causa a dependncia; o monxido de carbono, res-
ponsvel pela reduo da oxigenao no organismo; o
alcatro, que inclui cerca de 50 agentes cancergenos; alm de substncias
radioativas (polnio 210 e carbono 14) e metais pesados, como chumbo,
nquel e cdmio.
Segundo a Organizao Mundial de
Sade (OMS), o tabagismo pode causar
25 doenas, tais como: cncer de pulmo
(e tambm de boca, laringe, faringe, es-
fago, estmago, fgado, rim, bexiga, colo
de tero e pncreas), leucemia, infarto,
bronquite crnica, enfisema pulmonar,
derrame, aneurismas, lcera estomacal,
impotncia sexual, menopausa precoce, infertilidade feminina, catarata e infec-
es respiratrias.
A gestante fumante corre vrios riscos: desde o de sofrer aborto espontneo
aos de ter um beb com baixo peso, prematuro e at sujeito morte perinatal
(pouco antes ou pouco depois do nascimento). Os fumantes passivos que respi-
ram a fumaa do cigarro em ambientes fechados tambm podem sofrer infarto do
miocrdio e cncer de pulmo. As crianas ficam mais sujeitas a infeces respira-
trias, o que potencializa crises de asma brnquica e at a morte sbita infantil.
Com a multiplicao das doenas causadas pelo uso do tabaco em todas as
suas formas, estima-se que o tabagismo seja responsvel anualmente por qua-
tro milhes de mortes no mundo, sendo 80 mil delas no Brasil. O vcio do
cigarro um grave problema de sade pblica em nosso pas.
[CH 166 novembro/2000]
Vera Luiza da Costa
COORDENADORIA
DE CONTROLE DO TABAGISMO,
INSTITUTO NACIONAL
DO CNCER (INCA)
4
.
S
A
D
E
68
A fumaa de cigarro mais nociva sade
do que os gases lanados pelos veculos automotores?
A poluio urbana um srio problema, sobretudo no
que diz respeito aos gases emitidos pelos automveis.
Durante a Eco-92, os Estados Unidos no assinaram o pro-
tocolo final relativo ao assunto, porque isso implicaria a
reduo do nmero de veculos automotores. Mas, segundo a Organizao Mun-
dial de Sade (OMS), um dos maiores poluentes urbanos o cigarro, j que mui-
tas vezes sua fumaa liberada em ambiente fechado.
Os alvolos pulmonares que permitem a troca de oxignio e gs carbnico,
alm de proteger o organismo contra a entrada de substncias txicas so
os que sofrem os maiores danos causados pelos 1.200 txicos j isolados
do cigarro. Como os alvolos ficam lesados, o fumante mais sensvel a quais-
quer poluentes do que um indivduo normal. por isso que o fumante corre
maior risco de contrair um cncer, em qualquer parte do corpo, do que um
no-fumante.
De acordo com a OMS, 30% dos cnceres so causados pelo cigarro. Normal-
mente, antes de alcanar os alvolos, o ar entra pelas fossas nasais, atravessa
os seios nasais e desce pela laringe. Mas o fumante ignora tudo isso e aspira a
fumaa pela boca. Alm de suicida, ele tambm incendirio e criminoso. In-
cendirio porque, ainda se-
gundo a OMS, um tero dos
incndios no mundo so cau-
sados por cigarros; crimino-
so porque envenena o meio
ambiente, predispondo in-
divduos normais a cncer e
afeces respiratrias, entre
outros males.
[CH 168 janeiro/fevereiro/2001]
Enio Cardillo Vieira
DEPARTAMENTO
DE BIOQUMICA
E IMUNOLOGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
69
4
.
S
A
D
E
Enio Cardillo Vieira
DEPARTAMENTO DE BIOQUMICA
E IMUNOLOGIA, UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS
Alguns obesos vivem ciclos de emagrecimento e engorda,
determinados pela observncia ou pela suspenso
do regime. Isso traz alguma conseqncia negativa
para a sade?
Em geral, a recuperao
dos quilos perdidos faz
com que o indivduo
atinja um peso superior quele que possua an-
tes de perd-lo. O organismo age como se
houvesse uma programao para ganho
de peso, que foi interrompida no perodo
de perda. Alguns autores relataram con-
seqncias negativas dos ciclos de ema-
grecimento e engorda, conhecidos como
efeito-sanfona ou efeito-ioi. Contu-
do, h dvidas sobre a interpretao des-
ses resultados. Nessa rea ainda so necess-
rias pesquisas bem controladas. Em experincias
com animais e em estudos com humanos, no se deter-
minaram conseqncias adversas do efeito-sanfona. Muitos dos resultados a
ele atribudos decorrem da ao nociva do cigarro. O peso de fumantes que ten-
tam abandonar o vcio costuma flutuar. Os efeitos nefastos, nesse caso, so cau-
sados pelo tabaco.
Devem-se ressaltar os fatores psicolgicos decorrentes do fenmeno, que le-
vam queda da auto-estima e, eventualmente, a distrbios alimentares, como
bulimia (caracterizada pela ingesto excessiva de alimentos seguida de vmitos
ou do consumo de diurticos e laxantes, para desintoxicar o organismo) e
anorexia nervosa (caracterizada pela recusa voluntria ingesto de alimentos e
pela preocupao excessiva com perda de peso).
[CH 166 novembro 2000]
4
.
S
A
D
E
70
Como saber se uma pessoa sofre de anorexia? O problema
tem cura? Forar a pessoa a comer recomendvel?
Na maioria das vezes (quase 95%), a anorexia acome-
te mulheres jovens entre 12 e 25 anos (idade de incio do
quadro). So pessoas que comeam uma dieta, por vezes
desnecessria, e no conseguem mais parar, buscando me-
tas de peso cada vez mais baixas, at que o emagrecimen-
to notvel (ficam esquelticas), embora no se sintam magras o suficiente. Em
geral no perdem a fome mas a controlam, exercitam-se exageradamente ou mos-
tram-se hiperativas, fazendo muitas coisas e andando para c e para l, quase
sempre visando a implementar o consumo de calorias. Algumas chegam a apre-
sentar episdios bulmicos em que perdem o controle e comem exageradamente
(em geral, tudo que haviam excludo da dieta), e, ficando atormentadas com o
eventual ganho de peso, buscam compensar atravs no s de jejuns ou mais
exerccios, mas tambm atravs da induo de vmitos ou abuso de laxantes e/
ou diurticos, hormnios tireoidianos e drogas que inibem o apetite.
A meta se manter muito abaixo de um peso que seria saudvel para sua
estatura, sexo e idade (geralmente mais que 15% abaixo do peso ideal ou num
ndice de massa corprea menor que 17,5 kg/m), o que freqentemente faz com
que parem de menstruar. Em geral os amigos e familiares tentam intervir e faz-
las perceber o quanto esto magras ou comendo pouco, mas isso intil e causa
de muitos conflitos, pois negam qualquer alterao ou problema. Tornam-se
irritadias, perfeccionistas, cheias de manias (principalmente rituais alimenta-
res), e isolam-se de contatos sociais, sobretudo os que envolvem comida. Muitas
vezes mostram-se tristes e ansiosas.
Pode-se alcanar cura em torno de 25% dos casos, sendo que aproximadamen-
te 70% obtm um controle adequado da situao. Pode ser necessrio fazer com
que a paciente se alimente alm do que considera adequado; porm, isso deve ser
feito em regime de internao hospitalar, quando no se consegue acordo com a
mesma para que colabore com o tratamento ambulatorial. [CH 156 dezembro/1999]
Anglica M. Claudino
Azevedo
PROGRAMA DE ORIENTAO
E ASSISTNCIA AOS
TRANSTORNOS ALIMENTARES,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SO PAULO
71
4
.
S
A
D
E
Elizabeth Lemos
Chicourel
FACULDADE DE FARMCIA
E BIOQUMICA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE JUIZ DE FORA/MG
Quais as diferenas entre a carne vermelha
e a carne branca? A branca menos prejudicial sade?
As principais diferenas entre a carne branca e a carne
vermelha esto relacionadas a sua textura, composio e
pigmentao que, por sua vez, sofrem influncia da es-
pcie, da idade, do sexo, da alimentao, da atividade
fsica e do hbitat do animal de que se originaram.
Tanto a carne branca quanto a vermelha tm excelente valor nutritivo. For-
necem protenas em quantidade e qualidade ideais para o ser humano; tam-
bm oferecem lipdios, cujo teor e com-
posio variam muito para cada
espcie e mesmo dentro de
uma mesma espcie;
vitaminas do com-
plexo B como a
tiamina, niacina,
B6 e B12 e minerais
como ferro, zinco, cobre e fsforo.
A variao na cor da carne est relacionada quantidade do pigmento
mioglobina que, como j foi citado, varia de espcie para espcie e com a ativida-
de fsica do animal. Quanto maior o esforo exercido pelo msculo, maior o teor
de mioglobina e mais escura a carne. Por isso, a carne da coxa do frango mais
escura que a do peito.
Quando a dieta planejada com o objetivo de prevenir doenas cardiovas-
culares, recomenda-se uma restrio no consumo de carne vermelha gorda, dado
o seu maior contedo de cidos graxos saturados. Por outro lado, o consumo
regular e em pequenas quantidades de carne vermelha magra essencial, so-
bretudo para crianas e mulheres antes da menopausa, para um adequado aporte
no organismo de minerais como ferro e zinco e de vitaminas como a niacina.
[CH 145 dezembro/1998]
4
.
S
A
D
E
72
Uma alimentao exclusiva de fontes vegetais
nutricionalmente equivalente usual com carne?
Uma alimentao equilibrada deve atender aos princ-
pios bsicos da nutrio, cuja qualidade deve predominar
sobre a quantidade.
As protenas so formadas por unidades estruturais b-
sicas denominadas aminocidos. Na natureza existem 20
aminocidos classificados como essenciais e no-essenciais. Os ltimos so sinteti-
zados em reaes muito simples que ocorrem no nosso organismo; enquanto os
essenciais tm esse nome por no serem sintetizados pelo organismo humano,
devendo ser ingeridos.
Quando um alimento no possui todos os aminocidos essenciais nas quanti-
dades adequadas, dizemos que ele possui aminocidos limitantes, como o caso
das protenas de origem vegetal. No entanto, possvel levar uma vida saudvel
ingerindo uma dieta exclusivamente vegetal, desde que haja a correta combina-
o desses aminocidos, de forma que aqueles que estiverem ausentes ou defi-
cientes em um determinado vegetal sejam complementados por outros vege-
tais que os possuam em quantidades suficientes para constituir uma
protena completa. Um exemplo clssico desse equilbrio a combi-
nao entre cereais e leguminosas, como arroz com feijo.
Alm das protenas, h outros nutrientes, entre os quais se desta-
cam o ferro e a vitamina B
12
, cujas deficincias provocam as anemi-
as ferropriva e perniciosa, respectivamente. O ferro de origem ani-
mal (heme) mais biodisponvel do que o ferro de origem vege-
tal (no-heme). Dietas vegetarianas podem fornecer
quantidades adequadas de ferro desde que os alimentos
consumidos sejam ingeridos em quantidades maiores
ou associados a alimentos ricos em vitamina C, para
promover maior absoro do ferro. Especial aten-
o deve ser dada a crianas e a mulheres que
Eliane Fialho
de Oliveira
DEPARTAMENTO DE NUTRIO
BSICA E EXPERIMENTAL,
INSTITUTO DE NUTRIO,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
73
4
.
S
A
D
E
menstruam e precisam de maiores teores desses elementos. O caso da vitami-
na B
12
um pouco diferente pelo fato de ser encontrada s em alimentos de
origem animal. Assim, vegetarianos devem ingerir alimentos fortificados nesse
nutriente. [CH 180 maro/2002]
Alimentos irradiados podem causar danos sade?
Quais so suas vantagens?
Os alimentos irradiados no causam nenhum dano sa-
de. O processo de irradiao acarreta poucas alteraes
qumicas nos alimentos. Nenhuma delas so nocivas ou
perigosas para a sade humana. O efeito das radiaes
sobre a qualidade nutritiva dos alimentos no maior do que a de outros mto-
dos convencionais utilizados para tratamento e conservao de alimentos
(esfriamento, aquecimento, produtos qu-
micos etc.). Portanto, os alimentos irradi-
ados podem ser consumidos sem receio.
A Organizao das Naes Unidas para a
Agricultura e Alimentao (FAO) e a Orga-
nizao Mundial da Sade (OMS) no s
aprovam como recomendam o processo de
irradiao de alimentos.
A irradiao um processo de pasteurizao a frio. Ela no deixa resduos nos
produtos tratados e altamente eficiente no controle de microrganismos preju-
diciais sade presentes nos alimentos. Os irradiadores no produzem rejeitos,
muito menos radioativos, no poluindo o ambiente. A irradiao controla o ama-
durecimento e brotamento de produtos agrcolas, aumentando a disponibilidade
ao consumidor; elimina pragas quarentenrias sem alterar o sabor e a aparncia
das frutas e um tratamento relativamente barato. Seu custo oscila entre R$ 10
e R$ 250 por tonelada de alimento tratado. [CH 142 setembro/1998]
Julio Marcos
Melges Walder
CENTRO DE ENERGIA
NUCLEAR NA AGRICULTURA,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
4
.
S
A
D
E
74
Vera Lcia
Valente Mesquita
DEPARTAMENTO
DE NUTRIO BSICA
E EXPERIMENTAL, INSTITUTO
DE NUTRIO, UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Quais so as vantagens e desvantagens de se consumir
leite de soja? verdade que causa danos sade?
A soja, uma leguminosa considerada excelente fonte
de protenas para a alimentao humana, pode ser usada
na forma de gros, leite, queijo etc. O leite de soja e deri-
vados tm valor energtico e protico mais elevado, se
comparados ao leite de vaca. Alm disso, amplamente
utilizado em substituio ao leite de vaca, por pessoas que apresentam intole-
rncia lactose, pela ausncia ou baixa atividade da enzima lactase.
No entanto, o valor nutricional da soja pode estar limitado em parte pela
presena de compostos no desejveis chamados fatores antinutricionais, que
incluem inibidores de enzimas digestivas, compostos fenlicos, fitatos e
carboidratos no digerveis como os da famlia da rafinose. Sabe-se que a
rafinose um dos principais fatores responsveis pela flatulncia que os pro-
dutos derivados da soja acarretam; isso porque os seres humanos no possuem
a enzima alfa-galactosidase, capaz de hidrolisar tal glicdio, que passa intacto
ao longo do intestino grosso, sofrendo fermentao por microrganismos
anaerbicos.
A soja pode ser considerada um alimento funcional por possuir grandes
quantidades de flavonides substncias com efeitos antioxidantes e
estrognicos. Duas isoflavonas, denominadas genistena e
diadzena, so encontradas em lentilhas e soja e tm pro-
priedades estrognicas, pois competem com hormnios
endgenos e/ou inibem enzimas envolvidas no metabolis-
mo do estrognio. Vale ressaltar que vrias pesquisas esto
sendo realizadas no sentido de garantir o consumo adequa-
do dos alimentos funcionais e elucidar as propriedades
toxicolgicas desses diferentes compostos encontrados tan-
to na soja como em outras leguminosas.
[CH 178 dezembro/2001]
75
4
.
S
A
D
E
Que dosagem de lecitina de soja um adulto deve ingerir
diariamente como complemento alimentar?
A soja usada na formulao transgnica?
Presente na membrana das clulas animais
e vegetais, a lecitina um fosfolipdio no-
essencial dieta. Contm glicerol, dois
cidos graxos, colina e fosfato. A crena de
que ela componente importante na alimentao vem do fato de
conter colina, reconhecida h alguns decnios como vitamina para
humanos. Os animais sintetizam colina a partir da metionina, um
aminocido essencial presente sobretudo nas protenas de origem
animal.
A lecitina amplamente usada como emulsificante na indstria de alimentos,
mantendo os lipdios em suspenso no meio aquoso. Alimentos ricos em gordu-
ra, como o chocolate em p, so facilmente dissolvidos em meio aquoso, gra-
as lecitina adicionada ao chocolate. Na membrana celular e no tecido sangneo,
ela funciona como uma espcie de detergente, permitindo a presena de subs-
tncias insolveis em gua no meio aquoso das clulas e do sangue.
A soja, vale lembrar, particularmente rica em lecitina. Por ser um lipdio
simples, no possvel saber se ela ou no oriunda de soja transgnica.
[CH 176 outubro/2001]
O que a sndrome do intestino irritvel? Existe cura?
A sndrome do intestino irritvel um distrbio de funcio-
namento dos intestinos caracterizada por dor ou descon-
forto abdominal crnicos associados a modificaes nas eva-
cuaes e/ou no aspecto das fezes. Os sintomas e sua in-
tensidade podem mudar bastante entre os portadores e so tipicamente exacerba-
Eduardo Antonio Andr
INSTITUTO DE ASSISTNCIA
MDICA AO SERVIDOR PBLICO
ESTADUAL DE SO PAULO
(IAMSPE)
Enio Cardillo Vieira
DEPARTAMENTO
DE BIOQUMICA
E IMUNOLOGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
4
.
S
A
D
E
76
dos pelo estresse. Pode haver ainda variaes peridicas, inclusive com manifesta-
es brandas ou mesmo seu desaparecimento. importante que os pacientes sejam
informados sobre a possibilidade de recorrncia dos sintomas, tanto para sua segu-
rana quanto para compreenso dos tratamentos que podem ser oferecidos.
Trata-se de um distrbio complexo e no simplesmente uma condio
psicossomtica como se acreditava antes. Essa era uma maneira simplista de con-
siderar que a sndrome decorria apenas de fatores emocionais. Os sintomas so
desencadeados por fatores psicossociais (estresse, ansiedade, insegurana etc.),
que provocam alteraes biolgicas (disfuno intestinal e aumento da sensibi-
lidade das vsceras) devido, principalmente, a falhas na regulao realizada pelo
crebro atravs de neurotransmissores como a serotonina.
Atualmente no existe cura para a sndrome. Para aliviar os sintomas, os medi-
camentos mais eficientes so os que regulam a estimulao ou inibio da produ-
o da serotonina. Assim, surge uma luz no fim do tnel no tratamento de uma
disfuno que prejudica bastante a qualidade de vida de seus portadores, mas
no causa maiores riscos sade. [CH 205 junho/2004]
O que fibromialgia e quais os tratamentos usados
atualmente no Brasil e no exterior?
A fibromialgia uma doena de causa
desconhecida, que se caracteriza por
dores musculares (que os pacientes
imaginam ser nos ossos), mais acen-
tuadas na regio dos rins e pescoo,
podendo se localizar em qualquer parte do corpo. As dores
que, freqentemente, mudam de lugar so dirias, cont-
nuas e, no raro, piores pela manh. Alm disso, o paciente
pode apresentar sensaes de inchao e formigamentos.
Flamarion Gomes Dutra
PROFESSOR DE REUMATOLOGIA
DA FACULDADE DE MEDICINA
SOUZA MARQUES E MEMBRO
DA LIGA INTERNACIONAL
DE ASSOCIAES
PARA REUMATOLOGIA
77
4
.
S
A
D
E
A doena ocorre com mais freqncia em mulheres aps os 30 anos, mas tam-
bm pode atingir homens (um a cada 20 casos). Geralmente os doentes tm um
sono de m qualidade (insnia, sono leve ou sono profundo) e ao despertar tm a
sensao de que no descansaram durante a noite. Os sintomas pioram com mu-
danas de tempo, tenses emocionais e em ambientes barulhentos.
Os pacientes com fibromialgia queixam-se comumente de acordar cansados, sentir
dores no corpo pela manh e dificuldade de sair da cama e dar os primeiros passos,
embora todos os resultados dos exames pedidos pelo mdico sejam normais.
O tratamento indicado para amenizar os sintomas da doena inclui ativida-
des fsicas (principalmente exerccios aerbicos) e o uso de analgsicos e an-
tidepressivos (que aumentam a quantidade de serotonina no cerbro, melhoran-
do o sono e diminuindo a dor). Alm disso, importante que pacientes e famili-
ares entendam a doena e recorram, se possvel, ao apoio de psicoterapeutas.
[CH 172 junho/2001]
Quais as diferenas entre os tipos de hepatite?
O que provocam no organismo e quais os sintomas
e tratamento para cada um?
Os principais agentes das hepatites virais so
designados pelas cinco primeiras letras do
alfabeto, sendo chamados de vrus da hepa-
tite A, B, C, D (ou Delta) e E. Em comum, es-
ses vrus tm o fgado como alvo e causam doenas indiferenciveis
clinicamente. O paciente apresenta pele e olhos amarelados, urina
escura e fezes esbranquiadas. Sinais freqentemente acompanha-
dos de mal-estar, enjo, vmitos e dor abdominal.
As hepatites A e E so transmitidas via fecal-oral por meio de
gua e alimentos contaminados. A hepatite A pode tambm ser trans-
mitida por contato ntimo. Ambos os vrus causam doenas benig-
nas que evoluem para a cura sem a necessidade de tratamento es-
Clara Fumiko
e Tachibana Yoshida
DEPARTAMENTO
DE VIROLOGIA,
FUNDAO OSWALDO CRUZ
4
.
S
A
D
E
78
pecfico, sendo necessrio apenas um acompanhamento mdico. O risco maior
est entre as grvidas: 20% das que contraem hepatite E evoluem para uma for-
ma fulminante da doena, fatal em 80% dos casos.
A transmisso das hepatites B, C e D acontece pela via parenteral, por sangue
contaminado e hemoderivados. A hepatite B tambm pode ser transmitida por
secrees sexuais e saliva. Correm mais riscos de contrair a hepatite C os usurios
de drogas injetveis e os receptores de sangue. Como a hepatite D s ocorre na
presena do vrus do tipo B, est limitada s reas endmicas como a regio
amaznica.
Pacientes de hepatites do tipo B tm de 5% a 10% de risco de se tornarem
doentes crnicos e os de hepatite C, 85%. Com o tempo, podem evoluir para um
quadro de cirrose e cncer heptico. No caso das hepatites B e C, o tratamento de
doentes crnicos feito com agentes antivirais com 70% e 40% de sucesso, res-
pectivamente. J existem vacinas para as hepatites A e B. Somente a segunda
pode ser encontrada em postos de sade. [CH 165 outubro/2000]
Tenho um aqurio de peixes ornamentais onde surgiram
caramujos. Existe risco de contrair doenas,
como a esquistossomose atravs desses moluscos?
A esquistossomose uma verminose que ocorre em dife-
rentes pases da frica, sia e das Amricas. So vrias as
espcies de Schistosoma que causam a doena no homem
mas, no Brasil, a esquistossomose tambm conhecida
como barriga-dgua tem como agente causal uma nica espcie, o Schistosoma
mansoni. Essa espcie parasitria tem como hospedeiro intermedirio caramujos
do gnero Biomphalaria, sendo trs as espcies descritas como importantes na
transmisso da doena no pas: B. glabrata, B. straminea e B. tenagophila. A trans-
misso ocorre quando ovos do parasita, eliminados junto com as fezes de um
indivduo com esquistossomose, conseguem alcanar a gua e liberam miracdios,
Herminia Yohko
Kanamura
FACULDADE DE CINCIAS
FARMACUTICAS,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
79
4
.
S
A
D
E
os quais vo infectar os caramujos. Nesse
hospedeiro, o S. mansoni sofre vrias trans-
formaes, dando origem, cerca de um ms
depois, a numerosas cercrias larvas res-
ponsveis pela infeco do homem.
Nas horas mais quentes e luminosas do dia, as cercrias deixam os caramujos
e nadam at encontrar o hospedeiro definitivo um animal mamfero , pene-
trando ativamente atravs da pele. No homem, que o principal hospedeiro de-
finitivo do S. mansoni, os primeiros ovos aparecem nas fezes cerca de sete a oito
semanas depois do contato com as cercrias, e o ciclo completo desde a infeco
dos caramujos pelos miracdios liberados pelos ovos do parasita presentes nas
fezes do hospedeiro at a eliminao de ovos por novo hospedeiro definitivo
demora cerca de trs meses.
difcil imaginar que os caramujos que apareceram no aqurio possam es-
tar infectados por tal parasita, pois remota a possibilidade de contaminao
do aqurio com ovos do parasita encontrados em fezes de paciente com es-
quistossomose. Por outro lado, caso se confirme que o caramujo que apareceu no
aqurio pertena a uma das espcies hospedeiras do S. mansoni, necessrio
estar atento para no liber-los em qualquer corpo dgua, de modo a evitar o
perigo de transformar um lago ou riacho em futuro criadouro de caramujos e
potencial foco de transmisso do S. mansoni. [CH 161 junho/2000]
Pode-se contrair esquistossomose ingerindo gua
contaminada por cercrias?
As cercrias so larvas infectantes do Schistosoma mansoni,
parasita causador da esquistossomose. So formas
evolutivas jovens capazes de penetrar no organismo hu-
mano atravs da pele ou mucosas. A transmisso da
esquistossomose, doena veiculada pela gua, no est
Miriam Tendler
LABORATRIO
DE ESQUISTOSSOMOSE
EXPERIMENTAL,
DEPARTAMENTO
DE HELMINTOLOGIA/
FUNDAO OSWALDO CRUZ
4
.
S
A
D
E
80
necessariamente relacionada ingesto da gua contaminada, como a maioria
das outras doenas veiculadas por esse meio. No entanto, o contato da mucosa
oral com gua contendo cercrias pode permitir a infeco e o desenvolvimento
da esquistossomose. O diagnstico da doena deve ser feito por exame
parasitolgico de fezes. [CH 152 agosto/1999]
Qual o risco de infeco fngica ou bacteriana na m
assepsia das lentes de contato?
Quais as conseqncias na integridade da viso?
possvel ter uma infeco fngica no globo ocular?
Em caso afirmativo, qual o tratamento mais indicado?
As lentes de contato so uma excelente opo para as
pessoas que precisam de culos. Porm, seu uso seguro
exige uma escolha correta das lentes e uma avaliao do
olho do futuro usurio. necessrio tambm inform-lo
sobre a assepsia adequada das lentes e do estojo onde
sero acondicionadas, sobre produtos de limpeza inadequados ao tipo de lente
do usurio e verificao das datas de validade dos produtos indicados, sobre o
perigo de usar uma lente deteriorada, rasgada ou quebrada, sobre a importncia
de remoo dos depsitos de protenas nas lentes e a necessidade de uma ava-
liao anual ou semestral para verificar a posio, a mobilidade das lentes, a
troca e a atualizao de informaes, alm da observao dos olhos. O usurio
deve ter sempre em mente que a adaptao das lentes de contato um processo
mutvel, ou seja, uma lente aparentemente bem adaptada
num dado momento pode se comportar de forma diferen-
te meses ou anos depois. Outro fator importante na adap-
tao o nmero de horas dirias de uso. No existe uma
regra bsica. O tempo de permanncia vai depender do
tipo de lente usado e da reao ocular. Mas, uma vez esti-
Newton Kara Jos
FACULDADE DE MEDICINA
DA UNIVERSIDADE
DE SO PAULO E FACULDADE
DE CINCIAS MDICAS
DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS
81
4
.
S
A
D
E
pulado o tempo, se o usurio ultrapassar esse limite, pode ter problemas ocula-
res. Se as lentes no forem bem cuidadas, podem provocar infeco ocular por
bactria, fungo ou vrus. Vrios fatores esto envolvidos nas possveis seqelas
da infeco: sua localizao na crnea, o pronto atendimento do usurio, a
reao medicao e o tipo de agente causador. As lceras de crnea por fungos
so graves e, apesar de existirem vrios medicamentos, a melhora do quadro
lenta e deixa conseqncias danosas. Deve-se consultar o oftalmologista se sur-
girem sinais, como dor durante ou logo aps o uso das lentes, lacrimejamento,
olhos bem vermelhos, descon-forto, averso luz, viso de halos coloridos ao
redor das luzes, secreo (remela) principalmente amarelada e viso borrada por
mais de 30 minutos depois de remover as lentes, mesmo usando culos.
[CH 135 janeiro/fevereito/1998]
Como agem os organofosforados no organismo humano
e no de outros vertebrados?
Diferentemente dos pesticidas organoclorados (como o
DDT), que apresentam grande estabilidade qumica e com-
preendem substncias com relativa baixa toxicidade agu-
da, os organofosforados (como o Paration) no so persis-
tentes no ambiente, mas podem causar graves transtornos nos sistemas nervoso
e respiratrio dos seres humanos e mamferos, chegando a provocar a morte.
Essas molculas sintticas so amplamente usadas no controle das pragas que
atingem a produo agrcola, assim como para combater vetores de malria e
outras doenas. Graas a seu fcil acesso, no so raros os episdios de tentativa
de suicdio (muitas com sucesso) ou envenenamentos acidentais. Sua ao txi-
ca ocorre atravs da inibio da enzima acetilcolinesterase, essencial vida de
inmeras espcies animais. Em mamferos, essa enzima est presente no sistema
nervoso central e nos glbulos vermelhos. A pseudocolinesterase, uma parente
prxima tambm sensvel a esses agentes, predomina no fgado e no plasma.
Marlon de Freitas
Fonseca
INSTITUTO DE BIOFSICA
CARLOS CHAGAS FILHO,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
4
.
S
A
D
E
82
Uma vez iniciada, a inibio da acetil-
colinesterase pelosorganofosforados ten-
de irreversibilidade, gerando quadros
de intoxicao aguda ou crnica, depen-
dendo do tipo de exposio substncia.
Essas substncias foram usadas na con-
feco de bombas de gs durante a Se-
gunda Guerra Mundial.
Uma acetilcolinesterase capaz de degradar 300 mil molculas de acetilcolina
(principal neurotransmissor do sistema nervoso parassimptico) por minuto. Sua
inibio resulta no acmulo desse neurotransmissor nas sinapses do sistema ner-
voso central, nas junes neuromusculares, nas terminaes nervosas parassim-
pticas e em algumas das simpticas, como as glndulas sudorparas. Isso pode
causar a chamada tempestade parassimptica. Nesse caso, uma alta oferta de
acetilcolina oferecida sem controle a seus receptores. Um indivduo agudamente
intoxicado por qualquer inibidor de acetilcolinesterase pode morrer, principalmen-
te pelo afogamento em suas prprias secrees, o que impossibilita respirar. J
as pessoas expostas ocupacionalmente podem desenvolver sintomas crnicos de
difcil diagnstico, relacionados a distrbios no sistema nervoso central.
Nos quadros de intoxicao aguda, altas doses de sulfato de atropina so
administradas repetidamente at controlar as secrees que impedem a respira-
o. A administrao paralela da substncia pralidoxima aumenta as chances de
recuperao. [CH 183 junho/2002]
Por que o metanol txico para o homem e o etanol no?
O metanol ou lcool etlico, usado como combustvel em
carros de corrida ou como solvente (em baixas concentra-
es) para a produo de cosmticos, rapidamente ab-
sorvido pela pele e pelas mucosas dos aparelhos respira-
Maria Helena
Rocha Leo
ESCOLA DE QUMICA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
83
4
.
S
A
D
E
trio e gastrointestinal, alcanando a corrente sangnea e sendo distribudo a
todos os tecidos e rgos. A toxicidade do metanol causada pela ao de duas
enzimas do metabolismo (lcool desidrogenase e aldedo desidrogenase mito-
condriais) as mesmas que atuam sobre o etanol. O metanol transformado em
aldedo frmico, cido frmico e formato. O acmulo de formato no organismo
causa acidose (reduo do pH do sangue) e inibio da respirao celular (para-
da ou limitao do consumo de oxignio) que pode provocar falta de ar ou asfi-
xia. Esse efeito depende da dose e do tempo de exposio ao metanol. Embora a
dose mnima considerada letal seja de 100 ml, h registro de morte causada pela
ingesto de 30 ml da substncia.
A presena de etanol (lcool comum) no organismo inibe competitivamente a
transformao do metanol. Por isso, o etanol ministrado a pacientes intoxica-
dos com metanol como terapia de emergncia. A ao das enzimas metablicas
sobre o etanol produzem acetato, que, diferentemente do formato, transforma-
se em acetilCoA, que oxidado, gerando ATP (energia). No entanto, o uso pro-
longado de bebidas alcolicas pode levar de-
pendncia qumica e miopatia (distrbio mus-
cular), alm de induzir resistncia insulina
(diabetes tipo 2), doena degenerativa que sur-
ge geralmente na terceira idade.
[CH 179 janeiro/fevereiro/2002]
A exposio contnua a lmpadas fluorescentes pode ter
efeitos negativos para a sade humana?
Em janeiro de 1990, a Comisso Internacional de Prote-
o a Radiaes No-ionizantes (ICNIRP) concluiu que uma
exposio continuada radiao ultravioleta provenien-
te de lmpadas fluorescentes no deve ser considerada
um risco de induo ao cncer de pele do tipo melanoma. Essa concluso foi
Emico Okuno
LABORATRIO
DE DOSIMETRIA,
INSTITUTO DE FSICA,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
4
.
S
A
D
E
84
divulgada na forma de uma recomendao
cujo ttulo em ingls Fluorescent Lighting
and malignant melanoma. A preocupao sur-
giu aps a publicao de um trabalho na Austrlia,
em 1982, que mencionava a ocorrncia de melanoma
em empregados de escritrio aps vrios anos traba-
lhando sob lmpadas fluorescentes de mercrio. Diversos
estudos epidemiolgicos realizados posteriormente, no en-
tanto, mostraram no haver correlao significante entre casos
de melanoma e a exposio luz proveniente dessas lmpadas.
A concluso foi que o trabalho de 1982 no tinha levado em
considerao que os trabalhadores estudados, provavelmente, estive-
ram expostos a nveis muito altos de radiao ultravioleta proveniente
do Sol, em horas de lazer ao ar livre. O melanoma desses indivduos se
localizava em locais cobertos pelas roupas usadas normalmente em escritrios.
importante ressaltar que a intensidade da radiao ultravioleta proveniente de
lmpadas fluorescentes ou com filamento de tungstnio somente uma pequena
frao daquela que chega do Sol. Hoje, recomenda-se o uso de protetor solar em
caso de exposio luz ultravioleta solar, durante caminhadas ou na praia, por
exemplo. O bronzeamento artificial com fins cosmticos, por sua vez, conside-
rado de alto risco para a pele. [CH 191 maro/2003]
O uso de telefones celulares por crianas como algumas
propagandas sugerem pode ser prejudicial a elas,
pelo fato de seus crebros ainda estarem em formao?
Hoje, crianas e adultos esto permanentemente ex-
postos a campos e radiaes eletromagnticas. Onde hou-
ver um equipamento eltrico/eletrnico haver campos ou
radiao eletromagntica. O telefone sem fio, por exem-
Jos Osvaldo
Saldanha Paulino
DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA ELTRICA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
85
4
.
S
A
D
E
plo, presente em boa par-
te das residncias brasi-
leiras, um radiotrans-
missor muito parecido com
o telefone celular. Os
microcomputadores e as
televises, largamente
utilizados por crianas,
tambm so fontes de ra-
diao eletromagntica.
O celular chama mais a ateno, talvez, por ter sido uma novidade rapidamente
incorporada pela sociedade.
As normas tcnicas, em geral, no trazem recomendaes especficas sobre
o uso de telefones celulares por crianas. Algumas normas fazem restries
instalao de antenas de celular perto de hospitais, creches e asilos. Em
2000, um estudo financiado pelo governo ingls e realizado por uma comis-
so de pesquisadores (http://www.iegmp.org.uk/report/text.htm) concluiu
que no h evidncias de danos sade provocados pela utilizao de apa-
relhos telefnicos celulares. Entretanto, o mesmo estudo recomenda, sem apre-
sentar justificativas claras, que se imponham limitaes ao seu uso por crian-
as e adolescentes.
importante ressaltar que o telefone celular apenas uma das fontes de
radiao hoje presentes no ambiente. Se, no futuro, os resultados das pesqui-
sas indicarem a necessidade de imposio de restries ao uso de celulares
por crianas ou mesmo por adultos, tais restries devero ser feitas no
apenas aos celulares, mas a todos os equipamentos e sistemas que geram
campos e radiaes eletromagnticas. Para informaes mais detalhadas, su-
gerimos consultar, na internet, o endereo: http:// www.mcw.edu/gcrc/cop/
cell-phonehealth- FAQ/toc.html .
[CH 192 abril/2003]
86
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Jos Roberto Cardoso
DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA DE ENERGIA
E AUTOMAO ELTRICAS,
ESCOLA POLITCNICA,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
E MARIO LEITE PEREIRA
FILHO INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLGICAS/SP
Que danos a instalao de antenas de telefonia celular
em condomnios pode causar sade dos moradores
do prdio e arredores?
Se forem respeitados os limites estipulados pelas nor-
mas e regulamentaes nacionais e internacionais, a sa-
de dos moradores de prdios e arredores ficam resguar-
dadas. A Agncia Nacional de Telecomunicaes (Anatel)
recomenda a adoo dos limites propostos pela Co-
misso Internacional de Proteo da Radiao
No-ionizante (ICNIRP), que trabalha em conjunto com a Organizao
Mundial da Sade. A diretriz reconhece que a exposio a campos ele-
tromagnticos pode gerar efeitos trmicos (aquecimento), mas consi-
dera que no h provas cientficas de outros efeitos de longa durao.
H relatos na literatura sobre danos causados pela exposio a valo-
res elevados de campo, como alteraes funcionais reprodutivas,
hematolgicas e do sistema nervoso, alm de malformao congnita
em animais. Por isso, so estabelecidos valores limites para o cam-
po, em geral com margem de segurana de 50 vezes em relao
aos valores que sabidamente trazem risco.
Os valores do campo em um determinado ponto dependem
da distncia e da potncia da antena. No caso das estaes
radiobase (ERB) de celulares, a distncia de segurana
estabelecida durante o seu projeto, com base nos limites reco-
mendados pelas normas. Em caso de dvida, o Instituto de Pesqui-
sas Tecnolgicas de So Paulo (IPT) tem condies de medir com
preciso os nveis de campo magntico e eltrico presentes nas
proximidades do equipamento. Caso estejam fora das
especificaes, a empresa deve tomar providncias imediatas para
a soluo do problema.
[CH 181 abril/2002]
4
.
S
A
D
E
86
87
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
O UNIVERSO NATURAL VIVO
A vida definida atualmente como um conjunto de pro-
cessos integrados e organizados que se expressam em dife-
rentes nveis. Nessa maneira de definir a vida, os organis-
mos, como sistemas vivos, so vistos como o resultado da
interao entre os seus constituintes (molculas, clulas, te-
cidos etc.), em constante interao com o meio. atravs
dessa constante interao entre fatores biticos e abiticos
que os seres transformam o ambiente em que vivem e se
transformam ao longo das geraes, sob a influncia, tam-
bm, do ambiente.
Aplicada ao ensino, essa nova perspectiva em relao aos
processos vivos em que a interao organismo-ambiente
destacada tem tornado o aprendizado de biologia no ensino
mdio muito mais significativo e eficaz. Se antes era aceitvel,
por exemplo, apresentar os diferentes seres vivos reino a
reino, grupo a grupo, caracterstica a caracterstica, hoje a
preferncia recai sobre apresent-los no contexto da ecologia
e da evoluo, priorizando-se a discusso das diferentes
estratgias adotadas pelos diversos grupos, ao longo da
evoluo, para sobreviver s condies ambientais. Sob essa
perspectiva, conceitos importantes, como o de adaptao,
ganham destaque e permitem aos alunos a apreenso de
idias realmente significativas em biologia.
Foi com essa concepo de ensino em mente que optamos
por reunir nessa seo textos relacionados aos seres vivos
( botnica e zoologia, principalmente) com aqueles rela-
cionados ecologia, propriamente dita, e problemtica
ambiental. Os textos aqui reunidos contm inmeros exem-
plos de interaes mantidas pelos seres vivos entre si e
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
5
88
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
desses com o ambiente. Eles representam, portanto, uma significativa
amostragem da complexidade da vida em nosso planeta, cujo uso em sala de
aula poder auxiliar o professor na tarefa de incentivar os alunos a conhecerem
e admirarem a rica diversidade e o delicado equilbrio que mantm a vida na
Terra.
Outra questo de fundo que permeia os textos aqui apresentados a ne-
cessidade de preservao da biodiversidade e do ambiente em nosso planeta.
So tantas as ameaas que pairam sobre a flora, a fauna e o ambiente, em
geral, sobretudo em pases em desenvolvimento como o nosso, que a escola
no pode se furtar de abord-las. Discutir essas questes, tais como o cresci-
mento populacional, a extino de espcies, a sustentabilidade das popula-
es e a destruio de hbitats, urgente e as aulas de biologia so um dos
fruns privilegiados para faz-lo.
Alm de fornecer os conhecimentos especficos, imprescindveis para a
compreenso da intricada rede de interaes que une a biodiversidade e o
ambiente, as aulas de biologia devem propiciar o desenvolvimento de habili-
dades, tais como a criatividade, a capacidade para solucionar problemas e o
senso crtico dos alunos, inseridas em um slido sistema de valores, em que a
tica tenha grande significado. Associados aos conhecimentos especficos,
essas habilidades e valores formaro o trip que sustentar a ao dos alu-
nos, enquanto cidados, e que permitir a eles formularem solues para os
problemas a serem enfrentados.
89
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Em quantos reinos se distribuem os seres vivos?
Considerando todos os seres vivos, esto descritos e ca-
talogados quase dois milhes de espcies. Mas esse n-
mero est longe do total real: segundo algumas estimati-
vas, pelo menos 50 milhes de espcies ainda no teriam
sido descritas. O sistema de classificao usado hoje distribui os seres vivos em
cinco grandes reinos: Monera, Protista, Fungi, Animalia (ou Metazoa) e Plantae
(ou Metaphyta). A distribuio das espcies entre os reinos segue critrios espe-
cficos, como o tipo de organizao celular, o nmero de clulas e a forma de
obteno de alimento.
O reino Monera inclui seres unicelulares (com s uma clula) e procariontes
(sem membrana nuclear, ou seja, sem ncleo definido), como as bactrias e as
algas azuis. No reino Protista esto organismos unicelulares e eucariontes (com
membrana nuclear), como protozorios e outros tipos de algas unicelulares. J o
reino Fungi abrange organismos uni ou pluricelulares (com mais de uma clula)
e eucariontes que obtm seu alimento por absoro, como os fungos (mofos,
leveduras e cogumelos). O reino dos animais (Animalia) inclui organismos pluri-
celulares e eucariontes que se alimentam por ingesto. Finalmente, o reino vege-
tal (Plantae) rene os organismos pluricelulares e eucariontes que sintetizam
seu alimento.
Nem sempre se utilizou o sistema de cinco reinos. Na antiga classificao, os
seres vivos eram divididos em dois grandes reinos: animal (protozorios e ani-
mais) e vegetal (vegetais, fungos, bactrias e algas). O sistema atual foi propos-
to em 1969 por R. H. Whittaker e bastante aceito. Novas propostas tm sido
feitas por cientistas, incluindo trs, quatro e at mais de cinco reinos, mas com
Elidiomar Ribeiro
da Silva
DEPARTAMENTO DE CINCIAS
NATURAIS, UNIVERSIDADE
DO RIO DE JANEIRO (UNI-RIO)
90
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
pouca aceitao da comunidade cientfica. Isso mostra que um sistema de classi-
ficao no representa a verdade absoluta, mas dinmico e mutvel, devendo
ser sempre aperfeioado para que se aproxime cada vez mais da organizao real
dos seres vivos.
Os vrus no esto includos nessa classificao. H divergncias cientficas
sobre seu enquadramento ou no no mundo vivo, e alguns cientistas os vem
como representantes da transio entre a matria bruta e a matria viva.
[CH 142 setembro/1998]
As algas verdes, pardas e vermelhas so classificadas
hoje no reino vegetal ou no reino protista?
Esses trs grupos de algas tm ncleo e organelas
(como mitocndrias e cloroplastos) individuali-
zados envolvidos por membranas. Portanto,
so classificados como eucariontes. Mas h outras algas, como as
cianofceas (ou cianobactrias), que no exibem ncleo e organelas
individualizados e, por isso, so procariontes. Alga um termo ge-
nrico, que inclui organismos s vezes bastante diferentes entre si,
que nem sempre tm uma origem evolutiva prxima. Das caracte-
rsticas usadas para classificar os grandes grupos de algas, a
mais importante o pigmento responsvel por sua colorao.
A clorofila b o pigmento das algas verdes (diviso Chloro-
phyta), a clorofila c o das algas pardas (diviso Phaeophyta)
e ficoeritrina e ficobilina so os pigmentos das algas vermelhas
(diviso Rhodophyta).
As algas verdes esto classificadas no reino Plantae, pois tm
uma srie de caractersticas comuns s plantas terrestres: a cloro-
fila b, o armazenamento do amido como substncia de reserva
nos cloroplastos e a parede celular composta por celulose.
Gilberto Amado Filho
INSTITUTO DE PESQUISAS,
JARDIM BOTNICO
DO RIO DE JANEIRO
91
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Os demais grupos de algas, incluindo as pardas e as vermelhas, fazem parte do reino
Protista. O reino Plantae monofiltico (ou seja, todos os integrantes tm um
ancestral comum), enquanto o reino Protista polifiltico (os grupos que o com-
pem tm ancestrais distintos). Esto includos entre os protistas os eucariontes
flagelados, amebas, algas (exceto as verdes) e vrios parasitos que no per-
tencem aos reinos dos animais, dos fungos verdadeiros ou das plantas.
[CH 186 setembro/2002]
Por que as aranhas no se enrolam na prpria teia?
Como diferenciar machos de fmeas?
Para urdir sua teia, as aranhas uti-
lizam vrios tipos de seda, segre-
gada por glndulas localizadas no
abdome. No caso da teia orbicular
(que tem forma espiral), tanto o centro, onde a aranha per-
manece, como os raios, por onde ela se desloca, so constitu-
dos de fios secos. J a regio captora (onde as presas ficam retidas) possui fios
pegajosos, que so intercalados pelos raios. Escalando os fios sem cola, a aranha
capaz de caminhar pela teia mantendo seu corpo fora das reas viscosas. As
aranhas tecedeiras de teias orbiculares tm uma garra extra e cerdas serrilhadas
no ltimo segmento das pernas, entre os quais prendem o fio de seda, facilitan-
do, assim, o seu deslocamento. Alm disso, suas pernas so recobertas por um
leo que evita que elas fiquem coladas nesses fios. As aranhas que constroem
teias em funil posicionam seus tarsos em um ngulo que diminui a superfcie de
contato com a teia. Assim elas evitam que suas pernas se afundem nessa malha.
No possvel diferenciar aranhas machos e fmeas quando elas so jovens.
S se pode diferenci-las quando se tornam adultas, ou sexualmente maduras. Os
machos geralmente so menores, com abdome mais estreito e pernas mais lon-
gas do que as das fmeas. Em algumas espcies, os machos so vrias vezes
Mrio De Maria
e Taissa Rodrigues
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
92
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
menores, como nos casos de Nephila (aranhas de teias orbiculares comuns em
nossas matas e jardins) e Latrodectus (do grupo das vivas negras). A observao
mais importante, porm, diz respeito aos rgos copulatrios, que emergem ape-
nas na fase adulta. Nos machos, o ltimo segmento dos palpos fica inchado, com
a aparncia de uma luva de boxe, pois ali se concentram diversas estruturas
copulatrias. Outras regies do palpo tambm podem ter estruturas especializadas.
Nas fmeas, a maior parte das espcies apresenta epgino (placa esclerotizada
localizada prxima ao sulco epigstrico, na face ventral da regio anterior do
abdome). Essas estruturas sexuais so complexas e variam entre as espcies,
constituindo a base para a taxonomia de aranhas. [CH 200 dezembro/2003]
Os ursos hibernam, de fato?
A resposta depende da definio de hibernao. Na
literatura mais antiga, o termo era descrito como
dormncia associada a baixa temperatura corporal. Hoje,
no entanto, definido como reduo do metabolismo em
resposta diminuio da disponibilidade de recursos e baixa temperatura do
ambiente. A temperatura do corpo do animal necessariamente no se reduz.
Durante muito tempo, parte da literatura especializada considerou e ainda
hoje h quem considere o urso-preto-ameri-
cano (Ursus americanus) e o urso-pardo (Ursus
arctos), por exemplo, como falsos hiber-
nantes, j que eles so capazes de manter
a temperatura corporal elevada durante
o perodo de hibernao. Segundo a
definio mais moderna, eles podem ser
considerados hibernantes altamente
eficientes, pois dormem meses seguidos sem comer, beber
ou eliminar excrees. Mantm, portanto, suas taxas metab-
Adriano Paglia
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS,
CONSERVATION
INTERNATIONAL DO BRASIL
93
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
licas em nveis muito baixos. Na preparao para o inverno, U. americanus au-
menta a capacidade de isolamento trmico graas ao espessamento de sua pele e
de seus plos e acumula grande quantidade de gordura, que se deposita em
espessas camadas.
Essas alteraes metablicas, aliadas posio encolhida que adota para
reduzir a rea de perda de calor, permitem que o animal conserve a temperatu-
ra corporal elevada (em torno de 31C) e, conseqentemente, desperte rapi-
damente em situaes de perigo. Os especialistas fiis associao de hiber-
nao com queda da temperatura do organismo consideram que os ursos passam
por um processo de letargia do inverno e no seriam, portanto, animais
hibernantes. [CH 186 setembro/2002]
verdade que os tubares precisam nadar o tempo todo?
Alguns tubares, geralmente os que vivem em mar aberto,
precisam nadar com uma certa constncia, mesmo que bem
devagar, para no afundar. Isso ocorre porque esses tuba-
res no possuem bexiga natatria rgo precursor do pulmo humano, forma-
do por uma projeo oca do trato digestivo dos peixes sseos (Osteichthyes), que
pode ser inflada ou desinflada para acomod-los em uma certa profundidade.
Alguns tubares, especialmente os que vivem em guas profundas, compensam
a faltada bexiga natatria com seu fgado, geralmente muito grande e repleto de
leo, que, por sua vez, mais leve do que a gua. O fgado de um tubaro pode pe-
sar um quarto do seu peso total e ocupar a maior parte de sua
cavidade digestiva.
Tambm existem certos tipos de
tubares, como o cao-lixa, que ha-
bitam exclusivamente o fundo do
oceano, alimentando-se de peixes e in-
vertebrados que vivem sobre ou perto da areia.
Marcelo R. de Carvalho
DEPARTAMENTO DE ICTIOLOGIA,
MUSEU NORTE-AMERICANO
DE HISTRIA NATURAL (AMNH)
94
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Existem atualmente cerca de 380 espcies de tubares ou mais, de acordo
com algumas estimativas, muitos dos quais vivendo apenas sobre o fundo, ou a
poucos metros acima do mesmo. Mesmo aqueles que habitam o mar aberto po-
dem pousar de vez em quando sobre o fundo para descansar ou para que outros
peixes retirem os seres parasitrios que se depositam sobre sua pele.
[CH 184 julho/2002]
Por que alguns animais como baratas e invertebrados
podem regenerar membros inteiros?
Alguns animais invertebrados possuem clulas que no
so diferenciadas no pertencem a um tecido especfi-
co. Quando eles perdem alguma parte do corpo, essas
clulas podem se diferenciar para formar novos tecidos,
regenerando assim a parte perdida. Vrios invertebrados tm essa capacidade de
regenerao, como as planrias e as estrelas-do-mar.
Em alguns animais, as clulas no diferenciadas podem
se originar de clulas diferenciadas como as de um
msculo, por exemplo para ento reconstituir a parte
perdida ou amputada.
Insetos como baratas, percevejos, grilos e bichos-
pau, alm de todos aqueles que fazem a metamorfose completa, como as bor-
boletas e os besouros, regeneram seus apndices (pernas, antenas ou peas
bucais) a partir de clulas indiferenciadas, que ficam prximas ao local da
perda. Se um inseto perde uma perna, por exemplo, a base da perna restante
guarda informaes para regener-la. Nesses grupos, entretanto, a regene-
rao est restrita aos estgios imaturos, no ocorrendo aps o inseto ter
atingido a fase adulta. Isso porque, quando adultos, os insetos no produ-
zem mais a cutcula, esqueleto externo que trocado enquanto ainda esto
crescendo. Assim, so capazes de regenerar partes do corpo apenas durante
seu desenvolvimento. [CH 177 novembro 2001]
Jorge Luiz Nessimian
LABORATRIO
DE ENTOMOLOGIA,
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
95
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
O que o fenmeno da reverso sexual?
Os animais vertebrados apresentam o sexo gentico e o
sexo fisiolgico. O sexo gentico (XX em fmeas e XY em
machos) determinado na poca da fecundao dos
vulos pelos espermatozides, pela combinao de metade dos cromossomos
sexuais maternos (X) e metade dos cromossomos sexuais paternos (X ou Y). O
sexo fisiolgico controlado sobretudo pela ao dos hormnios sexuais mascu-
linos (andrgenos) ou femininos (estrgenos) que induzem vrios fenmenos,
como diferenciao das gnadas em testculo ou ovrio, gametognese, ovula-
o, espermiao, comportamentos de corte, manifesta-
o de caractersticas sexuais secundrias e mudan-
as morfolgicas e fisiolgicas durante a reproduo
dos animais.
O fenmeno da reverso ou inverso do sexo nos
vertebrados consiste na mudana do sexo fisiol-
gico e no do sexo gentico. Um animal revertido
o que apresenta um determinado sexo gentico
(por exemplo, fmea XX ou macho XY) e o sexo fisiolgi-
co contrrio. Quando o animal revertido apresenta o sexo gentico de fmea (XX)
e o sexo fisiolgico de macho, chamado de neomacho ou macho revertido, ou
ainda de falso macho. Quando o animal apresenta sexo gentico de macho (XY) e
sexo fisiolgico de fmea, denominado neofmea (como em carpas e trutas).
Isso ocorre pela administrao de dietas com doses adequadas de hormnios
sexuais sintticos. Geralmente os neomachos e neofmeas so frteis. Dessa for-
ma, para fins comerciais, podem-se cruzar fmeas genticas (XX) com neomachos
(XX) para a obteno de estoques s de fmeas (XX) que, por apresentarem em
geral maior tamanho que os machos, interessam mais aos piscicultores.
Alm dos peixes possvel observar reverso sexual em anfbios (atravs da
administrao de hormnios sexuais na gua onde so criados os girinos) e em
aves doentes.
Silvio de Almeida
Toledo-Filho
INSTITUTO DE BIOCINCIAS,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
96
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
No caso dos anfbios (em especial nos sapos), existe um rgo chamado Bidder,
junto aos testculos, que pode se transformar em ovrio funcional trs a quatro
anos depois de os testculos terem sido removidos. Porm, enquanto uma fmea
normal produz cerca de oito mil vulos, um macho bideriano ou neofmea
produz no mximo 1.200 vulos.
No caso das aves, a gnada direita das fmeas tem potencialidades testicula-
res. Sabe-se que galinceos geneticamente fmeas (ZW), que durante certo tem-
po de suas vidas puseram ovos, sofreram reverso da gnada direita para test-
culo funcional e tambm desenvolveram canto e esporas de galo. Esses fatos
ocorreram porque o antigo ovrio normal do lado direito foi destrudo pela tu-
berculose aviria. Desse modo, uma ave geneticamente fmea (ZW) tornou-se um
neomacho funcional, ou seja, um galo com constituio gentica feminina e no
masculina (ZZ). [CH 149 maio/1998]
A jararaca-ilhoa exibe um terceiro sexo.
Qual a sua origem? Ele funcional?
A jararaca-ilhoa (Bothrops insularis) uma serpente
peonhenta da famlia Viperidae. Ela ocorre em altssima
densidade na ilha Queimada Grande, situada a 35 km
de Itanham (SP). Podemos encontrar de 30 a 60 exemplares dessa jararaca
em apenas um dia de atividades. Por no haver mais mamferos terrestres na
ilha, essa serpente adaptou-se para subir em rvores e comer aves migrat-
rias. Assim, seu veneno foi selecionado a agir rapidamente, seno a ave mor-
re fora do alcance da serpente. Seu veneno cinco vezes mais forte que o da
jararaca do continente (Bothrops jararaca) para as aves e trs vezes mais forte
para mamferos.
A meu ver, a maior particularidade que a jararaca-ilhoa apresenta est re-
lacionada a seus rgos sexuais. Todos os machos de serpentes e lagartos do
mundo apresentam hemipnis. Os hemipnis so os rgos copulatrios des-
Francisco Lus Franco
LABORATRIO
DE HERPETOLOGIA,
INSTITUTO BUTANTAN/SP
97
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
ses animais. Trata-se de estruturas pares (por isso, so chamados hemipnis),
que ficam, quando em repouso, invertidos dentro da cauda da serpente ou
lagarto.
A cpula se d pela everso e introduo de um rgo de cada vez na cloaca
da fmea. Nas jararacas- ilhoas, podemos encontrar hemiclitris desenvolvido
na grande maioria das fmeas. Isso s conhecido para poucas espcies no mun-
do, e na maioria delas, eventual. O hemiclitris , muitas vezes, bem semelhan-
te ao hemipnis dos machos. Chama-se ao fato de a maioria das fmeas possu-
rem hemiclitris de intersexualidade.
Uma fmea com hemiclitris gentica e fisiologicamente fmea, no se
tratando de um terceiro sexo, como podem pensar alguns. A fmea, embora
tenha um rgo copulador, no apresenta testculos, mas sim ovrios, portan-
to, no produz espermatozides, impossibilitando qualquer funo reprodutora
primria.
Ainda no foi observada a utilizao desse rgo em corte ou outra atividade.
Todas as serpentes e lagartos apresentam hemiclitris durante seu desenvolvi-
mento embriolgico, porm, o crescimento do rgo interrompido em uma
etapa inicial de sua formao. De alguma forma, a
jararaca-ilhoa perdeu boa parte da sua capacida-
de gentica de interromper o desenvolvimento do
hemiclitris, permitindo seu crescimento, quase
como um hemipnis dos machos.
[CH 176 outubro/2001]
O que so hantavrus? Que outros tipos de vrus existem?
Os hantavrus so um grupo de vrus da famlia Bunya-
viridae, conhecidos por causar febres hemorrgicas. O v-
rus que deu nome ao grupo, o Hantaan, foi identificado
em 1978 na pennsula da Coria, onde se localiza um rio que leva o mesmo nome.
Jack Woodall,
INSTITUTO DE CINCIAS
BIOMDICAS, UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
98
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Cerca de outros 20 membros da famlia j foram identificados at agora. Entre
eles, o Sin Nombre, descoberto em 1993 entre os ndios Navajo, dos Estados
Unidos; o Andes, na Argentina, e o Seoul, encontrado nos grandes portos do
mundo inteiro.
So vrus que infectam roedores silvestres e ratos que vivem em portos. As
excrees contaminadas so deixadas nas casas de campo e nos armazns. A
poeira que se forma das excrees secas inalada pelas pessoas que moram ou
trabalham nesses lugares. Tambm pode haver contaminao de alimentos e con-
seqente infeco por via oral. Os sintomas da contaminao variam desde febre
leve at infeco severa dos pulmes ou rins, podendo levar morte. Recente-
mente, na Argentina, foi constatada a transmisso do Andes entre humanos. No
existe vacina ou tratamento especfico.
Ao todo, existem 78 famlias diferentes de vrus. Entre elas, esto os vrus
causadores de doenas como Aids (HIV), catapora, herpes, mononucleose, sa-
rampo, rubola, dengue e febre amarela. Para os interessados em pesquisar mais
sobre o assunto, uma boa introduo virologia pode ser encontrada no site
http://virusonline.virtualave.net/introdu.htm#Intro. [CH 170 abril/2001]
verdade que besouros no podem voar?
As pessoas acreditam que os besouros no podem voar
porque so animais excessivamente pesados para seu ta-
manho e sem qualquer aerodinmica. Mas eles voam! Suas
asas anteriores se transformam em litros, estruturas que
no participam do vo, mas que servem para
sua proteo. Os besouros utilizam o segundo
par de asas para voar. Apesar de voarem, eles
o fazem mal. um vo pesado, lento e desa-
jeitado, com controle direcional precrio.
[CH 163 agosto/2000]
Arcio Linhares
DEPARTAMENTO DE
PARASITOLOGIA,
INSTITUTO DE BIOLOGIA,
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE CAMPINAS
99
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Todas as espcies de abelhas tm rainhas?
No. A maioria das espcies constituda por abelhas so-
litrias, que no tm rainhas. Nessas espcies, as fmeas
so reprodutivas, acasalando-se e pondo ovos. Cada f-
mea constri seu prprio ninho em geral um simples
orifcio no solo e coleta alimentos (plen e nctar) nas flores, para abastecer as
clulas onde suas larvas vo se desenvolver. Cada clula que contm o alimento
trazido pela abelha adulta recebe um ovo e , ento, fechada. Em um nico ninho
podem ser construdas uma ou mais clulas. Depois de completo, com alimento e
ovos, o ninho abandonado pela abelha e as larvas se desenvolvem sozinhas,
sem contato com a me.
As rainhas s esto presentes nas espcies sociais. Nestas,
as fmeas constituem duas castas: uma rainha e muitas oper-
rias. Na maioria das vezes, a rainha pode iniciar o ninho sozi-
nha, como as fmeas das abelhas solitrias. Nesse caso, ela
constri o ninho e traz o alimento para as primeiras larvas.
Assim que suas primeiras filhas nascem (as operrias), ela
abandona todo o trabalho de construo, coleta de alimento
e alimentao das larvas, dedicando-se apenas tarefa de
botar ovos. Todos os demais servios na colmia sero execu-
tados pelas operrias. Um exemplo dessas abelhas so as nossas mamangabas soci-
ais (Bombus). Em outras espcies sociais, entretanto, as rainhas no sobrevivem
sem as operrias. Nesses casos, novas colnias so fundadas por enxameao: uma
rainha (nova ou velha, dependendo da espcie e da situao) abandona um ninho
j existente, acompanhada de operrias, indo habitar um novo ninho construdo,
antes ou depois da enxameao, pelas operrias. So exemplos dessas espcies as
abelhas melferas (Apis mellifera) e as nossas abelhas indgenas sem ferro: jata
(Tetragonisca angustula); irapu (Trigona spinipes); mandaaia (Melipona quadri-
fasciata), entre outras. Entre as abelhas solitrias, convm destacar as espcies
parasitas: em vez de construir seus prprios ninhos, essas abelhas botam seus ovos
Fernando Amaral
da Silveira
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
100
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
nas clulas dos ninhos de outras espcies. Suas larvas consomem todo o alimento
coletado pela fmea da espcie hospedeira, matando as filhas desta. Em nenhuma
espcie de abelhas os machos esto envolvidos em qualquer atividade na colnia,
sendo responsveis apenas pela fecundao das fmeas. [CH 130 agosto/1997]
Quanto tempo vive uma abelha?
Existem cerca de 320 espcies de abelhas sociais. Na
mais estudada, Apis mellifera, a durao dos ciclos de vida
a mostrada na tabela abaixo:
As abelhas brasileiras sem ferro (Meliponinae) tm ciclos de vida diferentes,
conforme a espcie (ver o quadro abaixo).
Warwick Estevam Kerr
DEPARTAMENTO DE GENTICA
E BIOQUMICA, UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLNDIA
Estgios Italiana Africanizada
Ovo (da postura ecloso) Operria: 72-76 horas Operria: 70-71 horas
Larva Operria: 5,5 dias Operria: 4,2 dias
Da postura emerso do favo Macho: 24 dias Macho: 24 dias
Rainha: 16 dias Rainha: 15 dias
Operria: 21 dias Operria: 18,5 dias
Adulto (tempo mximo de vida) Macho/Oper.: 56 dias Macho/Oper.: 56 dias
Rainha: 1 a 4 anos Rainha: 1 a 4 anos
Estgios Mandaaia Tiuba Uruu
Operria Rainha Macho Operria Rainha Macho Operria Rainha Macho
Ovo (da postura ecloso) 5 5 4 8 8 8 7 7 6
Larva e pr-pupa 16 12 13 17 16 17 16 15 15
Pupa e farato 18 16 18 20 16 18 25 23 23
Adulta 46 900 20 51 6 anos 25 48 6 anos 20
(fecundada) (fecundada)
101
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Como o desenvolvimento dos meliponneos varia segundo a espcie e a tem-
peratura, os dados podem apresentar diferenas de at 20%.
Os machos de Apis mellifera morrem imediatamente aps o acasalamento. Os
machos dos meliponneos duram at dois dias depois. As operrias de Apis mellife-
ra morrem aps picar (mesmo que no saia o intestino) porque fica um furo na
extremidade do abdmen por onde se esvai seu sangue.
Os machos dos meliponneos no podem ser chamados de zanges porque tra-
balham dentro da colmia por cerca de 50% de suas vidas. [CH 144 novembro 1998]
Por que, quando colocamos um prato com gua,
os cupins voadores caem nele?
Na verdade, os cupins alados so atrados pela
luz (eles tm fototropismo positivo). Por isso,
muito comum, na poca da revoada dos cupins, encon-
trar uma grande quantidade desses insetos voando ao
redor de luminrias urbanas. Os cupins entram nas casas atrados pelas luzes.
costume colocar um prato de gua bem debaixo da luz, para que os cupins caiam
na gua e fiquem presos quando essa luz for apagada. Algumas pessoas tambm
usam recipientes para que a gua reflita a luz como um espelho e atraia assim
os cupins. Nesse caso, a luz deve permanecer acesa. [CH 141 agosto/1998]
Qual a origem das baratas?
Os registros mais antigos de baratas datam do perodo
Carbonfero (h 320 milhes de anos). Elas foram reco-
nhecidas basicamente pelas impresses deixadas por suas
asas, num tipo de fossilizao onde apenas o relevo das
nervuras foi preservado. O padro dessas nervuras
Ana Maria Costa
Leonardo
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA,
UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA (UNESP)
Marcio Mendes
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
DOS INVERTEBRADOS
E PALEONTOLOGIA
DA UNIVERSIDADE VALE
DO RIO DOCE/
MUSEU DE HISTRIA NATURAL
102
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
caracterstico de cada uma das espcies, permitido assim sua identificao/
classificao.
As mais antigas baratas da Amrica do Sul pertencem ao final do Carbonfero
(280 milhes de anos) e tambm foram reconhecidas somente por suas asas.
Porm, existem algumas excees: nas rochas calcrias de Formao Santana (da-
tada em 112 milhes de anos, perodo Cretcio Inferior), regio de Santana do
Cariri, Cear, foram encontrados insetos extraordinariamente preservados. Nesse
perodo, inclusive, as baratas foram contemporneas dos dinossauros.
As baratas atuais, quando comparadas a suas ancestrais, demonstram uma
enorme capacidade de adaptao s mudanas ambientais, apresentando peque-
nas variaes morfogicas. Desde a sua origem at hoje, as modificaes mais
acentuadas ocorridas nos corpos desses insetos foram: variao no padro e n-
mero das nervuras das asas e espinhos das patas. No foram, no entanto,
elucidados quais os benefcios que essas alteraes possam ter trazido para o
processo de adaptao.
O curioso que no Cretceo da Formao Santana foram encontradas baratas
com grande ovipositor (tubo por onde saem os ovos das fmeas), chegando a 1/3
do comprimento total do corpo, alm de outras espcies de insetos com ooteca (bolsa
de ovos). Dentre todos eles, somente as baratas permaneceram e, provavelmente, so-
brevivero mantendo suas caractersticas por muito tempo. [CH 133 novembro/1997]
Como os diversos venenos de cobras e aranhas agem no
organismo humano? Como os soros impedem suas aes?
O veneno desses animais uma complexa mistura de subs-
tncias, entre elas, aminocidos livres, peptdios, protenas
(a maioria, enzimas), nucleotdios, carboi-
dratos, lipdios, aminas biogni-
cas e componentes inorgnicos (por exemplo, clcio,
sdio, potssio, zinco, magnsio, cloretos e fosfatos).
Reinaldo Jos da Silva
CENTRO DE ESTUDOS
DE VENENOS DE ANIMAIS
PEONHENTOS, UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA
103
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Entretanto, cada gnero de serpente ou de aranha apresenta um tipo de veneno
caracterstico e, conseqentemente, um mecanismo de ao tambm diferente.
Assim, por exemplo, o veneno da aranha armadeira tem efeito neurotxico, que
age no organismo induzindo dor local imediata e pode evoluir para choques
neurognicos. Por outro lado, o veneno da aranha marrom tem efeitos proteoltico,
hemoltico e coagulante, que age no organismo produzindo hemorragias, distr-
bios na coagulao e necroses.
O tratamento dos envenenamentos feito principalmente pela administrao
de antivenenos especficos. Os antivenenos ou soros heterlogos so fraes de
anticorpos especficos e purificados, retirados do plasma de animais (geralmente
cavalos) que foram inoculados com um determinado veneno. Esse processo
conhecido por imunizao. Os anticorpos produzidos apresentam a capacidade
de reconhecer e neutralizar o veneno, impedindo que esse exera seus efeitos
nos organismos. [CH 142 setembro/1998]
Como se comportam as plantas na ausncia
de gravidade?
A agncia espacial norte-america-
na (Nasa) vem realizando vrias
pesquisas sobre o comportamen-
to das plantas. Este considera-
do essencial pois, com toda a
certeza, os vegetais sero fundamentais na terraformao transformao de al-
gum lugar em um ambiente similar ao terrestre de uma nave espacial, base lunar
ou de um hbitat humano em outro planeta.
No espao, as condies para o crescimento e o desenvolvimento de animais e
de plantas so muito diferentes das da Terra. Nas naves espaciais, por exemplo,
no h a fora gravitacional agindo sobre os organismos vivos, existindo apenas
a microgravidade. H ainda astros, como a Lua e o planeta Marte, nos quais a
Thas Russomano
LABORATRIO
DE MICROGRAVIDADE,
INSTITUTO DE PESQUISAS
CIENTFICAS E TECNOLGICAS,
PONTIFCIA UNIVERSIDADE
CATLICA/RS
104
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
fora gravitacional menor do que a terrestre. A ausncia total ou a diminuio
da gravidade influenciam comprovadamente o comportamento das plantas. Sabe-
se que suas razes se fixam em direes anrquicas, uma vez que perdem o
geocentrismo (que as faz se dirigir ao centro da Terra). O crescimento dos vege-
tais tambm alterado, pois eles buscam a luz, onde essa estiver localizada den-
tro da nave ou da estao espacial. Para mais detalhes, vale visitar o site:
www.nasa.gov. [CH 187 outubro/2002]
Como ocorre a digesto nas plantas carnvoras?
So consideradas carnvoras as plantas capazes de cap-
turar uma presa, digerir e absorver seus nutrientes e
utiliz-los para crescer e se desenvolver. As plantas carn-
voras geralmente vivem em solos pobres em nutrientes ou onde esses no esto
disponveis para serem absorvidos. Assim, a carnivoria uma estratgia adicio-
nal de absoro de nutrientes especialmente nitrognio e fsforo, necessrios
em maior quantidade para o desenvolvimento das plantas.
As plantas carnvoras se distribuem em vrias famlias e apresentam formas
muito variadas, com distintos mecanismos de atrao e captura de presas, geral-
mente insetos. Aps a captura, que pode se dar em diferentes tipos de arma-
dilhas (urnas, vesculas de suco e tentculos adesivos), a presa
entra em contato com glndulas digestivas que secretam
enzimas, iniciando-se o processo de digesto.
As diferentes espcies tm grande diversidade
de enzimas digestivas, como amilase e invertase
(responsveis pela digesto de acares), lipase
e esterase (que digerem gorduras) e protease (que
digere protenas). As proteases so encontradas
em todos os grupos de plantas carnvoras, uma
vez que a presa apresenta elevado percentual de pro-
Queila de Souza Garcia
DEPARTAMENTO DE BOTNICA/
ICB, UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
105
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
tena, que tem em sua constituio o nitrognio, liberado durante a digesto.
Em alguns casos as plantas carnvoras se associam a bactrias para otimizar
ou completar o processo digestivo. Aps a digesto, a presa fica reduzida a com-
postos pequenos e solveis, que so absorvidos por clulas especializadas da
armadilha. [CH 179 janeiro/fevereiro/2002]
verdade que carcaas de diatomceas so usadas como
abrasivos na composio de pasta de dentes?
Fitoplncton definido como uma comunidade vegetal
microscpica, que flutua livremente nas diversas camadas
de gua, estando sua distribuio vertical restrita zona
iluminada. Na presena de energia luminosa, promove o
processo de fotossntese um dos responsveis pela base da cadeia alimentar do
meio aqutico. Est presente em todos os sistemas aquticos de nosso planeta
(gua doce e salgada). constitudo por representantes taxonmicos de vrios
grupos de algas (Cyanobacteria, Chlorophyta, Euglenophyta, Dinophyta etc.).
As diatomceas, pertencentes classe Bacillariophyceae, possuem cerca de
250 gneros e 100 mil espcies, ocorrendo em am-
bientes marinhos e de gua doce. Todas as espcies
so unicelulares ou coloniais. Sua cor varia de mar-
rom-amarelada e escura a verde-amarelada devido
aos pigmentos fucoxantina (marrom), beta-caroteno
e xantofilas, presentes nos cloroplastos. A parede
celular, denominada de frstula, constituda por
slica e substncias pcticas.
Aps a morte das diatomceas, as frstulas, ex-
tremamente resistentes devido presena de sli-
ca, so depositadas no fundo de lagos ou mares.
Esses depsitos fsseis que ocorreram no perodo
Viviane Moschini
Carlos
DEPARTAMENTO DE CINCIAS
BIOLGICAS,
UNIVERSIDADE DO EXTREMO
SUL CATARINENSE
106
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Tercirio so denominados de diatomitos ou terra de diatomceas. Podem atingir
grandes propores, como o de Lampoc, na Califrnia (Estados Unidos), de ori-
gem marinha, com quilmetros de extenso e cerca de 900 m de espessura.
Na Califrnia, so extradas anualmente mais de 270 mil toneladas de terra de
diatomceas para uso industrial. No Nordeste do Brasil, tambm existem alguns
diatomitos. A aplicao industrial muito grande, podendo ser utilizada como
abrasivo para polimento de prata, como material filtrante e isolante trmico em
caldeiras (refinarias de acar), vernizes, pastas de dente, batons etc.
[CH 174 agosto/2002]
O que confere dureza ao gro de plen, tornando-o quase
indestrutvel?
Os gros de plen gametas masculi-
nos das plantas com flores e os
esporos das samambaias so clulas
reprodutivas. Ambas so formadas por citoplasma envolvido
por duas membranas: a intina, que interna e similar mem-
brana das outras clulas vegetais; e a exina, de organizao
complexa, inexistente nas outras clulas vegetais e animais.
A exina a nica parte dos gros de plen e dos esporos a ser preservada.
Isso se deve sua grande resistncia em relao maioria dos agentes qumi-
cos essa membrana s destruda aps uma exposio prolongada num meio
oxidante. A composio da exina semelhante da celulose, mas apresenta uma
molcula maior (C
90
H
144
O
x
) que no bem conhecida. A substncia formadora da
exina, a esporopolenina, lhe confere estabilidade qumica e elasticidade grandes.
Enquanto esto nas plantas, os gros de plen e os esporos das samambaias
so submetidos a variaes de temperatura e de umidade que podem ser muito
significativas. Depois da maturao, ambos precisam ser transportados, pelo vento,
pela gua, por insetos ou por pssaros: o gro de plen, at o interior de uma
Jean-Pierre Ybert
INSTITUTO DE PESQUISA
PARA O DESENVOLVIMENTO
(IRD), FRANA
107
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
flor para que haja fecundao de um vulo; o esporo, at encontrar condies
favorveis sua germinao. A principal funo da exina proteger a matria
viva citoplasma e ncleo da dessecao, do excesso de umidade e de outros
tipos de agresses durante o processo de maturao e transporte. Alm disso, a
exina possui todos os caracteres morfolgicos que permitem a identificao
taxonmica dos gros de plen e dos esporos. [CH 166 novembro 2000]
Como as plantas e insetos se defendem
dos microrganismos invasores?
A imunidade dos insetos a infeces por microrganis-
mos apresenta semelhanas e diferenas com os mecanis-
mos de defesa correlatos dos vertebrados. A principal di-
ferena que, nos insetos e nos artrpodes em geral, o
sistema de imunidade no tem a memria nem a especificidade de resposta que
se costuma observar em mamferos. Isso significa que o organismo desses ani-
mais, depois de ter controlado uma dada infeco, no reagir de forma mais
rpida e intensa a uma nova infeco causada pelo mesmo agente patognico.
Por outro lado, essa resposta inespecfica e extremamente eficiente com-
posta por dois tipos gerais de mecanismos: 1) humoral, incluindo, por exemplo,
protenas antibacterianas, sintetizadas pelo corpo gorduroso (importante
rgo secretor de protenas); e 2) celular, baseado na atividade de he-
mcitos, ou seja, clulas de defesa presentes na
hemolinfa (fluido anlogo
ao sangue, no qual
esto imersos os r-
gos presentes na
cavidade do corpo
do inseto).
Mrcia Margis e
Flvio Silva Faria
DEPARTAMENTO DE GENTICA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
108
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Os vegetais so resistentes grande maioria dos microrganismos pela ao de
barreiras fsicas e qumicas constitutivas, como por exemplo a parede celular, a
cutcula e os compostos antimicrobianos. No entanto, ao longo da evoluo,
uma pequena parte dos microrganismos especializou-se superando essas barrei-
ras, tornando-se patognica s plantas. Nesses casos, a planta responde atravs
da induo dos mecanismos de defesa vegetal. Ocorre, ento, o reforo das pare-
des celulares atravs da deposio de lignina e calose, h sntese de espcies
reativas de oxignio e de protenas de defesa como as quitinases e glucanases.
A resistncia depende da velocidade com que a planta reconhece o patgeno.
Quando esse reconhecimento rpido, aparecem leses necrticas na regio pr-
xima ao ponto de infeco, contribuindo para impedir o espalhamento do patge-
no e, conseqentemente, a infeco sistmica. Aps a formao dessas leses, a
planta produz uma resposta conhecida como resistncia sistmica adquirida, que
resulta em imunidade dos tecidos sadios a um amplo espectro de patgenos,
como vrus, bactrias e fungos, e no somente quele que desencadeou a respos-
ta inicial de defesa. [CH 159 /0 abril/2000]
S os fungos realizam a nutrio hetertrofa
ou ela encontrada em outras formas de organismos?
A nutrio hetertrofa por absoro realizada por
fungos filamentosos, leveduras (fungos no filamen-
tosos), bactrias, actinomicetos (grupo es-
pecial de bactrias) e alguns protistas.
Entre os protistas, os coanoflagelados geralmente fazem
fagocitose (processo de ingesto de alimentos slidos pelas
clulas), mas podem realizar a absoro como estratgia
adaptativa temporria. Tambm os representantes dos filos
Hyphochytriomycota e Chytridiomycota (que antes eram classificados
dentro do reino dos fungos) realizam absoro. [CH 155 novembro/1999]
Iracema Helena
Schoenlein-Crusius
INSTITUTO DE BOTNICA,
SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE
DO ESTADO DE SO PAULO
109
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Benedito Corra
INSTITUTO DE CINCIAS
BIOLGICAS,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Quais as micotoxinas mais importantes
e o que elas causam ao organismo humano?
Micotoxinas so substncias
txicas produzidas por fungos
(bolores) contaminantes de
alimentos ou outros produtos agrcolas, capazes de
provocar intoxicaes (chamadas micotoxicoses)
quando ingeridas pelo homem ou animais. Essas to-
xinas podem ser liberadas ainda no campo ou aps a
colheita, no armazenamento, durante o transporte,
no processamento do alimento ou em qualquer fase
de consumo.
O desenvolvimento de fungos txicos e a produo
de micotoxinas dependem de diversos fatores. Mas o
tipo de substrato, a umidade e a temperatura so os
fatores primordiais.
As micotoxinas e seus respectivos produtores po-
dem ser distribudos em trs grandes grupos: o das
aflatoxinas, sintetizadas, principalmente, por
Aspergillus flavus e A. parasiticus; o das ocratoxinas,
produzidas pelos fungos A. alutaceus e A. ochraceus e muitas espcies do gne-
ro Penicillium; e o das fusariotoxinas, produzidas por espcies do gnero
Fusarium. As principais representantes desse grupo so zearalenonas,
tricotecenos e fumonisinas.
Algumas micotoxinas agem inicialmente interferindo na sntese protica,
produzindo necrose da pele, imunodeficincia extrema e problemas neurol-
gicos. O efeito agudo mais freqente a deteriorao das funes heptica e
renal, que em alguns casos pode levar morte. J o efeito crnico de muitas
micotoxinas a induo de cncer, principalmente no fgado.
[CH 175 setembro/2001]
110
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Uma pessoa que nunca teve dengue pode contrair a forma
hemorrgica na primeira contaminao? A infeco tem
alguma relao com a baixa imunidade do organismo?
A resposta para a primeira pergunta sim. Todos os
quatro sorotipos de dengue (1, 2, 3 e 4) podem produzir
formas assintomticas, brandas, graves e fatais. Devem-
se considerar trs aspectos: a) todos os sorotipos podem levar ao dengue grave
na primeira infeco, porm isso ocorre com maior freqncia, aps a segunda
ou terceira infeco, b) h uma proporo de casos de infeco subclnica, em
que as pessoas so expostas picada infectante do mosquito Aedes aegypti, mas
no apresentam a doena clinicamente, embora fiquem imunes ao sorotipo com o
qual se infectaram; isso acontece em 20% a 50% dos infectados, c) a segunda
infeco por qualquer sorotipo do dengue quase sempre mais grave que a pri-
meira, independentemente dos sorotipos e da seqncia dos mesmos; entretan-
to, os tipos 2 e 3 so mais virulentos. importante lembrar que muitas vezes a
pessoa no sabe se j teve dengue: ela pode ter tido a infeco subclnica (sem
sinais e sintomas) ou ter-se infectado com formas brandas da doena, facilmente
confundidas com outras viroses febris agudas.
A resposta para a segunda pergunta no. Pode at ser o contrrio. As formas
mais graves do dengue poderiam estar associadas a uma excessiva resposta imuno-
lgica do organismo ao vrus, que acaba por prejudicar o paciente. como se hou-
vesse uma hipersensibilidade ao vrus, uma reao das clulas de defesa do orga-
nismo (linfcitos e macrfagos) atravs da produo de substncias (cininas) res-
ponsveis pelo processo de aumento da permeabilidade vascular, levando perda
de lquidos do contedo vascular para fora dos vasos, provocando queda da pres-
so arterial e choque causa principal do bito, e no a hemorragia.
Felizmente, as formas graves so raras e variam de 0% a 10% dos casos duran-
te epidemias. A forma hemorrgica (dengue vem da palavra dengo, gnero mas-
culino, de origem africana), por definio da Organizao Mundial da Sade, ca-
racteriza-se pela concomitncia de alteraes laboratoriais: diminuio de
Keyla Marzochi
INSTITUTO DE PESQUISA
CLNICA EVANDRO CHAGAS,
FUNDAO OSWALDO CRUZ/RJ
111
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
plaquetas para menos de 100 mil, elevao
de hematcritos acima de 20% (hemocon-
centrao), e de alteraes clnicas associa-
das sndrome febril, com gravidade vari-
vel. Essa pode ser classificada em: grau 1
hemorragia da pele induzida pela prova do
torniquete ou do lao (deixa-se o manguito
do aparelho de presso arterial entre a pres-
so mxima e a mnima por cinco minutos; a prova positiva se aparecerem na
dobra do cotovelo, em uma rea mnima de 2,5 cm
2
, mais de 20 pontos verme-
lhos, que se denominam petquias); grau 2 a primeira situao somada a he-
morragias espontneas de pele (petquias) e mucosas (nasais, gengivais, au-
mento do fluxo menstrual, sangramento urinrio e/ou vmitos sanguinolentos);
grau 3 acrescentam-se ao quadro anterior derrames cavitrios (pleural,
peritoneal, pericrdico) e/ou sinais de pr-choque (reduo da presso arterial,
do fluxo urinrio e do enchimento capilar, pulso fino e rpido, palidez, extremi-
dades frias, sudorese, sonolncia); grau 4 sinais de choque: agravamento do
quadro, com pulso e presso imperceptveis, ausncia de diurese (fluxo de uri-
na), torpor e perda de conscincia, que podem evoluir para o bito. Essa classifi-
cao, no entanto, tem muitos problemas prticos porque, em significativa parte
dos casos, o paciente pode evoluir, sem apresentar alteraes hemorrgicas clni-
cas ou laboratoriais, para a sndrome de pr-choque ou choque, ou apresentar
outras manifestaes graves (neurolgicas, hepticas e/ou cardacas), tambm
sem ter tido hemorragias prvias.
O dengue clssico caracteriza-se por reduo do nmero de plaquetas e
hemoconcentrao, assim como pela presena da chamada febre do dengue (in-
cio sbito), dores de cabea, musculares, articulares, sseas, abdominais, erup-
es na pele (parecida com rubola), coceira principalmente nas palmas das
mos e nas plantas dos ps , nuseas, vmitos, diarria, tonturas ao sentar ou
levantar, hemorragias induzidas ou espontneas. A febre pode desaparecer no
terceiro dia, mas as manifestaes podem progredir (a presena de febre por
112
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
menos de sete dias, associada a dois ou trs desses sintomas, indica dengue
clssico e deve ser notificado).
A doena evolui para a cura em cinco a sete dias, no mximo 10. Alguns
sintomas podem prenunciar gravidade, mesmo que no haja alteraes labora-
toriais, como vmitos muito freqentes, dor abdominal importante, tonturas
com hipotenso postural, hemorragias. Esses casos devem ficar sob observao
mdica. Alm disso, condies prvias ou associadas, como referncia de den-
gue anterior, idade avanada, hipertenso arterial, diabetes, asma brnquica e
outras doenas respiratrias crnicas graves podem favorecer a evoluo com
gravidade. [CH 181 abril/2002]
Quais so os pases que mais poluem o mundo e de que
maneira o fazem?
A poluio ambiental uma das principais pragas da
civilizao. De modo geral, podemos dividir os poluentes
que mais causam danos aos ecossistemas em dois gran-
des grupos. O primeiro inclui substncias presentes nos efluentes de grandes
reas urbanas, principalmente associadas disposio imprpria de resduos s-
lidos (lixo) e ao tratamento inadequado ou inexistente de esgoto sanitrio.
Os ambientes aquticos, como rios, esturios e reas costeiras, so os mais
afetados. Nesse grupo encontram-se a matria orgnica e o excesso de nutrien-
tes particularmente nitrognio e fsforo , que promovem a
proliferao de algas e plncton em guas naturais. O re-
sultado so ambientes anxicos ou subxicos, ou seja, com
nveis insuficientes de oxignio para o pleno desenvol-
vimento da vida aqutica. Os pases pobres e popu-
losos so os principais agentes desse tipo de polui-
o, cuja causa est diretamente relacionada bai-
xa condio de vida da populao.
Luiz Drude de Lacerda
DEPARTAMENTO DE
GEOQUMICA, UNIVERSIDADE
FEDERAL FLUMINENSE
113
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
O segundo grupo, composto pelos poluentes de origem industrial, inclui subs-
tncias txicas, como metais pesados, gases de efeito estufa e efluentes da agri-
cultura mecanizada. Ao contrrio dos contaminantes do primeiro grupo, cujo
efeito geralmente local ou, no mximo, regional, esses tm o poder de afetar o
ambiente em escala global. Por exemplo: o excesso de nutrientes da agricultura
do meio-oeste norte-americano, drenado para o oceano pelo rio Mississipi,
responsvel por extensas reas de anoxia no golfo do Mxico. A emisso de ga-
ses de efeito estufa (principalmente de dixido de carbono) e de metais pesados
(como o mercrio) para a atmosfera origina-se em grande parte na gerao de
energia pelos Estados Unidos e por pases da comunidade europia, que conso-
mem cerca de 70% dos combustveis fsseis do planeta. [CH 203 /0 abril/2004]
Quando e por que se formou a camada de oznio?
A atmosfera que envolvia a Terra h 4,6 bilhes de anos
era provavelmente constituda de hidrognio e hlio, os
dois gases mais abundantes do universo, e de compostos
de hidrognio, como metano e amnia. Acredita-se que
essa atmosfera primitiva tenha escapado para o espao exterior devido ao calor
da superfcie da jovem Terra e da leveza desses gases. Uma segunda atmosfera
ter-se-ia formado a partir de gases e vapor dgua que ema-
navam das rochas fundidas (magma) no interior da Ter-
ra atravs de vulces e fumarolas da litosfera.
A concentrao de oxignio, o segundo gs mais
abundante no planeta, provavelmente comeou
a ocorrer de modo lento, graas ao processo de
fotodissociao, isto , quebra da molcula de
gua por ftons que compem a radiao solar. O
hidrognio, por ser muito leve, escapou para o es-
pao exterior, enquanto o oxignio se manteve na at-
Luiz Carlos
Baldicero Molion
DEPARTAMENTO
DE METEOROLOGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALAGOAS
114
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
mosfera. A vegetao marinha, atravs da fotossntese, pode ter contribudo para
elevar mais rapidamente a concentrao desse gs. Formado o oxignio, a cama-
da de oznio passou a se estabelecer pelo mesmo processo, tambm chamado
fotlise. Uma molcula de O
2
, constituda de dois tomos de oxignio, quebra-
da pela radiao ultravioleta (UV) do Sol. Os tomos liberados se recombinam
formando oznio (O
3
).
Essa reao fotoqumica s ocorre na estratosfera, entre 20 e 50 km de altura,
pois a regio onde h fluxo intenso de UV. Por absorver UV na produo do O
3
,
a estratosfera se aquece, fica mais leve que os nveis mais altos da troposfera, a
camada mais prxima da superfcie, e o transporte gasoso torna-se muito reduzi-
do entre as duas camadas. Dessa forma, o O
3
se acumula na alta estratosfera,
formando uma camada.
A radiao UV, por conter muita energia, inviabilizaria a vida na Terra. Mas,
como a formao de oznio consome radiao UV, a camada desse gs, to logo
se formou, permitiu que a vida passasse dos oceanos para os continentes. A
camada de oznio filtra, assim, boa parte dos raios ultravioleta, tornando poss-
vel a existncia de vida terrestre.
Essa camada apresenta grande variabilidade, tanto no espao como no tempo,
sendo mais fina nas regies equatoriais e mais espessa nos plos. Pessoas de pele
branca, com baixo teor de melanina, correm o risco de contrair cncer de pele (me-
lanoma) ao se exporem ao sol tropical, j que a camada de O
3
absorve poucos raios
ultravioleta por ser mais fina sobre essa regio. [CH 175 /0 setembro/2002]
Por que o maior buraco da camada de oznio se localiza
na Antrtida, onde quase no h liberao de gases
poluentes?
O nico buraco na camada de oznio situa-se sobre a
Antrtida. Em qualquer outro lugar da Terra, ocorre uma
diminuio lenta e gradual da camada de oznio. A ex-
Volker W.J.H. Kirchhoff
DIVISO DE GEOFSICA
ESPACIAL, INSTITUTO NACIONAL
DE PESQUISAS ESPACIAIS
115
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
plicao para esse fenmeno est nas condies especiais
do plo Sul, que aumentam a eficcia das reaes qumicas,
responsveis pela destruio do oznio na estratosfera. Que
condies so essas? Em primeiro lugar, as temperaturas muito
baixas na estratosfera as menores do planeta produzem as chama-
das nuvens estratosfricas polares, aumentando a eficcia das reaes. Em
segundo lugar, a circulao no plo Sul se d em torno de um ponto chamado
vrtice, que atua como uma espcie de redemoinho, produzindo o isolamento
da regio e deixando as reaes qumicas destrurem o oznio disponvel.
No plo Norte, ao contrrio, a circulao bipolar, o que significa que sempre
h renovao do ar estratosfrico e, com isso, o buraco no se forma. Deve-se
notar que a concentrao dos CFCs (clorofluorcarbonetos) quase a mesma em
qualquer ponto do planeta, porque esses gases tm vida muito longa e podem
viajar no espao durante muito tempo. Isso possibilita uma distribuio mais
equilibrada dos gases poluentes apesar de as principais fontes emissoras es-
tarem no hemisfrio Norte. [CH 172 junho/2002]
O que ocorreria na atmosfera se houvesse uma
quantidade de oxignio superior a 21%?
Com a dinmica da atmosfera, praticamente nada muda-
ria se o aumento fosse discreto. As formas de vida pode-
riam continuar a existir sem grandes alteraes. Se o au-
mento fosse muito grande, por exemplo, de 80% a 100%,
a atmosfera seria altamente inflamvel e letal qualquer fagulha explodiria uma
rea enorme. A atmosfera na Terra provavelmente j teve percentuais maiores
(aproximadamente 32%) durante o perodo Tercirio, quando os dinossauros
dominavam o planeta. Essa grande quantidade de oxignio tambm permitiu a
existncia de grandes insetos, como baratas de 70 cm. Na atual percentagem,
elas morreriam sufocadas. [CH 198 outubro/2003]
Fbio Gonalves
INSTITUTO DE ASTRONOMIA,
GEOFSICA E CINCIAS
ATMOSFRICAS,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
116
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Por que existe inverso trmica na estratosfera?
A atmosfera da Terra se estende por vrios quilme-
tros acima do nvel do mar. Para melhor estud-la, os ci-
entistas convencionaram dividi-la em regies, de acordo
com suas caractersticas e fenmenos. Uma dessas regies a estratosfera, que
se estende em uma faixa entre 12 km e 50 km de altitude.
Na estratosfera encontra-se a camada de oznio, cuja mxima concentrao
est entre 15 km e 30 km de altura. medida que a altitude aumenta, a tempera-
tura atmosfrica diminui fato fcil de perceber quando viajamos para regies
montanhosas, em geral mais frias. Contudo, na regio da estratosfera acima de
15 km ocorre uma inverso de temperatura, ou seja, ela aumenta progressiva-
mente e s volta a diminuir por volta dos 50 km. Isso acontece porque o oznio
absorve a radiao ultravioleta do Sol. Como sua concentrao maior nessa
faixa, ocorre o aumento da temperatura na estratosfera. [CH 194 junho / 2003]
O que ocorreria com o clima se a floresta amaznica fosse
totalmente devastada?
A floresta amaznica ocupa menos de 2% da superfcie
da Terra. Qualquer perturbao em seu territrio dificilmente
causaria impacto em todo o clima mundial. No entanto,
devemos lembrar que a Amaznia muito ativa em termos
Cludio Elias
INSTITUTO DE FSICA,
UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
Carlos Nobre
CENTRO DE PREVISO DE
TEMPO E ESTUDOS CLIMTICOS,
INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISAS ESPACIAIS/ SP
117
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
meteorolgicos. A mdia anual de precipitao pluviomtrica na regio de 2,3 m,
ao passo que no resto do planeta de 1 m. Teoricamente, alteraes na vegetao
da superfcie poderiam comprometer a evaporao e, por conseguinte, as chuvas.
Estudos indicam que o desmatamento completo da Amaznia causaria um au-
mento na temperatura do ar de at 2
o
C e, possivelmente, uma reduo de 10% a
20% das chuvas na regio. Isso iria gerar uma tendncia savanizao, isto ,
a predominncia de vegetao de cerrado mesmo que as rvores tentassem cres-
cer em reas de agricultura ou pastagens.
A diminuio das chuvas tambm poderia,
em princpio, alterar o clima em pontos mais
distantes do planeta, mas a cincia ainda
no conseguiu prever quais regies seriam
afetadas. [CH 190 janeiro/fevereiro/2003]
Quais so as conseqncias da superpopulao humana
para o planeta?
Superpopulao humana significa excesso de habitantes
em relao disponibilidade de recursos no s ali-
mentares como todos aqueles necessrios para um de-
senvolvimento sustentvel. Algumas de suas conseqn-
cias para o planeta so: demanda crescente de terras para cultivo, degradao
dos solos, escassez de gua, esgotamento de recursos naturais no-renovveis,
poluio ambiental, reduo da biodiversidade e das paisagens naturais, criao
de megalpoles e saturao dos sistemas de educao e sade. Porm, no se
deve deixar de considerar que a distribuio da populao no globo no uni-
forme e o impacto sobre os recursos muito diferente nos distintos pases e em
diferentes regies de cada pas, de acordo com os padres de consumo. At hoje,
foram feitas vrias previses sobre o limite mximo da populao humana, todas
elas imprecisas.
Fernando Dias
Avila Pires
DEPARTAMENTO
DE MEDICINA TROPICAL,
FUNDAO OSWALDO CRUZ
118
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Em 1749, o sueco I. J. Birberg, doutorando em botnica da Universidade de
Uppsala, formulou uma tese sobre o que se denominava, na poca, economia da
natureza. Ele afirmava que, sob a regncia do soberano criador, plantas, animais
herbvoros e carnvoros se manteriam em equilbrio perfeito.
Um sculo depois, medida que eram formulados os primeiros conceitos da
ecologia, essa idia de um equilbrio natural estvel foi sendo substituda
pela constatao cientfica de que freqentemente ocorrem aumentos e redu-
es no nmero de indivduos das populaes naturais, o que pode resultar em
extines locais ou at mesmo totais. Fsseis de espcies extintas confirmam
esses dados.
No final do sculo 18, o clrigo ingls Thomas R. Malthus (1766-1834) publi-
cou um pequeno ensaio, no qual levantou a hiptese de que a espcie humana
tenderia a se reproduzir alm do que permitem os recursos disponveis para sua
sobrevivncia. As conseqncias disso seriam fome, misria, epidemias e guerras.
At hoje Malthus citado por demgrafos, economistas, ambientalistas e especi-
alistas de diversas reas nas discusses sobre crescimento populacional e anlise
de recursos.
Crticos do maltusianismo alegam que o homem desenvolveu mtodos para
incrementar a produo de alimentos e a utilizao dos recursos naturais
renovveis ou no. Neomaltusianos, por sua vez, pregam o controle da natalida-
de e o planejamento familiar para evitar os malefcios do aumento populacional.
As relaes entre populao humana
e ambiente, entretanto, so extrema-
mente complexas e no podem ser
reduzidas a equaes simplistas.
Quem quiser se informar mais po-
de consultar o recente relatrio da
ONU sobre a populao mundial no
site www.unfpa.org/swp/2001/
english/ch01.html.
[CH 183 junho/2002]
119
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
As plantaes de arroz esto relacionadas com o aumento
do gs metano na atmosfera terrestre, participando
assim do efeito estufa?
Quando se ouve falar de efeito estufa, as primeiras idias
que vm mente so derretimento de calotas polares, au-
mento do nvel do mar, desastres naturais... Um caos, enfim,
para a humanidade. Mas, de fato, foi o efeito estufa que
transformou a Terra, um possvel pedao de gelo, em um planeta habitvel. Sem ele,
a temperatura mdia da superfcie do planeta seria de -18C, em vez de 15C.
O metano (CH
4
), tambm chamado gs do pntano, um dos gases de efeito
estufa. Sua concentrao, estimada em 1,72 ppm (parte por milho), vem cres-
cendo na razo de 0,9% ao ano. Quando reas de plantios so alagadas, a decom-
posio vegetal promove a formao de CH
4
. Isso pode ocorrer naturalmente
como, por exemplo, durante as cheias peridicas de vrzeas ribeirinhas na Ama-
znia e no Pantanal Mato-grossense ou em decorrncia da ao humana. So
exemplos do ltimo caso o plantio de arroz em rea alagvel ou a construo de
lagos artificiais que inundam florestas. Outras fontes de CH
4
so a queima de
biomassa, os gases entricos de animais, os cupins e os oceanos.
Os cientistas atribuem a elevao de sua concentra-
o ao aumento da produo de alimentos, como ar-
roz e gado. Estima-se que a contribuio das planta-
es de arroz seja de 20% e a da criao de gado gire
em torno de 14%. Mas pode haver tambm contribui-
es naturais. Observou-se que a segunda metade do
sculo 20 foi mais chuvosa que a primeira, o que teria
provocado o aumento de reas alagveis. Observou-
se tambm, tomando como base o incio e o fim do
sculo 20, que a temperatura mdia da superfcie dos
oceanos subiu 0,6C. Esse aumento reduziu a capaci-
dade dos oceanos de absorver carbono, e eles passa-
Luiz Carlos
Baldicero Molion
DEPARTAMENTO
DE METEOROLOGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALAGOAS
120
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
ram, como um refrigerante aquecido, a expulsar o gs em soluo, provocando o
acmulo de mais CH
4
na atmosfera.
A concentrao de metano ainda pequena, mas, em princpio, seu aumento
seria mais eficiente para intensificar o efeito estufa do que o de gs carbnico
(CO
2
). Afinal, 1 kg de metano e 58 kg de CO
2
absorvem igual quantidade de ra-
diao. Mas sua ao teria mais impacto em regies temperadas e polares, cuja
atmosfera concentra pouco vapor dgua. A banda de absoro do CH
4
, vale lem-
brar,
se sobrepe do vapor dgua, o gs-estufa mais abundante da Terra.
[CH 173 julho/2001]
Pases em pequenas ilhas podem ser submersos
pelo aquecimento global?
Recentemente os presidentes da Micronsia
e das Ilhas Maldivas pediram socorro na ONU, temendo
a submerso dessas ilhas do Pacfico em virtude
do aquecimento da Terra e do conseqente degelo
das calotas polares. Consta que o arquiplago
da Micronsia j teve dois atis engolidos pelo mar.
verdade que os oceanos tero aumentado entre
30 a 100cm em 2100 por causa do aquecimento global?
O projetado aquecimento global entre 1,5C e 4,5C
e o conseqente aumento dos nveis dos mares entre 30cm
e 100cm, em virtude da expanso trmica de suas guas
para o fim do prximo sculo baseia-se na hiptese de
a concentrao do gs carbnico (CO
2
) vir a dobrar em funo das atividades
humanas e resulta de simulaes feitas com modelos globais de clima (MCG).
Primeiro, o fato de o CO
2
ter aumentado em cerca de 13% nos ltimos 40 anos
no garante que sua concentrao continuar a aumentar no futuro. Segundo, os
modelos usados para testar tal hiptese so ainda muito imperfeitos e seus re-
Luiz Carlos
Baldicero Molion
DEPARTAMENTO
DE METEOROLOGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALAGOAS
121
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
sultados apresentam muitas disparidades
quando comparados entre si. Portanto, sob
uma anlise cientfica, isenta de tendncias,
no h garantia de que o aquecimento global
e suas conseqncias venham a ocorrer. Por
outro lado, mostramos h dois anos que 80%
do aquecimento de 0,5C observado nos l-
timos 150 anos ocorreu entre 1915 e 1945, quando a humanidade lanava na
atmosfera menos de 20% do carbono liberado atualmente. E que esse perodo
coincide com uma grande reduo de atividade vulcnica, que resultou numa
atmosfera mais transparente, na maior entrada de radiao solar no sistema Ter-
ra-atmosfera e no conseqnte aumento de temperaturas do ar e dos oceanos,
alm do aumento da prpria concentrao de CO
2
na atmosfera.
A causa mais provvel dos riscos de submerso das ilhas do Pacfico o afunda-
mento de placas tectnicas. A superfcie terrestre um slido no contnuo com
cerca de 20 placas gigantes que se movimentam. Se a placa da Amrica do Sul, por
exemplo, sofrer um afundamento de um milionsimo de grau, o nvel dos mares na
costa brasileira subiria de 5cm a 10cm. Outro exemplo: o nvel do mar est dimi-
nuindo na costa norte da Venezuela e aumentando em sua costa oeste. Portan-
to, tanto o aquecimento global observado como os movimentos tectnicos so
fenmenos naturais. Isso no quer dizer que no devamos tomar os cuidados ne-
cessrios para garantir as condies de vida no planeta. [CH 132 - Outubro/1997]
Quais so os riscos de uma futura falta dgua mundial?
Os riscos de uma possvel falta dgua so elevados, pois
apenas 2,7% do total de gua existente na Terra cor-
responde gua doce. Dessa parcela, 76,6% encontram-
se sob forma de gelo acumulado nas calotas polares e nas
altas montanhas. Portanto, somente uma pequena parte (menos de 1%) de toda
Vinicius Farjalla
e Francisco
de Assis Esteves
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
122
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
a gua existente em nosso planeta est disponvel para o consumo humano.
Devido intensificao dos processos de degradao dos corpos dgua pela
ao do homem, grande parte da gua doce disponvel est seriamente contami-
nada, principalmente os corpos prximos s cidades. Por isso, acredita-se que a
crise da gua ser uma das grandes questes do sculo 21.
Porm, essa crise ainda pode ser evitada. A primeira medida cessar o despejo
de esgotos no-tratados e de outros contaminantes nos corpos dgua. Deve-se
tambm alterar o gerenciamento desses corpos e, principalmente, de suas bacias
de drenagem. Na Europa, tm sido observados exemplos positivos no geren-
ciamento e manejo de importantes bacias e rios multinacionais, altamente polu-
dos, como as bacias dos rios Danbio e P, situadas justamente nos pases que,
naquele continente, seriam os mais afetados por uma possvel crise da gua. A
multinacionalidade dos grandes corpos dgua europeus, aliada ao fato de a
gua ser um recurso natural estratgico para qualquer pas, pode, em um futuro
prximo, desencadear uma guerra mundial. [CH 169 maro/2001]
Est diminuindo a quantidade de peixes no mar
devido pesca predatria?
O fenmeno tambm ocorreria na costa brasileira?
Primeiro, vamos deixar claro que toda pesca preda-
tria, pois predao ocorre quando um animal se ali-
menta de outro. Assim, o homem ali-
menta-se dos peixes atravs da pesca.
Em todo o mundo, a quantidade de peixes vem gra-
dativamente diminuindo nos mares (e rios), dada a dificul-
dade que temos em manejar os estoques pesqueiros de modo
adequado devido a presses polticas, falta de conhecimento
da biologia bsica de algumas espcies e, em muitas situa-
es, por simples descaso. Mesmo aqueles estoques muito bem
Miguel Petrere Jr.
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA DE RIO CLARO (SP)
123
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
estudados do hemisfrio Norte, como os do linguado, bacalhau, arenque, etc., explo-
rados por frotas pesqueiras internacionais dos pases mais ricos, esto superexplo-
rados e alguns deles esto comercialmente extintos h bastante tempo.
No Brasil, embora o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renovveis) atue com grande competncia e responsabilidade
no manejo de nossos estoques, esse problema agravado porque nosso mar
predominantemente tropical, com estoques de baixa densidade natural.
Assim, as capturas de espcies mais valiosas, como a piramutaba e a lagosta,
por exemplo, no momento, ultrapassam o rendimento mximo sustentvel, que a
quantidade indicada pelos especialistas para ser capturada sem provocar danos,
em alguns casos irreversveis, ao estoque pesqueiro. [CH 135 janeiro/fevereiro/1998]
A fumaa de combusto do lixo domstico txica?
As cinzas de plsticos tm substncias nocivas s plantas?
O que fazer com o papel alumnio?
A queima de qualquer resduo ao ar livre considerada
fonte de poluio, independentemente de sua quanti-
dade ou composio. Certamente a presena de plsticos,
e especialmente de produtos e embalagens de PVC, torna a fumaa dessa queima
ainda mais txica. A queima de lixo, apesar de prtica comum tanto nas cidades
quanto na zona rural, proibida no estado de So Paulo (Decreto n 8.468/76).
As cinzas resultantes do processo de combusto podem conter metais pesa-
dos (originrios dos plsticos ou de sua pig-
mentao), que contaminam o solo, as guas
subterrneas e a vegetao. O aproveitamento
dessas cinzas e de seus nutrientes no solo, ainda
que para fins de reflorestamento ou jardina-
gem, e no para alimentao, requer uma an-
lise especfica do grau de toxicidade.
Patricia Blauth
PROGRAMA USP RECICLA,
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
124
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
Quanto ao papel alumnio, esse material no se degrada com os resduos
orgnicos separados para compostagem. Considerando que, em muitos muni-
cpios, a coleta regular de lixo no atende zona rural, o alumnio, bem como
os demais metais e vidros, deveria ser separado do restante dos resduos e
levado para a cidade. Com isso em mente, por que no separar tambm plsti-
cos e papis? E, melhor ainda, por que no pesquisar alternativas para a
reciclagem desses materiais, encaminhando-os a catadores, sucateiros ou fer-
ros-velhos da regio? [CH 151 julho/1999]
O que dioxina e que danos causa sade?
Dioxina o nome genrico dado s dibenzo-p-dioxinas
policloradas, compostos qumicos com dois anis de car-
bono semelhantes ao do benzeno, ligados por dois to-
mos (pontes) de oxignio. So contaminantes ambientais onipresentes, com
efeitos txicos sobre os seres vivos, inclusive o homem. Embora no sejam pro-
duzidos intencionalmente (no tm utilidade conhecida), so subprodutos de
vrios processos, como a queima de matria orgnica na presena do cloro (inci-
nerao de lixo, por exemplo), a sntese de compostos organoclorados e o bran-
queamento de papel com cloro.
O termo policlorada indica a presena, nos anis, de tomos de cloro substi-
tuindo tomos de carbono. O nmero e a posio desses tomos de cloro varia,
permitindo formar 75 dibenzo-dioxinas diferentes. Propriedades fsicas e qumi-
cas (e efeitos biolgicos) muito semelhantes aos das dioxinas so apresentados
tambm pelos dibenzo-furanos policlorados, compostos com estrutura parecida
neles, os anis so unidos por uma ponte do tipo furano (que envolve apenas
um tomo de oxignio). Dependendo do nmero e da posio dos tomos de
cloro, pode-se ter 135 dibenzo-furanos diferentes.
As dibenzo-dioxinas e os dibenzo-furanos mais txicos tm quatro ou mais
tomos de cloro. A 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-dioxina (ou 2,3,7,8-TCDD) a
Francisco Paumgartten
LABORATRIO DE TOXICOLOGIA
AMBIENTAL/ENSP,
FUNDAO OSWALDO CRUZ
125
5
.
B
I
O
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
E
A
M
B
I
E
N
T
E
mais perigosa, mais persistente no ambiente e tambm a mais estudada, mas
seus efeitos txicos variam muito entre os diferentes animais de laboratrio. A
DL50 (dose que mata 50% dos animais expostos), por exemplo, varia de 0,6 mg/
kg de peso corporal na cobaia a 5.051 mg/kg no hamster. Tomando a cobaia
como referncia, pode-se dizer que a TCDD uma das substncias mais txicas
conhecidas. Em animais, causa rpida perda de peso, atrofia do timo, malformaes
nos fetos, cncer e alteraes no fgado. No homem, a nica doena especfica
at agora atribuda TCDD a cloracne, grave afeco da pele, com leses seme-
lhantes da acne observada, por exemplo, nos acidentes industriais de Seveso
(Itlia) e Hamburgo (Alemanha). Estudos epidemiolgicos, porm, sugerem que
a alta exposio 2,3,7,8-TCDD aumenta o risco de cncer.
Dibenzo-dioxinas e dibenzo-furanos so muito estveis e resistentes degra-
dao por seres vivos e por agentes fsicos (luz, calor etc.), permanecendo por
longo tempo no solo e em sedimentos. Nos seres vivos, esses compostos concen-
tram-se no tecido gorduroso e acumulam-se ao longo da cadeia alimentar (pas-
sam dos animais menores para seus predadores, sucessivamente). A principal
fonte de contaminao humana so os alimentos de origem animal (leite e deri-
vados, carnes, ovos etc.).
Como as relaes dose-efeito em seres humanos so pouco conhecidas, o ris-
co das dibenzo-dioxinas e dibenzo-furanos tem sido avaliado basicamente a par-
tir de estudos experimentais em animais. A avalia-
o, portanto, est sujeita s incertezas de qualquer
comparao entre espcies e depende do modelo ma-
temtico usado. Por isso, as estimativas de risco de
cncer geram controvrsias entre organismos inter-
nacionais: a ingesto de TCDD, que se acredita estar
associada a um aumento de risco de cncer de 1 em
1 milho, varia de menos que 0,01 pg por quilo de
peso e por dia (para a Agncia Ambiental Norte-ame-
ricana) a 10 pg/kg/dia (para a Organizao Mundial
de Sade). [CH 153 setembro/1999]
Você também pode gostar
- VLT DE CAMPINA GRANDE - Estudos PreliminaresDocumento70 páginasVLT DE CAMPINA GRANDE - Estudos PreliminaresengeruyAinda não há avaliações
- Propriedades Dos Materiais PDFDocumento9 páginasPropriedades Dos Materiais PDFFernanda GuerraAinda não há avaliações
- Master BIM - IPOGDocumento20 páginasMaster BIM - IPOGGrover FmzAinda não há avaliações
- Inteligencia Artificial - ABNTDocumento23 páginasInteligencia Artificial - ABNTfabricioasg350% (2)
- Exercciosdensidadeemudanasdeestadofisico 120320203714 Phpapp02Documento1 páginaExercciosdensidadeemudanasdeestadofisico 120320203714 Phpapp02Fernanda GuerraAinda não há avaliações
- Recuperação FinalDocumento2 páginasRecuperação FinalFernanda Guerra100% (1)
- Avaliação 4 BimestreDocumento2 páginasAvaliação 4 BimestreFernanda GuerraAinda não há avaliações
- Prova 3 Bimestre BiologiaDocumento2 páginasProva 3 Bimestre BiologiaFernanda GuerraAinda não há avaliações
- Prova de Ciências 3b 9b e CDocumento2 páginasProva de Ciências 3b 9b e CFernanda GuerraAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido - FotossinteseDocumento2 páginasEstudo Dirigido - FotossinteseFernanda GuerraAinda não há avaliações
- Experimentos AiqDocumento146 páginasExperimentos AiqtarzammAinda não há avaliações
- Neiva Vieira Da Cunha & Marco Antonio Da Silva Mello - Novos Conflitos Na Cidade. A UPP e o Processo de Urbanização Na FavelaDocumento31 páginasNeiva Vieira Da Cunha & Marco Antonio Da Silva Mello - Novos Conflitos Na Cidade. A UPP e o Processo de Urbanização Na FavelaFelipe Berocan VeigaAinda não há avaliações
- Análise e Descrição de CargosDocumento10 páginasAnálise e Descrição de Cargosjadiel18100% (1)
- 3 A Indisciplina Na Escola Causas Prevenções e Enfrentamento PDFDocumento13 páginas3 A Indisciplina Na Escola Causas Prevenções e Enfrentamento PDFAdailton MoraisAinda não há avaliações
- Iff 2022Documento15 páginasIff 2022Junior FariaAinda não há avaliações
- Playful Learning - En.ptDocumento16 páginasPlayful Learning - En.ptAna Luiza Silva LimaAinda não há avaliações
- Estagio Campo EnfermagemDocumento7 páginasEstagio Campo EnfermagemArleno TenAinda não há avaliações
- Reducao de Riscos de Desastres Nas Escolas 0Documento6 páginasReducao de Riscos de Desastres Nas Escolas 0pc1957Ainda não há avaliações
- Especialidade de Linguagem de Sinais Básica e Avançada RespondidaDocumento2 páginasEspecialidade de Linguagem de Sinais Básica e Avançada RespondidaGislaine100% (1)
- Paulo Marcos PereiraDocumento146 páginasPaulo Marcos Pereiraronan faris marinhoAinda não há avaliações
- Trabalho PTIDocumento15 páginasTrabalho PTIrenanAinda não há avaliações
- Psicanalise e Formação de ProfessoresDocumento14 páginasPsicanalise e Formação de ProfessoresWalkíria MartinsAinda não há avaliações
- O Estresse Do Profesdor Frente Ao Mau Comportamento Do AlunoDocumento25 páginasO Estresse Do Profesdor Frente Ao Mau Comportamento Do Alunopinus_elliotiAinda não há avaliações
- Corações e MentesDocumento84 páginasCorações e MentesMARGARETE AGOSTA DE ARRUDAAinda não há avaliações
- Relatório de Estágio Hospitalar FundamentadoDocumento7 páginasRelatório de Estágio Hospitalar FundamentadoLeandro TheodoroAinda não há avaliações
- Exercícios Sobre Vozes VerbaisDocumento4 páginasExercícios Sobre Vozes VerbaisJoão Pedro NardyAinda não há avaliações
- Diploma Ministerial de 13 12 2021Documento2 páginasDiploma Ministerial de 13 12 2021Carlos BoaAinda não há avaliações
- Integração e de Devolução de PoderesDocumento10 páginasIntegração e de Devolução de PoderesCelcio100% (2)
- A Revolucao Chinesa PDFDocumento98 páginasA Revolucao Chinesa PDFhugosuppo@mac.comAinda não há avaliações
- GT4 - ArteDocumento17 páginasGT4 - ArteElengleides CoelhoAinda não há avaliações
- 2per Matematica 2 FichaDocumento10 páginas2per Matematica 2 FichaLuisa FigueiredoAinda não há avaliações
- PROVA 92 2021 - Superintendente CoordenadorDocumento8 páginasPROVA 92 2021 - Superintendente CoordenadorWalquiria CarvalhoAinda não há avaliações
- Relationships Between Pre-Service Teachers' Emotions and Beliefs About Learning and Teaching EnglishDocumento168 páginasRelationships Between Pre-Service Teachers' Emotions and Beliefs About Learning and Teaching EnglishNeide RodriguesAinda não há avaliações
- Tese ReferenciaDocumento337 páginasTese ReferenciajoyceAinda não há avaliações
- A Mercadorização Do Belo e Do Corpo Na Sociedade Do CapitalDocumento7 páginasA Mercadorização Do Belo e Do Corpo Na Sociedade Do CapitalEldernan Dos Santos DiasAinda não há avaliações
- Ficha de Verificacao Da Leitura de A SAGADocumento4 páginasFicha de Verificacao Da Leitura de A SAGARute CostaAinda não há avaliações
- CICLO DE APRENDIZAGEM - Kolb PDFDocumento7 páginasCICLO DE APRENDIZAGEM - Kolb PDFsandrobarros25apAinda não há avaliações
- Daniel CrizelDocumento109 páginasDaniel CrizelfernandopreparadordegoleirosAinda não há avaliações