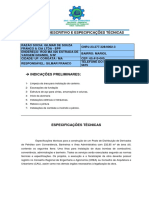Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Segurança Do Trabalho Nas Edificações em Alvenaria Estrutural: Um Estudo Comparativo
A Segurança Do Trabalho Nas Edificações em Alvenaria Estrutural: Um Estudo Comparativo
Enviado por
ElisaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Segurança Do Trabalho Nas Edificações em Alvenaria Estrutural: Um Estudo Comparativo
A Segurança Do Trabalho Nas Edificações em Alvenaria Estrutural: Um Estudo Comparativo
Enviado por
ElisaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PS GRADUAAO EM ENGENHARIA CIVIL
A SEGURANA DO TRABALHO NAS EDIFICAES
EM ALVENARIA ESTRUTURAL:
UM ESTUDO COMPARATIVO
DISSERTAO DE MESTRADO
Andria Moreno do Nascimento
Santa Maria, RS, Brasil
2007
A SEGURANA DO TRABALHO NAS EDIFICAES EM
ALVENARIA ESTRUTURAL:
UM ESTUDO COMPARATIVO
por
Andria Moreno do Nascimento
Dissertao apresentada ao curso de Mestrado do
Programa de Ps Graduao em Engenharia Civil,
rea de Concentrao em Construo Civil e Preservao Ambiental,
Da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como
requisito parcial para obteno do grau de
Mestre em Engenharia Civil
Orientador: Prof. Dr Eduardo Rizzatti
Santa Maria, RS, Brasil
2007
Universidade Federal de Santa Maria
Centro Tecnologia
Programa de Ps-Graduao em Engenharia Civil
A Comisso Examinadora, abaixo assinada,
aprova a Dissertao de Mestrado
A SEGURANA DO TRABALHO NAS EDIFICAES
EM ALVENARIA ESTRUTURAL:
UM ESTUDO COMPARATIVO
elaborada por
Andria Moreno do Nascimento
como requisito parcial para obteno do grau de
Mestre Engenharia Civil
COMISO EXAMINADORA:
___________________________________________________
Professor Eduardo Rizzatti, Dr.
(Presidente/Orientador)
___________________________________________________
Professor Denis Rasquin Rabenchlag, Dr. (UFSM)
___________________________________________________
Professor Marcus Vinicius Veleda Ramirez, Dr. (UNISINOS)
Santa Maria, 23 de maro de 2007.
"Ao longo do meu caminho
interrogo os horizontes:
" Quem vir me ajudar?"
Meu auxlio vem do Senhor,
Criador do Cu e da Terra!
Ele no me deixar tropear,
pois no dorme, mas vela sobre mim.
verdade!
O Senhor no dorme nem se distrai,
mas vela sobre o seu povo.
O Senhor monta guarda a teu lado,
como tua sombra,
est sempre junto de ti de dia e de noite
Ele te protege, afasta de ti todo o mal.
Onde quer que te leve o teu caminho,
Ele te acompanhar
passo a passo."
(Salmo 120...)
Este trabalho dedicado a meus pais Lair e Ernani do Nascimento
AGRADECIMENTOS
Agradeo a Deus pela fora e coragem nos momentos de dificuldade,
abenoando-me e conduzindo-me no caminho da justia e da retido de conduta em
minha profisso.
Aos meus pais Lair e Ernani, pelo apoio, persistncia e insistncia para que
eu nunca perdesse o incentivo e a motivao de atingir este sonho. Em especial a
minha me pelas horas a fio dedicadas a no permitir que eu perdesse o foco.
A minha madrinha e segunda me Doroti dos Santos Lucas pelo amor e pelas
suas oraes em prol de meu sucesso.
Ao meu esposo Leandro Mazzorani, pela compreenso, apoio e pelos
momentos abdicados neste perodo.
Ao professores e amigos Eduardo Rizzatti, Helvio Jobim Filho e Margaret
Souza Schimidt Jobim, pelo acolhimento, orientao e profissionalismo na conduo
da execuo deste trabalho.
Ao funcionrio Eliomar Pappis, pela pacincia e interesse em seu trabalho na
Coordenao do Curso de Ps Graduao.
Aos estagirios do Curso Tcnico em Segurana do Trabalho do Colgio
Nossa Senhora de Ftima, pela colaborao na coleta dos dados.
Enfim, a todos que de uma forma ou outra, participaram, contriburam e
apoiaram-me na elaborao desta dissertao.
Vocs foram especiais! Recebam minha gratido, reconhecimento e
lembrana de que, nos mritos de minha conquista, a muito de suas presenas.
RESUMO
Dissertao de Mestrado
Programa de Ps-Graduao em Engenharia Civil
Universidade Federal de Santa Maria
A SEGURANA DO TRABALHO EM EDIFICAES EM
ALVENARIA ESTRUTURAL UM ESTUDO COMPARATIVO
AUTORA: ANDRIA MORENO DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: PROF DR. EDUARDO RIZZATTI
Data e Local de defesa: Santa Maria, 01 de junho de 2007
Este trabalho teve como objetivo principal analisar a segurana do trabalho no
sistema construtivo em alvenaria estrutural, em comparao ao sistema construtivo
convencional.
Para isso, foram estudados os dois sistemas construtivos, descrevendo as
suas fases de construo e analisando para cada uma, os equipamentos de
proteo individual e coletiva necessrios. Tambm se fez um estudo sobre o
histrico e o estado atual da segurana do trabalho no pas nos ltimos anos.
A partir da pesquisa e de ter sido realizada uma reviso histrica sobre
alvenaria estrutural e suas facilidades construtivas.
A partir deste momento, analisou-se o processo construtivo de duas
edificaes: uma executada a partir do sistema convencional e outra em alvenaria
estrutural. Para cada uma delas, observou-se em cada fase construtiva, a
quantidade de acidentes de trabalho ocorrida.
Com os dados obtidos, pode-se concluir que na alvenaria estrutural, reduziuse a quantidade de acidentes, em comparao ao sistema convencional, e a partir
da, com a anlise grfica, mostrou-se claramente as fases mais periculosas da
execuo de uma edificao.
Enfim, este trabalho buscou diminuir a carncia de estudos sobre segurana
do trabalho na construo civil, especialmente na alvenaria estrutural, no que diz
respeito a quantidade de acidentes, e alm disso, apresentar que, executando este
sistema construtivo, a quantidade de acidentes consideravelmente menor.
Palavras-Chave: alvenaria estrutural; segurana do trabalho; acidentes do trabalho;
equipamentos de proteo.
ABSTRACT
Dissertation of Masters Degree
Program of Masters Degree in Civil Engineering
Federal University of Santa Maria
THE WORKSAFETY IN CONSTRUCTIONS IN STRUCTURAL MASONRY A
COMPARATIVE STUDY
AUTHOR: ANDRIA MORENO DO NASCIMENTO
ADVISOR: PROF DR. EDUARDO RIZZATTI
Date and local of the defense: Santa Maria, June 01, 2007.
This work had as main objective to analyze the worksafety in the constructive
system in structural masonry, in comparison with the conventional constructive
system.
For that, they were studied the two constructive systems, describing your
construction phases and analyzing for each, the equipments of individual and
collective protection necessary. It was also made a study on the report and the
current state of the worksafety in this country in the last years besides a historical
revision it was accomplished on structural masonry and your constructive means.
Starting from this moment, the constructive process of two constructions was
analyzed, an executed starting from the conventional and other system in structural
masonry. For each one of them, was observed, in each constructive phase, the
amount of work accidents happened.
With the obtained data, it can he ended that, in the structural masonry, was
reduced the amount of accidents, in comparison with the conventional system, and,
starting from the there, with the graphic analysis, it was shown the phases more
danger of the execution of a construction clearly.
Finally, this work looked for to reduce the lack of studies on the worksafety in
the building site, especially in the structural masonry, in what tells respect the amount
of accidents, and, besides, to present that, executing this constructive system, the
amount of accidents is smaller.
Work-key: structural masonry; worksafety; work accidents; protection equipaments.
LISTA DE ILUSTRAES
Figura 1 Edificio Monadnock ............................................................................
23
Figura 2 Fachada
62
Figura 3 Fachada
62
Figura 4 Edifcio em Alvenaria Convencional fachada...................................
63
Figura 5 Edifcio em Alvenaria Convencional vista lateral.............................
63
Figura 6 Fachada Convencional (detalhe) .......................................................
64
Figura 7 Edificao em alvenaria estrutural acabada ......................................
64
Figura 8 Interior de uma construo em alvenaria estrutural ..........................
65
Figura 9 Interior de uma construo em alvenaria estrutural vista 2 ............
65
Figura 10 Detalhes do escoramento ................................................................
66
Figura 11 Limpeza do canteiro de obras ..........................................................
66
Figura 12 Escoramento e alvenarias ................................................................
67
Figura 13 Escoramento e alvenarias vista 2 .................................................
67
Figura 14 Armazenamento dos blocos cermicos ...........................................
68
Figura 15 Incio da amarrao dos blocos estruturais .....................................
68
Figura 16 Detalhe da amarrao ......................................................................
69
Figura 17 Andaimes .........................................................................................
69
Figura 18 Colocao das esquadrias ...............................................................
70
Figura 19 Vista do Canteiro de Obras Geral ....................................................
70
Figura 20 Detalhe do bloco cermico (vista lateral) .........................................
71
Figura 21 Detalhe do bloco cermico (vista superior) ......................................
71
Figura 22 Execuo das alvenarias .................................................................
72
Figura 23 Detalhe dos acabamentos ..............................................................
72
Figura 24 Plataformas de proteo (bandejas).................................................
73
Figura 25 Plataformas de proteo (bandejas) vista 2...................................
73
Figura 26 Vista geral das plataformas...............................................................
74
Figura 27 Obra Acabada em Alvenaria Estrutural.............................................
74
LISTA DE GRFICOS
Grfico 1 Anlise dos acidentes observados ...................................................
79
Grfico 2 Quantidade de acidentes por fase de execuo e por tipo de
sistema construtivo .............................................................................................
79
Grfico 3 Percentual de acidentes por fase de execuo Edificao
Convencional ......................................................................................................
80
Grfico 4 Percentual de acidentes por fase de execuo Edificao em
Alvenaria Estrutural ............................................................................................
80
10
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 Anlise dos acidentes observados ...................................................
78
11
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
SOBES Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurana
NR Norma Regulamentadora
EPI equipamento de proteo individual
EPC equipamento de proteo coletiva
UFSM Universidade Federal de Santa Maria
UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos
SESMT Servio especializado em Engenharia de Segurana e Medicina do
Trabalho.
ABNT Associao Brasileira de Normas e Tcnicas
12
SUMRIO
AGRADECIMENTOS .................................................................................................. 5
RESUMO..................................................................................................................... 6
ABSTRACT ................................................................................................................. 7
LISTA DE ILUSTRAES .......................................................................................... 8
LISTA DE GRFICOS ................................................................................................. 9
LISTA DE TABELAS ................................................................................................. 10
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS..................................................................... 11
1. INTRODUO ...................................................................................................... 14
1.1. Consideraes Iniciais .................................................................................... 14
1.2 Justificativa ...................................................................................................... 15
1.3. Objetivos ......................................................................................................... 16
1.3.1. Objetivo Geral .......................................................................................... 16
1.3.2 Objetivos Especficos ................................................................................ 16
1.4. Hiptese.......................................................................................................... 17
1.5 Estrutura do Trabalho ...................................................................................... 17
2. REVISO DE LITERATURA ................................................................................. 19
2.1 A tcnica de construo em alvenaria estrutural ............................................. 19
2.1.1 Histrico .................................................................................................... 21
2.2 A segurana do trabalho .................................................................................. 24
2.2.1 Histrico .................................................................................................... 27
2.2.2 Normas Regulamentadoras....................................................................... 34
2.2.3 Equipamentos de Proteo Individual ....................................................... 41
2.2.4 Equipamentos de Proteo Coletiva: ........................................................ 48
2.2.5 Organizao da Segurana do Trabalho nas edificaes ......................... 52
3. MATERIAL E METODOLOGIA ............................................................................. 54
3.1 Caracterizao do trabalho .............................................................................. 54
3.1.1 Processo Construtivo Convencional .......................................................... 54
3.1.1.1 Fluxo Produtivo ................................................................................... 57
3.1.1.2 Avaliao da segurana do trabalho................................................... 57
3.1.1.3 Equipamentos de Proteo individual (EPIs) ..................................... 58
3.1.1.4 Equipamentos de Proteo Coletiva (EPCs) ..................................... 58
13
3.1.2 Processo Construtivo em Alvenaria Estrutural .......................................... 59
3.1.2.1 Fluxo Produtivo ................................................................................... 60
3.1.2.2 Avaliao da Segurana do Trabalho ................................................. 61
3.1.2.3 Equipamentos de Proteo Individual (EPIs) ..................................... 61
3.1.2.4 Equipamentos de Proteo Coletiva (EPCs) ..................................... 61
3.2 Procedimentos ................................................................................................. 75
3.2.1 Caracterizao dos projetos e estrutura do SESM .................................... 75
4 RESULTADOS E DISCUSSO .............................................................................. 78
4.1 Anlise dos dados............................................................................................ 78
5. CONCLUSO ........................................................................................................ 81
6. REFERNCIAS BIBILIOGRFICAS ..................................................................... 82
14
1. INTRODUO
1.1. Consideraes Iniciais
A anlise e preveno de riscos, nos ltimos anos, tm adquirido importncia
gradativa. Com a implantao das Normas Regulamentadoras de Segurana e
Medicina do Trabalho, pode-se ento ter respaldo legal para investigar acidentes de
trabalho,
minimizar
riscos,
e,
principalmente
proteger
integridade
dos
trabalhadores, atravs do controle de doenas ocupacionais e da cultura do
prevencionismo nas empresas.
Paralelamente, o setor da construo civil tambm tem apresentado, nos
ltimos anos, crescimento e desenvolvimento, em termos de quantidade de novas
edificaes, qualidade dos servios e aplicao de novos conhecimentos
tecnolgicos e de novos sistemas construtivos nas fases de projeto e execuo.
Conforme SAURIN, (2002), desde o incio da dcada de 1990, tm sido
notrios os esforos no setor da construo civil brasileira em busca de melhores
desempenhos em termos de qualidade e produtividade. Neste contexto, as boas
condies de segurana e sade no trabalho vm sendo reconhecidas como um dos
elementos essenciais para que os empreendimentos cumpram suas metas bsicas
de custo, prazo e qualidade.
Do mesmo modo, a alvenaria estrutural surge como uma nova tecnologia no
ramo da construo civil, racionalizando tempo, dinheiro e materiais, reduzindo
custos e aumentando a produtividade.
Porm, as normas regulamentadoras em Sade e Segurana do Trabalho,
bem como os programas prevencionistas de riscos, restringem-se as obras de
alvenaria convencional, no observando que as obras de alvenaria estrutural muitas
vezes podem dispensar certos itens relativos existncia de riscos e aos
equipamentos de proteo, tanto individual como coletiva, justamente por seu
processo econmico e racionalizado de execuo.
Diante desta situao, e pela carncia de estudos semelhantes englobando
segurana do trabalho e alvenaria estrutural, o presente trabalho apresenta um
comparativo entre os dois sistemas construtivos em termos de segurana do
15
trabalho (quantidade de acidentes) e equipamentos de proteo (individual e
coletiva), e, pretende apresentar que, executando projetos em alvenaria estrutural, a
quantidade de acidentes e a necessidade de utilizao de equipamentos
consideravelmente menor.
1.2 Justificativa
O Brasil se encontra longe de proporcionar total preveno nos postos de
trabalho aos operrios da construo civil. Percebe-se que o nmero de aes
indenizatrias de acidentes de trabalho, movidas por empregados contra
empregadores tm aumentado consideravelmente no pas, pelo fato de ser
desconhecida a extenso de aplicabilidade das normas regulamentadoras (NRs),
em especial a NR 06 Equipamentos de Proteo Individual, e a NR18 Condies
e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo.
Mesmo com a aplicao de novos sistemas construtivos que acompanham o
progresso tecnolgico, visando rapidez, a facilidade de execuo, a racionalizao
de custos e a inovao de tcnicas convencionais, como o caso da alvenaria
estrutural, tarefas como o manejo manual de cargas so responsveis por um
considervel nmero de leses e acidentes de trabalho, devido ao fato de no haver
uma padronizao de procedimentos de segurana do trabalho para a alvenaria
estrutural, devido a carncia de estudos especficos analisando a segurana do
trabalho neste tipo de sistema construtivo.
Com esta pesquisa, pretende-se colaborar para serem diminudas estas
carncias citadas, englobando alvenaria estrutural e segurana do trabalho, tendo
em vista que, na literatura so escassos os trabalhos direcionados a orientar os
construtores em termos de segurana do trabalho especificamente nesta rea. O
que encontramos so os Programas de Condies e Meio Ambiente na Indstria da
Construo, exigveis pela NR 18 para empresas construtoras com mais de vinte
trabalhadores em obras, mas o mesmo torna-se amplo, devido ao fato de referir-se
as obras de alvenaria armada, no considerando que a alvenaria estrutural um
sistema construtivo mais racional.
16
Baseado na tendncia natural que a qualidade de vida dos trabalhadores de
uma empresa exerce influencia direta na qualidade dos produtos e servios
oferecidos ao cliente, pretende-se ressaltar os equipamentos e as medidas de
proteo individual e coletiva necessrias a execuo de obras em alvenaria
estrutural e tambm realizar um estudo comparativo de ndices de acidentes de
trabalho entre os dois sistemas.
A importncia deste trabalho ser percebida ao longo do desenvolvimento dos
captulos, aonde iremos aos poucos estabelecer o fluxo construtivo dos dois
mtodos e verificar a racionalidade, a segurana e a eficcia do sistema alvenaria
estrutural, bem como obter, de forma mais clara, informaes sobre os
equipamentos de segurana necessrios em cada caso.
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar, divulgar e validar, pelos
agentes envolvidos, a segurana do trabalho em obras de alvenaria estrutural, no
que tange aos equipamentos de proteo (individual e coletiva), e em quantidade de
acidentes. Pretende-se realizar um estudo comparativo entre o sistema construtivo
em alvenaria estrutural e o sistema convencional, apresentando-os e questionando a
segurana do trabalho nos dois sistemas, buscando concluir que o sistema alvenaria
estrutural alm de mais rpido mais seguro.
1.3.2 Objetivos Especficos
Apresentar os sistemas construtivos em alvenaria estrutural e
convencional;
17
Apresentar e discutir os meios de execuo da segurana do trabalho
em obras de alvenaria convencional e estrutural, conforme as normas
regulamentadoras existentes;
Realizar a anlise dos equipamentos de proteo individual e coletiva,
verificando, atravs do fluxo produtivo, quais so as necessidades para
uma obra de estrutura convencional e para uma obra de alvenaria
estrutural, conforme a legislao vigente;
Estabelecer um estudo comparativo, em termos de acidentes,
procurando analisar a quantidade de acidentes em cada caso;
1.4. Hiptese
Aps a elaborao deste estudo, a hiptese que pretende-se comprovar a
de que a necessidade de equipamentos de segurana do trabalho e a quantidade de
acidentes observada para uma obra em que adota o sistema construtivo em
alvenaria estrutural menor dos comparados com uma obra em que o sistema
construtivo convencional.
1.5 Estrutura do Trabalho
Este presente trabalho, depois de concludas todas as etapas de elaborao,
encontra-se dividido em cinco captulos.
No Captulo 01, encontra-se a introduo, onde alm de ser feita uma breve
explanao sobre o tema, foram definidos os objetivos gerais e especficos deste
trabalho, a justificativa, e estrutura deste, bem como a hiptese que pretende-se
comprovar ao final deste estudo.
No Captulo 02, encontra-se exposta a etapa de reviso bibliogrfica, que
apresenta o sistema construtivo em alvenaria estrutural, com sua evoluo histrica,
bem como, apresenta a segurana do trabalho, tambm com sua evoluo histrica
e sua regulamentao legal. Alm disso, so apresentados os principais
18
componentes da segurana do trabalho: os Equipamentos de Proteo Individual e
Coletiva, e feito uma exposio sobre alguns itens que devem ser observados
quando da organizao da Segurana do Trabalho em uma edificao.
No Captulo 03, encontram-se a metodologia e os materiais utilizados, com a
caracterizao dos sistemas alvenaria estrutural e convencional, e, onde, para cada
um destes sistemas, so apresentados o fluxo produtivo, a avaliao da segurana
do trabalho e os equipamentos de proteo individual e coletiva. Ao final do captulo,
foram expostos os procedimentos utilizados para a coleta de dados, com a definio
dos projetos e a estrutura organizacional de cada um.
No Captulo 04, encontram-se as discusses e os resultados obtidos,
analisando a quantidade de acidentes observada em cada projeto e fazendo a
comparao entre esta quantidade destes acidentes e o tipo de sistema construtivo
adotado.
Encerrando este estudo, no Captulo 05 foram apresentadas as concluses e
as sugestes para os prximos trabalhos.
19
2. REVISO DE LITERATURA
Com o objetivo de dissertar sobre a segurana do processo construtivo em
alvenaria estrutural, em termos de equipamentos de proteo individual e coletiva,
nesta reviso procurou-se estabelecer os conceitos bsicos que regem este modo
construtivo, bem como fazer um paralelo sobre a importncia do estudo da
segurana do trabalho e sua implantao no pas nos ltimos anos.
2.1 A tcnica de construo em alvenaria estrutural
Segundo SABBATINI (1987), A alvenaria constitui-se de um conjunto coeso e
rgido, conformado em obra, de tijolos ou blocos (unidades de alvenaria) unidos
entre si por argamassa.
De uma maneira geral, a alvenaria pode ser definida como um sistema
construtivo que consiste na moldagem de unidades (pedras, tijolos ou blocos) unidas
por um ligante (a argamassa), sendo, sem dvida, um dos mais antigos sistemas
construtivos utilizados pelo homem, tendo suas origens na pr-histria. O homem
primitivo, na falta do seu habitat natural as cavernas -, construiu seus primeiros
abrigos empilhando madeira, pequenas pedras, ou blocos maiores os magalitos.
A alvenaria estrutural consiste de um sistema construtivo racionalizado, no
qual os elementos que desempenham a funo estrutural so de alvenaria,
projetados segundo modelos matemticos pr-estabelecidos. Em funo da
presena ou no de armaduras, a alvenaria pode ser classificada como armada,
parcialmente armada ou no armada.
Em funo do tipo de material empregado, ela pode ser de concreto, cermica
ou slico-calcrio. Conforme o tipo da unidade utilizada, poder ser de blocos ou de
tijolos.
20
Na Alvenaria Estrutural elimina-se a estrutura convencional, o que conduz a
importante simplificao do processo construtivo, reduzindo etapas e mo-de-obra,
com conseqente reduo do tempo de execuo que pode ser estimado em cerca
de 50%. Nas estruturas em concreto armado, exige-se mo-de-obra especializada:
pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador, armador, apontador, alm de serventes
e ajudantes especiais, j na alvenaria estrutural este elenco bem mais reduzido
pela simultaneidade das etapas de execuo, a qual induz a polivalncia do operrio
atravs de fcil treinamento. Assim, na medida em que o pedreiro executa a
alvenaria, ele prprio, por exemplo, pode colocar a ferragem e eletrodutos nos
vazados dos blocos, podendo deixar ainda instaladas peas pr-moldadas como
vergas, peitoris, marcos, etc.
No processo alvenaria estrutural, possvel a aplicao da tcnica de
coordenao modular, que implica em estabelecer todas as dimenses da obra
como mltiplo da unidade bsica. Dessa forma so evitados cortes, desperdcios e
improvisaes.
Os projetos complementares podem ser desenvolvidos na forma de 'Kits'.
Blocos e elementos especiais podem ser definidos e previamente preparados para
posterior utilizao.
SILVA, 2003, concluiu que um aspecto positivo do sistema em alvenaria
estrutural a considervel reduo no nmero de operaes, insumos e
profissionais envolvidos na produo, quando se faz uma comparao com o
sistema construtivo em concreto armado.
A alvenaria estrutural, hoje, sem dvida alguma, um dos sistemas mais
colocados em prtica, na rea da construo civil, qualquer que seja a dimenso da
edificao.
21
Em nosso pas, a partir da dcada de 80, este processo construtivo, por fazer
parte de um sistema de construo industrializado, tem sido aprimorado em sua
utilizao, no que diz respeito ao uso de novos materiais, desde a etapa de
fundaes.
Contudo, por se tratar de um sistema de construo racionalizado, deve ser
aprimorado, com busca de novas solues para os problemas que se detectam em
cada obra, e, estas, por sua vez, constantemente, discutidas pelas equipes tcnicas,
que utilizam a alvenaria estrutural, assim com outras novas solues adotadas, pois
o que se observa que cada nova obra construda, sempre novos problemas so
detectadas pela equipe de campo e, da, surgirem novas solues.
Hoje, o emprego da alvenaria estrutural, com destaque para executada com
blocos de concreto ou cermica, tem sido, evidentemente, um dos elementos mais
significativos j empregados na construo de edifcios residenciais, comerciais ou
industriais.
Enfim, possvel desenvolver um sistema racionalizado que resulta na
melhoria da qualidade do produto final e em significativa economia.
2.1.1 Histrico
At o final do sculo XIX, a alvenaria era um dos principais materiais de
construo empregados pelo homem. A alvenaria foi utilizada pelas civilizaes
assrias e persas desde 10.000 a.C., sendo empregados tijolos queimados ao sol.
Por volta de 3.000 a.C. j estavam sendo utilizados tijolos de barro queimados em
fornos.
22
Grandes obras foram construdas no decorrer dos sculos utilizando a
alvenaria. Entretanto, as construes desta poca eram erguidas segundo regras
puramente empricas e intuitivas, baseadas nos conhecimentos adquiridos ao longo
do tempo.
Entre os sculos XIX e XX, obras de maior porte eram construdas em
alvenaria com base em modelos mais racionais, servindo como exemplo clssico o
edifcio "Monadnock", construdo em Chicago entre 1889 e 1891 com 16 pavimentos
e 65 metros de altura, com paredes de alvenaria no armada de 183 cm de
espessura.
A partir do incio deste sculo, com o advento do concreto e do ao, que
possibilitaram a construo de estruturas esbeltas e de grande altura, a alvenaria
ficou relegada a construes de pequeno porte ou sendo utilizada somente como
elemento de fechamento.
Neste perodo, a alvenaria estrutural no foi tratada na forma de um sistema
construtivo tcnico como as construes de ao e de concreto. Em conseqncia, as
pesquisas e o desenvolvimento da alvenaria estagnou.
Nas dcadas de 50 e 60, caminhou no sentido de vencer o desafio da altura,
empregando estruturas pouco massivas, comparadas com as existentes at aquele
momento, e portanto econmicas em relao as executadas em concreto e ao.
Em 1951, o engenheiro suo Paul Haller dimensionou e construiu na Basilia
um edifcio de 13 pavimentos em alvenaria no armada. Este edifcio considerado
como um marco da alvenaria estrutural no armada. A partir desse perodo, as
pesquisas sobre o comportamento estrutural da alvenaria foram retomadas, sendo
que em 1967 foi realizado o primeiro Congresso Internacional sobre o tema, em
Austin, Texas.
Na Europa, o desafio foi vencido j no fim dos anos 50 pelos suos e no
incio dos anos 60 pelos ingleses com a construo de vrios edifcio de 16 a 20
pavimentos em Alvenaria Estrutural no armada com paredes resistentes de 22,5cm
a 30cm. Na Amrica do Norte, os canadenses e americanos conseguiram marcos
significativos por volta de 1965 com vrios edifcios de at 21 pavimentos e paredes
de espessura em torno de 25 a 38cm de Alvenaria armada.
At quase o final de dcada de 70, os desafios foram o de aperfeioamento
dos modelos temticos de dimensionamento, desenvolver estruturas resistentes a
23
terremotos e edifcios seguros contra colapsos acidentais localizados (exploses,
choques, demolio no planejada de parede com funo estrutural).
Figura 1 - Edifcio Monadnock - Fonte: Manual ABCI
Para SABBATTINI (1987), so marcos importantes desta fase a edio da
norma inglesa BS 5628, primeira a adotar o mtodo dos estados limites, a partir de
estudos desenvolvidos na ndia, Nova Zelndia, Itlia e EUA sobre o comportamento
de edifcios submetidos a sismos e os trabalhos desenvolvidos no laboratrio de
campo de Torphin Quarry Edinburgh com edifcios de 6 pavimentos em escala real.
Para ARAJO, M.M (1987), a histria da alvenaria no Brasil comea com o
Brasil Colnia. As primeiras construes realizadas cumpriam apenas a funo de
abrigo para os primeiros colonizadores portugueses e eram construes toscas,
pouco duradouras, sem nenhuma solidez. Mas, com o interesse crescente na
Colnia, a partir de 1549, j se tem notcias de construes mais slidas,
especialmente fortificaes para proteo do litoral e consolidao da expanso
territorial.
As tcnicas construtivas empregadas derivaram-se quase que totalmente de
Portugal, com pouca influncia de outras culturas, destacando-se a predominncia
de alvenaria de pedra, como citado em ARAJO, M.M (1987):
- Casa de Pedra Praia do Flamengo 1503;
- Igreja da Glria Porto Seguro 1515
24
- Igreja da Misericrdia Porto Seguro 1530
- Torre de Pedra e Cal Olinda 1535
A partir do sculo XVII, torna-se comum o uso da alvenaria de pedra para
elementos estruturais das construes (paredes mestras, pilares, arcadas,
abbadas, etc.). No prdio da antiga Cmara e Cadeia de Vila Rica, atual Museu da
Inconfidncia, h paredes de cerca de 2,5 m de espessura.
Porm, a introduo da alvenaria estrutural no cenrio das tcnicas
construtivas s ocorreu no Brasil a partir da dcada de 60, inaugurando uma nova
etapa desta histria.
Os primeiros prdios em alvenaria armada foram construdos em So Paulo,
no Conjunto Habitacional Central Parque da Lapa, em 1966. Em 1972 foram
construdos quatro edifcios de 12 pavimentos no mesmo conjunto.
J a alvenaria estrutural no armada foi inaugurada no pas no ano de 1977,
com a construo em So Paulo de um edifcio de nove pavimentos em blocos
slico-calcrio. O incio da dcada de 80 marca a introduo dos blocos cermicos
na alvenaria estrutural.
Em 1989 foi editada uma norma nacional, a NB-1228, atual NBR-10837 Clculo de Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto, que trata do clculo
da alvenaria estrutural, armada ou no armada, de blocos vazados de concreto.
Hoje, est sendo redigida, a nova norma para clculo de alvenaria estrutural com
blocos cermicos.
2.2 A segurana do trabalho
A indstria da construo um dos ramos de atividades mais antigos e
importantes economicamente em todo o mundo. No Brasil, a construo civil
emprega 6% dos assalariados, com idade mdia de 34 anos, sendo 98,56%
pertencente ao sexo masculino (SESI, 1991). Atualmente, passa por um grande
processo de transformao em todas as fases do processo de produo: concepo,
planejamento, projetos, suprimentos (materiais, equipamentos e pessoal), execuo,
uso e manuteno. Durante a fase de execuo verifica-se um alto ndice de
acidentes de trabalho e doenas ocupacionais, causadas principalmente pela falta
25
de planejamento adequado, desconhecimento e implementao das condies
legais de gesto da segurana e sade do trabalho.
So inmeros os fatores que colocam em risco a segurana e a sade dos
trabalhadores no canteiro de obra, tais como a falta de controle do ambiente de
trabalho e do processo produtivo e a precria, ou mesmo inexistente, orientao
educativa dos operrios. Por isso, cada vez mais as organizaes empresariais
esto observando a necessidade de realizar investimentos nessa rea.
Como se sabe, segurana do trabalho um assunto bastante abrangente. A
expresso segurana do trabalho foi adotada para todo o conjunto de medidas
preventivas de acidentes de trabalho e de doenas ocupacionais.
Os primeiros servios de segurana do trabalho foram organizados, h
dcadas e espontaneamente por empresas mais interessadas no assunto, quase
sempre em conseqncia das atividades iniciadas pela Comisso Interna de
Preveno de Acidentes (CIPA). De incio indeciso, sem planejamento, sem
definio de responsabilidades, esses servios adquiriram vcios e implantaram
conceitos errneos, que at hoje refletem negativamente na atuao e na aceitao
dessa atividade no contexto administrativo de muitas empresas. Mesmo capacitado,
e bemintencionado, o profissional nem sempre tem oportunidade de apresentar
melhor desempenho, em face desses problemas que emperram o desenvolvimento
das atividades prevencionistas. Se a empresa e os dirigentes entenderem o que
podem esperar e exigir e definirem uma poltica adequada para as atividades
prevencionistas, tero garantido o xito da segurana do trabalho na reduo dos
acidentes e doenas ocupacionais e nos benefcios scio-econmicos dessa
reduo.
Segundo Stleng, 1999, a segurana do trabalho um componente do
processo de produo, primordial no planejamento de uma empresa preocupada
no s com lucros e reduo de retrabalho, como em preservar seu patrimnio
humano e material, garantir a satisfao de seus clientes e apresentar padres
adequados de produtividade com qualidade de servios.
Para Zocchio, 2002, a segurana concreta caracterizada pelas condies
seguras de trabalho e pelo ambiente de trabalho, que as empresas tm obrigao
legal de oferecer aos seus empregados para prevenir acidentes de trabalho e
doenas ocupacionais. J a segurana abstrata, caracterizada pela sensao e
26
sentimento dos trabalhadores quanto proteo que lhes propiciada contra
acidentes e doenas ocupacionais.
Do ponto de vista funcional, segurana do trabalho um conjunto de medidas
e aes aplicadas para prevenir acidentes e doenas ocupacionais nas atividades
das empresas ou estabelecimentos. Tais medidas e aes so de carter tcnico,
educacional, mdico, psicolgico e motivacional, com o indispensvel embasamento
de medidas e decises administrativas favorveis.
Para Pacheco Jr. et al, 2000, alm de ser uma obrigao legal para a
empresa, a segurana do trabalho tambm uma atividade de valor tcnico,
administrativo e econmico para a organizao e de inestimvel benefcio para os
empregados, sua famlias e para a sociedade. No entanto, no tem acompanhado,
em muitos casos, a evoluo tecnolgica aplicada s reas operacionais, como o
caso da alvenaria estrutural. No Brasil, a legislao diz respeito direto s normas
regulamentadoras, e as organizaes nela se baseiam para gerar a segurana do
trabalho. Contudo, para uma empresa que pretende atuar de modo estratgico, tal
conduta comprometedora, principalmente referindo-se aos aspectos legais que
possam estar defasados em relao s normas de gesto e tecnologias mais
recentes. As empresas devem estar atentas existncia da legislao, mas
antecipando internamente suas modificaes e utilizando-as em benefcio de seus
objetivos.
A preveno de acidentes a melhor soluo para garantir a segurana dos
empregados e at mesmo de terceiros. Para Erthal, 1999, alguns dispositivos legais,
que abordam aspectos referentes a integridade fsica dos trabalhadores e garantem
sua sade, devem ser observados sob os seguintes aspectos.
Qualificao profissional dos tcnicos e engenheiros;
SESMT;
CIPA;
Fornecedores com alto desempenho em segurana;
Com relao segurana do trabalho em obras de alvenaria estrutural, no
existem
normas
regulamentadoras
especficas,
que
possam
padronizar
procedimentos. As normas existentes foram criadas para as estruturas ditas
convencionais, mas como sabemos, as fases de execuo de uma obra em
concreto armado convencional so bem diferenciadas entre si e, obrigatoriamente,
na seqncia: execuo de formas, colocao das armaduras, concretagem, retirada
27
das
formas,
alvenaria
de
vedao,
instalaes,
usualmente
com
rasgos
indiscriminados nas paredes. Na alvenaria estrutural, pela simultaneidade das
etapas, ocorre uma economia de tempo que pode chegar a 50%, na execuo, at
as instalaes bsicas, acelerando o cronograma da obra e diminuindo os encargos
financeiros, o que facilitaria a implantao da segurana do trabalho, de forma
preventiva.
2.2.1 Histrico
Na Antigidade no encontramos vestgio em relao legislao de
acidentes do trabalho.
Nas leis das ndias, encontramos alguns antecedentes legislativos. Porm, no
sculo XIII que despontou algo de mais concreto, com o Libro del Consulado Del
Mar que regulou instrues e normas quanto aos acidentes ocorridos com os
trabalhadores martimos, entre as quais a obrigatoriedade do capito fornecer vinho
tripulao, para amenizar o frio. O aspecto preventivo do acidente de trabalho,
nesta poca, j era considerado.
Posteriormente, normas sobre acidentes do trabalho foram se desenvolvendo,
sobretudo na Espanha, e, pouco a pouco, a preocupao com os acidentes do
trabalho transpuseram fronteiras, sendo objeto da apreenso de outros pases. A
evoluo industrial precipitou os fatos.
Na Alemanha, por exemplo, em 1881, foi criado o seguro social e, em 1884,
foi instituda a primeira lei sobre acidentes do trabalho. Assim, foi se impondo um
direito novo, reparador do dano que o acidente do trabalho causava.
A primeira dificuldade que nos defrontamos a de se atingir uma perfeita
conceituao do que constitua acidente do trabalho.
Inicialmente, a indenizao era baseada na prova da culpa do empregador,
cabendo ao empregado o nus da prova. Tambm no ocorria indenizao por
culpa do operrio e nem mesmo quando a ocorrncia do acidente se verificava em
relao ao uso da mquina, caso em que a doutrina vigente inculpava tanto o
empregador como o empregado.
28
Foi penosa a eliminao da Teoria da Responsabilidade baseada na culpa do
empregador, como razo do direito indenizao. Mas, pouco a pouco, foi ela
afastada, com a adoo da Teoria do Risco Profissional, para dar lugar
indenizao, hoje associada Teoria do Risco Social, que deu maior amplitude s
indenizaes acidentrias.
Outras teorias haviam anteriormente sido tentadas em relao infortunstica
do trabalho, entre elas a Teoria Contratual, que inverteu o nus da prova, devendo o
empregador provar no ser culpado, admitindo-se a presuno da culpa do
emprega-dor.
A Teoria do Risco Criado estabelecia que, se empregado e empregador
usufruem dos benefcios da empresa, deveriam suportar juntos os males
decorrentes de sua atividade; a Teoria do Risco da Autoridade, calcada na
subordinao do empregado ao empregador, em decorrncia do contrato de
trabalho; a Teoria do Caso Fortuito que baseada na vantagem do empregador na
utilizao do servio de terceiro e, assim, deve reparar o dano sofrido em
conseqncia da atividade laboral; a Teoria da Eqidade e a Teoria da
Responsabilidade Objetiva, que tm por fundamento o risco que o trabalhador sofre
quando a servio do empregador, foram teorias pouco a pouco ultrapassadas. Esta
ltima teoria foi se desenvolvendo, dando lugar Teoria da Responsabilidade
Profissional, que alguns autores denominam de Teoria do Risco da Empresa. Por
fim, adveio a Teoria do Risco Social, associando-se Teoria do Risco Profissional,
que se fundamenta na responsabilidade coletiva pelos riscos sociais, sendo um dos
grandes precursores dessa Teoria o Professor Celso Barroso Leite. Estas teorias
fundamentaram, juridicamente, o dever da indenizao acidentria.
No Brasil, a primeira lei brasileira sobre acidentes do trabalho foi a de n.
3.724, de 15 de janeiro de 1919, aps 15 anos de apresentao do primeiro projeto
nesse sentido, que se verificou em 1904, de autoria do deputado Medeiros e
Albuquerque, alm de vrios outros que tambm no frutificaram. O projeto que
gerou a primeira lei acidentria foi o destacado do Projeto n. 239, de 1918, que
tambm estabelecia a adoo de normas sistemticas sobre Direito do Trabalho,
tendo sido bipartido em dois projetos distintos. Merece destaque o trabalho
desenvolvido por Prudente de Morais, que, com brilhantismo, o sistematizou com
profundidade e clareza.
29
A lei de 15 de janeiro de 1919 adotou como fundamento jurdico, a "Teoria do
Risco Profissional", doutrina vigente na Europa sobre infortunstica, iniciada na
Alemanha em 1884, e consolidada por deciso da Corte de Cassao da Frana,
em 1896.
Ela se fundamenta no fato de que, como o empregador que goza a
vantagem dos lucros, ele que deve responder por todos os riscos derivados da
atividade da empresa, entre eles, o de acidentes do trabalho, no importando saber
se houve culpa e nem mesmo de quem.
Considerava doena profissional "molstia contrada exclusivamente pelo
exerccio do trabalho, quando este for de natureza a s por si caus-la", no
considerando, pois, a doena profissional atpica. No exigia o seguro obrigatrio.
Como garantia da indenizao, disps to somente que o crdito dela originrio era
privilegiado e insuscetvel de penhora.
No entanto, alargou a rea de atuao do empregado, para efeito
indenizatrio, usando a expresso "no exerccio do trabalho", o que alcanava o
trabalhador em qualquer momento, fora ou dentro da empresa, no tendo usado a
expresso "no local e durante o trabalho", como algumas legislaes, o que so
coisas diversas.
Nada dispe sobre o concurso de indenizao acidentria e a indenizao do
direito comum. Nesse mesmo ano, em 5 de maro, foi editado o Decreto de n.
13.493, que reduziu substancialmente o limite de indenizao a ser paga ao
acidentado.
A segunda lei de Acidentes do Trabalho foi o Decreto n. 24.637, de 10 de
julho de 1934, oriundo de um Anteprojeto de uma Comisso Tcnica presidida por
Evaristo de Moraes, aps outros 3 anteriores, que no passaram de simples
tentativas. Esta lei identifica o acidente do trabalho com a leso, quando, na
verdade, so conceitos distintos. Excluiu expressamente qualquer responsabilidade
de direito comum do empregador, pelo mesmo acidente.
Esta lei no definiu de forma precisa o que constitua acidente do trabalho e
no enfocou a preveno contra acidentes do trabalho e higiene do trabalho e muito
menos a reabilitao dos mutilados.
Para garantia do pagamento do acidente, obrigou o empregador a optar entre
o depsito obrigatrio no Banco do Brasil ou na Caixa Econmica Federal e o
seguro a ser feito em empresa seguradora privada.
30
A lei acima vigorou at a promulgao do Decreto-Lei n. 7.036, de 10 de
novembro de 1944, fruto do Anteprojeto elaborado por comisso nomeada por
Alexandre Marcondes Filho, ento Ministro do Trabalho, Indstria e Comrcio.
O Decreto-Lei n. 7.036 sofreu vrias alteraes decorrentes dos DecretosLeis ns. 7.527, de 07.05.1945 e 7.551, de 15.05.1944, e foi regulamentado pelo
Decreto n. 18.809, de 05.06.1945, que ampliou o conceito de acidente do trabalho,
adotando a teoria das concausas. Tambm ampliou o campo de aplicao do
acidente do trabalho aos servidores pblicos, no sujeitos ao regime estatutrio.
Durante a vigncia deste Decreto, foi-se notando, na legislao nacional, uma
tendncia de excluso das seguradoras privadas quanto ao seguro de acidentes do
trabalho, no sentido de dar-se, em futuro, Previdncia Social, o monoplio desse
seguro (Lei n. 599-A, de 26.12.1948, Decreto n. 31.984, de 23.12.1952, Lei n.
1.985, de 19.09.1953).
Pela Lei n. 5.161, de 21.10.1966, foi criada a FUNDACENTRO - Fundao
Centro Nacional de Segurana, Higiene e Medicina do Trabalho.
Sobreveio aps, inesperadamente, o Decreto-Lei n. 293, de 28 de fevereiro
de 1967, com apenas 39 artigos, que determinou o princpio da livre competio,
dando uma guinada de 180 graus em relao poltica acidentria que naquele
momento predominava, revogando, outrossim, a legislao anterior de qualquer
natureza, relativa a Acidentes do Trabalho. Esta lei somente usa a expresso
"perturbao funcional", tendo eliminado a expresso "doena", atendendo a crtica
a respeito, anteriormente observada.
Sua vida, porm, foi curta. Em menos de sete meses entrou em vigor a Lei n.
5.316, de 14 de setembro de 1967, conservando como fundamento jurdico a Teoria
do Risco Profissional, agora ampliada pela maior extenso dada Teoria do Risco
Social, justificando, desse modo, uma proteo mais abrangente em relao ao
acidente de trajeto.
Com esta lei, permaneceram dois sistemas de seguro contra acidentes do
trabalho, distintos entre si, com reas prprias e de vigncia simultnea.
Assim, considerando que, pelo menos a partir de 1 de julho de 1969,
nenhuma seguradora privada deu cobertura aos riscos de acidentes do trabalho, por
lhe ser taxativamente proibido, uma vez que j vigorava o monoplio total pela
Previdncia Social, afastado est o acidente tpico a ser coberto pelo Decreto-lei n.
7.036, assim considerado o mal sbito, violento e inesperado.
31
Alm do acidente tpico, temos as doenas ou molstias profissionais (alguns
autores distinguem como enfermidade, um processo mrbido que termina com a
morte por ser incurvel e, como doena, um processo mrbido em movimento, de
durao longa ou no, no qual possvel a cura) que podero ser abrangidas pelo
Decreto-lei n 7.036, dependendo que se estabelea o nexo causal para a cobertura
indenizatria.
Aplica-se a lei que vigia poca da situao de fato, isto , do acidente do
trabalho que determinou a morte ou a doena ou molstia profissional e no a
vigente na data da propositura da ao ou a vigente na data da sentena.
A Lei 5.316 manteve o conceito de Acidente do Trabalho, ainda que ele no
seja a causa nica, e previu a cobertura do acidente de trajeto.
Observe-se que a Lei de 1934, ao caracterizar o acidente, nos fala de
"suspenso ou limitao da capacidade para o trabalho", ao passo que a de 1944
adotou a concepo de "perda total ou parcial", enquanto que a Lei n. 5.316 usou a
expresso "perda ou reduo", no fazendo distino entre perda total ou parcial,
como faziam as leis de 1934 e 1944.
O Decreto-Lei n. 893, de 26 de setembro de 1969, alterou em parte a Lei n.
5.316, de 14 de setembro de 1967, com modificaes, porm, que no alteraram
substancialmente a lei anterior.
A Lei n. 5.316, de 14.09.1967, entre outras alteraes:
a) modificou o conceito de acidente do trabalho e de doena profissional;
b) estabeleceu a integrao progressiva do seguro contra acidentes do
trabalho no regime da Previdncia Social;
c) suprimiu o regime tradicional das indenizaes do acidentado e seus
dependentes, substituindo-o pela prestao previdenciria;
d) no houve revogao automtica e imediata das normas anteriores sobre
seguros contra acidentes e clculos de indenizaes devidas ao acidentado ou a
seus dependentes. Manteve em vigor tais normas, muito embora em carter parcial
e transitrio.
Esta
lei
sofreu
srias
crticas
em
relao,
principalmente,
sua
constitucionalidade.
Posteriormente foi editada a Lei n. 6.367, de outubro de 1976, cujo objetivo
primordial foi a adaptao da lei ao dispositivo constitucional que integrou o seguro
de acidente do trabalho Previdncia Social. Esta lei identifica doena profissional e
32
doena do trabalho, relacionando os acidentes constantes da listagem organizada
pelo Ministrio da Previdncia e Assistncia Social. Exclui as doenas degenerativas
e as inerentes a grupos etrios, seguindo a mesma orientao da lei anterior.
Passaram a ser abrangidos pela legislao acidentria "os empregados
segurados do regime da Lei Orgnica da Previdncia Social, trabalhadores
temporrios, avulsos e presidirios que exeram trabalho remunerado". Foram
excludos o empregado domstico e o presidirio que exera trabalho no
remunerado. O trabalhador rural j havia sido beneficiado com regime prprio, pela
Lei n. 6.195, de 10 de dezembro de 1974, que estabeleceu que o acidente do
trabalhador rural ficaria a cargo do FUNRURAL.
Outras legislaes acidentrias foram surgindo, como a Lei n. 8.213, de 24
de julho de 1991, que "Dispe sobre Planos de Benefcios da Previdncia Social e
d outras providncias", admitindo, em seu art. 26, a prestao do auxlio-acidente,
independente de carncia.
Posteriormente, foi editado o Decreto n. 611, de 21 de julho de 1992, que
"D nova redao ao Regulamento dos Benefcios da Previdncia Social", aprovado
pelo Decreto n. 357, de 7 de dezembro de 1991 e incorpora as alteraes da
legislao posterior, reservando, no Captulo III, o campo de aplicao do "Acidente
do Trabalho e da Doena Profissional", dispondo, nesse sentido, em seus artigos, de
ns. 138 at o de n.177.
Vemos que o conceito de acidente do trabalho vem se aperfeioando e
alcanando sua perfeio. Outro aspecto a ser estudado a possibilidade do
segurado tambm mover contra o empregador, alm da relativa ao Acidente do
Trabalho, uma ao civil, residual, no sentido de obter maior indenizao que a
prevista na lei da infortunstica, tendo em vista o dano sofrido.
Em sua essncia, a responsabilidade civil tem por objeto a obrigao de
reparar um dano causado a terceiro, por ao ou omisso.
Segundo Aguiar Dias, ambos, empregado e empregador, concorrem para a
produo de acidentes, razo pela qual se impe apenas uma indenizao medida,
segundo ele, no sendo possvel a cumulao de duas indenizaes. No entanto,
em outra oportunidade posterior, o autor admite que "s o excesso de prejuzo
poderia ser reclamado do terceiro responsvel pela reparao do direito comum,
concluindo, invocando a lio de Mazeaud: "Cumular as duas indenizaes integrais
que no poderia."
33
Concluem os autores da literatura sobre segurana do trabalho que a
excluso do direito comum tem inconvenientes ainda mais graves, quando a infrao
cometida com inteno e constitui um delito ou mesmo um crime e reprovam a
deciso da Corte de Cassao (1912, 1913, 1918, 1920, 1926, 1927, 1928, 1929)
que tem decidido pela aplicao estrita do disposto no artigo 2. e rejeitado, em
todos os casos, a ao civil da vtima, criando exigncias no sentido de priv-la de
toda a possibilidade de obter qualquer indenizao.
Contudo, o regime de indenizao vtima de um acidente de trabalho tem
sofrido, em relao ao passado, uma certa evoluo. Mesmo na Frana, o legislador
j decidiu que as indenizaes concedidas seriam acrescidas de uma indenizao,
tendo em vista o dano suportado.
Atualmente, as aes que se originarem das Leis de Acidentes do Trabalho
so processadas no foro local, perante a Justia Cvel comum.
Tanto a legislao da Consolidao das Leis do Trabalho quanto a dos
Acidentes do Trabalho tm carter nitidamente social, e as questes por elas regidas
so questes que envolvem empregados e empregadores.
No primeiro caso, a Justia do Trabalho , atualmente, a competente para
julgar as divergncias porventura ocorridas entre empregados e empregadores, com
relao aos conflitos oriundos do contrato de trabalho.
No segundo caso, so as Varas Cveis da Justia Comum, destacando-se,
nos grandes centros, as Varas Privativas de Acidentes do Trabalho.
O Ministrio Pblico, atravs das Curadorias de Acidentes do Trabalho, tem
por funo proteger os desamparados, os economicamente fracos, fiscalizar o
cumprimento da lei e velar por sua fiel observncia, zelar pelos direitos subjetivos
dos acidentados, direitos esses que so de ordem pblica e interessa ao Estado que
sejam inteiramente cumpridos, impedindo que ocorram leses ao direito do
acidentado, sendo sua misso a de custos legis.
As leis existem. Elas precisam ser aprimoradas e instrumentalizadas de meios
eficazes no sentido de obrigar o empregador a cumpri-las.
Para melhorar a qualidade de vida do empregado e elevar a produtividade da
empresa, fundamental um eficiente gerenciamento dos vrios riscos presentes no
ambiente de trabalho, estabelecendo-se as prioridades devidas e punindo com rigor
as empresas infratoras.
34
A Organizao Mundial do Trabalho estima que 200 milhes de acidentes do
trabalho devero ocorrer no mundo nos prximos 30 anos, causando 360.000
mortes.
No Brasil, aps uma queda nos ndices urbanos, os acidentes de trabalho
voltaram a aumentar, apresentando, em 1995, em relao a 1994, um crescimento
da ordem de 9,22%, sendo que os casos de morte foram 26,78% superiores que no
ano de 1994.
Em 424.137 acidentes, 3.967 trabalhadores morreram.
Nosso ndice de mortes em acidentes do trabalho 10 vezes maior de que o
dos Estados Unidos. Aqui, ocorreram 9,35 mortes a cada 1.000 acidentes; nos
Estados Unidos, 0,95; em Portugal, o ndice foi de 1,10; na Espanha, 2,07 e no
Mxico, 2,97. Segundo as mesmas pesquisas, So Paulo responsvel por 61,34%
dos acidentes de trabalho brasileiros.
2.2.2 Normas Regulamentadoras
A Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, alterou o captulo V do Ttulo II
da Consolidao das Leis do Trabalho (CLT), relativo a Segurana e Medicina do
Trabalho, conseqentemente, em 8 de junho de 1978, a portaria n. 3.214, do
Ministrio do Trabalho aprovou e instituiu as Normas Regulamentadoras de
Segurana e Medicina do Trabalho, que so de observncia obrigatria pelas
empresas pblicas e privadas, e pelos rgos pblicos de administrao direta e
indireta, bem como pelos rgos dos poderes legislativo e judicirio, que possuam
empregados regidos pela CLT.
A seguir, mostra-se uma listagem das normas regulamentadoras, juntamente
com um pequeno resumo explicativo de cada uma delas, segundo a SOBES
(Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurana http://www.sobes.org.br):
NR1 - Disposies Gerais: Estabelece o campo de aplicao de todas as
Normas Regulamentadoras de Segurana e Medicina do Trabalho do Trabalho
Urbano, bem como os direitos e obrigaes do Governo, dos empregadores e dos
trabalhadores no tocante a este tema especfico. A fundamentao legal, ordinria e
35
especfica, que d embasamento jurdico existncia desta NR, so os artigos 154 a
159 da Consolidao das Leis do Trabalho - CLT.
NR2 - Inspeo Prvia: Estabelece as situaes em que as empresas
devero solicitar ao MTb a realizao de inspeo prvia em seus estabelecimentos,
bem como a forma de sua realizao. A fundamentao legal, ordinria e especfica,
que d embasamento jurdico existncia desta NR, o artigo 160 da CLT.
NR3 - Embargo ou Interdio: Estabelece as situaes em que as empresas
se sujeitam a sofrer paralisao de seus servios, mquinas ou equipamentos, bem
como os procedimentos a serem observados, pela fiscalizao trabalhista, na
adoo de tais medidas punitivas no tocante Segurana e a Medicina do Trabalho.
A fundamentao legal, ordinria e especfica, que d embasamento jurdico
existncia desta NR, o artigo 161 da CLT.
NR4 - Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina
do Trabalho: Estabelece a obrigatoriedade das empresas pblicas e privadas, que
possuam empregados regidos pela CLT, de organizarem e manterem em
funcionamento, Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em
Medicina do Trabalho - SESMT, com a finalidade de promover a sade e proteger a
integridade do trabalhador no local de trabalho. A fundamentao legal, ordinria e
especfica, que d embasamento jurdico existncia desta NR, o artigo 162 da
CLT.
NR5 - Comisso Interna de Preveno de Acidentes - CIPA: Estabelece a
obrigatoriedade das empresas pblicas e privadas organizarem e manterem em
funcionamento, por estabelecimento, uma comisso constituda exclusivamente por
empregados com o objetivo de prevenir infortnios laborais, atravs da apresentao
de sugestes e recomendaes ao empregador para que melhore as condies de
trabalho, eliminando as possveis causas de acidentes do trabalho e doenas
ocupacionais. A fundamentao legal, ordinria e especfica, que d embasamento
jurdico existncia desta NR, so os artigos 163 a 165 da CLT.
NR6 - Equipamentos de Proteo Individual - EPI: Estabelece e define os
tipos de EPI's a que as empresas esto obrigadas a fornecer a seus empregados,
sempre que as condies de trabalho o exigirem, a fim de resguardar a sade e a
integridade fsica dos trabalhadores. A fundamentao legal, ordinria e especfica,
que d embasamento jurdico existncia desta NR, so os artigos 166 e 167 da
CLT.
36
NR7 - Programas de Controle Mdico de Sade Ocupacional: Estabelece a
obrigatoriedade de elaborao e implementao, por parte de todos os
empregadores e instituies que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de
promoo e preservao da sade do conjunto dos seus trabalhadores. A
fundamentao legal, ordinria e especfica, que d embasamento jurdico
existncia desta NR, so os artigos 168 e 169 da CLT.
NR8 - Edificaes: Dispe sobre os requisitos tcnicos mnimos que devem
ser observados nas edificaes para garantir segurana e conforto aos que nelas
trabalham. A fundamentao legal, ordinria e especfica, que d embasamento
jurdico existncia desta NR, so os artigos 170 a 174 da CLT.
NR9 - Programas de Preveno de Riscos Ambientais: Estabelece a
obrigatoriedade de elaborao e implementao, por parte de todos os
empregadores e instituies que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA, visando preservao da
sade e da integridade fsica dos trabalhadores, atravs da antecipao,
reconhecimento, avaliao e conseqente controle da ocorrncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em
considerao a proteo do meio ambiente e dos recursos naturais. A
fundamentao legal, ordinria e especfica, que d embasamento jurdico
existncia desta NR, so os artigos 175 a 178 da CLT.
NR10 - Instalaes e Servios em Eletricidade: Estabelece as condies
mnimas exigveis para garantir a segurana dos empregados que trabalham em
instalaes eltricas, em suas diversas etapas, incluindo elaborao de projetos,
execuo, operao, manuteno, reforma e ampliao, assim como a segurana de
usurios e de terceiros, em quaisquer das fases de gerao, transmisso,
distribuio e consumo de energia eltrica, observando-se, para tanto, as normas
tcnicas oficiais vigentes e, na falta destas, as normas tcnicas internacionais. A
fundamentao legal, ordinria e especfica, que d embasamento jurdico
existncia desta NR, so os artigos 179 a 181 da CLT.
NR 11 - Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais:
Estabelece os requisitos de segurana a serem observados nos locais de trabalho,
no que se refere ao transporte, movimentao, armazenagem e ao manuseio de
materiais, tanto de forma mecnica quanto manual, objetivando a preveno de
37
infortnios laborais. A fundamentao legal, ordinria e especfica, que d
embasamento jurdico existncia desta NR, so os artigos 182 e 183 da CLT.
NR12 - Mquinas e Equipamentos: Estabelece as medidas prevencionistas de
segurana e higiene do trabalho a serem adotadas pelas empresas em relao
instalao, operao e manuteno de mquinas e equipamentos, visando
preveno de acidentes do trabalho. A fundamentao legal, ordinria e especfica,
que d embasamento jurdico existncia desta NR, so os artigos 184 e 186 da
CLT.
NR13 - Caldeiras e Vasos de Presso: Estabelece todos os requisitos tcnicolegais relativos instalao, operao e manuteno de caldeiras e vasos de
presso, de modo a se prevenir a ocorrncia de acidentes do trabalho. A
fundamentao legal, ordinria e especfica, que d embasamento jurdico
existncia desta NR, so os artigos 187 e 188 da CLT.
NR14 - Fornos: Estabelece as recomendaes tcnico-legais pertinentes
construo, operao e manuteno de fornos industriais nos ambientes de
trabalho. A fundamentao legal, ordinria e especfica, que d embasamento
jurdico existncia desta NR, o artigo 187 da CLT.
NR15 - Atividades e Operaes Insalubres: Descreve as atividades,
operaes e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerncia, definindo,
assim, as situaes que, quando vivenciadas nos ambientes de trabalho pelos
trabalhadores, ensejam a caracterizao do exerccio insalubre, e tambm os meios
de proteger os trabalhadores de tais exposies nocivas sua sade. A
fundamentao legal, ordinria e especfica, que d embasamento jurdico
existncia desta NR, so os artigos 189 e 192 da CLT.
NR16 - Atividades e Operaes Perigosas: Regulamenta as atividades e as
operaes legalmente consideradas perigosas, estipulando as recomendaes
prevencionistas correspondentes. Especificamente no que diz respeito ao Anexo n
01: Atividades e Operaes Perigosas com Explosivos, e ao anexo n 02: Atividades
e Operaes Perigosas com Inflamveis, tem a sua existncia jurdica assegurada
atravs dos artigos 193 a 197 da CLT.A fundamentao legal, ordinria e especfica,
que d embasamento jurdico caracterizao da energia eltrica como sendo o 3
agente periculoso a Lei n 7.369 de 22 de setembro de 1985, que institui o
adicional de periculosidade para os profissionais da rea de eletricidade. A portaria
MTb n 3.393 de 17 de dezembro de 1987, numa atitude casustica e decorrente do
38
famoso acidente com o Csio 137 em Goinia, veio a enquadrar as radiaes
ionizantes, que j eram insalubres de grau mximo, como o 4 agente periculoso,
sendo controvertido legalmente tal enquadramento, na medida em que no existe lei
autorizadora para tal.
NR17 - Ergonomia: Visa estabelecer parmetros que permitam a adaptao
das condies de trabalho s condies psicofisiolgicas dos trabalhadores, de
modo a proporcionar um mximo de conforto, segurana e desempenho eficiente. A
fundamentao legal, ordinria e especfica, que d embasamento jurdico
existncia desta NR, so os artigos 198 e 199 da CLT.
NR18 - Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo:
Estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento de organizao, que
objetivem a implementao de medidas de controle e sistemas preventivos de
segurana nos processos, nas condies e no meio ambiente de trabalho na
industria da construo civil. A fundamentao legal, ordinria e especfica, que d
embasamento jurdico existncia desta NR, o artigo 200 inciso I da CLT.
NR19 - Explosivos: Estabelece as disposies regulamentadoras acerca do
depsito, manuseio e transporte de explosivos, objetivando a proteo da sade e
integridade
fsica
dos trabalhadores em seus ambientes de
trabalho.
fundamentao legal, ordinria e especfica, que d embasamento jurdico
existncia desta NR, o artigo 200 inciso II da CLT.
NR20 - Lquidos Combustveis e Inflamveis: Estabelece as disposies
regulamentares acerca do armazenamento, manuseio e transporte de lquidos
combustveis e inflamveis, objetivando a proteo da sade e a integridade fsica
dos trabalhadores m seus ambientes de trabalho. A fundamentao legal, ordinria e
especfica, que d embasamento jurdico existncia desta NR, o artigo 200 inciso
II da CLT.
NR21 - Trabalho a Cu Aberto: Tipifica as medidas prevencionistas
relacionadas com a preveno de acidentes nas atividades desenvolvidas a cu
aberto, tais como, em minas ao ar livre e em pedreiras. A fundamentao legal,
ordinria e especfica, que d embasamento jurdico existncia desta NR, o
artigo 200 inciso IV da CLT.
NR22 - Segurana e Sade Ocupacional na Minerao: Estabelece mtodos
de segurana a serem observados pelas empresas que desenvolvam trabalhos
subterrneas de modo a proporcionar a seus empregados satisfatrias condies de
39
Segurana e Medicina do Trabalho. A fundamentao legal, ordinria e especfica,
que d embasamento jurdico existncia desta NR, so os artigos 293 a 301 e o
artigo 200 inciso III, todos da CLT.
NR23 - Proteo Contra Incndios: Estabelece as medidas de proteo contra
Incndios, estabelece as medidas de proteo contra incndio que devem dispor os
locais de trabalho, visando preveno da sade e da integridade fsica dos
trabalhadores. A fundamentao legal, ordinria e especfica, que d embasamento
jurdico existncia desta NR, o artigo 200 inciso IV da CLT.
NR24 - Condies Sanitrias e de Conforto nos Locais de Trabalho: Disciplina
os preceitos de higiene e de conforto a serem observados nos locais de trabalho,
especialmente no que se refere a: banheiros, vestirios, refeitrios, cozinhas,
alojamentos e gua potvel, visando a higiene dos locais de trabalho e a proteo
sade dos trabalhadores. A fundamentao legal, ordinria e especfica, que d
embasamento jurdico existncia desta NR, o artigo 200 inciso VII da CLT.
NR25 - Resduos Industriais: Estabelece as medidas preventivas a serem
observadas, pelas empresas, no destino final a ser dado aos resduos industriais
resultantes dos ambientes de trabalho de modo a proteger a sade e a integridade
fsica dos trabalhadores. A fundamentao legal, ordinria e especfica, que d
embasamento jurdico existncia desta NR, o artigo 200 inciso VII da CLT.
NR26 - Sinalizao de Segurana: Estabelece a padronizao das cores a
serem utilizadas como sinalizao de segurana nos ambientes de trabalho, de
modo a proteger a sade e a integridade fsica dos trabalhadores. A fundamentao
legal, ordinria e especfica, que d embasamento jurdico existncia desta NR,
o artigo 200 inciso VIII da CLT.
NR27 - Registro Profissional do Tcnico de Segurana do Trabalho no
Ministrio do Trabalho: Estabelece os requisitos a serem satisfeitos pelo profissional
que desejar exercer as funes de tcnico de segurana do trabalho, em especial no
que diz respeito ao seu registro profissional como tal, junto ao Ministrio do
Trabalho. A fundamentao legal, ordinria e especfica, tem seu embasamento
jurdico assegurado travs do artigo 3 da lei n 7.410 de 27 de novembro de 1985,
regulamentado pelo artigo 7 do Decreto n 92.530 de 9 de abril de 1986.
NR28 - Fiscalizao e Penalidades: Estabelece os procedimentos a serem
adotados pela fiscalizao trabalhista de Segurana e Medicina do Trabalho, tanto
no que diz respeito concesso de prazos s empresas para no que diz respeito
40
concesso de prazos s empresas para a correo das irregularidades tcnicas,
como tambm, no que concerne ao procedimento de autuao por infrao s
Normas
Regulamentadoras
de
Segurana
Medicina
do
Trabalho.
fundamentao legal, ordinria e especfica, tem a sua existncia jurdica
assegurada, a nvel de legislao ordinria, atravs do artigo 201 da CLT, com as
alteraes que lhe foram dadas pelo artigo 2 da Lei n 7.855 de 24 de outubro de
1989, que institui o Bnus do Tesouro Nacional - BTN, como valor monetrio a ser
utilizado na cobrana de multas, e posteriormente, pelo artigo 1 da Lei n 8.383 de
30 de dezembro de 1991, especificamente no tocante instituio da Unidade Fiscal
de Referncia - UFIR, como valor monetrio a ser utilizado na cobrana de multas
em substituio ao BTN.
NR29 - Norma Regulamentadora de Segurana e Sade no Trabalho
Porturio: Tem por objetivo Regular a proteo obrigatria contra acidentes e
doenas profissionais, facilitar os primeiro socorros a acidentados e alcanar as
melhores condies possveis de segurana e sade aos trabalhadores porturios.
As disposies contidas nesta NR aplicam-se aos trabalhadores porturios em
operaes tanto a bordo como em terra, assim como aos demais trabalhadores que
exeram atividades nos portos organizados e instalaes porturias de uso privativo
e retroporturias, situadas dentro ou fora da rea do porto organizado. A sua
existncia jurdica est assegurada em nvel de legislao ordinria, atravs da
Medida Provisria n 1.575-6, de 27/11/97, do artigo 200 da CLT, o Decreto n
99.534, de 19/09/90 que promulga a Conveno n 152 da OIT.
NR30 - Norma Regulamentadora de Segurana e Sade no Trabalho
Aquavirio: Aplica-se aos trabalhadores de toda embarcao comercial utilizada no
transporte de mercadorias ou de passageiros, na navegao martima de longo
curso, na cabotagem, na navegao interior, no servio de reboque em alto-mar,
bem como em plataformas martimas e fluviais, quando em deslocamento, e
embarcaes de apoio martimo e porturio. A observncia desta Norma
Regulamentadora no desobriga as empresas do cumprimento de outras
disposies legais com relao matria e outras oriundas de convenes, acordos
e contratos coletivos de trabalho.
NR31 Norma Regulamentadora de Segurana e Sade no Trabalho na
Agricultura, pecuria, silvicultura, explorao florestal e aqicultura: Estabelece os
preceitos a serem observados na organizao e no ambiente de trabalho, de forma a
41
tornar compatvel o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura,
pecuria, silvicultura, explorao florestal e aqicultura com a segurana e sade e
meio ambiente do trabalho. A sua existncia jurdica assegurada por meio do
artigo 13 da Lei n. 5.889, de 8 de junho de 1973.
2.2.3 Equipamentos de Proteo Individual
Segundo a NR 06, considera-se Equipamento de Proteo Individual - EPI,
todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado
proteo de riscos suscetveis de ameaar a segurana e a sade no trabalho.
Cabe ao empregador adquirir e fornecer o equipamento adequado para cada
caso, bem como exigir o seu uso, fornecer treinamento ao colaborador e substitu-lo
ao menor sinal de deteriorao e desgaste. Ao empregado, compete usar o
equipamento,
utilizando-o
apenas
para
finalidade
que
se
destina,
responsabilizar-se pela guarda e conservao, comunicar ao empregador qualquer
alterao que o torne imprprio para uso e cumprir as determinaes do empregador
sobre o uso adequado.
Em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 06, Anexo I,
consideram-se os equipamentos de proteo individual os seguintes:
A.1 Capacete
a)
Capacete
de
segurana
para
proteo
contra
impactos
de
objetos
sobre o crnio;
b) capacete de segurana para proteo contra choques eltricos;
c) capacete de segurana para proteo do crnio e face contra riscos
provenientes de fontes geradoras de calor nos trabalhos de combate a incndio.
A.2 - Capuz
a) Capuz de segurana para proteo do crnio e pescoo contra riscos
de origem trmica;
b) capuz de segurana para proteo do crnio e pescoo contra respingos de
produtos qumicos;
42
c) capuz de segurana para proteo do crnio em trabalhos onde haja
risco de contato com partes giratrias ou mveis de mquinas.
B - EPI PARA PROTEO DOS OLHOS E FACE
B.1 - culos
a) culos de segurana para proteo dos olhos contra impactos de partculas
volantes;
b) culos de segurana para proteo dos olhos contra luminosidade intensa;
c) culos de segurana para proteo dos olhos contra radiao ultra-violeta;
d) culos de segurana para proteo dos olhos contra radiao infra-vermelha;
e) culos de segurana para proteo dos olhos contra respingos de produtos
qumicos.
B.2 - Protetor facial
a) Protetor facial de segurana para proteo da face contra impactos de partculas
volantes;
b) protetor facial de segurana para proteo da face contra respingos de produtos
qumicos;
c) protetor facial de segurana para proteo da face contra radiao infra-vermelha;
d) protetor facial de segurana para proteo dos olhos contra luminosidade intensa.
B.3 - Mscara de Solda
a) Mscara de solda de segurana para proteo dos olhos e face contra impactos
de partculas volantes;
b) mscara de solda de segurana para proteo dos olhos e face contra radiao
ultra-violeta;
c) mscara de solda de segurana para proteo dos olhos e face contra radiao
infra-vermelha;
d) mscara de solda de segurana para proteo dos olhos e face contra
luminosidade intensa.
43
C - EPI PARA PROTEO AUDITIVA
C.1 - Protetor auditivo
a) Protetor auditivo circum-auricular para proteo do sistema auditivo contra nveis
de presso sonora superiores ao estabelecido na NR - 15, Anexos I e II;
b) protetor auditivo de insero para proteo do sistema auditivo contra nveis de
presso sonora superiores ao estabelecido na NR - 15, Anexos I e II;
c) protetor auditivo semi-auricular para proteo do sistema auditivo contra nveis de
presso sonora superiores ao estabelecido na NR - 15, Anexos I e II.
D - EPI PARA PROTEO RESPIRATRIA
D.1 - Respirador purificador de ar
a) Respirador purificador de ar para proteo das vias respiratrias contra poeiras e
nvoas;
b) respirador purificador de ar para proteo das vias respiratrias contra poeiras,
nvoas e fumos;
c) respirador purificador de ar para proteo das vias respiratrias contra poeiras,
nvoas, fumos e radionucldeos;
d) respirador purificador de ar para proteo das vias respiratrias contra vapores
orgnicos ou gases cidos em ambientes com concentrao inferior a 50 ppm (parte
por milho);
e) respirador purificador de ar para proteo das vias respiratrias contra gases
emanados de produtos qumicos;
f) respirador purificador de ar para proteo das vias respiratrias contra partculas e
gases emanados de produtos qumicos;
g) respirador purificador de ar motorizado para proteo das vias respiratrias contra
poeiras, nvoas, fumos e radionucldeos.
D.2 - Respirador de aduo de ar
a) respirador de aduo de ar tipo linha de ar comprimido para proteo das vias
respiratrias em atmosferas com concentrao Imediatamente Perigosa Vida e
Sade e em ambientes confinados;
44
b) mscara autnoma de circuito aberto ou fechado para proteo das vias
respiratrias em atmosferas com concentrao Imediatamente Perigosa Vida e
Sade e em ambientes confinados;
D.3 - Respirador de fuga
a) Respirador de fuga para proteo das vias respiratrias contra agentes qumicos
em condies de escape de atmosferas Imediatamente Perigosas Vida e Sade
ou com concentrao de oxignio menor que 18 % em volume.
E - EPI PARA PROTEO DO TRONCO
E.1 - Vestimentas de segurana que ofeream proteo ao tronco contra riscos de
origem trmica, mecnica, qumica, radioativa e meteorolgica e umidade
proveniente de operaes com uso de gua.
F - EPI PARA PROTEO DOS MEMBROS SUPERIORES
F.1 - Luva
a) Luva de segurana para proteo das mos contra agentes abrasivos e
escoriantes;
b) luva de segurana para proteo das mos contra agentes cortantes e
perfurantes;
c) luva de segurana para proteo das mos contra choques eltricos;
d) luva de segurana para proteo das mos contra agentes trmicos;
e) luva de segurana para proteo das mos contra agentes biolgicos;
f) luva de segurana para proteo das mos contra agentes qumicos;
g) luva de segurana para proteo das mos contra vibraes;
h) luva de segurana para proteo das mos contra radiaes ionizantes.
F.2 - Creme protetor
a) Creme protetor de segurana para proteo dos membros superiores contra
agentes qumicos, de acordo com a Portaria SSST n. 26, de 29/12/1994.
45
F.3 - Manga
a) Manga de segurana para proteo do brao e do antebrao contra choques
eltricos;
b) manga de segurana para proteo do brao e do antebrao contra agentes
abrasivos e escoriantes;
c) manga de segurana para proteo do brao e do antebrao contra agentes
cortantes e perfurantes;
d) manga de segurana para proteo do brao e do antebrao contra umidade
proveniente de operaes com uso de gua;
e) manga de segurana para proteo do brao e do antebrao contra agentes
trmicos.
F.4 - Braadeira
a) Braadeira de segurana para proteo do antebrao contra agentes cortantes.
F.5 - Dedeira
a) Dedeira de segurana para proteo dos dedos contra agentes abrasivos e
escoriantes.
G - EPI PARA PROTEO DOS MEMBROS INFERIORES
G.1 - Calado
a) Calado de segurana para proteo contra impactos de quedas de objetos sobre
os artelhos;
b) calado de segurana para proteo dos ps contra choques eltricos;
c) calado de segurana para proteo dos ps contra agentes trmicos;
d) calado de segurana para proteo dos ps contra agentes cortantes e
escoriantes;
e) calado de segurana para proteo dos ps e pernas contra umidade
proveniente de operaes com uso de gua;
f) calado de segurana para proteo dos ps e pernas contra respingos de
produtos qumicos.
46
G.2 - Meia
a) Meia de segurana para proteo dos ps contra baixas temperaturas.
G.3 - Perneira
a) Perneira de segurana para proteo da perna contra agentes abrasivos e
escoriantes;
b) perneira de segurana para proteo da perna contra agentes trmicos;
c) perneira de segurana para proteo da perna contra respingos de produtos
qumicos;
d) perneira de segurana para proteo da perna contra agentes cortantes e
perfurantes;
e) perneira de segurana para proteo da perna contra umidade proveniente de
operaes com uso de gua.
G.4 - Cala
a) Cala de segurana para proteo das pernas contra agentes abrasivos e
escoriantes;
b) cala de segurana para proteo das pernas contra respingos de produtos
qumicos;
c) cala de segurana para proteo das pernas contra agentes trmicos;
d) cala de segurana para proteo das pernas contra umidade proveniente de
operaes com uso de gua.
H - EPI PARA PROTEO DO CORPO INTEIRO
H.1 - Macaco
a) Macaco de segurana para proteo do tronco e membros superiores e
inferiores contra chamas;
b) macaco de segurana para proteo do tronco e membros superiores e
inferiores contra agentes trmicos;
c) macaco de segurana para proteo do tronco e membros superiores e
inferiores contra respingos de produtos qumicos;
d) macaco de segurana para proteo do tronco e membros superiores e
inferiores contra umidade proveniente de operaes com uso de gua.
47
H.2 - Conjunto
a) Conjunto de segurana, formado por cala e bluso ou jaqueta ou palet, para
proteo do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes trmicos;
b) conjunto de segurana, formado por cala e bluso ou jaqueta ou palet, para
proteo do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos de produtos
qumicos;
c) conjunto de segurana, formado por cala e bluso ou jaqueta ou palet, para
proteo do tronco e membros superiores e inferiores contra umidade proveniente
de operaes com uso de gua;
d) conjunto de segurana, formado por cala e bluso ou jaqueta ou palet, para
proteo do tronco e membros superiores e inferiores contra chamas.
H.3 - Vestimenta de corpo inteiro
a) Vestimenta de segurana para proteo de todo o corpo contra respingos de
produtos qumicos;
b) vestimenta de segurana para proteo de todo o corpo contra umidade
proveniente de operaes com gua.
I - EPI PARA PROTEO CONTRA QUEDAS COM DIFERENA DE NVEL
I.1 - Dispositivo trava-queda
a) Dispositivo trava-queda de segurana para proteo do usurio contra quedas em
operaes com movimentao vertical ou horizontal, quando utilizado com cinturo
de segurana para proteo contra quedas.
I.2 - Cinturo
a) Cinturo de segurana para proteo do usurio contra riscos de queda em
trabalhos em altura;
b) cinturo de segurana para proteo do usurio contra riscos de queda no
posicionamento em trabalhos em altura.
48
2.2.4 Equipamentos de Proteo Coletiva:
Como o prprio nome sugere, os equipamentos de proteo coletiva (EPC)
dizem respeito ao coletivo, devendo proteger todos os trabalhadores expostos a
determinado risco. Como exemplo, podemos citar o enclausuramento acstico de
fontes de rudo, a ventilao dos locais de trabalho, a proteo de partes mveis de
mquinas e equipamentos, a sinalizao de segurana, cabines de segurana,
dentre outros.
A seguir, so apresentadas as principais protees coletivas utilizadas na
construo civil:
Plataforma de proteo principal Bandejo
Instalada na altura da 1 laje, com projeo horizontal por meio de suportes
metlicos em 2,50m, complemento vertical de 0,80m (45), apoiados nas vigas de
sustentao, por meio de parafusos, chumbador de ferro CA-25 liso, de dimetro de
122 mm, com assoalhamento por meio de tbuas de madeira de 1 qualidade
(peroba ou similar), sem ns ou rachaduras, justapostas, de comprimento variado,
largura mdia de 0,30 m x 0,025 m ( 1 polegada) de espessura mnima.
NOTA: Complemento por meio de tbuas de madeira diversas ou madeirit
resinado.
Plataforma de proteo secundria Bandeja
Instaladas acima e a partir da plataforma principal de proteo, de 3 (trs) em
3 (trs) lajes, em projeo horizontal, por meio de parafusos, chumbador de ferro
CA-25, liso de dimetro de 12 mm, com assoalhamento por meio de tbuas de
madeira de 1 qualidade (peroba ou similar), sem ns ou rachaduras, justapostas, de
comprimento variado, largura de 0,30 m x 0,025 m (1 polegada) de espessura
mnima. Complemento com extenso de 0,80m (45), em tbuas de madeiras
diversas ou madeirit.
49
Tela de Nylon Bandejas
Instalada entre as extremidades das bandejas, de cor verde ou branca, de
dimetro da malha de 0,03 m (entre bandeja principal e secundria e/ou entre
bandejas secundrias).
Sistema de Guarda Corpo Rgido em Madeira
Disposto de travesso superior, intermedirio e rodap, de pontaletes de
madeiras diversas, com alturas de 1,20 m, 0,70 m e 0,20 m respectivamente, com
montantes verticais em madeira tambm, entroncados a espaamentos de no
mximo 2,0 (dois) metros.
Fechamento Aberturas no Piso Vos
Fechamento em madeira de 1 qualidade, diversas, com espessura mnima
de 0,025m (1polegada), tamanhos variados, formando assoalho com encaixe
(inferior, de modo a evitar deslizamento ou, assoalhamento atravs de madeirit
quando da existncia de ferros de construo traados na abertura.
Fechamento Aberturas Poos Elevadores
Fechamento vertical das aberturas dos poos, atravs de madeirit 12mm
firmemente fixado, com altura mnima de 1,20m ou material similar (telas metlicas,
redes ou outros), at a instalao das portas definitivas.
Rampas de Acesso Torre de Materiais
Travesso de apoio junto torre, por meio de ganchos de ao (CA-24 ou 25)
em viga de peroba ou similar metlica, com caibros paralelos e eqidistantes,
apoiados no travesso e na laje, para servir de apoio para o estrado, confeccionado
com tbuas de 1 qualidade , justapostas, sem ns ou rachaduras, espessura
mnima de 0,025m (1 polegada) ou de madeirit resinado de 18mm. Disposto tambm
com sistema de guarda-corpo rgido em madeira.
Rampas e Passarelas Diversas
Instaladas onde houver transposio de nveis, retirada de materiais e outros,
com material confeccionado e disposto.
50
Torre de Materiais Guincho Carga
Assentada e nivelada em base de concreto.
Elementos estruturais metlicos, tubulares, de encaixe com contrapinos.
Ancoradas em cada pavimento laje por meio de cabo de ao e esticadores
de 3/8 (montante posterior).
Estaiadas a cada 2 (dois) pavimentos 6 m por meio de cabo de ao e
esticador de 3/8 em gancho de ferro na edificao (montante posterior).
Torre e guincho aterrados eletricamente.
Telamento da torre, em suas faces, de arame galvanizado.
Dispe de cancela recuada em no mnimo 1 (um) metro da abertura do
acesso a torre.
Dispe de proteo lateral e posterior em madeira (ou madeirit), com altura
em torno de 1 (um) metro, na prancha de carga do guincho.
Comunicao do guincheiro e operador atravs de sinal sonoro.
Livro de inspeo de manuteno preventiva e corretiva.
Operador habilitado e treinado.
Andaimes Suspensos Mecnicos (Balancins)
Leves Balancim Leve
Apoiados em concreto armado, por meio de viga de I, ou tipo sela, ou de
trelia, com resistncia apropriada capacidade de trabalho (fator 5:1), em bom
estado, com cabo de sustentao de ao, sem emendas, com guarda-corpo
(andaime jahu), compondo o equipamento, corda de segurana em nylon
(preferencialmente) ou sisal, de dimetro de polegada, fixada em estrutura
resistente, independente a do balancim, para atrelamento do cinto de segurana.
Pesados Balancim Pesado
Apoiados em concreto armado da edificao, por meio de vigas de ferro em
I, resistncia superior a 3 vezes os esforos solicitantes, com cabo de ao de
sustentao com fator de segurana 5:1, em forcados em U, granpeados por clips
de ao em nmero de 3 (trs), eqidistantes e com barra (suporte) anti0deslizante
na parte superior da viga em I. Estrado em madeira de 1 qualidade (peroba ou
51
similar), sem ns e rachaduras, justapostas, com guinchos mecnicos por meio de
armaes de ao, havendo em cada armao 2 (dois) guinchos, com guarda-corpo.
Cadeira Suspensa (Cadeirinha)
Bancada de madeira (Serra circular) ou de ferro, com proteo das partes
mveis, calha de disposio de materiais em madeira, coifa protetora do disco de
corte, chave liga/desliga tipo botoeira (Serra Circular e Policorte), aterradas
eletricamente e com extintor de incndio tipo PQS 4 kg prximo.
Velox e Betoneira
Proteo contra intempries e quedas de matrias em madeira resistente (ou
outro material), partes mveis protegidas, aterradas eletricamente e chave
liga/desliga tipo botoeira.
Andaimes
Madeira
Madeira de boa qualidade, sem ns ou rachaduras, natural, utilizados at 3
(trs) pavimentos ou altura equivalente.
Metlicos
Fixados em base slida, travados, dispostos de forrao completa na base de
madeira de boa qualidade, justapostas, sem ns e rachaduras, de espessura mnima
de 0,025 m (01 polegada), com guarda-corpo de travessas de 1,20 m e 0,70 m de
altura e rodap de 0,20 m inclusive na cabeceira.
Mveis
Com dispositivo de trava dos rodzios.
Fachadeiro
Componentes com encaixes contrapinados.
Carga distribuda uniformemente.
Dispostos com tela de arame galvanizado.
52
2.2.5 Organizao da Segurana do Trabalho nas edificaes
A seguir, apresentamos algumas recomendaes gerais para segurana do
trabalho nas edificaes em geral, conforme a NR 18, que estabelece estes critrios:
Os locais de trabalho devem ter a altura do piso ao teto, p direito, de acordo
com as posturas municipais, atendidas as condies de conforto, segurana e
salubridade, estabelecidas na Portaria 3.214/78.
A critrio da autoridade competente em segurana e medicina do trabalho
poder ser reduzido esse mnimo, desde que atendidas as condies de
iluminao e conforto trmico compatveis com a natureza do trabalho.
Os pisos dos locais de trabalho no devem apresentar salincias nem
depresses que prejudiquem a circulao de pessoas ou a movimentao de
materiais. As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de
forma que impeam a queda de pessoas ou objetos. Alm disso, devem
oferecer resistncia suficiente para suportar as cargas mveis e fixas, para as
quais a edificao se destina.
As rampas e as escadas fixas de qualquer tipo devem ser construdas de
acordo com as normas tcnicas oficiais e mantidas em perfeito estado de
conservao.
Os andares acima do solo tais como: terraos, balces, compartimentos para
garagens e outros que no forem vedados por paredes externas, devem
dispor de guarda-corpo de proteo contra quedas, de acordo com os
seguintes requisitos.
a) ter altura de 0,90m (noventa centmetros), no mnimo, a contar do nvel do
pavimento;
b) quando for vazado, os vos do guarda-corpo devem ter, pelo menos, uma das
dimenses igual ou inferior a 0,12m (doze centmetros);
c) ser de material rgido e capaz de resistir ao esforo horizontal de 80kgf/m2
(oitenta quilogramas-fora por metro quadrado) aplicado no seu ponto mais
desfavorvel.
53
As partes externas, bem como todas as que separem unidades
autnomas de uma edificao, ainda que no acompanhem sua
estrutura, devem, obrigatoriamente, observar as normas tcnicas
oficiais relativas resistncia ao fogo, isolamento trmico, isolamento e
condicionamento acstico, resistncia estrutural e impermeabilidade.
As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteo contra
as chuvas.
As edificaes dos locais de trabalho devem ser projetadas e
construdas de modo a evitar insolao excessiva ou falta de insolao.
54
3. MATERIAL E METODOLOGIA
3.1 Caracterizao do trabalho
3.1.1 Processo Construtivo Convencional
No
sistema
convencional
de
produo
de
edificaes
onde,
predominantemente utilizada de forma intensiva a mo de obra, existe um grande
potencial para a racionalizao quando o processo analisado de forma
abrangente. Deste modo no se contempla a implantao de aspectos isolados
como o planejamento e controle da produo, adoo de novas tcnicas
construtivas, melhoria nas condies de trabalho ou efeitos de continuidade no
trabalho e sim a coordenao conjunta de vrios aspectos, proporcionando desta
forma resultados mais efetivos.
O processo construtivo convencional caracteriza-se pela remoo total de
escoras e frmas para a realizao do re-escoramento, ou seja, as re-escoras so
instaladas
sem
pr-carga.
Este
processo
utilizado
principalmente
em
cimbramentos que fazem uso de escoras de madeira, embora escoras metlicas
tambm possam ser utilizadas de maneira semelhante.
De forma geral este processo se realiza por uma seqncia repetida de
operaes. Normalmente existem cinco operaes bsicas de construo, em um
sistema temporrio de apoio que pode ter um nmero variado de nveis escorados e
re-escorados. Essas operaes constituem-se em:
1. Remoo de re-escoras do nvel mais baixo;
2. Remoo total de escoras e frmas do nvel mais baixo;
3. Instalao das re-escoras no nvel do pavimento onde as escoras e frmas
foram removidas;
4. Instalao das escoras e frmas para a concretagem do prximo pavimento;
5. Concretagem.
55
O sistema convencional exige maior dedicao e em geral preocupa-se com o
incremento no custo final do projeto, devido a necessidade de serem feitos alguns
reparos, caso algum item do projeto apresente deficincias de acabamento antes da
concluso.
O processo convencional mais lento e acarreta desperdcios. Desperdcio
no pode ser visto apenas como o material refugado no canteiro (rejeitos), mas sim
como toda e qualquer perda durante o processo. Portanto, qualquer utilizao de
recursos alm do necessrio produo de determinado produto caracterizada
como desperdcio classificado conforme: seu controle, sua natureza e sua origem.
De acordo com o controle, as perdas so consideradas inevitveis (perdas
naturais) e evitveis. Segundo sua natureza, as perdas podem acontecer por
superproduo, substituio, espera, transporte, ou no processamento em si, nos
estoques, nos movimentos, pela elaborao de produtos defeituosos, e outras, como
roubo, vandalismo, acidentes, etc.
Conforme a origem, as perdas podem ocorrer no prprio processo produtivo,
como nos que o antecedem, como fabricao de materiais, preparao dos recursos
humanos, projetos, planejamento e suprimentos. Observe-se que, em todos os
casos, a qualificao do trabalhador est presente.
Antonio Sergio Itri Conte (presidente do Lean Construction Institute, no Brasil)
corrobora nossa ltima afirmao ao dizer que a grande causa do desperdcio na
construo, hoje, o estoque de mo-de-obra, devido a pouca clareza do plano de
produo, que leva os engenheiros a elevarem o nmero de trabalhadores para no
correr o risco de que a obra pare por falta de pessoal.
Apesar disso, as perdas de material so destaque quando se trata de
desperdcio na construo civil, por ser a parcela visvel e tambm porque o
consumo desnecessrio de material resulta numa alta produo de resduos, causa
transtornos nas cidades, reduz a disponibilidade futura de materiais e energia e
provoca uma demanda desnecessria no sistema de transporte, alm da alta
participao dos materiais na composio do CUB (70%).
So muitas as causas das perdas na construo civil, como pode ser
constatado nos estudos de Skoyles (1976); Pinto (1989); Picchi (1993); Grupo de
Gerenciamento UFSC (1997); Moraes (1997) e tantos outros.
O processo construtivo convencional define-se por utilizao de materiais e
tcnicas tradicionais, onde emprega-se mo de obra, e materiais em grande escala.
56
O desperdcio de materiais inerente sua aplicao nas obras de
construo e reforma de prdios. WALID, (1998), informa que apenas onze por
cento (11%) do custo global da obra corresponde a etapas com quase nenhuma
possibilidade de perdas, enquanto o percentual restante, oitenta e nove por cento,
(89 %) deste custo corresponde a etapas nas quais existe essa possibilidade em
maior ou menor grau, de acordo com a natureza do servio que est sendo
realizado.
Vrios exemplos podem ser dados:
1. O corte de chapas ou barras de ao para fabricao de peas estruturais, ou
vergalhes para concreto gera resduos metlicos devido a causas diversas,
como deficincias de projetos, modificaes, impercia, etc.
2. Madeira: essencial que haja mxima utilizao do material na confeco de
formas para concreto; sua destruio precoce com gerao de resduos
(cavacos, lenha, etc.) pode ser motivada por deficincia do sistema de
formas, do projeto das peas ou impercia na sua desforma.
3. A no observncia da vida til da argamassa e do seu tempo de abertura
podem levar sua imprestabilidade como material de revestimento ou
assentamento de azulejos em paredes de alvenaria; neste caso, a argamassa
que endureceu antes de ser usada um resduo que, geralmente, pode ser
reciclado no prprio canteiro para utilizao em outros servios.
4. A sobrespessura das juntas e a porosidade dos blocos so causas de
desperdcio de argamassa; nestes casos no h gerao de resduos, mas o
excesso de argamassa que se incorpora obra uma perda de material
irrecupervel.
5. A fuga de concreto no seu lanamento outra modalidade de desperdcio
causada por deficincia de vedao ou deslocamento da forma; esta perda
tambm definitiva porque o material no pode ser reaproveitado.
6. O chapisco ou grouting um trao de argamassa rico em cimento e quando
utilizado para reparar falhas de concretagem (conhecidas como bicheiras no
linguajar de obra), ou recuperao de concreto deteriorado outra forma de
desperdcio.
7. O emprego de argamassa em enchimentos para nivelar lajes ou corrigir
desaprumos e alinhamentos de paredes tambm um desperdcio possvel
de evitar tomando os necessrios cuidados.
57
8. Diversos desperdcios de materiais com gerao de resduos, originam-se de
quebras ou avarias de materiais: - cermicos, vidros, etc., devido a deficincia
de estocagem falta de cuidado no seu manuseio e/ou transporte no canteiro.
9. Outros desperdcios com gerao de resduos tm como causas a demolio
de partes da obra j executadas por diversos motivos:- erros ou mudanas de
projetos, falhas na execuo que obrigam ao retrabalho, necessidade de
embutir tubulaes em paredes de alvenaria ou atravessar elementos
estruturais, e outras.
3.1.1.1 Fluxo Produtivo
No sistema construtivo convencional, destaca-se a execuo na forma de
esqueleto, onde so executadas as fundaes, seguidas da execuo de pilares,
lajes e vigas at o nvel desejado. As paredes de vedao apenas sero executadas
depois deste processo.
Nesta forma de execuo de edificaes, pode ser observado o maior tempo
de execuo, o que expe mais trabalhadores a possveis riscos, maior emprego de
mo de obra, e ainda, a necessidade de um local maior para estocagem de material,
o que pode levar a gerao de possveis desperdcios.
Ainda pode-se comentar que as alvenarias convencionais necessitam,
tambm, de uma estrutura maior no sentido administrativo, de fiscalizao e de
controle de qualidade.
3.1.1.2 Avaliao da segurana do trabalho
A nova NR-18 determina que todos os empregados recebam treinamento, de
preferncia de campo, dentro de seu horrio de trabalho.
Antes de iniciar suas tarefas, o trabalhador deve ser informado sobre as
condies de trabalho no canteiro, os riscos de sua funo especfica, e as medidas
de proteo coletivas e individuais (EPC e EPI) a serem adotadas.
58
Novos treinamentos devem ser feitos, sempre que necessrio a cada fase da
obra.
3.1.1.3 Equipamentos de Proteo individual (EPIs)
No processo convencional de execuo de edificaes, so utilizados os
seguintes equipamentos de proteo individual:
Capacete
Luvas
Respiradores
Viseira Facial
Jaleco e Cala
Sapato de Segurana
Bon rabe
Capuz ou Touca
Cinto de Segurana
Conforme a NR06, sobre equipamentos de proteo individual, e, como j foi
citado no captulo 02, estes equipamentos destinam-se a proteger a integridade
fsica dos trabalhadores, bem como tornar a execuo de suas atividades menos
periculosas.
3.1.1.4 Equipamentos de Proteo Coletiva (EPCs)
Conforme j citado em 2.2.4, as protees coletivas utilizadas so:
Plataforma de Proteo Principal Bandejo
Tela de Nylon
Sistema de guarda-corpo rgido em madeira
Fechamento das aberturas nos vos e nos poos de elevadores
59
Rampas de acesso
Andaimes (diversos)
3.1.2 Processo Construtivo em Alvenaria Estrutural
A alvenaria como material estrutural um dos mais antigos mtodos
construtivos. Consiste na execuo de uma obra utilizando blocos ou tijolos
modulados. As paredes de uma construo em alvenaria estrutural tm, alm da
funo de vedao, a funo de resistir a todos os esforos que solicitem o edifcio.
A alvenaria estrutural um processo construtivo utilizado como estrutura de
edifcios, dimensionando a partir de clculo racional. O uso da alvenaria estrutural
pressupe:
Emprego de paredes de alvenaria e lajes enrijecedoras como estrutura
suporte;
Segurana pr-definida;
Construo e projeto com responsabilidades precisamente definidas e
conduzidas por profissionais habilitados;
Construo fundamentada em projetos especficos (estrutural-construtivo),
elaborados por engenheiros especializados.
H dois tipos de alvenaria estrutural: no armada e armada. A primeira
emprega como estrutura-suporte paredes de alvenaria sem armao. Os reforos
metlicos so colocados apenas em cintas, vergas, contravergas, na amarrao
entre paredes e nas juntas horizontais com a finalidade de evitar fissuras
localizadas. J a alvenaria estrutural armada caracteriza-se por ter os vazados
verticais dos blocos preenchidos com graute (microconcreto de grande fluidez)
envolvendo barras e fios de ao.
Principais normas sobre alvenaria estrutural e blocos de concreto.
NBR 6136/94 Bloco vazado de concreto simples para alvenaria
estrutural
NBR 5712/82 Bloco vazado modular de concreto
60
NBR 7184/92 Blocos vazados de concreto simples para alvenaria
Determinao da resistncia compresso
NBR 12117/92 Blocos vazados de concreto para alvenaria Retrao
por secagem
NBR 12118/92 Blocos vazados de concreto para alvenaria Retrao
por secagem
NBR 10837/89 Clculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de
concreto
NBR 8798/85 Execuo e controle de obras em alvenaria estrutural de
blocos vazados de concreto
NBR 8215/83 Prismas de blocos vazados de concreto simples para
alvenaria estrutural Preparo de ensaio compresso
ASTM C 55/97 Standard specification for concrete brick ( American
Society for Testing and Materials- EUA)
BS 6073/81 Part 1 Precast concrete masonry units Specification for
precast for concrete masonary units ( British Standards Institution UK)
Fonte de consulta: Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT)
3.1.2.1 Fluxo Produtivo
Uma caracterstica marcante das obras de alvenaria estrutural o fato do
oramento se aproximar muito mais do custo real apropriado na obra que as obras
convencionais.
Construes com blocos de concreto podem economizar at 30% nos custos
finais de qualquer tipo de obra. S nas paredes acabadas a economia pode chegar a
mais de 40%.
Alm do menos gasto com materiais e servios, o sistema acelera o processo
de produo, gera ganhos de produtividade e qualidade.
Este sistema construtivo permite a simultaneidade de etapas; pode dispensar
integralmente as frmas; utiliza menos ao; permite acabamentos de menor
espessura, face preciso dimensional dos blocos utilizados; gera menos entulho;
61
necessita de mo de obra menos diversificada; oferece mais segurana ao operrio,
que trabalho sempre por dentro da construo, entre outras vantagens. Como
resultados, quando seguidos os preceitos bsicos do sistema, tm-se uma
construo que consome menos tempo e bem mais econmica.
3.1.2.2 Avaliao da Segurana do Trabalho
Na alvenaria estrutural os trabalhadores trabalham mais sempre por dentro da
obra, o que evita quedas e outros acidentes corriqueiros em alvenaria convencional.
O tempo de treinamento reduzido o que agiliza o trabalho.
3.1.2.3 Equipamentos de Proteo Individual (EPIs)
Capacete
Bota de Couro
Cinto de segurana (quando executar em andaimes, beirais, varandas e poos de
elevador)
3.1.2.4 Equipamentos de Proteo Coletiva (EPCs)
Proteo coletiva colocada em periferia de poos de elevador, vo de
escadas, prisma de ventilao e etc.
A seguir, encontram-se uma srie de imagens, adquiridas durante a execuo
do projeto de pesquisa, e que evidenciam os dois sistemas construtivos estudados:
62
Figura 2 - Fachada
Figura 3 - Fachada
63
Figura 4 Edifcio em Alvenaria Convencional Fachada
Figura 5 Edifcio em Alvenaria Convencional Vista lateral
64
Figura 6 Fachada convencional (detalhe)
Figura 7 Edificao em alvenaria estrutural acabada
65
Figura 8 Interior de uma construo em alvenaria estrutural
Figura 9 Interior de uma construo em alvenaria estrutural vista 2
66
Figura 10 Detalhes do escoramento
Figura 11 Limpeza do canteiro de obras
67
Figura 12 Escoramento e alvenarias
Figura 13 Escoramento e alvenarias vista 2
68
Figura 14 Armazenamento dos blocos cermicos
Figura 15 Incio da amarrao dos blocos estruturais
69
Figura 16 Detalhes da amarrao
Figura 17 Andaimes
70
Figura 18 Colocao das esquadrias
Figura 19 Vista do canteiro de obras geral
71
Figura 20 Detalhe do bloco cermico (vista lateral)
Figura 21 Detalhe do bloco cermico (vista superior)
72
Figura 22 Execuo das alvenarias
Figura 23 Detalhe dos acabamentos
73
Figura 24 Plataforma de proteo (bandejas)
Figura 25 Plataforma de proteo (bandejas) vista 2
74
Figura 26 Vista geral das plataformas
Figura 27 - Obra acabada em Alvenaria Estrutural
75
3.2 Procedimentos
Para a realizao dos procedimentos, foram analisadas duas edificaes,
uma com processo construtivo em alvenaria estrutural e uma em alvenaria
convencional, executadas pela mesma empresa.
3.2.1 Caracterizao dos projetos e estrutura do SESM
O projeto convencional constitui de uma edificao de 14 pavimentos com
finalidade comercial e a edificao em alvenaria estrutural constitui em um prdio
residencial com 5 pavimentos. As referidas construes foram observadas durante
todo o processo construtivo, e anotadas as incidncias de acidentes. Esta
observao foi acompanhada tambm pelo SESMT da empresa.
O SESMT servio especializado em segurana e medicina do trabalho
uma exigncia da NR04 do ME (ministrio do trabalho e emprego). No caso da
empresa que possui grau de risco 4 e em torno de 100 funcionrios, a exigncia de
apenas um tcnico de segurana do trabalho. Os programas prevencionistas so
elaborados por uma empresa terceirizada.
O SESMT consiste no conjunto permanente de aes, medidas e programas,
previstos em normas e regulamentados, alm daqueles desenvolvidos por livre
iniciativa da empresa, tendo como objetivo a preveno de acidentes e doenas, de
modo a tornar compatvel permanentemente o trabalho com a preservao da vida,
a promoo da sade do trabalhador e do meio ambiente do trabalho; objetivando
garantir, permanentemente, um nvel mais eficaz de segurana e sade a todos os
trabalhadores, observando como princpios bsicos:
integrao
da
atividade
preventiva
ao
processo
produtivo,
abrangendo todos os aspectos relacionados ao trabalho;
O planejamento das aes de preveno, atravs da implementao
dos programas de gesto da segurana e sade do trabalhador;
A participao dos trabalhadores no planejamento, execuo e
avaliao das medidas adotadas pela empresa;
76
O emprego de tcnicas atualizadas de preveno;
As aes de preveno de acidentes e doenas do trabalho pressupem:
A adaptao do trabalho ao homem, especialmente, na concepo dos
postos de trabalho, escolha de equipamentos e mtodos de produo,
incluindo a atenuao do trabalho montono e repetitivo;
O conhecimento das condies de cada atividade e posto de trabalho
em relao organizao, ao meio ambiente de trabalho. s relaes
sociais e s inovaes tecnolgicas;
A avaliao dos riscos para a segurana e sade dos trabalhadores em
todas as fases do processo de produo;
O combate aos riscos na sua origem, priorizando as medidas de
proteo coletiva, incluindo aquelas derivadas da substituio de
matrias primas ou insumos que exponham a sade dos trabalhadores;
A adoo de medidas destinadas a assegurar o adequado controle
sade dos trabalhadores;
A anlise de acidentes e doenas do trabalho, de forma participativa,
mantendo adequados registros de informao;
O acompanhamento das atividades de trabalho que tenham causado
acidentes ou doenas, avaliando, na normalidade, os determinantes
desses eventos;
O desenvolvimento de atividades educativas em preveno para todos
os trabalhadores, inclusive, para os ocupantes de cargos de direo e
chefia;
A implementao dos programas de preveno previstos nas NR.
O SESMT o Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em
Medicina do Trabalho.
Seu objetivo Promover a sade e proteger a integridade do trabalhador no
local de trabalho.
So funes do SESMT:
Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurana e de medicina
do trabalho;
77
Determinar os Equipamentos de Proteo Individual EPI. De acordo
com a NR-6;
Colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implementao de
novas instalaes fsicas;
Responsabilizar-se,
tecnicamente,
pela
orientao
quanto
ao
cumprimento do disposto nas NR;
Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao
mximo de suas observaes, alm de trein-la, apia-la, e atende-la,
conforme dispem a NR-5;
Esclarecer e conscientizar o empregador;
Analisar e registrar os acidentes e doenas do trabalho.
Com relao segurana do trabalho, todos os itens exigidos so atendidos,
o que torna as edificaes prprias para anlise.
78
4 RESULTADOS E DISCUSSO
4.1 Anlise dos dados
No perodo observado, foram analisados os acidentes de trabalho ocorridos.
Obteve-se os dados abaixo:
Tabela 1 - ACIDENTES (n. de ocorrncias)
FASES
ED. CONVENCIONAL
ED.ALVENARIA
ESTRUTURAL
MOV. DE TERRA
FUNDAES
ESTRUTURA (FORMAS)
10
NO VERIFICADO
ALVENARIA
FECHAMENTOS
INSTALAES
ACABAMENTOS
TOTAL
22
02
Fonte: SESMT
Como se pode comprovar, a edificao em alvenaria estrutural apresentou
cerca de 90% a menos de acidentes em relao a alvenaria convencional. Nota-se
que, apesar de as 2 edificaes apresentarem controle de segurana do trabalho e
fornecerem EPIs e EPCs aos funcionrios, a alvenaria estrutural por no apresentar
a fase das estruturas (formas e escoramentos) englobadas na fase de alvenaria
tornou-se muito mais segura, pois a fase das estruturas que justamente acarreta
mais numero de acidentes (10 ocorrncias).
Ainda convm salientar, que o tempo de execuo das duas edificaes,
apresentou diferena significativa, enquanto que a edificao convencional levou
79
cerca de dois anos para ser concluda, a edificao em alvenaria estrutural esteve
concluda em apenas 7 meses.
Com relao aos equipamentos de proteo individual e coletiva, observouse, segundo informaes do SESMT, uma reduo de custos de cerca de 30%, por
serem diminudas tanto as quantidades de material, quanto a necessidade de trocas.
Grfico 1 Anlise dos acidentes observados
Anlise dos Acidentes Observados
Nmero de Acidentes
12
10
10
8
Ed. Convencional
4
2
1
0
Fu
nd
a
e
s
as
(F
or
m
as
)
Al
ve
na
ria
s
Fe
ch
am
en
to
s
In
st
al
a
e
s
Ac
ab
am
en
to
s
Es
tru
tu
r
ov
im
en
ta
de
Te
rra
1
0
Ed. Alvenaria Estrutural
Fases de Execuo
Grfico 2 Quantidade de acidentes por fase de execuo e por tipo de sistema construtivo
10
Ed. Convencional
5
1
00
Fase de Execuo
Acabamentos
Fechamentos
Estruturas
(Formas)
12
10
8
6
4
2
0
Movimentao
de Terra
Acidentes
Acidentes x Sistema Construtivo
Ed. Alvenaria
Estrutural
80
Grfico 3 Percentual de acidentes por fase de execuo - edificao convencional
Acidentes x Fases de Execuo Edificao Convencional
5%
14%
5%
0%
Movimentao de Terra
Fundaes
Estruturas (Formas)
Alvenarias
Fechamentos
Instalaes
Acabamentos
9%
44%
23%
Grfico 4 Percentual de acidentes por fase de execuo edificao em Alvenaria Estrutural
Acidentes x Fases de Execuo - Edificao em Alvenaria
Estrutural
Movimentao de
Terra
Fundaes
0%
Estruturas (Formas)
50%
50%
Alvenarias
Fechamentos
Instalaes
0%
Acabamentos
81
5. CONCLUSO
A partir deste trabalho, podemos concluir que, a alvenaria estrutural, apesar
de ser um sistema construtivo tecnolgico e avanado, ainda carente de estudos
especficos, particularmente em segurana do trabalho.
Mesmo com o aumento gradativo da importncia da anlise e preveno de
riscos, com a criao das normas regulamentadoras, os estudos existentes, em sua
maioria dirigem-se as obras em alvenaria convencional. Com isso, procurou-se
colaborar para a divulgao do sistema construtivo e a segurana do trabalho, onde
se pode claramente observar, com os dados obtidos, que so reduzidas as
incidncias de acidentes do trabalho, por ser um sistema mais econmico, em
termos de quantidade de material e de etapas construtivas.
Tambm, observou-se que a quantidade necessria de equipamentos de
proteo menor, em funo de serem racionalizadas as etapas construtivas.
Portanto, a hiptese inicialmente levantada de que a necessidade de
equipamentos de segurana do trabalho e a quantidade de acidentes observada
para uma obra em que se adota o sistema construtivo em alvenaria estrutural
menor comparado com uma obra em que o sistema construtivo convencional se
confirma, pois notou-se uma reduo de 90% na quantidade de acidentes e com a
reduo do nmero de etapas construtivas, automaticamente reduz-se a
necessidade de equipamentos de proteo.
Com a elaborao deste trabalho, pretende-se difundir a ampliao do estudo
de segurana do trabalho, bem como da alvenaria estrutural, sugerindo aos
trabalhos futuros que explorem mais a relao entre este sistema construtivo e as
normas regulamentadoras, nas questes de riscos ambientais, e tambm na
possibilidade da criao de uma norma regulamentadora especfica para este
sistema,
semelhante
ao
que
encontramos
na
NR-18,
para
edificaes
convencionais.
Enfim, espera-se que este estudo colabore para que mais estudantes tenham
interesse em dedicar-se esta rea de atuao, e tambm para que ocorram ainda
menos acidentes do trabalho nas edificaes, com o aprimoramento ainda maior das
novas tecnologias, com a mesma economia e racionalidade.
82
6. REFERNCIAS BIBILIOGRFICAS
___________. Notas Tcnicas 2002 - Nota Tcnica COREG N 9, de 16/10/2002.
Disponvel em: <www.tecgraf.puc-rio.br>. Acessado em 03 jun. 2006.
BIBLIOTECA VIRTUAL DO ESTUDANTE DE LNGUA PORTUGUESA
Universidade de So Paulo. So Paulo. Disponvel em: <www.bibvirt.futuro.usp.br>.
Acessado em 15 nov. 2006.
BUNSE,
Ricardo
A.
Cartilha
de
Segurana.
<www.segurancaetrabalho.com.br>. Acessado em 02 jun. 2006.
Disponvel
em:
CARPILOVSKY, Thais Falleiro. Levantamento dos Problemas Ergonmicos na
alvenaria estrutural devido ao assentamento de blocos de concreto. Monografia
de Especializao em Segurana do Trabalho. Universidade Federal de Santa
Maria. Santa Maria, 1999.
CENTRO MDICO DE SEGURANA DO TRABALHO. Rio de Janeiro, 1995-2004.
Disponvel em: <www.cmt.com.br>. Acessado em 15 nov. 2006.
COSTA, M. C. M. A Gesto da Segurana e Sade no Trabalho: A Experincia
do Arranjo Produtivo Local do Setor Metal-Mecnico da Regio Paulista do
Grande ABC. Disponvel em: <www.fundacentro.gov.br>. Acessado em 15 nov.
2006.
COSTELLA, Marcelo F. Anlise dos Acidentes do Trabalho Ocorridos na
Atividade de Construo Civil no Rio Grande do Sul em 1996 e 1997. Disponvel
em: <www.saudeetrabalho.com.br>. Acessado em 05 jan. 2007.
DEL SAVIO, A. A. ANDRADES, S.A.L. MARTHA, L. F. VELLASCO, P.C.G.S. Um
Sistema No-Linear para Anlise de Prticos Planos Semi-Rgidos. Revista Sul
Americana de Engenharia Estrutural, ISSN 1806-3985, vol. 2, no. 1, pp. 97-125,
2005. Disponvel em: <www.tecgraf.puc-rio.br>. Acessado em 03 jun. 2006.
ENTECA 2001 - ENCONTRO TECNOLGICO DA ENGENHARIA CIVIL E
ARQUITETURA DE MARING. 2001, Maring. Anais. 2001.
FRANCO, L.S. Aplicao de diretrizes de racionalizao construtiva para a
evoluo tecnolgica dos processos construtivos em alvenaria estrutural no
armada. Tese de Doutorado. EPUSP. So Paulo, 1992.
83
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENO AOS ACIDENTES EM MQUINAS E
EQUIPAMENTOS - INPAME. Rio de Janeiro, 2007. Disponvel em:
<www.inpame.org.br>. Acessado em 05 jan. 2007.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO M.T.E. Braslia, DF, 1997-2006.
Disponvel em: <www.mte.gov.br>. Acessado em 15 nov. 2006.
MODLER, Luis Eduardo Azevedo. A Qualidade dos Projetos em Alvenaria
Estrutural. Dissertao de Mestrado. Universidade Federal de Santa Maria PPGEC. Santa Maria, 2002.
PACHECO Jr, Waldemar. Gesto da Segurana e Higiene do Trabalho. So
Paulo: Atlas, 2000.
PLANEJAR ENGENHARIA DE PROJETOS E NEGCIOS. Minas Gerais. Disponvel
em: <www.planejarengenharia.com.br>. Acessado em 15 nov. 2006.
PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRATIVO DA USP - Universidade de So
Paulo. Ribeiro Preto, SP, 2002-2007. Disponvel em: <www.pcarp.usp.br>.
Acessado em 15 nov. 2006.
SATO
CONSULTORIA DE PESSOAL.
So
<www.sato.adm.br>. Acessado em 15 nov. 2006.
Paulo.
Disponvel
em:
SAURIN, Tarcsio Abreu. SEGURANA E PRODUO: um modelo para o
planejamento e controle integrado. Tese de Doutorado. Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2002.
SIBRAGEC - III SIMPSIO BRASILEIRO DE GESTO E ECONOMIA DA
CONSTRUO. So Carlos, SP. 2003. Anais. So Carlos. Universidade Federal
So Carlos, 2003.
SILVA, Geziel. Alvenaria Estrutural uma anlise comparativa de custos.
Dissertao de Mestrado - PPGEC. Universidade Federal de Santa Maria. Santa
Maria, 2003.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURANA. Rio de Janeiro,
2005. Disponvel em: <www.sobes.org.br>. Acessado em 15 nov. 2006.
84
SOUZA, Oscar Manoel Erthal. Processo para a Melhoria da Segurana do
Trabalho na Construo Civil. Dissertao de Mestrado. Universidade Federal
Fluminense. Niteri, 1999.
ZOCCHIO, lvaro. Prtica da Preveno de Acidentes ABC da segurana do
trabalho. 7 Edio. So Paulo: Atlas, 2002.
Você também pode gostar
- Solo Cimento: Marcelo Shiniti UchimuraDocumento30 páginasSolo Cimento: Marcelo Shiniti UchimuraKarina SalatielAinda não há avaliações
- Tipos de Moradia PDFDocumento4 páginasTipos de Moradia PDFIldete Fips86% (14)
- TCC - Diego Dos Santos Da TrindadeDocumento88 páginasTCC - Diego Dos Santos Da TrindadeRoger Dias Silvestre AlbertoAinda não há avaliações
- STC - 6 - 1 - FT5 - Construção e Arquitetura 1 HabitaçãoDocumento24 páginasSTC - 6 - 1 - FT5 - Construção e Arquitetura 1 HabitaçãoAbbyTaylorAinda não há avaliações
- Ambrosio 2004Documento128 páginasAmbrosio 2004lucasalvesmAinda não há avaliações
- STC-6 Os Materiais Usados Na Construção Das CasasDocumento2 páginasSTC-6 Os Materiais Usados Na Construção Das Casasocsav28Ainda não há avaliações
- Adobe e As ArquiteturasDocumento24 páginasAdobe e As ArquiteturasFelipe PiresAinda não há avaliações
- Catálogo Casas Típicas de PortugalDocumento76 páginasCatálogo Casas Típicas de Portugalkikinhas3391% (11)
- TCC FundacoesDocumento59 páginasTCC FundacoesAndré VianaAinda não há avaliações
- NR 18 - SST em Alvenaria EstruturalDocumento84 páginasNR 18 - SST em Alvenaria EstruturalCPSSTAinda não há avaliações
- Thais Da Silva Ambrosio Garcia Herani1Documento73 páginasThais Da Silva Ambrosio Garcia Herani1JuliusLempAinda não há avaliações
- NR 35 - Analisar Os Riscos Do Trabalho em Altura Na ConstruçãoDocumento57 páginasNR 35 - Analisar Os Riscos Do Trabalho em Altura Na ConstruçãoCPSSTAinda não há avaliações
- MD - Enseg - Iv - 2011 - 09Documento61 páginasMD - Enseg - Iv - 2011 - 09Roberval TelesAinda não há avaliações
- Feraamentas Manuais PDFDocumento87 páginasFeraamentas Manuais PDFniltonsamaral100% (1)
- Segurança Do Trabalho Na Construção Civil - Um Estudo de CasoDocumento64 páginasSegurança Do Trabalho Na Construção Civil - Um Estudo de CasoVP MoretiAinda não há avaliações
- TCC Versão - Final 20 05 18Documento62 páginasTCC Versão - Final 20 05 18Jose Antonio De Medeiros Sobrinho AntonioAinda não há avaliações
- Segurança Do Trabalho Na Construção Civil: Estudo de Caso de Acidentes de Trabalho em Altura E Segurança em Canteiro de ObrasDocumento67 páginasSegurança Do Trabalho Na Construção Civil: Estudo de Caso de Acidentes de Trabalho em Altura E Segurança em Canteiro de Obraspatrick silveiraAinda não há avaliações
- Livro - Boas Técnicas de Alvenaria - Luis Fernando Rodrigues MachadoDocumento63 páginasLivro - Boas Técnicas de Alvenaria - Luis Fernando Rodrigues MachadoBruno Henrique GonçalvesAinda não há avaliações
- CT Ceest Xxxvii 2019 21Documento65 páginasCT Ceest Xxxvii 2019 21YanAinda não há avaliações
- Análise Dos Riscos Ergonômicos Do Posto de Trabalho em Uma Fabrica de Tubos de Concreto ArmadoDocumento105 páginasAnálise Dos Riscos Ergonômicos Do Posto de Trabalho em Uma Fabrica de Tubos de Concreto ArmadoRogério RibeiroAinda não há avaliações
- NR 18 - Fundações Profundas em EstacasDocumento11 páginasNR 18 - Fundações Profundas em EstacasCPSSTAinda não há avaliações
- Solda e MaçaricoDocumento71 páginasSolda e MaçaricoAxelFoley1980Ainda não há avaliações
- Implantação Do Plano de Emergências para Hospitais - Estudo de CasoDocumento53 páginasImplantação Do Plano de Emergências para Hospitais - Estudo de CasoHenriqueAinda não há avaliações
- Gestão de Sistema de ProteçãoDocumento58 páginasGestão de Sistema de ProteçãoLucas LaureanoAinda não há avaliações
- PB Ceest V 2014 27 PDFDocumento45 páginasPB Ceest V 2014 27 PDFAnonymous 12R2uAUMRAinda não há avaliações
- Doc-20230820-Wa0004.rp TCC2Documento52 páginasDoc-20230820-Wa0004.rp TCC2wesley lacerdaAinda não há avaliações
- Dis GustavoAndrade 2021Documento218 páginasDis GustavoAndrade 2021Roberto ZorziAinda não há avaliações
- TCC - Alex Sandro Couto SirtoliDocumento77 páginasTCC - Alex Sandro Couto SirtoliLuís RodasAinda não há avaliações
- Anpalise de Risco Industria MoveleiraDocumento68 páginasAnpalise de Risco Industria MoveleiraSandroSalvadorAinda não há avaliações
- Daniel Giorgi Reis 2016Documento132 páginasDaniel Giorgi Reis 2016Andressa RairaAinda não há avaliações
- A SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL Um Estudo de Caso de Um Canteiro de Obra Da Construção de Uma Quadra PoliesportiDocumento35 páginasA SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL Um Estudo de Caso de Um Canteiro de Obra Da Construção de Uma Quadra PoliesportiAlison LansariniAinda não há avaliações
- Índice Ceraunico - Vários EstadosDocumento88 páginasÍndice Ceraunico - Vários Estadosfernandavaloes100% (1)
- Faculdade de Tecnologia E Ciências Sociais Aplicadas - Fatecs Curso: Engenharia CivilDocumento77 páginasFaculdade de Tecnologia E Ciências Sociais Aplicadas - Fatecs Curso: Engenharia Civilelaine santanaAinda não há avaliações
- Análise de Riscos em Instalações de Sistemas MonografiaDocumento67 páginasAnálise de Riscos em Instalações de Sistemas MonografiaFabricio JacobAinda não há avaliações
- Caracterização Da Mao de Obra de LSFDocumento94 páginasCaracterização Da Mao de Obra de LSFcamila rottiliAinda não há avaliações
- NR 12 - Maquinario Setor MoveleiroDocumento48 páginasNR 12 - Maquinario Setor MoveleiroCPSSTAinda não há avaliações
- TCC - EPIS FinalDocumento44 páginasTCC - EPIS FinalMatheus DuarteAinda não há avaliações
- Tecnologia E Ciências Sociais Aplicadas - Fatecs Curso: Engenharia CivilDocumento65 páginasTecnologia E Ciências Sociais Aplicadas - Fatecs Curso: Engenharia CivilVITOR HUGO FERNANDES MONTALVÃOAinda não há avaliações
- TCC Com Comando BimanualDocumento51 páginasTCC Com Comando BimanualVanderlei Martin SalinasAinda não há avaliações
- Tese 188Documento107 páginasTese 188rodolfoAinda não há avaliações
- TCC - Análise Da Conformidade de Painéis Elétricos Com A NR-10Documento62 páginasTCC - Análise Da Conformidade de Painéis Elétricos Com A NR-10iuryAinda não há avaliações
- TCC Leandro Cândido de SiqueiraDocumento75 páginasTCC Leandro Cândido de SiqueiraOtto MoutinhoAinda não há avaliações
- Patologias em Alvenaria EstruturalDocumento76 páginasPatologias em Alvenaria EstruturalGustavoLuanAinda não há avaliações
- PREMOLDARDocumento43 páginasPREMOLDARjuniu10Ainda não há avaliações
- Civil 17Documento77 páginasCivil 17MarcioPintoAinda não há avaliações
- TCC - Análise Comparativa de Custo Entre Edifício de Alvenaria Estrutural e de Convencional PDFDocumento79 páginasTCC - Análise Comparativa de Custo Entre Edifício de Alvenaria Estrutural e de Convencional PDFBaleadoAinda não há avaliações
- TCC Diego MauricioDocumento61 páginasTCC Diego MauricioRaiz SertanejaAinda não há avaliações
- Lima JR, Ícaro Galvão. Aplicação Das Técnicas Árvore de Falhas e Árvore de Eventos Na Gestão de Riscos de Acidentes em Obras de Construção Civil.Documento40 páginasLima JR, Ícaro Galvão. Aplicação Das Técnicas Árvore de Falhas e Árvore de Eventos Na Gestão de Riscos de Acidentes em Obras de Construção Civil.Sergio AvilaAinda não há avaliações
- TCC Vanderlei Darlei Kobs - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 2017.2Documento33 páginasTCC Vanderlei Darlei Kobs - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 2017.2Uriel RickAinda não há avaliações
- 000040E3Documento146 páginas000040E3comandoAinda não há avaliações
- Monografia - Marcelo ENG SEGDocumento141 páginasMonografia - Marcelo ENG SEGMarcelo Gandra FalconeAinda não há avaliações
- Concreto Pré-Fabricado - Análise de Práticas Adotadas No Processo Executivo de Estrutura de Grande PorteDocumento103 páginasConcreto Pré-Fabricado - Análise de Práticas Adotadas No Processo Executivo de Estrutura de Grande PorteHenrique AmaralAinda não há avaliações
- Termografia Inspeção Predial PDFDocumento65 páginasTermografia Inspeção Predial PDFAnonymous 8cIByShAinda não há avaliações
- Análise Comparativa Dos Métodos Estático e DinâmicosDocumento119 páginasAnálise Comparativa Dos Métodos Estático e DinâmicosPatrick PutnamAinda não há avaliações
- Analise RiscoDocumento55 páginasAnalise RiscoEduardo CarvalhoAinda não há avaliações
- TCC Patologia PDFDocumento88 páginasTCC Patologia PDFguvital1100% (1)
- Seguranca em Tecnologia Da InfDocumento254 páginasSeguranca em Tecnologia Da InfCristiano ArnoldAinda não há avaliações
- Analise Estrutural - FtoolDocumento50 páginasAnalise Estrutural - FtoolStephanie Selke Novoa100% (1)
- Perdas - Bloco Cerâmico PDFDocumento133 páginasPerdas - Bloco Cerâmico PDFvaaaallAinda não há avaliações
- Reinaldo Squillante Junior Corr 17Documento277 páginasReinaldo Squillante Junior Corr 17Anjo ÓscarAinda não há avaliações
- Analise de Estruturas Sanduiche ParametrDocumento168 páginasAnalise de Estruturas Sanduiche ParametrMarcelo CostaAinda não há avaliações
- TCC 2 Rachel Moura AndereDocumento70 páginasTCC 2 Rachel Moura AndereTarcísio FernandesAinda não há avaliações
- Monografia - Nábila Rezende de Almeida CerqueiraDocumento105 páginasMonografia - Nábila Rezende de Almeida CerqueiraGabriel MartinsAinda não há avaliações
- Engenharia Civil: Concepção, Teoria E PráticaNo EverandEngenharia Civil: Concepção, Teoria E PráticaAinda não há avaliações
- Secao 5Documento56 páginasSecao 5rbs432hz.freelancerAinda não há avaliações
- Jothaia A Esperanca de Um Mundo MelhorDocumento170 páginasJothaia A Esperanca de Um Mundo MelhorSABA100% (1)
- Primeiro - Definição Do Alinhamento Da ParedeDocumento2 páginasPrimeiro - Definição Do Alinhamento Da ParedeGuilherme BuzattoAinda não há avaliações
- Memorial Descritivo - Creches ProinfânciaDocumento76 páginasMemorial Descritivo - Creches ProinfânciaSaulo Henrique JacotAinda não há avaliações
- Sco Jan2013Documento188 páginasSco Jan2013Pablo VasconcelosAinda não há avaliações
- NBR 15270-2Documento35 páginasNBR 15270-2luket88Ainda não há avaliações
- FPSA - AlvenariasDocumento2 páginasFPSA - Alvenariasimmrcbr1678Ainda não há avaliações
- Distribuição Das Cargas Nas LajesDocumento16 páginasDistribuição Das Cargas Nas LajesPaulo José de AndradeAinda não há avaliações
- Arquitetura V - TP 01 - Obras AnálogasDocumento18 páginasArquitetura V - TP 01 - Obras Análogasfrankjr18Ainda não há avaliações
- Memorial Descritivo Obra Posto Econômico 02Documento11 páginasMemorial Descritivo Obra Posto Econômico 02César Roberto Nascimento GuimarãesAinda não há avaliações
- Arq EscDocumento10 páginasArq EscPedro NunesAinda não há avaliações
- INTRODUÇÃO A ARQUITETURA Os Sitemas Vitrivuanos - FirmitasDocumento46 páginasINTRODUÇÃO A ARQUITETURA Os Sitemas Vitrivuanos - FirmitasWilka PazAinda não há avaliações
- UFCD9891 - Guia de Bolso Escoramentos V.01Documento10 páginasUFCD9891 - Guia de Bolso Escoramentos V.01Ricardo PomboAinda não há avaliações
- Aula 15 Construção 2 Alvenaria de Vedação 2018 1Documento78 páginasAula 15 Construção 2 Alvenaria de Vedação 2018 1Gustavo AbreuAinda não há avaliações
- Aula Caracteristicas Gerais Alvenaria Estrutural - Construções EspeciaisDocumento29 páginasAula Caracteristicas Gerais Alvenaria Estrutural - Construções EspeciaisGleidistony CarvalhoAinda não há avaliações
- Ver para Crer - Tocar para Sentir - Vania SimõesDocumento361 páginasVer para Crer - Tocar para Sentir - Vania SimõesRodrigo De MicheleAinda não há avaliações
- Desenho ArquitetônicoDocumento40 páginasDesenho ArquitetônicoPaulo BeckmanAinda não há avaliações
- Download-14541-4 PASSOS ESSENCIAIS para REDUZIR 40% No Custo Da Alvenaria!-86533Documento19 páginasDownload-14541-4 PASSOS ESSENCIAIS para REDUZIR 40% No Custo Da Alvenaria!-86533Renan LimaAinda não há avaliações
- Materiais Ceramicos PDFDocumento64 páginasMateriais Ceramicos PDFsilva larissaAinda não há avaliações
- Apresentação Solo CimentoDocumento26 páginasApresentação Solo CimentoTiago FrancaAinda não há avaliações
- Apostila Construção Civil 1Documento86 páginasApostila Construção Civil 1Bruna DuarteAinda não há avaliações
- Drenagem de SoloDocumento5 páginasDrenagem de SoloAdelmar SilvaAinda não há avaliações
- Como Fazer Um Fogão A LenhaDocumento6 páginasComo Fazer Um Fogão A LenhasocorristadoalemAinda não há avaliações