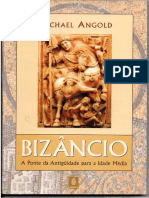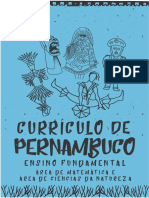Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
NIKITIUK, Sônia L. (Org) - Repensando o Ensino de História
NIKITIUK, Sônia L. (Org) - Repensando o Ensino de História
Enviado por
Maisa Andrade0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações48 páginasDiscussão sobre metodologia e didática de História.
Título original
NIKITIUK, Sônia L. (Org). Repensando o Ensino de História
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDiscussão sobre metodologia e didática de História.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Fazer download em pdf
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações48 páginasNIKITIUK, Sônia L. (Org) - Repensando o Ensino de História
NIKITIUK, Sônia L. (Org) - Repensando o Ensino de História
Enviado por
Maisa AndradeDiscussão sobre metodologia e didática de História.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Fazer download em pdf
Você está na página 1de 48
Colegio
QUESTOES DA NOSSA EPOCA
Volume 52
Dados Internacionais de Catalogagao na Publicagao (CIP)
(Camara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Repensando o ensino de histéria/ Sonia M. Leite
Nikitiuk (org.). - 4. ed — Sao Paulo, Cortez, 2001. —
(Colegio questées da nossa época ; v. 52)
Varios autores
ISBN 85-249-0608-1
1. Hist6ria - Estudo e ensino 1. Nikitiuk, Sonia
M. Leite Il. Série.
CDD-907
indices para catdlogo sistematico:
1. Historia : Ensino 907
2. Histéria : Estudo ¢ ensino 907
Sonia. Niktuk (Org,
REPENSANDO O
ENSINO DE
HISTORIA
# edigdo
Mss
DA NOSSA EPOG
CORTEZ
SPavirel ta
REPENSANDO O ENSINO DE HISTORIA
Sonia M. Leite Niktiuk (Org.)
Capa: DAC
Preparacdo de originais: Carmen Teresa da Costa
Revisdo: Maria de Lourdes de Almeida, Eliana Martins
Composigdo: Dany Editora Ltda.
Coordenagao Editorial: Danilo A. Q. Morales
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou duplicada sem
autorizacio expressa dos autores e do editor.
© 1996 by Autores
Direitos para esta edigdo
CORTEZ EDITORA
Rua Bartira, 317 — Perdizes
05009-000 — Sao Paulo - SP
Tel.: (11) 3864-0111 Fax: (11) 3864-4290
E-mail: cortez@cortezeditora.com.br
www.cortezeditora.com.br
Impresso no Brasil - novembro de 2001
SUMARIO
Apresentagdo ... 6... ee te eee 7
1.
Ensino de Histéria: algumas reflexdes
sobre a apropriagdo do saber
Sonia Maria Leite Nikitiuk ........ 9
Sobre a norma e o 6bvio: a sala de aula
como lugar de pesquisa
Paulo Knauss... 602 ee eee 26
Reconstruindo a Histéria a partir do
imagindrio do aluno
Ubiratan Rocha ........-.04-- 47
O ensino de Histéria no contexto das
transigdes paradigmaticas da Histéria e da
Educa¢io
Martlia Beatriz Azevedo Cruz ......- 67
Construindo um novo currfculo de Histéria
Arlette Medeiros Gasparello ....... 77
APRESENTACAO
Repensar 0 ensino,
Repensar a Historia,
Repensar o ensino da Historia,
Repensar as relag6es entre ensino e Histéria,
Repensar as relagdes entre quem ensina e quem
uprende,
Repensar no ensino 0 que aprender e como ensinar,
i © que, neste conjunto de textos, os diferentes
autores vém levantar.
No texto “Ensino de Histéria: algumas reflexdes sobre
a apropriagao do saber”, procuro destacar alguns desafios
por que passa a Histéria e suas implicages no ensino.
€onsiderando que o saber é apropriado e construido,
iio hé como nfo se preocupar com as questées sobre
wentidade, linguagem, registros, pluralidade. A transfor-
magio qualitativa que se almeja, no ensino de Histéria,
passa pelo professor que se abre ao diferente, que ousa
abric espagos, que incentiva os diversos olhares sobre
«1 objeto.
Ja Paulo Knauss, no texto “Sobre a norma e o 6bvio:
a sala de aula como lugar de pesquisa”, apresenta, a
partir de situagdes concretas, o espago da sala de aula
como normatizagéo do saber. Os conceitos produzidos
coletivamente, por meio de pesquisas, tornam a Histéria
instrumento de leitura do mundo.
© texto “Reconstruindo a Histéria a partir do ima-
pindrio do aluno”, de Ubiratan Rocha, aborda os riscos
de uma Histéria fragmentada que conduz a um relativismo
|crigoso e aponta para a necessidade de se refletir sobre
7
© processo de conhecimento cientifico e de senso comum,
na Histéria.
Marilia Beatriz A. Cruz, no artigo “O ensino de’
Histéria no contexto das transigées paradigmaticas d
Historia e da Educagdo”, situa a crise do ensino e d:
educagdo explorando, a partir da mesma, a necessidad
de formulag&o de novas bases para a producao cientific:
da narrativa histérica e da formacao de conceitos n
processo ensino-aprendizagem.
O iiltimo artigo, “Construindo um novo curriculo de’
Histéria”, de Arlette Gasparello, situa a questéo do
ensino de Histéria no campo do curriculo, destacan
a abordagem da Histéria local no ensino. O enfoqu
regionalista é apresentado como referencial analitico par:
a compreensao da dinamica social e como contribuiga
para a percepc4o das continuidades e descontinuidade:
do processo histérico.
Esta coleténea espera ser um espago para que pro-
fessores de Histéria abram outros espagos de discussa
sobre o seu mister.
Acreditamos que sé ensina Histéria quem ousa des-
Cortinar horizontes.
Sonia Nikitiuk
Niteréi, fevereiro de 199
ENSINO DE HISTORIA:
algumas reflexGes sobre a
apropriacéo do saber
Sonia Maria Leite Nikitiuk
Nescortinando horizontes
Hist6ria narrativa, ciéncia, disciplina...
Professor Jeitor, historiador, decodificador...
Ensino reproducdo, produgdo, inovagao...
Passado, presente, futuro...
Que horizontes descortinar?
Historia nova, novas formas,
Novos objetos, novos sujeitos,
Novas linguagens, novos papéis.
Serio novos os saberes?
Espacgos, limites, fronteiras,
Infinito, olhares, barreiras.
Observam, procuram, exploram.
E o imagindrio se torna real.
Mas o que é o real?
© Real simbélico,
© Real mediado,
© Real imaginado,
© Real vivenciado,
© Real historicizado.
©) Real é meu? é seu? € nosso? é€ de ninguém?
f. descobrira estruturas diversas para sua leitura de
Em Chartier, um espago de investigagao
mundo.
E o alerta para o texto e para a produgao.
Em Burke, o real é historicamente produzido,
Chega-se & Histéria total
E morre a iluséo dos documentos
Que falam por si s6.
lintre no mundo, arrisque-se, invente!
| verd que todos, ao seu redor, tém papel nessa historia.
Releia 0 que sempre leu
E sentiré necessidade de novas leituras e
documentos.
Procure explicar os fatos fazendo outras questdes
E descobrira as agées coletivas.
Conscientize-se de que o real é relativo
E verdé como outros sujeitos o ajudario
A descortinar horizontes e a ler evidéncias.
O universo do historiador esté em franca expansao,
O universo da Histéria parece indeterminado.
E como fica 0 universo da Academia?
E © universo do professor?
E 0 aluno, tem universo?
S6 uma coisa é certa: é preciso buscar.
Buscar é saber olhar pela janela.
Buscar é descobrir horizontes.
Buscar é saber ler as fontes.
Buscar é também narrar, registrar.
E assim que se faz a Historia.
I, vocé poderd repetir Paul Veyne (1971) dizendo:
“A historia 6 uma narrativa de acontecimentos ver-
iadeiros. Nos termos desta definigéo, um fato deve
}icencher uma s6 condigio para ter a dignidade da
lustoria: ter acontecido realmente”.
| assim, 14 longe, no horizonte,
Voce poder entao responder:
() que ensinar?
(umo apropriar-se do saber histérico?
Talvez ai, nesse horizonte expandido,
Comece a busca da identidade...
Afinal, professor,
Vocé também escreve a Hist6ria!
E seu aluno, pode escrever?
(ma janela aberta para o mundo do saber
Olhe o mais longe que puder,
Vera que a janela néo comporta todo o horizonte.
Por isso corra-o risco de pular no horizonte
E assim encontrar rumos, saberes e fazeres.
Individuos diferentes,
Vises diferentes,
Fatos... os mesmos.
Conhecer € construir.
A Hist6ria € construgio?
O ensino € produg&o ou reprodugio?
Saber € apropriagao?
Veja a totalidade das atividades humanas
E saberd que a Historia nao é imutavel.
Arrisque-se a sair das narrativas
10 11
Saber e nao saber é a relagdo do ensino.
Saber é poder.
Saber € também apropriar-se.
De qué? .
Saber, saberes universais? Populares?
Saber que se faz na Academia?
Ou, quem sabe, no cotidiano, no dia-a-dia?
Saber comum, saber novidade.
Saber relativo, saber verdade.
so, para a Histéria Nova, documentos de primeira
ordem” (Le Goff, 1990:28).
Como € necessdrio questionar 0 documento!
“Um tnico documento nao basta para estabelecer um
filo”, “a escrita nado pode provar nenhum fato; mostra-nos
apenas as probabilidades de certeza, uma vez que 0
yiu de veracidade depende do grau de adequagao da
Imagem do real construida metodicamente pelo historiador
vomo o ocorrido” (Langlois & Seignobos, 1940:148).
Saber: histéria “vista de cima”.
Saber: Historia “vista de baixo”. A escola tem papel: sistematizar 0 saber.
Nessa sistematizag&o, janelas se abrem.
Olhando pelas janelas vemos homens que fazem,
praticam,
Que registram, e léem a Historia.
O que discutir?
O que ensinar?
Para aonde deslocar-se?
Saber fixado nos documentos.
Ah! Um problema!
Os documentos-fonte se ampliaram.
Hoje, como saber’...
Tantos registros, tantos depoimentos!... tantas imagen:
Pode-se saber sem iconografia, sem festa?
Sem corpo, sem linguagem, sem técnica?
APT gt
| ry
4, 4S
i!
E assim, refletindo sobre Histéria, ensino, nado
como ndo falar em documento.
O campo conceitual de documentos aqui utilizado
do contexto da Histéria Nova, que substitui a Histéri
de Langlois e Seignobos, fundada essencialmente ni
textos, por uma Hist6ria baseada numa multiplicidai
de documentos; escritos de todos os tipos, document
figurados, produtos de escavagées arqueolégicas, doc
mentos orais etc. “Uma estatfstica, uma curva de preco
uma fotografia, um filme, ou para um passado mai
distante, um pélen féssil, uma ferramenta, um ex-vo'
Vocé também olhou?
Vocé também viu?
Qual a sua interpretagao?
12 13
“Se € verdade que a organizaco da histéria é relati
a um lugar e a um tempo, inicialmente o é por s
técnicas de produgdo” (Le Goff & Nora, 1979:28). }
Produgio pressupde pesquisa.
E esta se desenvolve com base na fronteira
Entre o dado e o criado,
Entre a natureza e a cultura.
E Historia das mentalidades!
No descortinar horizontes.
Contetidos e objetos se identificam
E nas relagées se estabelecem
Discurso e técnica de produgao,
No descortinar horizontes,
Traduzem-se linguagens culturais,
Toma-se consciéncia de que nao existe
Texto sem suporte
E que seu sentido é construfdo
Num tempo e espacgo determinado,
Numa comunidade especifica.
“Willis desenvolve a idéia de que as pessoas ni
recebem simplesmente os materiais simbélicos e cultw
tais como sao transmitidos, Existe um espaco cultui
no qual elementos e materiais simbélicos sao transfe
mados, reelaborados e traduzidos de acordo com pi
metros que pertencem ao préprio nivel cultural di
pessoas envolvidas. Nao existe nunca reprodugao pu:
(Silva, 1992:68).
Olhando através das janelas descobre-se que “i
teorias da reproducdo fazem como um retrato instantan
da realidade, sendo portanto incapazes de verem
dinamica social em movimento, operag4o somente torn:
14
poxsivel com uma perspectiva histérica de longa duragao.
Av estruturas se modificam para dar lugar a outras, mas
exe movimento sé é visivel se examinamos a histéria
fun perfodo suficientemente longo” (Silva, 1992:69).
infim, aquilo que é definido como saber ou conhe-
vimento escolar, na verdade, constitui uma relagdo par-
(ular e arbitraria de um universo muito mais amplo
de possibilidades.
Now escritos e leituras, diferentes apropriagdes
“A Historia é feita pelos homens, mas também é
twrita pelos homens”. (Zhuboa, C.)
Ne cscrita, pressupde um trabalho especffico.
Ke cscrita, pode ser narrativa,
Mis também pode ser estrutural.
A Histéria escrita:
Apreende o que é vivo,
Carrega visdes do mundo,
Configura expresses dos individuos,
Carrega aspiragGes de grupos sociais,
Organiza e faz sinteses,
Nunca sera neutra.
Autyem, por isso, indagagdes:
f possivel escrever sem que leituras diversas sejam
feitas?
fi possivel escrever o fato concreto, real?
Como estabelecer relagdes entre acontecimentos
e estruturas?
15
{. Transmite conceitos ¢ visdes que introduzem 4
uceitagéo do modo presente de organizagio econdmica
¢ social (processo de legitimagao);
2. Produz pessoas com as caracteristicas cognitivas
e utitudinais apropriadas ao processo de trabalho capi-
lulista (processo de acumulacao);
3. Envolve-se no processo de produgio de conheci-
mento cientifico e técnico necessério para a continua
trunsformagéo do processo de produgdo capitalista.
Desempenham, também, papel importante na repro-
ugao: o livro diddtico, os elementos estruturais da
excola, a definigfo do espago, a arquitetura, a adminis-
tragio do tempo, a diviséo e classificagéo do conheci-
mento, a linguagem etc.
“A histéria cultural, tal como a entendemos, tem p
principal objeto identificar no mundo como, em diferent
lugares e momentos, uma determinada realidade soci
€ construfda, pensada, dada a ler’ (Chartier, 1982:16)
Paul Veyne diz que “por esséncia a histéria é c
nhecimento através de documentos. A narrativa histéric!
coloca-se para além de todos os documentos, visto qu
nenhum deles pode ser 0 acontecimento” (1971:15).
Também Iembra que nenhum “acontecimento po
ser agarrado direta e inteiramente mas o é semp!
incompleto e lateralmente, através dos documentos
dos testemunhos, dos vestigios” (id., ibid.: 14).
Verdades subjetivadas, relativizadas,
Busca de evidéncias nos acontecimentos que nado se
repete!
Obrigam o historiador a leituras contextualizadas
E a compreensao de que o imaginério na histéria,
E uma narrativa de acontecimentos verdadeiros.
“Se nao compreendermos melhor a histéria material
da escola (em oposigéo a uma histéria das idéias pe-
dupégicas) estaremos condenados a permanecer prisio-
neiros das tradigdes e invengdes que nos legaram e,
portanto, de sua dindmica mais reprodutiva” (Silva,
1992:65).
“O conhecimento escolar na sua forma codificada, o
eurriculo, e€ as formas pelas quais ele é transmitido esta
também estratificado e é através dessa estratificagao que
ele volta a reproduzir aquelas desigualdades com que
«w diferentes grupos sociais chegam ao processo escolar.
A estratificagao do conhecimento escolar é ao mesmo
tempo resultado e causa da estratificagio social” (id.,
thid.: 62).
“O poder socializador da escola nao deve ser buscado
(dc-somente naquilo que € oficialmente proclamado como
sendo seu curriculo explicito, mas também (e talvez
principalmente) no curriculo oculto expresso pelas pré-
Micus ¢ experiéncias que ela propicia” (id., ibid.: 80).
Representagées, interpretagdes
Embutidas nas leituras
E nas apropriagGes do saber.
O contetido de Histéria ndo € o passado, mas
tempo ou, mais exatamente, os procedimentos de andli
€ 0S conceitos capazes de levar em conta o moviment
das sociedades, de compreender seus mecanismos, r
constituir seus processos e comparar suas evolucées.
A educagao institucionalizada trabalha basicamen
com 0 escrito, direciona “leitura’ e interfere no proces:
de apropriagéo do saber. Por isso a escola € a mai
responsdvel pelo processo de reprodugio, principalmen
porque, conforme lembra Tomaz Tadeu Silva:
16 17
Segundo Rojas, as trés atitudes de leitura (hist6ri
boa para narrar e passar o tempo; hist6ria para memoriz:
lugares-comuns e frases feitas e leitura plural, que cap
© texto em sua totalidade) propiciam a diversidade
interpretagdes e levantam questdes sobre a pratica eri
dora e produto dos textos apontando para a necessid:
de reunir duas perspectivas freqiientemente separadas:
estudo da maneira como os textos e Os impressos q'
Thes servem de suporte organizam a leitura que del
deve ser feita e, por outro lado, a recolha das leitur
efetivas, captadas nas confinagdes individuais ou recon:
trufdas a escolha das comunidades de leitores. Enfi
“aponta para as sociabilidades da leitura como contrapon
para a privatizagao do ler e para a andlise das relag
entre textualidade e oralidade” (Rojas, 1980:116-9).
Ler, escrever, apropriar-se
Da Histéria escrita, Histéria narrada,
Contributo para a educagdo geral e cultural,
E procura de verdade e inicia¢éo ao pensament
hist6rico,
Da Hist6ria texto, pretexto, contexto.
Por que ensin4-la?
Talvez para legitimar a identidade
Na recordagio histérica da comunidade.
J& que a Historia € escrita com e/ou a partir
documentos, nio importa quais, a critica aos mesm
representa a primeira etapa de uma Historia cientffic
Fazendo o documento adquirir sentido, deixar de exis’
sozinho, assumir valor relativo.
Chega-se até a leitura das lacunas e vazios,
contexto e de propésitos de produgdo e transmissao.
18
Nonhos sonhados, saberes aflorados
Professor, aquele que ensina.
Ensina o qué?
Professor, aquele que produz.
Produgao-reprodu¢io?
Professor, aquele que sonha.
O vivido é sonho sonhado?
Professor, aquele que detém o saber.
Mas que saber?
Professor, aquele que faz Histéria.
Hist6ria apropriada? Construfda? Memorizada?
Professor, aquele que abre caminhos.
Mas que caminho tomar?
winlquer que seja o caminho,
ve levar ao processo do pensamento histérico,
“umo via para o saber.
19
Interrogar € pesquisar,
Ler os vestfgios histéricos,
Multiplicar as situagdes de interrogagao
do passado.
Conscientizar sobre a insuficiéncia das fontes
naturais,
Sobre a relatividade dos documentos escritos,
Privilegiando construgao de esquemas cognitivo:
Desenvolvendo competéncias em vez de
memoriza¢ao,
Discutindo os problemas dos valores,
Tudo isto faz parte da arte de ensinar.
Nos sonhos sonhados, uma utopia;
Histéria, disciplina-cidada.
Nos sonhos sonhados, a busca,
A identidade da Histéria.
Nos sonhos sonhados, saberes;
Cientfficos, académicos e populares.
Sao saberes que circulam e se interpenetram.
Gerados em diferentes culturas ¢ ideologias,
Se desenvolvem no seio das sociedades
Que os definem e organizam.
Histéria, quantos conceitos!
Quantas experiéncias
Na espiral de sua Escrita!
Coniclusdes nossas, suas ou deles?
Reflexdes finais, a quem compete fazé-las?
Acreditamos que a mim, a vocé, a eles € a tod
Por qué?
Porque ensino e Histéria dizem respeito a todos
20
Histéria tem identidade e tem memoria.
Que homem vive fora da Historia?
Que homem deixa de ensinar?
Ficam entéo as questdes.
Mas por que.
Nem sempre se tem a consciéncia da pertenga?
Nem sempre se consegue ler os acontecimentos?
Nem todos se apropriam do saber?
Nem sempre se divulga o saber?
Nem sempre se facilita a circulagio do saber?
Nem sempre se define o que € Hist6ria?
© que leva a reproduzir?
Por que a produgao é restrita a alguns?
Por que leituras diferentes do mesmo produto?
Vor que € téo dificil ensinar Histéria?
Por que a Histéria incomoda, aliena, revoluciona?
Qual o sentido da Histéria?
Ensinar Histéria € caminhar numa linha de tempo,
Com duragées e cortes diversos.
Ensinar Histéria € estruturar identidades.
Ensinar Historia é também produzir conhecimento.
Ensinar Histéria € processo de alteridade.
Ensinar Hist6ria é aprender com o plural e o singular.
Ensinar Histéria € conceber absolutos e relativos.
Wintdria, saberes em constru¢ao.
Mupturas, lugar de utopias e reconstrugGes.
Husca de semelhangas e diferengas.
Vida, lugar de produgio.
“H4 a realidade do ensino da Histéria, e ha aquilo
que cla representa para os adultos. Por um lado, num
quadro instituido e em situagdes vividas, meninos e
21
adolescentes encontram professores, livros ¢ exercicio:
aprendem conhecimentos que, para eles, poem ou ni
poem coisas em jogo. Ocorrem operacées intelectuais
processos efetivos, de que se alimenta eventualmen'
seu desconhecimento cognitivo, sua identidade, sua
cializagdo. Na idéia que reside nos adultos sao ou’
assuntos que estéo em questao, a relagao de uma s
ciedade com a sua juventude, as continuidades culturai
alguns exorcismos verbais com essas duas justificativ
0s conflitos ideolégicos e os projetos politicos, a posi¢a
do professor. (...)
vron escolares e histérias em quadrinhos, filmes e
wgramas de televisdo. Cada vez mais entregam a cada
mc a todos um passado uniforme. E surge a revolta
ire uqueles cuja Hist6ria é proibida” (Ferro, 1983).
Cuda vez mais fica claro que o rompimento com a
Ivisdo do trabalho intelectual, com a hierarquizacao de
ngdes e tarefas e com uma concepgao de saber e de
Wwxlugdio de saber enraizada na tradicdo académica, é
wndigdo essencial para o aflorar de saberes — enfim,
wri se ensinar Histéria.
Uma das principais referéncias da reflexo didéti Historia € necessidade social.
consiste, no entanto, na natureza, no dominio e
exercicio dos saberes invocados, e no préprio trabal
do historiador encontraria, em troca, uma preciosa pro
de verdade no exame das condigdes de exposigao,
demonstratividade e de reapropriagao dos conheciment
que produz” (Moniot, in Burguiére, A. (org.), 1993:225)
O professor lida com tudo isto € faz do seu mist
um sonho: formar consciéncia, formar 0 cidadao.
Professor-historiador, aquele que produz
A partir de marcas e vestigios.
Praticas discursivas
Cortadas cronologicamente
Com destinagdo determinada e apropriagées.
ctlexdes nossas, suas ou deles
us levam a ver a circularidade da Hist6ria,
Mopiciam o dar sentido ao vivido.
cllexdes, a respeito do ensino,
os levam ao compromisso de escrever Histéria
aw esquecendo
seus objetivos
sua forma
scus contetidos
scus rituais de produgao
sua linguagem
scus limites
seu lugar cultural
sua historicidade
as relagdes entre fontes e autores.
Como ingredientes desse ensino os fatos “verdadeiro:
mas construidos, a consciéncia das facetas verdade-ficga
o referencial dos saberes a serem apropriados e con:
trufdos dentro das continuidades e rupturas da Histéri
A mesma observacio que levou Marc Ferro a examin:
a elaboragio do discurso histérico torna-se preocupagal
para a efetivacio do sonho sonhado.
“Controlar 0 passado ajuda a dominar o presente,
legitimar tanto as dominagGes como as rebeldias.
os poderosos dominantes: Estados, Igrejas, partidos
liticos, interesses privados que possuem ¢€ financi
veiculos de comunicagio e aparelhos de reproduga
22 23
Em sintese:
A Histéria é, principalmente, o lugar do outro q
se projeta e resiste, 0 sempre imprevisfvel.
Nas relagdes de ensino-aprendizagem nao se p
portanto, descurar do registro lido e/ou produzido.
responsabilidade do professor abrir as janelas desse sal
OJAS, F. (1980). La Célestine ou Tracomédia de Calixte et
Melibee. Paris, Ambier-Flammarion.
ILVA, T. T. da. (1992), O que produz e 0 que reproduz
em educacdo, Porto Alegre, Artes Médicas.
1] — LABORATORIO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
UM HISTORIA. (1991). Cadernos de Histéria. Uberlandia,
aio 2, n° 2, jan.
HYNE, P. (1971). Como se escreve a Histéria. Lisboa,
Edigdes 70 [trad. Alda Bastos e Maria A. Kneipp. Brasflia,
Referéncias bibliograficas UINB, 1982].
BALDIN, N. (1989). A Histéria dentro e fora da esc
Florianépolis, Ed. da UFSC.
BURGUIERE, A. (org.) (1993). Dictondrio das ciéncias
toricas. Rio de Janeiro, Imago.
BURKE, P. (org.) (1992). A escrita da Histéria. So
UNESP.
CHAFFER, J. & TAYLOR, L. (1984). A Histéria e o profes.
de Histéria. Lisboa, Livros Horizonte.
CHARTIER, R. (1982). A Histéria cultural, entre pratic
representagées. Lisboa, Ed. Difel; Rio de Janeiro,
Bertrand [trad. M. Manuela Galhardo].
FERRO, M. (1983). A manipulagéo da Histéria no ensii
nos meios de comunicagéo. Sio Paulo, IBRASA.
FONSECA, S. G. (1993). Caminhos da Histéria ensii
Sao Paulo, Papirus.
LANGLOIS, Ch. & SEIGNOBOS, Ch. (1949). Introdugao
estudos histéricos. So Paulo, Renascenga.
LE GOFF, J. (1990). A Histéria nova. In: LE GOFF, J. (
A Historia nova. Sao Paulo, Martins Fontes.
LE GOFF, J. & NORA, P. (1979). Histéria: novos problei
Rio de Janeiro, Francisco Alves.
MONIOT, H. (1993). Diddtica da histéria. In: BURGUII
A. (org.). Diciondrio das ciéncias histéricas. Rio de Jane
Imago.
PROENGA. M. C. (1990). Ensinar, aprender Histéria, ques!
de diddtica aplicada. Lisboa, Livros Horizonte.
24 25
2
SOBRE A NORMA E O OBVIO:
a sala de aula como lugar de pesquisa*
Paulo Knauss**
Nao sdo as lendas que investigo, é a mim mesmo que examino.
Platio, Fedro
Conhecimento como leitura de mundo
A escola tem sido o lugar de exercfcio do papel
social do professor, identificado com uma concepgado de
* Este texto foi apresentado em versio preliminar no | Encontro
de Professores Pesquisadores na Area do Ensino da Histéria, realizado
na Universidade Federal de Uberlindia, em setembro de 1993, com
0 titulo de: Documentos histéricos na sala de aula, Sob forma impressa
0 texto circulou ainda em: Primeiros Escritos, cadernos do Laboratorio
de Histéria Oral e Iconografia, n° !. Niteréi, UFF-Depto. Histéria-
LABHOI, 1994. As reflexées esbocgadas tém como fonte a minha
experiéncia individual como professor de Histéria nos nfveis esco-
lares.
De resto, a elaboracio das idéias apresentadas contou com a
colaboragio e amizade de interlocutores fundamentais o0s quais devo
agradecimentos: a Ana Lagéa, com quem compartlho o carinho pela
educagio; a Maria Paulo Graner, que me convidou ¢ incentivou a
fazer as anotagdes para participar do Encontro em Uberldndia; as
minhas colegas de laboratério, Ana Maria Mauad, Mariza C. Soares
e Isménia de L. Martins, que sempre me encorajaram a produzir, ¢
aos meus auxiliares de pesquisa, Fabio P. Pantalefio, Hugo Bellucco
e Marcelo S. Abreu, que compartilham o cotidiano do trabalho comigo.
** Professor do Departamento de Histéria da Universidade Federal
Fluminense.
26
saber pronto, acabado e localizado, cujo desdobramento
é a aversdo a reflexZo e o acriticismo, sem falar na
falta de comunicagao. A escola e a sala de aula surgem,
assim, como lugar social de interiorizagdo de normas,
em que 0 livro didatico € o ponto comum entre professor
e aluno, sendo todos elos de uma cadeia de transferéncia
disciplinadora do cotidiano e ratificadora das estruturas
sociais vigentes. O “bom” aluno nos surge como aquele
que bem se adapta a essa concepgao de conhecimento,
produto da postura normatizadora de base autoritdria
(Vesentini, 1984).
Definir nossas escolas como autoritérias pode soar
estranho, pois, na atualidade, a disciplina dos inspetores
a moda antiga deixou de existir quase que por toda
parte. Além disso, a participag&o coletiva nas esferas
de diregao das escolas tornou-se conquista de algumas
comunidades. As opgdes de trabalho nao so mais téo
controladas como em outros tempos. Nesse sentido, uma
evidéncia sempre lembrada é a indicagio do dinamismo
do mercado editorial de fins diddticos. De fato, estou
convencido de que poucos foram os avangos no que se
refere ao cardter autoritério do conhecimento. Isso porque
os elos da normatizagdo do saber perduram, mesmo
que dentro de um clima de liberalidade que ainda nao
produziu condigdes para se lidar com as dimensdes da
sua face conservadora.
Cabe indicar que o fendmeno do conhecimento ocorre
a partir da experiéncia dos homens na relacio com o
mundo em que vivem..£ a partir de sua existéncia,
portanto, que os homens constroem sua viséo e com-
preensio de mundo. Isto representa a sua tomada de
posigio como sujeitos da propria existéncia, resultado
do’seu processo de hominizagao demarcando a histori-
cidade da razdo (Vieira Pinto, 1979).
27
Ortega y Gasset j4 nos advertia que “a realidade nao |
é dado, algo dado, oferecido — mas construgao que o
homem faz com o material dado” (1989:26). Assim,
toda produgdo de conhecimento deve ser entendida a
partir da relagao do sujeito do conhecimento com os
objetos do mundo que pretende apreender. O fendmeno
do conhecimento, baseado na relag&o sujeito-objeto, en-
contra sua resolugdo na produgao de conceitos — aquilo
que retine as diferentes partes (como revela a etimologia
da palavra), isto é, enquanto abstragdo daquilo que foi
investigado (Hessen, 1978; Jaspers, 1989). Esses con-
ceitos serio a base da linguagem do conhecimento.
Nesse sentido, toda forma de conhecimento reside na |
atitude de um sujeito que se posiciona no mundo e
engendra a sua leitura particular acerca da sua circuns-
tancia. Portanto, toda forma de conhecimento apresen-
ta-se como uma leitura de mundo — e cada conceito °
produzido revela-se uma palavra “gravida de mundo”,
para lembrarmos o mestre de todos nds, Paulo Freire
(Freire, 1991),
A Histéria, como forma de conhecimento, nado escapa |
a essa caracterizagéo. Em conseqiiéncia, trata-se de en-
fatizar que o conhecimento histérico deve ser orientado
no sentido de indagar a relagéo dos sujeitos com os
seus objetos de conhecimento, provocando seu posicio-
namento, questionando as formas de existéncia humana
e promovendo a redefinigéo de posicionamentos dos
sujeitos no mundo em que vivem. A partir disso, é
preciso considerar que a produgao do saber histérico
evidencia-se como instrumento de leitura do mundo e
nao mera disciplina.
Todavia, impGe-se a superagdo dos limites do conhe-
cimento comum, marcado pelas obviedades. Esse tipo
de conhecimento apresenta uma objetividade ocasional,
28
sem profundidade subjetiva, sustentado em mero empi-
rismo. Em contrapartida, impGe-se a instauragio do
universo do conhecimento cientifico, ao qual corresponde
o racionalismo e o aprofundamento racional da cons-
ciéncia, além de uma iniciagdéo peculiar da linguagem
e dos procedimentos préprios da ciéncia. Assim, enca-
minha-se a transformagaio do fato natural — associado
‘ao empirismo do senso comum — em fato cientffico
— identificado com um racionalismo aprofundado —,
conforme nos indica Bachelard em que as verdades
instauradas sao nao apenas verdades de fato, mas igualmente
de direito — base da discusséo académica (Bachelard,
1972).
Nesse instante, a comunicaco revela-se como a di-
mensao determinante do processo de conhecimento cien-
tifico, especialmente do processo de aprendizagem. Mais
do que o “aprender”, ou “apreender”, ou, ainda, “‘apanhar”
algo pronto — como sugere a etimologia —, a apren-
dizagem deve identificar-se com o estudo, ou seja,
conforme sua origem latina, “aplicagdo do esptrito para
aprender’. Af deve residir a nova atitude que supera a
cadeia normatizadora que nos serviu como ponto de
partida. A habilidade de estudar necessita do despertar
do sujeito, que “‘aplica o espirito” para tomar, ou “apren-
der” um objeto de conhecimento.
Trata-se, de fato, de confundir processo de aprendi-
zagem com processo de construgdo do conhecimento. E
Pprocesso de construgéo de conhecimento requer pesquisa
— neste caso cientifica —, rompendo com as obviedades
comuns e instaurando nfveis de aprofundamento racional
da consciéncia. Disso resulta um sujeito do conhecimento
que s6 pode ser investigador, ou pesquisador. Sintetica-
mente o processo de aprendizagem confunde-se com a
iniciagéo a investigagado, deslocando a problematica da
29
integra¢éo ensino-pesquisa para todos os niveis de co-
nhecimento, mesmo o mais elementar. A pesquisa é |
assim entendida como o caminho privilegiado para a
construgdo de auténticos sujeitos do conhecimento que
se propdem a construir sua leitura de mundo.
Na escola, ou especificamente na sala de aula, isto
significa produzir conhecimento de maneira coletiva. '
Nem sempre essa condig&o coletiva é instauradora de
didlogo, uma vez que a fala pode ser pautada na norma.
No entanto, submetidos 4 condig&o de investigadores do
mundo e produtores de conceitos acerca dos objetos de
conhecimento, o coletivo da sala de aula, no qual se ;
incluem os professores, torna-se 0 espago da comunicagao |
dialégica (Freire, 1987), por exceléncia.
Com efeito, a partir desse rumo, o papel reservado
4 escola e ao corpo docente ganha matizes que redefinem
suas bases. Trata-se af de proporcionar as condigdes
para a comunicacgao entre sujeitos do conhecimento, de
espfrito racional e investigador. Recoloca-se dessa forma
os pressupostos de uma pedagogia da animagao (Mar-
celino, 1990), recorrendo inclusive a formas iidicas,
como instrumento para ensejar a integragiio ensino-pes-
quisa, sob a condigdo da comunicagdo total (Gutierrez,
1988). O ensino passa a ser o lugar da animacio e a
pesquisa o lugar da aprendizagem, sustentado em estru-
turas dialégicas.
Documento como ilustracgéo
Em tempos nao muito distantes, contavamos com a
edigdo de coletféneas de documentos histéricos para a
Historia do Brasil, como, por exemplo, a organizada
por Therezinha de Castro, professora do Colégio Pedro
30
II, e outra do MEC, organizada por professores do CAP
da UFRJ (Castro, s.d.; Gasman, 1976). Na primeira obra,
a insisténcia recai sobre o cardter ilustrativo e motivador
do trabalho com as fontes histéricas. Na segunda, basta
a referéncia dos autores Langlois & Seignobos — “sem
documento nao ha histdéria” —- para definir a atitude
em relagdo a defesa da utilizag&o de documentos no
exercicio diddtico, apesar de reconhecidamente a obra
possuir intengées mais abalizadas.
Evidentemente, as duas obras lembradas possuem a
marca do tempo em que foram produzidas. De qualquer
forma, a reacgio a esse tipo de atitude em tempos
posteriores levou-nos a um distanciamento do trabalho
didético com fontes em favor do esforgo conceitual
apurado — eliminando dos livros diddticos de Histéria
a referéncia aos documentos de época. Sua sobrevivéncia
limitou-se aos anexos, que, em geral, colocam no mesmo
plano documentos histéricos de época e textos historio-
grdficos, confundindo-os sem distingéo clara (p. ex.
Arruda, 1977; Aquino et alii, 1980; e Nadai & Neves,
1990; lembro ainda de uma experiéncia registrada, mas
que nao escapa ao mesmo condicionamento, cf. Paes,
1985). ,
De certa forma, a refer€ncia a documentos histéricos
ganhou um espago prdéprio: as obras paradiddticas. Para
os mais jovens, adaptagdes de documentos de época,
enriquecidos de ilustragdes a-histéricas, para nao dizer
anti-histéricas, e uma linguagem adaptada, que muitas
vezes margeia o anacronismo, que tem como maior
atributo a atitude dessacralizadora. Além disso, 0 mercado
oferece inimeras colegdes especiais (p. ex. “Primeiros
Passos”, “Tudo é Historia”, “Princfpios”, “Histéria Po-
pular”, “Discutindo a Histéria”, “Repensando a Histéria”,
“Histéria em Documentos”), que todos manuseamos —
31
em geral, mais os professores que os alunos, a quem
de fato deveriam ser indicados os paradiddticos. Entre-
tanto, essas colegdes ora sdéo produto da sintese de
literatura académica estrangeira, ora se utilizam de fontes
de época como ilustragio, fazendo, em geral, do do-
cumento um aderego e n&o um problema.
O que resulta desses movimentos editoriais é uma
atitude ilustrativa e complementar em relagao a utilizagao _
dos documentos histéricos no processo de aprendizagem
— como nos livros diddticos propriamente ditos —, ou
ent&o extraordin4ria, de intengao paralela e suplementar -
— como nos paradidaticos.
Recentemente, surgiu uma outra postura, em uma |
obra diddtica inovadora sustentada apenas em fontes. Ai
também aparece a produgao historiografica, porém com
0 intuito de submeter a meméria do fato a uma avaliagdo |
atualizada, revelando uma atitude sofisticada, mesmo |
que nem sempre facilmente incorporada (Faria et alii, }
1988). Tenho noticias, inclusive, de que hd colégios
particulares abastados que utilizam a obra como leitura :
complementar — desvirtuando a concepgio original. De
todas as maneiras, me parece que a referida obra retorna
ao ambiente do livro didético em que o aluno encontra
a matéria pronta. E fato que esta no é a intengao do
livro, mas a condig&o a qual est4 submetido pela cadeia
normatizadora que integra.
Ainda nesse 4mbito, gostaria de citar o caso de duas
coletaneas recentes de documentos que estao 4 disposi¢ao
no mercado atual (cf. Ribeiro & Moreira Neto, 1992,
e Indcio & Luca, 1993), porém sem grande repercussao,
talvez por lhes faltar a marca do didatismo que ativa
um mercado tao poderoso em capacidade disciplinadora.
32
(Para uma reflexdo acerca da relagao entre ensino de
hist6ria e indistria cultural, vide Fonseca, 1993.)
Documento como problema
A partir das anotag6es anteriores, pretendo langar
algumas idéias acerca de uma antiga pratica: a utilizacdo
de documentos histéricos em sala de aula. Essa pratica
caiu em desuso e por isso mesmo creio que sua defesa
ganha em atualidade. Advirto, no entanto, que nao se
trata de retomar os mesmos procedimentos de outrora,
em uma atitude saudosista, mas, ao contrério, buscar
novas soluges para problemas atuais, ampliando os
horizontes do exercicio diddtico em Histéria, seja no 1°
ou no 2° grau.
Para tanto, a minha proposta sustenta-se na convic¢ao
da necessidade de superar a cadeia normatizadora do
conhecimento, pronto, acabado e localizado, desabsolu-
tizando as formas de conhecimento, mesmo o cientifico.
Nessa cadeia de inserem como sujeitos passivos profes-
sores e alunos, sustentados pelo elo do livro didatico
— contribuindo para a reprodug&o de estruturas de
pensamento dominantes de maneira acritica, confundindo
o dbvio com o saber. Trata-se, assim, de fazer da
construgéo do conhecimento uma produg&o humana, em
que se instale a ruptura com o senso comum, a partir
de bases racionais e cientificas. .
Dessa maneira, a metodologia implicita proposta para
o ensino de Histéria deve ser encaminhada na diregao
de indagar a construgéo do conhecimento de algum
objeto particular, revelando a relagéo que os homens
estabelecem entre si e 0 mundo que os circunstancia.
33
A metodologia deve se sustentar sob bases dialdgicas,
ensejadas pela animagao docente, e na atividade de
pesquisa e investigagao, identificada com o processo de
aprendizagem. O objetivo deve ser a construgéo de 1
conceitos, possibilitadores da produgio de uma leitura
de mundo.
Dentro dessa orientacao, a construgdéo do conhecimento
histérico se sustenta no processo indutivo de conheci-
mento — partindo do nivel do particular e do sensfvel |
para alcan¢car a conceituagao e a problematizagado abran-
gente. Isto significa dizer que o ponto de referéncia sao |
os documentos a serem trabalhados em sala de aula.
Basicamente, trata-se de exercicios de leitura, ndo apenas
de textos narrativos, mas privilegiando também os ico-
nogrdéficos — mais adequados a faixas iniciais do pro-
cesso de aprendizagem. Assim, propde-se que a meto-
dologia adequada é aquela que perpassa as formas de
assimilagio de conhecimento: percep¢do, intuigdo, critica
e criag¢do — definidas por Francisco Gutierrez em seu .
livro Linguagem total. :
Desdobrando essa referéncia, entendo que a percepgao
€ a intuigéo pertencem a dimensio do imediato, do
empirico. A primeira forma é o nivel em que o sujeito
do conhecimento, sensivel no caso, se depara com o
objeto “em sua maioria”, em condic¢do de distanciamento
ou de estranhamento. A intuigdo por sua vez, € a forma
em que a intersubjetividade se instala, provocando apro-
ximagées variadas acerca do objeto. A partir dai, deve-se
delimitar o terreno da critica, pois nem sempre a intuigaéo
€ a percep¢ao se colocarao em sintonia, da mesma forma
como a sua identificagdo pode ser denunciadora de sua
inconsisténcia. E a critica dos dados observados e das
hipsteses intufdas que demarca a dimens&o racionaliza-
dora ea superagdo das obviedades. O momento da
34
conceituagao corresponde a criagdo propriamente dita,
pois tem de ser acompanhada da afirmagéo de uma
palavra, ou expressao, sintetizadora. Daf por diante, a
criatividade se liberta para algar véos, entendidos como
desdobramentos problematizadores.
Ora, esses instantes do processo proposto naturalmente
sao conduzidos e condicionados pela atuagao docente.
Como ja indicado, este se identifica com a animagao
que deve estimular a produgao do conhecimento, o que
significa discutir a relagao do sujeito com a circunstancia
de sua existéncia. Assim, 0 objetivo da animagao didatica
deve ser abastecer os alunos de informagGes e dados e,
ao mesmo tempo, conduzi-los 4 problematizagio. O
professor deve estabelecer como objetivo um problema
que o nortear4 e que deve ser a meta a alcancar. Unidade
programatica passa a ser entendida como um problema
a ser trabalhado didaticamente. Para nao ficarmos somente
no reino da abstragao, trago um exemplo construfido em
minha prdtica docente, em torno de um campo classico
da historiografia: a Expansio Maritima e Comercial.
De inicio, o problema: a Expansiéo Maritima e Co-
mercial, ou seja, a construgdo da percepgao européia do
planeta, baseada na exploragao colonial (sei que possi-
velmente o problema poderia ser outro, dependendo do
enfoque a ser dado pelo entendimento e das op¢des
programaticas e da animagdo docente). Clarificado o
problema, resta lev4-lo 4 sala de aula e os documentos
se apresentam como o lugar do problema proposto.
O ponto de partida é uma obviedade do senso comum:
“Vocé j4 viu o sol nascer?”. Creio que quase todos nds
com rapidez dirfamos que sim. Mas sei também que
todos nés sabemos, nos dias de hoje, que é a terra que
gira em torno do Sol e n8o o contrario, o que significa
dizer que 0 que vemos n&o corresponde aos fatos. Cabe
35
Você também pode gostar
- Portfolio Individual - Estágio Curricular Obrigatório Ii: Anos Iniciais Do Ensino FundamentalDocumento13 páginasPortfolio Individual - Estágio Curricular Obrigatório Ii: Anos Iniciais Do Ensino FundamentalRomana Mota100% (3)
- pcp050 23Documento73 páginaspcp050 23Maria AlvesAinda não há avaliações
- ANGOLD, Michael. Bizâncio. A Ponte Da Antiguidade para A Idade Média PDFDocumento90 páginasANGOLD, Michael. Bizâncio. A Ponte Da Antiguidade para A Idade Média PDFIzac Coelho100% (2)
- Poder Politico e Parentesco. Os Antigos Estados Mbundu em Angola (Joseph C. Miller) PDFDocumento165 páginasPoder Politico e Parentesco. Os Antigos Estados Mbundu em Angola (Joseph C. Miller) PDFmanuela100% (2)
- Currículo de Pernambuco - Educação Infantil e Ensino Fu Ndamental - Anos Inicias e Anos Finais - Caderno de Ciência S e Matemática PDFDocumento124 páginasCurrículo de Pernambuco - Educação Infantil e Ensino Fu Ndamental - Anos Inicias e Anos Finais - Caderno de Ciência S e Matemática PDFLindberg Barbosa86% (7)
- Por Que É Tão Difícil AprenderDocumento11 páginasPor Que É Tão Difícil AprenderCristiano da silvaAinda não há avaliações
- A Arte de Formar-Se P. LibanioDocumento5 páginasA Arte de Formar-Se P. LibanioRodrigo CoutinhoAinda não há avaliações
- Texto - Rafael SaddiDocumento15 páginasTexto - Rafael SaddimanuelaAinda não há avaliações
- Schmidt - 2005 - Saber Escolar e Conhecimento HistóricoDocumento15 páginasSchmidt - 2005 - Saber Escolar e Conhecimento HistóricomanuelaAinda não há avaliações
- Le Goff, em Busca Da Idade MédiaDocumento5 páginasLe Goff, em Busca Da Idade MédiaLuciano RamosAinda não há avaliações
- A Escola Do Futuro - (Guiomar Namo de Mello)Documento3 páginasA Escola Do Futuro - (Guiomar Namo de Mello)manuelaAinda não há avaliações
- FRANCO JÚNIOR, Hilário ANDRADE FILHO, Ruy de Oliveira. O Império BizantinoDocumento50 páginasFRANCO JÚNIOR, Hilário ANDRADE FILHO, Ruy de Oliveira. O Império BizantinomanuelaAinda não há avaliações
- Negociantes, Independência e o Primeiro BB (Théo Lobarinhas Piñeiro)Documento21 páginasNegociantes, Independência e o Primeiro BB (Théo Lobarinhas Piñeiro)manuelaAinda não há avaliações
- 1 - SCHMIDT, Maria Auxiliadora.Documento7 páginas1 - SCHMIDT, Maria Auxiliadora.manuelaAinda não há avaliações
- 4 - DAVID, Célia Maria. Música e Ensino de História - Uma Proposta PDFDocumento16 páginas4 - DAVID, Célia Maria. Música e Ensino de História - Uma Proposta PDFmanuelaAinda não há avaliações
- Restauração, Reinvenção e Recordão - Recuperando Identidades Sob A Escravidão (Joseph Miller) PDFDocumento50 páginasRestauração, Reinvenção e Recordão - Recuperando Identidades Sob A Escravidão (Joseph Miller) PDFmanuelaAinda não há avaliações
- M-CHAT Questionário TEA - PARA PAISDocumento34 páginasM-CHAT Questionário TEA - PARA PAISEroneide NascimentoAinda não há avaliações
- Plano de Aula - RadioatividadeDocumento3 páginasPlano de Aula - RadioatividadeGuilherme Belak SchmitkeAinda não há avaliações
- Paralelismos Videoaula 10Documento6 páginasParalelismos Videoaula 10Diego Da silva oliveiraAinda não há avaliações
- Livro - Teorias e Métodos em Melhoramento Genético - SeleçãoDocumento188 páginasLivro - Teorias e Métodos em Melhoramento Genético - SeleçãoItânia AraújoAinda não há avaliações
- Questões - CONHECIMENTO PEDAGÓGICODocumento125 páginasQuestões - CONHECIMENTO PEDAGÓGICOSabrina RodriguesAinda não há avaliações
- Be7 19Documento53 páginasBe7 19Rodrigo RodriguesAinda não há avaliações
- Organização e Funcionamento Do ESDEDocumento22 páginasOrganização e Funcionamento Do ESDEapi-19728774Ainda não há avaliações
- Crítica Ao Conceito BildungsromanDocumento39 páginasCrítica Ao Conceito BildungsromanSuellen MonteiroAinda não há avaliações
- Regimento Orquestra Da UFACDocumento4 páginasRegimento Orquestra Da UFACRomualdo MedeirosAinda não há avaliações
- Análise Do PPP-Cei CriarteDocumento14 páginasAnálise Do PPP-Cei Criartenaanyferreira2Ainda não há avaliações
- Aval. Diag Mat 4 Ano 2014Documento7 páginasAval. Diag Mat 4 Ano 2014Tatiana SibovitzAinda não há avaliações
- TRHFGHDocumento31 páginasTRHFGHtyagoAinda não há avaliações
- Edital01 Docente UESPIDocumento85 páginasEdital01 Docente UESPIKaroline VilarinhoAinda não há avaliações
- EditorialDocumento6 páginasEditorialAureliano Medina100% (1)
- PROFNIT ENA22 Resultado Preliminar Prova Nacional de 210925Documento27 páginasPROFNIT ENA22 Resultado Preliminar Prova Nacional de 210925leolghAinda não há avaliações
- Slide AtoresDocumento44 páginasSlide AtoresgrabrekAinda não há avaliações
- Guia de Aprendizagem Inglês - 3ºano - 1º Bimestre 2024Documento4 páginasGuia de Aprendizagem Inglês - 3ºano - 1º Bimestre 2024KRISTIANI KRISZTAN BORCSIKAinda não há avaliações
- Ideia Criativa - Ensino Fundamental Atividades e Projetos Educacionais - Atividade Leitura e Produção de Texto - Temática PrimaveraDocumento5 páginasIdeia Criativa - Ensino Fundamental Atividades e Projetos Educacionais - Atividade Leitura e Produção de Texto - Temática PrimaveraThais F. G. Rocha Cunha100% (3)
- PNAES VasconcelosDocumento18 páginasPNAES VasconcelosThayane CrespoAinda não há avaliações
- Agenda Cultura Vibra 19Documento72 páginasAgenda Cultura Vibra 19mdasaude1512Ainda não há avaliações
- CRPSP Psicologia 2º GrauDocumento194 páginasCRPSP Psicologia 2º GrauPablo JacintoAinda não há avaliações
- O Lúdico E o Desenvolvimento InfantilDocumento13 páginasO Lúdico E o Desenvolvimento InfantilIana Andrade100% (1)
- Bruce Lee MagDocumento20 páginasBruce Lee MagFabio Kuririn100% (1)
- Relatório de Estágio 2 TrabalhoDocumento39 páginasRelatório de Estágio 2 TrabalhonadiajssAinda não há avaliações