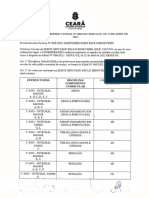Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Dialnet UmaEscritaFeminina 5161397
Dialnet UmaEscritaFeminina 5161397
Enviado por
Wisla FerreiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Dialnet UmaEscritaFeminina 5161397
Dialnet UmaEscritaFeminina 5161397
Enviado por
Wisla FerreiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
v. 40, n. 4, pp. 438-442, out./dez.
2009
Uma escrita feminina: a obra de Clarice Lispector
Maria Cristina Poli
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, RS, Brasil
RESUMO
Este artigo rende homenagem obra de Clarice Lispector no 30 ano de sua morte. Apoiado nas obras de Freud e
Lacan prope uma leitura do trabalho da escritora brasileira que destaca o estilo feminino de sua escrita. Trata-se
de operar com as categorias psicanalticas de castrao, privao e estranho, demonstrando na escrita de Clarice a
ultrapassagem da lgica flica.
Palavras-chave: Clarice Lispector; psicanlise; escrita; feminilidade; gozo mstico; Lacan.
ABSTRACT
A feminine writing: the work of Clarice Lispector
This article is a homage to the work of Clarice Lispector, in 30. year from her death. Its a proposition of a lecture of
the work of the Brazilian writer inspired in the works of Freud and also of Lacan. This lecture notes the feminine stile
of her writing. That means the operation with psychoanalysis categories of castration, privation and strange. It also
means to transpose the phallic logic.
Keywords: Clarice Lispector; psychoanalysis; writing; feminine; mystic joy; Lacan.
RESUMEN
Una escrita femenina: la obra de Clarice Lispector
Este trabajo presta homenaje a la obra de Clarice Lispector en el 30 ao de su muerte. Apoyado en las obras de Freud
y Lacan propone una lectura del trabajo de la escritora brasilea, que pone en relieve el estilo femenino de su escrita.
Se trata, aqu, de hacer operar con las categoras psicoanalticas de castracin, privacin y siniestro, subrayando en la
escrita de Clarice lo que ultrapasa la lgica flica.
Palabras clave: Clarice Lispector; psicoanlisis; escrita; femineidad; goce mstico; Lacan.
O ato criador perigoso porque a gente pode ir e no voltar mais
(Lispector, apud Gotlib, p. 461)
Os festejos em torno da obra fulgurante de Clarice
Lispector se multiplicam, lembrando os 30 anos de sua
morte, ocorrida em 1977. Obra igualmente mltipla,
cuja principal caracterstica talvez seja o modo
como adentra, sem cerimnias ou subterfgios, nos
interstcios da relao do ser com a linguagem. Desde
seu primeiro romance Perto do corao selvagem
(Lispector, 1944/1998), passando pelos inmeros
contos e suas obras mais conhecidas A paixo segundo
G.H. (Lispector, 1964/1998), gua-viva (Lispector,
1973/1998) e A hora da estrela (Lispector, 1977/1988),
Clarice marcou poca e deixou na literatura brasileira
(qui universal) um rastro indelvel. Neste artigo,
rendemos nossa homenagem a uma autora que fez de
suas entranhas (esse misto de loucura, feminilidade e
exlio) o material bruto e primoroso de suas letras.
Dentre tantas aberturas possveis que sua obra
inaugura, escolheremos uma via para interrog-la, na
esperana de encontrar como Freud (1906/1973)
nos indica os elementos nos quais o poeta antecipa
percursos ainda inexplorados pelos psicanalistas.
Escolheremos o ponto delicado, difcil e resistente da
articulao possvel entre transmisso e feminilidade.
O que uma me transmite a seus filhos? O que uma
mulher transmite, enquanto mulher, cultura?
Questes, evidentemente, demasiado amplas, e talvez
irrespondveis, mesmo que desde Freud a psicanlise
no tenha se poupado de enunci-las.
Uma escrita feminina
Clarice Lispector inaugura uma via possvel de
abordagem desse tema, uma via de facilitao
(Freud, 1895/1973) original. Em primeiro lugar
porque ela escreve como mulher; no da mulher, nem
sobre a mulher, mesmo que tambm o faa. Para alm
do contedo de seu trabalho, seu estilo feminino.
Lembremos aqui essa diferena, ressaltada por uma das
principais estudiosas de nossa autora, a crtica literria
e feminista Hlne Cixous:
Ela [Cixous] usa o feminino para se referir as formas
de escritura e de pensamento que ultrapassam
as oposies binrias que tem estruturado o
pensamento ocidental e, afirma ela, apoiado o
patriarcado. O feminino o que Cixous descreve
como excessivo, como desestabilizador. (Shiach,
1997, p. 210).
Essa desestabilizao da linguagem tem na obra de
Lispector um lugar de excelncia. O estilo feminino
da autora se expressa em uma potica que comunica
a experincia das mulheres (p. 214). Com mestria, a
escritora circula por personagens de ambos os sexos,
adentrando na alma de homens e mulheres com igual
naturalidade. , contudo, na referncia a um gozo
imperscrutvel que se traduz o cerne de seu trabalho.
Trata-se de uma escrita que coloca em ato o que em
psicanlise, a partir de Lacan (1972-73/1985), se
concebeu como gozo feminino ou gozo Outro.
Para Lacan, a escrita justamente a dimenso da
linguagem que permite o acesso a um outro registro que
o da referncia ao falo. Enquanto a cadeia significante
ordenada pela dialtica da ausncia/presena do falo
isto , pela inscrio simblica da falta , a escrita
inclui a possibilidade de registro da privao: a falta real
de um objeto simblico.1 Nesse sentido, o ato de
escrita se conjuga no feminino. Ele permite a
tessitura de uma rede cujo valor est, prioritariamente, no naquilo que apanha, mas no que deixa
passar.
Escrita: filiao e erotismo
Quando do lanamento de seu primeiro romance
Perto do corao selvagem, a crtica literria
reconheceu-lhe traos de influncia de Joyce e de
Virginia Wolff (Nunes, 1995). Clarice, no entanto, ainda
no os havia lido. Se havia nesse perodo uma autora
de referncia, era Mansfield, com seu realismo extico,
impressionista, que desde muito cedo a fascinara. Foi
por sugesto de um amigo, Lcio Cardoso, que o
primeiro romance recebeu esse ttulo (Perto do corao
selvagem) extrado de uma passagem do Retrato de
um artista quando jovem, de Joyce (Nunes, 1995;
Gotlib, 1995; Rosenbaum, 2002).
439
Mas mesmo que Clarice no reconhea a influncia
desses autores, mesmo que ela nem os tivesse lido, h
um movimento literrio que lhe contemporneo e no
qual sua obra se inscreve. Particularmente, a forma de
tomar a linguagem no como um sistema ou um meio
de expresso, mas como criao, como produo, ao
mesmo tempo, da escrita e do mundo. A arte de Clarice
certamente mais reconhecvel em algumas de suas
obras do que em outras - se constri na tessitura da letra,
na construo de bordas cujo texto teima em exceder.
O prazer em sua leitura se confunde com o gozo de
uma experincia limite gozo sagrado ou mstico, tal
como denominaram Bataille (1988b) e Lacan (1985) ,
na qual o leitor bascula, afetado pela presena de uma
letra que transborda as margens do texto.
Como expressa a autora em gua-viva:
Quero apossar-me do da coisa. Esses instantes que
decorrem no ar que respiro: em fogos de artifcio
eles espocam mudos no espao. Quero possuir os
tomos do tempo. E quero capturar o presente que
pela sua prpria natureza me interdito: o presente
me foge, a atualidade me escapa, a atualidade sou
eu sempre no j. (...) A palavra a minha quarta
dimenso. (Lispector, 1973/1998, p. 09-10).
Palavra-tempo, dimenso (ou diz-manso, a
residncia do dito, como prope chistosamente Lacan,
1972-73/1985, p.130), na qual o interdito (inter-dicto)
situa a transgresso fundadora e legitimadora do ato
da escrita. Escrita, portanto, de um espao-tempo
inaugural, ex-nihilo, que constri sua filiao no a
posteriori de seu ato-criao (Lacan, 1959-60/1988).
Freud (1933/1973, p.3176) refere sua conhecida
e polmica afirmao que a arte das mulheres ao
tear, na tessitura dos fios que encobrem o vo da falta,
a castrao. Ou que a acentuam, em um movimento
equivalente. No texto de Clarice temos efetivamente a
experincia da falta. Trata-se, porm, de uma falta mais
primordial, que faz o binarismo da referencia flica
vacilar, demonstrando sua insuficincia conceitual. Na
escrita de Clarice, temos um encontro marcado com o
objeto que, como dir Lacan (1955-56/1998), excludo
do Simblico, retorna no Real.2
Como explicar, seno deste modo, a forma como o
texto clariciano afeta o leitor? Como entender que pela
simples leitura de elementos grficos, uma verdadeira
experincia de gozo e de angstia possa se produzir?
O texto de Clarice pulsa e convoca o leitor a incluir-se
em um circuito pulsional no qual as letras trilham o
caminho que recorta o objeto da pulso.
Entenda-me diz ela ainda em gua-viva escrevote uma onomatopia, convulso da linguagem.
Transmito-te no uma histria, mas apenas palavras
que vivem do som (Lispector, 1973/1998, p.25).
Psico, Porto Alegre, PUCRS, v. 40, n. 4, pp. 438-442, out./dez. 2009
440
Poli, M.C.
A leitura de sua obra produz uma experincia nica,
introduzindo-nos em um universo privado de sentido.
Ela se potencializa no encontro com textos como o do
romance gua-viva (Lispector, 1973/1998), e mesmo
A paixo segundo G.H. (Lispector, 1964/1998), que
tendem a eliso de um referente material, dispensando artifcios que lhe sejam exteriores, na busca de
enunciao plena.
Tal o caso, tambm, do conto Entre o ovo e a
galinha, publicado na coletnea Legio estrangeira
(Lispector, 1964/1999). Recortado do mais pueril
cotidiano, o estranho familiar o Unhemlich freudiano
(Freud, 1919/1973) ganha a cena, transformando o
provrbio para fazer omeletes preciso quebrar os
ovos no mais profundo (e irnico) dilema de uma
dona de casa. Diante de um ovo, a autora nos transporta
ao ritual sacrificial primitivo, ponto de encontro com
um ato transgressivo originrio tal como no mito da
horda primitiva (Freud, 1913/1973) , e que produz,
pelo mesmo gesto, sujeito e objeto, letra e significante,
real e simblico. Nesse movimento, o ovo transmudase em olhar, redimensionando os tempos da experincia
e de sua criao. Clarice escreve:
Ao ver o ovo tarde demais: ovo visto, ovo perdido. Ver o ovo a promessa de um dia chegar
a ver o ovo. Olhar curto e indivisvel; se que
h pensamento; no h; h o ovo. Olhar o
necessrio instrumento que, depois de usado,
jogarei fora. (Lispector, 1964/1999, p. 46).
Em torno desse prottipo do objeto perdido, o ovo
primitivo, as bordas de um olhar curto e indivisvel,
denso e inescapvel, se delineiam. Aqui nossa leitura de
Clarice encontra Bataille (1988b), refazendo o caminho
de uma ertica que toca o sagrado, que alcana por
intermdio das letras o toque primordial da Coisa (das
Ding). Trata-se do corpo materno, objeto primordial,
a um s tempo desejado e interditado. Lembremos da
A histria do olho (Bataille, 1988), romance erticolibertino, no qual as prticas sexuais transgressivas das
personagens adolescentes transitam pela metonmia dos
objetos olhar ovos fezes urina sangue etc. Ovos
e olhos (oeufs e yeux) homofnicos em francs,3 situando uma letra em comum na desmedida da pulso.
O objeto, em Bataille como em Clarice, no causa
de desejo, mas ponto de angstia; objeto que indica
a compacidade do lugar da falta no campo do Outro
(Lacan, 1972-73/1985, p. 17). Como indicamos acima,
privao, e no castrao.
Uma escritora poedeira
No seminrio 23, Lacan (1975-76/2007) retoma
a diferena entre a funo Phi, organizadora do gozo
Psico, Porto Alegre, PUCRS, v. 40, n. 4, pp. 438-442, out./dez. 2009
flico conforme as formulas da sexuao (Lacan, 197273/1985), e o significante da falta do Outro que orienta
a ertica feminina. tambm do significante da falta
do Outro ndice de um real irredutvel , que se trata
na literatura de Joyce: assim como um sonho, nos diz
Lacan, (ou melhor, um pesadelo, na medida em que o
Real a se mostra) Finnegans Wake comporta um saberfazer no irredutvel da privao.
A imagem-alegoria que surge, ento, a da poedeira.
No filme O imprio dos sentidos, comentado pelo
psicanalista na mesma lio do seminrio, seu valor
ertico ao perfazer a imagem dA mulher destacado.
Diz Lacan (1975-76/2007, p. 124): o progresso a que
a anlise nos incita tem sido o de nos apontar que,
embora o mito a faa sair toda de uma nica me, a
saber, de Eva, h apenas poedeiras particulares. Seria
Joyce uma dessas? Lacan menciona Newton; menciona
tambm a sua prpria obra como tendo chegado a um
caroo, produo de um pedao de real. Um ovo.
Retomemos, ento, nossa autora-poedeira Clarice.
Que espcie de me de cultura ela perfaz? A
escurido meu caldo de cultura. escreve em guaviva A escurido ferica (Lispector, 1973/1998,
p. 26). Como se transmite tal escurido? Como se situar
na sua autoria?
Novamente do tema do feminino e do materno que
se trata, daquilo que se transmite fora do circuito das
identificaes edpicas. Disso, o que pode se escrever?
Arriscamo-nos dizer que isso que a literatura de
Clarice escreve. A literalizao na lngua da alngua4
(Lacan, 1972-73/1985) conotaria a emergncia
de uma letra perdida? Lembremos aqui um dado
biogrfico da autora: sua origem russa, lngua
materna de seus pais, mas na qual nunca foi
introduzida. Talvez por isso Clarice aceda escrita
em uma lngua que ela precisou fazer sua: uma
alngua que seu texto inventa:
Entro lentamente na minha ddiva de mim mesma,
esplendor dilacerado pelo cantar ltimo que parece
ser o primeiro. Entro lentamente na escrita assim
como j entrei na pintura. um mundo emaranhado
de cips, slabas, madressilvas, cores e palavras
limiar de ancestral caverna que o tero do mundo
e dele vou nascer. (Lispector, 1973/1998, p.14).
Clarice escreve como quem nasce. Quando eu
no escrevo, eu estou morta (apud Gotlib, 1995,
p. 456), profetiza em sua ltima entrevista. Nos seus
livros encontramos o tema insistente dos impasses da
maternidade, da construo e limitao de umA me
primordial. Imagem convertida em cone cultural ao
ser fixada para sempre na cena da morte-sacrifcio
da barata A paixo segundo G.H. (Lispector,
1964/1998) a fmea totmica primordial.
Uma escrita feminina
O estranho, o materno e o feminino
No texto de Freud sobre o estranho (das
Unheimliche), uma de suas expresses salientada
pelo autor efeito do encontro de alguns neurticos
com o corpo feminino, mais precisamente com
os genitais femininos. Escreve Freud (1919/1973,
p. 2500):
Acontece com freqncia que homens neurticos
declaram que os genitais femininos so para eles
um tanto sinistros. Porm, essa coisa sinistra
[Unheimlich] porta de entrada para uma velha
morada [Heim] da criatura humana, o lugar no
qual cada um de ns esteve alojado alguma vez,
a primeira vez. Se costuma dizer jocosamente
Liebe ist Heimweh (O amor saudade), e quando
algum sonha com um lugar ou uma paisagem,
pensando no sonho: isto eu conheo, j estive
aqui alguma vez, ento a interpretao onrica est
autorizada a substituir esse lugar pelos genitais ou
pelo ventre da me. De modo que tambm nesse
caso o unheimlich o que outrora foi heimisch,
o familiar desde h muito tempo. O prefixo un
[in-], anteposto a essa palavra, , por outro lado,
o sinal do recalcamento.5
Nesse texto de Freud, o feminino estar sempre em
causa. No conto de Hoffmann O homem da areia,
ao qual ele dedica extensa e exemplar anlise, a
boneca Olmpia, o autmaton pelo qual Nataniel se
apaixona, que provocar a evocao da cena infantil do
personagem: a ameaa da perda dos olhos (o advogado
Coplio) e a morte do pai. O encontro com o oculista
vendedor de barmetros (Coppola) e Olmpia duplica
essa cena. essa mulher-autmaton, o que ela tem
de enigmtico, de impenetrvel, essa imagem-clich
de uma mulher que no lhe d a mnima e que lhe
interditada. Enfim, uma mulher que no bem mulher,
posto que a prpria me projetada ali. Lembremos
ainda que antes de se atirar da torre ao final da estria,
Nataniel tenta jogar a noiva, Clara, que socorrida pelo
irmo. O horror de Nataniel, diramos, o do encontro
com essa mulher, que lhe introduz no tema da castrao
ao reintroduzir a interdio do corpo materno. Da esse
efeito de estranho.
Freud atribua s questes do feminino uma
especial permeabilidade ao Unheimliche. Quase
como nos dissesse: o feminino o prprio Estranho
encarnado. Clarice Lispector vai mais alm mais
alm da castrao, como indicamos. Ela transforma
o Unheimliche em gozo e esse gozo em prazer
(alegria). Conforme as palavras de sua personagem
G.H. que expressa algo dessa prodigiosa transformao:
441
exatamente atravs do malogro da voz que se vai
pela primeira vez ouvir a prpria mudez e a dos
outros e a das coisas, e aceit-la como a possvel
linguagem. (...) O indizvel s me poder ser dado
atravs do fracasso de minha linguagem. S quando
falha a construo, que obtenho o que ela no
conseguiu. (...) Desistir a escolha mais sagrada de
uma vida. Desistir o verdadeiro instante humano.
E s esta a glria prpria de minha condio. A
desistncia uma revelao. (Lispector, 1964/1998,
p. 175-176).
G.H. v a barata, vista por ela e v-se nela.
Seu olhar a interroga. Em um gesto precipitado, ela
a mata, esmagando-a na porta do armrio. A barata
fica pendurada, mas segue olhando-a: os dois olhos
eram vivos como dois ovrios. uma barata-fmea,
nos diz G.H., visto que morreu pela cintura: O que
esmagado pela cintura fmea (p. 93). Em amplo
deslizamento metonmico de imagens alegricas
do universo feminino, conhecemos a histria de um
aborto que realizou na juventude, tempo de descoberta
e perda da maternidade. Momento inaugural, mtico
igualmente, de fazer-se me. Proferido no negativo.
Morte da me mtica, primordial. Me da horda
primitiva, talvez, que interdita o acesso ao sexo pela
posse exclusiva dos objetos de seu gozo. Me que se
precipita no primeiro sangue da menarca que a expulsa
do corpo da menina pronta agora, ela tambm, para
aceder a este gozo. Sangue abortivo que sintetiza o
paradoxo da perda da me no ganho da maternidade.
Experincia correlativa a de uma autoria.
E o leite materno, que humano, o leite materno
muito antes do humano, e no tem gosto, no
nada, eu j experimentei como olho esculpido
de esttua que vazio e no tem expresso, pois
quando a arte boa porque tocou no inexpressivo.
(Lispector, 1964/1998, p.143)
Clarice escreve o horror e o gozo de um encontro
realizado. Ela apela ao leitor para que lhe acompanhe,
que lhe d a mo nesse percurso. Ela precisa do
testemunho dessa paixo, despojamento essencial no
encontro com a carncia fundamental. Carncia que
no se deve temer diz G.H., segurando nossa mo
posto que o reconhecimento da carncia que a
base de todo encontro, fundamento de qualquer pedido,
suporte de todo apelo.
Somos o que somos capazes de ter, de vir a ter,
mas no pelo efeito de sentido que tal posse produz
sobre ns. Somos o que temos enquanto esse ter algo
desprovido de sentido. fora do sentido. Non sense
que constitui nossa condio de encontro. Condio
de reduo do ser ao falasser (parltre) que nos coloca
diante da inescapvel posio feminina; condio de
Psico, Porto Alegre, PUCRS, v. 40, n. 4, pp. 438-442, out./dez. 2009
442
Poli, M.C.
orfandade no discurso, mas no qual o semelhante, o Tu
que autentica a singularidade do gesto nico e mnimo,
adquire toda sua relevncia.
Escrever, nos ensina Clarice, profundamente
feminino.
Ler Clarice tambm o .
Referncias
Bataille, G. (1988). Histria do olho e minha me. Lisboa: Ed.
Livros do Brasil.
Bataille, G. (1988b). O erotismo. Lisboa: Antgona.
Freud, S. (1895/1973). Proyecto de uma psicologia para neurologos. In: Obras Completas. Tomo I. Madrid: Biblioteca
Nueva.
Freud, S. (1906/1973). El delirio y los sueos en la Gradiva de W.
Jesen. In Obras Completas. Tomo I. Madrid: Biblioteca Nueva.
Freud, S. (1913/1973). Totem y tabu. In Obras completas. Tomo II.
Madrid: Biblioteca Nueva.
Freud, S. (1919/1973). Lo siniestro [Das Unheimliche]. In: Obras
Completas. Tomo III. Madrid: Biblioteca Nueva.
Freud, S. (1933/1973). La feminidad. In Obras completas. Tomo
III. Madrid: Biblioteca Nueva.
Gotlib, N. (1995). Clarice, uma vida que se conta. So Paulo: Ed:
tica.
Lacan, J. (1972-73/1985). O seminrio. Livro 20: Mais, ainda. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar.
Lacan, J. (1959-60/1988). O seminrio. Livro 7: A tica da
psicanlise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Lacan, J. (1956-57/1995). O seminrio. Livro 4: A relao de
objeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Lacan, J. (1955-56/1998). De uma questo preliminar a todo tratamento possvel da psicose. In J. Lacan. Escritos (pp. 537-590).
Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Lacan, J. (1975-76/2007). O seminrio. Livro 23: O sinthoma. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar.
Lispector, C. (1977/1988). A hora da estrela. Rio de Janeiro:
Rocco.
Lispector, C. (1944/1998). Perto do corao selvagem. Rio de
Janeiro: Rocco.
Lispector, C. (1964/1998). A paixo segundo G.H. Rio de Janeiro:
Rocco.
Lispector, C. (1973/1998). gua-viva. Rio de Janeiro: Rocco.
Psico, Porto Alegre, PUCRS, v. 40, n. 4, pp. 438-442, out./dez. 2009
Lispector, C. (1964/1999). A legio estrangeira. Rio de Janeiro:
Rocco.
Marcos, C. (2007). Figuras da maternidade em Clarice Lispector
ou a maternidade para alm do falo. gora (Rio de Janeiro), 10,
1, 35-47.
Nunes, B. (1995). O drama da linguagem: uma leitura de Clarice
Lispector. So Paulo: Ed. tica.
Rosenbaum, Y. (2002). Clarice Lispector. So Paulo: Publifolha.
Shiach, M. (1997). O simblico deles existe, detm poder ns,
as semeadoras da desordem, o conhecemos bem demais. In T.
Brennan. Para alm do falo. Rio de Janeiro: Record/Rosa dos
Ventos.
Recebido em: 17/04/2008. Aceito em: 11/12/2009.
Notas:
1 Referimo-nos aqui as categorias de privao e castrao tais como definidas
por Lacan no Seminrio, livro 4 (Lacan 1956-57/1995).
2
Encontramos argumentos semelhantes no trabalho de Marcos (2007), segundo
a qual: A figura da mulher que no pertence sua vocao biolgica freqente
no universo de Clarice Lispector: Macabia (Lispector, 1984) tem os ovrios
murchos; G.H. (idem, 1996) os tem secos; Laura (idem, 1999) tem, no fundo
de seus olhos, um pequeno ponto ofendido que revela a falta de filhos, os filhos
que ela nunca teve; e assim tambm Joana (idem, 1995), incapaz de faz-los
viver. As mulheres, em Clarice Lispector, parecem recuar diante do horror da
maternidade, horror marcado pela carne viva, pelo orgnico, pelo que do real
refratrio ao simblico (p. 39).
3 Em francs, assim como em portugus, oeuf (ovo) designa a fuso dos gametas
masculino e feminino no tero materno e oeil (olho) refere-se tambm, por
analogia, ao orifcio anal.
4 Lacan (1972-73/1985) denomina de lalangue (traduzida por alngua) a lide
com a lngua em seu primeiro registro na relao me-bbe, a lngua materna.
Segundo suas palavras: Alngua serve para coisas inteiramentes diferentes da
comunicao. o que a experincia do inconsciente mostrou, no que ele efeito
da alngua, essa alngua que vocs sabem que eu a escrevo numa s palavra, para
designar o que a ocupao de cada um de ns, alngua dita materna, e no por
nada dita assim. (p. 188).
5
Mantivemos a grafia dos termos alemes tal como consta na traduo para
o espanhol das Obras completas de Freud. A traduo para o portugus de
nossa responsabilidade. Os termos em alemo entre colchetes no se encontram
na referncia tendo sido acrescentados a partir do cotejamento com a traduo
brasileira.
Autora:
Maria Cristina Poli Psicanalista, membro da APPOA. Doutora em Psicologia
pela Universit Paris 13 e Ps-doutora em Teoria Psicanaltica pela UFRJ.
Professora adjunta do Programa de Ps-graduao em Psicologia Social e
Institucional da UFRGS e do Mestrado em Psicanlise, Sade e Sociedade da
UVA/RJ. Coordena junto com Edson L. A. de Sousa, o LAPPAP Laboratrio
de Pesquisa em Psicanlise, Arte e Poltica. Pesquisadora do CNPq.
Enviar correspondncia para:
Maria Cristina Poli
Rua Augusto Pestana, 146/302
CEP 90040-200, Porto Alegre, RS, Brasil
E-mail: mcrispoli@terra.com.br
Você também pode gostar
- Livro de Orikis PDFDocumento44 páginasLivro de Orikis PDFDiana Pichinine100% (4)
- Tabela Parashiot 2016 2017Documento2 páginasTabela Parashiot 2016 2017Martosael AraujoAinda não há avaliações
- Peça FeiurinhaDocumento5 páginasPeça FeiurinhaDaniele Freitas67% (3)
- Literatura ContemporâneaDocumento30 páginasLiteratura ContemporâneaCarlos Lerina75% (4)
- Introdução Ao Novo Testamento Unidade IDocumento52 páginasIntrodução Ao Novo Testamento Unidade IHelton Douglas SilvaAinda não há avaliações
- O Monge Ambrosio e o Padre Amaro: o Anticlericalismo em Matthew Lewis e Eça de QueirozDocumento12 páginasO Monge Ambrosio e o Padre Amaro: o Anticlericalismo em Matthew Lewis e Eça de Queirozantónio_gomes_47Ainda não há avaliações
- TARKOVSKI Andrei - Esculpir o Tempo-Libre PDFDocumento303 páginasTARKOVSKI Andrei - Esculpir o Tempo-Libre PDFAnonymous vOKkyU100% (1)
- Capítulo 3 - Duchamp e BrancusiDocumento2 páginasCapítulo 3 - Duchamp e BrancusiAnonymous 1MiO5aiAinda não há avaliações
- Vestidos e Mordaças. Representação Da Opressão Feminina Na Literatura Brasileira Nos Séculos 19 e 20Documento94 páginasVestidos e Mordaças. Representação Da Opressão Feminina Na Literatura Brasileira Nos Séculos 19 e 20Anonymous 1MiO5aiAinda não há avaliações
- Narração, Dialoguismo e Carnavalização. Um Leitura de A Hora Da Estrela, de C.L. USPDocumento269 páginasNarração, Dialoguismo e Carnavalização. Um Leitura de A Hora Da Estrela, de C.L. USPAnonymous 1MiO5aiAinda não há avaliações
- Clarice Lispector e Julia Kristeva. Dois Discurso Sobre o CorpoDocumento565 páginasClarice Lispector e Julia Kristeva. Dois Discurso Sobre o CorpoAnonymous 1MiO5ai100% (2)
- Avaliação Inglês 7º Ano - Doc 2º TriDocumento2 páginasAvaliação Inglês 7º Ano - Doc 2º TriLiege VicenteAinda não há avaliações
- HumanismoDocumento2 páginasHumanismoAndrea Passos Mascarenhas Dos SantosAinda não há avaliações
- Atividade Do 9 Ano. Artigo de OpiniãoDocumento3 páginasAtividade Do 9 Ano. Artigo de OpiniãoGabrielAinda não há avaliações
- SEFOR 3 Paulo Benevides - 23075791 - Portaria 02-2023 - SEFOR 2 Sala 1Documento4 páginasSEFOR 3 Paulo Benevides - 23075791 - Portaria 02-2023 - SEFOR 2 Sala 1William Matheus Bomfim CabralAinda não há avaliações
- Flor Sem DefesaDocumento4 páginasFlor Sem DefesaJonathan Friesen100% (1)
- 2 - Discipulado Nova Vida em CristoDocumento37 páginas2 - Discipulado Nova Vida em CristoFilipeAinda não há avaliações
- Os Maias Realismo em PortugalDocumento14 páginasOs Maias Realismo em PortugalMariquitosAinda não há avaliações
- Código de HamurábiDocumento4 páginasCódigo de HamurábiMariel PeletAinda não há avaliações
- Nord - Relação de Livros Sobre Mitor Nórdicos em PortuguêsDocumento7 páginasNord - Relação de Livros Sobre Mitor Nórdicos em PortuguêsMateus von ThomaAinda não há avaliações
- A Arte de Contar História - Estratégia para A Formação de Leitores PDFDocumento20 páginasA Arte de Contar História - Estratégia para A Formação de Leitores PDFTiago MayerAinda não há avaliações
- O Romance RomânticoDocumento22 páginasO Romance RomânticoPaulo GalvaoAinda não há avaliações
- A GratidãoDocumento5 páginasA GratidãoShirley TiagoAinda não há avaliações
- A Revolucao Da Rosa Emma TheriaultDocumento292 páginasA Revolucao Da Rosa Emma TheriaultgiuliannoAinda não há avaliações
- Folheto Sobre DízimoDocumento9 páginasFolheto Sobre DízimoManassésAinda não há avaliações
- Texto A Melhor e A Pior Comida Do MundoDocumento5 páginasTexto A Melhor e A Pior Comida Do Mundocreusa_rosaAinda não há avaliações
- Revista Arena Turbo 13Documento53 páginasRevista Arena Turbo 13Roberta MelloneAinda não há avaliações
- Período Composto Por SubordinaçãoDocumento3 páginasPeríodo Composto Por SubordinaçãoErisvaldo AguiarAinda não há avaliações
- 2 7-DoGeralParaoEspecficoDocumento6 páginas2 7-DoGeralParaoEspecficoGustavo RodriguesAinda não há avaliações
- Matita Perê de Tom JobimDocumento4 páginasMatita Perê de Tom JobimjohngumuryAinda não há avaliações
- Manual de TCC 2015 PDFDocumento62 páginasManual de TCC 2015 PDFVitor de AndradeAinda não há avaliações
- A Literatura de Informação Corresponde Aos Textos de Viagens Escritos em Prosa e Fazem Parte Do Primeiro Movimento Literário Do BrasilDocumento2 páginasA Literatura de Informação Corresponde Aos Textos de Viagens Escritos em Prosa e Fazem Parte Do Primeiro Movimento Literário Do BrasilPatricia PatriciaAinda não há avaliações
- Tema, Título, Assunto...Documento2 páginasTema, Título, Assunto...lucia100% (1)
- Invocação, Súplica, Poder e Submissão - Homens e Deuses Na Literatura LatinaDocumento15 páginasInvocação, Súplica, Poder e Submissão - Homens e Deuses Na Literatura LatinaSoraya ChavesAinda não há avaliações