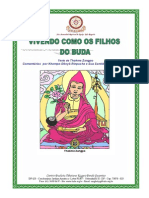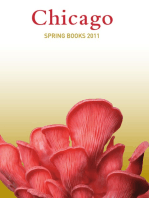Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Felicidade em Kant
Enviado por
André RochaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Felicidade em Kant
Enviado por
André RochaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UFSM
DISSERTAO DE MESTRADO
O CONCEITO DE FELICIDADE NA FILOSOFIA PRTICA DE KANT
DISON MARTINHO DA SILVA DIFANTE
PPGF
SANTA MARIA, RS, BRASIL
2008
ii
O CONCEITO DE FELICIDADE NA FILOSOFIA
PRTICA DE KANT
por
dison Martinho da Silva Difante
Dissertao apresentada ao Curso de Mestrado do Programa de Ps Graduao em
Filosofia, na linha de pesquisa Fundamentao do agir humano, da Universidade
Federal de Santa Maria (RS), como requisito parcial para a obteno do grau de
Mestre em Filosofia
PPGF
SANTA MARIA, RS, BRASIL
2008
iii
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Cincias Sociais e Humanas
Programa de Ps Graduao em Filosofia
A Comisso Examinadora, abaixo assinada,
aprova a Dissertao de Mestrado
O CONCEITO DE FELICIDADE NA FILOSOFIA
PRTICA DE KANT
elaborada por
DISON MARTINHO DA SILVA DIFANTE
Como requisito parcial para obteno do grau de
Mestre em Filosofia
COMISSO EXAMINADORA:
________________________________
Professor Dr. Miguel Spinelli UFSM
(Presidente / Orientador)
________________________________________
Professor Dr. Christian Viktor Hamm UFSM
________________________________________________
Professora Dr. Maria de Lourdes Alves Borges UFSC
_____________________________________
Professor Dr. Noeli Dutra Rossatto UFSM
(Suplente)
Santa Maria, 19 de Maro de 2008.
iv
AGRADECIMENTOS
Ao Professor Dr. Miguel Spinelli, pela orientao trabalhosa, franqueza,
amizade e incentivo desde a graduao.
Ao Professor Dr. Christian Hamm, pelo apoio e pelas discusses
pertinentes e esclarecedoras.
Ao Professor Dr. Marcelo Fabri, que sempre me incentivou, pelas valiosas
conversas.
Ao Secretrio Srgio Callil, pela boa vontade e competncia na resoluo
dos assuntos burocrticos.
CAPES, pela bolsa de estudo, financiadora desta pesquisa.
toda a minha famlia que, de uma forma ou de outra, me ajudou,
especialmente minha tia Victria.
ABREVIATURAS
A: Antropologia de um ponto de vista pragmtico
AP: Antropologia prtica
CRPr: Crtica da razo prtica
CRP: Crtica da razo pura
CJ: Crtica da faculdade do juzo
FMC: Fundamentao da metafsica dos costumes
L: Lgica
LE: Lies de tica
MC: A metafsica dos costumes
PI: Primeira introduo Crtica do juzo
PP: A paz perptua
R: Reflexes
RL: A religio nos limites da simples razo
RPE: Resposta pergunta: O que iluminismo?
TP: Sobre a expresso corrente: Isto pode ser correto na teoria, mas nada
vale na prtica
vi
SUMRIO
RESUMO..................................................................................................viii
ABSTRACT................................................................................................ix
INTRODUO.........................................................................................10
CAPTULO I
SOBRE A REGRA MORAL E OS PRINCPIOS PRTICOS DO
AGIR
1. A regra moral enquanto imperativo da razo humana.....................13
2. Os princpios prticos do agir
2.1. A vontade como capacidade de determinar o arbtrio....................17
2.2. Animus sui compos: o homem como senhor de si mesmo...............23
2.3. O livre-arbtrio como faculdade de adoo de mximas................25
2.4. A distino entre mxima moral e lei moral...................................27
3. A natureza racional como fim em si mesmo.......................................33
CAPTULO II
A CONCEPO DE FELICIDADE ENQUANTO SATISFAO
EMPRICA
1. A tendncia geral do homem felicidade
1.1. A felicidade e o sentimento de prazer ou desprazer.........................37
1.2. A faculdade de desejar e a felicidade...............................................42
2. A incompatibilidade do conceito de felicidade....................................44
3. O problema da felicidade enquanto satisfao emprica...................49
4. Sobre o dever indireto de promover a felicidade pessoal
4.1. A noo de deveres diretos e indiretos: perfeitos e imperfeitos.......54
4.2.O dever indireto de promover a felicidade.......................................59
vii
4.3 Aspectos positivos da felicidade enquanto satisfao emprica.......65
CAPTULO III
O CONCEITO DE FELICIDADE E A REALIZAO DA
MORALIDADE
1. Os conceitos inapropriados de agradvel e felicidade
1.1 O conceito de agradvel....................................................................68
1.2 O conceito de felicidade na Analtica da Crtica razo prtica....74
2. A felicidade no livro da Dialtica e a Antinomia da razo
prtica
2.1 O autocontentamento moral..............................................................77
2.2 A dignidade de ser feliz.....................................................................81
2.3 A ligao da moralidade com a felicidade e a Antinomia da razo
prtica.......................................................................................................84
2.4 Os postulados de imortalidade da alma e da existncia de Deus.....88
3. A definio precisa do conceito de sumo bem
3.1 Esclarecimento terminolgico de Summum Bonum..........................92
3.2 A primeira apresentao do conceito de sumo bem no Cnon da
Crtica da razo pura....................................................................................94
3.3 O sumo bem e seus desdobramentos.................................................97
4. A felicidade no sistema moral kantiano............................................102
CONCLUSO.........................................................................................106
BIBLIOGRAFIA.....................................................................................109
viii
RESUMO
Dissertao de Mestrado
Programa de Ps-graduao em Filosofia
Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil
O CONCEITO DE FELICIDADE NA FILOSOFIA PRTICA DE
KANT
Autor: dison Martinho da Silva Difante
Orientador: Miguel Spinelli
Santa Maria, 19 de maro de 2008.
A Dissertao busca apresentar uma reconstruo do conceito de
felicidade na Filosofia prtica de Kant. O tema no se restringe em Kant a
uma s obra, pois comparece em vrias: na Crtica da razo prtica
(CRPr), na Fundamentao da metafsica dos costumes (FMC), na
Metafsica dos costumes (MC), na Antropologia de um ponto de vista
pragmtico (A), e, inclusive, na Crtica da razo pura (CRP). A parte
inicial da Dissertao consiste em uma breve exposio sobre a regra moral
e os princpios prticos do agir, e nela se busca esclarecer o conceito de
autonomia da vontade, imprescindvel para a justificao da moralidade, e
sem o qual o homem no poderia ser pensado como um fim em si mesmo.
Na seqncia, a exposio se reporta concepo de felicidade enquanto
satisfao emprica, e tende, por um lado, a justificar por que Kant a exclui
no que diz respeito justificao do agir moral; por outro, por que a sua
presena ou falta pode auxiliar ou prejudicar o cumprimento do dever
moral. Num terceiro momento, dentro de uma perspectiva crticosistemtica, e a partir da anlise do conceito de sumo bem (summum
bonum), tido como o objeto a priori da moralidade, busca-se mostrar a
funo sistemtica da felicidade no contexto da filosofia prtica kantiana.
Nesse momento, a questo que se impe a seguinte: embora a felicidade
no possa exercer papel algum no que diz respeito justificao moral,
torna-se, no entanto, um elemento de extrema importncia na efetivao ou
possvel realizao da moralidade. Da por que Kant no a exclui
definitivamente, embora no lhe d o mesmo enfoque que a tradio
filosfica lhe dera at ento. Quando se pensa o bem perfeito para um ser
racional, nele deve estar includa tambm a felicidade, mas sob a condio
de merecimento. A felicidade, por esse ponto de vista, passa ento a no
mais consistir na satisfao das necessidades, tendncias e impulsos
humanos, mas simplesmente a se constituir em um conceito do mundo
moral.
ix
ABSTRACT
Masters Dissertation
Post-graduate Course in Philosophy
Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brazil
THE CONCEPT OF HAPPINESS IN THE PRACTICAL
PHILOSOPHY OF KANT
Author: dison Martinho da Silva Difante
Advisor: Miguel Spinelli
Santa Maria, 19 March, 2008.
This dissertation aims to present a reconstruction of the concept of
happiness in the practical philosophy of Kant. This theme is not restricted
to only one work in Kant, rather it appears in several: in The Critique of
Practical Reason (CRPr), in The Groundwork of Metaphysics of Morals
(FMC), in The Metaphysics of Morals (MC), in The Anthropology from a
Pragmatic Point of View (A), and, inclusively, in The Critique of Pure
Reason (CRP). The first section of the dissertation gives a brief exposition
of the moral rule and the practical principles of acting, in an attempt to
elucidate the concept of autonomy of will, which is fundamental for the
justification of morality, and without which man could not be thought of as
an end in himself. This is followed by an elaboration on the conception of
happiness as empiric satisfaction, which tends to justify, on the one hand,
why Kant excludes it in that which concerns the justification of moral
acting; and on the other hand, why its presence or absence can assist or
hinder the achievement of moral duty. Subsequently, from a criticalsystematic perspective, and based on the analysis of the concept of
summum bonum, considered to be the a priori object of morality, an effort
is made to show the systematic function of happiness in the context of
practical Kantian philosophy. At this point, the issue that surfaces is:
though happiness cannot exert any role in that which concerns moral
justification, it, nevertheless, becomes an element of extreme importance in
the effectuation or possible realization of morality. From there, why Kant
does not exclude it definitively, although he does not give it the same focus
that the philosophical tradition had given it until then. When one thinks of
the perfect good for a rational being, happiness should be included as well,
but under the condition of worthiness. Happiness, from this point of view,
no longer consists of the satisfaction of necessities, tendencies and human
impulses, but is merely a concept of the moral world.
10
INTRODUO
O tema ou questo fundamental desta dissertao diz respeito funo sistemtica da
felicidade na Filosofia prtica de Kant. O que nela se props foi uma reconstruo do conceito
de felicidade, sob uma perspectiva crtico-sistemtica, tomando-se por base as obras kantianas
referentes filosofia prtica (principalmente a Fundamentao da metafsica dos costumes e a
Crtica da razo prtica).
Estruturalmente, a dissertao divide-se em trs captulos. O primeiro, centra-se em uma
abordagem referente regra moral e os princpios prticos do agir. O segundo, trata
especificamente da felicidade enquanto satisfao emprica. No terceiro, por sua vez, se
discute a felicidade e a possvel realizao da moralidade, ou seja, como a felicidade se insere
no sistema moral kantiano.
No primeiro captulo, trabalha-se com a oposio referente determinao sensvel e
racional no homem, relacionando-as com a determinao da vontade. Nessa medida, a parte
inicial da dissertao consiste simplesmente em uma breve exposio sobre a teoria moral
kantiana. Portanto, nesse primeiro captulo, se busca esclarecer o conceito de autonomia da
vontade, imprescindvel para a justificao da moralidade, e sem o qual o homem no poderia
ser pensado como um fim em si mesmo.
O segundo captulo, um pouco mais extenso (por j tratar do problema), constitudo de
quatro sees. Num primeiro momento, atravs da relao do conceito de felicidade e dos
sentimentos de prazer e desprazer e da faculdade de desejar, o esforo consiste em uma
exposio referente tendncia geral do homem felicidade. Posteriormente, em um segundo
passo, se busca mostrar como, e porque, a felicidade enquanto satisfao emprica
incompatvel com a moralidade, visto que ela um ideal da imaginao. Seguindo-se da
exposio precedente, a partir da diferenciao entre os tipos de imperativos (categrico e
hipottico), se mostra porque a felicidade no pode e nem serve para justificar a ao moral;
embora o fim ltimo de todo o ser humano racional, empiricamente constitudo, seja o
mesmo, a saber, a sua felicidade prpria. Na seqncia, a partir da noo de deveres diretos e
indiretos, a exposio se reporta, por um lado, a justificar porque Kant exclui a felicidade no
que diz respeito justificao do agir moral; por outro, porque a sua falta ou presena pode
auxiliar ou prejudicar o cumprimento do dever moral.
No terceiro e ltimo captulo, alm da breve exposio referente ao termo
autocontentamento moral (utilizado por Kant, na Crtica da razo prtica, como uma
11
alternativa de satisfao proveniente do agir moral), mantendo-se dentro de uma perspectiva
crtico-sistemtica, e a partir do conceito de sumo bem, busca-se evidenciar a funo
sistemtica da felicidade na Filosofia prtica kantiana. Sob essa perspectiva, quando se pensa
o bem perfeito para um ser racional, nele deve estar includa tambm a felicidade, mas agora
sob a condio de merecimento.
Com efeito, embora a felicidade seja imprescindvel para o humano, parece que Kant
no colocou conceito como integrante de seu sistema, mesmo que ele seja tratado em todas as
suas obras de Filosofia prtica. Logo (a felicidade), no uma questo irrelevante, mas de
todo conveniente para elucidar outras questes pertinentes ao agir humano em geral. Nesse
sentido, a felicidade pode ser pensada como exercendo uma funo sistemtica na Filosofia
prtica de Kant.
A justificao da tica kantiana repousa na concepo segundo a qual o homem
portador de uma razo incondicionada, ou seja, uma razo pura que lhe possibilita autonomia,
e que, alm disso, constitui a dignidade humana diante dos demais entes da natureza. A
dignidade do humano se traduz em sua capacidade de agir conforme a representao de leis
determinadas por ele mesmo; de modo que, o homem no deveria estar submetido a qualquer
outro fim que no o de sua prpria razo, a saber, o da prpria moralidade, que implica o
cumprimento do dever pelo dever.
Com a pretenso de dar ao julgamento moral um fundamento que garanta sua exatido,
Kant assume como objetivo na Fundamentao da metafsica dos costumes, a busca e
fixao do princpio supremo da moralidade. Com esse objetivo (e sob a necessidade de
estabelecer um princpio universal e absoluto), Kant procede excluindo tudo o que
contingente, emprico, objeto ou produto do desejo, enfim, tudo o que no pode ser
universalizado, da possibilidade de justificativa para a ao moral.
A felicidade fundamentalmente emprica. Ela depende dos desejos subjetivos
determinados pelos sentimentos de prazer ou de dor. A produo do desejo sempre
contingente, pois determinada por objetos empricos. Nessa perspectiva, impossvel
universalizar os desejos e determinar, de forma precisa, a felicidade. Ademais, a felicidade
no passa de um ideal impossvel de ser estabelecido. Ela tem por base as sensaes empricas
e no a universalidade possvel a priori.
O que chama a ateno e que, em certo sentido, intrigante, mas concebvel, que Kant
afirma na Fundamentao, na Crtica da razo prtica e na Metafsica dos costumes, que a
busca da felicidade indiretamente um dever para o ente racional humano. No obstante,
poder-se-ia pensar que, em Kant, houvesse uma posio taxativa, segundo a qual, ou se feliz
12
ou se moral. No entanto, o prprio Kant, pelo menos nessas trs obras, mostra claramente a
necessidade de o ente racional humano ser feliz. Isso, contudo, no supe que a felicidade seja
apta a justificar a moral; pois, o princpio da moralidade deve ser livre de todas as inclinaes.
No que se refere dignidade de ser feliz surge outro aspecto referente felicidade, com
o qual se busca esclarecer, em Kant, como, e se possvel, que a moralidade venha a produzir
algum tipo de satisfao. Em outras palavras, a partir desse aspecto da felicidade, pode-se
pensar tambm em que medida o ente racional poderia alcanar o autocontentamento,
unicamente por meio do agir moral.
A felicidade consiste em um ideal buscado por todos os seres racionais sensveis. Logo,
ser feliz uma busca universal. No esclarecimento do princpio moral, em Kant, jamais se
poderia desconsiderar a felicidade, incorrendo no risco de inconsistncia. O prprio Kant
toma por evidente que os seres racionais humanos buscam incessantemente a felicidade.
Nesse sentido, seria estranho se ela fosse simplesmente descartada, ou relegada como algo
completamente exterior moral. Kant no exclui a felicidade do agir moral, contudo, no lhe
d o mesmo enfoque que a tradio filosfica lhe dera at ento. Em suma, a felicidade, em
Kant, simplesmente toma o lugar especfico que lhe devido em uma Filosofia prtica que se
submeta crtica.
13
CAPTULO I
SOBRE A REGRA MORAL E OS PRINCPIOS PRTICOS DO AGIR
1 A regra moral enquanto imperativo da razo humana
O homem um ser racional, porm, sensvel, visto que, alm de ser dotado de razo, so
integrantes de sua condio humana as inclinaes e as necessidades. A sensibilidade
humana, por vezes, pode tanto desencadear aes inescrupulosas ou reprovveis, como
tambm, em determinadas situaes, promover a pratica aes altamente louvveis e boas,
sem que haja, portanto, lugar para repreenso alguma.
O ser humano, dotado de razo, tem a capacidade de afastar-se ou, at mesmo, sair de
sua menoridade atravs do esclarecimento, ou seja, o processo pelo qual ele se torna apto a
fazer uso de seu prprio entendimento, servindo-se de si mesmo e sem a orientao de
outrem (RPE, A 481)1. Tal possibilidade vislumbrada atravs da noo de imperativo
categrico, conceito a partir do qual Kant define a lei prtica, segundo a qual possvel
determinar e ordenar a vontade independentemente do efeito da ao2. A esse respeito, na
Fundamentao da metafsica dos costumes, Kant esclarece o seguinte:
A boa vontade no boa por aquilo que promove ou realiza, pela aptido para
realizar qualquer finalidade proposta, mas to somente pelo querer, isto , em si
mesma e, considerada em si mesma, deve ser avaliada em grau muito mais alto do
que tudo o que por seu intermdio possa ser alcanado em proveito de qualquer
inclinao, ou mesmo, se se quiser da soma de todas as inclinaes (FMC, BA 3).
Segundo Kant, a inteno prevalece sobre a ao, no seu resultado sobre a inteno. A
inteno deve ser fundamentada a partir da boa vontade, enquanto tal deve ser depurada de
tudo o que emprico. Logo, as aes devem estar livres das inclinaes egostas e
estabelecer as suas bases sob um ponto de vista altrusta, ainda que as inclinaes apresentem
garantias de estarem baseadas em mximas morais. Portanto, uma vontade boa no se define
pelas conseqncias, mas pela forma do querer e para cujo fim se faz necessria a retitude da
inteno. Kant, ao se referir inteno, no a entende como um desejo sem ao, mas supe
que o ser humano se esforce realmente para realizar o seu propsito. Porm,
1
O ponto de partida e a justificao da moral repousam na concepo segundo a qual o ente humano portador
de uma razo incondicionada. Por outro lado, a dignidade do ser humano, conforme a Resposta pergunta: O
que iluminismo?, se encontra na capacidade de agir servindo-se de seu prprio entendimento.
2
Cf: CRPr, A 37.
14
independentemente de alcan-lo ou no, a inteno (da boa vontade) tem sempre o seu valor.
Pode-se constatar isso a partir da seguinte afirmao do prprio Kant:
Ainda mesmo que por um desfavor especial do destino, ou pelo apetrechamento
avaro duma natureza madrasta, faltasse totalmente a esta boa vontade o poder de
fazer vencer as suas intenes, mesmo que nada pudesse alcanar a despeito dos
seus maiores esforos, e s afinal restasse a boa vontade ( claro que no se trata
aqui de um simples desejo, mas sim do emprego de todos os meios de que as nossas
foras se empenham), ela ficaria brilhando por si mesma como uma jia, como
alguma coisa que em si mesma tem o seu pleno valor (FMC, BA 3).
O homem, ao se propor cumprir a lei moral, deve ter por fim a ser alcanado o prprio
cumprimento da lei, no o resultado da ao. Nesse caso, a lei deve ser o nico fundamento
determinante da vontade, enquanto que, se a mxima da ao estiver baseada em um objeto
material, o fim estaria condicionado mxima proposta.
Ora aquilo que serve vontade de princpio objetivo de sua autodeterminao o
fim (Zweck), e este, se dado pela s razo, tem de ser vlido igualmente para
todos os seres racionais. O que pelo contrrio contm apenas o princpio da
possibilidade da ao, cujo efeito um fim, chama-se meio (FMC, BA 63).
Na Fundamentao, quando escreve sobre o imperativo categrico, Kant parte do
pressuposto de que a vontade humana no est sempre
em si plenamente conforme razo (como acontece realmente entre os homens),
entre as aes, que objetivamente so reconhecidas como necessrias, so
subjetivamente contingentes, e a determinao de uma tal vontade, conforme a leis
objetivas, obrigao (Ntigung) (FMC, BA 37).
Os princpios reconhecidos pela razo como universalmente vlidos no so, portanto,
adotados automaticamente pela vontade humana, sempre s voltas com mbeis no dados pela
razo3. Nesse sentido, faz-se necessrio a representao de um princpio objetivo, na medida
em que fator de coao para uma vontade humana. Tal representao chama-se um
mandamento (da razo), e a frmula do mandamento chama-se Imperativo (FMC, BA 37).
Com relao ao fim da vontade, dois tipos de imperativos so possveis, quais sejam, um
baseado no objeto do apetite sensvel, outro proposto puramente pela razo. No caso de no
ser dado nenhum objeto do apetite sensvel, a razo pode ordenar determinada ao como
praticamente necessria por ela mesma e sem referncia a um objeto desejado, que a vontade
j tivesse assumido em seus fins; o imperativo seria, ento, categrico, propondo a razo a
BECKENKAMP, Joosinho, 1998, p. 28.
15
partir de sua lei objetiva um objeto ou fim puro da vontade4; em outras palavras, um
princpio prtico a priori, no condicionado experincia.
O princpio fundamental da moralidade apresentado em diferentes formulaes, a
saber, a frmula da lei universal: Age apenas segundo uma mxima tal que possas ao mesmo
tempo querer que ela se torne lei universal (FMC, BA 52). Logo depois, Kant afirma que
esse mesmo imperativo universal tambm pode ser expresso com as seguintes palavras:
Age como se mxima de tua ao se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da
natureza (FMC, BA 52). Essa frmula considerada como uma variante da primeira. Mais
adiante, Kant apresenta a sua verdadeira frmula, a saber, a da humanidade: Age de tal
maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro,
sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio (FMC, BA 66-67). A
terceira frmula, a da autonomia, expressa por Kant como a idia da vontade de todo o ser
racional concebida como vontade legisladora universal (FMC, BA 70). No mesmo sentido,
Kant tambm apresenta a formulao referente ao suposto reino dos fins: Age segundo
mximas de um membro universalmente legislador em ordem a um reino dos fins somente
possvel (FMC, BA 84). Essa frmula pode ser considerada uma variante da frmula da
autonomia5.
Ainda que Kant apresente o imperativo categrico sob essas diferentes formulaes,
possvel afirmar que tal princpio evidencia qual o modelo formal de ao a ser considerado
como capaz de promover uma ao moralmente boa. A questo fundamental, portanto, est no
modelo a ser adotado. Com esse objetivo, Kant sugere que o prprio agente se faa o seguinte
questionamento:
Podes tu querer tambm que a tua mxima se converta em lei universal? Se no
podes, ento deves rejeit-la, e no por causa de qualquer prejuzo que dela pudesse
resultar para ti ou para os outros, mas porque ela no pode caber como princpio
numa possvel legislao universal (FMC, BA 20).
O critrio que define o imperativo categrico o da boa vontade, ou seja, uma vontade
livre de todas as inclinaes. O indivduo deve agir por dever, mesmo que isso possa acarretar
prejuzos para suas inclinaes e necessidades pessoais. Dessa forma, o agir deve
fundamentar-se em princpios, no na busca da satisfao pessoal baseada em sentimentos. A
boa vontade, pois, est estritamente vinculada ao conceito de dever6. Tanto o conceito do
imperativo categrico, quanto o da vontade boa so fundamentais na teoria moral kantiana.
4
BECKENKAMP, Joosinho, 1998, p. 30.
Cf: WOOD, Allen W., 1999, p.p. 17-20.
6
Cf: FMC, BA 8.
5
16
Na primeira seo da Fundamentao, Kant procede a anlise desses dois conceitos. Tal
reconstruo terica necessria, uma vez que da juno desses dois conceitos que nasce
propriamente tica kantiana. O imperativo categrico e a boa vontade traduzem, portanto,
duas condies bsicas do dever (a necessidade de uma ao por respeito lei), a saber, o seu
aspecto objetivo (a lei moral), e o seu aspecto subjetivo, o acatamento da lei pela
subjetividade livre, como condio necessria e suficiente da ao7. Logo, fcil perceber a
importncia imprescindvel da liberdade no que tange possibilidade da escolha de mximas
de ao.
Para Kant, o conceito de vontade boa pode ser definido tambm por aquilo que bom
sem limitao, tanto neste mundo, quanto fora dele. Uma srie de qualidades
normalmente presentes nos seres humanos e entendidas, na maior parte das vezes, como boas
e desejveis podem tornar-se extremamente ms e prejudiciais, se no forem conduzidas pela
vontade boa. Assim, ainda que essas qualidades possam ser favorveis vontade (boa), elas
no apresentam nenhum valor ntimo absoluto, ou seja, por no serem absolutamente boas
ou desejveis necessitam da vontade boa para que a noo de bem prevalea. Kant, ao iniciar
a Fundamentao, ressalta a importncia da boa vontade da seguinte forma:
Neste mundo, e at tambm fora dele, nada possvel pensar que possa ser
considerado como bom sem limitao a no ser uma s coisa: uma boa vontade.
Discernimento (1), argcia de esprito (2), capacidade de julgar (3) e como quer que
possam chamar-se os demais talentos do esprito, ou ainda coragem, deciso,
constncia de propsito, como qualidades do temperamento, so sem dvida a
muitos respeitos coisas boas e desejveis; mas tambm podem tornar-se
extremamente ms e prejudiciais se a vontade, que haja de fazer uso destes dons
naturais e cuja constituio particular se chama carter, no for boa (FMC, BA 1).
Com o intuito de ressaltar o carter instrumental que tais qualidades podem assumir, para
facilitar o empenho da vontade boa, Kant ressalva que:
Algumas qualidades morais so mesmo favorveis a esta boa vontade e podem
facilitar muito a sua obra, mas no tm todavia nenhum valor ntimo absoluto, pelo
contrrio pressupem ainda e sempre uma boa vontade, a qual restringe a alta
estima que, alis com razo, por elas se nutre, e no permite que as consideremos
absolutamente boas (FMC, BA 2).
Justamente pelo fato do homem ser racional e sensvel ao mesmo tempo que a razo
no o nico critrio determinante da vontade. Por conseguinte, a regra moral , para o ser
humano, um imperativo8, isto , uma regra que caracterizada por um dever ser, o qual
7
DUTRA, Delamar V., 2002, p.p. 29-30.
Segundo o comentrio de Georges Pascal: Uma vontade perfeita determinar-se-ia sempre pela razo,
conformando-se de imediato s leis racionais. Mas, no homem, a vontade no perfeita: est sujeita, no s
razo, como tambm a condies subjetivas, isto , influncia das inclinaes da sensibilidade. H, assim, um
8
17
expressa a necessidade objetiva da ao e significa que, se a razo determinasse totalmente a
vontade, a ao ocorreria inevitavelmente segundo esta regra (CRPr, A 36). O imperativo
categrico, pois, vlido tanto para seres racionais puros, quanto racionais sensveis (os
humanos). Para os seres racionais puros (que, segundo Kant, j devem possuir uma vontade
santa), os princpios objetivos, reconhecidos como necessrios pela prpria razo, so
tambm subjetivamente necessrios, quer dizer, adotados e seguidos necessariamente pelo
sujeito9. No obstante, eles no necessitam ser obrigados a conformar as suas aes lei
moral, visto que, devido a sua constituio subjetiva, s podem ser determinados pela
representao do bem10.
Por isso os imperativos no valem para a vontade divina nem, em geral, para uma
vontade santa; o dever (Sollen) no est aqui no seu lugar, porque o querer
coincide j por si necessariamente com a lei (FMC, BA 39).
Portanto, o homem, enquanto humano e finito, tem a vontade afetada tambm pela
sensibilidade, inclinaes e necessidades. Assim, a regra da moralidade , para o ser humano,
um imperativo de natureza categrica11, que representado sob a forma de princpios prticos.
2 Os princpios prticos do agir
2.1 A vontade como capacidade de determinar o arbtrio
Na filosofia prtica kantiana, por vezes, aparecem algumas nuances terminolgicas que
precisam ser esclarecidas ou elucidadas. Dentre elas existem as diferenas, no to evidentes,
no que se refere aos conceitos de arbtrio e vontade. Cada um desses conceitos exerce uma
conflito entre a razo e a sensibilidade na determinao da vontade. A vontade no obedece a razo salvo se for
constrangida por ela, e no naturalmente, como o faria se fosse pura. por esse motivo que as leis da razo se
apresentam vontade como mandamentos, como imperativos. Uma vontade perfeitamente boa, uma vontade
santa a vontade divina, por exemplo obedeceria as leis racionais sem ser coagida por elas; estas leis no
seriam pois imperativos. Para uma vontade humana, ao contrrio, elas se apresentam sob a forma de imperativo,
ou seja como deveres (PASCAL, Georges, 2005, p. 127).
9
BECKENKAMP, Joosinho, 1998, p. 28.
10
Cf: FMC, BA 39.
11
Paul Guyer observa que se tem referido ao princpio fundamental da moralidade sem distingui-lo do
imperativo categrico, porm, segundo ele, os dois no so exatamente iguais. Para fazer esse esclarecimento,
ele cita a explicao de Konrad Cramer: the fundamental principle of morality can be considered a pure
synthetic a priori principle, applicable to any and all rational beings, whereas the categorical imperative is an
impure synthetic a priori principle, the form in which the fundamental principle of morality presents itself to
beings like us, who empirically know ourselves to have inclinations and interests that may conflict with
compliance with the fundamental principle of morality, and thus may experience the fundamental principle of
morality as a constraining obligation a categorical imperative in a way that beings without such conflicting
incentives would not (GUYER, Paul, 2000, p. 218).
18
funo prpria no sistema moral de Kant12. No entanto, muitas vezes, eles so tidos como
sinnimos, ou como possuidores da mesma funo sistemtica, sendo possvel, at mesmo,
transmutar um termo pelo outro sem que nenhum problema aparente resulte disso13.
O que se pretende aqui no propriamente abarcar a definio de arbtrio e vontade.
Contudo, o motivo ou objeto de interesse o esclarecimento das diferenas entre ambos, bem
como, a compreenso de suas funes sistemticas em suas relaes recprocas. Com efeito,
possvel perceber as diferenas especficas e essenciais, elucidadas por Kant, com respeito a
esses conceitos. Nessa perspectiva de compreenso, mostrar-se-, a partir dos modos de
determinao do arbtrio, de que modo ele pode ou no obedecer aos ditames da vontade14.
Kant explica a diferena dos modos de determinao do arbtrio por meio de trs termos
latinos: arbitrium brutum, arbitrium sensitivum e arbitrium liberum. Nas obras de Kant, pelo
menos no perodo crtico, existem trs passagens que podem ser aproximadas por mostrarem
especificamente os modos do exerccio do arbtrio. Uma delas se encontra na Crtica da razo
pura, mais especificamente, na Soluo das idias cosmolgicas (CRP, B 561-562); outra,
na mesma Crtica da razo pura, no Cnone da razo pura (CRP, B 830-831); por ltimo,
na Metafsica dos costumes, logo na introduo.
Na Soluo da idias cosmolgicas, Kant esclarece a relao da Liberdade
Transcendental com a Liberdade no sentido Prtico15. Para tanto, utiliza-se dos respectivos
conceitos referentes determinao do arbtrio. Na segunda passagem, mencionada no
Cnone da razo pura, Kant atm-se a tratar especificamente da Liberdade Prtica, j que
ela diz respeito, em especial, ao agir, que deve ser determinado pela razo exclusivamente; e,
Beck distingue Wille e Willkr como dois aspectos da razo prtica diferindo-os, respectivamente, enquanto
funo legislativa e executiva (Cf: BECK, L. W., 1984, p. 199).
13
Segundo Victor Delbos, o prprio Kant, s vezes, parece confundir ou fazer um emprego impreciso dos
termos. No entanto, possvel perceber, dentre as passagens, o sentido distinto de ambos (Cf: DELBOS, V.,
1969, p. 351).
14
No dizer de Delamar V. Dutra: a liberdade a capacidade de seguir suas prprias leis auto-impostas, ou seja,
a capacidade da Willkr de obedecer ou no obedecer aos ditames da wille (DUTRA, Delamar V., 2002, p. 85).
15
Segundo consta, a Liberdade no sentido Prtico a independncia do arbtrio, frente coero pelos impulsos
da sensibilidade (CRP, B 562). A liberdade, no sentido transcendental, segundo Kant, significa a faculdade de
iniciar espontaneamente um estado cuja causalidade, no est, por sua vez, como o requer a lei da natureza,
sobre uma outra causa que a determine quanto ao tempo (CRP, B 561). Pois sempre que se pensar a liberdade,
em sentido transcendental, tem-se que excluir a determinao. Segue-se, ento, que ela uma idia
transcendental pura, que em primeiro lugar, no contm nada de emprestado da experincia (CRP, B 561). Pois
a experincia somente possvel com fenmenos, e eles esto submetidos leis da causalidade. No mximo, um
conceito transcendental diz respeito forma segundo a qual possvel fundamentar algo. Segundo as palavras de
Kant: j que no possvel obter uma totalidade absoluta das condies na relao causal, a razo cria para si
mesma a idia de uma espontaneidade que pode, por si mesma, iniciar uma ao sem que seja necessrio
antepor-lhe uma outra causa que, por sua vez, a determine para a ao segundo a lei da conexo causal (CRP, B
561). A liberdade, no sentido prtico, por sua vez, se funda na liberdade transcendental. Alis, ela somente
possvel a partir da suposio desta ltima. Literalmente, a Liberdade Prtica a liberdade ou capacidade de
fazer ou deixar de fazer algo.
12
19
para explic-la, Kant utiliza-se da distino entre o arbitrium brutum e liberum. Na
Introduo Metafsica dos costumes, Kant pretende mostrar a relao entre as faculdades
do nimo e as leis morais. Para isso, na Metafsica dos costumes, traz luz a reconstruo dos
conceitos utilizados, desde o conceito de sentimento (prazer e desprazer), na relao com a
faculdade de desejar at a determinao da vontade pela lei moral16. Metodologicamente, a
primeira distino frisada por Kant, nas passagens citadas, d-se entre o arbitrium brutum e o
sensitivum, seguindo-se logo aps a distino com o arbitrium liberum.
A utilizao do termo latino arbitrium brutum, por Kant, parece a princpio, apreender o
significado de arbtrio irracional, ou seja, sem o regulamento imposto pela razo. Tal acepo,
porm, resultaria em contradio, na medida em que a designao latina do termo arbitrium
expressa a possibilidade de escolha. Ou seja, o arbtrio denota nada mais do que o poder de
decidir algo sem constrangimento algum, puramente a partir da vontade do sujeito. Nesse
sentido, cabe ressaltar que o arbtrio uma capacidade especificamente humana, visto que s
ao homem dada a possibilidade de se auto-determinar, livre de tudo que o circunda, ou seja,
dos impulsos e paixes oriundos da sensibilidade. Ora, como evidentemente o termo brutum
adjetivo de arbitrium, a traduo mais coerente para arbitrium brutum seria arbtrio animal.
O arbitrium brutum representa a mera determinao do arbtrio atravs de objetos
empricos, ou seja, a determinao apodictica e necessria do arbtrio pelo sentimento de
prazer ou desprazer. O arbtrio humano, apesar de consistir-se em um arbtrio sensvel, ou
melhor, num arbitrium sensitivum, no pode ser considerado um arbitrium brutum, mas sim
liberum, pois ao homem inerente um poder para determinar-se espontaneamente (CRP, B
562), sem influncias da sensibilidade17. Ento, o no-agir a partir da afetao sensvel, para o
homem, o que constitui a liberdade racional, ou mesmo, a sua prpria autonomia (e frente
aos demais seres da natureza). Admitir que o arbtrio determinado pela sensibilidade o
mesmo que admitir que a determinao causada necessariamente por uma sensao emprica
(prazerosa ou no) anterior. Com efeito, o arbtrio que determinado pela sensibilidade no
pode escolher entre o fazer ou o deixar de fazer. Segue-se, que o arbtrio animal no pode ser
mais do que a simples capacidade de agir a partir de estmulos de prazer ou desprazer,
16
O valor moral das aes, em sua essncia, depende do fato de que a lei moral determine imediatamente a
vontade (Wille), e esta, por sua vez, determine a capacidade de escolha, numa palavra, o arbtrio (Willkr).
17
O homem no totalmente independente da sensibilidade. Dessa forma, ele sempre pode ser influenciado pela
sensibilidade, mas no determinado por ela.
20
causados por objetos empricos18. Em ltima instncia, o arbitrium brutum, em sentido
rigoroso, no pode ser considerado arbtrio.
Uma das caractersticas que diferenciam o homem do animal, pois, a capacidade de
escolher e de produzir o objeto de desejo, quer dizer, determinar fins a si mesmo. Essa
diferena decorre da no necessidade de determinao pelos impulsos patolgicos e, sim da
pressuposio de que o ente racional no possui somente uma cega capacidade de responder a
estmulos. Para Kant, segundo consta na Introduo Metafsica dos costumes, o arbtrio
humano afetado por impulsos, mas no determinado por eles, ou, pelo menos, no deveria
ser; e sensitivum, mas no brutum19.
Segundo consta no Cnon da razo pura:
Um arbtrio puramente animal (arbitrium brutum) quando no pode ser
determinado seno mediante impulsos sensveis, ou seja, patologicamente. Um
arbtrio, porm, que pode ser determinado independentemente de impulsos
sensveis e, portanto, por motivaes que s podem ser representadas pela razo,
chama-se livre-arbtrio (arbitrium liberum), e tudo o que se interconecta com este
ltimo, seja como fundamento, ou seja como conseqncia, denominado prtico
(CRP, B 830).
De um lado, o arbitrium brutum necessariamente determinado pelos estmulos
sensveis; de outro, o arbitrium sensitivum (que prprio dos homens) simplesmente
afetado por esses impulsos, mas no determinado por eles20. Entretanto, d-se o nome de
livre-arbtrio escolha que somente pode ser determinada pela razo pura, de onde segue a
explanao de que:
A liberdade do arbtrio a independncia de sua determinao por impulsos
sensveis; esse o conceito negativo da mesma. O positivo a faculdade da razo
pura ser por si mesma prtica (MC, 213-214, p. 17)21.
Como ser emprico, o prprio ser humano um fenmeno (CRP, B 580), isto , um
ser no tempo e, uma vez subordinado a ele, est tambm subordinado causalidade natural.
Todavia, o sujeito racional precisa ser entendido como um ser livre, uma vez que
o arbtrio humano no determinado s por aquilo que estimula, isto , afeta
imediatamente os nossos sentidos pois temos o poder (Vermgen) de dominar as
impresses que incidem sobre a nossa faculdade sensvel de desejar mediante
As sensaes, no caso do arbitrium brutum, so simplesmente os fundamentos necessrios de determinao do
arbtrio.
19
Cf: CRP, B 562.
20
Cf: ALLISON, Henry E., 1992, p.p. 477-478.
21
Na traduo espanhola: La libertad del arbitro es la independencia de su determinacin por impulsos
sencibles; este es el concepto negativo de la misma. El positivo es: la facultad de la razn pura de ser por s
misma prctica (MC, 213-214, p. 17).
18
21
representaes daquilo que, mesmo de um modo mais remoto, til ou prejudicial
(CRP, B 830).
No obstante, ao homem no seria possvel livrar-se, da causalidade natural, a no ser
que possusse (pelo menos como uma possibilidade a ser pensada) uma faculdade de
determinar a si mesmo, sem a motivao necessria de estmulos sensveis. Essa faculdade
seria uma vontade livre. O livre-arbtrio, como j foi visto, no pode ser determinado por algo
emprico e nem estar na dependncia de um fundamento externo de determinao. Sob essas
condies exclusivas, ele somente poder fundamentar-se na vontade livre. Mesmo assim,
sempre que se pensa a vontade de um ser racional humano, igualmente levada em
considerao a vontade de um ser humano sensvel.
A idia bsica, pois, a de que o arbtrio, enquanto capacidade de escolha, livre, seja
para fazer a si mesmo agir de acordo com os ditames da vontade, seja por subordinar esses
ditames s exigncias das inclinaes. Na verdade, segundo Kant, embora o arbtrio humano
consista em tal possibilidade de escolha, ele deve ser determinado (apenas) pela vontade.
dela, portanto, que procedem as leis determinantes do prprio arbtrio. Com efeito, o arbtrio
de um ser racional (liberum), apesar de suscetvel escolha (mesmo se afetado), no pode ser
determinado por outra coisa, apenas pelo mandamento da lei (da vontade).
Segundo consta na Fundamentao da metafsica dos costumes, a vontade no outra
coisa seno a capacidade de escolher s aquilo que a razo, independentemente da
inclinao, reconhece como praticamente necessrio, quer dizer, como bom (FMC, BA 3637). Ora, de acordo com Kant, somente um ser racional pode fazer isso, posto que os demais
entes da natureza s agem mediante leis da necessidade natural. Vale dizer que somente um
ser racional deve possuir vontade; de outro modo, e conseqentemente, s ele capaz de
representar (para si) algo que o diferencia dos demais, ou seja, representar princpios22 para
suas aes.
A vontade livre que fundamenta o livre-arbtrio, ou pelo menos possibilita a sua
liberdade. Se possvel uma determinao que no a sensvel, ela tem de estar fundada em
outro lugar que no na empiria. A partir dessa perspectiva possvel pensar, para o ser
racional finito (o homem), a existncia de uma relao entre a vontade e a faculdade da razo;
ela prpria livre, mas tambm regrada. Destarte, como uma capacidade de determinao a
partir da representao de leis, a qual pura se no tiver mescla com a empiria.
22
Segundo Kant, o homem, a partir da sua razo, pode representar (a si mesmo) leis que diferem quanto
origem da causalidade natural.
22
Na Fundamentao da metafsica dos costumes, Kant tambm define a vontade como a
capacidade de agir segundo a representao de leis, isto , segundo princpios (FMC, BA
36). Ento, dado que, no homem, independentemente do modo de determinao, o arbtrio
(sempre) diz respeito sensibilidade, a vontade no nada mais do que a capacidade de
determinar o prprio arbtrio23. Sendo assim, o arbtrio humano determinado segundo leis.
Nesse caso, e isso consta na Crtica da faculdade do juzo, pode-se dizer que existe apenas
uma liberdade condicionada com relao a ele. Pois, onde a lei moral fala no h,
objetivamente, mais nenhuma livre escolha com respeito ao que deva ser feito (CJ, B 16). Os
seres racionais, portanto, so os nicos que podem ter uma vontade livre, independentemente
da causalidade; so os nicos capazes de propor a si mesmos princpios racionais para as suas
aes.
Na segunda seo da Fundamentao, o conceito de vontade aparece quando Kant
empreende a distino entre os princpios do desejar e os princpios do querer. Nesse
contexto,
a vontade concebida como a faculdade de se determinar a si mesma a agir em
conformidade com a representao de certas leis. E uma tal faculdade s se pode
encontrar em seres racionais (FMC, BA 63).
Com efeito, a vontade caracterizada como uma faculdade legislativa. Em contrapartida, o
arbtrio, por ela determinado, pode ser concebido como uma faculdade executiva.
Uma vontade livre, significa, em ltima instncia, a independncia do homem quanto
aos impulsos da sensibilidade, em favor de determinao de seu agir. O arbtrio ocupa-se,
justamente, com a aplicao dos princpios racionais representados pela vontade s
mximas. O arbtrio, ento, no outra coisa seno a capacidade de efetivao das
representaes da vontade. Portanto, ele atua na empiria como uma faculdade que executa as
representaes (leis) da vontade. Todavia, a vontade pode muito bem estar subordinada a fins
23
Pode-se dizer, pois, que Kant usa esses termos como fazendo parte (ou constituindo) uma mesma faculdade, a
saber, faculdade de apetio (de desejar). A distino propriamente dita, entre ambos, se d unicamente a partir
do aspecto que se est considerando em determinado nvel de discusso. Na Fundamentao da metafsica dos
costumes, na qual a discusso refere-se ao nvel da fundamentao da moralidade (a busca e fixao do princpio
supremo da moralidade), Kant usa o conceito de vontade. Por outro lado, em obras posteriores, tais como na
Metafsica dos costumes, na Religio e na Antropologia, e, ao se tratar efetivamente da ao moral e do
indivduo considerado sensivelmente, o conceito predominantemente usado o de arbtrio. Nesse caso, torna-se
difcil fazer a distino, em alguns contextos, entre vontade livre e livre-arbtrio, pois s podemos atribuir livrearbtrio aos seres humanos na medida em que se pode dizer que o homem possui uma vontade livre, isto ,
podendo agir por dever. Em outras palavras, pressupe-se um ser racional (que possui vontade pura ou uma
razo prtica), porm sensvel atuando na empiria, ou seja, na aplicao da lei moral. Pois o fato de a lei moral
determinar a vontade no garante que o indivduo v adot-la como mxima de ao. Nesse sentido, o conceito
de arbtrio livre expressa a condio de que mesmo o sujeito reconhecendo a validade da lei moral (enquanto sua
prpria auto-legislao que existe uma), ele pode optar por agir segundo os impulsos da sensibilidade.
23
que no os seus, pois, conforme o arbitrium sensitivum, o ser humano, apesar de racional,
afetado por objetos empricos que requerem satisfao24.
Por um lado, o arbitrium brutum necessariamente determinado por estmulos
sensveis; por outro, o arbitrium sensitivum (que prprio dos homens) simplesmente
afetado por esses impulsos. Torna-se necessrio lembrar que sensitivum significa proveniente
ou referente aos sentidos ou sensibilidade. Assim, a traduo prpria de arbitrium
sensitivum seria arbtrio sensvel. Por ser sensvel, esse arbtrio supe no s a afetao de
objetos na sensibilidade do sujeito, mas tambm a influncia desses objetos como
fundamentos de determinao do arbtrio. Ora, disso deduz-se que os seres racionais humanos
so simplesmente afetados por estmulos sensveis, mas possuem o arbtrio aberto
determinao da razo. Sob essa condio, possvel pensar, por excluso, em um
fundamento de determinao do arbtrio que seja racional. Mas, o mais importante que o
homem pode ter outro tipo de fundamento de determinao que o possibilite projetar, propor
regras e, portanto, ser senhor de si mesmo.
2.2 Animus sui compos: o homem como senhor de si mesmo
A expresso latina Animus sui compos, da qual se serve Kant, na Antropologia25 ( 3),
pode ser traduzida por senhor de seu prprio nimo ou, simplesmente, senhor de si
mesmo26. Kant parece frisar que o homem, por ser dotado de razo, pode e deve manter o
controle sobre si, incluindo, evidentemente, as condies em que estimulado por objetos que
lhe causam prazer ou desprazer, ou mesmo por estados exaltados de sentimentos, como no
afeto ou na paixo27. Portanto, nada mais que um estado cujo homem no necessariamente
determinado e que no se deixa determinar sempre e apoditicamente pela empiria.
24
Se possvel uma vontade determinar o arbtrio, se ela for livre, possvel (pensar) um agir fundado nela
enquanto razo prtica pura. E se for possvel, quais sero as condies para ser encontrado e estabelecer o
princpio? Depender ele do gosto ou do sentimento dos indivduos particulares, ou qual sua (possvel) fonte
pura? Essas questes impem a necessidade de distino entre o que propriamente emprico e o que pode ser
considerado a priori, na determinao da vontade do ser humano.
25
As citaes referentes Antropologia foram extradas da traduo brasileira de Cllia Aparecida Martins.
Nessa traduo, consta a paginao da Akademie-Ausgabe, a qual usamos, seguindo-se a paginao da prpria
traduo brasileira.
26
Animus pode significar: princpio pensante, esprito, alma, corao (como sede selvagem do desejo, das
inclinaes etc.), sede do pensamento, sede da inteligncia, carter, condio, natureza, ou, como prope a
traduo do Dicionrio de expresses latinas: Elemento subjetivo que denota inteno. Princpio pensante,
distinto do corpo. Compos: que est na posse de, que est senhor de, que obteve, que possui (um bem material
ou moral).
27
Tanto o afeto quanto a paixo possuem caractersticas prprias; o primeiro caracteriza-se pela precipitao da
ao, a outra, ao contrrio, possui um impulso que a determina. O afeto e a paixo, como inclinaes, submetem
e tiram da razo a possibilidade de impor leis para a vontade do sujeito (ou seja, impedem que a vontade seja
24
A expresso Animus sui compos, ento, esclarece que a razo no domina o fim natural,
e sim evita que esse fim transforme-se em uma paixo ou vcio. Todavia, afirmar que o
homem senhor de si pode ser o mesmo que afirmar a possibilidade dele ser livre frente a
toda inclinao, isto , ser auto-legislador.
O resultado da expresso latina (anteriormente citada) no pode e nem pe em risco a
justificao da moralidade na prpria racionalidade. Dizer que o homem o senhor de si
mesmo o mesmo que retir-lo do jugo (passional), dos mbiles empricos, concedendo-lhe
uma possibilidade de auto-determinao em funo de um fim ditado pela sua prpria razo.
Posto assim, o livre uso das suas foras justamente a capacidade de impor e produzir fins
para si. Essa a capacidade que se diferencia do mero arbitrium brutum, cuja determinao
sempre ser a posteriori. O fim do arbitrium brutum ser sempre determinado por algo
exterior. Por fim, a determinao de fins para o homem somente possvel se for pressuposto,
pelo menos, o arbtrio sensvel.
O arbitrium brutum patologicamente necessitado, enquanto que o arbitrium
sensitivum influenciado patologicamente. No homem, enquanto ser vivo, possvel
reconhecer a determinao patolgica como prpria da natureza de sua constituio, seu
pthos28. Kant considera que a determinao do arbtrio pela sensibilidade sempre
patolgica; ou, pelo menos, determinao patolgica e determinao sensvel so sinnimas.
O termo patolgico, para Kant, no significa simplesmente doentio, conforme a
conotao mdica adotada contemporaneamente para o termo. Outrossim, possui significao
filosfica, designando tudo o que afeta a sensibilidade e que (especialmente na filosofia
kantiana) influencia a vontade do sujeito. Aquilo que possui origem patolgica provoca
determinaes subjetivas na vontade do homem, que, na terminologia kantiana, so as
inclinaes. Negar que o homem seja influenciado patologicamente o mesmo que lhe negar
a vida sensvel, pois estar vivo ser afetado patologicamente. A prpria constituio sensvel
e emprica do homem mostra que a sua vontade (constantemente) influenciada
patologicamente. Contudo, ele pode possuir uma vontade somente influenciada e no
determinada patologicamente. Com efeito, por esse vis, possvel esboar a possibilidade de
pensar em uma determinao que no, necessariamente, a patolgica do arbtrio.
O arbitrium sensitivum representa somente a capacidade do homem ser determinado por
regras que no provm da empiria, mas que se fundamentam na prpria vontade do sujeito. O
autnoma). Na Antropologia, Kant insiste em afirmar que: estar submetido afecces e paixes sempre uma
enfermidade da alma, porque ambas excluem o domnio da razo (A, 251, p. 149).
28
No grego significa paixo, , apaixonadamente.
25
sujeito (ente racional humano) no reage meramente conforme o instinto, j que, possvel ao
menos pens-lo dotado de uma capacidade para ir alm da mera determinao sensvel. Em
outras palavras, o homem deve poder possuir a capacidade de projetar sua vida em funo de
fins propostos por si mesmo, seja atravs de regras de arte, conselhos de prudncia ou at,
conforme a determinao pura da razo, atravs da lei moral.
2.3 O livre-arbtrio como faculdade de adoo de mximas
Segundo consta na Fundamentao da metafsica dos costumes, uma mxima (princpio
subjetivo) distingue-se da lei prtica (princpio objetivo) no que tange sua validade.
Enquanto essa ltima vlida para qualquer ser racional, constituindo-se em um princpio
orientador segundo o qual ele deve agir, a mxima uma regra prtica determinada de acordo
com as inclinaes e disposies naturais do indivduo, ou seja, um princpio que no tem
validade necessria para a vontade de todo e qualquer ser racional29.
A mxima, afirma Kant,
contm a regra prtica que determina a razo em conformidade com as condies
do sujeito (muitas vezes em conformidade com a sua ignorncia ou as suas
inclinaes), e , portanto o princpio segundo o qual o sujeito age; a lei, porm, o
princpio objetivo vlido para todo o ser racional, princpio segundo o qual ele deve
agir, quer dizer um imperativo (FMC, BA 51, nota).
Se uma mxima representa a conduta do indivduo, ento, a partir dessa mxima que
possvel avaliar as suas aes quanto moralidade. Diante disso, pode-se dizer que somente
um ser capaz de adotar mximas poder ser considerado moral ou imoral. Os que so
incapazes de faz-lo por exemplo, uma ameba, um tigre, algumas pessoas anormais - no
podem ser nem uma coisa nem outra30.
Uma mxima, pois, moral quando se encontra em conformidade com a lei prtica e,
enquanto tal, pode ser enunciada universalmente, ou, pelo menos, quando essa mxima tenha
a possibilidade de tornar-se lei31. Vale dizer aqui que a mxima universalizada apenas
formalmente e no positivamente, ou seja, universalizvel somente a forma da ao e no a
ao propriamente dita.
importante frisar a relevncia das mximas, visto que em dependncia delas que o
homem deve intencionar a sua ao. O juzo, porm, no que diz respeito sua ao, no deve
29
Cf: FMC, BA 59-60.
Cf: KRNER, Stephan, 1987, p. 122.
31
Cf: CRPr, A 54.
30
26
se impor do exterior. Para Kant, o que deve ser avaliado o que conduz ao, isto , a
mxima propriamente dita. Todavia, esse princpio de julgamento (que no avalia a ao, mas
a regra segundo a qual serviu como guia do agir) gera uma incerteza em relao ao carter
moral do agente praticante da ao. Isso se d porque no se pode ter acesso sua inteno.
O fundamento subjetivo de adoo de mximas deve ser um ato de liberdade. Se fosse
de outra maneira, de modo natural, por exemplo, no estaria submetido aos valores morais. As
apeties naturais (comer, beber e demais necessidades fisiolgicas do homem) no entram
em julgamento quanto moralidade. Assim, tambm no se atribui valor moral ou imoral s
satisfaes provenientes da sensibilidade, uma vez que elas so naturais para o homem32.
Kant no usa o termo natureza como contraposto ao de liberdade, caso contrrio, no
poderia imputar ao livre-arbtrio a faculdade de adoo de mximas. Na natureza (como
habitualmente entendida) no h liberdade de escolha, mas devir, isto , as coisas so o que
devem ser. A moralidade pede por autonomia da vontade, por escolha, por princpios de
adoo de mximas, atitudes que deixam espao transgresso; ao passo que, no campo
natural, no possvel adotar outra postura a no ser submeter-se aos ditames da prpria
natureza.
No obstante, o homem tem uma natureza peculiar. Na Religio nos limites da simples
razo, Kant usa o termo natureza para designar, no homem, o fundamento subjetivo do uso
da sua liberdade em geral (sob leis morais objetivas), que precede todo o fato que se apresenta
aos sentidos (RL, p. 27)33. A liberdade, diz Kant, tem a qualidade inteiramente peculiar de
ela no poder ser determinada a uma ao por mbil algum, a no ser apenas, enquanto o
homem o admitiu na sua mxima (RL, p.p. 29-30). por meio dessa admisso que um mbil
(princpio subjetivo do desejar), seja ele qual for, pode subsistir juntamente com a absoluta
espontaneidade do arbtrio (a liberdade) (RL, p. 30). Se a lei for a partir de tal mbil, ento,
pode-se dizer que quem a adota moralmente bom.
O modo como Kant coloca o princpio de adoo, executada pelo arbtrio, no permite
ao homem neutralidade nas suas mximas. Segue-se que a sua disposio de nimo, quanto
lei moral nunca indiferente (RL, p. 30). Neste caso, deve haver outro mbil propulsor da
ao, que no a lei moral. As mximas subjetivas, mesmo assim, embora provindas do desejo,
devem poder ser atribudas a um ato de liberdade do sujeito.
32
Aqui possvel fazer uma aluso ao conceito de felicidade, enquanto satisfao proveniente da sensibilidade,
mas, em contrapartida, necessrio para a realizao moral.
33
Ao que parece a distino entre arbtrio e vontade s se torna explcita na Religio, embora esses dois termos
apaream desde a Crtica da razo pura (Cf: DUTRA, Delamar V., 2002, p. 83).
27
Kant, na Religio, aponta trs disposies como originrias na natureza humana, uma
vez que, segundo ele, uma disposio compreende os elementos constituintes da natureza
humana. E uma disposio originria se pertence necessariamente possibilidade de tal
ser, ou seja, se pertence possibilidade da natureza humana (RL, p. 34). Das disposies
apontadas por Kant, a primeira se refere ao amor fsico de si mesmo, do qual no se requer
exerccio da razo. Segundo ele, essa a disposio para a animalidade. A segunda se
refere ao amor de si com relao aos outros. Essa exige um princpio racional e, denominada
disposio para a humanidade. A terceira, a disposio para a personalidade, referente
sucetibilidade da mera reverncia pela lei moral como de um mbil, para si mesmo suficiente
do arbtrio (RL, p. 33). Segue-se que: A sucetibilidade da mera reverncia pela lei moral
em ns seria o sentimento moral, que, no entanto, no constitui por si ainda um fim da
disposio natural, mas s enquanto mbil do arbtrio (RL, p. 33).
A reverncia ou respeito pela lei moral existe no homem, segundo consta na Religio,
como uma disposio natural. D-se, porm, que a lei moral no se apresenta (ao homem)
apenas para ser reverenciada, mas para ser seguida. Ademais, a reverncia (ou sentimento de
respeito) no pode ser exterior lei, pois a prpria lei moral que a produz. De algum modo,
no entanto, a reverncia torna o homem suscetvel obedincia da lei moral. Por isso, o livrearbtrio admite-a em sua mxima, determinando-a de acordo com a prpria lei.
Em suma, o fundamento subjetivo para a adoo de mximas s pode ser nico e
referir-se universalmente ao uso da liberdade (RL, p.31). D-se que, no homem, s o
arbtrio pode realmente ser dito livre. Ento, o primeiro fundamento da adoo das mximas,
que, por seu turno, deve sempre residir no livre-arbtrio, no pode ser dado em fato algum da
experincia (RL, p.28), mesmo que a liberdade humana se d, positivamente, somente na
experincia.
2.4 A distino entre mxima e lei moral
As proposies fundamentais prticas, isto , os princpios prticos do agir podem ser,
por um lado, subjetivos ou mximas, se a condio for considerada pelo sujeito como vlida
somente para a vontade dele. Por outro lado, elas podem ser objetivas ou leis prticas, se a
condio for conhecida como objetiva, isto , como vlida para a vontade de todo o ente
racional (CRPr, A 35)34. Nesse caso, ela tambm pode ser entendida como sendo a lei da
34
Ver tambm FMC, BA 51, nota.
28
moralidade, e apresentada aos seres racionais sensveis como um dever. Para Kant, a regra
prtica sempre um produto da razo, porque ela prescreve como visada a ao enquanto
meio para um efeito (CRPr, A 36). A lei prtica consiste em prescries de como se deve
agir, no se tratando, pois, de como se age. Kant acredita que possvel agir por dever,
respeitando a lei prtica. No obstante, s vezes, o ser humano levado simplesmente a agir
em conformidade com o dever.
Agir conforme o dever (Pflichtmssig) significa que a ao realizada correta, pois
aparentemente ela est de acordo com as regras prticas do dever, mas no realizada por
dever. Agir por dever (aus Pflicht) significa que a ao realizada unicamente por respeito
(Achtung) lei. Em relao ao respeito, Kant escreve uma nota na Fundamentao:
embora o respeito seja um sentimento, no um sentimento recebido por
influncia; , pelo contrrio, um sentimento que se produz por si mesmo atravs
dum conceito da razo, e assim especificamente distinto de todos os sentimentos
do primeiro gnero que se podem reportar inclinao ou ao medo. (...). O respeito
propriamente a representao de um valor que causa dano ao meu amor-prprio.
portanto alguma coisa que no pode ser considerada como objeto nem da
inclinao nem do temor, embora tenha algo de anlogo com ambos
simultaneamente. O objeto do respeito portanto simplesmente a lei, quero dizer
aquela lei que nos impomos a ns mesmos, e no entanto como necessria em si.
Como lei que , estamos-lhe subordinados, sem termos que consultar o amorprprio; mas como lei que ns nos impomos a ns mesmos, ela uma conseqncia
da nossa vontade e tem, de um lado, analogia com o temor, e, de outro, com a
inclinao (FMC, BA 16, nota).
No mbito da filosofia prtica de Kant, portanto, o sentimento de respeito pode ser
considerado um sentimento moral. Tal sentimento difere dos demais quanto a sua fonte; no
obstante, considerado tambm a partir de uma perspectiva interna e subjetiva do prprio
sujeito enquanto agente moral.
Kant tenta mostrar que, embora o respeito seja um sentimento, um sentimento de um
tipo muito especial, isto , caracteristicamente moral35. A inclinao, em si mesma, jamais
pode ser objeto de respeito; na melhor das hipteses, ela pode ser um objeto de aprovao ou
amor36. Nessa perspectiva, Kant observa que:
S pode ser objeto de respeito e portanto mandamento aquilo que est ligado
minha vontade somente como princpio e nunca como efeito, no aquilo que serve
minha inclinao mas o que a domina ou que, pelo menos, a exclui do clculo na
escolha, quer dizer a simples lei por si mesma (FMC, BA 14-15).
35
Cf: POTTER, Nelson, 1998, p. p. 45-46.
Nor can inclination itself be an object of respect; at most it can be an object of approval or love (POTTER,
Nelson, 1998, p. 45).
36
29
A partir da afirmao citada, pode-se constatar que se faz necessrio ter conscincia da
lei moral para que se possa agir por respeito a ela. O respeito pode ser entendido como o
efeito da lei moral e no a causa da lei, ao contrrio do que acontece quando a mxima
adotada fundamenta-se em um sentimento ou matria da vontade como, por exemplo, o
sentimento da fome, que pode ser uma causa da adoo de determinada mxima de ao37.
Segundo Kant, o respeito um sentimento produzido por si mesmo, atravs de um
conceito da razo, diferentemente dos demais que, por sua vez, se baseiam ou na inclinao,
ou no medo38. Esses ltimos so produzidos ou (realizam-se) por influncias, o que significa
dizer que o homem constantemente (ou sempre) afetado por objetos ou pelo estado de outras
coisas.
O respeito no se inclui na mxima da ao por dever, da mesma forma que os
sentimentos sensuais entram nas mximas as quais so sensivelmente determinadas. Mas,
mesmo assim, parece que o respeito uma necessidade concomitante da ao por dever e da
prpria conscincia da lei moral. Segue-se que o sentimento de respeito uma
conseqncia da determinao da vontade pela lei moral, ento ele um efeito que segue
somente depois que uma mxima moralmente boa tem sido formada e adotada. Desse modo,
o respeito no determina tal mxima, mas simplesmente determinado por ela.
Segundo a interpretao de Nelson Potter, parece que o sentimento de respeito um
elemento necessrio em nossa conscincia de que ns falhamos segundo a lei moral, e que
ns somos capazes de agir por dever39. A passagem da Fundamentao que segue comprova
isso. Segundo Kant,
se uma ao realizada por dever deve eliminar totalmente a influncia da
inclinao e com ela todo o objeto da vontade, nada mais resta vontade que a
possa determinar do que a lei objetivamente, e, subjetivamente, o puro respeito por
esta lei prtica, e por conseguinte a mxima que manda obedecer a essa lei, mesmo
com prejuzo de todas as minhas inclinaes (FMC, BA 15).
Pode-se dizer que na realizao de uma ao por dever ocorre a presena do aspecto
objetivo da lei, o qual, como pertencente ao mundo fenomnico, o homem deve obedincia.
No obstante, para que a ao seja autnoma, e visto que o homem tambm faz parte do
mundo numnico, se faz necessrio considerar o aspecto subjetivo da lei, ou seja, o respeito
pela lei. Por conseguinte, tanto o aspecto subjetivo quanto o aspecto objetivo da lei so
37
Cf: POTTER, Nelson, 1998, p. p. 45-46.
Cf: FMC, BA 16.
39
From what Kant says later, it seems that it is a necessary element in our awareness that we do fall under the
moral law, and that we are capable of acting from duty (POTTER, Nelson, 1998, p. 46).
38
30
necessrios para a realizao de uma ao por dever (os dois aspectos da lei moral so
inseparveis no que diz respeito ao agir moral). Da mesma forma, o sentimento do respeito
no assim um elemento adicional separado da mxima das aes por dever, mas uma
necessidade concomitante da representao de qualquer mxima40.
Com absoluta certeza, para um observador externo, praticamente impossvel saber se
determinada ao efetuada por dever, mesmo que, aparentemente, tudo coincida com o
motivo moral do dever. Segundo as palavras de Kant, na Fundamentao:
daqui no se pode concluir com segurana que no tenha sido um impulso secreto
do amor-prprio, oculto sob a simples capa daquela idia, a verdadeira causa
determinante da vontade. Gostamos de lisonjear-nos ento com um mbil mais
nobre que falsamente nos arrogamos; mas em realidade, mesmo pelo exame mais
esforado, nunca podemos penetrar completamente at aos mbiles secretos dos
nossos atos, porque, quando se fala de valor moral, no das aes visveis que se
trata, mas dos seus princpios ntimos que se no vem (FMC, BA 26).
Tendo em vista que o valor moral reside no mbil41 adotado para pr em prtica uma
mxima (regra que o arbtrio fornece a si mesmo visando pratic-la no campo da liberdade), e
no na ao propriamente dita, resulta que essa ltima no vlida para ajuizar um agir como
moralmente bom ou no. Isso ocorre porque o mbil adotado na mxima no aparece na ao,
isto , a intencionalidade que o agente depositou no agir no se manifesta na ao que
verificada empiricamente42. Inclusive, segundo Kant, muitas das aes que so julgadas
moralmente boas no foram motivadas pelo mandamento moral, ou seja, a lei moral no fora
tomada como mbil, ainda que, empiricamente, a ao tenha se dado de tal forma como se
tivesse sido emanada do mais puro dever pela moralidade43.
Os imperativos, tanto o categrico, quanto o hipottico, tm valor objetivo,
diferenciando-se das mximas, na medida em que elas representam princpios subjetivos do
40
The feeling of respect is thus not a separate additional element in the maxims of actions from duty. It is
rather a necessary concomitant of any such maxim, and plays no role in its formation (POTTER, Nelson, 1998,
p. 47).
41
Segundo consta na Fundamentao: O princpio subjetivo do desejar o mbil (Triebfeder), o princpio
objetivo do querer o motivo (Bewegungsgrund); daqui a diferena entre fins subjetivos, que assentam em
mbiles, e objetivos, que dependem de motivos, vlidos para todo o ser racional (FMC, BA 63-64). O mbil a
base dos imperativos hipotticos, distintamente do motivo que, por sua vez, a base dos imperativos categricos.
Por ser o mbil um princpio subjetivo do desejar, a partir dele somente possvel considerar mximas
subjetivas. Segundo consta, o ideal seria que as mximas subjetivas coincidissem com a lei moral objetiva.
Portanto, o mbil, enquanto princpio subjetivo do desejar deveria tambm coincidir com o motivo, enquanto
princpio objetivo do querer. De modo que, o mbil da ao seja unicamente a representao da lei. Segundo
Valerio Rohden: Triebfeder passa, pois, a identificar-se com Bewegungsgrund, tomando ambos o sentido de um
fundamento determinante subjetivo da ao (CRPr, A 127, nota do Tradutor).
42
O mundo sensvel o mundo das aes propriamente ditas, ou seja, dos efeitos da vontade, quer seja ela boa
ou no (Cf: LIMA, Erick Calheiros de, 2000, p. 98).
43
Nesse sentido, Kant distingue as aes por dever das aes conforme ao dever. No primeiro caso, a lei o
princpio movedor da ao, enquanto que, no segundo, a motivao reside em princpios exteriores moralidade
(como o princpio do amor-de-si, por exemplo).
31
querer. O primeiro constitui-se como uma lei prtica, a qual deve ser depurada de tudo o que
emprico, pois relaciona-se unicamente com a vontade e abstrai-se da causalidade e dos
efeitos. O segundo, por sua vez, sempre condicionado, ou seja, determina a vontade visando
um fim desejado, no se constitui, portanto, como lei, mas como preceito prtico44. Com
relao aos princpios prticos que pressupem um objetivo material da faculdade de desejar,
Kant afirma que todos eles pressupem um objeto (matria) da faculdade de apetio como
fundamento determinante da vontade, so no seu conjunto empricos e no podem fornecer
nenhuma lei prtica (CRPr, A 38).
Os princpios prticos, de um modo geral, no trazem consigo uma necessidade objetiva,
capaz de ser reconhecida a priori. Eles no podem, portanto, servir de lei, uma vez que no
podem ser vlidos para todos os seres racionais, mas servem de mximas apenas para o
sujeito que os possui. A matria da faculdade de desejar significa um objeto, cuja efetividade
apetecida (CRPr, A 38). Ento, o princpio que fundamenta a ao emprico, o que quer
dizer que o desejo deste objeto precede a regra prtica e a condio para fazer dela um
princpio prprio (CRPr, A 39). Sendo assim, sempre que o objeto do desejo for material, o
princpio que determina a vontade emprico, ou seja, faz parte do mundo sensvel.
O que deve determinar a mxima da vontade deve ser to-somente o respeito lei moral,
visto que o homem, enquanto legislador universal, quem determina suas prprias leis; suas
mximas subjetivas, devem portanto, coincidir com as leis objetivas45. Para Kant:
O essencial de toda a determinao da vontade pela lei moral que ela, enquanto
vontade livre por conseguinte, no apenas independente do concurso de impulsos
sensveis mas, mesmo com a rejeio de todos eles e pela ruptura com todas as
inclinaes, na medida em que pudessem contrariar aquela lei -, determinada
simplesmente pela lei (CRPr, A 128).
O homem, uma vez que no um ser racional puro46, , todavia, afetado ou pelo menos
propenso a afetaes, aos impulsos da sensibilidade, ou seja, obstculos que dificultam a
prtica da moral. Como ente racional, ele tem que considerar que pode fazer aquilo que a lei
lhe diz incondicionalmente que deve fazer. Logo, preciso que se tenha uma vida pautada
44
Cf: CRPr, A 36-37.
Cf: Isso pode ser comprovado na Fundamentao, a partir da primeira e da segunda formulao do imperativo
categrico, anteriormente citadas.
46
Da a necessidade de, para os homens, a lei ter a forma de um imperativo categrico, porque no se pode
pressupor uma vontade santa em um ser afetado por necessidades (Bedrfsven) e causas motoras sensveis
(CRPr, A 57). No entanto, um ser racional puro, ou seja, uma inteligncia no submetida a impulsos sensveis,
incapaz de mximas contra a lei estaria por sobre de todas as leis praticamente restritivas; por conseguinte fora
da obrigao e do dever. Para o homem, no entanto, a santidade da vontade uma idia prtica que deve
necessariamente servir de arqutipo (Urbila); e a nica coisa que convm a todos os seres finitos racionais
consiste em dela se aproximarem at ao infinito (CRPr, A 58).
45
32
unicamente pelo dever, uma vez que, a maioria dos homens conserva a sua vida conforme ao
dever, sem dvida, mas no por dever (FMC, BA 9-10). Diante disso, pode-se afirmar que
agir por dever agir por respeito lei e, nesse caso, o valor moral repousa exclusivamente no
fato de a ao ocorrer por dever, isto , somente pela lei.
S um ser racional tem a capacidade de agir segundo a representao de leis ou
princpios objetivamente vlidos. S ele tem uma vontade. Segue-se, ento, que, como para
derivar as aes das leis necessria a razo, a vontade no outra coisa seno a razo
prtica (FMC, BA 36). Sendo assim, as leis morais devem valer para todo o ser racional em
geral, e do conceito universal de um ser racional em geral que se devem deduzir (FMC,
BA 35) todas elas. Todavia, a obrigatoriedade imposta somente ao homem, pois os seres
humanos so naturais racionais, suficientemente no sagrados para que o prazer possa induzilos a transgredir a lei moral, ainda que reconheam a sua autoridade (MC, 379, p.p. 228229)47.
A lei moral, no entanto, requer universalidade, de modo que no possa ser limitada por
qualquer caso em particular. A lei, portanto, impe-se a todo o ser de razo, de maneira
incondicional. Ora, a vontade opera estabelecendo mximas de ao, segundo princpios
objetivos da ao que devem ser dados a partir das prprias mximas. Para Kant, com a
necessidade das mximas, a lei dada no imperativo categrico, que expressa a exigncia de
uma legislao universal48.
Porque no contendo o imperativo, alm da lei, seno a necessidade da mxima que
manda conformar-se com esta lei, e no contendo a lei nenhuma condio que a
limite, nada mais resta seno a universalidade de uma lei em geral qual a mxima
da ao deve ser conforme, conformidade essa que s o imperativo categrico nos
representa propriamente como necessria (FMC, BA 51-52).
A razo, no obstante, o que torna os homens iguais entre si. A formulao do
imperativo categrico deixa claro que uma vontade deve ser uma lei para si mesma. O
imperativo, pois, deve ser vlido para todos os seres racionais, de modo que uma vontade
livre e vontade submetida a leis morais so uma e mesma coisa (FMC, BA 98). Da porque o
homem tambm pode ser considerado auto-legislador.
Fica claro, assim, que a moralidade repousa na necessidade da universalidade das
mximas, que nada mais so que princpios prticos subjetivos, conforme Kant expressa na
Na traduo espanhola: El imperativo moral da a conocer mediante su sentencia categrica (el deber
incondicionado) esta coaccin, que no afecta, por tanto, a los seres racionales em general (entre los cuales podra
haber tambin santos), sino a los hombres, como seres naturales racionales, que son suficientemente impos
como para poder tener ganas de transgredir la ley moral, a pesar de que reconocen su autoridad misma (MC,
379, p.p. 228-229).
48
Cf: ALQUI, Ferdinand, 1971, p. XV.
47
33
primeira e na segunda formulao do imperativo categrico (FMC, BA 52). Segue-se que
todo princpio prtico subjetivo (ou mxima) deve ter a possibilidade de ser objetivamente
reconhecido como lei prtica e, portanto, vlido subjetivamente para todo o ser racional49.
Com efeito, o homem deve agir sempre de forma tal que o princpio de sua ao possa ser
vlido para todos e em todos os momentos50. A universalidade, pois, assim como a
imputabilidade51, um dos princpios fundamentais da moralidade, e ele est baseado na
faculdade racional.
3 A natureza racional como fim em si mesmo
O ser humano, nas aes que realiza em relao a si mesmo e em relao aos demais,
sempre deve ser considerado (ou considerar-se) como fim em si mesmo, nunca apenas como
meio. Isso deve ser vlido para todos os seres, inclusive o prprio Deus52. O homem, segundo
Kant, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em si mesmo, no s como
meio para o uso arbitrrio desta ou daquela vontade (FMC, BA 64).
Todo o ser racional difere de outros seres, tais como os animais e as coisas em geral; e
por isso, pode ser chamado de pessoa. Os seres irracionais (coisas e animais), para Kant, tm
valor apenas relativo, pois servem apenas de meio para se alcanar algo. A explicao de Kant
em relao pessoa humana est fundamentada no seguinte princpio: A natureza racional
existe como fim em si (FMC, BA 66). Esse princpio representa a existncia do homem e
valido como princpio subjetivo das aes humanas. Da mesma forma, vlido para todo o
princpio objetivo, pois qualquer ser racional pode representar a sua existncia atravs dele e,
como princpio prtico supremo, dele derivar todas as leis da vontade. Essa idia encontra-se
representada na segunda formulao do imperativo categrico, na qual Kant trata da
humanidade53. Para esclarecer o contedo da segunda formulao do imperativo categrico,
Kant recorre ao exemplo do suicdio, concluindo que a pessoa no deve suicidar-se; posto
49
Cf: CRPr, A 35.
HERRERO, Francisco J., 1991, p. 23.
51
A universalidade sempre diz respeito a uma noo de totalidade. Kant considera a universalidade, de certa
forma, subjetiva, por considerar a possibilidade de uma mxima valer como lei para todos os seres racionais.
Dado que uma mxima sempre subjetiva e ela contm a frmula da ao, o indivduo que a formula sempre
deve ser o seu causador. Mas isso no quer dizer que seja o seu responsvel, pois a imputabilidade de uma ao
diz respeito apenas s suas causas.
52
Cf: CRPr, A 237.
53
Cf: FMC, BA 66-67.
50
34
que, ao agir assim, estaria fazendo uso de sua pessoa somente como meio para viver apenas
enquanto a vida lhe agradvel54.
No que se refere ao dever contingente (meritrio) para consigo mesmo, Kant afirma que
no suficiente que as aes humanas no sejam contrrias com a humanidade na nossa
pessoa como fim em si, preciso que concorde com ela (FMC, BA 69). Cada ser humano,
segundo Kant, deve procurar aperfeioar suas disposies naturais. Desse modo, estar
melhorando como ser humano e promovendo, a partir de sua maneira de agir, a humanidade
de modo geral. O dever meritrio para com outrem enfatiza que todos os homens tm um fim
natural que a busca de sua prpria felicidade. Na Fundamentao, Kant afirma que a
humanidade poderia subsistir, mesmo que as pessoas no se importassem com a felicidade
dos outros, contanto que tambm lhes no subtrasse nada intencionalmente (FMC, BA 69).
Assim, as pessoas teriam uma concordncia negativa para com a humanidade como fim em
si mesma (FMC, BA 69). No obstante, se a pessoa fim em si mesma, os seus fins tm de
ser quanto possvel os meus, para aquela idia poder exercer em mim toda a sua eficcia
(FMC, BA 69).
O princpio da humanidade est diretamente relacionado ao conceito de reino dos
fins55, segundo as palavras de Kant:
O conceito segundo o qual todo o ser racional deve considerar-se como legislador
universal por todas as mximas da sua vontade para, deste ponto de vista, se julgar
a si mesmo e s suas aes, leva a um outro conceito muito fecundo que lhe anda
aderente e que o de um Reino dos Fins (FMC, BA 74).
Kant entende a palavra reino como referente ligao sistemtica de vrios seres
racionais por meio de leis comuns (FMC, BA 74). As leis so objetivas e ordenam que cada
ser racional sensvel trate a si mesmo como fim em si, e do mesmo modo a todos os outros
seres racionais, visto que, elas tm como propsito a relao entre os mesmos. Isso pode ser
comprovado a partir da passagem que segue:
Seres racionais esto pois submetidos a esta lei que manda que cada um deles
jamais se trate a si mesmo e aos outros simplesmente como meios, mas sempre
simultaneamente como fins em si. Daqui resulta porm uma ligao sistemtica de
seres racionais por meio de leis objetivas comuns, i. um reino que, exatamente
porque estas leis tm em vista a relao destes seres uns com os outros como fins e
meios, se pode chamar um reino dos fins (que na verdade apenas um ideal) (FMC,
BA 74-75).
54
Cf: FMC, BA 67.
Na Fundamentao, Kant menciona que o reino dos fins composto por trs elementos: os membros, o
soberano (ou o chefe) e os fins privados que os membros tm (Cf: HILL, Thomas E., 1972, p. 307).
55
35
O ser racional pode pertencer a esse reino como membro, quando nele em verdade
legislador universal, estando, porm tambm submetido a estas leis. Pertence-lhe como chefe
quando, como legislador, no est submetido vontade de um outro (FMC, BA 75). O reino
dos fins, portanto, possvel a partir da relao das aes com a legislao, e nisso
(basicamente) que consiste a moralidade.
Segundo Kant, todo o ser racional deve considerar-se como legislador do reino dos
fins, pois essa realidade possibilitada pela liberdade da vontade. Como legislador,
pertencente ao reino dos fins como chefe, no pode s-lo apenas pela mxima de sua vontade,
mas somente quando for um ser totalmente independente, sem necessidade nem limitao do
seu poder adequado vontade (FMC, BA 75). O princpio da legislao consiste em
nunca praticar uma ao seno em acordo com uma mxima que se saiba poder ser
uma lei universal, quer dizer s de tal maneira que a vontade pela sua mxima se
possa considerar a si mesma ao mesmo tempo como legisladora universal (FMC,
BA 76).
Para os seres racionais humanos (sensveis), o princpio que fundamenta a sua ao
chama-se obrigao ou dever, visto que nem sempre as suas mximas subjetivas coincidem
com a lei moral objetiva. O dever pertence a cada membro e a todos em igual medida
(FMC, BA 76), e no somente ao chefe do reino dos fins. A ao justificada a partir do
princpio do dever no se baseia em sentimentos, impulsos ou inclinaes, mas na relao dos
seres racionais entre si. Nessa relao, a vontade da pessoa deve sempre ser considerada
simultaneamente como legisladora, para que possa ser pensada como fim em si mesma56.
A razo relaciona pois cada mxima da vontade concebida como legisladora
universal com todas as outras vontades e com todas as aes para conosco mesmos,
e isto no em virtude de qualquer vantagem futura, mas em virtude da idia da
dignidade de um ser racional que no obedece a outra lei seno quela que ele
mesmo simultaneamente d (FMC, BA 76-77).
No que se refere dignidade, na seqncia, Kant afirma que:
No reino dos fins tudo tem ou um preo ou uma dignidade. Quando uma coisa tem
um preo, pode-se pr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando
uma coisa est acima de todo o preo, e portanto no permite equivalente, ento
tem ela dignidade (FMC, BA 77).
Com efeito, quilo que pode ser colocado preo, Kant denomina coisa. Todavia, o que
se encontra acima de qualquer preo definido como pessoa. A pessoa humana, para Kant,
no tem preo ou valor relativo, mas deve ter um valor ntimo, ou seja, dignidade. atravs
56
Cf: FMC, BA 76.
36
da moralidade que todo ser racional encontra condies de possibilidade de ser membro
legislador no reino dos fins, exercendo a sua dignidade para consigo e para com os outros.
Segue-se, que o que fundamenta a dignidade da natureza humana e da natureza racional
a autonomia57, sem a qual no possvel realizar aes morais. A moralidade pois a
relao das aes com a autonomia da vontade, isto , com a legislao universal possvel por
meio das suas mximas (FMC, BA 85-86). Segundo Kant, quando a vontade de um ser cujas
mximas concordam com as leis da autonomia, ento a vontade boa ou santa. No que diz
respeito, estritamente, a seres racionais finitos, nos quais a vontade no absolutamente boa,
a lei da moralidade um dever ou uma obrigao. Alm disso, no domnio moral que Kant
credita a possibilidade humana de, legitimamente, realizar o sumo bem, e de, qualificar a
razo humana: nico caminho pelo qual os homens so capazes de edificar individual e
universalmente a sua humanidade.
Kant deixa claro que, enquanto sujeito lei moral, por obrigao, no h no homem
nenhuma dignidade ou sublimidade. Contudo, somente existe dignidade quando o homem ,
ao mesmo tempo, legislador em relao lei moral. Kant ainda esclarece que o respeito lei
deve ser o mbil que deve impulsionar a ao para que ela seja considerada moral. Portanto,
para que o ser racional construa a dignidade da humanidade necessrio que ele seja
simultaneamente membro submetido lei e legislador universal58.
Tanto na Fundamentao da metafsica dos costumes quanto na Crtica da razo prtica, Kant difere aes
autnomas de heternomas. Segundo ele, a autonomia da vontade o princpio fundante da moralidade. Ela ,
certamente, um princpio a priori ou, pelo menos, o nico princpio passvel de ser fundamentado unicamente na
razo. Somente de um princpio a priori para a vontade que pode resultar a lei moral, o imperativo categrico,
como um resultado da prpria autonomia. A heteronomia (ao contrrio da autonomia) nada mais do que a
legislao proveniente de algo exterior ao sujeito da ao. Ela se caracteriza por tornar a razo uma mera
administradora de interesse alheio (FMC, BA 89), por submeter a vontade a interesses externos. Quando a
vontade busca a lei, que deve determin-la, em qualquer outro ponto que no seja a aptido das suas mximas
para a legislao universal, quando, portanto, passando alm de si mesma, busca essa lei na natureza de qualquer
de seus objetos, o resultado ento sempre heteronomia (FMC, BA 88). No obstante, a autonomia pensada
como a negao de toda determinao da vontade por representaes materiais, segundo as quais a lei
finalmente a lei da necessidade da natureza (HERRERO, Francisco J., 1991, p.p. 21-22). Decorre que a
autonomia da vontade o nico princpio de todas as leis morais e dos deveres a elas conformes; pelo contrrio,
toda a heteronomia do livre-arbtrio no s no funda nenhuma obrigao, mas ope-se antes ao princpio da
mesma e moralidade da vontade (CRPr, A 59).
58
Cf: FMC, BA 86-87.
57
37
CAPTULO II
A CONCEPO DE FELICIDADE ENQUANTO SATISFAO
EMPRICA
1 A tendncia geral do homem felicidade
1.1 A felicidade e o sentimento de prazer ou desprazer
A felicidade fundamentalmente emprica, na medida em que depende dos desejos
subjetivos determinados pelos sentimentos de prazer ou de dor. A produo do desejo
sempre contingente, pois determinada por objetos empricos. Nessa perspectiva,
impossvel universalizar os desejos e determinar a felicidade. Isso significa afirmar que
somente se o homem fosse um ser onisciente59 poderia especificar o que a felicidade. S um
ser onisciente poderia conhecer o todo absoluto, na determinao da vontade, que garantisse
para ao indivduo um mximo de bem-estar, no estado presente e em todo o futuro (FMC,
BA 46). A felicidade, para o homem, no passa de um ideal impossvel de ser estabelecido, j
que se baseia em sensaes e no em um princpio universal, a priori, vlido para todos60.
A felicidade, com efeito, liga-se ao bem-estar, mais precisamente ao sentimento de
prazer do sujeito subjetivamente considerado. A partir da sensibilidade, o homem s toma
interesse por aquilo que lhe proporciona prazer. O sentimento de prazer, que receptivo, faz
com que o homem sofra diversos estmulos. O prazer proporcionado pela sensao provoca,
no homem, um interesse que o conduz a produzir, pela faculdade de desejar, o objeto
aprazvel na efetividade da ao61. O interesse, ento, satisfeito pelo objeto do desejo. O
resultado , em primeira instncia, que o sentimento de prazer seja prtico, isto , que sirva de
fundamento subjetivo de determinao do arbtrio. A base dos objetos do prazer est
justamente no efeito que proporcionam ao nimo. Esse efeito meramente subjetivo, e tem a
59
Uma qualidade onisciente diz respeito a quem sabe tudo, cujo saber ilimitado, ou seja, onisciente quem tem
um conhecimento ou saber total (o saber de Deus).
60
Kant afirma, na Crtica da razo pura, que a felicidade consiste na satisfao de todas as nossas inclinaes
(CRP, B 834), portanto, algo puramente pessoal e incomunicvel. Com efeito, ela pode ser concebida e
manifesta de diversos modos, e a vontade do homem, em sua relao, no possvel de ser reduzida a um
princpio comum vlido para todos. Princpios empricos so subjetivos e contingentes, logo, a posteriori, e
relacionam-se com as mais variadas finalidades; e a satisfao baseada em princpios empricos no outra coisa
seno a felicidade.
61
Cf: CRPr, Teorema II.
38
sua validade restrita ao sujeito afetado. , portanto, no interesse emprico que se funda a
necessidade de produo do objeto que sacia o prazer. A produo do objeto aprazvel do
desejo d-se por meio da faculdade de desejar. A mxima produo do objeto aprazvel do
desejo chama-se, segundo Kant, felicidade.
O prazer, com efeito, depende da representao de determinado objeto (e de sua
efetivao ou produo), e da afeco do mesmo; portanto, diz respeito a uma faculdade
passiva. Segundo afirma Kant, na Crtica da razo prtica:
O prazer decorrente da representao da existncia de uma coisa, na medida em
que deve ser um fundamento determinante do apetite por essa coisa, funda-se sobre
a receptividade do sujeito, porque ele depende da existncia de um objeto; por
conseguinte ele pertence ao sentido (sentimento) e no ao entendimento, que
expressa uma referncia da representao a um objeto segundo conceitos, mas no
ao sujeito segundo sentimentos (CRPr, A 40).
O prazer somente pode manifestar-se ao sujeito como um sentimento particular e subjetivo. O
sentimento de prazer prtico, na medida em que a sensao de agrado que o sujeito espera
da efetividade do objeto determina a faculdade de apetio (CRPr, A 40). Logo, no h
sequer uma determinao, causada pelo objeto aprazvel de desejo, que possa fundamentar ou
dela surgir algum tipo de lei prtica objetiva.
Segundo consta na Antropologia de um ponto de vista pragmtico62, a dinmica da vida
humana estabelecida a partir dos sentimentos de prazer e de dor. Existe uma espcie de jogo
antagnico entre esses dois sentimentos. Esse antagonismo ocorre porque o prazer ou o
contentamento o sentimento de promoo da vida; dor o de um impedimento dela (A, 231,
p. 128). Portanto, prazer e dor so sentimentos opostos, porque as suas respectivas
implicaes para a vida so opostas; desse modo, sentir prazer e dor em um nico momento
algo contraditrio.
Ao iniciar o Livro Segundo da Dialtica Antropolgica, intitulado O sentimento de
prazer e desprazer, Kant estabelece que esses dois sentimentos (prazer e dor) no so
contraditrios em si, como proveito e falta de proveito, de tal modo que a dor seja algo neutro
e o prazer o sentimento positivo (enquanto efeito sentido). Dessa forma, a dor no
Na Antropologia de um ponto de vista pragmtico, Kant trata, entre outras coisas, do conhecimento referente
ao humano, isto , do homem enquanto cidado do mundo. Segundo ele, uma doutrina do conhecimento do ser
humano sistematicamente composta (antropologia) pode ser tal do ponto de vista fisiolgico ou pragmtico (A,
119, p. 21). O conhecimento fisiolgico do homem tende explicao de que ele o que a natureza faz dele; o
conhecimento pragmtico referente ao homem, enquanto ser de livre atividade, que faz ou pode fazer de si
mesmo o que quiser. A Antropologia no corresponde a uma funo sistemtica de mediao entre liberdade e
natureza do homem, porque nela no h uma exposio das leis morais sob as condies subjetivas da natureza
humana, o aspecto decisivo desta obra s pode ser compreendido se ela for considerada a partir da Crtica da
razo prtica (MARTINS, Cllia A., 2006, p.p. 13-14).
62
39
proporcionaria dinmica alguma vida, e os nicos sentimentos possveis seriam prazerosos.
Por isso, Kant v a necessidade de mostrar que existe uma realidade lgica na oposio entre
prazer e dor. Segundo ele:
Contentamento um prazer sensorial, e o que d prazer ao sentido agradvel.
Dor desprazer por meio do sentido e o que a produz desagradvel. No esto
um para o outro como ganho e falta (+ e 0), mas como ganho e perda (+ e -), isto ,
um no oposto ao outro meramente como contraditrio (contradictorie s. logice
oppositum), mas tambm como contrrio (contrarie s. realiter oppositum) (A, 230,
p.127).
Segue-se, que um prazer no necessariamente a ausncia de dor e, sim, o seu oposto, ou
seja, a sensao de no sentir dor. A dor, portanto, s pode ser um atributo realmente oposto
ao prazer63.
O esclarecimento desses dois sentimentos (provocados nos sentidos) proporcionado
pelo efeito que a sensao de nosso estado causa ao nimo64. Kant diz o seguinte:
O que me impele imediatamente (pelo sentido) a abandonar meu estado (a sair
dele) me desagradvel me doloroso; do mesmo modo, o que me impele a
conserv-lo (a permanecer nele) me agradvel, me contenta (A, 231, p. 128).
A explanao anteriormente citada permite afirmar que, sempre, o prazer vai referir-se
estabilidade, e o desprazer instabilidade das sensaes65. Mais adiante ( 76), Kant volta
reforar a mesma definio ao ressaltar, da seguinte forma, que:
O sentimento que impele o sujeito a ficar no estado em que est, agradvel; mas
o que o impele a abandon-lo, desagradvel. Ligado conscincia, o primeiro
chame-se contentamento (voluptas); o segundo, descontentamento (taedium) (A,
254, p. 152).
Com efeito, pode-se dizer que na relao conflituosa entre os sentimentos de prazer e
dor (desprazer) que os indivduos conduzem suas vidas. O homem incessantemente levado
pelo fluxo do tempo e pela mudana de sensaes a ele ligadas.
Se bem que abandonar um momento e entrar em outro seja um mesmo ato (de
mudana), ainda assim em nosso pensamento e na conscincia desta mudana h
uma sucesso temporal, conforme a relao de causa e efeito (A, 231, p. 128).
Os sentimentos de prazer e de dor, em analogia ao que se d com (as categorias) causa e
efeito, impem vida a atividade caracterizada pela mudana temporal das sensaes
recebidas. Essa atividade, ou dinmica desses sentimentos, o que impede a inrcia da vida.
63
Cf: HECK, Jos, 1999, p. 176.
Cf: A, 231, p. 128.
65
Cf: BECK, L. W., 1984, p. 93.
64
40
O fluxo de tempo imprime na conscincia do homem um tipo de causalidade como um devir
(futuro vir-a-ser) e nunca ao passado (foi assim); isso resulta em uma mudana de estado do
presente ao futuro. Mas o futuro inseguro, incerto, porque imprevisvel. Nesse sentido a
insegurana diante do prazer futuro ocorre inevitavelmente. Somente possvel determinar
que, na mudana de estado, o que se impe a fuga da dor e no a espera de um prazer
determinado. Caso exista esperana no prazer, ela no se basear em um prazer determinado e
certo, mas na possvel agradabilidade provocada pela eliminao da dor. Na consecutiva
alternncia desses dois sentimentos, antes de todo o contentamento tem de preceder a dor; a
dor sempre o primeiro (A, 231, p. 128).
A promoo da vida garantida pelo sentimento de prazer. Todavia, se no existisse a
dor, como anterior (no tempo), no haveria promoo da vida. Caso o prazer fosse o primeiro
haveria regresso e no promoo da vida. Pois que outra coisa se seguiria de uma contnua
promoo da fora vital, que no se deixa elevar acima de um certo grau, seno uma rpida
morte de jbilo? (A, 231, p. 128).
O sentimento de prazer pode levar a um estado de inrcia ou a um estado de inatividade.
No caso da dor, isso no possvel, j que a dor criadora de necessidades que obrigam o ser
vivo a saci-las, mantendo-o em atividade. a partir dela, portanto, que surge a necessidade
de mudana66. Esses sentimentos, embora contrrios, esto necessariamente interligados.
Um contentamento tampouco pode seguir imediatamente a outro, mas, entre um e
outro, tem de se encontrar a dor. So pequenos obstculos fora vital, mesclados
com incrementos dela, que constituem o estado de sade, o qual erroneamente
consideramos como sendo o sentimento de bem-estar; porque consiste unicamente
de sentimentos agradveis que se sucedem com intervalos (sempre com a dor se
intercalando entre eles). A dor o aguilho da atividade e somente nesta sentimos
nossa vida, sem esta ocorreria a ausncia da vida (A, 231, p. 128).
Na Antropologia, Kant passa a idia de que a dor fundamental na determinao das
necessidades dos homens, visto que, se no fosse pela dor, nada poderia provocar insatisfao.
Logo, sem dor, no haveria a necessidade e nem o interesse pela felicidade (enquanto
satisfao emprica). Em adio, na ausncia da dor, no haveria interesse algum na
satisfao, pois a prpria satisfao no existiria. Dessa forma, seria impossvel sentir prazer.
Em ltima instncia, no seria possvel sentir a prpria vida67.
66
Cf: BECK, L. W., 1984, p. 93.
Na Antropologia, Kant escreve o seguinte: Por fim, ao menos uma dor negativa afetar freqentemente
aquele que uma dor positiva no incita atividade, o tdio, como vazio de sensao, que o homem habituado
mudana desta percebe em si quando se esfora em preencher com ela seu impulso vital, e o afetar em tal
medida, que se sentir impelido a fazer antes algo que o prejudique, a no fazer absolutamente nada (A, 232233, p.p. 129-130).
67
41
O tdio um estado insuportvel, principalmente se considerada a possibilidade
hipottica de os prazeres serem alcanados ou produzidos em grau mximo. O grau mximo
de prazer impossvel de ser alcanado; caso o fosse, a dinmica da vida estagnar-se-ia. O
prazer contnuo, sem movimento algum, ou seja, sem dinmica, leva o homem
necessariamente ao tdio. Portanto, os prazeres em excesso conduzem estagnao da vida,
ou at mesmo a algo pior. Kant apresenta o seguinte exemplo a esse respeito:
Essa presso ou impulso que se sente, de abandonar todo o momento em que nos
encontramos e passar ao seguinte, acelerada e pode chegar resoluo do pr fim
a prpria vida, porque o homem voluptuoso tentou prazeres de toda espcie e
nenhum mais novo para ele; (...). O vazio de sensaes que se percebe em si
provoca horror (horror vacui) e como que o pressentimento de uma morte lenta,
considerada mais penosa que aquela em que o destino corta repentinamente o fio da
vida (A, 233, p. 130).
Um estado de volpia mxima torna-se entediante por no mais provocar necessidade
alguma no indivduo. Com efeito, Kant recomenda moderao com relao aos sentimentos68.
A alegria em excesso (no moderada por nenhuma apreenso de dor) e a tristeza profunda
(no amenizada por nenhuma esperana), o abatimento, so afeces que ameaam a vida
(A, 254, p. 152). O indivduo perde todo o interesse por novas sensaes. Alm disso, Kant
constata que mais seres humanos perdem subitamente a vida por alegria do que por tristeza
profunda, porque a mente se abandona inteira esperana, como afeco, quando
inesperadamente se abre a perspectiva de uma felicidade sem limites (A, 255, p. 152). Por
isso, pelo que afirma Kant, o sentimento de dor exerce uma maior relevncia, visto que, sem
ele o tdio acabaria com a vida. Sentir a vida e sentir contentamento no , pois, nada mais
que se sentir continuamente impelido a sair do estado presente (A, 233, p. 130).
A sensao do estado presente, no qual o sujeito se encontra, pode estar envolvido em
um prazer contnuo. No obstante, a vida impulsiona o sujeito a quebrar a continuidade da
sensao prazerosa, fazendo incidir sobre ela um sentimento de dor. Por isso, Kant concebe a
vida como uma atividade de busca de prazer e fuga da dor. De fato, esse parece ser o
movimento que caracteriza a vida. Assim, Kant parece justificar o prazer em contraposio
dor, pois a dor (ou o desprazer) que garante o avano da fora vital, que evita a estagnao
da vida.
68
Cf: BORGES, Maria de Lourdes, 2003, p. 204.
42
1.2 A faculdade de desejar e a felicidade
A partir da Antropologia, pode-se dizer que a satisfao (Zufriedenheit), por si s,
conduz estagnao ou inatividade da vida. No entanto, faz parte da prpria natureza
humana a constante busca (ou interesse) por satisfao69. A satisfao ou a felicidade no
pode ser possvel mediante a condio de fim determinado, mas somente como aquilo a que
se aspira (um ideal), sob o perigo de entravar a dinmica da vida. Sem a dor no h
necessidade, e sem os objetos que possam saciar as necessidades no h prazer. Desse modo,
uma vez que no h interesse possvel, no h sequer desejo. O desejo, pois, conecta-se
sempre ao prazer, porque a relao da representao da existncia do objeto ao sujeito produz
nesse ltimo um estado que denominado prazer prtico ou emprico70.
Segundo Kant, se o interesse for a conexo entre a faculdade de desejar e o sentimento
de prazer ou desprazer, ento, ao interesse cabe fazer a ligao entre ambos. Vale registrar
que somente haver um interesse em relao a um objeto aprazvel se a sua representao
possibilitar algum tipo de deleite. Esse tipo de interesse o elemento que faz a ligao entre o
sentimento de prazer e o desejo emprico para a produo do objeto aprazvel.
A partir da noo de interesse, torna-se clara a distino entre a faculdade de sentir
prazer e a faculdade de desejar71, mesmo que ambas pertenam esfera da sensibilidade. A
faculdade de desejar propriamente a capacidade do sujeito de produzir determinado objeto,
na medida em que afetado prazerosamente pelo mesmo. O sentimento de prazer ou
desprazer , portanto, o resultado da afeco de objetos indeterminados.
Na Antropologia, Kant trabalha a partir da idia de que o desejo propriamente a
capacidade de tornar efetivo o objeto do prazer. Segundo suas prprias palavras, o desejo a
autodeterminao da fora de um sujeito mediante a representao de algo futuro como um
efeito seu (A, 251, p. 149). Se o desejo for sensvel, se a faculdade de desejar pressupor o
sentimento de prazer ou de desprazer, ento o estado futuro somente poder ser um estado
agradvel, a partir da produo do objeto do desejo. O desejo, quando determinado por um
prazer emprico, chamado, por Kant, desejo sensvel. Esse desejo, frente ao interesse
emprico, produz, por meio de regras, a sua satisfao. O desejo sensvel, desse modo,
pressupe um uso pragmtico da razo para a produo de determinado objeto. Segundo Kant,
todo o desejo ou apetite sensvel habitual chama-se inclinao (A, 251, p. 149).
Kant v o homem enquanto ser natural racional situado numa encruzilhada entre a virtude e o prazer, na qual
mostra maior propenso a seguir o prazer (ROHDEN, Valerio, 1998, p. 307).
70
Cf: ROHDEN, Valerio, 1981, p. 63.
71
O sentimento de prazer receptivo; a faculdade de desejar produtiva.
69
43
Kant retoma essa definio, mais adiante, no pargrafo em que trata das paixes. O
desejo sensvel que serve de regra (hbito) ao sujeito chama-se inclinao (inclinatio) (A,
265, p.163). Enquanto desejo sensvel, tal inclinao um hbito porque resulta da repetio
da produo (do objeto) do desejo pelo sujeito. Portanto, a inclinao o desejo determinado
habitualmente pela empiria para a vontade do sujeito. No dizer de Kant, a inclinao pela qual
a razo impelida a comparar-se com a soma de todas as inclinaes em vista de uma certa
escolha, a paixo (passio animi) (A, 265, p. 163).
A paixo revela-se quando o sujeito predispe-se a fazer uma escolha determinada
conforme suas inclinaes. As paixes so estados de nimo que determinam a razo em
conformidade com o instinto, propenso ou inclinao72. A razo, nesse caso, no passa de
uma escrava das paixes. Kant, contudo, no concorda com a hiptese de que, para o homem,
um estado passional seja tal qual um estado animal quanto determinao do arbtrio73. Em
certos estados passionais (em que a razo perdeu o poder de impor seus fins) necessrio o
uso da razo para regrar os fins da inclinao; mesmo que seja, no mximo, um uso tcnico ou
prudencial.
Com efeito, na medida em que as inclinaes e as paixes requerem regras para o seu
cumprimento, pode-se conjeturar que elas devem ter algo de racional. Porm, nenhuma das
duas originam-se da razo, mas somente as regras e mximas (tericas) para satisfaz-las.
Nos meros animais, mesmo a inclinao mais veemente (por exemplo, da cpula)
no se denomina paixo, porque no possuem razo, a nica que fundamenta o
conceito de liberdade e com a qual a paixo entra em coliso, paixo cujo
surgimento pode, portanto, ser imputado ao ser humano (A, 269, p. 167).
Segue-se, pois, que a busca pela felicidade uma tendncia inevitvel por parte de todos
os seres humanos74. Porm, se ela for o projeto de vida de um sujeito qualquer (em um estado
passional, cuja razo esteja completamente tomada) ser impossvel realizar, mesmo
minimamente, o que foi projetado. O homem, estar submetido a uma paixo, com isso, no
estar em condies de satisfazer as outras inclinaes que a felicidade requer75. Nesse caso,
72
Cf: A, 265, p.163.
Na Soluo das Idias Cosmolgicas, Kant faz uma abordagem sobre a condio humana, ou seja, de um ser
de natureza racional imperfeita (sensitivo ou sensvel) (CRP, B 562). A referente passagem deixa subentendido
que as preferncias ou at mesmo as prprias aes humanas, podem ser afetadas por impulsos sensveis. No
obstante, na medida em que afetado patologicamente, ou seja, por impulsos sensveis, o homem pode ser
determinado tanto por essa afetao, quanto pela sua prpria razo.
74
Tudo o que se refere felicidade condiz necessariamente com um tipo de inclinao que, por sua vez, requer
alguma satisfao.
75
No basta apenas satisfazer uma inclinao, visto que a felicidade consiste na satisfao de todas as
inclinaes humanas. No se pode dizer, de maneira totalmente certa, se o indivduo esta sendo totalmente feliz
nesse caso. Basta ele prprio refletir um pouco para conscientizar-se que falta algo, uma vez que a felicidade
73
44
no s a felicidade ser prejudicada (enquanto fim), como tambm a moralidade sofrer danos
em sua possvel fundamentao. Kant comprova essa idia ao afirmar que: As paixes so
cancros para a razo prtica pura e na sua maior parte incurveis, porque o doente no quer
ser curado (A, 266, p. 164). Diante disso, pode-se dizer que o problema da paixo no se
restringe, simplesmente, ao uso pragmtico da razo, mas, por afetar a liberdade, limita o seu
uso prtico. A paixo, todavia, no impede o uso prtico do arbtrio, de modo que, mesmo em
um estado passional, h oportunidade de escolha (talvez uma pseudo-escolha); porm, tais
escolhas so sempre contrrias s determinaes da razo76.
2 A incompatibilidade do conceito de felicidade
Desde a Fundamentao da metafsica dos costumes, Kant afirma que a constante busca
pela felicidade se d a partir da eterna insatisfao do homem enquanto ser emprico (e finito).
Portanto, essa busca impulsionada principalmente pelas necessidades e inclinaes
sensveis. J na abertura da Fundamentao, quando Kant refere-se aos dons da fortuna,
enumera o poder, a riqueza, a honra, a sade e tambm todo o bem-estar e contentamento
com a sua sorte, sob o nome de felicidade (FMC, BA 1-2).
Logo, a felicidade pode ser concebida e manifestar-se de diversos modos. Visto que os
desejos e as inclinaes humanas (nos quais se assenta o sentimento de satisfao), nada mais
so do que princpios empricos e subjetivos, a vontade humana (naturalmente considerada)
no pode ser reduzida a um princpio comum e vlido para todos. Nessa perspectiva cada
homem, empiricamente considerado, possui subjetivamente a necessidade de satisfazer as
suas prprias aspiraes. Ento, natural que cada ser humano, enquanto sujeito agente,
busque para o seu agir as mais variadas finalidades. A satisfao, baseada nas necessidades
empricas ou em sentimentos atribudos ao sensvel, no outra coisa seno a felicidade77.
Aparentemente, a razo mais parece atrapalhar do que ajudar na obteno da felicidade.
A natureza racional o que deve direcionar a vontade humana. Para Kant, se o verdadeiro
objetivo do homem fosse a sua felicidade, o instinto unicamente desempenharia melhor tal
tarefa. Segundo ele:
um ideal da imaginao. Quando uma s inclinao satisfeita, com certeza, temporariamente, se obtm apenas
uma espcie de satisfao, mas no a felicidade em sua completude. Tal satisfao apenas temporria, visto
que, para o homem sempre existir uma infinidade de inclinaes para serem saciadas.
76
Pode-se dizer, nesse caso, que a razo tem apenas um uso prudencial ou tcnico.
77
Na medida em que o prazer e a fruio de felicidade so subjetivos, cada um pode ser afetado de uma forma
distinta, mesmo que, a partir de uma mesma coisa. Embora a afetao (o prazer) se d a partir do mesmo objeto,
no necessariamente a sensao proporcionada vai ser igual para todos aqueles que so afetados.
45
se num ser dotado de razo e vontade a verdadeira finalidade da natureza fosse a
sua conservao, o seu bem-estar, numa palavra a sua felicidade, muito mal teria
ela tomado as suas disposies ao escolher a razo da criatura para executora destas
suas intenes (FMC, BA 4).
O instinto, por si s, responsvel pelos meios e fins relativos felicidade nos seres
humanos; numa palavra, a natureza teria evitado que a razo casse no uso prtico e se
atrevesse a engendrar com as suas fracas luzes o plano da felicidade e dos meios de a
alcanar (FMC, BA 5). Segundo a viso de Kant, a razo humana no tem por objetivo
providenciar a felicidade (pelo menos baseada na satisfao das inclinaes e necessidades
empricas); mas, de certa forma, determinar a vontade, impondo regras mesma, sem nada
prometer s inclinaes da sensibilidade. Nesse sentido, Kant no atribui racionalidade
humana a funo de servir como fonte da possibilidade de agir independentemente das
inclinaes, mas lhe qualifica como um meio para que essa possibilidade seja efetivada. Por
isso que,
e da provm que em muitas pessoas, e nomeadamente nas mais experimentadas no
uso da razo, se elas quiserem ter a sinceridade de o confessar, surja um certo grau
de misologia, quer dizer de dio razo (FMC, BA 5-6).
O homem nem sempre adere espontaneamente ao mandamento do dever moral. Isso
acontece porque o ser humano encontra-se inserido em meio a uma antinomia entre o dever e
desejos da sensibilidade78. Diante disso, ele pode at fraquejar e acabar corrompendo-se
moralmente, tornando-se indigno da prpria e verdadeira felicidade. No entanto, Kant
afirma que cada ser humano, por mais simples que seja, traz consigo e a seu modo uma
espcie de noo sobre o conhecimento do certo e do errado, cujo princpio
a razo vulgar em verdade no concebe abstratamente numa forma geral, mas que
mantm sempre realmente diante dos olhos e de que se serve como padro dos seus
juzos (FMC, BA 20).
Para Kant, no seria difcil mostrar como a razo vulgar
sabe perfeitamente distinguir, em todos os casos que se apresentam, o que bom e
o que mau, o que conforme ao dever ou o que contrrio a ele. (...), e que no
preciso nem cincia nem filosofia para que ela saiba o que h a fazer para se ser
honrado e bom, mais ainda, para se ser sages e virtuoso (FMC, BA 21).
78
Admite-se que todo o homem tem conscincia da existncia da lei moral, e que ela uma fora positiva; ento,
o fato de ele no segui-la implica a presena de uma outra fora que no a prpria lei. Essa outra fora pode ser o
desejo de satisfao, que pertence naturalmente ao arbtrio do homem. Aqui a satisfao algo natural para ele,
caso no seja forado a agir em detrimento de seu arbtrio. Pois na Crtica da razo pura, a felicidade
(Glckseligheit) definida como a satisfao de todas as inclinaes (sensveis) humanas.
46
Com efeito, Kant entende que o cumprimento do dever incessantemente ameaado
pela busca humana por felicidade. A razo humana simples (ou a razo comum) tende a fazer
uma confuso (o que natural) entre o conhecimento natural do princpio genuno da
moralidade com as mximas baseadas nas necessidades e inclinaes79. Apesar disso, parece
que em seus ltimos trabalhos referentes filosofia prtica (a Religio, a Metafsica dos
costumes e a Antropologia)80 Kant tenha moderado um pouco sua posio quanto s
inclinaes, ou seja, que elas no sejam to perniciosas ou ruins em si mesmas81.
Segue-se, ento, a necessidade de estabelecer uma clara distino entre o princpio
fundamental da moralidade, que o ser humano capaz de reconhecer intuitivamente, e
qualquer princpio baseado em necessidades e inclinaes82. Ora, para o agente, que tem plena
conscincia da lei moral, no existe muita dificuldade para fazer a distino de aes feitas
por dever, daquelas praticadas a partir do interesse prprio ou inclinaes subjetivas. No
obstante, naquelas aes para as quais o agente tem uma inclinao imediata, mesmo que elas
sejam praticamente boas, enquanto aes (e que, portanto, no so por dever), o risco de haver
confuso maior. Decorre da a necessidade de discutir as aes para as quais o agente tem
uma inclinao imediata83; poder haver, pois, uma inclinao voltada para a prtica de aes
por dever, ou meramente uma distoro de imagem especialmente voltada para o motivo do
dever84.
Na vida ou, mais precisamente, na determinao (ou na prpria efetivao) das aes, o
homem pode ser influenciado tanto pela racionalidade quanto pela sua natureza sensvel
(empiricamente). Esse aspecto dual deve ser considerado no momento em que se fala da
determinao da vontade. Com efeito, justamente nessa dualidade que se apresenta o
paradoxo (ou problema) relativo felicidade e moralidade.
79
In particular, common human reason tends to confuse its natural recognition of the genuine principle of
morality with maxims base don need and inclination (GUYER, Paul, 2000, p. p. 211-212).
80
Na Antropologia, especificamente, a natureza humana tratada como a natureza de um ente do mundo
sensvel e, como tal, uma natureza constituda por apetites naturais e inclinaes empricas (MARTINS,
Cllia A., 2005, p. 51).
81
Maria de Lourdes Borges observa esse fato constatando que alguns comentadores superestimam a
possibilidade de controle das emoes. Para exemplificar, ela cita a afirmao de Marcia Baron: evidente que
a posio de Kant nos seus ltimos trabalhos de filosofia prtica a Religio, a Metafsica dos costumes e a
Antropologia no que as inclinaes so em si mesmas ruins, mas que ns devemos control-las ao invs de
deix-las nos controlar, e que no devemos nunca subordinar o dever inclinao (BORGES, Maria de
Lourdes, 2005, p. 211).
82
Cf: GUYER, Paul, 2000, p. 212.
83
Pode-se dizer que agir por dever basta, mas o indivduo inclinado a praticar boas aes tambm pode ser
considerado moral, desde que o mbil de sua ao no tenha sido a inclinao, mas a representao da lei moral,
da qual ele tem conscincia.
84
Cf: BARON, Marcia, 2006, p. 89.
47
Kant reconhece a necessidade de a razo humana terica valer-se da experincia, a fim
de no se perder em abstraes; em contrapartida, a razo prtica, isto , a tica, carece
dispensar a experincia (no que diz respeito ao fundamento do agir). No que se refere
doutrina da moralidade, Kant pressupe que o homem tenha, forosamente, de abstrair,
enquanto motivo, de todo o sensvel ou emprico, a fim de valer-se to-somente da pura razo;
caso contrrio, tende a perder-se no labirinto dos desejos e dos sentimentos. Ocorre que, para
Kant, toda a ao que retira sua motivao (mesmo que boa ou produza bons efeitos) da
experincia sensvel estranha moral. Por exemplo, algum que se empenha em favor de
um outro, mas o seu esforo tem por motivao algum interesse (mesmo de afeio), nesse
caso, o seu agir (se tem por objetivo a moralidade), decididamente, no moral. O agente da
ao deve intencionar o seu agir visando unicamente ao cumprimento do dever enunciado
pela lei moral. Em outras palavras, a lei moral deve ser tomada como mbil impulsor da ao;
ou melhor, o princpio subjetivo do desejar deve sujeitar-se lei da moralidade.
Tendo em vista que o valor moral reside no mbil que se adota para pr em prtica uma
mxima (regra que o arbtrio fornece a si mesmo visando pratic-la no campo da liberdade), e
no na ao propriamente dita, o resultado que essa ltima no vlida para ajuizar um agir
como moralmente bom ou no. Isso ocorre porque o mbil da mxima no aparece na ao,
isto , a intencionalidade que o agente depositou no agir no se manifesta na ao que
verificada empiricamente. Inclusive, segundo Kant, muitas das aes julgadas moralmente
boas no foram motivadas pelo mandamento moral, ou seja, a lei moral no fora tomada como
mbil, embora, a ao verificada empiricamente tenha se dado de tal forma como se tivesse
sido emanada do mais puro dever pela moralidade. Nesse sentido, Kant distingue as aes
por dever das aes conforme ao dever85. No primeiro caso, a lei o princpio movedor da
ao, enquanto que, no segundo, a motivao reside em princpios exteriores moralidade
(como o princpio do amor de si, por exemplo).
O agir ocorre do mesmo modo em ambos os casos, pois a distino deve dar-se a partir
do motivo que o arbtrio acolheu para determinar a mxima. No universo das mximas, o
livre-arbtrio constitui-se em algo determinante. Ele a fora que impulsiona o ser humano a
agir de uma maneira ou de outra, isto , funciona como um legislador interno que, como tal,
representa a liberdade do homem para reger a sua prpria vida por si mesmo. Tal liberdade,
85
Segundo Barbara Herman, Kant procede pela observao de exemplos de dois tipos de aes que so
realizadas de acordo com o dever, mas no pelo motivo do dever. Por isso, para Kant, no possuem valor
moral: (1) aes que so respeitosas, mas praticadas por interesse prprio do agente (o comerciante, por
exemplo); (2) aes tambm respeitosas, mas que expressam exatamente o que o agente quer aquelas para as
quais ele tem uma inclinao imediata ou interesse (por exemplo, a simpatia, a auto-preservao e a felicidade)
(Cf: HERMAN, Barbara, 1993, p. 3).
48
porm, segundo Kant (e no que diz respeito ao agir moral), est ligada obedincia, no como
uma obedincia cega, mas como uma determinao do livre-arbtrio em dependncia do
mbito da racionalidade, ou da regncia da vida humana racionalmente qualificada. nesse
sentido que a lei moral determina o arbtrio como racional. No entanto, todos sabem (pois
experimentam na prpria vivncia) que o homem no detm em si somente a razo, mas
tambm um ente sensvel, de modo que a liberdade do arbtrio influenciada por
determinaes ou mbiles externos, mas no por eles que o humano, ao se propor agir
moralmente, deve se determinar. A liberdade de um sujeito racional, porm, sensvel, no que
tange adoo de mximas morais, consiste na primazia da razo em relao sensibilidade.
Alm do princpio da felicidade (enquanto satisfao das necessidades e inclinaes)
que tende, em certo sentido, a mesclar-se com o cumprimento do dever, o homem tambm
sofre a constante interferncia do determinismo natural, o que Kant chama de prdeterminismo. O pr-determinismo refere-se ao fato de se tender a tomar por base eventos
anteriores, parecendo s vezes fugir do domnio racional. O prprio Kant deixa claro que o
homem, por ser livre e dispor de razo prtica86 (como ser racional), no est, portanto, sujeito
ao mero determinismo.
A busca da felicidade, enquanto fim natural, consiste em uma busca inevitvel87, mas
que pode ser prejudicial. Kant tem plena conscincia de que o homem um produto da
natureza, diferenciado somente a partir de suas caractersticas particulares88. Portanto, por ser
um produto da natureza, todo o ser humano, de certa forma, tambm est submetido
causalidade natural89.
Por natureza, ento, o homem j tem bens que inevitavelmente influem em seu querer.
Nesse sentido, a liberdade finita, enquanto afetada por inclinaes sensveis, aspira
incessantemente felicidade. Mas, a partir dela, nenhum princpio universalmente vlido
pode ser formulado ou aduzido como lei (moral), mesmo que todos a tenham como um
princpio geral90.
Kant deixa claro, no incio da Fundamentao, que todos os homens j tm por si
mesmos a mais forte e ntima inclinao para a felicidade, porque exatamente nesta idia
que se renem numa soma todas as inclinaes (FMC, BA 12). No fato dela consistir-se em
uma somatria de todas as inclinaes reside um dos motivos de sua inconsistncia (ou
86
Cf: MC, 216, p.20.
O homem, enquanto ser emprico (da natureza), considera a felicidade como a finalidade de todo o seu agir.
Nessa medida, somente uma ao forada pode no proporcionar satisfao ao agente.
88
Cf: AP, 99, p. 3.
89
Ele um ser vivo inserido no espao e no tempo.
90
Cf: CRPr, A 63.
87
49
incompatibilidade), mesmo que a sua busca faa parte da prpria essncia humana91. A busca
por felicidade se d naturalmente; porm, a sua plena realizao (da felicidade) algo
impossvel, visto que a felicidade restringe-se a momentos passageiros de alegria (uns mais
duradouros que outros), mas inconstantes no fluir do tempo.
Por um lado, no possvel nenhum imperativo ordenar, em um sentido rigoroso, para
aquilo que j se est inclinado, ou seja, a felicidade no um ideal da razo, mas da
imaginao (FMC, BA 47). Por outro, o prprio Kant deixa claro na Antropologia que a
dinmica da vida ocorre a partir da constante alternncia entre os sentimentos de prazer e
desprazer92. Portanto, jamais algum vai sentir-se plenamente realizado, ou chegar a um
estgio ideal de satisfao; sempre vai haver alguma necessidade para o homem (pelo menos
a de sair do estado em que se encontra).
3 O problema da felicidade enquanto satisfao emprica
Kant, na Fundamentao da metafsica dos costumes, prope que todos os seres
humanos tm uma finalidade que, como tal, constitui-se em uma espcie de necessidade
natural. No entanto, ressalta que a todos os seres humanos, enquanto seres dependentes, isto ,
racionais, porm, sensveis lhes convm imperativos (FMC, BA 42). Com efeito, para a
condio humana, faz-se necessria a representao de um princpio objetivo ou um
mandamento (da razo), enquanto obrigante, para uma vontade imperfeita93. Assim, na
filosofia prtica kantiana so institudos os imperativos, ou seja, frmulas para exprimir a
relao entre leis objetivas do querer em geral e a imperfeio subjetiva deste ou daquele ser
racional (FMC, BA 39). A relao em questo basicamente de compulso ou
constrangimento94.
Todos os imperativos ordenam de forma hipottica ou ento categoricamente.
Os hipotticos representam a necessidade prtica de uma ao possvel como meio
de alcanar qualquer outra coisa que se quer (ou que possvel que se queira). O
imperativo categrico seria aquele que nos representasse uma ao como
objetivamente necessria por si mesma, sem relao com qualquer outra finalidade
(FMC, BA 39)95.
91
Cf: FMC, BA 42.
Cf: A, 233, p. 130.
93
Cf: FMC, BA 37.
94
Cf: PATON, H. J., 1971, p. 114, nota 2.
95
Em sentido estrito, para Kant, o imperativo hipottico no diz respeito Filosofia Prtica. Na Primeira
introduo Crtica da faculdade do juzo, logo no incio, ele salienta que o sistema real da filosofia dividido
em filosofia terica e prtica; de tal modo, a primeira tem que ser a filosofia da natureza, a outra a dos
costumes, das quais a primeira pode conter tambm princpios empricos, mas a segunda (j que a liberdade
92
50
Em outras palavras, quando o princpio objetivo da razo no condicionado por nenhum
fim96.
Dentre os imperativos hipotticos, Kant reconhece duas formas existentes. Se o fim
meramente aquilo que algum pode querer e, portanto, uma possvel inteno, o imperativo,
alm de hipottico, problemtico, um imperativo de destreza. Quando o fim aquilo que
todos naturalmente desejam, a saber, a felicidade, o imperativo assertrico, um imperativo
de prudncia, tambm chamado de pragmtico97.
O imperativo categrico aquele que no diz respeito ou no condicionado por
nenhuma hiptese ou, simplesmente, no se reporta a nenhum fim especfico ou desejado.
Segundo Kant, aquele imperativo que declara a ao como objetivamente necessria por si,
independentemente de qualquer inteno, quer dizer sem qualquer outra finalidade, vale como
princpio apodctico (prtico) (FMC, BA 40). Esse o legtimo imperativo da moralidade.
Na Fundamentao, ao se referir aos imperativos de prudncia (Klugheit), Kant salienta
a existncia de dois sentidos a ela referidos, ambos dirigidos a uma nica finalidade (a
felicidade). A prudncia pode referir-se s relaes com o mundo ou simplesmente pode ser
prudncia privada.
A primeira a destreza de uma pessoa no exerccio de influncia sobre outras para
as utilizar para as suas intenes. A segunda a sagacidade em reunir todas estas
intenes para alcanar uma vantagem pessoal durvel (FMC, BA 42, nota).
Segundo a viso kantiana, se algum prudente nas relaes com o mundo, mas no o em
relao prudncia privada, com certeza, esperto e manhoso, mas em suma imprudente
(FMC, BA 42, nota).
Para a compreenso dos imperativos de destreza, segundo Kant, bastaria a observao
das aes. Quem quer o fim, quer tambm (se a razo tem influncia decisiva sobre as suas
aes) o meio indispensavelmente necessrio para o alcanar, que esteja no seu poder (FMC,
BA 44-45). Pode-se dizer que essa uma proposio analtica no que diz respeito ao querer98,
pois no querer j est includo o uso dos meios apropriados. Segundo as palavras de Kant,
absolutamente no pode ser um objeto da experincia) jamais pode conter outros do que princpios puros a
priori (PI, p. 167). Segue-se que somente as proposies ticas, leis necessrias, pertencem filosofia prtica.
Contudo, as prescries de habilidade e de prudncia (imperativos hipotticos), que so contingentes,
pertencem tcnica e, portanto, ao conhecimento terico da natureza (PI, p. 170). Logo, somente o imperativo
categrico diz respeito Filosofia Prtica. Em contrapartida, todo imperativo hipottico refere-se Filosofia da
natureza.
96
Cf: PATON, H. J., 1971, p. 115.
97
Cf: PATON, H. J., 1971, p. 115.
98
A passagem da Fundamentao representa uma proposio analtica, ou seja, quando se quer determinado fim,
esse querer j inclui tambm os meios para esse fim, inclusive o que se deve fazer para alcan-lo.
51
logo na seqncia, o imperativo extrai o conceito das aes necessrias para este fim do
conceito do querer deste fim (FMC, BA 45). Os imperativos de prudncia no so totalmente
iguais aos imperativos de destreza nesse sentido99. Ora, eles at poderiam coincidir totalmente
e seriam igualmente analticos, se fosse igualmente fcil dar um conceito determinado de
felicidade (FMC, BA 46).
No obstante, o conceito de felicidade , por sua natureza, indeterminado. No depende
do homem a definio dos meios que indicam, com segurana, como obt-la (um estado total
de bem-estar). Os elementos capazes de proporcionar felicidade so extrados da experincia
e, portanto so contingentes, logo a posteriori. Na Introduo Metafsica dos costumes,
Kant tambm salienta que: Somente a experincia capaz de ensinar o que nos traz alegria
(MC, 215, p. 19)100. Com efeito, praticamente impossvel determinar a felicidade, uma vez
que ela diz respeito perspectiva particular da experincia de cada um. Somente um ser
onisciente poderia determinar realmente em que ela consiste101. Alis, somente um ser dessa
especificidade poderia conhecer o todo absoluto na determinao da vontade; um ser capaz de
garantir ao indivduo um mximo de bem-estar no estado presente e em todo o futuro102.
A finitude humana, portanto, ou a sua limitao impede ao sujeito ter uma idia exata
daquilo em que consiste a felicidade, ou dos meios apropriados para a sua obteno. Kant
explicita isso claramente na Fundamentao, por meio da relativizao de alguns exemplos.
Para tanto, so enumerados quatro, a saber, a riqueza, o conhecimento e sagacidade, a vida
longa e a sade. Em todos os casos apresentados, constatado que no h um princpio que
garanta, com exatido, o que deve ser feito ou evitado para ser feliz. Kant conclui que:
No se pode pois agir segundo princpios determinados para se ser feliz, mas
apenas segundo conselhos empricos, por exemplo: dieta, vida econmica,
moderao, etc., acerca dos quais a experincia ensina que so, em mdia, o que
mais pode fomentar o bem-estar. Daqui conclui-se: que os imperativos da
prudncia, para falar com preciso, no podem ordenar, quer dizer representar as
aes de maneira objetiva como praticamente necessrias; que eles se devem
considerar mais como conselhos (consilia) do que como mandamentos (praecepta)
da razo (FMC, BA 47).
99
O imperativo de destreza difere tambm do imperativo de prudncia no que se refere natureza do fim,
embora ambos sejam hipotticos. No primeiro, o fim dado como aquilo que algum pode querer simplesmente;
no segundo, o fim apenas tido como possvel. Mas como ambos eles ordenam apenas os meios para aquilo
que se pressupe ser querido como fim, o imperativo que manda querer os meios a quem quer o fim em ambos
os casos analtico (FMC, BA 48).
100
Na traduo espanhola: Slo la experiencia puede ensear lo que nos produce alegria (MC, 215, p. 19).
101
Cf: FMC, BA 47.
102
Cf: FMC, BA 46.
52
Pode-se inferir, a partir do exposto, pois, que todo o conselho relativo ou limitado e
que no pode ter a pretenso de universalidade103. No caso da felicidade, no seria possvel
tambm afirmar, com preciso, que tipo de ao pode ou no assegur-la a um ser racional.
No existe nenhum consenso com relao aos objetos do desejo. A felicidade algo
puramente pessoal. At seria possvel pensar em uma felicidade comum, quanto ao seu
contedo, segundo a qual todos os homens sentissem prazer ou se comprazessem devido ao
mesmo objeto. Com efeito, no resolveria o problema, mesmo porque essa no seria a nica
razo pela qual a felicidade no pode ser definida universalmente104.
O imperativo da moralidade, com efeito, no poderia jamais ser considerado hipottico.
A sua necessidade objetiva no poderia basear-se em nenhum pressuposto emprico, nem ser
demonstrada mediante exemplos; menos ainda, se poderia derivar a realidade desse princpio
da constituio particular da natureza humana.
Tudo o que, pelo contrrio, derive da disposio natural particular da humanidade,
de certos sentimentos e tendncias, mesmo at, se possvel, duma propenso
especial que seja prpria da razo humana e no tenha que valer necessariamente
para a vontade de todo o ser racional, tudo isso pode na verdade dar lugar para ns
a uma mxima, mas no a uma lei (FMC, BA 59-60).
O homem que tem a pretenso de ser considerado moral no deve estar submetido a
qualquer outro fim, a no ser o de sua prpria razo, a saber, o da prpria moralidade, que
implica no cumprimento do dever por dever. Sendo assim, com a pretenso de dar ao
julgamento moral um fundamento que garanta uma exatido, Kant assume como objetivo, na
Fundamentao, a busca e fixao do princpio supremo da moralidade (FMC, BA XV).
Com esse propsito, e sob a necessidade de estabelecer o princpio universal e absoluto, isto
, um princpio a priori, Kant procede excluindo da possibilidade da fundamentao da
moralidade tudo o que contingente ou emprico, objeto de sentimento ou produto de desejo,
enfim, tudo o que no pode ser universalizado. Segundo ele:
Com relao aos conselhos, Kant fala o seguinte: O conselho contm, na verdade, uma necessidade, mas que
s pode valer sob a condio subjetiva e contingente de este ou aquele homem considerar isto ou aquilo como
contando para a sua felicidade (FMC, BA 44).
104
Segundo consta no Teorema III, da Analtica da razo prtica pura: Pois, visto que, contrariamente, uma
lei natural universal torna tudo unnime, neste caso, se se quisesse dar mxima a universalidade de uma lei,
seguir-se-ia aqui o extremo reverso da unanimidade, o pior conflito e o inteiro aniquilamento da prpria mxima
e do seu objetivo. Pois a vontade de todos no tem ento um mesmo objeto, mas cada um tem o seu (seu bemestar prprio), que em verdade pode at casualmente compatibilizar-se com os objetivos de outros, que eles
igualmente reportam a si mesmos, mas a longo prazo no suficiente para uma lei, porque as excees que
eventualmente se facultado a fazer so interminveis e no podem absolutamente ser abrangidas de modo
determinado em regra geral (CRPr, A 50 ). Com efeito, se todas as pessoas se deleitassem com os mesmos
objetos, certamente no daria certo. Todos sentem prazer (felicidade) a seu modo, e a partir de algo especfico.
Se houver compatibilidade dos objetos do desejo, corre-se o risco do conflito, bem como da total desarmonia. O
mesmo ocorreria com a felicidade se os objetos referentes a ela pudessem ser universalizados.
103
53
Tudo portanto o que emprico , como acrescento ao princpio da moralidade, no
s intil mas tambm altamente prejudicial prpria pureza dos costumes; pois o
que constitui o valor particular de uma vontade absolutamente boa, valor superior a
todo o preo, que o princpio da ao seja livre de todas as influncias de motivos
contingentes que s a experincia pode fornecer (FMC, BA 61).
O ser humano, devido sua imperfeio natural, tem sempre uma forte propenso a
seguir os impulsos ou os apelos das necessidades e inclinaes (da sensibilidade), em
detrimento da lei moral. Por conseguinte, devido tal limitao, s vezes, o homem tende a
iludir-se no que diz respeito virtuosidade do seu proceder. No entanto, na Fundamentao,
Kant salienta que: Ver a virtude na sua verdadeira figura no mais do que representar a
moralidade despida de toda a mescla de elementos sensveis e de todos os falsos adornos da
recompensa e do amor de si mesmo (FMC, BA 61, nota); logo, tambm da felicidade.
Para Kant, a razo humana, antes de encontrar o caminho certo, no que diz respeito ao
princpio da moralidade, trilhou todos os caminhos errados. Todos os princpios, a partir desse
ponto de vista, ou so empricos ou so racionais. No dizer de Kant:
Os primeiros, derivados do princpio da felicidade, assentam no sentimento fsico
ou no moral; os segundos, derivados do princpio da perfeio, assentam, ou no
conceito racional dessa perfeio como efeito possvel, ou no conceito de uma
perfeio independente (a vontade de Deus) como causa determinante da nossa
vontade (FMC, BA 90).
O princpio mais condenvel dos dois para Kant, ainda na Fundamentao, o princpio
da felicidade prpria, no s porque falso, mas porque a experincia mostra que nem
sempre fazer boas obras conduz ao bem-estar. O princpio da felicidade, enquanto princpio,
no contribui em nada para a moralidade. Alm disso,
atribui moralidade mbiles que antes a minam e destroem toda a sua sublimidade,
juntando na mesma classe os motivos que levam virtude e os que levam ao vcio,
e ensinando somente a fazer melhor o clculo, mas apagando totalmente a diferena
entre virtude e vcio (FMC, BA 90-91).
No que se refere aos princpios racionais da moralidade, Kant prefere o princpio
ontolgico da perfeio, por mais vazio e indeterminado que seja105. Pois o conceito de uma
perfeio independente, portanto teolgica, faz derivar a moralidade de uma vontade divina e
infinitamente perfeita. O homem, enquanto ser finito, no pode intuir essa vontade, apenas a
podemos derivar dos nossos conceitos, entre os quais o da moralidade o mais nobre (FMC,
BA 92).
105
Cf: FMC, BA 92.
54
Todos esses princpios, para Kant, so heternomos, visto que tm como fundamento ou
justificativa um objeto determinado, e seu imperativo sempre condicionado. Segundo Kant:
Quer o objeto determine a vontade por meio da inclinao, como no caso do
princpio da felicidade prpria, quer a determine por meio da razo dirigida a
objetos do nosso querer possvel em geral, como no princpio da perfeio, a
vontade nunca se determina imediatamente a si mesma pela representao da ao,
mas somente pelo mbil resultante da influncia que o efeito previsto da ao
exerce sobre ela: devo fazer tal coisa, porque quero uma tal outra (FMC, BA 9394).
Todos os princpios mencionados identificam-se com os imperativos hipotticos.
Nenhum deles, portanto, pode servir de justificativa para a ao moral. Contudo, possvel
perceber que alguns podem prejudicar mais do que outros no cumprimento do dever, embora
todos eles sejam direcionados a uma nica e mesma finalidade. O fim ltimo de todo o ser
humano racional, porm, sensvel, isto , empiricamente constitudo, o mesmo: a sua
felicidade prpria.
4 Sobre o dever indireto de promover a felicidade pessoal
4.1 A noo de deveres diretos e indiretos: perfeitos e imperfeitos
Na Filosofia Prtica de Kant, a nfase muito maior para o que no se deve fazer, isto ,
para os deveres negativos. Em contrapartida, no conjunto da obra kantiana, pouco se
recomenda sobre a prtica de aes propriamente virtuosas, ou seja, deveres positivos106.
Aparentemente, para Kant, a prioridade a de que no se pratique qualquer ao (ou que no
se leve uma vida) contrria s suas proibies. Contudo, possvel, na vida cotidiana,
reconhecer a existncia de certos atos que, mesmo estando alm do dever, possuem, em certa
medida, valor moral107. Ao que parece, esse tipo de ao no entra em conflito com a teoria
moral kantiana108.
Mesmo no abrindo muito espao para esse tipo de ao, Kant apresenta indcios sobre a
existncia das mesmas pelo menos em trs obras distintas: na Fundamentao da metafsica
dos costumes, na Crtica da razo prtica e principalmente na Metafsica dos costumes. A
terminologia utilizada tambm varia, ao menos na segunda Crtica, no que diz respeito aos
deveres para com tais atos. Na Fundamentao e na Metafsica dos costumes, mais
106
Alis, esse um motivo de inmeras crticas tica kantiana.
Cf: BORGES, Maria de Lourdes et al, 2002, p.p. 24-25.
108
Cf: BARON, Marcia, 2006, p. 72, nota 2.
107
55
precisamente na Doutrina da virtude, Kant fala de deveres diretos e indiretos, embora a
ltima tivesse sido publicada doze anos mais tarde. Na Crtica da razo prtica, por sua vez,
os termos utilizados so deveres perfeitos e imperfeitos. No entanto, mesmo que sejam
apresentados de modos distintos, esses termos exercem a mesma funo, ou ento, designam
as mesmas coisas109. Alm disso, a terminologia kantiana adotada para deveres perfeitos ou
imperfeitos torna o assunto mais confuso. Ora, ao contrrio da teoria restritiva do dever, seria
bem mais plausvel que se fizesse primeiramente a distino entre o que obrigatrio e o que
meramente bom de se fazer110.
Na Introduo Doutrina da virtude, Kant apresenta a sua clssica distino entre
tica e Direito (a base do sistema de deveres jurdicos ou de justia). A diferena crucial entre
ambos diz respeito ao fato de que os deveres jurdicos podem ser coercivamente forados e os
deveres ticos no (pelo menos externamente). Segundo o prprio Kant:
a doutrina universal dos deveres se divide no sistema da doutrina do direito (ius),
que adequada para as leis externas, e da doutrina da virtude (ethica), que no
adequada para elas (MC, 379, p. 328)111.
Os deveres jurdicos, pois, podem ser impostos externamente (por outras pessoas). Os
deveres ticos, de modo distinto, conferem uma espcie de auto-legislao (ou auto-coero)
da parte dos seres racionais. Dessa forma, os deveres ticos no exigem somente aes, mas
uma espcie de pureza de inteno. Segue-se, que so direcionados a um fim e dizem respeito
ao motivo a partir do qual a pessoa age112. Portanto, os deveres ticos originam-se a partir da
adoo de fins, enquanto que os deveres jurdicos simplesmente ordenam aes externas; os
primeiros no podem ser impostos pelo Estado (ou qualquer outra causa externa), ao passo
que os ltimos podem e so de certo modo. No obstante, a distino dos deveres, como j foi
exposta, no se restringe somente a esses, a saber, alm dos deveres ticos e jurdicos, Kant
relata deveres amplos, estritos, perfeitos e imperfeitos113.
109
Os termos perfeito ou direto e imperfeito ou indireto, com relao aos deveres, designam, reciprocamente,
simplesmente a mesma coisa: obrigatrio e altamente recomendvel.
110
Marcia Baron cita Thomas Hill, ao apresentar essa alternativa: Kant tried to say all of this with his restrictive
terminology of duty when it could be put more simply by making an early distinction between what is obligatory
and what is merely good to do (BARON, Marcia, 1995, p. 35).
111
Na traduo espanhola: El trmino tica significaba antao doctrina de las costumbres (philosophia moralis)
en general, que tambin se llamaba doctrina de los deberes. Ms tarde se ha credo conveniente transferir este
nombre slo a una parte de la doctrina de las costumbres, es decir, a la doctrina de los deberes que no estn
sometidos a leyes externas (para ella se h credo adecuado en Alemania el nombre de Tugendlehre (doctrina de
la virtud)), de modo que ahora el sistema de la doctrina universal de los deberes se divide en el sistema de la
doctrina del derecho (ius), que es adecuada para las leyes externas, y de la doctrina de la virtud (ethica), que no
es adecuada para ellas (MC, 379, p. 328).
112
Cf: WOOD, Allen W., 2005, p. 144.
113
Cf: ROSEN, Allen D., 1993, p. 93.
56
A diferena entre um dever amplo e um dever estrito (ou limitado) no se mostra muito
obscura e parece ser adicional distino entre deveres ticos e jurdicos. Um dever estrito se
obriga representao ou omisso de uma ao externa. Assim, todos os deveres jurdicos,
em certo sentido, so estritos. Um dever amplo, por seu turno, refere-se adoo (subjetiva)
de uma finalidade. Com efeito, em certa medida, pode-se dizer que todos os deveres ticos
so amplos, uma vez que a tica o sistema dos fins da razo prtica pura114.
A diferenciao entre deveres perfeitos e imperfeitos um pouco mais complexa. Kant
frequentemente usa esses termos, mas nunca explica a distino adequadamente115. Uma coisa
certa: segundo ele, uma ao possui valor moral unicamente se ela for feita por dever. Podese dizer, ento, que os deveres perfeitos so aqueles que no permitem exceo alguma, quer
relativa ao interesse das inclinaes, quer a qualquer outro interesse. Todavia, os deveres
imperfeitos so aqueles dotados de uma espcie de latitude116, ou seja, permitem um espao
de deciso sobre aquilo que ser feito e sobre o quanto preciso fazer com vistas a um
determinado fim117. Eles tambm podem ser chamados de deveres de virtude (nos quais se
enquadram os deveres para com os outros homens). Segundo Kant:
os deveres para com o prximo, que surgem do respeito que se deve a eles, se
expressam apenas negativamente, quer dizer, este dever de virtude se expressar
apenas indiretamente (proibindo o contrrio) (MC, 464-465, p. 338)118.
Na tica kantiana, pode-se dizer que dever expressa poder (ou pelo menos
possibilidade)119. Logo, se algo no for proibido (contrrio ao dever) pode-se afirmar que
eticamente lcito que se faa; o que, em certo sentido, expressa uma espcie de dever, mesmo
114
Cf: ROSEN, Allen D., 1993, p. 93.
Cf: ROSEN, Allen D., 1993, p. 95.
116
Esse tipo de dever permite uma certa liberdade de ao. Nessa medida, eles podem ser considerados como
deveres amplos imperfeitos (ou amplos indiretos).
117
Na Doutrina da virtude, Kant apresenta a felicidade dos outros como um fim da ao moral, que ao
mesmo tempo, um dever. Essa finalidade d origem aos deveres com relao aos outros, entre os quais se
incluem os deveres de beneficncia, de gratido e simpatia. Os trs implicam obrigao (mesmo que
indiretamente) de realizar aes que promovam a felicidade alheia e, como tais, constituem deveres indiretos.
118
Na traduo espanhola: Precisamente por eso tambin los deberes hacia el prjimo, que surgen del respecto
que se le debe, se expressan slo negativamente, es decir, este deber de virtud se expresar slo indirectamente
(prohibiendo lo contrario) (MC, 464-465, p. 338).
119
Seria absurdo se algum tivesse a obrigao de fazer algo que impossvel. O dever direto expressa uma
forma de poder (prpria) que depende unicamente do indivduo particular e de uma necessidade expressa sob a
luz do Imperativo Categrico. Um dever indireto, na maioria das vezes, no depende somente do indivduo
particular (considerado subjetivamente enquanto agente), mas das circunstncias envolvidas. Por isso, em certo
sentido, esses deveres se reportam a um espcie de prudncia subjetiva. Em outras palavras, no
necessariamente obrigatrio que se pratique determinada ao, mas bom e muito aconselhvel que ela seja
feita. O seu contrrio moralmente proibido e sua absteno apenas no tem valor moral.
115
57
que indiretamente120. Todavia, no se pode perder de vista o dizer de Kant no incio da
Fundamentao:
Deixo aqui de parte todas as aes que so logo reconhecidas como contrrias ao
dever, posto possam ser teis sob este ou aquele aspecto; pois nelas nem sequer se
pe a questo de saber se foram praticadas por dever, visto estarem at em
contradio com ele (FMC, BA 8).
Segue-se, pois, que o agir por dever a nica coisa que qualifica uma ao (e o agente) como
moral121.
Na Doutrina da virtude, ao tratar de deveres amplos e estritos, Kant diz que:
por dever amplo no se entende uma permisso para introduzir excees mxima
das aes, mas somente a permisso de limitar uma mxima do dever por outra (por
exemplo, o amor universal ao prximo pelo amor paternal), com o qual se amplia
realmente o campo da prxis virtuosa. Quanto mais amplo o dever, mais
imperfeita a obrigao do homem de agir, contudo, quanto mais aproxime a
mxima de cumpri-lo (em sua inteno) ao dever estrito (jurdico), tanto mais
perfeita sua ao virtuosa (MC, 390, p.p. 242-243)122.
Segundo a interpretao de Allen Rosen, o fato que Kant classifica alguns deveres
ticos como perfeitos e outros como imperfeitos. No entanto, nenhum dever jurdico listado
como imperfeito. Isso significa que os deveres imperfeitos podem ser entendidos como
constituindo uma espcie de subconjunto dos deveres ticos. Alm disso (por serem
direcionados a um fim), todos os deveres ticos so, em certa medida, amplos (ou latos).
Ento, todos os deveres imperfeitos so deveres amplos. Seguindo a interpretao, pode-se
dizer que todos os deveres ticos amplos so deveres para a adoo de determinados fins,
dentre os quais, os deveres imperfeitos so deveres direcionados para alguma finalidade
especfica (ou adoo de fins subjetivos)123.
Se a interpretao que precede coerente, seria natural concluir que os deveres
imperfeitos so deveres que permitem fazer excees raciocinadas para representar qualquer
(ou alguma) finalidade subjetiva. No entanto, para aqueles fins cuja adoo obrigatria e
120
o caso dos deveres de virtude.
Visto que somente o agente que tem acesso sua mxima, s ele pode ajuizar se a ao moral ou no.
Certamente, se o agente reconhece a sua ao como contrria ao dever, por mais que ela no tenha um mau
resultado, ela jamais pode ser representada tal como as aes feitas por dever (Cf: BARON, Marcia, 2006, p.
73).
122
Na traduo espanhola: Pero por deber amplio no se entiende un permiso para introducir excepciones a la
mxima de las acciones, sino slo el de limitar uma mxima del deber por otra (por ejemplo, el amor universal al
prjimo por el amor paternal), con lo cual se ampla realmente el campo de la praxis virtuosa. Cuanto ms
amplio es el deber, ms imperfecta es la obligacin del hombre de obrar, sin embargo, cuanto ms aproxime la
mxima de cumplirlo (en su intencin) al deber estricto (jurdico), tanto ms perfecta es su accin virtuosa
(MC, 390, p.p. 242-243).
123
Cf: ROSEN, Allen D., 1993, p. 100.
121
58
que, portanto, dizem respeito a deveres ticos amplos, porm perfeitos, inversamente no
permitida exceo alguma124.
No dizer de Kant:
os deveres imperfeitos so somente deveres de virtude. Cumpri-los um mrito
(meritum) = + a; mas transgredi-los no um demrito (demeritum) = -a, mas
somente falta de valor moral = 0, a no ser que seja um princpio para o sujeito no
submeter-se queles deveres (MC, 390, p. 243)125.
Com efeito, certos atos esto alm do que meramente determinado pelo dever, e,
enquanto tais, so bons e elogiveis126. Eles consistem em uma espcie de atos opcionais (e
tambm so aconselhveis), cuja realizao no obrigatria nem presumida (suprarogatrios talvez)127. Ora, se algum falha em relao aos deveres de amor, se no se comove
com as dificuldades alheias ou no tenta fazer nada para atenuar a misria e a infelicidade dos
que sofrem, certamente nesse indivduo falta alguma virtude. Segue-se, que o agente que
pratica deveres de virtude, ditos imperfeitos, alm de cumprir com os deveres perfeitos
(diretos), deve ser considerado moralmente superior, em relao aos demais. Dito de outro
modo, deveres perfeitos (ou diretos) so obrigatrios e necessrios. Deveres imperfeitos (ou
indiretos) dizem respeito simplesmente quilo que bom que se faa128; por isso, so
altamente recomendveis.
No que se refere felicidade, segundo Kant, jamais se poderia fundar uma lei universal
a partir da satisfao pessoal (ou a felicidade pessoal) de cada um; mesmo que fosse estendida
a todos os seres racionais, uma vez que a felicidade est fundamentada na mxima do amor
de si. A nica coisa possvel, contudo, que possam harmonizar-se a lei moral e a sua
restrio (o princpio do amor prprio). Poder-se-ia, dessa forma, existir ento uma espcie de
amor de si racional129.
Segundo a exposio de Kant na Analtica da razo prtica pura (Teorema IV):
124
Cf: ROSEN, Allen D., 1993, p. 100.
Na traduo espanhola: Por tanto, los deberes imperfectos son slo deberes de virtud. Cumprirlos es un
mrito (meritum) = + a; pero trangredirlos no es un demrito (demeritum) = - a, sino slo falta de valor moral =
0, a no ser que fuera un principio para el sujeto no someterse a aquellos deberes (MC, 390, p. 243).
126
Segundo Thomas Hill (1971, p.p. 55-76), parece que na Filosofia prtica de Kant existe um lugar para esse
tipo de ato, ou seja, os atos supra-rogatrios (supererogatory acts). Segundo Hill, eles querem ser estabelecidos
como (ou consistir em) uma subclasse de atos realizados a partir de princpios de deveres amplos imperfeitos.
127
Cf: BARON, Marcia, 1995, p. 23.
128
Marcia Baron (1995, p.p. 21-58) defende que Kant no deixa espao para esse tipo de ao, mas d indcio
das mesmas.
129
Cf: CRPr, A 129.
125
59
A mxima do amor de si (a prudncia) apenas aconselha; a lei da moralidade
ordena. H, porm, uma grande diferena entre aquilo que se nos aconselha e
aquilo para o qual somos obrigados (CRPr, A 64)130.
Nesse sentido (ao homem), tentar promover a felicidade alheia (assim como a sua) um
conselho vlido para toda a humanidade (um objetivo geral), mas no uma obrigao estrita,
ou seja, uma lei vlida universalmente131. Por conseguinte, o mandamento da promoo da
felicidade uma lei prtica no universal (mas geral), pessoal e subjetiva. Nesse sentido, cada
um deve fazer o mximo (respeitando os limites da moralidade) para realizar-se plenamente e,
se possvel, prestar auxlio aos outros. Com efeito, em certo sentido, uma obrigao, para o
homem, preservar a prpria felicidade (ou pelo menos tentar), desde que, para isso, no venha
a prejudicar outrem.
4.2 O dever indireto de promover a felicidade
Nas obras de Kant, referentes ao perodo crtico, existem pelo menos trs passagens nas
quais ele fala sobre o dever indireto de promover (ou buscar) a felicidade pessoal. A
felicidade, enquanto dever indireto, no se refere a um fim natural, mas a um meio dirigido a
um fim mais longnquo: a prpria moralidade. O dever indireto de promover a felicidade
pessoal no parece, pois, tratar-se de uma simples questo retrica, uma vez que exposto em
trs diferentes obras kantianas: Fundamentao da metafsica dos costumes, Crtica da razo
prtica e Metafsica dos costumes.
No incio da Fundamentao Kant escreve que:
Assegurar cada qual a sua prpria felicidade um dever (pelo menos
indiretamente); pois a ausncia de contentamento com o seu prprio estado num
torvelinho de muitos cuidados e no meio de necessidades insatisfeitas poderia
facilmente tornar-se numa grande tentao para transgresso dos deveres (FMC,
BA 11-12).
Na Crtica da razo prtica, mais precisamente no final da Analtica, na seo
referente Elucidao crtica da analtica da razo prtica pura132 Kant afirma o seguinte:
130
Ver tambm FMC, BA 47.
No que diz respeito felicidade alheia, Kant fala na Segunda Seo da Fundamentao o seguinte: Assim eu
devo, por exemplo, procurar fomentar a felicidade alheia, no como se eu tivesse qualquer interesse na sua
existncia (quer por inclinao imediata, quer, indiretamente, por qualquer satisfao obtida pela razo), mas
somente porque a mxima que exclua essa felicidade, no pode estar includa num s e mesmo querer como lei
universal (FMC, BA 90). Fomentar a felicidade alheia, portanto, pode ser considerado um dever indireto pelo
simples fato de que a sua excluso (ou o seu contrrio) jamais pode chegar a ser lei. Tal excluso contraria o
dever.
132
Segundo a traduo de Valerio Rohden, esta parte constitui uma considerao conclusiva sobre todo o
primeiro livro da Crtica da razo prtica (CRPr, A 159, nota do tradutor).
131
60
Sob certo aspecto pode ser at dever cuidar da sua felicidade: em parte, porque ela
(e a isso pertencem habilidade, sade, riqueza) contm meios para o cumprimento
do prprio dever e, em parte, porque a sua falta (por exemplo, pobreza) envolve
tentaes transgresso de seu dever. S que promover a sua felicidade jamais
pode ser imediatamente um dever, menos ainda um princpio de todo o dever
(CRPr, A 166-167).
A ltima passagem mencionada aparece na Metafsica dos costumes, ainda na
Introduo Doutrina da Virtude, quando Kant fala da felicidade alheia. Segundo ele:
As adversidades, a dor e a pobreza so grandes tentaes para transgredir o prprio
dever. Portanto, parece que o bem-estar, a fora, a sade e a prosperidade em geral,
que so opostos a essas influncias, podem considerar-se tambm como fins que
so por sua vez deveres; isto , promover a felicidade prpria e no dirigi-la s
para a alheia. Mas em tal caso, o fim no a prpria felicidade, mas a moralidade
do sujeito e afastar os obstculos para tal fim, s o meio permitido; posto que
ningum tem o direito de exigir de mim que sacrifique os meus fins que no so
imorais. Buscar para si mesmo bem estar no diretamente um dever, mas bem
pode s-lo indiretamente, isto , defender-se da pobreza como uma grande tentao
para os vcios. Mas ento, em tal caso o que constitui o meu fim e por sua vez o
meu dever no a minha felicidade, mas promover a integridade da minha
moralidade (MC, 388, p. 240)133.
Com efeito, a busca da felicidade ou o dever indireto de promov-la pode representar
um papel importante na tica kantiana. De certa forma, pois, a felicidade auxilia o ser humano
a alcanar a moralidade134. Em outras palavras, a felicidade, ao exercer o papel de meio, pode
ser entendida como um facilitador da prtica moral135. Colocado dessa forma, e
principalmente a partir da passagem supracitada da Crtica da razo prtica136, pode-se dizer
que a felicidade, quando presente na vida do homem auxilia na prtica moral. No entanto, a
ausncia de felicidade torna o ser humano mais frgil e vulnervel frente s tentaes e
obstculos. Logo, a passagem mencionada (da Crtica da razo prtica) pode ser interpretada
sob dois pontos de vista: positivamente e negativamente. No primeiro caso, como motivadora;
no segundo, a ausncia de felicidade acaba dificultando a prtica moral.
133
Na traduo espanhola: Las adversidades, el dolor y la pobreza son grandes tentaciones para transgredir el
prprio deber. Por tanto, parece que el bienestar, el vigor, la salud y la prosperidad em general, que contrarrestan
tal influjo, pueden considerarse tambin como fines que son a la vez deberes; es dicir, promover la propia
felicidad y no dirigirse solo a la ajena. Pero em tal caso el fin no es la propia felicidad, sino que lo es la
moralidad del sujeto y apartar los obstculos hacia tal fine es slo el mdio permitido; puesto que nadie tiene
derecho a exigirme que sacrifique aquellos de mis fines que no son imorales. Buscar para s mismo bienestar no
es directamente un deber, pero bien puede serlo indirectamente, es dicer, defenderse de la pobreza como de uma
gran tentacin para los vicios. Ahora bien, en tal caso lo que constituye mi fin y a la vez mi deber no es mi
felicidad, sino mantener la integridad de mi moralidad (MC, 388, p. 240).
134
Com efeito, todos sabem perfeitamente e admitem a felicidade como um fim natural para o ser humano.
Existe, no entanto, um dever secundrio (ou indireto) de promov-la. Neste caso, pode ser dito, sem restrio,
que no basta apenas tomar a felicidade como um fim; mas necessrio querer esse fim, mesmo que ele j se d
naturalmente (Cf: JOHNSON, Robert N., 2002, p.p. 317-330).
135
Cf: WIKE, Victoria S., 1994, p. 93.
136
Cf: CRPr, A 166-167.
61
A busca da felicidade, ento, pode constituir-se em algo de extrema importncia no que
se refere promoo da moralidade. Kant afirma que ao homem no exigido, ao tratar do
cumprimento do dever, renunciar ao seu fim natural, a felicidade (TP, A 209). Mas, de um
modo geral, deve procurar tornar-se consciente de que nenhum mbil derivado desta fonte se
imiscua imperceptivelmente na determinao do dever (TP, A 210). a partir de sua prpria
faculdade racional que o homem deve orientar-se. Mesmo assim, determinando-se pela razo,
ele jamais deixa de ser afetado pela sensibilidade, que tambm lhe natural. A felicidade
um fim que todo o ser humano almeja. Segundo o dizer de Kant, existe uma inclinao
universal para a felicidade (FMC, BA 12). Todavia, ela jamais pode ser considerada,
enquanto fim, como um dever, sem que se incorra em contradio. A felicidade baseia-se no
amor de si (ou egosmo). Por conseguinte, tambm contraditrio dizer que o homem est
submetido obrigao de promover a sua prpria felicidade com todas as suas foras. Em
primeiro lugar, a obrigao promover a moralidade, e s em seguida me permitido
[segundo Kant] olhar volta em busca da felicidade (TP, A 219). O ideal, nessa perspectiva,
pois, ter plena conscincia da retido moral e sentir-se feliz com isso. Contudo, claro que a
busca da felicidade pessoal (de certo modo egosta) considerada no como um fim em si
mesmo (no sentido estrito). Se a felicidade fosse realmente um fim, o dever, mesmo que
indireto, de providenci-la afetaria a habilidade da vontade137 para se atingir qualquer outra
finalidade.
Nas trs passagens (aqui expostas) nas quais Kant refere-se ao dever indireto de
promover a felicidade prpria, no so utilizados exatamente os mesmos termos para
expressar esse dever. Na Fundamentao, Kant diz que assegurar a nossa prpria felicidade
um dever (FMC, BA 11-12); na Crtica da razo prtica, afirma que pode ser at dever
cuidar de sua felicidade (CRPr, A 166); enquanto na Doutrina da virtude fala que no
diretamente um dever (MC, 388, p. 240). No entendimento de Victoria Wike, as diferentes
formas de linguagem utilizadas podem significar que talvez seja um sinal de que Kant estava
menos inclinado, em anos mais tarde, de chamar a procura pela felicidade pessoal de um
dever138. Segundo ela, essa constatao pode ser responsvel, pelo menos em parte, pela
completa ausncia de comentrios pelos leitores subseqentes de Kant sobre o dever de
perseguir a felicidade pessoal139. Wike ainda levanta uma outra hiptese, a saber, a de que
137
Cf: WIKE, Victoria S., 1994, p.p. 97-98.
It may perhaps be a sign that Kant was less inclined in later years to call the seeking of personal happiness a
duty (WIKE, Victoria S., 1994, p.p. 99).
139
This disinclination may be in part responsible for the almost complete absence of commentary by subsequent
readers of Kant on the duty to pursue personal happiness (WIKE, Victoria S., 1994, p. 99).
138
62
talvez Kant estivesse simplesmente sendo mais cuidadoso e objetivasse evitar uma
interpretao errnea140 a esse respeito. Porm, no existe nenhuma indicao (ou evidncia)
de que Kant tenha mudado de idia alguma vez. O que realmente possvel perceber que os
seres humanos tm a obrigao de buscar a prpria felicidade, desde que ela seja um meio
para a moralidade.
A busca da felicidade prpria tambm no pode ser um dever (direto), uma vez que,
para o cumprimento do dever, exigida a presena da coao para realizar um fim que nem
sempre inspira prazer. No obstante, a felicidade (enquanto um fim natural) pode ser levada a
efeito por todos os seres humanos prazerosamente. Kant exclui o fim da felicidade pessoal
como um dever, mas permite que haja um dever no diretamente obrigado de perseguir essa
felicidade141. Ora, desde que o dever envolve o ser constrangido, no pode haver dever de
buscar a prpria felicidade como um fim (no h obrigao), mas permanece o dever de
perseguir a felicidade como um meio (para o fim da moralidade, em relao ao qual h
obrigao).
Na Doutrina da virtude, Kant tambm trata de outros deveres indiretos que
necessariamente tambm tratam ou reportam-se felicidade pessoal. Contudo, da mesma
forma que o dever indireto de promover a felicidade pessoal, eles servem unicamente como
meios para facilitar a prtica moral. Nesse texto (seguindo essa linha de raciocnio), Kant
parece enfatizar de modo positivo a felicidade para o ser humano. Com efeito, ela ajuda na
realizao do mandamento do dever, na medida em que, de certo modo, remove os obstculos
moralidade. A falta de felicidade, no entanto, pode contribuir para qualquer pessoa se afastar
do cumprimento da lei moral (do dever).
Alm do dever indireto da busca da felicidade pessoal, so expostos outros deveres
indiretos na Doutrina da virtude. Segundo Kant, esses deveres referem-se a objetos no
pessoais ou a objetos certamente pessoais, mas absolutamente invisveis (que no podem ser
expostos aos sentidos externos).
Os primeiros (no humanos) podem ser a simples natureza material, a parte da
natureza organizada para reproduo, mas carente de sensao, ou a parte da
natureza dotada de sensao e arbtrio (os minerais, as plantas, os animais); os
segundos (sobre-humanos), no entanto, podem ser concebidos como seres
espirituais (os anjos, Deus) (MC, 442, p.309)142.
140
Cf: WIKE, Victoria S., 1994, p. 99.
Kant rules out the end of personal happiness as a duty but allows that there is a duty, albeit not direct, to
pursue personal happiness (WIKE, Victoria S., 1994, p. 100).
142
Na traduo espanhola: Los primeros (no humanos), pueden ser la simple naturaleza material, la parte de la
naturaleza organizada para la reproduccon, pero carente de sensacin, o la parte de la naturaleza dotada de
141
63
Na seqncia, Kant questiona se h uma relao entre os seres de ambas as classes e o
homem, e qual seria essa relao143. Segundo ele, no que diz respeito aos seres que esto alm
dos limites da experincia, por exemplo, os anjos e Deus, o homem tem um dever que Kant
chama de dever de religio; isto , o dever de reconhecer todos os deveres como (instar)
mandatos divinos144. Deus, no entendimento de Kant, representa para o ser humano uma idia.
Tal idia produzida atravs da razo humana, seja como propsito terico para se explicar a
finalidade do mundo em sua totalidade, seja tambm para que sirva de mbil conduta
humana145. Por conseguinte, Deus no se constitui como um ser que possa ser provado pela
experincia; porm, representa uma idia que se oferece inevitavelmente razo. Em Deus, a
lei moral encontra a mxima fecundidade. Segundo consta na Doutrina da virtude, nesse
sentido (prtico) pode-se dizer que um dever do homem para si mesmo ter uma religio
(MC, 444, p. 311)146.
Os deveres que os seres humanos tm em relao aos objetos inanimados (a chamada
natureza material), s plantas e aos animais so indiretos. A sua realizao auxilia, de certo
modo, a prtica moral, visto que pode predispor o homem a sensibilizar-se com as
necessidades dos outros, e da humanidade em geral. Em outros termos, tal prtica estar
desenvolvendo no ser racional sensvel uma espcie de sentimento moral, que pode ser
fundamental para o cumprimento do dever.
No que diz respeito natureza, Kant expe o seguinte na Metafsica dos costumes:
a propenso para a simples destruio (spiritus destructionis) se ope ao dever do
homem para consigo mesmo: porque enfraquece ou destri no homem aquele
sentimento que, sem dvida, todavia no moral por si s, mas que predispe ao
menos aquela disposio da sensibilidade que favorece em boa medida a
moralidade, isto , predispe a amar algo tambm sem um propsito de utilidade
(por exemplo, as belas cristalizaes, a indescritvel beleza do reino vegetal) (MC,
443, p. 309)147.
sensacin y arbitrio (los minerales, las plantas, los animales); los segundos (sobrehumanos) pueden concebirse
como seres espirituales (los ngeles, Dios) (MC, 442, p.309).
143
Cf: MC, 442, p.309.
144
Cf: MC, 443, p. 310.
145
Cf: MC, 443-444, p. 311.
146
Na traduo espanhola: Por tanto, en este sentido (prctico) puede dicirse que es un deber del hombre hacia
s mismo tener una religin (MC, 444, p. 311).
147
Na traduo espanhola: Con respecto a lo bello en la naturaleza, aunque inanimado, la propencin a la
simple destruccin (spiritus destructionis) se opone al deber del hombre hacia s mismo: porque debilita o
destruye en el hombre aquel sentimeiento que, sin duda, todavia no es moral por s solo, pero que predispone al
menos a aquella disposicin de la sensibilidad que favorece en buena medida la moralidad, es dicir, predispone a
amar algo tambin sin un propsito de utilidad (por ejemplo, las bellas cristalizaciones, la indescriptible belleza
del reino vegetal) (MC, 443, p. 309).
64
Pode-se perceber, pois, a posio kantiana referente destruio ou aniquilao das coisas; e
os deveres com relao s mesmas (mesmo indiretamente) dizem respeito ao humano para
consigo mesmo, isto , prpria humanidade.
Kant manifesta explicitamente a sua reprovao em relao aos maus tratos para com os
animais. Segundo ele:
o trato violento e cruel aos animais se ope muito mais intimamente ao dever do
homem para si mesmo, porque com ele se embota no homem a compaixo por seu
sofrimento, enfraquecendo-se assim e destruindo-se paulatinamente uma
predisposio natural muito til para a moralidade em relao para com os demais
homens (MC, 443, p. 310)148.
Ainda com respeito aos animais, de acordo com Kant, pode-se dizer que os seres
humanos tm o direito de tirar-lhes a vida, porm, de maneira rpida sem causar-lhes muito
sofrimento. Cabe ao homem tambm o direito de utiliz-los para o trabalho desde que, para
isso, os seus limites sejam respeitados. Kant considera abominvel os procedimentos
utilizados nos experimentos fsicos, acompanhados de tortura que tm por fim unicamente a
especulao, quando esse fim poderia alcanar-se tambm sem eles (MC, 443, p. 310)149. Ele
ainda observa um outro aspecto, referente aos animais, que diz respeito a uma espcie de
gratido (um sentimento). Segundo suas prprias palavras:
a gratido pelo longo tempo de servios prestados por um velho cavalo ou por um
cachorro (como se fossem membros da casa) constitui parte indiretamente do dever
do homem, isto , do dever com respeito a estes animais, mas se o consideramos
diretamente, s um dever do homem para si mesmo (MC, 443, p. 310)150.
Segue-se, que o dever do homem para com os animais realmente pode ser interpretado
como um meio para a prtica moral (da mesma forma que o dever indireto de promover a
felicidade pessoal). Essa prtica representa, em certo sentido, um exerccio do cumprimento
das leis do dever. Mais adiante, na Doutrina da Virtude, Kant fala do dever indireto de
cultivar-se os sentimentos compassivos naturais (estticos) e utiliz-los como tantos outros
meios para a participao que nasce de princpios morais e do sentimento correspondente
148
Na traduo espanhola: el trato violento y cruel a los animales se opone mucho ms ntimamente al deber del
hombre hacia s mismo, porque con ello se embota en el hombre la compasin por su sufrimiento, debilitndose
as y destruyndose paulatinamente una predisposicin natural muy til a la moralidad en la relacin con los
dems hombres (MC, 443, p. 310).
149
Na traduo espanhola: son por el contrario, abominables los experimentos fsicos acompaados de torturas,
que tienen por fin nicamente la especulacin, quando el fin pudiera alcanzarse tambin sin ellos (MC, 443, p.
310).
150
Na traduo espanhola: Incluso la gratitud por los servicios largo tiempo prestados por un viejo cballo o por
un perro (como si fueran miembros de la casa) forma parte indirectamente del deber del hombre, es decir, del
deber con respecto a estos animales, pero si lo consideramos directamente, es solo un deber del hombre hacia s
mismo (MC, 443, p. 310).
65
(MC, 457, p. 329)151. Na seqncia, Kant exemplifica dizendo que um dever no evitar
lugares nos quais se encontram pessoas pobres; da mesma forma, no se deve deixar de visitar
hospitais e crceres, pois nesses lugares possvel encontrar seres humanos necessitados152.
A partir dos deveres indiretos, em relao natureza, o homem pode exercitar (em nvel
de aprendizado) a prtica moral. No importa se o dever indireto refere-se busca da
felicidade pessoal, ou se corresponde a qualquer outro objeto ou sentimento. Atravs dos
deveres indiretos, as pessoas podem, com mais facilidade, cumprir o mandamento da lei
moral. A prtica desses deveres, em certa medida, prepara o ser racional sensvel para o
exerccio de sua liberdade. No obstante, o dever indireto de buscar a felicidade pessoal no
tem o mesmo resultado pedaggico que os demais deveres indiretos. Posto que, no pela
posse da felicidade que os seres humanos aprendem, por analogia, quais so os verdadeiros
deveres morais. O dever indireto de buscar a felicidade pessoal, como um meio para a
moralidade, pode ser entendido mais fortemente no sentido de que a falta de felicidade pode
ser um empecilho para a prtica moral e no o contrrio.
4.3 Aspectos positivos da felicidade enquanto satisfao emprica
Na Fundamentao da metafsica dos costumes e no livro da Analtica da Crtica da
razo prtica, ao se referir felicidade, Kant salienta mais os seus aspectos negativos do que,
propriamente, os positivos153. Ali ele reporta-se ao nvel fundamental da moral154, ou seja,
busca e fixao do princpio supremo da moralidade155, em dependncia do qual, tudo o que
for proveniente do emprico deve ser extirpado, inclusive a felicidade, que considerada uma
inclinao universal. O ser humano, com efeito, mesmo determinando-se pela razo, jamais
deixa de ser afetado pelas inclinaes e necessidades da sensibilidade.
O dever (indireto) de buscar a felicidade se justifica na medida em que a sua presena
facilita ou auxilia no cumprimento do dever moral156. Na Fundamentao, Kant enfatiza
151
Na traduo espanhola: es un deber indirecto a tal efecto cultivar en nosotros los sentimientos compasivos
naturales (estticos) y utilizarlos como otros tantos mdios para la participacin que nace de principios morales y
del sentimiento correspondiente (MC, 457, p. 329).
152
Cf: MC, 457, p. 329.
153
Segundo Christoph Horn, em todos os escritos kantianos (de filosofia moral), referentes ao perodo crtico, o
conceito de felicidade exerce um papel totalmente negativo. Todavia, no perodo pr-crtico, segundo Horn, Kant
defende uma espcie de postura eudaimonista baseada em uma descrio perfeccionista da vida humana (Cf:
HORN, Christoph, 2006, p.p. 66-67).
154
A moral Kantiana pode ser abordada sob dois aspectos: um diz respeito fundamentao e outro efetivao
da moralidade (a sua possvel realizabilidade).
155
Cf: FMC, BA XV.
156
Conforme foi exposto na seo anterior.
66
alguns aspectos positivos a esse respeito. Mas a felicidade nunca pode estar completamente
desassociada da razo, ou seja, ela deve estar sempre condicionada a uma boa vontade. S a
conduta racionalmente fundada compatvel com a dignidade humana157. Segundo Kant,
uma pessoa a quem no adorna nenhum trao duma pura e boa vontade, nunca poder sentir
satisfao, e assim a boa vontade parece constituir a condio indispensvel do prprio fato de
sermos dignos da felicidade (FMC, BA 2). Aqui, ao que parece, Kant j est pensando ou
dando indcios da possvel realizao da moralidade.
A felicidade, com efeito, est baseada na experincia particular de cada um. Por
conseguinte, ela inapta para a moral (enquanto princpio fundamental). Mas Kant de
maneira alguma afirma que se deva negar ou renunciar a felicidade prpria, e nem teria como
(j que isso no seria possvel). Na Crtica da razo prtica, complementando o que est
implcito na Fundamentao, ele diz o seguinte:
Mas essa distino do princpio da felicidade e do princpio da moralidade nem por
isso imediata oposio entre ambos, e a razo prtica pura no quer que se
abandonem as reivindicaes de felicidade mas somente que, to logo se trate do
dever, ela no seja de modo algum tomada em considerao (CRPr, A 166)158.
A questo da felicidade apresenta-se como um problema relevante no contexto da
filosofia prtica kantiana; posto que no domnio moral que Kant confia a possibilidade
humana de, legitimamente, realizar o sumo bem159, e de, sobretudo, qualificar a razo
humana: o nico caminho pelo qual os homens so capazes de promover individual e
universalmente a sua humanidade.
No que diz respeito questo da felicidade, Paul Guyer acrescenta que se esse princpio
fosse somente uma ameaa (de mal) filosofia moral, no uma caracterstica no eliminvel
da natureza humana, a teoria do sumo bem no seria uma parte necessria do sistema moral
kantiano. Alm disso, segundo Guyer, mesmo no explicitando, na Fundamentao, Kant j
d bons indcios sobre a teoria do sumo bem (a realizao da moralidade)160. De qualquer
forma, portanto, a felicidade sempre deve estar condicionada moral.
Com efeito, pois, para que a felicidade se concretize efetivamente, ela deve estar em
consonncia com a razo, sem que haja dvidas quanto ao princpio determinante das aes.
157
ANDRADE, Regis Castro de, 2000, p. 53.
Ver tambm TP, A 209-210.
159
O sumo bem, no qual a felicidade constitui-se como segundo elemento, na condio de merecimento de ser
feliz, ser tratado no prximo captulo.
160
Cf: GUYER, Paul, 2000, p. 213.
158
67
O ideal, pois, seria agir moralmente e ser feliz a partir de tal agir161, visto que felicidade e
moralidade so conceitos apenas distintos, portanto paralelos. Kant jamais afirmou que o
homem deveria renunciar felicidade em nome da moral, afinal, uma no exclui a outra162.
Para ele, o homem simplesmente deve estar certo de que no age contra o dever163. Alis, para
Kant, a partir da natureza racional que deve dar-se o bem-estar da natureza emprica, de
modo tal que a racionalidade deva prevalecer sempre sobre a sensibilidade.
Kant, com certeza, mais critica do que defende a felicidade enquanto satisfao emprica
(em dadas circunstncias). A busca incessante por felicidade geralmente instiga o homem
transgresso do mandamento do dever. A tica kantiana, contudo, no consiste na escolha
entre ser feliz ou ser moral, pela simples razo de que a moralidade no contrria
felicidade. Kant apenas esclarece que, se houver necessidade de escolha, deve prevalecer o
dever moral, uma vez que o agir por dever pode coincidir com a infelicidade, sem nenhum
problema (aparente) para a fundamentao da moral. Por outro lado, se para agir moralmente
se fizesse necessrio renunciar felicidade, por suposto, quase ningum agiria moralmente. O
homem no tem como fugir de suas necessidades e inclinaes sensveis (de sua
sensibilidade) e a felicidade, por sua vez, exerce uma funo importante no sistema moral
kantiano, mesmo que proveniente da ordem emprica164.
161
A felicidade no seria, nesse caso, o fundamento ou a justificativa da ao (a ao teria valor moral por si
mesma).
162
A ao moral e a ao que proporciona felicidade no so opostas. Diante disso, no possvel colocar esse
par no mesmo nvel de outros, tais como os conceitos de bem e mal, justo e injusto, dentre outros.
163
Cf: TP, A 219.
164
A felicidade um complemento importante para a efetivao ou realizao da moralidade, dada a situao do
humano enquanto ser finito e sensvel.
68
CAPTULO III
O CONCEITO DE FELICIDADE E A REALIZAO DA
MORALIDADE
1 Os conceitos inapropriados de agradvel e de felicidade
1.1 O conceito de agradvel
Na Analtica da Crtica da razo prtica, a felicidade (Glckseligkeit) definida
como sendo a conscincia que um ente racional tem do agrado da vida e que acompanha
ininterruptamente toda a sua existncia (CRPr, A 40). Logo, a busca pela felicidade, para o
humano, algo constante e acompanha toda a sua existncia sensvel (finita). A felicidade,
contudo, est baseada no princpio do amor de si, que, para Kant, constitui-se como o
princpio condenvel no que se refere determinao do arbtrio na ao moral. Ao permitir
que tal princpio determine as mximas, o homem, estaria justificando o seu agir unicamente a
partir da empiria165. Pois,
todos os princpios materiais, que pem o fundamento determinante do arbtrio no
prazer ou desprazer a ser sensorialmente sentido a partir da efetividade de qualquer
objeto, so totalmente da mesma espcie, na medida em que pertencem no seu
conjunto ao princpio do amor de si ou da felicidade prpria (CRPr, A 40-41).
Seguindo a mesma linha de raciocnio, no Terceiro captulo da Analtica, Kant
estabelece a distino entre amor-prprio e presuno. Segundo ele:
Todas as inclinaes em conjunto (que certamente podem ser tambm
compreendidas em um razovel sistema e cuja satisfao chama-se ento felicidade
prpria) constituem o solipsismo <Selbstsucht> (solipsismus). Este consiste ou no
solipsismo do amor de si, como uma benevolncia para consigo mesmo sobre
todas as coisas (philautia), ou no solipsismo da complacncia em si mesmo
(arrogantia). Aquele se chama especificamente amor-prprio e este, presuno
(CRPr, A 129).
Para Kant, nem o amor de si (Selbstliebe) nem o amor-prprio (Eigenliebe) so
elogiveis, nem tampouco a presuno (Eigendnkel).
165
O valor da vida seria completamente destrudo se ela fosse descrita nos termos da felicidade, interpretada
como a satisfao dos desejos unicamente (Cf: HORN, Christoph, 2006, 69).
69
A razo prtica pura [no dizer de Kant] apenas causa dano ao amor-prprio na
medida em que ela o limita enquanto natural e ativo em ns ainda antes da lei
moral apenas condio da concordncia com esta lei, em cujo caso ento ele
denomina-se amor de si racional. Mas ela com certeza abate a presuno, na
medida em que todas as exigncias de auto-estima que precedem a concordncia
com a lei moral so nulas e totalmente ilegtimas, na medida precisamente em que a
certeza de uma disposio que concorda com essa lei a primeira condio de todo
o valor da pessoa (...), e toda a importncia ante a mesma falsa e contrria lei
(CRPr, A 129-130).
Nesse estgio da argumentao, pode-se dizer, pois, que a nica alternativa elencada, ou
condio de harmonizar a lei moral com o amor de si, subjetivo a cada homem, o amor de si
racional166. Segundo Valerio Rohden, na Metafsica dos costumes que essa questo
(distino) melhor desenvolvida167. Na Doutrina da virtude, segundo a afirmao de Kant:
Chamamos modstia a moderao nas pretenses em geral, isto , para a restrio
voluntria do amor a si mesmo que faz um homem ao ter em conta o amor a si
mesmo alheio, a falta desta moderao (imodstia) no que se refere exigncia de
ser amado por outros se chama amor-prprio (philautia). Mas a falta de modstia
na exigncia de ser respeitado por outros a arrogncia (arrogantia). Portanto, o
respeito que tenho por outros ou que outro pode exigir-me (observantia allis
praestanda) o reconhecimento de uma dignidade (dignitas) em outros homens,
isto , o reconhecimento de um valor que carece de preo, de equivalente, por o que
o objeto valorado (aestimii) pudesse intercambiar-se. - Depreciar consiste em julgar
que uma coisa carece de valor (MC, 462, p.p. 334-335)168.
Com efeito, o amor de si racional diz respeito diretamente humanidade presente em
todo o ser racional sensvel, ou seja, um homem no pode simplesmente servir de meio para
outro, e nem mesmo para si prprio. No dizer do prprio Kant,
de igual modo ele no pode auto alienar-se por nenhum preo (o qual se oporia ao
dever da auto-estima), tampouco pode agir contra a auto-estima dos demais como
homens, que igualmente necessria (MC, 462, p.p. 335-336)169.
Segundo o comentrio de Jos N. Heck, na Crtica da razo prtica, o designativo amor-prprio racional
(vernnftige Selbstiebe) fica reservado ao amor de si reverente lei moral, enquanto a presuno, como
complacncia consigo prprio, veementemente rechaada pela razo pura prtica. O texto A religio pondera,
em contrapartida, a existncia de um amor racional por si mesmo (Vernunftliebe seiner selbst), bem como de um
amor-prprio moral (moralische Selbstliebe) enquanto complacncia incondicionada, ou seja, Kant registra aqui,
com indisfarvel apreo, a auto-satisfao que o sentimento de respeito pela lei moral traz ao homem (HECK,
Jos, 2000, p.143).
167
Valerio Rohden afirma que, particularmente, a distino entre amor de si (Selbstliebe) e amor-prprio
(Eigenliebe) mais clara na Metafsica dos costumes (Cf: CRPr, A 129, nota do tradutor).
168
Na traduo espanhola: Llamamos modestia a la moderacin en las pretensiones en general, es decir, a la
restriccin voluntaria del amor a s mismo que hace un hombre al tener em cuenta el amor a s mismo ajeno, la
falta de esta moderacin (inmodestia) en lo que se refiere a la exigencia de ser amado por otros se llama amor
prprio (philautia). Pero la falta de modestia en la exigencia de ser respetado por otros es la arrogancia
(arrogantia). Por tanto, el respeto que tengo por otros o que outro puede exigirme (observantia allis praestanda)
es el reconocimiento de una dignidad (dignitas) en otros hombres, es decir, el reconocimiento de un valor que
carece de precio, de equivalente, por el que el objeto valorado (aestimii) pudiera intercambiarse. Despreciar
consiste en juzgar que una cosa carece de valor (MC, 462, p.p. 334-335).
169
Na traduo espanhola: As pues, de igual modo que l no puede autoenajenarse por ningn precio (lo cual
se opondra al deber de la autoestima), tampoco puede abrar en contra de la autoestima de los dems como
hombres, que es igualmente necesaria (MC, 462, p.p. 335-336).
166
70
Por conseguinte, necessrio o respeito para que o ser humano reconhea e desenvolva a
dignidade da humanidade.
Os conceitos de felicidade e agradvel esto diretamente relacionados. No obstante,
na Crtica da faculdade do juzo, na Analtica do belo, que Kant estabelece a distino
precisa entre os conceitos agradvel, bom e belo. Agradvel o que apraz aos sentidos na
sensao (CJ, B 7). A sensao pode ser entendida em dois sentidos distintos:
Se uma determinao do sentimento de prazer ou desprazer denominada sensao,
ento essa expresso significa algo totalmente diverso do que se denomino a
representao de uma coisa (pelos sentidos, como uma receptividade pertencente
faculdade do conhecimento), sensao. Pois, no ltimo caso, a representao
referida ao objeto; no primeiro, porm, meramente ao sujeito, e no serve
absolutamente para nenhum conhecimento, tampouco para aquele pelo qual o
prprio sujeito se conhece (CJ, B 8-9).
Ainda, no que prossegue, na Crtica da faculdade do juzo, possvel perceber que as
sensaes podem apresentar-se de dois modos, a saber, subjetiva ou objetiva. Kant acrescenta
o seguinte a esse respeito:
Na definio dada, entendemos contudo pela palavra sensao uma representao
objetiva dos sentidos; e, para no corrermos sempre perigo de ser falsamente
interpretados, queremos chamar aquilo que sempre tem de permanecer
simplesmente subjetivo, e que absolutamente no pode constituir nenhuma
representao de um objeto, pelo nome, alis, usual de sentimento (CJ, B 9).
Para melhor esclarecimento, na seqncia Kant cita o exemplo referente cor verde dos
prados. Conforme o exposto:
A cor verde dos prados pertence sensao objetiva, como percepo de um objeto
do sentido; o seu agrado, porm, pertencente sensao subjetiva, pela qual
nenhum objeto representado: isto , ao sentimento pelo qual o objeto
<Gegenstand> considerado como objeto <Objekt> da complacncia (a qual no
nenhum conhecimento do mesmo) (CJ, B 9).
No obstante, toda a complacncia diz respeito sensao, ou melhor, a uma sensao
prazerosa. Nesse caso, tudo o que apraz pode ser considerado agradvel. Contudo, no dizer de
Kant, se isso
for concedido, ento impresses dos sentidos, que determinam a inclinao, ou
princpios da razo, que determinam a vontade, ou simples formas refletidas da
intuio, que determinam a faculdade do juzo, so, no que concerne ao efeito sobre
o sentimento de prazer, inteiramente a mesma coisa (CJ, B 8).
71
Ora, se a sensao tivesse esse sentido apenas, como seu efeito, o homem no poderia esperar
outra coisa, que no o deleite170.
Todo o juzo que diz respeito ao conceito de agradvel, de alguma forma, expressa uma
espcie de interesse sobre determinado objeto declarado agradvel. Por isso, do agradvel
no se diz apenas: ele apraz, mas: ele deleita <vergngt> (CJ, B 9-10). No entanto, para
considerar algo bom preciso sempre saber que tipo de objeto se est considerando, ou seja,
necessrio conhec-lo realmente. Logo, faz-se necessrio, pelo menos, ter um conceito do
mesmo (CJ, B 10). Em contrapartida, no que diz respeito ao belo, no preciso ter conceito
algum do objeto para se encontrar beleza. O bom, portanto, o que apraz mediante a razo
pelo simples conceito. Nas palavras de Kant:
Denominamos bom para (o til) algo que apraz somente como meio; outra coisa,
porm, que apraz por si mesma denominamos bom em si. Em ambos est contido o
conceito de um fim, portanto a relao da razo ao (pelo menos possvel) querer,
conseqentemente uma complacncia na existncia de um objeto ou de uma ao,
isto , um interesse qualquer (CJ, B 10).
Nos dois casos, com efeito, a palavra bom se reporta a um fim e, em conseqncia disso,
sempre comporta um determinado interesse.
Sendo assim, pois, em determinadas circunstncias, pode-se dizer que bom e agradvel
designam a mesma coisa (podem coincidir). Posto que, comumente todo o deleite
(nomeadamente o mais duradouro) em si mesmo bom; o que aproximadamente significa que
ser duradouramente agradvel ou bom o mesmo (CJ, B 11). Todavia, isso no significa
nada mais do que uma confuso errnea de palavras, j que os conceitos que propriamente
so atribudos a estas expresses de nenhum modo podem ser intercambiados (CJ, B 11). O
conceito de agradvel diz respeito aos sentidos. O bom, por sua vez, primeiro precisa ser
submetido ao conceito de fim, a princpios da razo, como objeto da vontade (CJ, B 11).
Da mesma forma que o belo, o agradvel apraz imediatamente. No que se refere ao bom,
no possvel fazer o mesmo tipo de afirmao. Visto que, em relao a ele, sempre se
pergunta se s mediatamente-bom ou imediatmente-bom (se til ou bom em si) (CJ, B
11). Para Kant, a distino entre bom e agradvel pode ser notada nas coisas mais comuns.
Por exemplo:
De um prato que reala o gosto mediante temperos e outros ingredientes, diz-se
sem hesitar que agradvel e confessa-se ao mesmo tempo que no bom; porque
ele, na verdade, agrada imediatamente aos sentidos, mas mediatamente, isto , pela
razo que olha para as conseqncias, ele desagrada (CJ, B 12).
170
Cf: CJ, B 8.
72
Ainda na Analtica do belo ( 4), se referindo ao conceito de agradvel, Kant retorna
definio da felicidade (enquanto satisfao emprica). Com vistas felicidade, finalmente,
qualquer um cr contudo poder chamar a soma mxima (tanto pela quantidade como pela
durao) dos agrados da vida um verdadeiro bem, at mesmo o bem supremo (CJ, B 12).
Todavia, em seguida esclarece que racionalmente isso no pode ser verdico. A razo jamais
se deixar persuadir de que tenha em si um valor a existncia de um homem que vive
simplesmente para gozar (e seja at muito diligente a este propsito) (CJ, B 13). Para Kant,
o que realmente d valor para o ser humano o que este realiza livremente171. Alis, isso pode
ser constatado a partir de suas prprias palavras:
Somente atravs do que o homem faz sem considerao do gozo, em inteira
liberdade e independentemente do que a natureza tambm passivamente poderia
proporcionar-lhe, d ele um valor absoluto sua existncia <Dasein> enquanto
existncia <Existenz> de uma pessoa; e a felicidade, com a inteira plenitude de sua
amenidade, no de longe um bem incondicionado (CJ, B 13).
Pode-se dizer, mesmo assim, que o bom e o agradvel so dois termos que esto sempre
ligados, apesar das diferenas. Tanto o agradvel quanto o til, assim como o absolutamente
bom, em todos os sentidos (o bem moral), que comporta o mximo interesse, relacionam-se
de algum modo172.
Na terceira Crtica, Kant compara os trs tipos de complacncia, ao mesmo tempo
enfatiza que tanto o agradvel quanto o bom referem-se tambm faculdade de apetio;
ademais, o tipo de complacncia que comportam, requer, de algum modo, a existncia de
determinado objeto. O juzo do gosto difere pelo fato de que ele meramente contemplativo;
isto , um juzo que, indiferente em relao existncia de um objeto, s considera sua
natureza em comparao com o sentimento de prazer e desprazer (CJ, B 14). Segue-se, que
do agradvel, do bom e do belo resultam trs diferentes formas de representao, relativas aos
sentimentos de prazer e desprazer. O agradvel proporciona deleite; o belo apenas apraz; e, o
bom se reporta ao ser estimado, aprovado ou quilo que possui valor moral.
Entre os tipos de complacncia supracitados, o mais condizente com a felicidade o do
agradvel. O ser humano, na busca de sua felicidade, enquanto ser emprico (sensvel e
171
Todo o ser humano, antropologicamente analisado, considerado um ser capaz de agir livremente. Allen W.
Wood, no seu artigo referente Antropologia prtica (um estudo do homem enquanto ser emprico que pode
possuir liberdade), resguarda essa idia. Segundo ele, a partir da Fundamentao da metafsica dos costumes,
pode ser constatado que a Antropologia prtica est inserida na tica. Kantian practical anthropology is
intended to be an empirical study based on a naturalistic understanding of human beings as living organisms that
are also capable of freedom (WOOD, Allen W., 2001, p. 461).
172
Cf: CJ: B 13-14.
73
finito), no carece necessariamente conhecer a procedncia do objeto que lhe agrada. No caso,
s importa o quanto ele proporciona deleite173. Alm disso, segundo consta na Crtica da
razo prtica:
as representaes dos objetos sejam heterogneas, quer elas sejam representaes
do entendimento e mesmo da razo em oposio s representaes dos sentidos,
apesar disso o sentimento de prazer, pelo qual nica e propriamente aquelas
constituem o fundamento determinante da vontade (o agrado, o deleite que disso se
espera e impele atividade para a produo do objeto), no somente da mesma
espcie, na medida em que sempre s pode ser conhecido empiricamente, mas
tambm na medida em que ele afeta uma e idntica fora vital que se exterioriza na
faculdade de apetio, e sob este aspecto no pode ser diferente, seno em grau
(CRPr, A 42).
De acordo com Kant, os modos de representaes so diferentes no que diz respeito
satisfao emprica. A determinao da vontade justifica-se unicamente no sentimento de
agrado ou desagrado esperado. No entanto, o ser humano pode considerar a intensidade, a
durao e a facilidade na obteno ou no de determinado prazer. Ao ser humano, alm disso,
o prazer pode ser proporcionado de diversos modos, a saber, pelo uso da prpria fora,
facilidade em transpor problemas, assim como pela prpria cultura dos talentos do esprito174.
Os prazeres obtidos a partir desse ltimo modo, Kant os denomina:
satisfaes ou regozijos mais finos, porque esto mais em nosso poder que outros,
no se desgastam, antes, fortalecem o sentimento para um gozo ainda maior dos
mesmos e, enquanto regozijam, ao mesmo tempo cultivam (CRPr, A 43).
Ora, na tentativa de satisfazer todas as espcies de prazeres que se traduz a incessante busca
pela felicidade, ao passo que ser feliz necessariamente a aspirao de todo o ser racional
sensvel175.
Kant, no conjunto de sua filosofia prtica, deixa claro que cada ser humano necessita
suprir suas carncias e sentir-se contente (Zufriedenheit). Entretanto, salienta que o princpio
da felicidade (baseado no sentimento de prazer ou desprazer) sempre emprico, conhecido
apenas pelo sujeito da ao. Por esse motivo, necessariamente, jamais tal princpio poderia
conter em todos os casos e para todos os entes racionais, exatamente o mesmo fundamento
determinante da vontade (CRPr, A 45).
173
Cf: CRPr, A 41.
Cf: CRPr, A 43.
175
Cf: CRPr, A 45.
174
74
1.2 O conceito de felicidade na Analtica da Crtica razo prtica
A argumentao empregada, por Kant, na Analtica da razo prtica pura a mesma
utilizada na Fundamentao da metafsica dos costumes, visto que nesses dois textos, o que
ele busca, especificamente, estabelecer as bases (ou fundamentos) com relao ao princpio
da moralidade. Alm disso, nesses escritos que Kant estabelece, de maneira mais ntida, a
distino entre leis morais, as quais comandam absolutamente, e leis pragmticas ou regras
de prudncia, as quais ditam o que necessrio para alcanar a felicidade176. O conceito de
felicidade, pois, coloca-se praticamente em meio aos objetos que se referem faculdade de
desejar. Contudo, esse conceito apenas representa, para o homem, o ttulo geral dos
fundamentos determinantes subjetivos e no determina nada especificamente (CRPr, A 46).
A busca por felicidade universal, mas as mximas que a fundamentam so estabelecidas a
partir da empiria (princpios subjetivos apenas). Segundo Kant:
aquilo em que cada um costuma colocar sua felicidade tem a ver com o seu
sentimento particular de prazer e desprazer e, at num mesmo sujeito, com a
carncia diversa de mudanas desse sentimento; e portanto uma lei subjetivamente
necessria (enquanto lei natural) objetivamente um princpio prtico muito
contingente, que em sujeitos diversos pode e tem e tem que variar muito (CRPr, A
46).
O princpio da felicidade jamais poderia tornar-se uma lei (ou mesmo fornecer uma lei)
vlida para todos, posto que seu fundamento simplesmente a matria da faculdade de
desejar, baseada unicamente nos sentimentos subjetivos de prazer e desprazer de cada
indivduo. A felicidade, pois, diz respeito ao princpio do amor de si, e este, na verdade, pode
conter
regras gerais de habilidade (de encontrar meios para objetivos), mas em tal caso so
meros princpios tericos (por exemplo, de como aquele que gosta de comer po
tem que inventar um moinho) (CRPr, A 46-47).
Com referncia aos princpios tericos, Kant faz uma breve afirmao na Crtica da
razo prtica. Segundo a colocao kantiana, eles so proposies que podem ser utilizadas
tanto na matemtica quanto na cincia natural. Eles so denominados proposies prticas,
mas na verdade deveriam propriamente chamar-se tcnicas (CRPr, A 46, nota). Tais
cincias (matemtica e cincia natural) no dizem respeito vontade, mas simplesmente ao
At the heart of this position is the distinction, familiar to all students of the Groundwork and the Critique of
Practical Reason, between moral laws, which command absolutely, and pragmatic laws or rules of prudence,
which dictate what is necessary in order to achieve Happiness (ALLISON, Henry E., 1990, p.66).
176
75
mltiplo das aes possveis177. As proposies utilizadas por essas cincias apenas exprimem
uma conexo de causa e efeito. Para Kant, quem busca o efeito tem que aceitar a causa, ou
seja, se algum deseja o ltimo tem que admitir a primeira (CRPr, A 46, nota).
Mesmo supondo que os seres humanos procedam de modo igual, ao pensarem os
objetos aprazveis, ou, de como afastar-se da dor e entrar em um estado prazeroso, o princpio
do amor de si no poderia, mesmo assim, ser considerado lei prtica. Ele subjetivo, baseado
em necessidades fsicas, cuja ao pode ser imposta simplesmente a partir das necessidades
particulares de cada um. No que diz respeito lei da moralidade, Kant, por sua vez, no o faz
e no pode oferecer um modo singular (nico) da ao humana que possa servir tanto para a
explanao emprica da ao, quanto para conduzir o indivduo escolha correta178. A
frmula da lei universal no nos ensina quais so nossos deveres179, uma vez que, no , de
forma alguma, incoerente dizer que o imperativo categrico pode ser unicamente prescrito,
mas no pode ser descrito180.
Os princpios prticos subjetivos somente podem ser interpretados como mximas, mas,
jamais como leis prticas181. O desejo por felicidade pode ser universal, contudo, a vontade de
todos que a desejam no possui necessariamente o mesmo objeto182. No obstante, se os
objetos de prazer pudessem ser universais, nenhuma forma de harmonia poderia ser garantida.
Para Kant, provavelmente isso seria a causa de muitos conflitos183. Portanto, mesmo que
houvesse sentimentos de prazer universalizveis, o princpio da felicidade prpria seria inapto
para justificar o agir (moral). Alm disso, ningum sabe e pode afirmar, com exatido, o que
realmente o far feliz no futuro.
O princpio da busca da felicidade, como princpio universal, assim como o prprio
dever indireto de foment-la deve estar condicionado razo.
Pois uma <razo> pura, em si razo prtica, aqui imediatamente legislativa. A
vontade pensada como independente de condies empricas, por conseguinte
como vontade pura, determinada pela simples forma da lei, e este fundamento
determinante considerado a condio suprema de todas as mximas (CRPr, A 55).
177
Cf: CRPr, A 46, nota.
Cf: ONEILL, Onora, 1989, p. 70.
179
La formule de la loi universelle ne nous enseigne pas quels sont nos devoirs (LABERGE, Pierre, 1975, p.
278).
180
Cf: LABERGE, Pierre, 1975, p. 289.
181
Cf: CRPr, A 48.
182
Cf: CRPr, A 50.
183
Para exemplificar esse fato, na Analtica, Kant cita o exemplo do rei Francisco I e do imperador Carlos V,
com relao Milo (cidade que objeto de desejo por parte de ambos) (Cf: CRPr, A 50).
178
76
Pode-se dizer que, para Kant, o princpio oposto ao da moralidade exatamente o
princpio da felicidade prpria, na medida em que tomado como determinante da vontade. A
liberdade prtica, com efeito, pode ser interpretada em dois sentidos, a saber, positiva e
negativamente. O primeiro diz respeito independncia com relao necessidade
patolgica, prpria do humano; o segundo, por sua vez, se refere capacidade de agir de
acordo com a determinao da razo. Segundo Kant: To clara e nitidamente esto separados
os limites da moralidade e do amor de si, que mesmo o olho mais comum no pode deixar de
distinguir se algo pertence a um ou a outro (CRPr, A 63).
Segue-se, que o princpio da felicidade pode fornecer regras gerais, mas no universais
(ou leis), isto , regras que na maior parte das vezes so corretas (por proporcionarem bons
fins), mas nem sempre e necessariamente tm uma validade objetiva184. A mxima do amor
de si (ou da felicidade) apenas diz respeito a conselhos geralmente vlidos. A lei da
moralidade, no entanto, um mandamento vlido universalmente, para todos que possuam
razo e vontade (ela objetivamente necessria)185. No que se refere aos princpios do agir,
nas Reflexes sobre filosofia moral, Kant afirma que a habilidade apenas comporta regras, a
prudncia, mximas, porm, s a moralidade pode realmente comportar leis186.
Segundo a explanao de Kant na Analtica da segunda Critica, de modo semelhante
da Fundamentao, satisfazer o preceito da felicidade algo muito difcil e no depende
somente do indivduo e da ao, mesmo que seja apenas um propsito (Absicht). Alm da
mxima subjetiva, importam tambm as foras e a faculdade fsica de tornar efetivo um
objeto apetecido (CRPr, A 65). Conseqentemente, de nada adiantaria um mandamento
segundo o qual cada um devesse fazer-se feliz; mesmo porque naturalmente todos buscam a
felicidade, sem que seja necessrio, para isso, constrangimento algum. No entanto, mesmo
buscando ser feliz (o que inteiramente plausvel), quando as necessidades e inclinaes so
contrrias ao mandamento do dever, faz-se necessrio um constranger-se, ou seja, um autoconstrangimento para que a moralidade prevalea.
A liberdade para o homem, pois, se traduz verdadeiramente no fato de ele ser obrigado
por leis que ele mesmo se auto-impe (auto-constrangimento) a partir de mximas de sua
prpria vontade (ou mximas morais), independentemente da sensibilidade (isto , leis
naturais). exatamente neste auto-constrangimento e em sua inevitabilidade, que se apresenta
a autonomia da vontade, ou seja, o homem como um ser realmente livre.
184
Cf: CRPr, A 63.
Cf: CRPr, 63; ver tambm FMC, BA 47.
186
La habilidad comporta reglas, la prudencia mximas, la moralidad leyes (R, 6925, p.79).
185
77
A lei moral, pois, em primeira instncia gera no homem um efeito negativo, na medida
em que contraria as inclinaes humanas. Contradizer as inclinaes atacar de frente o
egosmo, a busca natural da felicidade pessoal, que Kant especifica como amor a si ou amorprprio e a presuno. O primeiro diz respeito indulgncia excessiva para consigo mesmo; a
segunda, se refere ao o fato de estar demasiado contente consigo mesmo (arrogantia)187. A lei
moral atinge o amor de si de maneira arrebatadora, uma vez que a razo prtica pura no tem
por finalidade a felicidade pessoal. Para tal empreendimento, o mero instinto natural bastaria.
A finalidade que a razo prtica pura tem em mira a instaurao de uma ordem (fundada)
para alm da natureza emprica ou finita (sensvel)188.
A felicidade, com efeito, jamais poderia servir como motivo da ao, mesmo que ela
possa ser esperada enquanto satisfao (de qualquer ato moral). Em Kant, o fim pode dirigir a
ao particular, sem que seja o motivo da mesma. Nada impede, pois, que a felicidade seja
obtida a partir da ao moral189, desde que no seja o seu fundamento. A ao moral deve
ocorrer unicamente por dever, seja qual for o seu fim, desde que ele seja bom ou tenha um
bom propsito190, e que para sua realizao seja levado em conta o bem universal191. Este
ltimo se reporta edificao da prpria humanidade, cuja realizao, por analogia, vai
depender da suposio ou postulao da existncia de um ser racional superior.
2 A felicidade no livro da Dialtica e a Antinomia da razo prtica
2.1 O autocontentamento moral
O cumprimento da lei moral o que, segundo Kant, deve tornar o homem digno de ser
feliz. Com efeito, segundo ele, a moral no propriamente doutrina sobre como nos tornamos
187
Cf: CRAMPE-CASNABET, Michle, 1994, p. 77.
Com efeito, com base na experincia negativa, da aniquilao do egosmo e da presuno, que a lei moral
aparece ao homem como o princpio de um sentimento positivo: o respeito. O respeito pela lei moral um
sentimento produzido por um fundamento intelectual, e esse sentimento o nico que conhecemos de modo
inteiramente a priori e de cuja necessidade podemos ter perspicincia (CRPr, A 130). Em ltima instncia, tal
sentimento revela ao homem a sua verdadeira dignidade: de legislador universal.
189
Aqui falamos de fim no sentido de que toda a ao tende, naturalmente, a uma realizao (deve ter um
objetivo), enquanto finalidade. Caso contrrio, ou se fosse de outro modo, a ao no teria sentido algum. A
felicidade pode (e at deve) estar presente como satisfao obtida por tal realizao. Quase nenhum homem
agiria moralmente, se para isso tivesse de passar a vida triste, mas a sua ao no pode ser praticada diretamente
em funo da felicidade (seria uma ao teleolgica). A ao moral, portanto, deve eliminar, de sua
determinao (juntamente com o seu fim) toda e qualquer causa externa; isso seria heteronomia da razo, na qual
est includo (enquanto princpio) o conceito de felicidade.
190
Do contrrio, a ao j estaria excluda ou no teria nenhum valor moral.
191
A realizao da idia sempre limitada e defeituosa (CRP, B 385). Ento, ao homem (a razo), se faz
necessrio o estabelecimento de um ideal, baseado na idia do bem, uma vez que, a moralidade se pe na
inteno, mas somente se concretiza na ao verificada na empiria (efetivamente).
188
78
felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade192. Neste sentido, conforme a
Crtica da razo prtica, o conceito de moralidade e de dever somente so prescritos
enquanto modelos, pois no podem ser frutos da experincia, devem preceder toda a
considerao de contentamento que no pode ser derivado a partir deste193. Ento, pois,
aquele que se deleita, na conscincia de aes conformes ao dever, j bom moralmente, e
virtuoso pelo menos em algum grau194; pois tem a conscincia de independncia quanto s
impulses oriundas de outras fontes.
Com efeito, para um ser racional, o contentamento com a sua existncia inteira no ,
entretanto, uma posse original de uma felicidade que pressuporia uma conscincia de uma
auto-suficincia independentemente195. Este contentamento s possvel a um ser puramente
racional, no afetado por inclinao alguma. Um contentamento do homem, pela sua
existncia inteira incluiria em si as satisfaes da sensibilidade. No obstante,
um problema imposto a ele por sua prpria natureza finita, porque ele carente e
esta carncia concerne matria de sua faculdade de apetio, isto , a algo
referente a um sentimento de prazer e desprazer que jaz subjetivamente sua base,
mediante o qual determinado aquilo que ele necessita para o contentamento com
o seu estado (CRPr, A 45).
Mesmo assim, o sumo bem (felicidade proporcional moralidade) no poderia ser
objeto ltimo (mesmo que ideal), o qual dirige todo o agir humano, se no inclusse em si
tambm a felicidade do homem. Pois, a ausncia de contentamento com a sua prpria
condio, no meio de necessidades insatisfeitas, poderia facilmente tornar-se uma grande
tentao para a transgresso dos deveres morais. Contudo, sem considerar o dever, todos os
homens tm j, por si mesmos, a mais forte e ntima inclinao para a felicidade, posto que
nesta idia se renem, numa nica soma, todas as inclinaes, ou melhor, a satisfao de
todas elas196.
Segue-se que deve haver um fundamento de determinao que no seja nada mais que
uma causa puramente racional para a produo de satisfao. Mais especificamente, deve
haver um tipo de satisfao submetido moralidade que, por analogia, recebe o mesmo status
de felicidade. Enfim, a nica possibilidade de ligar a moralidade com a felicidade sob a
admisso de um fundamento determinante puro, a saber, no ligado ao sensvel.
192
Cf: CRPr, A 234.
Cf: CRPr, A 67.
194
Cf: CPRr, A 67.
195
Cf: CRPr, A 95.
196
Cf: FMC, BA 12.
193
79
No que diz respeito a uma tal conexo, que por sua vez praticamente invivel para o
homem (nesta vida), apenas permitido conceber-se um contentamento negativo, isto , por
si mesmo, puramente racional197. Sem dvida, segundo consta na Crtica da razo prtica:
Por mais propcia que a felicidade no estado fsico da vida possa ser, o homem
virtuoso certamente no estar contente com a vida se no for consciente de sua
honestidade em cada ao (CRPr, A 209).
No mesmo sentido, nas Lies de tica, ao se reportar aos sistemas ticos da antiguidade,
Kant faz a seguinte afirmao:
Os desejos de um virtuoso so mais fortes para querer essa virtude que para desejar
a felicidade. Quanto mais virtuoso e menos feliz um homem, tanto mais doloroso
lhe resulta o no ser feliz, se digno disso, tanto mais satisfeito est o homem com
a sua conduta, mas no com seu estado (LE, 251, p.p. 47-48)198.
A felicidade (o contentamento), mesmo sendo uma finalidade constante para o humano
sempre diz respeito sensibilidade e no razo (racionalidade). Por isso mesmo, ela jamais
deve ser considerada como fundamento (ou justificativa) do agir. Para Kant, a admisso de
motivos do agir sob o pretexto da natureza humana (finita) consiste na morte da moralidade
(TP, A 223)199.
Na Crtica da razo prtica, Kant mostra a possibilidade de um contentamento (uma
pseudo-satisfao) condizente com a moralidade, no ligado aos prazeres momentneos
(sensveis), ou seja, apenas um anlogo da felicidade. Segundo suas prprias palavras:
A disposio moral est necessariamente vinculada a uma conscincia da
determinao da vontade imediatamente pela lei. Ora, a conscincia de uma
determinao da faculdade de apetio sempre o fundamento de uma
complacncia na ao, que produzida atravs dela; mas este prazer, esta
complacncia em si mesma, no o fundamento determinante da ao, mas <ao
contrrio> a determinao da vontade imediatamente e apenas pela razo o
fundamento do sentimento de prazer e aquela permanece uma determinao prtica
pura, no uma determinao esttica, da faculdade de apetio (CRPr, A 210).
197
Segundo Kant, na medida em que se tem conscincia da independncia no seguimento das prprias mximas
morais, juntamente com a independncia das inclinaes; eis a nica fonte de contentamento no fundado em
sentimento particular algum, invarivel, que se pode chamar intelectual (CRPr, A 213). Esse contentar-se, por
sua vez, negativo, pois exclui toda e qualquer causa externa. O que no ocorre quanto ao contentar-se positivo,
ou seja, a felicidade em geral emprica.
198
Na traduo espanhola: Los deseos de un virtuoso son ms fuertes para qurer esa virtud que para anhelar la
felicidad. Cuanto ms virtuoso y menos feliz es un hombre, tanto ms doloroso le resulta no ser feliz, si es digno
de ello, tanto ms satisfecho est el hombre con su conducta, pero no con su estado (LE, 251, p.p. 47-48).
199
A passagem referente ao escrito Sobre a expresso corrente: isto pode ser correto na teoria, mas nada vale
na prtica pode ser aproximada outra passagem do Prefcio da Doutrina da Virtude; segundo esta, se o
princpio da felicidade fosse estabelecido como princpio do agir, seria a morte suave (eutansia) de toda a moral
(MC, 378, p. 227).
80
No obstante, no se deve pensar em excluir a sensibilidade do homem. Ademais, em
um ser racional humano isso nem possvel200; mesmo porque o princpio do sentimento
moral est ligado ao da felicidade201. O interesse emprico promete [ou promove] uma
contribuio para o bem-estar por meio do agrado que s alguma coisa nos produz (FMC,
BA 92, nota)202. Todavia, segundo Kant, existe a possibilidade da demonstrao de um outro
sentimento de satisfao que tenha outra origem, que no emprica. De modo que a concluso
mais plausvel, a este respeito, a admisso da lei moral como fundamento imediato da
vontade. A conscincia da lei o nico elemento que pode produzir tal sentimento especfico.
Respeito e no deleite ou gozo da felicidade , portanto, algo para o que no
possvel nenhum sentimento posto como fundamento antecedente da razo
(porque este seria sempre esttico e patolgico); enquanto conscincia da imediata
necessitao da vontade pela lei, ele no nem sequer um analogon do sentimento
de prazer, enquanto, em relao com a faculdade de apetio, ele produz
exatamente o mesmo resultado mas a partir de outras fontes (CRPr, A 211).
Se assim, fica demonstrado que deve haver a possibilidade da existncia de um outro
termo que no a felicidade, e que tenha em sua dinmica a capacidade de designar uma
satisfao do homem perante sua prpria existncia racional. Necessariamente, este termo
deve acompanhar a conscincia da virtude203. Segundo Kant,
esta palavra autocontentamento, que em seu sentido prprio sempre alude
somente a uma complacncia negativa em sua existncia, na qual se
autoconsciente de no carecer de nada (CRPr, A 212).
Toda a ao, mesmo que seja praticada unicamente por dever, tende necessariamente a
uma finalidade. Mas, preciso ter plena conscincia de que seu fim jamais o seu
fundamento. Logo, como conseqncia da ao, sob o nome de autocontentamento, pode
estar representado a felicidade (racional), porm, no como justificativa (determinante), e
sim, como conseqncia da ao moral, portanto, como
200
A sensibilidade deve ser considerada para a realizao do agir, pois o valor moral se mostra onde h
empecilhos a ele.
201
O princpio da moralidade se liga ao da felicidade, na medida em que os dois se manifestam no homem,
enquanto ser humano (racional e emprico). Mas a felicidade e a moralidade so de naturezas diferentes, quanto
aos seus princpios.
202
Neste contexto achamos que no seria inconveniente a transmuta dos verbos prometer e promover.
203
Na Crtica da razo prtica, Kant faz uso de um argumento (que em certo sentido parece) puramente retrico
para resolver a antinomia. Para ele, possvel, como at evidente, pensar num homem que age virtuosamente e
que seja consciente de sua honestidade, que, como tal, sinta um tipo bem especfico de satisfao que seria
produzida por um fundamento de determinao puro, no ligado empiria. Na Antropologia, Kant utiliza o
termo Zufriedenheit (acquiescentia) de modo generalizado, designando a mera satisfao. Contudo, na Crtica
da razo prtica, o termo utilizado Selbstzufriedenheit, que traduzido para o portugus como
autocontentamento, e no auto-satisfao (o que, de certo modo, evita confuso com satisfao emprica).
81
uma conscincia da supremacia sobre suas inclinaes e com isso, portanto, da
independncia das mesmas, conseqentemente tambm da insatisfao que sempre
acompanha estas e, pois, uma complacncia negativa com seu estado, isto ,
contentamento, que em sua origem um contentamento com sua pessoa (CRPr, A
213).
O autocontentamento expressa, ento, um contentar-se que no depende das fontes
empricas, de modo que no contingente, e sim, no necessitante de nada mais. Ele no tem
carncia alguma empiricamente condicionada que tenha que suprir. O autocontentamento, no
obstante, somente requer, para o indivduo, a adequao da mxima (subjetiva) lei moral.
Ademais, um fim perfeito como resultante subjetivo da conscincia da adequao da lei
moral vontade (geral) humana. Conseqentemente:
A prpria liberdade torna-se deste modo (ou seja, indiretamente) capaz de um gozo,
que no pode chamar-se felicidade, porque no depende da adeso positiva de um
sentimento e tampouco, para falar precisamente, pode chamar-se bemaventurana, porque ele no contm independncia completa de inclinaes e
carncias contudo semelhante ltima, na medida em que pelo menos sua
determinao de vontade pode manter-se livre da influncia delas e, pois, pelo
menos quanto a sua origem, anlogo de auto-suficincia que se pode atribuir
somente ao Ser supremo (CRPr, A 213-214).
Ao homem, no obstante, enquanto sensvel, facultado o direito de um contentamento
a partir do seu prprio agir, ou mesmo apenas que esse contentamento se d somente no
mesmo nvel da esperana. O autocontentamento, pois, pode ser interpretado como a
alternativa a partir da qual Kant v a possibilidade de um contentar-se a partir do agir moral
(conforme o merecimento de cada um) ocorrendo na empiria, ou seja, na vida humana finita
(no mundo sensvel).
2.2 A dignidade de ser feliz
Segundo consta na Fundamentao da metafsica dos costumes e na Analtica da
razo prtica pura (Primeiro Livro da segunda Crtica), sob a condio da busca da
felicidade prpria, o homem perde ou acaba perdendo todo o domnio que pode ter sobre as
suas inclinaes. Desse modo, ele passa a ser um mero servo das paixes204. Logo, o princpio
da felicidade prpria, no que se refere moral, no pode, de maneira alguma, ser
considerado como meramente natural, mas doentio; por conseguinte, uma perverso da
liberdade. A felicidade prpria, enquanto tal, egosta, o auge da submisso da razo a outros
princpios (que no os seus). No obstante, isso pode ser considerado uma espcie de
204
Ver tambm A, 267, p. 164.
82
irracionalidade referente felicidade ou ao amor-prprio (que todavia, pode ser contornada).
No humano, constantemente influenciado, no fluxo da vida, pelo desejo da felicidade prpria
(ou egosta), a razo sempre deve tomar o controle (no que diz respeito as suas escolhas),
disciplinando toda e qualquer propenso humana. A autonomia do agente se traduz ou se
mostra justamente na sua independncia com relao sensibilidade205.
Na Filosofia prtica de Kant, inadmissvel confundir amor-prprio com a auto-estima.
O amor-prprio egosmo, e tem por critrio de qualquer ao o princpio do prazer prprio
mximo. A auto-estima, por sua vez, pode ser interpretada como o amor de si racional, e tem
como critrio o valor interno do sujeito, assumindo a sua humanidade como fim em si (no s
do sujeito subjetivamente considerado). A partir da auto-estima, o sujeito considera seu bemestar sob a condio da determinao racional, de modo que a satisfao seja resultante do
agir moral. Para Kant, o amor de si racional tem como nico mbil para a ao o puro respeito
pela lei e, como nica finalidade, a humanidade.
Segundo consta na Religio, no que diz respeito ao amor de si racional, parece haver
uma certa incoerncia referente a esse termo. Segundo o dizer do prprio Kant:
este amor s racional na medida em que, por um lado, no tocante ao fim, se
escolhe apenas o que pode coexistir com o maior e mais duradouro bem-estar e, por
outro, se escolhem os meios mais aptos em ordem a cada uma das partes
constitutivas de felicidade. A razo ocupa aqui apenas o lugar de serva da
inclinao natural; mas a mxima que por isso se adapta no tem qualquer
referncia moralidade (RL, p. 51, nota).
No obstante, parece que o amor racional, do qual Kant fala na Religio, se torna mais
compreensvel, se for considerado como uma espcie de amor prprio prudencial, posto que
este tambm necessita do uso da razo, mas talvez submetida aos fins da inclinao (ao bemestar)206. Na Crtica da razo prtica, por sua vez, o amor de si racional condiz perfeitamente
com o agir moral, embora no seja necessariamente o fim da ao. Ele pode ser interpretado a
partir do sentimento de satisfao (contentamento consigo mesmo), por estar em direo
perfeio moral. Na mesma Crtica, Kant afirma que a razo prtica pura prejudica o amorprprio, na medida em que o limita condio apenas de amor de si racional, ou seja,
moral207.
Na Pedagogia (442), Kant afirma que desde cedo preciso que o homem aprenda a submeter-se aos
preceitos da razo.
206
Uma teoria da prudncia, para Kant, nada mais que uma teoria das mximas para escolher os meios mais
adequados aos seus propsitos, avaliados segundo a sua vantagem, isto , negar que existe uma moral em geral
(PP, B 72).
207
Cf: CRPr, A 129.
205
83
O amor de si racional, segundo a mencionada passagem da Religio, pode tambm ser
chamado de complacncia incondicionada208. Pois ele no dependente das condies
contingentes, que podem vir a determinar uma ao, a no ser que haja subordinao da
mxima lei moral. A felicidade, nesse caso, naturalmente requer ento a moralidade como
sua condio. A felicidade propriamente dita (emprica, que diz respeito sensibilidade), por
sua vez, precisa da satisfao no mediada pela moralidade, mas pelo desejo satisfeito. Aqui,
no se trata, contudo, de uma distino entre felicidade emprica e felicidade moral, pois
tal distino parece contraditria. Segue-se, que no poderia haver uma felicidade moral,
posto que, a moralidade requer outras condies que no coincidem com a felicidade, que
tanto natural quanto conceitualmente sempre relativa sensibilidade209.
A felicidade, segundo a nossa natureza, para ns, como seres dependentes de
objetos da sensibilidade, o primeiro e o que incondicionalmente desejamos. De
acordo com a nossa natureza (se assim se pretender em geral denominar o que nos
inato), enquanto seres dotados de razo e de liberdade, a felicidade no de longe o
primeiro, nem sequer incondicionalmente um objeto das nossas mximas; mas tal
a dignidade de ser feliz, a saber, a consonncia de todas as nossas mximas com a
lei moral. Que esta consonncia seja objetivamente a condio sob a qual o desejo
da felicidade se pode coadunar com a razo legisladora, eis em que consiste toda a
prescrio moral; e somente a inteno de desejar com esta condio que consiste
o modo de pensar moral (RL, p. 52, nota).
O comportamento moral requer, no que se refere ao agir, a supresso de toda e qualquer
determinao provinda da sensibilidade. Esse procedimento consiste numa espcie de
passagem do agir egosta ou solipsista ao agir moral210. Nesse sentido, existe uma mudana de
concepo quanto tendncia humana felicidade; que, enquanto tal, requer algumas
condies que remetem abstrao das necessidades sensveis, ou, pelo menos, tem que
admitir-se um outro ponto de vista211: a felicidade como complacncia incondicional, que
admitida como possvel e, por suposto, garantida como possvel.
A felicidade assim concebida se torna natural para o homem. Da mesma forma, ela
somente possibilitada sob a condio do agente ser digno dela. No escrito Sobre a expresso
208
Cf: RL, p. 51-52, nota.
Eckart Frster usa a seguinte terminologia a esse respeito: felicidade moral e felicidade fsica. A primeira
totalmente independente da natureza (empiria), mas a segunda, por sua vez, no (Cf: FRSTER Eckart, 1998,
p. 31). Essa distino, para o propsito do trabalho, no parece muito coerente, pelo menos no que se refere
terminologia empregada; a menos que se esteja querendo designar por felicidade moral uma espcie de
contentamento independente do objeto da sensibilidade. Na Dialtica, o prprio Kant apresenta o termo
autocontentamento como designativo de um anlogo de felicidade, obtido a partir do agir moral. Nem sempre,
pois, possvel fazer uma diferenciao conceitual ou terminolgica precisa. Mas isso pode ser um passo
importante para se entender o que e como se d a dignidade de ser feliz.
210
A posse da razo, no que refere-se busca da felicidade pessoal mais um obstculo do que uma ajuda (Cf:
SMITH, Steven G., 1984, p. 184).
211
A felicidade no somente pode, mas deve ser racionalmente perseguida (Cf: JOHNSON, Robert N., 2002, p.
319).
209
84
corrente: isto pode ser correto na teoria, mas nada vale na prtica, de 1793, em resposta a
algumas objees do Sr. Prof. Garve (TP, A 208), Kant tenta resolver o impasse; cujo
motivo se reporta ao conceito de dever, a saber, se o conceito de dever possui ou no validade
na efetividade ou realizao da ao moral, ou, se permanece como um conceito (em certo
sentido vazio) apenas teoricamente vlido. Ao que parece, esse conceito realmente possui
valor prtico. Pois, da mesma forma que Kant j havia demonstrado na Crtica da razo
prtica (CRPr, A 234), em Teoria e prtica define a moralidade como uma cincia que nos
ensina como devemos, no tornar-nos felizes, mas dignos da felicidade (TP, A 208-209). Na
seqncia, Kant afirma o seguinte (em uma nota explicativa):
O mrito de ser feliz a qualidade de uma pessoa fundada no prprio querer do
sujeito, em conformidade com a qual uma razo legisladora universal (tanto da
natureza como do livre querer) se harmonizaria com todos os fins desta pessoa. ,
pois, inteiramente diverso da habilidade em conseguir uma felicidade. Com efeito,
nem sequer digno desta e do talento que a natureza para isso lhe repartiu, se tiver
uma vontade que no se harmonize com o nico querer em concordncia com uma
legislao universal da razo, e que nele no se possa conter (isto , que contradiz a
moralidade) (TP, A 209, nota 2).
Com efeito, a felicidade deve estar subordinada determinao categrica da lei moral.
Desse modo, perde sua caracterizao egostica, passando a outro nvel: o do merecimento.
Segue-se, que a felicidade enquanto fim particular (somente considerada subjetivamente) deve
ser excluda, ou ento negada (aquele que a exclui, de certa forma, passa a ser seu merecedor
ou digno dela), para que haja uma legtima harmonizao com a moralidade (ou virtude do
agente). Tal harmonizao, enquanto fim ltimo (sob o ponto de vista da moralidade), o
sumo bem possvel (no mundo). O sumo bem o objeto ideal, a priori, da razo prtica pura;
portanto, ele o fim ltimo de uma vontade imperfeita, relativo ao qual pensada uma
necessria e perfeita unio entre virtude e felicidade proporcional ao merecimento, ou seja,
dignidade de ser feliz212.
2.3 A ligao da moralidade com a felicidade e a Antinomia da razo prtica
A partir da exposio anterior, referente dignidade de ser feliz, possvel compreender
que tanto a moralidade quanto a felicidade, embora sejam elementos distintos ou
heterogneos, so passveis de unio na efetividade do agir moral. A razo prtica no pode,
por sua vez, deixar de buscar instituir uma precisa ligao entre elas, assim cai em uma
212
Cf: SMITH, Steven G., 1984, p. 169.
85
antinomia213. A antinomia consiste justamente na circunstncia de a felicidade no poder ser
causa da virtude (...) e de a virtude no parecer igualmente poder ser causa da felicidade214.
Com efeito, tal antinomia prepara para uma totalizao, que ela , sem dvida, incapaz
de operar215 ou resolver. No entanto, ela fora o indivduo agente a procurar, do ponto de
vista da reflexo, como sua soluo prpria, a chave ou a sada desse labirinto216. Ora, nesse
fim ou totalidade buscada, ordenada (a priori) pela lei moral unicamente, deve estar tambm
includo o fim natural do homem. A virtude e a felicidade (em proporo), juntas consistem
em tudo aquilo que objetivamente bom217; este acordo, ento, no pode apresentar-se de
outra forma, seno na idia do sumo bem, como totalidade do objeto da razo prtica pura218.
Portanto, ele mesmo como um fim ou totalidade incondicionada de todos os fins: como um
ideal para a moral deliberada trabalhar e esforar-se para realizlo219. No sumo bem, segundo
Kant,
que para ns prtico, isto , efetivamente realizvel por nossa vontade, virtude e
felicidade so pensadas como necessariamente vinculadas, de sorte que uma no
pode ser admitida pela razo prtica pura sem que a outra tambm lhe pertena
(CRPr, A 204).
Segue-se, pois, que no conceito de sumo bem devem ser unificados os dois fins relativos
ao homem, enquanto ser empiricamente constitudo e ao mesmo tempo dotado de razo. O
sumo bem considerado estritamente necessrio para que a moral possa ser efetivada ou
realizada220; embora no que se refere justificao moral (ou fundamentao da moralidade),
ele possa ser totalmente descartado. Para Kant, no obstante, a necessidade de pens-lo como
realizvel, no pode jamais conduzir a uma heteronomia da vontade. Kant nunca teve a
inteno de desconstruir seu sistema moral autnomo, em nome do sumo bem, ou de qualquer
outro conceito. Mesmo com essa necessidade, a moral kantiana se justifica na autonomia da
vontade, unicamente a partir da representao da lei moral. Alis, isso deixado claro no
incio da Dialtica da razo prtica pura quando Kant menciona o seguinte:
213
Os dois elementos: felicidade e moralidade, respectivamente representam o fim natural e o fim moral para o
ser humano.
214
DELEUZE, Gilles, 1994, p. 43.
215
DELEUZE, Gilles, 1994, p. 44.
216
Cf: DELEUZE, Gilles, 1994, p. 44.
217
virtue, and happiness in proportion to virtue, together comprise all that is objectively good (KORSGAARD,
Christine M., 1996, p. 118).
218
Gilles Deleuze, ao falar do sumo bem (soberano bem segundo ele), como objeto da razo, adota o adjetivo
puro precedendo prtico, ou seja, Razo pura prtica (Cf: DELEUZE, Gilles, 1994, p. 47). Segundo
Valerio Rohden (1997, p.p. 69-98), por questes lingsticas, o mais coerente, nesse caso, seria Razo prtica
pura.
219
Cf: WOOD, Allen W., 1970, p. 69.
220
Alis, de um ponto de vista sistemtico, pode-se dizer que a moral kantiana encontra seu pice na realizao
de seu objeto: o sumo bem. Portanto, na impossibilidade do mesmo, a moralidade perderia o sentido.
86
A lei moral o nico fundamento determinante da vontade pura. Mas j que este
meramente formal (a saber, exige unicamente a forma da mxima como
universalmente legislativa), ele, enquanto fundamento determinante, abstrai de toda
a matria, por conseguinte, de todo o objeto do querer. Logo, por mais que o sumo
bem seja sempre o objeto total de uma razo prtica pura, nem por isso ele deve ser
tomado pelo seu fundamento determinante e a lei moral, unicamente, tem que ser
considerada o fundamento para tomar para si como objeto aquele sumo bem e a sua
realizao ou promoo (CRPr, A 196).
Portanto, nenhuma dvida admissvel quanto importncia da determinao da vontade pela
lei moral. Segundo a interpretao de Lewis W. Beck, se a possibilidade do sumo bem
significa qualquer coisa mais que a sua condio necessria, ento neste ponto ela
incompatvel com aquilo que Kant havia afirmado antes e mais consistentemente: sobre a
forma legtima da mxima, sendo ela mesma o objeto da vontade moral221.
No que se refere virtude propriamente dita, para Kant, o agir virtuoso nada mais do
que agir em detrimento de todas as inclinaes. A virtude se define como uma fora
caracterizada pela constante represso s influncias das inclinaes, que so obstculos para
uma vontade autnoma. No dizer de Kant: A virtude a fora mxima do homem no
cumprimento do seu dever (MC, 394, p. 248)222. Dessa forma, ela define-se pelo agir
perfeitamente moral, resultando de uma vontade autnoma da parte do sujeito racional, e
tendo como pressuposto nico o princpio universal da moralidade. A ao moral ou virtuosa,
por conseguinte, o prprio bem moral produzido e , por sua vez, o bem supremo produzido
no mundo. Quer dizer, o bem supremo chama-se virtude, como o bem parcial mais alto do
sumo bem, o qual por sua vez inclui, alm daquela, tambm a felicidade (CRPr, A 198, nota
200)223. Logo, a felicidade do indivduo virtuoso, por essa razo, desempenha a funo de
segundo elemento, ou representa a segunda parte constituinte do sumo bem224.
Com efeito, mesmo que a virtude e a felicidade sejam elementos completamente
distintos, quanto sua origem, eles podem unir-se a partir da admisso da possibilidade da
realizao da moralidade, no conceito de sumo bem. Contudo, faz-se necessrio saber se tal
221
But if the possibility of the highest good means anything more than its necessary condition, it is to that
extent incompatible with what he has said earlier and more consistently about the lawful form of the maxim
itself being the object of the moral will (BECK, L. W., 1984, p. 243).
222
Na traduo espanhola: La virtud es la fuerza de la mxima del hombre en el cumplimiento de su deber
(MC, 394, p. 248).
223
Valerio Rohden, em sua traduo da Crtica da razo prtica, baseada na edio original de 1788, coloca de
maneira muito clara e precisa a distino entre bem supremo e sumo bem.
224
Cf: KORSGAARD, Christine M., 1996, p. 118.
87
ligao d-se por identidade (ligao analtica) ou sinteticamente. Nesse ltimo caso, sempre
se supe a necessidade de um elemento como efeito do outro (CRPr, A 199-200)225.
Para Kant, os conceitos de felicidade e virtude so ligados sinteticamente. Segundo ele:
a partir da Analtica ficou claro que as mximas da virtude so completamente
heterogneas em relao a seu princpio prtico supremo e, longe de serem
unnimes, apesar de pertencerem a um sumo bem com o fim de torn-lo possvel, a
rigor elas limitam-se e prejudicam-se mutuamente muito no mesmo sujeito.
Portanto a questo de como o sumo bem praticamente possvel permanece,
apesar de todas as tentativas de convergncia at aqui, um problema sem soluo.
O que, porm, a torna um problema de difcil soluo foi mostrado na Analtica, a
saber, que felicidade e moralidade so, quanto a sua espcie, dois elementos do
sumo bem totalmente diversos e que, portanto, a sua vinculao no pode ser
conhecida analiticamente (...), mas uma sntese de conceitos (CRPr, A 202-203)
Alm disso, para Kant,
visto que essa vinculao conhecida como a priori, por conseguinte de modo
praticamente necessrio, consequentemente no pode ser conhecida como inferida
da experincia e que, pois, a possibilidade do sumo bem no depende de nenhum
princpio emprico, assim a deduo desse conceito ter de ser transcendental
(CRPr, A 203).
Na perspectiva kantiana, o conceito de sumo bem, enquanto objeto da vontade, no
oferece risco algum justificao da moral. Posto que a ligao de seus elementos
transcendental. Alm disso, enquanto objeto da vontade pura, o sumo bem j est estabelecido
a priori, como condio necessria efetivao ou realizao da moralidade. No dizer de
Kant:
a priori (moralmente) necessrio produzir o sumo bem mediante a liberdade
da vontade; logo, tambm a condio de possibilidade do mesmo tem que
depender meramente de fundamentos cognitivos a priori (CRPr, A 203).
Uma deduo transcendental, evidentemente, tem que restringir-se aos elementos que a
Analtica colocou como fundamentais, de outra forma ela seria contraditria com toda a
teoria moral kantiana. O problema principal determinar como se d a ligao de um
elemento ao outro; e esta, por sua vez, possibilite ou cause a possvel existncia de outro, de
225
Nessa passagem, e no que segue, Kant expe como se d essa ligao segundo os esticos e os epicuristas.
Segundo Kant, na verdade ambas as escolas (estica e epicurista) seguiam o mesmo mtodo, na medida em que
no deixavam virtude e felicidade valer como dois elementos diversos do sumo bem; por conseguinte
procuravam a unidade do princpio segundo a regra da identidade, mas por sua vez se separavam no fato de que,
dentre ambos, escolhiam diversamente o conceito fundamental. O epicurista dizia: ser autoconsciente de sua
mxima que conduz felicidade, eis a virtude; e o estico: ser autoconsciente de sua virtude, eis a felicidade.
Para o primeiro a prudncia equivalia moralidade; para o segundo, que escolhia uma denominao superior
para a virtude, unicamente a moralidade era verdadeira sabedoria (CRPr, A 200). Segundo Kant, ambos
estavam incorretos, ao tornar essa unio possvel por identidade. No dizer do prprio Kant: Tem-se que
lamentar que a perspiccia desses homens (...) era to desafortunadamente aplicada ao esquadrinhar uma
identidade entre conceitos extremamente desiguais, como o de felicidade e o de virtude (CRPr, A 201).
88
modo totalmente a priori, que no tenha nem sofra nenhuma influncia emprica. A deduo
transcendental, todavia, deve ser interpretada como uma justificativa possvel a partir dos
pressupostos sistemticos antes demonstrados por Kant.
2.4 Os postulados de imortalidade da alma e da existncia de Deus
Na Dialtica da Crtica da razo prtica, na determinao do conceito de sumo bem,
Kant esclarece uma ambigidade referente ao termo sumo226:
Sumo pode significar o supremo (supremum) <das Oberste> ou tambm o
consumado (consummatum). O primeiro aquela condio que ela mesma
incondicionada, quer dizer, no est subordinada a nenhuma outra (originarium); o
segundo aquele todo que no nenhuma parte de um todo ainda maior da mesma
espcie (perfectissimum) (CRPr, A 198).
A doutrina do sumo bem, em Kant, trabalhada levando-se em considerao os dois
significados relativos ao termo sumo. A partir da Analtica fica provado que a virtude,
enquanto merecimento de ser feliz, a condio suprema de tudo o que possa parecer-nos
sequer desejvel, por conseguinte tambm de todo o nosso concurso felicidade (CRPr, A
198). Logo, a virtude corresponde primeira acepo do termo sumo, e assim o bem
supremo. O bem total, seria o sumo bem, ou, nos termos da Antropologia, a plena satisfao
do homem. Pois, na verdade, ele deve abarcar a felicidade e a moralidade juntas. A vontade
boa, no pode s-lo, posto que ela simplesmente sinnimo da moralidade, de modo que ela
representa apenas um dos elementos que constituem o sumo bem: o bem supremo227.
Desde a Fundamentao fica assegurado que a moralidade deve ser a condio para a
felicidade. No conceito de sumo bem, agora reunido aquilo que antes fora separado228. Ora,
visto que o termo sumo comporta tambm o significado de consumado, a virtude sozinha
no o sumo bem (mas o bem supremo), sendo necessrio tambm um segundo elemento,
ou seja, a felicidade.
Pode-se dizer, com efeito, que no conceito de sumo bem se harmonizam as duas
dimenses do humano: emprica e racional. Nessa perspectiva, a realizao de todo o objeto
desejado pela faculdade de apetio deve estar submetido moralidade ou razo, uma vez
No Cnon da Primeira Crtica (B 838-839) a mesma distino j havia sido feita. De um modo geral,
somente modificou-se a terminologia empregada.
227
Cf: FMC, BA 7.
228
Para tornar-se digno de ser feliz, o indivduo precisa, no que diz respeito justificao do agir, de certa forma,
abstrair do princpio da felicidade pessoal. Portanto, em um primeiro plano da argumentao existe uma espcie
de negao da felicidade (enquanto satisfao das inclinaes).
226
89
que, para o ser humano, esse deve ser o destino mais elevado de sua existncia. Portanto, a tal
fim deve estar condicionado o legtimo desejo e tambm a perseguio da felicidade.
Os postulados da razo prtica envolvidos na doutrina do sumo bem vm dar uma
soluo para os problemas da antinomia229. Por solucionar tais problemas, a teoria dos
postulados de grande importncia na Filosofia prtica kantiana230. Pelo postulado da
imortalidade da alma, pensa-se em uma continuidade da durao da existncia do sujeito, para
que suas mximas possam conformar-se plenamente lei moral, visto que no mundo sensorial
essa conformao tornada impossvel devido ao curto tempo da existncia humana. Segundo
o prprio Kant, no pode ser esperada nenhuma conexo necessria, e suficiente ao sumo
bem, da felicidade com a virtude no mundo atravs da mais estrita observncia das leis
morais (CRPr, A 205). Tal conformidade ou conexo,
somente pode ser encontrada em um progresso que avana ao infinito em direo
quela conformidade plena [a santidade], e necessrio, segundo princpios da
razo prtica pura, assumir um tal prosseguimento prtico como o objeto real de
nossa vontade (CRPr, A 220).
Nesse sentido, a imortalidade da alma expressa uma espcie de manuteno da disposio
(Gesinnung) moral junto a todas as intenes que agitam a vontade, (...), um esforo que se
fortifica, que exercita sua aplicao e seu domnio sobre a vontade231. Taxativamente, a
imortalidade da alma no significa outra coisa do que uma conformidade que se estende
disposio moral232. Ela,
enquanto inseparavelmente vinculada lei moral, um postulado da razo prtica
pura (pelo qual entendo uma proposio terica mas indemonstrvel enquanto tal,
na medida em que ele inseparavelmente inerente a uma lei prtica que vale
incondicionalmente a priori) (CRPr, A 220).
O postulado da existncia de Deus uma conseqncia inevitvel do primeiro. Por seu
lado, torna-se possvel pensar a realizao da conexo da virtude com a felicidade,
Segundo consta na Dialtica da Segunda Crtica, a liberdade tambm considerada como postulado, pois,
do ponto de vista terico, igualmente hiptese que a razo nem nega nem prova; do ponto de vista prtico,
porm, conhecemos a liberdade, mediante a lei moral, ainda que sem a compreender (einsehen); a imortalidade
da alma e a existncia de Deus no so nem compreendidas, nem conhecidas, mas somente supostas
(angenommen). Esta assimetria explica o tratamento diferente dado praticamente liberdade (ZINGANO,
Marco Antnio, 1989, p. 183, nota 95).
230
A liberdade (como idia cosmolgica) recebe realidade objetiva a partir da lei moral. Todavia, visto que a
conexo da felicidade com a virtude no se d de um modo imediato no mundo emprico (ou que ela seja
praticamente impossvel na existncia finita); ela deve fazer-se na perspectiva de um progresso que v at ao
infinito (alma imortal) e por intermdio de um autor inteligvel da natureza sensvel ou de uma causa moral do
mundo (Deus). As idias da alma e de Deus so assim as condies necessrias sob as quais o prprio objeto da
razo prtica colocado como possvel e realizvel (DELEUZE, Gilles, 1994, p. 48).
231
ZINGANO, Marco Antnio, 1989, p. 182.
232
ZINGANO, Marco Antnio, 1989, p. 182.
229
90
devidamente proporcional ao merecimento (a partir da admisso de um autor moral do
mundo). Ora, esse postulado expressa a garantia do acordo entre natureza, compreendida
como o conjunto de agentes racionais e sensveis, e a moralidade, isto , unidade racional do
querer233. No dizer do prprio Kant:
Esta causa suprema [Deus], porm, deve conter o fundamento da concordncia da
natureza no simplesmente como uma lei da vontade dos entes racionais mas com a
representao dessa lei, na medida em que estes a pem para si como fundamento
determinante supremo da vontade, portanto no simplesmente com os costumes
segundo a forma, mas tambm com a sua moralidade como motivo
<Bewegungsgrund> dos mesmos, isto , com a sua disposio moral (CRPr, A
225).
O postulado da existncia de Deus, segundo esse raciocnio, parece representar um smbolo
unificante234 daquilo que se mostra totalmente separado. Logo, o sumo bem s possvel no
mundo na medida em que for admitida uma <causa> suprema da natureza que contenha uma
causalidade adequada disposio moral (CRPr, A 225). Segue-se, pois, que da mesma
forma que no postulado da imortalidade da alma, o postulado da existncia de Deus, se tem
sentido, o possui na necessidade subjetiva praticamente postulada235.
Segundo essa interpretao, o postulado da imortalidade da alma vem satisfazer a
necessidade subjetiva que a razo sente no que diz respeito carncia de tempo, na existncia
finita, com relao virtude. O postulado da existncia de Deus, por sua vez, supre a
necessidade (tambm subjetiva) relativa justa distribuio da felicidade; posto que, a busca
da felicidade faz parte da prpria essncia humana, parece que um (postulado) diz respeito
necessariamente virtude e o outro felicidade.
Segundo consta na Crtica da razo prtica,
visto que a promoo do sumo bem, que contm esta conexo em seus conceitos,
um objeto aprioristicamente necessrio da nossa vontade e interconecta-se
inseparavelmente com a lei moral, a impossibilidade do primeiro caso tem que
provar tambm a falsidade do segundo. Portanto, se o sumo bem for impossvel
segundo regras prticas, ento tambm a lei moral, que ordena a promoo do
mesmo, tem que ser fantasiosa e fundar-se sobre fins fictcios vazios, por
conseguinte tem que ser em si falsa (CRPr, A 205).
Com efeito, a moralidade (assim como todas as coisas referentes prxis) tem a
necessidade de um objeto final. Este objeto tem de ser pensado como realizvel (ou passvel
de realizao). Do contrrio, a prpria idia de moralidade seria utpica (um pensamento
233
ZINGANO, Marco Antnio, 1989, p. 183.
ZINGANO, Marco Antnio, 1989, p. 183.
235
ZINGANO, Marco Antnio, 1989, p. 184.
234
91
vazio); necessrio, portanto, que se pense o sumo bem como algo atingvel (no mundo)236.
Segundo a interpretao de Allen Wood, admitir a negao da imortalidade da alma e da
existncia de Deus seria um Absurdum Practicum. Agora, segundo Wood, se ambos forem
negados impossvel conceber o sumo bem como realizvel ou atingvel. Isso tambm
implicaria que o agente no tem como objetivo prprio alcanar ou atingir o sumo bem, ou
ento, compromete-se a no tom-lo como uma busca prpria. Todavia, o sumo bem dado, a
priori, como o objeto legtimo da moralidade; se o indivduo no o perseguir no est agindo
em obedincia lei moral. Logo, negando-se a imortalidade da alma (ou de uma vida futura) e
a existncia de Deus, pode ser pressuposto que o indivduo no quer obedecer lei moral237.
A descrena dogmtica nega a moralidade238. O agente moral (subjetivamente considerado),
todavia, precisa acreditar nessa possibilidade de realizao.
No obstante, a partir dessa perspectiva de interpretao (no que se refere crena), o
homem moral se v obrigado (ou necessitado) subjetivamente, devido ao seu fim, e segundo
as leis da liberdade, a admitir como possvel um sumo bem no mundo (L, 69, p. 573)239.
Alis, segundo Kant, a incredulidade moral altamente reprovvel. Faz-se necessrio, pois,
acreditar na realizao da moralidade; e tal realizao somente pode ser possvel a partir da
admisso da imortalidade da alma e da existncia de Deus. Os postulados, desse modo,
representam as condies necessrias para que o sumo bem possa ser efetivado, enquanto
objeto de toda e qualquer conduta moral. Ademais, para Kant, o homem que age
virtuosamente, e que, por sua vez, no acredita na prpria realizao moral pode ser
considerado um hipcrita moral240.
236
Cf: WOOD, Allen W., 1970, p. 28.
Now if I deny either of these, then I cannot conceive the highest good to be possible of attainment. If I deny
that I can conceive the highest good to be possible of attainment, then I presuppose or imply that I will not
pursue the highest good, or commit myself not to pursue it. But if I do not pursue the highest good, then I cannot
act in obedience to the moral law. Therefore, by denying the existence of a God and a future life, I have
presupposed or implied that I will not obey the moral law, or have committed myself not to obey it. (WOOD,
Allen W., 1970, p. 29).
238
ZINGANO, Marco Antnio, 1989, p. 184.
239
Na traduo americana: Hence I can only say that I see myself necessitated through my end, in accordance
with laws of freedom, to accept as possible a highest good in the world, but I cannot necessitate anyone else
through grounds (the belief is free) (L, 69, p. 573).
240
Moral belief can be presupposed in every man, and moral unbelief is consequently quite reproachable. He
who rejects the proof of the existence of God according to mere reason can also be called unbelieving [;] and he
who no longer believes in virtue, if he does nothing out of a moral interest but everything out hypocrisy, can also
be so called. Here man gives up all intention to be virtuous, since he does not believe in virtue (The Vienna
Logic, 900, p. 345).
237
92
3 A definio precisa do conceito de sumo bem
3.1 O esclarecimento terminolgico de Summum Bonum
Para esclarecer o conceito de sumo bem, primeiramente faz-se necessrio determinar
qual o sentido e esclarecer tambm a ambigidade que o termo latino Summum (Hchstes)
possui. Na Crtica da razo prtica, Kant mostra que Summum (Hchstes) pode significar, ou
a condio originria, quer dizer, aquela que no est subordinada a outra condio
qualquer, ou como superlativo de perfeito (perfeitssimo, sem defeito), como o todo
completo (integral) [consummatum], o que o mais perfeito na determinao da vontade241.
Quanto a esse ltimo aspecto (perfeitssimo), supe-se que no h nada que lhe diminua o
valor ou que lhe mostre a falta de acabamento242. Ora, o acabamento perfeito na srie da
determinao sensvel anlogo, para Kant, completude perfeita que a razo busca243.
No caso do agir moral, o ente racional humano compreende que a moralidade a
condio suprema de toda a ao. A condio suprema que somente pode ser o bem
supremo compreendida quando se subsume uma mxima ao critrio da moralidade (ao
imperativo categrico). Sempre, aps essa submisso, a razo apresenta, como resultado, uma
mxima que de nenhum modo pode provir de uma inteno egosta244. Nenhum sentimento de
prazer ou de dor ou qualquer satisfao emprica dos desejos poder ser considerado supremo,
pois sempre so contingentes e dependentes de diversas condies aposteriorsticas. Uma
ao virtuosa seria a condio de maior dignidade na determinao da vontade, se possusse
muito mais valor do que os princpios determinantes empricos da vontade. Portanto,
enquanto fortaleza contra as inclinaes, somente a virtude a condio suprema da
moralidade; mesmo que no garanta (e at prejudique) a felicidade (egosta), mas que torna o
ente racional digno dela.
No alemo, sumo bem se refere expresso hchstes Gut e no latim, Summum Bonum, o qual pode significar
tanto Bem Supremo, oberstes Gut, Summum Supremum, como tambm Bem Consumado, vollendetes Gut,
Summum Consummatum (NODARI, Paulo Csar, 2005, p. 128). Portanto, o esclarecimento dessa ambigidade
necessrio, na medida em que revela dois aspectos que colaboram na compreenso da importncia e
necessidade do sumo bem no sistema prtico kantiano.
242
Na Crtica da razo pura, Kant usa o termo Bem Supremo originrio e Bem Supremo derivado para
esclarecer a ambigidade.
243
Cf. CRPr, A 198-199.
244
Em outras palavras, impondo o critrio da moralidade mxima de felicidade prpria, por exemplo, Quero
ser feliz a todo o custo, se notar que a felicidade, nesse caso, no pode ser tomada como princpio da ao
moral; tambm no pode ser nem pensada como condio suprema do agir moral, visto as contradies e
dificuldades que o desejo felicidade (egosta) sem limites apresentaria.
241
93
Segundo consta na Crtica da razo prtica, a virtude, enquanto bem supremo, no
ainda o bem completo e consumado, enquanto objeto da faculdade de apetio de entes
finitos racionais; pois para s-lo requer-se tambm a felicidade (CRPr, A 198). Seguindo
esse raciocnio, possvel compreender-se o outro aspecto do termo Summum: o bem
consumadamente perfeito (consummatum), que pode determinar a vontade de modo integral;
nem mesmo a adio de qualquer outro elemento poderia torn-lo mais perfeito.
Ora, na medida em que virtude e felicidade constituem em conjunto a posse do
sumo bem em uma pessoa, mas que com isso tambm a felicidade, distribuda bem
exatamente em proporo moralidade (enquanto valor da pessoa e seu
merecimento de ser feliz), constitui o sumo bem de um mundo possvel, assim este
<sumo bem> significa o todo, o bem consumado (CRPr, A 199).
Somente a lei moral deve determinar a vontade. No entanto, existem vrios elementos
que podem (muitas vezes) influenciar a determinao da vontade. Mas admitindo que um
sujeito seja digno da felicidade (e, somente sob esta condio) ser possvel admitir um bem
perfeito. Felicidade e moralidade so incompatveis quanto ao, incorrendo em uma
impossibilidade do agir moral comportar qualquer tipo de satisfao. Sem a admisso de um
bem perfeito, um mesmo ente no poderia ser digno da felicidade; pois implicaria na
incompatibilidade da virtude com a felicidade e, em ltima instncia, ser digno da felicidade
seria uma contradio. Decorre que a moralidade resumir-se-ia ao agir virtuoso, mas infeliz; e
a felicidade ao agir imoral, ou, no mximo, amoral. Desse modo, seria impossvel a
completude do bem perfeito efetivado pela dignidade de ser feliz, pois tanto o homem feliz
quanto o moral, sofreriam de alguma maneira a falta do outro elemento. Pois (logicamente),
no o sumo bem possuir somente o bem supremo, e muito menos possuir apenas o bem
sensvel.
Com efeito, o sumo bem (ou Summum Bonum, conforme a expresso latina) tem de ser
entendido a partir da unio (a priori) do supremo bem possvel no mundo com o mais
perfeito bem (ideal). Nele se unem a tendncia de alcanar a satisfao plena (subjetivamente
desejvel, mas impossvel sensivelmente) e o agir determinado pela lei moral (universal e
objetivamente possvel)245.
245
Para o agente s voltas com um mundo sensvel, a moralidade constitui o bem supremo; mas, no mundo
inteligvel da comunidade dos agentes livres, moralidade e felicidade se integram na efetivao do bem
consumado, pelo menos como esperana que o agente moral tem direito de alimentar (BECKENKAMP,
Joozinho, 1998, p. 35).
94
3.2 A primeira apresentao do conceito de sumo bem no Cnon da Crtica da razo
pura
No Cnon da Crtica da razo pura, pela primeira vez, Kant menciona ou apresenta o
objeto da moralidade. No decorrer de toda a obra kantiana mantida a mesma definio
quanto questo do sumo bem (ou Summum Bonum). Ele continua consistindo na unio da
felicidade com a moralidade. No entanto, na filosofia madura de Kant, parece que so as
idias de Deus e de imortalidade que sofrem mudana, passando de um nvel fundamental
para um outro meramente regulativo.
No Cnon, depois de ter mostrado que o uso especulativo da razo pura relativamente
s idias no amplia minimamente o conhecimento, Kant busca dar respostas s trs questes
que esto no cerne da sua investigao filosfica. Segundo ele, todo o interesse da razo
(tanto especulativo quanto prtico) concentra-se nas trs seguintes perguntas: o que posso
saber? O que devo fazer? O que me permitido esperar? (CRP, B 833).
No entender de Kant, a primeira pergunta puramente especulativa (CRP, B 833), na
medida em que referente a todo o conhecimento sensvel. Segue-se que uma resposta
plausvel para ela deveria levar em considerao dois pressupostos importantes. No que se
refere ao conhecimento246, o entendimento, na medida em que faz uso constitutivo de todos os
seus conceitos, se restringe ao mbito da experincia possvel. Alm disso, o conhecimento
acerca da origem e do limite de toda a possibilidade do conhecer possvel somente mediante
a reflexo transcendental, uma funo unicamente da razo especulativa. O problema
fundamental do conhecimento relativo ao que garante a sua validade objetiva, ele deve
resultar a partir (e luz) da razo e mediante o reconhecimento das suas condies e seus
prprios limites247.
No obstante, faz parte da essncia humana, com relao aos limites do conhecimento, o
esforo para ultrapass-los. Como tal, o conhecimento humano precisa ser pensado sob essa
condio. Segundo as palavras de Kant, a razo, ento,
impelida por um pendor de sua natureza, a ultrapassar o uso da experincia e a se
aventurar, num uso puro e mediante simples idias, at os limites extremos de todo
o conhecimento, bem como a no encontrar paz antes de atingir a completude de
seu crculo num todo sistemtico e auto-subsistente (CRP, B 825).
246
Aqui trata-se unicamente do conhecimento das cincias em geral, na medida em que se limitam a objetos
dados na intuio sensvel.
247
No, el problema fundamental que el conocimiento plantea, el de lo que garantiza su validez objetiva, su
relacin con el objeto, debe ser resuelto partiendo de la base del conocimiento mismo, bajo la clara luz de la
razn y mediante el reconocimiento de sus condiciones y lmites peculiares (CASSIRER, Ernst, 1985, p. 158).
95
As idias ou conceitos puros da razo so sempre transcendentes, (no possuem um
correspondente na esfera do mundo sensvel) para a razo especulativa, no que diz respeito ao
conhecimento. Portanto, segundo Kant, a resposta primeira pergunta poderia ser que
podemos conhecer somente aquilo que a experincia puder nos mostrar, ou seja, aquilo que a
experincia puder nos proporcionar.
A segunda pergunta (ou questo) essencialmente prtica e embora enquanto tal possa
pertencer razo pura, mesmo assim no transcendental, mas sim moral (CRP, B 833).
Segundo Kant, existem somente duas espcies de princpios de determinao da vontade, a
saber, o material e o formal. Os princpios materiais tm por finalidade a felicidade do
homem, na medida em que ela consiste na satisfao de todas as inclinaes (CRP, B 834).
Esses princpios so empricos e, portanto, somente possveis mediante as leis da natureza. O
princpio formal, ao contrrio, abstrai das condies empricas e tem como fundamento
determinante unicamente a liberdade atribuda aos seres racionais (em geral). Quem fornece
as leis morais ao homem apenas a sua razo, de modo totalmente a priori. A lei moral, na
medida em que determina imediatamente a vontade, um mandamento incondicional. D-se
que o homem tem de agir de tal forma para que se realize enquanto humano e racional. Sendo
assim, a resposta segunda pergunta a seguinte: faze aquilo atravs do que te tornars
digno de ser feliz (CRP, B 836-837).
A partir desse pressuposto, possvel afirmar que a teoria moral est diretamente
associada, pelo menos enquanto idia, felicidade. Pois, a lgica da argumentao moral
que a harmonia entre a lei moral e a felicidade pode coexistir sem contradio; porm, a
condio que a lei moral seja inviolvel248. A teoria moral kantiana , pois, teoricamente
constituda a partir da conexo249 ou unio da dignidade de ser feliz e da prpria felicidade.
Segundo o prprio Kant, no Cnon, assim como nas obras posteriores, uma tal conexo s
pode ser esperada se uma razo suprema que comanda segundo leis morais posta ao mesmo
tempo como fundamento e enquanto causa da natureza (CRP, B 838)250.
A terceira pergunta de Kant , pois, ao mesmo tempo, prtica e terica, j que conduz o
uso prtico e terico da razo a uma unidade finalstica; de tal modo que, o prtico serve
unicamente como um fio condutor para se responder questo terica e, no caso desta elevarse a questo especulativa (CRP, B 833). A possibilidade de uma resposta ltima pergunta
248
Cf: KRASSUSKI, Jair Antnio, 2005, p. 84.
Tal conexo no pode ser compreendida pela razo somente no nvel da natureza como fundamento, mas,
sobretudo, a partir da postulao de uma razo suprema.
250
A soluo de Kant, portanto, foi articular, pela via moral, a existncia de um ser que possibilitasse a
conjuno da virtude e da felicidade (Cf. KRASSUSKI, Jair Antnio, 2005, p. 265).
249
96
depende diretamente da soluo dada segunda questo, ou seja, ela lhe serve de condio; se
houver um comportamento que, enquanto tal, seja digno de participar dessa felicidade
lcito esperar participar da mesma251. A esperana de participar da felicidade como
recompensa final, para o sujeito que age de modo justo, bom e honesto, pode vir a ser suprida
somente a partir da lei moral e denomina-se sumo bem252.
De outro modo, uma vez que as aes morais, enquanto efeitos da liberdade podem vir a
ser realizadas no mundo sensvel (mesmo que no cheguem acontecer). Mesmo assim, Kant
diz que em um mundo inteligvel pode-se tambm pensar como necessrio um tal sistema de
uma felicidade proporcional ligada moralidade (CRP, B 837); mundo esse em que a prpria
liberdade seria a causa (direta) da felicidade universal253. No mundo sensvel, o cumprimento
das exigncias da lei moral no acarreta nenhuma felicidade, a no ser por uma conexo
absolutamente contingente. Para um ser finito, no h, portanto, nenhuma correspondncia
necessria entre felicidade e moralidade, visto que tal ser no causa da natureza254.
Segue-se, que a ligao entre o agir moral e a felicidade pressupe como necessria
idia de uma razo suprema (e ordenadora)255, enquanto fundamento causal do mundo.
Segundo as palavras de Kant:
A idia de uma tal inteligncia em que a vontade moralmente mais perfeita , ligada
bem-aventurana suprema, a causa de toda a felicidade no mundo na medida em
que esta ltima est numa relao precisa com a moralidade (como merecimento de
ser feliz), por mim intitulada o ideal do bem supremo (CRP, B 838).
Na Primeira Crtica, o ideal do sumo bem, denominado por Kant tambm de ideal do
bem supremo originrio, o fundamento da possibilidade do bem supremo derivado, ou seja,
o bem enquanto proporo correta da felicidade e da dignidade de ser feliz256. A realizao do
bem supremo derivado deve ser tomada como possvel, pois, do contrrio no haveria sentido
a prpria idia de moralidade. Nesse intuito, Kant trabalha, no Cnon, a partir da
251
A felicidade enquanto mero ideal da imaginao, no seno uma representao que consiste na satisfao de
todas as inclinaes. Dado que ela repousa sobre princpios empricos e, por conseguinte, materiais e
contingentes, no poderia jamais servir como justificativa para o agir ou fundamento da moral. No entanto, nos
termos de dignidade de ser feliz, a felicidade um dos elementos constituintes do sumo bem.
252
Cf: KRASSUSKI, Jair Antnio, 2005, p. 260.
253
Sendo a conjuno da moralidade e da felicidade o sumo bem em uma pessoa, e no se podendo esperar esta
justa conjuno no mundo sensvel, tal qual o conhecemos, o sumo bem da pessoa remete a um mundo em que a
felicidade seria distribuda exatamente na proporo da moralidade (como valor da pessoa e sua dignidade de ser
feliz). A distribuio da felicidade na exata proporo da moralidade ou da dignidade de ser feliz constitui o
sumo bem de um mundo possvel ou o melhor estado do mundo (BECKENKAMP, Joosinho, 1998,p. 51).
254
BORGES, Maria de Lourdes, 2003, p. 207.
255
Ver tambm RL, p. 15.
256
O fim (a felicidade) o bem supremo de um mundo que se espera alcanar, na medida em que a moralidade
se cumpre e o homem se torna digno da felicidade a partir de tal cumprimento (o cumprimento do dever).
97
possibilidade de existncia de um mundo inteligvel, isto , moral (CRP, B 839). Tal
possibilidade, pois, remete pressuposio de uma vida futura e de um ser supremo, embora a
observncia da lei moral (e somente ela) seja a causa do bem supremo no mundo257.
A concepo da moralidade que aparece na Crtica da razo pura pode ser considerada
heternoma, diante do restante das obras kantianas258. No Cnon, as idias de imortalidade
e Deus so colocadas como conceitos necessrios para a justificao da moralidade. Kant
estabelece (no somente na primeira Crtica) a concepo Leibniziana de Deus, a soma total
de todas as possibilidades, como uma idia necessria da razo259.
J que somos necessariamente constrangidos pela razo e nos representamos como
pertencentes a um tal mundo, embora os sentidos nada mais nos apresentem do que
um mundo de fenmenos, temos que admitir aquele mundo moral como uma
conseqncia de nosso comportamento no mundo sensvel e, j que este ltimo no
nos exibe uma tal conexo entre a moralidade e a felicidade, como um mundo
futuro para ns. Portanto, Deus e uma vida futura so duas pressuposies
inseparveis, segundo princpios da razo pura, da obrigatoriedade que exatamente
a mesma razo nos impe (CRP, B 839).
Com efeito, somente a idia de liberdade um pressuposto necessrio para a justificao
do agir moral. No entanto, no Cnon, as idias de Deus e de imortalidade da alma no so
descartadas. Nesse perodo Kant tem esses postulados vinculados obrigatoriedade da lei, de
modo que so necessrios para a justificao do agir, o que no ocorre mais no restante do
perodo crtico. Assim, possvel afirmar que o primeiro esboo da Filosofia prtica kantiana,
exposto no Cnon da primeira Crtica, pode ser considerado heternomo, em certa medida,
frente aos escritos posteriores.
3.3 O sumo bem e seus desdobramentos
Na Filosofia prtica de Kant, o conceito de sumo bem s plenamente desenvolvido a
partir da Dialtica da Crtica da razo prtica. Todavia, possvel perceber indcios de sua
257
Ver tambm RL, nota 2.
Se avaliarmos a teoria do agir da primeira Crtica luz da teoria kantiana madura, exposta na Fundamentao
da metafsica dos costumes e na Crtica da razo prtica, ento podemos dizer que Kant desenvolveu na Crtica
da razo pura uma teoria heternoma da moralidade. Na Fundamentao, a liberdade prtica se identifica com
autonomia, isto , com a propriedade da vontade de ser lei para si mesma. A liberdade no mais concebida
apenas como uma mera racionalidade da ao. Na Crtica da razo prtica, a autonomia a capacidade da razo
(que passa a ser chamada de razo prtica pura na medida em que a lei moral se impe na conscincia como um
facto da razo) de determinar o arbtrio de um modo absolutamente independente de qualquer impulso sensvel.
Em outras palavras, Kant assume, em sua teoria moral madura, o conceito de liberdade prtica em sentido forte,
na medida em que atribui lei moral a condio de mbil suficiente da ao.
259
Kant establishes the Leibnizian conception of God, the sum-total of all possibility, as a necessary idea of
reason ( KLEIST, Edward Eugene, 2000, p. 57).
258
98
presena tambm na Fundamentao da metafsica dos costumes e no Cnon da Crtica da
razo pura260. No incio da Dialtica, segundo o dizer de Kant, a razo pura, tanto no seu
uso especulativo quanto no prtico, busca a totalidade absoluta das condies para um
condicionado dado (CRPr, A 192). A reflexo sobre tal busca tem a caracterstica de
inevitvel investigao referente razo pura, na medida em que propicia estabelecer os
limites do uso terico e prtico da razo; e tambm previne que a razo caia em uma iluso
decorrente do fato de ultrapassar tais limites. Com efeito, para Kant, a razo no seu uso
prtico procura a totalidade incondicionada do objeto da razo prtica pura sob o nome de
sumo bem (CRPr, A 194); isto , a combinao perfeita entre virtude e felicidade.
A compreenso do significado do conceito de sumo bem e da possvel relao existente
entre virtude e felicidade consiste em uma tarefa de extrema importncia para que seja
possvel entender a tica kantiana como um sistema261; na medida em que somente a
representao da lei moral pode servir na determinao da vontade para a realizao da ao
moral. Para Kant, o fato que o bem supremo,
enquanto primeira condio do sumo bem constitui a moralidade e que,
contrariamente, a felicidade em verdade constitui o segundo elemento do mesmo,
contudo de modo tal que esta seja conseqncia moralmente condicionada, embora
necessria, da primeira. Unicamente nesta subordinao o sumo bem o objeto
total da razo prtica pura, a qual necessariamente tem de represent-lo como
possvel, porque um mandamento da mesma contribuir com todo o possvel para a
sua produo (CRPr, A 214-215).
Com efeito, a lei moral o nico fundamento determinante da vontade, enquanto prtica, e o
sumo bem simplesmente o objeto da mesma.
Kant, na Crtica da razo prtica, adota um novo posicionamento frente ao que j havia
afirmado na Crtica da razo pura, no que se refere ao significado do conceito de sumo bem.
Enquanto no Cnon da primeira Crtica a representao de Deus tida como mola
propulsora e, com isso, ainda esto em jogo restos de heteronomia262, aps 1781 Kant
desacoplou o conceito de Deus da obrigatoriedade da lei moral e explicou-a inteiramente a
260
somente na Dialtica da razo pratica pura que Kant explicita definitivamente a relao entre virtude e
felicidade. Todavia, no Cnon da primeira Crtica que o conceito de sumo bem apresentado pela primeira
vez.
261
A noo de unidade sistemtica ou sistema entendido em Kant a partir da idia de um agregado de
elementos formando uma totalidade (enquanto idia). A idia realizada, no sistema, por meio de um esquema
que liga uma espcie de multiplicidade e uma ordem essenciais das partes, ambas determinadas a priori a partir
do princpio definido por seu fim (CRP, B 861). Na idia de sistema, ambas as partes so entrelaadas
formando a totalidade (que ao mesmo tempo uma unidade), mas cada uma tem a sua funo, que necessria,
existindo assim uma interdependncia entre o todo e as partes. A falta de qualquer uma dessas partes
comprometeria o sistema. Portanto, existe uma necessidade na qual cada elemento depende do outro, ao mesmo
tempo distinto. Kant considera a filosofia um sistema de conhecimento, que pode ser dividido em filosofia
prtica e terica; mas, que formam uma unidade.
262
FRSTER, Eckart, 1998, p. 34.
99
partir do sentimento do respeito pela lei moral263. Com relao ao sumo bem, mais
precisamente, a mudana consiste que esse passa a ser incondicionado correspondente
totalidade do objeto da razo prtica pura somente. Contudo, para que ele seja possvel, deve
ser admitida uma perfeita correspondncia entre virtude e felicidade; junto com isso, tambm
as condies para tal possibilidade, quais sejam: a liberdade da vontade, a imortalidade da
alma e a existncia de Deus. Essas proposies no podem nem ser provadas e nem
refutadas264.
A compreenso relativa ao conceito de sumo bem (o qual melhor expresso na Crtica
da razo prtica), envolve o conhecimento ou o esclarecimento de como acontece a ligao
entre virtude e felicidade. Por no admitir a ligao analtica entre ambas, Kant levado a
afirmar que a virtude liga-se felicidade sinteticamente. Porm, se faz necessrio demonstrar
a possibilidade de tal ligao.
263
FRSTER, Eckart, 1998, p. 34.
Os prprios textos kantianos (o comentrio de Andrews Reath), os quais se reportam ao sumo bem,
aumentam a complexidade dos comentrios referentes a esse conceito. O significado filosfico de sumo bem ,
dessa maneira, bastante obscurecido, permanecendo sempre uma questo aberta (Cf: REATH, Andrews, 1988,
p. 594). Segue-se, pois, que existem diferentes posies quanto interpretao da concepo (mais aceita) de
sumo bem, e, isso pode ser comprovado como conseqncia dos prprios textos de Kant. As concepes
referentes ao sumo bem podem ser de dois tipos: teolgica ou secular (poltica). Em ambas (as concepes),
o sumo bem descrito como o fim final, o qual deve ser promovido a partir da conduta moral (Cf: REATH,
Andrews, 1988, p. 594). A concepo teolgica (a mais comum entre os comentadores) descreve o sumo bem
como a virtude de todos os indivduos juntamente com a felicidade distribuda (a eles) proporcionalmente
primeira. No entanto, para que possa haver tal proporcionalidade, faz-se necessria a existncia de Deus e, que
pelo menos, se tome por referncia a existncia ideal de um outro mundo, no qual o sumo bem possa ser
realizado ou levado a efeito; visto que, a exata proporo de felicidade relativa virtude, no possvel no
mbito sensvel (finito). Andrews Reath, em Two Conceptions of the Highest Good in Kant, toma a verso
secular como a mais coerente ou a que melhor expressa a viso kantiana (Cf: REATH, Andrews, 1988, p. 594);
embora, segundo ele, parea que no pensamento kantiano, a viso teolgica nunca tenha sido completamente
enfraquecida (Cf: REATH, Andrews, 1988, p. 601). Segundo a observao de Reath, a concepo secular ou
poltica a mais coerente pelo fato de que a teolgica simplesmente toma o sumo bem como possvel a partir da
impresso causada pela boa conduta humana; mas a possvel realizao do sumo bem somente torna-se efetiva a
partir da ao de Deus. Portanto, o sumo bem viabilizado a partir de uma causa externa. Por contraste, na
concepo secular, o sumo bem descrito inteiramente em termos naturalsticos, a partir de um estado de
relaes que pode ser encontrado neste mundo, unicamente atravs da atividade humana (Cf: REATH, Andrews,
1988, p. 601). Com efeito, pode-se dizer ento que a necessidade de realizao do sumo bem, segundo a
concepo secular, quase contingente, pois no h necessariamente relao de proporcionalidade entre virtude
e felicidade (para cada agente). Segundo essa concepo devem ser considerados os bens subjetivos de cada um,
desde que esses no contradigam a lei moral. Alm disso, os indivduos de uma determinada poca histrica
particular podem experienciar o sumo bem, embora ele somente tenha sido obtido (ou resultado) a partir de
esforos de muitas geraes anteriores (Cf: REATH, Andrews, 1988, p. 603). Nesse sentido, pode ser traduzido
o postulado da imortalidade da alma. Com efeito, ambas as verses do sumo bem podem iniciar algum tipo de
resposta referente ao papel da conduta moral humana em um mundo imperfeito. Para Reath, o reconhecimento
de uma concepo secular ou poltica do sumo bem na teoria moral kantiana permite uma soluo mais
satisfatria, dando mais luz teoria. O sumo bem, assim entendido, seria realizado a partir de um sistema de
instituies sociais, as quais suportam a realizao de certos fins morais. Essa concepo coloca como fim final
da conduta moral um mundo no qual o indivduo podendo agir a partir da representao da lei moral, pode
realizar os fins tencionados na prpria vivncia (Cf: REATH, Andrews, 1988, p. 619; ver tambm: ESTEVES,
Julio, 2007, p.p. 1-20).
264
100
Admitindo que a ligao consiste em uma sntese (de conceitos), Kant exclui a
possibilidade dela ser inferida da experincia, restando somente a possibilidade de ligao a
partir da admisso de um fundamento no sensvel265. Nesse sentido, possvel dizer que
interpretar e compreender corretamente o sumo bem, significa admitir a conexo sinttica e
no analtica entre virtude e felicidade e tambm a necessidade da pressuposio dos
postulados da razo prtica pura266.
Com efeito, fica evidenciado que o sumo bem no pertence fundamentao da
moralidade (ou para justific-la), mas, por sua vez, produzido a partir da liberdade da
vontade. O sumo bem, assim, visto que, no pode ser esperado na vivncia temporal (ou
emprica) s pode ter a sua possibilidade concedida sob a pressuposio de um Autor moral
do mundo (CRPr, A 261); da mesma forma, somente pode vir a ser realizado a partir da
admisso do postulado da imortalidade da alma ou de uma vida futura, ou seja, a partir dos
postulados da razo prtica.
Esses postulados no so dogmas tericos mas pressuposies em sentido
necessariamente prtico, logo, em verdade, <no> ampliam o nosso conhecimento
especulativo mas conferem realidade objetiva s idias da razo especulativa em
geral (mediante sua referncia ao domnio prtico) e justificam conceitos, cuja
possibilidade ela, do contrrio, nem sequer poderia arrogar-se afirmar (CRPr, A
238).
Os postulados, no obstante, que so pressuposies prticas, se justificam
necessariamente a partir do princpio supremo da moralidade (que no outra coisa seno a
representao lei que deve determinar imediatamente a vontade). Segundo Kant, o postulado
da imortalidade da alma diz respeito satisfao humana, no que se reporta busca da
perfeio moral. Tal perfeio, no pode ser alcanada na existncia finita, ou seja, na esfera
sensvel, mas a sua busca necessria, na medida em que conduz ao segundo elemento do
sumo bem, isto , a felicidade. Para isso, Kant v a necessidade da postulao da existncia de
Deus, por um ponto de vista prtico. Se faz necessrio moralmente admitir tal existncia267.
Entretanto, Kant adverte para o seguinte:
essa necessidade moral subjetiva, isto , uma carncia, e no objetiva, ou seja,
ela mesma um dever; pois no pode haver absolutamente um dever de admitir a
existncia de uma coisa (porque isto concerne meramente ao uso terico da razo)
(CRPr, A 226).
265
Cf: CRPr, A 203.
NODARI, Paulo Csar, 2005, p. 129.
267
Cf: CRPr, A 226.
266
101
Sem a admisso da imortalidade da alma e da existncia de Deus impossvel a
realizao do sumo bem. O primeiro elemento do sumo bem (fundamental), ento suprido
plenamente com a admisso da imortalidade da alma. Desse postulado, fica tambm admitida
a possibilidade de um contnuo progresso moral. O segundo elemento, ou seja, a felicidade
plena, obtido a partir da admisso da possvel existncia de Deus.
Com efeito, pois, pode-se dizer que se h um elemento (regulativo) capaz de constituir
efetivamente o sumo bem seria Deus, posto que, somente ele poderia conhecer as verdadeiras
disposies morais do homem. Segundo o dizer de Kant, a lei moral, por si e autonomamente
conduziu ao problema prtico, imposto simplesmente pela razo pura sem nenhuma
participao de motivos sensveis, a saber, da necessria completude da primeira e
principal parte do sumo bem, a moralidade, e, como esse problema s pode ser
resolvido inteiramente em uma eternidade, conduziu ao postulado da imortalidade.
Essa mesma lei tem de remeter tambm, to desinteressadamente como antes a
partir de uma simples razo imparcial, possibilidade do segundo elemento do
sumo bem, a saber, a felicidade adequada quela moralidade, ou seja,
pressuposio da existncia de uma causa adequada a esse efeito, isto , postular a
existncia de Deus como necessariamente pertencente possibilidade do sumo
bem (que como objeto de nossa vontade est necessariamente vinculado
legislao moral da razo pura) (CRPr, A 223-224).
No decorrer da argumentao Kant faz a ressalva, reforando a afirmao acima, de que o
sumo bem s possvel no mundo na medida em que for admitida uma <causa> suprema da
natureza [mas] que contenha uma causalidade adequada disposio moral (CRPr, A 225).
Para o propsito do trabalho (dissertar sobre a funo sistemtica da felicidade), no
necessrio investigar a fundo toda a obra kantiana (tal como a Crtica da faculdade do juzo);
pois o conceito de sumo bem, no qual a felicidade se insere, plenamente desenvolvido na
Dialtica da segunda Crtica. Com a introduo do conceito de sumo bem em seu sistema
crtico, Kant acena para o fato de que a vontade aspira constantemente para um fim, ou seja,
existe um interesse de realizao do agir humano e da humanidade de um modo geral. O fim
ltimo humano (o sumo bem) somente pode ser obtido ou alcanado a partir do postulado da
existncia moral de Deus268. Segue-se, pois, que:
A lei moral ordena-me fazer do sumo bem possvel no mundo o objeto ltimo de
toda a conduta. Mas eu no posso esperar efetuar isso seno pela concordncia de
minha vontade com a de um santo e benvolo Autor do mundo, e conquanto no
conceito de sumo bem como um todo, no qual a mxima felicidade representada
como vinculada na mais exata proporo com a mxima medida de perfeio moral
268
Dessa maneira [segundo Kant] a lei moral conduz, mediante o conceito de sumo bem enquanto objeto e fim
terminal da razo prtica pura, religio, quer dizer ao conhecimento de todos os deveres como
mandamentos divinos, no enquanto sanes, isto , decretos arbitrrios, por si prprios contingentes, de
uma vontade estranha e, sim enquanto leis essenciais de cada vontade livre por si mesma mas que apesar disso
tm que ser consideradas mandamentos do ser supremo (CRPr, A 233).
102
(possvel em criaturas), a minha felicidade prpria esteja tambm includa, no
contudo, ela mas a lei moral (a qual, muito antes, limita rigorosamente sob
condies a minha ilimitada aspirao por ela) o fundamento determinante da
vontade que dirigida promoo do sumo bem (CRPr, A 233-234).
Ora, a partir da Dialtica da Crtica da razo prtica, possvel afirmar que a idia da
possvel realizao do sumo bem est necessariamente apoiada nos postulados da
imortalidade da alma e da existncia de Deus. O argumento kantiano de que a moral conduz
religio, pode ser interpretado a partir da possibilidade de existncia de um suposto legislador
moral de todos os homens269. Para o homem, no obstante, somente possvel esperar
participar da felicidade, na medida em que o mesmo tornou-se digno dela a partir de sua
prpria conduta270. Ademais, unicamente desse modo que a felicidade passa a exercer uma
funo sistemtica na filosofia prtica de Kant.
4 A felicidade no sistema moral kantiano
A felicidade uma tendncia natural humana, que enquanto tal (praticamente)
independe da moralidade. No entanto, mesmo que ela (a felicidade) no resulte diretamente da
ao moral, somente na medida em que age moralmente que o homem se torna digno de ser
feliz271. E, justamente nessa idia: do merecimento de ser feliz, que se coloca o teorema
central da filosofia prtica kantiana. Pois na realidade, o homem moral nem sempre bem
sucedido, em contrapartida, o imoral tampouco desafortunado, de modo que, a proporo
(ou conjuno exata) de felicidade relativamente moralidade no , e nem pode ser obtida
(proporcionada) naturalmente. Pode-se dizer que em Kant incidiria em erro afirmar que a
virtude deve ser a condio necessria e suficiente para a felicidade, ou seja, a sua causa
direta; j que o mximo que a virtude pode fazer tornar digna a busca da felicidade, pois
ser virtuoso no significa seno ser digno de felicidade272.
A teoria moral kantiana, no obstante, pode ser abordada sob dois pontos de vista, nos
quais a felicidade se mostra de um modo distinto em cada um deles: um, diz respeito
justificao ou fundamentao do agir, no qual a felicidade no exerce funo alguma273; o
outro, se refere ao mbito da efetivao ou realizao, no qual o conceito de felicidade passa a
269
Cf: KRASSUSKI, Jair Antnio, 2005, p. 96.
Cf: CRPr, A 234.
271
A moral definida como a cincia nos ensina ao homem como tornar-se digno da felicidade (Cf: CRPr, A
234; TP, A 208-209).
272
NODARI, Paulo Csar, 2005, p. 129.
273
Uma filosofia a priori no poderia depender de um conceito emprico (BORGES, Maria de Lourdes, 2003,
p. 204).
270
103
exercer uma funo (meramente sistemtica), mas apenas para aquele que age moralmente,
pois somente ele digno de ser feliz274.
A realizao (efetiva) da moralidade no obstante, deve ser tomada como possvel,
mesmo que ela no ocorra no mundo emprico. A realizao de algo pede sempre por um
objeto. No caso da razo prtica pura, isto , de uma vontade pura, o objeto o sumo bem
(Summum Bonum), que consiste na unio de felicidade e merecimento de ser feliz (enquanto
virtude). A lei moral unicamente deve ser considerada o fundamento do mesmo e de sua
possvel realizao ou promoo. Na idia do sumo bem, portanto, que prtico, isto ,
efetivamente realizvel pela vontade humana, virtude e felicidade so pensadas como
necessariamente vinculadas (CRPr, A 204). Nessa medida, a felicidade passa de simples
satisfao emprica a outro nvel conceitual: segundo elemento (e por isso complementar) na
composio ideal do sumo bem (Summum Bonum). A dignidade de ser feliz pois, colocada
em dependncia do ato moral, ou seja, a possvel participao na felicidade deve ser definida
em funo da moralidade do agente275. O sumo bem, por sua vez, no pertence justificao
da moralidade (ou teoria moral), mas determinao do fundamento da teoria completa da
conscincia moral ltima276. Em outras palavras, o sumo bem, enquanto objeto da vontade,
deve ser determinado pela vontade mesma em si (livre) e no o contrrio277.
Para Kant, se o sumo bem for impossvel segundo regras prticas, ento tambm a lei
moral, que ordena a promoo do mesmo, tem que ser fantasiosa e fundar-se sobre fins
fictcios vazios, por conseguinte tem de ser em si falsa (CRPr, A 205). Nesse sentido, pois,
pode-se dizer que a lei moral no apenas um pensamento bonito, uma construo abstrata
sem relao vida cotidiana do homem, mas, bem pelo contrrio, uma realidade perceptvel
por todos278.
A realizao do sumo bem no mundo o objeto necessrio de uma vontade
determinvel pela lei moral. Nessa vontade, porm, a conformidade plena das
disposies lei moral a condio suprema do sumo bem. Logo, ela tem que ser
to possvel quanto o seu objeto, porque ela est contida no mesmo mandamento
que ordena a promoo dele (CRPr, A 219-220).
274
A felicidade consiste na satisfao de todas as inclinaes (diz respeito sensibilidade). No haveria sentido
algum (seria contraditrio) agir moralmente para, a partir disso, tornar-se digno da felicidade, ou seja, digno de
satisfazer as prprias satisfaes sensveis. Portanto somente o conceito de felicidade exerce uma funo
meramente sistemtica.
275
Segundo a interpretao de Curtis Bowman, em A Deduction of Kants Concept of the Highest Good, Kant
descreve consistentemente o conceito de sumo bem como uma sntese dos conceitos de felicidade e virtude tal
que a felicidade esteja em estrita proporo e causada pela virtude. Dado o status a priori do conceito de sumo
bem, a relao entre os conceitos de felicidade e virtude a priori tambm. Ademais, segundo Bowman, Kant
fala pouco sobre essa ligao, sem conclu-la de forma concreta (Cf: BOWMAN, Curtis, 2003, p.p. 56-57).
276
NODARI, Paulo Csar, 2005, p. 132.
277
Cf: NODARI, Paulo Csar, 2005, p. 132.
278
HAMM, Christian, 1998, p. 61.
104
Segundo Kant, a moral tem de ser pensada como passvel de realizao. A possvel
realizabilidade da moralidade, no entanto, no ocorre no mundo emprico (ou sensvel). No
dizer de Kant, ainda no Cnon da Crtica da razo pura279, em um mundo inteligvel
pode-se pensar como necessrio um tal sistema de uma felicidade proporcional ligada
moralidade (CRP, B 837); no qual a prpria liberdade seria a causa da felicidade universal.
S que, para Kant, tal ligao (entre a moralidade e a felicidade) pressupe como necessria a
idia de uma Razo Suprema enquanto fundamento causal desse mundo.
A partir do momento em que se faz do sumo bem (Summum Bonum) algo realizvel, e
que, enquanto tal, ultrapassa a empiria, se est autorizado, segundo Kant, a aceitar os
postulados da existncia de Deus e de uma alma imortal, como condies de possibilidade da
realizao do sumo bem. Por conseguinte, por razes sistemticas, e no necessariamente
morais ou prticas, que o homem tem motivos para esperar outra vida e uma felicidade futura,
que, enquanto tal, exerce tambm apenas um papel sistematicamente necessrio280.
A felicidade um segundo elemento, e por isso apenas complementar para a realizao
efetiva da moralidade. Com efeito, somente a idia de liberdade um pressuposto necessrio
para a justificao do agir moral. No obstante, na efetivao (ou realizao) da moralidade,
para que haja uma justa distribuio da felicidade, Kant no dispensa as idias de Deus e de
imortalidade como suprfluas. Pois, segundo ele, se o sumo bem (Summum Bonum) o objeto
ltimo da conduta humana, deve ser pensado como realizvel. Portanto (se a moralidade
necessria), o homem est autorizado a supor, por uma questo sistemtica, como
conseqncia necessria a imortalidade e Deus, enquanto postulados da razo prtica pura.
A felicidade embora no possa exercer papel algum no que diz respeito justificao ou
fundamentao da (ao) moral, tem uma funo importante, enquanto complemento, na sua
efetivao ou realizao. Por isso, Kant no exclui a felicidade do agir moral, contudo, no
lhe d o mesmo enfoque que a tradio filosfica lhe deu at ento. Quando se fala da
felicidade na Filosofia Prtica de Kant, parte-se do pressuposto de que ela sempre vai dizer
Desde a primeira Crtica Kant mantm a mesma posio quanto a questo do Summum Bonum.
Segundo Curtis Bowman, possvel que a virtude seja a causa da felicidade, como a nica soluo da
antinomia. Em suas prprias palavras: The solution to this antinomy, which constitutes the only deduction of
the highest good explicitly mentioned in Kants writings, is a metaphysical one: virtue can be the ground of
happiness if and only if world of human action is more than the merely sensible one of the natural sciences. If it
is also an intelligible realm in which God mediates between virtue and happiness, then it is for virtue to cause
happiness. The necessity of pursuing the highest good, whose realization is impossible if the antinomy cannot be
solved, obliges us to a belief in Gods existence as the condition of the possibility of the belief that virtue causes
happiness. This belief is the first of Kants postulates of practical reason; the second is a belief in immortality of
the soul as the condition of the possibility of virtue (BOWMAN, Curtis, 2003, p.p. 46-47).
279
280
105
respeito sensibilidade281. No entanto, quando se pensa o Bem Perfeito para um ser racional,
(no qual deve estar includa tambm a felicidade, agora sob a condio de merecimento) na
medida em que ele se tornou digno de ser feliz, a felicidade no consiste mais na satisfao
das necessidades, tendncias e impulsos naturais do mesmo; mas simplesmente em um
conceito do mundo moral282. Pois o sumo bem, enquanto bem perfeito, nada mais do que
uma sntese de conceitos, a priori, que deve ser pensada como realizvel no mundo emprico.
281
Na verdade, parece que no decorrer da obra kantiana no dada uma definio unvoca sobre o conceito de
felicidade. Na FMC, CRP e CRPr Kant define a felicidade como a satisfao de todas as inclinaes. No entanto,
em TP e CJ parece que o conceito ampliado, passando a consistir na soma de todos os fins humanos. Portanto,
por ser uma busca natural e necessria ao humano, Kant no poderia pensar um sistema tico que deixasse de
lado o conceito de felicidade; j que, de uma forma ou de outra, ela uma finalidade inevitvel ao homem
(sensvel dotado de razo). De fato, sendo o homem o limite do mundo fsico e limite em que a sua organizao
fsica no aparece como elemento contingente, mas sim necessrio, de presumir que a felicidade seja afinal
uma conseqncia dessa situao fsica necessria (MARQUES, Antnio, 1987, p. 333).
282
Cf: NODARI, Paulo Csar, 2005, p.p. 133-134.
106
CONCLUSO
O ponto de partida e a fundamentao da moralidade repousam na concepo segundo a
qual o homem portador de uma razo incondicionada, ou seja, uma faculdade que lhe
possibilita uma certa autonomia diante dos outros entes da natureza. A dignidade do ser
humano, conforme a Resposta pergunta: o que o iluminismo?, encontra-se na capacidade
de agir servindo-se de seu prprio entendimento. Nesta medida, o homem que pretende ser
moral no deveria estar submetido a qualquer outro fim, a no ser o de sua prpria razo, a
saber, o da prpria moralidade que implica no cumprimento do dever por dever.
Na Crtica da razo pura, Kant j afirma que a felicidade consiste na satisfao de
todas as nossas inclinaes (CRP, B 834). Por conseguinte, ela pode ser concebida e
manifesta de diversos modos, e a vontade do homem em relao felicidade, no pode ser
reduzida a um princpio comum, vlido para todos. Princpios empricos so subjetivos e
contingentes, logo a posteriori, e se relacionam com as mais variadas finalidades. A
satisfao baseada em princpios empricos no outra coisa seno a felicidade (esta a
postura mantida em todo o conjunto da Filosofia prtica de Kant).
Na Fundamentao da metafsica dos costumes, Kant afirma que a felicidade no um
ideal da razo, mas da imaginao, que assenta somente em princpios empricos (FMC, BA
48). Enquanto tal, ela jamais pode servir como justificativa para o agir moral. No entanto,
uma vez que as aes morais devem poder acontecer no mundo sensvel, mesmo que no
aconteam, necessrio supor uma ligao entre moralidade e felicidade (ainda que somente
enquanto idia). nesse sentido que o conceito de felicidade pode exercer uma funo
sistemtica e, por isso, Kant no a exclui definitivamente do agir moral; contudo, no lhe d o
mesmo enfoque que a tradio filosfica lhe deu at ento. Quando se fala de felicidade, na
filosofia prtica de Kant, parte-se do pressuposto de que ela sempre vai dizer respeito
sensibilidade.
A partir da sensibilidade o homem s se interessa (ou toma interesse) por aquilo que lhe
proporciona prazer. O sentimento de prazer, que receptivo, faz com que o homem sofra
diversos estmulos. O prazer proporcionado pela sensao provoca um interesse que conduz o
homem a produzir, pela faculdade de desejar, o objeto aprazvel na efetividade da ao (CRPr,
Teorema II). O interesse ento satisfeito pelo objeto do desejo. O resultado , em primeira
instncia, que o sentimento do prazer seja prtico, isto , que sirva de fundamento subjetivo
de determinao do arbtrio. A base dos objetos do desejo est justamente no efeito que
107
proporcionam ao nimo. Esse efeito meramente subjetivo, tendo a sua validade restrita ao
sujeito afetado. , portanto, no interesse emprico que se funda a necessidade de produo do
objeto que sacia o prazer. A produo do objeto aprazvel do desejo d-se por meio da
faculdade de desejar. A mxima produo do objeto aprazvel do desejo chama-se, segundo
Kant, felicidade.
Com efeito, toda a ao praticada pede por satisfao. Todavia, em Kant, uma satisfao
emprica (ou a felicidade) jamais poderia servir de justificativa para o agir moral, uma vez que
toda a satisfao, como j visto, diz respeito sensibilidade ( empiria). Uma filosofia a
priori, pois, que busca princpios prticos universais, no poderia assentar-se em uma noo
cuja definio depende do sentimento de prazer e desprazer de cada agente. Para Kant
(segundo consta no Prefcio Doutrina da Virtude), a admisso de motivos do agir sob o
pretexto da natureza humana (finita e sensvel) consiste na morte suave (ou eutansia) da
moralidade.
No obstante, a busca pela felicidade uma tendncia natural humana, que, enquanto
tal, praticamente independe da moralidade. No entanto, mesmo que ela (a felicidade) no
resulte diretamente da ao moral, somente na medida em que age moralmente que o
homem se torna digno de ser feliz. E, justamente nessa idia, na do merecimento de ser
feliz, que se coloca o "teorema" central da Filosofia prtica kantiana. Pois, na realidade, o
homem moral nem sempre bem sucedido; em contrapartida, o imoral tampouco
desafortunado, de modo que a proporo (ou conjuno exata) de felicidade relativamente
moralidade no algo proporcionado naturalmente.
A teoria moral kantiana pode ser abordada sob dois pontos de vista, nos quais a
felicidade se mostra de maneira distinta em cada um deles: um, diz respeito justificao ou
fundamentao do agir, no qual a felicidade no exerce funo alguma; o outro, se refere ao
mbito da efetivao ou possvel realizao da moralidade, no qual o conceito de felicidade
passa a exercer uma funo (meramente sistemtica), mas apenas para aquele que age
moralmente, pois somente ele digno de ser feliz.
A realizao (efetiva) da moralidade, no obstante, deve ser tomada como possvel,
mesmo que ela no venha a ocorrer no mundo emprico. A realizao de algo pede sempre por
um objeto. No caso da razo prtica pura, isto , de uma vontade pura, o objeto o sumo bem
(summum bonum), que deve ser pensado a priori como realizvel a partir da ao. Ele
consiste na unio de felicidade e merecimento de ser feliz e a lei moral ordena a promoo do
mesmo. Na idia do sumo bem, portanto, que deve ser pensado como efetivamente realizvel,
virtude e felicidade so pensadas como necessariamente vinculadas (CRPr, A 204). Nessa
108
medida, a felicidade passa de simples satisfao emprica outro nvel conceitual: segundo
elemento (e por isso complementar) na composio ideal do sumo bem. A dignidade de ser
feliz, pois, colocada em dependncia do ato moral, ou seja, a possvel participao na
felicidade deve ser definida ou proporcionada em funo da moralidade (ou virtuosidade) do
agente.
Segundo Kant, a moral tem de ser pensada como passvel de realizao. A realizao da
moralidade, no entanto, pode no ocorrer imediatamente no mundo emprico (ou sensvel), no
qual impossvel uma distribuio justa da felicidade. No dizer de Kant, ainda no Cnon da
Crtica da razo pura, em um mundo inteligvel pode-se pensar como necessrio um tal
sistema de uma felicidade proporcional ligada moralidade (CRP, B 837), no qual a prpria
liberdade seria a causa da felicidade universal. S que, segundo ele, tal ligao pressupe
como necessria a idia de uma Razo Suprema, enquanto fundamento causal do mundo.
Em Kant, a partir do momento em que o summum bonum se faz algo realizvel, e que,
enquanto tal, ultrapassa a empiria, se est autorizado, segundo ele, a aceitar a existncia de
uma alma imortal; e, conseqentemente, admitir a figura de uma razo criadora (Deus). Por
conseguinte, por razes sistemticas (aqui regulativas), e no necessariamente morais ou
prticas, que o homem tem motivos para esperar outra vida (ou um seguimento desta) e uma
felicidade futura, que, enquanto tal, exerce tambm, e apenas, um papel sistematicamente
necessrio.
A felicidade consiste no segundo elemento, e por isso to-s complementar na
realizao efetiva da moralidade. Com efeito, para Kant, somente a idia de liberdade um
pressuposto necessrio para a justificao do agir moral. No obstante, na efetivao (ou
realizao) da moralidade, para que haja uma justa distribuio da felicidade, Kant no
dispensa as idias de Deus e de imortalidade da alma como suprfluas. Pois, segundo ele, se o
Summum Bonum o objeto ltimo da conduta humana, e deve ser pensado como realizvel,
somente a partir desses postulados que a sua realizao possibilitada.
Para Kant, definitivamente, a felicidade consiste na satisfao de todas as inclinaes
(diz respeito sensibilidade). No haveria sentido algum (seria contraditrio) agir moralmente
para, a partir disso, tornar-se digno da felicidade, ou seja, digno de satisfazer as prprias
satisfaes sensveis. Visto que a ligao de felicidade e moralidade deve ocorrer
sinteticamente, o sumo bem consiste numa sntese de conceitos. Portanto, somente o conceito
de felicidade exerce uma funo meramente sistemtica na Filosofia prtica de Kant.
109
BIBLIOGRAFIA
Obras de Kant
KANT, Immanuel. A metafsica dos costumes. Trad. dson Bini. Bauru: EDIPRO, 2003.
. A Paz Perptua e outros opsculos. Trad. Artur Moro. Lisboa: Edies 70, 1988.
. A religio nos limites da simples razo. Trad. Artur Moro. Lisboa: Edies 70,
1992.
. Anthropologie du point de vue pragmatique. Trad. Michel Foucault. Paris: Vrin,
1970.
. Antologa. Edicin de Roberto Rodrguez Aramayo. Barcelona: Pennsula, 1991.
. Antropologia de um ponto de vista pragmtico. Trad. Cllia Aparecida Martins.
So Paulo: Iluminuras, 2006.
. Antropologa en sentido pragmtico. Trad. Jos Gaos. Madrid: Alianza, 1991.
. Antropologa prctica (Segn el manuscrito indito de C.C. Mrongovius,
fechado em 1785). Edio preparada por Roberto Rodriguez Aramayo. Madrid: Tecnos,
1990.
. Crtica da faculdade do juzo. Trad. Valerio Rohden e Antnio Marques. 2 ed.. Rio
de Janeiro: Forense Universitria, 2002.
. Crtica da razo prtica. Trad. Afonso Bertagnoli. 3 ed.. So Paulo: Edies e
Publicaes Brasil Editora, 1959.
. Crtica da razo prtica. Trad. Artur Moro. Lisboa: Edies 70, 1986.
. Crtica da razo prtica. Trad. Valerio Rohden. Baseada na edio original de
1788. So Paulo: Martins Fontes, 2002.
. Critique de la raison pratique. Trad. Franois Picavet. Paris: Universitaires
Presses, 1971.
. Crtica da razo pura. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique
Morujo. 5 ed.. Lisboa: Fundao Calousete Gulbenkian, 2001.
. Crtica da razo pura. Trad. Valerio Rohden e Udo Baldur Moosburger. So Paulo:
Nova cultural, 1996.
. Fundamentao da metafsica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa:
Edies 70, 1995.
110
. La metafsica de las costumbres. Trad. Adela Cortina Orts y Jess Conill Sancho.
Madrid: Tecnos, 1989.
. Lecciones de tica. Trad. Roberto Rodrgues Aramayo y Concha Roldn Panadero.
Barcelona: Crtica, 2002.
. Lectures on logic. Translated and edited by Michael Young. New York: Cambridge
University Press, 1992.
. Manual dos cursos de Lgica Geral. Trad. Fausto Castilho. 2 ed.. Campinas:
UNICAMP; Uberlndia: EDUFU, 2003.
. Primeira introduo Crtica do juzo. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho (Os
Pensadores). 2 ed.. So Paulo: Abril Cultural, 1984.
. Sobre a pedagogia. Trad. Francisco Cock Fontanella. 4 ed.. Piracicaba: UNIMEP,
2004.
2-Obras de apoio
ALLISON, Henry E.. El idealismo trascendental de Kant: una interpretacin e defensa.
Trad. Dulce Mara Granja Castro. Barcelona: Anthropos, 1992.
. Kants theory of freedom. New York: Cambridge University Press, 1990.
BARON, Marcia W.. Kantian Ethics almost without Apology. Ithaca: Cornell University
Press, 1995.
BECK, Lewis White. A commentary on Kants Critique of Practical Reason. Chicago:
University of Chicago Press, 1984.
BORGES, Maria de Lourdes; DALLAGNOL, Darlei; DUTRA, Delamar Volpato. tica (O
que voc precisa saber sobre). Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
CAYGILL, Howard. Dicionrio Kant. Trad. lvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.
CAMPRE-CASNABET, Michle. Kant uma revoluo filosfica. Trad. Lucy Magalhes.
Rio de Janeiro: Zahar, 1994.
CASSIRER, Ernst. Kant, vida y doctrina. Trad. Wenceslao Roces. Mxico: Fondo de
Cultura Economica, 1985.
DELBOS, Victor. La philosophie pratique de Kant. 3 ed.. Paris: PUF, 1969.
DELEUZE, Gilles. A filosofia crtica de Kant. Trad. Germiniano Franco. Lisboa: Edies
70, 1994.
DUTRA, Delamar Volpato. Kant e Habermas: a reformulao discursiva da moral
kantiana. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002.
111
GUYER, Paul. Kant on Freedom, Law, and Happiness. New York: Cambridge University
Press, 2000.
HECK, Jos N.. Direito e moral: duas lies sobre Kant. Goinia: UCG / UFG, 2000.
HERMAN, Barbara. The Practice of Moral Judgment. Harvard: Harvard University Press,
1993.
HERRERO, Francisco Javier. Religio e histria em Kant. Trad. Jos A. Ceschia. So
Paulo: Loyola, 1991.
HFFE, Otfried. Immanuel Kant. Trad. Christian Viktor Hamm e Valerio Rohden. So
Paulo: Martins Fontes, 2005.
KLEIST, Edward Eugene. Judging Appearances. A Phenomenological Study of the
Kantian sensus communis. Dordrecht / Boston / London: Kluwer Academic Publishers,
2000.
KRNER, Stephan. Kant. Versin espaola de Igncio Zapara Tellechea. Madrid: Alianza,
1987.
KORSGAARD, Christine M.. Creating the Kingdom of Ends. New York: Cambridge
University Press, 1996.
KRASSUSKI, Jair Antnio. Crtica da religio e sistema em Kant: um modelo de
reconstruo racional do cristianismo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005.
MARQUES, Antnio. Organismo e sistema em Kant. Lisboa: Editorial Presensa, 1987.
ONEILL, Onora. Constructions of reason: Explorations of Kants practical philosophy.
New York: Cambridge University Press, 1989.
PASCAL,Georges. Compreender Kant. Introduo e traduo de Raimundo Vier.
Petrpolis: Vozes, 2005.
PATON, H. J.. The Categorical Imperative. A Study in Kants Moral Philosophy.
Philadelphia / Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1971.
ROHDEN, Valerio. Interesse da razo e liberdade. So Paulo: tica, 1981.
ROSEN, Allen D. Kants Theory of Justice. Ithaca and London: Cornell University Press,
1993.
WIKE, Victoria S.. Kant on Happiness in Ethics. Albany, New York: State University of
New York Press, 1994.
WOOD, Allen, W.. Kant. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.
. Kants Ethical Thought. New York: Cambridge University Press, 1999.
112
. Kants Moral Religion. Ithaca and London: Cornell University Press, 1970.
ZINGANO, Marco Antnio. Razo e Histria em Kant. So Paulo: Brasiliense, 1989.
3- Artigos
ALMEIDA, Guido A. de. Crtica, deduo e facto da razo. In: Analytica, 1 (1999): 57-84.
. Kant e o fato da razo: cognitivismo ou decisionismo moral?. In: Studia
kantiana, 1 (1998): 53-81.
ALQUI, Ferdinand. Introduction a la lecture de la Critique de la raison pratique. In:
Critique de la raison pratique. Trad. Franois Picavet. Paris: Universitaires Presses, (1971):
VII-XXXIV.
ANDRADE, Regis Castro de. Kant: a liberdade, o indivduo e a repblica. In: WEFFORT,
Francisco (org.). Os clssicos da poltica. 2 ed. So Paulo: tica, (2000): 47-99.
BARON, Marcia W.. Acting from Duty (GMS, 397-401). In: HORN, Christoph and
SCHNECKER, Dieter (orgs.). Groundwork for the Metaphysics of Morals, New York /
Berlin: Walter de Gruyter (2006): 72-92.
BECKENKAMP, Joosinho. Imperativo ou razo e felicidade em Kant. In: Dissertatio,
UFPel, 7 (1998): 23-56.
BORGES, Maria de Lourdes. As estratgias de controle das emoes. In: BORGES, Maria
de Lourdes e HECK, Jos N. (orgs.). Kant: liberdade e natureza, Florianpolis: Ed. da
UFSC (2005): 199-214.
. Felicidade e beneficncia em Kant. In: Sntese, Belo Horizonte, v. 30, 97
(2003): 203-215.
BOWMAN, Curtis. A Deduction of Kants Concept of the Highest Good. In: Journal of
Philosophical Research, 28 (2003): 45-63.
ESTEVES, Julio. O Sumo Bem como fim ltimo do homem (texto indito), 2007.
FRSTER Eckart. As mudanas no conceito kantiano de Deus. Trad. Guido A. de Almeida
e Jlio C. R. Esteves. In: Studia Kantiana, 1, 1 (1998): 29-52.
HAMM, Christian. Moralidade um fato da razo?. In: Dissertatio, UFPel, 7 (1998): 5775.
. Sobre o direito da necessidade e o limite da razo. In: Studia Kantiana, 4, 1
(2003): 61-84.
HECK, Jos N.. O princpio do amor-prprio em Kant. In: Sntese, Belo Horizonte, v. 26,
85 (1999): 165-186.
113
HILL, Thomas E.. Kant on Imperfect Duty and Supererogation. In: Kant-Studien, 62
(1971): 5576.
. The Kingdom of Ends. In: BECK, L. W. (ed.). Proceedings of the Third
International Kant Congress. Dordrecht/Holland: Reidel Publishing Company (1972): 307315.
HORN, Christoph. Kant on Ends in Nature and in Human Agency: The Teleological
Argument (GMS, 394-396). In: HORN, Christoph and SCHNECKER, Dieter (orgs.).
Groundwork for the Metaphysics of Morals, New York / Berlin: Walter de Gruyter (2006):
45-71.
JOHNSON, Robert N.. Happiness as a Natural End. In: TIMMONS, Mark (ed.). Kants
metaphysics of morals interpretative essays. New York: Oxford (2002): 317-330.
LABERGE, Pierre. Comprenons-nous enfin le sens de la formule de limpratif
catgorique?. In: Revue de Metaphysique et de Morale, 2, 80 (1975): 273-289.
LIMA, Erick Calheiros de. Kant e a sistemtica filosfica: o projeto da Terceira Crtica. In:
CASTILHO, Fausto (curador). Modernos e Contemporneos, CEMODECON, IFCHUNICAMP, I (2000): 81-148.
LOPARIC, Zeljko. O fato da razo uma interpretao semntica. In: Analytica, 1 (1999):
13-55.
MARTINS, Cllia A.. A natureza humana na Antropologia. In: BORGES, Maria de
Lourdes e HECK, Jos N. (orgs.). Kant: liberdade e natureza, Florianpolis: Ed. da UFSC
(2005): 51-70.
. Introduo Antropologia. In: Antropologia de um ponto de vista
pragmtico. Trad. Cllia Aparecida Martins. So Paulo: Iluminuras (2006): 11-17.
NODARI, Paulo Csar. O sumo bem e a relao moralidade e felicidade na Crtica da Razo
prtica de Kant. In: Veritas, Porto Alegre, v. 50, 2 (2005): 125-153.
POTTER, Nelson. The argument of Kants Groundwork, Chapter 1. In: GUYER, Paul
(org.). The Groundwork of the Metaphysical of Morals, New York: Cambridge University
Press (1998): 29-49.
REATH, Andrews. Two Conceptions of the Highest Good in Kant. In: Journal of the
History of Philosophy (1988):593-619.
ROHDEN, Valerio. O humano e racional na tica. In: Studia Kantiana, 1,1 (1998): 307321.
. Razo prtica pura. In: Dissertatio, UFPel, 6 (1997): 69-98.
SALLA, Giovanni B. A questo de Deus nos escritos de Kant. In: Revista Portuguesa de
Filosofia, 4, XLIX (1993): 537-569.
114
SMITH, Steven G.. Worthiness to be Happy and Kants Concept of the Highest Good. In:
Kant-Studien, 75 (1984):168-190.
WOOD, Allen W.. Practical Anthropology. In: Akten des IX Internationlen KantKongress. Band IV. Berlin/New York: Walter de Guyter (2001): 458-475.
4- Dicionrios
FERNANDES, Francisco; LUFT, Celso Pedro; GUIMARES, F. Marques. Dicionrio
brasileiro Globo. 23 ed. So Paulo: Globo, 1992.
FILHO, Jos bila. Moderno Dicionrio Enciclopdico Brasileiro. 24 ed.. Curitiba:
Editora Educacional Brasileira, 1987.
MANIATOGLOU, M. da Piedade Faria. Dicionrio Grego-Portugus. Porto: Porto Editora:
2004.
NEVES, R. de Souza. Dicionrio de expresses latinas: 1500 adgios, provrbios e
mximas. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1996.
Você também pode gostar
- A Prática Psicanalítica Com Crianças - Françoise DoltoDocumento22 páginasA Prática Psicanalítica Com Crianças - Françoise Doltopriscilla_lima_10% (1)
- Mente Zen, Mente de Principiante - Shunryu Suzuki - (Português)Documento131 páginasMente Zen, Mente de Principiante - Shunryu Suzuki - (Português)Kamila Pessoa100% (8)
- As 37 PráticasDocumento129 páginasAs 37 PráticasAndré RochaAinda não há avaliações
- Os Efeitos Da Violência Na Constituição Do Sujeito PsíquicoDocumento15 páginasOs Efeitos Da Violência Na Constituição Do Sujeito PsíquicoAndré RochaAinda não há avaliações
- Mente Zen, Mente de Principiante - Shunryu Suzuki - (Português)Documento131 páginasMente Zen, Mente de Principiante - Shunryu Suzuki - (Português)Kamila Pessoa100% (8)
- História Da Inquisição em PortugalDocumento5 páginasHistória Da Inquisição em PortugalAndré RochaAinda não há avaliações
- Chico Xavier - Livro 056 - Ano 1957 - Ação e ReaçãoDocumento262 páginasChico Xavier - Livro 056 - Ano 1957 - Ação e ReaçãoAlle Miliatt100% (4)
- Destruindo A História Do Eu - Dzogchen RinpocheDocumento5 páginasDestruindo A História Do Eu - Dzogchen RinpocheAndré RochaAinda não há avaliações
- Dissertacao CONSTRUTIVISMODocumento239 páginasDissertacao CONSTRUTIVISMOmatiuzziAinda não há avaliações
- Ave Cristo - Emmanuel - Chico XavierDocumento185 páginasAve Cristo - Emmanuel - Chico XavierAndré RochaAinda não há avaliações
- Caminhos de FlorestaDocumento472 páginasCaminhos de FlorestaAndré Rocha100% (1)
- Campbell Joseph - Heroi de Mil FacesDocumento201 páginasCampbell Joseph - Heroi de Mil FacesAndré Rocha100% (18)
- Allan Kardec - (1867) Viagem Espírita em 1862Documento85 páginasAllan Kardec - (1867) Viagem Espírita em 1862Luiz HenriqueAinda não há avaliações
- Clément - Rosset O.Principio - Da.crueldadeDocumento58 páginasClément - Rosset O.Principio - Da.crueldadeDenise Caroli100% (1)
- Jurandir Freire Costa Sobre PsicanAlise e ReligiAoDocumento8 páginasJurandir Freire Costa Sobre PsicanAlise e ReligiAoAndré RochaAinda não há avaliações
- Teófilo OtoniDocumento14 páginasTeófilo OtoniAndré RochaAinda não há avaliações
- Freud e A ReligiãoDocumento12 páginasFreud e A ReligiãoAndré RochaAinda não há avaliações
- Clément - Rosset O.Principio - Da.crueldadeDocumento58 páginasClément - Rosset O.Principio - Da.crueldadeDenise Caroli100% (1)
- Renúncia (Psicografia Chico Xavier - Espírito Emmanuel)Documento254 páginasRenúncia (Psicografia Chico Xavier - Espírito Emmanuel)Pablo Mattoso100% (1)
- Prece Dos EspiritosDocumento144 páginasPrece Dos EspiritosNene RobertoAinda não há avaliações
- Allan Kardec - (1867) Viagem Espírita em 1862Documento85 páginasAllan Kardec - (1867) Viagem Espírita em 1862Luiz HenriqueAinda não há avaliações
- Freud e A Religião - Revista UnisinosDocumento56 páginasFreud e A Religião - Revista UnisinosAndré RochaAinda não há avaliações
- Alcione (J. Krishnamurti) - Aos Pés Do Mestre PDFDocumento14 páginasAlcione (J. Krishnamurti) - Aos Pés Do Mestre PDFluizhtdAinda não há avaliações
- 06 Publicações Da Psicologia Da Religião Alemã - Uma AmostragemDocumento8 páginas06 Publicações Da Psicologia Da Religião Alemã - Uma AmostragemAndré RochaAinda não há avaliações
- RCH40 Artigo 13Documento5 páginasRCH40 Artigo 13André RochaAinda não há avaliações
- Ludwig Feuerbach - Um Manifesto AntropológicoDocumento39 páginasLudwig Feuerbach - Um Manifesto AntropológicoAndré RochaAinda não há avaliações
- University of Chicago Press Fall 2009 Distributed TitlesNo EverandUniversity of Chicago Press Fall 2009 Distributed TitlesNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)