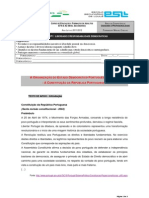Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Imagem No Interior Da Análise de Discurso
A Imagem No Interior Da Análise de Discurso
Enviado por
Vanessa Rodrigues Vieira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações14 páginasImagem e discurso
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoImagem e discurso
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações14 páginasA Imagem No Interior Da Análise de Discurso
A Imagem No Interior Da Análise de Discurso
Enviado por
Vanessa Rodrigues VieiraImagem e discurso
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
A IMAGEM NO INTERIOR DA ANLISE DE
DISCURSO: APRESENTAO DE UMA
POSSIBILIDADE DE LEITURA
Maria Aparecida Honrio*
Renata Adriana de Souza**
RESUMO: Este artigo tem por objetivo expor a possibilidade de leitura
de um texto imagtico referente ao discurso cinematogrfico, mais
precisamente, mostrar o modo como a imagem possui uma significao
prpria, que pode ser pensada independente do discurso verbal, no
filme brasileiro Quanto Vale ou por Quilo?, de Srgio Bianchi, que
aborda questes de excluso e explorao social. Nesta perspectiva,
escolhemos utilizar como arcabouo terico alguns pressupostos bsicos
da anlise de discurso de linha francesa para mostrar o modo como a
imagem, considerada como prtica discursiva, est inscrita na histria
e produzindo seus efeitos de sentido.
PALAVRAS-CHAVE: Anlise de discurso; Cinema; Imagem.
THE IMAGE INTO THE DISCURSIVE
ANALYSIS: PRESENTATION OF A POSSIBLE
READING
ABSTRACT: This paper has aimed at expounding the possibility of
reading of a image text referring to the cinematographic discourse, in
fact, it aims at showing how image has its own significance, which
can be analyzed regardless of the verbal discourse, in essay of the
Brazilian film Quanto Vale ou por Quilo? by Srgio Bianchi, who
deal with matters as exclusion and social exploration. In this
perspective, we choose to use as theoretical approach some basic
presuppositions of French discourse analysis to show how the image,
*
Docente da Universidade Estadual de Maring - UEM. E-mail: cecimaria@uol.com.br
Mestranda em Lingstica do Departamento de Ps-Graduao em Letras da
Universidade Estadual de Maring UEM. E-mail: renatauem@yahoo.com.br
**
56
A imagem no Interior da Anlise de Discurso: Apresentao...
considered as a discursive practice, is inscribed into history and
producing its meaning effects.
KEYWORDS: Discursive Analysis; Cinema; Image.
INTRODUO
Pensar a questo da excluso social no Brasil abordar um problema
antiqssimo, presente em nossa sociedade desde que os portugueses aqui
desembarcaram. Embora hoje tenhamos uma nova pobreza, novos
processos sociais excludentes, nosso passado abarrotado de captulos
referentes dominao de vastos segmentos populacionais sem cidadania:
nossa cultura barroca de fachada, com base na
conquista, exclui ndios, camponeses no campo e,
na cidade, migrantes, favelados, encortiados, sem
teto etc., em uma fenomenologia bastante conhecida (MARTINS 1993 apud VRAS, 1999, p. 27)
Desde os tempos coloniais at o Brasil Imprio, perpassando as
repblicas velha, nova, contempornea , processos sociais excludentes
esto presentes em nossa histria.
Podemos dizer que toda prtica de excluso social encontra-se
diretamente relacionada s prticas de explorao de classes
marginalizadas. A este respeito, Vras (1999), nos lembra o que se
institucionalizou como um sistema socioeconmico escravagista, que no
Brasil perdurou do sculo XVI ao XIX, primeiramente utilizando a mode-obra indgena, em seguida, a africana. Com a proclamao da
Repblica, o trabalho rduo ficou a cargo dos imigrantes europeus, que
inclusive eram mal remunerados. A explorao de mo-de-obra barata
ocorria tambm nas fbricas, por meio da contratao, principalmente,
de mulheres e crianas. Enfim, em todos os perodos de nossa histria
prticas sociais excludentes coexistiram com prticas de explorao, e
este um problema at hoje no solucionado.
Pensando nestas questes referentes excluso e explorao social
e considerando ser este um assunto extremamente complexo, que deveria
ser amplamente estudado e discutido por todas as reas, j que atinge a
sociedade em geral, gostaramos de propor uma reflexo a respeito da
maneira como tal temtica est sendo abordada em Quanto Vale ou
Revista Cesumar - Cincias Humanas e Sociais Aplicadas jan./jun.2008, v. 13, n. 1, p. 55-68
HONRIO, M.A.; SOUZA, R.A.
57
por Quilo? de Srgio Bianchi, ou mais precisamente, verificar a maneira
como os excludos esto sendo discursivizados no filme. Dessa forma,
os fragmentos que sero expostos tm por objetivo mostrar como
formulada a crtica social.
O filme de Bianchi aborda a problemtica anteriormente exposta em
dois perodos de nossa histria: o perodo oitocentista, durante a escravido,
em que os fragmentos apresentados enfatizam a maneira desumana
como os escravos eram tratados, excludos e explorados enquanto seres
humanos; e a contemporaneidade, em que a crtica referente ao perodo
atual recai sobre o chamado terceiro setor de nossa sociedade, isto , a
forma como ONGs e instituies voltadas a ajudar classes excludas e
marginalizadas, na realidade as esto usando, explorando, com o objetivo
de enriquecer. Por meio deste movimento entre o presente e o passado,
ele vai produzindo a crtica social referente a estas duas questes, que
na obra so tratadas conjuntamente.
A reflexo que ser apresentada vai se ater ao discurso no-verbal.
Escolhemos analisar as imagens pelo fato de estas, no cinema, possurem
uma significao prpria e totalmente independente do (discurso) verbal.
Elas significam enquanto linguagem, no podendo ser descartadas.
Estes fragmentos sero analisados atravs de alguns dispositivos
terico-analticos da anlise de discurso de linha francesa, como, por
exemplo, o conceito de condies de produo, ou seja, os contextos
scio-histricos que permitiram a veiculao das imagens que sero
apresentadas, tendo-se em vista que estas fazem referncia a perodos
distintos. Destarte, nossa proposta verificar quais condies de produo
(do perodo oitocentista e da contemporaneidade) permitiram, no filme, a
utilizao das imagens referentes excluso e explorao humana e,
por meio disso, quais as memrias discursivas por elas suscitadas. Estas
questes sero analisadas considerando a materialidade especfica da
linguagem imagtica independente do discurso verbal.
2 CORPO EXCLUDO / CORPO EXPLORADO
A imagem de todo e qualquer tipo de excluso foi extremamente
naturalizada em nossa sociedade, tanto que, atualmente, duvidar de sua
materialidade, de sua concretude, seria somente um jogo de retrica.
Esta afirmao to assustadora quanto verdadeira. A maioria das
pessoas parece ter se acostumado imensa desigualdade social existente
no Brasil e a todos os enormes problemas a ela associados.
Revista Cesumar - Cincias Humanas e Sociais Aplicadas jan./jun.2008, v. 13, n. 1, p. 55-68
58
A imagem no Interior da Anlise de Discurso: Apresentao...
Neste quadro de indiferenas existem excluses concretas, excludos
de carne e osso, com nomes e sobrenomes, com idades, gneros,
sexualidades, raas, etnias, religies, corpos polimorfos, classes sociais,
geraes etc. Segundo Skliar (2003), estes grupos so apagados em
suas subjetividades, ou seja, o excludo considerado como um outro
sem corpo e sem rosto, um outro cuja identidade se quebra, se fragmenta,
se deteriora pela excluso.
De acordo com o prprio autor, as cincias sociais e humanas abarcaram
uma tendncia de subcategorizao das mnimas parcelas, em que a
excluso podia ser identificada, delimitada, purificada e inclusive autorizada:
[...] lista tradicional dos excludos de sempre isto
, imigrantes, vagabundos, meninos e meninas de
rua, delinqentes, marginais, viciados, gays e lsbicas foram sendo agregadas outras listas para que
todos tivessem disposio seu prprio fragmento
e/ou parcela de excluso: por exemplo, os excludos
da abstrao, da interatividade homem mquina,
da velocidade de resposta informao, da
flexibilidade para mudar de lugares de trabalho, entre
muitos outros subterfgios na produo e inveno
na excluso da alteridade (SKLIAR, 2003, p. 89).
A partir de toda esta instabilidade, as fronteiras da excluso parecem
se perder; multiplicam-se, oscilam, esto sempre em movimento, nunca
permanecem quietas ou inalterveis. Disto resulta um permanente controle
sobre os corpos, as cores, as linguagens, as peles, as sexualidades, as
territorialidades, as religies da alteridade.
Todo este controle exercido pela excluso sobre as alteridades ocorre
por meio de um discurso de verdade e uma prtica originada de um
hipottico centro para algumas periferias imaginadas. Desse modo, todos
podem ser excludos de alguma situao e no o serem de outras. Quando
todo sujeito perde seu corpo, perde seu rosto ou quando lhe negado
todo corpo, todo rosto (SKLIAR, 2003, p. 90).
Assim, a excluso o aniquilamento do outro, do seu direito de viver na
prpria cultura, na prpria lngua, no prprio corpo, na prpria idade, na
prpria sexualidade etc. Mais do que tudo isso, a excluso uma norma,
muitas vezes explicitamente legal, que impede o pertencimento de um
sujeito ou de um grupo de sujeitos a uma comunidade de direitos - direitos
estes, inclusive, no-mesmidade, diferena.
Revista Cesumar - Cincias Humanas e Sociais Aplicadas jan./jun.2008, v. 13, n. 1, p. 55-68
HONRIO, M.A.; SOUZA, R.A.
59
No interior dessa perspectiva, a excluso deve ser considerada como
um processo cultural que implica o estabelecimento de uma norma que
probe a incluso de indivduos e de grupos em uma sociedade sociopoltica;
como um processo histrico em que uma cultura, mediante um discurso
de verdade, cria a interdio e a rejeita.
Um processo cultural, e no uma propriedade do
sujeito; a criao de uma norma que probe, e no
um atributo objetivo do sujeito; um discurso de
verdade, e no uma fronteira explcita; a interdio
do outro, e no seu isolamento voluntrio: o termo
excluso, que foi naturalmente localizado no espao
individual do outro, parece deslizar-se na direo
de uma dinmica de relaes sociais, culturais,
polticas, lingsticas etc. que enfatizam a ao at
o sujeito, e no sua prpria essncia, seus atributos
ou sua falta de atributos, sua responsabilidade ou
sua irresponsabilidade (SKLIAR, 2003, p. 91).
Diante disso, percebemos uma mudana na focalizao empregada pelo
autor. Skliar (2003) deixa de falar em excluso e comea sua reflexo a
respeito dos discursos de verdade que a legitimam, que lhe do corpo, valor
e validez em um determinado momento da histria. Trata-se de uma interdio
cultural. Desse modo, poderamos dizer que a excluso algo da cultura, ou
melhor, de um fragmento pontual dela com um significado que no natural,
mas foi naturalizado. A excluso um mecanismo de poder centralizador
que consiste em proibir pertencimentos e atributos aos outros.
Neste poder centralizador esteve pautada toda a organizao do mundo,
ou seja, todas as representaes espaciais e temporais mantiveram-se
embasadas na relao excluso/incluso. Existem e sempre existiram
indivduos fora do mapa (o outro excludo) e indivduos dentro do mapa (o
outro includo). Ambos foram/so determinados a partir de condies de
produo e de contextos scio-histricos especficos.
Em todos os perodos de nossa histria processos sociais excludentes
destituram sujeitos de seus corpos, fragmentaram suas identidades, em
prol de um poder que objetivava exclu-los da sociedade. Ao mesmo
tempo em que isso ocorria este mesmo poder buscava mtodos para
investir nesses corpos excludos; ou seja, o poder exercido sobre aqueles
que se encontravam no centro da sociedade, includos, recaa sobre os
corpos negados ao sujeito da excluso.
Revista Cesumar - Cincias Humanas e Sociais Aplicadas jan./jun.2008, v. 13, n. 1, p. 55-68
60
A imagem no Interior da Anlise de Discurso: Apresentao...
Esta temtica referente ao poder que se apossa, que exercido sobre os
corpos dos indivduos, foi amplamente discutida em Microfsica do Poder.
Nesta obra, Foucault (2004) vai expor importantes consideraes a respeito
do poder que exercido sobre os corpos dos indivduos em uma sociedade.
Para o autor francs, a idia de um corpo social s ocorre por meio da
materialidade do poder sendo exercido sobre o corpo dos indivduos. Mesmo
quando existem pontos de vista e idias de liberao, estes se fazem sobre
esquadrinhamentos. Como exemplo, Foucault (2004) expe que a conscincia
dos indivduos em relao ao prprio corpo s foi adquirida por efeito do
investimento do corpo pelo poder; mas como conseqncias surgem
reivindicaes do prprio corpo contra o poder, da sade contra a economia,
do prazer contra as normas morais da sexualidade, do casamento, do pudor.
E, assim, o que tornava forte o poder passa a ser
aquilo por que ele atacado [...] O poder penetrou
no corpo, encontra-se exposto no prprio corpo
[...] Lembrem-se do pnico das instituies do
corpo social (mdicos, polticos) com a idia da
unio livre ou do aborto [...] Na realidade, a
impresso de que o poder vacila falsa, porque ele
pode recuar, se deslocar, investir em outros lugares
[...] e a batalha continua (FOUCAULT, 2004, p. 146).
Foucault (2004) afirma ser falsa a idia segundo a qual as sociedades
burguesas e capitalistas teriam negado a realidade do corpo em proveito
da alma. Esta idia no se sustenta devido ao fato de nada ser mais material,
fsico e corporal que o exerccio do poder, pois em todos os perodos, desde
o incio do capitalismo em sociedades como a nossa, houve investimentos
do corpo pelo poder, e estes ltimos foram mudando junto com a sociedade:
do sculo XVII ao incio do sculo XX acreditou-se que este investimento
deveria ser denso, rgido, constante, por isso foram aplicados terrveis
regimes disciplinares. A partir dos anos de 1960 isto comeou a mudar,
percebeu-se que as sociedades industriais podiam se contentar com um
poder muito mais tnue sobre o corpo. Desse modo, Foucault (2004) vai
ressaltar que resta estudar de que corpo necessita a sociedade atual.
Todo este estudo possui uma dimenso diferente da marxista, ou mesmo
da paramarxista. Em relao primeira, a distino ocorre porque os
marxistas tentam delimitar os efeitos do poder ao nvel da ideologia, e isto
pressupe um sujeito humano, cujo modelo foi fornecido pela filosofia
clssica e seria dotado de uma conscincia da qual o poder viria a se
Revista Cesumar - Cincias Humanas e Sociais Aplicadas jan./jun.2008, v. 13, n. 1, p. 55-68
HONRIO, M.A.; SOUZA, R.A.
61
apoderar. Para Foucault (2004), seria mais materialista estudar os efeitos
do poder sobre o corpo, e no sobre a conscincia.
Quanto aos paramarxistas, eles atribuem noo de represso uma
importncia exagerada. Se o poder s tivesse a funo de reprimir, ele
seria muito frgil. Sua fora ocorre devido ao fato de ele produzir efeitos
positivos no nvel do desejo e, tambm, no nvel do saber.
Quem coordena a ao dos agentes da poltica do corpo?
Em cada perodo aparecem agentes diferentes para coordenar. Houve
a filantropia no incio do sculo XIX, que deu origem a personagens,
instituies, saberes etc., uma higiene pblica, inspetores, assistentes
sociais, psiclogos. Foucault (2004) ressalta existir uma proliferao de
categorias de trabalhadores sociais.
3 AS RELAES EXISTENTES ENTRE PODER e CORPO
DURANTE O PERODO COLONIAL NO BRASIL
Podemos dizer, baseados em Foucault (2004), que o corpo necessrio
ao Brasil do sculo XVI ao XIX foi o corpo sadio dos escravos.
A imagem de Quanto Vale ou por Quilo? referente explorao
de classes excludas durante o perodo oitocentista consiste em uma fotografia. mostrado um senhor altivo com a mo no ombro de um escravo
bastante robusto, simbolizando ser este ltimo propriedade do primeiro,
residente em seus domnios e devedor de total obedincia ao seu dono.
Figura 1. Senhor com seu escravo
Revista Cesumar - Cincias Humanas e Sociais Aplicadas jan./jun.2008, v. 13, n. 1, p. 55-68
62
A imagem no Interior da Anlise de Discurso: Apresentao...
Estamos aqui considerando a imagem na perspectiva de Orlandi
(1995), como prtica discursiva. Esta noo de prtica discursiva permite
que ela se aproxime, no funcionamento das diferentes linguagens, daquilo
que constitui uma semelhana entre elas, e distinguir o que lugar de
diferenas constitutivas da especificidade dos processos significantes
dessas diferentes linguagens.
Isto possibilita discutir o processo de produo de sentidos sem o
efeito da dominncia do verbal, j que no se fala em texto, mas em
prtica discursiva (verbal ou no). Ao falar em imagens considerandoas como prticas discursivas, estamos buscando restituir-lhes seus
processos especficos de significncia, tendo em vista que elas possuem
corpo (materialidade) e tm o peso da histria.
Propomos pensar a imagem exposta anteriormente como prtica
discursiva, pois ela constituda por uma materialidade prpria, possui
historicidade e significao ao referir-se poca da escravido no Brasil.
Pela imagem percebemos que o escravo em questo encontra-se
incorporado propriedade e aos bens de seu senhor, inclusive apresentado
junto com as mercadorias. Ele destitudo de sua identidade de ser humano
e reduzido condio de coisa; seu valor est relacionado ao lucro que
pode gerar. Ele est includo enquanto mercadoria, porm excludo,
negado, enquanto ser humano.
Este tipo de explorao, materializado no filme por esta imagem,
retoma uma memria1 que o legitimou por mais de trs sculos em nosso
pas. As condies de produo desse perodo, que no Brasil vai do
sculo XVI ao XIX, permitiram tal regime escravista, legitimando o
exerccio de poder sobre estes corpos cativos. Os discursos de verdade
que autorizavam tal prtica eram do tipo:
Diziam que o africano no se libertara do pecado
original e invocavam o carter civilizador e
cristianizador da escravido: trazer os negros da
frica para a Amrica era realizar um ato de caridade,
era libert-los da barbrie, de um clima agressivo,
de um estgio selvagem de civilizao. Como diria
o mesmo lvares Machado, era praticar um ato de
filantropia, tomando-os das mos brbaras de seus
1
Memria aqui considerada pela perspectiva da Anlise de Discurso, ou seja, o saber
discursivo que torna possvel todo dizer. Assim, tudo que j se disse sobre a escravido
possibilitou a apresentao dessa imagem. Este fato permite que alguns desses dizeres
retornem em nossa memria de espectadores.
Revista Cesumar - Cincias Humanas e Sociais Aplicadas jan./jun.2008, v. 13, n. 1, p. 55-68
HONRIO, M.A.; SOUZA, R.A.
63
senhores, batizando-os e fazendo-os cristos
(QUEIROZ, 1987, p. 54).
Em vista destes discursos de verdade que legitimavam a prtica
escravista autorizavam o poder sobre os corpos desses escravos, o Brasil
ficou dependente deste regime; ou seja, os corpos dos negros cativos foram
o suporte da economia brasileira por todo o perodo em que se manteve a
escravido, em todas as reas e setores de atividade, como a lavoura,
servios domsticos, aglomeraes urbanas etc.
O grau de dependncia do pas em relao escravido pode ser
comprovado com a afirmao do padre Vieira(1648 apud QUEIROZ,
1987, p. 21), em uma carta datada de 12 de agosto de 1648, na qual dizia:
Sem negros no h Pernambuco. Tal afirmao enfatiza a dependncia
da ento capitania e de toda a Colnia em relao ao escravo.
Os escravos eram absolutamente subordinados aos senhores, seus
donos, e recebiam destes a classificao de coisa, pea, mercadoria.
Assim, eles podiam ser vendidos, alugados, emprestados, hipotecados submetidos, enfim, a todos os atos decorrentes do direito de propriedade.
Podemos perceber a maneira como esse acontecimento foi sendo
discursivizado por meio da imagem aqui mostrada, em que vemos um
senhor de escravos fotografado em um local repleto de mercadorias e seu
escravo sendo apresentado como uma delas.
Segundo Queiroz (1987), como os escravos foram reduzidos
condio de mquina, os impediram inclusive de agrupar-se. Este
procedimento teve por objetivo que eles no tomassem conscincia de
suas condies. Assim, a lei recompensava quem delatasse seus
companheiros, permitia a venda em separado de marido e mulher, assim
como de pais e filhos, desestimulando a constituio da famlia.
Podemos perceber a maneira como este tipo de poder foi
instaurado sobre o corpo dos escravos, e no em suas conscincias,
por meio da ideologia. O poder exercido sobre estes corpos cativos
propiciou o desenvolvimento do Brasil durante o perodo colonial. Foi
este mesmo poder que reduziu esses corpos condio de mquinas,
e quanto mais fora tivessem essas mquinas, mais valiosas seriam.
Antes de serem comprados, os corpos eram submetidos degradante
inspeo de compradores insensveis, e quanto mais fortes e saudveis
fossem, mais valiam.
certo que houve uma srie de contestaes de todos os tipos, mas
tais faltas, quando controladas, resultavam em severas punies fsicas.
Revista Cesumar - Cincias Humanas e Sociais Aplicadas jan./jun.2008, v. 13, n. 1, p. 55-68
64
A imagem no Interior da Anlise de Discurso: Apresentao...
Em sntese, os escravos foram necessrios ao Brasil em todo o perodo
colonial, tanto nas reas rurais quanto nas urbanas. Desse modo, exerceuse enorme poder sobre eles, proibindo-se qualquer contato maior entre
eles, para que no adquirissem conscincia de sua situao. O poder foi
exercido sobre os corpos, e no sobre a conscincia, a ideologia, e a menor
falta ou contestao por parte destes escravos resultava em severos castigos. Percebemos que estes seres humanos foram destitudos de suas identidades enquanto seres humanos, por meio de um poder que os coisificava,
objetivando um maior lucro e desenvolvimento capitalista, tanto para seus
proprietrios como para o Brasil de modo geral, pois a lei daquele perodo
defendia a escravido e os interesses dos senhores de escravo.
A imagem em questo faz retornar-nos memria esses discursos
referentes maneira desumana como os negros foram tratados durante
o perodo da escravido, e assim produz a crtica social.
Podemos dizer que esta imagem explicita dois gestos de interpretao
- um do produtor e o outro, do leitor. O gesto de interpretao do produtor
do filme entrecruza uma memria histrica (visual) na relao com o
discurso presente. Ao trazer esta imagem o sujeito-produtor tenta antecipar
um gesto de leitura, a do sujeito-leitor, produzindo, assim, um efeito-leitor,
pois ao olhar a imagem, nossa memria aciona um determinado
conhecimento histrico referente s atrocidades cometidas contra os
negros durante o perodo da escravido no Brasil.
4 O CORPO EXPLORADO NA CONTEMPORANEIDADE
Nos dias atuais a explorao de classes excludas atingiu outros nveis,
muito mais sutis, visto que mudou nosso sistema econmico e social, como
tambm a ordem do discurso. Atualmente, ser a favor, praticar ou consentir
em atos de explorao social algo abominado pela maioria da populao,
pelas leis que protegem os direitos humanos e at mesmo pela Igreja,
instituio que, inclusive, foi favorvel escravido. O sentido de explorao
foi ressignificado por novas condies de produo.
O corpo necessrio para ser explorado por muitos na contemporaneidade,
nessa nova forma de sociedade, o corpo deteriorado de classes excludas.
Desse modo, Quanto Vale ou por Quilo? apresenta como o servio social vem explorando essas classes excludas. Uma das formas encontradas
para extrair lucro das classes excludas, como o prprio filme enfatiza, representada por falsos projetos, criados por falsos trabalhadores sociais, que
se apresentam como agentes destinados a reduzir as desigualdades existentes.
Revista Cesumar - Cincias Humanas e Sociais Aplicadas jan./jun.2008, v. 13, n. 1, p. 55-68
HONRIO, M.A.; SOUZA, R.A.
65
Atualmente, grande parte da explorao exercida sobre os excludos
realizada por ONGs, entidades assistenciais e associaes em todo o
Brasil que dizem promover projetos de incluso social. Estes rgos
constituem o terceiro setor em nosso pas. Em meados da dcada de
1970, Foucault (2004) j falava do poder que estes agentes de polticas
do corpo exerciam e como o nmero destes trabalhadores sociais crescia
diariamente. Passados mais de 30 anos, o nmero destes agentes
proliferou; a cada dia novas pessoas descobrem que, muitas vezes,
trabalhar com questes voltadas ao social pode gerar lucros considerveis.
Como j se ressaltou, este tipo de explorao constitui um dos ncleos
centrais do filme, que tem por objetivo mostrar como os excludos ainda
so explorados em prol dos interesses de alguns. A obra de Bianchi
expe que, muitas vezes, instituies voltadas a promover servios sociais
no cumprem este papel, e as imagens abaixo enfatizam esta forma
sutil, porm bastante eficaz, de explorao.
Figuras 2 e 3. Imagem de criana excluda e explorada
Este fragmento imagtico faz referncia ao trabalho de uma instituio
voltada a ajudar e promover a incluso social de crianas carentes; no
Revista Cesumar - Cincias Humanas e Sociais Aplicadas jan./jun.2008, v. 13, n. 1, p. 55-68
66
A imagem no Interior da Anlise de Discurso: Apresentao...
entanto, a partir do momento em que o filme apresenta estas crianas
em molduras de luxo, como se fossem obras de arte valiosas, ele enfatiza
o modo como elas so usadas, exploradas, para que a instituio em
questo consiga aproveitar-se materialmente da situao.
O modo como estas imagens so apresentadas o lugar de produo
da crtica social como denncia, enfatizando algo que ocorre no Brasil
desde o incio da colonizao: a explorao de classes excludas da
sociedade. Por isso, esta crtica causa certo mal-estar no espectador ao
expor a maneira como algo extremamente antigo e grave ainda ocorre,
com grande freqncia e certa facilidade, por meio de muitas instituies
voltadas a promover incluso em nossa sociedade. A crtica neste
fragmento ocupa o lugar da estranheza, da desestabilizao, por trabalhar
em um jogo contraditrio, deslocando sentidos: crianas com corpos
deteriorados, pobreza/molduras de obras de arte, riqueza. Como crianas
carentes, miserveis, podem estar relacionadas a proporcionar riqueza?
A possibilidade de pergunta nos diz algo a respeito da posio de
inaceitabilidade a que o filme se filia e que est presente em nossa ordem
social, pautada nas leis que protegem os direitos humanos e sociais.
Diferentemente da escravido, em que os negros, para serem
explorados, eram includos enquanto mercadorias e excludos enquanto
seres humanos, nesta nova conjuntura estes corpos devem,
necessariamente, estar excludos tanto como mercadorias quanto como
pessoas, pois apenas assim podero ser explorados pelo terceiro setor.
Podemos dizer, com base nos dois fragmentos apresentados, que o
sentido de explorao se afirma, no filme, juntamente com o sentido de
excluso. Temos, assim, uma relao parafrstica estabilizada socialmente
entre excluso e explorao social cujos discursos so produzidos e
atualizados no filme no contraponto entre dois recortes temporais.
Toda esta crtica social no aparece anunciada em Quanto Vale ou
por Quilo?, ela mostrada e materializa-se por meio das imagens
presentes no filme, e assim produzem o efeito de indignao. importante
mais uma vez enfatizar que a imagem possui uma significao
independente do verbal, porquanto possui materialidade e historicidade
prprias, constituindo-se, desse modo, como prtica discursiva.
5 CONCLUSO
Com base nas questes formuladas anteriormente, percebemos que
os excludos de nossa sociedade so discursivizados em Quanto Vale
Revista Cesumar - Cincias Humanas e Sociais Aplicadas jan./jun.2008, v. 13, n. 1, p. 55-68
HONRIO, M.A.; SOUZA, R.A.
67
ou por Quilo? como classes passveis de explorao, podendo fornecer
um lucro significativo a quem explora. Este fato enfatizado como algo
que sempre esteve presente em nossa sociedade.
interessante observar, por meio das imagens apresentadas, a maneira
como as relaes de poder presentes em nossa sociedade mudam de
acordo com as condies de produo de cada perodo scio-histrico,
mas no acabam. Como Foucault (2004, p. 146) observou, a impresso
de que o poder vacila falsa, porque ele pode recuar, se deslocar, investir
em outros lugares [...] Isto destacado, principalmente, pelo movimento
entre presente e passado que a obra apresenta.
No que se refere crtica social, ela produzida como denncia
devido ao fato de a excluso de seres humanos em nossa sociedade ser
algo passvel de explorao, ou seja, de haver condies para a produo
destas prticas e destes discursos, sendo este um problema que se faz
presente em terras brasileiras desde a colonizao. Com isso, a obra
constri uma relao parafrstica entre excluso e explorao social, ou
seja, as duas questes so apresentadas de formas indissociveis.
No obstante, importante mais uma vez destacar que essas questes
no so anunciadas no filme, mas mostradas atravs das imagens que
nele esto presentes. Por isso, escolhemos analisar a temtica em questo
por meio das materialidades no-verbais, que possuem um papel
significativo no filme de Bianchi. Elas esto produzindo significados e,
desse modo, no podem ser descartadas, visto serem as principais
responsveis por produzir esta crtica social como denncia.
Gostaramos de ressaltar que escolhemos apenas dois pequenos
fragmentos imagticos de Quanto Vale ou por Quilo? e apresentamos
uma possibilidade de anlise; entretanto a obra dura, ao todo, quase duas
horas, e apresenta muitas outras questes que podem ser analisadas,
tanto no que se refere ao discurso verbal quanto ao no-verbal.
REFERNCIAS
FOUCAULT, M. Microfsica do Poder. 20. ed. Traduo de
Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edies Graal, 2004.
ORLANDI, E. P. Efeitos do Verbal sobre o No-Verbal. Rua: Revista
do Ncleo de Desenvolvimento da Criatividade da UNICAMP
NUDECRI, So Paulo, v. 1, n. 1, p. 35-47, 1995.
Revista Cesumar - Cincias Humanas e Sociais Aplicadas jan./jun.2008, v. 13, n. 1, p. 55-68
68
A imagem no Interior da Anlise de Discurso: Apresentao...
QUANTO Vale ou por Quilo?. Direo: Srgio Bianchi. Interpretes:
Antonio Abujamra; Caio Blat; Herson Capri; Joana Fomm; Brbara Paz.
So Paulo: Agravo Produes Cinematogrficas S/C Ltda, 2005. 1 DVD
(104 min.).
QUEIROZ, S. R. R. Escravido Negra no Brasil. So Paulo: tica,
1987.
VRAS, M. Excluso Social um problema de 500 anos. In: SAWAIA,
B. (Org.). As Artimanhas da Excluso: anlise psicossocial e tica
da desigualdade social. Petrpolis, RJ: Vozes, 2002.
SKLIAR, C. Pedagogia (Improvvel) da Diferena. E se o outro no
estivesse a? Traduo de Giane Lessa. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
Revista Cesumar - Cincias Humanas e Sociais Aplicadas jan./jun.2008, v. 13, n. 1, p. 55-68
Você também pode gostar
- JÚRI SIMULADO DefesaDocumento6 páginasJÚRI SIMULADO DefesaAlan jonesAinda não há avaliações
- PRADA, Monique. PutafeministaDocumento97 páginasPRADA, Monique. PutafeministaDaniel Cisneiros0% (1)
- DECRETO #7.505 - 03-02-1978 - Regulamento - Competencia - Dos - OrgaosDocumento49 páginasDECRETO #7.505 - 03-02-1978 - Regulamento - Competencia - Dos - OrgaosCelio AlvesAinda não há avaliações
- Galeria Marco Zero - Catálogo Da Casa Cor - AcervoDocumento34 páginasGaleria Marco Zero - Catálogo Da Casa Cor - AcervoDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- VALMORE, Fabiane Helene Et Al. Arte, Cultura e Loucura Como Formas de (Não) Reconhecimento Social e Resistência PolíticaDocumento24 páginasVALMORE, Fabiane Helene Et Al. Arte, Cultura e Loucura Como Formas de (Não) Reconhecimento Social e Resistência PolíticaDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- OLIVEIRA, E. R. de NEVES, H. O Estudo Do Léxico Na Gramática de Manuel Said AliDocumento24 páginasOLIVEIRA, E. R. de NEVES, H. O Estudo Do Léxico Na Gramática de Manuel Said AliDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- Galeria Marco Zero - Catálogo Da Casa Cor - Burle MarxDocumento15 páginasGaleria Marco Zero - Catálogo Da Casa Cor - Burle MarxDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- Reforma Trabalhista Na PráticaDocumento26 páginasReforma Trabalhista Na PráticaDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- BANDEIRA, Bruna. A Prática Docente No Ensino Médio PDFDocumento442 páginasBANDEIRA, Bruna. A Prática Docente No Ensino Médio PDFDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- ANDRÉ, João Maria. A Crise Das Humanidades e As Novas HumanidadesDocumento22 páginasANDRÉ, João Maria. A Crise Das Humanidades e As Novas HumanidadesDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- LEMOS, Mayara. A Regulamentação Da Profissão de Revisor de TextosDocumento13 páginasLEMOS, Mayara. A Regulamentação Da Profissão de Revisor de TextosDaniel Cisneiros100% (1)
- RAJAGOPALAN, K. (2000) - Sobre o Porquê PDFDocumento8 páginasRAJAGOPALAN, K. (2000) - Sobre o Porquê PDFDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- WACQUANT, Loïc. Moralismo e Panoptismo PunitivoDocumento48 páginasWACQUANT, Loïc. Moralismo e Panoptismo PunitivoDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- ROSA, Márcia. O Inconsciente É Baltimore Ao AmanhecerDocumento7 páginasROSA, Márcia. O Inconsciente É Baltimore Ao AmanhecerDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- VISNIEC, Matéi. Espere o Calorão PassarDocumento3 páginasVISNIEC, Matéi. Espere o Calorão PassarDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- WILLER, Cláudio. A Escrita Automatica e Outras EscritasDocumento12 páginasWILLER, Cláudio. A Escrita Automatica e Outras EscritasDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- OLIVEIRA, Luiz CANDAU, Vera. Pedagogia Decolonial e Educação Antirracista e Intercultural No Brasil (2010)Documento26 páginasOLIVEIRA, Luiz CANDAU, Vera. Pedagogia Decolonial e Educação Antirracista e Intercultural No Brasil (2010)Daniel Cisneiros100% (1)
- CRITICAL Art Ensemble. Distúrbio EletrônicoDocumento135 páginasCRITICAL Art Ensemble. Distúrbio EletrônicoDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- GREGOLIN, Maria Do Rosário. Michel Pêcheux e A História Epistemológica Da LinguísticaDocumento13 páginasGREGOLIN, Maria Do Rosário. Michel Pêcheux e A História Epistemológica Da LinguísticaDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- BORGES, Fabiane BENSUSAN, Hilan. Breviário de Pornografia EsquisotransDocumento156 páginasBORGES, Fabiane BENSUSAN, Hilan. Breviário de Pornografia EsquisotransDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- TINOCO, Bianca. Eduardo Kac e A Escrita Do Corpo No EspaçoDocumento16 páginasTINOCO, Bianca. Eduardo Kac e A Escrita Do Corpo No EspaçoDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- BORGES, Fabiane. Domínios Do DemasiadoDocumento114 páginasBORGES, Fabiane. Domínios Do DemasiadoDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- 956Documento13 páginas956Daniel CisneirosAinda não há avaliações
- Brasil Colônia - Revoltas (Slides)Documento17 páginasBrasil Colônia - Revoltas (Slides)KaioAinda não há avaliações
- Alencastro 2010Documento7 páginasAlencastro 2010Isabella MirandaAinda não há avaliações
- #ALBORNOZ LIVRO LER Diversidade-Cultural-repositorio PDFDocumento276 páginas#ALBORNOZ LIVRO LER Diversidade-Cultural-repositorio PDFVivianne Lindsay CardosoAinda não há avaliações
- Apoio de Estudo de Matematica (Unidades)Documento5 páginasApoio de Estudo de Matematica (Unidades)Arlindo Sebastião MiguelAinda não há avaliações
- 13 - 6 - 2012 - 17.07.47-Revolução CubanaDocumento53 páginas13 - 6 - 2012 - 17.07.47-Revolução CubanaCharlesAinda não há avaliações
- Resumo de SociologiaDocumento10 páginasResumo de SociologiaCorey HillAinda não há avaliações
- Batalha de GaugamelaDocumento6 páginasBatalha de GaugamelajhjhhjfgAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Da Obra de James Mollison - Ieda TourinhoDocumento7 páginasResenha Crítica Da Obra de James Mollison - Ieda TourinhoIeda TourinhoAinda não há avaliações
- Resumo de Filosofia - ValoresDocumento6 páginasResumo de Filosofia - ValoresmarybettyAinda não há avaliações
- 275 318 Historia 9 Ano Vol.2 Ed2020Documento42 páginas275 318 Historia 9 Ano Vol.2 Ed2020Gugu Dos AnjosAinda não há avaliações
- CP1 - ft2 - A Constituição Da República PortuguesaDocumento3 páginasCP1 - ft2 - A Constituição Da República Portuguesatelaviv48100% (2)
- (RESUMO) CINTRA, Antônio Octávio. 05:06 2Documento4 páginas(RESUMO) CINTRA, Antônio Octávio. 05:06 2Adriano CunhaAinda não há avaliações
- 2º Teste de Portugal e A EuropaDocumento5 páginas2º Teste de Portugal e A EuropaIlisete Maria Castro SilvaAinda não há avaliações
- AV2 - Planejamento de CarreiraDocumento3 páginasAV2 - Planejamento de CarreiraJuliana Leite100% (1)
- Acórdão Do Supremo Tribunal de Justiça Habeas CorpusDocumento49 páginasAcórdão Do Supremo Tribunal de Justiça Habeas CorpusMarcolino PereiraAinda não há avaliações
- La Orientación en Venezuela Desde El Modelo Educativo BolivarianoDocumento9 páginasLa Orientación en Venezuela Desde El Modelo Educativo BolivarianoAdriana Jose Guerrero FernandezAinda não há avaliações
- Secretariado Executivo e Assessoria Na Administração Pública - One CursosDocumento3 páginasSecretariado Executivo e Assessoria Na Administração Pública - One CursosRaquel AmadoAinda não há avaliações
- RecempeDocumento38 páginasRecempeAndrea Faria SaraivaAinda não há avaliações
- Relatório Final Prêmio CF Ed - 2012 2 PDFDocumento441 páginasRelatório Final Prêmio CF Ed - 2012 2 PDFMa BluegudeAinda não há avaliações
- Portugues 2015 - ITADocumento6 páginasPortugues 2015 - ITAJosé Carlos AguiarAinda não há avaliações
- Contrato Serviço GeoDocumento2 páginasContrato Serviço GeoademariodiasAinda não há avaliações
- Provimento CGJ #56 - 2023Documento2 páginasProvimento CGJ #56 - 2023caldiasAinda não há avaliações
- Fichamento Do Capítulo Conquista Do Centro-Sul: Fundação Da Colônia de Sacramento e o "Achamento" Das Minas'Documento3 páginasFichamento Do Capítulo Conquista Do Centro-Sul: Fundação Da Colônia de Sacramento e o "Achamento" Das Minas'Aila Kathleen0% (1)
- Revoltas de Escravos em RomaDocumento209 páginasRevoltas de Escravos em RomaAnonymous XV0g9M2kdUAinda não há avaliações
- A Mandibula de Caim LivroDocumento101 páginasA Mandibula de Caim Livrokayquenunes721Ainda não há avaliações
- Estilos de LiderançaDocumento4 páginasEstilos de LiderançaMARCIO CAVALCANTEAinda não há avaliações
- ProvaDocumento17 páginasProvaMarjorie CárdenasAinda não há avaliações
- NI008Documento5 páginasNI008Alisson Mari AdrianAinda não há avaliações