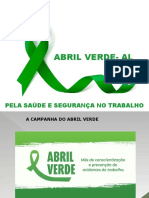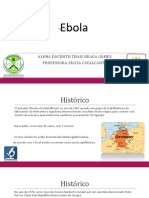Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Thyago Rosa Dissertação
Thyago Rosa Dissertação
Enviado por
Yakov SmirnovTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Thyago Rosa Dissertação
Thyago Rosa Dissertação
Enviado por
Yakov SmirnovDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE CATLICA DE GOIS PROGRAMA DE PS-GRADUAO STRICTO SENSU EM PSICOLOGIA PROPE - PR-REITORIA DE PS-GRADUAO E PESQUISA
Estudo do sofrimento psquico em pessoas obesas que recorreram cirurgia de reduo do estmago
Thyago do Vale Rosa
GOINIA MARO DE 2007
UNIVERSIDADE CATLICA DE GOIS PROGRAMA DE PS-GRADUAO STRICTO SENSU EM PSICOLOGIA PROPE - PR-REITORIA DE PS-GRADUAO E PESQUISA
Estudo do sofrimento psquico em pessoas obesas que recorreram cirurgia de reduo do estmago
Dissertao apresentada como requisito parcial obteno do Grau de Mestre em Psicologia, pelo Programa de Ps-Graduao Strito Sensu em Psicologia da Universidade Catlica de Gois. Realizado sob orientao da professora doutora Denise Teles Freire Campos.
GOINIA MARO DE 2007
II
THYAGO DO VALE ROSA
Estudo do sofrimento psquico em pessoas obesas que recorreram cirurgia de reduo do estmago
Dissertao defendida e em de Maro de 2006, pela banca examinadora constituda pelos professores:
Prof(a) Dra. Denise Teles Freire Campos Presidente
Prof. Dr. Fbio Jesus Miranda Membro
Prof. Dr. Francisco Moacir de Melo Catunda Martins Membro GOINIA MARO DE 2007
III
R788e
Rosa, Thyago do Vale. Estudo do sofrimento psquico em pessoas obesas que recorreram cirurgia de reduo do estmago. 2007. 112 f. Dissertao (mestrado) Universidade Catlica de Gois, Programa de Ps-Graduao Stricto Sensu em Psicologia, 2007. Orientao: Profa. Dra. Denise Teles Freire Campos. 1. Obesidade. 2. Subjetividade. 3. Estmago cirurgia de reduo aspecto psicolgico. 4. Sofrimento psquico. I. Ttulo. CDU: 616.39:159.9(043)
IV DEDICATRIA
Aos meus pais com carinho.
V AGRADECIMENTOS
Fao questo de agradecer professora Denise Teles Freire Campos e ao professor Pedro Humberto Faria Campos pelo constante apoio. Meus mestres, com a expresso de minha ntima gratido. Amigos, pelos quais tenho uma profunda dvida e admirao. Minha profunda gratido ao professor Fbio Jesus Miranda, que sempre esteve presente em minha formao, acompanhando-me durante esse percurso. Ao professor Francisco Martins pela inspirao e ensinamentos. Agradeo pelo apoio constante e amizade. Aos amigos do Laboratrio de Psicanlise e Psicopatologia pela troca de conhecimentos, pela amizade e confiana. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico CNPq, que me concedeu o apoio financeiro para esta. minha famlia, aos meus amigos e a todas aquelas e aqueles, aqui no nomeados, que depositaram confiana em mim e acreditaram nesse trabalho.
VI
SUMRIO
RESUMO ........................................................................................................................VIII ABSTRACT....................................................................................................................... IX INTRODUO................................................................................................................. 10 CAPTULO 1 A OBESIDADE, O CORPO E A MEDICINA MODERNA......................................... 12 1.1. O corpo opulento como objeto de estudo da medicina. ........................................... 12 1.2. Parmetros mdicos para a definio da obesidade................................................. 13 1.3. Discusso gentica e fatores scio-ambientais no estudo da obesidade. ................. 17 1.4. Obesidade como um fenmeno na fronteira entre as estruturas sociais e a subjetividade. ............................................................................................................. 22 1.5. Obesidade: fenmeno moderno, social e referente subjetividade das pessoas. .... 25 CAPTULO 2 O CORPO E A PSICANLISE ...................................................................................... 28 2.1. O corpo e o sujeito. .................................................................................................. 29 2.1.1. No incio era um nico aparelho fonador para dois corpos.......................... 35 2.2. A abordagem psicossomtica................................................................................... 38 2.3. O "Romance com a Doena". .................................................................................. 44 CAPTULO 3 A CONTEMPORANEIDADE......................................................................................... 48 3.1. Estruturas sociais e a expresso da subjetividade. ................................................... 48 3.1.1. A cultura na produo do sofrimento humano................................................. 49 3.2. Conseqncias da Ps-modernidade........................................................................ 51
VII 3.3. As transformaes da intimidade............................................................................. 54 3.4. As dificuldades das subjetividades sofrentes na atualidade. ................................ 57 3.5. O corpo na contemporaneidade. .............................................................................. 61 3.6. Obesidade: expresso do sujeito, expresso da subjetividade. ................................ 67 CAPTULO 4 PERCURSO DE PESQUISA: SOBRE O DISPOSITIVO CLNICO ......................... 70 4.1. Consideraes sobre o objeto: ................................................................................. 70 4.2. Consideraes sobre o mtodo: ............................................................................... 71 CAPTULO 05 DAS ENTREVISTAS ....................................................................................................... 75 5.1. Sra. Ana, um discurso plstico. ............................................................................ 75 5.2. Sra. Marta, ou no quero mais esse fardo. ........................................................... 80 5.3. Lurdes: a bela adormecida ou o prncipe que virou sapo. ................................ 84 5.4. Rebeca, ou idas e vindas... e vai-e-vem................................................................ 88 CAPTULO 6 ANLISE DAS ENTREVISTAS .................................................................................... 97 6.1. Sra. Ana, um discurso plstico. ............................................................................ 97 6.2. Sra. Marta ou no quero mais esse fardo. ............................................................ 99 6.3. Lurdes: a bela adormecida ou o prncipe que virou sapo. .............................. 101 6.4. Rebeca, ou idas e vindas... e vai-e-vem. ......................................................... 102 CAPTULO 07 CONSIDERAES FINAIS ......................................................................................... 104 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 109
VIII RESUMO
O presente trabalho teve um carter exploratrio e buscou estudar a expresso das subjetividades de pessoas obesas que recorreram cirurgia de reduo do estmago. Realizaram-se quatro entrevistas do tipo clnico com mulheres de diferentes idades que recorreram cirurgia de reduo do estmago. A ocasio de uma preocupao corporal funciona como um estmulo indutor de uma narrativa pelo sujeito de seu sofrimento. Tratase da restituio pelo entrevistador da realidade de pesquisa, em que o registro das entrevistas fica condicionado ao prprio dispositivo e, rigorosamente falando, a anlise da situao de pesquisa, anlise do prprio dispositivo enquanto estratgia de pesquisa. O que significa dizer que a interpretao do relato da entrevista em clnica somente pode ser validada dentro de um contexto intersubjetivo (Stein, 1988). Dessa forma, a partir das entrevistas realizadas, pode-se dizer que a cirurgia se mostra como uma tentativa de mudana, de mudar a sua prpria identidade. Contudo, devemos ter a cautela de dizer que se trata muito mais de uma via aberta, para o sujeito, de uma mudana em sua vida, que pode ou no se concretizar. No se trata de restituir a sade, um estado de coisas anterior, como no caso da doena, mas de provocar um verdadeiro corte em sua histria anterior.
Palavras-chave: Subjetividade, Obesidade, Psicanlise, Entrevista do tipo clnico.
IX ABSTRACT
The present work had an exploratory character and, looked for to investigate the expression of the subjectivities of obese people that made use of stomach reduction surgery. Four clinical type interviews were realized with woman of different ages that appealed to the stomach reduction surgery. The occasion of a body worry carries on as an inductor stimulus of a narrative by the subject of his suffering. It concerns the restitution by the interviewer of the reality of research, which the register of interviews stays conditioned to the own disposing and, rigorously talking, the analysis is from the research situation while research strategy. It means that the interpretation of the relate of the interview in clinic, only can be validated in a inter subjective context (Stein, 1988). In this way, through the realized interviews, can say that the surgery shows itself as a trial of changing his own identity. Although, we must have a caution of saying that it concerns much more of an open via, to the subject, of change in his life, that can or cannot concretize. It doesnt mean recover the health, a situation of prior things, as in the case of the illness, but to provoke a true incision in his anterior history.
Key words: subjectivity, obesity, psychoanalysis, clinical type interview.
10 INTRODUO
A Organizao Mundial de Sade aponta que nos ltimos trinta anos, sobretudo no ocidente, houve um intenso aumento do excesso de peso. Tal fenmeno afeta a economia por dois lados: alto custo financeiro com a sade e alta taxa de mortalidade. A obesidade hoje, segundo dados da OMS (2000), considerado o grande desafio nutricional do sculo XXI, tornando-se um problema de sade pblica dos mais urgentes. Contudo, apesar do custo social da obesidade, o atual quadro de mudanas econmicas e nutricionais no explica totalmente o fenmeno. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi estudar a expresso das subjetividades de pessoas obesas que recorreram cirurgia de reduo do estmago. Ou seja, buscou-se no perder de vista a dimenso da subjetividade e propiciar um momento de escuta dessa subjetividade mediante entrevistas do tipo clnico com mulheres de diferentes idades que recorreram cirurgia de reduo do estmago. Como aponta Del Volgo (1998) a ocasio de uma preocupao corporal (como no caso da cirurgia de reduo do estmago) pode se tornar um estmulo indutor de uma narrativa pelo sujeito de sua subjetividade. O relato dessa experincia, a construo de uma narrativa sobre seu sofrimento, quando acolhido dentro de um dispositivo de escuta pode se tornar o fio condutor dos contedos inconscientes. Ou seja, trata-se da investigao do sujeito, do ser doente, e no do anonimato da doena. A investigao no pode se limitar doena em si, mas doena do doente (Del Volgo, 1998), via construo pelo sujeito de uma narrativa sobre sua doena que no se confunde com a
11 causa, nem com o exato, mas a verdade do sujeito. a sua experincia particular, a expresso de sua subjetividade. Trata-se da restituio pelo entrevistador da realidade de pesquisa, da situao de pesquisa, e no da realidade do sujeito como poderia se dizer. Com isso o registro das entrevistas fica condicionado ao prprio dispositivo e, rigorosamente falando, a anlise da situao de pesquisa, anlise do prprio dispositivo, enquanto estratgia de pesquisa. Nessa perspectiva, os relatos aqui transcritos no so memrias no sentido exato do termo, no so provas do real; mas so resduos, artefatos, da realidade de pesquisa, criados pelo prprio dispositivo. Dito de uma outra forma buscou-se propiciar uma escuta da subjetividade, levando-se em conta o desejo, as fantasias, aspectos inconscientes presentes no discurso dos sujeitos que recorreram cirurgia de reduo do estmago, j que cada sujeito, a sua maneira, elabora, ou tenta elaborar, com os recursos que tem, em seu discurso, aquilo que lhe ocorre. Finalmente, fundamentado a partir do referencial psicanaltico e da psicopatologia clnica, nosso estudo buscou ao mesmo tempo dar lugar fala na escuta e tratamento do sofrimento psquico, bem como reconhecer a constituio desses eventos psquicos na maneira do sujeito representar e enfrentar o seu sofrimento.
12 CAPTULO 1 A OBESIDADE, O CORPO E A MEDICINA MODERNA.
1.1. O corpo opulento como objeto de estudo da medicina.
As primeiras descries da corpulncia, do excesso de peso, podem remontar s origens da civilizao (Repetto, 1998, citado por Salve, 2006). E, com toda certeza, essas descries passaram por diversas mudanas. Pode-se dizer que atualmente vivemos uma fase de transio, a chamada "transio nutricional", em que a humanidade se v na urgncia de combater tanto a fome como o excesso de peso. Dentro de um mesmo pas, dentro de uma mesma cidade, a fome e a obesidade convivem e so problemas emergenciais. Contudo, os dois problemas so enxergados de forma bem diferente. A luta contra a desnutrio algo tido como lgico que se reconhece e no se contesta. Pode-se dizer que at sentimos pena, ficamos comovidos com essa condio. J, com relao ao excesso de peso, com a obesidade, a viso bem diferente. V-se uma atitude discriminatria, em alguns casos, at menosprezo. Isso pode ser percebido pela manuteno do mito que os obesos comem demais e que so pessoas fracas. Fica a pergunta se essa atitude preconceituosa no estaria afetando inclusive a viso das autoridades, inclusive da cincia? Aliado a isso a definio da obesidade algo muito recente. H cerca de trinta anos o fenmeno se alastrou por todo o planeta e conseqentemente ganhou a ateno mdica. E somente h dez anos passou a ser encarado como o grande desafio nutricional do sculo XXI. Contudo, sabemos que o atual interesse pelo fenmeno deve-se muito mais aos
13 gastos elevados com a sade nos pases, principalmente associao da obesidade com as chamadas doenas do peso, do que por uma atitude humanitria por parte das autoridades. Dessa forma, o presente captulo buscou apresentar o recorte da medicina moderna sobre esse corpo, sobretudo o corpo opulento, o corpo obeso.
1.2. Parmetros mdicos para a definio da obesidade.
Mesmo que a obesidade, enquanto objeto de ateno mdica, seja um fenmeno muito recente, alguns autores apontam que (Repetto, 1998, citado por Salve, 2006) o excesso de peso (em latim obesidade vem do radical obesus, que significa ventre grande) provavelmente seja a enfermidade mais antiga que a humanidade conhea. Essa assero foi baseada nos achados arqueolgicos que, segundo os autores, trazem consigo vrias representaes de pessoas com as formas corporais volumosas. Embora seja razovel acreditar na existncia de seres humanos com excesso de peso mesmo em perodos to anteriores da civilizao, devemos ter a cautela de reconhecer que a representao em um vaso, ou uma pintura em uma caverna, no prova a existncia do excesso de peso naquela civilizao. Pelo menos no como o atual fenmeno se apresenta em nossa sociedade. Nesse sentido, o atual fenmeno da obesidade bem diferente do possvel excesso de peso que possa ter acompanhado os seres humanos desde os primrdios da civilizao. E deve-se dizer que h importantes diferenas em sua prevalncia em determinadas populaes, e como aponta Martins (2003), o acmulo de gordura relativo s apreciaes estticas de cada poca e no s aos padres de sade. E ainda, no existe consenso com relao aos fatores de risco que no se limitam a uma questo de transmisso gentica. Os
14 genes das pessoas no acompanhariam a exploso da obesidade no planeta nesses ltimos trinta anos. O que parece que o ambiente, que nos cerca, tem uma contribuio importante para o incremento do excesso de peso hoje no mundo. Mesmo diante dos repetidos esforos das autoridades o fenmeno continua a crescer. O problema alimentar uma questo premente hoje, e a presena da obesidade nas sociedades contemporneas coloca um desafio s autoridades, inclusive cincia, na busca de formas adequadas de prevenir o problema. Nesse sentido, os estudos mdicos tm um papel importante na definio e compreenso do estudo da obesidade. De forma simples, ela pode ser definida como uma doena caracterizada pelo acmulo excessivo de gordura no corpo a ponto de comprometer a sade das pessoas e com perda da qualidade de vida, bem como, da expectativa de vida (Organizao Mundial de Sade, OMS, 2000). Apesar da OMS colocar que o atual incremento do excesso de peso no planeta deve-se fundamentalmente s mudanas scio-ambientais, como as mudanas nos hbitos alimentares e a inatividade fsica que leva ao balano energtico positivo, o fenmeno da obesidade no pode ser explicado por uma nica viso. Dentro de uma viso mdica, Monteiro (1998) aponta que, para se obter dados mais fiveis, seja necessrio conhecer a composio corporal, a quantidade de gordura e como ela se distribui no corpo. Usando, por exemplo, a relao cintura/quadril e o permetro do quadril em que o mais usual so as medidas antropomtricas, como as pregas cutneas, peso, altura, circunferncias e, tambm, as medidas mais sofisticadas, como ultra-som, condutividade eltrica, tomografia computadorizada, ativao de nutrons e entre outros. De forma bem objetiva, a OMS estabelece como critrio para o diagnstico da obesidade o ndice de Massa Corporal (IMC). Onde temos: IMC < 20 = peso inferior ao
15 peso normal; IMC entre 20 e 24,9 = peso normal; IMC entre 25 e 29,9 = pr-obesos; IMC entre 30 e 34,9 = obesidade grau I; IMC entre 35 e 39,9 = obesidade grau II; IMC > 40 = obesidade grau III. Ou seja, quanto maior o ndice, maior sero os riscos sade (Monteiro, 1998). importante dizer que esse ndice apresenta variaes em relao diversidade tnica de uma mesma populao. Sobretudo, em pases com tamanha miscigenao como o caso do Brasil. Nesse sentido, Halpern (1999/2000) aponta que a juno dos critrios qualitativos, indiretos, que so mais simples e prticos (como a avaliao da histria de vida de cada indivduo), em ligao com os critrios objetivos (como o IMC), permite uma melhor avaliao do quadro clnico do paciente. Embora se saiba que indivduos obesos (IMC > 30) apresentam um maior risco de mortalidade comparado aos indivduos no obesos. Sob um outro ponto vista, buscando uma definio mais precisa da obesidade, Loli (2000) prope que, mesmo utilizando-se de critrios quantitativos, necessrio se valer tambm dos indicadores qualitativos (ou estticos). A esse respeito estabelecem-se dois tipos de obesidade. A Obesidade Ginide (ou ginecide), esta acomete mais as mulheres, tambm chamada de obesidade em forma de pra ou ainda obesidade subcutnea. E a outra forma aquela em que a gordura pode concentrar-se no abdome profundamente entre as vsceras. Esta chamada de Obesidade Andride porque acomete mais os homens ou obesidade em forma de ma ou obesidade visceral. A autora acrescenta que baseado nos critrios da OMS (World Health Organization - WHO, 2002) a porcentagem de gordura corporal deve situar-se entre 15 e 18% para o sexo masculino e entre 20 e 25% para o sexo feminino.
16 Dessa forma so considerados obesos os homens com percentual de gordura corporal superiores a 25% e as mulheres com percentual mais de 30%. Pode-se dizer que o excesso de gordura corporal, e somente quando se figurar um excesso, resulta num significativo prejuzo sade das pessoas. Alguns estudos (Coutinho, 1998; Halpern, 1998, Halpern & Mancini, 1999, 2000, 2002 e Paiva & Silva, 1994) indicam uma relao clara entre o excesso de peso e o aumento do risco de mortalidade e a ocorrncia de co-morbidades, como as doenas cardiovasculares, endcrinas, infertilidade, doenas gastrointestinais, osteartrites, infeces e inclusive ao surgimento de tumores. Devido associao com outras enfermidades, as chamadas doenas do peso, a obesidade impe severos prejuzos sade das pessoas. Como aponta os estudos do Nurses Health Study -NHS e da American Cancer Societys Cancer Preventrion Study ACSCPS (citados por Peres, 2005), altos valores de IMC esto relacionados a uma taxa elevada de mortes por todas as causas, principalmente em relao s doenas cardiovasculares. De acordo com o estudo, isso tambm pode ser verificado pela correlao negativa entre a expectativa de vida em adultos e a obesidade. Alm da mortalidade, a obesidade est associada a um elevado grau de morbidades. Detalhando melhor essa relao, o NHS aponta que a obesidade em relao ao peso normal est associada a um incremento de 13,6% da hipertenso, de 6,3% da diabete melito, de 7,7% da hiperinsulinemia, de 7,7% da hipertriglicedemia, bem como de uma diminuio de 8,6% dos valores do HDL-colesterol e, por fim, de um incremento de 12,1% da hipercolesterolemia. baseado nesses estudos que Monteiro (1999) aponta que a obesidade pode ser responsvel por cerca de um bilho de mortes evitveis no mundo. Em uma pesquisa
17 publicada no Jornal de Medicina da Nova Inglaterra (Olshansky, Passaro, Hershow, Layden, Carnes, Brody, Hayflick, Butler, Allison e Ludwig, 2005) as taxas de excesso de peso nos Estados Unidos aumentaram 50% nos adultos durante os anos de 1980 a 90, a ponto de se falar atualmente que um em cada trs norte-americanos, obeso. Nessa perspectiva, estima-se que a expectativa de vida dos norte-americanos pode se reduzir nas prximas dcadas (fato que no ocorria desde o sculo XIX) devido ao aumento do nmero de mortes relacionadas ao excesso de peso. Os nmeros expressam uma realidade preocupante, j que de acordo com a Organizao Mundial de Sade (WHO, 2000), a obesidade se tornou uma epidemia global j ultrapassando o problema da desnutrio no planeta. E, ainda, um relatrio recente lanando pela International Diabetes Federation (IDF) e a International Association for the Study of Obesity (IASO) indicam que se faz necessrio uma ao urgente para prevenir uma crise global de sade pblica relacionada ao excesso de peso.
1.3. Discusso gentica e fatores scio-ambientais no estudo da obesidade.
certo que a prevalncia da obesidade tem aumentado no planeta, sendo responsvel direto e indiretamente por boa parte dos gastos com a sade nos pases. um fenmeno com caractersticas interessantes. Apesar de ser um problema antigo, s agora se tornou um problema de sade pblica, tendo relevncia para a sade s nos ltimos trinta anos. por isso que, de acordo com Phillip James, presidente da Fora Tarefa Internacional para o Estudo da Obesidade (FTIO), a obesidade se constitui o grande desafio para a sade no
18 sculo XXI. Nesse sentido, a OMS (2000) alerta que existem cerca de 800 milhes de pessoas subnutridas contra 1 bilho de obesos no mundo. Ns ltimos vinte anos o fenmeno no pra de crescer, e j caracterizado pela OMS como uma epidemia mundial com propores nunca vistas na histria da evoluo da humanidade. um problema que se agravou muito na metade do sculo passado, e foi justamente por isso que nos anos cinqenta, o excesso de peso - medido, padronizado e nomeado como obesidade - foi introduzido no Cdigo Internacional de Doenas (CID-10) e reconhecido como um problema clnico importante. Contudo, como aponta Almeida e Ferreira (2005) a prevalncia e interpretao da obesidade no mundo tm variado ao longo do tempo, em razo de valores culturais e cientficos presentes em cada sociedade. Segundo os autores a obesidade praticamente inexistiu nas sociedades antigas, sendo um fenmeno raro devido intensa atividade fsica e escassez de alimentos, que acompanharam os seres humanos durante muitos sculos. Mas, para seu surgimento, os autores argumentam que a prpria seleo natural se encarregou disso, selecionando indivduos com mecanismos orgnicos de estocagem de nutrientes, de energia, mais adaptados que os outros. Aliado a isso, as profundas mudanas nos hbitos de vida, inauguradas com a Revoluo Industrial, contriburam para o incremento da obesidade no mundo. As pesquisas mdicas, atualmente, apontam para uma pluralidade de fatores na manuteno do corpo obeso. Esses estudos (Coutinho, 1998; Halpern, 1998; Halpern & Mancini, 1999, 2000, 2002 e Paiva & Silva, 1994 e Salve, 2006) indicam trs elementos mais relevantes para a manuteno do excesso de peso. So os seguintes: a) a adeso a um tipo de dieta nutricional rica em gorduras, b) o comportamento das pessoas (entendido aqui
19 como o estilo de vida, os hbitos de vida) e, por ltimo, c) a contribuio da gentica (estudos esses que se baseiam principalmente na comparao de gmeos e no histrico familiar). Embora se reconhea que, em alguns casos, a obesidade pode estar associada aos distrbios endcrinos, ou seja, s disfunes neurohormonais, essas disfunes so raras e acometem aproximadamente de 1% a 5% da populao mundial. Rigorosamente falando, as pesquisas mdicas tendem a apontar para o que chamam de determinao gentica do peso. Alguns estudos (Coutinho e Dualib, 2006) estimam que os fatores genticos respondem por 24 a 40% da resposta da pessoa frente superalimentao. E outros estudos (Salve, 2006; Mendes, Alves, Alves, Siqueira e Freire, 2006) indicam que crianas, com ambos os pais obesos, apresentam um risco de 80% de se tornarem obesas. Se apenas um dos pais for obeso essa probabilidade cai para 40%, e se na famlia nenhum dos pais obeso o risco cai para 10%. Contudo, baseando-se em dados estatsticos no podemos afirmar que os genes so os responsveis pelo atual incremento do excesso de peso no mundo. Bem como no possvel pesar a influncia dos genes e do ambiente, porm sabemos que a pesquisa gentica da obesidade est apenas no comeo. Nesse sentido, no d para falarmos de uma causa circunscrita, bem marcada. Como aponta Villares (1998) tratando-se de uma doena multifatorial (aspas do autor) no possvel discriminar e dominar o que efeito do gene ou o que efeito do ambiente. Ou seja, mesmo que a medicina aponte inequivocamente para o aporte nutricional superior ao gasto energtico h uma multiplicidade de fatores para a manuteno do excesso de peso. Dessa forma, no d para falarmos de obesidade, mas de tipos diferentes de obesidade com causas e conseqncias bem distintas.
20 Como aponta Uehara e Mariosa (2005), sua etiologia e histria natural parecem indicar uma pluralidade de fenmenos envolvidos cada qual com seu peso especfico. O sobrepeso e a obesidade podem se iniciar em qualquer idade havendo importantes diferenas entre os sexos e a condio scio-econmica. De acordo com os autores, crianas com baixo peso ao nascimento, ou muito pequenas, esto mais sujeitas a desenvolverem o excesso de peso e suas conseqentes comorbidades em comparao com crianas que nasceram com o peso normal. Da mesma forma, a amamentao parece ser um fator importante. Crianas, que no foram amamentadas ou que foram amamentadas por um curto perodo de tempo, apresentam um maior risco de sobrepeso e obesidade do que crianas que foram amamentadas. E ainda crianas que apresentam excesso de peso em idades mais avanadas da infncia, aps os trs anos de idade, por exemplo, tendem a manter essa condio, ao contrrio das crianas que apresentam excesso de peso antes dos trs anos de idade. Com relao adolescncia maioria dos casos tendem a se manter na idade adulta. De forma geral, segundo os autores, as pesquisas indicam que o surgimento da obesidade na infncia e adolescncia um grande preditor de obesidade na fase adulta. As diferenas em relao ao sexo, de acordo com Uehara e Mariosa (2005), parecem sofrer forte influncia dos fatores scio-econmicos. Por exemplo, a gravidez (como um evento existencial importante), os contraceptivos (apesar de no haver dados clnicos relevantes que ateste tal influncia) e a menopausa (as mudanas hormonais) parecem estar associados ao surgimento da obesidade feminina na idade adulta. Em relao aos homens, o principal fator para o incremento do excesso de peso parece estar associado aos hbitos de vida, j que eram ativos na adolescncia e tornaram-se sedentrios na fase adulta. De
21 modo geral, pode-se dizer que os fatores tnicos, scio-econmicos e culturais, influenciam o processo de ganho de peso. Um outro fator importante se refere relao entre obesidade e trabalho, e obesidade e escolaridade (Monteiro, Conde e Castro, 2003; Uehara e Mariosa, 2005). At 1989 a obesidade era proporcional ao nvel de escolaridade, quanto maior o nvel de escolaridade maior o risco de obesidade. Segundo dados da Pesquisa Nacional sobre Sade e Nutrio (PNSN) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), em 1997 a situao mudou muito no Brasil (Monteiro, Conde e Castro, 2003). Seguindo uma tendncia comum, principalmente, nos pases da Amrica Latina, o aumento da obesidade apresentou uma relao inversamente proporcional ao nvel de escolaridade. Ou seja, atualmente a populao com baixa escolaridade e com uma condio scio-econmica menos favorvel est mais sujeita ao excesso de peso que a populao mais abastada economicamente e com maior escolaridade. Nessa mesma linha, com relao ao sexo, as mulheres que esto desempregadas formam um grupo mais propenso ao excesso de peso, segundo Ferreira e Magalhes (2005). O impacto da obesidade na populao feminina e de baixa renda no Brasil notrio. De acordo com as autoras, dos 6,8 milhes de obesos no Brasil levantados pelo PNSN, 70% eram de mulheres pobres. E, de acordo com Filho (2005), com relao aos homens desempregados ou em situao scio-econmica menos favorvel, o efeito inverso. E ainda, segundo o autor, mulheres que ocupam cargos de destaque no trabalho apresentam menores risco de obesidade. Com relao aos homens no h dados significativos dessa relao. Embora os dados do Third National Health and Nutrition Examination Survey Data (NHANES III/ 1989-1994), publicado no Centers for Disease
22 Control and Prevention (CDC) (1996), apontem que o estilo de vida e o tipo de dieta nutricional, baseada num balano energtico positivo, sejam os principais responsveis para o surgimento do excesso de peso. De modo geral, os estudos apontam para trs caractersticas importantes do predomnio da obesidade. Que existe uma correlao entre o estrato scio-econmico e a obesidade, as populaes urbanas apresentam um maior risco de excesso de peso em relao populao rural e, por ltimo, que h uma prevalncia da obesidade em minorias tnicas devido aos chamados hbitos de vida modernos e ao balano energtico positivo. (Almeida e Ferreira, 2005).
1.4. Obesidade como um fenmeno na fronteira entre as estruturas sociais e a subjetividade.
Para o estudo da obesidade parece existir uma estreita relao entre a alimentao (a quantidade de comida ingerida), e a inatividade fsica (o sedentarismo). evidente que no d para se falar de obesidade sem relacion-la ao excesso de peso; porm, nem sempre, o ganho de peso est associado de forma exclusiva ao excesso de ingesto alimentar. Hoje se reconhece que a prevalncia da obesidade no mundo tem aumentado e que esses nmeros a aproximam de uma verdadeira pandemia (WHO, 2002) - ou, talvez, seria o caso dizer, de uma globesidade, como indica Philip James, presidente da FTIO (Veja, 2002). Dessa forma, faz-se necessrio compreender quais fatores esto levando a tal
23 aumento do excesso de peso no mundo. Bem como colocar em foco as vivncias sociais e seu impacto nas estruturas psquicas e no prprio corpo dos sujeitos. Contudo, a obesidade no pode ser estudada estritamente como uma enfermidade fsica. A dinmica social e tambm a dinmica familiar, da histria ntima, particular, do contornos prprios e especficos obesidade. Pode-se dizer que ela uma verdadeira enfermidade social. A mdia, por exemplo, tem um papel importante com relao obesidade. Apesar da mdia ser a responsvel, pelo menos em parte, pela apresentao do tema s pessoas, ela pode estar contribuindo para fomentar uma mudana nos hbitos alimentares de crianas e jovens, instaurando uma nova cultura alimentar. Assim, agravando ainda mais o problema da obesidade no mundo, como apontam Almeida, Nascimento e Quaioti (2002). E, ainda, a mdia a responsvel pelo culto de um corpo ideal, pela construo da idia de um corpo perfeito que se aproxima de um modelo esguio e esbelto, impondo um padro esttico a ser seguido que, na maioria dos casos, refora a discriminao e o sofrimento das pessoas que no se adeqam aos padres (Fellipe, 2004; Serra e Santos, 2003). Nesse sentido a obesidade deve ser avaliada para alm da relao sade-doena, podendo ser considerada um problema social. Isto , como aponta Felippe e Santos (2004), a obesidade como um produto do estilo de vida ocidental. Esse estilo de vida contemporneo marcado de forma resumida e breve pelas mudanas no consumo alimentar, pela tendncia a diminuir o dispndio de calorias, seja pelo aumento de ocupaes, que no exigem esforo fsico, seja pelas formas sedentrias de lazer, e a influncia da mdia no comportamento das pessoas. Desses fatores, destacam-se as
24 mudanas no consumo alimentar que tm contribudo para um balano energtico positivo, e a reduo da atividade fsica (Mendona e Anjos, 2004). A discusso sobre a questo no sem importncia. De acordo com a Organizao Mundial de Sade (WHO, 2002) a obesidade em breve se tornar a maior causa de morte evitvel no mundo, e atualmente s perde para as mortes relacionadas ao tabagismo. Dessa forma, constitui-se em um grande problema de sade pblica levando morte milhares de pessoas e afetando a economia dos pases. Apesar de se observar um grande nmero de eventos e pesquisas a respeito do tema, as respostas ainda no so claras. At pouco tempo atrs, os especialistas apontavam que o problema da obesidade no mundo devia-se ao excesso de consumo de alimentos pelas pessoas. Ora, apesar de sabermos que ningum se torna obeso se no ingere comida, contudo, nem sempre, essa ingesto algo de uma desmesura, de um excesso no alimentar. E ainda, tal afirmao beira muito mais a uma atitude preconceituosa e acusativa - diga-se de passagem, acusaes de peso, gula, descontrole, maus hbitos etc do que propriamente uma atitude tica e profissional. E por isso, tal assertiva h muito foi deixada de lado. Entretanto, os estudos mdicos se esforam para encontrar os fundamentos fsicos, signos fiveis, que expliquem taxativamente o excesso de peso. nesse sentido que Rankinen, Prusse, Weisnagel, Snyder, Chagnon e Bouchar (2002) apontam que os fatores genticos e a hereditariedade devem ser considerados os principais fatores na determinao da obesidade. Contudo, pode ser embaraoso fazer tal assero se pensarmos que a obesidade um problema muito recente, de mais ou menos trinta anos, e que os genes das pessoas no acompanhariam a velocidade dessas transformaes (Uehara e Mariosa, 2005; Veja,
25 2002). Num outro ponto, como discute Czeresnia (2001), as concepes de cura e adoecimento vem se transformando ao longo do tempo. Podemos dizer que, em cada momento histrico, os especialistas tm um modo de pensar sobre as morbidades, ou seja, um paradigma privilegiado na compreenso do adoecimento humano e que, evidentemente, vai influenciar na atitude teraputica e diagnstica. Num estudo sobre as mudanas nesses paradigmas, Czeresnia (2001) aponta que a idia de um conhecimento seguro e fivel atravs da observao e experimentao, ou seja, o proceder positivo, sistemtico, seguro e dominado pela razo, que permitiria conhecer a natureza das coisas de forma objetiva, no tem se mostrado muito profcuo quando falamos de doenas; sobretudo, ao referirmos idia de uma doena multicausal. Percebemos ento um resgate de concepes clssicas, mais voltadas para um saber compreensivo e contemplativo. Nesse sentido, a obesidade um caso exemplar. As intervenes no vo ao encontro da idia de uma doena circunscrita; mas, muito mais em direo compreenso dos condicionantes do adoecimento. Isso significa, em ltima anlise, definir os diferentes nveis de realidade que favorecem, ou melhor, predispe obesidade.
1.5. Obesidade: fenmeno moderno, social e referente subjetividade das pessoas.
A compreenso do fenmeno obesidade est para alm do sintoma fsico. Apesar do enfoque mdico dominante insistir em apontar para a idia de doena, contudo no deixa de situ-la como uma doena multidimensional. Dessa forma, nosso estudo buscou
26 conhecer as subjetividades de pessoas obesas que procuram a cirurgia de reduo do estmago. Assim, para o estudo da subjetividade de pessoas obesas devemos levar em conta as vivncias sociais e seu impacto na constituio do sujeito. Apesar de se tratar de um problema fsico, de excesso de gordura corporal, no deixa de ser um fenmeno multivariado, com significativa participao de fatores psquicos e sociais. E, ainda, podemos dizer que o sofrimento psquico na obesidade constitui um campo onde as dinmicas histrico-sociais exercem um impacto nas estruturas psquicas e no prprio corpo dos sujeitos. A obesidade, enquanto objeto de ateno cientfica (sem ainda fazermos referncia idia de sade ou doena, algo que vamos discutir posteriormente), um fenmeno contemporneo. Como analisam Campos e Campos (2004), uma construo moderna, da cincia moderna, e sobretudo referente s ltimas dcadas do sculo XX (p. 02). De acordo com os autores, o excesso de peso nas sociedades antigas no era pensado como um problema, pelo menos, no se constitua um problema maior. Pode-se dizer que o excesso de peso nessas sociedades, na forma que ele existiu, no tem qualquer relao com o atual fenmeno do excesso de peso que acompanha a humanidade hoje. Dessa forma, o corpo, o corpo com excesso de peso, constitua muito mais sinal de prosperidade e indicao do status social do indivduo que qualquer semelhana com a atual preocupao clnica ou esttica. Podemos dizer que as formas de adoecimento atual colocam em xeque a concepo de doena da medicina moderna (Czeresnia, 2004). De alguma forma, obriga-a a resgatar a idia segundo qual a relao entre sade e doena est ligada s condies de existncia de uma determinada populao, bem como as formas de vida dessa. Dito de outra maneira,
27 a obesidade enquanto um evento clnico importante no se presta perspectiva bacterologista que, em ltima anlise, busca encontrar o agente (em alguns casos fosse melhor dizer o responsvel), a causa da doena. Assim, entre a obesidade e o corpo h muito mais que se dizer do que se possa esperar da concretude do sintoma fsico, corporal. Sua explicao, sua definio, no algo simples, mesmo que seja multifacetado, pois as possibilidades de se encontrar um sinal, uma causa plausvel, nem sempre possvel. E sobre esse outro corpo, o corpo imaginrio, sobre esse sofrimento para alm da objetividade do diagnstico de uma doena, que introduziremos no prximo captulo.
28 CAPTULO 2 O CORPO E A PSICANLISE
Diante do nosso problema, ao falarmos do corpo, no se trata de fazer uma diviso entre o corpo bio-lgico ou do corpo psico-lgico, pois sempre de um nico e mesmo corpo que o sujeito fala, do corpo pulsional, sexual. O corpo, mesmo que inicialmente imaturo, dependente, natural; necessitando de um outro que lhe assegure sua sobrevivncia e, por esse fato mesmo, constitui-se como um corpo vivido, como corpo de prazer, de desejo (Anzieu, 2000). Em que, inevitavelmente, nas trocas efetuadas entre os corpos, no contato com o outro, com a cultura; ou seja, transformado pela atividade simblica, o sujeito emergir. O corpo o primeiro meio, o primeiro instrumento de troca com o mundo (Campos, 2006). a base que assegura a prpria existncia, sem ele no viveramos. Ele o envelope protetor, o espao limite entre o indivduo e os outros, entre o indivduo e o mundo (Anzieu, 2000), mesmo que essa relao no exista per se, no se faa pela mera percepo espacial e diferenciao dos espaos, dos limites, por exemplo, dos espaos interno e externo, at porque o beb s muito depois ter uma percepo mais ou menos integradora de seu corpo. O seu fundamento biolgico, a sua origem orgnica, no fornece de antemo as condies necessrias para que o indivduo se construa como sujeito. Junto com o dado biolgico, junto com o fenmeno corporal, observa-se a dependncia mtua de uma gama de fenmenos ligados ao corpo, que no se reduzem s atividades fsicoqumicas, mas, expresso complexa da atividade psquica e simblica humana.
29 Apontar esses elementos significa dar destaque para o corpo enquanto lugar de troca, de relao, de interao, ou seja, reconhecer a especificidade dos fenmenos psquicos presentes e integrados realidade fsica e realidade social. Essa perspectiva busca superar a dicotomia entre soma e psique, ou ainda, entre a realidade psquica e a realidade social. Toda teoria do psiquismo, como aponta Anzieu (2000), deve levar em conta a sua dupla sustentao, tanto no corpo vivo (fsico) quanto sobre os grupos sociais (a famlia, por exemplo). Contudo, a percepo dos limites do corpo, da imagem corporal, a percepo de fronteiras (fronteira, por exemplo, entre o meu corpo e o do outro), pela criana, passa, necessariamente, pela relao me-beb, ou seja, adquirida durante o processo de defuso da criana em relao a sua me (Anzieu, 2000, p.52). Dessa forma, se h um processo de defuso que estaria na base do estabelecimento das fronteiras entre o Eu o Outro, ento, um processo de fuso anterior esteve presente. O que significa dizer que, a partir desse processo, mais anterior cronologicamente, de identificao do beb com a me, nessa relao simbitica estabelecida a criana passa a existir, mesmo que, para ela, seja uma existncia em comum. Ou seja, dois corpos em dependncia e integrados, apreendidos como um s (Campos, 2006).
2.1. O corpo e o sujeito.
Como Freud (1923/2004) j havia apontado, a instaurao no aparelho psquico de um Eu est intimamente relacionada experincia corporal. Podemos dizer que, atravs
30 das sensaes e percepes corporais, principalmente as tteis, tanto prazerosas (no aleitamento) quanto desprazerosas (na dor fsica), todas elas, parecem desempenhar um papel no processo pelo qual o sujeito vai tomando conscincia de seu corpo; e, no outro extremo dessa percepo, conscincia de sua existncia. Segundo Freud, esse con-tato com o mundo, com os outros, principalmente, com o Outro (me), funcionar como o modelo de base para a construo no psiquismo da idia de um corpo prprio. Nesse sentido, o aforismo freudiano no deixa dvidas: o ego , primeiro e acima de tudo, um ego corporal; no simplesmente uma entidade de superfcie, mas , ele prprio, a projeo de uma superfcie (Freud, 1923/2004, p. 39). Desde o nascimento, constitucionalmente, o corpo , antes de tudo, um corpo sexual. Em que os instintos, que se originam da organizao somtica e que aqui encontram uma primeira expresso psquica, sob formas que nos so desconhecidas (Freud, 1940[1938]/2004, p. 158), exigem, por parte do psiquismo, uma forma de descarga, de alvio dessa excitao, dessa tenso. De certo modo, a prpria atividade psquica constitui-se numa tentativa, do organismo, em dar conta dessa excitao que se origina dentro dele. por isso que Freud postula que o grande propsito de nossas vidas a satisfao das necessidades inatas (Freud, 1915/2004). Contudo, essas necessidades inatas, assim compreendidas, referem-se busca pela satisfao das pulses, e no, somente, s satisfaes das necessidades biolgicas. Essa fora, presente desde o nascimento do beb, : um conceito situado na fronteira entre o mental e o somtico, como o representante psquico dos estmulos que se originam dentro do organismo e alcanam a mente, como uma medida de exigncia feita mente no sentido de trabalhar em conseqncia de usa ligao com o corpo. (p.127, Freud, 1915/2004)
31 Essas so as foras constituintes do indivduo que esto por trs da tenso causada no aparelho psquico. Contudo, a vida sexual, nesse primeiro momento, tem como funo a busca de prazer, ou seja, de satisfao das zonas ergenas. Funo que s depois ser convertida reproduo, quando assim ocorrer durante o processo de desenvolvimento libidinal. Nos termos freudianos, so as zonas ergenas que impem exigncias libidinais ao aparelho psquico (Freud, 1905/2004). E, de acordo com Freud, bem possvel que essa impulso, presente desde o nascimento, esteja relacionada autopreservao; embora, da mesma forma, tambm esteja voltada para pura obteno de prazer, de satisfao; e, por essa mesma razo, deve ser chamada de sexual. (Freud, 1940[1938/2004). Assim entendido, os estmulos que emanam do corpo no se devem, exclusivamente, necessidade vital, da manuteno da vida, do ciclo biolgico, como a fome, por exemplo. Mas, se devem, em grande parte, experincia prazerosa dessas sensaes, animadas, sobretudo, no con-tato com o Outro (Freud, 1914/2004 e 19161917[1915-1917]/2004). De certa forma, o psiquismo busca a descarga dessa tenso, busca restabelecer o equilbrio anterior, como a ausncia de tenso, ou mant-la no menor limiar possvel. Se pensarmos que o interesse do beb pelas coisas, pelo mundo e pelos outros, ainda no existe; a energia sexual que emana do somtico, das zonas ergenas, no poderia ter outro destino que no o seu prprio corpo. Ou seja, a satisfao da pulso nesse primeiro momento, autoertica. por isso que o contato do beb com o mundo, antes de tudo, mediado, produzido, induzido, transformado, pelo con-tato com a me (Campos, 2006). O que significa dizer que a experincia corporal que promotora de prazer, de desprazer , tambm, promotora de um aprendizado. De certa forma, a realidade vai se impondo
32 gradualmente ao beb devido falta experimentada no con-tato com a me. De acordo com a autora, atravs da fala, da linguagem, do con-tato com os outros, com o mundo, o beb vai construindo no psiquismo a idia de um corpo prprio. Trata-se de um processo gradual em que a criana passa a ser alguma coisa a partir da fuso com a me, a partir desse processo simbitico com ela; para, mais tarde, a partir do processo de defuso, depois de instalado a diferena sexual que tambm marca a diferena entre ele e a me, que a criana vai tomando conscincia de sua existncia. a frustrao, a falta, que impe criana a diferena. Como aponta Lacan (1972-73/1985), o significante ns dois somos um s, deve ser abandonado, melhor dizendo, recalcado, em benefcio do reconhecimento, no sem sofrimento, pela criana, da Lei, pelo reconhecimento do significante Nome do Pai (que coloca criana a questo da diferena sexual, ou seja, a ausncia de pnis na mulherme), com tudo aquilo que esse significante comporta como efeito de produo do sujeito. Ou seja, uma nova marcha se pe em operao, sobretudo, devido passagem do Princpio de Prazer para o Princpio de Prazer-Desprazer que, imediatamente, atravs da frustrao, do reconhecimento da falta, levar ao estabelecimento do Princpio da Realidade (Freud, 1911/2004). Nesse ponto, um esboo de diferenciao j se pe em operao, um esboo do Eu j se inicia. Nesse momento, com o incio do processo de defuso, comea-se a estabelecer no psiquismo do beb a idia de si-prprio. A criana passa a se tomar como objeto distinto da me, ou seja, a investir no seu prprio Eu (Freud, 1914/2004). o incio do narcisismo, etapa fundamental para o desenvolvimento do sujeito. Processo pelo qual o sujeito vai se constituindo via identificao, e pelo qual se d a formao do Supereu. At por que:
33 uma unidade comparvel ao ego no pode existir no indivduo desde o comeo; o ego tem de ser desenvolvido. Os instintos auto-erticos, contudo, ali se encontram desde o incio, sendo, portanto, necessrio que algo seja adicionado ao autoerotismo uma nova ao psquica a fim de provocar o narcisismo. (Freud, 1914/2004, p. 84).
Contudo, como aponta Nasio (1997) o dado clnico de uma identificao sempre indireto (p.100). O fenmeno da identificao, mais que responder ao processo de transformao do Eu num aspecto do objeto, o prprio objeto que cria o Eu, ele a prpria causao do sujeito, do sujeito do inconsciente (que esse trao inconsciente que est ausente e que marca a histria do sujeito como uma sucesso de significantes que visam responder a questo do desejo, por exemplo, a formao do Outro e do ideal do Eu). Rigorosamente falando, esse processo no corresponde introjeo de um trao do objeto, como um trao da mulher-me, por exemplo; mas, de um efeito da impulso sexual sobre o psiquismo, ou seja, da inscrio no psiquismo nascente de um vestgio, qualquer que seja, elevado dignidade de coisa, continuamente recrutado para responder causa do sujeito, a causa de seu desejo. Antes mesmo de representar algum, ou alguma coisa qualquer, o mpeto do movimento identificatrio, como aponta Nasio, visa responder a um outro mpeto, o do desejo sexual. um artifcio, trata-se de uma construo, que busca dar uma resposta, mesmo que insatisfatria, ao problema do Desejo Puro, sem objeto determinvel. O sujeito do inconsciente visa dar conta de uma ausncia de representao e, por isso mesmo, ele no uma representao, mas abre a possibilidade de se atualizar numa
34 pluralidade infinita de fatos, podendo ser uma palavra, um sonho, um gesto, um sofrimento, qualquer fato que seja elevado dignidade de coisa, que sirva para marcar esse registro que est a sem que o sujeito se d conta dele. a expresso involuntria e inconsciente de um ser falante, marcado pela linguagem. Para entendermos melhor esse processo, Martins (2002) aponta que potncia da fala, da linguagem, que faz com que a criana abdique de uma outra potncia, igualmente perturbadora, a potncia sexual. O Eu da criana, inicialmente, um Eu sensorial, ainda no um Eu de mediao. A criana, para se humanizar, deve renunciar potncia sexual; ou, rigor, dar um outro destino a ela em benefcio da palavra. E porque as palavras tm fora, tm efetividade, que a criana aceita adiar a satisfao de seus desejos originrios, pela palavra, que nesse sentido, funciona como uma promessa: promessa de um ato futuro, de uma felicidade futura. Da a importncia de se estudarem os atos promissivos, pois, como aponta o autor, trata-se de um ato simblico pleno. Ou seja, as palavras produzem coisas, elas produzem e transformam o sujeito. O corpo pulsional se realiza na linguagem. Dito de outro modo, o prazer, a prpria renncia ao prazer, tambm, se d pela mediao e pelo compartilhamento com o Outro. A promessa que a fala comporta, a de uma promessa de felicidade futura e, dessa forma, , tambm, um compromisso. Um e outro formam a base de sustentao da intersubjetividade. por isso que Martins (2005) coloca a formao do aparelho psquico como efeito da discordncia do sujeito consigo mesmo. O que significa isso? Que a formao do Eu , ao mesmo tempo, o que abre para a possibilidade de constituio do ser e o que participa da sua mutilao. O ser humano s se torna humano pela mediao com outrem, ao mesmo tempo em que se encontra profundamente marcado pelo conflito entre as exigncias
35 pulsionais e a cultura. O Eu tanto est implicado com a atividade inconsciente, como, ele prprio, constitui-se como o maior obstculo sua expresso. Ou seja, o prprio sujeito o causador de seu sofrimento. Nas palavras do autor, o ser humano um animal no determinado. A sua condio de humanizao se d, inevitavelmente, pelo conflito. O vira-ser humano um fenmeno ligado vida, mente e linguagem. Esse fato tem uma importncia clnica fundamental, pois o eu instncia essencialmente alienada, posto que se constitui a partir das relaes com outrem, mediado pela linguagem, pelas possibilidades de produo da conscincia e permeado pelas pulses originadas no corpo (p. 176). Ou seja, a produo do sujeito se d pelo conflito.
2.1.1. No incio era um nico aparelho fonador para dois corpos.
A constituio no psiquismo de um corpo prprio passa, fundamentalmente, pelo trabalho de formao da cadeia sonora que se constitui como o cdigo de base em torno do qual o sujeito emergir (Campos, 2006). De acordo com a autora, a experincia corporal do beb fica, desde o incio, formatada, recortada, dimensionada, pela linguagem, pelos cdigos, que vem do Outro (me). A formao do sujeito condicionada por um sistema que lhe externa, que vem de fora, que vem de outro lugar que no dele mesmo, e esse fato tem importncia clnica. Pois esse cdigo do Outro que vai dar forma a toda produo significante do sujeito. A prpria constituio do sujeito se d na alienao, assujeitado pelos cdigos que vm do Outro:
36 Quando o beb nasce existe apenas um nico aparelho fonador para dois sujeitos. O aparelho fonador da me o aparelho de influenciar (...) que vem como Cdigo do Outro dar forma (em sua funo significante, unificadora e totalizante) expresso das necessidades do beb. Deste modo, a lngua materna assujeita o sujeito, (submete), a fala da me opera uma formatao (mise-enforme) das necessidades do beb, constituindo o prottipo atravs do qual o significante promove a mise-en-forme do desejo. (...) E se o inconsciente estruturado como linguagem, esta linguagem primria, sonora e corporal, no deixa de existir e participar na formao da fala, mesmo depois que o sujeito aprende o uso da lngua, do cdigo lingstico institudo. (Campos, 2006).
O que isso significa isso? Que toda a produo significante do sujeito , antes de tudo, uma re-criao. Rigorosamente falando, no se trata da sua produo, mas dos efeitos da fala de um Outro (me) que lhe constitui enquanto sujeito. O mito da referncia absoluta, de uma vez por todas, cai por terra. A referncia que o sujeito tem, mesmo que ele no saiba disso o que na verdade ele no sabe, pois no se trata de um fato consciente, da produo de sentidos baseado na aquisio da lngua enquanto cdigo institudo; mas, e acima de tudo, dos efeitos da distoro, do esquecimento, da alienao do sujeito frente ao desejo do Outro. Contudo, como aponta Anzieu (2000), um registro anterior, uma inscrio psquica ainda mais precoce, est presente no processo de formao do Eu, no processo de formao do psiquismo. Primeiramente, devemos dizer que esse registro, mais anterior cronologicamente ao processo de diferenciao, que est na base do processo de
37 desenvolvimento e aquisio pelo sujeito, de sua integridade e da instalao no psiquismo da noo do Eu e do no-Eu (ou seja, do diferente). Porm, no se trata do mesmo procedimento, a noo de eu-pele se situaria na fronteira entre a organizao fusional primitiva e a elaborao e diferenciao das instncias psquicas (que esto ligadas cronologicamente ao processo de desfuso entre me e beb). O eu-pele, funciona como um tipo de organizao de base, como um registro universal, j pr-programado no psiquismo nascente. Se levarmos em considerao que o psiquismo se constitui como um sistema de subsistemas, viso, que estaria de acordo com a proposta freudiana, ou seja, que o psiquismo se estrutura em registros que vo se sobrepondo uns aos outros como camadas; e, tambm, da existncia de diferentes princpios de funcionamento atuando dentro do aparelho psquico, como o Princpio do Prazer, o Princpio do Prazer-Desprazer, o Princpio de Inrcia, o Princpio de Constncia, o Princpio de Nirvana, entre outros (Freud, 1911/2004). Nesse estgio do desenvolvimento do beb, um princpio de diferenciao interna, j pr-existente, se poria em operao. Seria um princpio de conteno que estaria na base do funcionamento psquico. Esse registro arcaico, pr-formado, constituinte, apressa-se, nas trocas com o Outro, em formar um esboo de unidade mais ou menos coerente que estaria ainda muito ligado s qualidades sensveis que emanam do corpo pulsional do beb. Dessa forma, como aponta o autor, o Eu-pele no um, mas alguns. So continentes psquicos organizados que, a partir das qualidades sensveis que emanam do corpo, vo se constituindo como envelopes psquicos, que vibram em ressonncia interao, ao toque, ao pegar, ao escutar, propiciado pela me. Contudo, essa capacidade constitutiva se desenvolve em relao permanente e paralelamente pela introjeo do
38 universo materno. Tais sensaes experimentadas nessa relao, principalmente as sinestsicas, como as sensaes sonoras, associadas s outras sensaes corporais, do ao beb experincia de volume, de continente, de que algo se enche e esvazia. Contudo, mesmo que a experincia subscreva a presena de um registro de base, o desenvolvimento do sujeito est profundamente determinado pela linguagem, pela fala.
2.2. A abordagem psicossomtica.
Freud (1895/2004), j em seus Estudos sobre a histeria, aponta descobertas clnicas importantes para o entendimento dos processos mentais em sua ligao com o corpo. Alm da evidncia da existncia de uma parte do psiquismo que no se encontra manifesta, consciente, observando-se uma srie de obstculos ao restabelecimento da sade do paciente (como a amnsia, a resistncia, a transferncia e assim por diante). Nesse sentido, a pulso, proveniente das zonas ergenas, opera uma tenso constante no psiquismo (Freud, 1915/2004). E este quantum de energia que, ao mesmo tempo, nos propicia a existncia, impele, por parte do psiquismo uma resposta a afim de aliviar essa tenso. O psiquismo opera ento um re-direcionamento da pulso, dando-lhe um outro destino. Como acontece nos investimentos em objetos, ou nas mais diversas vicissitudes e expresses sintomatolgicas. Dito isso, Schiller (2003) coloca que as palavras, os sonhos, as imagens, so fatos importantes a serem considerados no campo psicossomtico. A linguagem, o universo simblico, so determinantes nas mudanas ocorridas em nosso organismo, inclusive em nossa apreenso do corpo prprio. O homem
39 no s formado por instintos, pela herana gentica, mas pelos desejos, pela herana histrica. Assim, ele acrescenta que no h leso orgnica sem uma causalidade ancorada na histria do sujeito (p. 30). Dessa forma, a psicossomtica busca resgatar essa dimenso mais ampla do sofrimento humano, que antes de se referir idia de doena, refere-se ao corpo somato-psquico que est na base da constituio do sujeito. Baseado nesta perspectiva, Volich (2000 e 2003) aponta para a complexidade das dinmicas intrapsquicas que operam dentro do aparelho mental. Segundo o autor, o sonho a noo chave para a compreenso dessa economia intrapsquica. Ou seja, o sistema prconsciente funciona como um reservatrio de representaes, que mesmo sendo possveis de se tornarem conscientes, por meio do deslocamento e da condensao, ainda conservam uma ligao estreita com as fontes somticas, pulsionais e instintivas inconscientes (2000, p. 65). Dessa forma, a possibilidade de acesso conscincia dependente da quantidade de afeto ligado a essa representao. Com isso, segundo o autor, podemos dizer que essa dificuldade de elaborar o sofrimento psquico, em grande parte, depende da quantidade de afeto ligada representao. A linguagem ganha um papel preponderante nessa dinmica, pois ela a responsvel por essa mediao. atravs da atividade simblica que se chega ao equilbrio da dinmica psicossomtica, pode-se dizer que:
a dimenso fantstica-fantasmtica da linguagem, originada no corpo e a ele referente, permeia todas as trocas com nossos semelhantes, parte integrante do discurso cultural, cotidiano e mesmo cientfico a respeito do corpo da sade e da
40 doena. Ela , portanto, uma dimenso primordial a ser considerada pelo terapeuta, para a compreenso do sofrimento de seu paciente. (Volich, 2000, p. 130).
Dessa forma, de acordo com os autores (Dejours, 1998; Neves, 1998; Vieira, 1998 e Volich, 1998), a teoria psicossomtica funda-se na idia segundo a qual todo distrbio psicossomtico fruto de uma pane, de um curto-circuito do funcionamento psquico, seja ao modo de um pensamento operatrio, seja moda de uma depresso essencial. Ou seja, so formas de sobrevivncia engendradas pelo psiquismo, durante o transcorrer inevitavelmente traumtico do desenvolvimento humano, e que funcionam como um fator preditivo para as chamadas descompensaes psicossomticas. Essa pane no psiquismo que o impediria de elaborar seus conflitos poderia se expressar na forma de uma completa indisposio elaborao, simbolizao, mantendo-se sob um funcionamento ligado ao plano concreto, sem mediao representativa. Sua atividade psquica mantm-se num limiar mnimo somente para manuteno da descarga, o sujeito puro automatismo, de onde se falar de pensamento operatrio. Assim, de acordo com a teoria psicossomtica, o aparelho psquico poderia ainda apresentar uma perda da capacidade associativa, de sntese, de evoluo do psiquismo, que vai se desaparecendo, esvaindo-se, a ponto de chegar no limite necessrio para manter em operao as funes vitais, de onde vo se falar de depresso essencial. Dentro dessa economia psquica, o indivduo vive (se que podemos falar em viver, se viver significa investir, amar, gozar) quase uma total ausncia de investimentos. uma verdadeira automao da vida, tornando-se sem afetos, sem graa, plida e fria. Podemos observar em alguns casos o uso de procedimento calmantes e atenuantes com o intuito de minimizar
41 suas fragilidades, sua incapacidade representativa e elaborativa. Contudo, tal procedimento um sinal de bom prognstico; pois, mesmo que precariamente, o indivduo sai da automao. Na maioria das vezes, esses procedimentos calmantes esto ligados sensriomotricidade, como a ginstica, o andar compulsivamente, o comer, atividades ligadas ao ritmo motor do corpo. Isso no significa um equilbrio, principalmente do ponto de vista psquico, pois lanar mo desses recursos ininterruptamente pode significar uma mortificao quase completa da atividade sublimatria, da simbolizao. Sobre esses aspectos psquicos, Bruno (2003) aponta que o sintoma psicossomtico funciona como um mecanismo de sobrevivncia. Estes so recursos primitivos onde o funcionamento psquico evitaria a todo custo o desprazer, regredindo a estgios anteriores do desenvolvimento. Isto favorece o aparecimento de formas rgidas de comportamento como os atos compulsivos. Assim, o alimento, como objeto substituto, pode ser ingerido como smbolo concreto e controlado do Objeto (objeto esse amado, odiado e perdido). Estas so verdadeiras formas de sobrevivncia, uma espcie de acomodao possvel diante da violncia do conflito cotidiano. Fazendo uma exposio sobre os quadros psicossomticos, Martins (2003) critica essa viso causalista, onde ora as dificuldades psquicas levariam somatizao, ora um distrbio fsico levaria ao sofrimento psquico. O autor aponta como estes signos clnicos so dinmicos e transitrios, ou seja, marcados pela equivocidade. Assim, na atividade semiolgica do clnico uma ampla gama de signos estaro presentes como forma de sofrimento importante em cada paciente e que so altamente equvocos e muitas vezes reconhecidos somente como secundrios (p. 276). So justamente os signos psquicos que
42 muitas vezes definiro a semiologia e a teraputica utilizada, mesmo que ainda, eles no contemplem a caracterstica objetiva das cincias naturais. Para o autor, insistir na diviso entre mente e corpo em funo de se pretender estabelecer uma hegemonia de certa disciplina da qual faz parte s aumenta a incompreenso do que j bem complexo. Em psicossomtica os seus determinantes no se prestam a tal diviso. Podemos dizer mesmo que a quantidade de signos clnicos expressos numa sndrome psicossomtica nos coloca numa posio onde temos que considerar a complexidade da existncia humana. A semiologia deve levar em conta o meio ambiente, a histria, os signos que a enviam a uma subjetividade obscurecida pela urgncia do caso. (Martins, 2003, p. 279). Dessa forma, a noo da qual compartilhamos aquela em que a doena vista como um processo de uma dinmica integrada. Assim, temos que contemplar os modos de ser e de reagir do sujeito que se queixa de sua enfermidade, como no caso da obesidade. A dimenso do sofrimento humano muito complexa. Deve-se reconhecer o seu carter conflituoso e expressivo. Vale dizer que, nesse caso, ao falarmos de obesidade, no se trata de uma somatizao, de um distrbio psicossomtico. Antes mesmo de buscar uma causalidade fsica ou psquica necessrio compreender toda a dimenso do pathos humano. Ou seja, no significa pensar somente em doena, mas em uma complexa e singular disposio do sujeito de vir-a-ser-humano (Martins, 1999). O corpo fsico, em sua relao com o meio e com os outros vai passando por um refinamento que, em sua estreita ligao e dependncia ao aparelho psquico, se distancia cada vez mais da natureza, das respostas automticas e determinadas biologicamente, para uma complexa estrutura de regulao das excitaes pulsionais, libidinais, agressivas que
43 o acometem o tempo todo. Ou seja, a dimenso do sofrimento corporal est arraigada na dimenso de um corpo de vivncia, um corpo para o usufruto, um corpo que faz circular a pulso, um corpo investido, erotizado, permeado pela psique, clula clula, que existe para gozar. (Souza, 1998, p. 144). Ou seja, deve-se reconhecer a existncia da fantasia individual consciente, pr-consciente e inconsciente e seu papel de ligao e de tela intermediria entre a psique e o corpo, o mundo, as outras psiques. (Anzieu, 2000, p. 18). Nesse sentido, criticando a idia de regularidades da teoria psicossomtica, Dejours (1998) aponta que no existe previsibilidade em psicanlise. Todo acontecimento psicossomtico, se assim o quiserem chamar, segundo o autor, deve ser reabilitado no contexto em que emerge (grifos nossos), ou seja, no espao transfero-contratransferencial. Nisso, seu ponto de vista j diverge muito da teoria psicossomtica. E, o mais importante, que todo sintoma (e o autor no acredita em somatizao) endereado algum. O que significa isso? Que todo movimento psquico, como na formao do sintoma, do ato falho, do sonho, e assim por diante, no pode ser analisado tomando o sujeito isoladamente, mas deve-se levar em conta o outro, a sua relao com o Outro, que funciona como pretexto, como a oportunidade capaz de revelar ao sujeito o que j se encontrava nele. Ou seja, afirmar o primado da intersubjetividade como condio sine qua non para a crise somtica. Como aponta o autor, ns adoecemos para algum. Dessa forma o sintoma psicossomtico teria um sentido, dito melhor, funcionaria como um significante animado pela relao intersubjetiva com o Outro. Nesse ponto, importante resgatar dentro dos estudos clnicos da obesidade a dimenso subjetiva implicada na constituio do sofrimento humano. Portanto, os achados clnicos se do atravs da fala ou dos substitutivos semiticos desta fala, atravs
44 de um discurso pronunciado por um sujeito ptico (do pathos grego). Vale lembrar que a linguagem, a fala, ou seja, a capacidade de representar, que concerne ao homem seus atributos de ser humano. E por isso mesmo que o homem faz sintoma, expressando suas mais variadas formas de disposies afetivas, seus mais diversos modos de vir-a-serhumano. Nesse sentido, para a compreenso da obesidade fica evidente que a sobreposio dos fatores somticos em detrimento dos psquicos ou vice-versa um equvoco. Estudos apontam para uma dimenso muito mais ampla e complexa desse fenmeno (Bruno, 2003; Campos & Campos, 2004; Gusmo, 2002; Loli, 2000 e Melo, 2001). Ou seja, premente resgatar dentro dos estudos da obesidade essa dimenso subjetiva despertada por um evento somtico. No se trata de desvalorizarmos os signos dos exames fsicos, mas de constatarmos que muitos outros signos esto presentes no fenmeno da obesidade, e por isso que a dimenso pthica, da produo subjetiva do sujeito, deve ser levada em conta.
2.3. O "Romance com a Doena".
Inevitavelmente, em qualquer lugar, em todas as pocas, os seres humanos buscam uma resposta, um sentido para sua doena. Como bem disse Del Volgo (1998), buscam um signo do discurso do Outro em si o inconsciente (p.33), mesmo que no saibam disso, o que no verdade, no sabem. A doena coloca pessoa uma questo singular, bem particular, que vem como uma mensagem a ser decifrada, como uma pergunta dirigida pelo destino, ou seja, a construo de seu mito indivudual.
45 Se retirarmos a subjetividade, melhor dizendo, a intersubejetividade, se negligenciarmos o drama imaginrio presente, se no reconhecermos o determinismo simblico, bem como a finalidade tica da doena, ela perder todo o sentido (Del Volgo, 1998). O clnico, nesse caso, no passar de um leitor de sintomas, como aponta a autora. Ou seja, pela via do imaginrio, lanando mo dos mitos individuais e coletivos que o sujeito busca uma explicao para seu sofrimento. A doena, ou que se trata de uma manifestao corporal, como no caso da obesidade, vem servir a uma causa mais nobre, como aponta Gori (1985), servir causa de uma fala que no se pode dizer de outro modo, que no esse (citado por Del Volgo, 1998, p. 35). por isso que a doena tem valor de significante. O que significa dizer que a doena tem valor de significante? Que no se trata de uma iluso causalista, como bem nos adverte Gori (1998a), em que as cincias duras se agarram com tanto empenho para a explicao do adoecer; mas, que se trata da escuta do paciente que fala da sua doena e que se abre para a possibilidade de uma construo criadora. O valor dessa construo no est em sua verdade factual, na sua condio de acontecimento real, essa questo nem se coloca. Nas palavras de Del Volgo, o romance do doente com a doena tem valor de significante, serve de ponte, de restos diurnos, que se acham ali prontos oferecer a oportunidade esperada de manifestao do inconsciente. Ou seja, para adivir um verdadeiro que no se confunde com o exato (1998, p. 42). Ocorre que a realidade psquica no se constitui como um realidade histrica, e isso tem importncia. Cada sujeito, a sua maneira, construir um mito individual sobre si. Esse fato parte da prpria experincia originria de aquisio da linguagem, o que seria partir da prpria gnese do sujeito (Gori, 1998a e Campos, 2006). Todas as construes e criaes
46 produzidas pelo sujeito, s assim o so, como reminiscncias desse tempo mtico, postula Gori. Esse mito individual tem um valor simblico. Contudo, ele se expressa num outro nvel, para usar uma expresso de Lvi-Strauss (1958, citado por Del Volgo, 1998), descolando-se do fundamento lingustico sobre o qual comeou a rolar (p. 44). por isso, que dentro de um dispositivo de escuta, o sujeito atravs da fala pode produzir o seu mito, pode re-cri-lo na intersubjetividade. Ou seja, os traos mnsicos inconscientes, juntamente com o corpo sexual infantil, espreitam esse momento oportuno (por exemplo, as sensaes de dor crnica, a experincia sensorial e emocional), para dizer aquilo da histria do sujeito que ficou esquecido sem que ele nada soubesse. A fala, que direcionada para algum, para o clnico, por exemplo, na transferncia, vem em suplncia manifestao do recalcado. Ela tem valor subjetivante, porque, como aponta Del Volgo (1998) ela permite ao sujeito recriar sua histria com toda a carga do imaginrio que se faz seguir. Pois junto com ela o sintoma se far acompanhar; contudo, no se trata do que a medicina, e at a psicologia, tomam por sintoma; mas, o sintoma enquanto uma formao de compromisso, uma formao inconsciente. Dentro dessa perspectiva, como aponta Gori (1998b), a fala tem a aptido de se fundir aos pensamentos noturnos do infantil. Justamente porque, o objeto encontrado, e deve-se dizer, encontrado ao acaso, e que se presta como oportuno, e que pode ser tanto a pessoa do clnico, ou uma palavra, um som, uma voz, mas, que seja escolhido como o catalizador eletivo capaz de fazer emergir pela transferncia os desejos recalcados. A noo mesmo de Pensamentos de Transferncia encontra aqui toda sua pertinncia. Pois no que, segundo Gori (1998a), pela complacncia da lngua, da fala, dentro do espao
47 intersubjetivo da anlise, dentro dessa dinmica intersubjetiva, ser possvel atualizar os precipitados do pr-consciente que serviro como ponte de expresso aos desejos inconscientes. Portanto, no se trata da anlise de pensamentos, ou das palavras, como um leitor de pensamentos, ou, ainda, um leitor de sintomas como nos adverte Gori (1998a e 1998b) mas, a anlise do infantil que se atualiza no material dado escuta. Ou seja, o material da anlise so os efeitos do discurso desses pacientes sobre a escuta do analista (p. 62). A fala do analista no isenta fala do paciente. Um e outro esto seduzidos e comprometidos com a fala. Dessa forma, o grande objetivo da anlise, como aponta Gori (1998a), realizar a travessia dessa perda, a destituio deste Outro como o ser da causa, para admitir plenamente o que devemos s palavras que fabricam nossos sonhos, mitos e movimentos (p. 70), e conclui com uma citao de Ren Char: as palavras que vo surgir sabem sobre ns o que ns delas ignoramos. (citado por Gori, 1998a, p. 70).
48 CAPTULO 3 A CONTEMPORANEIDADE
3.1. Estruturas sociais e a expresso da subjetividade.
A leitura do social constitui-se um importante passo compreenso da subjetividade humana. Sobretudo, constatao que as estruturas sociais funcionam como um regulador, um mediador das possibilidades de manifestao da subjetividade. Ou seja, a cultura, em larga medida, d os contornos, os limites construo do ser humano, do prprio sujeito. Contudo, no se trata de colocar a cultura, as estruturas sociais, como as nicas determinantes da produo da subjetividade, mas, como aponta Martins (2005), no seio da sociedade que as possibilidades de felicidade e de sofrimento se concretizam (p. 173). Nesse sentido, acompanhando Birman (2000), a leitura das manifestaes das subjetividades na atualidade deve se amparar em uma posio que no exaustiva, mas que se torna autntica e legtima ao reconhecer a determinao do desejo, do irracional, das manifestaes involuntrias na produo da subjetividade humana. Ou seja, no se trata de apontar, ou de analisar, as manifestaes per se; mas, que se perfile o sujeito, e a atividade psquica inconsciente, na determinao das manifestaes da subjetividade. Pode-se dizer, de acordo com Enriquez (1991), que a cultura acentua, privilegia certos modos de funcionamento psquico que se lhe adeqam. Dentro de uma viso psicodinmica, ela cria um espao favorvel s manifestaes estereotipadas do desejo que cada sujeito engendra em seu desenvolvimento libidinal que lhe prprio, que lhe nico.
49 De forma mais clara, ela o pano de fundo, o substrato dos significados/significantes a partir do qual cada sujeito, a sua maneira, construir sua subjetividade. Dessa forma, a cultura fornece os elementos de base que legitimam certos modos de expresso do sujeito. Contudo, deve-se dizer que o sujeito no se constitui s pela presena da cultura; mas, tambm, pela presena e manifestao do bios, das exigncias pulsionais, e da atividade representativa humana.
3.1.1. A cultura na produo do sofrimento humano.
inegvel dentro do conhecimento cientfico o reconhecimento que o social, que o mundo comunal, de certa forma, fornece uma grande autonomia e, conseqentemente, bem-estar aos seres humano. Contudo, esse mesmo desenvolvimento civilizatrio constitui-se num poderoso impedimento satisfao das necessidades e desejos. Dessa forma, a prpria cultura promovedora de mal-estar, de sofrimento. Apesar de reconhecer os importantes avanos alcanados pela civilizao, pela cultura, Freud (1930 [1929]/2004) coloca em dvida a capacidade dessa mesma em satisfazer os desejos, de trazer felicidade. De acordo com Freud, a prpria condio de formao do psiquismo o conflito. Ele se d em meio luta, divergncia entre foras, de maneira resumida, entre as demandas do sujeito e da sociedade. Ou seja, podemos dizer que a atividade psquica fruto de uma exigncia imposta ao organismo, seja pelas reivindicaes internas (da vida instintiva), seja pelas reivindicaes externas (da
50 realidade), forando-o a encontrar um caminho possvel frente a essas duas demandas. Numa expresso: o conflito tributrio da formao do psiquismo. Assim, todos os seres humanos esto inevitavelmente condenados a renunciar vontade individual em favor das exigncias da vida comunal. Trocar o prazer individual em benefcio da civilizao. No melhor dos casos, adi-lo, inibi-lo, buscar um prazer substituto e ajustado vontade social. Essa, de acordo com Freud (1930[1929/2004), consiste na tarefa econmica de nossas vidas, ou seja, encontrar uma satisfao possvel entre o desejo individual e os imperativos que a civilizao coloca satisfao habitual das disposies instintivas dos seres humanos. Em termos gerais, o Princpio de Prazer inaugura o programa o qual todos os seres humanos esto inegavelmente engajados, ou seja, a busca pela satisfao (Freud, 1911/2004). Contudo, se o processo de desenvolvimento psquico est estreitamente ligado ao desenvolvimento cultural, e se a felicidade o propsito da vida, podemos dizer que mais uma vez o psiquismo se encontra em meio a um conflito. Conflito entre as suas disposies instintivas e a dureza da realidade que impem ao psiquismo severas renncias satisfao dos desejos. Dito de outra forma, a nica sada para o sujeito trocar o Princpio de Prazer pelo modesto Princpio de Realidade. O programa inicial de busca de satisfao de preferncia repentina, grosseira e rpida, desde o incio, fica relegado a um segundo plano; pois se se mantivesse essa modalidade de satisfao, rapidamente ela se converteria em sofrimento, desprazer, acarretando um perigo ao Eu. O que, na verdade, acontece; e, por isso mesmo, por amor ao Eu, o sujeito renuncia aos itinerrios do Princpio de Prazer, buscando uma formao substituta que respeite as exigncias da realidade (Freud, 1914/2004). Da a importncia do narcisismo na formao do sujeito:
51 a moo pulsional, tendo sempre por objetivo a satisfao, s pode se chocar com outras reivindicaes, com as exigncias defensivas do ego, o conflito tornando-se, ento, a condio do recalque. O representante psquico da pulso, recalcado, afastado e mantido distncia do consciente, persiste no inconsciente. Ele ir, entretanto, aceder conscincia como um produto do recalcado, o sintoma. Os mais antigos desejos agem atravs de suas ramificaes, os sintomas, para os quais transferida a energia de investimento. (Del Volgo, 1998, p. 74).
Portanto, a cultura , ao mesmo tempo, uma importante aquisio humana em seu processo de evoluo e, tambm, a mais severa restrio satisfao de seus desejos. por isso que a cultura, de acordo com Freud, tributria do sofrimento das subjetividades.
3.2. Conseqncias da Ps-modernidade.
As fronteiras entre os espaos pblico e privado nunca foi algo esttico e, ainda, como aponta Aris e Duby (1992), no se trata de uma realidade natural. Dentro do desenvolvimento social, histrico e econmico da civilizao, observamos um processo dinmico e complexo de regulaes, prescries, ordenaes, ou seja, a presena de recortes variados da separao entre o pblico e o privado dentro de sociedades determinadas. Isso, sem levarmos em conta, organizaes muito regionalizadas que no seguiriam as tendncias universalizantes da contemporaneidade e funcionariam dentro de uma prescrio que, em certa medida, at contraria o movimento atual.
52 Isso quer dizer que apesar da presena de certas regularidades que marcariam a lgica da vida ps-moderna, com estilo, formas de organizao, costumes de vida e influncias mais ou menos mundiais, observamos a presena de formas marginais e residuais de organizao que no estariam funcionando dentro das prescries ditas psmodernas. Contudo, fica difcil estabelecer um parmetro, uma distino mais clara, de at onde essas formas marginais de organizao estariam ligadas com um tipo de ordem mais tradicional. Ou, se seriam a expresso da prpria descontinuidade e fragmentao do discurso na ps-modernidade, da perda da grande narrative (Aris e Duby, 1992) em favor de vrias narrativas heterogneas, das vrias reivindicaes que marcam a psmodernidade. por isso que no se tem um consenso claro sobre essas transformaes e observamos uma variedade enorme de termos para designar esse momento de transio. Falar de um momento de transio, contudo, j aponta para a mudana, para a emergncia do novo e do encerramento do anterior, j se transformando no antigo, ou seja, de uma ruptura com o tradicional. Como aponta Giddens (1991), a ps-modernidade deixa suas caractersticas principais guardadas em segurana numa caixa preta (p. 11). O que o autor quer dizer com isso? Que apesar da presena, no sem incmodo, de transformaes que nos colocam a questo de estarmos vivendo ou no uma nova era, que as respostas para esse estado de coisas ainda no se constitui como conhecimento claro cincia, sobretudo, sociologia que se esfora para dar a esses processos uma explicao coerente. Talvez seja essa mesma a questo que devemos nos colocar. Estamos vivendo um momento de transio, em que se coloca em operao a emergncia de um novo tipo de sistema social? De onde alguns autores, como Bauman (1998), vo falar de ps-
53 modernidade, numa viso mais de acordo com a idia de ruptura, ou seja, de uma nova organizao social em operao. Ou, que o atual estado de coisas mantm um elo com as organizaes precedentes, numa viso mais cautelosa, em que as mudanas operadas na cultura e na civilizao atual so, na verdade, a continuidade de um movimento mais antigo, conservando uma interconexo com processos que viriam se arrastando desde muito tempo, ou seja, seria uma narrativa evolucionria? Para Giddens (1991) a ps-modernidade marcada pela descontinuidade, e o ritmo de mudana que ela impe extremo. A tecnologia seria o maior exemplo dessa acelerao dos processos de mudana. No a toa que a necessidade de se reciclar, de se atualizar, so imperativos da vida ps-moderna. Os objetos tornam-se descartveis e passageiros, o novo, o atual, rapidamente se converte em atrasado, em obsoleto, e, portanto, desprezvel. Alido acelerao desses processos, que ganham um ritmo vertigoso, vemos que o escopo da mudana ganhou uma outra dimenso. A mundializao da economia e das trocas, a interconexo global, as transformaes sociais ganham em amplitude nunca antes visto, como se recobrisse toda a superfcie terrestre. De acordo com Giddens (1991), esses fatores se articulam e parecem dar as condies necesrias para a emergncia do ineditismo nas instituies ps-modernas. Ou seja, a presena de formas sociais sem qualquer conexo com perodos precedentes. A natureza intrnseca das instituies ps-modernas so ordenadas segundo princpios totalmente diferentes dos princpios que ordenavam os perodos anterios. O debate interessante, podemos dizer que as questes continuam abertas e que estamos longe de chegar a um consenso sobre a questo. Contudo, alguns pontos nos parecem importantes a
54 serem abordados, sobretudo, em sua relao com as mudanas operadas na expresso das subjetividades.
3.3. As transformaes da intimidade.
A ps-modernidade operou uma verdadeira transformao da intimidade, como aponta Giddens (1991). Isso se deve em grande parte confiana depositada nos sistemas abstratos. Ou seja, cada vez mais as pessoas organizam sua vida cotidiana em relao aos sistemas peritos (ao discurso perito dos profissionais, da cincia, da impessoalidade). Segundo o autor, se o futuro vem como uma possibilidade sempre aberta na psmodernidade, o que confere tal perspectiva a confiana depositada pelos atores leigos aos sistemas peritos que, cada vez mais, regulam as nossas prticas sociais. A confiana no outro no se d mais pelas relaes de amizade ou de intimidade, pelo menos no da mesma forma que anteriormente; mas, so reguladas pela deliberao e profissionalismo dos peritos, na confiana em seus conhecimentos e habilidades aos quais o indivduo leigo no tem acesso. Nas palavras do autor, a confiana na funcionalidade do sistema, devendo o indivduo agir-como-de-costume. A ps-modernidade, segundo Giddens (1991), instaura um ambiente em que o impacto da tradio e da religio so minimizados, valorizando o conhecimento reflexivamente organizado, governado pela observao emprica e pelo pensamento lgico, e focado sobre tecnologia material e cdigos aplicados socialmente (p. 111). Contudo, mesmo que os sistemas abstratos, que se baseiam em princpios impessoais
55 (lgica, estatstica, razo etc), e que a confiana no conhecimento perito, criem as condies necessrias para uma verdadeira ampliao das reas de ao, com uma segurana e previsibilidade nunca antes imaginadas, tal sistema no conseguiu, talvez at piorou, a confiana e o estado de conforto mais gratificante, que a confiana nas pessoas. Isso se deve porque a confiana psquica est, em grande parte, ligada s questes emocionais e estas, via de regra, so inconscientes, e no se baseiam na regularidade dos acontecimentos, das coisas e eventos, agora possibilitados pela ps-modernidade (Giddens, 1991). Ou seja, ela se d a partir das relae ntimas e na mutualidade das trocas interpessoais, principalmente nas relaes precoces com os pais, ou as pessoas que exeram essa funo. Como aponta autor, a confiana em sistemas abstratos contribui para a confiabilidade e segurana cotidiana, mas por sua prpria natureza ela no pode fornecer nem a mutualidade nem a intimidade que as relaes de confiana pessoal oferecem (p. 117). Esses fatores, brevemente apontados, j evidenciam grandes mudanas na intimidade. No que a vida privada, que era em grande parte controlada e vivida dentro da famlia, agora deixa de ter uma regulao pelos costumes, pela tradio, pela honra, para tornar-se desinstitucionalizada, com o predomnio de organizaes burocrticas de larga escala e da influncia geral da sociedade das massas? (Giddens, 1991). E por outro lado, a esfera da vida pblica tornou-se excessivamente institucionalizada, marcada pelo imperativo impessoal e pela confiana na percia e nos sistemas abstratos. O que isso vai acarretar? O seu resultado que a vida pessoal torna-se atenuada e privada de pontos de referncia firmes: h uma volta para dentro, para a subjetividade humana, e o significado e a estabilidade so buscados no eu interior (p.118).
56 Essas transformaes se devem em grande parte s transformaes na famlia (Aris e Duby, 1992). Como apontam os autores, a famlia foi perdendo suas funes pblicas para se ocupar cada vez mais das funes privadas. Contudo, nesse movimento, a famlia deixa de ser uma instituio forte, na verdade, o que se v uma verdadeira desinstitucionalizao da famlia, em que ela se torna cada vez mais privada. A ponto de percebermos que hoje houve uma verdadeira inverso de valores. Anteriormente a famlia estava acima do indivduo, devendo ser preservados os costumes, as tradies, e a famlia se encarregava de diversas funes, at mesmo pela organizao do casamento de seus membros. Ou seja, era ela que orientava e determinava o espao possvel para expresso da vida privada. Hoje, o que vemos, que o indivduo passa frente da famlia. A vida privada, pessoal, no precisa mais se desenrolar no seio e interior da famlia. Cada indivduo regula sua vida privada como bem entender, o indivduo o rei. Na verdade, a relevncia da famlia julgada em funo das contribuies que ela oferece realizao individual. Caso isso no ocorra, rapidamente o indivduo vai procurar contatos que lhe so mais enriquecedores. Enquanto a vida privada, anteriormente, era incorporada famlia, com regulaes bem marcadas, como a necessidade do casal, da presena dos filhos etc, com a inverso dos valores, abriu-se espao para o surgimento da famlia informal. A instaurao da chamada famlia informal, como apresentado por Aris e Duby (1992), pode ser marcada por alguns pontos importantes como da passagem do casamento como contrato ao casamento por amor. A famlia no decide mais sobre o futuro amoroso dos filhos. Um outro exemplo, a coabitao juvenil, em que se multiplicam os casais de jovens no casados que temem que o casamento, que a unio formal estrague a relao.
57 O que no deixa de ser uma reivindicao de liberdade e tentativa de manter o projeto de vida privada, a individualidade, preservada; mesmo que seja preservada do objeto de amor. Ou seja, a afirmao da vida privada de cada indivduo sobre a vida comum, sobre a instituio matrimonial. Anteriormente, a vida privada ficava em segundo plano em relao vida familiar, subordinada a ela. Agora o que se v a valorizao da intimidade e do espao pessoal. No toa que se torna comum a adeso pela vida de solteiro. Alguns lares, o que j no gera estranhamento, sero compostos por uma nica pessoa. Nesse ponto, Giddens se pergunta se a atual busca pela auto-identidade no seria uma forma algo pattica de narcisismo, ou ela , ao menos em parte, uma fora subersiva quanto s instituies modernas? (1991, p.125).
3.4. As dificuldades das subjetividades sofrentes na atualidade.
Se a cultura no um elemento esttico, mas em transformao, em mutao, as manifestaes das subjetividades tambm no o so. Dessa forma, Birman (2000) aponta a presena de uma nova organizao social regendo a formao das subjetividades na atualidade. Essa nova organizao, assim colocada, marcada pela agudeza e rapidez dos acontecimentos, pela transitoriedade e descontinuidade dos processos, em que o tempo se expressa pela fragmentao e pela ausncia da histria; ou seja, um tempo sem tradio, havendo um hiato que marca essa ruptura com o passado deixando este de ser referncia. A cultura imprime suas marcas no sujeito, ela funciona como uma forma dando os contornos s manifestaes do ser. Se o que somos, se a nossa existncia se desenvolve a
58 partir de elementos culturais que, atualmente, so marcados pela acelerao dos processos de mudana, pela ruptura com o passado, pela ruptura com o tradicional, pela fragmentao e a descontinuidade, esses mesmos estariam na base da expresso das subjetividades desajustadas. nesse sentido que Birman (2000) aponta para a presena de uma nova organizao social em operao. Sem ligao com o passado, com o tradicional, marcando um novo tempo, um novo processo em andamento. Ou seja, uma nova organizao social regulando a produo do sofrimento humano. Contudo, rigorosamente falando, no estamos autorizados a falar de um nico sistema cultural em operao, mas a presena de vrios sistemas culturais funcionando ao mesmo tempo fornecendo os elementos de base para a expresso das subjetividades E, nesse sentido, essas vrias tendncias, esse conjunto fragmentado de organizaes sociais, postos em operao, fomentam esses novos modos de produo do sujeito, esses novos modos de expresso das subjetividades. Mas o que seria essa nova organizao social que estaria na base da produo das subjetividades? De acordo com Birman (2000) o autocentramento dos sujeitos consistiria a grande marca da ps-modernidade. Num ponto, ele se apresenta, primeiramente, sob a forma da estetizao da existncia. Esta caracterizada pela exaltao de si-mesmo, pelo uso da exibio como forma de exercer poder e fascnio sobre o outro. Ou seja, mister fazer-se apresentar, colocar-se em cena (mise-en-scne), num imperativo performtico extemporneo. Num outro ponto da discusso, sobre o autocentramento dos sujeitos, o autor aponta para a perda da alteridade como valor. Esse elemento tem grande importncia na expresso das subjetividades na atualidade. O outro, de acordo com esse imperativo, s existe a condio de ser um objeto de predao e gozo, ou seja, ser objeto
59 de manipulao para a exaltao de si-mesmo. A exaltao de si-mesmo, o individualismo, o intenso investimento no Eu, so as marcas da sociedade atual. Podemos dizer de forma sucinta que a modernidade promove um intenso investimento narcsico no indivduo. Tambm h um investimento generalizado nas manias; sobretudo quelas que elegem objetos materiais como alvo, a partir disto falaremos incansavelmente em consumismo. Acrescenta-se ainda um exagerado grau de competitividade, cujos correlatos, no imaginrio social e individual, sero uma promessa para a perfeio e uma idealizao das relaes, dos projetos, dos objetos. Ao mesmo tempo o ataque famlia, que vemos hoje, ao qual chamaramos de ataque ao mundo, opera, tambm, por injunes pragmticas, como pode ser visto nas modificaes no mundo do trabalho, indo do desenraizamento (afastamento geogrfico dos filhos e pais, s vezes dos casais em razo de necessidades do trabalho), chamada flexibilizao das formas de trabalho. Podemos dizer que trabalho e consumo se articulam na modernidade para produzir um efeito que ser tomado como o trao caracterstico da vida moderna: a solido. Nesse sentido, o sujeito se encontra numa espcie de limbo, com duas opes. Ou ele se legitima na cultura, nessa nova ordem social, caracterizada pelo excesso de exterioridade (esse espao marcado pela dimenso do fora-de-si); ou ele fracassa (o que ocorre no sem freqncia como podemos ver nas depresses, nas sndromes ansiosas, nas toxicomanias, na obesidade, por exemplo), e no consegue participar dessa exaltao do eu. O sujeito fracassado, que no consegue se inserir nesse ritmo manaco e narcisista da exaltao de si-mesmo, se torna marginal, exterior aos valores que orientam a cultura atual ( um sujeito negativizado, marcado pela dimenso do dentro-de-si).
60 Ou seja, percebemos a presena de duas categorias reguladoras da expresso da subjetividade. Ou melhor, de duas possibilidades de expresso do sujeito dentro da ordem moderna. Aquelas que se articulam com as demandas da sociedade atual (como as perverses e as formaes narcsicas da personalidade), e quelas expresses da subjetividade que a rigor no deixam de estar vinculadas aos determinantes da cultura atual; mas, condio de evidenciar toda uma inadequao de se ajustar a ela, de responder a essa demanda (como o caso das depresses, das fobias, das toxicomanias, e num outro extremo, das obesidades). Podemos dizer que os projetos dessas subjetividades, de alguma forma, no se coadunam com os imperativos da sociedade atual, aos quais elas no conseguem responder aos imperativos da sociedade atual, sobretudo, numa expresso de Birman (2000): de manter os polimentos reiterados do Eu. De uma forma ou de outra, os sujeitos esto ligados a esses elementos culturais que norteariam a expresso das subjetividades. Seja na expresso de um sujeito socialmente integrado, positivado, e investido de todo valor; seja na expresso de um sujeito excludo, negativizado, que fracassa e evidencia toda a sua inadequao a essa ordem. Para entendermos esses caminhos engendrados pelos sujeitos na atualidade, em que ora eles se legitimam na ordem social, ora no (e, nesse caso, poderiam subscrever uma certa inadequao dos prprios imperativos da sociedade atual na promoo do bem-estar, pelo menos, em promover minimamente possibilidade de um bem-estar razovel aos sujeitos), necessrio compreendermos os destinos tomados para a expresso do desejo na atualidade, que, por vezes, parecem opostos ao itinerrio social estabelecido, como no caso da obesidade. Pois a formao da subjetividade no pode ter um destino finalista, ela no movida de forma exclusiva pelo social, mas tambm pela dimenso biopsquica. Ou seja,
61 pela presena do campo pulsional, que est na base da (dis)posio fundamental do sujeito, na base da expresso pthica. J que o ser humano, inevitavelmente se encontra jogado a, aberto totalidade do mundo e afetado por aquilo que encontra de propcio ou no constituio de um destino possvel.
3.5. O corpo na contemporaneidade.
Nesse ponto, o corpo e sua relao com a contemporaneidade parecem ser um elemento importante para compreendermos esses processos. Essa relao pode ser ilustrada pela tendncia atual de busca de sade e bem-estar; que, na verdade, parece espressar uma vertente ainda mais centrado no indivduo, no Eu, que a busca pelo corpo perfeito, a intensificao da valorizao da aparncia. Pode-se dizer que nada manifestaria melhor a primazia da vida privada individual do que o moderno culto do corpo (Aris e Duby, 1992). Isso porque, o desabrochar do corpo, expresso cunhada pelos autores, modifica profundamente a relao do sujeito com os outros e consigo mesmo. Essa operao se deu com a perda do poder e da censura da tradio crist que marcava o corpo com as insgnias da corrupo, da vida mundana, e com a difuso dos movimentos higienistas e dos movimentos sanitrios, passando agora os cuidados com o corpo a ser uma preocupao social, regulada pelo estado, baseado em conhecimentos cientficos. Ou seja, houve um verdadeiro resgate do estatuto do corpo, uma reabilitao do corpo. De repente, os cuidados com o corpo e o vesturio mudam de estatuto. Por exemplo, com a diminuio da rigidez com relao ao vesturio que, gradualmente, foi se
62 modificando para mostrar, de forma discreta inicialmente, as linhas do corpo e, com isso, a aparncia fsica passa a depender cada vez mais das formas do corpo. A nova ordem era a liberao do corpo, que foi possibilitada pelas mudanas de hbitos, como as mudanas no vesturio, na preocupao com a imagem e no aumento de oportunidades para exibir o corpo (Aris e Duby, 1992). A importncia dada aparncia fsica levou as pessoas a se preocuparem no s com o aspecto de seu corpo, mas a ter cuidados com a nutrio, com a alimentao, e na ponta dessa idia, a gordura passou a ser algo depreciativo. Nesse ponto, parece que as mulheres se encontram em uma situao ainda mais embaraosa. A sua preocupao parece atingir um ponto ainda maior. Pois, agora, no s lhe legtimo e autntico a preocupao com a seduo, mas, tornou-se um dever ser atraente. Segundo os autores, a preocupao com a esttica, com as formas corporais, constitui-se numa verdadeira obrigao. Prova disse a exploso de revistas que do conselhos sobre moda, beleza e relao. Nesse ponto, o comrcio viu uma grande oportunidade. A exploso publicitria que se fez acompanhar, o que no deixa de ser uma expresso da chamada Sociedade de Consumo, contribuiu bastante para fomentar esses novos hbitos. O que parece que os publicitrios e comerciantes, ou seja, o imperativo do consumo, reforaram ainda mais esses novos hbitos com o corpo que j haviam sendo modificados pela difuso das idias higienistas. Como podemos ver na intensa divulgao de fotos e modelos sugestivos do belo, do que deve ser seguido, e com o grande reforo do cinema e principalmente da televiso, sobretudo aps a dcada de 60 (Aris e Duby, 1992). Contudo, o desabrochar do corpo se deve s mltiplas e complexas gratificaes propiciadas. Por exemplo, os cuidados com a higiene une-se ao prazer, agora, cuidar do
63 corpo, de sua aparncia, no s era legtimo, como tambm necessrio. No se trata s de uma questo de gosto, do desejo pessoal, mas ganha um respaldo das instituies de controle, inclusive da prpria cincia. O cuidar do corpo assume uma importncia central na esfera da vida privada (Aris e Duby, 1992). Contudo, tal procedimento revelaria uma realidade ainda mais forte desse impacto nas subjetividades das pessoas. Ou seja, cuidar do corpo, prepar-lo para ser mostrado, exibido. Sua aparncia seu bem-estar, sua realizao pessoal, o sentir-se bem na prpria pele torna-se um ideal (p.102). O corpo, dessa forma, no s assumido e reabilitado, mas, via de regra, reivindicado e exposto a todos como o novo ideal. No que o vesturio deixou de se ocupar, pelo menos em parte, de se fazer respeitar os cdigos da idumentria, para se preocupar com a valorizao das formas corporais, ou seja, em exibir o corpo, real-lo, revel-lo, valorizar suas formas? A exibio do corpo, mesmo do corpo nu (j que o vesturio deixa pouco coberto, e quando utilizado, sua funo seno outra que exibir e valorizar o corpo), deixou de ser algo vulgar, de ser algo indecente, ou ainda, que fosse uma forma de provocao; para tornar-se algo natural. Eis o grande mrito desse procedimento. A naturalizao de um ideal. Nesse ponto, a cincia, sobretudo a medicina, tem um papel importante. O que percebemos com esse procedimento? Com essas mudanas no estatuto do corpo na contemporaneidade? Que com isso, as formas corporais so cada vez mais sinnimo de felicidade e de bem-estar, bem-estar consigo mesmo diga-se de passagem. Ou seja, a autocontemplao tem um papel muito importante, pois o corpo a identidade pessoal, sua prpria personalidade. Nesse sentido, se a norma social dita a aparnica
64 jovem, e a personalidade se confunde a tal ponto com o corpo que continuar a ser o que acaba se confindindo com continuar a ser jovem (Aris e Duby, 1992, p. 107). Se o estatuto do corpo muda, sua importncia tambm. Ou seja, uma nova maneira de se habitar o prprio corpo. Na expresso de Aris e Duby, o corpo se tornou o lugar da identidade pessoal (1992, p. 105). A expresso do corpo, a expresso das formas corporais, a expresso de si mesmo. Os sujeitos, agora, habitam plenamente seus corpos, o corpo a prpria pessoa. Nesse sentido, a obesidade no pode ser enxergada como um sintoma. Como um sintoma de uma disfuno gentica, ou um sintoma de maus hbitos alimentares, ou do estilo de vida contemporneo. Mas, constitui-se como um sinal ainda maior, sinal do mundo interno e privado da prpria pessoa que faz do seu corpo um lugar privilegiado para expresso de seu ser. Da a dimenso subjetiva implicado no fenmeno da obesidade. Ora, nessa perspectiva, sentir vergonha de seu corpo, das formas de seu corpo, o mesmo que sentir vergonha de si mesmo. Isso muda muito a viso sobre o incremento da obesidade no planeta e a relao das pessoas com ela, inclusive da cincia. A questo se tornou ainda mais problemtica. A relao da pessoa com seu corpo, ganhou uma importncia nunca antes vista. Muito mais que a expresso de uma identidade social, de uma mscara, de um personagem adotado, da expresso de idias, convices, modos de vida, como quiser; o corpo agora a prpria pessoa. No existe vida interna, psquica, que no suponha o corpo. E de preferncia que seja uma corpo livre e realizado. Com essa mudana no estatuto do corpo, o corpo ganhou em importncia, mas, tambm tornou-se mais vulnervel, mais ameaado. Se, como aponta Aris e Duby(1992), o corpo ameado de fora, pela violncia, o corpo o ainda mais de dentro pela idade e pela doena (p. 106). preciso exorcisar a
65 velhice. De acordo com Berlink (2000), os sujeitos se esforam para dar ao corpo (temporal) as caractersticas do inconsciente (atemporal), ou seja, pode se tratar do desencontro da alma, sem idade, com o corpo, em envelhescncia. Contudo, passar pelo fenmeno da envelhecncia implica, de certa forma, uma re-criao do Eu, diante de novas exigncias pulsionais e, tambm, das novas exigncias corporais. Agora, parece que o Eu, dada as circunstncias atuais, nem sempre encontra os caminhos possveis para a elaborao desse processo. No por acaso que a higiene, as dietas, os exerccios fsicos, j no so os nicos meios utilizados para o combate velhice. Como aponta Aris e Duby (1992), a indstria farmacutica e cosmtica encontrou um verdadeiro pote de ouro aqui, por que no dizer a medicina, e a prpria psicologia. Os cosmticos, os cremes anti-rugas, as gelias de todos os tipos, as mscaras (que seja de lama), as cirurgias, os tratamentos para a modelagem de comportamento (nesse caso, o nutriocinista, o mdico e o psiclogo se aproximariam muito, pois um e outro, funcionariam como fiscais do peso), os vrios recursos disponveis para exorcisar a velhice e manter o corpo belo e jovem se coadunam e se constituem como verdadeiras promessas de felicidade e bem-estar. Se atravs dos elixires da juventude no foi possvel, a cirurgia se oferece para resolver o problema. Assim, no centro da vida privada atual, cuidar do corpo no apenas fazer a toalete, tratar dele e defend-lo contra os assaltos da idade: tambm porteg-lo das doenas (p. 107). A nossa sociedade se tornou uma sociedade hipocondraca. Segundo Aris e Duby (1992), de repente o medo da doena passou a impregnar nossa sociedade. A morte prematura se tornou uma contra-regra, passou a chocar, j no normal morrer sem chegar a idade certa. Aliado a isso, no s no se deve resignar doena, como,
66 tambm, jamais se resignar velhice. Como os autores apontam, ser voc se confunde cada vez mais com ser jovem. Se com o avano tecnolgico, sobretudo da biologia aplicada sade, propiciou um aumento da expectativa de vida, viver no mais uma questo de destino favorvel, mas uma questo de direito. Com isso, os mdicos ganharam muito em prestgio, a medicina alcanou um outro estatuto. No por acaso que vemos a exploso das farmcias e a prosperidade dos laboratrios. Esse furor sanandis, essa vontade de se curar e de viver, chega a tal ponto, que a medicina se tornou no imaginrio coletivo um saber quase infalvel, o que no limite no , ela falha, as pessoas imediatamente vo procurar as terapias no oficiais. No toa que vemos o incremento tambm das terapias paralelas (como no caso da homeopatia e da acupuntura). E no por acaso que a biologia foi elevada ao topo da hierarquia cientfica, posta ao lado da fsica. Contudo, apesar de tanta inovao e incremento dos recursos teraputicos modernos, apesar de tanta tcnica que tranquiliza, para se utilizar de uma expresso de Aris e Duby (1992), porque no se pensou em humanizar os tratamentos, em humanizar o sofrimento? Dar-lhe seu verdadeiro estatuto, para alm de uma virtualidade estatstica estabelecida pela configurao dos fatores de morbidez epidemiolgica? (Gori, prefcio do livro O instante de Dizer, Del-Volgo, 1998). Se os mdicos, mesmo dentro de um hospital, no abrem mo de seu contato privado com o paciente, com o doente, esse proceder se figura muito mais como uma ideologia do que uma realidade.
67 3.6. Obesidade: expresso do sujeito, expresso da subjetividade.
J havamos apontado anteriormente que no d para se falar de obesidade sem relacion-la ao excesso de peso; contudo, devemos ter a cuidado de apontar que, nem sempre, o ganho de peso est associado de forma exclusiva ao excesso de ingesto alimentar. E os problemas alimentares no planeta, se que podemos assim cham-los, como a desnutrio, a fome, o excesso de peso, os transtornos alimentares etc; no so enxergados da mesma forma. A luta contra a desnutrio (e esse o nome empregado mesmo, luta) quase um problema moral. Contudo, o problema do excesso de peso bem diferente. No incomum, mesmo dentro de um contexto de interveno profissional, uma atitude discriminatria, em alguns casos, at menosprezo. No toa que os obesos so percebidos como aqueles que comem demais e que so pessoas fracas. Aliado a isso, o prprio obeso sente vergonha de sua condio. Como se fosse vulgar, feio, estar acima do peso. Aliado a essa condio, como aponta Aris e Duby (1992), j no d mais para falarmos de vida privada, da interioridade, sem falar do corpo. A expresso do corpo, a expresso das formas corporais, a prpria expresso de si mesmo. Dessa forma, nosso estudo buscou conhecer as subjetividades de pessoas obesas que procuram a cirurgia de reduo de estmago. Essa interveno cirrgica, que rigorosamente falando, uma dieta forada, vem como uma promessa de alvio dos males. Esses pontos, brevemente levantados, nos permitem dizer que para o estudo da obesidade, devemos levar em conta as vivncias sociais e seu impacto na constituio do sujeito. Apesar da obesidade ser um problema fsico, tem significativa participao de
68 fatores psquicos e sociais. Melhor dizendo, a obesidade constitui um campo privilegiado em que as dinmicas histrico-sociais exercem um impacto nas estruturas psquicas e no prprio corpo dos sujeitos. Podemos dizer, baseado nas asseres de Aris e Duby (1992), que a modernidade inaugurou uma nova maneira de se habitar o prprio corpo. O corpo tomado como o lugar da identidade pessoal. Como havamos dito anteriormente, a expresso do corpo, a expresso das formas corporais, a expresso de si mesmo. O seu corpo a sua prpria histria, a sua prpria histria pulsional atualizada no corpo. Nesse sentido, a obesidade no pode ser enxergada como um sintoma. Ela se constitui como um verdadeiro sinal do mundo interno e privado da prpria pessoa que faz do seu corpo um lugar privilegiado para expresso de seu ser. E podemos apontar ainda, que a modernidade criou os condicionantes necessrios para o atual incremento do adoecimento corporal contemporneo, que parece encontrar na obesidade sua marca indelvel. Nesse sentido, estamos de acordo com Birman (2000) ao dizer que a modernidade construiu poderosos instrumentos para perverter os corpos e os sujeitos (p.226). Dito de outra maneira, a ps-modernidade operou uma verdadeira fetichizao do corpo, como aponta Campos e Campos (2004), j que no prprio corpo, na excessiva evidncia de um corpo excessivamente evidente que o roteiro moderno perfila, fazendo dele um objeto por excelncia. Dessa forma, o corpo, na ps-modernidade, tomado como local de intensa injuno. Segundo os autores, a obesidade pode se tornar um significante que vem responder s diferentes estruturas clnicas, como uma forma privilegiada de insero simblica nas estruturas sociais da modernidade.
69 Nesse ponto necessrio estabelecermos uma posio. Quando colocamos que a obesidade um significante privilegiado na modernidade que passa a responder as mais diversas formas de sofrimento psquico; no se trata, de forma alguma, em promover uma psicologizao da obesidade, ou em argumentar uma psico-patologia da obesidade. O prprio Manual diagnstico e estatstico dos transtornos mentais - DSM (1995) - no reconhece essa relao, chegando a dizer que no se tem estabelecido qualquer associao consistente com alguma sndrome psicolgica ou comportamental. O que postulamos que a obesidade um sinal, a expresso de uma dinmica complexa e integrada. Assim, temos que contemplar os modos de ser e de reagir do sujeito que faz do corpo expresso de seu sofrimento, como no caso da obesidade. Dentro da dimenso do sofrimento humano devemos reconhecer o seu carter conflituoso e expressivo; a sua complexa e singular disposio de vir-a-ser-humano (Martins, 1999). dentro dessa perspectiva que buscamos uma via de compreenso para a obesidade. Ou seja, a partir do discurso pronunciado por um sujeito ptico - do pathos grego (Fedida, 1998; Martins, 1999 e Berlink, 2000) permitindo assim resgatar a sua dimenso subjetiva dentro da tradio clnica. Vale lembrar que a linguagem, a fala, ou seja, a capacidade de representar, que concerne ao homem seus atributos de ser humano. E por isso mesmo que o homem faz sintoma, expressando suas mais variadas formas e disposies afetivas, seus mais diversos modos de vir-a-ser-humano, como o em relao obesidade.
70 CAPTULO 4 PERCURSO DE PESQUISA: SOBRE O DISPOSITIVO CLNICO
4.1. Consideraes sobre o objeto:
Esse estudo teve um carter exploratrio e buscou estudar a expresso das subjetividades de pessoas obesas que recorreram cirurgia de reduo do estmago. A cirurgia de reduo do estmago um fenmeno recente dentro do campo clnico, presente h pouco mais de dez anos e capaz de produzir uma intensa carga afetiva nos sujeitos. Como aponta Freud (1926) em Inibies, sintomas e ansiedade, a experincia corporal, o corpo prprio, est, desde o incio, intimamente relacionado formao do psiquismo. Dentro dessa perspectiva, o ponto de partida do afeto , antes de tudo, psquico e no somtico. Assim, o sujeito pode recorrer ao corpo, atravs da evocao do somtico, para lidar com um excesso de excitao no Ego. No se trata de um excesso de tenso fsica como poderia se pensar, mas de estados de excitao que se estabelecem entre a experincia do corpo vivido e sua representao psquica. Contudo, a ps-modernidade, como aponta Birman (2000), produziu poderosos instrumentos para perverter os corpos e os sujeitos. O corpo recrutado s expensas de uma nova antropologia, em que o eu a medida de todas as coisas, ou seja, o indivduo o novo valor totalizante. Assim, ignorar a pulso e os afetos significa abdicar de uma perspectiva central para a compreenso do processo de subjetivao na atualidade. Seria no reconhecer a dimenso qualitativa da vivncia, no reconhecer a angstia, o prazer, e o sofrimento humano.
71 Nesse sentido a pulso e o afeto so constitutivos da subjetividade, integram a dimenso do outro, do reconhecimento do outro na sua singularidade. Desde a teoria psicanaltica reconhece-se que, para a organizao do ser humano, h um importante vetor regulador chamado desejo. E esse vetor no tem nenhum compromisso com a chamada ordem natural das espcies que em ltima anlise levaria manuteno da vida. Ento, quais as conseqncias relativas ao sentido, ao afeto, vivncia qualitativa do sujeito frente aos destinos do desejo na atualidade? Em que os sujeitos fazem do corpo um objeto privilegiado, colocando-o muitas vezes sob ameaas e violncia face ao imperativo de seu desejo? A propsito desse estudo, nossa observao buscou no perder de vista a dimenso da subjetividade presente nesse fenmeno e dar condies necessrias para a expresso dos aspectos afetivos e emocionais ligados experincia da cirurgia de reduo do estmago.
4.2. Consideraes sobre o mtodo:
Em termos gerais, para dar corpo e relevo ao nosso objeto, foi preciso dar vazo aos discursos dos sujeitos. Trata-se de uma pesquisa exploratria, onde foram realizadas quatro entrevistas do tipo clnico com mulheres de diferentes idades. As entrevistas se realizaram num nico contato, com aproximadamente 1h (uma hora) de durao. Os sujeitos foram contatados pelo telefone, por indicaes feitas pelos membros do grupo de pesquisa do Ncleo de Estudos Psicossociolgicos da Universidade Catlica de Gois NEP/UCG (todos os sujeitos passaram por instituies particulares de controle e reduo
72 do peso como hospitais e clnicas especializadas). Aps o consentimento dos sujeitos, eles prprios escolheram o local da entrevista. Algumas entrevistas se realizaram na prpria residncia da pessoa, outras no ambiente de trabalho, como ser descrito na construo do discurso dos sujeitos, logo frente. Contudo, tomou-se o cuidado de se conseguir um ambiente tranqilo e adequado realizao das entrevistas. Para a escolha dos sujeitos, levou-se em conta a no proximidade desses com os membros do grupo de pesquisa do NEP/UCG e tambm com o entrevistador. E para preservar a identidade dos sujeitos entrevistados os nomes relatados so fictcios. A partir do dispositivo adotado, entrevistas do tipo clnico, nosso objetivo era no perder de vista a idia de subjetividade e proporcionando uma escuta aprofundada dos discursos desses sujeitos. Ou seja, baseado na proposta de Del Volgo (1998), buscou-se constituir um espao propcio aos sujeitos para a construo de uma narrativa de seu sofrimento, proporcionar-lhes um instante de dizer, um momento para falar de sua experincia com a cirurgia de reduo do estmago. Dentro dessa proposta, os sujeitos, ao falar de seu sintoma, produzem, constroem uma narrativa de sua subjetividade. Ou seja, o sujeito historiciza seu sofrimento de forma singular, busca um sentido para ele, constri um romance com sua doena, como aponta Del Volgo (1998). Para tanto, como ponto de partida, os sujeitos eram convidados a falar da experincia do ganho de peso (como se tornou obeso), e da experincia com a cirurgia de reduo do estmago. Salientando que esses eixos foram utilizados apenas com indutores. H um ponto de vista fundamental em nossa pesquisa. Trata-se muito mais da investigao do ser doente, do sujeito, investigao do ponto de vista annimo da
73 doena. Nesse sentido, no se trata da doena em si, mas da doena do doente, de uma construo pelo sujeito de uma narrativa sobre sua doena que no se confunde com a causa, nem com o exato, mas a verdade do sujeito. Interessou-nos a sua experincia particular, a expresso de sua subjetividade. No se tratou de dar provas, mas de tentar compreender os movimentos dessas subjetividades frente ao impacto de uma interveno corporal, como no caso da cirurgia de reduo do estmago. Ou seja, nosso estudo no tem pretenses de causalidade ou exatido. Tal mtodo no tem como premissa a retido e a falsificao de hipteses; mas a abertura para o campo da fala enquanto funo intersubjetiva e produtora de efeitos no sujeito em dilogo com o outro. Indo ao encontro de nosso objetivo, ou seja, permitir aos sujeitos uma narrativa de suas experincias de forma aberta e o mais livre possvel, as entrevistas no foram gravadas. Trata-se da restituio pelo entrevistador da realidade de pesquisa, da situao de pesquisa e no da realidade do sujeito como poderia se dizer. Com isso o registro das entrevistas fica condicionado ao prprio dispositivo e rigorosamente falando a anlise da situao de pesquisa, anlise do prprio dispositivo, enquanto estratgia de pesquisa. Nessa perspectiva, os relatos aqui transcritos no so memrias no sentido exato do termo, no so provas do real; mas so resduos, artefatos, restos diurnos (Freud, 1900), criados pelo prprio dispositivo, e do suporte, oportunidade para que as formaes do inconsciente possam emergir no discurso dos sujeitos. Dito de uma outra forma, o dispositivo adotado buscou propiciar uma escuta da subjetividade, levando em conta o desejo, as fantasias, aspectos inconscientes presentes no discurso dos sujeitos. J que cada sujeito, a sua maneira, elabora, ou tenta elaborar com os recursos que tem, em seu discurso, aquilo que lhe ocorre.
74 Finalmente, fundamentado a partir do referencial psicanaltico e da psicopatologia clnica, nosso estudo buscou ao mesmo tempo dar lugar fala na escuta e tratamento do sofrimento psquico, bem como reconhecer a constituio desses eventos psquicos na maneira do sujeito falar e enfrentar o seu sofrimento.
75 CAPTULO 05 DAS ENTREVISTAS
5.1. Sra. Ana, um discurso plstico.
Essa entrevista se realizou no prprio ambiente de trabalho da Sra. Ana aps um primeiro contato por telefone. Ela uma mulher de 45 anos, casada, tem um filho e funcionria pblica. Atualmente, aps seis anos de realizada a cirurgia de reduo do estmago se encontra magra, com aparncia jovial e mostra-se simptica ao me receber. Para comearmos a conversar eu lhe pergunto sobre a cirurgia de reduo de estmago, como ela resolveu fazer a cirurgia. Ela me relata que fez a cirurgia logo no incio, eram as primeiras cirurgias realizadas em Goinia, e continua, assim que descobri sobre a cirurgia eu me decidi fazer, foi uma deciso minha, totalmente minha. interessante que ela quer deixar bem claro, e que seja desde o incio da entrevista, que foi ela que tomou a deciso; e, que tambm, fique claro que essa deciso foi totalmente dela, foi ela que tomou a deciso sozinha. Contudo, segundo a Sra. Ana, ao comunicar a minha mdica sobre minha deciso de fazer a cirurgia ela no concordou. Pediu que eu esperasse um tempo. Ela me disse que a gente ainda no sabia o que era essa cirurgia, o que ia acontecer. Mesmo com o desacordo de sua mdica, a Sra. Ana decidiu fazer a cirurgia e como ela disse, tratou logo de se informar e procurar reportagens para convencer sua famlia e sua mdica. Eu convenci minha mdica e minha famlia, eu cuidei de tudo. Por que ela teria que (con)vencer sua mdica e sua famlia? A quem ela (con)venceu, a quem precisava
76 (con)vencer? Vencer o qu? So perguntas que me fao. Contudo, induzindo-a a continuar falando eu lhe interrogo. Convencer? Ela parece agora tentar se explicar dizendo assim: eram as primeiras cirurgias de reduo do estmago em Goinia, talvez no Brasil. Ningum sabia do que se tratava, at minha mdica (...) ela minha endocrinologista h muito tempo, ela estava desconfiada, no queria que eu fizesse naquela hora, pediu para eu esperar. Por que sua endocrinologista estava desconfiada? Seria desconfiada da atitude de sua paciente? Parece que foi uma deciso tomada de imediato e de certa forma contestando a opinio do profissional e da famlia, de pessoas em que se confia. Ela continua sua explicao dizendo: eu tomei toda a deciso (...) eu fui atrs de tudo. (...) No incio minha famlia era contra, meu marido tambm, ningum sabia o que era essa cirurgia, e era uma cirurgia, n?. Eu fao apenas um gesto com a cabea. E ela continua, eu estava decidida, eu comprei os remdios, negociei com os distribuidores dos equipamentos da cirurgia, conversei com os mdicos, cuidei de tudo. O seu discurso deixa mais perguntas que respostas. O que ser que a levou a tomar essa deciso de fazer a cirurgia, apesar da desconfiana de sua mdica e porque no dizer de sua famlia? Ela at me diz que precisou com-vencer as pessoas que se preocupavam com ela, e se lembra num dado momento, era uma cirurgia, n? Nesse caso, a pergunta parece muito mais afirmar que interrogar. Aps uma interrupo em seu discurso eu lhe pergunto, tentando esclarecer algumas coisas, porque ela decidiu fazer a cirurgia. A Sra. Ana d uma resposta diferente agora, me diz que realmente tomou a deciso depois que uma amiga do trabalho fez a cirurgia. E que ao v-la: isso me estimulou, contudo, ela acrescenta: a fulana fez uma cirurgia reversvel. Eu no! Eu cortei mesmo! Minha cirurgia foi definitiva. (...) Se eu
77 fosse passar por uma cirurgia dessas e poder engordar tudo de novo, para que eu faria? Eu cortei mesmo, no queria voltar a engordar. Duas coisas chamam ateno. Sua frase: eu cortei mesmo, e ela se v estimulada logo aps a amiga de trabalho fazer a cirurgia. Ento, eu lhe pergunto, uma amiga aqui do trabalho? Foi quando ela me diz: Sim. Ela colocou balo (que um mtodo reversvel), e completa: eu fiz diferente, minha cirurgia foi definitiva (...) Eu estava decidida (...) Agora todo mundo que vem conversar comigo eu apio a fazer a cirurgia. J convenci umas cinco pessoas. (...) O que mais importante a cabea. Eu peo que explique melhor isso. E ela diz: olha, voc tem que estar determinado. No pode fazer como minha colega. Tem que tomar a deciso. Acho que o sucesso depende disso (...) Voc tem que arrochar, no pode fraquejar, tem que continuar firme em seus propsitos. E voc? Como foi? Eu lhe pergunto. Ela me diz com um sorriso: Eu sim. Eu tava decidida. Por isso foi tudo tranqilo, eu emagreci sem sentir dificuldades (...) Eu no precisei fazer esforo (...) Consegui emagrecer sem fazer esforo (...) foi a melhor coisa da minha vida. Nesse ponto eu lhe pergunto se a cirurgia mudou alguma coisa em sua vida e para minha surpresa ela me responde: nada, sou a mesma pessoa. Eu continuo calado e tambm surpreso, quando ela me diz, com exceo do peso, claro. e continua: para quem pesava 94kg, sabe o que est falando. Durante toda a entrevista ela mantm um clima descontrado e mostra-se sorridente, agora, ao falar de como comeou a ganhar peso muda a expresso, fica sria, e me diz: antes do casamento, quando eu tinha mais ou menos 18 anos eu comecei a engordar, mas foi pouco. No engordei muito. Mas j comecei a me consultar com a endocrinologista (...) Na verdade eu no engordei muito, mesmo que no estivesse to gorda, eu no estava satisfeita com
78 meu corpo. A Sra. Ana uma mulher alta e me diz que sempre foi magra, quando se casou pesava 57 quilos. Contudo, j fazia regimes. Segundo ela: eu sempre controlei o peso, eu no queria engordar. Eu lhe pergunto quando foi que comeou essa preocupao. Ao falar desse perodo ela se lembra que em sua adolescncia, devido a uma preocupao dos pais com seu peso, j que segundo ela, eles me achavam muito magra, ento eles me levaram mdica e eu comecei a tomar um remdio para melhorar o apetite. Tambm, foi por influncia da minha av que me achava magra demais (...) Mas, eu fui engordando aos poucos, na verdade eu nunca me preocupei muito, quando percebi estava com 94 kg, eu no gostava de fazer esforo. Eu lhe pergunto sobre sua famlia. Como eles reagiram a tudo. O que parece que no reagiram, s se deram conta do que estava acontecendo depois de realizada a cirurgia. Segundo ela minha famlia no acreditou muito quando falei que ia fazer a cirurgia. Foi s na hora mesmo da cirurgia que eles se convenceram. Mais uma vez a palavra comvencer. Ela diz que seus pais ficaram preocupados, mas o marido entendeu melhor, e completa: ele sabe, quando eu decido uma coisa, para valer. Eu lhe pergunto como foi ento fazer a cirurgia, passar por esse processo. Ela me diz que foi maravilhoso, agora com um sorriso estampado no rosto volta a dizer que emagreceu sem fazer esforo. E continua, eu mesma paguei pela cirurgia, paguei com meu dinheiro. Fui para a mesa de cirurgia alegre e confiante. (...) Eu tive dois encontros com uma psicloga. Depois do segundo encontro, ela me disse: voc est preparada, pode fazer. Eu estava decidida. (...) Depois de alguns dias comecei a levar uma vida normal. Nesse ponto eu lhe pergunto como levar uma vida normal. Ela diz que eu saio, vou
79 trabalhar, no sinto fome... Eu no tive, por exemplo, problemas de passar um ms tomando lquidos. Foi tranqilo. E continua, eu nem percebi que estava emagrecendo (...) Foi uma maravilha, foi muito bom. (...) Eu s percebi que meu corpo mudou quando fui comprar uma roupa. A roupa da vitrine era bem pequena, eu entrei para perguntar se tinha tamanho maior, mas a vendedora insistiu e me disse que aquela servia. Quando experimentei, nem acreditei. A que eu fui perceber que estava magra, que tinha emagrecido. (...) Eu ainda me enxergava gorda. Eu lhe pergunto: e hoje, como se sente? Nas palavras da Sra. Ana, mais uma vez: estou tima, estou em lua-de-mel com a cirurgia at hoje (...) Eu nunca me senti to bem. Nesse ponto ela faz uma associao: igual a histria do casamento. Quando se est namorando, todos perguntam quando vai se casar. Quando se casa, todos perguntam quando vo ter filhos. E assim por diante. Foi desse jeito com a cirurgia... A gente engorda e j perguntam quando vai emagrecer. A faz a cirurgia, e todos te perguntam quando vai fazer a cirurgia plstica? Mas, quem eram esses todos, ela prpria? Seus familiares? O seu marido? A Sra. Ana acrescenta, eu estou feliz com meu corpo atual, estou feliz assim, eu no vou fazer cirurgia plstica, no tem necessidade... (...) Eu sei que sobrou pele, sobrou estrias, mas estou feliz assim, estou muito satisfeita com meu corpo (...) eu sou uma mulher, eu sei que no posso ter um corpo de uma mocinha (...) Hoje estou pesando 67 quilos. Para minha altura est timo. Com uma expresso de satisfao e sorriso no rosto me pergunta: no para ficar feliz?. Eu apenas sorrio e fico calado. Mas, me passa pela cabea para estar? Parece que no. Eu pergunto se a cirurgia mudou algo em sua vida. Ela me responde, mais uma vez: no, sou a mesma pessoa.
80 5.2. Sra. Marta, ou no quero mais esse fardo.
A entrevista foi realizada na casa da Sra. Marta. Ela tem 62 anos. divorciada. Tem trs filhos. dona de casa, aposentada, mora com dois filhos. O primognito casado e mora a alguns quarteires de sua casa. De acordo com a Sra. Marta, ela toma conta do seu neto durante as manhs. Ao entrar noto a arrumao e as muitas imagens, fotos e objetos religiosos espalhados pela casa. Ela convida para sentarmos e conversarmos na sala de jantar, prximo cozinha em meio a documentos e exames mdicos espalhados pela mesa. Como havamos conversado anteriormente por telefone, ela comeou a falar diretamente da cirurgia. Disse assim: olha esses exames aqui, se voc achar melhor pode l-los. Eu olho para os exames e digo que prefiro que ela falasse. J faz dez meses... Ela pra, d uma pausa, pensa um pouco, faz umas contas em silncio e volta a dizer: isso mesmo, vai fazer dez meses nesse ms. (...) Nesse tempo eu perdi 27 kg. Ainda estou gordinha, mas pelo que eu tava, j mudei muito, se voc ver a foto. Eu apenas fao um gesto com a cabea e espero ela falar. Ela continua: O primeiro ms o que a gente emagrece mais, depois vai diminuindo. Pe a mo no rosto e me diz: um regime forado, n (...) Aqui em casa todo mundo faz regime, a gente faz regime faz tempo. (...) como voc pode ver todo mundo aqui gordinho. E aponta para a porta do quarto que estava aberta e onde sua filha se encontrava. A Sra. Marta me relata que tm duas pessoas na sua famlia que fizeram a cirurgia. O seu filho mais velho e sua excunhada (que ela chama de minha cunhada, algo que ficar mais claro durante a entrevista). Ela me diz que uma mulher muito religiosa e, ao falar da deciso do filho
81 mais velho de fazer a cirurgia, diz: eu achava que isso no era coisa de Deus. Foi meu filho que fez primeiro, e quando ele decidiu fazer a cirurgia, eu fiquei muito preocupada, eu no achava certo. Eu lhe pergunto porque no achava certo seu filho fazer a cirurgia. Ela me diz que a gente deve usar a medicina para o bem, uma coisa de sade, eu no achava certo fazer uma cirurgia para emagrecer (...) No vou te enganar, todo mundo faz a cirurgia pensando em emagrecer, ningum gosta de ficar gordinho (...) muito difcil, ningum gosta de ser gordinho. A Sra. Marta vai descrevendo todos os regimes que j fez, quase sempre receitas ensinada pelas amigas. Traz uma histria longa de tentativas frustradas, e regimes mal sucedidos. Disse que sempre tentou emagrecer, mas no conseguia. E conclui: mesmo no emagrecendo eu no achava certo fazer uma cirurgia para emagrecer. Se quiser emagrecer tem que fazer regime. Ela me conta que ministra na igreja catlica. Durante toda a entrevista me diz que muito religiosa e sempre freqenta a igreja. Contudo, teve que deixar a funo de ministra na igreja quando foi cuidar de sua ex-cunhada que fez a cirurgia de reduo do estmago depois de seu filho. Ela me diz: eu no podia mais assumir essa responsabilidade. Mas acrescenta que continua a freqentar a igreja, contudo, j no mais ministra. Disse que depois que foi cuidar de sua cunhada (que mora em outra cidade, bem distante de Goinia), decidiu fazer a cirurgia de reduo do estmago. A Sra. Marta relata que pesava cento e doze quilos (ela uma mulher de baixa estatura), e que todos sempre fizeram regimes em sua casa, mas nunca conseguiram emagrecer. Segundo ela acho que de famlia.
82 Eu lhe pergunto como foi essa deciso de fazer a cirurgia, pedindo que ela me explicasse melhor. Ela me diz: quando meu filho mais velho decidiu fazer a cirurgia, eu fiquei muito abalada, no sabia o que fazer (...) S pensava que isso no era certo. Quando seu filho foi consult-la, pedindo sua opinio, segundo a Sra. Marta, ela foi totalmente contra e que pediu muito para ele no fazer. Eu fiquei to abalada que nem acompanhei o processo (...) Eu s rezava. Poucos meses depois sua ex-cunhada liga. Queria que a Sra. Marta fosse cuidar dela, e que precisaria de ajuda devido cirurgia (sua ex-cunhada, irm de seu ex-marido, solteira e mora sozinha). Ela me pediu que eu a fizesse companhia (...) Ento, eu fui. (...) E j tinha muito tempo que eu no ia l, e l todo mundo gosta de mim. Referindo-se famlia de seu ex-marido. Ela me conta que nasceu e foi criada na mesma cidade que seu marido. Eles se conheceram e se casaram e, depois de casados, devido ao trabalho, se mudaram para Goinia. Segundo a mesma, minha famlia est toda l. (...) No incio foi difcil acostumar com a cidade. Mas, agora meu lugar aqui. No consigo viver em outro lugar. E ela acrescenta, no consigo ficar longe da igreja, eu tenho responsabilidades l. A Sra. Marta diz que passou dois meses com sua ex-cunhada, que a acompanhou aos mdicos, que a fez companhia, e completa: ns somos amigas (...) eu fazia a comida dela, que era uma comida especial, ia ao mdico com ela, a gente conversava muito. (...) E ela me encorajava sempre. (...) E quando eu vi o tanto que ela emagreceu... ela emagreceu 15kg em um ms. (...) Meu Deus do cu, difcil fazer regime. No incio voc pensa que vai ficar louca. (...) No fcil. Eu lhe pergunto o que no fcil para ela. A Sra. Marta me diz que tem muita dificuldade ainda, principalmente por causa da restrio alimentar. s vezes tenho uma vontade louca de
83 comer (...) Sabe, sobre a cirurgia correu tudo bem, mas tem que se controlar, o difcil parar de comer. Segundo a Sra. Marta ela vomitou vrias vezes. Disse que seu estmago no aceita carne, de nenhum tipo. Segundo a Sra. Marta, para amenizar a vontade de comer a gente inventa de tudo (...) Cada dia um suco diferente. Ela me relata que teve que ficar de repouso alguns dias, mas por recomendao do mdico, e segundo ela, foi melhor assim. Eu lhe pergunto porque. Ela diz na rua a gente v comida. (...) Se vai feira v pastel, e tm as festas da igreja tambm... ontem mesmo teve uma festinha. (...) Eu coloquei uma colherinha de feijo tropeiro na boca e j comecei a passar mal. Tive que colocar tudo para fora. (...) Carne eu no estou podendo nem pensar. Ela pega seu roteiro alimentar, proposto pela nutricionista, e me mostra dizendo: veja como difcil (...) E eles nem explicam direito tudo. O da minha cunhada era bem melhor. Eu lhe pergunto como comeou a engordar, peo que ela me explique. Ela me diz que comeou a engordar depois de sua primeira gravidez. Faz contas em silncio. E conclui, quando fiquei grvida do meu filho mais velho, eu engordei um pouquinho. Ela ganhou 10kg e no conseguiu perder. Depois aumentou mais um pouco com a segunda gravidez. Ela tenta se lembrar quantos quilos, comea a fazer contas. Pra um pouco e diz no me lembro muito bem, mas engordei mais um pouco. E conclui, na terceira gravidez foi aumentando ainda mais, eu fazia regimes e no conseguia perder peso. Ela diz novamente, deve ser coisa de famlia, na minha casa todo mundo gordinho. E continua: na famlia do pai dela (referindo-se a filha caula) todo mundo gordinho. Acho que de famlia. Eu lhe pergunto sobre o ex-marido. Ela me diz que h muito tempo ela no o v. Nesse momento sua filha entra na sala, vai at cozinha e depois volta para o quarto.
84 Nesse momento a Sra. Marta se emociona. Pra de falar por um momento. E diz: Tudo Deus, n? (...) Deus que nos d o fardo que a gente pode carregar. Ela me diz que seu ex-marido arrumou outra mulher. Agora ele tem outra famlia. Segundo ela, ele vem visitar a filha, ela a caula, tem 20 anos. Deus que me d foras para superar isso. Ela fica em silncio novamente. Nesse momento a filha se senta perto de ns, numa poltrona perto da mesa. Parece que o divrcio um assunto doloroso para ela, talvez para a filha tambm. Aps sua entrada paramos a entrevista. Parece que esse fardo dado por Deus ainda pesa em suas vidas.
5.3. Lurdes: a bela adormecida ou o prncipe que virou sapo.
Lurdes mdica, 31 anos, tem uma filha de 03 anos, divorciada. A entrevista foi realizada em seu apartamento. Como ela j havia me dito pelo telefone, ela estava visivelmente em recuperao, ainda abatida, estava se recuperando de uma cirurgia feita h poucos dias. Ainda devido s complicaes da cirurgia de reduo do estmago realizada a um ano. Ns comeamos a conversar sobre meu trabalho de mestrado. Ela pediu que eu lhe explicasse melhor sobre o que se tratava e qual era minha formao. O que ela j havia me perguntado pelo telefone em nosso primeiro contato. Eu lhe digo qual minha formao e que estou estudando sobre o tema da cirurgia de reduo do estmago em meu mestrado. Parece que ela ficou satisfeita com essa resposta. Ela demonstra dificuldades para se sentar. E me diz: como voc pode ver, ainda estou em recuperao, fiz a cirurgia de
85 apndice ainda devido cirurgia de reduo do estmago (...) eu quase morri, foi muito sofrido. E acrescenta: mas eu faria tudo de novo. Ela me pergunta por onde deve comear, apesar de j ter comeado, eu apenas lhe respondo que pode comear por onde quiser, dando espao para que ela fale o mais abertamente possvel. Eu praticamente fiquei em silncio durante toda a entrevista. Ela volta a falar que passou por um sofrimento muito grande. Que teve pensamentos de morte e que nunca pensou que isso poderia acontecer com ela. Inclusive minha filha est abalada, ela se lembra. Ela muda o rumo da conversa e diz: Bom, ento vamos comear (...) e continua me dizendo relembrando de sua juventude. Ela me diz que sempre fui uma mulher bonita e vaidosa, eu era magra. Ia direto para as baladas. Quando saa com as amigas, segundo ela, sempre tinha homens interessados. E que tambm teve muitos namorados em sua juventude. Na faculdade organizava os eventos, as festas, e foi da comisso de formatura. Sempre fui elogiada e desejada (...) Na minha cabea, eu nunca aceitei engordar. Quando eu fiquei gorda... minha vida parou! (...) Eu deixei de sair, eu no tinha nimo para mais nada. Deixei de ser vaidosa. (...) Sabe o que eu fazia? Eu entrava para o trabalho pela porta dos fundos. (...) Eu tinha vergonha de mim. Eu no queria passar pela recepo. J ia direto para o consultrio. (...) Hoje eu vejo as fotos e nem acredito! (... ) No sei como deixei a situao chegar a esse ponto. Lurdes atualmente est bem magra. E me conta que o seu IMC no era suficiente para fazer a cirurgia de reduo do estmago, ento decidiu engordar para atingir os ndices e se submeter cirurgia. Apesar de sua famlia e seu mdico (que seu amigo) serem contra. Segundo ela, todos recomendaram uma dieta. Mas, como ela diz: Eu sou mdica, meus amigos so mdicos, eu conheo a
86 cirurgia, eu pensei que estava tudo sob controle e que logo estaria no quarto. Mas, no foi isso que aconteceu. Lurdes entrou em coma depois da cirurgia, ficando meses no hospital. Teve que fazer vrias cirurgias de emergncia e ironicamente, como ela prpria descreve: eu sou infectologista, e tive complicaes que quase me mataram devido a uma infeco hospitalar. Ela descreve tudo com muito sofrimento, se emociona, faz pausas... e conclui: fiquei entre a vida e a morte. Ela me diz que sentia muitas dores quando estava acordada. Ficou em coma vrios dias, teve que fazer cirurgias, passou muito tempo sedada. Ento, no sabe bem quanto tempo ficou acordada e, segundo ela, teve momentos que perdi minha lucidez. Ela ficou internada durante muitos dias e muitos amigos, inclusive muitos mdicos, e seus familiares foram visit-la no hospital. Me contaram que todos os dias eu recebia visitas, at quando no estava acordada. Segundo ela, isso causou um pequeno tumulto no hospital. Ela fala disso sorrindo, parece ter uma certa satisfao. Inclusive mdicos amigos de outros hospitais foram visit-la. Durante o perodo que ficou na UTI, ela se lembra que passou frio e que foi maltratada por uma enfermeira. Um pouco emocionada ela me diz: a gente nessa situao e as pessoas ainda fazem isso!? (...) Eu pedi enfermeira uma manta para me proteger do frio, ela fingiu que no me escutou (...) Agora sei o que ser paciente (...) Eu sei que dei trabalho, mas teve dias que eu no agentava mais ser tratada daquele jeito, talvez porque eu era mdica. Lurdes vai me contando sua histria praticamente sem interrupo. Eu apenas presto ateno enquanto ela fala. Ela fala que no consegue entender porque aconteceu isso com ela. Que nunca foi religiosa, que no acreditava em Deus, mas acha que foi um
87 milagre ter sobrevivido. Ela se pergunta mais uma vez: por que comigo? E tece alguns comentrios mdicos a respeito, falando como raro dar errado essa cirurgia, que os mdicos fizeram tudo direito e que s d errado quando a pessoa come, ou seja, no obedece s recomendaes mdicas. O que ela atesta ter feito corretamente. Afinal de contas, eu sou mdica, eu sabia dos riscos. Contudo, ela est bem magra atualmente, e segundo relato dela, seu mdico disse que deve parar de perder peso, j est no peso ideal, e mesmo ela sabendo, como mdica, eu sei que meu peso est ideal para minha altura. (...) mas, eu gostaria de perder mais. Eu ainda me acho gorda. Nesse ponto ela se lembra das reportagens recentes sobre a anorexia. Eu lhe pergunto como foi que ela comeou a engordar. Ela me diz que durante o tempo da faculdade arrumou um namorado que era do interior, ele era do interior. Segundo ela, como estavam apaixonados decidiu se mudar com ele, apesar de no gostar da idia de morar numa cidade pequena. Ela me conta que o namorou cerca de dois anos, foi quando ela ficou grvida e comeou a engordar. Ela faz uma pausa em seu relato e me diz logo em seguida: no tnhamos nada parecidos. Fico imaginando se ela pensou nisso anteriormente ou agora no momento da entrevista. E continua: eu gostava dele, mas ele comeou a me tratar mal (...) A gente se separou e voltei a morar em Goinia (...) Foi quando passei a ficar s com a minha filha. (... ) Deixei de sair, s ia s festas de famlia, a s fui engordando. Eu s cuidava da minha filha e trabalhava, mais nada. Eu lhe pergunto como ela conheceu o pai de sua filha. Ela me diz que foi numa balada da faculdade. Segundo ela, eles comearam a namorar em Goinia. Ela j estava trabalhando como mdica, contudo, ele teve que voltar para sua cidade natal para cuidar dos negcios da famlia. Ela relata que no incio foi bom, mesmo no gostando de morar
88 no interior. Mas, depois ele comeou a mudar (...) Depois ele comeou a me tratar mal. Ela fala com ressentimento dele. Num dado momento ela me diz: ele me traiu (...) a terminei tudo (...) Foi quando a gente se separou e eu voltei para Goinia. Quando minha filha nasceu, a gente no estava mais juntos. E completa: at hoje eu no arrumei outro namorado.Eu fico em silncio. Nesse momento ela me diz: eu quero mudar isso, eu preciso mudar isso. Por isso decidi fazer a cirurgia. Dar errado comigo, foi uma fatalidade. (...) Eu j fiquei muito tempo adormecida. E continua: acho que tenho uma gentica favorvel. E mostra seus braos e pescoo se inclinando para mim e diz: eles no ficaram flcidos (...) Mas, quero fazer uma cirurgia corretiva nas cicatrizes que ficaram. Eu me pergunto quais cicatrizes ela se refere? No dia da entrevista havia uma festa e, segundo ela, j havia conversado com seu mdico sobre a possibilidade dela ir. Ela estava se recuperando de uma cirurgia. Ele me autorizou a ir. Ainda no sei se vou. Ele s me disse para no exagerar, mas, s vou ficar um pouquinho.
5.4. Rebeca, ou idas e vindas... e vai-e-vem.
Rebeca tem 21 anos. Mas tem rosto e jeito de adolescente. Comeamos a conversar sobre o convite que havia sido feito para a entrevista. Ela chega at mim aps conversar com uma pessoa do grupo de pesquisa e me diz: tudo j foi explicado (...) Vocs querem conversar sobre o processo de adaptao da cirurgia de reduo de estmago, no mesmo? Ela j me adianta: eu no consegui me adaptar. Essas primeiras palavras
89 dizem muito e eu fico imaginando de qual adaptao ela fala, ser a adaptao aqui, situao de entrevista? Ou ser a adaptao cirurgia? Ou ainda adaptao a sua vida, em seu caminhar? Eu lhe pergunto: adaptar? o suficiente para ela me dizer: assim, voc sabe como , n. Brizolada. Eu peo que me explique como ficar brizolada. Ela continua: eu no mudei minha vida como eu pensava que ia mudar, a gente faz a cirurgia achando que vai melhorar tudo, eu continuo a comer e parei de emagrecer. Eu lhe pergunto o que ia mudar, o que ela esperava mudar. Ela me relata que conseguiu emagrecer no incio, mas que ela precisava perder mais oito quilos, pois s assim o seu mdico ir fazer a cirurgia plstica. Eu cheguei a perder 45kg, mas meu mdico me disse que eu tenho que perder mais uns 08kg. Eu j perdi, eu j ganhei, foi um vai-e-vem. Nesse momento ela comea a falar sobre os quilos perdidos e ganhados. Disse que perdeu cerca de 40kg, depois ganhou mais quatro quilos, perdeu novamente esses quatro quilos, depois ganhou mais dez quilos, agora diz que precisa perder oito quilos para fazer uma cirurgia plstica. Contudo, j se passaram trs anos e meio de cirurgia e ela me diz que perdeu mais ou menos trinta e sete quilos. Ela faz uma confuso de ganhos e perdas de peso que deixa inclusive o entrevistador confuso. E ela conclui: Ah! Est tudo um vai-e-vem! Ela me diz que foi muito doloroso o processo de adaptao cirurgia. E que no imaginava que ia ser assim. Eu achava que eu ia recuperar logo, que ia perder os quilos rapidinho. Tipo acordar magra. eu no consigo colocar em minha cabea que no posso comer. Parece que realmente ela no se adaptou. E ela quer fazer uma cirurgia plstica, mudar o corpo. Tudo est diferente depois dela. E no que ao me explicar o processo de adaptao cirurgia, que tambm foi um vai-e-vem, ela faz uma
90 verdadeira confuso de ganho e perda no qual nem mesmo ela consegue entender? Ela at exclama: est confuso, n!? Maior confuso foi o casamento de seu pai e sua me que parece apresentar tambm essa marca do vai-e-vem. O casamento dos pais de Rebeca se deu em meio idas e vindas. A primeira lembrana que ela traz de sua me sobre o afastamento dela devido s necessidades de trabalho. Minha me professora, era, agora est aposentada. (...) Ela dava aulas em trs colgios. Fazias jornada tripla, manh, tarde e noite. (...) Por isso eu a via pouco. Rebeca chegou a dizer que s via sua me nos finais de semana. Ela saa para o trabalho muito cedo e voltava muito tarde (...) Eu estava sempre dormindo. De acordo com Rebeca, ela foi criada pela av materna e seu pai era um viajante, termo que ela usa. Meu pai era um viajante. Ele trabalhava de representante comercial. Vendia peas de automveis em vrias cidades. (...) Ele fazia um crculo, visitava vrias cidades at voltar para casa novamente. (...) Foi assim que meus pais se conheceram, e como a vida dos dois era assim, um dia minha me decidiu me ter. Ela escolheu a data, planejou tudo. Minha me entendia disso, era professora. Nesse ponto eu penso sobre o que sua me entendia? Ela parece fazer uma associao entre os estudos da me e entender disso, saber como ser me. Ou talvez seria porque esse relacionamento se deu em meio a idas e vindas que um filho no seria um forte apelo para que as coisas diminussem seu ritmo de vai-e-vem? Eu lhe pergunto sobre o que ela acha disso. Ela me diz, com um tanto de indiferena, eu sei l! O casamento de meus pais sempre foi assim, um vai-evem. Ela me diz que seus pais se separaram e voltaram muitas vezes e que foi criada por sua av, ento eu no senti muito. Ser que no sentiu? Parece que no, pensei comigo.
91 Ela se mudou vrias vezes com sua famlia, moraram em vrias cidades, e segundo Rebeca, eu sempre fiquei sozinha, com minha av. Essa frase, sozinha com minha av, parece indicar que mesmo com a presena da av ela no estava completa, ela estava sozinha, sem a companhia esperada. Rebeca hoje uma estudante, tem vinte e um anos, e mora com os primos em Goinia. Sua famlia reside numa cidade longe no interior do estado. Como ela mesmo descreve: eu moro sozinha em Goinia. Da mesma forma que foi com a av; agora, com a companhia dos primos que moram com ela, essa marca de ser solitria parece ainda estar presente. Segundo ela, eu moro sozinha. Nesse ponto, eu lhe pergunto como foi a sua infncia. Imediatamente ela se lembra que: eu fui uma criana muito mimada, o que me faz pensar se foi mesmo, ou pelo menos o que ela queria dizer com mimada? Segundo Rebeca: eu sempre tive tudo o que eu queria, morava com v, n! (...) Meu poder de persuaso forte! (...) Eu sempre tomei decises sozinha. Rebeca relata que ao acompanhar a me, que fazia regime e tratamento para emagrecer havia muito tempo, durante uma consulta, ela decidiu, segundo ela, sozinha, a fazer a cirurgia de reduo do estmago. Ao lhe perguntar se ela pensou em fazer a cirurgia antes desse episdio, ela me respondeu: eu no pensava em regimes, eu nunca fui ao mdico para emagrecer. Eu fui acompanhar minha me e tomei a deciso l mesmo!. De acordo com Rebeca em sua casa todo mundo obeso, contudo, ela nunca fez tratamento para emagrecer. E dentro do consultrio do mdico que fazia o tratamento de sua me, ela pergunta: eu quero fazer a cirurgia do estmago, o que eu preciso fazer? Ela relata que: ele (o mdico) se empolgou (...) Naquele momento a cirurgia estava no auge, era muito popular... Segundo Rebeca o mdico largou os papis de sua me e
92 comeou a lhe explicar sobre a cirurgia. Ele deu uma aula para mim, explicou tudo, at usou o quadro. E o mdico disse que ela deveria fazer alguns exames e lhe trazer vrias cartas. Esse foi o termo empregado por ela. Uma carta de vrios profissionais concordando com a cirurgia. Inclusive o psiclogo, ela diz. Esse inclusive, parece mesmo indicar que o laudo psicolgico, nesse caso viria mesmo como um apndice. Foi a carta que mais deu trabalho. Segundo Rebeca ela teve que consultar com vrios psiclogos. Ou porque no sabiam fazer o laudo e lhe era indicado outro profissional, ou o laudo estava incorreto e deveria se refeito. Seu mdico, ao que ela me relata, disse: Est tudo errado! E ela continua: Eu tive que ir quatro psiclogos e todos erravam as cartas. Eles no sabiam fazer... eu chegava no meu mdico com a carta e ele dizia que estava tudo errado. De fato, parece que existia algo errado em tudo isso. Para Rebeca foi uma deciso sozinha, sendo errado ou no, ela me diz: Eu sempre tomei as decises sozinha (...) eu sempre comeo as coisas, se me deu vontade, eu vou l e fao. Ela d uma pausa em seu discurso. Parece pensar no que vai dizer. E retoma seu discurso da seguinte forma: Mas eu nunca consigo terminar. por isso que a cirurgia eu vou terminar... Fico pensando sobre o que ela me diz, s vezes em tom de queixa, eu sempre tomei decises sozinha (...) sempre fui muito mimada... tive tudo o que queria. O que parece que no. Pelo menos no a presena de seus pais. Nesse caso, parece que ter tudo era o mesmo que no ter nada. Pois, ela no tinha o limite, a presena dos pais, que sempre foram muito ausentes, desde seu nascimento e com a turbulncia de um casamento cheio de idas-e-vindas. Ao lhe perguntar sobre sua me, eu ouo um sonoro: Ela nunca diz nada, minha me nunca opinou muito (...) eu posso fazer o que quiser (...) quando meu
93 pai foi embora ento... Segundo Rebeca seus pais se divorciaram durante sua adolescncia. Contudo, ao falar de seu pai ela traz uma lembrana importante. Ela faz aluso a um perodo no qual seu pai tinha um supermercado (novamente a profisso de comerciante). Segundo Rebeca eles quase no se viam, somente na ida para a escola quando ia lhe pedir a beno e noite quando ele j chegava tarde e lhe preparava, todas s noites, pratos deliciosos, como coloca Rebeca (...) Ele sempre fazia aquele monte de comida, e sempre era comida gordurosa, como bacon, ovo... (...) eu acho que ele queria fazer algo por mim, j que ele passava tanto tempo fora. (...) Era muito gostoso, eu comia muito e comia tarde, a eu comecei a engordar (...).Ela marca esse perodo por volta dos 08 ou 09 anos de idade, e diz que at l, eu sempre fui muito magrinha. Segundo Rebeca, ela nasceu com anemia e seus pais, principalmente o pai, como ela aponta, colocava muita comida para ela. De acordo com ela a me no opinava e sua av brigava com o pai, parece que tinha medo que a neta engordasse. O seu parto foi problemtico. Ela nasceu de parto cesrio depois dos noves meses de gestao. Eu demorei muito para nascer... eu passei do tempo (...) E continua: Ento os mdicos tiveram que me tirar. De acordo com Rebeca sua me no teve contraes. Apesar de ser filha nica sua me teve uma outra gestao. Mas, ela sofreu um aborto. Rebeca conta que teve que tomar muitos remdios essa poca. Segundo ela, tudo devido anemia. Mas, depois comeou a acompanhar a me em seus regimes. Da mesma forma que a acompanhava quando ela ia ao mdico se consultar, ela a acompanhava nos remdios que eram receitados. Contudo, sua me e sua tia, que so obesas, segundo Rebeca, desenvolveram cirrose heptica devido aos medicamentos.
94 Nem a me, nem a av, nem mdico opinaram em sua deciso de fazer a cirurgia. Todos se calaram, se anularam. O mdico se empolga, a me nunca opina, o pai s fica sabendo da cirurgia atravs de uma tia de Rebeca e j depois de realizada. E segundo consta em seu relato, a mulher com a qual seu pai se casou o proibira de v-la. Ele s ligou para ter notcias dois anos aps a realizao da cirurgia. No por acaso que ao ser solicitada para falar da cirurgia ela diz que tudo desandou (...) Eu pulei uma parte do tratamento. Rebeca ficou 05 dias internada, pois teve infeco. Espantoso que, segundo seu relato, todo o processo, desde o dia em que ela decidiu sozinha fazer a cirurgia, at a data em que fez a cirurgia, durou menos de um ms. Nos primeiros dias, foi-lhe recomendado tomar s lquidos (os primeiros 15 dias), mas devido s dores que sentia teve dificuldades para se alimentar. Contudo, ela continuou em casa sentindo dores, quando sua me a levou ao mdico tiveram que intern-la, o que foi feito sem esclarecer o que estava acontecendo. Segundo Rebeca ela teve hemorragia, pois dez pontos dos vinte e quatro que foram necessrios cirurgia se romperam. Sua recuperao foi mais lenta, teve que tomar lquido por mais tempo que o previsto, tive que pular a papinha em minha alimentao. (...) eu passei do lquido direto para a comida slida, eu no tive a papinha. inevitvel deixar de pensar sobre o perodo de seu nascimento, seus problemas com a anemia, o que modificou sua alimentao, a relao com seus pais ela demorou a nascer, a me no tinha contraes, o pai era um comerciante viajante... Depois de perder quarenta e cinco quilos e de muito tempo de realizado a cirurgia ela percebeu que havia emagrecido. Segundo Rebeca: eu no percebi que emagreci, que meu corpo mudou, eu ainda me enxergo gorda. Sobre isso ela me conta um episdio. Um dia foi lhe solicitado que subisse numa rvore, coisa que ela no fazia com medo que um
95 galho quebrasse com ela. Ela se recusou alegando que os galhos iriam quebrar. Diante da insistncia ela subiu e foi nesse momento que caiu na real. E continua: Depois disso, passei a usar roupas de marcas (...) Eu sempre usava as roupas que minha me fazia. Agora eu s uso roupas de marcas (...) Eu uso roupas com decote. As roupas que minha me fazia tampavam tudo.. Contudo, no era s isso que ficava escondido em sua vida. Seus sentimentos ficaram durante muitos anos escondidos. Como Rebeca disse, eu no me importava com o peso, eu j no me importava mais. Segundo ela, no se importava de estar gorda e de ser ofendida pelas pessoas, poca que ganhou vrios apelidos. E continua dizendo que mesmo que eu tivesse poucos amigos, esses eram sinceros. E conclui, ningum quer sair com uma pessoa gordinha (...) eu no tinha nada para oferecer. Parece que o fato de ser gorda, significa no ter nada a oferecer, no ter qualidades. Ela relata que no saa de casa, que no tinha namorados e que, dessa forma, s estudava. Depois da cirurgia muita coisa mudou. Emagrecer para ela significou ter mais amigos, apesar dela alegar que eu sei que nem todos tm uma amizade sincera. Segundo Rebeca eu no me importava com namorado, eu no pensava nisso. Agora, ela comeou a namorar, o que parece ser um motivo de brigas entre ela e sua me. Ela explica que sua me est aposentada. Contudo, ela e familiares (os avs, primos e tios) moram muito distantes da capital. Segundo ela, anteriormente minha me me forava ir para l (sua cidade natal) Agora que arrumei namorado na cidade, ela no quer que eu v. Ela usa uma aliana de compromisso. Ao chegar em sua cidade Rebeca prefere ficar com o namorado na cidade ficar na fazenda com sua famlia, o que agrava ainda mais o relacionamento com sua me. Segundo ela, fica hospedada na casa de uma tia que mora na
96 cidade para ter mais tempo com o namorado. Depois do incio do namoro seus estudos vo mal e disse estar desinteressada pelo curso. Meu desejo era ficar no interior com o namorado. (...) difcil ficar indo e voltando. Eu queria ficar l com ele. Parece que seu relacionamento tambm tem a marca desse vai-e-vem. Por mim, ficaria por l mesmo. Evidentemente, as coisas na vida de Rebeca esto diferentes. Ela diz que no se preocupava com nada, agora est muito angustiada. E segundo Rebeca eu no sei o motivo. (...) Quando fico angustiada eu comeo a comer. Eu no sou do tipo que fica triste e pra de comer. A que eu comeo a comer, eu nem vejo. Por isso chegou a iniciar uma psicoterapia, o que no deu certo. Segundo Rebeca os psiclogos no eram especialistas no assunto. Fico pensando em qual assunto? Ser sobre o assunto me e filha? Em que a me, ou nenhuma figura importante participe da sua vida, j que todas as decises ela toma mesmo sozinha? Atualmente ela se encontra sofrendo. Estou angustiada com tudo. (...) s como e choro. E acrescenta: ainda no tomei as medidas compensatrias (...) isso [o choro] no me traz nenhum benefcio. Parece que no caso de Rebeca nenhuma medida, nenhuma medida compensatria, nem a mais extrema, fez que algum escutasse seu sofrimento.
97 CAPTULO 6 ANLISE DAS ENTREVISTAS
6.1. Sra. Ana, um discurso plstico.
Percebemos no discurso dos sujeitos um modo particular de falar sobre a autoconfiana. Parece que era necessrio retirar (cortar) alguma coisa da sua histria, talvez o curso mesmo da histria, por si mesmos, para que houvesse um ganho que agora valeria a pena. O termo desconfiada na fala da Sra. Ana faz eco na escuta do entrevistador que se questiona em quais pessoas ela confia. Assim como da escuta (con)vencer, me questiono sobre a fiana que ela d a si mesma ...Foi uma deciso minha, totalmente minha e que ela comea a fiar, dever ou tecer sua prpria identidade, sua prpria vida. Ela relata que no percebeu emagrecer, e me parece que ela no est atenta ao seu corpo, e sim ao que a deciso da cirurgia significa para ela. Ela descobre que pode controlar a sua vida, suas vontades, seu corpo, mas no o faz; ela precisa que o entrevistador seja fiador do seu sucesso, de como foi fcil, de como foi maravilhoso, foi muito bom. Ela entra em uma lua-de-mel com a cirurgia e fica presa a, sem perceber que nada mudou, ... sou a mesma pessoa. A satisfao expressa pela Sra. Ana a de ter conseguido tomar uma deciso por si mesma. Embora ela insista em dizer que ela se sente muito satisfeita, que foi tudo maravilhoso, ela diz que ainda se enxerga gorda. Ela se compara a sua colega de trabalho que tambm fez a cirurgia de reduo do estmago. Contudo, ela diz eu cortei,
98 eu arrochei, como uma tentativa de marcar uma mudana em sua vida, marcar um corte que parece no ter ocorrido. Durante a entrevista no fica claro o motivo que a levou a fazer a cirurgia. Em seu discurso no h associaes, ele se constitui como um discurso vazio e ao mesmo tempo plstico, como que preparado, cuidadosamente elaborado, como se quisesse vender algo, vender uma imagem. A Sra. Ana modela um discurso para formar opinio, para com-vencer que ela agora uma outra pessoa. O que na verdade me faz questionar sobre suas reais mudanas. O desejo dela est hipotecado no imaginrio. Ela chega a ponto de fazer uma cirurgia de estmago (um corte, uma ruptura) no por questo de peso, mas sim pela satisfao em fazer algo de si mesma, por si prpria. Ela no percebe que est emagrecendo, em sua cabea a roupa da vitrine era pequena... e s com a insistncia (ou seja, com a fiana) da vendedora da loja de roupas que ela passa a reconhecer que no est mais gorda, que talvez algo mudou em sua vida. H diferena entre aquilo que ela aparenta, talvez fosse melhor dizer, h uma diferena entre aquilo que ela me apresenta e aquilo que ela expressa de si no discurso que tece (fia). Ela me diz que est muito satisfeita... e que nunca se sentiu to bem. Mas, ela no sabe dizer, por si mesma e a si mesma que est feliz. Na dvida ela me pergunta: no para ficar feliz? Parece que no. Parece que ela no est feliz e mais uma vez ela pede meu abono, minha fiana, querendo assim se com-vencer que est feliz. A mudana fsica inevitvel, hoje est mais magra. Contudo, o seu afeto no encontrou as coordenadas para a mudana. Na verdade parece mesmo usar do corpo para encobrir o afeto, o que no fala, o que no demonstra. Criando uma mscara, uma
99 plstica, para que no entre em contato com seu afeto. As pessoas lhe cobram para fazer plstica, mas ela no quer fazer, eu estou feliz com meu corpo atual, estou feliz assim, eu no vou fazer cirurgia plstica..., ela j tem a sua plstica. Dessa forma, parece que seu desejo encontra-se em suspenso. Est pendente, dependente da fiana do Outro. A cirurgia no trouxe a mudana esperada, no em sua subjetividade. E por isso ela cria um discurso para convencer, para aparentar, e se apresentar, fica sempre um subentendido, um como se... O que no deixaria de ser uma forma de negao. De negar o confronto com seu desejo, com a falta. O seu caminho, a sua travessia, encontra-se sustada, parada, ainda no resolvida apesar do corte da cirurgia. No por acaso que, ao ser interrogada se a cirurgia mudou algo em sua vida, ela me responde que no, que ela a mesma pessoa.
6.2. Sra. Marta ou no quero mais esse fardo.
A anlise do discurso dos sujeitos parece indicar que em nenhum caso a deciso de fazer a cirurgia foi motivada puramente por uma questo de sade, devido a uma recomendao mdica. A cirurgia da Sra. Marta no foi motivada por uma questo esttica, de insatisfao com seu corpo, ou puramente por questo de sade. Parece mais uma tentativa de mudana, de mudar a sua prpria identidade. Ou seja, uma mudana quanto a quem , o que parece ser referente ao que o significante ser gordinha a enviava. As suas palavras mostram toda sua angstia em carregar esse fardo, esse peso demasiado, e mesmo que seja dado por Deus... ela poderia no suportar. Se, como ela
100 diz, Deus que nos d o fardo que a gente pode carregar, parece que ela no quer mais carreg-lo. Sobretudo, porque nesse caso ser gorda coisa de famlia, coisa da famlia de seu ex-marido. Aqui em casa todo mundo gordinho, todo mundo gordinho como na famlia do pai dela. Famlia de seu ex-marido, pai de sua filha. Mesmo que na casa dela todo mundo seja gordinho, como ela poderia continuar a ser gordinha, continuar com aquele fardo se agora ele (o ex-marido) tem outra famlia? Fardo um peso que se custa a suportar, o que impe uma responsabilidade, e a Sra. Marta parece no querer mais assumir essa responsabilidade..., e continua, Deus que me d foras para superar isso. Superar a ausncia do marido, superar sua falta. J se passaram dez meses da cirurgia, e no discurso da Sra. Marta, ela coloca que ainda estou gordinha, mas pelo o que eu estava, j mudei muito.... Mudou sua identidade, mudou sua vida. No mais casada, agora divorciada. Identificada sua excunhada ela vive sozinha, solteira. Elas so como amigas, como confidentes, como irms. Sua ex-cunhada que a encorajava... e por quem ela tem muita estima. Contudo, a cirurgia de reduo do estmago para a Sra. Marta parece significar mais que a pura perda de peso, de gordura. Trata-se de um regime forado, que como ela diz no fcil. Ou seja, foi uma mudana na forma de reger a vida, uma mudana na maneira de viver, mesmo que no incio a gente pensa que vai ficar louca. Mas, eu me pergunto por que ela ficaria louca? Ser porque o difcil passar vontade?; de desejar sem poder ter o objeto? Talvez seja por isso que a Sra. Marta me diz que para amenizar a vontade a gente inventa de tudo. Mesmo que esse fardo dado por Deus ainda continue a pesar em sua vida.
101 6.3. Lurdes: a bela adormecida ou o prncipe que virou sapo.
Nota-se que sob condio de um luto, de uma perda, que quase a leva morte e que a faz sofrer muito, que Lurdes vai falar durante toda sua entrevista. Ela ficou entre a vida e a morte, permaneceu, ao que me parece ainda permanece, num luto interminvel em que eu sentia muitas dores, sobretudo enquanto estava acordada. Ser preciso ento adormecer, ficar desacordada, para no sofrer mais? Lurdes se lembra que sempre foi uma mulher bonita e vaidosa e que sempre foi elogiada e desejada. Contudo, mesmo que ela seja uma mulher bonita e desejada, formada na faculdade de medicina, ela se casa com o namorado do tempo de faculdade, um rapaz do interior que cuida da fazenda. Parece que ela sabia dos riscos; riscos da cirurgia, riscos do casamento, pois foi depois da separao (perda do objeto de amor?) que ela comea a engordar e ...sua vida parou. Ela se questiona, por que isso foi acontecer comigo? Por que logo ela que era bonita e desejada, bem instruda, foi cair adormecida (ficar em coma) por meses? Ao ter a oportunidade de falar da experincia da cirurgia, Lurdes expressa seu sofrimento, e isto permitiu a insero de sua histria na narrativa em que sua cadeia associativa aponta para uma perda, para um luto em torno de um objeto para sempre amado, odiado e perdido. Ela relata que quer mudar tudo isso, que como mdica sabia dos riscos, mas vai ficar muito tempo adormecida, presa em seu sintoma, no por acaso que ela vai me dizer que at hoje eu no arrumei outro namorado. Ser por que a sombra de seu amor, do objeto para sempre amado, odiado e perdido, ainda permanece sobre ela? Ser por que
102 ela ainda se encontra identificada ao objeto? Mesmo que ela reconhea que ficou muito tempo adormecida, ela parece ainda permanecer identificada ao objeto, sem fazer esse luto, ela permanece desacordada sem saber como deixou que a situao chegasse a esse ponto. No seu discurso Lurdes nunca aceitou engordar, desde que comeou a engordar sua vida parou. No parou porque engordou, parou devido a uma perda. Ela deixa de sair, ela no tem nimo para mais nada, ela deixa de ser vaidosa, e a famlia, os seus amigos mdicos, todos a instruram a fazer uma dieta, a controlar o que ingeria. Mas ela est tomada pelo Outro. Teve momentos que perdi minha lucidez. Perdeu a lucidez e j no conseguia enxergar que o Prncipe Encantado virou Sapo. Apesar de Lurdes ainda estar em recuperao, e visivelmente abatida, ela me diz que faria tudo de novo. Talvez mesmo at morrer pelo objeto.
6.4. Rebeca, ou idas e vindas... e vai-e-vem.
Rebeca dir suas angstias sob o significante de um movimento de vai e vem. Sobre as idas e vindas de cidades, sobre as idas e vindas de seus pais, de seu peso, de sua angstia... e dos quais muito doloroso falar. Ela achou que ia se recuperar logo, e no imaginava que ia ser assim; mas, ser assim como? Ser um assim um processo de adaptao penoso, doloroso e confuso? O processo de adaptao que ela fala no o da cirurgia, mas ela fala de sua vida, de seus relacionamentos.
103 J no incio da entrevista ela me adianta que no est adaptada, parece no estar adaptada s mudanas em sua vida, ao seu movimento de vai e vem. Ela jovem, tem vinte e um anos, e faz a cirurgia pensando que tudo vai melhorar, entretanto agora tudo est diferente depois dela. Est diferente porque ela j no mais criana, ela j no mais a criana mimada, que ela um dia acreditou ser? Ela j no pode ser indiferente ao que acontece com ela. Ela diz que sempre teve tudo o que queria, que foi muito mimada, mas no seu discurso no parece ter sido assim. Ter tudo, poder fazer tudo o que quisesse, sem limite, sem ser contestada, era o mesmo que no ter nada, no ter a presena de seus pais. Sua me nunca diz nada... nunca opinou muito. No por acaso que, mesmo que tenha a presena fsica de pessoas como a av e os primos, ela ainda se sente sozinha. Ela no est completa, no est feliz, no tem a companhia, no tem a presena da pessoa esperada, desejada. Ao falar de seu pai ela evoca uma lembrana, a lembrana dos pratos deliciosos que ele sempre lhe preparava todas s noites. Relao essa cortada devido s necessidades de trabalho, devido s idas e vindas do casamento de seus pais, devido ausncia de seus pais. Rebeca encontra dificuldade de se adaptar cirurgia, ela me relata que seu peso est um vai e vem como foi sua vida, como foi a relao de seus pais e como foi a sua relao com seus pais. Como ela diz: difcil ficar indo e voltando, e completa, por mim, ficaria por l mesmo. Ela no consegue controlar o peso, muito menos as brigas com sua me que agora est aposentada e passa mais tempo com ela. Ela no sabe o motivo, mas agora est angustiada com tudo e s come e chora. Ela me diz que ainda no tomou as medidas compensatrias, contudo, eu fico pensando se a cirurgia de reduo do estmago no veio ser uma medida, uma medida compensatria para aliviar seu sofrimento?
104 CAPTULO 07 CONSIDERAES FINAIS
Com o corpo, sempre questo de desejo.
Com o corpo, sempre questo de sujeito, e com o corpo, sempre questo de identidade. Franois Perrier
Todo e qualquer sofrimento s existe quando o experimentamos. E que no se negligencie que ns s podemos experimentar o sofrimento devido a certas faculdades de nosso corpo. Contudo, ns s temos acesso s nossas sensaes e experincia, e, essas, so sobredeterminadas. Como aponta Del Volgo (1998), com relao ao outro, pessoa que nos fala sobre seu sofrimento, ns s temos acesso de forma indireta, sob a forma de fatos de linguagem, ou seja, atravs da fala. Dito isso, toda pesquisa em clnica tem como reflexo o prprio dispositivo de pesquisa. Ou seja, o que aconteceu nessa situao a dois, nessa situao de pesquisa que se revela como teraputico, e que pode revelar o sujeito. A ocasio de uma preocupao corporal, como no caso da cirurgia de reduo do estmago, pode se tornar um estmulo indutor de uma narrativa pelo sujeito, mas que todo seu relato fica condicionado desde o incio capacidade de escutar, aos atos, que so atos de linguagem do prprio interlocutor, que nesse caso o prprio pesquisador. No final das contas, o propsito instituir que, quando escutamos algum, convm em primeiro lugar ouvi-lo. (Del Volgo, 1998, p. 178).
105 Embora a questo da pesquisa em Psicanlise seja objeto de polmica, qualquer mtodo ou percurso escolhido deve procurar levar em considerao o fundamento mesmo da prtica (ou da tcnica) psicanaltica, a transferncia. Assim, para Gori (1998) a transferncia o corao do dispositivo de escuta. No se trata da anlise do material escrito, mas da experincia com o sujeito de maneira que distores subjetivas, omisses, reflexes posteriori, de ambos os protagonistas se fazem presentes. Os acontecimentos aqui relatados, e que so fatos lingsticos, no tm a menor possibilidade de serem descritos com palavras de maneira inequvoca. Toda a origem de nossa reconstruo pertence unicamente a esse momento, ao momento da pesquisa. Como aponta Del Volgo (1998), a reconstruo do passado pertence unicamente ao paciente. (p.181) Dentro dessa perspectiva, a construo de uma narrativa sobre seu sofrimento, quando acolhida dentro de um dispositivo de escuta, pode se tornar o fio condutor dos contedos inconscientes. A interpretao do relato da entrevista em clnica somente pode ser validada dentro de um contexto intersubjetivo (Stein, 1988). Cada palavra, cada sonoridade s adquire sentido na situao de entrevista. Cada palavra pronunciada, cada gesto, cada interveno, tem sua determinao no discurso do entrevistado. Como aponta Gori (1998a), o material a ser analisado so os efeitos do discurso desses pacientes sobre a escuta do analista (p. 62). Assim, por analogia, os efeitos do discurso dos entrevistados no entrevistador. Mediante ao instante de dizer (Del Volgo, 1998), abre-se uma possibilidade ao sujeito de historicizar seu sofrimento, pela associao livre. Ou seja, como coloca a autora, oferece-se a ocasio para que os traos mnsicos e o corpo sexual infantil possam se dizer no discurso associativo do sujeito.
106 A atualidade do discurso dos entrevistados nos permite dizer que cada sujeito de um modo particular vai falar sobre o seu sofrimento. Parece que para os sujeitos foi necessrio retirar (cortar) alguma coisa da sua histria, talvez o curso mesmo da histria, por si mesmos, para que houvesse um ganho que agora valeria a pena. Um ganho de uma outra vida, de uma outra maneira de viver. O impacto de uma interveno que visa o corte, a retirada de uma parte de sua histria. No se trata, como no caso da doena, de um sujeito doente que clama ao seu mdico que lhe restitua o estado de sade anterior. Mas trata-se de um desejo de promover um novo estado de coisas, uma nova vida, em alguns casos, at uma mudana de identidade. Mais uma vez, a anlise do discurso dos sujeitos parece indicar que a deciso de fazer a cirurgia no foi motivada puramente por uma questo de sade, menos ainda devido a uma recomendao mdica. No por acaso que, a partir da anlise do material de pesquisa, fica a impresso que a ocasio de uma interveno corporal, que mobiliza o afeto de angstia, que mobiliza o desejo, o que esconde e camufla esse desejo. O corpo eleito para manter longe da conscincia esse desejo, mantido em seu discurso sob o disfarce de uma queixa fsica. A angstia mobilizada na ocasio do pedido, na ocasio da solicitao de uma interveno corporal (que nesse caso parte da prpria pessoa, do prprio sujeito que recorreu cirurgia de reduo do estmago), bem como no momento em que solicitado ao sujeito falar (entrevista), falar de sua experincia, de seu sofrimento, ou seja, no momento em que ele dirige sua fala ao pesquisador. Como aponta Del Volgo (1998), tanto a angstia somtica, (despertada por uma representao inconsciente), quanto um contedo representativo (que desencadearia a angstia), participam das formaes psquicas dos sujeitos que encontram atravs de um relato de sua histria, que nica e particular, a maneira de se dizer.
107 A cirurgia se mostra como mais uma tentativa de mudana, de mudar a sua prpria identidade. Ou seja, uma mudana quanto ao que o sujeito , quanto ao que o significante ser gordinha o envia, o remete, enquanto representao, enquanto afeto. Como foi dito na entrevista, a cirurgia de reduo do estmago constitui-se num verdadeiro regime forado. Mas no do regime fsico, da perda de peso que os sujeitos falam, mas do regime de suas vidas, na mudana na forma de reger a sua vida, na maneira de viver e principalmente de se relacionar com o Outro. Contudo, devemos manter a cautela por no estarmos habilitados a dizer que fazer a cirurgia de reduo do estmago necessariamente promove uma mudana na identidade das pessoas. Mas podemos formular uma hiptese que a cirurgia pode se constituir como uma via para o sujeito, uma via imaginria, de uma mudana em sua vida, em sua identidade, que pode no se concretizar. A mudana no corpo, nas dimenses do corpo pode ser idealizada como uma via concreta, materializada, de uma verdadeira reconstruo da vida. No por acaso que os sujeitos parecem demandar a cirurgia sem um real desejo de emagrecer. Os sujeitos tecem um discurso, fiam a rede de significados que vem dar-lhes uma resposta, de uma construo via regresso de sua prpria histria e que nesse caso, de forma radical, trata-se de um verdadeiro corte em suas histrias. Se a experincia humana com o desejo uma experincia trgica, de uma tentativa, repetitiva de adaptao possvel, de uma tentativa de conciliao frustrada, impossvel, ento a cirurgia pode oferecer a oportunidade de o sujeito constatar um investimento, de constatar seu desejo, sem que saiba sua verdadeira gnese. Ele se coloca a
108 questionar, a se confrontar com sua falta, com seu desejo, e portanto, com essa outra histria.
109 BIBLIOGRAFIA
Almeida, B. de & Ferrira, S. R. G. (2005). Epidemiologia. Em A. de M. Claudino & M. T. Zanella (Orgs.), Guia de Transtornos Alimentares e Obesidade (pp. 185-194). Barueri, SP: Editora Manole. Almeida, S. de S., Nascimento, P. C. B. D. & Quaioti, T. C. B. (2002). Quantidade e qualidade de produtos alimentcios anunciados na televiso brasileira. Revista de Sade Pblica, 36 (3), 353-355. Anzieu, D. (2000). O eu-pele. So Paulo, SP: Casa do Psiclogo. ries, P. & Duby, G. (1992). Histria da vida privada: da primeira guerra a nossos dias. So Paulo, SP: Companhia das Letras. Associao Americana de Psicologia (1995). Manual diagnstico e estatstico dos transtornos mentais. (4 edio). So Paulo, SP: Artes Mdicas. Bauman, Z. (1998). O mal-estar da ps-modernidade. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar Editor. Berlink, M. T. (2000). Psicopatologia fundamental. So Paulo, SP: Escuta. Bruno, C. A. N. B. (2003). Consideraes sobre os distrbios alimentares a partir da teoria psicanaltica. Em R. M. Volich, F. C. Ferraz & W. Rana (Orgs.), Psicossona III: interfaces da psicossomtica (pp. 159-170). So Paulo, SP: Casa do Psiclogo. Birman, J. (2000). Mal-estar na atualidade: a psicanlise e as novas formas de subjetivao. Rio de Janeiro, RJ: Civilizao Brasileira. Campos, D. T. F. (2006). Metforas na fala do paciente: analogia cognitiva ou equivocidade sonora? Revista Brasileira de Psicoterapia, 8, 39-45. Campos, D. T. F. & Campos, P. H. F. (2004, setembro). Obesidade: estrutura psicopatolgica ou modalidade moderna de expresso de diferentes subjetividades? Trabalho apresentado no I Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e VII Congresso Nacional de Psicopatologia Fundamental, Rio de janeiro, Rio de Janeiro. Centers for Disease Control and Prevention (1996). National Center for Health Statistics. Analytic and Reporting Guidelines: Third National Health and Nutiotion Examination Survey Data (NHANES III/ 1989-1994). Hyattsville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, CDC.
110 Coutinho, W. (1998). Obesidade: Conceitos e classificao. Em M. A. Nunes, U. C. Appolinrio, A. L. G. Abuchain, W. Coutinho e colaboradores. Transtornos alimentares e obesidade (pp. 197-202). Porto alegre, RS: Artmed. Czeresnia, D. (2001). Constituio epidmica: velho e novo nas teorias e prticas da epidemiologia. Histria, Cincia e Sade Manguinhos, 7(2), 341-356. Dejours, C. (1998). Biologia, psicanlise e somatizao. Em R. M. Volich, F. C. Ferraz & M. A. de A. C. Arantes (orgs.), Psicossoma II: psicossomtica psicanaltica (pp. 3950). So Paulo, SP: Casa do Psiclogo. Del Volgo, M.-J. (1998). O instante de dizer: o mito individual do doente sobre a medicina moderna. So Paulo, SP: Escuta, Goinia, GO: Ed. da UCG. Enriquez, E. (1991). Da horda ao estado: psicanlise do vnculo social. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar Editor. Felippe, F. M. L. (2004). O peso social da obesidade. Comunicao e Sade: Revista digital, 1 (1). Felippe, F. & Santos, A. M. dos (2004). Novas demandas profissionais: obesidade em foco. Revista da ADPPUUCRS, 5, 63-70. Fdida, P. (1998). Em torno da causalidade e da causalidade psquica. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 1(3), 52-75. Filho, F. F. R. (2005). Avaliao clnica. Em A. de M. Claudino & M. T. Zanella (Orgs.), Guia de Transtornos Alimentares e Obesidade (pp. 227-234). Barueri, SP: Editora Manole. Ferreira, V. A. & Magalhes, R. (2005). Obesidade e pobreza: o aparente paradoxo. Um estudo com mulheres da Favela da Rocinha, Rio de Janeiro, Brasil. Cadernos de Sade Pblica, 21(6), 1792-1800. Flegal, K. M.; Graubard, B. I.; Williamson, D. F. & Gail, M. H. (2005). Excess Deaths Associated With Underweight, Overweight, and Obesity. Journal of American Medical Association, 293, 1861-1867. Freud, S. (1895/2004). Estudos sobre a histeria. Em Edio Standard das Obras Completas de Sigmund Freud. Vol. II. Rio de Janeiro, RJ: Imago, p.13-316. _____. (1900/2004). A interpretao dos sonhos (primeira parte). Em Edio Standard das Obras Completas de Sigmund Freud. Vol.IV. Rio de Janeiro, RJ: Imago, p.11-363. _____. (1905/2004). Trs ensaios sobre a teoria da sexualidade. Em Edio Standard das Obras Completas de Sigmund Freud. Vol.VII. Rio de Janeiro, RJ: Imago, p.119-231.
111 _____. (1911/2004). Formulaes sobre os dois princpios do funcionamento mental. Em Edio Standard das Obras Completas de Sigmund Freud. Vol. XII. Rio de Janeiro, RJ: Imago, p.233-245. _____. (1914/2004). Sobre o narcisismo: uma introduo. Em Edio Standard das Obras Completas de Sigmund Freud. Vol. XIV. Rio de Janeiro, RJ: Imago, p.77-109. _____. (1915/2004). Os instintos e suas vicissitudes. Em Edio Standard das Obras Completas de Sigmund Freud. Vol. XIV. Rio de Janeiro, RJ: Imago, p.117-144. _____. (1916-1917[1915-1917]/2004). Conferncias introdutrias. Em Edio Standard das Obras Completas de Sigmund Freud. Vol. XV. Rio de Janeiro, RJ: Imago, p.13230. _____. (1920/2004). Alm do princpio de prazer. Em Edio Standard das Obras Completas de Sigmund Freud. Vol. XVIII. Rio de Janeiro, RJ: Imago, p.13-77. _____. (1923/2004). O ego e o id. Em Edio Standard das Obras Completas de Sigmund Freud. Vol. XIX. Rio de Janeiro, RJ: Imago, p.15-80. _____. (1940[1938/2004). Esboo de psicanlise. Em Edio Standard das Obras Completas de Sigmund Freud. Vol. XXIII. Rio de Janeiro, RJ: Imago, p.157-185. _____. (1930[1929/2004). O mal-estar na civilizao. Em Edio Standard das Obras Completas de Sigmund Freud. Vol. XXI. Rio de Janeiro, RJ: Imago, p.67-150. Giddens, A. (1991). As conseqncias da modernidade. So Paulo, SP: Editora UNESP. Gigante, D. P.; Barros, F. C.; Post, C. L. A. & Olinto, M. T. A. (1997). Prevalncia de obesidade em adultos e seus fatores de risco. Revista Sade Pblica, 31(3), 236-246. Gori, R. (1998a). A prova pela fala. So Paulo, SP: Escuta, Goinia. GO: UCG. Gori, R. (1998b). A paixo da causalidade: uma fala em causa? Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, I(2), 59-84. Gusmo, M. H. (2002). Os transtornos e as dificuldades da alimentao. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 5(1), 44. Halpern, A. (1998). Obesidade: consideraes teraputicas. Em G. Medeiros-Neto (org.) Obesidade: uma nova fronteira metablica (pp. 160-165). So Paulo, SP: Ach. Halpern, A & Mancini, M. C. (1999). Como diagnosticar e tratar a obesidade. Revista Brasileira de Medicina, 56, 131-140.
112 Halpern, A & Mancini, M. C. (2000). O tratamento da obesidade no paciente portador de hipertenso arterial. Revista Brasileira de Hipertenso, 07 (2), 166-171. Halpern, A & Mancini, M. C. (2002). Manual de obesidade para o clnico. So Paulo, SP: Roca. International Association for the Study of Obesity IASO (2002). Obesity: newsletter. Vol 4, ISSUE 1. Lacan, J. (1972-73/1985). Mais, ainda. Seminrio XX. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar. (2ed.) Loli, M. S. A. (2000). Obesidade como sintoma. So Paulo, SP: Vetor. Martins, F. (1999). O que pathos? Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental, 2(4), 62-80. Martins, F. (2002). O complexo de dipo. Braslia, DF: Editora da UnB. Martins, F. (2003). Psicopathologia II: Semiologia Clnica: Investigao terico clnica das sndromes psicopatolgicas clssicas. Braslia, DF: Editora da UnB. Martins, F. (2005). Psicopathologia I: Prolegmenos. Belo Horizonte, MG: PUC-Minas. Melo, A. L. C. C. (2001) Uma expresso do corpo em tempos de fast-food: elementos depressivos e manacos na obesidade. Dissertao de mestrado, UCG. Mark, D. H. (2005). Deaths Attributable to Obesity. Journal of American Medical Association, 293, 1918-1919. Mendes, M. J. F. de L.; Alves, J. G. B.; Alves, A. V Siqueira, P. P. & Freire, E. F. de C. (2006). Associao de fatores de risco para doenas cardiovasculares em adolescentes e seus pais. Revista Brasileira de Sade Materno Infantil, 6(1), 49-54. Mendona, C. P. & Anjos, L. A. dos (2004). Aspectos das prticas alimentares e da atividade fsica como determinantes do crescimento do sobrepeso/obesidade no Brasil. Cadernos de Sade Pblica, 20(3): 698-709. Souza, M. L. de (1998). Psicossomtica, uma sada fora da estrutura Revista LatinoAmericana de Psicopatologia Fundamental, 1(1), 141-150. Monteiro, C. A. (1999). Epidemiologia da obesidade. Em A. Halpern, A. F. G. Matos, H. L. Suplicy, M. C. Mancini & T. Zanella (orgs.) Obesidade (pp. 15-30). Porto Alegre: Lemos.
113 Monteiro, C. A.; Conde, W. L. & Castro, I. R. R. de (2003). A tendncia cambiante da relao entre escolaridade e risco de obesidade no Brasil (1975-1997). Cadernos de Sade Pblica, 19(1), 67-75. Nasio, J.-D. (1997). Lies sobre os sete conceitos cruciais da Psicanlise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar Editor. Neves, S. M. R. (1998). Introduo: breve panorama histrico da psicossomtica psicanaltica. Em R. M. Volich, F. C. Ferraz & M. A. de A. C. Arantes (orgs.), Psicossoma II: psicossomtica psicanaltica (pp. 35-38). So Paulo, SP: Casa do Psiclogo. Paiva, L. M. & Silva, A. M. A. P. N. (1994). Medicina Psicossomtica: psicopatologia e teraputica. So Paulo: Artes Mdicas. Pi-Sunyer, F. X. (1991). Health implications of obesity. American Journal of Clinical Nutrition, 53(Suppl): 1595-1603. Rankinen, T.; Prusse, L.; Weisnagel, S. J.; Snyder, E. E. ; Chagnon, Y. C. & Bouchar, C. (2002). The Human obesity gene map: the 2001 update. Obesity Research, 10, 196243. Revista Veja (2002). Entrevista com Philip James (ed.1766). Salve, M. G. C. (2006). Obesidade e peso corporal: riscos e conseqncias. Movimento e Percepo, 6 (8), 29-48. Serra, G. M. A. & Santos, E. M. dos (2003). Sade e mdia na construo da obesidade e do corpo perfeito. Cincia e Sade Coletiva, 8(3): 691-701. Schiller, P. (2003). As psicossomticas. Em R. M. Volich, F. C. Ferraz & W. Rana (orgs.), Psicossoma III: interfaces da psicossomtica (pp. 27-32). So Paulo, SP: Casa do Psiclogo. Stein, C. (1988). O psicanalista e seu ofcio. So Paulo, SP: Escuta. Uehara, M. H. & Mariosa, L. S. S. (2005). Etiologia e Histria Natural. Em A. de M. Claudino & M. T. Zanella (Orgs.), Guia de Transtornos Alimentares e Obesidade (pp. 195-202). Barueri, SP: Editora Manole. Volich, R. M. (1998). Fundamentos psicanalticos da clnica psicossomtica. Em R. M. Volich, F. C. Ferraz & M. A. de A. C. Arantes (orgs.), Psicossoma II: psicossomtica psicanaltica (pp. 17-34). So Paulo, SP: Casa do Psiclogo. Volich, R. M. (2000). Psicossomtica: de Hipcrates psicanlise. So Paulo, SP: Casa do Psiclogo.
114 Volich, R. M. (2003). O eu e o outro: esboo de uma semiologia Em R. M. Volich, F. C. Ferraz & W. Rana (orgs.), Psicossoma III: interfaces da psicossomtica (pp. 309325). So Paulo, SP: Casa do Psiclogo. World Health Organization (2000). The World Health Report: Health System: Improving. Thecnical Report Series, Geneva: WHO. World Health Organization (2002). Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: Thecnical Report Series, 916. Geneva: WHO.
Você também pode gostar
- AIDI Caderno de Mapas FINAL (Junho2015) - 1Documento79 páginasAIDI Caderno de Mapas FINAL (Junho2015) - 1Benedito Nicolau100% (5)
- Enfermagem No Pos Operatorio em UtiDocumento67 páginasEnfermagem No Pos Operatorio em UtiCafe com inglesAinda não há avaliações
- Química Orgânica - APS 2021Documento2 páginasQuímica Orgânica - APS 2021Luise SantosAinda não há avaliações
- Transtorno de Deficit de Atenção Com HiperatividadeDocumento3 páginasTranstorno de Deficit de Atenção Com HiperatividadeKarine BortoliAinda não há avaliações
- 64 Cuidados de Enfermagem para o Periodo Pos Operatorio Imediato e Mediato PDFDocumento3 páginas64 Cuidados de Enfermagem para o Periodo Pos Operatorio Imediato e Mediato PDFTereza Cristina SilvaAinda não há avaliações
- Revisao EnadeDocumento27 páginasRevisao EnadeCarlos AlbertoAinda não há avaliações
- Resumo NeuropsicologiaDocumento5 páginasResumo NeuropsicologiaVitor GabrielAinda não há avaliações
- Efeitos Da Ventosaterapia No Tratamento Da Lombalgia Idiopática Crônica em Adultos Uma Revisão IntegrativaDocumento8 páginasEfeitos Da Ventosaterapia No Tratamento Da Lombalgia Idiopática Crônica em Adultos Uma Revisão IntegrativaLudmila LemosAinda não há avaliações
- Atenção Integral À Saúde Da Criança e Do AdolescenteDocumento47 páginasAtenção Integral À Saúde Da Criança e Do AdolescenteAnderson Paz100% (1)
- Padrões Físicos Inadequados Na Performance Musical de Estudantes de ViolinoDocumento170 páginasPadrões Físicos Inadequados Na Performance Musical de Estudantes de ViolinoFausto CaetanoAinda não há avaliações
- Para Os Formandos - Descodificacao-De-CLC2Documento28 páginasPara Os Formandos - Descodificacao-De-CLC2olfigueira9795Ainda não há avaliações
- Pedido Abérico DomingosDocumento2 páginasPedido Abérico DomingosAlbérico Filho Domingos FilhoAinda não há avaliações
- Ltcat 2015Documento292 páginasLtcat 2015Evandro BetoniAinda não há avaliações
- Introdução ANSILITOSDocumento8 páginasIntrodução ANSILITOSAvelino AugustoAinda não há avaliações
- Carta Dos Secretários Estaduais de Saúde À Nação BrasileiraDocumento2 páginasCarta Dos Secretários Estaduais de Saúde À Nação BrasileiraMetropolesAinda não há avaliações
- Pop 019 Administração de Medicamento Via EndovenosaDocumento11 páginasPop 019 Administração de Medicamento Via EndovenosaMônica AndradeAinda não há avaliações
- 530.18 LAMINA NARINGENINA PreviewDocumento2 páginas530.18 LAMINA NARINGENINA PreviewceliceliceliAinda não há avaliações
- Notas Otologia PDFDocumento36 páginasNotas Otologia PDFMarcus OshioAinda não há avaliações
- Hanseniase Protocolo de AtendimentoDocumento38 páginasHanseniase Protocolo de AtendimentoJulia PiresAinda não há avaliações
- Doenca Coronariana Romulo PassosDocumento21 páginasDoenca Coronariana Romulo PassosGermania OliveiraAinda não há avaliações
- Abril Verde-Al: Pela Saúde E Segurança No TrabalhoDocumento34 páginasAbril Verde-Al: Pela Saúde E Segurança No TrabalhoAngleson FerreirasAinda não há avaliações
- Ebola Virus PPT - PPTX 2.Pptx AtualizadoDocumento22 páginasEbola Virus PPT - PPTX 2.Pptx AtualizadoMariana BorgesAinda não há avaliações
- Yoga para AnsiedadeDocumento5 páginasYoga para AnsiedadeLuis Antonio LemesAinda não há avaliações
- PEELING QUIMICO IndicacoesDocumento29 páginasPEELING QUIMICO IndicacoesVanessa LimaAinda não há avaliações
- Doiufrgs,+002 REVISTA+ODONTO+V61+N1Documento7 páginasDoiufrgs,+002 REVISTA+ODONTO+V61+N1Iago DemetrioAinda não há avaliações
- Segurança e Meio Ambiente Aula 01Documento24 páginasSegurança e Meio Ambiente Aula 01Samuel QueirozAinda não há avaliações
- Estudos Disciplinares XDocumento6 páginasEstudos Disciplinares XDayse100% (3)
- Familiar Actualizado1111111111111Documento37 páginasFamiliar Actualizado1111111111111Albertson DalahAinda não há avaliações
- Revisão para o OSCE - Parte I - Slides (1)Documento71 páginasRevisão para o OSCE - Parte I - Slides (1)mavi5semestreAinda não há avaliações
- Me Pratica Integrada Do CuidarDocumento3 páginasMe Pratica Integrada Do CuidarJak SilvaAinda não há avaliações