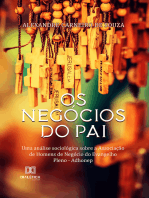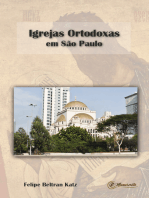Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Livro - Sindicato de Mágicos
Livro - Sindicato de Mágicos
Enviado por
prdeleimgaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Livro - Sindicato de Mágicos
Livro - Sindicato de Mágicos
Enviado por
prdeleimgaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
WANDER DE LARA PROENA
SINDICATO DE MGICOS:
Uma histria cultural da Igreja Universal do Reino de Deus (1977-2006)
Tese apresentada a Faculdade de Cincias e
Letras de Assis UNESP Universidade
Estadual Paulista para a obteno do titulo
de Doutor em Historia (Area: Historia e
Sociedade)
Orientador: ProI. Dr. Milton Carlos Costa
ASSIS
2006
Proena, Wander de Lara
Sindicato de Magicos: uma historia cultural da Igreja Universal do Reino
de Deus (1977-2006). Wander de Lara Proena. Assis, 2006.
374p.
Tese Doutorado Faculdade de Cincias e Letras de Assis
Universidade Estadual Paulista.
1. Brasil Religiosidade 2. Igreja Universal do Reino de Deus 3. Historia
Cultural 4. Sindicato de Magicos 5. Roger Chartier - Representaes 6.
Sociologia Pierre Bourdieu.
CDD 289.94
WANDER DE LARA PROENA
SINDICATO DE MGICOS: UMA HISTRIA CULTURAL DA IGRE1A
UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (1977-2006)
COMISSO JULGADORA
TESE PARA OBTENO DO GRAU DE DOUTOR
PROGRAMA DE POS-GRADUAO EM HISTORIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA UNESP / ASSIS SP
Presidente e orientador: Dr. Milton Carlos Costa UNESP
2 Examinadora: Dr. Maria Lucia Montes - USP
3 Examinadora: Dr. Silvia Cristina Martins de Souza - UEL
4 Examinador: Dr. Eduardo Basto de Albuquerque UNESP
5 Examinador: Dr. Ruy de Oliveira Andrade Filho UNESP
Assis, 02 de maro de 2007.
4
Ao meu av, Bino Lara,
o qual, durante o periodo em
que eram redigidas as ultimas paginas
deste trabalho, tambm concluiu sua historia
terrena...
Partiu, mas deixou memorias de algum
Iascinado por assuntos religiosos...
O mistrio do sagrado, que tanto
o encantou, tambm seduz a
cincia e busca explicaes
nas paginas desta pesquisa.
5
AGRADECIMENTOS
Ao meu orientador, ProI. Dr. Milton Carlos Costa, que sempre soube conjugar sua notavel
erudio no conhecimento historiograIico com a dedicao e o zelo no trabalho de orientao
de cada etapa desta pesquisa.Tornou-se para mim um grande amigo, um grande mestre, sendo
um reIerencial seguro de rumos, delineamentos e correes a que a tese Ioi submetida.
Sempre solicito e prestativo na disponibilizao de horarios para os procedimentos de
orientao, muitos dos quais em Iinais de semanas e Ieriados. Quando estabeleci os primeiros
contatos com a Unesp, prontamente aceitou-me como aluno especial da disciplina que
ministrava. Em seguida, acreditou no projeto ainda em Iase de elaborao, reprogramando,
inclusive, seus compromissos de orientao a Iim de disponibilizar mais uma vaga ao
processo seletivo para que Iosse possivel meu ingresso no Programa de Doutorado. Lembro-
me das desaIiadoras palavras que dele ouvi apos a primeira leitura que Iez do meu projeto de
pesquisa: 'Ainda ha uma lacuna na historiograIia brasileira sobre a abordagem de temas
relacionados ao neopentecostalismo. Se este trabalho, agora concluido, vier a contribuir para
o alcance daquele objetivo, os mritos advm das imprescindiveis orientaes acadmicas
recebidas do ProI. Milton.
Ao Programa de Pos-Graduao em Historia da Unesp, por contemplar em suas linhas de
pesquisa espao para abordagem de temas pelo vis da Historia Cultural. Este trabalho ,
certamente, resultado de um longo processo que envolveu diIerentes contribuies do
Programa de Doutorado: oIerta de disciplinas voltadas a Historia Cultural na integralizao
dos crditos; avaliao e criticas ao projeto originalmente elaborado, em disciplinas
especialmente oIertadas para esse Iim; segura Iundamentao teorico-metodologica
propiciada nas aulas de Teoria e Metodologia; oportunidades de apresentaes parciais da
pequisa durante as Semanas de Historia, realizadas anualmente, ocasio em que o tema
investigado pde ser exposto para debate e reaes de outros pesquisadores, sob a mediao
do meu orientador; e, por Iim, a participao dos membros da Banca de QualiIicao, que
desempenharam leitura cuidadosa do texto at aquele momento elaborado, apresentando
importantes contribuies para os procedimentos Iinais de redao da pesquisa.
Aos proIessores do Programa de Pos-Graduao em Historia, da Unesp, pela dedicao,
capacidade e esmero na tareIa de Iormar novos pesquisadores.
Aos proIessores Dr. Eduardo Basto de Albuquerque e Dr. Ruy de Oliveira Andrade Filho,
pelas relevantes observaes e recomendaes Ieitas a tese quando participaram do Exame de
QualiIicao. A presena desses docentes tambm na Banca de DeIesa enobrece o nivel que
essa investigao se props a alcanar.
Aos proIessores titulares e suplentes que compem a Banca de DeIesa, cuidadosamente
escolhidos e convidados, por emprestarem o seu nome e o seu prestigio acadmico na
avaliao do trabalho aqui elaborado.
Aos Iuncionarios da Unesp/Assis, pelo modo sempre prestativo e atencioso dedicado aos
alunos do Programa de Pos-Graduao. ProIissionais que, alm da competncia, demonstram
satisIao e zelo no desempenho de suas Iunes.
Ao ProI. Andr Luiz Joanilho, pelo auxilio e direcionamento na elaborao das primeiras
pesquisas historiograIicas que desenvolvi sobre o pentecostalismo brasileiro, ainda durante o
6
Mestrado, e tambm por ter intermediado os primeiros contatos com o ProI. Milton para que
pudesse ser meu orientador.
A Fabiana Rondon, pelo auxilio nas pesquisas de campo e no acesso as Iontes documentais
proprias da Igreja Universal do Reino de Deus.
A proI. Selma Almeida, pela reviso de lingua portuguesa realizada no texto.
A proI. Rosalee Ewell, pela traduo do resumo desta tese para o ingls.
A Daniela Selmini, bibliotecaria da Faculdade Teologica Sul Americana, pelo auxilio nas
constantes pesquisas realizadas naquele local.
Ao AlIredo Oliva, pela amizade e companheirismo na travessia dos cinco anos em que Iomos
colegas de curso no Programa de Doutorado em Historia da Unesp, compartilhando os
desaIios e a Iascinao que o estudo do campo religioso brasileiro proporciona.
A Faculdade Teologica Sul Americana, com especial meno ao ProI. Jorge Henrique Barro,
pelo auxilio e apoio na disponibilizao da estrutura da FTSA para o desenvolvimento de
minhas pesquisas. O acervo documental sobre o pentecostalismo brasileiro, existente na
Biblioteca dessa Instituio, Ioi de signiIicativa importncia para o aproIundamento do tema
aqui abordado.
A CAPES, com especial registro, pela bolsa de estudos que subsidiou recursos
imprescindiveis ao desenvolvimento deste projeto, especialmente por propiciar condies
para as viagens do trabalho de campo e os constantes deslocamentos que se Iizeram
necessarios aos acervos documentais.
7
"A HIS1RIA DOS DEUSES SECUE AS FLU1UAES
HIS1RICAS DE SEUS SECUIDORES".
Pierre Bourdieu
8
PROENA, Wander de Lara. Sinaicato ae Magicos. uma historia cultural da Igreja Universal
do Reino de Deus (1977-2006). Assis: Unesp, 2006. 356 Il. Tese (Doutorado em Historia
Social) Faculdade de Cincias e Letras, Campus de Assis, da Universidade Estadual
Paulista 'Julio de Mesquita Filho, 2006.
RESUMO
Em 1977, com o nome de Igreja Universal do Reino de Deus, surgiu o mais instigante
movimento religioso no cenario brasileiro contemporneo, no apenas pelo explosivo
crescimento numrico, mas principalmente pela inaugurao de praticas que transpem as
categorias conceituais explicativas classicamente utilizadas para a analise das maniIestaes
de I. Abordagens jornalisticas, religiosas e sociologicas no deram conta de compreender a
abrangncia e os impactos promovidos por esse segmento. O desaIio Ioi ento lanado a
historiograIia. Com o proposito de contribuir para o preenchimento dessa lacuna, esse
trabalho se props a pesquisar, com proIundidade, as praticas e as representaes que
notabilizaram o Ienmeno iurdiano. Para isso, a partir de parmetros teorico-metodologicos
da Historia Cultural - articulados com os pensamentos de Roger Chartier e Pierre Bourdieu -
realizaram-se incurses investigativas nos documentos proprios da igreja, conjugando-as com
observaes participantes nos cultos e ritos, cruzando-se ainda tais Iontes com depoimentos
de lideres e Iiis, alm de gravaes sistematizadas de programas midiaticos, transcritos e
catalogados para analise. Constatou-se que o Ienmeno iurdiano: no dissidncia e nem
continuidade de outras expresses religiosas, mas criador de algo novo a partir de
apropriao e resigniIicao de compositos culturais arraigados na longa durao historica;
estabeleceu um marco divisor no campo religioso quando chegou as massas e atingiu a matriz
cultural brasileira, recuperando elementos liminares de crenas Iolcloricas, que perpassam
todos os niveis sociais, tornando-os prioritarios; surgiu e cresceu no contexto de uma
exploso urbana, marcada por instabilidade, crise e violncia, tornando-se um espao de
salvao, de socorro e ajuda. Sindicato de magicos conIigura-se, pois, como um titulo
plausivel para classiIicar a operacionalidade da alquimia ao confunto observada nas praticas
desse movimento, capaz de combinar elementos aparentemente contraditorios: denomina-se
igreja, mas caracteriza-se por magia e proIetismo; possui lideres carismaticos, pelas regras
coletivas do campo e no pela excepcionalidade individual; desenvolve um tipo de
messianismo, de conIiguraes rurais, mas vivenciado com encanto no mundo urbano; as
crenas que necessita combater so decisivas para o seu Iuncionamento; as benesses do
paraiso apocaliptico ja so antecipadas para o tempo presente, alterando inclusive a geograIia
do alem-pos-morte; elementos encantados so habilmente conjugados com recursos
ultramodernos; o biblicismo da leitura substituido pelo emblema do rito; polmicas
estratgias de arrecadao Iinanceira so denegadas pela economia da oIerenda; no lugar da
absteno de bens materiais como preparao para a salvao, a prosperidade e o usuIruto de
valores do tempo presente como sinais de alcance do reino idilico; sendo instituio, possui a
capacidade magica de no permitir a magia institucionalizar-se; deu certo no contexto
brasileiro por recuperar um elemento essencial e identitario do cristianismo: o mistrio.
Palavras-chave: Igreja Universal do Reino de Deus; Historia Cultural; sindicato de magicos;
carisma; campo religioso brasileiro.
9
PROENA, Wander de Lara. Sinaicato ae Magicos. uma historia cultural da Igreja Universal
do Reino de Deus (1977-2006). Assis: Unesp, 2006. 356 Il. Tese (Doutorado em Historia
Social) Faculdade de Cincias e Letras, Campus de Assis, da Universidade Estadual
Paulista 'Julio de Mesquita Filho, 2006.
ABSTRACT
In 1977 was inaugurated, with the name Universal Church oI the Kingdom oI God - Igreja
Universal do Reino de Deus (IURD) - the most provocative religious movement in
contemporary Brazil, not simply due to its explosive numerical growth, but mainly because
oI its practices that went beyond classical conceptual categories employed in analyses oI Iaith
maniIestations. Journalistic, religious, and sociological approaches were not suIIicient to
account Ior the range and impact oI this segment. The challenge was then submitted to
historiography. With the purpose oI answering some oI these lacunae, the present work
proposes to research in depth the practices and representations that most mark the IURD
phenomenon. For that, using theoretical-methodological parameters Irom cultural history,
articulated in the works oI Roger Chartier and Pierre Bourdieu, we shall make incursive
investigations into the documents oI the church, placing these alongside the observations
made by participants in the church`s rites and practices, then comparing these with additional
statements Irom the church`s leadership and IaithIul Iollowers. We will also examine
Transcripted and catalogued inIormation gathered Irom various media programs. It was
Iound that the IURD phenomenon was not due to dissidence nor continuity with other
religious expressions, but was instead the creation oI something new based on an
appropriation and resigniIication oI long-standing historical and cultural composites. It
established a dividing mark in the religious Iield when it reached the level oI the masses and
hit a Brazilian cultural matrix, recovering hidden elements oI popular Iolklore, that reach all
social strata, thus making them priorities. It started and grew in a context oI urban explosion,
marked by instability, crises and violence, making it a place oI salvation and help.
'Magicians Union, thereIore, is a plausible title under which to classiIy the Iunctionality oI
the group alchemy observed in the practices oI this movement, capable oI combining
apparently contradictory elements: calling itselI 'church, but characterized by magic and
prophecy; having charismatic leaders determined by the collective rules oI the Iield and not
according to individual giIts; developing a type oI messianism oI rural conIigurations, but
living in a charmed urban world. The belieIs against which it must Iight are decisive Ior its
Iunctioning; the blessings oI apocalyptic paradise are anticipated to the present time, altering
the geography oI post-beyona-aeath. Elements oI enchantment are ably paired with
ultramodern technology; literal biblicism is substituted by an emblem oI rite; polemical
strategies Ior Iinancial gain are disallowed by an economy oI oIIering; instead oI abstaining
Irom material goods in preparation Ior salvation, prosperity and the enjoyment oI this present
day are signs oI reaching the idyllic kingdom. As an institution, it has the magical capacity oI
not allowing magic to institutionalize itselI. It has been successIul in the Brazilian context
because it recovered an essential element oI Christian identity: mystery.
Keywords: Universal Church oI the Kingdom oI God; cultural history, magicians union;
charisma; Brazilian religious Iield.
10
SUMRIO
INTRODUO ......................................................................................................................12
1 - PARMETROS TEORICO-METODOLOGICOS PARA UMA HISTORIA
CULTURAL DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS ........................................37
1.1 - O lugar do sagrado na Historia Cultural .........................................................................37
1.2 - Um caminho metodologico a partir de Chartier e Bourdieu ...........................................49
1.2.1 - Representao, pratica, habitus ...................................................................................52
1.2.2 - Campo, capital simbolico ............................................................................................60
1.3 - Fontes para pesquisa historiograIica sobre a Igreja Universal do Reino de Deus...........64
1.3.1 - Documentos proprios da Igreja Universal....................................................................65
1.3.2 Fontes produzidas pela pesquisa de campo .................................................................71
2 O CONTEXTO HISTORICO-SOCIAL EM QUE SE DESENVOLVEU O
PENTECOSTALISMO BRASILEIRO ..................................................................................88
2.1 O contexto de movimentos precursores .........................................................................89
2.2 O contexto do surgimento do pentecostalismo ... ..........................................................94
2.3 O contexto de projeo do pentecostalismo .................................................................110
2.4 O contexto de desenvolvimento do neopentecostalismo ............................................126
2.5 Um contexto de esIoros do catolicismo pelo controle do campo religioso.................136
2.6 Um contexto historico de magia no campo religioso brasileiro ...................................141
2.7 Um contexto de presso Iolclorica camponesa no mundo urbano ...............................147
3 UMA HISTORIA CULTURAL DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS:
PRATICAS ...........................................................................................................................152
3.1 A consagrao do hertico: o nascimento de um sindicato de magicos ......................152
3.2 A universalizao do reino: o explosivo crescimento da Igreja Universal ..................156
3.3 A multiplicao da palavra: os recursos midiaticos da Igreja Universal .....................161
3.4 Milagres do dinheiro e dinheiro dos milagres nas praticas iurdianas ..........................163
3.5 Interesses do gesto desinteressado: a economia de oIerenda nas praticas iurdianas.....168
3.6 O poder simbolico do carisma nas praticas iurdianas ..................................................173
11
3.6.1 O carisma do proIeta .................................................................................................183
3.6.2 - O carisma do mago ....................................................................................................215
3.6.3 O carisma messinico-milenarista .............................................................................224
3.7 O palimpsesto cultural das praticas iurdianas ..............................................................251
4 - UMA HISTORIA CULTURAL DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS:
REPRESENTAES ...........................................................................................................267
4.1 Da Iuneraria a catedral: representaes do espao sagrado iurdiano ...........................267
4.2 - Representaes magicas dos objetos liturgicos ............................................................271
4.3 O universo representacional dos ritos ..........................................................................278
4.3.1 - Corrente da prosperidade: o dinheiro e suas representaes .................................... 284
4.3.2 - Corrente do descarrego: representaes do mal nas praticas iurdianas .....................399
4.3.3 - 'Pare de soIrer: corrente de cura divina e milagres .................................................310
4.4 - O papel das praticas de leitura nas representaes iurdianas ........................................316
4.5 - Representaes da morte: mudanas na geograIia do 'Alm .....................................325
CONSIDERAES FINAIS ................................................................................................332
REFERNCIAS BIBLIOGRAFICAS...................................................................................353
12
INTRODUO
O ano 1977. O lugar: suburbio da cidade do Rio de Janeiro. O endereo:
Av. Suburbana, 7.702, Bairro da Abolio. O local: um modesto salo alugado, anteriormente
ocupado por uma Iuneraria. A porta, aIixada uma placa com aspiraes um tanto ambiciosas:
Igreja Universal do Reino de Deus. Ao pulpito: um jovem pastor sem nenhum preparo Iormal
em teologia ou treinamento especializado para o exercicio daquela Iuno. Os recursos de
comunicao: a voz solitaria, de sotaque inconIundivel, de um pregador com microIone em
mos, auxiliado por duas caixas de som ampliIicadas. O publico: pouco mais de uma dezena
de ouvintes.
O ano 2006. O lugar: todas as mdias e grandes cidades espalhadas em
todos os Estados brasileiros. O local: mais de cinco mil templos que, pela imponncia e
extenso Iisica, so orgulhosamente chamados de 'Catedrais da F, com capacidade para
abrigar milhares de pessoas. As ambies do nome: a presena em mais de cem paises do
mundo. Ao pulpito: a voz de mais de dezesseis mil pastores e bispos que multiplicam o
sotaque e o estilo de seu lider-Iundador. Os recursos: dezenas de emissoras de radio, um
canal exclusivo de televiso, com mais de noventa emissoras Iiliadas em rede nacional. O
publico: aproximadamente trs milhes de adeptos.
Quem passasse em Irente ao primeiro endereo da Igreja Universal, quando
do inicio de seu trabalho, certamente seria levado a imaginar que o destino mais provavel
daquele pequeno ajuntamento de pessoas, como o de tantos outros grupos pentecostais
cismaticos, seria a obscuridade da periIeria ou dos entrincheirados morros e Iavelas do Rio de
Janeiro. Contrariando essa perspectiva, porm, a historia emblematicamente reservava, ali, na
apario daquele movimento, a escrita de um capitulo absolutamente novo no campo
religioso brasileiro: o cenario da crena no pais passaria a se dividir em antes e aepois da
IURD. Diante desses aspectos, surgem inevitaveis questes: quais elementos, internos e
externos, propiciaram esse Ienmeno em to pouco espao de tempo? Por que o movimento
iurdiano obteve xito enquanto tantos outros, surgidos na mesma poca, Iracassaram? Onde
esto Iincadas as raizes desse segmento religioso que lhe do tanta sustentao diante das
inumeras polmicas e perseguies que soIreu em sua trajetoria? Como essa igreja responde
aos anseios e as crenas de seus seguidores? Estaria-se diante de um caso que envolve a
genialidade de lideres ou de um processo de produo coletiva do campo religioso a partir de
regras que lhe so proprias?
13
O Iato que, em relao a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), no
ha como ignorar ou Iicar indiIerente a sua presena. Desde o seu surgimento, tem estado no
centro de intensas controvrsias. Mtodos heterodoxos de arrecadao, vilipndio a cultos
religiosos, agresso Iisica contra adeptos de crenas aIro-brasileiras e investimentos
empresariais milionarios, so alguns dos motivos responsaveis por desencadear uma srie de
criticas e acusaes por parte da grande imprensa e de outros segmentos religiosos, inquritos
policiais e processos judiciais contra a Igreja e seus lideres. Mais recentemente, um novo
episodio ganhou as paginas de jornais e revistas de circulao nacional, tornando-se tambm
assunto diario nos principais telejornais do pais: Joo Batista Ramos, bispo e presidente das
organizaes de comunicao da Igreja Universal, Ioi detido pela Policia Federal, no
aeroporto de Brasilia, quando se preparava para viajar para a cidade de So Paulo, portando
sete malas cheias de dinheiro, num montante que somava mais de dez milhes de reais. Ao
ser indagado pelas autoridades Iederais acerca da origem daquele valor, explicou que se
tratava de dizimos e oIertas doados pelos Iiis numa das recentes campanhas religiosas
denominadas 'Iogueira santa de Israel, realizadas pela IURD, e que a quantia estava sendo
levada a administrao central da Igreja, localizada na capital paulista. Mais tarde, constatou-
se que em outras regies do pais Ioram arrecadados, de igual modo, valores suntuosos nos
milhares de templos iurdianos e tambm remetidos a sede da reIerida Igreja.
E notoria a capacidade iurdiana de operar a multiplicao de numeros. Em
pouco mais de duas dcadas conseguiu atrair para si um grande numero de seguidores que a
Iaz ostentar hoje o quarto lugar em membros, em relao as demais igrejas evanglicas
atuantes no pais.
1
Viu rapidamente seus templos se espalharem em todos os recantos do pais,
ocupando imoveis anteriormente usados como lojas e tantos outros estabelecimentos
comerciais de grande porte, que Iecharam as suas portas para dar lugar aos cultos iurdianos.
Nesse sentido, alias, a IURD nasceu num contexto marcado por crises e parece encontrar
neste elemento um dos componentes externos que contribuem para a sua propagao. Sua
dinmica e impactante atuao no campo religioso se deve no apenas ao seu rapido
crescimento, visibilidade e capacidade de arregimentao de Iiis, mas tambm as inovaes
que promoveu: ao invs de templos convencionais para os seus cultos ou reunies, a
transIormao de locais normalmente tidos pelos evanglicos como proIanos em espaos
sagrados - a exemplo de casas de shows e cinemas - inseridos em meio as aglomeraes; o
uso intenso dos meios de comunicao de massa, mediante compra de horarios no radio e na
1
DOSSI: Religies no Brasil. Estuaos Avanaaos, So Paulo, USP, n. 52, p. 15, 2004.
14
TV, ou mesmo pela aquisio desses meios de comunicao para o anuncio de sua
mensagem; grande nIase no dinheiro como parte da vida religiosa, promovendo enorme
visibilidade social e projeo econmica da Igreja, com altas taxas de arrecadao Iinanceira,
posse de milhares de templos, alm de diversos empreendimentos paralelos tais como,
gravadoras, editoras, livrarias, instituies bancarias e do ramo da construo civil.
A Igreja Universal, evidentemente, no consiste em um movimento isolado,
mas participa de um processo de transIormao do campo religioso brasileiro ocorrido
sobretudo nas trs ultimas dcadas. Nessas mutaes, as expresses de I genericamente
identiIicadas como 'evanglicas,
2
tm obtido os melhores resultados em termos de
crescimento. Dados catalogados pelo Instituto Brasileiro de GeograIia e Estatistica - IBGE,
relativos aos censos demograIicos realizados em tal periodo, constatam essa aIirmativa. Em
1940, os evanglicos representavam 2,6 da populao; em 1950, 3,4. Em 1970, de uma
populao composta de pouco mais de 90 milhes, os evanglicos somavam 5,17; em
1980, eram cerca de 120 milhes de brasileiros, e os evanglicos totalizavam 6,62. Os
dados relativos ao Censo DemograIico realizado em 1991, indicaram uma populao de mais
de 146 milhes e um total de 8,98 de Iiis. No inicio da dcada de 1990, a revista Jefa -
exibindo como manchete de capa 'A I que move multides avana no pais - tambm
apontava para esta projeo:
Cer ca de 16 mi l hes de pessoas no pai s, especi al ment e a i mensa
massa de descami sados col ocados a mar gem da moder ni dade e
pr ogr esso, j a r ezam pel a car t i l ha dessas i gr ej as bar ul hent as que em
seus cul t os chei os de cnt i cos e emoes pr omet em cur as, mi l agr es
e pr osper i dade i nst ant nea na t er r a.
3
Em 2000, proximos dos 170 milhes de habitantes, os evanglicos
superaram as ciIras dos 26 milhes, perIazendo 15,5 dessa populao.
4
Em numeros
absolutos, o crescimento desse grupo, na ultima dcada, da ordem de 100/, pois eles
passaram de 13 milhes em 1991 para os mais de 26 milhes atuais.
5
Tambm se destaca
2
No campo religioso brasileiro torna-se cada vez mais diIicil delimitar ou conceituar com maior preciso a
categoria 'evanglico, ja que engloba um numero importante de igrejas com grande diversidade
organizacional, teologica e liturgica. Em geral, remete a um conjunto de caracteristicas que traam um perIil
relativamente deIinido de um grupo que engloba um numero cada vez mais signiIicativo de pessoas, mas com
muitas Iragmentaes e divergncias internas. Assim, gozando de extraordinaria autonomia, cada uma se projeta
no espao social segundo iniciativa dos pastores ou de suas comunidades locais, por no possuir um orgo
institucional que as normatize ou as regularize. CI MONTES, Maria Lucia. As Iiguras do sagrado: entre o
publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Historia aa viaa privaaa no Brasil 4. Contrastes da
intimidade contempornea. So Paulo: Companhia da Letras, 2002, p. 87.
3
Revista Jefa, So Paulo, n. 19, p. 40-44, 16 maio 1990.
4
Estuaos Avanaaos. Op. cit., p. 15, 16.
5
Ver SIEPIERSKI, Carlos Tadeu. O Sagraao num munao em transformao. So Paulo: Edies ABHR, 2003,
p. 26, 27.
15
que, dos numeros anteriormente apresentados pelas pesquisas nas duas ultimas dcadas, 'de
cada dez crentes sete se declaram pentecostais ou neopentecostais.
6
O censo realizado pelo
ISER, em 1991, revelava que ja se abria naquele momento um templo evanglico a cada dia
util no Rio de Janeiro. Segundo dados atuais do IBGE, cerca de 600 mil brasileiros se
convertem a cada ano a alguma denominao com esse perIil religioso.
Em decorrncia de tal projeo, ha inclusive hoje uma assimilao cultural
da liturgia e do vocabulario evanglico, Iazendo que cada vez mais nas ruas e locais publicos,
por exemplo, pessoas exibam camisetas e estampem adesivos nos seus automoveis com
dizeres que representam essa nova tendncia religiosa.
Em meio a essas remodelaes do campo religioso brasileiro, o Ienmeno
iurdiano se apresenta, pois, um instigante desaIio aos que se dedicam a compreend-lo,
especialmente por atuar em Ironteiras da liminaridade, estabelecida como Ilexibilidade do
que se convenciona classiIicar como sagrado e proIano, ortodoxo e hertico, erudito e
Iolclorico, sacerdocio e magia. E justamente pelos aspectos emblematicos que envolvem tal
segmento religioso que advm o titulo dado a essa pesquisa: 'Sindicato de Magicos. Ainda
que a guisa de introduo, vale justiIicar o emprego desses termos para intitular o presente
trabalho. Em relao a 'magia, pode-se conceitua-la como tudo aquilo que, baseado na
'logica do natural e do sobrenatural, tenta inverter as Iormas naturais das coisas, ou seja, a
crena de que determinadas pessoas so capazes de controlar Ioras ocultas (pessoais ou
impessoais) e intervir nas leis da natureza por intermdio de procedimentos rituais. Os
adeptos da magia acreditam que por palavras ou encantamentos podem alterar o curso dos
acontecimentos. 'Conectados com os mitos,
7
os ritos magicos permitem que os seus
adeptos, atravs da manipulao de Ioras imaginarias da natureza ou apelos a espiritos
imaginarios, obtenham Ioras para buscar seus objetivos. Essa Iora tem sido entendida
normalmente como 'uma atividade de substituio nas situaes em que Ialtam meios
praticos para conseguir um objetivo; e uma de suas Iunes dar ao ser humano coragem,
alivio, esperana, tenacidade:
Dai a I or ma mi mt i ca dos r i t os, a conver so de at os suger i dos pel os
I i ns vi sados. Assi m, a magi a pr oduz o mesmo r esul t ado subj et i vo
que a ao empi r i ca t er i a consegui do, r est aur a- se a conI i ana, e sej a
qual I or o pr ogr ama em que est ej a engaj ada, el e pode ser l evado
avant e.
8
6
Revista Eclesia, Rio de Janeiro, p. 46, abr. 2000.
7
PIERUCCI, Antnio Flavio. Magia. So Paulo: PubliFolha, 2001, p. 78.
8
EVANS-PRITCHARD, E. E. Antropologia social aa religio. Rio de Janeiro: Campus, 1978, p. 53, 61.
16
Essa recorrncia a Ioras supra-sensiveis ganha normalmente maior
evidncia quando os problemas concretos que se enIrenta no encontram outras solues
mais rotineiras, mais ordinariamente 'humanas. Na experincia com o cotidiano existencial,
o ser humano se depara com o desconhecido, com o 'mistrio, que se maniIesta, por
exemplo, na doena, na morte, nas calamidades. Para superar essa ameaa de caos que o
mistrio pode provocar que se recorre a magia.
9
Onde quer que o ser humano chegue a uma
lacuna intransponivel, a um hiato em seu conhecimento e em seus poderes de controle
pratico, surge o espao de operao da magia:
O pensament o magi co i magi na que nest e mundo exi st em I or as
ocul t as por t ador as de i nI or t uni os e adver si dades, pr ovocador es de
baques e aci dent es i mpr evi si vei s ( . . . ) i ncndi o, seca, pr agas na
l avour a, doenas e epi demi as que se abat em sobr e ser es humanos e
ani mai s ( . . . ) I or as supr a- sensi vei s que pr oduzem acont eci ment os
i nesper avei s, i nt er I er i ndo negat i vament e em sua vi da e
ul t r apassando as expl i caes ar mazenadas no conheci ment o t cni co
que seu gr upo par t i l ha. E par a se cont r ol ar essas i nt er I er nci as que
se r ecor r e a magi a.
1 0
Levando a eIeito seus ritos, portanto, os magos se propem a ajudar aos
que a eles recorrem a 'lidar com seus problemas e seus contra-tempos, eliminando o
desespero que inibe a ao do individuo, Iornecendo-lhe um sentido renovado do valor da
vida e das atividades que a compem.
11
Na Igreja Universal isto o que tambm ocorre.
Com plasticidade, em seus rituais e procedimentos, estabelece uma relao de apropriao
resigniIicadora do mundo magico das religies aIro-brasileiras e do catolicismo de devoo
Iolclorica, realizando, ali, praticas de magia que cruzam as Ironteiras normalmente
estabelecidas pelo que se convencionou entender por religio. Para a satisIao das
necessidades e desejos dos que procuram os seus templos, lideres iurdianos disponibilizam
aos Iiis objetos simbolicos ou talisms carregados de 'energias benIicas, direcionados a
soluo dos casos mais diIiceis, como a Ialta de saude, de prosperidade e sucesso na vida.
Acredita-se que tais objetos tm eIicacia magica e, portanto, capacidade para proteger de
todos os males atribuidos e personalizados na Iigura do demnio. Nos discursos, nas
literaturas e nas reunies ritualisticas, pastores e bispos Ialam de Ioras espirituais e mas que
constantemente interIerem na vida cotidiana das pessoas; tambm praticam-se curas - tal
como os antigos taumaturgos, curandeiros ou xams - usando-se, para isso, ritos magicos e
exorcistas.
9
CI. BRONOWSKI, J. Magia, cincia e civili:ao. Lisboa: Edies 70, 1986, p. 49, 50.
10
MALINOWSKI, Bronislaw. Magic, science, and religion. Em: James Needham (Ed.), Science, religion ana
reality. London: Free Prees, 1925. Apua PIERUCCI, A. F. Magia. Op. cit., p. 56.
11
EVANS-PRITCHARD, E. E. Op. cit., p. 68.
17
Ja o emprego do termo 'sindicato, no titulo desta pesquisa, da-se pelo Iato
do movimento iurdiano ter surgido e obtido projeo sob o comando de lideres atuantes na
liminaridade, os quais podem ser identiIicados como 'empresarios autnomos de salvao.
Utilizando-se da conceituao empregada por Max Weber, e retomada por Bourdieu,
12
pode-
se identiIicar o mago como agente religioso independente que se utiliza dos bens simbolicos
produzidos no campo religioso para atender a interesses imediatos daqueles que recorrem aos
seus servios. Os agentes magicos normalmente exercem uma proIisso sem vinculo
institucional e, por essa razo, tendem a ser combatidos ou desqualiIicados pelos saceraotes
representantes da instituio oIicial - que vem na magia uma apropriao indevida ou
manipulao de bens religiosos para Iinalidades 'interesseiras. A liderana de um lider
carismatico de maior projeo juntam-se outros magicos, sendo por aquele credenciados com
legitimidade para o exercicio de suas Iunes. Forma-se, desta maneira, um 'sindicato
composto por agentes autnomos que independem, portanto, das sanes institucionais, cuja
autoridade provm diretamente do carisma que ostentam perante os adeptos. Nas praticas da
IURD, a Iora de organizao da magia e do carisma, enquanto poder simbolico, tem origem
coletiva em Iormas de delegaes geradas pelo proprio grupo. Com isso, a magia se organiza,
sindicaliza-se e se Iortalece em uma espcie de conIraria, mantendo, assim, o seu carater de
ruptura com normas ou padres ritualisticos estabelecidos por expresses religiosas
dominantes.
O termo 'sindicato tambm plausivel para representar a Iora
mobilizadora de um movimento de massas, que conIronta, no mbito religioso, as instuies
tradicionalmente estabelecidas, reivindicando direitos de proclamar a sua mensagem aos
moldes de uma inveno puramente nacional em termos de doutrina e rito, viabilizando
oportunidades a um contingente que tem Iicado as margens para que seja sujeito de sua
propria experincia com o sagrado.
Magos, xams ou Ieiticeiros, no importa como sejam chamados, sempre
existiram nas sociedades, atuando no anonimato ou as margens de religies oIiciais. Porm,
no movimento iurdiano, sob a titulao de 'bispos ou 'pastores, tais Iunes se conjugam
eIicazmente numa pastoral-magica e ganham a luz do dia, assumindo identidades. Mesmo
com certos mecanismos de organizao, os lideres iurdianos no se prendem jamais a rotina
religiosa que conIigura o papel sacerdotal no mbito de uma igreja. E um movimento que se
institucionalizou sem perder os elementos magicos, no se permitiu tornar-se uma religio.
12
BOURDIEU, Pierre. A economia aas trocas simbolicas. Rio de Janeiro: Perspectiva, 2000.
18
Por isso mesmo, o culto novidade todo dia, sem cair no Iormalismo liturgico da tipologia
eclesiastica institucional ou sacerdotal. Cada reunio se torna um novo espetaculo, com
plenitude de sentido, de emoo compartilhada, comungada na mesma paixo, 'ligando os
homens as potncias sagradas que o animam.
13
Os ritos so criativamente renovados, numa
atualizao permanente, propiciando um leque de novas opes a serem trilhadas a qualquer
momento, sem o 'engessamento cerceador encontrado nas grandes instituies religiosas.
No estando preso a instituio, o bispo Macedo, por exemplo, tem autonomia de
mobilidade. E bispo sem deixar de ser proIeta, de ser mago ou xam. Este Iator contribui para
que a historia da IURD seja construida na vividez do inesperado e do desconhecido, envolta
pelo elemento do misterio que emblematicamente conIigura a crena em suas expresses
mais encantadas.
Outro aspecto relacionado ao titulo 'Sindicato de Magicos se reIere ao
poder de alquimia o qual magicamente Iaz que o grupo iurdiano no apenas rompa em suas
praticas coletivas com alguns conceitos ou tipologias - que classicamente tm sido utilizados
por teoricos ou pesquisadores de temas religiosos - mas tambm requeira novas abordagens
para a compreenso de um novo tipo de experincia envolvendo o sagrado no cenario
religioso brasileiro. Essa Igreja consegue eIicazmente aglutinar varios outros elementos
conIigurados no campo e que aparentemente seriam opostos ou concorrentes entre si. Assim,
so vivenciados, ali, aparentes paradoxos ou contradies, mas que emblematicamente
ganham sentido e coerncia a partir de regras que o campo religioso capaz de promover:
denominando-se 'igreja, esse segmento possui praticas notadamente caracterizadas por
magia, por messianismo ou proIetismo; as representaes messinicas nela conIiguradas
ocorrem no mais no contexto rural - como tradicionalmente se denotou nos movimentos
com tais perIis Iazendo que as Ironteiras convencionalmente estabelecidas entre o que
rural e urbano sejam rompidas, tornando assim a cidade, teoricamente deIinida como lugar de
'desencantamento, local de magiIicao do sagrado em suas expresses mais 'primitivas.
Ao mesmo tempo em que combate as crenas aIro-brasileiras, a IURD diretamente delas
depende para a constituio de suas praticas, reeditando-as, inclusive, com outros nomes. Os
lideres, denominados pastores ou bispos como dito anteriormente - assumem para os Iiis
diIerentes representaes: mago, messias, proIeta, Iato que caracteriza um movimento
surgido com proposta proItica, passando a se aproximar de uma instituio, sem permitir,
contudo, a institucionalizao de suas praticas. Ao mesmo tempo em que se denomina
13
SCHMITT, Jean-Claude. Ritos. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude (Orgs.). Dicionario tematico
ao ociaente meaieval. Bauru: EDUSC, 2002, p. 416.
19
evanglica, mantendo vinculos com o protestantismo historico
14
ou com o pentecostalismo
classico,
15
na verdade, reinventa-os, conIigurando uma nova tipologia, a qual
provocativamente desaIia os pesquisadores quanto a sua deIinio pelas novas Iiguras de
sagrado apresentadas. Ao contrario do que protestantes e catolicos sempre prezaram em
relao ao cuidado de se preparar para a vida Iutura pos-morte, na IURD se observa a nIase
de suas praticas recaindo exclusivamente no aqui e agora. Se por um lado acena para as
benesses de consumo da sociedade capitalista, por outro sua mensagem acaba se colocando
como uma espcie de resistncia a tal sistema, quando prope caminhos intra-historicos para
se obter a superao das mazelas geradas por esse modelo de sociedade. A IURD, para a
veiculao de sua mensagem, combina eIicazmente o uso dos mais soIisticados meios de
comunicao com antigas praticas de leitura, as quais se reportam a modelos caracterizados
nos sculos XVI e XVII, numa conjugao perIeita do ultramoderno com elementos de longa
durao. Em tempos de novos e agressivos recursos de comunicao e expresso, antigas
praticas de leitura resistem e continuam desempenhando o papel de promover a seduo do
sagrado e a retraduo de um Iertilissimo passado cultural no mundo contemporneo. Uma
igreja que investe no imediato mas que, no entanto, mantm suas raizes Iincadas na 'longa
durao.
16
Ou ainda, o enigma de possuir a capacidade de obter os maiores xitos de
projeo e recrutamento de novos Iiis nos momentos em que soIre grandes ataques por parte
de movimentos religiosos concorrentes ou de outros setores da sociedade. Em sintese, o
emprego do titulo 'Sindicato de Magicos no signiIica que a IURD seja apenas magia, mas
sim, que ela opera magicamente em outros niveis que o capital cultural do campo religioso
brasileiro lhe disponibiliza; e mais: ela reinventa-o, redescobrindo a magia nele existente e
criando algo absolutamente novo.
Outra dimenso da pesquisa pressuposto no subtitulo 'uma historia
cultural da Igreja Universal do Reino de Deus reIere-se ao aspecto teorico-metodologico,
14
Segmento cristo representado por diIerentes denominaes religiosas que surgiram a partir da ReIorma
Protestante liderada por Martinho Lutero, na Alemanha, no sculo XVI, como por exemplo, as igrejas Luterana,
Presbiteriana, Batista, Anglicana e Metodista.
15
Movimento surgido nos Estados Unidos da Amrica, no inicio do sculo XX, a partir da Igreja Metodista e
que ganhou notoriedade por enIatizar a pratica da glossolalia vocabulo da lingua grega que signiIica 'Ialar
outras linguas, cujo balbuciar de sons inarticulados, em xtase, passou a ser compreendido, por tal segmento
religioso, como evidncia do que se chama de 'batismo com Espirito Santo. O nome 'pentecostalismo uma
aluso ao que se entende ter sido um episodio semelhante, registrado na Biblia, em Atos 2:1-4, ocorrido com os
primeiros cristos, no primeiro sculo, no dia da Iesta judaica denominada 'pentecostes. No Brasil,
convencionou-se identiIicar como representantes do 'pentecostalismo classico as primeiras igrejas que aqui se
desenvolveram com tal tipologia: Assembleia ae Deus e Congregao Crist no Brasil.
16
A 'longa durao, segundo Fernand Braudel, reIere-se as chamadas 'permanncias na historia, no
necessariamente um longo periodo cronologico: ' aquela parte da historia, a das estruturas, que evolui e muda
o mais lentamente (...) um ritmo lento. CI. LE GOFF, Jacques. In: BLOCH, Marc. Os reis taumaturgos. So
Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 17.
20
enquanto vis de analise a ser utilizado e, por conseguinte, proposito maior da tese ora
desenvolvida: compreender o Ienmeno iurdiano a partir da historiograIia, proporcionando
com isso uma nova abordagem, que va alm das analises e explicaes at agora
apresentadas quase sempre sob outras perspectivas. Vale dizer que, no so pelo crescimento e
projeo, mas tambm pelo aspecto emblematico que a envolve desde o seu surgimento, a
IURD tem se tornado objeto de varias 'explicaes, suscitando diIerentes esIoros por
compreend-la enquanto expresso do sagrado produzido pelo campo religioso brasileiro, em
suas remodelaes mais recentes. Podem ser destacados trs setores que tm se empenhado
em descrever ou interpretar o movimento iurdiano: a midia, outros segmentos religiosos e a
academia.
Por parte da midia, at mesmo por perceber o crescimento da concorrncia
pelo controle dos meios de comunicao, a religiosidade iurdiana quase sempre tem sido
classiIicada em tom de estigmatizao, sob acusao de charlatanismo, mercantilizao da I
ou curandeirismo, como se Iosse apenas uma Iorma 'maquiavlica de explorar
Iinanceiramente a 'boa I de pessoas humildes ou desavisadas, conIorme se pode observar
no exemplo abaixo:
Sur gem em mei o a est a quest o, I al sos l i der es que usam essas
t cni cas de pr egao em beneI i ci o do pr opr i o bol so. Exat ament e por
essa r azo so r ar as as capi t ai s br asi l ei r as onde pel o menos um
past or no est ej a sendo al vo de um pr ocesso cr i mi nal por
char l at ani smo, enr i queci ment o i l i ci t o e at ent ado a economi a
popul ar .
1 7
A medida que o movimento continuou se propagando, a postura da
imprensa Ioi a de tambm aumentar o numero de reportagens sobre o que considera 'taticas
mercantilistas dessa Igreja: 'Que o bispo Edir Macedo mercadeja a I, incitando os Iiis a
Iazer apostas em dinheiro com Deus nas quais sua igreja sempre ganha, ja se tornou lugar-
comum.
18
Em outra matria jornalistica recente, com manchete de capa intitulada 'A nao
evanglica, o maior pais catolico do mundo esta se tornando cada vez mais evanglico, a
revista Jefa tambm publicou:
( . . . ) o di nhei r o, na I or ma de di zi mo, ao se t r ansI er i r par a a mo de
past or es que vem a r el i gi o como negoci o, t em ger ado t ant o o
cr esci ment o de mui t as denomi naes quant o mar acut ai as, denunci as,
i nvest i gaes. ( . . . ) Um dos r amos evangl i cos cr i ou at um di zi mo
super I at ur ado: o I i el deve dar ant eci padament e 10 do val or que
pr et ende al canar como uma gr aa do Senhor , e no daqui l o que
eI et i vament e r ecebe ( . . . ) As acusaes mai s I r eqent es cont r a
past or es evangl i cos t r at am de est el i onat o e cr i mes I i scai s. O past or
17
Revista Jefa, So Paulo, p. 40, 16 maio 1990.
18
Revista Jefa, So Paulo, 03 jan. 1996.
21
Davi Mi r anda, I undador da Deus E Amor , por evaso de di vi sas. A
I gr ej a Renascer em Cr i st o enI r ent a mai s de ci nqent a pr ocessos
movi dos por ex- I i i s. Seus I undador es, o apost ol o Est evam
Her nandes e a bi spa Soni a Her nandes, so acusados de dar um
cal ot e de 12 mi l hes de r eai s.
1 9
Outra tendncia da midia tem sido a de genericamente atribuir o xito
dessas praticas religiosas aos problemas econmicos do pais: 'Pr um terno para Ireqentar o
culto, levar uma Biblia embaixo do brao e ser visto como um modelo de honestidade, para
esses crentes pobres, alcanar pelo menos um peda do paraiso da cidadania.
2 0
Um segundo esIoro explicativo provm de outros segmentos religiosos
atuantes no contexto brasileiro. O crescente surgimento de inumeros pequenos templos que
passaram a ganhar visibilidade social, sobretudo nas grandes cidades do pais, despertou
pesquisadores pertencentes a outras tradies crists. Nas dcadas de 1960 e 1970, por
exemplo, a Igreja Catolica encomendou varias pesquisas sobre as razes da converso de
catolicos as igrejas evanglicas. Alertava-se para os perigos das 'heresias modernas,
incluindo, juntamente com o espiritismo e a maonaria, o pentecostalismo. Por outro lado, os
'protestantes historicos ou 'classicos tambm demonstraram interesse em compreender as
razes do sucesso pentecostal. Inquietava-lhes o Iato de estarem ja estabelecidos no Brasil
desde o sculo XIX e no terem ultrapassado a condio de 'minoria religiosa, no
conseguindo constituir-se em opo de massas no pais, como ocorria com esses novos
segmentos religiosos. O depoimento de um pastor presbiteriano
21
retrata e ilustra bem a
interpretao Ieita pelo protestantismo diante das repercusses e impactos causados pela
atuao da IURD:
O Br asi l uma t er r a I or mi davel . Da de t udo ( . . . ) Deu par a dar
mi l agr e, agor a, nest a t er r a. Al gum, anj o ou demni o, andou
semeando sobr e as cabeas, a est apaI ur di a i di a do mi l agr e ( . . . )
I or mas aber r ant es do pr ot est ant i smo, num compl et o r epudi o a
t r adi o de cr i t i ca e de equi l i br i o que car act er i zou a ReI or ma,
pr oduzem t ambm os seus t aumat ur gos ( . . . ) O po, o r emdi o, a
i nst i t ui o e a di gni dade do poder publ i co so, posi t i vament e, o
mai or ant i dot o par a a mi l agr ei r i ce ( si c) desenI r eada, que ar r ast a e
expl or a nosso pobr e povo.
2 2
19
Revista Jefa, So Paulo, p. 93, 03 jul. 2002.
20
Ibid.
21
O presbiterianismo consiste numa das ramiIicaes do calvinismo, surgido em Genebra, na Suia, sob a
liderana de Joo Calvino, no periodo da ReIorma Protestante, no sculo XVI. Tal segmento protestante tem
como um dos seus pressupostos teologicos a acumulao de lucro pela tica do trabalho como um sinal da
eleio e bno divinas.
22
BOAVENTURA, Luis Pereira. Jornal O Parana Evangelico, Londrina PR, p. 02, jun. 1980. Exemplar
disponivel no acervo do Centro de Documentao e Pesquisa em Historia - Faculdade Teologica Sul Americana,
em Londrina PR.
22
Entre os proprios segmentos pentecostais no tem sido diIerente a
inquietao acerca da IURD. Diante do episodio envolvendo as 'malas de dinheiro,
anteriormente citado, o inIluente pastor e escritor Ricardo Gondim, lider da Igreja
Assemblia de Deus maior igreja evanglica em numero de membros no Brasil - em tom de
denuncia e protesto proIeriu as seguintes palavras:
As set e mal as chei as de di nhei r o apr eendi das em Br asi l i a pr ovocam
mi nha i ndi gnao. No, no est ou zangado so com a I gr ej a
Uni ver sal do Rei no de Deus e seu pr esi dent e, o deput ado Joo
Bat i st a Ramos. Tambm est ou com r ai va de mi m mesmo. Eu
pr eci sava t er aI i r mado, com t odas as l et r as, que essa i gr ej a uma
empul hao medonha; seus bi spos, pi car et as e seu I undador , um
maqui avl i co est r at egi st a. Por que t i ve r ecei os de denunci ar suas
i nt er mi navei s campanhas de l i ber t ao? Eu no not ava que er am
mer os ar t i I i ci os par a ext or qui r o povo? Lament o no haver nomeado
essa I al sa i gr ej a em ar t i gos. Ha mui t o, per cebi a que o di nhei r o dos
cr ent es er a i nsuI i ci ent e par a bancar suas mega cat edr ai s, r edes de
t el evi so, i numer as est aes de r adi o, avi es, hel i copt er os e
I i nanci ament o de el ei es. A mai or i a do povo br asi l ei r o ganha
sal ar i o mi ni mo e por mai s que compar ecesse a seus var i os cul t os e
I osse espol i ado, no havi a como I i nanci ar t ant a megal omani a. No
ent endo por que no al ar deei que esse cl er o da Uni ver sal compost o
de l obos, que j a nem se pr eocupam de I ant asi ar - se de cor dei r os.
El es r epr esent am a escor i a naci onal . Por que me embar acei com a
pecha que a i mpr ensa l hes dava de char l at es vi gar i st as e
est el i onat ar i os? Eu sabi a que past or es obcecados pel o poder ,
t er mi nam como Luci I er . Eu devi a t er apont ado que o sucesso da
Uni ver sal r esul t ado da sua I al t a de escr upul os. Essa empr esa
r el i gi osa expl or a o povo que mendi ga esper ana. Chegou a hor a de
out r as i gr ej as se uni r em e aI i r mar em, como I i zer am os por t ugueses
ha var i os anos, que a Uni ver sal no evangl i ca. El a pr eci sa ser
apont ada como um movi ment o apost at a, que no pr ega os val or es do
Evangel ho. La, ensi na- se a amar o que Jesus pr oi bi u: di nhei r o,
gannci a e gl or i a humana. Seus cul t os no buscam ger ar uma
espi r i t ual i dade l i vr e. As pessoas so i nduzi das ao medo. El es
i ncut em sent i ment os de cul pa e ger am neur ot i cos r el i gi osos, que
pr eci sam apl acar seus t r aumas com di nhei r o.
2 3
Uma terceira dimenso explicativa engloba propriamente o campo
acadmico. Tm-se avolumado as tentativas de compreenso dessas novas expresses
religiosas, especialmente pelo seu grande apelo as massas e pelo novo perIil por elas criado
em relao as tipologias que ja demarcavam a conIigurao do cenario religioso do pais.
Inicialmente, empenharam-se nessa tareIa alguns cientistas sociais, com destaque para o
trabalho pioneiro de Beatriz Muniz de Souza, publicado em 1969, com o titulo 'A
experincia da salvao: Pentecostais em So Paulo. Porm, nos anos 70 ainda eram poucos
os estudos que se propunham a explicar o signiIicado e o crescimento de grupos pentecostais
no Brasil. E, mesmo em 1984, Rubem Csar Fernandez ainda aIirmava: 'os crentes so
23
http: // www.ricardogondim.com.br/artigos. Acesso em: 27 jul. 2005.
23
minoria no pais e tambm nos estudos sobre religio.
24
Mas Ioi a partir de 1980, com mais
de 13 milhes de adeptos e 80 anos no Brasil, englobando centenas de denominaes de
pequeno, mdio ou grande porte, que as novas expresses evanglicas se tornaram Iinalmente
objeto de grande interesse das pesquisas acadmicas, rendendo a publicao de varios artigos
e livros. A seguir, so apresentados alguns desses principais trabalhos que representam
diIerentes olhares ou interpretaes de autores brasileiros sobre a Igreja Universal. O
proposito observar algumas de suas contribuies, mas, principalmente, os seus limites
explicativos, para que melhor se perceba a necessidade de se avanar no alcance de analise a
partir de um outro parmetro de investigao: o vis historiograIico.
Um detalhado mapeamento da conIigurao do campo religioso brasileiro,
reIerente ao periodo que delineia o advento iurdiano, Ieito por Maria Lucia Montes, na obra
Historia aa Jiaa Privaaa no Brasil, volume 4. Nesse texto , a autora aponta para um
deslocamento do publico para o privado que a 'economia do simbolico tem soIrido no
contexto brasileiro. So sinais dessas mudanas e da ascenso de 'novos Ienmenos
religiosos os seguintes aspectos:
A evi dent e ampl i ao e di ver si I i cao do 'mer cado dos bens da
sal vao. I gr ej as enI i m ger enci adas como ver dadei r as empr esas. Os
moder nos mei os de comuni cao de massa post os a ser vi o da
conqui st a das al mas. I nst i t ui es r el i gi osas que, do pont o de vi st a
or gani zaci onal , dout r i nar i o e l i t ur gi co, par eci am I r agi l i zar - se ao
ext r emo, mai s ou menos ent r egues a i mpr ovi sao aa hoc sobr e
si st emas de cr enas I l ui dos, dei xando ao encar go dos I i i s
compl ement ar em a sua manei r a a r i t ual i zao das pr at i cas r el i gi osas
e o conj unt o de val or es espi r i t uai s que el as supem. Uma mai or
aut onomi a r econheci da aos i ndi vi duos que, um passo adi ant e, ser i am
j ul gados em condi o de escol her l i vr ement e sua pr opr i a r el i gi o,
di ant e de um mer cado em expanso. ( . . . ) Pr ol i I er ao de sei t as,
I ragment ao de cr enas e pr at i cas devoci onai s, seu ar r anj o
const ant e ao sabor de cr enas e pr at i cas pessoai s ou das vi ci ssi t udes
da vi da i nt i ma de cada um.
2 5
Montes registra 'transIormaes proIundas observadas nas ultimas
dcadas no campo religioso brasileiro e que nos anos 90 'emergiram escancaradamente a
superIicie.
26
Essa autora aponta algumas das caracteristicas dessas mutaes. Primeiro, ha
um novo poder de dimenses inditas do protestantismo no Brasil, pais tradicionalmente
considerado catolico. Segundo, uma transIormao importante no proprio campo protestante,
evidenciada pelo crescimento no interior do protestantismo historico e muitas vezes em
24
FERNANDES, R. C. Religies populares: uma viso parcial da literatura recente. Boletim Informativo ae
Cincias Sociais, ANPOCS/ USP, So Paulo, p. 84, 1984.
25
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 63-171.
26
Id., ibid., p. 68.
24
oposio a ele. E, por Iim, a transIormao em curso signiIicava mutao interna,
demonstrada pela proximidade com os compositos das crenas aIro-brasileiras. Tais
remodelaes envolveram maior Iluidez, baixo grau de institucionalizao das igrejas e o uso
dos modernos meios de comunicao de massa a servio da conquista das almas.
As analises Ieitas por Maria Lucia Montes so de grande relevncia,
especialmente por identiIicar um elemento decisivo: a 'Iragmentao de crenas e praticas
devocionais e seu rearranjo ao sabor das inclinaes pessoais ou das vicissitudes da vida
intima de cada um.
27
Porm, trata-se de um trabalho de mapeamento amplo do campo, sem
uma concentrao mais especiIica no caso da Igreja Universal, que o proposito do trabalho
que ora desenvolvemos. Mas a propria autora Iaz uma observao instigante ao lembrar a
necessidade de um aproIundamento na investigao das raizes mais proIundas do recente
rearranjo global do cenario religioso do pais, quando diz que seus 'eIeitos ainda deveriam ser
melhor explorados para que pudessem ser devidamente avaliados. Menciona ainda dois
aspectos que justiIicam a importncia de se trabalhar com conceitos empregados por Pierre
Bourdieu no empreendimento dessas novas pesquisas: a 'economia do simbolico e a
'gnese do campo religioso. Argumenta Montes: 'nunca a economia politica do simbolico
havia parecido mais adequada a explicao do Ienmeno religioso no Brasil;
28
e ainda,
'supe-se que se compreenda em primeiro lugar (...) a gnese das transIormaes que
resultaram na atual conIigurao do campo religioso brasileiro.
29
O sociologo Ricardo Mariano autor de uma dissertao de Mestrado,
apresentada na Universidade de So Paulo, publicada com titulo Neopentecostais. sociologia
ao novo pentecostalismo no Brasil.
30
Esse trabalho se tornou reIerncia na abordagem dessa
tematica. A partir de exaustiva pesquisa de campo, tendo como universo teorico a sociologia
compreensiva de origem weberiana, descreve as mudanas ocorridas no pentecostalismo
brasileiro, apresentando a Igreja Universal como a principal representante desse novo perIil.
Mariano discute as tipologias das Iormaes pentecostais, Iaz relato da historia e da
organizao das denominaes que classiIica como representantes do neopentecostalismo:
Universal do Reino de Deus, Internacional a Graa de Deus, Renascer em Cristo e
Comunidade Evanglica Sara a Nossa Terra; e, por Iim, analisa as caracteristicas distintivas
desse novo segmento evanglico, a saber: a guerra contra o Diabo, a liberao dos usos e
27
Id., ibid., p. 69.
28
Id., ibid.
29
Id., ibid., p. 71.
30
MARIANO, Ricardo. Neopentecostais. sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. So Paulo: Loyola,
1999.
25
costumes e, principalmente, a 'Teologia da Prosperidade. Analisa o papel de seduo que
esse modelo de teologia exerce sobre os adeptos ao propor que os cristos se tornam socios
de Deus a medida que Iinanciam a obra divina, o que lhes outorga o direito de usuIruirem os
melhores produtos oIerecidos pelo mercado, serem Ielizes, saudaveis e vitoriosos em todos os
seus empreendimentos aspectos esses que pem em xeque o velho ascetismo pentecostal.
No obstante a relevncia do trabalho de Mariano, especialmente pelo
pioneirismo da abordagem de um Ienmeno religioso que cada vez mais marcava presena
no pais, a pesquisa apresenta limites: Iica restrita a abordagem de cunho sociologico, no
trabalhando por isso com os elementos historicos mais proIundos de longa durao que
propiciaram o surgimento das praticas como as que se observam no movimento iurdiano;
enIatiza-se bastante o 'estrangeirismo de algumas praticas, como a Teologia da
Prosperidade, como se o campo religioso brasileiro Iosse mais um receptaculo de reproduo
de experincias externas, sem que seja diretamente produtor desses bens simbolicos; essas
novas expresses se projetam por um processo de adaptao ou acomodao aos novos
valores da sociedade, como uma 'religio de mercado, em que ha 'produtores e
'consumidores.
O trabalho do sociologo Leonildo Silveira Campos, intitulado Teatro,
Templo e Mercaao,
31
originalmente uma tese de doutorado, posteriormente publicado,
consiste numa analise minuciosa da Igreja Universal do Reino de Deus em que se destacam
a partir das Iiguras empregadas no titulo a maneira como o sagrado ritualisticamente
vivenciado nas praticas desse segmento religioso e, principalmente, as estratgicas de
mercado empregadas por essa igreja. No obstante os valores da pesquisa, sobretudo pelo
trabalho de campo realizado, a IURD descrita mais como um empreendimento que lana
mo de estratgias de propaganda e marketing, gerenciamento empresarial e investimento
pesado no uso dos meios de comunicao de massa para obteno de seus resultados,
principalmente em relao as camadas mais periIricas da sociedade brasileira. A Universal,
inserida num mercado de bens simbolicos, apresentada como tendo seu Ioco voltado as
necessidades do cliente, demonstrando agilidade no lanamento de novos produtos. O
trabalho de Campos, portanto, no se prope a investigar os elementos culturais de longa
durao que conIiguram as expresses religiosas do pais e que possibilitaram o xito e a
sustentao das praticas que hoje se observam no movimento iurdiano.
31
CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e mercaao. Organizao e marketing de um empreendimento
neopentecostal. Petropolis: Vozes, 1997.
26
O trabalho Igrefa Universal ao Reino ae Deus, os novos conquistaaores aa
fe,
32
apresenta uma coletnea de artigos sobre a expanso internacional da IURD, hoje
presente em mais de 100 paises. Destaca que essa expanso 'eIetuou-se graas a um
verdadeiro imprio Iinanceiro, midiatico e, as vezes, politico, mas tambm graas a sua
grande capacidade de adaptao as diversidades locais. Rapidamente ela superou
numericamente outras igrejas multinacionais, mantendo brasileiros nos postos de comando na
maioria dos paises. Destaca-se, na presente obra, que a IURD procura mobilizar um
imaginario globalizado em diIerentes lugares, porm, Ilexivel para encontrar outras
representaes do Diabo e seus demnios visando a obteno de ressonncia de sua
mensagem. Assim, internacionalmente, a Iormula 'made in Brazil iurdiana se apresenta sob
cores de mestiagem, Iazendo que os pastores se adaptem as condies locais de cultos
carismaticos. Naturalmente, analisar como a IURD consegue xito em outros contextos
culturais, diIerentes daquele que lhe deu origem em solo brasileiro, apresenta-se uma
tematica instigante para pesquisas. Porm, no trabalho aqui proposto, a meta investigar o
espao e as circunstncias que lhe propiciaram originalmente surgimento e projeo, ou seja,
estabelecer como recorte ao campo religioso-cultural brasileiro.
Hlide Maria S. Campos, em dissertao de mestrado de Comunicao
Social, posteriormente publicada com o titulo Catearal Eletrnica, analisa a Igreja Universal
do Reino de Deus como 'igreja eletrnica, ou seja, a nova tendncia de mudana da igreja
para o interior dos lares. A autora se prope a compreender como interagem comunicadores e
destinatarios Irente as cmeras de TV, 'pois muitas pessoas trocaram os bancos das igrejas
pelo conIortavel aconchego de seus soIas.
33
Entretanto, no obstante ao recorrente uso da
TV para a veiculao de sua mensagem, a IURD no deve ser classiIicada como 'igreja
eletrnica, pois o proprio bispo Edir Macedo Iaz questo de posicionar-se contrario a essa
idia. Em entrevista concedida a revista Jefa, o bispo aIirmou que os 'televangelistas
eletrnicos oIerecem espetaculos, que geram pessoas acomodadas em casa e por comodismo
deixam de ir aos templos: 'Sou contra a igreja eletrnica do tipo das existentes nos Estados
Unidos, em que o pastor Iica no video e as pessoas o assistem em casa, distraindo-se com a
campainha da porta ou com o gato que mia. Na minha igreja preIerimos o contato direto com
o povo.
34
32
CORTEN, Andr; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari Pedro (Orgs.). Igrefa Universal ao Reino ae Deus. os
novos conquistadores da I. So Paulo: Paulinas, 2003, p. 23.
33
CAMPOS, Hlide Maria Santos. Catearal eletrnica. Itu SP: Ottoni Editora, 2002, p. 14.
34
Revista Jefa, So Paulo, p. 30, 14 nov. 1990.
27
Outra obra publicada, Converso ou Aaeso. uma reflexo sobre o
neopentecostalismo no Brasil, de Estevam Fernandes de Oliveira,
35
consiste numa dissertao
de mestrado em Sociologia, que se prope a mostrar como o neopentecostalismo,
especialmente a IURD, caracteriza-se pela identiIicao com a cultura religiosa brasileira a
qual combina elementos do catolicismo, religies dos escravos aIricanos e crenas indigenas,
que Iormaram um 'sincretismo, dando origem a uma matriz simbolica, um nucleo comum.
Nesse caso, segundo o autor, no haveria nas propostas da IURD uma 'converso, e sim,
uma 'adeso continuada, sem rupturas com aquele universo cultural matriz, Iacilitada pelo
sincretismo. Dois principais limites podem ser observados nessa perspectiva adotada pelo
autor: primeiro, o emprego do termo 'sincretismo; segundo, a idia de uma 'continuidade
das praticas iurdianas. E preciso ir alm destes aspectos, pois a IURD, mesmo sendo
combinao de elementos, no 'continuidade, no simples ciso, ela se apropria de
elementos do campo e cria algo absolutamente novo. De igual modo preciso haver cuidado
com o emprego do termo 'sincretismo, pois, no caso do campo religioso brasileiro,
'aculturao ou 'hibridismo se tornam conceitos mais plausiveis para analise, como o
veremos mais adiante nesta pesquisa.
Ronaldo Almeida, em artigo intitulado A Universali:ao ao Reino ae
Deus,
36
analisa o discurso religioso elaborado pela IURD assim como o seu expressivo
crescimento. Destaca os conIlitos com a Rede Globo de televiso e com a Igreja Catolica
durante o segundo semestre de 1995; a partir do que so apresentados os elementos internos
da IURD e de que maneira rege sua relao com a sociedade. Falando mais especiIicamente
sobre o perIil dessa igreja, aIirma-se que
Sobr e o t r i p cur a, exor ci smo e pr osper i dade I i nancei r a, e t endo o
di abo como a or i gem de t odos os mal es, a I gr ej a Uni ver sal
demar cou o seu espao no cenar i o da r el i gi osi dade popul ar
br asi l ei r a. Sem mai or es el abor aes t eol ogi cas, est a i gr ej a, mai s do
que qual quer out r a denomi nao evangl i ca, el abor ou uma
mensagem par a at ender as demandas mundanas i medi at as.
3 7
Esse autor comete um equivoco ao aIirmar que a IURD no 'elabora
teologia. Pois ha, sim, em suas praticas, uma Iormulao teologica diIerente, verdade, do
modelo classico mas que se caracteriza pelo 'vivido, pela teologia 'pratica, que nasce de
35
OLIVEIRA, Estevam Fernandes. Converso ou aaeso. Uma reIlexo sobre o neopentecostalismo no Brasil.
Joo Pessoa: Proclama Editora, 2004.
36
ALMEIDA, Ronaldo R. M. A Universalizao do Reino de Deus. Novos Estuaos CEBRAP, So Paulo, n. 44,
p. 12-23, 1996.
37
Id., ibid, p.16.
28
um imaginario Iiltrado pela leitura biblica sem os crivos exegticos dos dogmas
institucionais.
Anders Ruuth, em tese de doutorado sobre da Igreja Universal do Reino de
Deus, destaca que, dentre outros Iatores, a expulso dos jesuitas do Brasil, em 1759, gerou
grande Ialta de sacerdotes e religiosos oIiciais a servio da Igreja Catolica, Iato este que
contribuiu ainda mais para o desenvolvimento de expresses de crenas sem maior controle
institucional, as quais teriam estabelecido o solo no qual movimentos contemporneos, como
a Igreja Universal, Iincam suas raizes. As praticas vivenciadas pela IURD poderiam ser assim
descritas revitalizaes do modo
( . . . ) como uma pessoa, l i vr e das r egr as e r i t uai s das i gr ej as oI i ci ai s,
par t i cul ar ment e da i nst i t ui o r el i gi osa domi nant e, expr essa e
r eal i za os seus ansei os r el i gi osos, apr ovei t ando di I er ent es model os,
ant i gos ou cont empor neos, cr i st os e no- cr i st os par a buscar a
Deus. A pessoa l i vr e par a sol i ci t ar aj uda de r epr esent ant es
r el i gi osos, pr eI er enci al ment e, par a pr esent ear seus deuses como
t ambm par a oI er ecer al go em t r oca.
3 8
O limite de abordagem desse trabalho reside, principalmente, na
perspectiva quase apologtica adotado pelo autor em determinados momentos da pesquisa:
submete as praticas iurdianas a dogmas preconizados pelo protestantismo classico, deixando
transparecer certa deIesa pessoal em relao aos mesmos. Soma-se a essa diIiculdade
metodologica, o distanciamento que o autor mantm de seu objeto de analise, o que diIiculta
uma observao mais 'densa, isto , maior insero no universo vivenciado pelo proprio
grupo, com o proposito de melhor se perceber os elementos que so plausiveis para os seus
agentes.
O trabalho de Clara MaIra, Os Evangelicos, tambm relaciona o
neopentecostalismo as transIormaes ocorridas na conIigurao religiosa do Brasil nas
ultimas dcadas, aIirmando que quando do surgimento da IURD,
O Ri o de Janei r o j a er a um cel ei r o de pr oduo de novas
r el i gi osi dades. Ent r e as camadas popul ar es, as vast as ondas
mi gr at or i as que chegar am a ci dade, especi al ment e do nor dest e,
i nt ensi I i car am o conj unt o de exper i ment os cul t ur ai s, sej a com o
cat ol i ci smo popul ar que se mi st ur ava a umbanda e ao candombl
car i ocas; sej a com o pent ecost al i smo cl assi co que se t or nava mai s
di ger i vel par a uma cl asse mdi a at r avs de uma mai or acei t ao dos
r eI er ent es do 'mundo ( . . . ) . Pr oI et as de t odas as or dens ci r cul avam
nos mai s di ver sos mei os ( . . . ) .
3 9
38
RUUTH, Anders. Igreja Universal do Reino de Deus. Estuaos ae Religio. So Bernardo do Campo, UMESP,
ano XV, n. 20, p. 85, jun. 2001. Artigo extraido da tese de doutorado em Teologia sobre a Igreja Universal do
Reino de Deus, deIendida no ISEDT, Buenos Aires, maio 1995.
39
MAFRA, Clara. Os evangelicos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 37.
29
MaIra desenvolve, em seu texto, mais propriamente um mapeamento geral
do campo religioso, sem maior aproIundamento em casos especiIicos, como o da Igreja
Universal do Reino de Deus.
Outra analise da conIigurao religiosa brasileira atual apresentada pelos
Novos Estuaos CEBRAP. Nesses trabalhos, Pierucci e Prandi, aIirmam que 'no Brasil do
ultimo trinio, a vida religiosa mudou e tem mudado em um grau, uma extenso e uma
velocidade nunca vistos em nossa historia. Ressaltam ainda que este processo, do qual
participam o pentecostalismo, o kardecismo e a umbanda, ' a contraIace do declinio e da
eroso da religio dominante tradicional, o catolicismo, e acrescentam:
O panor ama r el i gi oso br asi l ei r o t em mudado no so por que ha
pessoas que deser t am de seus deuses t r adi ci onai s l ai ci zando suas
vi das e seus val or es, mas t ambm por que ha out r as que em numer o
cr escent e ader em a 'novos deuses, ou ent o r edescobr em seus
vel hos deuses em novas manei r as.
4 0
O antropologo Ari Pedro Oro, da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, na obra Avano Pentecostal e Reao Catolica, considera trs ordens de Iatores
responsaveis pelo crescimento evanglico no Brasil, nos ultimos anos. O primeiro Iato se
deve a ao evangelizadora das proprias igrejas evanglicas que 'se atualizaram, tornaram-se
empreendedoras, aproveitando os recursos da tcnica e da modernidade para uso evanglico.
Na seqncia vem o momento historico Iavoravel, e o que o que Oro descreve como
'esgotamento de modelo religioso. 'Num pais historicamente catolico a existncia de um
ambiente social de tolerncia religiosa Iavoreceu a expanso dos evanglicos, bem como de
outras expresses religiosas declara. E, em terceiro lugar, 'um certo esgotamento de um
modelo religioso historico implantado no Brasil que abriu espaos para outras possibilidades
de modos de ser religioso que as igrejas evanglicas souberam ocupar.
41
O trabalho de Oro
contribui para analise do crescimento do pentecostalismo, sobretudo pelo vis antropologico
adotado o qual valoriza a apropriao pelas novas expresses evanglicas do que chama de
'repertorio simbolico. Porm, a obra no apresenta uma observao mais ampla do
movimento iurdiano, pois prioriza um estudo de caso: o Estado do Rio Grande do Sul.
Outras abordagens de cunho mais acadmico, que primam bastante pelo
vis sociologico, tendem a associar o advento de tal religiosidade a questes de ordem mais
econmica ou social, apontando para a misria, a Ialta de educao, saude e o no
atendimento satisIatorio por parte do Estado das necessidades do ser humano crises que se
40
PIERUCCI, Antnio Flavio; PRANDI, Reginaldo. Religio popular e ruptura na obra de Procopio Camargo.
Novos Estuaos CEBRAP, So Paulo, n. 17, p. 30, 1987.
41
ORO, Ari Pedro. O avano pentecostal e reao catolica. Petropolis: Vozes, 1996.
30
agravaram sobre o pais nas ultimas dcadas - como responsaveis pela recorrncia a tais
praticas. Assim, a antinomia 'riqueza-pobreza continua a ser recorrentemente utilizada para
analise do pentecostalismo em suas diIerentes tipologias como Iorma de se conviver ou se
combater a pobreza, como o demonstram os trabalhos de Cecilia Loreto Mariz e de Maria das
Dores Campos Machado. AIirmam essas autoras que a extrema privao gera uma sensao
de baixa estima, excluso, insegurana e que as religies pentecostais oIerecem experincias
que ajudam a superar esses sentimentos e a restabelecer a dignidade do pobre de diIerentes
maneiras.
42
Os sociologos Richard Shaull e Waldo Csar igualmente representam bem
tal perspectiva, quando aIirmam que o neopentecostalismo se apresentou como uma Iorma
encontrada pela grande massa populacional para superar suas contingncias do dia-a-dia:
O agl omer ado humano pr esent e nos t empl os, sej am membr os ou
si mpl es agr egados, const i t ui do de homens e mul her es par t i ci pes da
gr ande mul t i do que ci r cul a nas r uas da ci dade, dos pobr es que
I or mam o gr osso da popul ao br asi l ei r a.
4 3
Segundo o antropologo Otavio Velho, 'o crescimento tanto do poder de
inIluncia como de prestigio da IURD so provenientes da Iorma como ela conseguiu estar
presente no dia-a-dia das pessoas alm de ajuda-las a organizar suas vidas em Iamilia. Outro
Iator determinante que a igreja deixou de ser, para a sociedade, local apenas para os pobres
ou problematicos, tendo alcanado tambm outras camadas sociais. Ela consegue auxiliar a
populao na resoluo de seus problemas, principalmente nesses anos de tantas mudanas
no pais. Esses locais tm servido de reIerncia para o individuo no apenas na vida espiritual,
mas tambm na area social.
44
Em entrevista ao jornal Folha Universal, o autor aIirma que,
'no momento, as pessoas no esto mais dispostas a dar jeitinhos atravs da dependncia de
santos e promessas. Querem ser respondidas por Deus.
45
Contudo, ha de se ressaltar que o neopentecostalismo representado pela
IURD agrega hoje entre seus adeptos pessoas dos mais variados niveis econmicos e sociais:
desde um contingente que se concentra nas grandes periIerias at artistas Iamosos e
empresarios bem sucedidos. Isso deixa evidente que nas praticas ali desenvolvidas 'a
42
MACHADO, Maria das Dores Campos; MARIZ, Cecilia Loreto. Sincretismo e trnsito religioso:
comparando carismaticos e pentecostais. Comunicaes ao ISER, Rio de Janeiro, n. 45, ano 13, 1994.
43
SHAULL, Richard; CESAR, Waldo. O pentecostalismo e o futuro aas igrefas crists. Petropolis: Vozes: So
Leopoldo: Sinodal, 1999, p. 45.
44
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 106, p. 70, 2004.
45
Folha Universal, Rio de Janeiro, n. 631, 09 maio 2004.
31
clivagem cultural no coincide com a estratiIicao social.
46
Nesse sentido, Paulo BonIatti,
psicologo, acredita que um dos pontos Iavoraveis ao crescimento da aceitao da Universal
na sociedade Ioi sua Iacilidade de adaptao com a linguagem e os costumes do pais. Alm
disso, aIirma que a presena dela na midia tambm pode ser apontada como de grande
organizao, pois gera um eIeito positivo. A igreja mudou sua propria linguagem e Iicou
mais sintonizada com a classe mdia. A propria esttica da programao em suas midias
passou a abordar discusses mais elaboradas, com a presena de especialistas. Acredita que
esteja ocorrendo um Ienmeno bilateral em relao a Universal. As classes mais altas esto
tendo maior simpatia pela Igreja Universal porque ela esta mudando seu discurso e por sua
vez, o discurso da IURD esta mudando pela demanda das classes mais altas.
47
As incurses Ieitas por diIerentes autores, anteriormente destacadas,
apontam elementos importantes que marcam a atual conIigurao do sagrado no campo
religioso brasileiro. Porm, no obstante as contribuies de analise para os propositos mais
especiIicos de suas respectivas areas de conhecimento, esses trabalhos apresentam dois
principais limites: primeiro, no avanam no mbito cultural, e isso impossibilita uma
compreenso mais proIunda do que ocorre nas praticas da Igreja Universal do Reino de
Deus;
48
segundo, no utilizam parmetros teorico-metodologicos mais propriamente
historiograIicos para investigao das Iontes disponiveis para analise deste objeto. Em outras
palavras, ha uma lacuna de pesquisas com perspectivas mais propriamente historiograIicas,
sobretudo pelo vis da cultura, na abordagem de tal tematica. Nesse sentido, vale citar
Ronaldo VainIas quando observa que 'nossos historiadores quase no se dedicaram ao
estudo das 'religiosidades, 'trao essencial da historia e da vida do Brasil, deixando assim
uma 'lacuna que prejudica a compreenso historica de nossa sociedade:
No dei xa de ser i nt r i gant e essa l acuna, sendo o Br asi l at hoj e
embebi do de r el i gi o, pai s cat ol i co onde se mul t i pl i cam sei t as
pr ot est ant es e onde o si ncr et i smo r el i gi oso est a em t oda par t e, como
na Umbanda car i oca. I sso sem I al ar nas aI r i cani dades, como o
candombl bai ano, e nout r os r i t os de mor I ol ogi a compl exa, como os
cat i mbos t r adi ci onai s ou o 'moder no Sant o Dai me. E evi dent e o
46
LE GOFF, Jacques. Para um novo conceito ae Iaaae Meaia. Tempo, trabalho e cultura no ocidente. Lisboa:
Editorial Estampa, 1980, p. 210.
47
BONFATTI, Paulo. A expresso popular ao sagraao. So Paulo: Paulinas, 2000.
48
Algumas abordagens que tm acenado, neste sentido, para um vis mais antropologico, podem ser observadas
nos seguintes trabalhos: no levantamento Ieito por Luiz Eduardo Soares, no artigo 'A guerra dos pentecostais
contra o aIro-brasileiro; dimenses democraticas de conIlitos religiosos no Brasil. Caaernos ao ISER, Rio de
Janeiro, n. 44, ano 12, 1992; na analise Ieita por Pierre Sanchis 'O repto pentecostal a cultura catolico-
brasileira. In: ANTONIAZZI, A. et al. Nem anfos nem aemnios. Interpretaes sociologicas do
pentecostalismo. Petropolis: Vozes, 1996; no artigo de Otavio VELHO, 'Globalizao: antropologia e religio.
Mana, vol. 3, n. 1, 1997. Nesses trabalhos pode-se observar um processo de 'pentecostalizao do campo
religioso brasileiro.
32
cont r ast e ent r e a I or a de nossa r el i gi osi dade e a desat eno de
nossa hi st or i ogr aI i a.
4 9
E preponderante, portanto, uma investigao de mbito historico-cultural
50
em relao as praticas e representaes que so vivenciadas pelo segmento iurdiano a partir
do composito de tradies conIiguradas em capital simbolico, no campo, para compreender
os elementos culturais que do sustentao a tais praticas e que orientam o comportamento
coletivo; analisar o universo da crena que possibilita tais representaes e entender como se
acredita nas praticas ali vivenciadas; compreender o campo social dos objetos simbolicos
utilizados pela IURD, estabelecendo os reIerentes sociais dos simbolos presentes, a Iim de
perceber a sua eIicacia no mbito do grupo e a coeso dada as praticas que ali ocorrem.
51
Pensando-se ento em avanar nesse alcance explicativo, atravs de
criterioso exame da documentao disponivel, imprescindivel estar atento as maniIestaes
que tornam a IURD distintiva: sua relao proIunda com a matriz cultural-religiosa brasileira,
com praticas que demonstram coerncia com as regras do campo, em um processo de
apropriao com criativa resigniIicao de Iertilissimos elementos de um passado de longa
durao. Em outras palavras, suas praticas esto Iincadas nos substratos de elementos
trazidos pelo catolicismo portugus, pelas religies dos escravos aIricanos e pelas crenas
indigenas estabelecidos no campo desde os tempos do Brasil colonial. Essa combinao deu
origem a um pluralismo com intercmbios, Iormando uma matriz simbolica, um nucleo
comum. O eixo principal consiste, portanto, no Iato de que existe uma matriz simbolica
representativa da religiosidade Iolclorica brasileira, que Ioi historicamente Iormada a partir
das interpenetraes dessas trs grandes culturas responsaveis pela Iormao do ethos
brasileiro. Dessa Iorma, em sua Iluidez de reelaboraes, a IURD assume positivamente as
religiosidades Iolcloricas, ao contrario do catolicismo institucional desenvolvido no pais, que
trabalhou tais expresses como um Iundo rebelde; diIerentemente do protestantismo classico,
que optou pelo combate ou rejeio de tais elementos; e, at mesmo, do proprio
pentecostalismo tradicional que, no obstante apresentar algumas aproximaes com a
49
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 02 abr. 2000.
50
Um exemplo disto pode ser observado no trabalho de Natalie Z. Davis, quando analisa os ritos religiosos de
violncia praticados na Frana no sculo XVI e supera a compreenso de mbito econmico-social que havia
sido predominante at os anos de 1960, ao considerar tais Ienmenos pelo vis da cultura, aIirmando que os
mesmos estavam relacionados a um 'estoque de tradies que conIigurava o imaginario daquele periodo. Eram
aes carregadas de simbolismo e de representao. CI. DAVIS, Natalie Z. Ritos de violncia. In: Culturas ao
povo. sociedade e cultura no inicio da Frana noturna. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 129-172.
51
Evitando aqui o longo debate sobre as possiveis diIerenas entre os conceitos de simbolo, signo e sinal, ao
empregarmos aqui os termos 'ritos e simbolos reIerindo-se a todo objeto usado, todo gesto realizado, todo
canto ou prece, toda unidade de espao e de tempo que representa alguma coisa diIerente de si mesma. CI.
TURNER, Victor W. O processo ritual. Estrutura e antiestrutura. Petropolis: Vozes, 1974, p. 29.
33
experincia de possesso existente no campo, mediante 'batismo com o Espirito Santo,
ainda assim busca assegurar 'o Iim da disperso identitaria quanto as expresses culturais
de religiosidades presentes no reIerido do campo.
52
Em conIormidade com as palavras de Jacques Le GoII, de que 'o
historiador tem o dever de colocar questes como eixo do seu trabalho e, em seguida, ver
como respond-las - apoiando-se naquilo que e continua sendo o seu material especiIico,
que so os documentos
53
- cabe, ento, perguntar: Que elementos culturais, relacionados ao
imaginario social, tm possibilitado a construo e a recepo das praticas e das
representaes desse modelo religioso, tornando-o um mecanismo to eIiciente? Em que
contexto historico se deu o surgimento e a projeo dessa Igreja? De que maneira e em quais
dimenses as praticas e representaes vivenciadas pela IURD tm poder de orientar o
comportamento coletivo e atribuir sentido ao grupo? Ou ainda, como as praticas da IURD
promovem mutaes no campo religioso brasileiro?
Buscando compreender mais proIundamente algumas dessas questes, o
conteudo da pesquisa aqui desenvolvida esta distribuido em quatro capitulos. O primeiro tem
um carater teorico-metodologico, no qual se procura estabelecer o lugar e a importncia do
sagrado como objeto da Nova Historia Cultural. Depois de terem sido localizados os nucleos
explicativos de trabalhos que tambm discutem e analisam o Ienmeno iurdiano, so
apontados novos parmetros conceituais, de vis historiograIico, para a abordagem desse
tema. Os pensamentos de Roger Chartier e Pierre Bourdieu se constituem ncora do caminho
metodologico que se procura seguir. Porm, so estabelecidas interIaces com outros autores a
medida que apresentam contribuies para a investigao do tema proposto, havendo para
isto o devido cuidado acadmico de se manter, ao longo de todo o trabalho, os parmetros
teorico-metodologicos norteadores propostos pelos dois autores reIerenciais. Alm disso,
nesse capitulo Ieita a identiIicao das Iontes que Iundamentam a pesquisa, sendo
apresentados os procedimentos metodologicos de como sero utilizados tais documentos,
procurando-se perceber seus limites, possibilidades e problematizaes para a investigao
do tema proposto.
O segundo capitulo esta voltado a analise do contexto historico-social
brasileiro, no periodo correspondente ao desenvolvimento do pentecostalismo. Pesquisa-se a
cultura e a sociedade brasileira, procurando mostrar quais ambientes e elementos contribuem
52
SANCHIS, Pierre. O repto pentecostal a cultura catolico-brasileira. In: ANTONIAZZI, A. et al. Op. cit., p.
47.
53
CASTRO, Celso; FERREIRA, Marieta de M.; OLIVEIRA, Lucia Lippi. Conversanao com Jacques Le Goff.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 115.
34
para a 'exploso do pentecostalismo ocorrida no movimento iurdiano. Com isso, pretende-
se perceber melhor as dimenses de tempo, lugar e circunstncias em que a IURD estabelece
suas raizes e seu alicerce historico; compreender-se mais proIundamente as latncias sociais
que possibilitaram a conIigurao das praticas e representaes vivenciadas com tanta
Iertilidade no mbito dessa Igreja. Nota-se a eIiciente capacidade iurdiana, em articular o
universo simbolico, com condies objetivas de um periodo proIundamente marcado por
crises, que se expressam, por exemplo, na urbanizao e Iormao de grandes periIerias,
globalizao promotora de individualismo e dura competitividade, acelerado processo de
violncia e desagregao social. Sera observado que tal contexto contribuiu como um
componente externo para o surgimento e a operosidade das praticas iurdianas. Nesse capitulo,
ainda, apresenta-se um mapeamento historico de expresses do sagrado que marcadamente
conIiguram o campo religioso brasileiro. Busca-se Iazer um 'trabalho de classiIicao e
delimitao atravs do qual a realidade do campo Ioi 'contraditoriamente construida pelos
diIerentes grupos que o compem e que, de modo direto ou direto, preparam o caminho para
o advento iurdiano.
54
Com isso se pode tambm melhor compreender o processo de
apropriao e resigniIicao Ieito pela IURD desses compositos culturais em relao ao
universo simbolico-ritualistico que marca as suas praticas e representaes.
O terceiro capitulo investiga propriamente o surgimento da IURD e seu
impacto no pais. Busca analisar as praticas que lhe deram origem, possibilitaram-lhe
desenvolvimento, projeo e grande visibilidade social. Seguindo uma das Iormulaes
postuladas por Chartier para a Historia Cultural, quer-se observar as 'Iormas
institucionalizadas e objetivadas graas as quais uns representantes` (instncias coletivas ou
pessoas singulares) marcaram de Iorma visivel e perpetuadas a existncia do grupo ou da
comunidade
55
iurdiana. Sero procuradas respostas a perguntas como: que 'sistemas de
disposies adquiridas pela aprendizagem implicita ou explicita, que Iuncionam como um
sistema de esquemas geradores de comportamento...,
56
promoveram transIormaes na
conIigurao religiosa do Brasil? Quais dinamismos da historia possibilitaram tais mutaes?
Procura-se mostrar ainda o lado objetivo da IURD: sua estrutura, organizao, crescimento;
sua Iora no campo: impactos, mutaes, conIlitos, novidades, modiIicaes; a sua
originalidade, sua teologia inovadora e promotora de disputas; as dimenses de rompimento
com o protestantismo e mesmo com pentecostalismo classico. O Iato que, ao se apropriar
54
CHARTIER, Roger. A Historia Cultural: entre praticas e representaes. DiIel: Lisboa, 1990, p. 22.
55
Ibid.
56
BOURDIEU, Pierre. Questes ae sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983, p. 94.
35
de elementos de uma matriz cultural-religiosa, a IURD realiza um eIicaz rearranjo do campo
religioso brasileiro, ao passo que tambm promove uma evoluo interna do protestantismo,
atravs da Iormao de um habitus pentecostal especiIico.
O quarto capitulo dedicado ao elemento das 'representaes vivenciadas
por esse segmento religioso. Quer-se compreender o seu dinamismo interno, os mecanismos
representacionais e o universo simbolico que orientam o comportamento coletivo no mbito
da IURD. Busca-se entender o conjunto de 'disposies adquiridas o qual Iaz que 'os
agentes que as possuam, comportem-se de uma determinada maneira, em determinadas
circunstncias,
57
e como esse Ioi interiorizado pelos adeptos da IURD, tornando-se gerador
de suas aes. A partir de densa pesquisa de campo, quer se aproIundar nos bastidores desse
movimento, as vivncias internas do seu Iuncionamento: suas especiIicidades, crenas e
comportamentos; seu universo simbolico, a resigniIicao dos ritos e simbolos, magia, a
teatralizao, os exorcismos, os dizimos. Assim, o capitulo investiga os mecanismos culturais
de produo, consagrao e circulao dos bens simbolicos no mbito dessa Igreja; os ritos e
os simbolos como linguagem incorporada na vivncia diaria de lideres e Iiis. Destaca-se
ainda, em tal processo, que o carisma, por exemplo, transIorma-se ali em poder simbolico,
ganhando projeo nas representaes que envolvem os lideres.
Em sintese, a pesquisa desenvolvida percorre o seguinte caminho
metodologico na composio de seus capitulos: no primeiro, so construidos os reIerenciais
teorico-metodologicos para analise do objeto em estudo; no segundo, a localizao do objeto
no seu devido tempo e espao social, com o mapeamento do campo religioso em que se
constituiu todo o composito cultural em que a IURD Iinca suas raizes e do qual se apropria
para desenvolver suas praticas; no terceiro capitulo, a descrio e analise do surgimento da
IURD, sua organizao, crescimento, originalidade e impactos modiIicadores no campo
religioso; e, por Iim, a investigaes das vivncias e especiIicidades internas, os carismas, as
crenas e o universo simbolico resigniIicado que orienta o comportamento coletivo de seus
adeptos. Em linhas gerais, mediante intensivo trabalho de campo, com observaes
participantes nos cultos e reunies promovidos pela Igreja, alm de uso de outras Iontes
primarias, analisa-se o eIiciente processo de apropriao e resigniIicao, ou at mesmo de
desnaturao, que a IURD Iaz em suas praticas de elementos simbolicos culturalmente
dispostos no campo religioso. Tornando-se linguagem, tais sistemas simbolicos so capazes
de orientar comportamento, atribuir sentido e coletivamente conIerir identidade aos que
57
Id., Coisas aitas. So Paulo: Brasiliense, 1990, p. 21, 98.
36
integram esse segmento religioso, ou seja, investigam-se 'as praticas que visam Iazer
conhecer uma identidade social, exibir uma maneira propria de estar no mundo, signiIicar
simbolicamente um estatuto e uma posio.
58
Observa-se que a investigao aqui desenvolvida procura manter o devido
cuidado quanto a um possivel juizo de valor, a partir de qualquer reIerencial de ortodoxia ou
concepo teologica, em relao as praticas e representaes vivenciadas pela Igreja
Universal do Reino de Deus. At porque, segundo Durkheim, no ha 'religies que sejam
Ialsas. Todas so verdadeiras a sua maneira. Todas respondem, ainda que de maneiras
diIerentes, a determinadas condies da vida humana.
59
O que se objetiva, portanto,
compreender como na IURD, atravs de uma historia cultural, 'o presente pode adquirir
sentido, o outro tornar-se inteligivel e o espao, deciIrado.
60
Assim, ao pesquisador de temas
religiosos cabe no a preocupao com a 'verdade ou 'Ialsidade dos elementos que
envolvem seu objeto de pesquisa, mas, ao contrario, a compreenso de que as crenas e as
experincias com o sagrado consistem em praticas culturais e sociais, devendo ser, por isso
mesmo, historicamente investigadas.
58
CHARTIER, R. Op. cit., p. 22.
59
DURKHEIM, Emile. As formas elementares aa viaa religiosa. So Paulo: Paulinas, 1983, p. 31.
60
Id., ibid., p. 17.
37
1 - PARMETROS TERICO-METODOLGICOS PARA UMA HISTRIA
CULTURAL DA IGRE1A UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
1.1 - O lugar do sagrado na Histria Cultural
O desenvolvimento da Igreja Universal do Reino de Deus coincide com um
periodo de signiIicativas transIormaes no campo da pesquisa historiograIica. Assim, a
localizao desse objeto em tal contexto se torna oportuna, pois, devido a seu alcance social e
cultural, representa oportunidade do emprego de novas perspectivas conceituais e
metodologicas conquistadas pela historiograIia para a abordagem do sagrado.
Foi mais especiIicamente a partir dos anos 1960 e 1970 que a Historia
Social adquiriu grande projeo, levando historiadores a optativamente recorrer ou ento
estabelecer interIaces com conceitos e mtodos de outras areas do conhecimento, como a
Sociologia e a Antropologia. Esses novos rumos da Historia, tributarios de trocas
interdisciplinares, vieram a se consolidar na dcada de 1980, com o surgimento da Nova
Historia Cultural, Iazendo que abordagens de temas voltados a religiosidade com maior
alcance popular ganhassem evidncia nessa area de conhecimento, com estreitas
aproximaes dos elementos da cultura.
61
Essa dimenso simbolica e suas interpretaes
passaram a constituir, portanto, um terreno comum sobre o qual se debruam historiadores,
multiplicando-se assim os possiveis objetos de estudo:
O t er r eno comum dos hi st or i ador es da cul t ur a pode ser descr i t o
como a pr eocupao com o si mbol i co e suas i nt er pr et aes.
Si mbol os, consci ent es ou no, podem ser encont r ados em t odos os
l ugar es, da ar t e a vi da cot i di ana ( . . . ) .
6 2
Roger Chartier, ao se reIerir as mudanas tematicas na historiograIia, nesse
periodo, destaca que a religio ganhou evidncia para pesquisa nesse campo do
conhecimento:
O desaI i o l anado a hi st or i a pel as novas di sci pl i nas ( de um I or t e
capi t al soci al ) assumi u di ver sas I or mas ( . . . ) desvi ando a at eno das
hi er ar qui as par a as r el aes, das posi es par a as r epr esent aes
( . . . ) . Dai a emer gnci a de novos obj ect os no sei o das quest es
hi st or i cas: ( . . . ) as cr enas e os compor t ament os r el i gi osos ( . . . ) . O
que r epr esent ou a const i t ui o de novos t er r i t or i os do hi st or i ador
( . . . ) I at o est e que r epr esent ou um 'r et or no a uma das i nspi r aes
I undador as dos pr i mei r os Annal es dos anos 30.
6 3
61
Peter Burke aIirma que desde o 'Iinal do sculo XIX alguns historiadores proIissionais estavam descontentes
com o dominio do politico. CI. BURKE, Peter. Sociologia e Historia. Porto: Edies AIrontamento, 1980, p.
19.
62
BURKE, Peter. O que e Historia Cultural? Rio de Janeiro: Jorge ZAHAR Editor, 2004, p. 10.
63
CHARTIER, R. Op. cit., p. 14.
38
DeIinindo ainda mais detalhadamente esses novos alcances tematicos da
historiograIia, a partir de uma 'historia cultural ancorada em uma sociologia historica da
cultura (...),
64
Chartier apresenta como parte de suas proposies 'compreender as praticas,
complexas, multiplas, diIerenciadas, que constroem o mundo como representao:
Por um l ado pr eci so pensa- l a como a anal i se do t r abal ho de
r epr esent ao, i st o , das cl assi I i caes e das excl uses que
const i t uem, na sua di I er ena r adi cal , as conI i gur aes soci ai s e
concei t uai s pr opr i as de um t empo e de um espao. ( . . . ) Por out r o
l ado, est a hi st or i a deve ser ent endi da como est udo dos pr ocessos
com os quai s se const r oi um sent i do. ( . . . ) Di r i ge- se as pr at i cas que,
pl ur al ment e, cont r adi t or i ament e, do si gni I i cado ao mundo. ( . . . )
Compr eender est es enr ai zament os t endo em cont a as especi I i ci dades
do espao pr opr i o das pr at i cas cul t ur ai s. ( . . . ) .
6 5
A investigao historiograIica tambm passou a enIocar dimenses mais
amplas de poder:
Poder e pol i t i ca passam assi m ao domi ni o das r epr esent aes
soci ai s, col oca- se como pr i or i t ar i a a pr obl emat i ca do si mbol i co
si mbol i smo, I or mas si mbol i cas, mas sobr et udo o poder si mbl i co,
( . . . ) . O est udo do pol i t i co vai compr eender a par t i r dai no mai s
apenas a pol i t i ca em seu sent i do t r adi ci onal , mas em ni vel das
represent aes soci ai s ou col et i vas, as ment al i dades, bem como as
di ver sas pr at i cas di scur si vas associ adas ao poder .
6 6
| gr i I o nosso|
Comentando essas novas dimenses de poder, presente nos novos temas e
abordagens investigativas suscitadas pela Nova Historia, Francisco Falcon comenta:
Rest ar i a, por ul t i mo, t ent ar per ceber a pr esena do poder em obr as
sobr e br uxar i a, magi a, sexual i dade, cot i di ano e out r os t opi cos
per t encent es a esse conj unt o gener i cament e r ot ul ado de hi st or i a das
ment al i dades.
6 7
Observa ainda Chartier que os mecanismos reguladores do Iuncionamento
social e as praticas que promovem as relaes e tecem os vinculos entre os individuos, 'so
todos ao mesmo tempo culturais`, ja que traduzem em atos as maneiras plurais como os
homens do signiIicao ao mundo que o seu. Portanto, 'toda historia, quer se diga
econmica, social ou religiosa, exige o estudo dos sistemas de representao e dos atos que
eles geram. Por isso ela cultural.
68
Destaca-se, tambm, como vocao desse campo do
saber:
64
FALCON, Francisco. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Dominios aa Historia.
Ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 76.
65
Id., ibid, p. 27, 28.
66
CHARTIER, R. Op. cit., p. 14.
67
FALCON, F. Op. cit., p. 89.
68
CHARTIER, Roger. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime. So Paulo: Edunesp, 2003, p. 18.
39
A hi st or i a cul t ur al a que I i xa o est udo das I or mas de
r epr esent ao do mundo no sei o de um gr upo humano cuj a nat ur eza
pode var i ar naci onal ou r egi onal , soci al ou pol i t i ca e de que
anal i sa a gest ao, a expr esso e a t r ansmi sso. Como que os
gr upos humanos r epr esent am ou i magi nam o mundo que os r odei a?
Um mundo I i gur ado, codi I i cado, cont or nado, expl i cado e
par ci al ment e domi nado, dot ado de sent i do ( pel as cr enas e os
si st emas r el i gi osos ou pr oI anos, e mesmo mi t os) , um mundo l egado,
I i nal ment e, pel as t r ansmi sses devi das ao mei o, a educao, a
i nst r uo.
6 9
Em sua obra Jarieaaaes ae Historia Cultural,
70
Peter Burke ressalta que,
mesmo no havendo 'concordncia sobre o que se constitui historia cultural, menos ainda
sobre o que constitui cultura, tem ocorrido atualmente uma ascenso dos 'estudos culturais
em diIerentes abordagens que envolvem as areas de humanidade e sociedade, com
abrangncia hoje de um 'enorme campo.
71
Esse mesmo autor chama de 'virada cultural a
emergncia dos aspectos culturais do comportamento humano como centro privilegiado do
conhecimento historico: uma guinada soIrida pelos estudos historicos, abandonando um
esquema teorico generalizante e movendo-se em direo aos valores de grupos particulares,
em locais e periodos especiIicos. Observa ele que esse modo de compreender a historia
resultou em um certo abandono dos esquemas teoricos generalizantes com valorizao de
grupos particulares, em locais e periodos especiIicos: 'assim, surgiram trabalhos sobre
gnero, minorias tnicas e religiosas, habitos e costumes, incorporando metodologias e
conceitos de outras disciplinas.
72
AIirma ainda que o termo 'cultura continua sendo de diIicil deIinio ou
conceituao, tanto quanto o , tambm, prescindi-lo. Comenta que em meados do sculo
XIX, ou ainda na segunda dcada do XX, a idia de cultura parecia dispensar maiores
explicaes, era entendida como arte, literatura, Iiguras, motivos, temas, sentimentos,
elementos esses encontrados na tradio ocidental a partir dos gregos. Assim a deIiniam
historiadores como Mattheu Arnold, Jacob Burkchardt e Johan Huizinga. Em suma, cultura
era algo que alguns grupos em algumas sociedades tinham, embora Ialtasse a outros.
Para Burke, a conceituao cultural classica no deve ser o modelo para a
Historia Cultural de hoje pelo Iato de no lidar de maneira satisIatoria com algumas
diIiculdades, sendo possivel apontar-lhe pelo menos cinco objees. Primeiro, tende a ignorar
69
RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-Franois (Orgs.) Para uma Historia Cultural. Rio de Janeiro: Editorial
Estampa, 1998, p. 20.
70
BURKE, Peter. Jarieaaaes ae Historia Cultural. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000, p.11-37; 231-
267.
71
Id., ibid., p. 234.
72
BURKE, P. O que e Historia Cultural?, p. 10.
40
a sociedade ou dar pouca nIase a ela, demonstrando uma ausncia de Iundamentos quanto a
inIra-estrutura econmica, estrutura politica e social na maneira como postulada. Segundo,
apresenta dependncia do conceito de unidade ou consenso cultural. Argumenta-se que no
possivel Ialar em consenso e homogeneidade culturais, pois tanto no que se convencionou
chamar de cultura elitizada como na chamada cultura popular, ha variaes e divises, como
por exemplo, de uma regio para outra, entre homens e mulheres, entre ricos e pobres etc.
Terceiro, havia a idia de herana ou legado cultural pela tradio, pressupondo que a
recepo do que Iora dado no soIria variaes. Pondera-se que a cultura marcada por
variaes, transIormaes, modiIicaes. Quarto, adota a idia de cultura implicita,
convencionando-se estabelecer como cultura a 'alta cultura; por isso, atualmente, os
historiadores devem, segundo ele, buscar recuperar a historia da cultura das pessoas
chamadas comuns. E por ultimo, a Historia Cultural classica Ioi escrita pelas elites europias
a respeito de si mesmas. No pode haver uma unica grande tradio, um monopolio de
legitimidade cultural. Ressalta ainda que preciso que os historiadores reconheam cada vez
mais o valor de outras tradies culturais em vez de encara-las como barbarismo ou ausncia
de cultura. Hoje, o apelo da Historia Cultural mais amplo e diversiIicado em termos
geograIicos e sociais. A historia precisa ser reescrita a cada gerao a Iim de que o passado
continue a ser inteligivel para um presente modiIicado.
Peter Burke considera cinco aspectos que marcam este novo vis
historiograIico da cultura. Primeiro, ao se tornar bastante tributaria da Antropologia, a Nova
Historia Cultural promove uma redescoberta da importncia dos simbolos na historia, o que
costuma ser chamado de 'antropologia simbolica. Assim, a historia pode se tornar uma
traduo da linguagem cultural do passado para o presente, dos conceitos da poca estudada
para os de historiadores e seus leitores contemporneos. Segundo, possibilita uma redeIinio
de cultura em relao ao modelo classico, ampliando o seu sentido: no apenas o escrito, mas
o oral; no apenas o drama, mas o ritual; no apenas a IilosoIia, mas as mentalidades das
pessoas chamadas comuns. Burke cita Pierre Bourdieu ao ressaltar que 'A vida cotidiana ou
a cultura cotidiana` Iundamental para essa abordagem, sobretudo as regras` ou
convenes subjacentes a vida cotidiana, e acrescenta: 'Como sugere Bourdieu, o processo
de aprendizagem inclui um padro mais Ilexivel de respostas a situaes que ele chama de
habitus`.
73
Em terceiro lugar, compreende que as tradies no persistem automaticamente.
Citando o conceito de 'reproduo cultural, empregado por Pierre Bourdieu, Burke destaca
73
BURKE, P. Jarieaaaes ae Historia Cultural, p. 247.
41
que as tradies no persistem automaticamente, havendo, pois, necessidade de um grande
esIoro para transmiti-la. A recepo se da de Iorma criativa: tudo o que se transmite, muda.
Assim, melhor Ialar em apropriao criativa, ao invs de transmisso. Com isso, a nIase
deve estar no receptor, mais do que no doador. Os receptores, de maneira consciente ou
inconsciente, interpretam ou adaptam idias, costumes, imagens e tudo o que lhes
oIerecido. Um quarto aspecto que passa a haver um interesse cada vez maior pela historia
das 'representaes, da construo, inveno e imaginao coletiva, desenvolvida a partir da
historia das mentalidades. E, Iinalmente, aponta para o Iato de que preciso que se tenha o
devido cuidado no emprego do termo 'sincretismo, o qual tem sido bastante utilizado por
especialistas da religio, pressupondo hibridismo ou Iuso cultural, em mo dupla. No caso
do Brasil, por exemplo, 'pluralismo ou 'hibridismo talvez seja melhor que sincretismo,
pois 'as mesmas pessoas podem participar das praticas de mais de um culto religioso
lembra esse autor. Ressalta ainda Peter Burke
74
ser uma das vocaes da Historia Cultural
voltar-se para a investigao das crenas e praticas religiosas cotidianas, dos rituais e das
oraes dos 'leigos, dos desvios a ortodoxia, dos aspectos no-oIiciais e inIormais.
Ronaldo VainIas reconhece esse novo espao ocupado pelo sagrado,
aIirmando que a Nova Historia Cultural 'revela especial apreo, tal como a historia das
mentalidades, pelas maniIestaes das massas annimas (...) e sobretudo pelo popular (...) as
crenas heterodoxas.
75
Acrescenta esse autor:
Mul t i pl a, densa e i nst i gant e, a t ei a que l i ga as di ver sas r el i gi es as
di I er ent es e possi vei s I or mas de r el i gi osi dades t em demonst r ado ser
um campo I r t i l par a cont i nuadas r eI l exes t eor i co- met odol ogi cas e
i nvest i gaes hi st or i ogr aI i cas.
7 6
Rioux e Sirinelli tambm destacam esse 'recomeo dos trabalhos no mbito
cultural com interIaces do religioso na historia contempornea:
Lat nci as e hi at os do pr esent e passar am a aspi r ar pel o cul t ur al . So
cont r i bui es que se conI l ui r am em pr ol da hi st or i a cul t ur al : a
hi st or i a r el i gi osa passou a vi ver mai s i nt ensament e a 't enso que a
l i ga ao cul t ur al ; a hi st or i a dos si gnos, das mar cas e dos si mbol os, a
das sensi bi l i dades e dos desvi os ganhou i mpul so ( . . . ) .
7 7
Esse novo vis investigativo passou a contemplar a 'historia das praticas culturais, que
apr esent a a densi dade de um soci o- cul t ur al I i r mement e I i xado no
hor i zont e da i nvest i gao, revi si t ando a rel i gi o vi vi da, as
74
Id., ibid., p. 109 - 128.
75
Id., ibid., p. 148, 149.
76
Id., ibid., p. 352.
77
RIOUX, J. - P. ; SIRINELLI, J. - F. (Orgs.). Op. cit., p. 19, 20.
42
soci abi l i dades, as memor i as par t i cul ar es, as pr omoes i dent i t ar i as
ou os usos e cost umes dos gr upos humanos.
7 8
| gr i I o nosso|
O Ienmeno religioso passou a ganhar, assim, espao privilegiado para a
investigao historiograIica pelo vis cultural. ParaIraseando o titulo de uma obra organizada
por Jacques Le GoII, pode-se dizer que tais historiadores se voltam a 'novos objetos, novos
problemas e novas abordagens.
79
Em capitulo produzido nessa mesma obra, Dominique
Julia observa que todo objeto historico construido pelo historiador e que por isso no mais
se atribui um dominio diIerente e especiIico para o objeto 'religio, entre os historiadores.
80
E, ainda em relao as conexes e proximidades dos elementos cultural e religioso, possivel
aIirmar que o historiador
deve compr eender o si gni I i cado, quer di zer que deve i dent i I i car e
i l umi nar as si t uaes e as posi es que i nduzi r am ou t or nar am
possi vel o apar eci ment o ou o t r i unI o dest a I or ma r el i gi osa num
moment o par t i cul ar da hi st or i a. I sso const i t ui a ver dadei r a I uno
cul t ur al do hi st or i ador das r el i gi es.
8 1
Utilizando como exemplo de analise o que chama de 'o modelo de
encontro, Burke aIirma que nos ultimos anos os historiadores culturais tm se interessado
cada vez mais por encontros e tambm por choques, conIlitos, competies e 'invases
culturais, sem minimizar os aspectos destrutivos desses contatos. O que se tem enIatizado a
maneira como as partes envolvidas em um determinado encontro cultural percebem,
entendem, ou no, umas as outras. Desse modo, torna-se necessario considerar o processo de
assimilao em via de mo dupla, mediante conIlitos, circularidades e emprstimos culturais.
O emprego do termo 'cultural, pois, em seu vis historiograIico, dever
abarcar de Iorma ampla e abrangente o contexto de uma determinada sociedade, como aIirma
L. Hunt:
As r el aes econmi cas e soci ai s no so ant er i or es as cul t ur ai s,
nem as det er mi nam; el as pr opr i as so os campos de pr at i ca cul t ur al
e pr oduo cul t ur al o que no pode ser dedut i vament e expl i cado
por r eI er nci a a uma di menso ext r acul t ur al da exper i nci a.
8 2
ConIorme Roger Chartier prope, as conIiguraes culturais e produes
sociais que tm dimenso historica - devem ser concretamente investigadas, sem que haja a
78
Id., ibid., p. 21, 22.
79
LE GOFF, Jacques (Org.) Historia, novas aboraagens. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.
80
Id., ibid., p. 106 - 136.
81
ELIADE, Mircea. La nostalgie es origines. mthodologie et histoire des religions. Paris: Gallimard, 1978, p.
18.
82
HUNT, Lynn (Org.) A Nova Historia Cultural. So Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 9.
43
designao do cultural como um dominio particular de produes e de praticas, supostamente
distinto de outros niveis, do econmico do social ou politico:
A cul t ur a no est a aci ma ou ao l ado das r el aes econmi cas e
soci ai s, e no exi st e pr at i ca que no se ar t i cul e sobr e as
r epr esent aes pel as quai s os i ndi vi duos const r oem o sent i do de sua
exi st nci a um sent i do i nscr i t o nas pal avr as, nos gest os, nos
r i t os.
8 3
A cultura, ressalta Chartier, 'no esta acima nem ao lado das relaes
econmicas e sociais, e no existe pratica que no se articule sobre as representaes pelas
quais 'os individuos constroem o sentido de sua existncia:
Todas as r el aes e per cepes do mundo soci al so ao mesmo
t empo 'cul t ur ai s, j a que t r aduzem em at os as manei r as pl ur ai s
como os homens do si gni I i cao ao mundo que o seu. Por t ant o,
t oda hi st or i a, quer se di ga econmi ca, soci al ou r el i gi osa, exi ge o
est udo dos si st emas de r epr esent ao e dos at os que el es ger am. Por
i sso el a cul t ur al .
8 4
Peter Burke destaca que, de 30 anos para ca, ocorreu um deslocamento
gradual no uso do termo cultura pelos historiadores. Antes empregado para se reIerir a alta
cultura, ele agora inclui tambm a cultura cotidiana, ou seja, costumes, valores, modo de
vida. Em outras palavras, os historiadores se aproximaram da viso de cultura dos
antropologos.
85
Lembra que o antropologo inspirador da maioria dos historiadores culturais
da ultima gerao Ioi CliIIord Geertz, com a 'teoria interpretativa da cultura. Nesse aspecto,
importante estudar a cultura interrogando-se o sistema social no qual ela se desenrola, sem
se ver o conjunto em que os diIerentes elementos se transIormam. Segundo Geertz, o
comportamento humano precisa ser visto como uma ao simbolica e, por isso, o que se deve
indagar no o seu status ontologico e sim o que esta sendo transmitido com a sua
ocorrncia. AIirma esse autor que 'a cultura publica porque o signiIicado o .
86
Entende-a
como 'sistema entrelaado de signos (simbolos) interpretaveis (...) um contexto, algo dentro
do qual eles podem ser descritos de Iorma inteligivel isto , descritos com densidade,
87
e
especiIica ainda mais o seu conceito ao aIirmar que ela
denot a um padr o de si gni I i cados t r ansmi t i do hi st or i cament e,
i ncor por ado em si mbol os, um si st ema de concepes her dadas
expr essas em I or mas si mbol i cas por mei o dos quai s os homens
comuni cam, per pet uam e desenvol vem seu conheci ment o e suas
at i vi dades em r el ao a vi da.
8 8
83
CHARTIER, R. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 18.
84
Id., ibid.
85
BURKE, P. Jarieaaaes ae Historia Cultural, p. 48.
86
GEERTZ, CliIIord. A interpretao aas culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p. 22.
87
Id., ibid., p. 24.
88
Id., ibid., p. 22.
44
Assim, percebe-se que - inscrevendo-se proIundamente na cultura
brasileira, e apoiando-se nos signos e na simbologia dos objetos - a IURD descobriu maneiras
de puxar os Iios invisiveis da memoria, tornando-se um 'sistema simbolico. Isso tambm
esta em consonncia com as consideraes ainda Ieitas por Geertz:
os si mbol os sagr ados I unci onam par a si nt et i zar o et hos de um povo
e sua vi so de mundo ( . . . ) Demonst r am r epr esent ar um t i po de vi da
i deal ment e adapt ado ao est ado de coi sas at ual que a vi so de mundo
descr eve, enquant o est a vi so de mundo t or na- se emoci onal ment e
convi ncent e por ser apr esent ada como uma i magem de um est ado de
coi sas ver dadei r o, especi al ment e bem- ar r umado par a acomodar t al
t i po de vi da ( . . . ) A r el i gi o aj ust a as aes humanas a uma or dem
cosmi ca i magi nada, e pr oj et a i magens dest a or dem no pl ano da
exper i nci a humana.
8 9
Isso se constitui importante objeto da Historia Cultural, pois, ha, como
aIirma Peter Burke:
( . . . ) o desenvol vi ment o de uma consci nci a cada vez mai or ent r e os
hi st or i ador es, da I or ma como aqui l o a que chamam 'r eal i dade se
encont r ar medi at i zado por const r ues ou r epr esent aes cul t ur ai s,
ou sej a, uma consci nci a cada vez mai or da i mpor t nci a e da
di I uso do si mbol i smo.
9 0
Descrever uma cultura seria ento compreender as relaes que nela se
encontram entrelaadas, o conjunto das praticas que nela exprimem as representaes do
mundo, do social ou do sagrado. Daniel Roche aIirma que o conceito de cultura continua a
ser um vocabulo bastante ambiguo e ressalta que o emprego desse termo nada resolve se no
Ior relacionado 'com os grupos sociais, com as dinmicas identitarias das sociedades, em
territorios e conjuntos geograIicos historicamente construidos. E que, para uns, a cultura
molda-se imediatamente nas perspectivas da antropologia, enquanto que para outros a
'aposta-meio para medir excluses ou traar Ironteiras, trajetorias, habitos adquiridos,
transmitidos, divulgados, objetos de luta e de imitao.
91
E preciso ento conceder ateno as condies e aos processos que muito
concretamente 'orientam as operaes de construo do sentido, ressaltando que as
inteligncias no so desencarnadas, e que as categorias aparentemente mais invariaveis
devem ser 'constituidas na descontinuidade das trajetorias historicas:
A hi st or i a cul t ur al t al como a ent endemos, t em por pr i nci pal obj et o
i dent i I i car o modo como em di I er ent es l ugar es e moment os uma
det er mi nada r eal i dade soci al const r ui da, pensada, dada a l er . A
89
Id., ibid., p. 104.
90
BURKE, Peter. O munao como teatro. Estudos de Antropologia Historica. Lisboa: DIFEL, 1992, p. 26.
91
ROCHE, Daniel. Uma declinao da luzes. In: RIOUX, J. - P. ; SIRINELLI, J. - F. (Orgs.). Op. cit., p. 2.
45
apr opr i ao como a ent endemos, t em por obj et i vo uma hi st or i a
soci al das i nt er pr et aes, r emet i das par a as suas det er mi naes
I undament ai s ( que so soci ai s, i nst i t uci onai s, cul t ur ai s) e i nser i das
nas pr at i cas especi I i cas que as pr oduzem.
9 2
Evidentemente, o Brasil um pais multicultural e, como tal, no possui
uma, mas varias culturas, realidade essa decorrente de um processo historico ainda em
permanente movimento, o qual sera analisado na abordagem do tema proposto neste trabalho.
'O melhor seguir o exemplo de varios historiadores e teoricos recentes e pensar culturas
populares no plural.
93
Porm, entendendo que essa cultura ' plural, mas no caotica,
94
cabe ento investigar o papel que o Ienmeno religioso desempenha nesse processo de
atribuio de sentido e promoo de coerncia as praticas e comportamento atravs de
organizaes religiosas. Uma historia cultural em busca de crenas e gestos aptos a
caracterizar suas expresses em um periodo temporal que se recorta, sobretudo, nas trs
ultimas dcadas no Brasil. Tal delimitao necessaria para o desenvolvimento de 'uma
historia cultural que esteja preocupada antes de tudo em compreender usos e praticas. (...) que
esteja sensivel a analise de Iuncionamentos culturais concretos e localizados, como observa
Chartier, o qual tambm acrescenta:
E 't ar eI a i mpossi vel descr ever uma cul t ur a na t ot al i dade de
r el aes que nel a se encont r am ent r el aadas, no conj unt o das
pr at i cas que nel a expr i mem as r epr esent aes do mundo, do soci al
ou do sagr ado. Por i sso, abor da- l as supe uma at i t ude di I er ent e, que
I ocal i ze a at eno sobr e as pr at i cas par t i cul ar es, obj et os
especi I i cos, usos det er mi nados.
9 5
Em suas pesquisas sobre a leitura na Frana, esse autor argumenta que era
praticamente impossivel rotular objetos ou praticas culturais como 'populares. As elites da
Europa Ocidental, no comeo dos tempos modernos, eram 'biculturais. AIirma que o
popular era ali normalmente deIinido por sua diIerena com aquilo que ele no era: a
literatura erudita de um lado, catolicismo dos clrigos do outro. Mas ' justamente esse
postulado, e a distino popular/erudito que o Iundamenta, que parece ser necessario
questionar ressalta Chartier, pois, 'onde se acreditava descobrir correspondncias estritas
entre clivagens culturais e oposies sociais, existem antes circulaes Iluidas, praticas
compartilhadas, diIerenas indistintas.
96
Logo, no se deve 'sobrepor clivagens sociais e
diIerenas culturais:
92
Id., ibid., p. 16, 17.
93
BURKE, P. Jarieaaaes ae Historia Cultural, p. 41.
94
BOSI, AlIredo (Org.). Cultura brasileira. temas e situaes. So Paulo: Atica, 1987, p. 7.
95
CHARTIER, R. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 18, 19.
96
Id., ibid., p. 8.
46
Todas as I or mas e pr at i cas nas quai s os hi st or i ador es j ul gar am
det ect ar a cul t ur a do povo, na sua r adi cal or i gi nal i dade, apar ecem
como l i gando el ement os di ver sos, composi t os, mi st ur ados. E o que
ocor r e com a r el i gi o 'popul ar . Por um l ado, bem cl ar o que a
cul t ur a I ol cl or i ca que l he ser ve de base I oi pr oI undament e
t r abal hada pel a i nst i t ui o ecl esi ast i ca, que no apenas
r egul ament ou, depur ou, censur ou, mas t ambm t ent ou i mpor a
soci edade i nt ei r a a manei r a como os cl r i gos pensavam e vi vi am a
I comum. A r el i gi o da mai or i a I oi , por t ant o, mol dada por esse
i nt enso esI or o pedagogi co vi sando I azer cada um i nt er i or i zar as
deI i ni es e as nor mas pr oduzi das pel a i nst i t ui o ecl esi ast i ca.
9 7
Assim, necessario superar o postulado que pressupe 'detectar a cultura
do povo, na sua radical originalidade, para que se percebam praticas que ligam 'elementos
diversos, compositos, misturados.
98
A religio 'popular ressalta Chartier, , ao mesmo
tempo, aculturada e aculturante: ela no nem radicalmente distinta da religio dos clrigos
nem totalmente modelada por ela.
99
E, nesse sentido, conIigura o campo religioso brasileiro
uma compl exa i nt er ao de cr enas e i di as r el i gi osas que se
amal gamar am num pr ocesso que t eve, como desdobr ament o, a
gest ao de uma ment al i dade r el i gi osa mdi a dos br asi l ei r os em
ger al , i ndependent ement e da si t uao soci al em que se encont r em
( . . . ) Essa ment al i dade expandi u sua base soci al num det er mi nado
moment o hi st or i co, sendo i ncor por ada ao i nconsci ent e e ao
consci ent e col et i vos.
1 0 0
Por isso, uma compreenso da circulao dos objetos e dos modelos
culturais 'no se reduz a uma simples diIuso, geralmente pensada como descendo de cima
para baixo no corpo social.
101
Robert Darnton, por exemplo, em sua obra O Granae
Massacre ae Gatos, aponta para o Iato de que preciso superar as Ironteiras estanques que
convencionalmente se estabeleceram entre cultura erudita e cultura popular, uma vez que
ambas lidam com 'o mesmo tipo de problema, aproximando 'intelectuais e pessoas do
povo.
102
Roger Chartier, no comentario Ieito a esse trabalho de Darnton, destaca de maneira
bastante elucidativa as contribuies da Antropologia para a Historia Cultural, apontando tal
abordagem como um 'modo antropologico da historia:
A ant r opol ogi a t em mui t o a oI er ecer ao hi st or i ador : uma abor dagem
( ganhar a ent r ada em out r a cul t ur a a par t i r de um r i t o, t ext o ou at o,
apar ent ement e i ncompr eensi vel ou opaco) ; um pr ogr ama ( 't ent ar ver
as coi sas a par t i r do pont o de vi st a do nat i vo, ent ender o que el e
quer di zer e buscar di menses soci ai s do si gni I i cado) ; e um
concei t o de cul t ur a ( como o 'mundo si mbol i co no qual si mbol os
compar t i l hados ser vem ao pensament o e a ao, mol dam
97
Id., ibid., p. 9.
98
CHARTIER, R. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 9.
99
Id., ibid.
100
BITTENCOURT FILHO, Jos. Sociologia aa religio no Brasil. So Paulo: PUC, 1998, p. 99.
101
CHARTIER, R. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 17.
102
DARNTON, Robert. O granae massacre ae gatos e outros episoaios aa Historia Cultural Francesa. Rio de
Janeiro: Graal, 1986, p. XVIII.
47
cl assi I i cao e j ul gament o, e I or necem avi sos e acusaes) .
Ent ender uma cul t ur a, ent o, aci ma de t udo r edescobr i r as
si gni I i caes i nvest i das nas I or mas si mbol i cas das quai s a cul t ur a
se ut i l i za.
1 0 3
No se deve, por conseguinte, estabelecer uma correlao simples e
imediata entre cultura e classe social, como se todos os que so pertencentes a uma
determinada categoria social tivessem uma mesma apreenso ou atribuio de sentido a um
bem cultural. E preciso salientar que 'as clivagens culturais nem sempre coincidem com as
clivagens de classe,
104
como tambm o observa Chartier:
Ant es de mai s, dei xou de ser sust ent avel pr et ender est abel ecer
cor r espondnci as est r i t as ent r e cl i vagens cul t ur ai s e hi er ar qui as
soci ai s ( . . . ) Pel o cont r ar i o, o que necessar i o r econhecer so as
ci rcul aes f l u das, as pr at i cas par t i l hadas que at ravessam os
hori zont es soci ai s.
1 0 5
| gr i I o nosso|
Essa 'travessia dos horizontes sociais pode ser exempliIicada nas palavras
de Victor Turner: 'As pessoas da Iloresta, do deserto e da tundra reagem aos mesmos
processos como as pessoas das cidades, das cortes e dos mercados.
106
A essa compreenso se
aplicam ainda as palavras de Chartier, quando destaca os desaIios que se apresentam ao
trabalho historiograIico:
EnI i m, ao r enunci ar ao pr i mado t i r ni co do r ecor t e soci al par a dar
cont a dos desvi os cul t ur ai s, a hi st or i a em seus ul t i mos
desenvol vi ment os most r ou, de vez, que i mpossi vel qual i I i car os
mot i vos, os obj et os, ou as pr at i cas cul t ur ai s em t er mos
i medi at ament e soci ol ogi cos e que sua di st r i bui o e seus usos numa
dada soci edade no se or gani zam necessar i ament e segundo di vi ses
soci ai s pr vi as, i dent i I i cadas a par t i r de di I er enas de est ado e de
I or t una. Donde as novas per spect i vas aber t as par a pensar out r os
modos de ar t i cul ao ent r e as obr as ou as pr at i cas e o mundo soci al ,
sensi vei s ao mesmo t empo a pl ur al i dade das cl i vagens que
at r avessam uma soci edade e a di ver si dade dos empr egos de
mat er i ai s ou de codi gos par t i l hados.
1 0 7
Outro aspecto a ser considerado que as instituies eclesiasticas se
propem, normalmente, no apenas a regulamentar, depurar, censurar, mas tambm impor a
sociedade inteira a maneira como os clrigos pensam e vivem a I comum. Propondo sempre
ser a religio da maioria, tais instituies dedicam 'intenso esIoro pedagogico visando Iazer
cada um interiorizar as deIinies e as normas por elas produzidas.
108
Mas as tentativas de
103
CHARTIER, Roger. Textos, simbolos e o espirito Irancs. Historia. questes e aebates. Curitiba, Associao
Paranaense de Historia APAH, p. 7, jul./dez., 1996.
104
AIirmao do ProI. Dr. Milton Carlos Costa, em aula da disciplina Historia e Cultura, ministrada em 29 de
novembro de 2002 UNESP/campus de Assis SP.
105
CHARTIER, R. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 134.
106
TURNER, V. W. Op. cit., p. 6.
107
CHARTIER, Roger. O mundo como representao. Estuaos Avanaaos, So Paulo, USP, n. 11, p. 177, 1991.
108
Id. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 9.
48
controle a partir de exigncias reguladoras se deparam com habitos arraigados, com
interpretaes proprias por parte do povo que recebe tais prescries. Por isso, como ressalta
Chartier, preciso substituir uma caracterizao global, unitaria, das Iormas culturais por
uma apreenso mais complexa que busca descobrir os cruzamentos e tenses que a
constituem, buscando-se investigar o inventario de modalidades multiplas bem como a
pluralidade das praticas culturais que atravessam o corpo social.
109
A Historia Cultural
possibilita instrumentais e parmetros para se investigar tal articulao:
Est a hi st or i a ( Hi st or i a Cul t ur al ) deve ser ent endi da como o est udo
dos pr ocessos com os quai s se const r oi um sent i do ( . . . ) di r i ge- se as
pr at i cas que, pl ur al ment e, cont r adi t or i ament e, do si gni I i cado ao
mundo. Dai a car act er i zao das pr at i cas di scur si vas como
pr odut or as de or denament o, de aI i r mao de di st nci as, de
di vi ses.
1 1 0
Isso signiIica, no caso do campo religioso brasileiro, desenvolver uma
investigao sobre o inventario constituido em 'capital simbolico que possibilitou as
representaes e praticas vivenciadas pela IURD, levando em considerao o pluralismo
religioso que evidencia, por exemplo, a ineIicacia dos esIoros empreendidos pelas
instituies sacerdotais no sentido de moldar os pensamentos e as condutas da maioria. Tal
aspecto esta em consonncia com o pensamento de Roger Chartier, quando aIirma que 'o
destino historiograIico da cultura popular, portanto, ser sempre suIocada, reprimida,
destruida, e ao mesmo tempo sempre renascer de suas cinzas.
111
Por isso, essas praticas so
'criadoras de usos ou de representaes que no so absolutamente redutiveis as vontades
dos produtores de discursos e de normas, Iazendo que a aceitao dos modelos e das
mensagens propostas 'opere-se por meio dos arranjos, dos desvios, as vezes das resistncias,
que maniIestam a singularidade de cada apropriao.
112
Dai o surgimento de um caminho
metodologicamente plausivel que Iocalize 'a ateno sobre praticas particulares, objetos
especiIicos, usos determinados,
113
como o caso da Igreja Universal do Reino de Deus,
objeto de investigao desse trabalho. Em dado momento e circunstncias historicas, essa
Igreja surgiu tecendo a sua teia de sentidos, conIigurada por discursos, ritos e praticas,
Iazendo convergir eIicazmente para si a diversidade cultural e religiosa do contexto
brasileiro.
109
Id., ibid., p. 10.
110
Id., ibid., 28.
111
CHARTIER, Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 15.
112
Id., ibid., p. 13.
113
Id. Ibid., p. 18.
49
Finalizando esse item, ha de se observar que, tendo como ponto de partida o
principio de que os elementos culturais perpassam a todas as categorizaes sociais como
descrito anteriormente sero empregados nessa pesquisa os termos 'cultura Iolclorica e
'cultura clerical como reIerncia ao que as vezes se convenciona chamar de 'cultura
popular e 'cultura erudita. Esse o procedimento adotado por Jacques Le GoII,
quando
analisa, no contexto medieval, tradies culturais bastante populares em oposies e conIlitos
com praticas adotadas pelas instituies mais clericalizadas. Le GoII observa em tal processo
um dinamismo cultural de inIluncias eIicazmente mutuas, sem unilateralidades, com
permeabilidades, 'no havendo restrio a estratiIicao social.
114
1.2 - Um caminho metodolgico a partir de Chartier e Bourdieu
Considerando as estreitas aproximaes que a Nova Historia Cultural Iaz da
Antropologia e Sociologia, como dito anteriormente, a analise aqui desenvolvida bastante
tributaria de conceitos empregados por Pierre Bourdieu. As contribuies desse autor para a
Historia Cultural tm sido destacadas por pesquisadores desse vis historiograIico:
Os concei t os e t eor i as que | Bour di eu| pr oduzi u em seus est udos,
pr i mei r o sobr e os ber ber es e depoi s sobr e os I r anceses, so de
gr ande r el evnci a par a os hi st or i ador es cul t ur ai s. I ncl uem o
concei t o de 'campo, a t eor i a da pr at i ca, a i di a de r epr oduo
cul t ur al e a noo de 'di st i no. ( . . . ) Suas expr esses 'capi t al
cul t ur al e 'capi t al si mbol i co ent r ar am na l i nguagem cot i di ana de
soci ol ogos, ant r opol ogos e de pel o menos al guns hi st or i ador es.
1 1 5
Tem-se considerado Bourdieu como um dos teoricos que 'levaram os
historiadores culturais a se preocuparem com as representaes e as praticas, os dois aspectos
caracteristicos da Nova Historia Cultural segundo um de seus lideres, Roger Chartier.
116
Destaca-se a reIerncia Ieita por esse autor as contribuies de Bourdieu para essa
perspectiva historiograIica: 'Gostaria de sublinhar a importncia do trabalho de Bourdieu (...)
para a pratica da historia cultural. (...) Para a deIinio de uma dimenso historica de todas as
cincias sociais (...).
117
Acrescenta tambm esse autor:
Bour di eu aj udou os hi st or i ador es a se di st anci ar em da her ana da
hi st or i a das ment al i dades par a r eI l et i r em de uma manei r a mai s
compl exa, ou mai s sut i l , sobr e a r el ao ent r e as det er mi naes
ext er nas, a i ncor por ao dest as det er mi naes e, I i nal ment e, as
aes.
1 1 8
114
LE GOFF, J. Para um novo conceito ae Iaaae Meaia. Tempo, trabalho e cultura no ocidente, p. 214-216.
115
BURKE, P. O que e Historia Cultural?, p. 76, 77.
116
Ibid., p. 78.
117
CHARTIER, R. Pierre Bourdieu e a historia. Topoi, Rio de Janeiro, URFJ, n. 4, p. 139, 2002.
118
Id., ibid., p. 152.
50
Chartier comenta ainda detalhes sobre o percurso de um caminho
metodologico a partir do pensamento de Bourdieu:
Mas o mai s i mpor t ant e t r abal har com Bour di eu ( . . . ) Tr abal har os
seus concei t os, mas i r al m, t r abal har com as suas per spect i vas,
com a i di a de um pensament o r el aci onal e a r epul sa a pr oj eo
uni ver sal de cat egor i as hi st or i cament e deI i ni das. ( . . . ) Exi st e a
possi bi l i dade de um t r abal ho com Bour di eu que no si mpl esment e
a r epr oduo de sua t eor i a, mas a capaci dade de uma i novao
pr opost a por seus i nst r ument os t eor i cos, anal i t i cos e cr i t i cos.
1 1 9
Chartier destaca, por exemplo, a contribuio da obra As Regras ae Arte, de
Bourdieu, para a transIormao das praticas de historiadores culturais. Primeiramente, porque
esse trabalho se contrape aos postulados classicos da literatura e da arte calcados na 'Iigura
do criador incriado ou seja, na idia de que cada obra possui uma singularidade irredutivel
(...) na idia de que ha uma disposio universal ao juizo esttico.
120
Sublinha a necessidade
de se reintroduzir a dimenso historica as categorias que, muitas vezes, so tomadas como
universais e invariaveis. E preciso situar as expresses culturais em cada momento historico
particular, deIinindo o seu contexto, 'por quais razes Ioram estabelecidas e marcar a
impossibilidade de utiliza-las retrospectivamente sem precauo e sem risco de
anacronismo.
121
Outra contribuio, nesta obra, reside na insero dos agentes culturais em
uma rede de relaes visiveis ou invisiveis presentes nos respectivos campos em que esto
inseridos. Essas relaes se maniIestam em Iormas de coexistncia, de sociabilidade, ou de
relaes entre individuos ou de relaes mais abstratas ou estruturais que organizam o
campo. A idia do pensamento relacional permite, assim, 'repelir a idia do individuo
isolado, do gnio singular e tambm a idia de uma universalidade das categorias de
atribuio de sentido.
122
Bourdieu no tem como metodologia pensar a teoria de Iorma separada de
sua pesquisa empirica. Os conceitos empregados por esse autor no so construidos para
depois serem testados na pratica, como se a teoria precedesse a pratica de uma Iorma
mecnica. Os conceitos so construidos na medida em que a analise empirica vai criando
necessidade desses. Nessa proposio, em sua obra Esboo ae Auto-Analise,
123
apresenta a
sua propria experincia como objeto de analise e procura entender sua insero e trajetoria no
campo intelectual. Procurando deixar claro que no elabora uma autobiograIia, busca reIletir
119
Id., ibid., p. 146, 147.
120
Id., ibid.
121
Id., ibid., p. 140.
122
Id., ibid.
123
BOURDIEU, Pierre. Esboo ae auto-analise. So Paulo: Companhia das Letras, 2005.
51
sobre o passado 'por meio do inqurito que ele mesmo Iora reIinando como mtodo de
trabalho.
124
Ao analisar sua carreira acadmica, o autor descreve um mtodo de trabalho
tendo como reIerenciais os conceitos que nortearam as suas pesquisas. Primeiro, a Iormao
de seu habitus, marcada pela origem social humilde, pela vivncia Iamiliar e pelos ritos de
passagem na adolescncia; segundo, a sua insero no campo acadmico e a relao com as
respectivas regras nele existentes, marcadas pelo xito escolar, pela experincia como
sociologo na Arglia e, principalmente, pelos conIlitos causados no campo, tanto pelo espao
que conquista, quanto pela Iorma com que o modiIica; terceiro, a disputa pela consagrao e
pela constituio de um capital simbolico envolvendo as disciplinas e os pensadores nas
cincias humanas no campo intelectual de que Iaz parte.
Vale dizer que elementos da Antropologia
125
consistem em Ionte de
reIlexo eminente para Bourdieu, principalmente em relao a importncia dos sistemas de
relao entre individuos e grupos sociais para compreender os Ienmenos sociais. Em tal
perspectiva, postula-se que Iundamental considerar dois elementos: primeiro, o sentido que
os agentes conIerem as suas aes; segundo, a noo de estratgia, segundo a qual os agentes
sociais tm a capacidade de enIrentar situaes imprevistas e constantemente renovadas,
sabendo estabelecer, nos diversos campos sociais, relaes entre os meios e os Iins para
adquirir bens raros. Nesse sentido, cabe ainda observar que, em termos de Iiliao teorica,
Bourdieu tem como uma de suas importantes matizes Max Weber, de quem adota
principalmente o papel das representaes na analise da sociedade assim como o conceito de
legitimidade. Postulando que o conhecimento da ao social passa pelo sentido que o
individuo lhe conIere, a posio de Weber se ope a explicao puramente naturalista,
objetivista, Iundando assim a sociologia compreensiva. Em tal perspectiva, a ao humana se
orienta de acordo com um sentido que se deve compreender, para torna-la inteligivel. Os
comportamentos humanos tm a especiIicidade de se deixarem interpretar de modo
compreensivo.
Outra importante contribuio do pensamento de Bourdieu para a pesquisa
historiograIica e, de modo particular, para a investigao do objeto aqui em analise - reside
na aproximao que consegue promover de aspectos conceituais-metodologicos normalmente
conIlitivos na elaborao da pesquisa cientiIica. Segundo ele, essas oposies artiIiciais no
124
Id., ibid., contra-capa.
125
Pierre Bourdieu desenvolveu trabalho de campo na Arglia. Em 1972, publicou Esquisse aune theorie ae la
pratique, obra em que analisa reIinadamente Iatos sociais como o desaIio, o parentesco e a casa cabila. O
proprio Bourdieu destaca a importncia desta experincia como etnologo: 'Eu me pensava como IilosoIo e levei
muito tempo para conIessar a mim mesmo que me tornara etnologo, apua BONNEWITZ, Patrice. Primeiras
lies sobre a sociologia ae Pierre Bouraieu. Petropolis: Vozes, 2003, p. 14.
52
derivam de operaes logicas ou epistemologicas constitutivas da pratica que desenvolve o
conhecimento, mas de disputas entre escolas e tradies de pensamento no interior dos
respectivos campos do saber, que promovem suas concepes particulares como se Iossem
verdade cientiIica total:
Ao l ongo de sua obr a, Bour di eu pr ocur ou super ar det er mi nadas
oposi es canni cas que mi nam a ci nci a soci al por dent r o, como a
separ ao ent r e anal i se do si mbol i co e do mat er i al , ent r e i ndi vi duo
e soci edade, o embat e ent r e mt odos quant i t at i vos e qual i t at i vos,
dual i smos que compr omet em uma adequada compr eenso da pr at i ca
humana. ( . . . ) Assi m, i nvest i u cont r a a di vi so ar t i I i ci al ent r e t eor i a
e pesqui sa empi r i ca, medi ant e a qual al guns pesqui sador es cul t i vam
a t eor i a por si mesma, sem mant er uma r el ao com obj et os
empi r i cos pr eci sos, enquant o out r os, i nver sament e, desenvol vem
uma pesqui sa empi r i ca sem r eI er nci a a quest es t eor i cas.
1 2 6
Desse modo, o caminho metodologico proposto por Bourdieu se torna
reIerencial para pesquisa historiograIica sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, pelas
razes que seguem: possibilita aproximaes de areas aIins do conhecimento e inter-relao
entre teoria e trabalho empirico; permite entender como se deu a Iormao do habitus de
lideres e Iiis que compem esse movimento; indica a existncia de regras que possibilitaram
a insero e a atuao dos agentes iurdianos no campo religioso; inIorma a existncia de
conIlitos e embates por conquista de capital simbolico; aponta para impactos e mutaes
promovidos pelos agentes no reIerido campo na busca de consagrao do poder simbolico;
postula a vivncia de praticas que so se tornam Iuncionais na medida em que atendem ao
'conjunto, ao elemento coletivo, e no a Iatores isolados ou a genialidades individuais.
Assim, considerando que o movimento iurdiano articula uma complexidade de elementos
culturais que envolvem habitus, regras, disputas e poder de consagrao - possibilitados pelo
dinamismo do campo em que o reIerido objeto esta inserido - a nIase dessa pesquisa recai
sobre o confunto das praticas e das representaes.
1.2.1- Representaes, prtica, habitus
Um dos conceitos Iundamentais para a analise e compreenso do universo
religioso o de 'representao. Roger Chartier reIere-se a 'representao como 'a pedra
angular de uma abordagem em nivel da historia cultural.
127
Michel Vovelle aIirma que a
'historia das representaes coletivas adquiriu atualmente uma importncia consideravel e
126
MARTINS, Carlos Benedito. Notas sobre a noo de pratica em Pierre Bourdieu. Novos Estuaos CEBRAP,
So Paulo, n. 62, p.165, mar. 2002.
127
CHARTIER, R. A Historia Cultural. entre praticas e representaes, p. 23.
53
constitui, sem duvida, 'uma das transIormaes mais marcantes da nova historiograIia,
consistindo 'uma espcie de mutao de uma historia ontem Iocalizada numa abordagem que
se pretendia objetiva sobre realidades percebidas como tal.
128
AIirma Chartier que as representaes consistem em 'conIiguraes sociais
proprias de um tempo e de um espao, e assim como 'as estruturas do mundo social no so
um dado objetivo - tradicionalmente postuladas como 'um real bem real, existindo por si
mesmo - as representaes tambm no so simples reIlexos daquelas.
129
Por isso, ha a
necessidade de superao da duvida cartesiana que pressupe a idia do homem sendo
exterior ao seu mundo, de onde decorre a concepo de que a representao o produto
artiIicial ou abstrato de seu intelecto. Ponto central na teoria simbolica de Norbert Elias, e
que supera a armadilha da 'verdade absoluta e de sua 'impossivel representao, que os
simbolos, de que compem a linguagem, por exemplo, possuem certo grau de congruncia
com a realidade, com os dados que eles pretendem representar.
130
Acrescentam-se a isso as
palavras de Bourdieu:
O mundo soci al t ambm r epr esent ao e vont ade ( . . . ) O que nos
consi der amos como r eal i dade soci al em gr ande par t e r epr esent ao
ou pr odut o da r epr esent ao, em t odos os sent i dos do t er mo. ( . . . ) ( O
di scur so) pr oduz um novo senso comum e nel e i nt r oduz as pr at i cas e
as exper i nci as at ent o t aci t as ou r ecal cadas de t odo um gr upo,
agor a i nvest i do de l egi t i mi dade conI er i da pel a mani I est ao publ i ca
e pel o r econheci ment o col et i vo.
1 3 1
Ao Ialar sobre 'pontos de conIlitos de classiIicaes ou de
'aIrontamentos, Chartier aIirma apoiar suas escolhas metodologicas em grande medida no
trabalho de Pierre Bourdieu, em particular na sua obra La aistinction.
132
O emprego desse
conceito Iundamenta-se na idia de que as representaes do mundo social, ou seja, a
representao que o individuo ou o grupo tem de si mesmo e a representao que tem dos
outros, traduzem-se por meio dos 'estilos de vida; e ainda: a identidade social que se
percebe naquilo que cada grupo mostra de si mesmo e que remete a incorporao mental
coletiva de esquemas de percepo, desemboca na encarnao dessa identidade social nos
elementos que representam esse grupo de uma maneira individual ou coletiva. A deIinio do
ser social, da identidade social, dada, portanto, no unicamente a partir de condies
128
VOVELLE, Michel. In: D`Alessio, Marcia Mansor. Reflexes sobre o saber historico. So Paulo: UNESP,
1998, p. 83.
129
CHARTIER, R. A Historia Cultural. entre praticas e representaes, p. 23.
130
CARDOSO, C. Flamarion; MALERBA, Jurandir (Orgs.). Representaes. contribuio a um debate
transdisciplinar. Campinas: Papirus, 2000, p. 208.
131
BOURDIEU, P. Coisas aitas, p. 70, 71, 119.
132
CHARTIER, R. A Historia Cultural. entre praticas e representaes, p. 17.
54
objetivas que deIinem as categorias sociais, mas 'do ser percebido por si mesmo ou pelos
outros, dai a luta constante de classiIicaes:
o t r abal ho de cl assi I i cao e del i mi t ao pr oduz as conI i gur aes
i nt el ect uai s mul t i pl as, das quai s a r eal i dade cont r adi t or i ament e
const r ui da pel os di I er ent es gr upos, segui dament e, as pr at i cas que
vi sam I azer r econhecer uma i dent i dade soci al , exi bi r uma manei r a
pr opr i a de est ar no mundo, si gni I i car si mbol i cament e um est at ut o e
uma posi o ( . . . ) .
1 3 3
Observa Chartier que as representaes do mundo social so historicamente
construidas, 'so sempre determinadas pelos interesses do grupo que as Iorjam,
134
dai as
dimenses de conIlito que envolvem seu espectro de operosidade:
Por i sso est a i nvest i gao sobr e as r epr esent aes supe- nas como
est ando sempr e col ocadas num campo de concor r nci as e de
compet i es cuj os desaI i os se enunci am em t er mos de poder e de
domi nao. As l ut as de r epr esent aes t m t ant a i mpor t nci a como
as l ut as econmi cas par a compr eender os mecani smos pel os quai s
um gr upo i mpe, ou t ent a i mpor , a sua concepo do mundo soci al ,
os val or es que so seus, e o seu domi ni o.
1 3 5
Um dos principios da Historia Cultural consiste em no separar
artiIicialmente realidades e representaes:
A t enso ent r e pr at i cas e r epr esent aes at r avessa a 'nova hi st or i a
soci al t ant o quant o a nova hi st or i a cul t ur al e const i t ui - se num dos
ei xos cent r ai s do debat e a r espei t o dos l i mi t es do conheci ment o
hi st or i co nessas duas ar eas.
1 3 6
As representaes tambm tm Iortes imbricaes com o conceito de
'imaginario - o qual pode ser identiIicado como 'a teia de sentidos que propicia a
construo dos reIerentes sociais
137
- ou ainda, como prope Hilario Franco Junior:
Por 'i magi nar i o ent endemos um conj unt o de i magens vi suai s e
ver bai s ger ado por uma soci edade ( ou par cel a dest a) na sua r el ao
consi go mesma, com out r os gr upos humanos e com o uni ver so em
ger al . Todo i magi nar i o , por t ant o, col et i vo, no podendo ser
conI undi do com i magi nao, at i vi dade psi qui ca i ndi vi dual .
Tampouco pode- se r eduzi r o i magi nar i o a somat or i a de i magi naes.
( . . . ) Por m, por engl obar o denomi nador comum das i magi naes, o
i magi nar i o as super a, i nt er I er e nos mecani smos da r eal i dade
pal pavel ( pol i t i ca, econmi ca, soci al , cul t ur al ) que al i ment a a
pr opr i a i magi nao.
1 3 8
133
Id., ibid., p. 23.
134
Id., ibid., p. 26.
135
Id., ibid., p. 17.
136
LARA, Silvia H. Historia Cultural e Historia Social. Dialogos. Maringa, UEM, n.1, p. 26, 1997.
137
DUBOIS, Claude Gilbert. O Imaginario aa Renascena. Brasilia: UNB, 1985, (contra-capa).
138
JUNIOR, Hilario Franco. Cocanha. a historia de um pais imaginario. So Paulo: Companhia das Letras,
1998, p. 16, 17.
55
Segundo esse mesmo historiador, toda sociedade ao mesmo tempo
'produtora e produto de seus imaginarios, sendo eles responsaveis por estabelecer 'pontes
entre tempos diIerentes, ou seja, promover um trnsito circular entre os elementos de longa
durao - de um ritmo historico muito lento que compem a realidade psiquica proIunda da
sociedade - com a realidade material externa, a cultura, sendo que 'desta, o imaginario leva
para a primeira os elementos que na longa durao historica podem transIorma-la; daquela,
leva para a segunda as Iormas possiveis de leitura da sociedade sobre ela mesma.
139
Para
Chartier, o imaginario possui modalidades,
140
sendo movedios os limites entre essas Iormas.
E da articulao entre a realidade vivida externamente e a 'realidade vivida oniricamente
que se da o suceder dos eventos historicos, sendo tambm dai construidos conjuntamente os
comportamentos coletivos. Finaliza ressaltando que 'um Ienmeno imaginario (...) possui
uma trajetoria e uma Iuno que devem ser estudadas historicamente.
141
Jacques Le GoII tambm considera que:
De uns t r i nt a anos par a ca, a hi st or i a do i magi nar i o ganha com
r azo um l ugar cada vez mai or no domi ni o do saber hi st or i co. E um
cr escent e numer o de hi st or i ador es r econhece que as i magens, as
r epr esent aes, as soci edades i magi nar i as so t o r eai s quant o as
out r as, ai nda que de manei r a di I er ent e, segui ndo, uma out r a l ogi ca,
uma out r a consi st nci a, uma out r a evol uo. O i magi nar i o soci al
t em, por t ant o, uma hi st or i a que I az par t e da hi st or i a gl obal das
soci edades, mas com sua or i gi nal i dade e sua especi I i ci dade.
1 4 2
Outras consideraes sobre o mesmo conceito podem ser observadas na
obra de Laplantine e Trindade.
143
Segundo tais autores 'a construo da divindade realizada
a partir do imaginario coletivo:
Ut i l i zando como mat r i a- pr i ma r epr esent aes si mbol i cas, os
homens const r oem no pr ocesso do i magi nar i o os deuses que
consubst anci al i zam, que passam a exi st i r no cot i di ano de suas
exper i nci as soci ai s. Assi m, par t i ndo do r eal , os deuses
t r ansI or mam- se e r eest r ut ur am a r eal i dade soci al .
1 4 4
Baczko
145
empreende analise sobre o imaginario e destaca que no sculo XIX
se procurou separar o 'verdadeiro e 'real do 'ilusorio (crenas mitos etc.), sendo a
139
Id., ibid.
140
As modalidades de imaginario, segundo Hilario Franco Junior, podem ser compreendidas da seguinte
maneira: a que Ioca sua ateno em um passado independente para explicar o presente o que se chama de
mito; a que projeta no Iuturo as experincias historicas - concretas e idealizadas, passadas e presentes -
ideologia; a que parte do presente na tentativa de antecipar ou preparar um Iuturo que recuperao de um
passado idealizado, utopia. CI. Id., ibid., p. 17.
141
Id., ibid.
142
LE GOFF, J. Historia, novas aboraagens, p. 7, 8.
143
LAPLANTINE, Franois; TRINDADE, Liana. O que e imaginario. So Paulo: Brasiliense, 1996.
144
Id., ibid., p. 16.
145
BACZKO, B. Imaginario social. In: Enciclopeaia Einauai. V. 5. Lisboa: Imprensa Nacional, 1985, p. 297.
56
operao cientiIica uma operao de 'desvendamento e desmitiIicao, processo esse
classiIicador das representaes como incongruentes em relao ao que se denominava
realiaaae. No mbito das cincias humanas, lembra esse autor, o imaginario gradativamente
passou a ser associado aos adjetivos 'social e 'coletivo para, Iinalmente, Iazer parte da
realidade. Sobretudo a partir do discurso contestatorio de maio de 1968, proIissionais de
diIerentes areas das cincias humanas, assim como os historiadores, 'comearam a
reconhecer, seno a descobrir, as Iunes multiplas e complexas que competem ao
imaginario na vida coletiva e, em especial, no exercicio do poder percebendo que 'nas
mentalidades, a mitologia que nasce a partir de determinado acontecimento sobreleva em
importncia o proprio acontecimento, quando a imaginao se torna carregada de
simbolismo: 'As cincias humanas pem em destaque o Iato de qualquer poder (...) se rodear
de representaes coletivas. Para tal poder, o dominio do imaginario e do simbolico um
importante lugar estratgico.
146
Nesse sentido, Baczko pergunta: 'no so as aes eIetivamente guiadas
por estas representaes; no modelam elas os comportamentos; no mobilizam elas as
energias? E argumenta:
O i magi nar i o soci al , dest e modo, uma das I or as r egul ador as da
vi da col et i va. As r eI er nci as si mbol i cas no se l i mi t am a i ndi car os
i ndi vi duos que per t encem a mesma soci edade, mas deI i nem t ambm
de I or ma mai s ou menos pr eci sa os mei os i nt el i gi vei s das suas
r el aes com el a, com as di vi ses i nt er nas e as i nst i t ui es soci ai s.
O i magi nar i o soci al , poi s, uma pea eI et i va e eI i caz do di sposi t i vo
de cont r ol o da vi da col et i va e, em especi al , do exer ci ci o da
aut or i dade e do poder . Ao mesmo t empo, el e t or na- se o l ugar e o
obj et o dos conI l i t os soci ai s.
1 4 7
Um outro conceito diretamente relacionado ao de 'representao o de
'pratica, uma vez que as representaes so 'construidas a partir de praticas plurais e
contraditoriamente complexas, multiplas e diIerenciadas, aIirma Chartier, acrescentando ser
necessario 'articular a relao entre representaes das praticas e praticas de representao:
Const i t ui r como r epr esent aes os vest i gi os ( . . . ) que i ndi cam as
pr at i cas const i t ut i vas de qual quer obj et i vao hi st or i ca; e
est abel ecer hi pot et i cament e uma r el ao ent r e as sr i es de
r epr esent aes, const r ui das e t r abal hadas enquant o t ai s, e as
pr at i cas que const i t uem o seu r eI er ent e ext er no.
1 4 8
Chartier associa 'praticas a um outro conceito que pode lhe servir como
Iundamento: o habitus - que Bourdieu conceitua nos seguintes termos:
146
Id., ibid.
147
Id., ibid., p. 310.
148
CHARTIER, R. A Historia Cultural. entre praticas e representaes, p. 86, 87.
57
Por sua pr opr i a et i mol ogi a habi t us o que I oi adqui r i do, do ver bo
habeo - , devi a si gni I i car mui t o concr et ament e que o pr i nci pi o das
aes ou das r epr esent aes e das oper aes da const r uo da
r eal i dade soci al , pr essupost as por el as, no um suj ei t o
t r anscendent al ( . . . ) E o habi t us, como est r ut ur a est r ut ur ada e
est r ut ur ant e, que engaj a, nas pr at i cas e nas i di as, esquemas
pr at i cos de const r uo or i undos da i ncor por ao de est r ut ur as
soci ai s or i undas, el as pr opr i as, do t r abal ho hi st or i co de ger aes
sucessi vas ( . . . ) .
1 4 9
A partir desse elemento so identiIicados os esquemas geradores das
praticas, os quais podem ser chamados de cultura, competncia cultural, ou seja, habitus. Tais
sistemas de esquemas de percepo, apreciao e ao, permitem tanto operar atos de
reconhecimento pratico como tambm engendrar estratgias adaptadas e incessantemente
renovadas, situadas nos limites estruturais de que so o produto e tambm que as deIinem,
chamadas, por isso, de 'estruturas estruturadas e estruturantes que viabilizam a propria vida
social.
150
Dentro de tal perspectiva, o habitus se constitui matriz e 'condio de toda
objetivao, a partir do que os codigos de comportamento e as estruturas sociais so
internalizadas pelo individuo, tornando-se ento um sistema de estruturas interiorizadas.
151
Analisando o emprego desse conceito, Chartier aIirma:
O concei t o de r epr esent ao que Bour di eu ut i l i za, o concei t o de
cl assi I i cao de l ut a de r epr esent ao, de l ut a de cl assi I i cao
se t or nou uma cat egor i a essenci al , por que per mi t e i nst al ar a anal i se
dent r o da her ana da soci ol ogi a e da ant r opol ogi a I undador a de
Mauss e Dur khei m. E a cat egor i a de r epr esent aes col et i vas, t al
como I oi deI i ni da por Dur khei m e Mauss, apont a par a a
i ncor por ao, dent r o do i ndi vi duo, do mundo soci al a par t i r de sua
pr opr i a posi o dent r o dest e mundo, como se as cat egor i as ment ai s
I ossem r esul t ado da i ncor por ao das di vi ses soci ai s e deI i ni ssem
par a cada i ndi vi duo a manei r a de cl assi I i car , I al ar ou at uar .
1 5 2
Chartier apresenta ainda outra deIinio para 'representao que muito se
aproxima do conceito de habitus:
A noo de 'r epr esent ao col et i va ( . . . ) per mi t e conci l i ar as
i magens ment ai s cl ar as ( . . . ) com esquemas i nt er i or i zados, as
cat egor i as i ncor por adas, que as ger am e a est r ut ur am. ( . . . ) Dest a
I or ma, pode pensar - se uma hi st or i a cul t ur al do soci al que t ome por
obj et o a compr eenso das I or mas e dos mot i vos ou, por out r as
pal avr as, das r epr esent aes do mundo soci al que, a r evel i a dos
at or es soci ai s, t r aduzem as suas posi es e i nt er esses obj et i vament e
conI r ont ados e que, par al el ament e, descr evem a soci edade t al como
pensam que el a , ou como gost ar i am que I osse.
1 5 3
149
BOURDIEU, Pierre. Ra:es praticas. Sobre a teoria da ao. Campinas: Papirus, 1996, p. 158.
150
Id. Meaitaes pascalianas, p. 169.
151
Id. A economia aas trocas simbolicas, p. XLVII.
152
CHARTIER, R. Pierre Bourdieu e a historia, p. 152.
153
Id. A Historia Cultural. entre praticas e representaes, p. 19
58
Como reIerenciais de analise mais especiIicamente sobre o objeto de estudo
desta pesquisa, podem ser apontados alguns aspectos Iundamentais do uso dos conceitos
anteriormente identiIicados para uma compreenso das praticas e representaes que
envolvem a Igreja Universal do Reino de Deus. Em primeiro lugar, por esses conceitos
indicarem os mecanismos internos mediantes os quais se produz a Iiliao dos individuos ao
movimento iurdiano. Nesse sentido, pode se tomar como ponto de partida que a adeso dos
Iiis ocorre mediante uma socializao engendrada por um habitus, atravs do qual se
assimilam as normas, os valores e as crenas. Logo, criam-se relaes sociais comuns
envolvendo pessoas que compartilham do mesmo habitus.
154
Nasce, conseqentemente, a
noo de uma comunidade religiosa, em que so produzidas e objetivadas praticas, revestidas
de sagrado, que respondem as necessidades e anseios daquele grupo social. Assim,
orquestradas por um habitus, as praticas e as representaes iurdianas, enquanto produo
social dos agentes, lideres e Iiis, assumem plausibilidade, coerncia e sentido para os que
esto inseridos ou Iazem parte do respectivo grupo.
Em segundo lugar, o habitus responsavel por estabelecer um 'certo grau
de coincidncia e acordo entre as disposies dos agentes mobilizadores e as disposies dos
grupos aos quais aqueles se dirigem, ou seja, as aspiraes, reivindicaes e interesses dos
adeptos iurdianos acabaram por encontrar na mensagem de seus lideres uma 'conduta
exemplar ajustada as exigncias do habitus mediante um discurso novo que reelabora o
codigo comum que cimenta tal aliana.
155
Dessa Iorma, a ao dos Iiis iurdianos no
decorre, por exemplo, 'da obedincia a regras estabelecidas pela coao ou imposio do
lider; as praticas, ali, so coletivamente orquestradas sem ser o produto da ao organizadora
de um unico 'maestro.
156
O habitus, pois, dirige as praticas e os pensamentos a maneira de
uma Iora, mas sem constranger mecanicamente; ele tambm guia a ao ao modo de uma
necessidade logica, 'sem se impor como se aplicasse uma regra ou se submetesse ao veredito
de uma espcie de calculo racional.
157
VeriIica-se que 'os agentes pem em pratica
estruturas historicas,
158
por meio do habitus, a partir das quais criam-se 'as disposies -
que esto em tenso com o campo que as solicita, estimula e justiIica que lhes do razes
para crer e pensar, reunindo, assim, os que participam dos mesmos desaIios e anseios. As
praticas iurdianas, portanto, do-se mediante uma 'relao ontologica, uma 'cumplicidade
154
CI. BONNEWITZ, P. Op. cit., p. 75.
155
BOURDIEU, Pierre. A economia aas trocas lingisticas. So Paulo: EDUSP, 1996, p. 91.
156
Id., Le sens pratique. Paris: Les Editions de Minuit, 1980, p. 88, 89, apua BONNEWITZ, P. Op. cit., p. 77.
157
BOURDIEU, P. Ra:es praticas, p. 213.
158
Id., ibid., p. 160.
59
inIraconsciente, inIralingistica, entre lideres e Iiis, desmistiIicando as pressuposies de
'enganador e enganado.
159
Terceiro, esses conceitos ajudam a entender as mobilidades da historia. Isto
se constitui importante parmetro de analise para as transIormaes, impactos e mutaes
promovidos pelo movimento iurdiano no campo religioso brasileiro. Constituindo-se pela
socializao das praticas, o habitus conjuga, simultaneamente, aes que promovem
transIormaes no respectivo campo, ao mesmo tempo em que transIormado por ele,
tornando-se desse modo 'produto da historia, Iundamento das praticas e das aes.
160
Por
isso, a 'praxis esta na raiz do conceito de habitus.
161
A historia se torna corpo, instituio
incorporada, atividade pratica, engendrada por um habitus diretamente ajustado as tendncias
imanentes do campo: 'E um ato de temporalizao atravs do qual o agente transcende o
presente imediato pela mobilizao pratica do passado (...) O habitus temporaliza-se no
proprio ato pelo qual se realiza.
162
Essa Ilexibilidade de reestruturao capaz de adaptar-se
ou ajustar-se em Iuno das necessidades inerentes as situaes novas criadas pelo proprio
dinamismo da historia. Bourdieu classiIica essa pratica cotidiana em termos de
'improvisao sustentada com certos principios que regulam - numa estrutura de
esquemas inculcados pela cultura tanto na mente como no corpo, em Iorma de habitus,
163
o
qual, como produto da historia, um sistema de disposio aberto, que esta incessantemente
diante de experincias novas e, logo, incessantemente aIetado por elas:
E dur adour o, mas no i mut avel . Di t o i sso, devo acr escent ar
i medi at ament e que a mai or i a das pessoas est a est at i st i cament e
dest i nada a encont r ar ci r cunst nci as aI i nadas com aquel as que
model ar am or i gi nar i ament e o seu habi t us e, por consegui nt e, a t er
exper i nci as que vi r o r eI or ar as suas di sposi es.
1 6 4
De acordo com tal perspectiva, pode-se observar o que Bourdieu chama de
'reproduo cultural, entendida como transmisso cultural em um processo continuo de
criao, mediante uma apropriao ou recepo criativa. Essa reconstruo permanente
impulsionada, em parte, pela necessidade de adaptar tradies a novas circunstncias, 'pela
busca de encontrar solues para os problemas humanos e as necessidades da situao.
165
159
Id., ibid., p. 171.
160
Id., ibid., p. 160.
161
BOURDIEU, P. Esboo ae auto-analise, p. 19.
162
Id. Ra:es praticas, p. 160, 161.
163
BURKE, P. O que e Historia Cultural?, p. 77.
164
BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, L. J. D. Reponses... Pour une anthropologie reflexive. Paris: Le Seuil,
1992, p. 108, 109. Traduo de Lucy Magalhes.
165
BURKE, P. O que e Historia Cultural? , p. 130.
60
Em quarto lugar, o habitus promove processos de 'apropriao, decorrente
de praticas que, por sua vez, passam a conIigurar novas praticas, num processo mutuo que se
alimenta continuamente. Esse processo consiste num elemento importante para a produo de
uma historia cultural da Igreja Universal, por apontar as raizes mais proIundas ou
temporalmente mais expansivas de suas praticas. Desse modo, o movimento iurdiano pode
ser melhor situado como parte de um processo historico que se estende na longa durao do
campo religioso brasileiro.
A noo de apr opr i ao pode ser , desde l ogo, r eI or mul ada e
col ocada no cent r o de uma abor dagem de hi st or i a cul t ur al que se
pr ende com pr at i cas di I er enci adas. ( . . . ) A apr opr i ao, t al como a
ent endemos, t em por obj et i vo uma hi st or i a soci al das i nt er pr et aes,
r emet i das par a as suas det er mi naes I undament ai s ( que so soci ai s,
i nst i t uci onai s, cul t ur ai s) e i nscr i t as nas pr at i cas especi I i cas que as
pr oduzem.
1 6 6
Vale dizer que esse processo de 'apropriao ocorre mediante 'praticas
diIerenciadas, com utilizaes contrastadas, pondo em relevo a pluralidade dos modos de
emprego e a diversidade de elementos que esto constituidos no 'campo em que os agentes
sociais esto inseridos,
167
como o veremos a seguir.
1.2.2 - Campo, capital simblico
As sociedades contemporneas, segundo Pierre Bourdieu, so constituidas e
organizadas por diversos 'campos, os quais tm 'leis proprias e so relativamente
'autnomos:
168
Chamo campo, o uni ver so no qual est o i nser i dos os agent es e as
i nst i t ui es que pr oduzem, r epr oduzem ou di I undem a ar t e, a
l i t er at ur a, a ci nci a, os bens si mbol i cos. Esse uni ver so um mundo
soci al como os out r os, mas que obedece a l ei s soci ai s mai s ou
menos especi I i cas. ( . . . ) A noo de campo est a ai par a desi gnar esse
espao r el at i vament e aut nomo, esse mi cr ocosmo dot ado de suas
l ei s pr opr i as.
1 6 9
De modo geral, todo campo exerce pedagogicamente sobre seus agentes um
processo de socializao que tem como eIeito Iaz-los adquirir os saberes necessarios a uma
insero correta nas relaes sociais.
166
CHARTIER, R. A Historia Cultural. entre praticas e representaes, p. 26, 27.
167
Id., ibid.
168
BOURDIEU, P. Ra:es praticas, p. 147, 148.
169
Id. Os usos sociais aa cincia. Por uma sociologia clinica do campo cientiIico. So Paulo: Edunesp, 2004, p.
20.
61
O campo est r ut ur a o habi t us, que o pr odut o da i ncor por ao da
necessi dade i manent e desse campo ( . . . ) Mas t ambm uma r el ao
de conheci ment o ou de const r uo cogni t i va: o habi t us cont r i bui
par a const i t ui r o campo como mundo si gni I i cant e, dot ado de sent i do
e de val or ( . . . ) E, quando o habi t us ent r a em r el ao com um mundo
soci al do qual el e pr odut o, sent e- se como um pei xe dent r o d` agua
e o mundo l he par ece nat ur al .
1 7 0
Os campos no so estaticos, sendo por isso transIormados pelo dinamismo
da historia, mediante as praticas dos agentes que nele se enIrentam, promovendo relaes de
Iora e conseqentes mutaes:
Todo campo um campo de I or as e um campo de l ut as par a
conser var ou t r ansI or mar esse campo de I or as. ( . . . ) So l ugar es de
r el aes de I or as que i mpl i cam t endnci as i manent es e
pr obabi l i dades obj et i vas.
1 7 1
O conceito de campo contrape as determinaes 'socioeconmicas na
deIinio mais tradicional da sociologia, da historia social e a produo simbolica de idias
ou de obras, como aIirma Chartier,
172
que acrescenta:
Ha em Bour di eu ( . . . ) uma r epul sa de uma manei r a si mpl es de pensar
o det er mi ni smo soci al , como se houvesse uma adequao i medi at a
ent r e a escol ha de uma est t i ca ou um enunci ado i deol ogi co e a
posi o soci al do ar t i st a, do escr i t or , do pensador ou do i ndi vi duo.
( . . . ) Por que, como demonst r a Bour di eu, ha em cada campo
pr i nci pi os de or gani zao que so pr opr i as dest e campo.
1 7 3
As praticas dos agentes produzem, pois, bens simbolicos, ou capital
simbolico, que por sua vez passam a constituir os reIerenciais das 'representaes
vivenciadas pelos respectivos integrantes de um dado campo:
Chamo de capi t al si mbol i co qual quer t i po de capi t al , per cebi do de
acor do com as cat egor i as de per cepo, os pr i nci pi os de vi so e de
di vi so, os si st emas de cl assi I i cao ( . . . ) pr odut o da i ncor por ao
das est r ut ur as obj et i vas do campo consi der ado. O capi t al si mbol i co
que I az com que r ever enci emos Lui s XI V, que l he I aamos cor t e,
com que el e passe a dar or dens e que essas or dens sej am
obedeci das, com que el e possa descl assi I i car , r ebai xar , consagr ar ,
et c. So exi st e na medi da em que t odas as pequenas di I er enas, as
mar cas sut i s de di st i no na et i quet a e nos ni vei s soci ai s, nas
pr at i cas e nas vest i ment as, t udo o que compe a vi da na cor t e,
sej am per cebi das pel as pessoas que conhecem e r econhecem, na
pr at i ca ( que i ncor por am) , um pr i nci pi o de di I er enci ao que l hes
per mi t e r econhecer t odas essas di I er enas e at r i bui - l hes val or ( . . . ) O
capi t al si mbol i co um capi t al com base cogni t i va, apoi ado sobr e o
conheci ment o e r econheci ment o.
1 7 4
170
BOURDIEU, P. ; WACQUANT. L. J. D. Op. cit., p. 175, 176.
171
BOURDIEU, P. Os usos sociais aa cincia. Por uma sociologia clinica do campo cientiIico, p. 22.
172
CHARTIER, R. Pierre Bourdieu e a historia, p. 141.
173
Id., ibid.
174
BOURDIEU, P. Ra:es praticas, p. 149, 150.
62
Ao retomar Weber, Bourdieu amplia assim a importncia dessa dimenso
simbolica na explicao dos Ienmenos sociais, aproIundando a analise sobre a legitimidade
para mostrar como os agentes sociais de um dado campo a produzem, para Iazer com que
sejam reconhecidos a sua competncia, o seu status e o poder ostentado. Os conceitos de
campo e capital simbolico, anteriormente identiIicados, consistem em Iundamentais
parmetros para se desenvolver uma historia cultural da Igreja Universal pelas razes que
agora passamos a analisar.
Em primeiro lugar, o campo se apresenta como lugar de produo coletiva
da imagem de poder do lider perante os Iiis. Atravs de uma legitimiaaae delegada pelos
membros do grupo estabelecidos no proprio campo, a autoridade se perpetua sem recorrer a
coao. Tal legitimidade se deIine, assim, em sentido geral, como a qualidade daquilo que
aceito e reconhecido pelos membros do respectivo grupo social, no caso, o movimento
iurdiano. Ocorre ali, pois, a produo da crena a partir do que a propria crena capaz de
produzir. Nesse sentido, durante longo tempo se Iez 'uma sociologia da cultura que se
Iixava no seguinte ponto: 'como produzida a necessidade do produto? Ou seja,
'procurava-se estabelecer relaes entre um produto e as caracteristicas sociais dos
consumidores.
175
Bourdieu prope um avano nesse vis de analise compreendendo que o
'proprio das produes culturais que preciso produzir a crena no valor do produto,
processo este coletivo:
se, quer endo pr oduzi r um obj et o cul t ur al , qual quer que sej a, eu no
pr oduzo si mul t aneament e o uni ver so de cr ena que I az com que sej a
r econheci do como um obj et o cul t ur al como um quadr o, como uma
nat ur eza mor t a, se no pr oduzo i sso, no pr oduzi nada, apenas uma
coi sa. Di t o de out r a manei r a, o que car act er i za o bem cul t ur al que
el e um pr odut o como os out r os, mas com uma cr ena que el a
pr opr i a deve ser pr oduzi da.
1 7 6
Cabe citar, a titulo de comparao, a obra Os Reis Taumaturgos, de Marc
Bloch,
177
na qual se aIirma, em relao a crena do milagre rgio, que o 'verdadeiro
problema entender como se pde acreditar em seu poder taumaturgico.
178
Ao estudar o
elemento das representaes coletivas, Bloch examina a historia do surgimento e da longa
permanncia, na Frana e na Inglaterra, da I de amplas camadas da populao na Iora
175
CHARTIER, Roger (Org.). Praticas aa leitura. So Paulo: Estao Liberdade, 1996, p. 238.
176
BOURDIEU, P. A leitura: uma pratica cultural. Debate com Roger Chartier. In: CHARTIER, R. (Org.).
Praticas aa leitura, p. 240.
177
A esta obra se atribui certo pioneirismo na elaborao de uma historia com interIace antropologica. CI.
BLOCH, Marc. Op. cit, p. 9.
178
Id., ibid., p. 274.
63
milagrosa dos seus monarcas.
179
Tal pesquisa tem como ponto de partida e inspirao as
experincias pessoais vividas por Bloch, durante a Guerra de 1914-18. No campo de batalha,
inicialmente, sua ateno Ioi despertada para investigar como a propagao de 'noticias
Ialsas entre os soldados - sob o Iiltro e a manipulao dos escritos pelo exame repressivo -
exercia inIluncia sobre eles antes e depois de serem conIrontadas com a 'realidade dos
acontecimentos. Assim, compreendendo o passado pelo presente, esse autor reporta-se ao
milagre rgio constatando que a Iora da lenda e do mito, legada por substratos da tradio
oral, sobrepe-se ao que se convenciona chamar de verdadeiro, racional ou cientiIicamente
comprovavel. Dessa Iorma, mesmo que o poder taumaturgico do rei Iosse uma 'gigantesca
noticia Ialsa - uma vez que 'apenas uma parcela dos doentes recuperava a saude; ou ainda
que as Ieridas, na verdade, desaparecessem de 'Iorma espontnea, para reaparecerem mais
tarde, a idia da realeza santa e do milagre rgio continuava a ser propagada com a Iora de
um testemunho acumulado em varias geraes, cujo imaginario no pressupunha o juizo da
duvida. Alm do que, ocorria ai uma plausibilidade que lhes conIeria sentido a vida. Em
suma, a existncia do milagre se dava na mesma proporo em que se acreditava nele. Assim
entendido, o poder sacro e curativo dos reis era elemento que representava 'um tesouro de
legendas, de ritos curativos, de crenas meio eruditas, meio populares, ancorado em Iatos
que adquiriram identidade historica em determinada poca, circunstncias e contexto.
180
Em segundo lugar, o campo religioso espao onde alguns agentes
disputam e adquirem maior capital simbolico do que outros. Notadamente se observa como
um dos elementos caracteristicos presentes nas praticas da Igreja Universal a existncia de
uma 'griIe do nome de seu lider-Iundador e as representaes de poder que dele se acercam:
o nome 'Igreja Universal quase que automaticamente remete a expresso 'igreja do bispo
Macedo. Edir Macedo ganhou capital e poder simbolicos no somente no mbito do grupo,
mas tambm como reIerncia das novas expresses religiosas no Brasil contemporneo. Os
demais que ostentam titulao diIerenciada, na IURD - obreiros, pastores e bispos tornam-
se igualmente agentes admirados perante o grupo, ostentando posies de destaque,
adquirindo maior capital simbolico, a semelhana do que analisa Bourdieu quando elabora
179
Ruy de Oliveira Andrade Filho analisa, com proIundidade, como a partir de origens vtero-testamentarias,
acrescido por diIerentes inIluncias historicas, o rito da uno rgia Ioi incorporado por monarcas medievais,
atravs do qual reIoravam perante o povo o carater divino da sua autoridade. Ver ANDRADE FILHO, Ruy de
Oliveira. Imagem e reflexo: religiosidade e monarquia no Reino Visigodo de Toledo (sc. VI VII). So Paulo:
USP, 1997. 250 Il. Tese (Doutorado em Historia Social) Programa de Pos-Graduao em Historia,
Universidade de So Paulo, 1997.
180
BLOCH, M. Op. cit., p. 23, 187.
64
uma sintese original da classica tipologia weberiana
181
sobre os agentes religiosos: sacerdote,
proIeta, mago/Ieiticeiro aspectos esses que sero detalhadamente abordados mais adiante
nesta pesquisa. Ainda dentro desse item, preciso Iazer uma observao: ao se pensar sobre a
trajetoria de vida de um dado personagem deve-se estabelecer a articulao entre essa
trajetoria e o campo em que esta inserido, ou seja, 'a sua trajetoria social, a sua condio, o
seu estado, a sua proIisso, as suas produes durante toda a sua vida:
No se pode pensar a vi da de um i ndi vi duo sem si t ua- l a de I or ma
r el aci onal , dent r o do espao gl obal ou especi I i co no qual se
encont r a. E ver que el e pode mudar , por que el e mesmo muda ou
por que muda o espao. A t r aj et or i a i ndi vi dual est a vi ncul ada a um
mundo soci al i nt ei r o. O i ndi vi duo est a em r el ao com os out r os.
Dest a manei r a, a bi ogr aI i a sempr e i mpl i ca em col et i vi dade.
1 8 2
Assim, para se entender a atuao cultural-religiosa do lider iurdiano, que
demonstra 'levar a cabo um projeto criativo original, preciso, antes, 'recriar o
enovelamento de experincias que esto na raiz de disposies conducentes, historicamente
situadas.
183
Ou seja, necessario ter como ponto de partida no a 'genialidade pessoal do
lider como Iator de xito do segmento que Iundou e comanda, mas sim, a capacidade de
criao coletiva do campo, cujas regras permitiram construes inovadoras de um capital e de
um poder simbolicos desses agentes que adquiriram maior projeo e visibilidade social.
1.3 - Fontes para pesquisa historiogrfica sobre a Igreja Universal do Reino de Deus
O mtodo do historiador esta diretamente relacionado a seleo das Iontes e
ao modo de interpreta-las. Enquanto investigador, 'no deve se apoiar apenas em enunciados
diretos das Iontes, situadas na superIicie, mas com 'espirito escrutador deve Iazer
renovadas perguntas, a partir de um ou mais problemas 'Iormulados com preciso.
184
Em relao ao uso de Iontes para investigao da Igreja Universal do Reino
de Deus, cabe inicialmente dizer que as praticas iurdianas caracterizam a passagem de um
pentecostalismo de oralidade para um tipo de religio que Iaz do radio e da televiso, ao lado
da escrita, suas principais Iormas de expresso. Em vista disso, a IURD se apresenta ao
pesquisador com um amplo leque de possibilidades de Iontes para analise e investigao.
181
Tem-se procurado estabelecer o devido limite dos conceitos de Weber, tirados da tradio judaico-crist
(mago, sacerdote, proIeta, leigo, igreja, seita, carisma), uma vez que so elementos atribuidos por Weber ao
modelo de campo religioso da cristandade europia. Mas, vale dizer tambm, que este limite no somente de
Weber e sim da sociologia da religio de um modo geral.
182
CHARTIER, R. Pierre Bourdieu e a Historia, p. 175.
183
BOURDIEU, P. Esboo ae auto-analise, p. 9.
184
GURIVITCH, Aaron. A sintese historica e a escola aos anais. So Paulo: Perspectiva, 2003, p. 61.
65
Conseqentemente, essa nova realidade exige que o historiador desenvolva novas e
cuidadosas maneiras de coletar dados e utiliza-los como documentos investigativos, de modo
que o principio em relao as Iontes continue mantendo algumas de suas diretrizes basicas:
Todo document o deve ser anal i sado a par t i r de uma cr i t i ca
si st emat i ca que d cont a de seu est abel eci ment o como I ont e
hi st or i ca ( dat ao, aut or i a, condi es de el abor ao, coer nci a
hi st or i ca do seu 't est emunho) e do seu cont eudo ( pot enci al
i nI or mat i vo sobr e um event o ou um pr ocesso hi st or i co) .
1 8 5
As Iontes de investigao utilizadas nesta pesquisa se compem de duas
principais modalidades: documentos proprios da Igreja Universal e pesquisa de campo.
1.3.1 - Documentos prprios da Igreja Universal
Podem ser considerados documentos proprios para a pesquisa sobre a IURD
os livros do bispo Macedo, assim como de outros pastores sob seu comando; o site oIicial da
igreja na rede mundial de computadores; o jornal Folha Universal; as revistas Plenituae
186
e
Mo Amiga
187
- ambas com tiragem bimestral; material recolhido durante a observao
participante nos cultos, tais como panIletos ou objetos com dizeres gravados; alm de
gravao de programas de radio e TV.
Em relao a primeira modalidade de Iontes, destaca-se que Edir Macedo
possui varias obras publicadas, as quais contemplam tematicas que demonstram no apenas a
perspectiva de ao da IURD, mas tambm a viso desse lider sobre a sociedade assim como
a produo teologica dela decorrente. IdentiIicam-se as seguintes publicaes
disponibilizadas como Iontes para esta pesquisa:
MACEDO, Edir. Carater ae Deus. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1986.
. Pecaao e arrepenaimento. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1986.
. O avivamento ao Espirito ae Deus. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1986.
. As obras aa carne & os frutos ao Espirito. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal,
1986.
. Nos passos ae Jesus. 8 ed. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1986.
. O aiabo e seus anfos. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1995.
185
NAPOLITANO, Marcos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes historicas. So Paulo: Contexto, 2005,
p. 266.
186
Destaca os cultos e grandes eventos realizados pela IURD, com nIase nas atividades do bispo Macedo.
187
Considerada o brao de divulgao do trabalho assistencial da IURD.
66
. Mensagens. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1995.
. O perfeito sacrificio. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1996.
. Orixas, caboclos e guias. deuses ou demnios? 14 ed. Rio de Janeiro: GraIica e
Editora Universal, 1990.
. O aespertar aa fe. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1997.
. O poaer sobrenatural aa fe. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1997.
. Jiaa com abunaancia. 10 ed. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1990.
. Apocalipse hofe. 3 ed. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1990.
. A libertao aa teologia. 7 ed. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1990.
. O Espirito Santo. 4 ed. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1992.
. Aliana com Deus. 2 ed. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1993.
Tambm so utilizados:
ESTATUTO E REGIMENTO INTERNO DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE
DEUS. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, s.d.
UNIVERSAL: IGREJA DO REINO DE DEUS. Louvores ao reino. Rio de Janeiro: GraIica e
Editora Universal, 1998.
CABRAL, J. Entre o vale e o monte. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1998.
HELDE, Srgio von. Um chute na iaolatria. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal,
1999.
Quanto ao site da IURD cabe observar que so atualizadas diariamente as
principais atividades que envolvem a igreja, destacando-se a palavra do bispo Macedo, o
depoimento de Iiis, inIormaes sobre as nIases dadas aos cultos e 'campanhas de I.
Assim, o procedimento metodologico consistiu em Iazer aownloaa dessas inIormaes,
catalogando-as em Iorma de texto para a devida analise e investigao.
Em relao ao jornal Folha Universal, orgo oIicial da Igreja, destaca-se a
qualidade com que conIeccionado - em quatro cores, no mesmo Iormato dos jornais
tradicionais do eixo Rio-So Paulo - assim como a sua qualidade e circulao: chega a cada
templo da Igreja sempre aos sabados, para ser gratuitamente distribuido, com uma tiragem
semanal de aproximadamente dois milhes de exemplares. Varios so os assuntos ali
abordados: economia, politica, saude, cultura, esportes e, evidentemente, religio. Nesse
item, destaca-se a coluna inicial reservada a 'palavra do bispo Macedo, na qual esse lider
inIorma e comenta o principal tema ou 'campanha de I que a igreja desenvolvera na
67
respectiva semana. Tambm se destaca a coluna dos 'testemunhos de I, dedicada aos
depoimentos dos Iiis, em que se relatam os 'milagres recebidos nas diIerentes
programaes da igreja. O jornal bastante acessivel ao pesquisador, Iica diariamente
disponivel ao publico a entrada de seus templos, podendo tambm ser acessado pelo site
oIicial.
188
Alm do que, ha um acervo atualizado do mencionado jornal no Centro de
Documentao e Pesquisa em Historia - CDPH, da Faculdade Teologica Sul Americana, em
Londrina PR.
189
A utilizao das Iontes, at aqui mencionadas, para estudo da IURD coloca
o pesquisador Irente a aspectos que envolvem a historia da leitura, no desenvolvimento de
'uma historia cultural em busca de textos, de crenas e de gestos aptos a caracterizar a
cultura (...).
190
Entendendo que 'a leitura e sua compreenso permitem o acesso a
inteligibilidade do passado, o historiador Claudio DeNipoti destaca a 'circulao de idias
advindas dessa pratica:
A l ei t ur a passa a ser vi st a como um obj et o possi vel da hi st or i a, em
par t i cul ar da hi st or i a cul t ur al ( . . . ) A l ei t ur a t em si do t r at ada como
obj et o de pesqui sa e anal i se, ut i l i zando- se de di ver sas abor dagens
( . . . ) conI r ont ando os di ver sos moment os hi st or i cos e soci edades
com as di I er ent es I or mas de l ei t ur a que I or am desenvol vi das ( . . . )
Mar cadament e i nI l uenci ada por concei t os ant r opol ogi cos, de cul t ur a
( no caso de R. Dar nt on, par t i cul ar ment e a ant r opol ogi a
i nt er pr et at i va der i vada de Cl i I I or d Geer t z) a hi st or i a da l ei t ur a
busca apr eender a ci r cul ao das i di as ( . . . ) .
1 9 1
Considerando como a historia do livro tem se desenvolvido nestes ultimos
vinte anos, Chartier avalia que preciso avanar e prope que a historia da leitura seja
entendida como 'historia de uma pratica cultural, o que pode representar 'um novo avano
na investigao dessa tematica. Para isso, necessario que se investiguem os 'usos dos
manuseios, das Iormas de apropriao e leitura dos materiais impressos, entendendo que
esse conjunto de atos da aos textos signiIicados plurais e moveis. Por isso, a utilizao de tais
Iontes para o trabalho historiograIico deve ser pensada no encontro de maneiras de ler -
coletivas ou individuais, herdadas ou inovadoras, intimas ou publicas - com protocolos
inseridos no objeto lido; ou ainda, numa imbricao triangular estabelecida entre 'trs polos:
o texto, o objetivo que lhe serve de suporte e a pratica que dele se apodera.
192
188
http:// www.arcauniversal.com.br .
189
Rua Martinho Lutero, 277 Londrina PR.
190
CHARTIER, R. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 7.
191
DENIPOTI, Claudio. A seauo aa leitura. livros, leitores e historia cultural Parana (1880 1930).
Curitiba: UFPR, 1998, p. 14, 15. 300 Il. Tese (Doutorado em Historia) - Programa de Pos-Graduao em
Historia, Universidade Federal do Parana, 1998.
192
CHARTIER, R. Praticas aa leitura, p. 78.
68
E preciso entender, ento, que as signiIicaes dos textos, quaisquer que
sejam, so constituidas diIerencialmente pelas leituras que se apoderam deles, dando assim
ao ato de ler 'o estatuto de uma pratica criadora, inventiva, produtora, no devendo por isso
ser anulada no texto lido, 'como se o sentido desejado por seu autor devesse inscrever-se
com toda imediatez e transparncia, sem resistncia nem desvio, no espirito de seus
leitores.
193
A leitura, representando 'o esIoro eterno do homem para encontrar
signiIicado no mundo que o cerca e no interior de si mesmo,
194
carrega consigo um
Iertilissimo substrato cultural que se desenvolve no processo historico:
A l ei t ur a t em uma hi st or i a. No I oi sempr e e em t oda par t e a
mesma. Podemos pensar nel a como um pr ocesso di r et o de se ext r ai r
i nI or maes de uma pagi na; mas se consi der ar mos um pouco mai s,
concor dar i amos que a i nI or mao deve ser esquadr i nhada, r et i r ada e
i nt er pr et ada. Os esquemas i nt er pr et at i vos per t encem a
conI i gur aes cul t ur ai s, que t m var i ado enor mement e at r avs dos
t empos. Como nossos ancest r ai s vi vi am em mundos ment ai s
di I er ent es, devem t er l i do de I or ma di I er ent e, e a hi st or i a da l ei t ur a
pode ser t o compl exa, de I at o, quant o a hi st or i a do pensament o.
1 9 5
Pierre Bourdieu considera que
t em si do uni ver sal i zado o concei t o da l ei t ur a est r ut ur al , que pensa o
t ext o por el e mesmo, aut o- suI i ci ent e e pr ocur a nel e mesmo sua
ver dade, o que o const i t ui como aut o- suI i ci ent e e pr ocur a nel e
mesmo encont r ar sua ver dade.
1 9 6
Acrescenta esse autor que preciso 'historicizar nossa relao com a
leitura como uma 'Iorma de nos desembaraarmos daquilo que a historia pode nos impor
como pressuposto inconsciente.
197
Na obra Praticas aa Leitura, sob organizao de Chartier,
ressalta-se que devido a 'crena no poder do livro, 'num primeiro momento, a leitura pode
parecer um ato to somente mecnico, no entanto, um ato que requer aprendizagem:
A escr i t a e a l ei t ur a no so obj et os de um pr ocedi ment o espont neo
de aqui si o: t r at a- se ai necessar i ament e de pr at i cas soci ai s
i nst i t ui das em que o si mpl es o cont at o com os escr i t os e a
obser vao das l ei t ur as, si l enci osas ou no, no so suI i ci ent es par a
t r ansmi t i r .
1 9 8
Tal pratica consiste, pois, num 'Ienmeno cultural que tem sintonia com o
enraizamento dos grupos sociais que a desenvolvem. Ao aprender a ler, a pessoa reinveste,
193
Id., ibid.
194
DARNTON, Robert. A historia da leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita aa historia. novas perspectivas
. So Paulo: UNESP, 1992, p. 219.
195
Id., ibid., p. 234.
196
CHARTIER, R. Praticas aa leitura, p. 233.
197
Id., ibid.
198
Id., ibid., p. 26.
69
no dominio do escrito, as praticas culturais mais gerais do seu meio imediato. Portanto, o ato
de ler , em grande parte, 'um processo de produo de sentido, Iazendo uma capitalizao
cultural especiIica de cada leitor, o qual reativa suas aquisies culturais anteriores.
Portanto, deve ser pensada como processo de conIirmao cultural.
199
Assim, cabe analisar o
papel que a leitura desempenha sobre as praticas e as representaes dos Iiis da IURD, ou
ainda, como estes se apropriam e interagem com as mensagens contidas nos textos. Para isto,
devem ser observados alguns passos metodologicos.
Primeiro, a relao imbricada entre textos e gestos. Compreender o ato de
ler signiIica perceber que tal pratica no requer necessariamente a alIabetizao: 'Pelas
sociabilidades diversas da leitura em voz alta, existe uma cultura do escrito mesmo entre
aqueles que no sabem nem produzir nem ler um texto aIirma Chartier, no estudo que
realiza sobre as praticas de leitura no Antigo Regime:
As r el aes t eci das ent r e os escr i t os e os gest os, l onge de const i t ui r
duas cul t ur as separ adas, el as se encont r am, de I at o I or t ement e
ar t i cul adas. Por um l ado, numer osos t ext os t m por I uno anul ar - se
como di scur so e pr oduzi r , no est ado pr at i co, as condut as e
compor t ament os t i dos como l egi t i mos pel as nor mas soci ai s ou
r el i gi osas. ( . . . ) Por out r o, o escr i t o est a no pr opr i o cent r o das
I or mas mai s gest uai s e or al i zadas das cul t ur as ( . . . ) . E o que ocor r e
nos r i t uai s I r eqent ement e apoi ados na pr esena I i si ca e na l ei t ur a
eI et i va de um t ext o cent r al na cer i mni a. Ent r e t ext os e gest os, as
r el aes so, por t ant o, est r ei t as e mul t i pl as, obr i gando a consi der ar
em t oda a sua di ver si dade as pr at i cas do escr i t o.
2 0 0
Segundo, a apropriao Ieita pelos leitores iurdianos dos textos biblicos.
Nesse sentido, deve-se buscar uma historia cultural caracterizadora das praticas que se
apropriam diIerencialmente dos materiais circulantes numa determinada sociedade, ou seja,
'que concentre sua ateno nos empregos diIerenciados, nas apropriaes plurais dos
mesmos bens, das mesmas idias, dos mesmos gestos.
201
Para entender como ocorrem essas
apropriaes, Chartier elabora uma inquietante questo observada a partir da obra Celestina,
publicada em 1507:
Como que um t ext o, que o mesmo par a t odos os que l em, pode
t r ansI or mar - se em 'i nst r ument o de di scor di a e de br i gas, ent r e seus
l ei t or es, cr i ando di ver gnci as ent r e el es e l evando cada um,
dependendo de seu gost o pessoal , a t er uma opi ni o di I er ent e?
2 0 2
199
Id., ibid., p. 39.
200
CHARTIER, R. Leituras e leitores e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 11, 12.
201
Id., ibid., p. 12.
202
CHARTIER, Roger. Textos, Impresso, Leituras. In: HUNT, L. Op. cit., p. 211. Chartier reIere-se aqui as
indagaes Ieitas por Fernando Rojas no 'Prologo que escreve para a 'Celestina, quanto as razes da sua obra
'ter sido entendida, apreciada e utilizada de modos to diversos.
70
Ao apontar para as variaes que a historia da leitura assume em tempos e
lugares, Robert Darnton sublinha que as inIormaes contidas numa pagina ganham sentido
quando ocorre a interpretao, sendo ai decisivas as conIiguraes culturais a que pertence o
leitor. Assim, 'compreender a maneira como se tem lido, possibilita o entendimento de como
se compreende a vida, pois 'a leitura no simplesmente uma habilidade, mas uma maneira
de estabelecer signiIicado.
203
No sendo o ato de ler apenas uma decodiIicao da palavra escrita, uma
vez que 'a leitura do mundo precede a leitura da palavra,
204
a tenso entre tal pratica e as
representaes se da motivada pelo desejo de captao dos signos ligados ao ambiente que
conIigura a ao existencial do leitor, Iato esse que atribui a leitura 'uma Iinalidade, um
objetivo, um proposito:
205
O at o de l er pode ser compr eendi do como uma pr at i ca soci al , al go
que se i nscr eve na di menso si mbol i ca das at i vi dades humanas. Ao
pr oduzi r a l ei t ur a, o suj ei t o engaj a aut omat i cament e na di nmi ca do
pr ocesso hi st or i co- soci al de pr oduo de i magens const r ui do sobr e o
l ugar soci al que ocupa e do l ugar ocupado pel o out r o. Est es l ugar es,
por sua vez, so compr eendi dos em uma di menso hi st or i ca.
2 0 6
Terceiro, observar os protocolos de leitura utilizados nas praticas iurdianas.
E tambm tareIa do pesquisador observar os suportes editoriais utilizados na conIeco das
literaturas, pois um texto, aparentemente 'estavel, soIre mutaes de sentidos ao 'ser dado a
ler em Iormas impressas que se alteram.
207
Todo texto lido a partir de suportes ou veiculos,
ou seja, o texto no existe em si mesmo, 'Iora das materialidades, quaisquer que sejam -
aIirma Chartier, que argumenta:
Cont r a essa 'abst r ao, pr eci so l embr ar que as I or mas que I azem
com que os t ext os sej am l i dos, ouvi dos ou vi st os par t i ci pam t ambm
da const r uo de sua si gni I i cao. O mesmo t ext o, I i xado pel a l et r a,
no o 'mesmo, se mudam os di sposi t i vos de sua i nscr i o ou de
sua comuni cao.
2 0 8
As analises Ieitas por Darnton tambm apontam para este aspecto:
Mas os t ext os mol dam a r ecepo dos l ei t or es por mai s at i vos que
possam ser ( . . . ) cr i am um ar cabouo e do um papel ao l ei t or ao
qual el e no pode se esqui var . ( . . . ) A hi st or i a da l ei t ur a t er a de
l evar em cont a a coer o do t ext o sobr e o l ei t or , bem como a
203
DARNTON, R. Historia da leitura, p. 218-234.
204
FREIRE, Paulo. Apua BARZOTTO, Valdir Heitor (Org.). Estuao ae leitura. Campinas: Mercado de Letras,
1999, p. 73.
205
Id., ibid., p. 74.
206
ORLANDI, Eni Puccinelli (Org.). A leitura e os leitores. Campinas: Pontes, 1998, p. 111, 112.
207
Id., ibid., p. 20.
208
CHARTIER, Roger. Critica textual e Historia Cultural: o texto e a voz sculo XVI e XVII. Leitura: teoria
e pratica. Campinas: Associao de Leitura no Brasil - ALB, n. 30, p. 67-75, 1997.
71
l i ber dade do l ei t or com o t ext o. A t enso ent r e essas t endnci as
exi st e sempr e que as pessoas est o di ant e de l i vr os ( . . . ) .
2 0 9
Esta primeira composio de Iontes, portanto, possibilita ao pesquisador um
escopo mais amplo do que envolve esse segmento religioso em mbito nacional. Assim,
mesmo existindo obviamente as variaes regionais, por meio dos materiais veiculados,
torna-se possivel estabelecer um olhar mais panormico sobre as praticas da IURD em sua
ressonncia cultural.
1.3.2 - Fontes produzidas pela pesquisa de campo
Um dos recursos que compem este segundo grupo de Iontes a
observao participante. Esse procedimento pode ser conceituado nos seguintes termos:
O pr ocesso no qual um i nvest i gador est abel ece um r el aci onament o
mul t i l at er al e de pr azo r el at i vament e l ongo com uma associ ao
humana na sua si t uao nat ur al com o pr oposi t o de desenvol ver um
ent endi ment o ci ent i I i co daquel e gr upo.
2 1 0
Tal recurso de pesquisa representa uma excelente oportunidade para uma
insero mais densa nas praticas e representaes vivenciadas pelos Iiis da IURD, pois
permite uma analise mais delimitada e especiIica, devido a incurses mais constantes que se
pode Iazer no dia-a-dia de tais experincias. Havendo maior proximidade do contexto ou
ambiente do grupo a ser pesquisado, o pesquisador podera aIirmar ou Iazer interpretaes
sobre o seu objeto de estudo com maior correspondncia ao modo como as praticas ali se
apresentam. As aIirmaes reIerentes as crenas religiosas de um povo devem ter sempre o
devido cuidado de apreenso das concepes, imagens mentais, palavras, validas e coerentes
para o respectivo grupo, com conhecimento amplo do sistema de idias de que tais crenas
participam ou pertencem.
211
O uso desse mtodo tambm possibilita maior insero no universo cultural
vivenciado pelo segmento religioso aqui pesquisado. Segundo CliIIord Geertz, a cultura
consiste num 'sistema entrelaado de signos interpretaveis, que podem ser descritos de
Iorma inteligivel, isto , descritos com densidade.
212
Esse autor apresenta importantes
procedimentos para a observao participante ou trabalho etnograIico, como recursos de
acesso ao universo cultural do grupo em pesquisa, ressaltando que durante a coleta de dados,
209
DARNTON, Historia da leitura, p. 128.
210
MAY, Tim. Pesquisa social. questes, mtodos e processos. Porto Alegre: Artemed, 2001, p.177.
211
EVANS-PRITCHARD, E. E. Op. cit., p. 18.
212
GEERTZ, C. Op. cit., p. 24.
72
a multiplicidade das estruturas de signiIicao pode parecer muito complexa, estranha,
irregular e inexplicita ao pesquisador. Mas, a medida que ocorrem as entrevistas, observao
de rituais, deduo de termos especiIicos e escrita do diario de campo, tal universo se torna
mais acessivel a interpretao.
Buscando decodiIicar esse sistema de signos, alguns passos praticos so
apontados por Geertz. Primeiramente, o pesquisador precisa se situar dentro do universo
imaginativo em que os atos do grupo em pesquisa so marcos determinados. 'Situar-nos, eis
no que consiste a pesquisa etnograIica como experincia pessoal ressalta esse autor.
213
Tambm, no deve o pesquisador procurar 'tornar-se um nativo ou 'copia-lo. O que deve
Iazer conversar com eles, 'o que algo muito mais diIicil. Visto desta maneira, a pesquisa
etnograIica apresenta como um dos seus objetivos o alargamento do universo do discurso
humano.
214
Outro aspecto: para compreender a cultura de um dado grupo, o etnograIo deve
desenvolver Iormulaes e interpretaes dos sistemas simbolicos dos atos apresentados pelo
respectivo grupo, sabendo que, quanto se segue o que Iazem e como se comportam os
membros de tal coletividade, 'mais logicos e singulares eles |os sistemas| se parecero.
215
Outro elemento importante que a logica a partir de reIerenciais do pesquisador - no pode
ser o principal teste de validade de uma construo cultural. Os sistemas culturais tm
coerncia propria, do contrario no seriam chamados de sistemas, por isso a Iora das
interpretaes no pode repousar na rigidez.
216
Ainda observa Geertz que a compreenso de
que a vida social no Iixa, mas dinmica e mutavel. Dessa Iorma, os procedimentos
anteriormente identiIicados possibilitaro meios para que o pesquisador se insira mais
proIundamente nas atividades do dia-a-dia das pessoas que busca entender, tornando-se parte
do seu universo, registrando as experincias e seus eIeitos sobre o comportamento do
respectivo grupo social.
DiIerentemente da entrevista, na observao participante o pesquisador
vivencia pessoalmente o evento de sua pesquisa para melhor analisa-lo ou entend-lo,
percebendo e agindo diligentemente de acordo com as suas interpretaes daquele mundo;
participa nas relaes sociais e procura entender as aes no contexto de uma situao
observada. As pessoas agem e do sentido ao seu mundo apropriando-se de signiIicados a
partir do seu ambiente. Desse modo, na observao participante, o pesquisador deve tornar
213
Id., ibid., p. 23.
214
Id., ibid., p. 24.
215
Id., ibid., p. 27.
216
Id., ibid., p. 28.
73
parte daquele ambiente para melhor entender as aes daqueles que ocupam e produzem
culturas, apreender seus aspectos simbolicos, os quais incluem costumes e linguagem.
Victor Turner emprega as expresses 'exegese nativa dos simbolos ou
'perspectiva de dentro para se reIerir a compreenso dos simbolos rituais, procurando
entender como os proprios membros do grupo explicam e interpretam-nos. Destaca que 'no
ha incongruncia com a realidade para os membros do grupo e que 'cada elemento
simbolico relaciona-se com algum elemento empirico de experincia. Os reIerentes so
'tirados de muitos campos da experincia social.
217
ConIorme esse autor, para se conhecer
mais proIundamente um ritual ' preciso vencer qualquer tipo de preconceito e investiga-lo,
e destaca a importncia da insero no grupo em estudo: 'Uma coisa observar as pessoas
executando gestos estilizados e cantando canes enigmaticas que Iazem parte da pratica dos
rituais, outra coisa tentar alcanar a adequada compreenso do que os movimentos e a
palavras signiIicam para elas.
218
Nesse sentido, vale destacar tambm as observaes
metodologicas de Jacques Le GoII, quando aIirma que os ritos e os simbolos consistem num
'sistema de gestos que 'permite uma 'recuperao para a documentao historica, para
alm do escrito e da palavra (...) este terceiro dado Iundamental, que na maioria das vezes ,
alias, o seu complemento.
219
Assim, 'a historia Iaz-se com documentos e idias, com Iontes
e com imaginao.
220
O mesmo autor, em capitulo intitulado 'o historiador e o homem
quotidiano, mostra que a viso etnograIica prope a investigao historiograIica uma nova
documentao: 'sem desprezar o documento escrito, o historiador chamado a pr-se ao lado
do homem quotidiano, num universo sem textos. Assim, nos ritos e nos simbolos, o
pesquisador pode investigar a historia dos gestos, das mentalidades, das crenas, dos
comportamentos.
221
Evidentemente, tem havido criticas ao mtodo da observao participante.
AIirma-se, por exemplo, que quem o utiliza supe ja saber o que importante a ser anotado
ou observado, ou seja, como se o pesquisador buscasse to somente a testagem ou
comprovao de idias ou aspectos teoricos previamente elaborados. Para no incorrer em tal
erro metodologico, deve o historiador construir o conhecimento de seu objeto a partir das
experincias e da realizao das investigaes detalhadas e meticulosas que a observao
participante possibilita em termos de recursos. Dessa Iorma, no caso especiIico da IURD,
217
TURNER, V. W. Op. cit., p. 60.
218
Id., ibid., p. 20.
219
LE GOFF, Jacques. O maravilhoso e o quotiaiano no Ociaente meaieval. Lisboa: Edies 70, 1983, p. 64.
220
Id., Para um novo conceito ae Iaaae Meaia. Tempo, trabalho e cultura no Ocidente, p. 9.
221
Id., ibid., p. 321.
74
preciso que se tenha o devido cuidado quanto a interpretao a partir do que, a priori, se
conhece sobre tal segmento religioso atravs de inIormaes que advm, por exemplo, da
imprensa, que, grosso modo, costuma reIerir-se as praticas iurdianas quase sempre em tom de
denuncia ou julgamento, como se 'maquiavelicamente so existissem ali pessoas de 'boa I
sendo Iinanceiramente lesadas por praticas de charlatanismo.
Uma outra critica suscitada reIere-se ao risco de envolvimento demasiado
do pesquisador com o seu objeto, o que poderia comprometer um olhar mais critico que a
investigao requer, pois 'o contato direto do pesquisador com o Ienmeno observado deve
ocorrer sem que haja um demasiado envolvimento daquele.
222
Tendo tal conscincia, o
trabalho de campo deve ento ocorrer na tenso entre uma 'descrio densa do Ienmeno e
o cuidado com o necessario distanciamento do objeto, de modo a garantir maior
plausibilidade em termos de parmetros epistemologicos que envolvem a investigao
historiograIica.
Considerando mais especiIicamente o caso da Igreja Universal, a
observao e a interpretao participantes podem possibilitar diIerentes perspectivas de
analise e composio de Iontes. Primeiramente, permitem a visualizao das imagens e a
esttica dos rituais desenvolvidos nos cultos. SigniIica 'descrever o rito na propria
consumao do rito.
223
No culto e nos ritos iurdianos denotam-se codigos emissores e
receptores de comunicao. Ha, neles, um universo mitico que se da a representar. Os ritos,
ali,
t or nam- se um r evel ador mai or das cl i vagens, t enses e
r epr esent aes que at r avessam uma soci edade. ( . . . ) o l ugar de um
conI l i t o em que se conI r ont am, ao vi vo, l ogi cas cul t ur ai s
cont r adi t or i as; por i sso, aut or i zam uma apr eenso das cul t ur as
'popul ar e er udi t a nos seus cr uzament os. ( . . . ) Os r i t os so uma das
I or mas soci ai s em que possi vel obser var t ant o a r esi st nci a
popul ar as i nj unes nor mat i vas quant o a r emodel agem segundo os
model os cul t ur ai s domi nant es dos compor t ament os da mai or i a.
2 2 4
Tais praticas ritualisticas 'Iincam raizes em existncias particulares,
reunindo em si os 'diIerentes traos que desqualiIicam as praticas licitas, contrarias a crena
verdadeira,
225
muitas vezes postulada pelo protestantismo classico. Na magia dos ritos e na
riqueza simbolica, adotadas por essa Igreja, percebe-se a apropriao de um substrato cultural
legado das crenas aIro e da religiosidade popular catolica substrato esse que sincrtico
ou pluralmente re-signiIicado a partir de elementos da tradio evanglica.
222
MINAYO, Maria C. S. (Org.) Pesquisa social. teoria, metoao e criativiaaae. Petropolis: Vozes, 1999.
223
BOURDIEU, P. Esboo ae auto-analise, p. 131.
224
CHARTIER, R. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 22.
225
Id., ibid., p. 27.
75
Alm disso, a observao participante viabiliza um contato mais proximo
com a riqueza simbolica dos templos iurdianos, presente no apenas como ornamentao,
mas principalmente como elementos Iundamentais no desenvolvimento dos cultos e ritos.
Tambm permite tambm melhor constatao e analise do desempenho e perIormance do
carisma ostentado pelos lideres perante o grupo. 'Fazer historia etnologica tambm
reapreciar, na historia, os elementos magicos, os carismas aIirma Le GoII.
226
E marcante
nos cultos da IURD a 'guerra espiritual contra o Demnio, considerado o grande
responsavel por todos os males, o que torna imprescindivel a Iigura do lider taumaturgo,
capaz de sobrepujar-lhe as aes, por meio de um carisma que estrategicamente
demonstrado, por exemplo, nos procedimentos de cura e de exorcismo. Nesses momentos, o
templo se transIorma em palco da luta do bem contra o mal e o lider pode, ento, demonstrar
ao publico extasiado, a sua autoridade e legitimidade, numa representao de algo que lhe
teria sido divinamente concedido, pois nessa Igreja:
Na dr amat ur gi a, al m do cenar i o e dos obj et os, I undament al a
at uao do at or que com pr esena, voz, gest os e dr amat i ci dade
pr ovoca at i t udes, r eaes e mudanas no compor t ament o da pl at i a.
( . . . ) O past or - at or , por mei o de suas pal avr as e gest os, pr ocur a
i nt egr ar t odos os pr esent es no pr ocesso de ext er i or i zao
i nt er i or i zao col et i va da I .
2 2 7
Finalmente, esse mtodo de pesquisa possibilita maior acesso ao
comportamento de lideres e Iiis iurdianos e seu modo de ver o mundo e orientar suas aes
em sociedade. Nesse sentido, em um artigo intitulado 'O morto se apodera do vivo,
228
Bourdieu prope certas categorias para se pensar o material historico em termos do que seria
uma historia incorporada pelos individuos, que se apresenta com suas praticas, suas aes,
seus testemunhos, sua historia oral, ao lado de uma historia objetivada ou reiIicada ou
institucionalizada, 'que aparece em arquivos, em estatuas com construes, na arquitetura e
numa srie de coisas.
229
Em termos de procedimentos praticos, preciso considerar que a
observao participante envolve aspectos de tempo, lugar e circunstncias. Nota-se que
quanto mais tempo o observador gasta com o grupo em analise, maior adequao e
possibilidade de interpretao sero alcanadas, pois quanto mais Iamiliarizado estiver com a
linguagem empregada na respectiva situao social vivenciada pelo grupo em pesquisa, por
226
LE GOFF, J. Para um novo conceito ae Iaaae Meaia, p. 318.
227
CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercaao. Organizao e marketing de um empreendimento neopentecostal,
p. 94.
228
BOURDIEU, Pierre. O poaer simbolico. Lisboa: DIFEL, 1989, p. 75-106.
229
CHARTIER, R. Pierre Bourdieu e a Historia, p. 157.
76
exemplo, mais proxima da realidade podero ser as suas interpretaes. Alm do que, o
tempo pode gerar uma relao de maior intimidade e conIiabilidade entre os envolvidos no
processo. Um maior envolvimento pessoal permitira que o pesquisador seja capaz de no
apenas entender melhor os signiIicados e as aes que o grupo realiza, como tambm obter
acesso a um mundo mais privado ou 'de bastidores. Em relao ao lugar, o pesquisador
deve considerar tambm que ha inIluncia das condies Iisicas sobre as aes. Por isso cabe
registrar no apenas as interaes observadas, mas tambm o ambiente Iisico no qual elas
acontecem.
Nesse aspecto, tomando como reIerncia a IURD, o 'onde deve ser
bastante considerado no processo de crena e comportamento ali vivenciados. Robert
Darnton,
230
quando analisa a historia das praticas da leitura, aIirma que o 'onde pode exercer
inIluncia sobre o leitor por coloca-lo num ambiente que lhe propicia sugestes sobre a
natureza da sua experincia. Nos templos tambm ha exposio de Iotos, quadros ou objetos
testiIicando os milagres alcanados pelos Iiis, tendo sempre ao lado versiculos biblicos os
quais procuram Iomentar a compreenso sobre o signiIicado do que esta exposto. Em uma
das observaes participantes realizadas no templo da IURD, em Londrina,
231
notou-se
visivelmente exposto a entrada do templo, um grande mural com Iotos, atestados mdicos
comprovando curas recebidas; Iotocopia da carteira de trabalho, provando o emprego
alcanado e escrituras de imoveis, atestando a aquisio de bens materiais obtidos a partir das
campanhas ou 'correntes de orao Ieitas na Igreja. Em relao as circunstncias sociais,
quanto mais variadas as oportunidades do observador relacionar-se com o grupo, tanto em
termos de status, de papel e de atividades, maior podera ser o entendimento dele. Inserindo-
se nas diIerentes atividades vivenciadas pelo grupo em pesquisa, os pesquisadores tero
maior dominio da linguagem no seu sentido mais amplo, incluindo no apenas as palavras e
os signiIicados que elas transmitem, mas tambm as comunicaes no-verbais como as
expresses Iaciais e corporais em geral. Por conseguinte, Iamiliarizam-se com esse aspecto
do contexto social, aprendem a linguagem da cultura e registram as suas impresses e
quaisquer mudanas de comportamento do grupo em analise. Nesse ponto, o observador
devera ser capaz de indicar como os signiIicados so empregados na cultura e compartilhados
entre as pessoas, ou seja, sob quais condies e situaes so transmitidos.
230
DARNTON, R. Historia da leitura, p. 203.
231
Templo situado a rua Benjamin Constant, 1649 centro. Observao participante realizada em 16 maio de
2003, no culto das 15 horas.
77
E preciso ainda acrescentar que a utilizao de recursos metodologicos da
observao participante, assim como da Historia Oral
232
- no obstante seus aspectos
positivos, por propiciar uma aproximao maior do cotidiano de lideres e Iiis - cria algumas
diIiculdades para o trabalho de campo quando isto envolve a IURD como objeto de
investigao. Dentre elas destacam-se a 'desconIiana que os Iiis tm para conceder
entrevistas; a 'Iiscalizao ou cerceamento
233
a quem visita os templos munido de maquinas
IotograIicas, gravadores, Iilmadoras e at mesmo de bloco de anotaes, pois a IURD v com
bastante desconIiana a presena de 'intrusos pesquisadores em seus cultos e reunies, Iato
que exige maior habilidade ainda daquele que deseja Iazer observao participante ou
entrevistas com lideres e Iiis, como o veremos mais adiante. Inevitavelmente, precisara
manter discrio e anonimato. E, por ultimo, a 'quase impossibilidade de acesso a cupula
iurdiana para entrevistas. Tal realidade bem se descreve nas palavras de um inIluente pastor
da IURD, quando procurado para entrevista por um outro pesquisador:
Si nt o mui t o por no poder I azer nada quant o ao seu pedi do de
ent r evi st as na I gr ej a Uni ver sal . Est amos pr oi bi dos de dar
ent r evi st as ou i nI or maes sobr e o nosso t r abal ho. Essa pr oi bi o
vem de ci ma. O bi spo Macedo pr oi bi u t er mi nant ement e quai squer
ent r evi st as e el e t em os seus mot i vos. Temos r ecebi do mui t as
pessoas com sol i ci t aes i dnt i cas; t odos vm com a mesma
'conver sa, pr omet endo que vai ser um t r abal ho 'neut r o,
'honest o, por m, voc e t odos sabem, no exi st e neut r al i dade. Por
exempl o, uma vez r ecebi em casa uma r epor t er da Fol ha ae S.
Paul o, gast ei hor as conver sando com el a, e t udo o que sai u
publ i cado no condi zi a com a r eal i dade. Nos, na Uni ver sal , est amos
cansados desse t i po de t r at ament o. Por i sso, i nI el i zment e, no
poder emos dar ou aut or i zar ent r evi st as. Hoj e, at a pr esena de
pesqui sador es em nossos t empl os, ost ensi vament e anot ando,
gr avando ou I ot ogr aI ando, poder a ser encar ada como pr ovocao, e
no ser o bem r ecebi dos pel os obr ei r os. No posso gar ant i r como
pessoas nessas ci r cunst nci as ser o t r at adas.
2 3 4
Como delimitao do espao de investigao, neste trabalho, optou-se pelo
desenvolvimento de observaes participantes nos templos da cidade de Londrina e no
templo-sede, localizado a Av. Joo Dias, bairro de Santo Amaro, So Paulo. A escolha desse
232
No desenvolvimento da pesquisa, procurou-se conhecer e utilizar melhor as tcnicas desenvolvidas por
especialistas em historia oral, especialmente as que so recomendadas por THOMPSON, Paul. A vo: ao
passaao. Historia Oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
233
Outros pesquisadores tm mencionado certas hostilidades, Iiscalizao e constrangimentos soIridos em
trabalho de campo realizado no mbito da IURD. E o caso, por exemplo, de Mnica do Nascimento Barros,
como o descreve em sua dissertao de mestrado em sociologia, A batalha ao Armageaom. uma analise do
repertorio magico-religioso proposto pela Igreja Universal do Reino de Deus. Belo Horizonte: UFMG, 1995.
200 Il. Dissertao (Mestrado em Sociologia) Programa de Pos-Graduao em Sociologia, Universidade
Federal de Minas Gerais, 1995.
234
Jos Vasconcelos Cabral diretor-presidente da GraIica Universal, com sede na cidade do Rio de Janeiro.
Entrevista concedida a Leonildo Silveira Campos, jul. 2002. (Copia em CD-ROM, disponivel no acervo do
Centro de Documentao e Pesquisa Historica CDPH, da Faculdade Teologica Sul Americana, a Rua
Martinho Lutero, 277, Londrina PR.).
78
espao estratgica, pois , hoje, o mais utilizado pela IURD, para a transmisso dos cultos
em rede nacional, pela TV Record e outras emissoras nas quais a igreja mantm programas
diarios. Tambm nele que o bispo Macedo comparece mais regularmente para participar de
reunies, especialmente aos Iinais de semana.
No caso de Londrina, a escolha igualmente estratgica pelo Iato de ter
essa cidade, ao longo de sua Iormao historica, desenvolvido um contexto Iavoravel para a
operosidade iurdiana: Iormao de imaginarios milenaristas;
235
abruptos e intensos processos
de urbanizao, Iormadores de grandes periIerias, decorrentes de crises instauradas no
campo. A escolha dessas duas cidades para observao e analise representa importante
estratgia tambm pelas suas diIerenas ou contrastes como, por exemplo, em termos de
numeros de habitantes - Londrina, com cerca de 500 mil e So Paulo com mais de 20
milhes; ou ainda, quanto ao de tempo de existncia - Londrina, com 71 anos e So Paulo
com quase meio milnio. No obstante os contrastes ou disparidades, o movimento iurdiano
tem obtido expressivo xito em ambos os contextos, isto por encontrar elementos comuns que
se tornam Iavoraveis a sua operosidade, sobretudo, no mbito cultural.
Obviamente, o recorte espacial estabelecido para as observaes signiIica
uma amostra de um segmento que atualmente se Iaz representar nas mais diIerentes regies
do pais. Entretanto, ao menos dois aspectos Iavorecem a abrangncia de tal amostragem.
Nota-se, inicialmente, uma certa padronizao dos cultos e rituais realizados diariamente. As
dramaturgias seguem um mesmo modelo para todos os templos, sendo devidamente
planejadas pelas autoridades centrais, o colgio de bispos, em reunies comandadas,
pessoalmente ou por teleIone, por Edir Macedo. Essa sensao de unidade partilhada pelos
Iiis, ao que se aplica bem a Irase de Pierre Bourdieu: 'pertencer ao grupo signiIica ter no
mesmo momento do dia e do ano o mesmo comportamento de todos os outros membros do
grupo.
236
Somado a esse Iato, ha a veiculao em rede nacional de seus programas religiosos,
tanto atravs da televiso, pela Rede Record, quanto pelo radio, mediante a cadeia
235
A Companhia inglesa responsavel pela colonizao do Norte do Parana, a partir da dcada de 1930,
empreendeu Iorte apelo propagandistico que apontava para o aspecto paradisiaco dessa regio. Esse imaginario
de Terra da Promisso, da Nova Cana e do Novo Eldorado, pode ser observado nos termos empregados nas
matrias publicadas pelo jornal da Companhia colonizadora: 'A cadeia lugar de descanso (...) O paraiso
perdido pode ser encontrado nos dominios da Companhia de Terras Norte do Parana, onde no ha ladres, os
crimes so raros, conIlitos de certa gravidade raramente acontecem (...); todos os que habitam este pedao
dadivoso, da grande zona que o Norte do Parana, e onde o jornal vai agir no sentido de propagar-lhe a riqueza,
concretizada na Iertilidade inigualavel do seu solo (...) neste pedao de terra americana, onde varias raas se
misturam na mais comovedora das harmonias. CI. Jornal Parana-Norte, Londrina, n. 1, 9 de out. 1934.
(Material disponivel no Centro de Documentao e Pesquisa Historica - CDPH, da Universidade Estadual de
Londrina).
236
BOURDIEU, Pierre. O aesencantamento ao munao. estruturas econmicas e estruturas temporais. So Paulo:
Perspectiva, 1979, p. 48.
79
radioInica denominada 'Rede Aleluia. Muitos desses programas so transmitidos
diretamente de templos ou locais em que, principalmente Edir Macedo ou demais bispos que
o auxiliam, atuam.
Tambm compondo este segundo grupo de Iontes aqui utilizadas, esto os
programas da Igreja veiculados pelo radio e pela TV. Nas grandes cidades do pais,
normalmente a IURD adquire concesses ou ento aluga horarios em emissoras de grande
alcance para diariamente veicular sua programao religiosa. Vale considerar que o uso de
tais recursos midiaticos tem sido um eIiciente mecanismo de propagao da mensagem
religiosa iurdiana. A agressividade, nesse setor, tem sido um dos elementos responsaveis
pelos numeros expressivos do uso da midia por igrejas evanglicas brasileiras: 'atualmente,
os evanglicos controlam mais de 300 emissoras de radio e canais de TV no pais, com
Iaturamento global acima de meio bilho de reais por ano. Mais de 80 da programao
religiosa na TV brasileira evanglica.
237
O uso desses programas como Iontes de pesquisa deve considerar que 'a
TV no igual a um radio com Iiguras, pois se o proprio radio no simples, 'os meios
audio-visuais so um amalgama complexo de sentidos, imagens, tcnicas, composio e
seqncia de cenas, etc..
238
Na estrutura e conteudos desses mecanismos ha intencionais e
soIisticados usos de tcnicas visando a modulaes de Iala, imagens, etc., recursos de
especialistas que podem instigar o aIloramento de sentidos de que compe o imaginario
coletivo. Assim, o produto Iinal transcrito a ser usado pelo pesquisador sera normalmente
uma condensao de toda essa complexidade. A pesquisa com imagem e/ou som envolve,
assim, alguns dos procedimentos que tambm ocorrem em relao as Iontes escritas: escolha
ou seleo, anotaes ou transcrio e analise. Primeiramente, ha uma seleo de programas
a serem observados. Nesse sentido, no caso da IURD, preciso considerar a diversidade de
programao. Ha programas diIerentes em horarios tambm diIerentes: entrevistas, em que
os Iiis do testemunho de milagres alcanados ou sucesso Iinanceiro obtido atravs da ajuda
da igreja; mensagens dos pastores, em especial do bispo Macedo; musicais; transmisso ao
vivo de cultos realizados nos templos etc. Portanto, plausivel escolher para observao e
analise programas em diIerente horarios para que se tenha uma amostragem mais ampla do
que a IURD propaga e realiza.
237
Revista Jefa, So Paulo, p. 91, 03 jul. 2002.
238
BAUER, Martin; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petropolis: Vozes,
2002, p. 343.
80
Em vista disso, sendo disponibilizados diariamente tais programas pelo
radio e TV, Ioram Ieitas gravaes, as quais, depois de transcritas, datadas, catalogadas e
arquivadas, passaram a ser usadas como Iontes para a devida pesquisa e a investigao
historiograIicas. Obviamente, a Iinalidade da transcrio gerar um conjunto de dados que
possibilite uma analise mais cuidadosa do objeto em questo. E preciso tambm estar ciente
de que a transcrio inevitavelmente simpliIica a imagem complexa da tela, com tendncia a
se evidenciar mais o verbal do que o visual. Isso tambm envolve escolha: o que transcrever?
No caso da IURD importante que se leve em conta a riqueza simbolica disponibilizada na
tela durante os programas, na qual costumam aparecer elementos como: a Biblia, lida
repetidamente pelos pastores para reIorar ou Iundamentar os seus argumentos e apelos,
havendo muitas vezes, inclusive projeo de textos biblicos, tendo ao Iundo imagens que
ilustram o que se esta lendo, como por exemplo, as do Monte Sinai, da Terra Santa, lugar
para onde os bispos costumam viajar com o proposito de levar pedidos e suplicas dos Iiis;
carros, casas e empresas, quando se quer Ialar de prosperidade; cenas de rituais aIro e de
sesses de exorcismo, quando se quer Ialar sobre a maneira como o demnio age na vida das
pessoas etc; grandes aglomeraes de Iiis nos templos ou espaos mais amplos, para se
ressaltar como milhares de pessoas esto recorrendo a IURD.
Cabe tambm observar o 'milagre da multiplicao da imagem, o que se
constitui importante mecanismo para analise do comportamento social do grupo. De maneira
intencionalmente, ou no, nessa Igreja se adota uma padronizao quanto ao comportamento
de seus pastores e bispos. Isso pode ser observado nos programas na midia e na perIormance
desempenhada nos templos: mesmo timbre de voz, sotaque, gestos, vestimentas, modelo que
segue o perIil do lider maior, o bispo Macedo. Tal procedimento acaba por transmitir aos
Iiis a sensao de que qualquer templo que Ireqentarem, em qualquer cidade do pais,
encontraro sempre a 'Iigura de Macedo em milhares de pastores que 'multiplicam essa
presena em todos os lugares ao mesmo tempo. Em outras palavras, no so nos programas de
radio e TV, mas em qualquer templo da IURD, ha a sensao de se estar ouvindo e vendo o
bispo Macedo. Nesse sentido, entendendo 'representao tambm como 'tomar o lugar de
algum,
239
pode-se dizer que o carisma ostentado por Macedo perante o grupo quantitativo
e estrategicamente ampliado, graas as inumeras igrejas e aos diversos programas midiaticos
nos quais representado pelos pastores sob o seu comando.
239
BURKE, Peter. A fabricao ao rei. A construo da imagem publica de Luis XIV. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1994, p. 20.
81
Nesse aspecto, cabe estabelecer um paralelo metodologico em relao ao
uso das Iontes de pesquisa Ieito por Peter Burke ao escrever a obra A Fabricao ao Rei. Ao
analisar a construo da imagem de Luis XIV, Burke aIirma que ela tornou-se reIerncia de
imitao por parte de outros monarcas. Ressalta tambm que a grande ressonncia de
identiIicao entre o rei o povo se dava mediante a multiplicao e popularizao da imagem
do rei. Para isto eram utilizadas literaturas, peas teatrais e rituais, sendo esses dois ultimos
bastante valorizados: 'entre a gente do povo (...) impresses Iisicas tm um impacto muito
maior que a linguagem (...).
240
Usavam-se tambm os retratos da sua imagem, os discursos e
as aparies publicas: 'Luis sabia como vender suas palavras, seu sorriso, at seus
olhares.
241
Burke observa no caso de Luis XIV 'a ritualizao ou mesmo a teatralizao de
boa parte da sua vida cotidiana.
242
As encenaes ocorriam nos espetaculos, na intimidade e
nas aparies publicas do rei: 'No Iorar demais o termo descrever essas ocasies como
rituais`, pois tinham o proposito de comunicar uma mensagem, mas 'pode ser mais
esclarecedor reIerir-se as atividades como mais ou menos ritualizadas (mais ou menos
simbolicas).
243
Burke ressalta ter procurado enIatizar 'que o rei era continuamente criado ou
recriado por meio das perIormances em que desempenhava seu papel, sendo que tais
representaes se conIiguravam em praticas: 'Essas representaes tornavam-se realidade, no
sentido de que aIetavam a situao politica.
244
O rei tambm contava com uma equipe de assessores a qual elaborava
estratgias e meios para a Iabricao da sua imagem: 'ministros e conselheiros tinham grande
preocupao com a imagem real procurando 'dar ateno a todo sistema de
comunicao;
245
cuidavavam para que o rei 'aparecesse erguendo o basto, no apoiado
nele.
246
Logo, a analogia Ieita as praticas iurdianas so quase inevitaveis. Em 1995, quando
emissoras de TV exibiram um video que teria sido gravado por um pastor dissidente da
IURD, no qual Macedo aparecia dando um treinamento aos seus pastores em relao a
maneira com que deveriam se comportar perante o publico:
Vocs no devem apar ecer per ant e o publ i co com aquel a conver sa
mansa, par ecendo um padr e, como um coi t adi nho ( . . . ) o publ i co quer
ver em vocs agr essi vi dade, br avur a . . . al gum que capaz de
240
Id., ibid., p. 19.
241
Id., ibid., p. 16.
242
Id., O que e Historia Cultural?, p. 114.
243
Id., ibid.
244
Id., ibid., p. 116.
245
Id., ibid.
246
Id., ibid., p. 14.
82
enI r ent ar o Di abo; o povo quer ser pr ovocado, chamado par a um
desaI i o cont r a o demni o par a venc- l o ( . . . ) .
2 4 7
Sintetizando, pode-se dizer que a IURD vivencia habilmente uma 'cultura
do impresso com uma cultura ainda amplamente oral, gestual e imagtica.
248
Palavra e
imagem so nela essenciais, mas o escrito impresso continua a desempenhar um papel de
primeira importncia na circulao de modelos culturais. A IURD mantm uma cultura do
escrito, mesmo entre os que so pouco aIetos a leitura, a qual a apreendida atravs dos
rituais inspirados nos escritos biblicos.
Os recursos da Historia Oral so tambm elementos importantes na
pesquisa de campo sobre a Igreja Universal: 'Permite o registro de testemunhos e o acesso a
'historias dentro da Historia e, dessa Iorma, amplia as possibilidades de interpretao do
passado.
249
E mais:
Uma das pr i nci pai s r i quezas da Hi st or i a Or al est a em per mi t i r o
est udo das I or mas como pessoas ou gr upos eI et uar am e el abor ar am
exper i nci as ( . . . ) ent ender como exper i ment ar am o passado t or na
possi vel quest i onar i nt er pr et aes gener al i zant es de det er mi nados
acont eci ment os e conj unt ur as.
2 5 0
Assim, ao se procurar compreender o universo cultural e a situao
historica em que surgiu e continua a se desenvolver a IURD, Iundamental ouvir
prioritariamente as personagens mais concretas que vivenciam as praticas dessa Igreja em
seus cultos e rituais: seus lideres e Iiis. Entretanto, como ja observado anteriormente, a
entrevista direta com Edir Macedo ou mesmo com pastores que esto sob o seu comando
algo bastante diIicil, uma vez que se negam a conced-las. Tal desconIiana em relao aos
pesquisadores se acirrou principalmente quando houve o episodio conhecido como 'chute na
santa.
251
A partir dos desdobramentos desse Iato, envolvendo uma srie de denuncias Ieitas
pela TV Globo em relao as praticas da IURD, a igreja adotou postura de no permitir
Iilmagens dos seus cultos, sendo os pastores tambm proibidos de conceder qualquer
inIormao sobre a igreja. Evidentemente, essa recusa dos lideres em se deixar conhecer aos
pesquisadores ja consiste em elemento a ser considerado no processo investigativo.
247
Gravao em Iita de video Ieita pelo ex-pastor iurdiano Carlos Magno de Miranda e levada ao ar pela Rede
Globo de Televiso, em dezembro de 1995.
248
CHARTIER, R. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 376.
249
ALBERTI, Verena. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes historicas. So Paulo: Contexto, 2005, p.
156.
250
Id., ibid., p. 165.
251
Srgio Von Helde, bispo da IURD, em 12 de outubro de 1995, chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida,
em um programa levado ao ar pela TV Record, sob a alegao de ser esta 'objeto de idolatria.
83
Para driblar tais diIiculdades, Ioram adotados nesta pesquisa alguns
procedimentos. Primeiramente, obter acesso a varias entrevistas concedidas, principalmente
por Macedo, antes do episodio conIlituoso anteriormente reIerido, a revistas e jornais no
pertencentes a igreja. Depois, colher, de maneira indireta, a opinio ou entrevistas de lideres e
Iiis, concedidas ao jornal Folha Universal e revistas da propria denominao, aos programas
religiosos veiculados atravs do radio e da televiso, ou ainda, as revistas de circulao
nacional, que apresentam matrias jornalisticas sobre a IURD. Tambm, conquistar a
conIiana dos Iiis no sentido de concederem algumas entrevistas, atentando para que seus
nomes no Iossem, por exemplo, literalmente mencionados. O livro Usos e Abusos aa
Historia Oral, ao discutir acerca do 'lugar da entrevista, sugere que essa ocorra na casa do
entrevistado ou no local de trabalho.
252
No caso da IURD, tornou-se inviavel Iazer a
entrevista com os adeptos e os obreiros (auxiliares dos pastores) no espao do templo, no
intervalo dos cultos etc. Eles no Iicavam a vontade, pelos motivos ja anteriormente
apresentados. E para que o encontro ocorresse em um outro local, Ioi 'indispensavel criar
uma relao de conIiana entre inIormante e entrevistador.
253
A observao participante,
desenvolvida de Iorma sistematizada, contribuiu para essa relao de conIiana.
Quanto as gravaes diretamente Ieitas com os Iiis, as entrevistas se deram
a partir de perguntas Iechadas ou bastante direcionadas, e outras mais abertas para que os
interlocutores pudessem se expressar mais livremente. Fizemos as devidas anotaes, dados
que mostram como os entrevistados compreendem e descrevem a experincia que tm
vivenciado em suas praticas religiosas.
Ha de se considerar, ainda, que a Historia Oral, vista como uma tcnica de
investigao ou um mtodo de pesquisa social do tempo presente, tambm tem sido alvo de
recorrentes criticas. Uma delas a de que possui um grau elevado de subjetividade, ou seja,
por ela o historiador Iaz ao seu interlocutor to somente as perguntas que interessam ao seu
objeto enquanto o interlocutor, por sua vez, tambm declara somente aquilo que interessa que
Iique registrado. Ha um direcionamento para a pesquisa. Sobre isso, vale contrapor tais
indagaes com as palavras de Jacques Le GoII:
No exi st e um document o obj et i vo, i nocuo, pr i mar i o. ( . . . ) O
document o no qual quer coi sa que I i ca por cont a do passado; um
pr odut o da soci edade que o I abr i cou segundo as r el aes de I or as
que det i nham o poder . So a anal i se do document o enquant o
252
AMADO, Janaina; FERREIRA, Marieta de M. (Orgs.). Usos e abusos aa Historia Oral. 5 ed. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2002, p. 236.
253
Id., ibid., p. 234.
84
monument o per mi t e a memor i a col et i va r ecuper a- l o e ao hi st or i ador
usa- l o ci ent i I i cament e, i st o , com pl eno conheci ment o de causa.
2 5 4
Outra critica a de que ocorre a escolha das pessoas a serem ouvidas,
havendo grandes direcionamentos ou intencionalidades, pelo pesquisador em sua abordagem.
E preciso, contudo, ponderar que todo procedimento de pesquisa historiograIica envolve
'escolhas:
Mas t oda hi st or i a escol ha. E- o, at devi do ao acaso que aqui
dest r ui u e al i sal vou os vest i gi os do passado. E- o, devi do ao
homem: quando os document os abundam, el e r esume, si mpl i I i ca,
pe em dest aque i st o, apaga aqui l o. E- o, sobr et udo, por que o
hi st or i ador cr i a os seus mat er i ai s, ou, se qui ser , r ecr i a- os: o
hi st or i ador que no vaguei a ao acaso pel o passado, como um
t r apei r o a pr ocur a de achados, mas par t e com uma i nt eno pr eci sa,
um pr obl ema a r esol ver , uma hi pot ese de t r abal ho a ver i I i car .
2 5 5
Inegavelmente, os depoimentos orais aqui recolhidos e analisados podem
carregar elementos de subjetividade. Entretanto, isso no Iaz que essa Ionte tenha menos
importncia que o material escrito.
O t est emunho or al t em si do ampl ament e di scut i do como I ont e de
i nI or mao sobr e event os hi st or i cos. El e pode ser encar ado como
um event o em si mesmo e, como t al , submet i do a uma anal i se
i ndependent e que per mi t a r ecuper ar no apenas os aspect os
mat er i ai s do sucedi do como t ambm a at i t ude do nar r ador em
r el ao a event os, a subj et i vi dade, a i magi nao e ao desej o que
cada i ndi vi duo i nvest e em sua r el ao com a hi st or i a.
2 5 6
Alm do que, a Historia Oral, apesar de ser-lhe normalmente atribuida um
maior grau de subjetividade e dessa trabalhar com certo deslocamento no tempo, propicia
elementos, inIormaes e acesso a determinadas discusses que a Ionte escrita nem sempre
pode propiciar, como por exemplo, as vivncias e as percepes dos individuos em seu
cotidiano, um aproIundamento no universo cultural-religioso de tais agentes. Tal recurso
ajuda a trazer mais luzes para a compreenso do porqu, por exemplo, de tanta 'teimosia
por parte dos Iiis em continuar sendo seguidores de tal segmento, mesmo sob o Iogo
cruzado de tantos questionamentos e criticas de diIerentes setores da sociedade.
E preciso tambm considerar, entretanto, que essas mesmas preocupaes
voltadas a subjetividade tambm se aplicam as Iontes escritas. Ao analisarmos o jornal, por
exemplo, temos de considerar que as inIormaes nele contidas tambm possuem a posio
pessoal do jornalista e, at mesmo, a censura estabelecida pelo proprio jornal enquanto
254
Apua KARNAL, Leandro; NETO, Jos Alves de F. (Orgs.). A escrita aa memoria. interpretaes e analise
documentais. So Paulo: Instituto Cultural Banco Santos, 2004, p. 30.
255
Id., ibid., p. 28.
256
PORTELLI, A. Sonhos ucrnicos. Memorias e possiveis mundos dos trabalhadores. Profeto Historia, So
Paulo, Educ, n. 10, p. 41, 1993.
85
veiculo inIormador, isto , no ha nada que impea a Ionte escrita de conter elementos de
subjetividade tanto quanto a Ionte oral. E preciso ressaltar ainda que o mesmo
direcionamento e papel de escolha pelo historiador tambm ocorrem no uso que se Iaz de
Iontes escritas; escolha e seleo de conteudos que interessam a tematica que se esta
investigando, por exemplo. E, de igual modo, tambm houve seleo de temas por parte
daqueles que produziram os registros, depois transIormados em 'documentos escritos. Alm
do que, geralmente o historiador utiliza a Ionte oral como a unica Ionte para o seu trabalho.
Ao contrario do trabalho jornalistico, que tem como maior preocupao colher depoimentos e
transmiti-los, o historiador deve problematizar os depoimentos, Iazendo o devido cruzamento
com outros documentos.
Tambm os que se dedicam ao estudo da Historia Oral costumam ressaltar
que a elaborao de um roteiro de entrevistas prvio parte importante do uso desse mtodo:
Nenhuma ent r evi st a deve ser r eal i zada sem uma pr epar ao
mi nuci osa: consul t a a ar qui vos, a l i vr os sobr e o assunt o, a vi da do
depoent e, l ei t ur a de suas obr as, se houver al guma, bem como
r eI er nci a sobr e as pr i nci pai s et apas de sua bi ogr aI i a. Cada
ent r evi st a supe a aber t ur a de um dossi de document ao. A par t i r
dos el ement os escol hi dos, el abor a- se um r ot ei r o de per gunt as do
qual o i nI or mant e deve est ar ci ent e dur ant e t oda a ent r evi st a.
2 5 7
Nesta mesma obra, Usos e Abusos aa Historia Oral, adverte-se ainda sobre
os cuidados que se deve ter na elaborao de um questionario de entrevistas, para que no
dirija passo a passo a testemunha e assim, 'a mesma Iique presa a um roteiro que no lhe
permite desenvolver seu proprio discurso. Por outro lado, se a testemunha Ior deixada
totalmente livre, ha o risco de se aIastar do tema tratado. Por isso, 'a entrevista semidirigida
com Ireqncia um meio-termo entre um monologo de uma testemunha e um interrogatorio
direto. A medida que a entrevista prosseguir, o roteiro tera, as vezes, que ser modiIicado. 'O
entrevistador devera adaptar-se a testemunha e nunca dar por encerrada uma entrevista antes
de acabar o questionario.
258
Em sintese, os recursos metodologicos da Historia Oral demonstram
relevncia para a investigao da IURD principalmente pelo Iato de possibilitarem maior
aproximao das praticas e vivncias cotidianas de seus membros. Para tanto, ha que se ter
conscincia tambm das limitaes desse mtodo de pesquisa. Por isso, as Iontes produzidas
por tal recurso Ioram nesta pesquisa cruzadas com outros documentos disponiveis.
259
Alias, o
257
AMADO, J. ; FERREIRA, M. M. Op. cit, p. 236.
258
Id., ibid., p. 237.
259
Para o uso que aqui se Iara da Historia Oral, sero adotados alguns parmetros propostos, por exemplo, pelas
obras: PORTELLI, A. Memoria e Dialogo: DesaIios da Historia Oral para a ideologia do sculo XXI. Fio Cruz
- Fundao Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2000, p. 67-71; PORTELLI, A. O que Iaz a Historia Oral diIerente.
86
cruzamento de diIerentes Iontes, ja anteriormente nominadas, Ioi uma tnica no transcorrer
de todo o trabalho aqui realizado, estando-se ciente de que, na analise de entrevistas de
Historia Oral deve-se ter em mente tambm outras Iontes primarias e secundarias; orais,
textuais, iconograIicas etc sobre o assunto estudado.
260
Finalizando esses apontamentos metodologicos, vale observa ainda que a
pesquisa sobre a IURD pode ser classiIicada como 'historia do tempo presente,
considerando-se que os acontecimentos que a envolvem se do no 'calor da hora. Nesse
aspecto, o historiador Eduardo Basto Albuquerque, em texto bastante elucidativo
261
- no qual
procura analisar a distino no campo das disciplinas da historia que tratam da religio e
estabelecer relaes do saber historico e da religio na constituio do objeto e nas suas
relaes metodologicas - ressalta que, ao tomar a religio por objeto, Iundamental que o
historiador tenha como um de seus objetivos 'preocupar-se com a insero social da mesma
'em certo tempo,
2 62
independentemente do seu recorte cronologico:
Mas se ha al go que di st i ngue o saber hi st or i co dos out r os saber es
que sua post ur a de ancor ar - se no t empo como I undament o de onde
par t em t odas as suas anal i ses. Sem o t empo no ha hi st or i ador .
Br eve ou cur t o e l ongo ou mui t o l ongo, sempr e o t empo a base na
qual t odo hi st or i ador se I i nca par a r eal i zar suas anal i ses.
2 6 3
Destaca ainda Albuquerque que o historiador que toma o Ienmeno
religioso por objeto pode aumentar a sua compreenso devido a dois pontos centrais: 'a
temporalidade e as variedades do Ienmeno religioso no tempo e no espao,
2 64
e argumenta:
Sua car act er i st i ca basi ca que o cont ext o hi st or i co no qual se
i nser e a r el i gi o essenci al par a compr eend- l a. Dai a necessi dade
de const r ui - l o ou r econst r ui - l o I or mando um conj unt o que abr ange a
psi col ogi a soci al , a hi st or i a soci al , pol i t i ca, econmi ca et c.
2 6 5
Investigar a IURD, nesse caso, signiIica para o pesquisador inscrever-se
dentro de um periodo de grandes mutaes sociais, culturais e econmicas, com proIundas
repercusses no campo religioso. Naturalmente, viver em periodos historicos representa para
o pesquisador vantagens e desvantagens. O principal aspecto positivo esta em poder realizar
com mais Iacilidade, possivelmente, o que Pierre Bourdieu denomina uma 'converso do
Profeto Historia, So Paulo, n. 14, p. 25-39, Iev. 1997.
260
ALBERTI, V. Op. cit, p. 187.
261
ALBUQUERQUE, Eduardo Basto de. Distines no campo de estudo da religio e da historia. In:
GUERRIERO, Silas (Org.). O estuao aas religies: desaIios contemporneos. So Paulo: Paulinas, 2003.
262
Eduardo Albuquerque cita como exemplos dessa perspectiva, os trabalhos de Marc Bloch (Os reis
taumaturgos); Jacques Le GoII (O nascimento do purgatorio); Carlo Ginzburg (O queijo e os vermes); Keith
Thomas (Religio e o declinio da magia). Id., ibid., p. 64.
263
Id., ibid., p. 57.
264
Id., ibid., p. 67.
265
Id., ibid., p. 65.
87
olhar ou uma 'ruptura epistemologica.
266
Segundo esse autor, as rapidas mudanas socio-
culturais estimulam alguns atores a adquirir uma viso perspicaz e critica da propria
sociedade em processo de ebulio, sendo isso um elemento Iundamental aos que se dedicam
a compreenso da sociedade: 'As rupturas epistemologicas so muitas vezes rupturas sociais,
rupturas com as crenas do corpo de proIissionais, com o campo de certezas partilhadas que
Iundamenta a comnunis doctorum opinio - aIirma.
267
Em outras palavras, a convivncia com
as tenses do campo religioso pode permitir no somente uma melhor proximidade do objeto,
mas principalmente a possibilidade de se compreender o Ienmeno a partir de novos
conceitos ou reIormulaes de postulados teoricos que ja no mais conseguem responder as
mutaes geradas pelo processo historico.
Em termos de Iontes e documentos, a investigao de um objeto do tempo
presente tambm signiIica que tais recursos se produzem simultaneamente ao trabalho do
pesquisador. Mas a plausibilidade de tal investigao pode ser Iundamentada nas
consideraes Ieitas por Eric Hobsbawm, quando apresenta a sua propria experincia na
ateno que dedicou em seus escritos a historia do tempo presente: 'O breve sculo XX
quase coincide com meu tempo de vida (...) Falo como algum que atualmente tenta escrever
sobre a historia de seu proprio tempo (...) - e acrescenta: 'toda historia historia
contempornea disIarada.
268
Feitas tais observaes teorico-metodologicas, pode-se concluir com as
consideraes apresentadas por Eduardo Albuquerque ao aIirmar que 'o estudioso acadmico
da religio sabe que em varios momentos de sua pesquisa surgem questes as quais requerem
elementos de analise que rompem Ironteiras epistemologicas, sendo importante, neste caso,
escolher perspectivas de abordagem 'conIorme exigir o objeto e, mesmo assim, em um
momento ou segmento da pesquisa.
269
266
BOURDIEU, P. O poaer simbolico, p. 39.
267
Id., ibid.
268
HOBSBAWM, Eric. A era aos extremos. O breve sculo XX (1914-1991). So Paulo: Companhia das Letras,
1998, p. 243.
269
ALBUQUERQUE, E. B. Op. cit., p. 66.
88
2 - O CONTEXTO HISTRICO-SOCIAL EM QUE SE DESENVOLVEU O
PENTECOSTALISMO BRASILEIRO
O Iuncionamento da Igreja Universal do Reino de Deus articula
eIicazmente mecanismos internos proprios do campo religioso e tambm elementos externos
que se situam em contextos socio-econmicos e politicos especiIicos. Assim, importante
relacionar a conIigurao do capital simbolico cultural, que propiciou um universo
representacional vivenciado por esse movimento, com um ambiente mais amplo,
dimensionado em outros campos da sociedade e que marcaram o pais sobretudo no sculo
XX. Tal procedimento necessario para que o segmento religioso, aqui investigado, no seja
compreendido como algo a parte da dinmica historica, pois como observa Jacques Le GoII,
'um Ienmeno historico jamais se explica plenamente Iora do estudo de seu momento.
270
As
expresses de crenas devem ser observadas em relao a cultura e a sociedade nas quais se
maniIestam, como uma 'relao de partes entre si dentro de um sistema historicamente
coerente,
271
pois 'o pensamento religioso no evolui sozinho no espao simbolico, ele
interage com outras Iormas de pensamento e outras esIeras de organizao social, politica e
cultural.
272
Esse procedimento metodologico tambm lembrado por Mircea Eliade,
quando aIirma que no existe nenhum Ienmeno religioso 'puro, Iora da historia, 'porque
no existe nenhum Ienmeno humano que no seja ao mesmo tempo Ienmeno historico;
toda experincia religiosa 'expressa e transmitida num contexto historico particular -
declara.
273
Por essa razo, segundo esse autor:
| o hi st or i ador | Deve ai nda compr eender o si gni I i cado, quer di zer
que deve i dent i I i car e i l umi nar as si t uaes e as posi es que
i nduzi r am ou t or nar am possi vel o apar eci ment o ou o t r i unI o dest a
I or ma r el i gi osa num moment o par t i cul ar da hi st or i a. I sso const i t ui a
ver dadei r a I uno cul t ur al do hi st or i ador das r el i gi es.
2 7 4
Desse modo, a relao que os elementos das praticas e representaes
iurdianos mantm entre si e com os demais aspectos presentes na sociedade como um todo,
tendo como Iinalidade 'determinar-lhes a signiIicao intrinseca e social,
275
implica
270
LE GOFF, J . In: BLOCH, M. Op. cit, p. 17.
271
EVANS-PRITCHARD, E. E. Op. cit., p. 155.
272
DELGADO, Lucila de A. N.; FERREIRA, Jorge (Orgs.). O Brasil republicano. O tempo da ditadura: regime
militar e movimentos sociais em Iins do sculo XX. V. 4. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2003, p. 102.
273
Id., ibid., p. 28.
274
ELIADE, Mircea. La nostalgie es origines. mthodologie et histoire des religions. Paris: Gallimard, 1978, p.
18.
275
Id., ibid., p. 32.
89
conhecer e analisar as mudanas e transIormaes que o contexto historico-social brasileiro
experimentou no periodo correspondente a Iormao e desenvolvimento do campo
protestante no pais em suas diIerentes Iaces, sobretudo com pontuaes para os periodos
correspondentes ao surgimento e projeo do pentecostalismo em suas diIerentes tipologias.
Assim procedendo, o movimento iurdiano sera situado num ambiente de mobilidades do
campo religioso a partir de relaes que se estabelecem com processos que articulam
elementos de mbito socio-econmicos e politicos no pais, em tais periodos.
Seguindo a Iormulao Ieita por Pierre Bourdieu, de que 'a historia dos
deuses segue as Ilutuaes historicas de seus seguidores,
276
uma analise das dimenses de
tempo, lugar e circunstncia em que a Igreja Universal surgiu e se desenvolveu no contexto
brasileiro, possibilitara ento melhor compreenso de como esse segmento religioso obteve
xito em sua construo historica.
2.1 - O contexto de movimentos precursores
Durante o periodo colonial, os colonizadores portugueses estabeleceram em
solo brasileiro uma espcie de monopolio religioso, procurando impedir a entrada de
estrangeiros que no proIessassem a I catolica. Nesse periodo, o Tribunal do Santo OIicio,
por meio das conhecidas 'visitaes, agia com rigor para extirpar qualquer pratica religiosa
que Iosse caracterizada 'heresia. Gilberto Freyre registra que em tal poca 'todo navio que
entrava num porto brasileiro recebia a bordo um Irade capaz de examinar a conscincia, a I
e a religio de um recm-chegado. O que barrava um imigrante naqueles dias era a ortodoxia
(...) a possibilidade de ser hertico.
277
No obstante as restries impostas, duas tentativas de insero Ioram Ieitas
por protestantes no Brasil colonial. Ambas acabaram sendo Iortemente rechaadas pela
religio dominante, o catolicismo, sob a acusao de se constituir pratica de heresia, dado o
calor dos conIlitos desencadeados naquele periodo pelo processo de reIormas na igreja, que
contrapunha protestantes e catolicos, e envolviam no so aspectos religiosos, mas tambm
interesses econmicos de controle e conquistas de mercados pelos paises europeus. A
primeira tentativa de insero no pais, por protestantes, data de 1555, quando se deu a
chegada da expedio liderada por Nicolau Villegaignon, que objetivava Iundar a Frana
Antartica e construir uma espcie de reIugio onde calvinistas Iranceses, conhecidos como
276
BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. 91.
277
FREYRE, Gilberto. Casa granae e sen:ala. Rio de Janeiro: Maria Schimidt, 1933, p. 237.
90
huguenotes, pudessem praticar livremente a I reIormada, uma vez que soIriam duras
perseguies religiosas em seu pais de origem. Como desdobramento ainda desse projeto, em
10 de maro de 1857, chegaram em solo brasileiro pastores enviados por Joo Calvino, da
cidade de Genebra, Suia, com o proposito de diIundir o culto protestante.
278
Em decorrncia
de conIlitos com lideres politicos e religiosos portugueses,
279
a expedio teve seu trmino
com a expulso, em 1860, de todos os Iranceses e a desativao da colnia que havia sido
organizada por Villegaignon.
Um segundo esIoro de insero no Brasil se deu no sculo XVII, entre
1630 e 1654, dessa vez com holandeses, atravs do empreendimento denominado
'Companhia das Indias Ocidentais, que se estabeleceu inicialmente em Pernambuco e,
depois, em outras areas do Nordeste brasileiro. O objetivo principal era o comrcio de aucar.
280
Mauricio de Nassau, lider do projeto, tambm se preocupou em trazer ao Brasil pastores
da Igreja ReIormada Holandesa, que chegaram a desenvolver um trabalho religioso no
apenas com a comunidade holandesa, mas tambm com outros grupos existentes no pais.
Com esse proposito, Ioi elaborado at mesmo um catecismo nas linguas holandesa,
portuguesa e tupi, sendo organizadas inclusive algumas igrejas que praticaram o culto
reIormado. Em 1654, conIlitos politicos e econmicos provocaram o Iim desse
empreendimento, desaparecendo tambm com isso os vestigios institucionais do cristianismo
protestante holands em solo brasileiro.
281
No inicio do sculo XIX, em 7 de maro de 1808, sob a alegao de reIugio
Irente a ameaa de invaso napolenica em seu territorio europeu, a Familia Real Portuguesa
desembarcou na cidade do Rio de Janeiro. Com esse episodio, o Brasil deixaria de ser apenas
uma colnia portuguesa, adquirindo um novo estatuto politico, o de Reino Unido, Iato que
iria modiIicar substancialmente tanto sua relao com outras naes como seus arranjos
sociais internos. Era o inicio de um novo capitulo na historia da religio no pais. Ja em 25 de
novembro do mesmo ano, D. Joo VI emitiu um decreto garantindo a todos os imigrantes
considerados aceitaveis, 'independente de nacionalidade e religio, condies atrativas de
trabalho em solo brasileiro. Um pouco mais tarde, em 19 de Ievereiro de 1810, registra-se a
278
Fazia parte desse grupo um jovem estudante de teologia, chamado Jean de Lry, que vinte anos mais tarde
publicaria uma obra que se tornou um importante documento sobre o Brasil, em tal periodo, denominada
Jiagem a Terra ao Brasil.
279
MENDONA, Antonio Gouva. O celeste porvir: a insero do protestantismo no Brasil. So Paulo:
Paulinas, 1984; LESTRIGANTE, Frank. A outra conquista: os huguenotes no Brasil. In: NOVAES, Adauto. A
aescoberta ao homem e ao munao. So Paulo: Companhia das Letras, 1998.
280
REILY, Duncan. Historia aocumental ao protestantismo no Brasil. So Paulo: ASTE, 1993.
281
MENDONA, A. G. Op. cit., p. 17.
91
celebrao do Trataao ae Aliana e Ami:aae e Comercio e Navegao com a Inglaterra,
abrindo com isso os portos 'as naes amigas, permitindo que protestantes anglo-saxes
comeassem a chegar e se estabelecer no Brasil com relativa liberdade para suas praticas
religiosas. Pela primeira vez o controle hegemnico institucional da Igreja Catolica seria
modiIicado, permitindo que o campo religioso brasileiro ganhasse um novo estatuto em
relao a I protestante.
Assim, permitiu-se que protestantes que viessem ao pais a trabalho,
especialmente no comrcio, pudessem aqui praticar a sua I dentro de alguns limites que o
proprio acordo estabelecido prescrevia, tais como: no realizao de cultos na lingua
portuguesa, no construo de templo com semelhana aos templos catolicos, no
proselitismo dos cristos catolicos etc. Mesmo com tais restries, houve algum contato de
brasileiros com a I reIormada, pois vieram capeles para auxiliar espiritualmente os
marinheiros, os quais, alm de realizarem cultos no interior dos navios, tambm se
encarregavam de distribuir algumas literaturas evanglicas. Ainda que Iosse esta uma
pequena mudana, na verdade ja representava uma grande diIerena em relao a periodos
precedentes.
Uma politica de incentivo a imigrao permitiu que mais de dois mil
imigrantes provenientes do canto de Friburgo se estabelecessem, em 1819, nas
proximidades da cidade do Rio de Janeiro, onde Iundaram a colnia de Nova Friburgo.
Grande parte dos imigrantes, principalmente os de origem germnica, proIessava a I
reIormada, Iato esse que provocou novos debates acerca da questo religiosa no Brasil,
especialmente quanto a legislao envolvendo casamento, registro de crianas e
sepultamentos em cemitrios publicos.
Com a Independncia do pais, as discusses religiosas ganharam maior
evidncia na elaborao da primeira Constituio, em 1824. Muitos dos parlamentares, de
idias liberais, deIendiam maior abertura religiosa. E, mesmo com Iorte oposio no
Parlamento,
282
e continuando a religio catolica a ser a religio do Estado e a unica a ser
mantida por ele, a Constituio reconheceu o Brasil como nao crist em todas as suas
conIisses, garantindo liberdade religiosa, ainda que Iossem mantidas algumas restries:
A Rel i gi o Cat ol i ca Apost ol i ca Romana cont i nuar a a ser a Rel i gi o
do I mpr i o. Todas as out r as r el i gi es ser o per mi t i das com seu
cul t o domst i co, ou par t i cul ar em casas par a i sso dest i nadas, sem
I or ma al guma ext er i or de t empl o.
2 8 3
282
Vale observar que dos 90 constituintes, 19 eram padres.
283
Artigo 5 da Constituio do Brasil, promulgada em 24 de maro de 1824. Apua FERREIRA, Julio Andrade.
Religio no Brasil. Campinas: LPC, 1992, p. 69.
92
Tambm em 1824, chegaram ao pais grupos de imigrantes, de origem
alem, que se estabeleceram principalmente na regio sul do Brasil.
Mant i ver am a sua r el i gi o de or i gem, o l ut er ani smo, mas, por ser em
um gr upo t ni co di st i nt o, soI r er am um pr ocesso de mar gi nal i zao
cul t ur al , o que l i mi t ou sua i nI l unci a sobr e o conj unt o da soci edade.
Por mui t o t empo no desenvol ver am uma at i vi dade pr osel i t i st a, pel o
cont r ar i o, sol i ci t ar am a sua i gr ej a de or i gem que envi asse past or es
par a di r i gi r as novas comuni dades. ( . . . ) A i gr ej a l ut er ana comeou a
envi ar past or es ao Br asi l par a at ender os i mi gr ant es l ut er anos.
2 8 4
Os pastores se encarregavam de atender religiosamente os conterrneos,
praticamente sem nenhuma pretenso de converter brasileiros a sua I, at porque havia
grande preocupao em conservar a sua cultura e tradio, dai o Iato dos seus cultos e
celebraes religiosas serem realizados na lingua alem -
285
o que diIicultou ainda mais a
aproximao do contexto cultural brasileiro.
Vale destacar que, a distribuio de Biblias, pela Sociedade Biblica
Britnica e Estrangeira, organizada em 1802, tornou-se um procedimento estratgico onde o
protestantismo encontrava barreiras legais. Por isso essa estratgia tambm Ioi adotada no
Brasil, atravs do trabalho de colportores.
286
A primeira verso da Biblia na lingua portuguesa
Ioi Ieita por Joo Ferreira de Almeida, no sculo XVIII
287
, e isso contribuiu diretamente para
os primeiros empreendimentos evangelizadores do protestantismo em solo brasileiro. Com
esse proposito, em 1837 chegou ao Brasil o missionario americano, metodista, Daniel Kidder,
que viajou extensamente pelo pais Iazendo distribuio de Biblias. Como Iruto desse trabalho
chegou a ser organizada uma Igreja Metodista, no Rio de Janeiro, com aproximadamente 40
membros.
284
SIEPIERSKI, C. T. Op. cit., p. 33, 34.
285
HAHN, Carl Joseph. Historia ao culto protestante no Brasil So Paulo: ASTE, 1995.
286
'Colportores era a identiIicao que se dava aos missionarios enviados pelas sociedades Biblicas europias e
norte-americanas, com Iinalidade de propagar a I protestante na Amrica Latina, tentativa esta que ja havia
sido Ieita, esporadicamente, e sem maiores xitos, por piratas e corsarios protestantes, durante o periodo
colonial. CI. DEIROS, Pablo. Historia ael cristianismo en la America Latina. Buenos Aires: FTLA, 1992, p.
250.
287
Joo Ferreira de Almeida nasceu em 1628, na cidade portuguesa de Torre de Tavares. Educado num lar
catolico, converteu-se ao protestantismo aos quatorze anos de idade. Ligou-se a Igreja ReIormada Holandesa e,
mais tarde, partiu para o sudeste asiatico como missionario. Em Malaca (atual Malasia), iniciou a traduo da
Biblia para o idioma portugus com base em verses latinas, italianas e Irancesas derivadas dos originais em
grego e hebraico. Esta tareIa consumiu-lhe a vida, ja que ao morrer, em 1691, ele ainda estava no livro de
Ezequiel, no Antigo Testamento embora o Novo Testamento ja estivesse traduzido por ele desde 1677. A
traduo completa da Biblia Ioi concluida trs anos depois, pelo pastor holands Jacobus den Arrer. Os textos
de Almeida Ioram submetidos a uma srie de revises e correes por parte da instituio a que estava
subordinado, antes de publica-los o que ocorreu somente em 1748, mais de meio sculo apos sua morte. CI.
Revista Eclesia, Rio de Janeiro, p. 41, abr. 2000; FERREIRA, A. J. Op. cit., p. 75-80.
93
Finalmente, a partir da segunda metade do sculo XIX, iniciou-se o trabalho
mais propriamente missionario, Ieito principalmente por norte-americanos, periodo em que
tambm comeam a ser organizadas as primeiras igrejas com a converso de brasileiros a I
reIormada.
288
Nesse contexto que se desenvolvera o presbiterianismo no Brasil: a partir da
chegada ao pais do missionario Ashbel Green Simonton. Nascido na Pensylvania, em 1833,
educado em lar protestante, Simonton decidiu dedicar-se ao trabalho pastoral quando estava
na concluso do seu curso de Direito. Dai em diante, seguiu para a Universidade de Princeton
para estudar teologia e preparar-se para o exercicio de sua vocao religiosa. Aos concluir o
seu curso de quatro anos, decidiu dedicar-se ao trabalho missionario. Em novembro de 1858
apresentou-se a Junta de Misses, indicando o Brasil como o campo missionario de sua
preIerncia.
Sintetizando esse periodo que envolve a insero do protestantismo
historico no Brasil, ao longo do sculo XIX, pode-se dizer que, em grande parte,
reproduziram-se em solo brasileiro as diIerenas denominacionais das suas igrejas de origem,
notadamente norte-americanas. Permaneceram embates com a Igreja Catolica at que,
Iinalmente, com a Proclamao da Republica, em 1889, e a promulgao de uma nova
Constituio, Iicou estabelecida Iormalmente a separao entre Igreja e Estado, garantindo
legalmente a liberdade religiosa e admitindo uma situao de pluralismo religioso. O
catolicismo teve, assim, de gradativamente ceder terreno a uma nova religio institucional: o
protestantismo. Porm, a Iragmentao deste em diIerentes grupos, muitas vezes
concorrentes entre si, introduzia um aspecto de Iragilidade na sua relao com a sociedade
brasileira:
Ao l ongo do scul o XI X, angl i canos, l ut er anos, met odi st as,
pr esbi t er i anos, bat i st as, congr egaes t r adi ci onai s do chamado
'pr ot est ant i smo hi st or i co i mpl ant ar am- se paci I i cament e no Br asi l ,
ganhando adept os ao r i t mo da i mi gr ao est r angei r a, nucl eos j unt o
aos quai s se enr ai zar am, e da I or mao de uma cl asse mdi a ur bana,
mas sem um cr esci ment o que pudesse i nqui et ar a hi er ar qui a
cat ol i ca.
2 8 9
De qualquer Iorma, conIigurava-se uma diversidade e uma plasticidade no
campo religioso brasileiro, cuja dinmica interna possibilitaria, mais tarde, a gnese de
movimentos mais agressivos, com maior impacto e ressonncias culturais em dimenses mais
amplas.
288
FILHO, Procoro Velasques; MENDONA, Antonio Gouva. Introauo ao protestantismo no Brasil. So
Paulo: Edies Loyola, 1990.
289
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 81.
94
2.2 - O contexto do surgimento do pentecostalismo
No inicio do sculo XX, o Brasil experimenta signiIicativas transIormaes
sociais, especialmente em sua paisagem urbana. Cidades como Rio de Janeiro e So Paulo,
por exemplo, recebem contingentes migratorios de diIerentes regies brasileiras, atraidos,
principalmente, pelo anseio de novas possibilidades de trabalho criadas pela instalao de
Iabricas nesses dois maiores centros do pais. Acrescenta-se a isto que, com o Iim da
escravatura, em 1888, houve o deslocamento populacional de ex-trabalhadores escravos para
os centros urbanos em busca de outras oportunidades de vida.
Esse crescente aumento dos contingentes urbanos gerou um descompasso
entre demandas basicas da populao e existncia de inIra-estrutura, desencadeando uma
srie de diIiculdades sociais:
Nessa poca, o adensament eo de popul aes nas gr andes ci dades
ocor r eu sem que houvesse uma cor r espondnci a na expanso da
i nI r a- est r ut ur a ci t adi na e na oI er t a de empr egos e mor adi as,
t r ansI or mando esse avol umar menos num desenvol vi ment o e mai s
num i nchao, o que acent uou o cont r ast e ent r e as desi gual dades
soci ai s que ai se I i zer am pr esent es.
2 9 0
Nesse contexto, tambm possivel perceber conIlitos entre os universos
rurais e os perIis mais propriamente 'modernizadores que se buscava implementar naquele
momento. InIluenciados pelos modelos europeus de urbanizao, elites brasileiras
empreendiam esIoros com o proposito de transIormar os ento 'complementos rurais em
cidades modernas com prdios, monumentos, jardins, parques e longas avenidas. Em
decorrncia disso eclodiu, na cidade do Rio de Janeiro, em 1904, o clebre episodio
denominado 'Revolta da Vacina, conIorme descrito por Jos Murilo de Carvalho.
291
Projetos
elaborados visando implementar uma reIormulao urbanistica passaram a conceber os
cortios como um grande obstaculo a tais intentos, razo pela qual seria necessaria a
desapropriao de muitos daqueles casebres. Para atingir esses objetivos, tcnicos do governo
passaram a utilizar como argumento 'cientiIico a realizao de campanhas sanitarias contra
diversas doenas inIecto-contagiosas, associando sua transmisso ao tipo de vida insalubre
daquelas populaes. Atitudes contundentes Ioram ento adotadas visando a 'desinIeco
dos moradores: invaso dos cortios, expulso e vacinao das pessoas a Iora. A populao,
290
WISSENBACH, Maria Cristina. In: SEVECENKO, Nicolau (Org.). Historia aa viaa privaaa no Brasil 3:
republica, da belle poque a era do radio. So Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 91.
291
CARVALHO, Jos Murilo. Cidados ativos: a revolta da Vacina. Os bestiali:aaos: o Rio de Janeiro e
republica que no Ioi. So Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 91-139.
95
entretanto, reagiu energicamente aquelas medidas, promovendo uma grande revolta nas ruas,
mobilizando milhares de pessoas 'de todas as classes sociais.
292
Dentre os aspectos 'mais consistentes que desencadearam aquela
resistncia, destaca-se um elemento de motivao cultural-religiosa. Jos Murilo aIirma que
aquelas populaes 'no aceitavam qualquer intromisso do governo, poder material, no
dominio da saude publica, reservado ao poder espiritual. Irritava-os particularmente o
monopolio exercido pelos mdicos sobre a saude prinvada e publica.
293
Observa-se, portanto, atravs de tais episodios, que um universo Iolclorico -
com imaginarios Iincados no mundo rural, segundo o qual a cura das doenas advm por
outros meios, que no os 'cientiIicos - apresenta-se como um ingrediente cultural bastante
solido no contexto brasileiro, capaz de eIetivar resitncias e mobilizar massas. E Ioi nesse
contexto e periodo que veio a se desenvolver em solo brasileiro uma nova tipologia crist: o
pentecostalismo, disposto a vivenciar a I numa dismenso Iolclorizada.
O marco historico de origem desse segmento pode ser situado em 1901, em
Topeka, Kansas, Estados Unidos. Charles Fox Parhan, evangelista metodista - ligado aos
movimentos de santidade dos sculos XVIII e XIX e Iundador e dirigente da Escola Biblica
Betel - passou a ensinar a seus alunos ser possivel contemporaneizar ou reviver os sinais de
xtase que teriam ocorrido com cristos do primeiro sculo da era crist, conIorme relato do
texto biblico Atos 2:1-4. Segundo tal narrativa, cerca de 120 cristos que estavam reunidos
na cidade de Jerusalm, teriam recebido o 'dom ou a capacidade divina de 'Ialar outras
linguas. Esse episodio lembrado como Pentecostes, por ter ocorrido no dia em que se
celebrava uma Iesta judaica que trazia esse nome em aluso aos cinqenta dias que a
separavam da Pascoa. Dai a atribuio do nome 'pentecostalismo. A maniIestao de um
Ienmeno de xtase, atribuido ao Espirito Santo, semelhantemente aquele descrito pelo texto
biblico, teria se dado inicialmente com a jovem Agnes Ozman, aluna da escola dirigida por
Parhan. O Ienmeno teria ocorrido posteriormente com outros estudantes, vindo tambm a
espalhar-se rapidamente por outros lugares no mbito de varias igrejas.
InIluenciado pela experincia pentecostal de Topeka , no ano de 1906, em
Los Angeles - EUA, o pregador negro William J. Seymour, membro da igreja Holiness,
passou a realizar cultos carismaticos em um salo alugado na Rua Azusa, 312, onde
oIicialmente Iundou a primeira denominao pentecostal, chamada de 'Misso Evanglica da
F Apostolica. A nIase a obra do Espirito Santo evidenciada por xtases tornou-se, em
292
Id., ibid., p. 102.
293
Id., ibid., p. 97, 98.
96
pouco tempo, uma sensao local e, mais tarde, um Ienmeno de alcance mundial. Os jornais
locais passaram a divulgar amplamente os episodios miraculosos que ali se aIirmava ocorrer,
o que contribuiu para que muitos visitantes de varios lugares procurassem Los Angeles no
intuito de conhecer e depois tambm propagar aqueles sinais carismaticos. Estas reunies na
Rua Azusa aconteceram diariamente por trs anos, de onde surgiram inumeros pregadores
responsaveis pela diIuso do movimento em outras partes do mundo.
Alm da aluso Ieita ao acontecimento biblico ja anteriormente descrito,
preciso salientar que o pentecostalismo tem raizes precursoras que se reportam a imaginarios
de movimentos religiosos de longa durao. Uma delas pode ser localizada nas praticas
montanistas ocorridas no segundo sculo da era crist, sob a liderana de Montanus, o qual,
ao tornar-se cristo e receber o batismo no ano 156, entrou em xtase e comeou a Ialar em
linguas desconhecidas. Esse episodio Ioi classiIicado por alguns cristos como maniIestao
do Espirito Santo, como ocorrera no Pentecostes, no, porm, para a igreja institucional, a
qual classiIicou aquele ato como algo estranho ao cristianismo. Expulso da igreja como
herege, o novo proIeta passou a liderar um movimento que atraiu muitos seguidores,
anunciando que a revelao divina ocorre diretamente atravs de seus proIetas, sem a
mediao institucional. Alm disso, Montanus se considerava o escolhido para anunciar o
novo advento messinico, passando a aIirmar que o Iim do mundo estava proximo e prestes a
ser estabelecida, na Frigia
294
- regio onde morava - a nova Jerusalm, para onde, inclusive,
dirigiam-se muitos dos seus Iiis.
Sementes pentecostais tambm podem ser encontradas em movimentos
pietistas ou de 'santidade decorrentes da ReIorma Protestante, entre os sculos XVI e
XVIII, na Europa ocidental.
295
Um desses, Ioi o movimento puritano Quaker. Jorge Fox
(1642-1691), lider desse segmento cristo, passou a pregar que 'o Espirito de Deus no Iala
somente pelas Escrituras, mas que tambm o Iaz diretamente atravs daqueles que
'interiormente so iluminados. AIirmava ainda que era preciso 'rejeitar o ministrio
proIissional dos clrigos.
296
Outro movimento que ganhou maior projeo e desempenhou maior
inIluncia Ioi o metodismo, sob a liderana de John Wesley, na Inglaterra, no sculo XVIII.
294
Montanus viveu em meados do sculo II, na Frigia, interior da Asia Menor, regio 'de ha muito notavel pela
religio de tipo extatico nela existente. CI. WALKER, W. Historia aa igrefa crist. Vol. 1, 2. So Paulo:
ASTE, 1980, p. 86, 87; DREHER, Martin. A Igrefa no Imperio Romano. So Paulo: Sinodal, 1994, p. 36.
295
DARNTON, R. A historia da leitura, p. 219.
296
WALKER, W. Op. cit., p. 160. Por volta de 1652, no Norte da Inglaterra, Iormou-se a primeira comunidade
Quaker, que espalhou-se posteriormente para varios outros lugares, inclusive nas colnias inglesas da Amrica
do Norte.
97
O metodismo tem sido considerado como um ramo tardio da ReIorma Protestante. Segundo
Peter Burke, os processos de reIorma religiosa ocorridos entre os sculos XVI e XVII
Iicaram mais restritos as elites. O reIerido autor observa que tais reIormas devem ser
compreendidas como o esIoro do clero catolico e protestante em promover transIormaes e
controles no universo da cultura Iolclorica. Depois de esIoros Iracassados nos sculos XVI e
XVII, ocorreu, no sculo XVIII, uma tentativa no a partir de estratos sociais superiores, mas
com a participao mais eIetiva de categorias sociais populares. O metodismo representou
ento uma Iorma dessa penetrao dos valores da ReIorma Protestante na cultura Iolclorica.
A partir do metodismo tambm ocorreu o chamado 'reavivamento de
grupos internos das igrejas protestantes nos Estados Unidos, no sculo XIX, aspecto no qual
podem ser encontradas as raizes mais proximas do que viria a se denominar pentecostalismo,
no inicio do sculo XX. Conseguindo romper com controles dogmaticos e institucionais,
movimentos avivalistas daquele periodo davam grande nIase a experincia mistica e direta
com o Espirito Santo, evidenciada por xtases e Iortes emoes:
A I uno do pr egador er a convencer seus ouvi nt es de seus pecados,
l eva- l os ao ar r ependi ment o e t or na- l os r esponsavei s pel a acei t ao
ou r ej ei o da sal vao. Par a i sso, er a necessar i o que se cr i asse um
cl i ma al t ament e emoci onal , onde chor os, desmai os e at aques
hi st r i cos er am habi t uai s.
2 9 7
O pentecostalismo seria, ento, diretamente decorrente dessa eIervescncia
religiosa: 'o movimento pentecostal o metodismo levado as suas ultimas conseqncias:
298
( . . . ) par ece que o pent ecost al i smo absor veu da sua descendnci a
met odi st a as convi ces da exper i nci a subseqent e e i nst ant nea, e
as t r ansI er i u i nt egr al ment e da sant i I i cao, segundo Wesl ey, par a o
bat i smo do Espi r i t o Sant o. De qual quer I or ma, t ant o o met odi smo
quant o o pent ecost al i smo col ocam sua nI ase em al gum l ugar depoi s
da j ust i I i cao.
2 9 9
Em relao ao campo religioso brasileiro tambm no demorou para que o
pentecostalismo lanasse nele as suas sementes, conIigurando-se em denominaes proprias.
Num primeiro momento, surgiu o que viria a ser identiIicado pela tipologia de
297
FILHO, P. V.; MENDONA, A. G. Op. cit., p. 85.
298
O Metodismo pregava a santiIicao como uma segunda obra da graa apos a justiIicao: 'no conhecemos
um so caso, em qualquer lugar de uma pessoa receber, no mesmissimo momento, a remisso dos pecados, o
testemunho permanente do Espirito, e um corao novo e limpo, dizia John Wesley. A origem do movimento
de santidade norte-americano nas dcadas de 1840-1850, no qual o pentecostalismo viria tambm Iincar suas
raizes, tinha a inteno de preservar e propagar o ensino de Wesley: O processo de salvao nesse movimento
envolvia duas Iases: a converso (fustificao), signiIicando a libertao dos pecados cometidos; e a inteira ou
plena santificao, entendida como a libertao da Ialha da natureza moral que leva a pecar. CI. SEMANA DE
ESTUDOS TEOLOGICOS, XI, 1992, Londrina. Anais. o neopentecostalismo brasileiro. Londrina: STL, 1992.
299
Id., ibid.
98
'pentecostalismo classico,
300
atravs da Iormao de duas igrejas: a Congregao Crist no
Brasil e a Igrefa Evangelica Assembleia ae Deus - ambas organizadas por lideres que tiveram
inicialmente experincias com o movimento de Los Angeles.
A Congregao Crist
301
tem sua organizao inicial oIicialmente datada
em 05 de junho de 1910, na cidade de Santo Antnio da Platina PR. Seu lider-Iundador Ioi
Luis Francescon, um estrangeiro italiano que se considerava missionario autnomo e,
portanto, no era mantido Iinanceiramente por nenhuma instituio do exterior. Francescon,
de origem religiosa presbiteriana-calvinista, havia residido anteriormente em Los Angeles,
onde passara a Ireqentar o movimento pentecostal ali nascente. Decidiu expandir aquele
modelo de cristianismo para a Amrica do Sul, iniciando seu trabalho em Buenos Aires,
Argentina, em 1909. No obtendo grandes xitos naquela cidade, quatro meses depois
dirigiu-se para o Brasil, chegando a So Paulo no inicio de 1910, onde passou a residir no
bairro do Bras, lugar de grande concentrao de italianos. Naquele mesmo ano, ao saber da
existncia de uma colnia italiana em Santo Antnio da Platina - PR, proIessante do
catolicismo romano, decidiu visita-la com o proposito de Iazer ali conversos a I pentecostal.
O trabalho obteve xito e dele nasceu uma nova igreja em solo paranaense. Retornando a So
Paulo, naquele mesmo ano, Francescon passou a Iazer pregaes na igreja Presbiteriana do
bairro do Bras, at que suas idias doutrinarias geraram conIlitos com a liderana daquela
igreja. Tendo um grupo simpatizante com o seu ensino, composto por italianos que
Ireqentavam aquela comunidade, promoveu um cisma e constituiu oIicialmente a sua nova
igreja, a qual Ioi Iiliado o nucleo ja existente no Parana.
Como bases teologico-doutrinarias, Francescon adotou e adaptou para a sua
nova igreja estruturas eclesiasticas do presbiterianismo calvinista, como o caso da doutrina
da predestinao, segundo a qual Deus de antemo pr-determina os que havero de ser
salvos ou condenados. Por isso mesmo, nessa denominao no se Iazem campanhas
evangelisticas com apelos a converso em locais publicos que no os templos, ou ainda
atravs do uso dos meios de comunicao de massa, como ocorre normalmente com os
demais segmentos pentecostais. Os Iiis Iazem convites individuais para os cultos,
principalmente para os dias de batismo. O batismo se torna, ento, um apelo mudo: quem se
apresenta ao batizador recebe o rito sem perguntas. Desses, alguns acabam no Iicando na
300
Tipologia e classiIicao empregada por varios pesquisadores, dentre os quais, Antonio de Gouva
Mendona, no capitulo Sociologia da religio no Brasil: o pentecostalismo, suas terminologias e classiIicaes.
In: MENDONA, A. G. (Org.). Sociologia aa religio no Brasil. So Paulo: UMESP, 1999, p. 73-84.
301
Esta denominao conta hoje com mais de dois milhes de seguidores no Brasil, cI. CAMPOS, Leonildo
Silveira; GUTIERREZ, Benjamin (Orgs.). Na fora ao Espirito. Os pentecostais na Amrica Latina: um desaIio
as igrejas historicas. So Paulo: AIPRAL/UMESP, 1996, p. 111.
99
igreja, mas isto no obstaculo, pois entendem que apenas os eleitos ho de permanecer, isto
, os 'verdadeiros chamados, por isso, como destaca Mendona, 'neste sentido, eles so
mais presbiterianos que os presbiterianos brasileiros.
302
O pesquisador Carl J. Hahn destaca que os 'ancios, alm de no
possuirem Iormao teologica especiIica, so obreiros voluntarios e nada recebem por seu
trabalho:
As col et as r ecol hi das r egul ar ment e vo par a uma t esour ar i a cent r al
par a ser em apl i cadas na const r uo de novos t empl os. Ha um I undo
di aconal , const i t ui do por cont r i bui es espont neas dos membr os,
que usado par a aj udar os que est o em di I i cul dades pr ement es.
3 0 3
Para a conIigurao de sua I, lem quase que exclusivamente a Biblia
tendo, quando muito, o auxilio de alguma literatura doutrinaria sobre o texto biblico,
publicada pela propria denominao. Crem que os sermes pregados em seus cultos so
recebidos diretamente pela revelao do Espirito Santo, o qual coloca a mensagem necessaria
no corao de um dos ancios ou diaconos, que Iicam estrategicamente assentados na Iileira
da Irente de seus templos, durante as celebraes culticas.
Em 1935, sob a vigilncia do Estado Novo cheIiado por Getulio Vargas, em
que se impunha rigoroso controle em relao ao estrangeirismo, a Congregao substituiu em
seus cultos a lingua italiana pela portuguesa, Iato que tambm viria contribuir para a sua
expanso, a partir dai, para o interior do pais:
A i dent i I i cao com os i t al i anos do Br as, ( 'pequena I t al i a, bai r r o
oper ar i o onde se concent r ar am os i mi gr ant es i t al i anos em So
Paul o) er a t ant a, que o segundo hi nar i o ( i mpr esso em Chi cago em
1924) ai nda er a t ot al ment e na l i ngua i t al i ana. A t er cei r a edi o
( 1935) t i nha o t ot al de 580 hi nos e soment e 250 del es est avam na
l i ngua por t uguesa. Por m, a edi o de 1943 I oi i mpr essa t ot al ment e
em por t ugus. Esse hi nar i o, Louvor e Supl i cas a Deus , cont m os 12
pont os dout r i nar i os da i gr ej a, uma br eve hi st or i a da el abor ao da
obr a e uma cl assi I i cao dos hi nos conI or me os moment os
l i t ur gi cos.
3 0 4
Na dcada de 1950 se deu o crescimento mais acentuado dessa igreja,
quando nordestinos passaram a ocupar o lugar dos italianos no reIerido bairro do Bras.
Atualmente, a maior concentrao de templos ocorre em So Paulo e no Parana, ainda que
estejam presentes em todos os demais estados brasileiros.
302
MENDONA, A. G. Introauo ao protestantismo no Brasil, p. 49.
303
HAHN, C. J. Op. cit., p. 346.
304
CAMPOS, L. S. ; GUTIERREZ, B. (Orgs.), p. 111.
100
A Igrefa Evangelica Assembleia ae Deus
305
tambm tem suas raizes
Iincadas no movimento pentecostal de Los Angeles. No Brasil, Ioi oIicialmente estabelecida
em 1911, na cidade de Belm PA, por dois pentecostais suecoamericanos, Daniel Berg e
Gunnar Vingren, que atribuiam suas motivaes missionarias as revelaes recebidas
'diretamente de Deus. O proprio Vingren, mais tarde, descreveu esta experincia vivenciada
quando ainda se encontravam nos Estados Unidos:
Num di a, no ver o, Deus ps no cor ao que nos dever i amos r euni r
num sabado a noi t e par a or ao. Quando or avamos, o Espi r i t o do
Senhor vei o de uma I or ma poder osa sobr e nos ( . . . ) . Um i r mo,
Adol I o Ul l di n, r ecebeu pel o Espi r i t o Sant o pal avr as mar avi l hosas e
mi st r i os escondi dos, que I or am r evel ados. Ent r e mui t as coi sas, o
Espi r i t o Sant o I al ou por mei o dest e i r mo que nos dever i amos i r a
um l ugar chamado 'Par a, onde o povo a quem t est eI i car i amos de
Jesus er a de um ni vel soci al mui t o si mpl es. Nos i r i amos ensi nar -
l hes os pr i mei r os r udi ment os do Senhor . Tambm escut amos pel o
Espi r i t o Sant o, a l i nguagem daquel e povo, o i di oma por t ugus. ( . . . )
Nenhum dos pr esent es conheci a t al l ugar . Apos a or ao, I omos a
uma l i vr ar i a a I i m de consul t ar um mapa que nos most r asse onde
est ava l ocal i zado o Par a. Descobr i mos ent o que se t r at ava de um
Est ado no Nor t e do Br asi l . A chamada di vi na est ava, ent o,
conI i r mada ( . . . ) .
3 0 6
Em 05 de novembro de 1910, a bordo do navio Clement, os missionarios
deixaram a cidade de Nova Iorque com destino ao Brasil. No dia 19 daquele mesmo ms e
ano desembarcaram, em um dia de sol escaldante dos tropicos, na cidade de Belm, no Para.
Alojaram-se nas dependncias da Igreja Batista, cujo pastor tambm era de origem sueca.
Depois de alguns meses, apos certo aprendizado da lingua portuguesa, os suecos, por
conIlitos doutrinarios, provocaram uma ciso na igreja ali existente e, com 19 membros,
criaram a Misso ae Fe Apostolica, cujo nome, apos 1914, Ioi alterado, assim como tambm
ocorrera nos Estados Unidos, para Igrefa Assembleia ae Deus.
Acompanhando a migrao dos nordestinos, a igreja em poucos anos se
expandiu para o Sul (hoje, Sudeste) do pais. em poucos anos. Apos trs dcadas de
predominncia missionaria sueca, o controle passou a liderana brasileira, e a base de
expanso deixou de ser Belm para centralizar-se no Rio de Janeiro, onde tambm existe
grande presena de nordestinos. Nota-se que o pentecostalismo tem raizes Iincadas no
contexto do nordeste brasileiro e tem projeo ligada a insero dos nordestinos em outras
regies do pais. Alias, esse tambm pode ser um aspecto que contribui para a composio do
305
A Assemblia de Deus possui atualmente mais de 8 milhes de adeptos no Brasil. Esta denominao continua
ostentando com ampla vantagem o primeiro lugar quanto ao numero de membros entre as igrejas evanglicas no
pais.
306
CONDE, Emilio. Historia aas Assembleias ae Deus no Brasil - Belem 1911-1961. Rio de Janeiro: Livraria
Evanglica, 1960, p. 14.
101
imaginario messinico presente no pentecostalismo brasileiro, pois tal regio do pais tem
Iorte tradio historica de messianismo, como o veremos mais adiante.
Na Assembleia ae Deus, a hierarquizao interna esta centralizada na Iigura
do pastor. Nas comunidades locais, essa liderana se subordina a dos templossede, e estes a
uma conveno nacional. Os pastores assembleianos eram, inicialmente, leigos e sem preparo
teologico, o que os levava a se identiIicar bastante com o povo na Iorma de pensar, Ialando-
lhe na mesma linguagem, causando com isso grande empatia na projeo de suas mensagens.
Atualmente, exige-se dos lideres ao menos uma Iormao teologica basica. Coincidncia ou
no, o Iato que essa igreja ja no mais apresenta escalonarios indices de crescimento como
ocorrera anteriormente.
O grande contingente que aIlui a sua mensagem atraido, dentre outros
Iatores, pela Iraternidade que agrega ali pessoas dos mais diIerentes niveis culturais e sociais
e, principalmente, pela oportunidade que lhes outorgada de exercer cargos de liderana
atravs dos diIerentes programas de evangelizao desenvolvidos pela denominao. A partir
do momento em que o converso torna-se membro pelo rito do batismo de imerso em agua,
passa a buscar o chamado 'batismo com o Espirito Santo, evidenciado pela glossolalia e
seguido de diversos dons ou carismas, mediante os quais se tem a oportunidade de provar que
so 'vocacionados pelo Senhor.
O sociologo Ricardo Mariano resume os primeiros anos do pentecostalismo
brasileiro da seguinte Iorma:
Compost as maj or i t ar i ament e por pessoas pobr es de pouca
escol ar i dade, di scr i mi nadas por pr ot est ant es hi st or i cos e
per segui das pel a I gr ej a Cat ol i ca, essas i gr ej as se car act er i zavam por
um I er r enho ant i cat ol i ci smo. Em 30 anos, seus t empl os j a est avam
em t odos os Est ados br asi l ei r os.
3 0 7
Vale observar que o periodo que marca a insero e o desenvolvimento das
primeiras Iormas de pentecostalismo em solo brasileiro ainda conIigurado pela presena
majoritaria do catolicismo no pais. Formalmente ligado, enquanto instituio, ao Estado at o
Iinal do Imprio, o catolicismo entra no sculo XX sob o signo da romanizao e, ao mesmo
tempo, a tentativa de recuperao de seus laos privilegiados com o poder politico. Mesmo
com a instaurao do Iim do padroado, com a promulgao da primeira Constituio Federal
da Republica, a Igreja Catolica continuou agir como se tivesse ainda de operar com primazia
e com certa exclusividade no contexto brasileiro. Submetida a injuno de reorganizar-se
institucionalmente, promovendo uma nova centralizao do poder eclesiastico segundo os
307
Revista Eclesia, Rio de Janeiro, p. 46, abr. 2000.
102
ditames de Roma e obrigada a reencontrar para si um novo lugar na sociedade, a Igreja desde
meados dos anos 1920 abandonaria a posio deIensiva em que se encontrava ante o avano
da laicizao do Estado e a ideologia do progresso inspirada no positivismo, para engajar-se,
com um novo espirito triunIante, na implementao da 'restaurao catolica.
A inaugurao da estatua do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro,
em 1931, e, dois anos mais tarde, a realizao do II Congresso Eucaristico Nacional
representam o espirito militante com o qual, recorrendo a tradio para solucionar suas
longas dcadas de crise, no mais puro estilo conservador, o catolicismo atravessara as
dcadas de 1930 e 1940, procurando dar corpo ao projeto de recriao de um 'Brasil catolico,
uma nao perpassada pelo espirito cristo. Por isso, os 'inimigos da Igreja Catolica so,
nesse periodo, o protestantismo e as religies aIro-brasileiras, genericamente incorporadas
pela designao de 'espiritismo, ao lado do pensamento cientiIicista e da secularizao que
ameaavam a posio institucional e a hegemonia espiritual do catolicismo, num Brasil
'verdadeiramente cristo.
308
A dcada de 1930 assinalara acontecimentos importantes pela Iora do seu
simbolismo:
Em t oda a dcada de 30, a I gr ej a Cat ol i ca per segui r a o obj et i vo de
consol i dar sua uni dade em pl ano naci onal , at r avs de uma
cent r al i zao e coor denao da di r eo epi scopal e do apost ol ado
dos l ei gos. Est a uni dade havi a si do assegur ada dur ant e o per i odo
col oni al pel os mecani smos do Padr oado, onde o Est ado det i nha o
cont r ol e da I gr ej a. O r ei e depoi s o i mper ador er am vi r t ual ment e o
cheI e da I gr ej a no pai s. Pr ocl amada a Republ i ca em 1889 cr i a- se um
vazi o de poder , l ogo pr eenchi do por Roma, quando I r acassam as
t ent at i vas dos bi spos br asi l ei r os de cr i ar em seus pr opr i os
mecani smos de ar t i cul ao i nt er na, guar dando um cer t o cont r ol e
sobr e a I gr ej a br asi l ei r a.
3 0 9
Desde os primeiros dias da Republica, havia uma reivindicao dos bispos
por um Concilio Plenario Brasileiro. Este veio a se realizar em 1939. Mas o esIoro
institucional de busca pela 'unidade do povo catolico se daria, antes, pelo prevalecimento da
Iora do simbolico, centralizada em um elemento de devoo: 'a 16 de julho de 1930, o Papa
Pio XI declara Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil.
310
Passava-se, dessa maneira,
do at ento padroeiro principal da nao, So Pedro de Alcntara estabelecido durante o
308
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 73, 75, 76.
309
BEOZZO, Jos Oscar. A Igreja entre a Revoluo de 1930, o Estado Novo e a redemocratizao. In:
FAUSTO, Boris (Org.). Historia geral aa civili:ao brasileira. O Brasil republicano. So Paulo: DiIel, 1986,
p. 293.
310
Id., ibid., p. 294.
103
Imprio e mantido mesmo apos a entrada da Republica - para uma representao oriunda dos
estratos populares:
Sua hi st or i a si ngel a. Ti r ada das aguas do Par ai ba por pescador es
encar r egados do pei xe par a a comi t i va do Conde de Assumar , em
vi agem de So Paul o par a Mi nas, em 1717, guar dada na casa de
Fel i pe Pedr oso. So em 1743, pede o vi gar i o de Guar at i nguet a
l i cena ao bi spo do Ri o de Janei r o par a er i gi r uma capel i nha no
l ocal . ( . . . ) Apar eci da pouco a pouco se t or nar i a um dos sant uar i os
de mai or devoo popul ar no pai s.
3 1 1
E cultural e socialmente signiIicativo o Iato de Aparecida no ter por
origem uma iniciativa diretamente episcopal ou clerical, assim como de grupos dominantes,
mas, ao contrario, ter sido encontrada enquanto imagem por pescadores, que viviam do
trabalho diario e, como observa Beozzo, 'abrigada em casa de Iamilia e posteriormente numa
capela tosca e humilde:
a i magem do pr i mei r o or at or i o no per t encer am a nenhum membr o
da cl asse dos gr andes pr opr i et ar i os e senhor es de escr avos, coi sa
t o comum no Br asi l col oni al , onde as capel as er am const r ui das
pel os senhor es de engenho, de mi nas e de I azendas de gado ou caI .
No I azi a par t e daquel as i nvocaes apr opr i adas por al guma cl asse
em par t i cul ar ou al gum gr upo domi nant e, como er a pr axe
acont ecer .
3 1 2
Alm do que, ha de se considerar ainda o Iato de aquela pequena imagem
retirada do rio ser de cor negra. Numa igreja com presena predominantemente branca em
sua membresia e liderana, aquela representao teria o signiIicado de identiIicao e
aproximao daqueles que por quase quatrocentos anos viveram discriminados pela condio
de escravos e pela cor da pele. 'Sendo uma Virgem dos mais pobres podia ser uma Virgem
de todos ressalta Beozzo.
313
A populao negra e mestia, assim como a massa procedente
de estratos sociais populares, aIlui no cumprimento de votos e promessas a Aparecida, Iato
que representa uma interrogao levantada a conscincia catolica acerca da Iora das crenas
populares, patrimnio cultural e espiritual de tais segmentos da populao duramente
combatido ao longo de quase toda a historia do pais.
Naturalmente, o estabelecimento de Aparecida como padroeira do Brasil
tambm esta associado aos interesses politicos e econmico-sociais do periodo:
Apar eci da ser vi u mui t as vezes na hi st or i a mai s r ecent e do pai s como
um i menso capi t al espi r i t ual e soci al acumul ado pel o apego e
I i del i dade do povo a Me de Deus, ut i l i zado I i nal ment e em
beneI i ci o dos i nt er esses da hi er ar qui a ecl esi ast i ca e da i deol ogi a
das cl asses domi nant es. Em pocas de dur os embat es i deol ogi cos,
311
Id., ibid.
312
Id., ibid., p. 295.
313
Id., ibid.
104
Apar eci da I oi apr esent ada como a mel hor bar r ei r a a penet r ao do
comuni smo no Br asi l , a pal avr a comuni smo ser vi ndo o mai s das
vezes de I achada a r eao das cl asses domi nant es a r eI or mas e
mudanas necessar i as par a a sobr evi vnci a do pr opr i o povo.
3 1 4
E necessario considerar o Iato de que Aparecida se situa no Vale do Paraiba
paulista, num momento da historia nacional em que a hegemonia econmica havia se
transIerido do Norte aucareiro e da minerao do ouro nas Gerais, para o Sul caIeeiro, cujo
primeiro bero de prosperidade Ioi o Vale do Paraiba Iluminense e paulista.
Ha igual interesse de manter uma identidade e uma unidade nacional em
torno de um simbolo religioso. Por isso mesmo, logo apos a Revoluo de 1930, houve uma
grande concentrao catolica no Rio de Janeiro devido ao deslocamento da imagem de
Aparecida para uma homenagem na capital da Republica perante o Governo Provisorio em
maio daquele mesmo ano:
No di a 31 de mai o, chega a i magem conduzi da de Apar eci da em
t r em especi al pel o Ar cebi spo D. Duar t e. De t ar de per cor r er a em
pr oci sso as r uas do Ri o at a Espl anada do Cast el o, onde na
pr esena de i mensa mul t i do, do Pr esi dent e e do seu Mi ni st r i o, do
cor po di pl omat i co convi dado pel o I t amar at i , o car deal consagr a o
pai s a Vi r gem da Concei o Apar eci da.
3 1 5
Esse evento religioso estava, entretanto, carregado de repercusses politicas:
O pai s r eI azi a- se mal do abal o t er r i vel pr ovocado pel a Revol uo de
30. Ger mens de di scor di a pol i t i ca e sur dos per i gos ameaavam
aquel e moment o. A I i si onomi a da Republ i ca Nova como se
i nt i t ul ar a o r egi me i nst aur ado pel a Revol uo mant i nha- se
eni gmat i ca, numa poca em que a i di a comuni st a I er ment ava nos
pai ses da Amr i ca. No se podi a pr ever o que o I ut ur o r eser vava
par a o Br asi l . De qual quer modo, haver i a uma r enovao nos mol des
pol i t i cos e l egi sl at i vos, em que a I gr ej a dever i a i nI l ui r , em nome da
i mensa mai or i a cat ol i ca do pai s. Uma gr ande concent r ao de
el ement os cat ol i cos na Capi t al da Republ i ca, em moment o assi m
deci si vo, val er i a por uma demonst r ao de I or a mor al , per ant e os
poder es publ i cos ai nda hesi t ant es ent r e cor r ent es di ver sas. E val er i a
ai nda como uma opor t uni dade de desper t ar a consci nci a cat ol i ca
aos seus dever es ci vi cos.
3 1 6
Quando da inaugurao do Cristo Redentor no alto do Corcovado, em que
houve nova concentrao popular, o presidente e todo o Ministrio tambm Iizeram questo
de marcar presena naquele ato:
O cor o a I avor de Var gas er a engr ossado t ambm pel a I gr ej a
Cat ol i ca. Si mbol o dessa al i ana a est at ua do Cr i st o Redent or , no
Cor covado, i naugur ada em 12 de out ubr o de 1931 com a pr esena de
314
Id., ibid., p. 296.
315
Id., ibid., p. 297.
316
ROSARIO, Maria Regina do Santo. O caraeal Leme (1882-1942). Rio de Janeiro: Jos Olympio Editora,
1962, p. 227, 228.
105
Var gas e do Car deal d. Sebast i o Leme, o mesmo que at uar a um ano
ant es na dest i t ui o de Washi ngt on Lui s.
3 1 7
Essas imbricaes de interesses politicos e religiosos mereceriam o
destaque de Oswaldo Aranha nomeado ministro da Justia do Estado Novo expresso nas
seguintes palavras:
Quando chegamos do Sul , nos pendi amos par a a Esquer da! Mas
depoi s que vi mos os movi ment os r el i gi osos popul ar es em honr a de
Nossa Senhor a Apar eci da e do Cr i st o Redent or , per cebemos que no
podi amos i r cont r a o sent i ment o do povo.
3 1 8
Em julho de 1939 destaca-se a reunio dos bispos para o Concilio Plenario
Brasileiro. O governo brasileiro oIerece aos conciliares um banquete no Palacio do Itamarati.
Nos respectivos discursos de representantes da igreja e do Estado, a tnica era a 'colaborao
mutua. Nesse sentido, vale destacar as palavras proIeridas pelo presidente Getulio Vargas:
Apesar de separ ados os campos de at uao do poder pol i t i co e do
poder espi r i t ual , nunca ent r e el es houve choques de mai or
i mpor t nci a; r espei t am- se, auxi l i am- se. O Est ado dei xando a I gr ej a
ampl a l i ber dade de pr egao, assegur a- l he ambi ent e pr opi ci o a
expandi r - se e a ampl i ar o seu domi ni o sobr e as al mas; os sacer dot es
e mi ssi onar i os col abor am com o Est ado, t i mbr ando em ser bons
ci dados, obedi ent es a Lei ci vi l , compr eendendo que sem el a sem
or dem e sem di sci pl i na por t ant o os cost umes se cor r ompem, o
sent i do da di gni dade humana se apaga e t oda a vi da espi r i t ual se
est anca. To est r ei t a cooper ao j amai s se i nt er r ompeu; aI i r ma- se,
de modo auspi ci oso, nos di as pr esent es e ha de i nt ensi I i car - se no
I ut ur o, mant endo a admi r avel cont i nui dade de nossa hi st or i a.
3 1 9
No Concilio, realizado de 2 a 20 de julho do reIerido ano, tambm ja se
observam as preocupaes dos bispos quanto aos problemas que ameaavam mais de perto a
hegemonia da Igreja Catolica naquele periodo, sobretudo nas camadas mais populares. Por
isso, ao longo dos debates internos, o Concilio criou comisses que trabalhassem
cuidadosamente trs temas: o protestantismo, o espiritismo, a questo social. Observa o
historiador catolico Oscar Beozzo:
O pr ot est ant i smo, at ent o um I enmeno l i gado a i mi gr ao al em
( . . . ) l ut er ano em sua dout r i na e sem espi r i t o de conqui st a, vi nha
sendo r api dament e supl ant ado pel o pr ot est ant i smo das sei t as nor t e-
amer i canas, cuj a pr opaganda se i nt ensi I i ca depoi s dos anos t r i nt a.
Com o seu i ndi vi dual i smo acent uado, seu agudo senso do dever no
t r abal ho, seu ent usi asmo pel a Bi bl i a e a acei t ao de past or es
vi ndos do povo mi udo, esse pr ot est ant i smo mi l i t ant e consegui a
penet r ar com I aci l i dade nas novas camadas popul ar es, I r ut o do
capi t al i smo i ndust r i al dependent e. A r el i gi o o cosmopol i t i smo
317
O BRASIL EM SOBRESSALTO. 80 anos de historia contados pela Folha de S. Paulo. So Paulo:
PubliFolha, 2002, p. 57, 58.
318
Id., ibid., p. 289.
319
VARGAS, Getulio. Discurso em homenagem ao Episcopado Nacional, reunido no 1 Concilio Plenario.
Ao Catolica, ano II, n. 10, p. 289, 290, out. 1939.
106
das cl asses subal t er nas na or dem capi t al i st a e ai o pr ot est ant i smo
das sei t as nor t e- amer i canas desempenha papel - chave.
3 2 0
No obstante a condio de primazia oIicialmente ostentada no Brasil, cabe
observar que a Igreja Catolica possuia uma Iace de 'distanciamento do povo e do catolicismo
popular:
Essa neocr i st andade t em um car at er conser vador e
desenvol vi ment i st a. El a se mant m ancor ada em t or no das
ol i gar qui as conser vador as e dos pr opr i et ar i os r ur ai s. O pr ocesso de
r omani zao do cat ol i ci smo br asi l ei r o ent r a em cr i se com as
mani I est aes r el i gi osas do povo. So consi der adas super st i ci osas,
al i enant es e vazi as de sent i do. As i mpl i caes desse t i po de
cat ol i ci smo se I azem sent i r nas cel ebr aes l i t ur gi cas, na ausnci a
de um pr oj et o past or al que consi der e a pl ur al i dade cul t ur al
br asi l ei r a.
3 2 1
Portanto, a ausncia da Igreja quanto a uma proposta mais condizente com
a cultura e as necessidades da grande maioria da populao brasileira. Nesse periodo:
Os desequi l i br i os da soci edade passam a ser ci t ados com bast ant e
veemnci a, no ent ant o, sem consi der ar a I or mao hi st or i ca,
cul t ur al , pol i t i ca e r el i gi osa do povo. Exi st i a, por t ant o, uma
I ront ei r a ent r e Povo, Est ado e I gr ej a. Um j ogo de r epr esent aes,
const r ui do pel o poder pol i t i co e r el i gi oso, est abel eci a l i mi t es e
di vi ses par a um ver dadei r o di al ogo com as camadas popul ar es.
3 2 2
No conseguindo responder satisIatoriamente aos anseios dos grupos
urbanos que se Iormam, o catolicismo abre espao para outras organizaes, como bem
destaca Oscar Beozzo:
os gr upos ur banos que se ar t i cul am par a l ut ar cont r a a expl or ao
capi t al i st a no encont r am na I gr ej a uma al i ada, pel o cont r ar i o, a
nascent e cl asse oper ar i a encont r a no anar qui smo, no soci al i smo e no
maxi mal i smo sua vi so de mundo, nos j or nai s oper ar i os, l i ber ai s de
esquer da, ant i cl er i cai s e anar qui st as, sua I or ma de expr esso e, nos
cl ubes, mut ual i dades, si ndi cat os e cent r os oper ar i os suas I or mas de
or gani zao.
3 2 3
O periodo de 1930 a 1945 conIigurou um momento extremamente
complexo da vida econmica brasileira. A crise internacional, de 1929, levou a um impasse a
economia caIeeira, gerando a perda da hegemonia politica por parte das oligarquias do caI.
O Estado, com Vargas, passou a intervir de modo crescente na economia e na sociedade. O
periodo compreendido entre 1945 e 1964 possibilitou 'a emergncia de classes populares no
320
BEOZZO, O. Op. cit., p. 331.
321
DELGADO, Lucila de A. N.; FERREIRA, Jorge (Orgs.). Op. cit., p. 98.
322
Id., ibid., p. 100.
323
FAUSTO, Boris (Org.). Op, cit, p. 277, 278.
107
quadro de uma democracia eleitoral que permitiu os experimentos de Vargas, Kubitschek,
Quadros e Goulart no quadro politico brasileiro.
324
Na dcada dos anos 50, 'alguns imaginavam at que estariamos assistindo
ao nascimento de uma nova civilizao nos tropicos, a qual combinava a incorporao das
conquistas materiais do capitalismo com a persistncia dos traos de carater que nos
singularizavam como povo: a cordialidade, a criatividade, a tolerncia. De 1967 em diante, 'a
viso de progresso vai assumindo a nova Iorma de uma crena na modernizao, isto , de
nosso acesso iminente ao Primeiro Mundo`.
325
Entre 1930 a 1950, sobretudo, processou-se um contexto propicio ao
seguimento de lideres com projeo salvacionista por parte das massas. Esse carater cultural
de messianismo pode ser observado, por exemplo, nas proprias palavras de Vargas, quando,
em discurso ao povo, apresenta-se como um lider capaz de viabilizar-lhe amparo,
paternalismo e satisIao de suas necessidades sem mediaes institucionais:
Hoj e, o Gover no no t em mai s i nt er medi ar i os ent r e el e e o povo.
No mai s mandat ar i os e par t i dos. No ha mai s r epr esent ant es de
gr upos e no ha mai s r epr esent ant es de i nt er esses par t i dar i os. Ha
si m o povo no seu conj unt o e o gover no di r i gi ndo- se di r et ament e a
el e, a I i m de que, auscul t ando os i nt er esses col et i vos, possa
ampar a- l os e r eal i za- l os, de modo que o povo, sent i ndo- se ampar ado
nas suas aspi r aes e nas suas conveni nci as, no t enha necessi dade
de r ecor r er a i nt er medi ar i os par a chegar ao CheI e de Est ado | . . . | .
3 2 6
Marilena Chaui, ao analisar esse aspecto, aponta para o carater de
sacralidade que envolve o populismo,
327
destacando o que chama de 'mito Iundador como
um poderio que provm de uma Ionte imaginaria 'extra-social, isto , da aivinaaae,
responsavel por conIerir ao lider poderes e representaes salvacionistas, ou seja,
a vi so do gover nant e como sal vador e a sacr al i zao- sat ani zao
da pol i t i ca. Em out r as pal avr as, uma vi so messi ni ca da pol i t i ca
que possui como par met r o o nucl eo mi l enar i st a como embat e I i nal ,
cosmi co, ent r e l uz e t r evas, bem e mal .
3 2 8
A autoridade maxima e a sintese do poder publico moderno se Iundem,
dessa maneira, em tal periodo, numa pessoa: o presidente. Tal Iormulao acabava por
combinar tradies da sociedade brasileira Iincadas na longa durao Iundadas no poder
personalizado do patriarca rural, assim como do lider com carisma messinico com os mais
vigorosos imperativos da politica da poca:
324
Id., ibid., p. 106.
325
NOVAIS, Fernando A. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit., p. 560.
326
VARGAS, Getulio. A nova politica ao Brasil. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1938, p. 134.
327
Aqui entendido como politica Iundada no aliciamento, sobretudo, das camadas sociais de menor poder
aquisitivo.
328
Id., ibid., p. 19, 20, 30.
108
A capaci dade i ncompar avel de Get ul i o de se comuni car com t odo o
povo, que vi a nel e o 'cheI e- gui a e o 'ami go- pai , o qual vi br ava
no mesmo compasso que sua 'I ami l i a ( . . . ) Uma das i magens mai s
I reqent es a que os di scur sos est ado- novi st as r ecor r i am par a
car act er i zar o pr ocesso de const r uo do Est ado Naci onal , er a
I or mao de uma gr ande I ami l i a. Nel a, as l i der anas si ndi cai s er am
como i r mos mai s vel hos, e o pr esi dent e, o pai , de um povo nobr e e
t r abal hador 'o pai dos pobr es.
3 2 9
Tradio e modernidade se conIluiam harmoniosamente no
empreendimento que consagrava, a um so tempo, o reIoro do sistema presidencial e a
'construo mitica da Iigura de seu representante como uma encarnao do Estado e da
nao.
330
Essa imagem se origina num mito sobre o qual se Iundaria o processo de
integrao da nao e que incorporaria suas caracteristicas mais proIundas. No caso de
Vargas, a relao direta lider-massa teve dupla Ieio da representao de interesses e da
representao simbolica, e Vargas transIormava-se no terminal adequado para ambas:
Num pai s sem di r ei t a, sem esquer da, sem par t i dos, sem Congr esso,
sem r epr esent ao de i nt er esses al m do cor por at i vi smo oI i ci al , sem
nenhum i nt er medi ar i o i nst i t uci onal ent r e soci edade e gover no, ( . . . )
Get ul i o Var gas se di r i gi a di r et ament e as massas no mel hor est i l o
I asci st a. Se no est i mul ava o cul t o a per sonal i dade, i mpunha na
maqui na admi ni st r at i va sua mar ca pessoal , devi dament e di I undi da
por um mei o de comuni cao que comeava a vi ver seu apogeu o
r adi o.
3 3 1
Depois da transmisso inaugural, em 1922, o radio comeou a popularizar-
se dez anos mais tarde, quando o governo provisorio autorizou a veiculao de propaganda:
'a populao, na maioria analIabeta, tinha no radio seu canal de comunicao com o
mundo.
332
Percebendo o potencial deste meio de comunicao, Vargas criou, em 1934, a
'Hora do Brasil. Dois anos mais tarde, surgia no Rio de Janeiro a Radio Nacional, lider de
audincia, encampada pelo governo em 1940, quando se transIormou em instrumento de
apoio a Vargas.
A importncia desse mito estava em seu poder mobilizador, que dependia
tanto dos elementos de crenas e valores como das relaes que estabelecia com as
experincias imediatas das massas a que se destinava. O carisma de Vargas pode, assim, ser
associado a um poder provindo das massas, como destaca Marilena Chaui:
No popul i smo, o poder encont r a- se t al e pl enament e ocupado pel o
gover nant e, que o pr eenche com sua pessoa por que est a se i dent i I i ca
com o cor po do det ent or do poder ( o povo) e com o pr opr i o l ugar do
poder . O gover nant e popul i st a encar na e i ncor por a o poder , que no
329
SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit., p. 527, 528.
330
Id., ibid., p. 522.
331
O BRASIL EM SOBRESSALTO. 80 anos de historia contados pela Folha de S. Paulo. Op cit., p. 56, 57.
332
Id., ibid.
109
mai s se separ a nem se di st i ngue de sua pessoa, uma vez que no se
I unda em i nst i t ui es publ i cas nem se r eal i za at r avs de medi aes
soci o- pol i t i cas.
3 3 3
As massas encontram no mito da personalidade um poder de expresso
simbolica Iincado em estratos culturais de longa durao na sociedade brasileira:
O 'cor ao um obj et o si mbol i co de ampl a I or a r el i gi osa e de
uso di I undi do nas mi t ol ogi as pol i t i cas. Mas o i magi nar i o do povo
br asi l ei r o, como o obvi o, pode ser espant oso, e al guns pol i t i cos
l i gados a Var gas t ambm. Assi m, no possi vel dei xar de r egi st r ar
que, quando no ano de 1945 o Est ado Novo vi vi a i negavei s
moment os de decl i ni o, o mi t o Var gas deu sol i das demonst r aes do
quant o havi a t ocado o povo, par t i cul ar ment e o das ci dades. O
movi ment o quer emi st a, i st o , o movi ment o que 'quer a
per mannci a Var gas, pr i mei r o como candi dat o a Pr esi dnci a e, em
segui da, como condut or dos t r abal hos const i t ui nt es pr evi st os par a
1946, l evou mul t i des as r uas e sur pr eendeu as oposi es r euni das
no combat e ao di t ador .
3 3 4
Maria Helena Capelato, ao comentar o varguismo e o peronismo, aIirma
que 'transIormaram os imaginarios coletivos numa Iora reguladora da vida coletiva e pea
importante no exercicio do poder.
335
Essa autora aponta o aspecto da 'divinizao mitica
que envolveu o governo brasileiro em tal periodo:
O poder mi st i co e a i dent i I i cao com o di vi no at r el avam o dest i no
do homem- Deus | Var gas| ao da Pat r i a. Sua i magem mescl a- se a da
pat r i a una e i mor t al ; o dest i no desse homem er a o dest i no mesmo do
Br asi l . A di vi ni zao do cheI e i nser e- se no movi ment o de
sacr al i zao da pol i t i ca ( . . . ) .
3 3 6
Quando se preparava para retornar ao poder, na dcada de 1950, em
entrevista publicada nos jornais dos Diarios Associaaos, Vargas declarou: 'Sim, eu voltarei,
no como lider politico, mas como lider de massas.
337
Comentando a aIirmao, Francisco
WeIIort transcreve as seguintes palavras retiradas da nota editorial de uma revista publicada
em 1950, que retrata a viso dos liberais da poca, a qual analisa o carater explosivo da
emergncia politica das massas, que culminaram com a vitoria de Getulio Vargas em outubro
daquele ano:
No di a 3 de out ubr o, no Ri o de Janei r o, er a mei o mi l ho de
mi ser avei s, anal I abet os, mendi gos, I ami nt os e andr aj osos, espi r i t os
r ecal cados e j ust ament e r essent i dos, i ndi vi duos t or nados pel o
abandono em homens boai s, maus e vi ngat i vos, que descer am os
mor r os embal ados pel a cant i ga da demagogi a ber r ada de j anel as e
333
CHAUI, Marilena. Raizes teologicas do populismo no Brasil: Teocracia dos dominantes, messianismo dos
dominados. In: Anos 90 Politica e Socieaaae no Brasil. So Paulo: Brasiliense, 1994, p. 20.
334
SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit., p. 529, 530.
335
Como, por exemplo, o Varguismo (ou o Peronismo, na Argentina), conIorme analises Ieitas por Francisco
WeIIort. In: CAPELATO, Maria H. Rolim. Multiaes em Cena. Campinas: Papirus, 1998, p. 211-277.
336
CAPELATO, M. H. R. Op. cit., p. 259.
337
O BRASIL EM SOBRESSALTO. 80 anos de historia contados pela Folha de S. Paulo. Op. cit., p. 69.
110
aut omovei s, par a vot ar na uni ca esper ana que l hes r est ava: naquel e
que se pr ocl amava o pai dos pobr es, o messi as- char l at o.
3 3 8
Dias depois do pleito, o jornal Folha aa Manh publicava a seguinte
analise: 'O Iato que Getulio Vargas Iala ao homem da rua`.
339
Algumas dessas representaes populistas, anteriormente apresentadas,
aglutinam elementos que se aproximam de aspectos presentes em movimentos messinicos
ocorridos na Amrica. ExempliIicam isto: a projeo num momento de grande instabilidade
social;
340
a sacralizao da Iigura de seus lideres, mitiIicando-lhes o poder;
341
o perIil
salvacionista, procurando estabelecer uma luta contra o mal ('inimigos);
342
a identiIicao
com simbolos de Iorte apelo popular (como as Iiguras religiosas);
343
o desenvolvimento de
seus ritos a partir de simbolismos que impregnam o imaginario popular coletivo; o
estratgico uso dos meios de comunicao para propagao de sua mensagem.
2.3 O contexto de projeo do pentecostalismo
Com a 'substituio do populismo pelo nacionalismo,
344
em meados da
dcada de 1950, no cenario politico brasileiro, observa-se que se a palavra 'populismo
desaparecia, permanecia no entanto o seu carater. Segundo WeIIort, 'o desenvolvimento
historico posterior a 1930 havia constituido, atravs do populismo de Vargas e seus
herdeiros, a Iigura do moderno Estado Brasileiro.
345
Essa Iigura, porm, se encontrava
'inacabada, 'imperIeita, uma vez que o 'povo no era uma comunidade mas um conjunto
de 'contradies. Em meio a essas tenses em desenvolvimento que eclodiu o golpe
militar de 1964, quando o Estado projetou-se sobre o conjunto da sociedade com a Iinalidade
de dirigi-la soberanamente. O mito Vargas tornou-se, portanto, reIerncia de poder
carismatico no imaginario politico do pais. E mesmo apos a morte tragica desse lider, sua
Iigura continua a se impor como uma reIerncia imortal para a memoria nacional.
A partir de 1964, a Igreja Catolica, que marcara sua relao com o Estado
por um movimento ambiguo e pendular quer de apoio e colaborao, quer de critica diante
de antagonismos e entraves mais agudos, compelida a redeIinir posies, comeando por
338
Apua WEFFORT, Francisco. O populismo na politica brasileira. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1990, p. 22.
339
O BRASIL EM SOBRESSALTO. 80 anos de historia contados pela Folha de S. Paulo. Op. cit., p. 70.
340
Id., ibid., p. 212.
341
BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. LVI.
342
CAPELATO, M. H. R. Op. cit., p. 267.
343
Id., ibid., p. 276, 277.
344
Id., ibid., p. 37-44.
345
Id., ibid.
111
sua propria estruturao interna. Inicialmente, houve divergncia entre a cupula da Igreja, na
avaliao do golpe. No Iinal do ms de maio daquele ano, a Comisso Central da CNBB
emitiu pronunciamento extremamente cauteloso e ambiguo. A violncia das inumeras
punies pelo governo militar Iez que o colegiado episcopal assumisse em um documento
oIicial duas posies aparentemente contraditorias: procurava, por um lado, reaIirmar sua
aliana com o Estado, apoiando a ao militar que 'arrancou o pais do comunismo, que
deveria continuar para 'consolidar a vitoria, mediante o expurgo das causas desordem; por
outro, lembrava a necessidade de que os acusados no Iossem punidos pela Iora e tivessem o
direito a deIesa, pois a restaurao da ordem social no viria 'apenas com a condenao
teorica e a represso policial do comunismo. O apoio ao Estado ocorre em nome da luta
contra o avano comunista no pais. Na mensagem da CNBB declaram os bispos que esto
'prontos a prestigiar, acatar e Iacilitar a ao governamental, mas no silenciando 'a voz a
Iavor do pobre e das vitimas da perseguio e da injustia.
346
ConIlitos e desgastes de relacionamentos, porm, se seguiram. No primeiro
aniversario do golpe militar, D. Hlder Cmara se negou a celebrar a missa comemorativa,
alegando o carater politico do ato de exclusiva competncia do governo militar e no da
igreja. Novas repercusses se deram no segundo aniversario, quando se reeditou o mesmo
argumento do religioso. Uma outra situao de conIlito entre a igreja e o governo Ioi
provocada pela proibio, em julho de 1966, da realizao em Belo Horizonte, do 28.
Congresso da Unio Nacional dos Estudantes (UNE). Sob a alegao de que o reIerido orgo
de representao nacional dos estudantes universitarios Iora extinto, a policia Iederal proibiu
aos hotis da capital mineira que recebessem os congressistas. Dominicanos, Iranciscanos e
monjas beneditinas se solidarizaram com os membros da UNE, abrigando-os em suas casas
religiosas e permitindo assim que o congresso previsto se realizasse. Nos anos de 1967 e 68,
os conIlitos entre Igreja e Estado se multiplicariam na medida mesma em que 'a nova ordem
estatal escalava o caminho da direita e da Iora e voltava contra a sociedade o rosto do
terror.
347
Em 1968, quando o governo promulgava o AI-5, armando o Estado com o
seu 'instrumento mais discricionario, a Igreja Catolica se reunia em Melellin, com a
presena do Papa Paulo VI, deIinindo posies de vanguarda da Igreja, que se tornavam
346
DECLARAO DA COMISSO CENTRAL DA CNBB, de 27 maio 1964. REB 24 (2), p. 491-493, jun.
1964.
347
FAUSTO, B. (Org.). Op. cit., p. 375, 376.
112
oIicialmente linhas basicas de ao: a opo pelos pobres e as Comunidades Eclesiais de
Base (CEBs).
Na dcada de 70 apr oI unda- se o conI l i t o ent r e a I gr ej a e o Est ado
que se mani I est a de manei r a mul t i I or me, em ni vei s var i ados da
est r ut ur a hi er ar qui ca, t ant o do Est ado, como da I gr ej a. As mudanas
do cat ol i ci smo, apoi ando movi ment os de emanci pao de cat egor i as
soci ai s excl ui das e deI endendo os di r ei t os humanos cont r a o ar bi t r i o
e a vi ol nci a do Est ado aut or i t ar i o e di t at or i al , par ecem ocor r er de
modo gr adual , pr ossegui ndo em r i t mo i r r egul ar , mas segui ndo
t endnci a coer ent e.
3 4 8
Apos o golpe militar de 1964, tambm passam a ocorrer dura vigilncia e
represso aos setores populares e suas organizaes praticamente inviabilizadas. ProIissionais
liberais e artistas, por exemplo, no conseguiram Iicar imunes ao controle e represso
governamental ao longo de tal periodo. Entretanto, restou como espao de maniIestao e
protesto o setor da cultura: 'a esquerda era Iorte na cultura e em mais nada. E uma coisa
muito estranha. Os sindicatos reprimidos, a imprensa operaria completamente ausente. E
onde a esquerda era Iorte? Na cultura.
349
O teatro nacional, nos anos imediatamente anteriores e posteriores a 1964,
enIatizou a dramaturgia politica. Surgiram, por exemplo, seminarios de dramaturgia,
promovidos em So Paulo pelo Teatro Arena, a partir de 1958, incentivando a escritura e a
encenao de pea e autores nacionais que expressassem os dilemas do povo, procurando
reIletir sobre a conjuntura nacional. O Teatro Arena tornou-se um polo de atrao para jovens
artistas engajados politicamente na capital paulista, alm de intelectuais e estudantes. Ele
atraia artistas de varios campos, do cinema a artes plasticas, varios dos quais participaram de
encenaes com musicas.
350
Nos grandes centros urbanos, bem no mago do capitalismo,
como sua principal clula econmica e tambm como seu pior inimigo, la estava sendo
representado o operario, pobre, ignorante, mas que comeava a tomar conhecimento de suas
potencialidades e a perceber que os Iracos, unindo-se, poderiam derrotar os Iortes. A greve e
unio em torno do sindicato signiIicavam para ele menos uma oportunidade de luta por
reivindicaes precisas, salariais ou de outra natureza, do que o estopim deIlagrador de um
processo de esclarecimento politico que se comeou a chamar de conscientizao.
351
A Iormao de uma cultura expressa na imagem audio-visual se delineia no
Brasil a partir da dcada de 1950, quando se assiste a um revigoramento geral do cinema
brasileiro, visivel pela abertura de novas companhias produtoras. Ha, neste periodo,
348
Id., ibid., p. 377.
349
DELGADO, Lucila de A. N. ; FERREIRA, Jorge (Orgs.). Op. cit., p. 143.
350
Id., ibid., p. 139.
351
Id., ibid., p. 570.
113
Iormulaes que culturalmente instigam imaginarios voltados a brasilidade, com
representaes Iincadas em anseios de instaurao de um novo modelo de sociedade que
possibilitasse oportunidade de melhor condio de vida aos segmentos mais socialmente
desIavorecidos. Com isto, busca-se principalmente Iazer da expresso cinematograIica um
recurso de identiIicao do 'homem brasileiro sobretudo o homem do povo do seu
trabalho, da sua estrutura mental, da sua maneira de andar, Ialar, vestir, de existir, ou seja,
pensava-se em retratar 'sem disIarces a realidade. O cinema deveria ser um 'meio de
expresso a servio da cultura, a qual deveria ser 'criada com traos 'autenticamente
brasileiros:
Tr at ava- se da t ent at i va de al canar , e se pr eci so I osse i nvent ar , uma
expr esso ci nemat ogr aI i ca adequada a uma cer t a r eal i dade cul t ur al ,
econmi ca, pol i t i ca, soci al , que ao mesmo t empo I osse r eI l exo dest a
r eal i dade e I at or at uant e na sua super ao. Pr opunha- se que o
ci nema aj udasse a I or mar uma nova cul t ur a, apoi ando- se na
pr eexi st ent e par a enr i quec- l a e t r ansI or ma- l a. Assi m, em t er mos
soci ol ogi cos, ent endi a- se o ci nema enquant o mani I est ao
r epr esent at i va de uma r eal i dade hi st or i ca det er mi nada que se
pr et ende desvendar e anal i sar cr i t i cament e, e enquant o I at or
i nt er veni ent e nest a r eal i dade.
3 5 2
Assim, num contexto de acelerado processo de urbanizao, 'certos
partidos e movimentos de esquerda, seus intelectuais e artistas valorizavam a ao para
mudar a historia, para construir o homem novo, cujo modelo estava no passado, na
idealizao de um autntico homem do povo com raizes rurais, do interior, do 'corao do
Brasil, supostamente 'no contaminado pela modernidade urbana. Formulavam-se
representaes da mistura do branco, do negro e do indio na constituio da brasilidade, no
mais no sentido de justiIicar a ordem social existente, mas de questiona-la. Recolocava-se o
problema da identidade nacional e politica do povo brasileiro, buscava-se a um tempo suas
raizes e a ruptura com o subdesenvolvimento, numa espcie de desvio a esquerda do que se
convencionou chamar de era Vargas, caracterizada pela aposta no desenvolvimento nacional,
com base na interveno do Estado.
353
No aspecto educacional, nas dcadas de 1950 e 1960 o pais enIrentava
grandes desaIios. Alm da Ialta de escolas em amplas regies do territorio nacional, outros
Iatores, especiIicamente sociais, Iaziam com que grandes porcentagens de crianas nem
sequer chegassem a ingressar no sistema de ensino. Nas periIerias das grandes cidades, por
exemplo, havia contingentes de menores marginalizados. Crianas, ou mesmo Iamilias,
socialmente destituidas da possibilidade de projetar a vida no Iuturo, estavam
352
Id., ibid., p. 495.
353
Id., ibid., p. 135, 136.
114
incompatibilizadas com a idia, implicita na escolaridade, de um caminho em direo a um
Iuturo pensado e desejavel.
354
Essa situao Ioi analisada, na poca, por Florestan Fernandes:
Em pr i mei r o l ugar , a educao escol ar i zada apar ece como um
pr i vi l gi o econmi co e soci al . De um l ado por que so uma mi nor i a
pode ar car com os nus di r et os e i ndi r et os da educao dos
i mat ur os. De out r o, por que a compr eenso da i mpor t nci a da
i nst r uo e sua val or i zao soci et ar i a dependem de convi ces e
conheci ment os compar t i l hados, em r egar , pel os ci r cul os soci ai s
domi nant es. Em segundo l ugar , por que exi st em gr aduaes na
di st r i bui o desse pr i vi l gi o. A desi gual dade econmi ca, cul t ur al e
soci al t ende a I oment ar condi es i mpr opr i as ao apr ovei t ament o das
opor t uni dades educaci onai s, I azendo com que as di I i cul dades
I i nancei r as sej am consi der avel ment e r eI or adas pel a i ndi I er ena
di ant e da i nst r uo ou pel o poder coer ci t i vo var i avel do dever de
i nst r ui r - se. O j ogo desses I at or es ext r a- educaci onai s beneI i ci a,
nat ur al ment e, as mi nor i as bem i nst al adas na est r ut ur a do poder da
soci edade.
3 5 5
Alm desses Iatores, destaca-se ainda a diIiculdade de rendimento e,
conseqentemente, as deIicincias do ensino primario decorrentes de um choque cultural
entre os conteudos do ensino e as condies de vida econmica, social e cultural das
comunidades rurais e periIricas no contexto urbano. Predomina uma orientao educacional
a partir de um 'ponto de vista de uma cultura dominante que deIine as diretrizes e os
conteudos da escolaridade:
Ampl os segment os das popul aes subal t er nas, sobr et udo nas zonas
r ur ai s e nas per i I er i as das ar eas ur banas, vi vem segundo val or es,
nor mas de compor t ament o, at i t udes, sent i ment os, cr enas, enI i m,
segundo uma cul t ur a em ger al ausent e dos cont eudos e da
or gani zao do pr ocesso educat i vo, que no a val or i za, no a acei t a
e no a l eva em consi der ao. Por mai s compl exos e adapt at i vos que
possam ser esses cont ext os cul t ur ai s, el es est o excl ui dos da
escol a.
3 5 6
Foi nesse periodo e contexto, a partir de meados do sculo XX, que o
quadro religioso brasileiro tambm comeou a soIrer maior impacto com a 'irrupo de um
novo tipo de protestantismo de massa, que passa a crescer de uma maneira assombrosa com
base nos grupos pentecostais.
357
No inicio da dcada de 1950, desenvolveu-se no pais o que
alguns pesquisadores chamam de 'segunda onda pentecostal
358
ou pentecostalismo de 'cura
354
Id., ibid., p. 404.
355
FERNANDES, Florestan. Dados sobre a situao do ensino. In: EDUCAO e sociedade no Brasil. So
Paulo: Dominus Editora, 1966, apua DELGADO, Lucila de A. N. ; FERREIRA, Jorge (Orgs.). Op. cit., p. 404.
356
Id., ibid., p. 405.
357
Id., ibid., p. 82.
358
Terminologia empregada por Paul Freston. CI. FRESTRON, Paul. Protestantes e politica no Brasil. da
constituinte ao impeachment. Campinas: UNICAMP, 1993. 350 Il. Tese (Doutorado em Sociologia) Programa
de Pos-Graduao em Sociologia, Universidade Estadual de Campinas, 1993.
115
divina,
359
notabilizado pela Iigura das 'tendas divinas, cujas igrejas 'rapidamente se
implantam e passam a ganhar centenas de milhares de adeptos em velocidade crescente,
sobretudo entre as camadas mais modestas da populao.
360
Esse pentecostalismo passaria a
representar, de Iato, ameaas a hegemonia catolica e transIormaes no mbito do proprio
protestantismo:
Mi ssi onar i os nor t e- amer i canos i nvadi r am o pai s i mpl ant ando uma
nova l i t ur gi a, mai s espont nea, com cul t os i nI or mai s e gr andes
concent r aes de massa. O movi ment o evangl i co se ur bani zava,
com sur gi ment o de gr andes gr upos pent ecost ai s, como a I gr ej a
Quadr angul ar , O Br asi l Par a Cr i st o, Nova Vi da e a I gr ej a Deus
Amor . Ao mesmo t empo, segment os das i gr ej as hi st or i cas se
r enovavam, pr i nci pal ment e bat i st as e met odi st as. O pent ecost al i smo
se I i r mava como t endnci a i r r ever si vel da i gr ej a br asi l ei r a.
3 6 1
Uma das denominaes mais ativas nesse processo Ioi a Igreja do
Evangelho Quadrangular, Iundada nos Estados Unidos, em 1922, por Aime Semple
McPierson,
362
uma canadense, missionaria da Igreja Metodista, que rompera com a sua
denominao para organizar o seu proprio movimento, tambm na cidade de Los Angeles.
363
Essa igreja viria a desempenhar um importante papel no campo religioso brasileiro quando,
no inicio dos anos 1950, comeou um empreendimento proselitista sob o nome de Cru:aaa
Nacional ae Evangeli:ao. Um dos missionarios responsaveis, Haroldo Williams, que ja
havia estado na Bolivia, chegou ao Brasil em 1946, radicando-se em So Joo da Boa Vista,
no interior do estado de So Paulo, onde iniciou uma igreja, em 1951. O comeo Ioi lento e,
em 1953, ele convidou para auxilia-lo um amigo, Raymond Boatright que, alm de
missionario da Quaarangular, tambm era, como ele um ex-ator de Iilmes de Iaroeste.
Juntos, passaram a realizar campanhas de curas e expulso de demnios, ocasio em que
conseguiram notadamente chamar a ateno da cidade. Devido ao sucesso alcanado, os dois
missionarios Ioram convidados, no ano seguinte, para empreenderem uma campanha
semelhante na Igreja Presbiteriana Independente (IPI) do Cambuci, na cidade de So Paulo.
A nIase era na cura e na expulso de demnios e atraiu a ateno de uma crescente
multido, de tal Iorma que o templo Iicou pequeno. Os eventos ocorridos logo chamaram
359
Terminologias estas usadas, por exemplo, pelos pesquisadores: MENDONA, A. G. O celeste porvir. Op.
cit.; MARIZ, Cecilia Loreto. In: Sociologia no Brasil. So Paulo: UMESP, 1998, p. 73-91.
360
Id., ibid., p. 82.
361
Id., ibid.
362
A Quadrangular ainda considerada a unica grande igreja crist Iundada por uma mulher, o que pode
explicar o espao privilegiado nela existente para o ministrio eclesiastico Ieminino, uma novidade na poca.
Isso certamente tambm contribuiu para que essa igreja se tornasse menos repressora em relao aos 'usos e
costumes como 'sinais externos de santidade, como exigidos pelo pentecostalismo classico em relao a
mulher.
363
McPierson morreu em 1944 e seu Iilho assumiu a liderana da igreja, que ja contava ento com um grande
numero de congregaes nos Estados Unidos e em varios outros paises.
116
tambm a ateno da imprensa, tornaram-se objeto de muitos artigos nos jornais da poca,
que noticiavam o comparecimento de milhares de pessoas as sesses de cura, obrigando
inclusive, a interdio de ruas do bairro para melhor locomoo das massas.
O resultado dessa srie de reunies no Cambuci Ioi um conIlito com as
cupulas das igrejas hospedeiras. A direo da Igreja Presbiteriana Independente (IPI) exigiu
explicaes do pastor daquela comunidade presbiteriana local, Rev. Silas Dias, acerca das
praticas ali adotadas e que Iugiam ao perIil teologico presbiteriano. Esse embate terminou
com a recusa das denominaes protestantes em ceder outros templos a esse tipo de
atividade, bem como o desligamento da igreja do Cambuci da IPI, Iato que deu origem a
Igrefa Evangelica ao Cambuci. Com a ciso, a soluo Ioi comprar e armar tendas lonas de
circo em terrenos proximos a igreja, onde continuaram as reunies. Muitas outras igrejas
presbiterianas independentes tambm Ioram atingidas pelo Ienmeno pentecostal, sendo por
isso tambm Ioradas a se desligar da IPI e cada uma se constituiu de Iorma autnoma,
abandonando a doutrina e a eclesiologia presbiterianas e assumindo uma nova identidade
marcadamente pentecostal.
Com o passar do tempo, o trabalho de curas e exorcismos realizado nas
tendas desvinculou-se da igreja do Cambuci, expandindo-se por todo o pais. As tendas eram
montadas nos centros das grandes e mdias cidades brasileiras. Esse 'movimento de tendas
Iicou conhecido como Cruzada Nacional de Evangelizao. Para organizar as novas igrejas
que Ioram surgindo em decorrncia da atuao das cruzadas, os missionarios criaram, ainda
em 1954, a Igrefa aa Cru:aaa, mas, ja no ano seguinte, associaram-se Iormalmente a Igreja
do Evangelho Quadrangular dos Estados Unidos, mudando no somente o nome, mas
estabelecendo vinculos doutrinarios com a igreja americana. O que tinha sido pensado
inicialmente apenas como um movimento de avivamento no interior das igrejas existentes
logo se transIormou em uma nova denominao. Inovaram tambm ao inIundir sua
mensagem atravs do radio, principal meio de comunicao de massa da poca, dos
ajuntamentos itinerantes com tendas de lonas, das concentraes em praas publicas, ginasios
de esportes e estadios de Iutebol. Ainda que mantivessem a nIase no batismo com o Espirito
Santo, como os primeiros pentecostais, sua mensagem era agora principalmente concentrada
na cura aivina.
A atuao da Cruzada, portanto, causou um enorme impacto no campo
evanglico-protestante brasileiro, provocando cismas em praticamente todas as
117
denominaes, sejam historicas ou pentecostais.
364
No caso das pentecostais, que at ento
eram representadas quase que exclusivamente pelas igrejas Congregao Crist e Assemblia
de Deus, a Iragmentao denominacional Ioi enorme. Como resultado, surgiram varias novas
igrejas, entre elas a propria Igreja do Evangelho Quadrangular,
365
alm de O Brasil para
Cristo, Deus Amor e varias outras de menor porte:
A par t i r da I gr ej a do Evangel ho Quadr angul ar , a sement e do
espant oso movi ment o de cur a di vi na est ava l anada par a ger mi nar
em gr ande escal a no pai s. Embor a t i pi cament e pent ecost al , essa
i gr ej a i nser i u nos seus I undament os t eol ogi cos a chave do
neopent ecost al i smo, como por exempl o, a nI ase a cur a di vi na e a
expul so de demni os.
3 6 6
Se as primeiras igrejas pentecostais, como visto, tiveram sua origem no
exterior, as que surgiram no Brasil, a partir da dcada de 1950, Ioram Iormadas por cises de
suas predecessoras, apresentando a emergncia de lideranas carismaticas nacionais. E o caso
da Igrefa o Brasil para Cristo, Iundada em 1956, em So Paulo, por Manoel de Mello, um
pernambucano que havia migrado para a capital paulista em busca de trabalho. Mello tornou-
se membro da Assembleia ae Deus e depois evangelista na mesma igreja. Foi no decorrer de
1954 que se integrou ao movimento Cru:aaa Nacional ae Evangeli:ao, combinando as
Iunes de pregador de multides, nas tendas, com o de pequeno empresario de construo
civil.
Em 1955, Manoel de Mello iniciou um programa radioInico na Radio
Amrica, com quinze minutos de durao, e alguns meses depois passou a transmiti-lo pela
Radio Tupi de So Paulo, ento a mais potente emissora paulista. Foi, portanto, um dos
pioneiros no pais a utilizar programas de radio para a propagao da sua mensagem religiosa.
Assim nasceu o programa A Jo: ao Brasil para Cristo, nome este que acabou gerando a
propria Igrefa O Brasil para Cristo, que viria a ser Iundada por ele em 1956. O sucesso de
Mello e a projeo de seu carisma podem ser explicados, dentre outros Iatores, pelas
pregaes radioInicas, que provocavam grande interatividade entre o locutor e os ouvintes,
364
Observando-se ainda a importncia a Cruzada Nacional de Evangelizao no cenario religioso brasileiro,
pode se dizer que tal segmento tornou-se uma espcie de matriz de 'sindicato de magicos: a partir dela lideres
dissidentes deram inicio a outros movimentos concorrentes e Iirmaram escola. O movimento iurdiano, mais
tarde, tambm via brotar ai uma de suas raizes.
365
A Igreja Quadrangular com o passar do tempo se consolidou institucionalmente e, em 1991, segundo dados
da propria denominao, contava com aproximadamente 3.000 igrejas e 4.000 congregaes (igrejas menores
sem autonomia, vinculadas ainda a uma igreja-me), comandadas por cerca de 10.000 pastores, dos quais 35
so mulheres.
366
MENDONA, A. G. Protestantes, pentecostais e ecumnicos. O campo religioso e seus personagens. So
Bernardo do Campo: UMESP, 1997, p. 158.
118
principalmente pela orao e relatos de curas dela decorrentes atravs de tais programaes
diarias.
O intenso emprego das emissoras de radio como estratgia de apoio as
concentraes, para divulgao das curas divinas, possibilitava tambm o contato com um
rebanho disperso por inumeras cidades no interior do Pais. A ousadia de Manoel de Mello era
notoria naquele contexto. A partir de 1958 passou a realizar grandes concentraes religiosas
que lotavam estadios de Iutebol, em So Paulo. Essas concentraes eram chamadas de
'tardes da bno e tinham grande nIase em milagres e curas divinas. A midia dava uma
certa cobertura a esses eventos. Seguindo a estratgia da Cru:aaa, Mello tambm passou a
usar tendas de lona e, assim, a partir de So Paulo, a igreja espalhou-se por todo o Brasil. Foi
a igreja pentecostal a estar em evidncia na midia na dcada de 60, pois suas campanhas de
cura divina, ao mesmo tempo em que atraiam grande multido, tambm rendiam muitos
processos de charlatanismo contra Manoel de Mello. Desde o Iinal dos anos 50, a imprensa,
mais a religiosa que a chamada 'secular, publicou inumeras criticas sobre sua atuao. Ele
Ioi o primeiro a alugar cinemas para as reunies evangelisticas, rompendo com o que at
ento era considerado espao sagrado, apropriando-se de lugares tidos proIanos, como
cinemas e estadios. Participou inclusive de programas de auditorio, um escndalo para
protestantes historicos e, principalmente, para os pentecostais. Mello realizava concentraes
de cura em estadios de Iutebol em dias de Ieriado nacional e convidava autoridades civis e
militares para participar das reunies. Em 1958, conseguiu levar ao estadio do Pacaembu, em
So Paulo, numa 'tarde da bno, cerca de 150 mil pessoas. Nessas concentraes, embora
os seguidores de Mello dissessem haver milagres, jornais da poca o denunciavam por
charlatanismo, como por exemplo, O Estaao ae S. Paulo, de 08/07/1959, o que custou a
Mello processos na justia. Todavia esses processos acabaram sendo arquivados por Ialta de
provas. Em 13/03/1960 Mello realizou na Praa da S uma 'tarde da vitoria, atraindo 50 mil
pessoas para comemorar o despacho da 8 Vara Criminal de So Paulo, arquivando um
processo aberto contra ele por charlatanismo e pratica ilegal da medicina.
Outro projeto de Manoel de Mello Ioi a construo de um grande templo no
Largo da Pompia, em So Paulo, que de maneira uIanistica era apresentado na poca como
o 'maior templo evanglico do Brasil e do mundo. A construo Ioi concluida em 1979.
Mello ja demonstrava tambm atitude dessacralizadora do espao sagrado em relao a
outros segmentos evanglicos:
O povo pr eci sa sent i r - se a vont ade no t empl o. Por exempl o: na
mi nha i gr ej a eu per mi t o que at a hor a do cul t o o povo conver se
119
quant o quei r a. E um ver dadei r o mer cado l a dent r o, t odo mundo
conver sando: 'como vai a t ua me? E aquel e caval o que voc
compr ou? Todos conver sam. Na hor a do cul t o ent r o no assunt o
sr i o. Aquel a i di a do suj ei t o ent r ar no t empl o e pensar que est a
num t umul o, num cemi t r i o, j a acabou ( . . . ) Eu no per mi t o que o
povo vej a o t empl o como coi sa sagr ada. Par a o povo do 'Br asi l par a
Cr i st o o t empl o no sagr ado. E sagr ado o que se I az l a dent r o. O
t empl o em si t em apenas uma I i nal i dade: ampar a do sol e da chuva
( . . . ) quando comea o cul t o t odo mundo est a sat i sI ei t o ( . . . ) Fi z
mui t a coi sa r adi cal que hoj e no I ar i a mai s. Mas per cebi que o cul t o
par t i ci pat i vo o cul t o de que o povo br asi l ei r o gost a.
3 6 7
Outra inovao importante introduzida por ele Ioi o envolvimento politico-
partidario da igreja. Em 1962, apresentou um candidato a deputado Iederal, Levy Tavares, o
qual Ioi eleito em 1966, mas ao tentar empreender uma atuao independente perdeu o apoio
de Mello e no conseguiu se reeleger em 1970. Devido a uma atuao controvertida, tanto
Manoel de Mello quanto a sua igreja encontraram Iorte oposio por parte das lideranas das
denominaes protestantes historicas. No obstante, o seu rapido crescimento e projeo,
Ialtou a esta igreja uma estrutura de sustentao que Iosse maior que o seu proprio Iundador,
razo porque, com a morte de seu lider, em 1990, o movimento descentralizou-se, perdendo
muito das suas marcas iniciais.
Da Igrefa Quaarangular, Davi Miranda saiu para Iundar, em 1962, a sua
propria denominao: a Igrefa Pentecostal Deus e Amor (IPDA). Miranda, que viveu a
inIncia e juventude na zona rural do municipio de Telmaco Borba PR, mudou-se
posteriormente com sua Iamilia para So Paulo, onde se converteu ao pentecostalismo,
tornando-se membro da Igrefa O Brasil para Cristo. Apos ter obtido alguma liderana nesse
movimento, pediu resciso de contrato na Iabrica em que trabalhava como vigilante e, com o
dinheiro que recebera de seus direitos trabalhistas, alugou um pequeno salo na periIeria da
capital paulista, criando assim, o seu proprio movimento. Mesmo possuindo apenas a
escolaridade primaria, Davi Miranda logo passou a ganhar projeo no cenario religioso
pentecostal, enIatizando, sobretudo, a cura divina e o rigor asctico quanto ao chamado 'usos
e costumes dos seus Iiis.
Miranda empregou a mesma tcnica de comunicao de Manoel de Mello,
Iazendo do radio o seu principal veiculo de propaganda, pratica esta a qual se mantm Iiel at
hoje. A nIase na cura divina, Miranda acrescentou o exorcismo, realizado durante os cultos
e transmitidos ao vivo pelo radio. Com o crescimento de sua denominao, com sede em uma
antiga Iabrica desativada proxima da Praa da S, no centro de So Paulo, missionario
367
MELLO, Manoel. Jornal Expositor Cristo, So Paulo, ano 83, n. 19, p. 11, 01 out. 1968. (Disponivel para
pesquisa no CDPH da FTSA, Londrina PR.).
120
investiu na aquisio de emissoras de radio. Atualmente, a voz do 'consagrado homem de
Deus, como Miranda chamado pelos Iiis, ecoa atravs das dezenas de emissoras de
propriedade da propria igreja e por centenas de outras com horarios pagos em todo o Brasil.
Vale dizer que as primeiras programaes radioInicas realizadas pela IPDA provocaram
Iorte reao e oposio da midia, sob a acusao de que tais programas promoviam a pratica
de curandeirismo.
A IPDA mantm em seu templo-sede, na cidade de So Paulo, uma 'sala de
milagres, na qual inumeras muletas, cadeiras de rodas e outros objetos ali expostos
testiIicam milagres declarados pelos Iiis. A igreja tambm se considera possuidora do maior
templo evanglico brasileiro, com capacidade para 18 mil lugares, onde Iunciona a sede
propria, instalada no centro da capital paulista. A Igrefa Deus e Amor totaliza cerca de 2,5
milhes de seguidores no Brasil, estando tambm presente em outros 26 paises, a maioria da
Amrica Latina, sendo tambm proprietaria de mais de 40 emissoras de radio, que
transmitem diariamente e com exclusividade seus programas religiosos. A IPDA Iortemente
sectaria, no colaborando com nenhuma outra igreja evanglica.
Essas vertentes do pentecostalismo neoclassico, das dcadas de 50 e 60,
tambm se caracterizaram pelo chamado 'sinal de santidade expresso nos 'usos e
costumes. Isso se observa nas vestimentas caracteristicas terno escuro e gravata dos
homens, saias compridas das mulheres ou nos habitos peculiares com os quais geralmente
se identiIicam os chamados 'crentes: cabelos longos ou atados em coques pelas mulheres, a
Biblia sempre carregada orgulhosamente na mo e a recusa de ter em casa aparelhos de
televiso ou participar de Iestas onde o canto, a dana e a bebida possam incitar a depravao
dos costumes. Mas, de todas as igrejas pentecostais brasileiras, a Deus E Amor a mais
rigorosa em relao ao ascetismo comportamental. Ainda hoje se proibe toda e qualquer
pratica de jogos e uso de mtodos anticoncepcionais. Tambm no se permite que seus
membros Iaam qualquer tipo de curso teologico, ou estudem qualquer instrumento musical,
por entender que tanto a teologia, como a arte, desviam o ser humano dos caminhos de Deus.
E tambm radicalmente contra o uso de TV como meio de diverso. Os casamentos so podem
acontecer entre os que Ireqentam a igreja.
O regime militar, em busca permanente de legitimao e Iidelidade,
valorizou praticas religiosas que enIatizavam a obedincia as autoridades. Nesta demanda,
cresceram varios grupos religiosos pentecostais. Lideres como Davi Miranda, no inicio dos
anos 80, oIereciam, em suas pregaes, respaldo de legitimidade ao regime autoritario. Numa
121
dessas oraes, Miranda suplicava em Iavor das autoridades da nao e, especialmente, pelo
governo de Paulo MaluI em So Paulo (que naquela poca procurava petroleo, por meio da
companhia estatal Paulipetro), usando as seguintes palavras:
Oh Deus, que as aut or i dades possam t omar deci ses sabi as e pagar a
di vi da ext er na ( . . . ) Abenoa as pesqui sas par a encont r ar pet r ol eo,
poi s t u I i zest es t odas as coi sas e sabes onde o our o negr o est a
escondi do e t ambm sabes Senhor , o quant o o Br asi l pr eci sa
di sso.
3 6 8
Quanto ao uso da televiso como meio de veiculao de programas
religiosos, preciso considerar que at os anos 1960 apesar da televiso ter iniciado as suas
atividades na dcada anterior - os pentecostais ainda se mantinham longe desse novo veiculo
de comunicao. As primeiras investidas dessas igrejas na televiso esbarravam em dois
grandes problemas: o pouco recurso Iinanceiro para custear os programas e a Ialta de
experincia com o veiculo.
369
Manoel de Mello, nos anos 60, chegou a usar a TV, ainda que
em programas de pouquissima durao de tempo. Alm dele, o pregador pentecostal Josias
Joaquim de Souza, conhecido como 'missionario Josias, da Cruzada Evanglica A Jolta ae
Jesus, sucessora da Igreja Jiva Jesus. Souza pregava a cura divina e chegou a transmitir ao
vivo cenas de exorcismo que causaram enorme reao e provocaram o Iim de sua apario na
TV. Embora tais programas de TV, ancestrais da bateria de programaes religiosas atuais,
tenham durado pouco, os lideres aceitavam convites para comparecer em outros shows,
mesmo aqueles que chocavam os pentecostais, como o da apresentadora Hebe Camargo.
370
Esse novo pentecostalismo, chamado as vezes de 'protestantismo de
converso,
371
trouxe, sob varios aspectos, signiIicativas inovaes para o campo religioso.
Primeiro, no uso de instrumentos no convencionais de evangelizao, centrados sobretudo
na comunicao de massa, por meio do radio, tendas de lona itinerantes junto as quais se
agrupavam os adeptos potenciais para ouvir a nova mensagem evanglicas, assim como nas
concentraes em praas publicas, ginasios de esporte e estadios de Iutebol. Segundo,
inovava tambm em sua propria mensagem a 'cura divina para as doenas do corpo ou da
interioridade do espirito, em uma dimenso bastante privada, mas que, no entanto, eram
expostas publicamente por meio dos nomes verbalizados pelos pregadores que, sem receios,
as diagnosticavam; e tambm pela autoconIisso nos chamados 'testemunhos de cura dados
368
CAMPOS, Leonildo Silveira. O milagre no ar: persuaso a servio de quem? Simposio So Paulo, ASTE, v.
5, ano XV, p. 92, dez. 1982.
369
No caso da Igreja Pentecostal Deus Amor, o uso da televiso proibido aos Iiis sob o argumento de que
um veiculo diIusor de imoralidade.
370
FRESTON, P. Op. cit., p. 88.
371
CAMARGO, Cndido Procopio Ferreira de (Org.). Catolicos, protestantes, espiritas. Petropolis: Vozes,
1973.
122
pelos Iiis. E, por Iim, o novo pentecostalismo inovava ainda, num pais majoritariamente
catolico, do ponto de vista teologico e organizacional: suas igrejas prescindiam da hierarquia
sacerdotal e 'negavam ao catolicismo o monopolio da salvao, agora colocada nas mos dos
proprios Iiis:
372
Par a esses novos I i i s, a adeso as i gr ej as pent ecost ai s emer gent es
segur ament e r epr esent ar i a uma 'subver so si mbol i ca da est r ut ur a
t r adi ci onal do poder . ( . . . ) Ao r ej ei t ar em t ambm a hi er ar qui a
sacer dot al t r adi ci onal da I gr ej a Cat ol i ca, el as pr omovem adeso a
um si st ema de cr enas r el i gi osas que col ocam o sobr enat ur al ao
al cance i medi at o de t odos os que abr aam a nova I .
3 7 3
Nesse periodo de desenvolvimento de novas denominaes pentecostais,
houve signiIicativas transIormaes sociais, como, por exemplo, a acelerao do processo de
industrializao e a conseqente migrao para os grandes centros urbanos de contingentes
populacionais vindos de um Brasil rural pobre em busca de melhores condies de vida na
cidade.
A emer gnci a dest as i gr ej as vi r i a ao encont r o dos val or es
t r adi ci onai s da cul t ur a desses mi gr ant es, em especi al aquel es
l i gados a uma t er aput i ca magi ca de benzi ment os e si mpat i as ou a
medi ci na t r adi ci onal de er vas e pl ant as cur at i vas sobej ament e
conheci das do mei o r ur al de onde pr ovi nham. Par a est es a
mensagem de 'cur a di vi na no ser i a al go est r anho.
3 7 4
Outra dimenso social do papel dessas igrejas a conIerncia aos Iiis de
algum status, o que lhes tem sido negado, como destaca Montes:
No mei o em que passam a vi ver , essas i gr ej as r api dament e
r econst i t uem par a esses novos t r abal hador es que chegam aos
gr andes cent r os ur banos os l aos de sol i dar i edade pr i mar i a de seu
l ocal de or i gem, per di dos com o pr ocesso mi gr at or i o, dando- l hes
enI i m o sent i ment o de per t enci ment o que l hes I al t a na gr ande
ci dade, absor vendo- os numa comuni aaae. Por mai s humi l de, mai s
i ncapaz, mai s i gnor ant e que sej a, o conver t i do sent e i medi at ament e
que ut i l e que nel e deposi t am conI i ana: chamam- no
r espei t osament e i r mo, seus ser vi os so sol i ci t ados por pessoas
que I al am como el e e que t m a cer t eza de per t encer ao povo ae
Deus.
3 7 5
A multiplicao desses segmentos evanglicos, com extraordinario
crescimento, Iaz que seus Iiis 'partilhem as mesmas crenas e as mesmas esperanas, longe
da agitao da vida social mais ampla, ensinando a no ambicionar outra projeo seno
aquela que se conquista no interior da propria igreja.
376
372
SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit., p. 83.
373
Id., ibid., p. 84.
374
Id., ibid.
375
Id., ibid.
376
Id., ibid.
123
Do lado catolico, preocupaes Irente ao desenvolvimento dessas novas
expresses religiosas que se apresentam como alternativa de amparo e acolhimento diante de
condies sociais agravantes. Sobretudo a partir da dcada de 1960, observam-se inquietantes
clamores das massas e apelos da sociedade por melhores condies de vida. O catolicismo
apresentara, ento, setores preocupados em estabelecer maior proximidade com este quadro
social. Com tal proposito, convocado pelo papa Joo XXIII, ocorrera o Concilio Vaticano II,
de 1962 a 1965. Buscava-se uma posio de abertura, dialogo e articulao. O Concilio
inspirou, assim, novos desenhos para o catolicismo, marcado por uma busca de dialogo com
os novos desaIios do mundo contemporneo. Produzem-se documentos que chamam a
ateno para o agravamento das desigualdades sociais. Sob o impulso conciliar, os bispos
brasileiros traam um plano pastoral nas diversas regies e dioceses do Brasil, realizando-se
cursos, conIerncias e seminarios com o objetivo de divulgar uma nova mentalidade religiosa
de aproximao com o povo. Ha maior abertura para os leigos e renovaes liturgicas.
Sob inspirao do Vaticano II tambm se articula no periodo subseqente a
Teologia da Libertao. Em 1964, na cidade de Porto Alegre, reuniram-se teologos latino-
americanos com o objetivo de estudar a presena do catolicismo no continente. Busca-se
outra postura da igreja, pois uma nova maneira de se Iazer teologia esta sendo tecida,
procurando dialogar com as questes sociais, politicas e culturais. Surge das praticas
populares, procurando responder as situaes historicas e desaIiantes do cotidiano, 'pleiteia
uma leitura sempre situada e orientada em Iuno dos desaIios e dos problemas concretos.
377
No mbito religioso, nesse periodo tambm, a Igreja Catolica v abrir-se um espao real pela
redeIinio de sua situao dentro da sociedade civil, de sua articulao com as classes
emergentes e com o novo bloco no poder. Internamente, a questo do laicato, em suas
relaes com a sociedade, com a politica e com a hierarquia, sobe ao primeiro plano.
378
Procurando implementar as diretrizes da primeira sesso do Concilio do
Vaticano II, realizado em 1962, as ConIerncias do Episcopado Latino-Americano de
Medellin, em 1968, e de Puebla, em 1979, levaram bispos brasileiros a uma proIunda
mudana no discurso perante a realidade social, em seus posicionamentos politicos e em sua
propria estrutura organizacional. Assim, abraando-se a 'opo preIerencial pelos pobres,
empreendem-se esIoros na organizao de Comunidades Eclesiais de Base, a Igreja Catolica
promove uma reviso autocritica de sua propria historia, procurando redescobrir ou
reinventar sua vocao com base em uma releitura de sua atuao do 'ponto de vista do
377
BOFF, Clodovis. Teologia e pratica. teologia do politico e suas mediaes. Petropolis: Vozes, 1993, p. 21.
378
DELGADO, Lucila de A. N. ; FERREIRA, Jorge (Orgs.). Op. cit., p. 274.
124
povo.
379
Essa proposta de maior envolvimento social e politico procura levar o Iiel a uma
conduta mais voltada para a dimenso publica que para a interioridade da I na vida privada.
Esse processo, porm, levaria o catolicismo a pagar um preo:
Longe da vi da publ i ca, da pol i t i ca e de compr omi sso com os pobr es
e suas causas soci ai s, uma gr ossa massa de I i i s, r i cos assi m como
pobr es, no mai s se r econhecer i a nessa nova I gr ej a, vi st a por mui t os
como i ncapaz de l hes I or necer r espost as quando as exi gnci as da I
no encont r avam equi val nci a necessar i a no pl ano da pol i t i ca, como
ao pr eci sar de conI or t o di ant e das agr ur as da dor i nt i ma, da per da
pessoal ou da car nci a espi r i t ual , no mbi t o da vi da pr i vada.
3 8 0
O sacerdote peruano Gustavo Gutierrez que desenvolve um articulado
trabalho com estudantes universitarios e sera um dos principais expoentes e articuladores
desta maneira de pensar a teologia, declara:
A Teol ogi a da Li ber t ao uma t ent at i va de compr eender a I a
par t i r da pr axi s hi st or i ca, l i ber t ador a e subver si va dos pobr es dest e
mundo, das cl asses expl or adas, das r aas despr ezadas, das cul t ur as
mar gi nal i zadas. El a nasce da i nqui et ant e esper ana de l i ber t ao.
3 8 1
Essa nova perspectiva de reIlexo Iavoreceu a organizao de uma pastoral
popular. Os leigos puderam, ento, assumir maior participao de liderana na igreja.
Desenvolveram-se as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), que congregavam grupos e
movimentos. As CEBs, na dcada de 1970, multiplicam-se em diversas regies do pais.
Atravs de circulos biblicos promoviam-se reIlexes das situaes concretas da vida. A troca
de experincias dos participantes era uma Iorma de socializar os problemas e os
questionamentos de cada um, em sintonia com desaIios da historia presente. Ha, assim, uma
intensiIicao entre religio e vida cotidiana, colocando nas maniIestaes religiosas
situaes basicas: a Iamilia, o trabalho, o bairro, a cidade e seus desaIios prementes. Em
sintese, a Teologia da Libertao, ultrapassando o conhecimento doutrinario apenas, prope-
se a oIerecer Iundamento teologico as praticas da comunidade. Acredita na Iormao de uma
conscincia politica que torne o cristo um agente/sujeito engajado no proposito de
estabelecer novos rumos para a historia na qual esta inserido. Para tanto seria necessario
estabelecer uma rede de relaes com sindicatos, associaes e os diversos movimentos
populares. Assim, no apenas o religioso, mas a articulao politica seria um caminho
obrigatorio a Iim de alcanar a to sonhada libertao.
Para o catolicismo, seria preciso, assim, que se urbanizassem as massas
crescentes de Iiis, respondendo aos seus anseios Irente aos novos desaIios que o mundo
379
Id., ibid., p. 78.
380
Id., ibid.
381
CAMPOS, L. S. ; GUTIERREZ, B. (Orgs.). Op. cit., p. 58.
125
urbano passa a representar. Num processo de urbanizao que se modelava, 'a igreja, com
solidas raizes na zona rural, sentia que seu Iuturo podia estar comprometido se de algum
modo no tornasse ativa sua presena junto as classes populares em constituio nas
cidades.
382
Na medida do avano progressivo e rapido das Iormas capitalistas de organizao
da produo, os Iiis catolicos nas cidades eram, em numero cada vez maior, assalariados,
operarios, Iuncionarios. Para pr em execuo sua estratgia reIormulada de reconquista
desses contingentes, a Igreja Catolica Iaz 'alianas taticas oportunas:
Pr eocupada si m com a pr opr i a sobr evi vnci a e acei t ao ent r e as
massas que ent o se mobi l i zavam, val eu- se de or gos do gover no
I eder al par a 'mi nor ar os mal es advi ndos das 'condi es subumanas
de vi da de gr ande par t e da popul ao br asi l ei r a, consci ent ement e
ou a r evel i a ( . . . ) a sua essenci al ambi gi dade casou- se, num pl ano
de quase i nt i mi dade, com a ambi gi dade do pr opr i o Est ado no
per i odo popul i st a.
3 8 3
Essa aproximao entre Igreja e Estado
384
se observou nos esIoros
empreendidos para 'promover o desenvolvimento, mediante a apressada sindicalizao dos
trabalhadores rurais por iniciativa do clero, a Iormao das Frentes Agrarias, o Movimento de
Educao de Base (MEB). Tais procedimentos revelam muito do espirito de conquista e
disputa que tomou conta dos segmentos mais dinmicos e renovadores do clero.
A r el ao de i nt i mi dade pal aci ana com o Est ado popul i st a
desenvol vi ment i st a, ar r ast ar i am a I gr ej a r umo aos anos 60 em
mal has t o cont r adi t or i as, que I ar i am del a uma I or a bem mai s
pr ogr essi st a do que se poder i a supor na pr i mei r a met ade dos anos 50
e, ao mesmo t empo, mui t o mai s di vi di da em sua I or a, por quant o el a
vi r i a a si gni I i car ao mesmo t empo I r ei o e est i mul o a expr esso das
i nsat i sI aes de di I er ent es camadas da popul ao, no campo e na
ci dade.
3 8 5
Entretanto, o agravamento das condies sociais de vida no mundo urbano
marcado pela violncia, desemprego, Ialta de saude, moradia etc. passava a exigir cada
vez mais respostas imediatas, que no podiam esperar pelo processo demorado de
engajamento social objetivando uma possivel transIormao da sociedade pelas mediaes
politicas. Ruben Oliven, em analise sobre tal periodo, estabelece uma relao que ocorreu
entre a urbanizao e um declinio gradual do catolicismo entre a populao urbana, ao passo
que se observa a ascenso de outros segmentos populares no catolicos.
386
Nesse contexto,
marcado pelo 'estado de ignominia, 'pauperismo e 'Iome, e desencadeador de um
382
BEOZZO, O. Op. cit., 299.
383
Id., ibid., p. 367.
384
Id., ibid.
385
Id., ibid., p. 368.
386
OLIVEN, Rubem Georg. Urbani:ao e muaana social no Brasil. Petropolis: Vozes, 1984.
126
crescente 'desespero por parte das massas, cria-se espao para maior operosidade de outras
organizaes religiosas.
387
2. 4 - O contexto de desenvolvimento do neopentecostalismo
A tomada do poder pelos militares consistiu num 'acontecimento politico
de enormes conseqncias no apenas na politica, mas na economia, na cultura e no
comportamento.
388
Com a instaurao desse regime, passou-se a uma preocupao com a
manuteno da 'boa imagem do pais, e tambm com a amenizao da impopularidade
daquele modelo de governo que a cada dia se tornava crescente. Nesse sentido, segundo
Carlos Fico, no estudo a que denominou 'a criao de uma agncia de propaganda,
389
mostra
que a Iormao de tais agncias pretendia criar um sentimento de patriotismo, de unidade, e a
idia de que o pais vivia um bom momento econmico: 'a grande identidade entre Aerp e a
Arp era a pretenso de projetar uma imagem de otimismo, de esperana (...) a criao de uma
atmosIera de otimismo e o Iortalecimento do carater nacional.
3 90
Dai, slogans e Irases de
eIeito com grande teor apelativo: 'Brasil: ame-o ou deixe-o; 'ningum segura este pais; ou,
'este um pais que vai para Irente.
Entretanto, no obstante o espirito de 'otimismo, durante o regime militar
brasileiro, mediante o uIanismo do chamado 'milagre econmico, a partir dos anos 80,
assiste-se ao 'reverso da medalha: as duvidas quanto as possibilidades de construir uma
sociedade eIetivamente moderna tendem a crescer e o pessimismo ganha, pouco a pouco,
intensidade.
391
Acentuou-se, pois, intensa crise social em todo o pais, e mesmo nos paises
desenvolvidos tal crescimento se mostrou instavel:
El e | desenvol vi ment o econmi co| consol i dou- se nas dcadas de 60 e
70 pr ovocando um i nt enso cr esci ment o econmi co deI i ni do nas
soci edades i ndust r i ai s e t ecnol ogi cas, como desenvol vi ment o.
Naquel e moment o i r r ompeu naquel e espao uma pr oI unda cr i se
soci al , pol i t i ca e cul t ur al . Os pr essupost os deI endi dos segundo os
quai s com o cr esci ment o mat er i al mi l hes de ser es humanos
passar i am a t er uma mel hor a si gni I i cat i va de sua condi o de vi da,
bem como as desi gual dades ent r e os pai ses ser i am sanadas,
demonst r ar am ser I al sas. O aument o do bem- est ar mat er i al
concent r ou- se na mo de al guns poucos pr i vi l egi ados, det ent or es do
poder pol i t i co- econmi co ( . . . ) .
3 9 2
387
DELGADO, Lucila de A. N. ; FERREIRA, Jorge (Orgs.). Op. cit., p. 362.
388
Id., ibid., p. 6.
389
FICO, Carlos. Reiventanao o otimismo. Rio de Janeiro: FGV, 1997, p. 89-147.
390
Id., ibid.
391
NOVAIS, Fernando. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit, p. 560.
392
PAES DE ALMEIDA, Jozimar. Errante no campo aa ra:o. Londrina: UEL, 1996, p. 54.
127
Descrevendo esse periodo, em nivel nacional e internacional, pode-se citar
Eric Hobsbawm:
Depoi s da Segunda Guer r a Mundi al , segui r am- se 25 ou 30 anos de
ext r aor di nar i o cr esci ment o econmi co e t r ansI or mao soci al , anos
que pr ovavel ment e mudar am de manei r a mai s pr oI unda a soci edade
humana que qual quer out r o per i odo de br evi dade compar avel .
Ret r ospect i vament e, podemos ver esse per i odo como uma espci e de
'Er a de Our o, e assi m el e I oi vi st o quase que i medi at ament e depoi s
que acabou, no i ni ci o da dcada de 70.
3 9 3
As palavras de Perry Anderson ressaltam as diIiculdades que envolveram a
economia capitalista em geral, a partir dos anos 70:
A chegada da gr ande cr i se do model o econmi co do pos- guer r a, em
1973, quando t odo o mundo capi t al i st a avanado cai u numa l onga e
pr oI unda r ecesso, combi nando, pel a pr i mei r a vez, bai xas t axas de
cr esci ment o com al t as t axas de i nI l ao, mudou t udo. A par t i r dai as
i di as neol i ber ai s passar am a ganhar t er r eno. ( . . . ) o Est ado t eve de
aument ar cada vez mai s os gast os soci ai s ( . . . ) desencadear am- se
pr ocessos i nI l aci onar i os que no podi am dei xar de t er mi nar numa
cr i se gener al i zada das economi as de mer cado.
3 9 4
A economia brasileira, nas dcadas de 1970 e 1980, sustentou-se a partir de
emprstimos externos e juros exorbitantes,
395
Iato que culminou na sua subservincia cada
vez maior a hegemonia do capital estrangeiro. O neoliberalismo se projetava como uma
'seita exotica, que pregava teses como a privatizao dos servios de saude, do sistema
educacional, a diminuio da proteo social ao trabalho, o incremento da desigualdade como
Iator de crescimento econmico.
396
Pesquisas elaboradas na poca apontavam para ampla
crise social em escala crescente:
Em 1960, 51 de pessoas vi vi am abai xo da l i nha de pobr eza na
Amr i ca Lat i na, o que equi val i a a cer ca de 110 mi l hes de pessoas
( . . . ) em 1990, cer ca de 196 mi l hes de l at i no- amer i canos, ( . . . ) na
chegada do ano 2000, a est i mat i va par a mai s de 300 mi l hes.
3 9 7
Fernando Novais comenta esse quadro econmico e social:
A par t i r de 1980, I i nal ment e, a nova r eal i dade se i mpe. Mal gr ado
hesi t ant es t ent at i vas de r ei nver so, consol i da- se nas suas expr esses
l i mi t r oI es ( est agnao econmi ca, super i nI l ao, desempr ego,
vi ol nci a, escal ada das dr ogas et c. ) , nest es di as at uai s em que
vi vemos.
3 9 8
393
Apua NETO, Jos Miguel Arias. O Elaoraao. representaes da politica em Londrina - 1930-1975.
Londrina: UEL, 1998, p. 9.
394
ANDERSON, Perry. In: SADER, Emir (Org.). Pos-neoliberalismo. As politicas sociais e o Estado
Democratico. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1995, p. 10, 11.
395
SADER, Emir (Org.). Op. cit., p. 83.
396
Id., ibid.
397
Id., ibid.
398
NOVAIS, Fernando A. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit, p. 562.
128
No inicio da dcada de 1970, ja se observava tambm um processo de
industrializao o qual atraia a grande mo-de-obra do campo, que at ento representava
uma das principais bases econmicas do Pais, sendo esta expulso da mo-de-obra do campo
tambm decorrente, dentre outros aspectos, da implantao de culturas que passaram a
utilizar a crescente mecanizao, como a soja e o trigo.
Os jornais da poca apontavam para
novos quadros sociais:
As ci dades cr escem e I al t am mor adi as. O gr ande numer o de pessoas
que vem das r egi es r ur ai s cont r i bui em cer ca de 50 por cent o par a
o cr esci ment o das ci dades, e a out r a met ade r esul t a do cr esci ment o
nat ur al da popul ao ur bana. Assi m, as ci dades, pr i nci pal ment e nas
l at i t udes t r opi cai s, aument am o seu t amanho duas e at t r s vezes
dent r o de 10 anos. Pr i nci pal ment e at i ngi das pel o pr obl ema da
habi t ao so as gr andes camadas de r endas i nI er i or es, e ent r e as
quai s est o j ust ament e aquel as pessoas que vm de ar eas r ur ai s par a
as ci dades, onde esper am encont r ar mel hor es condi es de vi da. Nas
ar eas mar gi nai s das ci dades sur gem ent o, da noi t e par a o di a, as
I avel as com t odos os seus pr obl emas.
3 9 9
Tambm nesse periodo se completa a integralizao eIetiva de todas as
grandes regies do territorio nacional. A expanso rodoviaria e a instalao da industria
automobilistica levaram a integrao de regies, dando lugar a um processo de concentrao
ainda mais proIundo.
400
A urbanizao acelerada Iez surgir grandes regies metropolitanas,
notadamente na regio sudeste, onde se encontram Rio de Janeiro e So Paulo as duas
maiores metropoles brasileiras. O pais vive os momentos decisivos do processo de
industrializao, com a instalao de setores tecnologicamente mais avanados, que exigiam
investimentos de grande porte, como Ioi o caso do polo industrial instalado em So Paulo.
As migraes internas e a urbanizao ganharam assim um ritmo
acelerado,
401
provocando alteraes nos dados estatisticos populacionais: se at 1970, cerca
de 70 da populao estava concentrada no campo,
402
em 1980, as cidades ja abrigavam 61
milhes de pessoas, contra quase 60 milhes que moravam ainda no campo, em vilarejos e
cidades pequenas.
403
Uma das razes desse novo quadro tem origem no Iato de que, na
dcada de 1980, a esmagadora maioria da populao que vivia no campo estivesse
mergulhada na pobreza absoluta, Iorando, assim, o deslocamento para o contexto urbano:
Nest as ci r cunst nci as, o xodo r ur al se i nt ensi I i ca de manei r a
ext r aor di nar i a ( . . . ) A mi sr i a r ur al , por assi m di zer , expor t ada
par a a ci dade. ( . . . ) E, na ci dade, a chegada de ver dadei r as massas de
399
Folha ae Lonarina, Londrina, 12 Iev. 1976, p. 01 (material disponivel no acervo de Jornais da Biblioteca
Publica de Londrina).
400
FAUSTO, B. (Org.). Op. cit., p. 227.
401
SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit, p. 560, 561.
402
CI. Folha ae Lonarina, Londrina, 12 Iev. 1976, p. 01.
403
Atualmente, segundo dados do Censo IBGE, mais de 70 desse contingente se instalam nos centros urbanos.
129
mi gr ant es pr essi onou const ant ement e a base do mer cado de t r abal ho
ur bano. Em vez de r egul ar o mer cado ur bano de t r abal ho, o
aut or i t ar i smo pl ut ocr at i co, a pr et ext o de combat er a i nI l ao, ps
em pr at i ca a pol i t i ca del i ber ada de r ebai xament o do sal ar i o mi ni mo.
No bast asse i sso, a di t adur a cal ou os si ndi cat os.
4 0 4
O sociologo Rubem G. Oliven apresenta uma analise sobre as
transIormaes sociais que ocorreram no pais apontando para uma sociedade cada vez mais
'urbana, sobretudo a partir do Iinal da dcada de 60, e apresenta a migrao de camponeses
e agricultores mais pobres para as cidades, em busca de trabalho, como um dos Iatores
responsaveis por este quadro, e acrescenta:
Um dado si gni I i cat i vo sobr e o vol ume da mi gr ao no Br asi l o
I at o de que por ocasi o do censo de 1970 quase um t er o de t odos
os br asi l ei r os est avam vi vendo num l ugar di I er ent e daquel e em que
t i nham nasci do.
4 0 5
Devido a crises no campo, ou embalados pelo sonho de uma vida melhor,
massas migratorias que se concentram no mundo urbano passaro a enIrentar grandes
problemas de violncia e desemprego, excluso social, crise de sentido, numa espcie de
subproduto do modelo urbano-industrial aspectos esses que Ioram intensiIicados com o Iim
do 'milagre econmico apregoado pelos governos autoritarios. Novas classes sociais
emergem, pois, disputando um espao, ainda que subalterno na sociedade brasileira: classes
mdias urbanas, o operariado industrial, o mundo estudantil. Conseqentemente, houve
consideravel aumento do custo de vida, ocasionando uma queda dos salarios reais. Nos meios
urbanos, observam-se condies de saude e nutrio, assim como o controle de doenas,
agravando-se de Iorma bastante precaria:
o combat e a mor t al i dade encont r a sr i as bar r ei r as na condi o de
vi da das camadas mai s pobr es da popul ao, par t i cul ar ment e no que
di z r espei t o a mor t al i dade i nI ant i l nos cent r os ur banos, cuj os
coeI i ci ent es aument ar am a par t i r de 1962- 63.
4 0 6
Desse modo, sem mo-de-obra qualiIicada, a condio de grande parte da
populao trabalhadora se torna cada vez mais diIicil:
As possi bi l i dades de ascenso do t r abal hador comum so bast ant e
l i mi t adas. Na i ndust r i a, um ou out r o consegue se er guer at o
t r abal ho especi al i zado ou semi - especi al i zado; al guns passam da
pequena par a a gr ande empr esa, que paga mel hor . Na const r uo
ci vi l , uns poucos apr endem o oI i ci o de pedr ei r o, encanador , de
el et r i ci st a, de col ocador de pi sos e azul ej os et c. Depoi s,
pouqui ssi mos poder o chegar ao obj et i vo sonhado por t odos:
t r abal har por cont a pr opr i a.
4 0 7
404
SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit,. p. 620, 621.
405
OLIVEN, Rubem Georg. Op. cit., p. 68.
406
DELGADO, Lucila de A. N. ; FERREIRA, Jorge (Orgs.). Op. cit., p. 257.
407
NOVAIS, Fernando A. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit., p. 600.
130
As grandes camadas de rendas inIeriores, principalmente, passaram tambm
a ser atingidas pelo problema da habitao. O processo de Iavelizao tambm se acentuou
na mesma proporo. Nas areas marginais das cidades, principalmente as de mdio e grande
porte, surgiram ento, da noite para o dia, as Iavelas com todos os seus problemas correlatos:
Os nossos gover nant es vol t ar am suas vi st as par a as ci dades e
abandonar am t ot al ment e a zona r ur al e os di st r i t os em t er mos de
educao, saude, habi t ao, comuni cao, l azer , t r anspor t e,
est r adas, et c. ; a mi gr ao r ur al - ur bana, causou o i nchao das
ci dades mdi as e gr andes, aument ando com i sso as I avel as, a I ome,
a mar gi nal i zao, a vi ol nci a e i nsegur ana.
4 0 8
Vista a sociedade em sua maior parcela, ha a Iamilia do trabalhador
comum, do migrante rural recm-chegado e dos citadinos pobres, de todos os que se
encontram na base do mercado do trabalho; ha a Iamilia que mora em barracos mais ou
menos precarios nas Iavelas, ou na periIeria, ainda cheia de poeira, sem iluminao publica,
sem esgoto ou agua encanada, sem condies basicas de saneamento. 'Fugir do aluguel
uma preocupao permanente de todos os assalariados.
409
Naturalmente que o incremento populacional um dos elementos
desencadeadores da violncia urbana. Ha uma exploso desse problema social nos anos 1970
e 1980. Os eIeitos da pobreza e da urbanizao acelerada promovem aumento espetacular da
violncia nas metropoles, sendo as areas e bairros mais pobres os mais aIetados. Noticiarios
nos meios de comunicao de massa passam a estampar diariamente inIormaes que
propagam o medo, sobretudo pelo crime e morte ocorridos de modo agressivo.
410
No Iinal dos anos 60, inicio dos anos 70, o pais comearia a viver uma Iase
de grande desenvolvimento dos meios de comunicao de massa, especialmente atravs da
televiso, que logo passaria a transmitir em cadeia nacional e em cores.
411
A importncia e a
capacidade de inIluncia desses meios de comunicao para a atividade politica, sobretudo da
televiso, Iicou muito evidente com o regime militar:
Nos anos 60, especi al ment e depoi s de 1964, consol i dou- se aos
poucos a i ndust r i a cul t ur al e os mei os de comuni cao de massa.
Desde os anos 40, o r adi o, e post er i or ment e a TV, comeou a
desempenhar papel cada vez mai s deci si vo na vi da soci al .
4 1 2
408
Folha ae Lonarina, Londrina, 22 maio 1984, Caderno 2.
409
NOVAIS, Fernando. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit, p. 601.
410
ZALUAR, Alba. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.
411
DELGADO, Lucila de A. N. ; FERREIRA, Jorge (Orgs.). Op. cit., p. 197.
412
ALAMBERT, Francisco. A cultura no Brasil. In: 500 anos ae Brasil: historias e reIlexes. So Paulo:
Scipione, 1999, p. 102.
131
Valendo-se desses recursos, o regime militar recorreu as diIerentes
emissoras de TV para a veiculao de Iilmes e propagandas de seu material produzido a Iim
de 'levar aos brasileiros uma mensagem de conIiana e otimismo` - aIirma Octavio Costa,
um dos principais mentores das propagandas daquele periodo ditatorial. As estratgias dos
apelos propagandisticos estavam voltadas para 'sentimentos nobres, para simbolos culturais:
'A propaganda da AERP/ARP no Ioi doutrinaria. Amparou-se num material historico pr-
existente, Iundou-se em mitos e estereotipos classicos da 'brasilidade.
413
Lanava-se mo,
portanto, de 'imagens, palavras e gestos que estivessem enraizados na propria 'memoria
nacional.
414
O advento da televiso teria, inegavelmente, uma importncia cultural de
grandes propores na historia do pais, como aIirma Fernando Novais: 'o centro da nossa
industria cultural tornou-se a televiso.
415
E dos anos 70 aos anos 90 que se I i r ma um novo mei o de pr oduo
cul t ur al , que i r i a mar car o I i nal do scul o br asi l ei r o de manei r a
ai nda a ser di mensi onada: a t el evi so de massa. No Br asi l r ecent e, a
t el evi so t eve o papel de i ncor por ar , modi I i car , padr oni zar e
banal i zar t odo o l egado cul t ur al . El a t or nou- se o mei o, por
excel nci a, do r econheci ment o de val or es.
4 1 6
Introduzida no Brasil, em 1950, por iniciativa de Assis Chateubriand,
proprietario do conglomerado jornalistico Diarios Associados, seu raio de ao era ainda
muito limitado em tal periodo, no so pelo numero reduzido de telespectadores a classe
mdia de renda superior mas, tambm, pela Iragil organizao empresarial e pelas
limitaes tecnologicas, quer do pais, quer das proprias empresas. Estes obstaculos,
entretanto, Ioram logo vencidos e o aparelho de TV passou a ser diIundido rapidamente para
a base da sociedade, com o auxilio valioso do crdito ao consumo: 'bastaram vinte anos para
que 75 dos domicilios urbanos o possuissem.
417
O impacto da televiso na vida privada dos brasileiros pode ser
dimensionado no Iato de ser a principal Iorma de lazer, de entretenimento e de inIormao.
Em 1980, por exemplo, Iicava ligada, no Rio de Janeiro e So Paulo, cerca de seis horas por
dia, de segunda a sexta. No domingo, em So Paulo, atingia a mdia de oito horas diarias.
418
Dentre outros aspectos, a TV passou a representar a 'quase invaso de privacidade que
preenche espaos deixados pelo analIabetismo com uma cultura visual que, no limite,
413
Id., ibid., p. 146.
414
Id., ibid., p. 118.
415
NOVAIS, Fernando. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit., p. 640.
416
ALAMBERT, F. Op. cit., p. 92.
417
NOVAIS, Fernando. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit, p. 638.
418
CI. dados da revista Meio e Mensagem, So Paulo, n. 25, nov. 1984 , 'inIorme especial.
132
prescinde de instruo basica.
419
As telenovelas substituiram, para a maioria da populao, a
literatura e o cinema como Iormas validas e importantes de pensar o Brasil. Os anos da
ditadura militar e conseqente abertura dos governos Sarney, Collor e Fernando Henrique
Cardoso continuaram permitindo que o Brasil mantivesse uma critica distribuio de renda,
um numero elevadissimo de analIabetos, 'mas nunca nada se ops ao predominio da
televiso e das Iormas de publicidade:
Se nossas escol as cont i nuar am r ui ns e desampar adas, se nosso
ci nema no t i nha espao, se a l i t er at ur a est ava r est r i t a a
uni ver si t ar i os, a t el evi so r ecebeu t odos os beneI i ci os par a
subst i t ui r e i mpor seu padr o.
4 2 0
Analisando esse aspecto, Novais tece o seguinte comentario:
Expost a ao i mpact o da i ndust r i a cul t ur al , cent r ada na t el evi so, a
soci edade br asi l ei r a passou di r et ament e de i l et r ada e deseducada a
massi I i cada, sem per cor r er a et apa i nt er medi ar i a de absor o da
cul t ur a moder na. Est amos, por t ant o, di ant e de uma audi nci a
i nor gni ca que no chegou a se const i t ui r como publ i co; ou sej a,
que no t i nha desenvol vi do um ni vel de aut onomi a de j ui zo mor al ,
est t i co e pol i t i co, assi m como de pr ocessos i nt er subj et i vos
medi ant e os quai s se do as t r ocas de i di as e i nI or maes ( . . . ) os
quest i onament os que apr oI undam a r eI l exo, t udo aqui l o, enI i m, que
t or na possi vel a assi mi l ao cr i t i ca das emi sses i magt i cas da
t el evi so e o enI r ent ament o do bombar dei o da publ i ci dade. ( . . . ) Os
val or es i nocul ados pel a t el evi so so pr edomi nant ement e os
ut i l i t ar i os.
4 2 1
A penetrao intensa da televiso no Brasil se inscreve na paisagem urbana
e rural, na proIuso de aparelhos nos interiores das casas, nas manses de alto luxo, nos
barracos das Iavelas das cidades grandes, como tambm nas casas modestas e nas praas
publicas de cidades pequenas:
Os r ecor des nas vendas de t el evi sor es se expl i cam pel a pr esena de
di ver sos apar el hos por domi ci l i o, cui dadosament e di spost os em
var i os cmodos das r esi dnci as, as vezes em mei o a al t ar es
domst i cos. As i numer as ant enas par abol i cas, com seus i mensos
di scos r edondos vol t ados par a o cu, i nst al adas em mui t os t el hados
de r esi dnci as em I avel as ( . . . ) em di st ant es si t i os nas zonas r ur ai s,
so embl emat i cas, quase I al am por si so. Esse apar el ho t ecnol ogi co
di ssemi na por t odo o t er r i t or i o naci onal i magens acur adas emi t i das
por uma var i edade de canai s, el i mi nando nesse cont ext o al gumas
bar r ei r as soci ai s geogr aI i cas.
4 2 2
Tornando-se cada vez mais um poderoso instrumento de comunicao, a
televiso passou a Iornecer um repertorio comum por meio do qual pessoas de classes
419
Id., ibid., p. 9.
420
ALAMBERT, F. Op. cit., p. 105,106.
421
NOVAIS, Fernando. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit., p. 640, 641.
422
SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit., p. 440.
133
sociais, geraes, sexo e regies diIerentes se posicionam, integram-se e se situam umas em
relao as outras, criando com isso aproximaes e, no caso de programaes religiosas,
promovendo aos Iiis representaes de pertencimento a uma comunidade imaginaria maior.
Atenta a essa nova estratgia que se apresenta, a Igreja Catolica passou a investir nesta
modalidade de comunicao. Empreendeu tambm uma corrida para a conquista de mais
espao na TV, Iundando a Rede Vida e apoiando as lideranas da Renovao Carismatica,
maximizando o uso evangelistico de sua extensa rede de radio.
Nos anos 60 e 70 no Brasil, ainda predominava uma moral herdada do
mundo rural, conservadora e tradicional, usada politicamente pela ditadura militar como
apoio ao seu discurso de moralidade e patriotismo. Essa reao moralista Iacilitava o
acionamento da censura praticada pela Policia Federal, encarregada da Iiscalizao dos meios
de comunicao. Tal contexto explica toda a polmica criada pela presena na TV de agentes
religiosos umbandistas, por exemplo.
423
Em 1971, tem-se conhecimento do caso envolvendo
Cacilda de Assis, que se dizia encarnar 'Seu Sete da Lira da Encruzilhada. Era proprietaria
de um sitio onde instalou o seu centro de culto aIro-brasileiro, no Rio de Janeiro, e mantinha
um programa de radio diario, na Radio Metropolitana (RJ). No Iinal de agosto daquele ano,
essa mdium se apresentou nos programas de auditorio de Abelardo Barbosa (Chacrinha) e
de Flavio Cavalcanti, respectivamente nas TVs Globo e Tupi. No programa do Chacrinha,
no somente D. Cacilda caiu em xtase, como tambm o apresentador Ioi tomado de
convulso de choro, as duas ajudantes ('chacretes) entraram em transe, junto com varias
pessoas do auditorio.
424
O acontecido criou uma ebulio nacional e, sobretudo, entre
representantes de segmentos religiosos do pais. Os bispos catolicos reagiram, atravs da voz
de D. Eugnio Sales no programa de radio 'A Voz do Pastor, e atravs dos jornais O
Globo
425
e Tribuna aa Imprensa.
426
At mesmo os demais umbandistas condenaram o delirio
causado na TV, conIorme matria publicada no jornal A Noticia,
427
sob a manchete
'Umbandistas maniIestam sua repulsa por Seu Sete e tambm no jornal ltima Hora.
428
Houve tambm debates entre deputados na Assemblia Legislativa do Rio de Janeiro. Esse
423
CI. estudos realizados por MAGGIE, Yonne. Meao ao feitio. Relaes entre magia e poder no Brasil. Rio
de Janeiro: Ministrio da Justia, 1992.
424
Em seu livro A Noite aa Maarinha, publicado em 1972, e recentemente relanado pela editora Companhia das
Letras, em que trata de programas televisivos, Srgio Miceli descreve tal episodio reIerindo-se a 'macumbeira
que bebeu pinga e Iez o auditorio entrar em transe no programa do Chacrinha e do Flavio Cavalcanti, em 1971.
CI. Folha ae S. Paulo, So Paulo, 18 set. 2005, p. E1.
425
O Globo, Rio de Janeiro, 03 set. 1971.
426
Tribuna aa Imprensa, Rio de Janeiro, 04 set. 1971.
427
A Noticia, Rio de Janeiro, 09 set. 1971.
428
ltima Hora, Rio de Janeiro, 13 set. 1971.
134
episodio, ao lado de outros, Ioi usado pela ditadura militar para estabelecer a censura dos
programas de auditorio, ento transmitidos ao vivo. Tecnicamente, a televiso brasileira ja
havia incorporado os recursos do video-tape, o que Iacilitou o cumprimento de tal exigncia
e, ao mesmo tempo, Iacilitaria mais tarde a presena mais eIetiva de programas religiosos na
TV.
Foi nesse contexto e periodo que tambm surgiu um elemento marcante no
campo religioso brasileiro: a Igreja de Nova Vida, Iundada em agosto de 1960, no bairro
BotaIogo, Rio de Janeiro, pelo pastor canadense Walter Robert McAlister. Ele publicou mais
de 40 livros e livretos sobre libertao de demnios. Durante os anos 60 McAlister Iixou-se
no Brasil como missionario, morando no Rio de Janeiro, e pregava semanalmente no
auditorio ABI Associao Brasileira de Imprensa, iniciando a Cruzada de Nova Vida. Essa
igreja desempenhou um papel importante na demarcao do campo religioso brasileiro: nela
se Iormou um habitus pentecostal, desencadeador e provedor de quadros de liderana das
duas das maiores igrejas neopentecostais do pais: Universal do Reino de Deus e Internacional
da Graa de Deus respectivamente lideradas por Edir Macedo e R.R. Soares, originarios
daquela igreja.
Ao lado da Igreja O Brasil para Cristo, a Nova Vida Ioi tambm pioneira no
uso da televiso como veiculo de divulgao de sua mensagem. Atravs da TV Tupi,
McAlister transmitia seus programas religiosos, no periodo de 1965 a 1967. No Rio de
Janeiro, a Nova Vida proprietaria da Radio Relogio. Ela criou a sua propria editora e, desde
1994, passou a editar a revista mensal Joice, cuja tiragem alcana 20 mil exemplares,
distribuidos gratuitamente ao publico, em geral atravs de bancas de revistas, especialmente
no Rio de Janeiro.
Mas Ioi a partir de meados da dcada de 1970 que surgiu uma nova
tipologia
429
pentecostal denominada 'terceira onda, por Paul Freston,
430
e que Mendona,
Bittencourt e Mariano designam 'neopentecostalismo,
431
nomenclatura tambm empregada
por Leonildo Campos.
432
A opo Ieita neste trabalho pelo termo neopentecostalismo se deve
429
MARIANO, R. Op. cit., p. 23-49.
430
FRESTON, P. Op. cit.
431
Ricardo Mariano aIirma que 'no possivel supor que atravs de uma construo tipologica se d conta de
um universo religioso to complexo e heterogneo. A diviso em trs ondas visa apenas ordenar a realidade
observada, tornando-a mais inteligivel. CI. MARIANO, R. Op. cit., p. 35-36.
432
O debate em torno da tipologia ocorre pelo Iato de no haver propriamente rupturas bruscas entre o que seria
uma 'onda e outra, ou seja, existem varios elementos comuns nas supostas 'Iases. Ricardo Mariano Iaz um
balano critico das principais tipologias apresentadas e aponta suas inconsistncias e imprecises, acentuando
que o termo 'neopentecostal tem sido empregado com impreciso, mas o que mais vem sendo empregado
pelos pesquisadores. CI. CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercaao. Organizao e marketing de um
empreendimento neopentecostal. Op. cit.
135
no somente ao Iato de ter se tornado esse um termo de uso mais Ireqente nas pesquisas
acadmicas, assim como no uso mais popular, mas, porque embora mantendo certas nIases
das denominaes pentecostais mais antigas, as novas igrejas 'acrescentam elementos
totalmente inovadores (...) constituindo-se em algo qualitativamente diIerente,
433
caracteristicas distintivas que conIerem a tal segmento identidade e estatuto proprio em
relao ao protestantismo historico, conIigurado pela ReIorma Protestante no sculo XVI, e
tambm quanto aos modelos predecessores de pentecostalismo, como o veremos mais adiante
no desenvolvimento dessa tese.
Finalizando esse item, vale sintetizar os aspectos anteriormente observados,
destacando que a IURD Ioi Iundada em um contexto de urbanizao - a cidade do Rio de
Janeiro que obviamente possui suas especiIicidades, mas que reIlete situaes de outros
contextos brasileiros. E uma cidade que ja convivia, na dcada de 1970, com a expanso da
violncia, da maIia, do jogo do bicho e das mazelas sociais presentes nas Iavelas que a
contornam. Sob o ponto de vista cultural, caracterizada pela promoo de mega-eventos e
shows, Iacilitando assim os movimentos de concentrao popular. Sob o ponto de vista
religioso, traduz, de certa Iorma, a natureza plural da religiosidade brasileira, marcada pela
Iorte presena de pessoas da raa negra e, tambm, por inumeros locais de culto das crenas
aIro-brasileiras. Politicamente, naquela poca, o Rio de Janeiro vivia sob a inIluncia do
populismo personiIicado em Leonel Brizola. Portanto, a Iundao da IURD, nesse contexto
nacional-urbano, desde cedo encontrou um 'terreno Irtil para o seu desenvolvimento e
expanso, respondendo a ele com uma mensagem inovadora em relao as demais igrejas
evanglicas e outros segmentos religiosos, ao procurar trazer o 'cu com todas as suas
benesses para a terra, no aqui e no agora, apresentando-se como o 'pronto-socorro
espiritual, Ialando as questes emocionais do ser humano, tratando de assuntos de natureza
aIetiva, Iinanceira, Iamiliar e de saude.
O advento da Igreja Universal do Reino de Deus, no Brasil, portanto, esta
temporalmente situado num periodo de intenso processo de urbanizao, assim como de
agravamento das condies sociais de vida. Por isso mesmo, sua mensagem encontrou
ressonncia no tipo de discurso com Iorte apelo popular que se buscava naquele momento. A
IURD se apresenta, assim, como a materializao deste universo. E mais: a Igreja Universal
sabera utilizar com uma eIicacia sem precedentes os meios de comunicao de massa para
433
SIEPIERSKI, C. T. Op. cit., p. 17.
136
veiculao de sua mensagem nas mais diIerentes regies do pais, como o veremos mais
adiante.
2.5 - Um contexto de esforos do catolicismo pelo controle do campo religioso
E possivel identiIicar, no contexto que se Iormou nos periodos
anteriormente descritos, um caminho que se abriu a novas conIiguraes religiosas no
cenario religioso brasileiro e que se tornou uma opo sedutora a esse contingente de Iiis,
como destaca Montes: 'Sentindo-se abandonados a propria sorte, muitos deles se bandearam
para o lado do protestantismo ento em plena expanso e das religies aIro-brasileiras
(...).
434
Enquanto o catolicismo se projetava na vida social e politica, engajando-se
decididamente na via da 'opo pelos pobres, o neopentecostalismo se voltaria para uma
religiosidade mais pessoal, ainda que comunitaria, com base na experincia da converso.
Um olhar mais atento sobre os ultimos censos brasileiros mostra uma
progressiva reduo do numero daqueles que proIessam a I catolica. Cndido Procopio
Camargo, por exemplo, em sua classica analise sobre os censos de 1940, 1950 e 1960, ja
havia chamado a ateno para essa 'tendncia geral para um declinio moderado, mas
constante, de adeptos da Igreja Catolica.
435
Mas Ioi sobretudo a partir dos anos 80 que a
porcentagem de catolicos experimentou um declinio cada vez mais acentuado: 90 da
populao em 1980; 83,3 em 1991; e 73,8 em 2000, quando
os evanglicos ja que
atingiam indices acima de 15,4 da populao brasileira.
436
Vale citar a observao Ieita por
Pierre Sanchis, que a Igreja Catolica passou a perder 'o seu carater deIinidor hegemnico da
verdade e da identidade institucional no campo religioso brasileiro.
437
Dessa Iorma, o avano e a pronta penetrao de um protestantismo
agressivo, como da propagao popular do espiritismo e da umbanda, obrigariam os bispos
catolicos a levar em considerao aspiraes populares e reIormular seu modo de atuao.
Neste periodo, o Vaticano se mantm bastante vigilante. Em relao ao espiritismo, a Igreja
Catolica manteve sua posio institucional de combate ao que entende ser praticas de heresia
e ameaadoras a 'verdadeira I. Assim, os bispos reagem tanto em relao ao kardecismo de
434
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 79.
435
CAMARGO, C. P. Op. cit., p. 24.
436
TEIXEIRA, Faustino. Faces do catolicismo brasileiro contemporneo. Revista USP, Religiosidade no Brasil,
So Paulo, n. 67, p. 16, set./nov., 2005.
437
SANCHIS, Pierre. O repto pentecostal a cultura catolico-brasileira. In: Alberto Antoniazzi et al. Nem anfos
nem aemnios. Op. cit., p. 36.
137
importao, principalmente norte-americana, quanto a ecloso de cultos aIro-brasileiros que
emergem cada vez mais com autonomia no campo religioso brasileiro. Desde que surgiu no
Rio de Janeiro, na dcada de 1920, e ja nas dcadas de 1930 e 1940, a umbanda comeava a
se disseminar pelo tecido urbano mais moderno do pais, o das cidades grandes da regio mais
desenvolvida, o Sudeste.
No aI de tentar manter controle sobre o campo religioso brasileiro, o
catolicismo lanou mo de todas as estratgias possiveis para impedir que seus Iiis Iossem
atraidos para o protestantismo, no importando qual ramiIicao ou tipologia a ele
pertencente. Assim, empreenderam-se esIoros em mbito nacional e tambm regional,
como, por exemplo, um episodio ocorrido na regio de Londrina, no Parana. No inicio da
dcada de 1930, quando a regio norte-paranaense passou a ser colonizada, as primeiras
igrejas protestantes comearam a se estabelecer em Londrina e adjacncias, sendo
presbiterianos e metodistas os pioneiros desse trabalho. Naquela ocasio, os evanglicos
usavam como uma das principais estratgias para as atividades de proselitismo, a distribuio
de Biblias - literaturas adquiridas pelos protestantes e depois vendidas ou doadas a Iiis
pertencentes ao catolicismo:
Naquel e t empo, as Bi bl i as vi nham de So Paul o ou Ri o de Janei r o
das soci edades bi bl i cas. Os cr ent es ou as i gr ej as adqui r i am est as
Bi bl i as e depoi s vendi am ou doavam ( . . . ) Eu mesmo, er a
comer ci ant e, e no meu est abel eci ment o comer ci al havi a uma seo
onde expunha as Bi bl i as. Quem compr ava er am ger al ment e os
cr ent es, aos cat ol i cos nos ger al ment e I azi amos doao. A mai or i a da
popul ao mor ava na r oa, l a t ambm os cat ol i cos ganhavam Bi bl i as
dos seus vi zi nhos cr ent es.
4 3 8
A posse e a leitura da Biblia entre os catolicos, nesse periodo, estavam
restritas aos clrigos: 'A populao catolica no tinha contato com a Biblia, ouviam Ialar
dela nas missas, que eram Ieitas em latim.
439
Por isso, a iniciativa Ieita pelos protestantes
desencadeou preocupaes por parte do clero que, em 1941, transIormaram-se em aes
concretas, ao serem enviados para a regio do norte do Parana missionarios capuchinhos da
cidade de Aparecida SP, com a Iinalidade de impedir a aproximao de catolicos das
'heresias protestantes:
Esses mi ssi onar i os passar am a per cor r er t oda a r egi o concl amando
os I i i s par a que t r ouxessem t odas as Bi bl i as que havi am r ecebi do
dos pr ot est ant es, at a i gr ej a par a ser em quei madas, por que er am
438
Georgino Matias de Freitas, comerciante, membro da Igreja Presbiteriana, residente na cidade de Camb
PR, desde 1934, regio pertencente a area metropolitana de Londrina. Depoimento concedido em 17 jul. 2003
(Material em CD-ROM, disponivel no acervo do Centro de Documentao e Pesquisa Historica CDPH, da
Faculdade Teologica Sul Americana, a Rua Martinho Lutero, 277, Londrina PR.).
439
Id., ibid.
138
I al sas. Em Camb I i zer am um 'mont e com Bi bl i as em I r ent e a
i gr ej a, na hor a da mi ssa, ocor r endo em segui da a quei ma. Est e
epi sodi o se r epet i u em 1942, e t ambm ocor r eu em out r as ci dades da
r egi o.
4 4 0
Cerca de dez anos depois os conIlitos novamente se acirraram na regio,
conIorme se observa em outro depoimento:
Os mi ssi onar i os capuchi nhos per segui r am mui t os cr ent es. Di zi am
que a Bi bl i a pr ot est ant e er a I al sa, e que so a Bi bl i a cat ol i ca er a
compl et a, por cont er t odos os l i vr os, i ncl ui ndo o que nos
pr ot est ant es consi der amos apocr i I os. Em Ast or ga, I i zer am uma
'col hei t a de Bi bl i as e l i t er at ur as que t i nham si do di st r i bui das
pel os evangl i cos, e r eal i zar am uma quei ma de Bi bl i as ao p do
cr uzei r o, em I r ent e a i gr ej a mat r i z.
4 4 1
Esta queima publica e coletiva de Biblias provocou intensos debates sobre
as questes teologicas atravs do que era, ento, o principal sistema de comunicao nas
pequenas cidades interioranas:
Aos domi ngos, quando havi a uma agl omer ao mai or de pessoas na
ci dade, l i der es evangl i cos est r at egi cament e vol t avam os al t o-
I al ant es I i xados no t opo dos t empl os, na di r eo da i gr ej a cat ol i ca,
ant es ou apos a mi ssa, I azendo l ei t ur as da Bi bl i a e pr egaes que
denunci avam pr i nci pal ment e a i dol at r i a.
4 4 2
Esses so exemplos de esIoros empreendidos pelo protestantismo no
sentido de aproximar catolicos romanos da leitura da Biblia e, mais particularmente, da
chamada 'Biblia protestante.
443
Tal aproximao veio a se consolidar nas dcadas seguintes,
quando ja passado aquele periodo conIlituoso e havendo um processo de intensa urbanizao,
muitos catolicos, em diIerentes regies do pais, ao migrarem para as cidades se tornaram
adeptos de segmentos neopentecostais e, particularmente, da Igreja Universal do Reino de
Deus:
Um pouco mai s t ar de, a par t i r da dcada de 70, a I gr ej a Cat ol i ca
comeou a per der mui t os membr os par a as i gr ej as pent ecost ai s, e
t ambm par a as neopent ecost ai s, que passavam a I or mar um
movi ment o cada vez mai s ar r oj ado.
4 4 4
440
Id., ibid.
441
Uzias Stultz agricultor, membro da Igreja Presbiteriana, residente na regio desde 1944. A cidade de
Astorga localiza-se nas adjacncias de Londrina. Existe hoje, na praa desta cidade, um monumento dedicado a
Biblia em aluso aos episodios acima descritos. Depoimento concedido em 10 out. 2003 (Material em CD-
ROM, disponivel no acervo do Centro de Documentao e Pesquisa Historica CDPH, da Faculdade Teologica
Sul Americana, a Rua Martinho Lutero, 277, Londrina PR.).
442
Depoimento de Georgino Matias de Freitas, cI. ja citado.
443
Durante dcadas, desde a insero do protestantismo no Brasil, permaneceu a expresso Ieita por catolicos,
em tom de certa desconIiana ou suspeita, de 'Biblia dos protestantes ou 'Biblia dos crentes, em aluso ao
texto biblico utilizado pelo protestantismo no Brasil. Tal reIerncia decorre, principalmente, do Iato da Biblia
usada por estes conter sete livros a menos do que a Biblia adota pelo catolicismo.
444
Depoimento de Uzias Stultz, cI. ja citado.
139
No ano de 1955, reuniu-se no Rio de Janeiro a I ConIerncia Geral do
Episcopado Latino-Americano (CELAM), a qual apontou os 'mais graves inimigos do
catolicismo na Amrica Latina: o protestantismo, o comunismo, o espiritismo e a
maonaria.
445
No ano de 1957, o papa Pio XII, Ialando ao II Congresso Mundial para o
Apostolado dos Leigos, lembrava a urgncia da Iormao de apostolos leigos 'para suprir a
Ialta de padres na ao pastoral e Iazer Irente aos 'quatro perigos mortais que ameaavam
a Igreja na Amrica Latina: 'a invaso das seitas protestantes; a secularizao da vida toda; o
marxismo, que nas universidades se revela o elemento mais ativo e tem nas mos quase todas
as organizaes de trabalhadores; e Iinalmente, um espiritismo inquietador.
446
Em abril de 1962, reunidos no Rio de Janeiro, os bispos catolicos
discutiram e votaram, inclusive, um 'Plano de Emergncia, o qual destacava que o campo
de ao do catolicismo no Brasil se achava 'trabalhado por Ioras adversas. No documento
elaborado, retomavam a Iala de Pio XII:
Apl i ca- se ao Br asi l o que di sse o Sant o Padr e quant o a quat r o
per i gos mor t ai s par a a Amr i ca Lat i na: o nat ur al i smo que l eva at
cr i st os a no t er em, mui t as vezes, a vi so cr i st de vi da; o
pr ot est ant i smo que t ent a ent r e nos seu esI or o maxi mo de expanso
e se acha, de I at o, em mar mont ant e; o espi r i t i smo cuj a di I uso,
nas gr andes ci dades, nos mei os de mi sr i a, t em ar es de endemi a; o
mar xi smo que empol ga as Escol as Super i or es e cont r ol a os
Si ndi cat os Oper ar i os.
4 4 7
Essa atitude do catolicismo institucional para com as demais crenas
operantes no campo religioso brasileiro demonstra semelhana com o que Jacques Le GoII
analisa em relao ao contexto medieval. Naquele periodo, houve 'recusa da cultura
Iolclorica pela cultura eclesiastica, empreendendo-se esIoros para isto, como inumeras
'destruies de templos e de idolos e, no mbito da literatura, a 'proscrio de temas
propriamente Iolcloricos, especialmente o cuidado em relao a textos do Antigo
Testamento, 'pela tradio rica em motivos Iolcloricos.
448
No entanto, o proprio catolicismo historicamente ajudou a criar os
elementos culturais-religiosos que propiciaram o surgimento do que ele agora entende ser
necessario combater. Maria Lucia Montes, ao Ialar sobre o 'espirito que preside as
transIormaes do campo religioso brasileiro, aponta para um 'etos orientador de tais
445
FAUSTO, B. (Org.). Op. cit., p. 360.
446
PIO XII Normas aos participantes do II Congresso Mundial para o Apostolado dos Leigos. Rio de Janeiro,
REB 17 (4), 1060, dez. 1975.
447
CMARA, D. Helder. CNBB Apresentao ao Plano ae Emergncia. Rio de Janeiro: Livraria D. Bosco
Editora, 1962, p. 3.
448
LE GOFF, J. Op. cit., p. 214.
140
praticas, destacando a Igreja Catolica como plenamente atuante na vida publica, 'capaz de
acomodar-se, em curiosa mistura, ao etos da sociedade em que se inseria e assim incorporar
sistemas de crenas particulares e locais, adaptar-se a devoo de cunho privado.
449
Nas
praticas mais Iolcloricas da I, Iormas simbolicas Ioram introjetadas por 'culturas aIricanas e
indigenas, permitindo que por meio dela se interagissem segmentos tnicos distintos a
sociedade e a cultura brasileira em Iormao.
450
Esse catolicismo, nos tempos coloniais, na
distncia da metropole, 'aqui se reinventa, nas devoes e na lassido dos tropicos, no
convivio com indios e negros, incorporao pelas Iestas e rituais, 'desses diIerentes estoques
tnicos e culturais que aqui se conIrontam e aos poucos se Iundem num Brasil em
Iormao.
451
Neste mesmo sentido, A. Otten diz que desenvolveu-se no Brasil um
catolicismo 'longe do clero que estava a servio do Estado e dos senhores e se limitava a
ministrao sumaria dos sacramentos; 'o catolicismo oIicial deixou assim uma lacuna que
acabou sendo preenchida pela 'elaborao de Iormas religiosas leigas.
452
Entretanto, por mais que o catolicismo tenha empreendido esIoros para
manter o controle hegemnico no campo religioso brasileiro, o maior adversario no
provinha do protestantismo, o pentecostalismo e nem das crenas aIro-brasileiras,
nominalmente identiIicados, a grande Iora concorrente provinha de modo silencioso e
sutilmente impregnado em todas essas maniIestaes de I: a magia.
2.6 - Um contexto histrico de magia no campo religioso brasileiro
A magia consiste num dos elementos que marcam Iortemente o campo
religioso brasileiro, com raizes Iincadas na longa durao. Pode-se entender como magia tudo
aquilo que tenta inverter as Iormas naturais das coisas. A sua essncia reside, pois, na
dominao dos poderes supra-sensiveis, os quais so convocados e controlados
autoritariamente em Iuno do objetivo visado pelos seus adeptos. Desde os tempos mais
antigos, a magia tem prometido as pessoas que a ela recorrem a soluo imediata de
determinados problemas muito concretos. Antnio Flavio Pierucci ressalta que a magia esta
circunscrita nas solues que pode oIerecer aos transtornos e contratempos da vida humana:
'A magia torna o mundo mais proximo das nossas proprias mos, deixa os poderes
449
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 101.
450
Id., ibid., p. 116.
451
Id., ibid., p. 103.
452
OTTEN, A. O contexto historico-religioso. In: So Deus e granae. So Paulo: Loyola, 1990, p. 93, 132.
141
superiores mais acessiveis a nossa propria vontade, simbolicamente mais controlaveis; a
magia delimita, deIine e aproxima os resultados que promete.
453
Esse mesmo autor
acrescenta:
A magi a no da or dem do cot i di ano, da r epet i o r ot i nei r a e
pr evi si vel . El a do mundo vi vi do, si m, mas no se al i ment a da
r ot i ni zao da vi da. A magi a, quando se da, pe- se sempr e no pl ano
do ext r aor di nar i o, do ext r a- cot i di ano, do i mpr evi si vel . ( . . . ) A magi a
cost uma ser pr at i cada em si t uaes de mui t a i ncer t eza,
i mpr evi si bi l i dade e, por t ant o, t enso e ansi edade. ( . . . ) Magi a par a
ser aci onada no moment o opor t uno, quando se t em que enI r ent ar ,
com sucesso, di I i cul dades no usuai s, si t uaes especi I i cas I or a do
t r i vi al , quando o i nexpl i cavel t ei ma em acont ecer e o i mpr evi st o
pode sobr evi r . Magi a I ei t a par a concr et i zar o ext r aor di nar i o.
4 5 4
Estabelecendo como ponto de partida o contexto do Brasil colonial, pode-se
dizer que em tal periodo ja podem ser identiIicadas praticas religiosas marcadamente
caracterizadas por expresses de magia, com Iortes raizes no catolicismo Iolclorico medieval.
Especialmente, a partir do sculo IV da era crist, quando o cristianismo se tornou religio
licita e oIicial do Imprio Romano, desenvolveu-se um intenso e crescente processo de
aculturao entre doutrinas crists e antigas praticas culticas que permeavam o universo
religioso do mundo greco-romano. Segundo Leonildo Campos, nesse periodo a assimilao
da I crist pela populao rural, mediante a catequese, 'Iormou uma camada de verniz sobre
uma antiga realidade religiosa,
455
desencadeando um intenso apego as reliquias como
Ietiches de proteo, com carater magico, objetos esses que supostamente teriam sido
utilizados pelos apostolos ou outros martires do cristianismo e que eram ento guardados nos
lares dos devotos com o sentido de proteo contra doenas, contra inIortunios do demnio
ou como ajuda contra as intempries que poderiam ameaar as colheitas.
456
Esta 'magia dos
objetos desencadeou um verdadeiro comrcio de amuletos:
Mul t i pl i car am- se os cul t os as r el i qui as sagr adas, ver dadei r os
I et i ches mi l agr osos, aos quai s se at r i bui am poder de cur ar
enI er mi dades e pr ot eger as pessoas dos per i gos. Esses obj et os, que
pensavam t er em per t enci do aos sant os ou si mpl esment e por t er em
si do usados na mi ssa, er am t r ocados, pr esent eados, r oubados,
vendi dos ou compr ados. Mui t os del es er am empr egados com as mai s
di ver sas I i nal i dades, desde o auxi l i o no t r abal ho de par t o at na
cur a de pest e no gado bovi no ou aI ast ar epi demi as de seca, I ome ou
pr agas de gaI anhot os.
4 5 7
453
PIERUCCI, A. F. Magia. Op. cit., p. 44.
454
Id., ibid., p. 55.
455
CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercaao. Organizao e marketing de um empreendimento neopentecostal,
p. 170.
456
CI. GONZALEZ, Justo. A era aos martires. So Paulo: Edies Vida Nova, 1992; DREHER, Martin. A
igrefa no munao meaieval. So Leopoldo: Sinodal, 1996.
457
CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercaao. Organizao e marketing de um empreendimento neopentecostal,
p. 171.
142
O historiador ingls Keith Thomas tambm aIirma que no contexto da Idade Mdia,
as r el i qui as sagr adas t or nar am- se I et i ches mi l agr osos, t i dos como
dot ados do poder de cur ar enI er mi dades e pr ot eger cont r a per i gos
( . . . ) at r i bui a- se i gual ment e uma eI i caci a mi r acul osa as i magens. A
r epr esent ao de so Cr i st ovo, que com t ant a I r eqnci a
or nament ava as par edes das i gr ej as das al dei as i ngl esas,
supost ament e concedi a um di a de i muni dade a doena ou a mor t e a
t odos os que a I i t assem.
4 5 8
Este mesmo autor constata que no mundo medieval havia se desenvolvido
um 'amplo leque de Iormulas para atrair a bno pratica de Deus sobre as atividades
seculares, acrescentando:
O r i t ual basi co er a o benzi ment o com sal e agua par a a saude do
cor po e expul so dos maus espi r i t os. Mas os l i vr os l i t ur gi cos da
poca t ambm t r azi am r i t uai s par a benzer casas, gados, cul t ur as,
embar caes, I er r ament as, ar mas, ci st er nas e I or nal has. Havi a
I or mul as par a abenoar homens que se pr epar avam par a sai r em
vi agem, par a t r avar um duel o, par a ent r ar em bat al ha ou mudar de
casa. Havi a mt odos par a abenoar os doent es e t r at ar de ani mai s
est r ei s, par a aI ast ar o t r ovo e t r azer a I ecundi dade ao l ei t o
mat r i moni al ( . . . ) Fundament al ment e em t odo esse pr ocedi ment o er a
a i di a de exor ci smo, o esconj ur o I or mal do demni o, expul sando de
al gum obj et o mat er i al por mei o de pr eces e da i nvocao do nome
de Deus. A agua bent a podi a ser ut i l i zada par a aI ast ar maus
espi r i t os e vapor es pest i l enci ai s. Er a r emdi o cont r a a doena e a
est er i l i dade.
4 5 9
Thomas observa ainda que, no periodo entre os sculos XVI e XVII, da
historia inglesa, os objetivos pelos quais a maioria dos homens recorria a sortilgios e a
Ieiticeiros eram precisamente aqueles para os quais 'no havia alternativa tcnica adequada.
Assim, na agricultura, o lavrador que normalmente conIiava em suas proprias habilidades e
pericias, quando Iicava dependente de circunstncias Iora do seu controle a Iertilidade do
solo, as condies meteorologicas, a saude do gado -, ele se mostrava mais propenso a
acompanhar suas atividades normais com alguma precauo magica. Na ausncia de
herbicidas, 'havia encantamentos para manter a erva daninha distante das plantaes, e, em
lugar de inseticida e raticida, 'havia Iormulas magicas para aIastar as pestes. Havia tambm
sortilgios para aumentar a Iertilidade da terra, alm de precaues rituais que rodeavam a
caa e a pesca, 'atividades especulativas, isto , incertas ambas.
460
Assim como em Weber, para Bourdieu
461
a racionalizao da pratica
religiosa, concentrada nas mos de 'sacerdotes tende a enIraquecer o espirito magico diante
458
THOMAS, Keith. Religio e aeclinio aa magia. So Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 36.
459
Id., ibid., p. 38.
460
THOMAS, K. Op. cit., p. 775.
461
BOURDIEU, P. A economia aas trocas lingisticas. Op. cit., p. 79.
143
do religioso. Segundo Weber, essa historia de rivalidade comeou com a religio judaica,
sculos antes de Cristo. No universo do magismo, nas religies com origem na India, na
Mesopotmia, na Prsia, no Egito, na China, os deuses e espiritos so imanentes ao mundo,
no transcendentes. Jav, para o judaismo, um Deus pessoal e unico, totalmente
transcendente ao mundo terreno. Isto Iez que se introduzisse um dualismo basico que
separava a Iigura de Deus da esIera da natureza criada Deus uma realidade, e o mundo,
porquanto criatura, uma esIera totalmente distinta. ConIorme Weber, esse o verdadeiro
comeo da idia de desencantamento do mundo, a saber: este mundo no sagrado.
Fundamentado no monoteismo como dogma central, o principal pecado para o judaismo era a
idolatria, e essa poderia ser cometida pela recorrncia a magia (Deuteronmio 18; 9-15). Os
proIetas biblicos em sua pregao tica deIlagram verdadeira guerra contra a magia. Esta
passa a ser concebida como pecado de idolatria: pratica de inspirao diabolica, moralmente
condenada. Aos olhos de Jav, toda Ieitiaria no pode ser seno arte do demnio,
abominao, diz a Biblia, por isso, a Moiss teria ordenado: 'no deixaras viver a Ieiticeira
(Ex. 22:17). Os principais responsaveis por essa postura de rejeio moralizante da magia
Ioram os proIetas de Israel, portadores de um tipo indito de proIecia na historia das religies
a proIecia tica.
462
Eles condenaram a magia no mbito do proprio 'povo eleito, exigindo
das autoridades sua represso em nome da aliana com Jav. Segundo Weber,
463
assim
procedendo, os proIetas biblicos davam inicio a um longuissimo processo historico-cultural
de 'desencantamento religioso do mundo, o qual veio a atingir o seu apice no radicalismo
dos movimentos protestantes surgidos na Europa dos sculos XVI e XVII. Antes desse
periodo, durante a vigncia do catolicismo medieval como religio do ocidente, magia e
religio viviam em simbiose, no podendo separar-se Iacilmente. Foi o surgimento das
Iormas puritanas de protestantismo que precipitou a separao entre as duas, separao
tornada reIlexiva pela teologia calvinista do sculo XVII.
Em sua obra, A Etica Protestante e o Espirito ao Capitalismo, Weber
aborda o processo de desmagiIicao do cristianismo, na transio do catolicismo de Ieitio
sacramental e nIase ritualistica, para o protestantismo puritano dos sculos XVI e XVII, de
Ieitio asctico e acento moralista. Desde ento, reIormadores, inquisidores, tanto protestantes
como catolicos, sairam a campo decididos a converter a 'verdadeira I seus
462
PIERUCCI, A. F. Magia. Op. cit., p.10.
463
WEBER, Max. A etica protestante e o espirito ao capitalismo. So Paulo/Brasilia: Pioneira/EdUNB, 1981.
144
contemporneos, classiIicados como pagos pela magia que praticavam e, por isso mesmo,
herticos e pecaminosos.
464
Assim,
as ver t ent es r el i gi osas mai s desencant adas, i st o , menos magi cas,
ser i am j udai smo pr oI t i co, pr ot est ant i smo pur i t ano e cat ol i ci smo
i nt el ect ual . El as assumem em r el ao as cr enas e pr at i cas magi cas
uma post ur a pr i mei r o super i or , depoi s, excl udent e. Pode- se di zer
que o cat ol i ci smo menos desencant ado que o pr ot est ant i smo
hi st or i co, sobr et udo o de I ei t i o pur i t ano; o pent ecost al i smo, mai s
encant ado que os out r os r amos do pr ot est ant i smo.
4 6 5
Os articuladores da ReIorma Protestante, no sculo XVI, sobretudo na
Iorma do ascetismo tico intramundano dos grupos puritanos, reagiram energicamente contra
as conotaes magicas vivenciadas pela Igreja medieval, empreendendo-se intensivos
esIoros no sentido de banir o que consideravam superstio e magia ainda presentes em seu
meio como herana do catolicismo medieval. Atribuiam a elas, inspiraes do demnio,
associando-as a pratica de necromancia:
Os r i t os cat ol i cos er am vi st os, em sua mai or i a, como met amor I oses
mal di sI ar adas de cer i mni as pags ant er i or es ( . . . ) os pr i mei r os
r eI or mador es t ambm comear am a suspender cost umes t r adi ci onai s
do cal endar i o ( . . . ) Evi dent ement e, essa nova at i t ude pr ot est ant e em
r el ao a magi a ecl esi ast i ca no l ogr ou uma vi t or i a i medi at a, e
al gumas t r adi es do passado cat ol i co cont i nuar am a subsi st i r .
4 6 6
De acordo com Keith Thomas, para os protestantes surgidos com a
ReIorma, a I vivenciada pelas massas catolicas estava proIundamente marcada por
supersties e magia. AIirma este autor que a tendncia de estigmatizar as praticas e
sacramentos catolicos como magia, que vinha desde os lombardos, em Iins do sculo XIV,
tornou-se mais Iorte no decorrer da reIorma iniciada por Henrique VIII. Nessa poca,
analisaram-se todos os sacramentos quanto as suas ligaes com praticas magicas e, um por
um, Ioram sendo abandonados, at se Iixarem apenas na Santa Ceia e no Batismo. 'A
primeira vista, a ReIorma parece ter eliminado todo esse aparato de assistncia sobrenatural.
Ela negou o valor dos rituais da Igreja e devolveu o devoto a imprevisivel merc de Deus
aIirma Thomas.
Remover a magia do mundo com base no ethos dos movimentos
protestantes puritanos implicava, inclusive, livrar-se de seus praticantes. Envolveu, por isso,
no so a violncia simbolica do ataque intelectual e oratorio ao pensamento magico e as
464
GODBEER, Richard. The Bevil's Dominion. magic and religion in early new england. Cambridge:
Cambridge University Press, 1994.
465
MARIANO, Ricardo. Igreja Universal do Reino de Deus: a magia institucionalizada. Revista USP, n. 31, p.
121, set./nov., 1996.
466
Id., ibid., p. 66-70.
145
diversas modalidades do exercicio 'pecaminoso da magia, mas tambm a violncia Iisica da
perseguio, priso, tortura e morte dos proIissionais da magia.
Tambm a Contra-ReIorma Catolica capitaneada pelos padres jesuitas e
outras ordens religiosas alinhadas com o papado, em p de guerra religiosa com os
protestantes, desencadearam perseguies ao que consideravam magia.
467
Laura de Mello e
Souza aIirma que a semelhana dos protestantes, catolicos tambm chegaram a Iazer uso da
violncia no esIoro que empreenderam visando o banimento do que consideravam
'paganismo, expresso na religiosidade vivida pelas populaes da Europa Moderna:
'homens e mulheres |eram| acusados de (...) blasImias, proposies herticas, vises e
Ieitiarias.
468
Segundo escreve essa historiadora,
469
'os jesuitas haviam desempenhado
Iuno demonizadora durante o sculo XVI, vendo saba nas cerimnias indigenas. As
atuaes colonizadoras no Brasil colonial eram tambm vistas como mecanismos
'exorcizadores desses povos; trazendo-lhes a I crist, os livrariam dos demnios.
470
Na
poca, como mostra Keith Thomas, o diabo era a explicao para o inexplicavel e para
mistrios, doenas e insucessos, havendo, portanto, a necessidade de se recorrer a magia.
471
Esta religiosidade continuou se projetando com o advento da modernidade.
Em estudos que realiza sobre este periodo, Laura de Mello e Souza aIirma que 'a baixa Idade
Mdia assistira a uma demonizao paulatina da existncia, e que 'a ReIorma Protestante e
as lutas religiosas do sculo XVI Iortaleceram ainda mais a presena de sat entre os
homens.
472
Acrescenta ainda esta autora:
No I i nal do scul o XV, pr egador es e cl r i gos sat ur avam seus
ser mes com um vocabul ar i o di abol i co. ( . . . ) Foi , por t ant o, no i ni ci o
da Epoca Moder na, e no na I dade Mdi a, que o i nI er no e seus
habi t ant es t omar am cont a da i magi nao dos homens do Oci dent e.
4 7 3
No caso catolico, a ratiIicao Ieita pelo Concilio de Trento no sentido de
continuar usando a Inquisio no combate as heresias, acabou instigando ainda mais o
imaginario diabolico que viria conIigurar as praticas religiosas desenvolvidas na Amrica
Colonial.
Encont r ando na col ni a popul aes aut oct ones que t ambm vi am o
di abo como I or a at uant e e poder osa, os j esui t as acabar am por
467
DELUMEAU, Jean. Le catholicisme entre Luther e Joltaire. Paris: PUF, 1971.
468
SOUZA, Laura de Mello e. Inferno Atlantico. Demonologia e colonizao - Sculo XVI - XVIII. So Paulo:
Companhia das Letras, 1993, p. 90.
469
Id., O Diabo e a Terra ae Santa Cru:. Feitiaria e religiosidade popular no Brasil colonial. So Paulo:
Companhia das Letras, 1986.
470
MARIZ, Cecilia L. Iaentiaaae e muaana na religiosiaaae latino-americana. Petropolis: Vozes, 2000, p. 257.
471
THOMAS, K. Op. cit., p. 387.
472
SOUZA, L. M. O Diabo e a Terra ae Santa Cru:, p. 137.
473
Id., ibid., p. 139.
146
demoni zar ai nda mai s as concepes i ndi genas, t or nando- se, em
ul t i ma i nst nci a, e por mai s par adoxal que par ea, agent es
demoni zador es do cot i di ano col oni al .
4 7 4
Ressalta-se ainda que as praticas magicas e religiosas na colnia brasileira
revelariam, ao Iinal de seu primeiro sculo de existncia, sua Iace pluricultural, que se
consolidou durante o sculo XVII. Para isso contribuiu a Inquisio, que 'despejou sobre
solo colonial com grande Ireqncia os hereges e Ieiticeiros que 'trabalhariam no sentido da
manuteno das persistncias.
475
EnIim, a Europa da Modernidade nascente, bero e auge
das reIormas religiosas protestante e catolica, experimentou, com sua periIeria colonial uma
guinada: em vez de 'religio com magia, como sempre tinha sido e assim seguiria sendo no
resto do mundo, 'religio contra magia.
476
Portanto, ha uma vasta diIuso geograIica e longuissima durao historica e
permanncia da magia no Ocidente, mesmo com o advento da Modernidade. Assim, da
Modernidade classica e pr-industrial a atual sociedade pos-industrial - a magia vem
enIrentando represso, porm, jamais se deixando extinguir. Pelo contrario, tem se dado
muito bem em situaes de risco.
477
O proprio Max Weber, teorico da desmagiIicao do
mundo ocidental, admite que a magia inextirpavel: 'a magia uma base inerradicavel
478
das maniIestaes mais Iolcloricas da I. Isso signiIica que o desencantamento do mundo (ou
desmagiIicao), de que Ialou Weber, no chega a atingir plenamente as religiosidades.
Sempre ha interesse por um objeto religioso mais proximo, suscetivel de inIluenciar
magicamente, para que o desejo seja prontamente atendido.
Assim, nas ultimas dcadas, como visto anteriormente, o Brasil se encontra
numa industrializao ainda em processos de incompletude Iase de Iormao de
complicaes no mercado de trabalho, multiplicao do numero de desempregados e
excluidos do sistema econmico vigente. Esse quadro social de instabilidade acabou criando
condies propicias para a recorrncia a respostas mais rapidas aos dramas existenciais, ou
seja, esse componente externo instigou o Ilorescimento de um mecanismo interno
proIundamente arraigado no campo religioso brasileiro: a magia. O contexto urbano se
tornaria, dessa Iorma, lugar de uma magiIicao especialmente conIigurada pelo que se pode
chamar de 'massa de presso cultural do campo.
474
Id., ibid., p. 140.
475
SOUZA, L. M. Inferno Atlantico, p. 56.
476
PIERUCCI, A. F. Magia, p. 86.
477
Id., ibid., p. 53.
478
WEBER, Max. Economia ae socieaaae. V. 1. Brasilia: UNB, 1991, p. 292.
147
2.7 - Um contexto de presso folclrica camponesa no mundo urbano
Jacques Le GoII usa a expresso 'massa de presso cultural do campo para
se reIerir ao 'Ienmeno de presso das representaes populares sobre a religio dos eruditos
no cristianismo medieval. Naquele contexto, uma cultura 'primitiva de 'cariz mais
guerreiro, laica, de carater sobretudo campons no conjunto das camadas inIeriores
ruralizadas, maniIestou uma acentuada presso perante a cultura eclesiastica:
Ocor r em, assi m, doi s I enmenos essenci ai s: a emer gnci a da massa
camponesa como gr upo de pr esso cul t ur al e a i ndi I er enci ao
cul t ur al cr escent e com al gumas excees i ndi vi duai s ou l ocai s
de t odas as camadas soci ai s l ai cas I ace ao cl er o que monopol i za
t odas as I or mas evol ui das, e nomeadament e escr i t as, de cul t ur a. O
peso da massa camponesa e o monopol i o cl er i cal so duas I or mas
essenci ai s que agem sobr e as r el aes ent r e os mei os soci ai s e os
ni vei s de cul t ur a da Al t a I dade Mdi a.
4 7 9
Algo semelhante se deu no contexto brasileiro na segunda metade do sculo
XX: um universo Iolclorico religioso, conIigurado na liminaridade do controle institucional
catolico, emergiu como 'massa de presso no campo religioso. Que cultura Iolclorica
essa? Antonio Gouva Mendona ajuda a descrever esse composito aIirmando que 'o
universo do catolicismo popular era um universo magico de pluralidade de deuses, cujo
cenario, nunca Iixo e permanente, 'podia ser manipulado e rearranjado segundo as
necessidades humanas. Acrescenta ainda:
A cul t ur a br asi l ei r a t em t r s component es mui t o cl ar os: a cul t ur a
i ber o- l at i no- cat ol i ca, a i ndi gena e a negr a. A pr i mei r a no
r epr esent ada pel o cat ol i ci smo t r i dent i no, mas pel a r el i gi o popul ar ,
I ol cl or i ca e I est i va l egada pel a t r adi o l usi t ana. Dessa mi st ur a de
cul t ur a r esul t ou um i magi nar i o de um mundo compost o por espi r i t os
e demni os bons e maus, por poder es i nt er medi ar i os ent r e os
homens e o sobr enat ur al e por possesses. Tr at a- se de um mundo
mani quei st a em que os poder es so cl assi I i cavei s ent r e o bem e o
mal e mani pul avei s magi cament e.
4 8 0
Mendona destaca algumas caracteristicas Iincadas nas raizes dessa
religiosidade desenvolvida desde o periodo colonial: peregrinaes a locais sagrados;
mediao dos santos por meio de preces muito populares, que nem sempre seguem a
canonizao oIicial dos mesmos pela igreja; Iazer e cumprir promessas, acender velas,
solicitar ajuda de rezadores. Eduardo Albuquerque comenta o arraigamento dessas praticas
no catolicismo de devoo Iolclorica:
479
LE GOFF, J. Para um novo conceito ae Iaaae Meaia. Tempo, trabalho e cultura no ocidente, p. 207, 208,
209.
480
MENDONA, Antonio Gouva. Protestantes, pentecostais e ecumnicos. O campo religioso e seus
personagens. So Bernardo do Campo: UMESP, 1997, p. 160.
148
No cr i st i ani smo popul ar br asi l ei r o, a or ao, a pr ece e a r eza so
I or mul as r el i gi osas di r i gi das a Deus, a Cr i st o, a Vi r gem Mar i a e aos
sant os, medi ant e o que o I i el pede, desej a, j ul ga a si mesmo e aval i a
suas pr opr i as necessi dades. Vi ndas de Por t ugal , enI r ent am a
I nqui si o, os mdi cos e os j ur i st as e sobr evi vem nos nossos di as
at r avs dos homens e mul her es que benzem. ( . . . ) i nst r ument os
mant i dos pel a memor i a do povo br asi l ei r o par a enI r ent ar suas
adver si dades cot i di anas.
4 8 1
A introduo de grandes levas de escravos provenientes da AIrica
ocasionou no somente uma grande mescla ou mestiagem racial, como tambm um intenso
e circular pluralismo nas crenas que perIazem o campo religioso brasileiro. Basicamente, os
unicos elementos que os negros puderam transportar da sua terra natal para o Brasil colonial
Ioram, alm de outros aspectos culturais, as crenas em seus deuses e espiritos e os multiplos
ritos para se relacionar com eles. Esta I se estendeu posteriormente as diIerentes regies do
pais, estando presente por meio de uma variedade de expresses das quais as mais conhecidas
e extensivas so o candombl e a umbanda. Essa ultima tipologia contm traos muito Iortes
de espiritismo como tambm elementos liturgicos da I crist. Tais crenas devem, pois, ser
consideradas como parte importante da cultura do pais, como bem destaca Milton Carlos
Costa ao dizer que 'a religiosidade aIro-brasileira consiste em 'maniIestao cultural de
reconhecida importncia e um dos traos distintivos da civilizao desenvolvida no Brasil.
482
Pierre Sanchis tambm se reIere ao capital simbolico que conIigura o
campo religioso brasileiro, indicando como matriz religiosa um encontro de praticas, crenas
e ritos de expresses culturais distintas, marcadas por raizes europias, aIricanas e indigenas.
A 'porosidade que conIigura essa matriz cultural que permite, ao mesmo tempo, crer em
demnios, ter medo de pisar em trabalhos de macumba, usar Iitas do Senhor do BonIim,
colocar carrancas nas entradas das casas, eleIantes de costas para as portas, soltar Iogos no
dia de Nossa Senhora Aparecida, virar Santo Antnio de cabea para baixo para se obter um
casamento, ir a missa aos domingos, acreditar em reencarnao, tomar banho de descarrego e
benzer-se com agua benta, acender incensos, acreditar em 'olho gordo, cristais, gnomos...
483
Tambm Eduardo Hoornaert, distinguindo do que chama de 'catolicismo
estabelecido ou patriarcal, identiIica o 'catolicismo popular brasileiro como sendo a
religiosidade indigena e aIricana.
484
AIirma ainda que 'os sacerdotes catolicos Ioram
481
ALBUQUERQUE, Eduardo Basto de. Oraes & re:as populares. Texto disponivel em: http://
www.planetanews.com. Acesso em: 25 out. 2006.
482
COSTA, Milton Carlos. Joaquim Nabuco entre a politica e a historia. So Paulo: Editora Annablume, 2003,
p. 55.
483
SANCHIS, Pierre. Para no dizer que no Ialei de sincretismo. Comunicaes ao ISER, Rio de Janeiro, n. 13,
p. 4-11, 1994.
484
HOORNAERT, Eduardo. Formao ao catolicismo brasileiro. Petropolis: Vozes, 1991, p. 98.
149
assimilados a modelos bem deIinidos do imaginario religioso indigena...,
485
ao passo que um
processo em outra via tambm ocorreu: no conIronto entre o sacerdote catolico e o 'xam
americano (paj, curandeiro, conselheiro, Ieiticeiro etc.) alguns deles 'descobriram nesse
conIronto a dimenso xamnica inerente a sua propria vocao.
486
Devido a um intenso processo de xodo rural e urbanizao acelerada,
grandes contingentes populacionais passaram a experimentar no dia-a-dia do mundo urbano
um alto grau de insegurana, desproteo e incertezas, principalmente entre as camadas
mdias e pobres da sociedade. Este escalonario deslocamento da populao do campo para a
cidade criou uma intensa 'orIandade religiosa envolvendo Iiis e devotos. Diante desse
quadro, o discurso Ieito pelo corpo de especialistas urbanos da religio - catolicos e
protestantes historicos - no Ioi capaz de atender satisIatoriamente a essa massa em busca de
amparo, Iazendo que ocorresse um processo de espoliao simbolica ainda maior,
envolvendo tais devotos e levando-os a um distanciamento cada vez mais acentuado de suas
divindades.
487
Ao Ialar sobre elementos geradores de magia, Max Weber a localiza e a
observa sobretudo entre camponeses, pois devido a incerteza com que vivem em sua
atividade proIissional, as praticas magicas ou de uma religio com maior presena de traos
magicos, apresenta-se-lhes como um dispositivo para solues mais imediatistas. Sendo
assim, a cidade dada a existncia em seu meio de maior proximidade com o
desenvolvimento de saberes cientiIicos, assim como a presena de praticas religiosas mais
institucionalizadas constitui-se como um dos elementos diretamente responsaveis pela
eliminao desse encantamento Iolclorico campons. Logo, as transIormaes do contexto
brasileiro contribuiram para provocar o abandono ou reduo da atratividade das opes
religiosas estabelecidas no mundo urbano, que propunham ao individuo um 'novo cu e uma
nova terra Iora do mundo e da historia, como Ioram os casos do protestantismo classico e do
pentecostalismo em seus primordios.
E, como visto anteriormente nessa pesquisa, o campo religioso possui denso
capital simbolico de magia. Assim, nesse momento e contexto, eclodiu uma massa emergente
de individuos em busca de respostas mais rapidas aos seus dramas e anseios. Em outras
palavras, esse contingente migrante do contexto rural para o urbano no encontrou espao no
485
Id. Sacerdotes e conselheiros. In: HOORNAERT, Eduardo et al. Estuaos Biblicos n 37. Petropolis: Vozes,
1993, p. 67.
486
Id., ibid., p. 72.
487
BENEDETTI, Luiz R. Os Santos Nmaaes e o Deus Estabeleciao. So Paulo: USP, 1981. 250 Il.
Dissertao (Mestrado em Sociologia) Programa de Pos-Graduao em Cincias Sociais, Universidade de So
Paulo, 1981.
150
protestantismo pela sua aridez simbolica, discurso racional e por constituir-se em uma
religio tipicamente urbana no mundo moderno. Alm de um estilo de culto com linguagem
inacessivel e espao quase inexistente a liderana leiga, aspectos que marcavam um Iosso
cultural entre a cultura Iolclorica e o racionalismo da cultura eclesiastica. No catolicismo
oIicial, a erudio das missas em latim tambm se tornava grande obstaculo. Tampouco o
discurso militante da Teologia da Libertao Ioi capaz de atrair essa massa que precisava de
respostas imediatas, sem poder esperar pelos processos de conscientizao promovidos nos
grupos de reIlexo e catequese das Comunidades Eclesiais de Base e a conseqente
transIormao da sociedade pela revoluo dos oprimidos ou proletariados. Com nIase nas
questes de natureza social e na politizao da I, essa opo religiosa acabou gerando
vulnerabilidade e muitos desses simpatizantes acabariam atraidos a uma 'soluo mais
rapida e de carater mais 'sobrenatural. Assim, acaba ocorrendo algo semelhante ao
identiIicado por Jacques Le GoII no cristianismo medieval, quando aIirma que, no obstante
'haver um bloqueamento da cultura inIerior pela cultura superior, as inIluncias no so
unilaterais, preciso considerar 'duas culturas diversamente eIicazes, em niveis diIerentes,
e por isso 'o Iosso que separa a elite eclesiastica no impede, porm, que esta se torne
permeavel a cultura Iolclorica, da massa rural.
488
Pessoas experimentando intensas incertezas na vida urbana, nos quadros de
uma economia capitalista em processo de remodelao, aliado a um processo de
desarticulao dos modos de vida, provocado dentre outros aspectos pelo deslocamento de
grandes contingentes populacionais do campo para os espaos urbanos, buscavam, na
verdade, oportunidade para o emprego de rituais que reduzissem as incertezas e restaurassem
nos individuos a crena de que o mundo pode deixar de ser no-manipulavel e arbitrario. Ou
seja, tornava-se emergente a apario de um espao que permitisse a esta massa que,
deixando o catolicismo ou as religies de origem aIro, pudesse manter ou reviver um
Iertilissimo mundo de praticas tipicamente magicas e hibridas que constituiam seu imaginario
primevo. Foi em tal ambiente onde o ato magico se tornou necessario para preencher o
vazio do desconhecido, sob a 'presso psicologica do indeterminismo -
489
que surgiu uma
resposta aos anseios emergentes: um 'sindicato de magicos. Um movimento com propostas
de solues mais instantneas e mediadas pelo 'sobrenatural do sagrado apresentar-se-ia
como um caminho mais sedutor para um imaginario cultural-religioso de um contingente
urbano que no mais podia esperar. Assim, com o nome Igreja Universal do Reino Deus, essa
488
LE GOFF, Jacques. Para um novo conceito ae Iaaae Meaia. Tempo, trabalho e cultura no ocidente, p. 215.
489
GEERTZ, C. Op. cit., p. 140.
151
expresso religiosa marcaria a escrita de um capitulo absolutamente novo na composio e
no Iuncionamento do campo religioso brasileiro, reconIigurao to absolutamente radical ao
ponto de se poder aIirmar que o panorama de crenas do pais se divide em antes e aepois
dessa Igreja.
Naturalmente, algumas das caracteristicas que marcam as praticas da IURD
reeditam experincias ja conquistadas por segmentos pentecostais que historicamente a
antecederam. Porm, as modiIicaes implementadas ocorrem numa dimenso e numa
proIundidade sem precedentes em tal contexto. Maria Lucia Montes descreve este aspecto
dizendo que surgiu ai 'um novo tipo de igreja evanglica, indito no Brasil:
Em menos de t r s dcadas essa i gr ej a at i ngi u um cr esci ment o
ver t i gi noso, di ver si I i cando suas at i vi dades e I or mas de at uao a
pont o de deI i ni r um 'per I i l pr opr i o que a di st i ngue no i nt er i or do
campo evangl i co, conI i gur ando o que vei o a ser chamado de
'neopent ecost al i smo.
4 9 0
A IURD se diIerencia do protestantismo e do pentecostalismo classico,
assim como promove um dinmico processo de apropriao e resigniIicao das expresses
de I arraigadas nas crenas aIro-brasileiras e no catolicismo de devoo mais Iolclorica.
Dessa Iorma, a 'massa de presso Iolclorica, com um espectro denso de magia, proveniente,
em boa parte do mundo rural, encontraria Iinalmente um espao de acolhimento para a
experincia com o sagrado em seus niveis mais encantados, como o veremos a seguir.
490
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 85.
152
3 - UMA HISTRIA CULTURAL DA IGRE1A UNIVERSAL DO REINO DE DEUS:
PRTICAS
3.1 - A consagrao do hertico: o nascimento de um sindicato de mgicos
Nascido na cidade de Rio das Flores, em 18 de Ievereiro de 1945, Edir
Macedo Bezerra viveu sua inIncia em um lar extremamente pobre de migrantes nordestinos:
'seu pai, Henrique Francisco Bezerra, alagoano, possuia uma pequena venda de secos e
molhados, e sua me, Eugnia Bezerra, dona-de-casa.
491
Segundo o proprio Macedo, ele
um 'sobrevivente, pois sua me teve 33 Iilhos, dos quais 10 morreram e 16 Ioram abortados
por terem nascido 'Iora de poca.
492
No comeo da sua adolescncia, Macedo mudou-se
com sua Iamilia para Petropolis - RJ. Em 18 de dezembro de 1971, casou-se com Ester
Eunice Rangel Bezerra. Do casamento nasceram trs Iilhos, sendo as duas Iilhas mais velhas
casadas com pastores da Igreja Universal e vivendo, atualmente, no exterior. O terceiro Iilho,
Moiss, ja na juventude, 'segue o mesmo caminho vocacional do pai - comenta o site oIicial
da igreja, que tambm ressalta:
O bi spo Edi r Macedo consi der a de I undament al i mpor t nci a a
guar da dos val or es e pr i nci pi os cr i st os, segundo a Pal avr a de Deus,
par a a const i t ui o da I ami l i a. El e pr opr i o exempl o di sso. Com
mai s de 30 anos, seu I el i z e sol i do casament o com Est er Euni ce
Macedo Bezer r a um dos gr andes segr edos das vi t or i as no
mi ni st r i o do bi spo.
4 9 3
Quanto a sua trajetoria mais propriamente religiosa, vale destacar que, antes
de Iundar a sua propria igreja, Ioi catolico, depois participante da umbanda e candombl alm
de peregrinar por igrejas evanglicas, Iato que o torna Iigura bastante representativa da
conIigurao de elementos culturais-religiosos dispostos no campo:
A pr opr i a t r aj et or i a de Edi r Macedo i l ust r at i va dessa I uso de
r eI er ent es cul t ur ai s, poi s Macedo nasceu de uma I ami l i a de
cat ol i cos devot os, passou por uma i ni ci ao no Candombl , pel o
pent ecost al i smo cl assi co e pel as ondas r enovadas do
pent ecost al i smo nor t e- amer i cano. Mas I oi de modo paul at i no que a
nova i gr ej a se t r ansI or mou em um mar co do que vi r i a a ser
conheci do como o neopent ecost al i smo. ( . . . )
4 9 4
O inicio de sua trajetoria religiosa pelos caminhos do pentecostalismo se
deu em 1963, quando, aos 18 anos, converteu-se na Igrefa Pentecostal Nova Jiaa, onde
chegou por meio de sua irm, que testemunhava ter sido curada de uma bronquite asmatica
491
MARIANO, R. Neopentecostais. sociologia do novo pentecostalismo no Brasil, p. 43.
492
Programa 25 Hora. So Paulo, Rede Record, 15 nov. 1991. Programa de TV.
493
http:// www.igrejauniversal.org.br . Acesso em: 25 out. 2005.
494
MAFRA, C. Os evangelicos, p. 38.
153
naquela denominao religiosa. Em entrevista jornalistica (20/06/91), Macedo mencionou
detalhes dessas primeiras experincias:
Eu er a uma pessoa t r i st e, depr i mi da, angust i ada. No I undo do poo
busquei a i gr ej a Cat ol i ca, e so encont r ei um Cr i st o mor t o. Aqui l o
no sat i sI ez meu cor ao e par t i par a o espi r i t i smo, mas as i di as
que ai encont r ei no se coadunavam com as mi nhas. Ent o, um di a,
t i ve esse encont r o pessoal com Deus. Est ava em uma r euni o
publ i ca de evangel i st as na sede da Associ ao Br asi l ei r a de
I mpr ensa, no Ri o. As pessoas cant avam e, de r epent e desceu uma
coi sa sobr e nossa cabea, nosso cor po, como se est i vssemos sendo
j ogados debai xo de um chuvei r o. Foi al go ao mesmo t empo I i si co e
espi r i t ual , abst r at o e concr et o. Pude me ver como r eal ment e er a, e
eu me vi a como se est i vesse descendo ao i nI er no. Cai em pr ant os.
Ent o a mesma pr esena me apont ou Jesus. Foi quando nos
conver t emos e nos ent r egamos de cor po, al ma e espi r i t o.
4 9 5
O site da Igreja descreve esta experincia de converso como decisiva na
vida de seu lider:
Desde mui t o j ovem, Edi r Macedo sent i a I al t a de al go especi al que
pr eenchesse o vazi o de seu cor ao: uma exper i nci a mai or com
Deus. O encont r o ocor r eu em 1963 e deu or i gem a uma vi r ada
r adi cal no apenas em sua vi da, mas t ambm na de mi l hes de
pessoas.
4 9 6
A apario deIinitiva de Macedo como lider religioso aconteceu pouco
tempo depois, em 1974, cuja vocao enaltecida pela Igreja:
Logo apos r eceber a pl eni t ude do Espi r i t o Sant o na sua vi da, sent i u
o desej o ar dent e de conqui st ar al mas par a o Senhor Jesus e l evar o
Evangel ho a t odos. Comeou evangel i zando nas r uas e I azendo
r euni es nas pr aas. Quando sent i u o chamado de Deus par a o
mi ni st r i o, dei xou o empr ego e i ni ci ou o t r abal ho da I gr ej a
Uni ver sal do Rei no de Deus.
4 9 7
A Folha Universal apresenta ainda outros detalhes que enobrecem a
vocao de seu lider:
Quando cr i ana, j a most r ava seu t emper ament o I or t e; na
adol escnci a cor agem, ousadi a, espi r i t o r enovado e vi gor da
j uvent ude; aos 27 anos ent r e l ut as e l agr i mas, amadur eceu
most r ando ao mundo que sua I or a est a no t r abal ho nos guet os, nas
I avel as, onde haj a al gum soI r endo. Quando i ni ci ou o t r abal ho da
I gr ej a Uni ver sal do Rei no de Deus, em 1977 o bi spo Edi r Macedo j a
t i nha cer t eza de que i r i a l evar o evangel ho a um i menso numer o de
pessoas ul t r apassando as I r ont ei r as do Br asi l .
4 9 8
Quando Macedo era agente da Casa de Loterias do Rio de Janeiro, com 31
anos, deixou a Igrefa Pentecostal Nova Jiaa, que Ireqentava na cidade do Rio de Janeiro,
495
Apua MARIANO, R. Neopentecostais. sociologia do novo pentecostalismo no Brasil, p. 69.
496
http:// www.igrejauniversal.org.br . Acesso em: 20 abr. 2004.
497
http://www.igrejauniversal.org.br . Acesso em 21 abr. 2004.
498
Folha Universal, Rio de Janeiro, 11 jul. 2004, p. 7.
154
para iniciar sua propria igreja. O primeiro passo Ioi iniciar um programa de radio que ia para
o ar logo apos uma outra programao religiosa, apresentada por uma me-de-santo. O
programa, ao vivo, garantia que Edir contrapusesse os discursos, as cosmologias e,
principalmente, os resultados praticos de uma religiosidade e outra. Durante esse periodo,
com o auxilio de Romildo Ribeiro Soares, seu cunhado, (hoje, conhecido como 'missionario
R.R. Soares), Roberto Augusto Lopes e Samuel Fidlis Coutinho, Iundou a Igrefa Cru:aaa
ao Caminho Eterno. Logo depois, Macedo e R. R. Soares consagraram-se mutuamente
pastores, sendo que Edir Macedo passou a acumular tambm o cargo de tesoureiro da
cruzada. Vale dizer que antes de Iundarem a Igreja do Caminho Eterno, esses dois lideres
nunca haviam exercido qualquer cargo eclesiastico; contudo mesmo sem qualquer
Iormao teologica especiIica obtiveram a consagrao para tal Iuno.
Trs anos mais tarde ocorreu uma ciso no grupo. Foi quando Macedo,
apos tambm pedir demisso de seu emprego na Loterj, com o apoio de R. R. Soares, Iundou,
no dia 9 de julho de 1977, a Igreja Universal do Reino de Deus. Nas palavras da propria
IURD assim descrito o surgimento da Igreja:
Num scul o em que a cr i mi nal i dade, a i nsegur ana e a di scor di a
i mper am, I al ar da I gr ej a Uni ver sal do Rei no de Deus o mesmo que
descr ever uma boni t a hi st or i a de amor . Essa hi st or i a vem sendo
l evada par a as pessoas car ent es. E bem ver dade que nada comeou
de uma hor a par a out r a. Sem condi es de al ugar um i movel , o
ent o past or Edi r Macedo i ni ci ou as suas pr i mei r as r euni es num
cor et o do Jar di m do Mi er . Or i ent ado pel o Espi r i t o Sant o e
r evest i do de uma I i nabal avel , as suas pal avr as l ogo der am i ni ci o a
I gr ej a que at ual ment e mai s cr esce no mundo. Em 9 de j ul ho de
1977, abr i amse oI i ci al ment e as por t as da I gr ej a Uni ver sal do Rei no
de Deus. Foi al ugada uma ant i ga I abr i ca de movei s no numer o 7. 702
da Aveni da Subur bana que par eci a ser o l ocal i deal par a i ni ci ar a
obr a, O gal po se t or nou o gr ande t empl o da Abol i o, com
capaci dade i ni ci al par a 1. 500 I i i s. Mas l ogo I oi pr eci so ampl i ar a
capaci dade par a duas mi l pessoas.
4 9 9
Em 1980, devido a uma divergncia, R.R Soares separou-se de Macedo
para Iundar a sua propria denominao religiosa, a Igrefa Internacional aa Graa ae Deus.
Mais tarde, em 1981, optou pelo episcopado, sendo consagrado bispo.
Em torno da Iigura do bispo desenvolveu-se um Ietichismo, uma griIe e um
eIeito magico que o torna distintivo perante os Iiis:
Todo mundo ador a o bi spo Macedo. El e da uma or dem aqui e l a no
ext r emo do Br asi l , e mesmo numa i gr ej a di st ant e, a or dem
conheci da e obedeci da ( . . . ) Macedo uma espci e de l i der
aut or i t ar i o` no bom sent i do da pal avr a ( . . . ) el e um homem que
t em t udo nas suas mos dent r o da i gr ej a ( . . . ) as suas deci ses so
r api das e i nquest i onavei s na i gr ej a. El e I al ou e t a I al ado ( . . . ) a
499
http:// www.igrejauniversal.org.br . Acesso em: 25 abr. 2004.
155
uni dade da I URD gar ant i da pel a aut or i dade uni ca e cent r al i zada
do bi spo Macedo. Assi m t emos uma i gr ej a que t em mai s uni dade do
que a pr opr i a I gr ej a Cat ol i ca na I i gur a do Papa.
5 0 0
Ao ser venerado pelo movimento que Iundou, esse lider recebe como
destaque o atributo de grande empreendedor:
I deal i zador e I undador da Edi t or a Gr aI i ca Uni ver sal , hoj e
i ncor por ada pel a Hol di ng Uni ver sal Pr odues. Fundador do Por t al
Arca Uni ver sal ( I nt er net ) . Pr esi dent e do Consel ho das Redes
Recor d, Mul her e Rede Fami l i a de Tel evi so. Cr i ador e pr esi dent e
do Consel ho da Rede Al el ui a de Radi o ( Rede Naci onal de
Radi ocomuni cao par a a Evangel i zao do Povo de Deus) .
Fundador e r esponsavel di r et o pel a I gr ej a Uni ver sal do Rei no de
Deus em mai s de 100 pai ses da Eur opa, Asi a, AI r i ca e Amr i cas.
Aut or de i numer os e i nI l uent es l i vr os. Jor nal i st a- col abor ador
r esponsavel por ar t i gos per i odi cos em var i os vei cul os de
comuni cao, dest acando- se: j or nal semanar i o Fol ha Uni ver sal , com
t i r agem super i or a 1, 4 mi l ho de exempl ar es em edi o naci onal ;
Jor nal Hoj e em Di a ( vesper t i no di ar i o edi t ado em Bel o Hor i zont e,
com di st r i bui o par a t odo o Est ado de Mi nas Ger ai s) ; Jor nal do
Br asi l ( vesper t i no di ar i o edi t ado no Ri o de Janei r o) ; Jor nal 'Par e de
SuI r i r ! e 'St op SuI I er i ng! ( ambos edi t ados em Nova Yor k,
si mul t aneament e, nos i di omas espanhol e i ngl s) ; Jor nal 'Ci t y
News ( Londr es) ; Tabl oi de 'Fol ha Uni ver sal ( edi t ado par a
Por t ugal e comuni dades aI r i canas de Li ngua Por t uguesa
( Moambi que, Cabo Ver de e Angol a) ; Jor nal 'Uni ver sal SHI NBUN
( Japo) ; Jor nal 'El Uni ver sal ( Buenos Ai r es) ; Revi st a 'Pl eni t ude
( di r eci onada par a t oda a comuni dade evangl i ca, em edi o
naci onal , com t i r agem mensal de 450 mi l exempl ar es) ; Revi st a
'Obr ei r o de F ( di r i gi da a obr ei r os e obr ei r as de comuni dades
cr i st s em busca de ensi nament os bi bl i cos - t i r agem de 100 mi l
exempl ar es) . Radi al i st a, apr esent ador e coment ar i st a de pr ogr amas
evangl i cos em var i as r edes de t el evi so e r adi o, no Br asi l e no
ext er i or , dest acando- se a Rede Recor d de Tel evi so e a Rede
Al el ui a de Radi o. Or gani zador de concent r aes evangl i cas no
Br asi l e em out r os pai ses: 1994 ( At er r o do Fl amengo - RJ) - mai s de
um mi l ho de pessoas; 1995 ( Val e do Anhangabau - SP) - mai s de
um mi l ho de pessoas e ar r ecadao de 700 t onel adas de al i ment os
no- per eci vei s par a as comuni dades car ent es; 1998 ( Pr aa da
Apot eose - RJ) - 200 mi l pessoas concent r adas em cl amor a Deus;
09 de abr i l de 2004, por ocasi o da Pascoa ( no at er r o do Fl amengo,
no Ri o de Janei r o RJ) 1, 5 mi l ho de pessoas. Dest aca- se, t ambm,
na l i der ana de concent r aes evangl i cas em t odos os est adi os do
Br asi l , al m de event os i nt er naci onai s, concent r ando gr ande numer o
de pessoas de var i os pai ses em I sr ael .
5 0 1
Igualmente, so destacados os titulos que lhe Ioram conIeridos:
Ci dado Benemr i t o do Est ado do Ri o de Janei r o ( conI er i do pel a
Assembl i a Legi sl at i va, conI or me a r esol uo 41/ 1987) . Medal ha
Ti r adent es ( conI er i da pel a Assembl i a Legi sl at i va do Est ado do Ri o
de Janei r o) . Ci dado Pet r opol i t ano ( Cmar a Muni ci pal de
500
L. M. S. pastor da IURD na cidade de Londrina. Entrevista concedida em nov. 2004. Gravao em K7,
transcrita para uso como Ionte.
501
http://www.igrejauniversal.org.br . Acesso em: 02 maio 2004.
156
Pet r opol i sRJ) . Ci dado Paul i st ano ( Cmar a Muni ci pal de So
Paul o) .
5 0 2
Mas a igreja transIere todas estas representaes para o nivel do euIemismo religioso,
recalcado pela alquimia da 'consagrao, pela representao de servio prestado a
divindade,
503
ao lembrar que:
Edi r Macedo, l i der espi r i t ual da I gr ej a Uni ver sal do Rei no de Deus,
abr i u mo de uma vi da est avel par a ser vi r excl usi vament e a Deus.
Suas pr i mei r as pr egaes acont ecer am num modest o cor et o do
Mi er , subur bi o do Ri o de Janei r o. Hoj e, Cat edr ai s i mponent es se
espal ham por mai s de cem pai ses. Na poca em que abandonou seu
empr ego de I unci onar i o publ i co par a se dedi car a obr a do Senhor
Jesus, I oi cr i t i cado at mesmo por I ami l i ar es. No ent ant o, acr edi t ou
em seu sonho e at ual ment e a I URD a i gr ej a evangl i ca que mai s
cr esce no Br asi l e no mundo. Nest es 28 anos de l ut as e conqui st as
el e soI r eu di ver sas per segui es, I oi pr eso e humi l hado, mas sempr e
super ou seus desaI i os e se mant eve I i r me no pr oposi t o de l evar a
Pal avr a de Deus aos desampar ados e soI r i dos.
5 0 4
3.2 - A universalizao do reino: o explosivo crescimento da Igreja Universal
O crescimento da Igreja Universal se deu de modo sem precedentes no
campo religioso brasileiro. Em menos de trs dcadas transIormou-se no mais surpreendente
e bem-sucedido Ienmeno religioso do pais. Nenhuma outra igreja havia crescido tanto em
to pouco tempo. Rapidamente, a IURD rompeu as Ironteiras geograIicas de seu ambiente de
origem, superando as expectativas mais otimistas utilizadas para aIerir o crescimento de
novas igrejas. O site oIicial da IURD enobrece essa capacidade visionaria e o papel de
ousadia desempenhado pelo seu lider.
Quando o j ovem Macedo al ugou o gal po, al guns past or es que
t r abal havam com el e consi der ar am o gest o uma l oucur a, j a que o
al uguel do i movel er a mui t o car o. Essa ousadi a, ent r et ant o,
cont r i bui u par a I azer da Uni ver sal o que el a hoj e: uma I gr ej a que
no par a de cr escer . Cr uzada do Cami nho Et er no e I gr ej a da Bno
I or am al guns dos nomes ut i l i zados na I or mao da at ual I gr ej a
Uni ver sal do Rei no de Deus.
5 0 5
Nos primeiros anos, a distribuio geograIica da Igreja se concentrou nas
regies metropolitanas do Rio de Janeiro, So Paulo e Salvador. Em seguida expandiu-se
pelas demais capitais, grandes e mdias cidades. Com apenas trs anos ja contava com 21
templos em cinco estados brasileiros. Em 1985 avanou para 195 templos em 14 Estados e no
502
http://www.igrejauniversal.org.br . Acesso em: 03 maio 2004.
503
OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro. A teoria do trabalho religioso em Pierre Bourdieu. In: TEIXEIRA, Faustino
(Org.). Sociologia aa religio. EnIoques teoricos. Petropolis: Vozes, 2003, p. 105.
504
Folha Universal, Rio de Janeiro, 21 ago. 2005, p. 6.
505
http://www.igrejauniversal.org.br . Acesso em: 05 jun. 2004.
157
Distrito Federal. Em 1989, eram 571 locais de culto. Na dcada de 1990, passou a cobrir
todos os Estados do territorio brasileiro. Em 1999, numa vigilia, reuniu multido suIiciente
para lotar, ao mesmo tempo, o enorme estadio do Maracan e o Maracanzinho, evento
registrado de Iorma entusiastica pela Folha Universal:
A noi t e de 29 de out ubr o ent r a par a a hi st or i a como a dat a em que
se r euni u o mai or numer o de pessoas em um event o r el i gi oso
r eal i zado num est adi o de I ut ebol no pai s: 250 mi l pessoas. ni bus,
t r ens e met r compl et ament e l ot ados, t r azi am, a cada nova vi agem,
cent enas de pessoas ( . . . ) Car avanas, ut i l i zando mai s de t r s mi l
ni bus, de var i os pont os do pai s, passar am pel os por t es do mai or
est adi o do mundo, por m pequeno par a abr i gar o gr ande numer o de
membr os da I URD.
5 0 6
Nesse acontecimento, a Universal ousou novamente ao alugar dois trens, cada um com oito
vages, que sairam da Baixada Fluminense, transportando os Iiis at o local da reunio.
Comentando esse crescimento da Igreja, Ricardo Mariano destaca a
distino obtida pelo movimento liderado por Macedo:
Qual quer um que t i vesse vi st o a I URD sur gi r na sal a de uma ex-
I uner ar i a do bai r r o da Abol i o, subur bi o da Zona Nor t e do Ri o,
no sust ent ar i a gr andes expect at i vas a seu r espei t o. ( . . . ) No ent ant o,
apesar da r emot a pr obabi l i dade de xi t o, a hi st or i a l he I oi assaz
gener osa, mi l agr osa at .
5 0 7
O depoimento dado por um ex-pastor da IURD tambm destaca essa
capacidade de projeo:
De t odos os mi l agr es oper ados por Edi r Macedo, o mai or , sem
sombr a de duvi da, I oi de t er t r ansI or mado uma i gr ej i nha
pr ot est ant e, que comear a t i mi dament e em uma I uner ar i a no Ri o de
Janei r o, em 1977, nest e i menso e poder oso i mpr i o que se espal ha
por var i os pai ses. Um i mpr i o que cr esce a cada di a com a
capaci dade de mul t i pl i car mi l hes de dol ar es como se I ossem
pes.
5 0 8
O editorial da revista Plenitude atribui a 'ousadia essa capacidade de
projeo da Igreja:
O nome I gr ej a Uni ver sal I az j us ao desej o do past or Macedo: 'i de
por t odo o mundo e pr egai o evangel ho a t oda cr i at ur a. Mar cos
16: 15. O t r abal ho sempr e I oi dur o. Di st r i bui r I ol het os nas r uas
convi dando os soI r i dos e necessi t ados par a os cul t os t r ansI or mou
aquel a i gr ej a em um l ocal pequeno demai s. Mesmo I azendo var i as
r euni es por di a par a poder compor t ar t odos os I r eqent ador es, o
l ocal j a no er a suI i ci ent e. Sur gi a, ent o o desaI i o de consegui r um
l ocal mai or e assumi r os compr omi ssos, pr i nci pal ment e I i nancei r os
506
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 69, ano 18, p. 69, 1999.
507
MARIANO, R. Neopentecostais. o pentecostalismo esta mudando, p. 43.
508
JUSTINO, Mario. Nos bastiaores ao reino. A vida secreta na Igreja Universal do Reino de Deus. So Paulo:
Gerao Editorial, 1995, p. 29.
158
que i sso acar r et ar i a. Esse er a apenas o pr i mei r o passo que
si nal i zar i a uma das mai or es car act er i st i cas da I URD: a ousadi a.
5 0 9
A mesma reportagem ressalta que poucos anos depois da Iundao da Igreja
Universal no Brasil, 'o ja bispo Edir Macedo havia cruzado os limites do Rio de Janeiro e
levado a palavra de Deus a varios estados brasileiros. Lembra que, ao invs de comemorar o
rapido crescimento e usuIruir de algumas Iacilidades que a igreja havia conquistado para o
trabalho evangelizador, como programa de radio e televiso, a liderana da IURD 'partia
para um novo e maior desaIio, aIinal, no se tratava da Igreja Nacional, mas sim da Igreja
Universal do Reino de Deus.
Em declarao a revista Plenitude, o bispo Macedo conta um pouco de
como Ioi o inicio da igreja que Iundou:
Mui t os epi sodi os vi vi dos por mi m e mi nha I ami l i a nos ensi nar am o
sent i do mai or da pal avr a per sever ana. Apr endemos na pr at i ca a
di I er ena ent r e a I emoci onal e a I espi r i t ual . Cont amos com a
pr esena const ant e do Espi r i t o do Senhor Jesus. Al m do que,
aquel e que I ez essa pr omessa no pode I al har . Mesmo di ant e de
per segui es e gr andes l ut as a i gr ej a Uni ver sal pr ogr edi u e se
expandi u no par ando de cr escer par t i ndo par a var i as r egi es.
5 1 0
Segundo o bispo uma das atitudes que tem colaborado para o crescimento
da IURD em todo o mundo uma receita bem simples: 'Iazer dos limes (que representam
os problemas), uma boa limonada (representando a vitoria). A igreja enIrentou periodos de
grande perseguio e rejeio de alguns de seus pastores em alguns lugares onde se
estabeleceu. 'Essas diIiculdades tm sido encaradas pelos lideres da Igreja Universal como
oportunidades ideais para o exercicio da I e para a ao do poder de Deus.
511
A igreja reconhece essa ousadia de seu lider, aIirmando que 'no deu
importncia as barreiras e as palavras negativas que se levantavam a cada dia,
512
experincia
que se tornou inspirao para os demais lideres:
A I gr ej a Uni ver sal do Rei no de Deus t em ul t r apassado as I r ont ei r as
abenoando os povos em mai s de cem pai ses. Todos os di as,
mi l har es de pessoas t est emunham mi l agr es de cur a, vi t or i a e
pr osper i dade um si nal da mani I est ao do poder de Deus que
I azem com que a I URD se mant enha I i r me em sua t r aj et or i a. Nas
r uas, pr i ses, hospi t ai s e at r avs dos mei os de comuni cao, bi spos,
past or es e obr ei r os devot am cada mi nut o de suas vi das, dedi cando
t odas suas I or as par a aj udar os necessi t ados.
5 1 3
509
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 122, p. 10, jul. 2005.
510
Id., ibid.
511
Id., ibid., p. 12.
512
Id., ibid.
513
Folha Universal, Rio de Janeiro, 25 dez. 2005, p. 5.
159
Grandes e estratgicas cidades se tornaram alvo dos primeiros esIoros de
expanso Iora do Rio de Janeiro. Em So Paulo, a Universal se estabeleceu em 1984, quando
Roberto Augusto um dos auxiliares de Macedo na Iundao da igreja - Ioi enviado para
implantar a igreja na capital paulista. O trabalho obteve xito, tendo inicio no Parque D.
Pedro, sendo depois estabelecido no bairro da Luz Bras, no antigo Cine Roxi, onde em
1989, se tornou sede nacional. Atualmente, porm, a sede esta localizada na chamada
'Catedral da F - um grande templo em Santo Amaro SP.
514
Ao se expandir para o Estado da Bahia, o movimento iurdiano ja deu
mostras daquilo que lhe parece ser uma das vocaes: obter xito em contextos e realidades
marcados por crises e diIiculdades. Nesses ambientes encontra terreno Irtil para sua
operosidade. Recentemente, a Folha Universal publicou extensa matria, intitulada 'Do
poro a Catedral, contando a historia do movimento na cidade de Salvador BA. Mais
precisamente, 'um poro, em condies precarias, embaixo de um viaduto Ioi o primeiro
endereo da igreja naquela cidade, em 1980 destaca a reportagem. Muitos teriam sido os
obstaculos enIrentados pelos dois pastores responsaveis pela Iundao da IURD naquela
capital, como declara Paulo Roberto, hoje bispo: 'Na poca, com 20 anos de idade, recm-
casado, estava iniciando meu ministrio. Diante das condies pssimas das instalaes da
igreja na ocasio, liguei para o bispo Macedo contando-lhe sobre nossas diIiculdades, que o
lugar era uma area de risco, onde existiam prostituio e assaltos, e que havia resistncia dos
moradores locais devido a seus costumes e religiosidade. Paulo Roberto relata que, para sua
surpresa, ouviu de Macedo a seguinte resposta: 'Graas a Deus! Excelente! Este o lugar!.
No havendo ento alternativa para o pastor Paulo Roberto e seu auxiliar, tiveram de
prosseguir e trabalhar com maior empenho ainda. Mas o resultado veio em pouco tempo: 'A
igreja, que comportava 250 pessoas, logo Iicou lotada - comenta, ressaltando que passaram a
ser 'realizados cultos de duas em duas horas. Hoje, um dos maiores e mais conIortaveis
templos da IURD, esta justamente situado na capital baiana. Diz o bispo Srgio Correia, atual
responsavel pelo trabalho naquele Estado, que 'em apenas trs dias - domingo, segunda-Ieira
e tera-Ieira - passam semanalmente pelo Templo Maior, na cidade de Salvador, 72 mil
pessoas, sendo uma mdia de 24 mil para cada dia.
515
Em Londrina um dos locais utilizados para pesquisas mais sistematizadas
neste trabalho - a IURD se estabeleceu ao Iinal da dcada de 1980. Logo depois de chegar a
514
Roberto Augusto, atendendo sugesto de Macedo para ingressar na politica partidaria, em 1986 Ioi eleito
deputado Iederal constituinte pelo PTB/RJ. Porm, no ano seguinte, saiu da IURD e retornou a Igreja de Nova
Vida, deixando assim, na IURD, o caminho livre para Macedo.
515
Folha Universal, Rio de Janeiro, 03 set. 2005, p. 1.
160
cidade de Curitiba PR, estendeu-se a partir desta capital paranaense ao solo londrinense.
Neste, seguiu um roteiro quase que padro: alugou um grande espao na area central da
cidade, antes ocupado por uma loja, em Irente ao terminal de transporte coletivo urbano,
onde passou a realizar reunies diarias em diIerentes horarios. Literalmente, as pessoas que
saiam do movimentado terminal de transportes se encontravam imediatamente as portas da
igreja. Tambm passou a desenvolver programas diarios em uma das emissoras de radio
local, a Atalaia AM, a qual posteriormente adquiriu. O passo seguinte Ioi a compra um mega
espao antes ocupado pelo 'Supermercados Pastorinho - um estabelecimento comercial
bastante tradicional na cidade e de uma nova emissora de radio: a Gospel FM de Londrina,
anteriormente pertencente a Igreja O Brasil Para Cristo, emissora que mantm
ininterruptamente programao exclusiva da denominao. Finalmente, a IURD de Londrina
transIormou-se em sede regional, instalando-se num grande complexo antes pertencente a
uma rede de lojas de eletrodomsticos, comprado por uma suntuosas quantia. Este espao,
agora denominado 'Templo Maior da F, comporta milhares de pessoas em seu auditorio,
alm de oIerecer salas para escritorio, livrarias para a divulgao dos produtos da
denominao e estudios transmissores de programas de radio e TV.
Atualmente, um dos pastores lideres da IURD atuantes em Londrina
Renato Lemes. Natural do interior de So Paulo, Lemes trabalhou na roa at os 16 anos,
sendo depois metalurgico e comerciario. Tornou-se pastor da Igreja Universal em 1985,
comeando a atuar no interior de So Paulo, de onde se transIeriu para Santa Catarina e, em
1996, para o Parana, como pastor da igreja na cidade de Curitiba. Chegou a Londrina em
2003 para atuar no pastorado e tambm coordenar a campanha dos deputados estaduais do
Partido Liberal - PL. Envolvido com a proposta estratgica da IURD de ocupar cada vez mais
espaos na politica, em 3 de outubro de 2004 Ioi eleito vereador para o seu primeiro mandato
na Cmara Municipal de Londrina, pelo Partido Social Liberal (PSL), com 3.245 votos.
Atualmente, Lemes tambm coordena os programas de radio 'Momento do Presidiario,
veiculado pelas emissoras Atalaia AM e Gospel FM, e 'Bom dia Londrina, pela radio
Atalaia AM.
516
A IURD ja estabeleceu um total de sete templos na cidade, alm de dezenas
de outros espalhados nas regies adjacentes. A pesquisa Tenancias Demograficas, realizada
pelo IBGE, 2000, apontam o Parana como o maior Estado do Sul do pais em numero de
evanglicos, perIazendo 16,6 da populao. Inegavelmente, a presena da IURD no Estado
tem sido responsavel pela projeo desses numeros.
516
http://www.camaramunicipaldelondrina.com.br . Acesso em: 10 Iev. 2005.
161
3.3 - A multiplicao da palavra: os recursos miditicos da Igreja Universal
Inovao e agressividade tm sido marcas distintivas do movimento
iurdiano. Isto se observa, por exemplo, no uso extensivo e impactante dos meios de
comunicao, principalmente o radio e a TV, como instrumento de evangelizao de massas,
tendo conseqentemente acesso ao ambiente privado dos lares em horarios nobres e nos
horarios tardios. Essa utilizao dos meios de comunicao de massa ganhou uma proporo
indita ou sem precedentes nas praticas da Universal, desempenhando um papel importante
no processo de rapida expanso do movimento. O depoimento de um pastor, lider da Igreja
no Nordeste do Brasil, revela o uso dessa estratgia:
A i mpl ant ao da i gr ej a pr at i cament e i gual em qual quer l ugar . Em
Joo Pessoa, por exempl o, consegui um hor ar i o na r adi o e comecei a
pr egar o evangel ho. Ar r anj ei um cl ube e mar quei par a I azer
r euni es aos domi ngos. Mui t a gent e i a por que ouvi a o r adi o.
Comea assi m: um nucl eo a par t i r de um pr ogr ama de r adi o e
t el evi so e dal i nasce a i gr ej a. So ent o voc al uga um l ugar par a
r euni r as pessoas. Foi assi m que comeou a Uni ver sal no Ri o, com
hor ar i o al ugado na Radi o Met r opol i t ana, na poca um pr ogr ama de
15 mi nut os. E assi m i mpl ant ei a Uni ver sal em t odos os Est ados do
Nor dest e, excet o no Cear a.
5 1 7
Reportagens do inicio da dcada de 1990 ja constatavam o espao da midia
ocupado de Iorma ascendente pelos pregadores neopentecostais nas emissoras de radio e
TV,
518
os quais tambm vinham adquirindo concesses de dezenas de canais. A expanso da
IURD conIirma bem esse quadro, ja que se constitui hoje numa grande potncia em termos
de propriedade e uso dos meios de comunicao de massa. Em 1984 ocorreu a compra da 1
emissora de radio, a Copacabana Rio. Um avano maior ocorreu em 1988, quando houve a
aquisio de varias emissoras de radio e TV.
519
A partir dai, no Ialtaram empreendimentos
milionarios como, por exemplo, a compra do jornal diario Hofe em Dia e a Radio Ciaaae ae
BH, por 20 milhes de dolares. Ao Iinal da dcada de 90, a igreja ja possuia um verdadeiro
imprio comunicacional Iormado por 22 emissoras de radio e 16 emissoras de televiso. A
entrada da IURD na politica partidaria, a partir de 1986, conIigurou-se como estratgia para
se obter concesso de canais de radio e TV.
520
No Iinal de 1989, realizou o mais ousado
517
Carlos Magno, pernambucano, ento pastor da IURD. Depoimento ao Jornal aa Tarae, So Paulo, 02 abr.
1991.
518
Revista Jefa, So Paulo, p. 40, 16 maio 1990.
519
Ronaldo R. M. de ALMEIDA elabora uma analise sobre os dados estatisticos de projeo midiatica da
IURD, em seu texto: A universalizao do Reino de Deus. Novos Estuaos CEBRAP, So Paulo, n. 44. Op. cit.,
p. 12-13.
520
MARIANO, Ricardo; PIERUCCI, Antnio Flavio. O envolvimento dos pentecostais na eleio de Collor.
Novos Estuaos CEBRAP, n. 34, So Paulo, p. 92-106, nov. 1991.
162
investimento nesse setor: a compra da Rede Record de Televiso, por 45 milhes de
dolares.
521
Atualmente, cerca de noventa emissoras de televiso esto aIiliadas a TV Record.
O uso deste recurso de comunicao se tornou, inegavelmente, muito estratgico para a
propagao da mensagem iurdiana, sobretudo quando considerados os dados de que 90 dos
lares brasileiros possuem atualmente um aparelho de TV, o que corresponde a 65 milhes de
aparelhos.
522
Edir Macedo Ioi o primeiro evanglico a televisionar os cultos ao vivo.
Davi Miranda, da Deus E Amor, ja havia inaugurado pratica semelhante, transmitindo as
sesses de exorcismo de seus templos, pelo radio. A IURD tambm se utiliza dessa mesma
dramaticidade, so que de maneira ainda mais espetacular, pois o evento passa a ser veiculado
pela televiso. O movimento iurdiano soube, assim, aproveitar tal recurso midiatico,
estabelecendo por meio dele 'altares domsticos, Iazendo ocorrer uma aproximao entre a
igreja e o cotidiano de milhes de telespectadores.
Em programaes televisivas diarias, exibidas durante a madrugada, a
denominao mantm sistematicamente dois programas: 'Fala que eu te escuto e 'SOS
espiritual, com grande abertura para a participao entre emissor e receptor. AIlitos recebem
socorro espiritual pela televiso. O teleIone no para de tocar durante toda a madrugada, na
Rede Record. So pessoas com diversos problemas, procurando um aconselhamento
espiritual. As teleIonistas anotam os pedidos dos telespectadores soIridos por causa do
Iracasso no casamento, Iilhos drogados etc. Nos programas, muitos deles ao vivo, o bispo ou
pastor recebe ligaes teleInicas de pessoas que esto passando pelas mais variadas
diIiculdades. Apos ouvir pacientemente o relato do(a) telespectador(a), o apresentador abre a
Biblia e l algum texto que possa identiIicar ou 'diagnosticar a causa dos problemas. Em
seguida, so dados alguns conselhos e, Iinalmente, uma orientao no sentido de que tal
pessoa procure, com urgncia, um dos templos iurdianos. A Igreja destaca a eIicincia dessas
programaes:
Os t est emunhos compr ovam a eI i caci a do t r abal ho de or ao
r eal i zada por bi spos e past or es. Por assi st i r a essa pr ogr amao,
cent enas de pessoas j a conhecer am a pal avr a de Deus e passar am a
t er uma vi da t r ansI or mada e abenoada.
5 2 3
Maria da Graa, 64 anos, atesta o alcance desse recurso utilizado pela Igreja:
Est ava desenganada pel a medi ci na, em decor r nci a a ci nco
meni ngi t es soI r i das, por i sso cheguei a pensar em sui ci di o. Numa
521
Segundo reportagem da Revista Isto E Senhor, So Paulo, 22 nov. 1989.
522
Entrevista 107. Londrina, Radio Universidade FM, 07 jul. 2006. Programa de radio.
523
Folha Universal, Rio de Janeiro, 07 nov. 1998, p. 6.
163
cer t a noi t e r esol vi l i gar o r adi o e si nt oni zei um pr ogr ama da I gr ej a
Uni ver sal . As pal avr as do past or me I i zer am desi st i r da mor t e.
Naquel e moment o me aj oel hei , comecei a chor ar e a I al ar com Deus.
No di a segui nt e, pr ocur ei a i gr ej a e passei a segui r as or i ent aes
do homem de Deus, que me ensi nou a usar a mi nha I , det er mi nando
a cur a na mi nha vi da. Hoj e est ou compl et ament e cur ada da
enI er mi dade e meu casament o r est aur ado.
5 2 4
No obstante o uso recorrente da televiso para veiculao de sua
mensagem, parece ser inconsistente a conceituao que se tornou de certa Iorma
convencional entre pesquisadores do Ienmeno religioso no Brasil de que a IURD seja
classiIicada como 'igreja eletrnica, pois decisivo em suas praticas o templo como local
de ritos, reunies e atendimento ao publico. O bispo Joo Batista Ramos, ao ser entrevistado
pela Folha ae S. Paulo sobre os 'telepastores norte-americanos, conIirma essa perspectiva:
somos I r ont al ment e cont r a a i gr ej a el et r ni ca. Se voc qui ser
compr ar car ne, vai ao aougue. Se qui ser compr ar um r emdi o, vai a
dr ogar i a. Se qui ser um encont r o mai s i nt i mo com Jesus, pr eci sa i r a
i gr ej a. Caso se comuni que so pel a t el evi so, o past or se di st anci a de
suas ovel has.
5 2 5
3. 4 - Os milagres do dinheiro e dinheiro dos milagres nas prticas iurdianas
A trajetoria de vida de Macedo revela curiosa proximidade com numeros.
Aos 17 anos ingressou como office-boy na Loterj - Loteria do Rio de Janeiro - trabalhando
durante dezesseis anos como Iuncionario publico. Deixou a carreira no Iuncionalismo
somente em 1977, quando exercia a Iuno de agente administrativo, para se dedicar
exclusivamente a IURD. DiIerentemente da maioria dos lideres pentecostais, Ireqentou, no
comeo dos anos 70, os bancos universitarios. Estudou Matematica na Universidade Federal
Fluminense e Estatistica na Escola Nacional de Cincia e Estatistica, sem, contudo, concluir
os respectivos cursos. Disto talvez decorra o Iato de existir em Macedo, por tras da Iigura
eclesiastica, tambm a de um empreendedor sempre a vontade com numeros e balanos
contabeis. Tal preparo deve, naturalmente, ter contribuido para que viesse a ser reconhecido
como negociador habilidoso, tambm no mbito eclesiastico. Ricardo Mariano ainda observa
tal caracteristica, associando a projeo do movimento iurdiano a Iigura do seu lider,
destacando a controvertida, mas Iuncional atuao desempenhada:
Par t e do sucesso da I URD deve ser cr edi t ada a seu cont r over so
l i der , bi spo Edi r Macedo, sobr e o qual no ha unani mi dade.
Vener ado por I i i s e subal t er nos, i nvej ado e cr i t i cado por
524
Folha Universal, Rio de Janeiro, 16 abr. 2006, p. 8.
525
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 12 Iev. 2003.
164
adver sar i os r el i gi osos e past or es concor r ent es, acusado pel a pol i ci a,
pel a Just i a e pel a i mpr ensa de char l at ani smo, est el i onat o,
cur andei r i smo e de enr i queci ment o as cust as da expl or ao da
mi sr i a, i gnor nci a e cr edul i dade al hei as. Edi r vai , em par t e gr aas
ao Di abo que t ant o at aca, i nt er pel a e humi l ha, const r ui ndo a passos
l ar gos seu i mpr i o.
5 2 6
A projeo Iinanceira da IURD, que acompanhou o ritmo acelerado da
multiplicao dos seus templos, tambm suscitou inumeras polmicas. Reportagens do inicio
da dcada de 90 calculavam a arrecadao Iinanceira dos templos em 'cerca de 150 milhes
de dolares ao ano.
527
Na ocasio da aquisio da TV Record, estratgias de captao de
recursos ainda mais agressivas vieram a tona, a Iim de garantir a compra dessa emissora e de
varias outras estaes de radio adquiridas no periodo. Mario Justino, ento pastor da IURD,
relata sobre um megaculto promovido pela IURD no estadio de Iutebol da Fonte Nova, em
Salvador BA, com a presena de Macedo:
O bi spo, depoi s de r ecol her os envel opes com as oI er t as,
denomi nadas de 'sacr i I i ci o, e com os pedi dos de or ao, que
ser i am l evados par a o Mont e das Ol i vei r as, em Jer usal m, pedi u aos
seus segui dor es bai anos uma oI er t a especi al par a compr ar uma
emi ssor a de r adi o em Sal vador , assi m como seus I i i s car i ocas o
havi am cont empl ado com a Radi o Copacabana. 'Ser a que os
car i ocas t m mai s I que os bai anos? r eI er i ndo- se a mul t i do.
No! a r espost a r et umbou como um t r ovo. As oI er t as vi er am
ent o em I or ma de di nhei r o e j oi as. Passamos t r s di as t r ancados em
uma sal a cont ando os sacos de di nhei r o l evant ados no Font e Nova.
No I i nal , o di nhei r o I oi deposi t ado na cont a da I gr ej a, no Br adesco,
em Sal vador . O our o I oi l evado par a o Ri o de Janei r o e
t r ansI or mado em bar r as.
5 2 8
Um verdadeiro Irenesi tambm Ioi causado na midia pelas palavras de
Macedo, proIeridas numa concentrao de Iiis que lotou o Estadio do Maracan, com
capacidade para mais de cem mil pessoas, na cidade do Rio de Janeiro: 'Sacudam bem
obreiros |as sacolas de oIerta|, para eles verem que esto vazias e so voltem quando
estiverem to cheias quanto um saco de pipoca.
529
Tambm Ioram impactantes as imagens
que mostraram Macedo em uma gravao em Iita de video orientando seus pastores sobre
como mobilizar os Iiis da Igreja a aumentar as contribuies Iinanceiras. Tais imagens
mostravam Edir Macedo, numa chacara, jogando Iutebol juntamente com a maior parte da
liderana de sua igreja. Ao Iinal daquela atividade, inIormalmente, ele passou a orientar os
526
MARIANO, Ricardo. Neopentecostais. os pentecostais esto mudando. So Paulo: USP, 1995, p. 42, 43.
250 Il. Dissertao (Mestrado em Sociologia) Programa de Pos-Graduao em Cincias Sociais, Universidade
de So Paulo, 1995.
527
Revista Jefa, So Paulo, 17 jul. 1991.
528
JUSTINO, M. Op. cit., p. 49.
529
Jornal ao Brasil, Rio de Janeiro, 18 dez. 1988.
165
pastores sobre como deveriam agir na arrecadao de oIertas e na ousadia de conduzir a
massa de Iiis:
Voc t em que chegar e di zer : o pessoal ! Voc vai aj udar agor a na
obr a de Deus. Se qui ser aj udar , amm. Se voc no qui ser aj udar ,
ent o Deus vai aj udar out r a pessoa a aj udar , amm! Ou da ou desce!
Ent endeu como que ? Por que ai o povo v cor agem em voc. O
povo t em que t er conI i ana no past or . Quer ver o past or br i gando
com demni o! Se voc most r a aquel a manei r a 'chocha, o povo no
vai conI i ar em voc. ( . . . ) Tem que ser o super - her oi par a o povo e
di zer : Ol ha pessoal , vamos I azer i st o aqui ? E o gr ande desaI i o. Eu
I i z i sso. Eu peguei a Bi bl i a e di sse: Oh! Deus! Ou o Senhor honr a a
sua pal avr a ( . . . ) e ent o j oguei a Bi bl i a, que se despedaou no cho.
Fi z i sso na i gr ej a e na t el evi so. Ent o i sso chama a at eno. O
povo di z: Esse ai , p, br i ga at com Deus! Cui dado, hei m! Ent o
t em aquel es que so t r adi ci onai s e di zem: Hi ! Esse ai um I al so
pr oI et a. . . esse ai , ent o, no vai ser abenoado. Agor a, t m out r os
que di zem: Puxa, ha quant o t empo que eu quer i a i sso, 'poxa, eu
est ou cansado de l er a Bi bl i a, de l er t ant as pal avr as e no acont ecer
nada na mi nha vi da. Ent o esse vai I i car do nosso l ado. E t udo ou
nada! E el e pe t udo l a. Quem embar car est a abenoado. Quem no
embar car I i ca. Ent o voc nunca pode t er ver gonha, t i mi dez. Pea,
pea, pea. Se, t em al gum que no quer dar , ha um mont o que vai
dar . ( . . . ) O povo est a cansado de I al sa humi l dade. O padr e t o
humi l de, e no da nada, no oI er ece nada. O padr e com aquel a
manei r a ( . . . ) e nos vamos l a, i sso mesmo, ( si c) e bot a pr a quebr ar ,
e vi r a cambal hot a, e I az o povo I i car l ouco ( . . . ) . Vej am o caso de
Moi ss, que se apr esent ou per ant e o povo com um caj ado na mo
aquel e mesmo que el e havi a usado par a abr i r o Mar Ver mel ho e
I azer t ant os mi l agr es no deser t o - e per gunt ou: 'acaso pode sai r
agua dessa pedr a? El e bat eu com o caj ado na r ocha e ent o j or r ou
agua e o povo I i cou mar avi l hado. E t ambm i sso que vocs pr eci sam
di zer ao povo: quem aqui t em um caj ado? O caj ado a I e o 't oque
na r ocha si gni I i ca a oI er t a de dez mi l , ci nco mi l ou doi s mi l
cr uzados novos. . . DesaI i em: se voc t em o caj ado, ent o use- o
agor a! Assi m, as pessoas vo dar a oI er t a e o mi l agr e vai
acont ecer . . .
5 3 0
Varios jornais e revistas, na ocasio, reproduziram denuncias sobre esse
tema, como por exemplo, a revista Isto E (27/01/1996) e a Folha ae S. Paulo (02/01/1996),
que publicaram reportagens, apontando aspectos empresariais e de explorao Iinanceira
praticados pela IURD e apresentando dados de arrecadaes, consideradas 'exorbitantes, de
varios templos iurdianos.
Edir Macedo juntamente com a IURD tambm tm sido alvo de diversos
processos criminais sob acusaes de praticas escusas envolvendo dinheiro, tais como
charlatanismo, vilipndio do culto religioso etc.
531
Exemplo disso se deu no dia 24 de maio
de 1992, quando Macedo Ioi preso em So Paulo, acusado de charlatanismo, curandeirismo e
530
Fita de video gravada pelo ex-pastor iurdiano Carlos Magno de Miranda e levada ao ar pela Rede Globo de
Televiso, em horario nobre no Jornal Nacional - poucos dias antes do Natal de 1995. Esses episodios vieram
a publico durante a polmica entre a Rede Globo de Televiso e a IURD, no segundo semestre de 1995.
531
Ver JUNGBLUT, Airton Luiz. Deus e nos, o diabo e os outros: a construo da identidade religiosa da Igreja
Universal do Reino de Deus. Caaernos ae Antropologia, Porto Alegre, UFRGS, n. 09, p. 45-61, 1995.
166
estelionato. Sua priso teve origem num inqurito aberto, em 1989, por cinco ex-Iiis
alegando terem doado dinheiro e bens a igreja em troca de milagres, que no teriam ocorrido.
O Ministrio Publico de So Paulo acatou a denuncia e determinou a priso. Mas trs dias
antes de ser detido, Macedo tambm Iora indiciado com base no artigo 15 da Lei do
Colarinho Branco, acusado de usar a IURD como instituio Iinanceira clandestina.
532
A
acusao principal era de que o bispo teria adquirido grande patrimnio, graas a sua
atividade Irente a Universal. Segundo o Ministrio Publico, o patrimnio pessoal de Macedo
chegava, em 1992, ao equivalente a 100 milhes de reais. Vale observar que, antes, esse
mesmo tribunal, a 21 Vara Criminal de So Paulo, ja havia absolvido Edir Macedo em
outros dois processos. Um deles, que tratava de ataques contra cultos aIro-brasileiros,
acusava quatro pastores da IURD de terem invadido um templo de umbanda em Diadema,
municipio da grande So Paulo, em abril de 1990. Nesse processo, Macedo Ioi acusado de
estimular publicamente os ataques a adeptos daquela religio que, segundo ele, eram
'adoradores do demnio. Num outro inqurito, o bispo era acusado de vender 'oleo bento
aos Iiis que participavam dos cultos de sua igreja.
533
Traduzida como simbolo da existncia de perseguio religiosa no pais, sua
priso tambm Ioi capaz de mobilizar Iiis, pastores e politicos evanglicos. Em primeiro de
junho de 1992, preso ha oito dias, 'cerca de dois mil Iiis da IURD Iormaram uma corrente
humana em volta da Assemblia Legislativa de So Paulo para protestar contra a sua
deteno.
534
Entendendo ser esta uma questo de liberdade religiosa, lideres evanglicos
tambm reagiram imediatamente. Logo varios politicos, evanglicos e no evanglicos,
solidarizaram-se com Macedo. Curiosamente, at mesmo alguns dos segmentos religiosos
que se sentiam concorrencialmente ameaados pela atuao da IURD, uniram-se naquele
momento, em prol de um interesse comum. Duzentos pastores protestaram na Assemblia
Legislativa de So Paulo, argumentando que a priso Iora manipulada por grupos ligados ao
setor de comunicaes que a propriedade da Rede Record estava ameaando, e os setores
religiosos, que estavam tendo seus membros captados pelo discurso da Universal. Reunidos
no interior da Assemblia, os pastores, representando 34 igrejas, e 30 deputados redigiram
documento repudiando o ocorrido, o qual apresentava o seguinte teor:
O Br asi l vi ve nos ul t i mos di as moment os de pr eocupao no que di z
r espei t o aos di r ei t os de expr esso r el i gi osa e suas gar ant i as
const i t uci onai s. Os 35 mi l hes de evangl i cos em t odo o pai s
532
O Globo, Rio de Janeiro, 25 maio 1992.
533
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 17 set. 1995.
534
MARIANO, R. Neopentecostais. os pentecostais esto mudando, p. 61.
167
exi gem o cumpr i ment o da Const i t ui o e o I i m de t odo t i po de
di scr i mi nao r el i gi osa.
5 3 5
Doze dias depois, Macedo Ioi solto. Vale ressaltar a habilidade sempre
demonstrada por ele em lidar com as 'regras do campo, Iato que lhe tem permitido grande
capacidade de reverter obstaculos em beneIicio do grupo. Quando esteve preso, representou
bem o papel de vitima, recorrendo comparativamente a imagem de soIrimento de Cristo e dos
apostolos. Dizia-se 'orgulhoso de estar preso em nome de Deus. Atras das grades, ao
conceder entrevistas ou deixar-se IotograIar, aparecia lendo ou portando uma Biblia. At bem
pouco tempo, quem tomava a Folha Universal para uma primeira leitura teria sua ateno
despertada para uma imagem: em seu logotipo uma Ioto do bispo em uma cela de presidio,
Iazendo a leitura da Biblia. A imagem no jornal ajuda a preservar e a manter vivo na
memoria dos Iiis o ato heroico do seu lider, cuja conIiana se observa no depoimento de um
obreiro da IURD:
O bi spo no ment e conI or me as r evi st as e a t el evi so di zem por ai .
El e um ser vo de Deus, dedi cado, honr ado, i nI el i zment e, cai u nas
gar r as da mi di a, mas Deus I al a at r avs del e e as pessoas que t m I
cr em ni sso. Eu acr edi t o em t udo o que o bi spo Macedo I al a, poi s
sei que el e i l umi nado, i nspi r ado por Deus.
5 3 6
A conIiana em seu lider, diante das experincias adversas que enIrentou,
destacada pela Igreja:
Cal uni as, i nj ur i as, di I amaes e at aques gr at ui t os somam- se a uma
l i st a i mensa de adver si dades vi vi das pel o bi spo Edi r Macedo.
Embor a nunca se t enha apr ovado nenhuma das acusaes, el e no se
dei xou abat er por nenhuma del as. Como l ema pr i nci pal de seu
mi ni st r i o, o bi spo vi ve aqui l o que pr ega e, di ant e das di I i cul dades,
no se most r a nem mesmo cansado. O segr edo, segundo el e o
empr ego da I sobr enat ur al , poi s seus sonhos nunca I or am baseados
em emoes, mas si m na cer t eza de que com seu t r abal ho, al i ado a
ao do poder de Deus, t or nar i am- se r eal i dade.
5 3 7
Ao se sentir aIrontada pelas acusaes de charlatanismo e abuso da I
popular, pela midia e demais segmentos religiosos, a IURD tambm reagiu. Nos cultos, os
jornalistas passaram a ser identiIicados como enviados do Diabo. Os Iiis receberam
expressas orientaes para no lerem nem darem crdito as noticias veiculadas na imprensa
sobre a Igreja Universal e seus pastores, e de igual Iorma, para tambm no concederem
entrevistas ou emitirem opinio a jornalistas sobre a Igreja:
Em meados de 1994, convi ct os ou t omados por par anoi a de que
havi a uma conspi r ao em andament o par a dest r ui r a Uni ver sal ,
535
Id., ibid.
536
Joo Luis M. Depoimento concedido em ago. 2004. Gravao em K7, transcrita para uso como Ionte.
537
http://www.igrejauniversal.com.br . Acesso em: 03 mar. 2005.
168
l i der es da denomi nao pr oi bi r am t odo e qual quer membr o ou past or
de dar ent r evi st as ou escl ar eci ment os a quem quer que sol i ci t asse.
Al m de j or nal i st as, pesqui sador es passar am a no ser benqui st os.
5 3 8
Em um grande evento realizado no estadio do Maracan, Rio de Janeiro, na
ocasio, Edir Macedo, em tom combativo e convocatorio, exclamou: 'Estamos sendo
castigados e perseguidos pela imprensa como co danado. Eles querem arrancar nossa
cabea. Mas isto so aumenta a nossa I.
539
3.5 - Interesses do gesto desinteressado: a economia de oferenda nas prticas iurdianas
Devido a grande demanda dos que recorrem aos espaos sagrados sob seu
comando, inegavelmente ha muito trabalho a ser Ieito pelos lideres da Igreja Universal. Por
isso, permanecem diariamente de planto nos templos. Lidam no dia-a-dia com os mais
diIerentes dramas das pessoas que ali chegam. No tm Iolga, dormem pouco, vivem
atareIados com os cultos, programas de radio e TV, vigilias, entre outros. No se sabe ao
certo sobre a remunerao que recebem. Apenas que tm suas despesas cotidianas custeadas
pela Igreja tendo direito ainda a moradia, teleIone, carro, escola paga para os Iilhos. Segundo
a linguagem de Bourdieu, criou-se uma representao de que os agentes especializados do
sagrado no precisam mais se ocupar com a produo de sua existncia material, pois seu
sustento assegurado pelos servios religiosos os quais esto socialmente autorizados a
desempenhar. Ademais, a alquimia em relao a tais pastores se mostra eIicaz a medida que a
ostentao apresentada de um estilo de vida prospera e bem sucedida, acaba se convertendo
Iavoravelmente em seu Iavor no sentido de reIerendar o discurso proIerido sobre a
prosperidade, acenando positivamente aos Iiis ao mostrar a possibilidade de semelhante
perIormance.
E possivel observar uma economia de produo e circulao de bens
simbolicos nas praticas da IURD. Uma primeira caracteristica a se destacar dessa
operosidade reIere-se a denegao do interesse econmico possibilitada por uma 'economia
de oIerenda que ali ocorre. Se, em relao aos Iiis iurdianos, o dinheiro e a I se
amalgamam em sedutora proposta de acesso a prosperidade e riqueza, o mesmo no se da
quando este assunto envolve os lideres, os quais so vistos no mbito do grupo como agentes
'desinteressados pelos bens materiais. Nesse sentido, lembra Bourdieu que, embora 'no
exista ato desinteressado, uma das principais caracteristicas do campo religioso e tambm
538
MARIANO, Ricardo. Neopentecostais. os pentecostais esto mudando, p. 58.
539
Jornal O Dia, Rio de Janeiro, 9 out. 1990.
169
dos campos culturais - o revestimento euImico de desinteresses quanto ao acumulo de
riquezas e poder. Ao descrev-los, Bourdieu destaca que devem ser considerados como 'um
mundo econmico invertido,
540
ou seja, um mundo econmico que substitui interesse
econmico pelo desinteresse esttico. Entende o autor que ha uma economia da produo
simbolica, mas que Iunciona com parmetros opostos aos do campo econmico:
Ha uma i nver so dos val or es ou dos i nt er esses que r egem o campo
econmi co dent r o dos campos cul t ur ai s; por exempl o, ha o
desi nt er esse est t i co ou i nt el ect ual cont r a a busca de beneI i ci o, de
l ucr o econmi co; a gr at ui dade do gest o cont r a a ut i l i dade da
pr oduo; a ar t e pel a ar t e cont r a a ci r cul ao e a acumul ao de
di nhei r o.
5 4 1
No campo religioso, pois, quanto maior a separao entre os agentes
especializados na produo e reproduo de bens religiosos e os demais membros da
sociedade, tanto maior a autonomia do campo e mais Iorte a aparncia da instituio como
acima dos interesses mundanos, gerando assim um euIemismo de que a religio paira sobre
ela e reIere-se apenas ao sobrenatural. Dessa Iorma, supe-se que os agentes que atuam no
reIerido campo sejam 'desinteressados do interesse econmico, repousando suas praticas na
economia da oIerenda, no voluntariado, no sacriIicio, pois no teriam uma 'proIisso, e sim,
um servio prestado a divindade. Essa alquimia da oIerenda pode ser observada tanto no
discurso dos proprios lideres quanto no reconhecimento pelos Iiis. O bispo Marcelo Crivela,
quando interrogado sobre a posse de bens pelos lideres da Igreja, respondeu:
Desde cr i ana gost o de conI or t o, mas t enho odi o de l uxo. ( . . . ) O que
ocor r e na I gr ej a Uni ver sal que nenhum past or t em posses ou
dono de qual quer coi sa. Mesmo os que t r abal ham no ext er i or ou no
Br asi l e vi vem em si t uao mel hor no so donos. O car r o do bi spo
Macedo, sua casa, t udo per t ence a I gr ej a. Ni ngum t em poupana,
exat ament e por que cr emos que est e o sabor que nos t emos. No
Ant i go Test ament o, os l evi t as I i zer am uma 'al i ana de sal com
Deus, segundo a qual abr i r i am mo de posses mat er i ai s, sendo que,
em cont r apar t i da no l hes I al t ar i a nada. De i gual modo i st o hoj e
t ambm nos da aut or i dade par a subi r no pul pi t o e pedi r ao povo que
ent r egue o di zi mo e d oI er t a.
5 4 2
Tambm o bispo Macedo, quando pressionado por denuncias da midia
acerca de ostentao de riquezas, alto padro de vida e preIerncia por carros luxuosos como
Mercedes e BMW, respondeu apontando para o exemplo catolico: 'O Papa mora e utiliza um
palacio em representao da sua igreja, e ningum se importa com isso.
543
E, orientando-se
pelas regras do campo, assim se expressou em uma entrevista: 'Se eu Iosse interessado em
540
CHARTIER, R. Pierre Bourdieu e a Historia, p. 141.
541
Id., ibid.
542
Revista Eclesia, ano V, n. 50, p. 11, jan. 2000.
543
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 18 out. 1991.
170
dinheiro no seria pastor, seria politico, com bom salario e mordomias (...) O Brasil ainda
uma provincia e a imprensa no traduz a verdade.
544
Ao se queixar da 'perseguio movida
pela midia contra ele e sua igreja, argumentou:
No dever i am ser t r at ados como l adr es e chant agi st as aquel es que
dedi cam suas vi das par a ser vi r o out r o. O t i t ul o de mer cant i l i st a no
cabe a nenhuma or gani zao r el i gi osa que est ej a i nser i da em um
si st ema no qual sem di nhei r o nada se pode I azer ; mui t o mai s quando
est e si st ema i nj ust o, cor r upt o, suj o e, pi or , acei t o, pr opagado e
i mpost o aos ci dados, no uso de uma r aci onal i dade ment i r osa,
hi pocr i t a, mal dosa e sem Deus.
5 4 5
A eIicincia desse processo de alquimia veiculada pelos lideres iurdianos
tambm se observa na capacidade de transIigurar as instituies sociais - que so construes
humanas, culturalmente estabelecidas em instituies de origem sobrenatural. Por isso,
diante de criticas ou de questionamentos quanto a sua atuao, Edir Macedo aIirma:
Ni ngum t em o di r ei t o de se vol t ar cont r a a aut or i dade i nst i t ui da
por Deus, poi s o pr opr i o Deus que t em que t omar as devi das
pr ovi dnci as par a I az- l o sai r ou per manecer na condi o de
aut or i dade espi r i t ual , mas nunca e j amai s, ni ngum deve nem pensar
em se col ocar no l ugar de Deus e pr ocur ar t omar pr ovi dnci as
cont r a o ungi do do Senhor ! E mui t o menos t ecer coment ar i os
negat i vos a r espei t o daquel a aut or i dade espi r i t ual .
5 4 6
Esse reconhecimento da 'vocao divina, ou de prestao de servio a
divindade, tambm ocorre em relao aos demais obreiros:
A exper i nci a de ser um obr ei r o ou uma obr ei r a na I URD, onde se
l ut a di ar i ament e com os demni os, a base par a que esse t r abal ho
evangel i st i co, I ei t o com mui t o amor , cr esa cada vez mai s em t odo
o mundo. Os obr ei r os t m uma at uao i ndi spensavel , por que so os
car t es de vi si t a da I gr ej a e desempenham as mai s var i adas I unes.
Fazem t udo i sso por amor a Jesus. No r ecebem sal ar i o; um
t r abal ho vol unt ar i o. Par a os que so conver t i dos, ser obr ei r o
consi der ado um pr i vi l gi o, por que compr eendem que so escol hi dos
por Deus par a essa mi sso.
5 4 7
A economia de oIerenda transIigura noes de 'explorao Iinanceira em
relao aos membros do grupo, conIorme declara o pastor iurdiano J. Cabral:
Nenhum l i der da I gr ej a Uni ver sal I or a as pessoas a cont r i bui r em.
Pedem como I azem t odas as i gr ej as, e t al vez i nsi st am mai s do que
em al gumas, por que compr eendem a necessi dade e a ur gnci a de
ganhar o mundo par a Jesus Cr i st o l i ber t ando as pessoas das gar r as
do mal i gno. As pessoas so or i ent adas a cont r i bui r com amor e
apr endem que Deus ama ao que da com al egr i a ( I I Cor . 9: 7) .
5 4 8
544
O Globo, Rio de Janeiro, 29 abr. 1990.
545
Folha Universal, Rio de Janeiro, 15 out. 1995.
546
MACEDO, Edir. Nos passos ae Jesus. 8 ed. Rio de Janeiro: GraIica Editora Universal, 1986, p. 76.
547
http://www.igrejauniversal.org.br . Acesso em: 08 abr. 2005.
548
Jornal Soma, Goinia, - GO, ano 4, n. 9, dez. 2000, p. 8.
171
O bispo da IURD, Joo Batista Ramos, em entrevista concedida a um
programa da TV Record, reIerindo-se ao episodio da apreenso das malas com dinheiro - ja
anteriormente mencionado - aIirmou:
Os I i i s da i gr ej a ent r egar am est e di nhei r o espont aneament e, no
I or am I or ados a I az- l o. OI er t ar am vol unt ar i ament e a Deus at r avs
da i gr ej a, poi s sabem que a i gr ej a i r a admi ni st r a- l o par a expanso
do r ei no de Deus na t er r a. O di nhei r o das oI er t as o sangue da
i gr ej a.
5 4 9
Para evitar situaes constrangedoras, a Igreja Universal, logo depois
daquele episodio, apressou-se em providenciar meios mais privativos para o transporte das
quantias arrecadadas em seus mais de 5 mil templos proprios espalhados pelo pais.
Recentemente, comprou uma Irota de 70 carros blindados de uma locadora que precisava se
desIazer dos automoveis: 'os veiculos, discretos e seguros, ja circulam diariamente pelas ruas
e avenidas de diversas cidades do pais, recolhendo sacos e mais sacos de dinheiro doados nos
templos ressalta uma reportagem.
550
Ainda como deIesa dessas acusaes soIridas, a Igreja vem semanalmente
estampando em seu jornal reportagens que denotam perseguio em razo de seu crescimento
e projeo:
O cl i ma de per segui o a I URD no passa desper cebi do pel a
popul ao br asi l ei r a, que vem acompanhando o caso at r avs das
sucessi vas edi es da Fol ha Uni ver sal , que, em sua t i r agem de
quase doi s mi l hes de exempl ar es semanai s, al er t a sobr e a at i t ude
de Lul a, que t em cl ar o obj et i vo de desvi ar a at eno dos sucessi vos
escndal os pol i t i cos envol vendo o seu gover no. Enquant o i sso, as
oI er t as da I gr ej a Uni ver sal per manecem r et i das.
5 5 1
Segundo a IURD, no segredo que o seu crescimento sempre assustou os
'manipuladores da opinio publica. Para tentar deter esse avano, 'a Rede Globo promoveu
varias campanhas diIamatorias contra a igreja e contra o bispo Edir Macedo. Por isso, a
origem do dinheiro, 'ja comprovada e o seu transporte, Ieito por pessoas devidamente
autorizadas, no caracterizam um crime, de acordo com a Constituio Federal ressalta a
Igreja.
552
Essa dualidade da economia da oIerenda no deve ser vista como
duplicidade, como hipocrisia ou como relao de 'enganador e 'enganado, pois se trata de
um recalcamento coletivo Iundamentado na orquestrao do habitus de todo o grupo: 'o
549
Fala Que Eu Te Escuto. So Paulo, Rede Record, 15 jul. 2005. Programa de TV.
550
Revista Exame, ano 40, n. 17, p. 20, 30 ago. 2006.
551
Folha Universal, Rio de Janeiro, 31 dez. 2005, p. 1.
552
Folha Universal, Rio de Janeiro, 25 dez. 2005, p. 6.
172
trabalho coletivo de recalque so possivel se os agentes so dotados das mesmas categorias
de percepo e de avaliao aIirma Bourdieu.
553
E acrescenta:
A r econver so per manent e do capi t al econmi co em capi t al
si mbol i co ( . . . ) so pode t er sucesso com a cumpl i ci dade de t odo o
grupo: o t r abal ho de denegao que est a na or i gem de al qui mi a
soci al , como a magi a, um empr eendi ment o col et i vo.
5 5 4
|griIo nosso|
Dai a Iora representativa de conIiana que ostenta o lider, por exemplo,
demonstrar-se inabalavel perante os Iiis, como se pode observar na resposta de um dos
membros iurdianos a uma revista de circulao nacional quando interrogado sobre o que
achava das acusaes que a imprensa Iazia em relao ao bispo Macedo e as origens obscuras
do dinheiro arrecadado para a compra da TV Record:
Se r eal ment e o Bi spo houvesse r oubado, el e no ser i a o homem com
a vi da abenoada que t em. Al m di sso, a gr ande obr a da I gr ej a
que de Deus e no do Bi spo t ambm no cr escer i a, poi s el e
est ar i a r oubando de Deus ( . . . ) Deus nunca abenoar i a um l adr o e o
Bi spo Macedo sabe di sso ( . . . ) el e sabe que, se r oubar , per de t udo.
5 5 5
De acordo com Bourdieu, 'o discurso religioso que acompanha a pratica
parte integrante da economia das praticas como economia de bens simbolicos, por isso essa
ambigidade se torna uma propriedade geral da economia da oIerenda, na qual 'a troca se
transIigura em oblao de si a uma espcie de entidade transcendente.
556
Nesse aspecto, as
tareIas sagradas so irredutiveis a uma codiIicao puramente econmica e social: 'o
sacristo no exerce um oIicio; ele realiza um servio divino lembra Bourdieu. Ressalta
ainda que a questo de saber se nisso ha ou no cinismo desaparece inteiramente, se
percebermos que tal ocorrncia Iaz parte das proprias condies de Iuncionamento e de xito
da empresa religiosa, segundo as quais os agentes religiosos acreditam no que Iazem e no
aceitam a deIinio econmica estrita de sua ao e de sua Iuno.
557
Ainda aqui a deIinio
ideal que os dignatarios da igreja deIendem Iaz parte da verdade da pratica. A empresa
religiosa, nesse sentido, obedece aos principios da economia domstica, da qual aquela uma
Iorma transIigurada (com o modelo de troca Iraterna), ou seja, as relaes de produo
Iuncionam de acordo com o modelo das relaes Iamiliares:
As i nst i t ui es r el i gi osas t r abal ham per manent ement e, t ant o pr at i ca
como si mbol i cament e, par a euI emi zar as r el aes soci ai s, ai
i ncl ui das as r el aes de expl or ao ( como na I ami l i a) ,
553
BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas. p. 199, 200.
554
Id. A proauo aa crena, p. 211, 212.
555
Revista Jefa, apua BonIatti, P. Op. cit., p. 32.
556
BOURDIEU, P. Ra:es praticas, p. 191.
557
Id., ibid., p. 192.
173
t r ansI i gur ando- as em r el aes de par ent esco espi r i t ual ou de cr ena
r el i gi osa, at r avs da l ogi ca da benemer nci a.
5 5 8
Ressaltando esta caracteristica paradoxal da economia da oIerenda, da
benemerncia, do sacriIicio, Bourdieu cita o caso da igreja catolica como exemplo:
( . . . ) essa empr esa ( a I gr ej a Cat ol i ca) com di menses econmi cas,
I undada na r ecusa do econmi co, est a mer gul hada em um uni ver so
no qual , com a gener al i zao das t r ocas monet ar i as, a pr ocur a da
maxi mi zao do l ucr o t or nou- se o pr i nci pi o da mai or par t e das
pr at i cas cot i di anas, de modo que qual quer agent e r el i gi oso ou no
r el i gi oso t ende a aval i ar em di nhei r o, ai nda que i mpl i ci t ament e, o
val or de seu t r abal ho e de seu t empo.
5 5 9
O comentario que esse autor Iaz em relao ao que ocorre na Igreja Catolica
pode ser perIeitamente aplicado ao caso da IURD: embora a igreja seja uma empresa
econmica, nega-se como tal, sendo esta ambigidade uma propriedade geral da economia da
oIerenda:
O t empl o I unci ona, assi m, obj et i vament e como uma espci e de
banco, que no pode, no ent ant o, ser per cebi do ou pensado como
t al , e at sob a condi o de que no sej a nunca vi st o como t al . A
empr esa r el i gi osa uma empr esa com di menses econmi cas que
no pode se conI essar como t al e que I unci ona em uma espci e de
negao per manent e de sua di menso econmi ca.
5 6 0
Acrescenta-se a isso um exemplo mencionado por Bourdieu, reIerente ao catolicismo, mas
que bem pode se aplicar ao caso iurdiano:
Assi m, I i quei sur pr eendi do pel o I at o de que, cada vez que os bi spos
adot avam, a r espei t o da economi a da i gr ej a, a l i nguagem da
obj et i vao, I al ando, por exempl o, ao descr ever a past or al , do
'I enmeno da oI er t a e da pr ocur a, el es r i am: ( . . . ) 'no pr oduzi mos
nada, no vendemos nada | r i so| no mesmo? ( . . . ) .
5 6 1
3.6 - O poder simblico do carisma nas prticas iurdianas
De acordo com Bourdieu, nas sociedades contemporneas os campos so
espaos onde so travadas lutas concorrenciais 'entre os atores em torno de interesses
especiIicos que caracterizam a area em questo.
562
Nas batalhas empreendidas, os agentes
'dominantes e dominados disputam o capital existente no respectivo campo:
A est r ut ur a do campo pode ser apr eendi da t omando- se como
r eI er nci a doi s pol os opost os: a dos domi nant es e a dos domi nados.
Os agent es que ocupam o pr i mei r o pol o so j ust ament e aquel es que
558
Id., ibid., p. 194.
559
Id., ibid., p. 183.
560
Id., ibid., p. 192.
561
Id., ibid., p. 184, 185.
562
ORTIZ, R. (Org.). Pierre Bouraieu. So Paulo: Atica, 1983, p. 19.
174
possuem um maxi mo de capi t al soci al ; em cont r apar t i da, aquel es
que se si t uam no pol o domi nado se deI i nem pel a ausnci a ou pel a
r ar i dade do capi t al soci al especi I i co que det er mi na o espao em
quest o.
5 6 3
Como ja observado anteriormente, a Igreja Catolica ocupou, desde o
periodo da colonizao, posio dominante no campo religioso brasileiro na maior parte da
historia do pais, constituindo-se 'uma ortodoxia que pretende conservar intacto o capital
social acumulado. Mas, como pressupe a propria estruturao do campo, 'ao polo
dominado correspondem as praticas heterodoxas que tendem a desacreditar os detentores
reais de um capital legitimo.
564
Dessa Iorma, a hegemonia catolica, que comeou a ser
alterada, ainda que de Iorma bastante insipiente, com a presena do protestantismo, em
meados do sculo XIX processo esse intensiIicado em meados do sculo XX, com a
exploso do pentecostalismo soIreu maior impacto com o advento do neopentecostalismo
iurdiano. Essas transIormaes no campo acirraram os conIlitos entre a ortodoxia catolica e a
heterodoxia de um movimento novo:
A chegada de qual quer novo agent e no i nt er i or de um campo
pr ovoca, necessar i ament e, o desl ocament o das i nst i t ui es al i
est abel eci das. Por i sso, a est r at gi a do r ecm- chegado , se no
consegui r al i anas, cont est ar e desbal i zar o j a exi st ent e. Os novos
pr egador es t endem a vest i r a r oupagem dos 'pr oI et as, encar ando a
r et or i ca da novi dade e da t r ansI or mao, denunci ando os demai s
como mer os 'sacer dot es. As mudanas ocor r i das no i nt er i or do
campo r el i gi oso, desde a vi da dos pent ecost ai s, r eI l et em os
conI l i t os e l ut as desencadeadas a par t i r da t enso ent r e os
est abel eci dos e os ar r i vi st as.
5 6 5
Pode-se dizer que esses conIlitos so protagonizados pelos representantes
da religio e pelos agentes da magia ou da proIecia. Nesse processo, a expresso religiosa
que esta buscando o seu estabelecimento no campo tende a ser classiIicada como 'magia ou
Ieitiaria pela instituio dominante, que a considera como uma 'religio inIerior, logo
proIana e proIanadora:
Todo si st ema si mbol i co est a pr edi spost o a cumpr i r uma I uno de
associ ao e de di ssoci ao, ou mel hor , de di st i no, um si st ema de
pr at i cas e cr enas est a I adado a sur gi r como magi a ou como
I ei t i ar i a, no sent i do de r el i gi o i nI er i or , t odas as vezes que ocupar
uma posi o domi nada na est r ut ur a de r el aes de I or a si mbol i ca,
ou sej a, no si st ema das r el aes ent r e o si st ema de pr at i cas e de
cr enas pr opr i as a uma I or mao soci al det er mi nada.
5 6 6
563
Id., ibid., p. 21.
564
Id., ibid., p. 22.
565
CAMPOS, L. S. ; GUTIERREZ, B. Op. cit., p. 96.
566
BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. 43, 44.
175
No caso da Universal, o seu desenvolvimento esta diretamente associado a
ocupao de espao simbolico de seus lideres. Perante o grupo, so vistos como um
curandeiro, um benzedor, um exorcista ou taumaturgo, enIim, um 'iluminado que, com o
transe mistico e o xtase Iisico, enIrenta a maldade, desmancha Ieitio ou ento o localiza
identiIicando o sujeito causador das aIlies de seus devotos: o Diabo. Isso Iaz que sejam
procurados tanto por seus conhecimentos praticos - espcie de segredos quanto pela crena
em sua capacidade taumaturgica: exercicio de dons espirituais ou sobrenaturais. Acredita-se
que possuam Iaculdade incomum de entrar em contato com o mundo espiritual, a partir do
que adquirem autoridade para oIerecer tratamento aos males do corpo e do espirito:
soIrimentos Iisicos, aIlies psiquicas, perturbaes espirituais e premncias sociais. Esse
poder ostentado pelo lider iurdiano outorga-lhe autoridade, reputao e mritos perante seus
seguidores:
O capi t al si mbol i co do l i der r el i gi oso, enquant o agent e soci al , se
apr esent a como um cr di t o ( no sent i do, ao mesmo t empo, de cr ena
e de conI i ana concedi da ant eci padament e) post o a di sposi o de
um agent e pel a adeso de out r os agent es, que l he r econhecem est a
ou aquel a pr opr i edade val or i zant e.
5 6 7
Segundo Bourdieu, a alquimia produz, em proveito daquele que cumpre
com esses atos, um capital de reconhecimento que lhe permite ter eIeitos simbolicos: 'E o
que chamo de capital simbolico, atribuindo assim um sentido rigoroso ao que Max Weber
designava pela palavra carisma.
568
Segundo Weber:
A expr esso 'car i sma deve ser compr eendi da como r eI er i ndo- se a
uma qual i dade ext r aor di nar i a de uma pessoa ( . . . ) 'Aut or i dade
car i smat i ca, por t ant o, r eI er e- se a um domi ni o sobr e os homens ( . . . )
a que os gover nados se submet em devi do a sua cr ena na qual i dade
ext r aor di nar i a da pessoa especi I i ca. O I ei t i cei r o magi co, o pr oI et a
( . . . ) so desses t i pos de gover nant es par a os seus di sci pul os,
segui dor es, et c. A l egi t i mi dade de seu domi ni o se basei a na cr ena e
na devoo ao ext r aor di nar i o, desej ado por que ul t r apassa as
qual i dades humanas nor mai s e or i gi nal ment e consi der ado como
sobr enat ur al . A l egi t i mi dade do domi ni o car i smat i co basei a- se,
assi m, na cr ena nos poder es magi cos, r evel aes e cul t o de
her oi .
5 6 9
Isto se viabilizou devido a existncia do capital simbolico presente no
campo. Os agentes religiosos iurdianos, com um minimo desse capital, obtiveram condies
de se engajar no campo religioso e, a partir disso, aumentar o seu poder de representao.
567
BONNEWITZ, P. Op. cit., p. 103.
568
BOURDIEU, P. Ra:es praticas, p. 177.
569
WEBER, Max. Ensaios ae sociologia. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1982, p. 340.
176
Esse capital simbolico, denominado carisma, portanto, torna-se nas praticas iurdianas um
poder simbolico:
O capi t al si mbol i co t em como car act er i st i ca sur gi r em uma r el ao
soci al ent r e as pr opr i edades possui das por um agent e e out r os
agent es dot ados de cat egor i as de per cepo adequados: ent e
per cebi do, const r ui do, de acor do com cat egor i as de per cepo
especi I i cas, o capi t al si mbol i co supe a exi st nci a de agent es
const i t ui dos, em seus modos de pensar , de t al modo que conheam e
r econheam o que l hes pr opost o, e cr ei am ni sso, i st o , em cer t os
casos, r endam- l he obedi nci a e submi sso.
5 7 0
Na obra A Proauo aa Crena,
571
em que oIerece uma analise critica
sobre o processo de criao, circulao e consagrao dos bens culturais, Bourdieu ressalta
que o principio da eIicacia de todos os atos de consagrao no outro seno o proprio
campo, lugar de capital simbolico socialmente acumulado.
Aqui l o que deI i ne a est r ut ur a de um campo num dado moment o a
est r ut ur a da di st r i bui o do capi t al ent r e os di I er ent es agent es
engaj ados nesse campo. Mui t o bem, di r o, mas o que voc ent ende
por capi t al ? So posso r esponder br evement e: cada campo o l ugar
de const i t ui o de uma I or ma especi I i ca de capi t al .
5 7 2
Neste aspecto, vale dizer que a crena em poderes divinamente concedidos
a 'individuos iluminados um dos componentes do capital simbolico do campo religioso
brasileiro. Assim, a representao do carisma conIigurada na IURD possui raizes Iincadas na
longa durao, legadas pelo cristianismo. Ja em seus primordios, a I crist associou a idia
de carisma ao vocabulo grego 'charis, que signiIica 'dom ou 'graa divina. Segundo
relatos biblicos, no ambiente das primeiras comunidades crists tal elemento Ioi associado a
idia de que determinadas pessoas so visitadas por um poder divino, mais especiIicamente
pela Iigura do Espirito Santo, com o proposito de desempenhar certa vocao ou misso. Em
uma experincia religiosa denominada 'pentecostes, segundo o relato biblico do livro de
Atos, o Espirito Santo teria sido enviado como poder divino para revestir de dons os
primeiros cristos. Desta Iorma, o carisma passava a signiIicar o reconhecimento intuitivo,
por parte dos que eram denominados leigos, de que determinadas pessoas no interior do
grupo ostentavam a condio de 'iluminadas ou 'santas, sendo possuidoras de
determinados poderes extraordinarias em razo do seu contato mais intimo com a divindade.
Ha de se dizer que o cristianismo ja emprestou tal concepo de outras
matrizes religiosas e culturais. Primeiramente, do judaismo, que preservava antigas tradies
com Iorte apelo de carismatismo. No ambiente do Antigo Testamento, juizes, proIetas e reis
570
BOURDIEU, P. Ra:es praticas, p. 178, 179.
571
Id., ibid., p. 30.
572
BOURDIEU, P. Os usos sociais aa cincia. Por uma sociologia clinica do campo cientiIico, p. 26.
177
eram vistos como especialmente possuidos pelo Espirito do Deus Iav, para o desempenho de
suas Iunes. No advento da era crist tais idias estavam ainda muito presentes no cotidiano
do apocalipsismo judaico que projetava em lideres taumaturgos capacidade de cura, de
exorcismo e de controle sobre Ienmenos da natureza. Em segundo lugar, das chamadas
'religies de mistrio oriundas do Egito, da Siria e da Prsia, bastante diIundidas e
popularizadas no mundo greco-romano quando do surgimento do cristianismo. Nos cultos,
com cerimnias secretas, acreditava-se que pessoas iluminadas eram possuidas por Ioras
divinas, podendo assim, em xtase, mediar a cura de enIermidades Iisicas e estabelecer
comunicao com o mundo espiritual. A comunidade crist, em parte, se apropriou desse
imaginario religioso, re-signiIicando-o a luz do ensino apostolico. Terceiro, da idia grega do
'homem divino, ou do conceito romano de facilitas, que pressupunham a habilidade inata
do heroi para levar um projeto ao sucesso, graas a sua ligao com o sagrado. Os gregos, de
acordo com suas mitologias, acreditavam que os deuses por eles adorados no estavam
separados dos homens por uma Ironteira bem deIinida, razo porque alguns desses poderiam
ser colocados na comunho divina, tornando-se Iilhos da divindade, podendo mediar
benesses sagradas aos que se punham sob sua liderana.
Bourdieu, ao Iazer uma releitura de Weber, prope um avano na
compreenso do carisma ao associa-lo no ao individuo isolado, mas sim ao grupo em que se
desenvolve tal representao, mediante a Iora do capital simbolico e da crena existente no
campo:
O poder car i smat i co, conI er i do a i ndi vi duos supost ament e dot ados
de qual i dades especi ai s que l hes assegur am uma i r r adi ao soci al
excepci onal , est a baseado numa del egao de poder dos l i der ados
em beneI i ci o dos que l i der am, que so I az exer cer sobr e aquel es o
poder que el es pr opr i os deposi t ar am em suas mos ( . . . ) E i sso que
expl i ca o I at o de que al guns i ndi vi duos, dot ados i ni ci al ment e de
t al ent os comuns, mas bem ser vi dos por ci r cunst nci as comuns,
t enham gal gado posi o de poder .
5 7 3
De acordo com Bourdieu,
574
certas disposies em relao ao mundo, certas
Iormas elementares de construo da realidade, constituem possibilidades antropologicas que
Iormam potencialidades, um poder simbolico estabelecido pela Iora da crena.
575
O 'eIeito
de constituio que opera a consagrao desse capital consagrado e as condies sociais de
surgimento desse eIeito
576
melhor detalhado nos seguintes termos:
573
BONNEWITZ, P. Op. cit., p. 104.
574
BOURDIEU, P. Ra:es praticas, p. 218.
575
Id., ibid., p. 177.
576
Id., ibid., p. 187.
178
O capi t al si mbol i co uma pr opr i edade qual quer ( de qual quer t i po
de capi t al , econmi co, cul t ur al , soci al ) , per cebi da pel os agent es
soci ai s cuj as cat egor i as de per cepo so t ai s que el es podem
ent end- l as ( per ceb- l as) e r econhec- l as, at r i bui ndo- l hes val or .
( . . . ) O capi t al si mbol i co uma pr opr i edade que, per cebi da pel os
agent es soci ai s dot ados das cat egor i as de per cepo e de aval i ao
que l hes per mi t em per ceb- l a, conhec- l a e r econhec- l a, t or na- se
si mbol i cament e eI i ci ent e, como uma ver dadei r a I or a magi ca: uma
pr opr i edade que, por r esponder as 'expect at i vas col et i vas,
soci al ment e const r ui das, em r el ao as cr enas, exer ce uma espci e
de ao a di st nci a, sem cont at o I i si co ( . . . ) apoi ando- se em
'expect at i vas col et i vas, em cr enas soci al ment e i ncul cadas.
5 7 7
Ao Iormular essa compreenso do carisma na perspectiva do grupo,
Bourdieu se aproxima de Emile Durkheim, cuja preocupao no com o ator socialmente
contextualizado, sempre individualmente motivado, mas sim com a dinmica propria do
grupo carismatico. Segundo Durkheim, o coletivo o caso tipico do sagrado: 'enquanto
pertence a sociedade, o individuo transcende a si mesmo, seja quando pensa ou quando
age.
578
Para ele, o principio criador a participao conjunta em rituais sagrados, que
servem para integrar todos os participantes numa unidade. Na multido, ha uma participao,
mais do que de cooperao, mais do que competio; nela o poder supera a Iraqueza, as
semelhanas sobrepujam as diIerenas. No grupo, 'os homens Iicam mais conIiantes porque
se sentem mais Iortes; e realmente Iicam mais Iortes porque as Ioras que estavam
adormecidas despertam na conscincia.
579
Os campos da produo de bens culturais so, pois, 'universos de crena
que so podem Iuncionar a medida que conseguem produzir, inseparavelmente, produtos e a
necessidade desses produtos por meio de praticas.
E pr oduzi ndo a r ar i dade do pr odut or que o campo de pr oduo
si mbol i co pr oduz a r ar i dade do pr odut o: o poder magi co do cri aaor
o capi t al de aut or i dade associ ado a uma posi o que no poder a
agi r se no I or mobi l i zado por uma pessoa aut or i zada, ou mel hor
ai nda, se no I or i dent i I i cado com uma pessoa e seu car i sma, al m
de ser gar ant i do por sua assi nat ur a.
5 8 0
Com isso, desmistiIica-se a autonomia do carater sagrado do carisma
religioso, pois, sua produo considerada resultado de um amplo empreendimento de
alquimia social, na qual colabora o conjunto dos agentes envolvidos no campo da produo e
circulao. Portanto, em relao ao carisma, pode-se dizer que o sucesso de tal alquimia se
577
Id., ibid,. 107, 177.
578
DURKHEIM, Emile. The elementary forms of religious life. Nova York: Free Press, 1965, p. 29.
579
Id., ibid., p. 387.
580
BOURDIEU, P. A proauo aa crena, p. 154.
179
constitui na medida em que o aparelho de consagrao e de celebrao se torna capaz de
produzir e de manter tal poder simbolico bem como a sua necessidade:
Deve- se evi t ar a I no poder car i smat i co do cri aaor: est e l i mi t a- se a
mobi l i zar , em gr aus e por est r at gi as di I er ent es, a ener gi a da
t r ansmut ao si mbol i ca ( i st o , a aut or i dade ou a l egi t i mi dade
especi I i ca) que i manent e a t ot al i dade do campo por que est e
pr oduz e a r epr oduz por mei o de sua pr opr i a est r ut ur a e de seu
pr opr i o I unci onament o.
5 8 1
Pode-se citar o exemplo da 'griIe do costureiro para se demonstrar a
importncia do reconhecimento coletivo na construo de um poder simbolico:
A gr i I e, si mpl es 'pal avr a col ada sobr e um pr odut o , sem duvi da,
com a assi nat ur a do pi nt or consagr ado, uma das pal avr as do pont o
de vi st a si mbol i co. ( . . . ) Mas, do mesmo modo que o poder da
assi nat ur a do pi nt or no se encont r a na assi nat ur a, assi m t ambm o
poder da gr i I e no est a na gr i I e, nem se encont r a sequer no conj unt o
dos di scur sos que cel ebr am a cr i ao, o cr i ador e suas cr i aes,
cont r i bui ndo de I or ma t ant o mai s eI i caz par a a val or i zao dos
pr odut os el ogi ados, quant o mai or a i mpr esso susci t ada de que
l i mi t am a const at ar t al val or quando, aI i nal , est o empenhados em
pr oduzi - l o.
5 8 2
O habitus se torna responsavel pela produo da estrutura coletiva do poder
carismatico ostentado pelo lider, conIigurando-se num mecanismo essencial da socializao,
na medida em que os comportamentos e valores apreendidos so considerados obvios,
naturais, quase instintivos; a interiorizao permite agir sem ser obrigado a lembrar-se
explicitamente das regras que preciso observar para agir.
583
Louis Pinto comenta tal aspecto
aIirmando que 'a noo de poder simbolico um instrumento muito sensivel
simultaneamente aos dois principais espaos que so proprios da sociologia de Pierre
Bourdieu: o espao do habitus e o espao do campo, e acrescenta:
O capi t al est abel ece uma r el ao ent r e habi t us e o campo, agi ndo
como um poder que per mi t e domi nar um conj unt o de pot enci al i dades
obj et i vas; por out r o, el e exi st e segundo gr aus de obj et i vao que
var i am de modo cont i nuo, desde o saber i ncor por ado numa t cni ca
at a obr a que l he da a I or ma de uma coi sa, por m esper ando ser
apr opr i ada por agent es det er mi nados e di spost os a t ant o, i st o ,
dot ado de di sposi es aI i ns.
5 8 4
Mediante a orquestrao do habitus - capaz de promover o eIeito de
consagrao - um mecanismo de 'interiorizao da exterioridade torna capaz de adquirir
disposies para reproduzir-se espontaneamente, mobilizando energias do campo,
concentrando capital simbolico que, na Iorma de carisma, transIorma-se em poder simbolico
581
Id., ibid., p. 155.
582
Id., ibid., p. 160.
583
BONNEWITZ, P. Op. cit, p. 77.
584
PINTO, Louis. Pierre Bouraieu e a teoria ao munao social. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000, p. 136.
180
na pessoa do lider. Promove-se, dessa Iorma, a transIigurao das relaes de dominao e de
submisso em relaes aIetivas. O habitus, assim, permite explicar a plausibilidade que as
representaes iurdianas passaram a ter para os seus adeptos, em meio a outras que surgiram
com proposta semelhante no mesmo periodo: somente a produo originada do consenso
coletivo do grupo, ainda que annimo, obtm seu reconhecimento e legitimidade.
Portanto, a constituio de um poder carismatico ocorre pela alquimia da
consagrao e pela existncia, no campo religioso, de crenas que promovem o revestimento
com carater sagrado do que produto humano. Em decorrncia, estabelece-se uma Iorma de
dominao, porm transIigurada e, como tal, imperceptivel perante o grupo liderado:
Tor na- se necessar i o saber descobr i - l o | poder si mbol i co| onde el e se
dei xa ver menos, onde el e mai s compl et ament e i gnor ado, por t ant o,
r econheci do: o poder si mbol i co , com eI ei t o, esse poder i nvi si vel o
qual so pode ser exer ci do com a cumpl i ci dade daquel es que no
quer em saber que l he so suj ei t os ou mesmo que o exer cem.
5 8 5
Em vista disso, denota-se que a relao social tambm uma relao de
sentido, e no somente uma relao de Iora. Tal Iato, em relao ao lider religioso da IURD,
supe a mobilizao de um poder simbolico, o qual consegue se impor com signiIicaes
legitimas, tendo a cumplicidade de todo grupo do qual Iaz parte. Comentando esse aspecto,
Chartier aIirma:
A domi nao si mbol i ca se deI i ne como uma domi nao que no
supe o r ecur so i medi at o a I or a, el a se deI i ne como a i ncor por ao
dos pr i nci pi os da domi nao, i ncl usi ve pel os domi nados. I st o
possi vel medi ant e si st emas de r epr esent aes col et i vas.
5 8 6
Poderia se aplicar a isso as consideraes de Baczko quando prope uma
imbricao entre imaginario, imagens e relaes de poder, mobilizados em Iavor daquele que
lidera. Reporta-se, como exemplo, a Maquiavel, quando aIirmou que 'governar Iazer crer,
ressaltando que tal expresso
pe em dest aque as r el aes i nt i mas ent r e poder e i magi nar i o, ao
mesmo t empo que r esume uma at i t ude t cni co- i nst r ument al per ant e
as cr enas e o seu si mbol i smo, em especi al per ant e a r el i gi o.
Encont r amos em Maqui avel t oda uma t eor i a das apar nci as de que o
poder se r odei a e que cor r espondem a out r os t ant os i nst r ument os de
domi nao si mbol i ca. As apar nci as I i xam as esper anas do povo no
Pr i nci pe ( . . . ) O Pr i nci pe, r odeando- se dos si nai s do seu pr opr i o
pr est i gi o e mani pul ando habi l ment e t oda a espci e de i l uses
( si mbol os, I est a, et c. ) pode desvi ar em seu pr ovei t o as cr enas
r el i gi osas e i mpor aos seus sudi t os o di sposi t i vo de que r et i r a o
pr est i gi o da sua pr opr i a i magem.
5 8 7
585
BOURDIEU, P. O poaer simbolico, p. 7, 8.
586
CHARTIER, R. Pierre Bourdieu e a Historia, p. 168.
587
BACZKO, B. Op. cit., p. 301.
181
Assim, a produo desses bens simbolicos consiste numa operao de
transubstanciao simbolica. No campo, lideres e Iiis passam a agir e a constituir-se pelas
regras nele existentes, criando a griIe do nome e a necessidade do carisma. Em um processo
coletivo, 'a criao carismatica uma iluso bem Iundamentada:
588
O poder do cr i ador nada mai s do que a capaci dade de mobi l i zar a
ener gi a si mbol i ca pr oduzi da pel o conj unt o dos agent es
compr omet i dos com o I unci onament o do campo. ( . . . ) O t r abal ho de
I abr i cao pr opr i ament e di t o no nada sem o t r abal ho col et i vo de
pr oduo do val or do pr odut o e do i nt er esse pel o pr odut o, i st o ,
sem o conl ui o obj et i vo dos i nt er esses que al guns dos agent es, em
r azo da posi o que ocupam em um campo or i ent ado par a o
pr oduo e ci r cul ao dest e pr odut o, possam t er e I azer ci r cul ar t al
pr odut o, cel ebr a- l o e, assi m, apr opr i ar - se del e si mbol i cament e, al m
de desval or i zar os pr odut os concor r ent es, i st o , cel ebr ados por
concor r ent es.
5 8 9
Pela apropriao de imaginarios e mobilizao de simbolos, a mensagem
dos lideres iurdianos torna-se autorizada por ser investida de autoridade pelo proprio grupo
de onde procede. Assim, pelo processo de transfigurao das relaes sociais, as praticas e
representaes religiosas no so na IURD simples camuIlagem ideologica de instituies ou
de interesses de classes. So produes internas do campo religioso que, pelo eIeito da
consagrao, as tornam irreconheciveis enquanto produo humana e arbitraria, assegurando
sua reproduo:
( . . . ) os agent es soci ai s so agent es cognoscent es que, mesmo quando
submet i dos a det er mi ni smos, cont r i buem par a pr oduzi r a eI i caci a
daqui l o que os det er mi na, na medi da em que el es est r ut ur am aqui l o
que os det er mi na.
5 9 0
A eIicacia do anuncio iurdiano deve ser buscada, ento, no composito
cultural, enquanto raiz, base e Iundamento de sua operosidade, pois para se lanar num
campo um determinado agente precisa dedicar-se a ele, isto , ter uma espcie de 'vocao
que permita esperar dai a satisIao de estar em harmonia com as expectativas.
591
Quem a
possui por ela animado ou 'possuido, empenha sua pessoa, suas convices e seus talentos
especiIicos, sem precisar que objetivos sejam impostos de modo consciente, calculado,
reIletido:
Poi s quem possui vocao encar na o aj ust ament o ent r e as
pr obabi l i dades obj et i vas oI er eci das pel o campo e o capi t al que suas
di sposi es i mpl i ca, sendo as escol has expl i ci t as I ei t as a base de
evi dnci a doxi ca: esse i ndi vi duo sol i ci t ado a I azer al go que
par ece I ei t o par a el e e que exi ge ser I ei t o por el e. Os at os por
588
Id., ibid., p. 156.
589
Id., ibid., p. 163, 164.
590
BOURDIEU, P. ; WACQUANT, L. J. D. Op. cit., p. 143.
591
PINTO, L. Op. cit., p. 137.
182
r eal i zar , l onge de ser em ant eci pados por um pr oj et o, so
si mpl esment e suger i dos por um est ado do mundo que encer r a de
modo vi r t ual a di al t i ca dos possi vei s obj et i vos e das
pot enci al i dades i nscr i t as no cor po e na ment e do i ndi vi duo. As
condi es de xi t o das pr at i cas r epousam sobr e cr enas que so
t ant o mai s eI i cazes e i nt ensas quant o r eI l et em a 'cumpl i ci dade das
est r ut ur as obj et i vas e das di sposi es subj et i vas.
5 9 2
Assim, pela crena nas relaes sociais 'bem terrenas, por meio de uma
transIigurao, as praticas e representaes religiosas so transIeridas para o 'absoluto, o
'sobrenatural ou o 'transcendente. Desse modo ocorre um processo de socializao que
possibilita a aceitao das praticas como se Iossem disposies 'naturais e no socialmente
construidas, promovendo compatibilidade estrutural entre o sistema religioso e a sociedade
na qual ele existe, ainda que tal sistema religioso seja estruturalmente divergente dela.
593
Portanto, preciso que o campo esteja constituido com os elementos
necessarios para a conIigurao do capital simbolico do qual o lider se apropria e mobiliza
em seu Iavor, dando origem ao seu carisma. Da mesma Iorma que ocorre em relao ao
artista, necessario existirem condies sociais para que o lider carismatico parea e
aparente.
594
O lider carismatico iurdiano , assim, construido no campo, modelando-o ao
passo que tambm por ele modelado:
Se o mundo soci al , com suas di vi ses al go que os agent es soci ai s
t m a I azer , a const r ui r , i ndi vi dual e sobr et udo col et i vament e, na
cooper ao e no conI l i t o, r est a que essas const r ues no se do no
vazi o soci al . A posi o ocupada no espao soci al comanda as
r epr esent aes desse espao e as t omadas de posi o nas l ut as par a
conser va- l o ou t r ansI or ma- l o.
5 9 5
O carisma dos lideres iurdianos, portanto, conIigura-se pela mobili:ao do
capital simbolico existente no campo. Pela crena, o carisma se conIigura e demonstrado na
medida em que compartilha um conjunto de 'crenas das pessoas engajadas no campo
596
nas
condies culturais em que se encontram os que a elas aderem, pois 'sem uma resposta ao
anuncio, por mais estratgico que se proponha a ser, nenhum credo germina e cresce.
597
Bourdieu cita Marcel Mauss para aIirmar que preciso que 'as expectativas sociais estejam
presentes, ou que os 'espiritos estejam preparados
598
para tal surgimento. Nesse sentido, os
592
Id., ibid., p. 136.
593
BERGER, Peter L. O Dossel Sagraao. elementos para uma teoria sociologica da religio. So Paulo:
Paulinas, 1985.
594
BOURDIEU, P. Ra:es praticas, p. 188.
595
Id., ibid., p. 27.
596
Id., ibid., p. 177.
597
ROLIM, Francisco Cartaxo. Pentecostais no Brasil. uma interpretao socio-religiosa. Petropolis: Vozes,
1995, p. 12.
598
Id., ibid., p. 188.
183
lideres iurdianos se encontraram 'socialmente predispostos a sentir e a exprimir, com uma
Iora e uma coerncia particulares, disposies ticas ou politicas, ja presentes, de modo
implicito, em todos os membros da classe ou do grupo de seus destinatarios.
599
De Iorma incomum, a trajetoria de Macedo e dos demais lideres que o
auxiliam, descreve a srie de posies ocupadas, no sucessivamente, mas ao mesmo tempo,
por um mesmo lider no campo religioso, que assume representaes diIerentes e simultneas
perante os seus Iiis. Isto se torna possivel porque no caso de movimentos religiosos, 'a
mensagem do Iundador muitas vezes ambigua. Na verdade, pode-se aIirmar que os
Iundadores tm xito precisamente porque signiIicam muitas coisas para muitas pessoas.
600
E na estrutura relacional e no processo de mutao do campo religioso que se pode deIinir o
sentido e a dinmica dessa conjugao de posies.
A seguir, uma analise mais detalhada das tipologias pelas quais o carisma
assume representaes nas praticas iurdianas.
3.6.1 - O carisma do profeta
Em sua obra Economia e Socieaaae,
601
dentre os tipos de agentes sociais
idealizados, Max Weber identiIica o 'carismatico, representado pela Iigura do proIeta, do
guerreiro heroico, do revolucionario, que surge como lider em tempos criticos e a quem so
atribuidos poderes extraordinarios e sobrenaturais. Podendo aparecer em qualquer sociedade,
a religiosidade carismatica que se Iorma em torno desse lider tem grande preocupao com
valores imediatistas, tais como saude, vida longa e riqueza. Nesse sentido, podem ser
destacados ao menos trs aspectos em relao ao perIil 'proItico do movimento iurdiano:
ruptura com os clichs institucionais de consagrao; identiIicao com os dramas
vivenciados pelo povo; ao contestatoria em relao aos demais agentes religiosos atuantes
no campo.
Primeiro, em relao ao rompimento com a instituio, vale considerar que,
de acordo com Bourdieu, no campo religioso a posio de destaque que certos agentes sociais
adquirem deve a sua eIicacia de ao a uma dupla condio: por um lado, pela eIicacia
simbolica do rito da instituio; por outro, atravs do processo de consagrao popular a
partir do capital disposto no campo. Pelo poder de nomeao institucional, os lideres recebem
599
BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. 94.
600
BURKE, P. O que e Historia Cultural?, p. 130.
601
WEBER, Max. Economia e socieaaae, v. 1. Op. cit.
184
titulos ou rotulos oIiciais, mediante o que 'a instituio impe um dever-ser aos agentes
consagrados, agindo sobre a representao que os receptores do discurso institucional tm da
realidade.
602
E preciso, portanto, que os agentes a quem se dirige a instituio estejam
preparados para submeter-se aos seus veredictos o caso dos sacerdotes. Ja os proIetas,
acumulam veredictos dispostos no campo em que esto inseridos, dos quais aparecem como
porta-vozes.
603
E, nesse sentido, no caso da IURD, seus lideres se tornaram produtores diretos
dos bens de seu mundo religioso; criaram seus proprios meios de relao direta com o
sagrado, rompendo ou eliminando as mediaes sacerdotais do catolicismo ou do
clericalismo erudito postulado pelo protestantismo classico.
A trajetoria de consagrao religiosa de Edir Macedo e de seus lideres
auxiliares, ocorre de modo sem precedentes no campo religioso brasileiro em relao ao
protestantismo e ao pentecostalismo classicos. No caso do protestantismo historico,
representado, por exemplo, pelas igrejas luterana, presbiteriana, batista e metodista, constata-
se que ha um critrio institucional bem deIinido para a nomeao daqueles que devem
exercer a liderana pastoral. Apos se inserirem no Brasil, a partir do sculo XIX, essas igrejas
receberam orientao religiosa de pastores estrangeiros, oIicialmente designados pelos paises
de origem. E, quando Iinalmente constituiram as suas primeiras escolas de Iormao
teologica, seguiram o modelo norte-americano ou europeu: pastores so devem exercer este
oIicio apos cursarem teologia por um periodo de quatro a cinco anos, com a
complementao de mais um ano de licenciatura pratica, sob a tutela de um pastor mais
experiente. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o primeiro seminario teologico
protestante criado no Brasil, nas dependncias de uma Igreja Presbiteriana, a 14 de maio de
1867. Os primeiros proIessores eram os pastores-missionarios, todos de nacionalidade
estrangeira. A primeira turma Ioi constituida por trs alunos brasileiros, que receberiam toda
a Iormao segundo a teologia e os dogmas da igreja-me norte-americana. Ja em seguida, os
seus dirigentes providenciaram para que chegassem ao Brasil livros que comporiam a
primeira biblioteca para estudos e pesquisas. Foi assim que, em 1868, sob encomenda do
missionario Ashbel Green Simonton, Iundador daquela escola, vieram no apenas obras
teologicas, mas tambm de Fisica e Astronomia. Segundo o pesquisador Julio Andrade
Ferreira
604
alm de matrias mais especiIicas do campo teologico, como Grego e Homiltica,
602
BONNEWITZ, P. Op. cit., p. 101.
603
Id., ibid., p. 102.
604
FERREIRA, Julio A. Historia aa Igrefa Presbiteriana ao Brasil. 2 ed. v. 1. So Paulo: Cultura Crist, 1959,
p. 85; GOMES, Antnio Maspoli de Araujo. Origens e imagens do protestantismo brasileiro no sculo XI numa
perspectiva calvinista e weberiana. Cincias aa Religio. Historia e Socieaaae, Universidade Presbiteriana
Mackenzie, So Paulo, ano 1, n. 1, p. 71-106, 2003.
185
os alunos tambm tinham aulas de Algebra, Aritmtica, Ingls, Latim e Gramatica
Portuguesa. Chamberlain Iicou responsavel pela coordenadoria de ensino e o curso completo
por ele elaborado tinha a durao de seis anos. Pouco tempo depois, em 1888, ao se expandir
para a regio de So Paulo, a Igreja Presbiteriana do Brasil estabeleceu outro seminario
teologico na cidade de Campinas.
O que se observa nessas experincias a preocupao de se Iormar lideres
com bom nivel de conhecimento intelectual, tendo como reIerncia a cultura estrangeira.
Assim, de origem norte-americana ou europia, perIil elitista e com uma mensagem
racionalizadora do mundo, o protestantismo classico desenvolvido no Brasil demonstrou
desde o inicio ter grandes diIiculdades para aproximar-se das camadas sociais mais
populares.
No muito diIerente o caso do pentecostalismo classico, desenvolvido no
pais nas primeiras dcadas do sculo XX. Observa-se que, apesar de haver menor rigor
quanto ao preparo teologico de seus lideres, ainda assim, no caso da Assemblia de Deus, por
exemplo, seus Iundadores possuiam um curso teologico.
605
Mais tarde, em 1958, Ioi inclusive
Iundado o Instituto Biblico das Assemblias de Deus (IBAD), em Pindamonhangaba, interior
de So Paulo, onde se Iormam a cada ano, em mdia, 210 novos pastores que vo comandar
os mais de 180 mil templos que essa igreja hoje a maior igreja evanglica do pais com 8,6
milhes de Iiis tem espalhados por todo o pais.
606
Tambm no pentecostalismo de 'cura
divina, desenvolvido a partir da dcada de 1950, igrejas como do Evangelho Quadrangular e
O Brasil para Cristo desenvolveram critrios e ritos institucionalizados para a ordenao de
seus lideres.
No caso do lider iurdiano, especialmente Edir Macedo, ha uma distino
que o conIigura como um proIeta, 'portador de um carisma pessoal
607
atribuido por uma
iluminao direta do sagrado, sem a mediao institucional, razo porque obteve xito
possibilitando que houvesse uma 'consagrao do hertico.
608
Ao comentar as razes do
sucesso de sua igreja, Macedo retrata bem este aspecto: 'Atribuo o crescimento da Igreja a
atuao do Espirito Santo nos coraes do povo que Iaz parte dela (...) A direo da obra vem
do Espirito Santo, no do homem.
609
Esse reconhecimento vem, igualmente, da propria
IURD, que Iaz questo de ressaltar o carisma do seu lider-Iundador como um dom divino:
605
Revista Igrefa, So Paulo, jul. 2007.
606
Revista Jefa, So Paulo, p. 84, 12 jul. 2006.
607
WEBER, Max. Economia e socieaaae, v. 1, p. LI.
608
BOURDIEU, P. Esboo ae auto-analise, p. 108.
609
Revista Isto E, So Paulo, 14 dez. 1994.
186
Com o obj et i vo de pr egar o evangel ho a t oda cr i at ur a e l evar as
pessoas a encont r ar em o ver dadei r o cami nho da paz e da I el i ci dade
et er na, ha cer ca de vi nt e e ci nco anos, o j ovem past or , Edi r Macedo,
usava t oda a sua I e det er mi nao numa pr aa do Mi er , subur bi o
do Ri o de Janei r o, par a r eal i zar var i as pr egaes. Em j ul ho de 1977,
est e j ovem, auxi l i ado por out r as pessoas, que compar t i l havam da
mesma I , I undava a pr i mei r a I gr ej a Uni ver sal do Rei no de Deus.
No demor ou mui t o par a que a I URD most r asse que t i nha sur gi do
pel a vont ade do Espi r i t o Sant o. O poder de Deus se mant eve t o
I or t e sobr e a I gr ej a que, l ogo, out r os espaos pr eci sar am ser
al ugados par a dar l ugar a mai s I i i s. Naquel a poca, a di vul gao
dos cul t os er a I ei t a por dez obr ei r os, que col avam I ol het os nos
post es e convi davam as pessoas par a assi st i r em as r euni es.
6 1 0
Comentando o assunto, Cartaxo Rolim aIirma que o proIeta
( . . . ) no nasce das I i l ei r as sacer dot ai s. No , poi s, o homem do
cul t o. Mas al gum que pr ocl ama uma r evel ao r ecebi da do al t o. A
ment e, a pal avr a, o poder do pr oI et a est o ancor ados num dom
pessoal dado gr adat i vament e por uma di vi ndade.
6 1 1
Essas representaes esto em sintonia com a compreenso de Weber
quando Iala sobre a Iora que o lider carismatico possui em relao aos seguidores:
So consi der ados especi al ment e sagr ados e di vi nos devi do a sua
excepci onal i dade psi qui ca e ao val or i nt r i nseco dos r espect i vos
est ados por el es condi ci onados ( . . . ) par a o devot o o val or sagr ado,
ant es e aci ma de t udo ( . . . ) Est e val or sagr ado t or na o el ement o
car i smat i co cer ne emoci onal da exper i nci a r el i gi osa e i mpe a
submi sso i nt i ma ao i ndi t o e absol ut ament e uni co, por t ant o
di vi no.
6 1 2
Joachim Wach comenta este aspecto da 'vocao divina do proIeta como
sendo um dos segredos do xito da sua atuao:
A consci nci a de ser or go, ou i nst r ument o ou por t a- voz da vont ade
di vi na car act er i za a aut o- i nt er pel ao do pr oI et a ( . . . ) vi ses,
t r anses, sonhos ou xt ases ocor r em com I r eqnci a ( . . . ) o pr oI et a
est a pr epar ado par a r eceber e i nt er pr et ar mani I est aes do di vi no
( . . . ) Com I r eqnci a el e apar ece como r enovador de cont at os
per di dos com os poder es ocul t os da vi da, e aqui se par ece com o
I ei t i cei r o e o cur andei r o. O pr oI et a l ana l uz no passado e
i nt er pr et a- o, mas el e ant eci pa t ambm o I ut ur o.
6 1 3
Marcelo Crivella, inIluente bispo iurdiano, declara:
As denomi naes pr ot est ant es t r adi ci onai s, que chegar am
pr i mei r ament e ao Br asi l l anar am aqui uma boa sement e. Por m, a
I gr ej a Uni ver sal sur gi u como uma i gr ej a de poder , que most r a cur a,
em que os espi r i t os mal i gnos so expul sos dos cor pos das pessoas.
I sso t r az r eal ment e mudanas a vi da das pessoas e se encai xa
610
Id., ibid.
611
ROLIM, F. C. Op. cit., p. 73.
612
WEBER, Max. Economy ana socity. Berkeley: University oI CaliIornia Press, 1978, p. 117.
613
WACH, Joachim. Sociologia aa religio. So Paulo: Paulinas, 1990, p. 416.
187
per I ei t ament e a Pal avr a de Deus. A vi so da Uni ver sal de
t r abal har com os aI l i t os.
6 1 4
Crivella, ao comentar a maneira como Edir Macedo experimentou rejeies
no mbito do protestantismo classico, destaca elementos signiIicativos que identiIicam o
Iundador da IURD como um 'proIeta que emerge do povo e Ioge aos estereotipos
estabelecidos pelas instituies:
Na poca em que eu I azi a o segundo gr au, el e | Edi r Macedo| I azi a
I acul dade de est at i st i ca, ( . . . ) Conver savamos sobr e a Bi bl i a, el e
di zi a: 'Rapaz, Deus t em que I azer uma obr a nest e Br asi l . Assi st i
de per t o ao sur gi ment o de um gr ande l i der , que I oi l evant ado por
Deus. Nas i gr ej as pel as quai s passou, no havi a at r at i vo al gum nel e
que desper t asse a at eno dos out r os past or es. El e t em um deI ei t o
nas mos. Er a uma pessoa que, quando pegava o mi cr oI one,
demor ava um pouco par a I al ar , no t i nha aquel a r et or i ca
ent usi asmada dos past or es. No cant ava mui t o bem. Er a apenas um
homem com uma I mui t o gr ande. Er a um pat i nho I ei o, mas Deus o
conduzi u par a ser o l i der da I gr ej a Uni ver sal , que hoj e cr esceu mai s
do que t odas as i gr ej as pel as quai s passamos, e nas quai s o bi spo
esper ava t er a chance de ser convi dado a ser past or .
6 1 5
Victor Turner, em sua obra O Processo Ritual, emprega o conceito de
'liminaridade para se reIerir a 'ao cultural de 'pessoas que escapam a rede de
classiIicaes que normalmente determina a localizao de estados e posies num espao
cultural (...), pessoas que Iogem as ordenanas da lei, conveno e costumes,
616
estabelecendo-se em 'regies de Ironteira, Iormando comunidades 'vicinais como modelo
de sociabilidade.
617
As expresses culturais que agem nesse nivel 'podem ser muito criativas
em sua libertao dos controles estruturais ou podem ser consideradas perigosas do ponto de
vista da manuteno da lei e da ordem declara esse autor,
618
que acrescenta:
Os pr oI et as t endem a ser pessoas l i mi nar es ou mar gi nai s,
'I r ont ei r i os que se esI or am com veement e si ncer i dade por
l i ber t ar - se dos cl i chs l i gados as i ncumbnci as da posi o soci al e a
r epr esent ao de papi s, e ent r ar em r el aes vi t ai s com os out r os
homens, de I at o ou na i magi nao. ( . . . ) Tr ansgr i de ou anul a as
nor mas que gover nam as r el aes est r ut ur adas e i nst i t uci onal i zadas,
sempr e acompanhadas por exper i nci a de um poder i o sem
pr ecedent es.
6 1 9
Segundo Turner, os proIetas surgem nos 'intersticios da estrutura, na
liminaridade ou na marginalidade; no costumam provir da aristocracia, do meio dos doutos;
614
CRESCIMENTO DA IGREJA UNIVERSAL do Brasil para o mundo. Rio de Janeiro: Universal
Produes, 2000. Documentario em videocassete.
615
Revista Eclesia, Rio de Janeiro, ano V, n. 50, p. 12, jan. 2000.
616
TURNER, Victor W. Op. cit., p. 5.
617
SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. Cit., p. 08.
618
Id., ibid.
619
TURNER, V. Op. cit., p. 155.
188
Ireqentemente surgem dentre o povo mais simples.
620
Esta compreenso esta de acordo
com a viso dos Iundadores do movimento iurdiano:
Os mel hor es past or es no saem dos semi nar i os. Past or que nem
j ogador de I ut ebol : el es saem das escol i nhas; el es sur gem,
apar ecem. Depoi s so pr eci sam ser l api dados. Com o passar dos anos,
el es vo I i car mui t o mai s pr epar ados do que j amai s I i car i am num
semi nar i o nor mal . Os gr andes homens de Deus sur gi r am do nada,
sem pr epar ao.
6 2 1
O pastor iurdiano J. Cabral observa que para ser pastor na Universal, 'os
requisitos so a converso, a dedicao e o desejo de Iazer a obra de Deus. O aprendizado
para exercer o pastorado ocorre mediante a 'atuao pratica e direta nas igrejas. Assim, para
o aspirante a pastor Iundamental aprender a reproduzir corretamente o que os pastores
titulares Iazem no pulpito. Este carater do chamado divino para o exercicio da Iuno
pastoral destacado pela igreja:
Consci ent e da ur gnci a que a popul ao mundi al t em de ouvi r a
Pal avr a de Deus, a I gr ej a Uni ver sal compr eende a necessi dade da
i medi at a I or mao de past or es. Por i sso, l evant a homens de Deus em
car at er emer genci al e os encami nha par a cumpr i r o 'i de de Jesus.
Par a a I gr ej a Uni ver sal do Rei no de Deus no pr eci so est udar
ci nco anos de Teol ogi a par a I al ar do que o amor , a mi ser i cor di a e o
poder de Jesus podem I azer na vi da dos que O acei t am como
Sal vador . A I URD pr ega uma I pr at i ca, at i va e di nmi ca. Seus
past or es so or i ent ados a l evar o povo a vi v- l a, no buscando
apenas sabedor i a. Quem det er mi na o chamado par a a obr a o
Espi r i t o Sant o, de acor do com o car at er , a I e a di sponi bi l i dade do
candi dat o.
6 2 2
Pastores e bispos iurdianos so, portanto, leigos quase que na sua totalidade;
no Iizeram curso teologico, at porque no lhes exigido. So-lhes designados tais titulos e
Iunes pela desenvoltura e habilidade no exercicio do seu carisma:
Esses past or es | da I URD| , bem como os 'obr ei r os e 'obr ei r as, so
sel eci onados segundo seu car i sma e seu dom de or at or i a, num
r econheci ment o da gr aa dada ao i ndi vi duo ( . . . ) aspect o no-
despr ezi vel I r ent e a or i gem humi l de da mai or i a del es.
6 2 3
O treinamento do Iuturo pastor acontece normalmente no proprio templo
que Ireqenta. Depois da entrada na igreja, portanto, preciso percorrer um caminho que
requer constncia e Iidelidade, participao, trabalho intenso e certa abdicao total da vida
pessoal. 'So rapazes de poucos recursos, com baixa escolaridade observa uma
620
Id., ibid.
621
Revista Eclesia, Rio de Janeiro, n. 67, p. 30, abr. 2001. Palavras de R. R. Soares, cuja perspectiva
compartilhada por Edir Macedo quando demonstra averso a erudio teologica classica, como se observa em
seu livro Libertao aa Teologia. Op. cit.
622
http://www.igrejauniversal.org.br Acesso em: 25 mar. 2005.
623
MAFRA, C. Op. cit., p. 43, 44.
189
reportagem jornalistica.
624
Comeam lendo os livros do bispo Macedo, depois passam por um
curto treinamento, que dura em mdia trs meses, ganhando em seguida o titulo de pastor.
Inicialmente como obreiro, depois auxiliar de pastores, pastor e, Iinalmente, bispo. E la, junto
a outro pastor e, sob a sua orientao, que o candidato a pastor recebe um preparo pratico de
como conduzir o publico, dar orientaes, realizar milagres e Iazer exorcismos. E no
cotidiano que o Iuturo lider assimila ou reconIigura no apenas um universo simbolico, mas
tambm os procedimentos praticos que lhe compete no exercicio dessa Iuno, assim como a
conIiana e a respeitabilidade por parte dos Iiis.
Por ser uma obr a de Deus, a I URD no par a de cr escer . Por i sso
mesmo, necessi t a cada vez mai s de novos bi spos, past or es, obr ei r os
e membr os par a socor r er em os mai s necessi t ados. E i mpor t ant e di zer
que o br ao di r ei t o da I gr ej a Uni ver sal compost o de homens e
mul her es, que um di a t i ver am uma exper i nci a com o Espi r i t o Sant o
e col ocar am suas vi das a ser vi o de Deus.
6 2 5
A procedncia do proprio grupo para o qual dirige a sua mensagem
possibilita criar maior identiIicao dos proIetas com os anseios e o universo representacional
dos seus Iiis. Essa identiIicao entre lideres e Iiis promove um processo dialtico entre a
'linguagem autorizante e a 'linguagem autorizada:
626
O mi st r i o da magi a per I or mat i va r esol ve- se assi m no mi st r i o, i st o
, na al qui mi a da r epr esent ao at r avs da qual o r epr esent ant e
const i t ui o gr upo que o const i t ui u: o por t a- voz dot ado do poder
pl eno de I al ar e de agi r em nome do gr upo, I al ando sobr e o gr upo
pel a magi a da pal avr a de or dem, o subst i t ut o do gr upo que exi st e
soment e por est a pr ocur ao.
6 2 7
Atuando na liminaridade de um proIeta, Macedo demonstra grande
desconIiana em relao a teologia institucional. Em um dos seus livros de grande tiragem,
intitulado A Libertao aa Teologia,
628
alerta que os dogmas estabelecidos a partir dessa area
do conhecimento anulam a espontaneidade da I, impedindo sua 'maniIestao miraculosa:
Todas as I or mas e t odos os r amos da Teol ogi a so I ut ei s. No
passam de emar anhados de i di as que nada di zem ao i ncul t o;
conI undem os si mpl es e i l udem os sabi os. Nada acr escent am a I ;
nada I azem pel o homem seno t al vez aument ar sua capaci dade de
di scut i r e di scor dar . ( . . . ) Cr i st i ani smo de mui t a t eor i a e pouca
pr at i ca; mui t a t eol ogi a, pouco poder ; mui t os ar gument os, pouca
mani I est ao; mui t as pal avr as, pouca I .
6 2 9
624
Revista Jefa, So Paulo, 06 set. 2000.
625
http://www.igrejauniversal.com.br . Acesso em: 27 mar. 2005.
626
BOURDIEU, P. A economia aa trocas simbolicas, p. 92, 93.
627
Id., ibid., p. 83.
628
MACEDO, Edir. A libertao aa teologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Editora GraIica Universal, 1990.
629
Id., ibid.
190
Entretanto, no obstante ao discurso reticente em relao a Teologia, a
Igreja Universal ressalta que o seu lider 'Iala Iluentemente trs idiomas, portugus, ingls e
espanhol e destaca como parte de seu curriculo uma extensa lista de cursos teologicos
realizados:
Bachar el em Teol ogi a, pel a Facul dade Evangl i ca de Teol ogi a
'Semi nar i o Uni do. Dout or em Teol ogi a, Facul dade de Educao
Teol ogi ca no Est ado de So Paul o ( FATEBOM) . Dout or em
Fi l osoI i a Cr i st , pel a Facul dade de Educao Teol ogi ca no Est ado
de So Paul o ( FATEBOM) . Dout or Honor i s Causa em Di vi ndade,
pel a Facul dade de Educao Teol ogi ca no Est ado de So Paul o
( FATEBOM) . Mest r e em Ci nci as Teol ogi cas, pel a Feder aci on
Evangl i ca Espaol a de Ent i dades Rel i gi osas 'F. E. E. D. E. R
( MADRI D, ESPAA) .
6 3 0
O proprio Macedo se apressa em reverter em seu beneIicio a ostentao dos
titulos teologicos que lhe so atribuidos, dizendo que por isso Iala com maior autoridade e
propriedade, pois conhece bem os 'perigos que tal Iormao pode representar.
O Iato que a IURD produz e elabora a sua propria concepo teologica,
ancorada no em especulaes caracteristicamente conceituais ou IilosoIicas, mas sim, no
universo das praticas e do vivido. Ha, em seu espao, uma teologia propria, Iundamentada
numa leitura Iuncional da Biblia. Nas centenas de paginas dos livros de autoria de Edir
Macedo, analisadas para esta pesquisa, observa-se, por exemplo, que o autor recorre
insistentemente as citaes biblicas na proposio dos seus argumentos. VeriIica-se tambm
que bastante caracteristico que os textos biblicos sejam interpretados e Iiltrados a partir de
um substrato cultural que proprio de seu habitus e imaginario religioso. A coerncia das
postulaes teologicas iurdianas Iundamenta-se na logica do sistema religioso. A teologia que
nasce de tal procedimento da coerncia as praticas ao mesmo tempo em que tambm por ela
reIerendada. Exemplo desta 'prova de Iogo, estabelecida por Macedo e seus lideres a
mensagem que anunciam, ocorre durante os rituais de cura e de exorcismo, quando as
palavras se materializam em cenas dramaticas perante os Iiis.
A teologia 'liminar de Macedo transportada para os diversos livros
publicados por sua autoria. O site da Igreja reIere-se ao seu lider destacando a sua atuao
como escritor:
Escr i t or evangl i co com mai s de 10 mi l hes de l i vr os vendi dos,
di vi di dos em 34 t i t ul os, dest acando- se best - sel l er s 'Or i xas,
630
http://www.igrejauniversal.com.br . Acesso em: 25 jul. 2005. Vale observar que alguns desses cursos podem
ser Ieitos a distncia, por correspondncia ou por outros recursos magnticos ou eletrnicos, sem necessidade,
por exemplo, de Ireqncia as aulas.
191
cabocl os e gui as e 'Nos Passos de Jesus, ambos com mai s de 3
mi l hes de exempl ar es vendi dos no Br asi l .
6 3 1
Tambm se valoriza a inIluncia desses escritos na vida dos Iiis: 'F a
palavra magica sempre presente nos livros do Bispo Macedo, porque ele aspira, respira e
transpira esse maravilhoso sentimento que eleva e enleva, concedendo-nos a senha para
penetrarmos no corao de Deus,
632
acrescentando-se ainda as especiIicidades na atuao
desse lider:
El e t or nou- se, t ambm, um consagr ado aut or de l i vr os. Seus
escr i t os, que no I azem concesses as l i nhas t eol ogi cas, t m
pr est ado um eI i caz combat e ao engano, a ment i r a e ao er r o
r el i gi oso, t r ansmi t i ndo ao l ei t or os ensi nament os bi bl i cos como so
e est o, at r avs de r edao cl ar a e obj et i va. A pr egao dest emi da e
a I or ma de I al ar do bi spo Edi r Macedo o t r ansI or mar am, em poucos
anos, de past or , ant es sem pul pi t o, a l i der mundi al da I gr ej a
Uni ver sal do Rei no de Deus, que congr ega, hoj e, mi l hes de I i i s.
6 3 3
Comprometidos, portanto, com a 'teologia do vivido, bispos e pastores da
IURD no cursam teologia. As palavras de um ex-pastor da IURD no so tambm constatam
essa realidade, como ainda demonstram as representaes que de Iato tm valor para os Iiis
seguidores desta Igreja:
Na mi nha vi so, os past or es er am mensagei r os cel est i ai s ( . . . ) O que
mai s me mar avi l hava naquel es homens er a o I at o de que a mai or i a
er a gent e humi l de, sem i nst r uo I or mal . Mui t os nem sequer t i nham
o pr i mei r o gr au compl et o. No havi am passado anos I r eqent ando
semi nar i os e I acul dades de Teol ogi a e mui t as vezes se embar aavam
par a l er e expl i car uma si mpl es passagem bi bl i ca. Al guns, em mei o
a uma t r ansmi sso ao vi vo, l i am na Bi bl i a 'par abol as de Jesus com
a t ni ca no o em vez de par abol as.
6 3 4
Em segundo lugar, destaca-se a identiIicao do proIeta iurdiano com os
seus seguidores. AIirma Bourdieu que, no sentido weberiano, um dos signiIicados da atuao
carismatica do proIeta o de oIerecer 'resposta sistematica a todos os problemas da
existncia:
635
Os pr oI et as so pr odut or es e por t ador es das 'r evel aes
met aI i si cas ou t i co- r el i gi osas ( . . . ) O pr oI et a o por t ador de uma
nova vi so do mundo que sur ge aos ol hos do l ei go como
'r evel ao, como um mandat o di vi no. ( . . . ) E o por t ador de um
'di scur so de or i gem, o i nt er medi ar i o e o anunci ador de mudanas
soci ai s.
6 3 6
631
http://www.igrejauniversal.org.br. Acesso em: 02 ago. 2004.
632
MACEDO, Edir. Nos passos ae Jesus. 13 ed. Rio de Janeiro. GraIica Universal, 2004, p. 5.
633
http;//www.igrejauniversal.org.br . Acesso em: 20 set. 2005.
634
JUSTINO, M. Op. cit., p. 28.
635
CHARTIER, R. Praticas aa leitura, p. 241.
636
BOURDIEU, P. A economia aa trocas simbolicas, p. LVI.
192
O surgimento e a projeo do lider carismatico se da, sobretudo, em
'situaes de crise, quando a ordem estabelecida ameaa romper-se ou quando o Iuturo
inteiro parece incerto:
O di scur so pr oI t i co t em mai or es chances de sur gi r nos per i odos de
cr i se aber t a envol vendo soci edades i nt ei r as; ou ent o, apenas
al gumas cl asses, val e di zer , nos per i odos em que t r ansI or maes
econmi cas ou mor I ol ogi cas det er mi nam, nest a ou naquel a par t e da
soci edade, di ssol uo, o enI r aqueci ment o ou absol escnci a das
t r adi es ou dos si st emas si mbol i cos que I or neci am os pr i nci pi os da
vi so do mundo e da or i ent ao da vi da.
6 3 7
Esse aspecto da atuao do lider iurdiano como 'proIeta se apresenta,
assim, na proposta de uma mensagem voltada a oIerecer respostas imediatas as situaes de
crises. A teoria social de Weber, ao tecer redes culturais de signiIicado, Iala de proIetas
carismaticos que surgem em um contexto social marcado por 'situaes extraordinarias,
cujo carisma se torna revolucionario e criativo, abrindo caminho para um novo Iuturo. Os
proprios lideres iurdianos apresentam depoimentos sobre essa atitude distintiva do
movimento sob sua liderana:
Ao l ongo dest es 20 scul os o cr i st i ani smo qui s se t or nar uma
r el i gi o hegemni ca, mas ao mesmo t empo al i ou- se a mui t os
i nt er esses e poder es que compr omet er am a essnci a do evangel ho.
No caso do Br asi l , por scul os o povo so conheceu um t i po de
cr i st i ani smo, o cat ol i ci smo. So a par t i r do scul o XI X chegar am as
i gr ej as hi st or i cas. Por m, cont i nuou exi st i ndo uma di st nci a mui t o
gr ande ent r e o povo e os sacer dot es/ past or es. As pessoas
per maneci am ai nda angust i adas em busca de r espost as par a os seus
dr amas pessoai s. I st o I ez i ncl usi ve com que r ecor r essem a out r as
pr at i cas r el i gi osas, sem cont udo encont r ar expl i caes par a as
causas de seus soI r i ment os. Foi ai que Deus l evant ou, em mei o a
esse cont ext o de i dol at r i a um movi ment o que vi r i a a dar
cont i nui dade a i gr ej a pr i mi t i va cr i ada por Jesus. I sso mudar i a o
cur so da evangel i zao no Br asi l .
6 3 8
Em uma entrevista, ao Ialar sobre o surgimento da IURD e os motivos que o
levaram a Iundar a sua propria igreja, Edir Macedo revela um episodio bastante pessoal, mas
que identiIica bem a situao de soIrimento por que passam tantos outros brasileiros:
Tudo comeou quando nasceu a mi nha I i l ha mai s vel ha, Vi vi ane.
Vi vi ane nasceu acomet i da de pr obl emas sr i os de saude, havendo
i ncl usi ve por par t e dos mdi cos di agnost i cos de que er a por t ador a
de debi l i dades i r r ever si vei s que a i mpossi bi l i t ar i am de I al ar e t er
uma vi da nor mal . Di ant e desse I at o, sent i de per t o o dr ama de
out r as I ami l i as que sem condi es I i nancei r as padecem com I i l hos
doent es, sem r ecur sos par a encami nha- l os a um t r at ament o mdi co
especi al i zado. I sso I ez com que se movesse dent r o de mi m um
i nt enso desej o de I undar uma i gr ej a na qual as pessoas pudessem
637
Id. ibid., p. 74, 75.
638
Depoimento de Paulo Guimares, bispo da IURD. CRESCIMENTO DA IGREJA UNIVERSAL do Brasil
para o mundo. Rio de Janeiro: Universal Produes, 2000. Documentario em videocassete.
193
encont r ar uma por t a aber t a que l hes oI er ecesse socor r o e ampar o em
moment os de desesper o e angust i a. Por i sso t r azemos desde o i ni ci o
da i gr ej a, como l ema, a mensagem: 'Par e de soI r er .
6 3 9
A esposa de Edir Macedo, Ester Bezerra, tambm contundente ao
recordar esse episodio: 'Com o nascimento da Viviane, nasceu a Igreja Universal. Lembra
ainda o casal que hoje Viviane ' uma pessoa completamente curada de seus problemas de
inIncia.
640
Macedo destaca tambm a dimenso mais coletiva deste episodio que o
teria levado a dar inicio a um novo movimento religioso: 'Queria ajudar o povo brasileiro a
descobrir a causa de seu soIrimento e encontrar respostas concretas para os seus males.
Queria mostrar as pessoas que o evangelho capaz de liberta-las das estruturas religiosas que
no ensinam uma I sobrenatural com resultados praticos. Explica melhor esse proposito ao
dizer que atravs da IURD 'o povo tem a oportunidade de tocar o sagrado, cantar, aplaudir,
sentir-se protagonista, como algum que no apenas vai a uma cerimnia religiosa para ouvir
do pulpito sermes distantes da realidade em que vive, como normalmente acontece nas
igrejas tradicionais.
641
Os proIetas iurdianos promovem ento uma interatividade com aqueles que
normalmente esto colocados tambm a margem: 'Na liminaridade, as crises da vida e as
mudanas de posio social encontram oportunidade de maniIestaes pelos sinais externos e
sentimentos internos de distino de situao social e Iundir-se com as massas.
642
Citando
Durkheim, Bourdieu aIirma que da mesma Iorma que um 'emblema constitui 'o sentimento
que a sociedade tem de si mesma, a Iala e a pessoa do proIeta 'simbolizam as
representaes coletivas porque contribuiram para constitui-las, e acrescenta:
O pr oI et a t r az ao ni vel do di scur so ou da condut a exempl ar ,
r epr esent aes, sent i ment os e aspi r aes que j a exi st i am ant es del e
embor a de modo i mpl i ci t o, semi consci ent e ou i nconsci ent e. Em
suma, r eal i za at r avs de seu di scur so e de sua pessoa, como I al as
exempl ar es, o encont r o de um si gni I i cant e e de um si gni I i cado
pr eexi st ent es ( . . . ) por i sso que o pr oI et a ( . . . ) pode agi r como uma
I or a or gani zador a e mobi l i zador a.
6 4 3
A Igreja Universal Iaz questo de ressaltar a identiIicao de Edir Macedo
com o povo brasileiro:
639
CRESCIMENTO DA IGREJA UNIVERSAL do Brasil para o mundo. Rio de Janeiro: Universal
Produes, 2000. Documentario em videocassete.
640
Id., ibid.
641
Id., ibid.
642
Id., ibid., p. 243.
643
Id., ibid., p. 92, 93.
194
De habi t os si mpl es, o bi spo no consi der a o seu est i l o de vi da
di I er ent e do de qual quer ser vo usado por Deus. E, depoi s de mai s de
24 anos a I r ent e de um r ebanho de I i l hos na I , cada vez mai s
numer oso, el e aI i r ma que, se t i vesse de r ecomear t udo de novo, no
mudar i a nada do que I oi I ei t o at o moment o, mant endo sempr e a
mesma l i nha de ao: pr egao do Evangel ho par a sal vao e
l i ber t ao das pessoas. O bi spo nunca escondeu a sua i nsat i sf ao
e preocupao com a si t uao do Brasi l e com os probl emas das
pessoas. Descompr omi ssado com as cor r ent es I i l osoI i cas e
r el i gi osas, el e est a sempr e pr ont o par a dar uma pal avr a de I e
ni mo a t odos os seus ouvi nt es.
6 4 4
| gr i I os nossos|
E igualmente notavel o Iato de quase todos os pastores iurdianos ja terem
experimentado episodios de adversidades pessoais e sociais multiplas, tais como desemprego,
crise Iamiliar ou Iinanceira, convivio com a violncia urbana, entre outros. Romualdo
Panceiro, atualmente, um dos bispos mais inIluentes na hierarquia da IURD, responsavel pela
direo do Templo Maior da F, localizado em Santo Amaro - SP, onde atua com o auxiliar
direto de Edir Macedo tem uma historia de vida marcada por dramas. A igreja reIere-se ao
testemunho de vida do bispo da seguinte maneira: 'Assim como acontece com varios outros
bispos e pastores da Igreja Universal, o bispo Romualdo teve uma vida soIrida, sentiu
solido, desprezo, Iome e dor. Hoje, ele sabe entender um corao desesperado que chega at
um templo da IURD. Ele sabe o que essas pessoas com as vidas destruidas precisam e como
Iazs-la enxergar a vitoria que esta poucos passos a Irente.
645
O proprio Romualdo relata que
tendo nascido em um lar com posses e recursos materiais, veio a experimentar posteriormente
a misria e o soIrimento, apos o pai ter sido acometido de disturbios mentais, vindo a morrer
de cncer. 'Hoje tenho conscincia de que a loucura de meu pai Ioi Iruto de um trabalho de
bruxaria, que atingiu tambm minha me e os trs Iilhos. Passei a trabalhar, mas sempre
enIrentando muitas diIiculdades, tendo uma vida muito arrasada recorda. 'Foi ento que a
minha me conheceu o trabalho da Igreja Universal atravs de um programa de radio e
passou a Ireqenta-la. Ela comeou a Iazer uma corrente direcionada a minha vida. Todos os
dias ela levava uma Ioto minha para a igreja. Nessa poca, eu ja usava drogas e no dormia.
Foi quando abriu uma igreja Universal perto da minha casa e eu decidi ir a um culto. Cheguei
no templo, com um casaco do meu irmo, uma cala jeans suja e um sapato Iurado, mesmo
assim recebi a ateno de um obreiro e desabaIei com aquele homem de Deus. Comecei a
Iazer as correntes de libertao e de prosperidade. Um dia, numa reunio especial no
Maracan, dirigida pelo bispo Edir Macedo, eu me ajoelhei, abri meu corao e comecei a
chorar. No me importei com nada. Quando sai dali eu era uma nova criatura. Naquele dia eu
644
http://www.igrejauniversal.org.br . Acesso em: 15 ago. 2005.
645
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 70, p. 47, 2000.
195
tive um encontro real com Jesus e enIrentei todos os meus problemas. Logo passei a ganhar o
respeito de todos de minha Iamilia e do meu trabalho, at que um dia Iui chamado para ser
pastor. A IURD Iaz questo de destacar o impacto da atuao desse lider hoje: 'Quem
assiste a um culto do bispo Romualdo percebe a Iora da dedicao desse homem de Deus.
Nesses cultos a presena do Espirito Santo sentida de tal maneira que as pessoas vo as
lagrimas e tm um verdadeiro encontro com Jesus.
Tambm o bispo Clodomir dos Santos, 38 anos, apresentador de um dos
principais programas televisivos denominado 'Fala que eu te escuto, ressalta em seu
testemunho de vida que enIrentou a 'misria, vicios, marginalidade na inIncia e
adolescncia, mas que atravs da I conquistou 'uma nova vida. Em uma inIncia marcada
pela misria Iinanceira e a Iamilia desestruturada, chegou a envolver-se com armas e drogas:
Com doze anos comecei a consumi r cocai na. Mi nha I ami l i a er a
di vi di da, com mui t os soI r i ment os em casa. A I ome chegou. Eu e
meu i r mo ent r amos par a uma quadr i l ha e comeamos a r oubar .
Tor nei - me em pouco t empo um dos t r aI i cant es mai s pr ocur ados nas
I avel as do Ri o de Janei r o. Quando est ava ameaado de mor t e por
gr upos r i vai s, t i ve de mudar - me do bai r r o onde vi vi a com a I ami l i a.
Recebi um l i vr o de um homem da I gr ej a Uni ver sal do Rei no de Deus
chamado Or i xas, Cabocl os e Gui as, do bi spo Edi r Macedo. Comecei
a l er e a t r emer ; eu pensava em sui ci di o a noi t e, I ui a i gr ej a
Uni ver sal do bai r r o onde mor ava. Cheguei l a aI l i t o, sem saber o que
I azer , pensando em mor r er . Mas a par t i r da i da ao t empl o mi nha
vi da comeou a mudar . La me acol her am e me aj udar am a exer ci t ar
a I . Naquel a semana I oi aber t a uma possi bi l i dade de empr ego. Oi t o
meses depoi s, I ui l evant ado a obr ei r o na ocasi o, passei a
I reqent ar a I URD do Mar acan. Tempos depoi s dei xava o empr ego
par a ser auxi l i ar de past or pel as mos do bi spo Sr gi o von Hel de.
6 4 6
No diIerente a historia de Renato Santos, hoje bispo da IURD na cidade
de Curitiba - PR e responsavel pelo trabalho da Igreja no Estado do Parana. Renato teve uma
adolescncia marcada por dramas. Aos treze anos, por inIluncia dos colegas do conjunto
habitacional onde morava, em Vista Alegre, Rio de Janeiro - RJ, teve a primeira experincia
com maconha: 'Apesar de saber que o caminho pelo qual outros haviam enveredado os
conduzira a marginalidade, e muitas vezes a morte, uma Iora maior me impelia as mesmas
experincias, e depois com drogas ainda mais pesadas recorda, emocionado. Renato Ioi
detido pela policia cinco vezes e internado em uma clinica para dependentes quimicos, e nada
surtia eIeito. Na ocasio conheceu a atual esposa, que ja Ireqentava a Igreja Universal:
'Consegui autorizao para sair da clinica e Iui ao culto com ela. La o pastor orou e um
espirito, maniIestando atravs da minha namorada, disse que queria me matar - esse pastor
que orou por mim hoje o bispo Macedo lembra. Renato passou a Ireqentar os cultos da
646
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 118, p. 43-45, 2000.
196
IURD. Tornou-se evangelista, pastor e bispo, alm de escritor de livros sobre experincias
com entorpecentes.
647
Bourdieu ressalta que preciso superar o postulado da 'representao do
carisma como propriedade associada a natureza de um individuo singular.
648
Lembra que ha
em Weber essa perspectiva quando este aIirma que 'a criao de um poder carismatico |...|
constitui sempre o produto de situaes exteriores inauditas, ou de uma 'excitao comum a
um grupo de homens, suscitada por alguma coisa extraordinaria. E possivel ento
compreender que o lider carismatico iurdiano obtm xito no campo em que atua no por
causa de sua genialidade, como se exercesse um papel de criador onipotente e se localizasse
Iora do grupo, mas sim, pelo Iato de encontrar uma ressonncia interativa por parte dos Iiis
que tambm esto inseridos no mesmo campo.
649
O poder simbolico de que se cerca o lider
iurdiano procede, portanto, do proprio grupo do qual Iaz parte:
O poder do pr oI et a t em por I undament o a I or a do gr upo que el e
mobi l i za por sua apt i do par a si mbol i zar em uma condut a exempl ar
e/ ou em um di scur so ( quase) si st emat i co, os i nt er esses pr opr i ament e
r el i gi osos de l ei gos que ocupam uma posi o det er mi nada na
est r ut ur a soci al .
6 5 0
A Iora da mensagem proIerida pelo proIeta no reside nas proprias
palavras ou nos locutores que a empregam:
O poder das pal avr as apenas o poaer ael egaao do por t a- voz ( . . . )
sua I al a concent r a o capi t al si mbol i co acumul ado pel o gr upo que l he
conI er i u o mandat o ( . . . ) do qual el e ( . . . ) o pr ocur ador .
6 5 1
Ha, assim, uma cumplicidade entre lideres e Iiis na vivncia das praticas e
das representaes que ocorrem no mbito iurdiano. Nesse sentido, vale destacar a Irtil
reelaborao Ieita por Bourdieu da tipologia religiosa proposta por Weber, ao sublinhar que
no se pode criar uma dicotomia de mercado religioso que separa produtores de bens
religiosos especialistas - e consumidores, destituidos da capacidade de produzirem eles
mesmos os bens religiosos que do sentido a sua existncia os leigos. Pois preciso
entender que os chamados 'leigos tambm so produtores coletivos dos reIeridos bens,
ainda que na condio de no-especialistas. Bourdieu aIirma que no pode existir a produo
647
Folha Universal, Rio de Janeiro, 12 Iev. 2006, p. 3.
648
A compreenso de Marcel Mauss, citado por Bourdieu, tambm vai nesta direo: 'Iomes e guerras suscitam
proIetas, heresias (...) no se deve conIundir essas causas coletivas, orgnicas, com a ao dos individuos, que
delas so muito mais intrpretes do que senhores (...), cI. BOURDIEU, P. A Economia aas trocas simbolicas,
p. 74, 75.
649
BOURDIEU, P. As regras aa arte. So Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 317-368.
650
Id., A economia aa trocas simbolicas, p. 92, 93.
651
Id., A economia aas trocas lingisticas, p. 87, 89.
197
de bens simbolicos ex-niilo. O que pode ocorrer uma expropriao do trabalho religioso
popular pelos especialistas, para devolv-los como um bem simbolico apto a atender sua
demanda de sentido:
as si gni I i caes r el i gi osas por el es | no- especi al i st as| pr oduzi das
I i cam em est ado br ut o at que os especi al i st as t r abal hem,
l api dando- as par a as apr esent ar em como se I ossem uma i nt ui o ou
r evel ao or i gi nal .
6 5 2
Os lideres carismaticos iurdianos se tornaram, portanto, agentes
catalisadores de toda uma situao que clamava por uma nova teodicia. Isso ocorre em
momentos nos quais as Iormas de entender e explicar a vida no mais esto em sintonia com
as condies sociais, gerando novas demandas, que somente podem ser atendidas por uma
palavra proItica.
653
Os proIetas iurdianos reiniciaram, assim, a produo de um novo capital
religioso. Sendo orientado pelo mesmo habitus de seus Iiis - 'principio ativo, irredutivel as
percepes passivas, de uniIicao das praticas e das representaes -
654
pode-se dizer que o
lider da IURD 'no prega seno a convertidos,
655
pois Iala, na verdade, a seus pares, e nisto
reside certamente um dos segredos de seu sucesso.
A propria trajetoria desses lideres em sua relao com a IURD torna-se,
para os Iiis, uma prova argumentativa de que possivel vencer os obstaculos e ascender
socialmente, pois a chegada deles a igreja quase sempre da na mesma condio de Iracasso
ou desespero com que os demais tambm recorrem a igreja. Essa situao costuma ser
denominada por eles de 'Iundo do poo. Ocorre, assim, uma identiIicao entre lideres e
Iiis:
A I gr ej a ent ende que a ver dadei r a I , o encont r o r eal com Jesus e a
uno com o Espi r i t o Sant o so suI i ci ent es par a que past or es sej am
consagr ados. So aquel e que ver dadei r ament e ungi do pel o Espi r i t o
de Deus se pr ope a uma vi da de l ut as e sacr i I i ci os. Par a os que so
r eal ment e t ocados, t r abal har na obr a de Deus, sej a da I or ma que I or ,
uma bno, por que um pr i vi l gi o ser vi r ao Senhor dos
senhor es. Quant o ao apr endi zado, devem conhecer as ver dades
bi bl i cas, sendo pr eci so ent end- l as com o cor ao, a al ma e o
espi r i t o. A Pal avr a deve ser r espei t ada e obedeci da par a que haj a
i nt i mi dade com Deus. A l i nguagem si mpl es deve val or i zar a
comunho com Nosso Senhor .
6 5 6
Assim, palavras, gestos e atitudes desses agentes respondem a um habitus
adquirido e relacionado as estratgias operadas pelo campo. Por isso o lider compreendido
652
OLIVEIRA, P. A. R. Op. cit., p. 101.
653
BOURDIEU, Pierre. A economia aa trocas simbolicas, 1982, p. 49.
654
BOURDIEU, P. Ra:es praticas, p. 77.
655
Id., A proauo aa crena, p. 57.
656
www.igrejauniversal.com.br . Acesso em: 20 jan. 2004.
198
pelos Iiis, conseguindo estabelecer comunicao em linguagem que descortina anseios e Iaz
emergir representaes que impregnam o imaginario coletivo:
( . . . ) dot ada de sent i do e doador a de sent i do, a pr oI eci a l egi t i ma
pr at i cas e r epr esent aes que t m em comum apenas o I at o de ser em
engendr adas pel o mesmo habi t us ( pr opr i o de um gr upo ou de uma
cl asse) ( . . . ) por que a pr opr i a pr oI eci a t em como pr i nci pi o ger ador e
uni I i cador um habi t us obj et i vament e coi nci dent e com o dos seus
dest i nat ar i os.
6 5 7
Um terceiro aspecto a se destacar diz respeito a ao combativa pela Igreja
Universal em relao aos demais segmentos religiosos atuantes no campo. Ao mesmo tempo
em que combatida, essa Igreja tambm empreende um incisivo ataque. Logo, interpretando
as conIiguraes religiosas presentes no contexto brasileiro, nos ultimos decnios, Edir
Macedo procura tirar proveito da situao em Iavor de sua mensagem:
Pot est ades so cl asse de espi r i t os i mundos ( . . . ) e agem
especi I i cament e dent r o do mundo r el i gi oso ( . . . ) cr i am novas
r el i gi es a cada di a, soment e com o obj et i vo de pul ver i zar a genui na
I cr i st ( . . . ) pr omovem I al sos pr oI et as, com suas I al sas r el i gi es,
apar ent ando um cr i st i ani smo aut nt i co ( . . . ) e no adi ant a vest i ment a
r el i gi osa e apar nci a humi l de, por que a Pal avr a da Ver dade r evel a a
ment i r a e o engano.
6 5 8
Agindo na condio de um proIeta, Macedo tece criticas as instituies
religiosas:
Enquant o voc, ami go l ei t or , est i ver sat i sI ei t o com a t r adi o
hi st or i ca da sua i gr ej a, com seus r i t uai s e cer i mni as, com sua
l i t ur gi a e com a sua acei t ao das coi sas como est o, no ser a
ungi do pel o Espi r i t o Sant o ( . . . ) ha um demni o chamado Exu
t r adi o que penet r a sor r at ei r ament e, obr i gando os membr os da
I gr ej a a at ent ar t o soment e par a usos, cost umes e nor mas
ecl esi ast i cas ( . . . ) .
6 5 9
Citando especiIicamente a Igreja Catolica, Macedo a responsabiliza por ter
dado inicio a perseguio sobre a IURD, dizendo que o motivo era porque 'aquele gigante
adormecido estaria perdendo adeptos para 'uma igreja que tem trabalhado pela
transIormao de viciados, alcoolatras e outras pessoas de vida perdida, e acrescenta:
Um padr e so sabe di zer : 'r eze mi nha I i l ha. Or a, o povo j a cansou
de r ezar ! O povo quer ver sua vi da mudada. Os dout os j unt o com
suas t eor i as no podem ent ender como um 'past or zi nho, com a sua
'r i di cul a 4 sr i e do pr i mei r o gr au, i mpe sua mo sobr e a cabea
do di t o cuj o, e a pessoa l i ber t a, no vol t ando mai s ao vi ci o.
6 6 0
O bispo emite tambm dura critica ao culto mariano do catolicismo:
657
BOURDIEU, P. A proauo aa crena, p. 94.
658
Folha Universal, Rio de Janeiro, 24 jul. 1994.
659
MACEDO, E. A Libertao aa teologia, p. 21.
660
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, ano VII, n. 50, p. 2, 1990.
199
Foi el a que comeou a pr omover Mar i a. El a no passava de uma
ser va de Deus, um i nst r ument o usado par a t r azer Jesus ao mundo. O
cul t o mar i ano uma agr esso a Jesus e a el a mesma. Ha um t r echo
na Bi bl i a em que Jesus se di r i ge a me, di zendo 'Mul her , que t enho
eu cont i go? Vej a bem, el e no di sse 'mame. Mar i a ent o
ent endeu que Jesus er a Deus, o Deus homem. E el a pedi u a t odos
par a obedecer a Jesus. Nos I azemos apenas o que el a mesma
i ndi cou. A I gr ej a Cat ol i ca I az o cont r ar i o. El a pr omove a i magem de
Mar i a por que l ucr at i vo. O Vat i cano t em I abr i ca de sant os, I abr i ca
de est at uas. E el es sabem que qual quer i magem I emi ni na I az
sucesso. E t em mai s, o pr obl ema no so com el a. Quando vej o a
i magem de Jesus ensangent ado na cr uz, I i co com pena del e.
6 6 1
Prossegue, Edir, aIirmando que em 1980, quando esteve pela primeira vez
em solo brasileiro, 'o papa abenoou o Brasil atravs de um idolo chamado Senhora da
Aparecida. Como conseqncia o pais entrou numa onda de maldio incontrolavel. Destaca
as conseqncias danosas decorrentes daquele ato: 'Srios problemas politicos. InIlao
galopante. Tremendas secas no Nordeste. O nascimento do cruzado. O enxerto do cruzado
novo. O presidente Collor. O aumento da violncia. Seqestros generalizados. Terremotos no
Ceara... e por ai a Iora.
662
O bispo tambm culpa o catolicismo pela Iormao de um habitus que
impede o usuIruto de uma vida melhor, segundo o qual a dor, o sacriIicio, o soIrimento e a
pobreza so vistos como uma espcie de caminho de redeno ou de penitncia a ser
percorrido pelo cristo em sua trajetoria de I:
A Bi bl i a apr esent a Jesus como a I ace do sol ao mei o- di a. O que a
I gr ej a Cat ol i ca I az o opost o. E como se eu I osse vi si t ar um
par ent e t er mi nal de cncer e, pouco t empo ant es del e | si c| mor r er ,
eu t i r asse I ot ogr aI i a do r apaz, em coma, semi mor t o. E pegasse
aquel a I ot ogr aI i a, pi nt asse um quadr o, I i zesse uma i magem de gesso
e l evasse par a sua casa e col ocasse no l ugar mai s apar ent e da casa
| . . . | Passa- se a i di a de que, se el e soI r eu, no ha mal al gum no I i el
soI r er t ambm. Ent o a humani dade passa a acei t ar a der r ot a como
uma coi sa nat ur al . Como as r el i gi es no at endem a necessi dade das
pessoas que est o soI r endo, el as se j ust i I i cam di ant e del as com uma
i magem de al gum que supost ament e I oi der r ot ado. 'Ol ha, vocs
est o no I undo do poo, Jesus t ambm est eve e ni ngum sal vou.
Est a l a, mor r eu. Est a i di a I az com que as pessoas acat em os seus
soI r i ment os, acei t em os seus car mas ou sua desgr aa como uma
cr uz.
6 6 3
Pesquisas nas manchetes da Folha Universal tambm evidenciam atitudes
de denuncia da IURD ao catolicismo:
Hi st or i as do cl er o r omano: padr e por t ugus r ecol heu oI er t as e
enganou o povo ( 120) ; Ar cebi spo cat ol i co pr eso por seduo de
meni nos ( 146) ; Padr e cat ol i co abusava de meni nos ( 130) ; Desvi os e
661
Revista Jefa, So Paulo, 06 dez. 1995.
662
Folha Universal, Rio de Janeiro, 19 out. 1997, p. 2
663
Revista Jefa, So Paulo, 06 dez. 1995.
200
poder do cl er o cat ol i co em Por t ugal ( 120) ; Fundador de Movi ment o
Car i smat i co acusado de abuso sexual ( 125) ; Padr es per seguem a
I URD em Pi edade ( 124) ; O papa no i nI al i vel ( 127) ; Decl i ni o do
papado ( 174) ; I URD ani ver sar i a sob per segui o cat ol i ca ( 118) ;
Per da de I i i s e desesper o da I gr ej a Cat ol i ca ( 171) ; Bi spo cat ol i co
se t or na pai ( 170) ; O cul t o de Mar i a na I gr ej a Cat ol i ca ( 168) ; Padr e
cat ol i co est upr ava mul her es em Ruanda ( 174) ; Car deal - pr i maz
dest i l a odi o cont r a a I URD ( 193) .
6 6 4
Inegavelmente, um dos apices dos conIlitos envolvendo o catolicismo deu-
se no dia 12 de outubro de 1995, quando o bispo Srgio von Held chutou a imagem de Nossa
Senhora Aparecida em seu programa na TV Record. Em uma cerimnia religiosa, o bispo 'se
reIeria com horror aos descaminhos idolatras da I catolica em sua adorao a uma imagem
de barro, empreendendo chutes numa 'imagem que a representava, observa Montes, que
dimensiona o alcance desse ato para exigncias de novas compreenses envolvendo o
sagrado:
Tal gest o vi r i a a est i l haar essa pi edosa i magem, e os ecos do
escndal o por el e susci t ado se est ender am por meses a I i o,
sur pr eendendo a opi ni o e obr i gando os especi al i st as a r epensar a
conI i gur ao do campo r el i gi oso br asi l ei r o as vsper as do t er cei r o
mi l ni o.
6 6 5
A Rede Globo de televiso multiplicou as imagens em nivel nacional,
mostrando Von Helde chutando a imagem da padroeira do Brasil. Naquele dia, via Embratel,
a televiso brasileira transmitiria para todo o pais, ao vivo e em cores, a imagem do que seria
considerado um ato de proIanao e quase uma oIensa pessoal a cada brasileiro - dada a
importncia daquele simbolo de I, como ja observado nesta pesquisa - provocando enorme
indignao popular e mobilizando em deIesa da Igreja Catolica no so sua hierarquia como
tambm Iiguras eminentes de praticamente todas as religies, alm de levantar uma enorme
polmica indita nos meios de comunicao sobre uma instituio religiosa no Brasil.
666
Em relao as denominaes do protestantismo classico, a IURD polemiza
ao ressaltar a ineIicincia dessas igrejas em se atualizar em seu culto e liturgia, assim como
estabelecer maior proximidade com as camadas mais populares. Em um artigo publicado pela
Revista Plenituae, pode-se ler a reIerncia Ieita, por exemplo, ao caso metodista:
A I gr ej a Met odi st a t em cer ca de 250 anos e apesar di sso seu
cr esci ment o vem se dando a passos de t ar t ar uga pel o
664
Os numeros entre parnteses reIerem-se as edies do jornal Folha Universal utilizados para a pesquisa.
Exemplares disponiveis no Centro de Documentao e Pesquisa Historica FTSA, Londrina - PR.
665
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 65.
666
O bispo Von Helde recebeu uma pena de dois anos de priso domiciliar em regime aberto por causa deste
episodio. Como era ru primario, cumpriu em liberdade. CI. Revista Eclesia, Rio de Janeiro, ano V, n.50, p. 11,
jan. 2000.
201
t r adi ci onal i smo da i gr ej a que t em quase a mesma l i t ur gi a desde a
sua I undao. Os met odi st as val or i zam em seus ser mes o r aci oci ni o
l ogi co, o pr oI undo conheci ment o t eol ogi co e as musi cas da I dade
Mdi a, aI ast ando com i sso o povo dos seus t empl os. Uma pessoa
humi l de apr ovei t a pouco desses cul t os.
6 6 7
Ha entre os pastores da IURD muitas reservas quanto ao que chamam de
'pastores intelectuais - uma reIerncia aos lideres de outras denominaes protestantes que
prezam pela Iormao teologica. Chegam at mesmo a ultrapassar os preconceitos ja
cultivados pelos demais grupos pentecostais. Respondendo a criticas de pastores protestantes,
mencionadas em artigo na Folha ae S. Paulo,
668
o ento inIluente Bispo Rodrigues, da Igreja
Universal, usou as seguintes palavras: 'E muito Iacil Iicar num amplo gabinete escrevendo
teses de doutorado e acusando outros pelos jornais (...) Para mim tem mais valor a pessoa que
da a vida pelo que cr e luta por aquilo que acredita ser o melhor, do que um sujeito cheio de
pos-graduao, que se contenta com meia duzia de Iiis.
669
O bispo Macedo ao se reIerir aos lideres de outras igrejas evanglicas
contundente ao aIirmar que estariam, 'ingnua e irresponsavelmente pregando o evangelho
'agua com aucar:
A cul pa do I at o de o Di abo e seus anj os est ar em ar r ui nando a vi da
das pessoas, mui t as vezes, r esi de nos l i der es r el i gi osos evangl i cos
que no mi ni st r am o poder de Deus na vi da das pessoas. Pr egam
apenas o evangel ho 'chocol at e, ou agua com aucar e no l i ber t am
ver dadei r ament e as pessoas da i nI l unci a dos demni os.
6 7 0
Nesse aspecto, ele aponta para o que entende ser diIerencial nas praticas da
Igreja que comanda:
A I gr ej a Uni ver sal do Rei no de Deus t em consci nci a da supr emaci a
da I em r el ao a r azo ( . . . ) Tal vez esse sej a um dos aspect os mai s
i mpor t ant es que a I azem di I er ent e de out r as or gani zaes r el i gi osas
( . . . ) Cr i st o passou mui t o mai s t empo expul sando demni os e
cur ando mi r acul osament e as pessoas do que pr egando ser mes ou
di st r i bui ndo comi da par a os pobr es ( . . . ) .
6 7 1
O depoimento de outro bispo da Igreja tambm destaca a inovao da
mensagem iurdiana:
A I URD vei o par a at ender aos per di dos. Os cul t os pr ot est ant es er am
t r adi ci onai s, no di zi am nada ao cor ao das pessoas.
Repent i nament e, a I URD se espal hou pel o mundo. Nossa I gr ej a vei o
par a most r ar a Bi bl i a e i nt er pr et a- l a aquel es que no a
667
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 66, p. 28, 1999.
668
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 01dez. 1995.
669
Folha Universal, Rio de Janeiro, 28 jan. 1996.
670
MACEDO, Edir. Orixas, caboclos e guias. deuses ou demnios? Rio de Janeiro: Graa Editorial, 1988, p.
131.
671
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 01 out. 1995.
202
compr eendem. Fal em bem ou mal , mas I URD consegue t ocar no
cor ao das pessoas por que mexe l a no I undo da I er i da. Est amos
sempr e com as por t as aber t as de segunda a segunda aber t as par a que
o mundo possa encont r ar - se com Deus. At endemos t odos os t i pos de
pessoas com seus r espect i vos pr obl emas.
6 7 2
At mesmo em relao ao pentecostalismo classico so contundentes as
palavras de Edir Macedo:
Temos de sai r da mer a pr egao pent ecost al , que est a na moda, par a
a pr egao pl ena. Temos que sai r por ai di zendo que Jesus Cr i st o
sal va, bat i za com o Espi r i t o Sant o, mas t ambm, e ant es de t udo,
que l i ber t a as pessoas que est o opr i mi das pel o di abo e seus anj os.
( . . . ) Seus membr os no se al i st am no combat e cont r a as pot est ades e
passam a se pr eocupar com j ogos, passat empos, di ver ses, ou no
out r o ext r emo, com as 'vest es dos sant os.
6 7 3
Tambm so combativas e duras algumas palavras da IURD em relao ao
comportamento de lideres de outras igrejas que tecem criticas ou Iazem oposio a Igreja
Universal, assegurando que procedem assim instigados e manipulados por 'espiritos
enganadores:
Nos, membr os e past or es da I gr ej a Uni ver sal , t emos enI r ent ado
enor mes di I i cul dades par a ser vi r ao nosso Senhor com al mas. Nossa
mai or l ut a t em si do cont r a os espi r i t os enganador es at uant es nos
past or es de out r as denomi naes. | . . . | em t odos os pai ses do mundo
onde t emos aber t o as por t as da Casa do Deus de Abr ao, t emos
encont r ado ent r e os di t os 'evangl i cos gr ande numer o daquel es que
usam a Bi bl i a, no par a sal var per di dos, mas par a vaci na- l os cont r a
o t r abal ho da I gr ej a Uni ver sal do Rei no de Deus.
6 7 4
Mas a ao dos proIetas iurdianos tambm se voltou de maneira
contundente contra outras expresses de crena que igualmente disputavam o capital
simbolico com o proposito de ganhar legitimidade e reconhecimento no campo. Foi assim
que ao se expandir para a Bahia, principal reduto brasileiro de cultos aIricanos, no inicio dos
anos 80, a IURD promoveu varios conIlitos com adeptos do candombl, cometendo at
mesmo um equivoco cultural, porque no se deu conta inicialmente da existncia de suas
peculiaridades em relao a umbanda. Tais polmicas ganharam, inclusive, instncias
judiciais, tematizando liberdade de culto, disputas por espaos e simbolos religiosos.
Quando se reIere ao combate contra as Ioras do mal, personiIicados
sobretudo nos cultos aIro-brasileiros, a IURD usa a expresso 'guerra santa, tanto em suas
literaturas como em suas campanhas. Em junho de 1994, por exemplo, durante uma semana
se divulgou no radio e na TV a realizao da 'Guerra Santa Contra a Macumba. Essa
672
R. A., bispo da IURD em Londrina. Depoimento a mim concedido, Londrina, set 2004. Gravao em K7,
transcrita para uso como Ionte.
673
MACEDO, E. Orixas, caboclos e guias. deuses ou demnios?, p. 131, 133, 138.
674
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 82, 2002.
203
atitude, na verdade, caracteriza a Igreja Universal desde o seu nascimento, especialmente nas
primeiras dcadas de seu Iuncionamento. Um dos elementos que credenciava com xito o
pastor da IURD era a habilidade e ousadia que tal lider demonstrava para Iechar um certo
numero de terreiros de candombl e umbanda. E, envolvidos pelo 'espirito militante dos
Iiis, notabilizavam-se por 'agredir a golpes de Biblia pais-de-santo e ias em dia de Iesta
de terreiro.
675
Nlson de Omulu, pai-de-santo, descreve alguns dos conIlitos e agressividades
cometidos por lideres e Iiis contra os cultos aIro:
Pr i mei r o, el es so at acavam nas r adi os. Depoi s comear am a i nvadi r
t er r ei r os. Agor a, el es r esol ver am bagunar nossas I est as. Acont eceu
i sso na I est a do I i nal do ano passado, quando o Bi spo Macedo e seus
segui dor es ( cer ca de 15 mi l ) i nvadi r am a Pr ai a do Leme, com
aquel es al t o- I al ant es, par a dest r ui r nossas homenagens a I emanj a.
Na I est a da cr i ana, que a gent e r eal i zou na Qui nt a da Boa Vi st a, os
evangl i cos quebr ar am var i as i magens e quei mar am at r oupas de
sant o.
6 7 6
Na Folha Universal tambm possivel se observar manchetes polmicas
em relao aos cultos aIro-brasileiros:
Vi ol ao de sepul t ur as e de cadaver es ( 156, 196) ; Exus exi gem que
mdi um se r et al he ( 175) ; Necr oI i l i a de ex- pai - de- sant o ( 130) ; Lul a
apel a par a o candombl ( 118) Espi r i t i smo est i mul ava Jocemar a ser
gay ( 129) ; Revei l l on de I emanj a pr omove suj ei r a, vi ol nci a e
mal di o ( 195) ; Fal sos mi l agr es espi r i t as ( 113) .
A revista Plenituae trouxe recentemente reportagem intitulada 'ocultismo,
alertando sobre 'as armadilhas que as Iestas escondem, quando possuem signiIicado
religioso:
Mui t as I est as passar am a I azer par t e da cul t ur a br asi l ei r a, al gumas
or i undas de out r os pai ses. Quer o chamar a at eno par a os per i gos
espi r i t uai s e at mesmo I i si cos par a al gumas dessas I est as. Temos
casos de pessoas que sumi r am e apos al gum t empo I or am
encont r adas mor t as. Apos i nvest i gaes r eal i zadas I oi possi vel
associ ar essas mor t es a det er mi nada I est a` . A popul ar I est a de
Cosme e Dami o, por exempl o, apar ent ement e i noI ensi va e car i dosa,
esconde o I at o de que os doces e br i nquedos, ant es de ser em
di st r i bui dos as cr i anas so oI er eci dos as ent i dades espi r i t uai s. Ja
ouvi mos mui t as pessoas decl ar ar em que apos a par t i ci pao del as ou
de seus I i l hos nest a I est a anual , sur gi r am var i os pr obl emas.
6 7 7
Em artigo, na Folha Universal, intitulado 'Macumba, religio ou Iolclore?,
a IURD explica que a macumba de hoje tem sua origem na tradio aIricana. 'Macumba vem
do idioma quimbundo, e signiIica Iechadura, cadeado, provavelmente ligada aos ritos e
675
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 137.
676
O Globo, Rio de Janeiro, 23 out. 1988.
677
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 124, p. 39, out. 2005.
204
banhos de Iechamento do corpo, praticados no sentido de proteger contra o mau olhado
ressalta-se. Registrando que a insero desses ritos e praticas se deu pela presena dos
escravos no Brasil colonial, o artigo destaca que houve uma unio pragmatica dos ritos da
natureza, que Ioram trazidos da AIrica pelos negros escravos, com a religio catolica romana
e crendices indigenas. Assim, rapidas Iuses e amalgamaes com outros ritos, como o
Cabula, Catimbo e a Pajelana, teriam contribuido para que esses cultos se expandissem
rapidamente pelo pais, sobretudo apos o Iim da escravido, quando uma boa parte dos cultos
passaram a ser Ieitos sem maior represso, Iacilitando a abertura de inumeros terreiros.
Finalizando a abordagem do tema, a matria apresenta ento o resultado Iinal do
desenvolvimento dessas crenas em solo brasileiro:
Com sua magi a per ver sa exer ce i nI l unci a mal i gna nos quat r o
cant os do pai s. Mi l har es de pessoas de t odas as cl asses soci ai s
r ecor r em a seus sor t i l gi os. Pol i t i cos e ar t i st a so os mel hor es e
mai s assi duos cl i ent es, j a que r ecor r em a esse subt er I ugi o par a
r esol ver pr obl emas de amor , odi o e i nt er esses escusos.
6 7 8
Inumeras polmicas tambm tm sido desencadeadas pelo livro Orixas,
Caboclos e Guias. Deuses ou Demnios? - de autoria do bispo Macedo. A Justia Federal da
Bahia determinou recentemente a suspenso da venda do livro: uma ao civil publica Ioi
movida sob alegao de ser literatura oIensiva e preconceituosa em relao as religies aIro.
A juiza Nair Cristina de Castro determinou que a IURD e a Editora GraIica Universal
retirassem em 30 dias os livros do mercado, sob pena de multa diaria de R$ 50 mil. A Justia
considerou a obra 'abusiva e atentatoria ao direito Iundamental, no apenas aos adeptos das
religies originarias da AIrica e aqui absorvidas culturalmente, como aIro-brasileiras, 'mas
da sociedade, no seu genrico prisma, que tem direito a convivncia harmnica e Iraterna, a
despeito de toda a sua adversidade (de cores, raas, etnias e credos) declarou a
representante do poder publico.
679
Ao apresentar a reIerida obra ao publico leitor, Macedo usa as seguintes
palavras: ' impossivel a um praticante do espiritismo ler esse livro e continuar na sua
pratica. Todas as areas do demonismo so postas a descoberto neste livro; todos os truques e
enganos usados pelo diabo e seus anjos para iludir a humanidade so revelados. No preIacio
da obra, Macedo apresentado pelo editor da seguinte maneira:
Poucas pessoas est o t o bem qual i I i cadas par a I al ar desse assunt o
quant o o bi spo Macedo. El e t em se empenhado I er r enhament e, por
mui t os anos, na obr a de l i ber t ao. Quem o conhece pessoal ment e se
cont agi a com sua ar dent e I , poi s dedi ca t oda sua vi da a l ut ar cont r a
678
Folha Universal, Rio de Janeiro, 14 set. 2005.
679
Jornal aa Manh, Marilia - SP, 13 nov. 2005, p. 6
205
os demni os, pel os quai s t em r epugnnci a e r ai va. Esse homem, que
Deus l evant ou nesses di as par a uma obr a de gr ande vul t o no cenar i o
evangel i st i co naci onal e mundi al , conhece t odas as ar t i manhas
demoni acas. Seu I r eqent e cont at o com pr at i cant es do espi r i t i smo,
nas suas mai s di ver sas r ami I i caes, I az com que sej a um gr ande
conhecedor da mat r i a. At r avs dos vei cul os de comuni cao e das
i gr ej as que t em est abel eci do pel os r i nces de nossa pat r i a e no
ext er i or ( . . . ) . Nest e l i vr o, denunci a as manobr as sat ni cas at r avs
do kar deci smo, da umbanda, do candombl e out r as sei t as si mi l ar es;
col oca a descober t o as ver dadei r as i nt enes dos demni os que se
I azem passar por or i xas, exus, er s, e ensi na a I or mul a par a que a
pessoa sej a l i ber t a do demni o que a domi na.
6 8 0
Tambm na introduo da reIerida obra ha um alerta quanto a uma possivel
polmica a ser desencadeada pela leitura: 'o diabo e seus demnios iro se levantar com
todas suas Ioras contra o bispo Macedo e toda a Igreja Universal, pois sabem que tero de
contabilizar grandes perdas.
681
Durante a exposio do texto, Macedo Iaz a seguinte
aIirmao: 'ha muito tempo venho orando por pessoas que tiveram ligaes com o
espiritismo nas suas diversas Iacetas. Ressalta que milhares de pais e mes-de-santo 'se
transIormaram em cristos sinceros e tementes a Deus, apos participarem de reunies da
Igreja Universal. 'Nossa igreja Ioi levantada para um trabalho especial, que se salienta pela
libertao de pessoas endemoninhadas aIirma, acrescentando: 'nossa experincia tem sido
muito vasta nesse campo e grande o numero de pessoas que nos procuram pedindo
esclarecimentos a respeito de to discutido assunto.
682
Macedo no esconde o seu desejo de
ver os lideres religiosos de cultos aIro-brasileiros sendo encaminhados para atuar em sua
igreja:
Dedi co est a obr a a t odos os pai s- de- sant o e mes- de- sant o da nossa
pat r i a, por que el es, mai s do que qual quer pessoa, mer ecem e
pr eci sam de um escl ar eci ment o. So sacer dot es de cul t os como
umbanda, qui mbanda e candombl , que est o na mai or i a dos casos
bem- i nt enci onados. Podero usar seus dons de l i derana ou de
sacerdci o, corret ament e, se f orem i nst ru dos . Mui t os del es hoj e
so obr ei r os ou past or es das nossas i gr ej as, mas no o ser i am se
Deus no l evant asse al gum que l hes di ssessem a ver dade.
6 8 3
| gr i I os
nossos|
Atribuindo ao Demnio a origem dos cultos aIro, Edir aIirma:
O povo br asi l ei r o her dou, das pr at i cas r el i gi osas do i ndi os nat i vos e
dos escr avos or i undos da AI r i ca, al gumas r el i gi es que vi er am mai s
t ar de a ser r eI or ada com dout r i nas espi r i t ual i st as, esot r i cas e
t ant as out r as. Houve, com o decor r er dos scul os um si ncr et i smo
r el i gi oso, ou sej a, uma mi st ur a cur i osa e di abol i ca de mi t ol ogi a
aI r i cana, i ndi gena br asi l ei r a, espi r i t i smo e cr i st i ani smo, que cr i ou
680
MACEDO, Edir. Orixas, caboclos e guias. deuses ou demnios?, p. 2.
681
Id., ibid.
682
Id., ibid., p. 9.
683
Id., ibid., p. 10.
206
ou I avor eceu o desenvol vi ment o de cul t os I et i chi st as como a
umbanda, a qui mbanda e o candombl .
6 8 4
Macedo incisivo em sua aIirmao ao dizer que,
no Br asi l , em sei t as como o vodu, macumba, qui mbanda, candombl
ou umbanda, os demni os so ador ados, agr adados ou ser vi dos como
ver dadei r os deuses; no espi r i t i smo mai s soI i st i cado, el es se
mani I est am ment i ndo, aI i r mando ser em espi r i t os de pessoas que j a
mor r er am. Na mai or i a desses cul t os os espi r i t os so i nvocados par a
pr est ar car i dade, sej a pr at i cando cur andei r i smo ou t r ansmi t i ndo
mensagens que vo 'i l umi nar os adept os, ou ai nda, par a r eal i zar
al gum I ei t o ext r aor di nar i o
6 8 5
Associando os cultos aIro ao catolicismo Iolclorico, o bispo aIirma:
Quando os pr i mei r os escr avos chegar am ao Br asi l , t r ouxer am com
el es as sei t as ani mi st as e I et i chi st as que per meavam seus pai ses de
or i gem na AI r i ca. Par a evi t ar at r i t os com a i gr ej a cat ol i ca, os
escr avos que pr at i cam macumba, i nspi r ados pel as pr opr i as ent i dades
demoni acas, passar am a r el aci onar os nomes de seus deuses ou, par a
I i car mai s cl ar o, demni os, com os sant os da i gr ej a cat ol i ca. Por
i sso, os nomes dos demni os est ar em associ ados a sant os, como so
os casos de So Jor ge, que r epr esent a Ogum; a Vi r gem Mar i a que
r epr esent a I emanj a.
6 8 6
Os conIlitos com as crenas aIro tambm ganharam as dimenses dos meios
de comunicao de massa. Recentemente, a Justia condenou duas emissoras controladas por
Macedo, a TV Record e a Rede Mulher, por descriminao:
A Recor d e Rede Mul her I or am condenadas pel a Just i a por
di scr i mi nao cont r a r el i gi es aI r o- br asi l ei r as e seus pr at i cant es.
As emi ssor as t r ansmi t em pr ogr amas da I URD, consi der ados pel a
Just i a oI ensi vos a l i ber dade r el i gi osa. Como di r ei t o de r espost a,
t er o de t r ansmi t i r dur ant e set e di as consecut i vos pr ogr amas de uma
hor a sobr e os cul t os t r azi dos ao Br asi l pel os escr avos.
6 8 7
De acordo com a 5 Vara Federal Civel de So Paulo, no houve como
negar o ataque Ieito as religies de origem aIricana e as pessoas que as praticam ou que delas
so adeptas. Segundo a juiza responsavel pelo caso: 'Nos programas gravados ha
depoimentos de pessoas que antes eram adeptas das religies aIro-brasileiras e se
converteram; nos templos da nova religio essas pessoas realizam sesses de descarrego ou
consultoria espiritual. Assim, de se concluir que no negam as tradies e os ritos de
religies de matriz aIricana, porm aIirmam que nos terreiros os seguidores praticam o mal, a
Ieitiaria e a bruxaria.
688
684
Id., ibid., p. 13.
685
Id., ibid., p. 14, 15.
686
Id., ibid., p. 44.
687
Folha Online. www1.Iolha.uol.com.br . Acesso em: 14 maio 2005.
688
Jornal aa Manh, Marilia SP., 20 nov. 2005, p. 2.
207
A IURD, evidentemente, tambm se deIende. Em matria publicada com o
titulo 'A censura esta de volta ao Brasil?, a Folha Universal encampa a deIesa do livro
Orixas, Caboclos e Guias, com quase trs milhes de exemplares comercializados. A
reportagem cita a Constituio Federal de 1988, no seu artigo 5, para aIirmar a liberdade de
expresso e maniIesta ainda o temor pela volta de algum tipo de censura aos meios de
comunicao.
689
E preciso considerar que as perseguies as crenas religiosas e praticas
rituais de origem aIro-amerindia era ja um Iato empreendido pelo catolicismo desde os
tempos coloniais. Onde a atitude iurdiana inova na operao de apropriao reversa que Iaz
dessas religies. O que se exorciza o conjunto das entidades do panteo aIro-amerindio
incorporado as crenas populares, das devoes e praticas magico-rituais do catolicismo
ainda conservadas as religies de negros e mais recentemente apropriadas pelos estratos
mdios das populaes urbanas:
O que os r i t os neopent ecost ai s supem, e pem em ao, um
pr oI undo conheci ment o dessas out r as cosmol ogi as que sust ent am
t ai s r el i gi osi dades, assi m como as t cni cas de pr oduo e
mani pul ao do t r anse das r el i gi es de possesso. Sob a mesma
I or ma r i t ual ger al ment e j a conheci da pel o I i el nos t er r ei r os de
candombl e de umbanda, as ent i dades do pant eo aI r o- br asi l ei r o
so chamadas a i ncor por ar - se par a, depoi s de 'desmascar adas como
I i gur as demoni acas envi adas por al gum conheci do par a I azer um
t rabal ho cont r a a pessoa, ser devi dament e 'exor ci zadas e
submet i das a i nj uno de no mai s vol t ar a at or ment ar aquel e
espi r i t o, pel o poder de Deus.
6 9 0
Por outro lado, em sua curta trajetoria historica, a Igreja Universal
tambm tem sido alvo de combate por parte de outros segmentos religiosos, sobretudo das
religies institucionalmente estabelecidas no campo, que lhes atribui o estigma de magia,
vendo em suas praticas 'heresias e usurpao da 'legitimidade sacerdotal ou pastoral.
Neste aspecto, desde os primeiros momentos de sua apario, o emprego pela IURD do titulo
de 'bispo ao invs de 'pastor at ento um clich no protestantismo brasileiro ja soava
no apenas como uma ousadia, mas como usurpao. Os combates tambm envolveram
questes 'teologicas. Julgando-se depositarios da verdade e da ortodoxia, catolicismo e
protestantismo brasileiros voltaram-se a partir dai contra um inimigo comum que lhes
ameaava, passaram a reIerir-se em tom depreciativo as praticas vivenciadas pela Igreja
689
Folha Universal, Rio de Janeiro, 27 nov. 2005, p. 6.
690
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p.122, 123.
208
Universal sob alegao de no ter ela teologia
691
nem coerncia doutrinaria com a leitura que
Iaz dos textos biblicos pelo Iato de no utilizar mtodos hermenuticos ou exegticos
adequados para a leitura e interpretao da Biblia. Assim, com uma mensagem caracterizada
'proItica porque inovadora e contestatoria em relao a religio estabelecida - o
'proIeta e seus discipulos iurdianos passaram a ser duramente combatidos pelos
'sacerdotes:
A I or a de que di spe o pr oI et a ( empr esar i o i ndependent e de
sal vao) cuj a pr et enso consi st e em pr oduzi r e di st r i bui r bens de
sal vao de um t i po novo e pr openso a desval or i zar os ant i gos ( . . . )
depende da apt i do de seu di scur so e de sua pr at i ca par a mobi l i zar
os i nt er esses r el i gi osos vi r t ual ment e her t i cos de gr upos ou cl asses
det er mi nant es de l ei gos, gr aas ao eI ei t o de consagr ao que o mer o
I at o da si mbol i zao e de expl i ci t ao exer ce.
6 9 2
Da parte do protestantismo classico, por exemplo, devido ao balizamento
Ieito por dogmas com Iorte apelo a razo e pouco propenso para lidar com elementos da
cultura Iolclorica, lideres da IURD passaram a ser acusados de charlatanismo, e seus
prodigios de curas e exorcismo Ioram atribuidos ao proprio demnio, capaz de 'imitar a
graa divina.
693
Assim como no estudo sobre a crena no milagre rgio, Ieito por Marc
Bloch em Os Reis Taumaturgos - em que a Igreja usou o conceito de 'superstio para
condenar as crendices que contrariavam a ortodoxia ou dela se desviavam, empregando
deIinies como a de 'equivoco coletivo, 'representaes inIantis do povo
694
- a opinio
emitida por um pastor presbiteriano retrata semelhante hostilidade e posicionamento
ortodoxo combativo do protestantismo em relao a IURD:
Consi der amos um absur do pessoas se i nt i t ul ando past or es,
mi ssi onar i os, abenoando copos de agua, gr avando or aes de cur a
di vi na, el ement os que, t omados e ouvi dos, cur ar i am t oda e qual quer
doena ( . . . ) Pi or ai nda: anunci am espal haI at osament e gr andes
concent r aes em est adi os com di a mar cado e hor a det er mi nada,
gar ant i ndo que o Espi r i t o Sant o est ar a pr esent e par a cur ar t odas as
enI er mi dades e sol uci onar t odos os pr obl emas. Al m das sedes
dessas i gr ej as, em cuj a por t a col ocado o expedi ent e par a
691
O protestantismo classico, de modo geral, conceitua teologia nos seguintes termos: 'Uma viso de mundo
expressa por um grupo de Iiis, uma teia de palavras, simbolos e atos elaborados a luz de suas experincias
religiosas, discurso esse nem sempre regido pela logica cartesiana. Como tal, a teologia transcende a reIlexo
individual, porque ela uma atividade grupal, objetivada em dogmas, ritos ou meios catequticos. Alm disso,
toda teologia tem por Iinalidade explicar a especiIicidade de suas relaes com o sagrado, enquanto apresenta as
experincias historicas do grupo, que a Iormulou como um modelo de vida para todas as demais pessoas, cI.
CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e mercaao. Organizao e marketing de um empreendimento
neopentecostal, p. 327.
692
BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. 49.
693
Isto Ioi o que tambm ocorreu em relao ao rito do toque rgio, estudado por Marc Bloch, quando aIirma
que na Inglaterra e na Frana este ritual soIreu Iortemente o ataque do protestantismo, sob a acusao de ser
aquele milagre uma atribuio dos demnios, capazes de imitar os prodigios divinos. CI. BLOCH, M. Op. cit.,
p. 270.
694
GURIVITCH, A. Op. cit., p. 45.
209
at endi ment o dos i nt er essados, como se o Espi r i t o Sant o I osse um
execut i vo a di sposi o de t ai s mi ni st r os ( . . . ) .
6 9 5
Quando ocorreu, por exemplo, o episodio conhecido 'chute na santa, a
Associao Evanglica Brasileira (AEVB) - com sede na cidade do Rio de Janeiro, ento
presidida pelo pastor presbiteriano Caio Fabio D`Araujo Filho - Iez um pronunciamento
oIicial na imprensa, alm da elaborao de um documento, assinado pelos diretores,
conselheiros e secretarios da AEVB e tambm por cerca de quarenta pastores de diversas
denominaes evanglicas.
696
Esse pronunciamento objetivou distinguir as igrejas
evanglicas da IURD, ressaltando que nas praticas desta ha 'elementos radicalmente
contrarios a I evanglica e ao melhor da herana biblica da igreja protestante e pentecostal,
acrescentando ainda que existem 'imensas e irreconciliaveis diIerenas entre as praticas da
maioria dos evanglicos e a IURD. Como exemplo , destacava algumas questes que se
reIeriam: a doao de dinheiro para alcanar bnos; ao seu mtodo de levantar Iundos; a
aceitao de entidades dos cultos 'aIro-amerindios tal qual estes as concebem; ao 'uso de
elementos magicos dos cultos e das supersties populares do Brasil como 'sal grosso,
'rosa ungida, 'agua IluidiIicada, 'Iitas e pulseiras especiais, 'ramo de arruda e 'uma
quantidade enorme de apetrechos. Caio Fabio tambm aIirmou na ocasio:
As pr at i cas da I gr ej a Uni ver sal ger am um const r angi ment o pr oI undo
no mei o evangl i co ( . . . ) A I gr ej a uma maqui na de ar r ancar
di nhei r o dos I i i s ( . . . ) el a o pr i mei r o pr odut o de um si ncr et i smo
sur gi do ent r e os evangl i cos br asi l ei r os, uma ver so cr i st da
macumba.
6 9 7
A chegada da IURD ao campo de Londrina, no Iinal da dcada de 1980,
reeditou conIlitos observados em outras regies do pais. A sua presena tambm se tornou
'incmoda, causando impacto e provocando reaes por parte das demais igrejas ja atuantes
na cidade. A Universal representava uma concorrncia com proposta 'diIerente, dada a sua
agressividade e inovao, o que levava as demais denominaes a se sentirem ameaadas e
com diIiculdades para competir em p de igualdade com o novo Ienmeno. Por isso, a
primeira estratgia de deIesa Ioi a de empreender veementes criticas as praticas iurdianas,
classiIicando-as como 'perigosas a I crist, sob o argumento de serem muito parecidas com
o 'espiritismo, e tambm de 'oIerecer milagres em troca de dinheiro. As aIirmaes
695
Palavras de Roberto Vicente Cruz Themudo Lessa, pastor presbiteriano, em entrevista jornalistica, 24 ago.
1978. Apua CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercaao. Organizao e marketing e eum empreendimento
neopentecostal, p. 177.
696
Documento com copia impressa disponivel para pesquisa no acervo do Centro de Documentao e Pesquisa
Historica - CDPH, da Faculdade Teologica Sul Americana, em Londrina PR.
697
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 68.
210
provinham dos pastores, que se utilizavam de seus pulpitos e de programas de radio para
alertar os seus respectivos rebanhos. O proprio Conselho de Pastores de Londrina chegou a
Iazer pronunciamentos oIiciais e emitir notas que questionavam a 'identidade evanglica da
igreja liderada por Macedo.
Mais recentemente, no ano de 2006, a IURD concorreu a compra de um
grande terreno existente no centro da cidade, onde intenciona construir a 'Catedral da F do
Norte do Parana, projeto arquitetonicamente ja elaborado. Entretanto, no processo de
licitao, mesmo Iazendo uma proposta Iinanceira superior aos valores Ieitos pelos demais
concorrentes no caso, grandes grupos do setor comercial a aquisio do terreno esta
embargada devido a articulao de moradores da regio, apoiados por lideranas catolicas, e
de estabelecimentos comerciais localizados nas proximidades, que se opem a construo de
um templo religioso naquele endereo. O processo, por esse motivo, tramita na Justia e a
IURD luta por Iazer valer seu direito de compra do terreno.
Semelhante reao proveio da Igreja Catolica que passou a perder milhares
de seus Iiis para os segmentos evanglicos. Reportagens jornalisticas, no inicio dos anos 90,
apontavam para o poder de arregimentao e atrao exercida por tais movimentos sobre
adeptos do catolicismo romano:
Mai s de sei scent as mi l pessoas, por ano, abandonam o cat ol i ci smo
par a j unt ar - se a uma i gr ej a evangl i ca. A mensagem pr egada pel as
sei t as evangl i cas mui t o mai s si mpl es e mel hor do que a
mensagem do Cat ol i ci smo, que pr egava por mei o dos padr es de
esquer da, uma mai or par t i ci pao pol i t i ca.
6 9 8
Tendo historicamente marcado o pais, ajudando a conIigurar um conjunto
de valores, crenas e praticas, por aproximadamente cinco sculos, o catolicismo percebia
cada vez mais que seu controle institucional e seu conjunto de doutrinas - que se propunham
deIinir de modo coerente os limites e as interseces entre a vida publica e a vida privada -
no eram to incontrastadamente hegemnicos como se ostentava. Por isso, v-se obrigada a
reagir, partindo em busca da modernidade e das linguagens contemporneas da I, que ja
haviam sido dominadas pelos novos grupos pentecostais, atravs do controle dos meios de
comunicao de massa. Busca-se, ao mesmo tempo, vigor interior da crena, da experincia
da exaltao da I e do transporte espiritual diante do milagre como diretriz para uma
recuperao de uma dimenso privada da experincia religiosa, inteiramente intima e pessoal.
Isso gerou uma outra 'aproximao a contrapelo com o pentecostalismo, representada, por
698
Revista Jefa, So Paulo, 16 maio 1990, p. 40-44.
211
exemplo, pelo Iortalecimento e progressiva expanso da Renovao Carismatica Catolica.
699
'E o movimento carismatico que vai Iortalecer a Igreja Catolica contra os avanos das
seitas, dizia, em 1990, Claudionor Erasmo Peixoto, diretor regional da renovao
carismatica em So Paulo.
700
A redeIinio de seu papel numa sociedade cada vez mais pluralista em
termos religiosos Iez que, em 1982, o setor de ecumenismo e dialogo inter-religioso da
CNBB (ConIerncia Nacional de Bispos do Brasil), a pedido do Vaticano, passasse a
pesquisar o Ienmeno.
701
Em 1995, o Conselho PontiIicio para a Iamilia e a Comisso
PontiIicia para a Amrica Latina se reuniram em Petropolis - RJ, para discutir o que Iazer
'diante dos desaIios das seitas. Face a ampla 'pesquisa de mercado, a hierarquia Catolica
passou a agir, no hesitando em se apropriar de certas estratgias dos concorrentes: ampliar a
utilizao dos meios de comunicao de massa; oIerecer maior abertura a participao dos
leigos nas celebraes; revalorizar as tradies populares e as pastorais sociais e de saude;
renovar as liturgias; promover a abertura de novos ministrios; tornar os sacerdotes mais
disponiveis ao povo; incentivar vocaes sacerdotais e conceder maior espao a
expressividade emocional nos cultos, tambm Ioram estratgias adotadas. EnIim, a Igreja
Catolica, reconhecendo que perdia o 'seu espao, tambm entrou na moderna estratgia do
marketing religioso.
Todos esses movimentos no campo religioso, como anteriormente descritos,
tornam-se possiveis porque nele existem 'tenses e Ioras vivas, com potencialidades de
promover mudanas, sendo que algumas so propicias a inovaes ou at mesmo,
'revolues, como aIirma Bourdieu:
O espao dos possi vei s r eal i za- se nos i ndi vi duos que exer cem uma
at r ao ou uma 'r epul so, a qual depende do 'peso del es no
campo, i st o , de sua vi si bi l i dade, e da mai or ou menor aI i ni dade
dos habi t us que l eva a achar 'si mpat i cos ou 'ant i pat i cos seu
pensament o e sua ao.
7 0 2
Bourdieu considera em suas analises a possibilidade de haver, num dado
momento historico, uma ruptura do que chama de 'dominao do poder simbolico que
699
Id., ibid., p. 80.
700
Id., ibid.
701
A primeira pesquisa acusa principalmente governos de direita de Iomentar a expanso de seitas 'alienantes e
conservadoras do status quo na Amrica Latina para diIicultar a ao da igreja 'progressista. Em 1987,
procurando evitar explicaes simplistas ou preconceituosas, passou a pesquisar as causas mais proIundas do
Ienmeno. E, depois que a Igreja Universal passou a comandar a Rede Record, a preocupao da cupula
Catolica cresceu ainda mais, tornando a expanso das 'seitas tema quase constante das Assemblias Gerais da
CNBB.
702
BOURDIEU, P. Esboo ae auto-analise, p. 55.
212
determinados agentes ou instituies exercem sobre os que esto a eles agregados: 'Os
dominados podem recusar progressivamente o que haviam incorporado, ou ainda, um
acontecimento brutal pode dilacerar o tecido ordinario da reproduo e introduzir uma crise
violenta.
703
Pode-se dizer, ento, que lideres e Iiis iurdianos, 'no so particulas
passivamente conduzidas pelas Ioras do campo, mas 'tm disposies adquiridas pelo
habitus, isto , 'maneiras de ser permanentes, duraveis que podem, em particular, leva-los a
resistir, a opor-se as Ioras do campo.
704
Esse eIeito se exerce em parte, por meio de
'conIronto com as tomadas de posio de todos ou de parcela daqueles que tambm esto
engajados nesse espao de atuao, sendo Iundamental para isto 'encarnaes entre um
habitus e um campo.
705
Em sua obra Coisas Ditas,
706
esse autor amplia ainda mais a 'imagem da
sociedade como um campo de batalha operando com base na Iora e no sentido, ao aIirmar
que:
Os agent es que est o em concor r nci a no campo de mani pul ao
si mbol i ca t m em comum o I at o de exer cer em uma ao si mbol i ca.
So pessoas que se esI or am par a mani pul ar as vi ses de mundo ( e,
desse modo, par a t r ansI or mar as pr at i cas) mani pul ando a est r ut ur a
da per cepo do mundo ( nat ur al e soci al ) , mani pul ando as pal avr as,
e, at r avs del as, os pr i nci pi os da const r uo da r eal i dade soci al .
7 0 7
Assim, os agentes podem recriar esse espao do qual Iazem parte e esto
inseridos e, sob certas condies estruturais, transIorma-lo:
708
Descr evo o espao soci al gl obal como um campo, campo de I or as,
cuj a necessi dade se i mpe aos agent es que nel e se encont r am
envol vi dos, e como um campo de l ut as, no i nt er i or do qual os
agent es se enI r ent am.
7 0 9
Em relao as rupturas, Pierre Bourdieu observa que para se entrar no
campo acadmico, por exemplo, so necessarios titulos, certiIicados, havendo assim uma
objetividade dos mesmos quanto a permisso para que algum seja considerado ou no
membro de um espao acadmico identiIicado com o mundo universitario. 'Ritos
institucionais produzem a condio de ingresso na tribo dos IilosoIos (...); algum se torna
IilosoIo` pelo Iato de haver sido consagrado, garantindo para si o 'estatuto prestigioso de
IilosoIo` - exempliIica esse mesmo autor.
710
Comentando este aspecto, Chartier aIirma que
703
CHARTIER, R. Pierre Bourdieu e a Historia, p. 154.
704
BOURDIEU, P. Os usos sociais aa cincia. Por uma sociologia clinica do campo cientiIico, p. 26.
705
Id. Esboo ae auto-analise, p. 55.
706
Id. Coisas Ditas, p. 121-122.
707
Id., ibid.
708
Id. Ra:es praticas., p. 161.
709
Id., ibid., p. 50.
710
Id., Esboo ae auto-analise, p. 41.
213
o mesmo ja no ocorre nos campos culturais, pois esses 'no so juridicamente
codiIicados.
711
Assim, a inexistncia de codiIicaes Iormalmente estabelecidas Iaz com que
nos campos culturais se promovam lutas de representao, conIlitos, na busca pela deIinio
e classiIicao de quem considerado ou se considera participante legitimo.
Semelhantemente, pode-se dizer, 'rivais num campo gravitacional regido por expectativas de
prestigio e consagrao,
712
para produzir, proteger ou conquistar capital simbolico, os
agentes religiosos tambm acabam travando intensos conIlitos e lutas no campo em que
atuam.
Em sua obra As Regras aa Arte, Bourdieu analisa como esses conIlitos, para
deIinir essas identidades, remetem a luta pelo direito ou pelo monopolio do poder da
consagrao. Uma luta pela classiIicao, como observa Chartier:
As r epr esent aes si mpl i st as e sol i di I i cadas da domi nao soci al ou
da di I uso cul t ur al devem ent o ser subst i t ui das por uma manei r a de
compr eend- l as que r econhece a r epr oduo das di I er enas no
i nt er i or dos pr opr i os mecani smos de i mi t ao, as concor r nci as
dent r o das di vi ses, a const i t ui o de novas di vi ses pel os pr opr i os
pr ocessos de di vul gao.
7 1 3
Pode-se associar esses dinamismos ao conceito de representao, pois
permitem articular conIiguraes multiplas, 'atravs das quais a realidade
contraditoriamente construida pelos diIerentes grupos, praticas essas que 'visam Iazer
reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira propria de estar no mundo, signiIicar
simbolicamente um estatuto e uma posio, Iazendo que sejam marcadas 'de Iorma visivel e
perpetuada a existncia do grupo, da classe ou da comunidade.
714
E ainda nesse sentido,
Chartier aIirma que um dos elementos mais essenciais do trabalho de Bourdieu era pensar
que as lutas de classe, que regem e organizam o mundo socioeconmico, sempre se
traduziam ou se nutriam das lutas de classiIicao, permitindo o direito de dizer a sua propria
identidade ou a do outro dentro do campo - espao social no qual se situam as produes
simbolicas.
715
No obstante os esIoros de controle empreendidos pelos agentes detentores
de capital institucional, ha sempre espao para que agentes rompam com tais protocolos e
promovam mutaes, como se observa no comentario Ieito por Chartier ao lembrar que uma
das contribuies de Bourdieu para o trabalho historiograIico esta no Iato de
711
CHARTIER, R. Pierre Bourdieu e a Historia, p. 142.
712
BOURDIEU, P. Esboo ae auto-analise, contra-capa.
713
CHARTIER, R. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime. Op. cit., p. 17.
714
Id., A historia cultural. entre pratica e representaes, p. 23.
715
Id. Pierre Bourdieu e a Historia, p. 143.
214
suger i r que, par a cada obj et o de anal i se, devemos pensar ao mesmo
t empo no espao, no campo de coer o, de coaes, de
i nt er dependnci as que no so per cebi das pel os i ndi vi duos, e, ao
mesmo t empo, l ocal i zar dent r o dessa r ede de coaes um espao
par a o que chamava 'sent i do pr at i co, ou est r at gi a, ou aj ust e as
si t uaes e que, i ncl usi ve, par a i ndi vi duos que t m as mesmas
det er mi naes soci ai s, no I unci ona de uma manei r a homognea.
7 1 6
Dessa Iorma, o campo religioso pode ser entendido como o espao em que
o conjunto de atores e instituies religiosas - em interao e conIlitos - produzem,
reproduzem e distribuem bens simbolicos de salvao, ou seja, um 'espao especializado de
produo cultural.
717
Tais mudanas originam-se da propria estrutura nele existente, isto ,
das posies sincrnicas entre posies antagnicas no campo global, da posio na estrutura
de distribuio do capital especiIico de reconhecimento, posio esta Iortemente
correlacionada entre o que ortodoxo e o que hertico,
718
pois a historia do campo 'a
historia da luta pelo monopolio da imposio das categorias de percepo e apreciao
legitimas; a propria luta que Iaz a historia do campo.
719
Assim, orientados por um habitus,
e tendo certa liberdade para agir, os lideres iurdianos acabam incorrendo no que se pode
chamar de 'desvio, devido ao comportamento que rompe ou se aIasta de normas
estabelecidas pelos segmentos religiosos oIiciais, o que os levou a organizao de novos
espaos de atuao, promovendo intensas disputas pela classiIicao, autoridade e
legitimidade de atuao.
Todos esses Iatores de conIlitos, anteriormente mencionados, acabaram
contribuindo para que a IURD continuasse crescendo, instigando e promovendo mutaes de
impacto no campo religioso brasileiro. Os Iatos que pareciam ser grandes obstaculos para
essa igreja, acabaram revertendo-se, na verdade, em Iatores que sedimentaram ainda mais a
Iora aglutinadora do movimento. Razo porque o hino oIicial da IURD tambm traz como
tema principal a perseguio que o seu lider maior soIreu no pais naquele momento em que
iniciava o que entendem ser o cumprimento de uma vocao, ou chamado divino, como a
propria IURD Iaz questo de ressaltar:
A ser i edade e o compr omi sso com o Evangel ho der am l ugar a uma
i gr ej a abenoada e I i el aos seus membr os. Mesmo encont r ando no
cami nho pedr as e t r i bul aes, a I gr ej a nunca desi st i u de seu
obj et i vo: l evar a Pal avr a de Deus aos car ent es e desesper ados. A
cada di a, Bi spos e past or es t r avam uma l ut a di I er ent e com as I or as
ocul t as. Em t odo l ugar t em sempr e al gum em busca de paz i nt er i or ,
pr eci sando das or i ent aes desses homens de Deus. No ent ant o, el es
716
Id., ibid., p. 151.
717
BOURDIEU, P. Esboo ae auto-analise, p. 15.
718
Id. Ra:es praticas, p. 68.
719
Id. A Proauo aa crena, p. 87.
215
no desi st em da l ut a, poi s sabem que a bat al ha ar dua, por m, a
vi t or i a cer t a, em nome do Senhor Jesus.
7 2 0
A habilidade de Macedo para lidar com as situaes adversas tambm se
tornou bastante evidente quando do episodio que Iicou conhecido como 'chute na santa. Na
poca, o ento inIluente pastor iurdiano Ronaldo Didini saiu em deIesa de Von Helde.
Ambos estavam habituados a brigar com o catolicismo e a desmascarar imagens catolicas no
interior dos templos iurdianos. Didini, sem considerar a centralizao hierarquica, deu uma
entrevista coletiva aIirmando que 'a Igreja Universal estava solidaria com o bispo Von
Helde. De imediato, porm, atravs do radio, Macedo retomou o controle da situao, e
segundo o registro Ieito pelo jornal Folha ae S. Paulo, proIeriu as seguintes palavras:
Nos quer i amos decl ar ar par a t odo o povo cat ol i co, espi r i t a e
evangl i co, a t odas as pessoas que di r et a ou i ndi r et ament e, I or am
at i ngi das por uma at i t ude i mpensada, ( . . . ) i nsensat a do bi spo Von
Hel de ( . . . ) que pensou e agi u como um meni no, t r azendo esse I at o
novo e i nconsci ent e par a t odo o povo br asi l ei r o ( . . . ) quer emos pedi r
ent o per do a t odos vocs, cat ol i cos, que I or am at i ngi dos por essa
at i t ude do bi spo Von Hel de ( . . . ) .
7 2 1
Em todas as circunstncias de embates nas quais se envolveu, nessas trs
dcadas de sua existncia a Igreja Universal conseguiu demonstrar Iora de resistncia e
capacidade de arregimentao, em grande parte graas aos elementos que envolvem o seu
habitus identitario, com raizes culturais historicamente Iincadas no campo religioso
brasileiro.
3.6.2 - O carisma do mago
O mago deIinido, na linguagem de Weber
722
e Bourdieu, como um
'pequeno empresario autnomo de salvao, cuja atividade econmica consiste em produzir
e oIerecer a uma clientela avulsa servios de socorro e ajuda. A magia, manipulada pelo
mago, pode ser mais detalhada nos seguintes termos:
Tr at a- se de um poder ext r aor di nar i o um car i sma, no sent i do I or t e
do t er mo que, segundo se cr , capaci t a quem mago, br uxo,
I ei t i cei r o ou xam, a i mpor sua vont ade as I or as supr a- sensi vei s
( t ant o I az se di vi na ou demoni acas) e di r eci ona- l as par a a
concr et i zao dos obj et i vos par a os quai s sol i ci t ada sua
compet ent e per I or mance pr oI i ssi onal : pr edi zer o dest i no de al gum,
cur ar uma doena, deI ender dos i nvej osos, at acar os i ni mi gos.
7 2 3
720
http:// www.universal.org.br . Acesso em: 16 mar. 2005.
721
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 16 out. 1995.
722
WEBER, Max. Economia e socieaaae. V. 1, p. 294.
723
PIERUCCI, A. F. Magia, p. 9.
216
Aos olhos dos sacerdotes e proIetas concorrente na administrao do
sobrenatural e na oIerta de servios de acesso ao sagrado os servios prestados pelos magos
so 'apenas aparentemente religiosos, 'pseudo-religiosos, ou ainda, 'religiosos ilegitimos
ou ilicitos, manipulaes proIanas e proIanadoras do divino.
724
Pierucci destaca que o mago
ou o Ieiticeiro portador de saber especializado e as cincias que ele controla so ditas
'ocultas:
as ar t es que el e domi na na condi o de pr odut or i ndependent e,
envol vem mul t i pl i ci dade compl exa de oper aes. So el as que l he
possi bi l i t am oI er ecer aos i nt er essados duas cl asses de pr odut o: em
t r oca de r emuner ao monet ar i a cobr ada sem subt er I ugi os ou
euI emi smos, o I ei t i cei r o pr oduz bens e pr est a ser vi os.
7 2 5
Classicamente, os sacerdotes tm sido entendidos como 'Iuncionarios
qualiIicados de uma empresa religiosa permanente, especializada em exercer inIluncia sobre
os deuses e os coraes dos homens atravs do culto regular e organizado.
726
Tambm
atribuio do agente sacerdotal propor submisso a soberana vontade divina, promover a
salvao eterna e a paz espiritual. Ja os servios do mago visam Iins especiIicos, voltados
para o aqui e agora, no para o 'outro mundo, no porvir. Ao contrario do ritual clerical, que
servio divino, o ritual magico visto como coero divina. Enquanto que o sacerdote
estabelece relaes mais duradouras com os seus adeptos, a relao do mago com as pessoas
que o procuram conceituada normalmente como proIissional, como Ieita a um cliente.
Outra distino que se coloca de que o mago no se preocupa em aplacar a colera dos
deuses ou atrair para si seus Iavores ele procura coagi-los:
Quem possui o car i sma de empr egar os mei os adequados par a i st o
mai s I or t e at mesmo que um deus, e pode i mpor a est e sua vont ade.
Nest e caso, a ao r i t ual no 'ser vi o ao deus, mas si m 'coao
sobr e Deus, a i nvocao no uma or ao, mas uma I or mul a
magi ca.
7 2 7
A atitude da magia para com os poderes divinos tida, assim, como
manipulativa e instrumentalizadora. Enquanto que a relao clerical com o divino de
respeito, obedincia e venerao, o mago no ora nem suplica aos poderes supra-sensiveis;
submete-os ao poder da Iormula magica:
A mai or i a dos aut or es est a de acor do em r econhecer nas pr at i cas
magi cas os segui nt es t r aos: vi sam obj et i vos concr et os e
especi I i cos, par ci ai s e i medi at os ( . . . ) ; est o i nspi r adas pel a i nt eno
de coer o ou de mani pul ao dos poder es sobr enat ur ai s ( . . . ) e por
724
BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. 60.
725
PIERUCCI, A. F. Magia, p. 28.
726
Id., ibid., p. 27.
727
WEBER, Max. Economia e socieaaae. V. 1, p. 292.
217
ul t i mo, encont r am- se I echadas no I or mal i smo e no r i t ual i smo do
t oma l a aa ca.
7 2 8
Ainda segundo Pierucci,
729
todo diagnostico magico segue mais ou menos
ponto comum: 'tens problemas? A causa de um problema especiIico 'algum. Ou seja,
sempre se coloca a etiologia: 'algum esta causando isto, um 'trabalho Ieito, uma 'coisa
Ieita, um Ieitio ou maleIicio encomendado por um inimigo. Esta 'carregado, com um
'encosto.
Adotando essas praticas, linguagem e procedimentos, Edir Macedo e seus
auxiliares promoveram uma irrupo autnoma do carisma conIigurado por um 'sindicato de
magicos. Ha, nesse segmento, produo e distribuio de bens simbolicos, como parte de
uma 'economia de trocas simbolicas,
730
com imediata ressonncia nos elementos misticos e
magicos que culturalmente conIiguram o campo religioso brasileiro. O movimento iurdiano
procurar satisIazer, atravs da magia, necessidades e desejos dos que acorrem a seus templos.
Essa manipulao do sagrado pode ser observada, por exemplo, nas palavras de Macedo: 'A
verdade que os louvores que ministramos a Deus so o seu alimento (...) Por isso mesmo,
antes de Iazermos qualquer pedido ao Senhor, devemos atrai-lo com os nossos louvores.
731
IdentiIica-se, ai, um aspecto de manipulao magica do humano sobre o divino, o que esta
em conIormidade com a conceituao elaborada por Weber:
( . . . ) a ant r opomor I i zao t ende ( ent o) a t r ansl adar ao
compor t ament o dos deuses a gr aa l i vr e de um poder oso senhor
mundano, a ser obt i da medi ant e supl i cas, pr esent es, ser vi os,
t r i but os, adul aes, subor nos e, por I i m e nomeadament e, medi ant e
um compor t ament o agr adavel que cor r esponde a vont ade do senhor ,
concebendo os deuses em anal ogi a com est e, como ser es poder osos e
i ni ci al ment e mai s I or t es apenas em t er mos quant i t at i vos. ( . . . ) Do ut
aes o dogma I undament al por t oda a par t e ( . . . ) car at er i ner ent e a
r el i gi osi dade cot i di ana e das massas de t odos os t empos e povos e
t ambm de t odas as r el i gi es.
7 3 2
Nas praticas iurdianas esta tambm muito presente a oIerenda como meio
de troca pela realizao do desejo:
O I i el paga pr i mei r o. Col oca- se na posi o de cr edor , coagi ndo
Deus a r et r i bui r abundant ement e. O desaI i o I i nancei r o, ant es de
const i t ui r ar r i scada apost a, r epr esent a a cer t eza da eI i caci a da I
como mei o de pr opi ci ar a i nt er veno di vi na sobr e det er mi nado
i nI or t uni o.
7 3 3
728
BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. 44, 45.
729
Id., ibid.
730
Expresso usada por Pierre Bourdieu em sua obra A Economia aas Trocas Simbolicas, op. cit.
731
MACEDO, Edir. Jiaa com abunaancia. 10 ed. Rio de Janeiro: GraIica Editora Universal, 1990, p. 56.
732
WEBER, Max. Economia e socieaaae, p. 292, 293.
733
MARIANO, R. Neopentecostalismo. os pentecostais esto mudando, p. 131.
218
A converso que se observa na Igreja Universal no signiIica
necessariamente o rompimento com as antigas praticas religiosas. Ao contrario, ha, na
verdade, uma apropriao re-signiIicadora, cujo simbolismo no desaparece, recebendo
apenas como que 'uma nova camada de verniz religioso a partir de elementos legados pelas
Ioras dispostas no campo. Desta Iorma, o Jesus curandeiro, magico e taumaturgo, age na
IURD atravs de seus porta-vozes, bispos e pastores, conhecidos e reconhecidos como
'homens de Deus, vistos como mediadores entre o ser humano e o sagrado.
734
A bno por
eles ali proIerida tem a capacidade de 'Iechar o corpo das pessoas, aIugentar os demnios e
produzir benesses na vida daqueles que levam para a casa alguns objetos recebidos na Igreja.
A IURD Iaz ressurgir, assim, experincias cotidianas muito intensas com o sagrado,
marcadas pela pratica de curas, tal como Iaziam antigos taumaturgos, curandeiros ou xams,
usando-se para isso, procedimentos de conotaes magicas e exorcistas, e que manda as
pessoas de volta para a casa, levando talisms ou Ietiches carregados de energias 'benIicas,
direcionadas a soluo dos casos mais diIiceis.
O que tambm se constata com isto que, apesar de todo esIoro
prolongado para a eliminao da magia, como analisado anteriormente, o movimento
iurdiano, enquanto ramiIicao protestante, veio comprovar que no se atingiu aquele Iim
esperado. Se at meados do sculo passado, na Europa, com o crescimento do numero de
pessoas que aIirmavam no possuir crena religiosa, chegou-se a Ialar 'na morte de Deus,
ou, num 'desencantamento do mundo,
735
- gerado por um processo de 'racionalizao e
intelectualizao, do qual o protestantismo participante ao Iorjar uma postura
racionalizante da vida, isto como resultado de um crescente processo de secularizao - o que
hoje se observa que o campo religioso caminha na direo contraria: ha o retorno a uma
intensa imerso na magia, gerando-se um dinmico e recriativo encantamento do um mundo:
Enquant o se est i l haam as i nst i t ui es, l onge das i gr ej as, per t o da
magi a, a i mpor t nci a do sagr ado que assi m se r eaI i r ma,
demonst r ando que a r el i gi o na soci edade br asi l ei r a ai nda um
el ement o essenci al na demar cao de I r ont ei r as ent r e a esI er a
publ i ca e a vi da pr i vada, num mundo que l ent ament e vol t a a
r eencant ar - se.
7 3 6
Dado o seu estabelecimento no campo religioso brasileiro, a magia tem
persistido, como uma espcie de 'eterno retorno, recriando-se, renegando-se. Reginaldo
734
PIERUCCI, A. F. Magia, p. 36.
735
WEBER, Max. In: GERTH, H.; MILLS, C. (Orgs.) Ensaios ae sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1982, p.
182.
736
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 149.
219
Prandi comenta esse aspecto da recuperao da magia nas praticas dos segmentos religiosos
aos moldes iurdianos:
O que ha de mai s car act er i st i co na mul t i pl i cao mai s r ecent e de
r el i gi es e na expanso da conver so ou r econver so a essas novas
ou r enovadas I or mas de cr enas a I al t a de compr omi sso com
qual quer post ur a que r el eve o car at er r aci onal , ci ent i I i co e
hi st or i ci st a I undant e da soci edade na sua pr esumi da moder ni dade
desencant ada. Essas r el i gi es no est o pr eocupadas em r et er nos
seus cont eudos expl i cat i vos e or i ent ador es da condut a I undament os
i mpor t ant es do desencant ament o do mundo. O desencant ament o
si gni I i ca o r eI l uxo da magi a ( . . . ) mas o que as novas pr opost as
r el i gi osas I azem e pr oI essam si gni I i ca vol t ar at r as, r ecuper ando a
magi a com mui t o vi gor .
7 3 7
E preciso sublinhar que as praticas de magia no ambiente da Igreja
Universal tem demonstrado contornos inovadores em relao as conceituaes classicas.
Primeiro, a magia ali praticada possui denotao coletiva: no ha apenas uma relao isolada
ou independente entre o mago e seu 'cliente, mas, ao contrario, intensas relaes e
interatividade so vivenciadas nos ritos disponibilizados. Nesse sentido se aplicam com
propriedade as palavras de Bourdieu quando aIirma que ' impossivel compreender a magia
sem o grupo magico, e acrescenta:
Em mat r i a de magi a, a quest o no t ant o saber quai s so as
pr opr i edades especi I i cas do mago, nem sequer oper aes e
r epr esent aes magi cas, mas det er mi nar os I undament os da cr ena
col et i va ou, ai nda mel hor , do i r r econheci ment o col et i vo,
col et i vament e pr oduzi do e mant i do, que se encont r a na or i gem do
poder do qual o mago se apr opr i a ( . . . ) .
7 3 8
A esse processo interativo e representativamente conjugado, cabem tambm
as observaes Ieitas por Lvi-Strauss:
A eI i caci a da magi a i mpl i ca na cr ena da magi a: exi st e,
i ni ci al ment e, a cr ena do I ei t i cei r o na eI i caci a de suas t cni cas; em
segui da, a cr ena do doent e que el e cur a, ou da vi t i ma que el e
per segue, no poder do pr opr i o I ei t i cei r o; I i nal ment e, a conI i ana e
as exi gnci as da opi ni o col et i va, que I or ma a cada i nst ant e uma
espci e de campo de gr avi t ao no sei o do qual se deI i nem e se
si t uam as r el aes ent r e o I ei t i cei r o e aquel e que enI ei t i a.
7 3 9
Segundo, essa instituio demonstra a magica habilidade em no deixar a
magia institucionalizar-se. A tendncia natural do campo de que o movimento magico ou
proItico caminhe para uma complexa estrutura hierarquica, com cerimnias mais
complexas, tornando-se, no caso do cristianismo, igreja. Segundo Weber, num processo
dialtico, quando o carisma se torna rotina, aparece a instituio, e esta, por sua vez, da lugar
737
PRANDI, Reginaldo. Um sopro ao Espirito. So Paulo: EDUSP, 1997, p. 95.
738
BOURDIEU, P. A proauo aa crena, p. 28, 29.
739
LEVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967, p. 194.
220
a um processo de nova irrupo do carisma autnomo, sectario. Este carisma vive, ento, um
processo oscilante entre a maniIestao e a latncia: a institucionalizao o periodo de
latncia do carisma autnomo que, ao se maniIestar, promove a desinstitucionalizao:
Os movi ment os de r enovao car i smat i ca ou de r eavi vament o
apar ecem pr eci sament e quando as soci edades r el i gi osas, i gr ej as,
al canar am um gr au de bur ocr at i zao, que j a no da l ugar par a a
espont anei dade ( . . . ) A i r r upo ou mani I est ao do car i sma t oma,
no i ni ci o, a I or ma or gni ca de uma sei t a, que depoi s evol ui at
t omar a I or ma de uma i gr ej a ( . . . ) .
7 4 0
Esse processo gerador de mobilidades estruturais descrito por Carlos
Rodrigues Brando da seguinte Iorma: 'Se alguma coisa realmente estavel no mundo da
religio, essa coisa a dialtica de sua constituio, onde a Igreja conquista o sistema e gera
a seita que vira a Igreja que produz a dissidncia.
741
Victor Turner tambm observa que, com o passar do tempo, os movimentos
'liminares caminham para a cristalizao, reingressando-se na estrutura, recebendo um
inteiro suplemento de papis e posies estruturais: 'O tempo e a historia introduzem, porm,
a estrutura na vida social daqueles movimentos e o legalismo em sua produo cultural,
742
pois, nestas, 'os individuos estruturalmente inIeriores aspiram superioridade simbolica
estrutural no ritual.
743
Na linguagem de Weber e Bourdieu, a igreja o estagio de maior
organizao ou burocratizao da 'seita, ou a etapa de institucionalizao do movimento.
Por isso, natural que a racionalizao da pratica religiosa leve a um crescente
enIraquecimento do espirito magico diante do religioso. A tendncia no campo religioso a
de que se Iorme, portanto, a partir dos movimentos liminares, uma 'comunidade religiosa de
irmos instituida na Iorma de igreja, em torno do servio divino administrado rotineiramente
pelos sacerdotes, isto , uma 'comunidade moral permanente e permanentemente
moralizavel pela 'ao pastoral de proselitismo insistente e endoutrinao incansavel dos
seguidores, a Iim de Iaz-los e mant-los Iiis.
744
O representante da instituio,
burocratizada, torna-se sacerdote, que pereniza a rotina de um sistema de crenas e ritos
sagrados:
Est a, por t ant o, pr edi spost o a at uar em deI esa da or dem si mbol i ca e
soci al , sendo por si mesmo i ncapaz de pr oduzi r o novo ou expr essar
740
CAMPOS, Bernardo. Da Reforma Protestante a pentecostaliaaae aa igrefa. debate sobre o pentecostalismo
na Amrica Latina. So Leopoldo: Sinodal, 2002, p. 50.
741
BRANDO, Carlos Rodrigues. Os aeuses ao povo. So Paulo: Brasiliense, 1980, p. 113.
742
TURNER, V. O processo ritual, p. 202.
743
Id., ibid., p. 245.
744
Id., ibid., p. 27.
221
aqui l o que no l i ci t o exi st i r : t udo que est a I or a da or dem ( deI i ni da
como nat ur al ou di vi na) anat emat i zado como 'pecado.
7 4 5
Nesse sentido, o movimento iurdiano percorreu um caminho historico com
amostras de aproximao da magia, que originou suas praticas, de uma estrutura
institucionalizada. O quadro a seguir, que descreve a distribuio hierarquica de Iunes
exercidas, demonstrando um certo grau de complexidade organizacional da IURD, parece
comprovar esse aspecto:
- Eair Maceao: Fundador e lider maximo da igreja. Nenhuma deciso importante, seja de
carater religioso, seja Iinanceiro, tomada sem sua interIerncia.
- Conselho Episcopal Munaial: E o orgo maximo da igreja, Iormado por bispos no Brasil e
Iora do pais.
- Liaeres Estaauais: Podem ser bispos ou pastores. Controlam a arrecadao dos templos nos
Estados.
- Pastores Regionais: Administram de dez a quinze templos em suas regies.
- Pastores: Subordinados aos bispos, os pastores esto espalhados pelos templos existentes
no Brasil e no exterior. Administram apenas um templo, ministram cultos e indicam seus
auxiliares.
- Pastores Auxiliares: So uma espcie de estagiarios. Ajudam o pastor titular nas tareIas do
templo, mas no ministram cultos.
- Obreiros: So milhares espalhados nos diIerentes templos. So requisitados do grupo de
Iiis, cuja principal misso auxiliar nos templos: limpeza e ornamentao, recepo de
visitantes, distribuio de literaturas e auxilio nos momentos de cultos e rituais. Vestem-se
com uniIormes especiIicos durante o periodo em que exercem suas Iunes.
Atualmente, a IURD possui, alm de algumas dezenas de bispos, cerca de
dezesseis mil pastores titulares e auxiliares, responsaveis pelos mais de cinco mil templos no
Brasil. Acrescenta-se a isso o Iato de que a medida que obteve rapido crescimento, gerando
grande movimentao Iinanceira e posse de enorme patrimnio imobiliario, a Igreja
Universal passou a adotar mecanismos mais soIisticados de gerenciamento de seu capital. Em
1989, por exemplo, adquiriu a Delpa Distribuidora de Titulos e Valores, empresa atuante no
mercado de capitais.
746
Depois, em 1991, comprou por trs milhes de dolares o Banco Dime,
que se transIormou no Banco de Crdito Metropolitano, dirigido por um pastor.
747
745
OLIVEIRA, P. A. R. A teoria do trabalho religioso em Bourdieu, p. 187.
746
CI. Jornal aa Tarae, So Paulo, 06 abr. 1991.
747
CI. O Estaao ae S.Paulo, So Paulo, 05 jun. 1992.
222
Pelo quadro exposto acima seria de se esperar que o elemento magico do
movimento iurdiano tivesse ja atingido um grau de institucionalizao que o caracterizasse
como igreja aos moldes mais classicos. Entretanto, no obstante a presena desses elementos
institucionais que envolvem a IURD, ha de se destacar a sua capacidade de preservar o
aspecto de magia em suas praticas, num dinamismo que permanentemente se atualiza.
Quais seriam, ento, os segredos iurdianos para manter a alquimia que
combina elementos, em tese, concorrentes? Primeiro, a IURD opera com as regras do
campo, em que prevalece a alquimia do multiplo. Essas Ioras operantes no campo religioso
possuem porosidade, so produtoras de circularidades, que mobilizam Ironteiras entre o que
liminar e institucional, Iolclorico e clerical, hertico e cannico. Marcel Mauss comenta essa
Iuncionalidade do elemento coletivo:
Se puder mos most r ar que, na magi a consi der ada em sua t ot al i dade,
r ei nam I or as semel hant es aquel as que agem na r el i gi o, t er emos
most r ado que a magi a t em um car at er col et i vo i dnt i co ao da
r el i gi o. So nos r est ar a, ent o, I azer ver como essas I or as col et i vas
I or am pr oduzi das, no obst ant e o i sol ament o que, segundo o que
par ece, se encont r am os magos, e ser emos l evados a conceber a
i di a de que esses i ndi vi duos l i mi t am- se a se apr opr i ar das I or as
col et i vas.
7 4 8
Em segundo lugar, lideres e Iiis so orientados por um habitus
historicamente construido pelas experincias com religies de mediunicas, de mistrio e de
encanto. Os agentes iurdianos incorporaram, assim, esses elementos pela propria experincia
de trnsito religioso que tiveram por igrejas catolicas, pelo protestantismo historico, pelo
pentecostalismo classico e, principalmente, por religies aIro-brasileiras. Por isso o carisma
da magia no permite que nela ocorra o elemento da rotina. As suas reunies no se
transIormam em liturgia que inibe a maniIestao do indito. Comparecer ao templo estar
preparado para o mistrio do imprevisivel, do novo que a qualquer momento pode irromper.
Assim, em uma sociedade marcada pela violncia, individualismo e desagregao, a
Universal tambm opera eIicazmente com Ilexibilidade capaz de responder na mesma
agilidade com que os anseios tambm se avolumam em meio ao caos:
Ora, as r el i gi es t r adi ci onai s, como r el i gi o, t m a I uno de
cul t uar e mant er um uni ver so I i xo e pr evi si vel . Quando esse
uni ver so se desor gani za, as r el i gi es t r adi ci onai s t m di I i cul dades
par a aj ust ar as pessoas. Ent r a ent o a magi a, com sua vi so mai s
compar t i ment ada do uni ver so, que per mi t e aj ust es i medi at os e
par ci ai s. Ser i a, ent o l i ci t o, concl ui r que o neopent ecost al i smo um
aj ust e ent r e r el i gi o e magi a.
7 4 9
748
Apua BOURDIEU, Pierre. A proauo aa crena. Contribuio para uma economia aos bens simbolicos.
So Paulo: Zouk, 2002, p. 115.
223
Terceiro, a permanente recepo de novos adeptos, provenientes em sua
maioria de crenas Iolcloricas, mantm alimentado o repertorio magico iurdiano. E uma
Igreja que se alimenta de outras maniIestaes religiosas brasileiras, das proprias
representaes que necessita combater. Nesse sentido, o crescimento escalonario da IURD
rompe com um postulado proposto por Victor Turner, de que 'nos movimentos liminares se
cria uma organizao hierarquica a medida que o numero de membros aumenta.
750
No
campo religioso brasileiro, os segmentos que obtiveram estagnao em termos de
crescimento - em alguns casos, tendo inclusive decrscimo de Iiliao, como o caso de
historicas denominaes do protestantismo classico mostram perIis de institucionalizao
dogmatica, rigida. No caso da Universal, a adeso de cada novo Iiel tem contribuido para
assegurar a atualizao das origens do movimento. Como que num ciclo vicioso, os novos
convertidos so atraidos, ali, a mensagem sedutora do mistrio e da magia; uma vez
ascendendo as Iunes de obreiros, pastores ou bispos, perpetuam tais praticas.
E, por Iim, destaca-se o Iato da IURD ter conseguido desenvolver uma
organizao intermediaria entre a cultura Iolclorica e a clerical: um sindicato de magia.
Ricardo Mariano chega a usar a expresso 'magia institucionalizada para tentar descrever a
capacidade da IURD de lidar com a tenso que os elementos da religio e da magia
congregam.
751
Mendona emprega o termo 'igreja magica no esIoro por conceituar tal
experincia.
Cont r ar i ando Dur khei m, dent r o de uma ecl esi ol ogi a desat ent a,
poder i amos di zer que o neopent ecost al i smo const i t ui , ou i nst i t ui ,
i gr ej as magi cas. ( . . . ) Essas i gr ej as est o sempr e chei as, mas de
cl i ent es que buscam sol uo magi ca par a os pr obl emas do cot i di ano,
mant endo sua i dent i dade r el i gi osa t r adi ci onal . No so, por t ant o,
i gr ej as, mas cl i ent es de bens de r el i gi o obt i dos magi cament e.
7 5 2
Reginaldo Prandi parte do principio de que, se o protestantismo classico
teve um compromisso natural com o processo de 'desmagicizao do mundo moderno, a
Igreja Universal seria ento propagadora de uma mensagem religiosa 'IalsiIicadora do
protestantismo classico, logo, 'anti-protestante.
753
E, considerando que o esIoro protestante
no Ioi capaz de banir a magia, Prandi aponta ento duas possibilidades para uma
compreenso do que ocorre no movimento iurdiano: ou as pessoas recorreram a 'outros tipos
749
MENDONA, Antonio de Gouva. Protestantes, pentecostais e ecumnicos. O campo religioso e seus
personagens. So Bernardo do Campo: UMESP, 1997, p. 161.
750
TURNER, V. Op. cit., p. 222.
751
MARIANO, R. Igreja Universal do Reino de Deus: magia institucionalizada?. Op. cit.
752
MENDONA, A. G. Protestantes, pentecostais e ecumnicos. O campo religioso e seus personagens, p. 161.
753
PRANDI, Reginaldo. Os canaombles ae So Paulo. So Paulo: Hucitec-Edusp, 1991, p. 188.
224
de controle magico, para substituir os remdios oIerecidos pela religio clerical, ou teria o
proprio protestantismo violado suas premissas, para elaborar uma magia propria.
754
Finalizando esse item, plausivel aIirmar que a IURD surgiu como um
rompimento ao modelo de protestantismo que se quis averso ao elemento magico, provando
que as Ironteiras estanques convencionalmente estabelecidas entre magia e religio possuem
porosidades, pois so elementos imbricados. Dessa Iorma, aos moldes de um sindicato,
vivenciado um tipo de 'magia protestante, ou 'magia evanglica, num dinamismo eIiciente
que permite a magia e a instituio clerical agirem conjuntamente, complementando-se,
inclusive. Ao combater as praticas catolicas e aIro-brasileiras, o segmento iurdiano, em
aparente ambigidade, repe assim em seus rituais praticas que escandalizam os protestantes
classicos e desaIiam a concorrncia catolico-romana, pois o campo religioso tem se tornado
'um campo de manipulao simbolica mais amplo
755
do que as Ironteiras estabelecidas pela
religio institucionalizada.
3.6.3 O carisma messinico-milenarista
O campo religioso brasileiro possui grande presena de elementos
messinicos e milenaristas. Maria Isaura Pereira de Queiroz conceitua aquele primeiro
elemento nos seguintes termos:
A i di a messi ni ca no pecul i ar ao j udai smo ( . . . ) Mas I oi na
ant i ga r el i gi o j udai ca que a noo adqui r i u sua deI i ni o pl ena. O
concei t o messi ni co par ece t er passado aos j udeus pr oveni ent e de
I ont e or i ent al . Ocor r e pel a pr i mei r a vez no l i vr o de Samuel ,
suger i ndo o cont ext o que o messi as er a o ungi do do Senhor e que
seu papel er a pol i t i co ( . . . ) . Soment e depoi s do cat i vei r o, por m,
sur gi u 'uma pr omessa cl ar a de uma i dade ai nda por vi r , e na qual
t odas as i nj ust i as ser i am sanadas.
7 5 6
Originariamente, na lingua hebraica, o termo 'messias signiIica
'ungido.
757
O judaismo e o cristianismo na Antigidade Ioram os principais responsaveis
pela diIuso de tal expectativa em todo o mundo ocidental. Mas sua deIinio passou a ser
empregada para designar movimentos com tais perIis mesmo em sociedades que no
754
THOMAS, K. Op. cit., p. 75.
755
BOURDIEU, P. Coisas aitas, p. 121.
756
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no munao. So Paulo: AlIa e Omega, 1982, p.
25.
757
DOBRORUKA, Vicente. Historia e milenarismo. Ensaio sobre tempo, historia e milnio. Brasilia: UNB,
2004, p. 115.
225
conhecem a Iigura de um messias nos moldes judaico-cristos, ainda que tal emprego deva
merecer certo cuidado:
Exi st em aquel es que supem que os movi ment os messi ni cos
soment e podem ocor r er em soci edades que t enham t i do al gum
cont at o com a her ana j udai co- cr i st ( . . . ) e por out r o l ado os que
aI i r mam ser a expect at i va da vi nda de um r edent or e a i nst aur ao
de uma 'i dade de our o t r aos uni ver sai s, encont r avei s em t odo o
mundo e em t odas as soci edades.
7 5 8
Na tradio crist, a palavra 'milenarismo remete, em seu sentido
primeiro, a espera de um reino de mil anos de paz sob o reinado de Cristo, ento de volta a
terra antes do juizo Iinal. Em sentido mais amplo, 'entende-se por ela todas as esperanas,
todas as aspiraes de conotaes religiosas prevendo o surgimento sobre a terra de uma
ordem perIeita, de certa Iorma paradisiaca.
759
Constitui-se o cerne dessa mentalidade,
portanto, a crena de que o mundo terreno esta com os seus dias contados e que, por
deliberao divina, chegara brevemente ao Iim para dar lugar a um outro mundo o reino da
paz, da boa-aventurana e da justia.
Out r a cor r ent e, i gual ment e poder osa, ar r ast ou mui t os del es | homens
da I dade Mdi a| par a out r a esper ana, par a out r o desej o: a
r eal i zao na t er r a da I el i ci dade et er na, o r egr esso a i dade de our o,
ao par ai so per di do. ( . . . ) O mi l enar i smo um aspect o da escat ol ogi a
cr i st , enxer t a- se na t r adi o apocal i pt i ca ( . . . ) o cl i ma dr amat i co
desemboca- se numa mensagem de esper ana.
7 6 0
Desde o Iim da Antigidade, as idias escatologicas contendo elementos
milenaristas situavam-se Iora da tradio doutrinal da Igreja. O estado ideal cujo surgimento
esperava-se era essencialmente deIinido pela puriIicao da Igreja, numa atitude critica em
relao a religio oIicial estabelecida.
Messianismo e milenarismo podem apresentar elementos aIins ou
complementares, ou que se coadunam, pois o estabelecimento de um reino de paz, ou a
antecipao das benesses do paraiso na terra, tem a conduo de um ou mais lideres
messinicos. Maria Isaura apresenta uma descrio de como isso acontece:
Essas dout r i nas r el i gi osas que pr edi zi am o nasci ment o na t er r a de
uma er a de I el i ci dade per I ei t a so chamadas de 'mi l enar es; el as se
opem a soci edade exi st ent e, que consi der ada t o i nj ust a quant o
opr essor a, e pr ocl amam sua queda i mi nent e. Essas dout r i nas so
chamadas de 'messi ni cas sempr e que o i ni ci o desse mundo
per I ei t o depender da chegada de um 'I i l ho de Deus, de um
mensagei r o di vi no, ou de um her oi mi t i co: na r eal i dade, de um
'Messi as. E o Messi as que da i ni ci o e que anunci a na t er r a o
758
Ibid., p. 114.
759
TPFER, Bernhard. Escatologia e milenarismo. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude (Orgs.).
Op. cit., p. 353.
760
LE GOFF, Jacques. A civili:ao ao ociaente meaieval. V. 1. Lisboa: Editorial Estampa, 1994, p. 233.
226
'Rei no dos Cus. | . . . | os movi ment os mi l enar es podem ser
di r i gi dos por um gr upo de i dosos ou por l i der es el ei t os ent r e os
I i i s ( . . . ) ; um movi ment o messi ni co se I or di r i gi do por um l i der
sagr ado, um mensagei r o do al m.
7 6 1
Maria Isaura, quando qualiIica o campo religioso brasileiro como solo Irtil
para o Ilorescimento de messianismos milenaristas, apresenta ainda outros aspectos: credita
as crenas religiosas e miticas a importncia dos elementos constitutivos desses Ienmenos.
Crenas apocalipticas que se Iazem presentes no imaginario popular de vastos segmentos
sociais, catalisaram a Iermentao de um clima propicio a ecloso desses surtos. De acordo
com essa autora, esses movimentos decorrem do encontro do imaginario amerindio com uma
intensa tradio de representaes salvacionistas da sociedade europia colonizadora da
Amrica. O desenvolvimento de uma mentalidade messinica, desde os tempos coloniais no
Brasil, aglutina, pois, um cristianismo de penitncia e de apocalipse, marcado por
redeIinies peculiares, inIluncias indigenas e aIricanas. E o universo do capelo, que
desconhece os dogmas catolicos, mas se encarrega na costumeira ausncia das autoridades
eclesiasticas da conduo dos ritos, das oraes e ladainhas que acompanham as praticas
religiosas da populao pobre do campo. E tambm a religio das Iestas, da devoo aos
santos, das romarias, das penitncias, maniIestaes muitas vezes avessas aos agentes oIiciais
da igreja. AIirma, Maria Isaura, que esse distanciamento, por vezes tenso, em relao ao
catolicismo oIicial, o ventre Iecundo dos lideres religiosos leigos, penitentes, 'santos e
beatos que 'se acredita serem os verdadeiros representantes de Deus, que os inspira
diretamente, enquanto o padre antes um Iuncionario da igreja. E tambm no raro que
este ultimo Iosse estrangeiro, tendo por isso muitas vezes diIiculdades de bem compreender
os costumes locais.
Detalhando ainda mais a deIinio desse composito cultural, na
classiIicao que apresenta, Maria Isaura identiIica a primeira tipologia nos messianismos
mais autoctones inspirados na mitologia indigena e nas vises de mundo que antecederam e
permaneceram apos a chegada dos colonizadores ibricos. Foi assim com os Tupi e com os
Guarani, quando as tribos, em massa, peregrinavam periodicamente em solo brasileiro na
busca do seu 'paraiso, a Terra sem Mal, cuja existncia aventada no corpus mitico desses
povos como um lugar em que o arco e Ilecha caariam sozinhos, ningum envelheceria, nem
adoeceria ou morreria.
762
Tambm Jean Delumeau, ao se reIerir aos messianismos que se
exprimiram na civilizao ocidental como sendo a 'nostalgia do paraiso perdido, ou ainda
761
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira. Messinic Miths and Movements. Diogenes, Paris, n. 90, 1975.
762
CLASTRES, Hlene. Terra Sem Mal. So Paulo: Brasiliense, 1978.
227
como 'a duradoura esperana de reencontrar no Iuturo o paraiso terrestre das origens,
763
cita,
dentre outras culturas, o caso 'dos guaranis.
764
Tais povos se apegavam as orientaes de
seus lideres espirituais, xams
ou pajs, que assumiam papis de proIetas e guias religiosos
conhecedores do caminho para a conduo ao paraiso sonhado. Arrebatados pelos inIlamados
discursos dos proIetas-xams, cujas pregaes anunciavam a iminncia do Iim do mundo e
outras catastroIes, expressivos contingentes daqueles indigenas deixavam suas aldeias a
procura da Terra sem Males,
A pecul i ar i dade dest es messi ani smos consi st e, poi s, em que
sur gi r am endogenament e, causados por uma mi t ol ogi a messi ni ca.
As mi gr aes I or am pr oduzi das sob a conduo de um prof et a
cari smt i co, na mai or i a dos casos um xam ( paj ) , buscando a
't er r a sem mal es par a o l est e, mai s al m- mar , o que expl i ca o
t r aj et o desde o i nt er i or par a a cost a.
7 6 5
| gr i I o nosso|
Tambm Maria Isaura destaca a participao de lideres neste processo:
Pr oI et as i ndi genas i am de al dei a em al dei a apr esent ando- se como
r eencar nao de her oi s t r i bai s i nci t ando os i ndi os a abandonar o
t r abal ho e a danar , poi s os 'novos t empos, que i nst al ar i am na
t er r a uma espci e de I dade de Our o, est avam par a chegar .
7 6 6
Outro grupo apresentado na taxonomia elaborada pela autora compe-se
pelos chamados movimentos messinicos de inIluncia ocidental. Uma mentalidade com tais
representaes norteou os primeiros conquistadores que chegaram ao Brasil colonial, com
raizes em tempos primevos. Delumeau
767
tambm explica o Iato reIerindo-se ao que ocorrera
com o messianismo milenarista propagado por Joaquim de Fiore,
768
nos sculos XII e XIII, o
qual teria soIrido inIluncia de uma tradio escatologica que se reporta aos sculos IV e VII
d.C., no Ocidente, quando Ioram redigidos textos sob o nome de 'sibilinas crists,
anunciando a vinda de um rei ou imperador cristo, cujo reinado se instalaria em
Jerusalm.
769
Essas 'sibilinas circularam durante toda a Idade Mdia e Ioram impressas no
763
DELUMEAU, Jean. Historia ao meao no Ociaente (1300 1800). So Paulo: Companhia das Letras, 1990,
p. 441.
764
Id., ibid.
765
PRIEN, H. J. La historia ael cristianismo em America Latina. So Leopoldo: Sinodal, 1985, p. 313.
766
QUEIROZ, M. I. P. Messianismo no Brasil e no munao, p. 165.
767
Outro pesquisador sobre tal tematica Norman Cohn. Ver COHN, Norman. Na senaa ao milnio.
Milenaristas, revolucionarios e anarquistas misticos aa Iaaae Meaia. Lisboa: Presena, 1981.
768
Joaquim de Fiore (1145-1202) Ioi abade de um mosteiro na Calabria, no sul da Italia. Em seus inumeros
livros desenvolveu uma IilosoIia da historia com base em genealogias biblicas, a partir do que calculou e previu
o retorno de Cristo a terra para o ano 1260 d.C, Iato que seria seguido por um reinado terreno com durao de
mil anos, quando seria ento estabelecido o paraiso da terra. Fiore conquistou e inIluenciou inumeros
seguidores.
769
Joaquim de Fiore sem empregar a palavra 'milnio, anunciou a vinda de um tempo do Espirito, no qual a
humanidade viveria em um estado de piedade e de paz. Escreve Delumeau: 'Joaquim, morto em 1202, estimava
que um periodo critico ia comear muito em breve e duraria at por volta de 1260 e que, depois desse tempo de
turbulncias, a 'religio monastica Iaria reinar paz no mundo. Ele evocou apenas em termos sobrios essa Iutura
228
Iim do sculo XV. Antonio Gouva Mendona aIirma: 'a proIecia joaquiniana tambm
responsavel por boa parte da mentalidade messinica que perpassa o movimento
pentecostal.
770
Esta esperana messinica medieval sustentou a empresa das Cruzadas, vindo
inIluenciar, inclusive, Cristovo Colombo, que esperava Iinanciar a retomada de Jerusalm
atravs das riquezas dos paises que descobrira.
771
Dessa Iorma, estas concepes se
deslocaram para a Amrica como parte do imaginario dos conquistadores europeus, sendo
alimentadas pelo desejo de se encontrar tal paraiso perdido, conIorme bem demonstrou
Srgio Buarque de Holanda.
772
O Padre Manoel da Nobrega, em uma carta escrita em 1549, menciona um
movimento entre os tupiniquim e os tupinamba:
Soment e ent r e el es se I azem cer i mni as da manei r a segui nt e: De
cer t os e cer t os anos vm uns I ei t i cei r os de mui l onge t er r as,
I i ngi ndo t r azer sant i dade e ao t empo de sua vi nda l hes mandam
l i mpar os cami nhos e vo r ecebe- l os com dana e I est as, segundo o
cost ume ( . . . ) Em chegando o I ei t i cei r o. . . l hes di z que no cui dem de
t r abal har , nem vo a r oa, que o mant i ment o por si vi r a a casa e que
as enxadas i r o cavar e as I l echas i r o ao mat o por caa par a seu
senhor e que ho de mat ar mui t os dos seus cont r ar i os, e cat i var o
mui t os par a seus comer es e pr omet e- l hes l ar ga vi da, e que as vel has
vo se t or nar moas. . .
7 7 3
Tambm o Padre Jos de Anchieta, em carta escrita em 1557, destaca outro
exemplo de representaes de messianismo presente no Brasil colonial:
Pel o ser t o anda agor a um ao qual t odos seguem e vener am como a
um gr ande sant o. Do- l he quant o t m, por que se i st o no I azem
cr em que el e com seus espi r i t os os mat ar a l ogo. Est e met endo I umo
pel a boca, aos out r os l hes da seus espi r i t os, e I az seus semel hant es.
Aonde quer que vai o seguem t odos, e andam de ca par a l a,
dei xando suas pr opr i as casas.
7 7 4
Tambm estudos Ieitos por Antnio Cndido
775
constatam que os
segmentos da populao brasileira que oIereceram espao para as maniIestaes messinicas
apontam para um imaginario com raizes Iincadas no 'sebastianismo
de Portugal, colorido e
Ielicidade espiritual e, no obstante, terrestre, cI. DELUMEAU, J. Historia ao meao no Ociaente (1300
1800), p. 445.
770
MENDONA, A. Gouva. In: Sociologia aa religio no Brasil. So Paulo: UMESP, 1998, p. 74.
771
Ibid., p. 446-447.
772
HOLANDA, Srgio Buarque. Jiso ao paraiso. So Paulo: Nacional, 1969. Outro pesquisador, Ronaldo
VainIas, ao Ialar sobre milenarismo, reporta-se ao conceito de 'mito, conIorme o conceitua Mircea Eliade. 'o
mito conta uma historia sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo Iabuloso
dos comeos. Apontando para este modelo de anuncio apocaliptico que ocorrera na Amrica apos a conquista,
VainIas aIirma que a 'previso apocaliptica implica necessariamente a indicao do recomeo. CI. VAINFAS,
Ronaldo. A heresia aos inaios. So Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 35.
773
VAINFAS, R. A heresia aos inaios, p. 99.
774
Ibid., p. 109.
775
CANDIDO, Antnio. Os Parceiros ao Rio Bonito. So Paulo: Livraria Duas Cidades, 1975.
229
reIorado no Irtil solo indigena do mito da 'terra sem males, presente no contexto
brasileiro. O 'sebastianismo signiIicou a crena, muito diIundida em Portugal, nos sculos
XVI e XVII, em relao ao regresso vitorioso do rei D. Sebastio, morto na batalha de
Alcacer-Quibir, atualmente Marrocos, em 1578. Ao tornar-se rei, Sebastio Ioi chamado 'O
Desejado e ao morrer Ioi aguardado como o 'Encoberto. Isto porque, dadas as
circunstncias misteriosas da sua morte, desenvolveu-se a crena de que talvez tivesse
sobrevivido a batalha e se tornado prisioneiro dos mouros ou estivesse escondido
('encoberto) na AIrica. Dai a espera pelo seu retorno.
Esse imaginario portugus transIeriu-se para o Brasil com a colonizao,
Iincando raizes especialmente na regio Nordeste. A partir de 1640, o principal disseminador
dessas idias Ioi o padre Antonio Vieira, Iato que muito provavelmente tenha ajudado a
impregnar de sebastianismo as crenas religiosas no Brasil. Logo a crena sebastianista deu
lugar a expectao de um salvador no sentido mais geral, aproximando-se sensivelmente do
messias de Israel, ao desenhar o anseio popular pelo aparecimento de um personagem
redentor messinico. O 'Encobertismo, como tambm conhecido o sebastianismo, teve,
inclusive, muita guarida entre os judeus e possivel que os cristos-novos tambm tenham
dado sua contribuio para propagar tal crena no Brasil. Tambm as longas migraes de
milhares de indigenas, anotadas desde o sculo XVI, em busca de imortalidade e descanso
eternos, podem ter alimentado ou oIerecido solo propicio para diversos movimentos
sebastianistas no sculo XIX, quase todos eles com desenlaces tragicos.
776
O pesquisador Antonio Gouva Mendona, analisando movimentos com
tais perIis, aIirma:
De I at o, a hi st or i a da col oni zao br asi l ei r a mani I est a um cl i ma
messi ni co e, possi vel ment e, uma ment al i dade messi ni ca. ( . . . ) Os
est udi osos desses movi ment os concor dam, r egr a ger al , que el es
sur gem em popul aes r ur ai s subal t er nas em si t uaes anmi cas ou
de mudana soci al , em que os modos de vi da t r adi ci onai s so
ameaados. Quando a est es I at or es soma- se a I al t a de assi st nci a
r el i gi osa, como ocor r eu dur ant e quase t odo o desenvol vi ment o da
soci edade br asi l ei r a 'r ust i ca, as condi es par a a emer gnci a de
messi ani smos so bast ant e I avor avei s. Cr ei o ser val i da a hi pot ese de
que a j uno das cr enas i ndi genas sobr e a 'Ter r as sem Mal es com
as cr enas sebast i ani st as I or mou na 'ci vi l i zao r ust i ca br asi l ei r a
uma ment al i dade messi ni ca.
7 7 7
O historiador Levine comenta que 'no periodo moderno podemos
identiIicar oito movimentos messinicos brasileiros que (...) deixaram as suas marcas
776
CI. CLASTRES, Helene. Terra sem mal. So Paulo: Brasilienses, 1978; BASTIDE, Roger. As religies
africanas no Brasil. V. 1 e 2 . So Paulo: Pioneira, 1971.
777
MENDONA, A. G. O celeste porvir. a insero do protestantismo no Brasil, p. 247-248.
230
importantes no pais.
778
Destaca que no sculo XIX, por exemplo, ocorreram no Brasil
diversos movimentos sociais de inspirao sebastianista, como o de Pedra Bonita, em
Pernambuco, em 1817; O Reino Encantado, tambm iniciado em Pernambuco, por volta de
1836; A Cidade Santa (Juazeiro, Ceara), Iundada em 1872 pelo Padre Cicero, o mais extenso
movimento messinico brasileiro, pois que hoje ainda permanece. Assim, merece registro o
Iato de o pentecostalismo, por exemplo, ter se desenvolvido inicialmente no Norte e no
Nordeste brasileiros - regies tradicionalmente marcadas por movimentos religiosos
populares com perIis messinicos.
Ja no sculo XX, registra-se o movimento milenarista do Contestado, mais
ou menos com as mesmas caracteristicas dos anteriores. Na 'Guerra do Contestado, como
Iicou conhecida, de 1912 a 1916, na regio Ironteira entre Parana e Santa Catarina, velhas
tradies e concepes culturalmente Iolclorizadas revigoraram-se at mesmo no plano
militar e redeIiniram proIundamente a vida diaria da populao regional, sacralizando e
militarizando o cotidiano no grande embate entre o bem o mal, entre a justia e a injustia.
Tais movimentos so revoltas camponesas diante da penetrao do modelo econmico
capitalista no campo, da ruptura das antigas Iormas de relaes de produo e de relaes
sociais. Nesse sentido, Mauricio Vinhas de Queiroz, em trabalho publicado em 1965,
779
buscou uma explicao global para a ecloso desse tipo de reao popular. Esse autor
encontra a explicao para a Guerra Sertaneja do Contestado, por exemplo, 'numa crise de
estrutura, em que problemas sociais acumularam-se e agravaram conIlitos latentes entre
diIerentes classes sociais.
780
O pesquisador Ren Ribeiro considera que para se compreender a
constituio de um movimento messinico, alm de causas socio-culturais e 'a atrao
esttica que exerce a idia de uma era perIeita, necessario levar em conta 'o Iascinio que
os novos lideres exercem.
781
Jean Delumeau, quando se reIere a movimentos milenaristas
dos sculos XIX e XX, apresenta, dentre outros Iatores que propiciam o seu Ilorescimento, os
'desequilibrios surgidos no interior de uma sociedade dada ou de uma desorganizao social
provocada por Iatores externos, os quais podem recrutar adeptos em todos os niveis
sociais.
782
Maria Isaura tambm situa o Ienmeno milenarista numa logica social, destacando-
o como uma Iora ativa e no apenas uma espera contemplativa por uma interveno divina.
778
LEVINE, Robert. O serto prometiao. O massacre de Canudos. So Paulo: Edusp, 1995, p. 309.
779
QUEIROZ, Mauricio Vinhas de. Messianismo e conflito social. A Guerra Sertaneja do Contestado 1912-
1916. So Paulo: Atica, 1981.
780
HERMAN, Jacqueline. In: CARDOSO, C. F. ; VAINFAS, R. Op. cit., p. 349.
781
Apua LEVINE, R. O serto prometiao. O massacre de Canudos, p. 327.
782
DELUMEAU, J. Historia ao meao no Ociaente (1300 1800), p. 155.
231
Ajudam nas mobilizaes da luta contra a morte social, contra a perda de identidade,
construindo aes articuladas, criando esperana na possibilidade do novo. Entretanto, para
essa autora esse universo simbolico deve ser reposicionado especialmente nos setores da
populao rural. Contextos de expropriao ou de privao a que camponeses pauperizados
esto submetidos, por esse motivo so apontados como Iatores responsaveis por tais
maniIestaes.
783
Todas essas revoltas, enIim, buscam na religio seu ponto de partida e sua
Iora de aglutinao. O imaginario religioso que expressa essas redeIinies, constituindo
como uma espcie de documento cultural sobre mudanas nas mentalidades.
A Igreja Catolica, mantendo sua postura institucional, tem historicamente
marcado distncia de todas essas expresses populares. Foi a primeira a condenar o que
chamou de Ianatismo religioso dos seguidores de Conselheiro e a emprestar seu apoio a
represso do Estado que se seguiu aquele movimento. No Ioi diIerente sua atitude com o
Padre Cicero de Juazeiro, suspenso de ordens at o Iim de sua vida, ou com o monge Jos
Maria, do Contestado:
Toda i gr ej a const i t ui da t em, sem duvi da, seus mi st i cos, mas el a
desconI i a del es, el a l hes del ega seus conI essor es e seus di r et or es
par a di r i gi r , canal i zar , cont r ol ar seus est ados ext at i cos ( . . . ) Os
movi ment os de r eI or ma, as her esi as, os messi ani smos, os
mi l enar i smos so expr esses soci ai s do desej o de vol t a a um
passado vi br ant e e eI er vescent e de 'deuses sonhados.
7 8 4
O movimento iurdiano, ainda que no possa ser classiIicado como
tipicamente messinico pelos moldes classicos, notadamente apresenta praticas que
conIiguram representaes de um tipo de 'messianismo no mundo urbano. Podem ser
identiIicadas, em seu meio, como messinico-milenariastas, as seguintes caracteristicas:
proposta de estabelecimento terreno de um reino de Ielicidade; crena de ser o grupo portador
de uma especial eleio ou saberes divinos; pressuposio de um outro reino terrenamente
acessivel aos membros do grupo; a existncia de um reino do bem em combate a um reino do
mal; Iormao e desenvolvimento de um poder paralelo ao existente na sociedade geral;
amparo e sentido Irente a um contexto de crise e desestabilidade, com deslocamento de um
imaginario com representaes rurais para um contexto urbano.
Para que estes elementos pudessem se conIigurar Ioi necessario, como
visto, a existncia de um capital simbolico proprio disposto no campo. Ha, no Brasil, um
substrato cultural Iortemente marcado pela crena de que possivel a superao de
783
QUEIROZ, M. I. P. O messianismo no Brasil e no munao, 1977.
784
DOSSI: Religies no Brasil. Estuaos Avanaaos, So Paulo: USP, n. 52, v. 18, p. 31, 2004.
232
contingncias e mazelas seguindo-se a voz de comando de lideres visionarios com Iorte
representao de carismatismo. A IURD se apropria, portanto, de um capital simbolico
messinico-milenarista disposto no campo e de maneira bastante criativa o re-signiIica,
mobilizando-o em seu Iavor. Em suas praticas, os dois elementos esto conjugados, ou seja, o
acesso ao reino de paz e Ielicidade ja esta acessivel aos Iiis, sendo necessario para isso estar
sob a orientao e o comando de seus bispos e pastores. A seguir, mais detalhadamente, uma
analise destas representaes nas praticas iurdianas.
Em primeiro lugar, a IURD se apresenta como um reino ae benesses
terrenas com acesso imeaiato. No sem proposito que escolheu colocar no seu nome a
palavra 'reino. Fala-se ali de um outro reino ja terrenamente acessivel aos membros do
grupo. No ha mais a necessidade da morte ou mesmo um advento apocaliptico para o acesso
ao paraiso idilico. Ao proceder dessa maneira, o movimento iurdiano promove mutaes no
campo religioso brasileiro e reconIigura elementos culturais de longa durao. Nesse sentido,
vale observar as consideraes Ieitas por Chartier que, citando Philippe Aries, destaca a
ateno de olhares voltados para o 'alm-pos-mortecomo um dos elementos que
culturalmente marcam a civilizao ocidental. A esse proposito a leitura no caso, de textos
biblicos - desempenhou 'um papel pedagogico quanto as preparaes para a morte: como ela
devia ser pensada, domesticada, vivida nos ultimos instantes argumenta Chartier.
785
ExempliIica tal procedimento o protestantismo classico desenvolvido no Brasil, o qual
representa bem as raizes Iincadas na modernidade. Desde a sua chegada ao pais, no sculo
XIX, esse segmento religioso teve como uma de suas caracteristicas ler a Biblia com a
ateno voltada para o 'celeste porvir ou para a espera do 'grande dia do advento, como
bem destaca o pesquisador Antonio Gouva Mendona. Sob orientao desses imaginarios, o
protestantismo desenvolvido em solo brasileiro, em suas primeiras vertentes, direcionava sua
mensagem a uma dimenso para 'alm da historia:
A vi so de 'Cr i st o do cu i mpl ant ou na Amr i ca Lat i na um
Pr ot est ant i smo j a de i ni ci o em cr i se, por que col ocou a i gr ej a numa
encr uzi l hada at aqui no super ada. O 'Cr i st o do cu no apr esent a
sai da al m da segui nt e al t er nat i va: ou ar r ebat a a i gr ej a par a que va
ao seu encont r o ou desce novament e par a encer r ar a hi st or i a e
i naugur ar um r ei nado t er r eno. Qual quer dest as opes t em l evado as
i gr ej as a expect at i vas de pl eni t ude al m da hi st or i a. So
comuni dades de esper a. . .
7 8 6
785
CHARTIER, R. Leitura e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 376.
786
MENDONA, A. Gouva. Cristo no Cu e a Igreja Ausente. Cincias aa Religio, So Bernardo do Campo,
n. 6. p. 170, abr. 1989.
233
Algo semelhante tambm se deu com o pentecostalismo classico. A sua
mensagem se notiIicou como eminentemente Iuturista, milenarista, voltada a espera de um
'grande dia quando haveria a instaurao do reino dos cus por uma interveno
sobrenatural e divina. Tal perspectiva acaba por gerar, por exemplo, uma conduta de
aceitao da pobreza, sob a espera de um reino de riquezas no tempo do Iim. Gutierrez
lembra que as vezes, quando se pergunta a lideres pentecostais se as suas igrejas Iizeram a
'opo pelos pobres, prontamente respondem: 'no optamos pelos pobres, somos os
pobres
.
787
Nesse aspecto, vale tambm retomar o Iato de que o movimento pentecostal
tambm consiste num desdobramento do chamado 'grande avivamento religioso que
ocorrera nos Estados Unidos no sculo XVIII e XIX.
788
Dentre os pregadores avivalistas,
naquele momento, destacou-se Jonathan Edwards, a quem Jean Delumeau Iaz reIerncia
como propagador de idias milenaristas,
789
as quais estavam associadas a noo de
'progresso e 'prosperidade econmica
790
que sucederiam aquele despertar religioso
mediante um grande advento apocaliptico. Nesse sentido, a IURD apresenta uma proposta
inovadora de milenarismo: no ha mais necessidade de espera pelo 'Grande Dia do devir
escatologico, marcado pelo retorno de Cristo a Terra e inaugurao do milnio. O reino ja
chegou e suas benesses ja podem ser usuIruidas. Essa escatologia se conIigura no como um
apocalipsismo, mas como um messianismo-milenarista voltado a presena do 'reino de
Deus na terra, aqui e agora, com acesso imediato pelos Iiis atravs dos meios
disponibilizados pela igreja. As palavras de Ricardo Mariano tambm constatam essa
perspectiva:
Se os pr i mei r os pent ecost ai s enI at i zavam o abr upt o I i m apocal i pt i co
dest e mundo, ao qual se segui r i a a bem- avent ur ana dos el ei t os no
par ai so cel est i al , os novos pent ecost ai s, por seu l ado, pr i or i zam a
vi da aqui e agor a, el es quer em t er sucesso nesse mundo.
7 9 1
Edir Macedo Iaz questo de ressaltar - em relao ao que o protestantismo e
o pentecostalismo oIerecem - a nova proposta e viso apresentada pelo movimento sob sua
liderana:
At bem pouco t empo at r as uma I at i a r espei t avel da i gr ej a cr i st
empur r ava t odas as bem- avent ur anas par a o cu e par a a
787
CAMPOS, L. S. ; GUTIERREZ, B. (Orgs.). Op. cit., p. 16.
788
FILHO, Procoro Velasques; MENDONA, A. Gouva. Op. cit., p. 82-109.
789
DELUMEAU, Jean. Uma travessia do milenarismo ocidental. In: NOVAES, Adauto et al. A aescoberta ao
homem e ao munao. So Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 449.
790
Delumeau acrescenta que 'laos uniram, no sculo XVIII, o milenarismo e a crena no progresso, cI. Id.,
ibid, p. 451. Assim, o discurso iurdiano encontra aIinao entre o seu composito de crena com a idia de
sucesso, prosperidade e usuIruto dos bens de consumo, propostos pelo sistema capitalista.
791
MARIANO, R. Neopentecostais. sociologia do novo pentecostalismo no Brasil, p. 8.
234
et er ni dade. Di zi a- se ent o que er a necessar i o supor t ar
paci ent ement e o soI r i ment o pr esent e. . . A 'Teol ogi a da
Pr osper i dade est a t r azendo o cel est e por vi r par a o t er r est r e
pr esent e. Par a comer mos a mel hor comi da, par a vest i r mos as
mel hor es r oupas, par a di r i gi r os mel hor es car r os, par a t er mos o
mel hor de t odas as coi sas, par a adqui r i r mui t as r i quezas, par a no
adoecer mos nunca, par a no soI r er qual quer aci dent e, par a
mor r er mos ent r e 70 e 80 anos, par a exper i ment ar mos uma mor t e
suave - bast a cr er no cor ao e decr et ar em voz al t a a posse de t udo
i sso. Bast a usar o nome de Jesus com a mesma l i ber dade com que
usamos nosso t al o de cheques.
7 9 2
No modelo da IURD, o pentecostalismo abandona uma tica de
desvalorizao do mundo e se volta para objetivos extra-mundanos e uma escatologia
apocaliptica, optando pela idia da aceitao de que natural o usuIruto de riquezas, de saude
e de prosperidade
793
em uma espcie de antecipao do paraiso que comumente esteve
deslocado para o Iinal dos tempos, num Iuturo incerto e indeterminado. Para os Iiis da
IURD o templo que Ireqentam e o movimento que integram ja representam o inicio de uma
vida no paraiso a ser conquistado dentro da historia. O acesso as benesses do paraiso tem
passagem imediata; a escatologia do 'celeste porvir substituida pela do 'terrestre
presente.
Um dado marcante que se apresenta nas praticas da IURD, dentro desse
aspecto messinico, o que se pode chamar de 'conIraria de ajuda mutua. Isto signiIica que,
ao se Iiliar a igreja os Iiis se integram a uma 'grande Iamilia da I passando a contar no
apenas com o auxilio e a ajuda para eventuais diIiculdades que venham a enIrentar, mas
tambm com a 'preIerncia e apoio dos irmos nas diIerentes atividades proIissionais que
realizam. ExempliIicando: pratica Ireqente os membros da igreja comprarem
preIerencialmente no estabelecimento comercial do 'irmo que tambm pertena a sua
mesma comunidade; ou ento, solicitarem os servios do 'irmo ou 'irm que exerce a
atividade proIissional de imobiliarista, mecnico, pintor, motorista de taxi, empregada
domstica, mdico etc. Algumas igrejas chegam, inclusive, a manter um guia de classiIicados
que indica os nomes e os servios prestados por proIissionais evanglicos, onde tambm se
atualizam semanalmente as oIertas de empregos aos membros da comunidade local. Ainda
792
Depoimento do bispo Edir Macedo, cI. Teologia da Prosperidade. Revista Ultimato, So Paulo, srie
Caaernos Especiais, p. 5, mar. 1994.
793
Os ensinos precursores da Teologia da Prosperidade se remontam a movimentos teosoIicos propagados no
contexto norte-americano no inicio do sculo XX, que enIatizavam a 'conIisso positiva com Iinalidades
teraputicas, tendo como pressuposto o Iato de que as Ioras mentais e espirituais esto a disposio do
individuo para que, uma vez manipuladas, possam realizar curas e resolver problemas. Essek W. Kenyon e
Kenneth Hagin se tornaram os principais propagadores desse ensino no meio evanglico norte-americano,
mediante pregaes itinerantes e publicaes de literaturas, atravs das quais houve inIluncia sobre alguns
lideres do neopentecostalismo brasileiro. CI. CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercaao. Organizao e
marketing de um empreendimento neopentecostal, p. 365.
235
nesse sentido, vale observar que empresarios ou empreendedores que tm emprego a
oIerecer, costumam normalmente dar preIerncia aos membros da mesma igreja que tambm
Ireqentam para a ocupao de tais cargos e Iunes. Desta maneira, converter-se numa
igreja local signiIica inserir-se numa rede de ajuda mutua, ampliar consideravelmente
possibilidades de se ter novos clientes, novas portas de emprego abertas, e assim por diante.
Com isto, o comerciante passa a vender mais, o taxista a ter mais passageiros, o mdico a ter
mais pacientes, o trabalhador autnomo mais opes de emprego. Dai ser possivel
compreender que resultados concretos como esses acabem transmitindo ainda mais aos Iiis a
Iirme convico de que a chamada 'teologia da prosperidade de Iato Iuncional e eIicaz.
Um segundo aspecto do messianismo iurdiano se conIigura no Iato dessa
Igreja representar amparo e sentiao frente a um contexto ae crise e aesestabiliaaae. De
acordo com Maria Isaura, grupos sociais que esto 'imersos numa sociedade em intensa crise
socio-econmica e politica, acham-se normalmente mais predispostos a se reunirem em torno
da Iigura carismatica de um lider messinico.
794
Norman Cohn destacou que dentre as
maniIestaes da cultura se encontram os movimentos religiosos, 'chamados milenaristas,
que surgem no meio das 'massas desarraigadas e desesperadas, ... vivendo a margem da
sociedade (estruturada, complexa).
795
Tambm Weber e Durkheim concordam que o carisma uma Iora criadora
e regeneradora Iavorecida em tempos de mal-estar e soIrimentos sociais, quando Iormaes
sociais Iragmentadas necessitam especialmente de uma revigorao atravs da participao
carismatica. A Iigura de um lider carismatico consegue ento agregar participes de uma
mesma convico em torno de um anseio idilico, projetando expectativas de superao das
mazelas existenciais. A participao da comunidade no ritual coletivo pode proporcionar uma
sensao interior de proposito elevado, necessario para os individuos que precisam de um
objeto transcendente para escapar do desespero e do isolamento.
796
Roger Bastide igualmente
observa que 'o messianismo (...) representa um despertar que sempre acaba levando a uma
percepo de causas da privao.
797
Peter Berger aIirma que 'maniIestaes do messianismo
religioso, do milenarismo e da escatologia, como seria de se esperar, associam-se
historicamente aos tempos de crise e desastre, de causas naturais ou sociais.
798
'A inIluncia
794
Apua CARDOSO, C. F. ; VAINFAS, R. Op. cit., p. 349.
795
COHN, Norman. The pursuit of the millenium. New York: Harper Torch Books, 1961, Apua TURNER, V. O
processo ritual. Op. cit., p. 19.
796
Apua LINDHOLM, Charles. Carisma. Extase e peraa ae iaentiaaae na venerao ao liaer. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1990, p. 44.
797
apua LEVINE, R. O serto prometiao. O massacre de Canudos, p. 326.
798
BERGER, P. Op. cit., p. 53.
236
que o lider exerce em seus seguidores se deve, em geral, a insegurana e a desesperana
generalizadas ressalta tambm Robert Levine, que argumenta: 'quando um grande numero
de pessoas se liga a um culto religioso, existem normalmente mais causas do que a
meramente religiosa.
799
Levine apresenta ainda maiores detalhes sobre tais ambientes que
criam espao e condies Iavoraveis para o desenvolvimento de propostas salvacionistas com
perIil messinico:
A mai or i a dos movi ment os messi ni co- mi l enar i st as sur ge em
conseqnci a de movi ment os de agi t ao econmi ca e soci al , de
gr andes pr i vaes, de cr esci ment o das ansi edades e t enses do
povo, de cont ur baes psi cot i cas col et i vas, ou ent o como I or ma de
pr ot est o soci al .
8 0 0
Trata-se, portanto, de um Ienmeno bastante caracteristico das sociedades
que esto soIrendo mudanas sociais rapidas e desordenadas. Aqueles que se vem
desvalorizados e conIusos pela desintegrao do tecido social esto prontos a abrir mo de
uma identidade, ja prejudicada, em troca da aceitao em um grupo no qual, devido a sua
intensidade e objetivo, a existncia se transIorma em algo transcendente. Em um contexto de
agravamento das condies sociais de vida, portanto, a representao carismatica pode
oIerecer ao grupo elementos de reconstruo de sua identidade:
Se houver uma cr i se, podemos esper ar at i vi dades car i smat i cas mai s
r adi cai s. Est es gr upos podem I azer , i ncl usi ve, aI i r maes
mi l enar i st as, pr ovocando o I er vor ent usi ast i co dos acol i t os. ( . . . ) O
car i sma oI er ece a I or a e a i magi nao par a mudanas. ( . . . ) A
exper i nci a de I uso i nt ensa com um ser car i smat i co dent r o do
gr upo per mi t e a cont i nuao da vi da e de seu si gni I i cado quando o
mundo cot i di ano j a per deu o encant o. Tal par t i ci pao pode oI er ecer
um per i odo de descanso e um moment o de t r ansi o, dando I or a e
sust ent ao par a a const r uo de uma nova i dent i dade.
8 0 1
As trs ultimas dcadas, devido a Iormao de condies sociais de
excluso, marcadas por intenso processo de urbanizao e desiluso com o presente no
contexto brasileiro, propiciaram condies Iavoraveis para a emerso de representaes,
conIiguradas por anseios de amparo e segurana. O misticismo, o messianismo e o
milenarismo, 'to proprios de nossas tradies sertanejas, encontraram no mundo urbano
espao e condies para expressar uma esperana e uma base nova a Iim de mediatizar sua
utopia como tempo do novo e inovao social. Em um periodo no qual o Brasil vivencia um
processo de urbanizao e industrializao caoticas, esta em escalonario desencadeamento o
xodo rural, responsavel por deslocar grande contingente populacional para os centros
799
Id., ibid, p. 323.
800
LEVINE, R. O serto prometiao. O massacre de Canudos, p. 327.
801
Id., ibid., p. 218, 219.
237
urbanos, intensiIicando assim a Iormao e multiplicao de periIerias pobres, gerando
desemprego e perda de reIerncia de coletividade. Isso Iez que a periIeria das cidades, que
acolhe em primeiro lugar os imigrantes, se tornasse o recndito dos excluidos do processo
produtivo, aumentando ainda mais os problemas sociais e gerando muitos outros, inclusive de
natureza existencial. Formava-se, desta maneira, o 'terreno social Irtil para o
desenvolvimento de praticas religiosas que pudessem responder a tais contingncias:
No cont ext o de ur bani zao e i ndust r i al i zao caot i cas que
car act er i zar am o desenvol vi ment o naci onal nos ul t i mos 50 anos,
uma pr opost a r el i gi osa al i cer ada na i nt ensa ci r cul ao de bens
si mbol i cos, l evou ampl i ssi mos segment os empobr eci dos da
popul ao, i ncl ui ndo camadas i nt er medi ar i as, excl ui dos do 'mundo
moder no, a I or j ar suas pr opr i as r egr as e combi nar em or i gi nal ment e
um mosai co si mbol i co que l hes conI er i sse sent i do e di gni dade.
8 0 2
O processo de urbanizao, portanto, proporcionou o surgimento de um
contingente que passaria a experimentar situaes de pobreza e violncia, num contexto
gerador de proIundas incertezas e desestabilidade existenciais, em propores ainda maiores
do que as vividas pelo homem rural. Neste quadro de uma economia capitalista em Iase de
remodelao, provocando desarticulao dos modos de vida, que se Iormou um contingente
vivendo em situaes-limite - terreno Irtil e publicoalvo para a operosidade iurdiana:
O cr esci ment o do pent ecost al i smo se da desde a per spect i va de um
cont ext o de cr i se soci o- econmi ca e pol i t i ca nos pai ses do
Cont i nent e, que cr i ou a massi I i cao e a desper sonal i zao ent r e os
set or es da popul ao que mi gr am do campo par a a ci dade
( ur bani zao) . Di ant e dessa mudana t o r adi cal , a i gr ej a
pent ecost al aj uda a r est aur ar os val or es comuni t ar i os do mundo
r ur al per di do, de modo que se possa r esi st i r aos desaI i os e
exi gnci as do mundo moder no.
8 0 3
A massiIicao da vida nos grandes centros urbanos leva o individuo a
conviver com problemas de natureza psicossocial: a solido e a perda de muitos reIerenciais
simbolicos como a Iamilia e a religio da tradio, logo, torna-se necessario buscar
alternativas de compensao na tentativa de preencher os espaos vazios que o novo estilo de
vida Ioi criando. E ai a religio exerce um papel Iundamental, tanto como Iator de integrao
social, como tambm de reorganizao da vida, procurando dar a esse individuo um sentido e
uma direo no mbito de uma comunidade. Fry e Howe,
804
ao comentarem o
desenvolvimento de cultos populares sobretudo entre as camadas sociais mais pobres nas
grandes cidades brasileiras, mostram que a umbanda e o pentecostalismo passaram a
802
BITTENCOURT FILHO, J. Op cit., p. 102,103.
803
CAMPOS, L. S. ; GUTIERREZ, B. (Orgs.). Op. cit., p. 15.
804
FRY, Peter; HOW, Gary Nigel. Duas respostas a aIlio: umbanda e pentecostalismo. Debate e Critica. So
Paulo: HUCITEC, n. 6, 1975.
238
constituir respostas a aIlio decorrente das situaes de crise a que as populaes urbanas
passaram a estar submetidas em tal contexto.
Diante deste quadro social, preciso considerar que a IURD uma igreja
essencialmente urbana, cuja mensagem voltada para alcanar os 'excluidos da cidade.
Num contexto, como o descrito anteriormente, ela surgiu como um movimento agressivo,
inovador, determinado a realizar o 'milagre que todos esperam e ha muito tempo no vem.
Isso Iaz lembrar as palavras de Pierre Bourdieu, quando em entrevista concedida a uma
autora brasileira Ioi indagado acerca da seguinte questo: 'O senhor acredita que a enorme
massa de soIrimento que no Brasil se expressa em violncia, misria, excluso,
insegurana, incerteza sobre o Iuturo - produzida pelo neoliberalismo podera um dia dar
origem a um movimento capaz de acabar com ele? E as religies que crescem de Iorma
proporcional a esse estado de coisas, tm alguma chance de se voltar contra a sociedade? A
resposta de Bourdieu:
As si t uaes de cr i se so si t uaes cr i t i cas nas quai s o mundo cai
em pedaos. As pessoas per dem as r eI er nci as, I i cam sem
i nst r ument os par a t ot al i zao. Max Weber di z que a I uno
pr i nci pal da r el i gi o dar sent i do e coer nci a pr at i ca, no t eor i ca, a
exi st nci a, de modo que a pessoa se encont r e, se or i ent e.
I nI el i zment e, os pr oI et i smos r el i gi osos cost umam se si t uar na l ogi ca
do escapi smo, conduzi ndo a vi ses mi l enar i st as que se aI ast am do
pol i t i co no que el e t em de br ut al e i nsupor t avel . Poder i amos nos
per gunt ar onde ser i a possi vel encont r ar I or as soci ai s par a mudar
esse mundo. ( . . . ) Penso que o que est a acont ecendo mui t o gr ave e
que a humani dade est a ameaada.
8 0 5
Ao comentar sobre a misria que aIeta grande parte da populao atual,
Bourdieu Iaz ainda a seguinte aIirmao:
O conheci ment o do mundo soci al per mi t e ver coi sas e suas
conseqnci as ocul t as. Por exempl o: at ual ment e, exi st e a t endnci a
de se subst i t ui r em os cont r at os de t r abal ho de dur ao
i ndet er mi nada pel os cont r at os de dur ao det er mi nada, os empr egos
per manent es pel os empr egos t empor ar i os. So pequenas medi das
t omadas t odos os di as, nos mai s di I er ent es set or es. Na ver dade esse
t i po de medi da t er a conseqnci as ( . . . ) Par a quem sabe ver el as j a
est o pr esent es no Br asi l , por exempl o. ( . . . ) vemos as
conseqnci as: aument o de desempr ego, vi ol nci a, cr i mi nal i dade,
rel i gi es mi l enari st as, pent ecost al i st as et c.
8 0 6
| gr i I o nosso|
Os Iatores de experincia e criao de sentido se apresentam como
elementos consistentes para as praticas e as representaes que os Iiis vivenciam no mbito
da IURD. Bispos, pastores, obreiros auxiliares e membros, de modo geral, demonstram uma
805
BOURDIEU, Pierre. Pierre Bouraieu entrevistaao por Maria Anarea Loyola. Rio de Janeiro: Eduerj, 2002,
p. 39.
806
Id., ibid, p. 22, 23.
239
experincia comum: chegaram a Igreja na condio do que denominam 'Iundo do poo. A
saida de tais situaes de inIortunio, que se materializam em doenas, desemprego e
Iracassos, esta nas mos de cada um, pois basta que os Iiis apelem para Jesus buscando o
auxilio da verdadeira Igreja (IURD, claro), a qual Iiadora dos milagres. O passo seguinte
Iazer, la mesmo, as 'correntes de I.
Pessoas vivendo em 'situaes limites de soIrimento e at decepcionadas
com a medicina oIicial recorrem a IURD. Muitas dizem 'desenganadas da cincia, tendo
apenas uma ultima centelha de esperana: o milagre. Nos depoimentos, chamados de
'testemunhos, em que relatam as experincias de mudana e transIormao alcanadas,
costumam ressaltar que para la se dirigem ou como doentes, bbados, jogadores, traIicantes,
pobres, homossexuais, travestis, prostitutas, viciados ou assassinos. Os dois relatos, a seguir,
apontam para este aspecto:
Quando eu cheguei na Uni ver sal , eu est ava der r ot ada, desesper ada
| . . . | t udo que havi a t ent ado deu er r ado. A l oj a er a a ul t i ma
esper ana | . . . | Ti nha per di do t udo, meu negoci o I al i u, mi nha soci a
t i nha i do embor a e eu I i quei sozi nha, ol hando a l oj a vazi a, no
acr edi t ando que t i nha per di do t udo, que havi a dado t udo er r ado.
8 0 7
Um rapaz, em outro depoimento, diz:
Eu est ava andando so com mar gi nal | . . . | er a t r aI i cant e e vi vi a na
pr ost i t ui o. Por que so el es acei t avam andar comi go. Um di a mi nha
me apar eceu par a conver sar comi go, chor ou mui t o, I al ou par a eu
sai r daquel a vi da | . . . | I i quei chat eado del a t er i do al i , sabe como ,
me da gent e | . . . | meu pai j a nem conver sava comi go, depoi s mi nha
me t ambm sumi u. . . acho que el a se cansou de mi m, cansou de
t ant o soI r er , de me ver naquel a vi da | . . . | E eu so usando t odo t i po
de dr oga, al gumas j a nem I azi am mai s eI ei t o. Ti nha que r oubar pr a
mant er o vi ci o | . . . | Ai eu cheguei aqui na I gr ej a e t udo mudou.
8 0 8
O bispo Macedo Iaz questo de ressaltar que acolher pessoas nesta situao
de soIrimento e redimensionar-lhes o sentido de vida Iaz parte do dia-a-dia da IURD.
Segundo ele, 'a mudana de vida no diIicil quando se esta no Iundo do poo |...| e
qualquer pessoa quando chega at nos porque esta no Iundo do poo. E quando ela esta la
tende a subir ou morrer. Baixar mais no pode.
809
A IURD representa, para os que a ela recorrem, um lugar aonde se vai
quando no se tem mais para aonde ir, quando se esta soIrendo, sozinho e sem saida. Num
contato inicial tais pessoas so simplesmente acolhidas sem questionamentos ou exigncias.
Cria-se ento uma relao de ajuda que obedece em linhas gerais a seguinte ordem:
807
Sandra Regina Ribeiro, em depoimento a Folha Universal, Rio de Janeiro, 07 jul. 2005, p. 4.
808
Marcos Antonio de Paula, em depoimento a Folha Universal, Rio de Janeiro, 14 mar. 2005, p. 8.
809
Revista Jefa, So Paulo, 06 dez. 1995.
240
acolhimento, escuta e proposta de soluo. Promove-se, a partir dai, principalmente atravs
da participao nos ritos oIerecidos pela Igreja, noes de segurana, proteo e sentido no
ambiente do grupo.
Ao se r emet er em a si t uao de 'I undo de poo, os membr os I al am
sempr e de uma vi da desest r ut ur ada no mbi t o I i nancei r o, I i si co,
aI et i vo, emoci onal , I ami l i ar e soci al . Quando se chega a I URD,
chega- se no t endo mai s l ugar par a se i r , em ger al o i ndi vi duo j a
per deu t udo o que l he dava al guma di gni dade soci al ou pessoal .
Ger al ment e, no se t em saude, empr ego, aI et o, r ecur sos I i nancei r os
par a pr over , at mesmo, as vezes, o basi co como mor adi a e
al i ment ao. Ou ent o, no se acei t o pel a I ami l i a, pel a soci edade
ou vi ve- se no submundo de vi ci os, pr ost i t ui o e dr ogas.
8 1 0
Esse sentido de mundo, calcado na experincia - por ilogicos que paream
ser aos que no pertencem aquele universo da coerncia a quem esta inserido ou se integra
no ambiente iurdiano. Como observa Peter Berger, a religio se torna assim resultado de uma
atividade humana Iundamental de continua busca, no meio do caos, de um mundo pleno de
sentido e ordem: 'Toda sociedade humana um empreendimento de construo de mundo
(...) a religio ocupa um lugar destacado nesse empreendimento.
811
Bourdieu, ao empregar o
conceito de 'distino associa a ele os mecanismos que possibilitam a construo desta
identidade social, organizada em Iuno do habitus. O texto, a seguir, tece consideraes
sobre este aspecto:
O I unci onament o do espao soci al basei a- se na vont ade de di st i no
dos i ndi vi duos e dos gr upos, i st o , na vont ade de possui r uma
i dent i dade soci al pr opr i a, que per mi t a exi st i r soci al ment e. Tr at a- se
de ser r econheci do pel os out r os, de adqui r i r i mpor t nci a,
vi si bi l i dade, e I i nal ment e t r at a- se de t er um sent i do. Exi st i r
soci al ment e , essenci al ment e, ser per cebi do, i st o , I azer com que
sej am r econheci das t o posi t i vament e quant o possi vel as suas
pr opr i edades di st i nt i vas. Dai t r ansI or mar - se em capi t al si mbol i co as
pr opr i edades i magi nar i as.
8 1 2
Para o imaginario representativo que nela se vivencia, acredita-se ser
possivel, dentro da Igreja, alcanar tudo o que se deseja. Tal crena nutrida pelos relatos e
testemunhos dos pastores e Iiis que lembram a todo instante que a vitoria ja obtida pelo
outro prova de que tambm pode acontecer com os aemais. Assim, o Iiel sabe que, se ainda
no alcanou o seu objetivo, esta lhe Ialtando uma entrega ou obedincia mais completa a
Deus atravs dos recursos oIerecidos pela Igreja. Desta Iorma, ele acredita que em algum
momento isso ocorrera. Mesmo quando o milagre ou soluo do problema no alcanado, a
capacidade de produo de sentido da IURD consegue incorporar essa situao em seu
810
BONFATTI, P. Op. cit., p. 137.
811
BERGER, P. Op. cit., p. 15, 20, 21.
812
BONNEWITZ, P. Op. cit., p. 103.
241
universo simbolico. No se questiona a logica simbolica da IURD, pois no ela que deve
mudar, mas a atitude do Iiel dentro dessa logica. Isto Iaz que o adepto permanea ligado a
Igreja. Tal perspectiva se assemelha aos milagres rgios estudados por Marc Bloch:
Se o doent e a quem o mi l agr e I al har a er a mal - educado o bast ant e
par a quei xar - se, os deI ensor es da r eal eza no t i nham di I i cul dade em
r esponder - l he. Repl i cava- se- l he, por exempl o, que l he I al t ar a I ( . . . )
Ou concl ui a- se que houver a er r o de di agnost i co.
8 1 3
Este amparo e proteo recebidos so tambm demonstrados nos
depoimentos dos Iiis, os quais, ao concederem tais 'testemunhos aos pastores, costumam
seguir uma triade: cura de enIermidades, libertao dos demnios e prosperidade Iinanceira.
Sendo divulgados nos horarios dos cultos e tambm veiculados nos programas de radio, TV e
jornal Folha Universal, esses depoimentos obedecem basicamente a seguinte estrutura:
primeiro, a identiIicao do problema (doena, misria, Ialncia etc.); segundo, a
complicao ou agravamento da situao (apelo para todas as solues possiveis: medicinais,
extra-medicinais, espiritismo, terreiros, tentativa de suicidio etc.); terceiro, a soluo
encontrada na ultima porta, ou seja, a entrada na Igreja Universal, seguida pelo 'milagre
alcanado.
Portanto, em meio as crises e transIormaes ocorridas nas ultimas dcadas,
o movimento iurdiano surgiu como o meio pelo qual determinados setores da sociedade
tentam superar coletivamente as contingncias e as mazelas existenciais. Os Iiis iurdianos
Ioram atraidos intensamente para uma religio que se Ioi criando e moldando como resposta
possivel e concreta a crise e as transIormaes em todas os niveis de vida, que desarraigaram
e desconcertaram o povo em um contexto de instabilidade econmica e social. AIinal, 'num
momento, o sujeito se sente desamparado e, no outro, esta num ambiente de Iraternidade.
814
O ambiente iurdiano, assim, propicia estrutura organizacional, aIetiva e cultural condizentes
com a gerao de conIiana em uma espcie de rede social Iamiliar, cumprindo um papel de
integrao e de adaptao ao meio urbano:
Exper i ment ando no cor po e na al ma os eI ei t os angust i ant es da
desor gani zao soci al e de padr es de compor t ament o pr oduzi dos
pel a i ndust r i al i zao ( anomi a soci al ) , o mi gr ant e busca, como por
ensai o, um gr upo no qual possa sent i r aI i ni dade emoci onal e
r econheci ment o pessoal .
8 1 5
Em sintese, a experincia de converso vivenciada no contexto da IURD
insere os membros em um grupo social no qual encontram relaes possibilitadoras de
813
BLOCH, M. Op. cit., 275.
814
FONSECA, Alexandre Brasil. Revista Jefa, So Paulo, 03 jul. 2002, p. 93.
815
Id., ibid, p. 38.
242
ascenso perante o grupo ao qual pertencem, dando-lhes, por exemplo, uma certa liderana
que lhes conIere uma honra pouco acessivel no mundo em que vivem. No mbito da IURD
ocorre a criao e o desenvolvimento de uma Iorma de poder ou capital simbolico, podendo
chegar ao exercicio dos cargos eclesiasticos mais elevados e a obteno de titulos e prestigio
conIeridos pelo poder simbolico. No grupo no qual esto inseridos, so chamados por titulos
como: bispos, pastores, obreiros. Constata-se tambm grande presena de pessoas vitimadas
por algum tipo de preconceito na sociedade: pobres, negros, mulheres, semi-analIabetos etc.
Lideres e Iiis encontram no segmento iurdiano um espao acolhedor que lhes conIere
dignidade, prestigio, ascenso social mediante os cargos e Iunes que passam a
desempenhar oportunidades essas que muitas vezes se apresentam inacessiveis na
sociedade em geral.
Um terceiro aspecto que envolve representaes messinicas neste
segmento religioso pode ser observado na mobili:ao ae simbolos e na auto-compreenso de
ser um grupo aivinamente eleito para um combate ao reino ao mal. Como observado
anteriormente, nas ultimas dcadas a cidade se tornou cada vez mais lugar do medo. Os
eIeitos da pobreza e da urbanizao acelerada promoveram um aumento espetacular da
violncia. Os meios de comunicao de massa passaram a estampar diariamente inIormaes
que propagam o medo, sobretudo pelo crime e morte violentos.
816
Isso desencadeou uma
busca de amparo e proteo por meios que ultrapassam os recursos convencionais advindos
de orgos publicos ou organizaes privadas.
Observa-se tambm, pelos testemunhos, que os participantes da IURD dela
se aproximam orientados por um habitus marcado por um 'encantamento, cujo mundo
intensamente habitado por Ioras espirituais. Dessa Iorma, comum nos depoimentos sobre a
entrada na Igreja Universal perceber a idia de que Deus, em todo tempo, estava querendo
mostrar o caminho ao ainda no convertido por meio de inumeros sinais, aos quais se opunha
a todo tempo o Demnio, numa batalha espiritual: ter sido abordado na rua para recebimento
de panIletos com propaganda da IURD, assistido circunstancialmente ao programa de radio e
TV (em que naquele programa, viu-se a propria vida sendo relatada pelos testemunhos
alheios), ou ento, ter sentido tremuras nas pernas quando passou em Irente da Igreja pela
primeira vez, e o Diabo Iez que ele no quisesse entrar...
817
Ou ainda, como descreve outro
depoimento, ter chegado a Igreja em condio de Iracasso Iinanceiro e crise Iamiliar: 'Havia
sido abandonado pela mulher e estava derrotado, Iicando dias perambulando pela rua, sem
816
SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.
817
Paulo Csar Oliveira, em depoimento a Folha Universal, Rio de Janeiro, 25 maio 2004.
243
rumo, at que Deus Iez com que Iosse parar em Irente a Igreja, Ioi quando ouvi uma cantoria
e o meu corpo Iicou arrepiado e ento decidi entrar. Ento comecei a chorar e no conseguia
parar... era Deus que estava me chamando.
818
O espao da crena se torna assim estratgico para a obteno de amparo
por meios 'sobrenaturais, magicos, pois no espao iurdiano se opera um combate, uma
guerra contra as Ioras operantes do mal. A IURD entende que a origem do mal se deu a
partir de uma rebelio dos anjos no cu, comandada por LuciIer, 'querubim da guarda,
culminando com a sua expulso e a de seus seguidores. O orgulho teria Ieito que almejasse
ocupar a posio de Deus. Estaria ai a razo de sua queda. Edir Macedo, por exemplo,
Iundamenta tal explicao na interpretao que da a dois textos biblicos do Antigo
Testamento: Isaias 14:12,14 e Ezequiel 28:11-19. Em sua obra Orixas, Caboclos e Guias, o
bispo explica que LuciIer, tendo sido anjo criado por Deus, teve essa condio original at se
rebelar contra o Criador, pelo que Ioi amaldioado e, conseqentemente, tornado-se demnio.
Esclarece que antes da 'queda dos anjos, Satanas liderava uma estrutura hierarquica desses
seres. 'Dotados de livre arbitrio, eles podem escolher entre o obedecer a Deus ou rebelar-se
contra Ele. Prova que numerosos anjos, um tero, decidiram seguir a rebelio de Satanas e
transIormaram-se em demnios declara Macedo.
819
Assim, apos ter sido expulso da
presena de Deus, perdendo sua condio original, Satanas teria organizado os anjos
decaidos, os demnios, para atuarem em areas e regies distintas em toda terra com o
objetivo de domina-la, passando a Iustigar o mundo e a humanidade a partir do momento em
que esta tambm veio a ser criada. Cheios de odio e vingativos Iazem de tudo para prejudicar
a obra de Deus, principalmente o ser humano.
A partir de uma conIigurao cultural, portanto, no mbito do 'grupo
eleito iurdiano, em que entram teologias, teogonias, antropogonias e uma srie de mitos
ancestrais, a cosmologia iurdiana se assemelha a viso tripartida do imaginario religioso
hebreu, descrito nas Escrituras Biblicas, que separava o cosmos em trs dimenses: cu,
morada de Deus e de seus anjos; terra, uma criao divina entregue aos seres humanos;
inIerno, regies inIeriores destinada a acolher as almas dos mortos e demnios. O mundo
assim concebido como uma arena onde se trava a luta entre Deus, o Diabo e seus anjos. O
objeto dessa guerra o ser humano. Para a IURD os demnios existem, esto soltos e cada
vez mais astutos no proposito de causar diversos males na vida das pessoas. 'Vivemos em
818
AIonso Vitor Martins, em depoimento a Folha Universal, Rio de Janeiro, 13 jun. 2005.
819
MACEDO, Edir. Doutrinas aa Igrefa Universal ao Reino ae Deus. V. 1. Rio de Janeiro: GraIica Universal,
1998, p. 105.
244
plena era do mal - enIatiza o bispo Macedo.
820
Em seu Manual ao Obreiro, a Igreja expressa
bem o imaginario permeado por Ioras do mal em que desenvolve suas praticas:
Acr edi t amos que os demni os at uam na vi da das pessoas com o
pr oposi t o de aI ast a- l as de Deus e no dei xa- l as e conseqent ement e,
ent ender o pl ano di vi no par a suas vi das. Dai ent ender mos que a
pr i mei r a coi sa que deve ser I ei t a com al gum, par a t r az- l o ao
Senhor e l i ber t a- l o do poder e da i nI l unci a do di abo e dos seus
anj os, os demni os ( . . . ) Uma vez l i ber t ado dessa i nI l unci a, a
pessoa pode encont r ar I or as par a per sever ar em segui r ao Senhor
Jesus e cami nhar a vi da cr i st de uma manei r a vi t or i osa.
8 2 1
Argumenta o bispo Macedo que os demnios, que so espiritos imundos,
no tm corpo nem sexo. Eles so espiritos que sabem que para se expressarem nesse mundo
material precisam de corpos, por isso atraem, cativam e iludem as pessoas com inteno de
destrui-las e usa-las para Iazer o mesmo com as demais. Como Ioras espirituais do mal,
esses espiritos usam corpos dos homens para realizar e expressar suas aes malIicas contra
Deus e os seres humanos. 'Atuam agora gerando enIermidades, desastres, medo, insnia,
depresso, desejo de suicidio, destruio dos lares etc. sobre a vida das pessoas.
822
Em uma outra reportagem, a IURD aIirma que 'existem inumeras pessoas
de boa indole, sinceras na I, mas enganadas pelas mentiras, as Ialsas curas e sinais
demonstrados por esses espiritos. A Biblia no contra tais pessoas, mas condena
veementemente essas praticas.
823
A Universal acredita, assim, que aquilo que se passa no
'mundo material decorre da guerra entre as Ioras divina e demoniaca no 'mundo
espiritual, tendo como protagonistas Deus/anjos versus Diabo/demnios. Os seres humanos,
porm, conscientes disso ou no, participam ativamente de uma ou de outra Irente de batalha.
A Igreja Iaz o papel de engaja-los do lado divino, Iazendo com que seus Iiis adquiram poder
e autoridade para reverter e destruir as obras do mal. Ha, assim, uma convocao para uma
batalha coletiva contra o mal. Aqueles que, por razes de tempo, vontade ou aptido, no
podem se dedicar ao trabalho como pastores ou obreiros, so exortados no somente a oIertar
dizimos para a expanso do reino de Deus na terra, mas tambm se engajar na 'batalha
espiritual contra as potestades do mal, a pregar o evangelho mediante distribuio de
panIletos evangelisticos em locais publicos, convidando amigos, parentes e vizinhos para
comparecerem aos templos.
820
MACEDO, Edir. A libertao aa teologia, p. 117.
821
MANUAL DO OBREIRO: Estatuto e regimento interno da Igreja Universal do Reino de Deus. Op. cit.
822
MACEDO, Edir. Doutrinas aa Igrefa Universal ao Reino ae Deus. V. 2. Rio de Janeiro: GraIica Universal,
1999, p. 58.
823
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, p. 14-16, mar. 1999.
245
Maria Isaura de Queiroz
824
identiIica como um dos componentes
Iundamentais para o desenvolvimento de movimentos messinicos a presena e a atuao de
um lider que acredita - e cuja representao tambm lhe atribuida por seus Iiis - ser
possuidor de poderes sobrenaturais. E a Iora mobilizadora dessa verdade estabelecida
capaz de atrair grande massa de seguidores a partir da projeo das representaes que se
constitui em torno da pessoa. Nesse sentido, os lideres iurdianos so vistos como detentores
de um saber ou de um conhecimento diIerenciado sobre o sagrado e, como tais, proIetas
portadores de uma nova mensagem divina no combate ao mal, como se pode observar nas
palavras de Edir Macedo:
O Espi r i t o do Senhor nos t em di r i gi do, r azo pel a qual est amos
pi sando a cabea de sat anas. Em nossas r euni es, os demni os so
humi l hados e at mesmo achi ncal hados, numa pr ova de que o Senhor
est a conosco. ( . . . ) Se uma pessoa chegar a I gr ej a no moment o em
que as pessoas est o sendo l i ber t as, poder o at pensar que est o
num cent r o de macumba ( . . . ) t emos a i mpr esso que aquel as pessoas
I i car am l oucas, ent r et ant o, apos al guns moment os, quando I azemos
a l i mpeza em suas vi das ( . . . ) ai vem a bonana, a paz ( . . . ) em seus
r ost os t r anspar ece a al egr i a da l i ber t ao.
8 2 5
No mbito do grupo iurdiano, o aparecimento e a atuao do 'lider
carismatico presume que sua autoridade esteja em 'harmonia direta com a 'vontade divina,
e que ele Ioi chamado a cumprir especial misso contra um reino demoniaco.
826
J. Cabral,
escritor da IURD, no preIacio que apresenta ao livro best seller de Macedo, Orixas, Caboclos
e Guias. aeuses ou aemnios?, Iaz a seguinte aIirmao em relao ao bispo:
Tem dedi cado t oda a sua vi da a l ut ar cont r a os demni os, por quem
t em r epugnnci a, r ai va. O bi spo Macedo t em desencadeado uma
ver dadei r a guer r a sant a cont r a t oda a obr a do di abo.
8 2 7
Na viso da IURD, o Diabo esta no mundo tentando tomar conta dele. E
esse 'reino do mal a ser enIrentado e combatido pode ser identiIicado em algumas 'Iaces.
Num primeiro momento, apresenta-se atravs de Ialsas religies. Estas podem se apresentar
na roupagem do catolicismo, como se pde observar no episodio do 'chute na santa,
conIorme ja destacado. No entanto, tais Iormas de 'engano religioso so identiIicadas
prioritariamente pela IURD nas crenas aIro-brasileiras. Obviamente, contribui para isto a
passagem de Macedo pela umbanda e candombl, como ele mesmo o declara, reivindicando
a autoridade da experincia pessoal no conhecimento de tal universo religioso.
828
Macedo
824
QUEIROZ, M. I. P. Messianismo no Brasil e no munao, p. 165ss.
825
MACEDO, Edir. O Espirito Santo. Rio de Janeiro: GraIica Universal, 1993, p. 134.
826
CAMPO, Bernardo. Op. cit., p. 53.
827
MACEDO, Edir. Orixas, caboclos e guias: deuses ou demnios?, p. 14.
828
Id., ibid., p. 91.
246
adverte que os demnios procuram se 'disIarar de santos e cheios de IilosoIias
'aparentemente crists criam religies onde transIormam seres humanos em 'cavalos e
'aparelhos. A Igreja explica que normalmente se tem entendido que essas entidades
desenvolveram praticas especiIicas para cada classe social, ou seja, o 'baixo espiritismo
(umbanda, candombl, quimbanda etc) com seus terreiros e Iiguras amerindias estariam
voltadas as camadas mais populares da populao; enquanto que o 'alto espiritismo,
tambm conhecido como cientiIico (kardecismo, esoterismo e outros), estaria voltado para
'os intelectualizados. A IURD, porm, alerta que a origem e as maniIestaes so as
mesmas:
O exu que bai xa nos t er r ei r os o mdi co consel hei r o no espi r i t i smo
e assi m por di ant e. Essas ent i dades, par a j ust i I i car a pr opr i a
exi st nci a, i nvent ar am hi st or i as de vi das t er r enas, como se I ossem
suas, e hoj e mor t os vi vem em out r o pl ano espi r i t ual vi ndo a t er r a
par a pr ej udi car . Os I i l hos de sant o e I r eqent ador es so or i ent ados
a I azer em t r abal hos par a expul sar os espi r i t os encar nados,
obsessor es.
8 2 9
Sobre os milagres atribuidos aos santos catolicos, ou ento viabilizados por
um trabalho mediunico, Macedo tambm contundente em suas palavras:
No so mi l agr es I ei t os pel os ser vos de Deus que j a I al ecer am, poi s
os mor t os no vol t am e nada podem I azer por nos. Tr at a- se de
engano de Sat anas, que pode per I ei t ament e i l udi r pessoas
espi r i t ual ment e car ent es. O di abo capaz de escr avi zar uma pessoa
dur ant e anos, col ocando- l he uma doena, depoi s quando l he I or
conveni ent e, t ambm pode r et i r ar suas gar r as de modo que par ea
est ar acont ecendo uma cur a. Ei s a expl i cao par a t ant as cur as
medi uni cas e t ant os mi l agr es at r i bui dos aos sant os.
8 3 0
Em depoimentos, os Iiis tambm constatam bem esses aspectos ao
testemunhar que Ioram 'libertos de crenas identiIicadas como diabolicas, conIorme o
caso relatado a seguir:
Est ava compl et ament e endi vi dado no banco e er a j ur os sobr e j ur os. . .
Fr eqent ei at por al gum t empo a Sei cho- no- i e nada, a di vi da so
i a cr escendo. Mai s t ar de I i quei sabendo que havi am I ei t o um
t r abal ho de macumba` cont r a mi m par a que as coi sas I ossem de mal
a pi or ; I oi uma mul her com quem t er mi nei um r el aci onament o.
Quando cheguei a I gr ej a sent i uma coi sa mui t o est r anha, um ar r epi o
e ent o um obr ei r o or ou par a que o demni o sai sse da mi nha vi da,
par a que el a I osse 'desamar r ada. Sent i ent o uma espci e de
al i vi o. . .
8 3 1
829
Id., ibid.,
830
MACEDO, Edir. Doutrinas aa Igrefa Universal ao Reino ae Deus. V. 2. Rio de Janeiro: GraIica Universal,
1999, p. 93, 94.
831
Luiz Henrique Camargo, em depoimento a Folha Universal, Rio de Janeiro, 18 abr. 2005.
247
Continua relatando que uma srie de eventos posteriores comearam a
rearticular sua vida Iinanceira e vindo a receber maior salario devido a uma promoo no
emprego e ressalta a importncia da Igreja: 'Hoje eu sei que Ioi trabalho da ex-amante` que
Iez com que eu andasse para tras`... E so quando encontrei Jesus na Igreja Universal minha
vida Ioi abenoada.
Em relao as crenas aIro, lideres e Iiis sentem no so o direito, mas
tambm o dever de combat-las. Constatando nelas a presena do Diabo e seus demnios
agentes, a IURD promove dois tipos de combates: invoca tais agentes inimigos dentro dos
seus rituais de libertao para serem exorcizados; e desempenha uma 'batalha espiritual de
ocupao de espaos Iisicos religiosos, o que tem desencadeado, por vezes, conIlitos em
relao as crenas aIro. Como ja mencionado, ao se expandir no Estado da Bahia, a IURD
acirrou os nimos quando passou a desclassiIicar em seus programas de radio e televiso os
orixas, igualando-os aos demnios identiIicados pelo cristianismo, e tambm chegando a
promover invases em terreiros de culto aIro. A reao da populao ligada a tais cultos
maniIestou-se na Iorma de conIlitos Iisicos entre pastores e adeptos de diIerentes terreiros,
em tentativas de Iechar templos e prender pastores. Dessa Iorma, a IURD reconhece,
legitima e reaIirma a Iora das religies aIro, Iazendo com que tais crenas, de maneira
ambigua, ao serem combatidas acabem sendo muito valorizadas devido a capacidade que tm
de interIerir negativamente na vida das pessoas. AIinal, quanto mais poderosos Iorem os
inimigos diabolicos, maior sera a vitoria e a necessidade de se pertencer a Igreja. Assim, ao
identiIicar tais crenas como verdadeiras e perigosas, a IURD se apresenta aos seus Iiis
como unica Iora capaz de enIrenta-las ou, ento, lugar de proteo e segurana Irente a tais
ameaas.
Fechar centros espiritas, tendas de umbanda e terreiros de candombl
situados ao redor de seus templos se deve a propositos expansionistas, mas tambm ao que a
IURD chama de 'demarcao de territorio, ou conquista de espao para o reino de Deus.
Seus lideres e seguidores entendem que preciso tomar conta do mundo e liberta-lo, antes
que os seguidores do mal o dominem. Segundo Macedo, para que a igreja no seja 'apenas
um clube, deve usar e mostrar o seu poder no combate a este 'anti-reino:
Podemos consi der ar uma i gr ej a I or t e se el a est a al i st ada par a a l ut a
cont r a t odas as pot est ades i nI er nai s. . . e se na i gr ej a o poder de Deus
sobr e os demni os no exer ci t ado, el a se t r ansI or ma em um cl ube
ou em uma escol a bi bl i ca. Evangel ho poder , e poder t em de ser
exer ci do, par a a der r ot a de sat anas ( . . . ) e a gl or i a de Deus!
8 3 2
832
MACEDO, E. Orixas, caboclos e guias. deuses ou demnios?, p. 138.
248
Portanto, se esse mal se utiliza de cinemas para a projeo de Iilmes
imorais, que se instalem em tais lugares templos; se emissoras de televiso esto a servio do
mal, que se comprem emissoras de televiso para enIrenta-lo em condies de igualdade.
Uma outra 'Iace do reino do mal a ser vencido tem dimenses politicas.
Vale citar Eric Hobsbawm quando aIirma que 'os movimentos messinicos so Iormas
religiosas de tambm se demonstrar necessidades e exigncias politicas.
833
No movimento
iurdiano cria-se um ambiente messinico que se conIigura como uma espcie de contra-
poaer politico-religioso em nivel local e terreno. A IURD Iaz com que as praticas ali
vivenciadas 'respondam aos processos de modernizao que se impem a sociedade,
Iavorecendo a sobrevivncia e a ascenso social.
834
Nesse sentido, suas praticas se
convertem em uma alternativa sociorreligiosa Irente a uma contingncia estabelecida, 'uma
Iorma de resposta a situao de anomia social, produzida pelo processo de migrao criado
na incipiente industrializao e urbanizao da Amrica Latina dependente,
835
signiIicando a
possibilidade de construo de uma identidade popular pela mediao do religioso.
Destaca-se, como um dos elementos que da sustentao as praticas
messinicas com representaes politicas, a apropriao de mitos e mobilizao de simbolos
com Iorte apelo popular impregnados no imaginario coletivo. Sobre isto, Lvi-Straus aIirma:
'sabe-se que todo mito uma procura do tempo perdido.
836
Assim, na experincia
ritualistica, 'o Iiel vive e revive mitos, com a ajuda de elementos tirados do seu passado:
837
O mi t o r ecr i ado pel o suj ei t o, quer sej a t omado de empr st i mo a
t r adi o, el e absor ve de suas I ont es, i ndi vi dual ou col et i va ( ent r e as
quai s se pr oduzem const ant ement e i nt er penet r aes e t r ocas) , o
mat er i al de i magens que el e empr ega; mas a est r ut ur a per manece a
mesma, e por el a que a I uno si mbol i ca se r eal i za.
8 3 8
O poder do mito resulta, pois, de acontecimentos historicos e socialmente
apropriados, temporalmente ligados a 'longa durao. Partindo da aIirmao de Bourdieu de
que a emerso de representaes que esto depositadas no imaginario coletivo ocorre pela
existncia de um habitus, denota-se que essas conIiguraes no so criadas e impostas a
partir de elementos externos, mas sim introjetadas pelos diIerentes grupos que compem a
sociedade, dai a sua Iora de arraigamento. Tais mecanismos, que vo alm da 'situao-
833
Apua NARBER, Gregg. Entre a cru: e a espaaa. violncia e misticismo no Brasil rural. Op. cit., 2003, p. 22.
834
CAMPOS, L. S. ; GUTIERREZ, B. (Orgs.) Op. cit., p. 14.
835
CAMPOS, Bernardo. Op. cit., p. 37.
836
LEVI-STRAUSS, C. Antropologia estrutural, p. 236.
837
Id., ibid., p. 230.
838
Id., ibid., p. 235.
249
limite, tornam-se os elementos mais proIundos em tais mobilizaes sociais, como aIirma
Joanilho:
Par a que as i di as possam congr egar pessoas, al m da si t uao-
l i mi t e pr eci so que at i nj am as expect at i vas, cr i em possi bi l i dades
( . . . ) par a que as pessoas se associ em a uma i di a par a mudar
det er mi nada si t uao, devem ver nel a uma r essonnci a de seus
desej os e aspi r aes. E pr eci so que vej am nel a uma sai da ( . . . )
Assi m, t odo movi ment o de r evol t a pr ocur a est abel ecer al guns
si mbol os que l he do i dent i dade, t ent ando at i ngi r e r epr esent ar
esses desej os, ( . . . ) e I or mar uma cumpl i ci dade na ao col et i va.
8 3 9
Destacam-se ainda as palavras de Joanilho quando classiIica tais
movimentos salvacionistas como 'socio-mitologicos:
840
Mui t os movi ment os, mesmo der r ot ados mi l i t ar ment e, per manecem
na memor i a soci al e por el a so r el i dos ( . . . ) Mui t as exper i nci as que
I or am post as em pr at i ca em movi ment os, vo sendo r eapr opr i adas
( . . . ) Ao ser r eapr opr i ada pel a memor i a soci al , a r evol t a ganha
r eal ment e i mpor t nci a, i st o , passa a ser ut i l i zada de I or ma
di I er ent e pel as pessoas, de acor do com o cont ext o em que vi vem.
8 4 1
Estudos sobre os participantes de movimentos carismaticos mostram que os
devotos acreditam ter adquirido uma capacidade maior de enIrentar as contingncias do dia-
a-dia graas a sua experincia religiosa: 'de Iato, nem mesmo o colapso Iinal do movimento
carismatico elimina a I proIundamente arraigada dos crentes; uma I que se tornou
Iundamental para a sua identidade.
842
E, nesse sentido, os movimentos messinicos
expressam alm de revolta e protesto, uma expresso de 'eterno retorno, o que pode ser
aplicado ao caso iurdiano:
Sempr e ha nas r evol t as uma i di a de r et or no a um passado gr andi oso
ou uma i da ao I ut ur o onde se r eal i zar o os desej os. Ou mel hor
ai nda, a pr opost a de um r et or no ao I ut ur o, i st o , a soci edade t er a
de vol t a o que I oi per di do. E o mi t o do et er no r et or no.
8 4 3
E tambm relevante a compreenso Ieita por Max Weber de que 'processo
de simbolizao cumpre sua Iuno essencial de legitimar e justiIicar a unidade do sistema de
poder, Iornecendo-lhe o estoque de simbolos necessarios a sua expresso.
844
Comentando
ainda este aspecto, Srgio Miceli aIirma que, segundo Weber, o discurso do agente religioso
carismatico no constitui 'mero epiIenmeno da realidade social, e acrescenta:
Sem os si mbol os que so os mat er i ai s si gni I i cant es que a dout r i na
t r ansmi t e como se I ossem si gni I i caes no- ar bi t r ar i as, no pode
839
JOANILHO, Andr Luiz. Revoltas e rebelies. So Paulo: Contexto, 1989, p. 19-20.
840
Joanilho usa tal terminologia para identiIicar, caracterizar e situar historicamente os principais movimentos
com carater messinico-milenaristas desenvolvidos no Brasil. Op. cit., p. 73-75.
841
Ibid., p. 54-55.
842
LEVI-STRAUSS, C. Antropologia estrutural, p. 233.
843
JOANILHO, A. L. Op. cit., p. 67-68.
844
MICELI, Srgio. A Fora do Sentido. In: BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. LIV.
250
haver expr esso de uma esI er a pr opr i ament e econmi ca e mui t o
menos uma est r ut ur a de poder .
8 4 5
Bourdieu aIirma que Weber encontra os meios de correlacionar o 'conteudo
do discurso mitico aos interesses religiosos daqueles que 'o produzem, que o diIundem e
que o recebem.
846
Comentando este aspecto, Miceli aIirma:
O t ema cent r al di z r espei t o, por t ant o, as r el aes ent r e si st emas
si mbol i cos como por exempl o, as cr enas r el i gi osas ( . . . ) e o
si st ema de cl asses e gr upos de st at us, e a est r ut ur a de poder dai
r esul t ant e ( . . . ) o al vo ul t i mo de Weber consi st e em compr eender o
pr ocesso de di I uso e mobi l i zao at r avs do qual uma dada
or i ent ao r el i gi osa pode t or nar - se a concepo do mundo
domi nant e par a t oda uma soci edade.
8 4 7
Quando lideres e Iiis iurdianos exaltam poderes divinos, apresentando-o
como cura para os males presentes e sentidos de modo imediato, transIerem para um
ambiente intra-historico, o grupo, a aspirao de uma libertao latente, que tem implicaes
sociais. Assim, a IURD, num dinamismo aparentemente paradoxal, ao mesmo tempo que
acena aos seus adeptos com os bens de consumo que a sociedade capitalista tem para seduzir,
acaba por representar uma Iorma de reao e enIrentamento da situao adversa que o
sistema estabelecido tambm lhes proporcionou:
A r el i gi osi dade I r eqent ement e se encont r a na base dos gr andes
movi ment os popul ar es de cont est ao pol i t i ca, como I oi o caso de
Canudos e do Cont est ado ( . . . ) Os movi ment os r el i gi osos popul ar es
de Canudos Juazei r o e Cont est ado no so r esul t ado de i sol ament o
soci o- pol i t i co r edundando em I anat i smo, mas so uma r espost a
concr et a, de car at er r el i gi oso, ar t i cul ada a t r ansI or maes pol i t i cas
na soci edade br asi l ei r a e per cebi das como adver sas par a os I r acos e
despr ot egi dos. No por al i enao que a r espost a de t i po
mi l enar i st a se eI et ua.
8 4 8
Segundo Chaui, a resposta messinica a adversidade social e politica possui
qualidades que a revestem de religiosidade, permitindo que haja o desejo proIundo de
'mudana da ordem vigente aqui e agora, ou ainda, a expresso do sentimento 'dos
oprimidos de que eles so mais Iracos que os opressores e que so podero superar os
desaIios do contexto urgente, pela unio de todos, 'Iormando uma comunidade verdadeira e
nova, indivisa, prototipo do mundo que ha de vir.
849
Na IURD, portanto, os agentes sociais, utilizando-se de um capital cultural
ao seu alcance, introjetado pelo habitus, reconstroem ou resigniIicam sua identidade 'capaz
845
Id., ibid., p. LIX.
846
Id., ibid., p. 32.
847
Id., ibid., p. LII.
848
CHAUI, Marilena. Conformismo e resistncia. Aspectos da cultura popular no Brasil. So Paulo: Brasiliense,
1986, p. 75.
849
Id., ibid., p. 76.
251
de redeIinir sua posio na sociedade e de Iaz-los buscar a transIormao do contexto
social em que esto inseridos: 'a identidade destinada a resistncia leva a Iormao de
comunas, ou comunidades.
850
Por tal identidade pode-se entender 'a Ionte de signiIicado e
experincia de um povo, ou 'o processo de construo de signiIicado com base em um
atributo cultural, assim como um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s)
qual(ais) prevalece(m) sobre outras Iontes de signiIicado.
851
Os i magi nar i os soci ai s or gani zam e cont r ol am o t empo col et i vo,
i nt er I er em na pr oduo da memor i a e nas vi ses de I ut ur o. Por mei o
del es, uma col et i vi dade desi gna sua i dent i dade el abor ando uma
r epr esent ao de si pr opr i a; a r epr esent ao t ot al i zant e da soci edade
i ndi ca uma or dem por mei o da qual cada el ement o t em seu l ugar ,
sua i dent i dade e sua r azo de ser .
8 5 2
No movimento iurdiano, lideres e Iiis, enquanto atores sociais,
internalizaram uma 'identidade de resistncia coletiva, a qual ' criada |ou recriada| por
atores que se encontram em posies/condies desvalorizadas e/ou estigmatizadas por um
contexto de vida que se lhes tornou desIavoravel e excludente, levando-os a criar 'trincheiras
de resistncia e sobrevivncia, com base em identidades que ja haviam sido anteriormente
'deIinidas pela historia.
853
3.7 - O palimpsesto cultural das prticas iurdianas
Como Iigura de linguagem, pode-se empregar a representao do
'palimpsesto
854
para identiIicar o modo pelo qual antigas crenas, muitas vezes combatidas e
aparentemente extirpadas, historica e culturalmente, mantm a Iora para resistir e ressurgir
com uma nova roupagem nas expresses do sagrado, no contexto religioso brasileiro
contemporneo. Tomando-se o protestantismo historico como reIerncia, observa-se que este
segmento, em mais de um sculo de atuao no contexto brasileiro, manteve-se um elemento
estranho ao universo cultural-religioso que conIigura o pais. Para os missionarios que
chegaram ao Brasil, no sculo XIX, era preciso substituir uma cultura considerada 'inIerior e
idolatrica por valores culturais e normas sociais superiores. Assim, nota-se uma atitude
850
CASTELLS, Manuel. O poaer aa iaentiaaae. So Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 25.
851
Id., ibid., p. 22.
852
CAPELATO, M. H, Op. cit., p. 211-277.
853
CASTELLS, M. Op. cit., p. 24, 25.
854
Palavra de origem grega empregada para identiIicar um antigo material de escrita, conhecido como
'pergaminho,
o qual, em razo da sua escassez ou alto preo, era raspado por copistas para permitir novos
registros. Assim, apos um determinado tempo em que Iora apagada, a antiga escrita costumava reaparecer sob o
novo texto impresso, permitindo, inclusive, a releitura ou deciIrao do que havia sido ali primeiramente
redigido.
252
semelhante a que identiIicada por Jacques Le GoII quando emprega o termo 'obliterao
para se reIerir ao esIoro empreendido pelo catolicismo medieval no sentido de realizar uma
'sobreposio dos temas, das praticas e dos monumentos cristos sobre os antecessores
pagos. Naquele contexto, 'luta-se por no haver sucesso; ha uma abolio. A cultura
clerical encobre, oculta e elimina a cultura Iolclorica aIirma Le GoII.
855
Ja nos primeiros
esIoros de insero empreendidos pelo protestantismo no Brasil, Iicava demonstrada a
inabilidade para lidar com as regras existentes neste novo campo. Enquanto que, com
plasticidade, o portugus durante o periodo colonial - 'americanizava-se ou 'aIricanizava-
se conIorme Iosse preciso, cedendo com 'docilidade ao prestigio comunicativo dos
costumes, da linguagem e das seitas dos indigenas, o protestantismo era inIlexivel diante de
elementos culturais, como observa Srgio Buarque de Holanda:
Ao opost o do cat ol i ci smo, a r el i gi o r eI or mada oI er eci a nenhuma
espci e de exci t ao aos sent i dos ou a i magi nao dessa gent e, e
assi m no pr opor ci onava nenhum t er r eno de t r ansi o por onde sua
r el i gi o pudesse acomodar - se aos i deai s cr i st os.
8 5 6
Quando, Iinalmente, conseguiu inserir-se no pais, Iinalmente, no sculo
XIX, continuou sendo 'um elemento estranho a realidade cultural brasileira.
857
Em sua Iace
mais europia, como no caso dos luteranos alemes que se estabeleceram no Sul do pais, a
preocupao era a de preservar valores culturais de origem, como um valor identitario, sendo
os cultos Ieitos inclusive na lingua estrangeira. Em sua vertente norte-americana, o
comprometimento era com o chamado 'Destino ManiIesto, que pressupunha ser a
'civilizao crist norte-americana o prototipo do reino messinico que se consolidaria com
o retorno de Cristo a terra. Assim, aquele povo, divinamente eleito, caberia ento a tareIa de
evangelizar as outras naes:
( . . . ) uma i ncr i vel i nqui et ao messi ni co- mi l enar i st a na Amr i ca do
Nor t e at i ngi u seu auge no scul o XI X. ( . . . ) Par a mui t os l i der es e
pensador es ecl esi ast i cos a vi nda gl or i osa do Rei no se dar i a apos a
i mpl ant ao da ci vi l i zao cr i st ; por i sso a cr i st i ani zao da
soci edade ser i a uma pr epar ao par a a vi nda do Rei no de Deus, I at o
que pr omoveu a empr esa mi ssi onar i a vi a 'Dest i no Mani I est o.
8 5 8
As palavras a seguir retratam bem o perIil do protestantismo classico que se
desenvolveu no pais, destacando-se a sua diIiculdade de insero, sobretudo, nas camadas
855
LE GOFF, Jacques. Para um novo conceito ae Iaaae Meaia. Tempo, trabalho e cultura no ocidente, p. 214.
856
HOLANDA, Srgio Buarque. Rai:es ao Brasil. So Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 65.
857
ALVES, Rubem. Protestantismo: dogmatismo e tolerncia. So Paulo: Paulinas, 1982.
858
MENDONA, A. G. O celeste porvir, p. 55.
253
mais populares e a perda de espao 'na luta entre diIerentes empresas de bens de
salvao:
859
A t i ca pr ot est ant e r ompi a com di ver sos padr es do cat ol i ci smo
medi eval . Al m de r edi r eci onar a ascese, o pr ot est ant i smo nega
var i os sacr ament os, a devoo aos sant os quest i onando mi l agr es. Ao
mesmo t empo em que di mi nui a quant i dade de r i t uai s, r ej ei t a a
pr at i ca de pr omessas e r ezas t r adi ci onai s, est i mul ando a l ei t ur a e
i nt er pr et ao da Bi bl i a por t odos. Er a assi m uma r el i gi o menos
r i t ual i st a, mai s i nt el ect ual i zada, mai s t i ca, menos encant ada,
menos 'magi ca. A r aci onal i zao moder na oci dent al se expr essa
bem nessa t ent at i va pr ot est ant e de se l i vr ar de qual quer
pr oxi mi dade com o que Weber deI i ne como o t i po i deal de magi a.
8 6 0
E mesmo no caso do pentecostalismo classico - no obstante seu avano de
aproximao dos estratos sociais mais amplos da sociedade brasileira muitos dos seus
reIerenciais continuaram sendo externos. Os missionarios - responsaveis por sua introduo
no pais - eram todos estrangeiros, dai uma preocupao rigida quanto aos usos e costumes,
por exemplo, e mesmo em relao a qualquer comportamento social que lembrasse
'catolicismo ou at mesmo com relao a pratica de esportes ou a participao de
determinadas atividades sociais. O pentecostalismo classiIicou os cuidados estticos do corpo
como 'vaidade e, portanto, algo perigoso para a espiritualidade crist.
E notorio, portanto, que a IURD tenha adquirido uma identiIicao cultural
sem precedentes com elementos do campo religioso brasileiro. Em relao aos 'usos e
costumes, por exemplo, conecta perIeitamente a I a elementos associados ao 'valor ao
corpo. Seria simplesmente inconcebivel imaginar as primeiras Iormas de pentecostalismo
desenvolvidas no campo religioso brasileiro, estampando como propaganda ou testemunho
da bno divina alcanada, a seguinte manchete: 'Quando a I e a beleza so Iundamentais:
conhea o testemunho de quem tem alcanado a prosperidade titulo que aparece em artigo
da Revista Plenitude,
861
destacando o lanamento, pelo empreendimento de membros da
Igreja Universal, de uma linha de produtos de beleza, direcionada 'especialmente ao publico
evanglico. Composta por cerca de duzentos produtos, 'traz citaes de versiculos biblicos
nas embalagens e nomes patenteados ligados a Biblia. Ressalta ainda a reportagem que 'os
cuidados com a beleza exterior no so sinais de Ialta de espiritualidade. A IURD responde
assim ao pluralismo que historicamente conIigura o campo religioso brasileiro, estabelecendo
859
MICELI, Srgio. A Iora do sentido. In: BOUDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. XIII.
860
MARIZ, Cecilia Loreto. A sociologia da religio de Max Weber. In: TEIXEIRA, Faustino (Org.). Sociologia
aa religio. enIoques teoricos. Petropolis: Vozes, 2003, p. 77.
861
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 67, p. 34, 1999.
254
ressonncia identitaria com o capital simbolico cultural nele disposto, do qual se apropria.
Esse composito cultural ou Iolclorico pode ser entendido como:
O conj unt o de r epr esent aes col et i vas sedi ment adas que,
t r ansmi t i das de uma ger ao par a out r a, I or mar am um subst r at o
comum a t odos, uma espci e de mat r i z r el i gi osa, que per manece
subj acent e ao cat ol i ci smo, a cer t as I or mas de kar deci smo e r el i gi es
aI r o- br asi l ei r as. Esse t er r eno cont m o humus no qual o
neopent ecost al i smo se al i ment a t ant o r i t ual como t eol ogi cament e,
ao se apr opr i ar de si mbol os, l i nguagens e vi ses de mundo
pr eexi st ent e ao seu sur gi ment o na hi st or i a.
8 6 2
Segundo Bourdieu, ha uma relao de tripla dimenso no campo cultural:
recuperao e integrao do passado dentro do presente, parodia e repulsa e ruptura
responsaveis por promover 'revolues culturais. Na trajetoria historica da IURD,
possivel identiIicar esses movimentos acontecendo simultaneamente. Sobre o processo de
apropriao e assimilaridade de elementos culturais, Roger Chartier comenta que um dos
elementos caracteristicos dos campos culturais reside na sua relao mais Iorte, mais do que
em outros campos, 'do presente com um passado de longa durao.
863
Diante disso, pode-se
dizer que os campos culturais
car act er i zam- se pel a i ncor por ao, em cada moment o hi st or i co, de
sua pr opr i a hi st or i a, a par t i r dos di ver sos t i pos de r el ao que os
cr i ador es, os pr odut or es est t i cos ou i nt el ect uai s, num dado
moment o do t empo, t m com o passado do campo, di sci pl i na ou
pr at i ca.
8 6 4
Para a ocorrncia desse processo de ressonncia cultural so decisivos a
orquestrao do habitus - que permite uma converso sem rupturas e uma apropriao e
resigniIicao de ritos catolicos e aIro-brasileiros. Os discursos, as conIiguraes conceituais
e as praticas iurdianas consistem, pois, em apropriaes de uma realidade simbolica social ja
existente, estruturas essas que 'so historicamente produzidas pelas praticas articuladas
(politicas, sociais, discursivas) que constroem as suas Iiguras.
865
Segundo Durkheim, 'a
religio um Iato social, tem historia, estrutura e Iuno (...) um Ienmeno coletivo e
objetivo, sendo um dos aspectos que lhe da objetividade a sua 'transmisso de uma gerao
para outra, Iazendo que o individuo 'a adquira tal como o Iaz com a linguagem, por
exemplo.
866
Observa-se que pela incorporao ao e pelo processo historico as representaes
apreendidas e estruturadas pelas praticas iurdianas esto relacionadas 'com os esquemas
862
CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercaao. Organizao e marketing de um empreendimento neopentecostal,
p. 19, 20.
863
CHARTIER, R. Pierre Bourdieu e a Historia, p. 142.
864
Id., ibid., p. 141.
865
Id., A Historia Cultural. entre praticas e representaes, p. 19, 27, 28.
866
Apua EVANS-PRITCHARD. Op. cit., p. 79, 81.
255
interiorizados, categorias incorporadas, que as geram e estruturam. Essa subjetividade da
experincia religiosa objetiva-se em praticas e discursos a medida que responde a uma
demanda social, ou seja, capaz de dar sentido a existncia de um grupo: 'A noo de
habitus ajuda a explicar a unidade de estilo que une as praticas e os bens de um agente
singular ou de um grupo de agentes.
867
Logo, os agentes iurdianos, orientados por um
habitus orquestrador, no precisam entrar em acordo 'racional ou Iormalmente protocolado
para agir da mesma maneira: cada um, obedecendo a um 'gosto pessoal, realizando o seu
projeto individual, concorda de maneira espontnea e sem saber com um numero incontavel
de outros que pensam, sentem e escolhem semelhantemente a ele. Dai as praticas coletivas
iurdianas adquirirem coerncia e sentido aos seus adeptos.
Contribui diretamente para esse processo de assimilaridade do capital-
cultural do campo o Iato dos agentes iurdianos, lideres e Iiis, no se despojarem de suas
raizes culturais de origem. Em relao aos Iiis, a mensagem iurdiana evita uma ruptura com
o universo representacional e com as vivncias religiosas anteriormente experimentadas, Iato
que contribui para que haja uma rapida adaptao ao grupo, dos que recorrem aos seus
templos. AIinal, quando se passa parte da vida Ireqentando cultos aIro-brasileiros ou
Iazendo promessas a santos porque esse reIerencial Iaz um sentido. A importncia dessas
crenas ja existentes para a operosidade da IURD pode ser observada no depoimento de seus
lideres:
O bi spo Macedo uma pessoa mui t o pr at i ca. E uma vez el e est ava
conver sando conosco e di sse que o Br asi l um gr ande t er r ei r o de
macumba. E nos t emos t r abal hado exat ament e em ci ma da
exper i nci a do br asi l ei r o. . . No Ri o de Janei r o quando voc per gunt a
'quem vei o da umbanda, do candombl , do espi r i t i smo, 90
l evant a a mo ( . . . ) Mui t as vezes nos somos cr i t i cados por que
pr ocur amos desper t ar a I do povo da manei r a mai s si mpl es e da
manei r a mai s pal pavel ( . . . ) Par a desper t ar a I da pessoa, nos as
vezes ent r egamos al guma coi sa na sua mo di zendo que aqui l o
exat ament e al go que vai aj uda- l a. Ent o, cada vez que el a ol ha
aquel e obj et o, el a vai di zer 'eu vou consegui r . Ent o por que no
pegar a ar r uda que um negoci o que t odo mundo conhece no Br asi l ?
Eu j a I i z e sei o r esul t ado di sso. Voc bot a a ar r uda numa baci a de
agua e espal ha, onde bat e aquel a agua o camar ada, se el e est a
endemoni nhado, mani I est a demni o ( . . . ) Essas coi sas voc I az par a
desper t ar a I das pessoas e, i ncl usi ve, ut i l i zar o que est a ar r ai gado
no subconsci ent e col et i vo br asi l ei r o par a I oment ar a I e l i ber t ar a
pessoa. ( . . . ) Out r o di a eu est ava conver sando com o bi spo Macedo.
'Escut a, bi spo, a I ul ana a gent e conver sa mui t o sobr e exper i nci a
acr edi t a que est eve na Fr ana e t r ouxe de l a pot est ade et c. El e
me r espondeu: 'El a acredi t a ni sso? Trabal he em ci ma do que el a
acredi t a.
8 6 8
| gr i I o nosso|
867
CI. BONNEWITZ, P. Op. cit., p. 83.
868
Paulo De Velasco, pastor da IURD - e, na ocasio, deputado Iederal em depoimento a Revista Isto E, So
Paulo, 25 jan. 1995.
256
Tambm um relato apresentado pela Folha Universal, transcrito a seguir,
exempliIica bem como a mensagem iurdiana encontra ressonncia no habitus religioso de
seus Iiis:
Al zi r a Var gas, ex- me- de- sant o dur ant e 25 anos, I oi at r ai da pel as
pr egaes da Tel evi so Recor d e cont a que, depoi s de t er t i do
al gumas I r ust r aes com as r el i gi es aI r o- br asi l ei r as I i cou na
segui nt e si t uao, da qual sai u at r avs de uma exper i nci a de
conver so: 'Passei a t er i nsni a; audi o de vozes; desej o de
sui ci di o; per di a mi nha casa e os meus car r os; I i quei com uma
di vi da al t i ssi ma no banco que me mandou par a car t or i o; enI i m el es,
os or i xas, me t omar am t udo. Ai I oi o meu I undo do poo. A sua
chegada na i gr ej a se deu da segui nt e I or ma: 'Foi no di a que t ent ei
sui ci di o. Compl et ament e l ouca e deci di da, apanhei o r evol ver e
l i guei a t el evi so par a abaI ar o som do t i r o, por que meu I i l ho est ava
dor mi ndo. Quant o l i guei a t el evi so cai u no canal 13 | TV Recor d no
Ri o de Janei r o| . No sei por qu, mas I i quei hi pnot i zada, assi st i ndo
a or ao do past or ( . . . ) passou no r odap da t el evi so par e de
soI r er ` e o t el eI one. ( . . . ) Fi quei desesper ada par a i r l a quer endo
I al ar com o past or ( . . . ) Apanhei um t axi naquel e moment o e I ui a
I URD de Bot aI ogo ( . . . ) O past or me at endeu com paci nci a, me
or i ent ou, I ez uma or ao, a qual me I ez sai r dal i l eve e com uma
I or a i ncr i vel ( . . . ) quando cheguei em casa t i ve I or as par a quebr ar
t odo o bar r aco ( . . . ) dest r ui t udo.
8 6 9
Em outro depoimento, uma Iiel da IURD Iaz a seguinte aIirmao: 'Na
Universal que eu me encontrei depois de muitos anos |...| depois de ter passado pela Igreja
Catolica |...| terreiro, de mesa branca e ter Ieito muito trabalho...
870
As palavras a seguir
conIirmam semelhante constatao:
Jos Adal ber t o Si l va di z que t ocava at abaque num 'Cent r o
Espi r i t a. No mei o de uma cr i se se embr i agou e I oi par a a casa com
o obj et i vo de pr at i car o sui ci di o. Foi ent o que ouvi u no r adi o uma
or ao de Edi r Macedo, que o I ez pr ocur ar um t empl o da I URD,
l ocal i zado no bai r r o do Guar ani , em Bel o Hor i zont e e al i , di z el e,
'comecei meu pr ocesso de l i ber t ao.
8 7 1
Essa continuidade de proIundas experincias religiosas anteriormente
vivenciadas pelos Iiis, em praticas agora resigniIicadas, esta de acordo com os conceitos
Iormulados por Mircea Eliade de que 'o simbolo, o mito, a imagem pertencem a substncia
da vida espiritual, e que se pode 'camuIla-los ou mutila-los, mas que jamais se pode
'extirpa-los, como aIirma o mesmo autor:
O pensament o si mbol i co consubst anci al ao ser humano; pr ecede a
l i nguagem e a r azo di scur si va. O si mbol o r evel a cer t os aspect os da
r eal i dade os mai s pr oI undos ( . . . ) As i magens, os si mbol os e os
mi t os no so cr i aes i r r esponsavei s da psi que; el as r espondem a
869
Folha Universal, 02 abr. 2004.
870
Nereida Shlishia, em depoimento a Folha Universal, Rio de Janeiro, 29 maio 2005.
871
Folha Universal, 26 nov. 2003.
257
uma necessi dade e pr eenchem uma I uno: r evel ar as mai s secr et as
modal i dades do ser .
8 7 2
A Iora de elementos simbolicos que emergem de crenas e desejos
impregnados no imaginario social dos seus adeptos mostram que nas praticas ritualisticas os
agentes 'no se contentem em reproduzir ou representar mimicamente certos acontecimentos;
eles os revivem aIetivamente em toda sua vivacidade, originalidade e violncia.
873
Revivem
de 'maneira muito precisa e intensa uma situao inicial, e a perceber dela mentalmente os
menores detalhes (...) o mesmo carater de experincia vivida inicialmente.
874
Tambm
Eliade, ao Ialar sobre 'o eterno retorno, aIirma que o 'tempo sagrado , pela sua propria
natureza, reversivel e recuperavel, sendo os ritos um mecanismo importante para viabilizar
esse processo:
Espci e de et er no pr esent e mi t i co que o homem r ei nt egr a
per i odi cament e pel a l i nguagem dos r i t os: Toda a I est a r el i gi osa,
t odo o t empo l i t ur gi co, r epr esent a a r eat ual i zao de um event o
sagr ado que t eve l ugar num passado mi t i co, 'no comeo. ( . . . ) Por
conseqnci a, o t empo sagr ado i ndeI i ni dament e r ecuper avel ,
i ndeI i ni dament e r epet i vel .
8 7 5
Apropriando-se de elementos de uma matriz cultural religiosa, a IURD
elaborou uma pratica religiosa na qual o grau de semelhana com o catolicismo Iolclorico e
os cultos aIros muito evidente, tornando-se, por isso, uma igreja muito proxima das
aspiraes religiosas do povo, de Iacil assimilao, implicando um crescimento incomparavel
na historia recente do pentecostalismo. Em suas praticas a IURD demonstra os elementos
constitutivos da 'alma religiosa, Iazendo assim uma paraIrase ao conceito utilizado por
Durkheim, segundo o qual a 'sociedade a alma da religio.
876
O 'processo de
simbolizao - de que se reveste o carisma nas praticas da IURD - 'cumpre sua Iuno
essencial de legitimar e justiIicar a unidade do sistema de poder, Iornecendo-lhe o estoque de
simbolos necessarios a sua expresso.
877
Para algum que tenha sido um praticante de ritos das religies aIro-
brasileiras ou tenha mantido algum tipo de crena nas praticas do catolicismo, como o
costume de acender velas ou invocar a proteo do anjo da guarda ou das santas almas num
872
ELIADE, Mircea. Imagens e simbolos. Ensaio sobre o simbolismo magico-religioso. So Paulo: Martins
Fontes, 1991, p. 8, 9.
873
LEVI-STRAUSS, Claude. O Ieiticeiro e sua magia. In: LEVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural, p.
209.
874
Ibid., p. 223.
875
ELIADE, Mircea. O sagraao e o profano. A essncia aas religies. Lisboa: Edio Livros do Brasil, s.d, p.
81, 82.
876
DURKHEIM, Emile. As formas elementares aa viaa religiosa, p. 496.
877
MICELI, Srgio. A Iora do sentido. In: BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. LIV.
258
momento de aIlio, ha uma identiIicao, uma noo de pertena a tal universo. Mediante o
dinamismo das praticas, o habitus iurdiano se tornou um conjunto de 'esquemas que
permitiram aos agentes gerar uma inIinidade de praticas adaptadas a situaes que se
modiIicam de modo ininterrupto,
878
engendrando 'esquemas que habilitam os agentes a
gerar uma inIinidade de aes adaptadas a um sem Iim de situaes de mudana.
879
Passivel
de atribuio a um dado grupo social, o habitus
880
se torna, desta maneira, responsavel por
capacidades 'criadoras, produto da historia, que produz praticas individuais e coletivas,
estabelecendo os limites dentro dos quais os individuos so 'livres para optar entre
diIerentes estratgias de ao:
O habi t us apar ece como o t er r eno comum em mei o ao qual se
desenvol vem os empr eendi ment os de mobi l i zao col et i va cuj o
xi t o depende I or osament e de um cer t o gr au de coi nci dnci a e
acor do ent r e as di sposi es dos agent es mobi l i zador es e as
di sposi es dos gr upos ou cl asse cuj as aspi r aes, r ei vi ndi caes e
i nt er esses, os pr i mei r os empal mam e expr essam at r avs de uma
condut a exempl ar aj ust ada as exi gnci as do habi t us e at r avs de um
di scur so 'novo que r eel abor a o codi go comum que ci ment a t al
al i ana.
8 8 1
De igual modo, em relao aos seus lideres iurdianos, o processo de
ascenso que desenvolvem perante o grupo no ocorre por ruptura, mas por continuiaaae.
Destaca-se na historia de vida desses pastores e bispos uma trajetoria de experincias
anteriores com diIerentes expresses religiosas do campo religioso brasileiro. No apenas
Edir Macedo ou Roberto Augusto, um de seus auxiliares na Iundao da IURD, que Ioi
coroinha da Igreja Catolica e posteriormente Ireqentador da umbanda - mas quase a
totalidade dos demais pastores e bispos iurdianos transitaram por inumeras religies antes de
aportarem na Igreja Universal. Dada a sua historia ainda recente, ha poucos pastores que
'nasceram na Igreja. Um grande numero diz ter pertencido ao catolicismo e poucos
passaram pelo exercicio do pastorado em outras denominaes evanglicas. Mas,
inegavelmente, pelos depoimentos e testemunhos que apresentam sobre a sua vida pregressa
geralmente citados nas suas prdicas identiIicam-se como provenientes de uma
experincia religiosa anterior principalmente com o kardecismo ou cultos aIro-brasileiros.
Como exemplo dessa realidade, pode ser citada a historia de vida de Jorge Pinheiro, que com
apenas oito anos de idade era levado pelo pai a 'Ireqentar casas de encostos, sempre as
sextas-Ieiras, na cidade de Juiz de Fora - MG, onde nasceu. Ja ao lado da me, Ireqentava as
878
BURKE, P. Historia e teoria social, p. 167.
879
Id. O que e Historia Cultural?, p. 52.
880
BOURDIEU, P. Economia aas trocas simbolicas, p. 51.
881
Id. A Economia aas trocas lingisticas, p. 91.
259
missas de domingo. Crescia, assim, 'dividido entre religies. Ainda na adolescncia,
conIorme seu relato, enIrentava o drama de conviver com pesadelos e constantes dores de
cabea. At ento imaginava que era 'apenas problema de saude comum a crianas. 'Mas os
remdios no surtiam o eIeito esperado, pois se tratava de uma opresso espiritual - observa.
Foi levado ento por seu pai a uma igreja evanglica. Um ano depois, ainda sem respostas
para sua angustia, ouviu Ialar que uma nova denominao estava chegando a cidade. O
anuncio chegara pelo radio:
Meu pai ouvi u que havi a uma i gr ej a onde acont eci am mui t os
mi l agr es e, por cur i osi dade, r esol veu i r e me l evar j unt o. Er a a
I gr ej a Uni ver sal do Rei no de Deus. Ai nda l embr o que I unci onava no
espao de uma di scot eca e havi a mui t a gent e gr i t ando, mani I est ando
encost os. Er a al go di I er ent e par a nos, por que na out r a i gr ej a no
havi a esse t r abal ho de l i ber t ao. Vi na I URD ent i dades
mani I est adas di zendo que dest r ui a a vi da de cr i anas. Ai comecei a
ent ender o por que dos meus pr obl emas de saude.
8 8 2
Tornou-se membro da Igreja e, posteriormente, quando ja possuia uma boa
condio Iinanceira, decidiu deixar um bom emprego como Iuncionario publico, para
dedicar-se exclusivamente ao ministrio pastoral, entendendo ser esta sua vocao. Depois de
trabalhar em alguns estados do Nordeste, atualmente pastor da IURD na cidade de Brasilia.
Em um processo dinmico que envolve no so o lider-Iundador da IURD,
mas tambm o grupo que compe o movimento sob sua liderana, Edir Macedo e seus
auxiliares Ioram assumindo papis reconIigurados, representacionalmente dispostos no
campo sob a roupagem de xams, exorcistas, pais-de-santos etc. So lideres nacionais, sem
raizes oriundas de empreendimentos proselitistas vindos do exterior. Essa autoctonia permite
uma reelaborao dos elementos culturais-religiosos Iigurados nas crenas populares
desenvolvidas em solo brasileiro, promovendo pela orientao do habitus, maior
interatividade com o mundo do qual os Iiis tambm Iazem parte. Esse habitus iurdiano
incorpora compositos culturais hibridos, que estabelecem interaes com um passado de
longa durao.
Destaca-se ainda o papel dos ritos nas praticas iurdianas no sentido de
promover a 'recuperao do tempo sagrado disposto no campo religioso, capaz de Iazer
dessa Igreja um segmento com raizes culturalmente brasileiras. Como Capelato e Dutra
observam, 'o imaginario tem sua existncia aIirmada pelo simbolo e sua expresso garantida
pela evocao de uma imagem, seja ela acionada por palavras, por Iiguras de linguagens ou
por objetos:
882
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 126, p. 54-55, nov. 2005.
260
Quando uma soci edade, gr upos ou mesmo i ndi vi duos de uma
soci edade se vem l i gados numa r ede comum de si gni I i caes, em
que si mbol os ( si gni I i cant es) e si gni I i cados ( r epr esent aes) so
cr i ados, r econheci dos e apr eendi dos dent r o de ci r cui t os de sent i do;
( . . . ) so capazes de mobi l i zar soci al ment e aI et os, emoes e desej os
( . . . ) Est e i magi nar i o soci al se t r aduz como si st ema de i di as, de
si gnos e de associ aes i ndi ssol uvel ment e l i gado aos modos de
compor t ament o e de comuni cao.
8 8 3
Nesse aspecto, como aIirma Durkheim 'as representaes religiosas so
representaes coletivas; os ritos so maneiras de agir que se destinam a suscitar, entender ou
reIazer certos estados mentais destes mesmos grupos.
884
Tambm Peter Berger declara que
'o ritual religioso tem sido um instrumento decisivo do processo de rememoramento`, pois
'as execues do ritual esto estreitamente ligadas a reiterao das Iormulas sagradas que
tornam presentes uma vez mais os nomes e os Ieitos dos deuses.
885
Victor Turner igualmente
destaca a importncia dos ritos e dos simbolos religiosos para a organizao e estruturao de
uma dada sociedade: 'Vejo no estudo dos ritos a chave para compreender-se a constituio
essencial das sociedades humanas. (...) Os rituais revelam os valores no seu nivel mais
proIundo (...) os homens expressam no ritual aquilo que os toca mais intensamente.
886
Ressalta esse autor
que 'os ritos extrapolam a Ironteira do tempo, estabelecendo
multiplicidade de laos estruturais.
887
Evans assinala que 'o rito parte da cultura em que
nasce o individuo (...) Ele uma criao da sociedade, e no das emoes ou cognies
individuais, embora possa satisIazer a ambas.
888
Assim, a participao em rituais consiste
numa estrutura simbolica que, como linguagem, orienta o comportamento coletivo, a partir
do que tambm se constroi o que se pode chamar de personalidade social: 'Os ritos ligam o
presente ao passado e o individuo ao grupo. (...) geram uma eIervescncia na qual todos os
sentimentos de individualidade se perdem e as pessoas se sentem a si mesmas como sendo
uma coletividade, a partir e atravs das coisas sagradas.
889
Constata-se que o xito da IURD se deve ao Iato de ancorar as suas praticas
no substrato cultural que conIigura a sociedade brasileira. E nesse aspecto Maria Lucia
Montes destaca como marcas do 'etos brasileiro a Iestividade, a conIigurao de ritos
883
CAPELATO, M. H. Rolim; DUTRA, Eliana R. F. In: CARDOSO, C. F. ; MALERBA, J. (Orgs.). Op. cit., p.
229. Estes aspectos, envolvendo a importncia dos signos, dos signiIicantes ou dos signiIicados, para a
mobilizao de um dado grupo social, so tambm analisados no livro EPSTEIN, Isaac. O signo. So Paulo:
Editora Atica, 1985.
884
DURKHEIM, E. Apua ROLIM, Francisco Cartaxo. Dicotomias religiosas. Ensaio de sociologia da religio.
Petropolis: Vozes, 1997, p. 39.
885
BERGER, Peter. Op. cit., p. 53.
886
TURNER. V. Op. cit., p. 19.
887
Id., ibid., p. 118.
888
Id., ibid., p. 69.
889
Id., ibid., p. 89, 90.
261
magicos, simbolos, procisses e espetaculos dramaticos,
890
acrescentando que 'a IURD se
aproxima desse etos catolico e das religiosidades populares, pela incorporao de praticas
rituais. Ha uma incorporao por essa Igreja das Iiguras do sagrado das religiosidades
populares, 'uma transposio de ritos, crenas, valores e praticas rituais que por anos se
agregaram para compor um etos e uma viso de mundo minimamente coerentes.
891
Montes
observa ainda que:
No espl endor de suas pr oci sses e a al egr i a de suas I est as que,
cor t ando t r ansver sal ment e a hi st or i a, na l onga dur ao, sempr e
I or am os mei os pel os quai s as gr andes massas do povo, bem ou mal ,
se cr i st i ani zar am, ou r ei nt er pr et ar am a I cat ol i ca na l ogi ca de
out r as cosmol ogi as aI r o- amer i ndi as, na zona de ambi gi dade que o
r ecur so as I or mas sensi vei s e ao j ogo da i magi nao sempr e l hes
per mi t i r a r eal i zar .
8 9 2
ReIerindo-se ao devocionario Iolclorico, esta autora caracteriza-o como
expresso nas Folias de Reis ou do Divino, na celebrao do antigo poder de So Sebastio
ainda invocado contra a peste, a Iome e a guerra que continua perseguir como ameaa
constante a existncia dos pobres, nas Iestas dos santos padroeiros, nas comemoraes
juninas, nos pastoris e bumba-meu-boi dos autos de Natal, nas procisses, nas romarias e
santuarios espalhados pelo Brasil. Tambm Fernando Novais, citando Gilberto Freyre, reIere-
se a estas 'proIundas raizes historicas do catolicismo nos seguintes termos:
Est amos di ant e de um cr i st i ani smo i nt ei r ament e esvazi ado de
cont eudo t i co. E essa uma r el i gi o ut i l i t ar i a, em que Deus, a
Vi r gem e os sant os vo socor r endo a cada moment o,
mi l agr osament e, a i nao dos homens. Uma r el i gi o r i t ual i st a e
I est i va, acent uadament e magi ca, uma r el i gi o dos sent i dos,
dest i t ui da de i nt er i or i dade. Uma r el i gi o pur ament e adapt at i va, que
r eduz a quase nada a t enso ent r e o codi go mor al que deve ser
pr at i cado e o mundo t al como exi st e.
8 9 3
Cndido Procopio Camargo deIine como santorial esse catolicismo
presente no Brasil desde o periodo da colonizao. De carater predominantemente leigo, sua
caracteristica principal o culto aos santos, seja nos oratorios domsticos, capelas de beira de
estrada ou santuarios. E um catolicismo de 'muita reza e pouca missa, muito santo e pouco
padre observa. Neste modelo, os santos representam um poder especial e sobre-humano
que penetra nos diversos espaos da vida, Iavorecendo uma estreita aproximao e
Iamiliaridade com os seus devotos, oIerecendo proteo diante das incertezas da vida,
890
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 105, 118.
891
Id., ibid., p. 123.
892
Id., ibid., p. 117, 118.
893
SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit, p. 607, 608.
262
necessidades mais urgentes nos negocios e na vida Iamiliar. Segundo Procopio, esse
catolicismo de devoes populares sempre manteve relativa autonomia com respeito ao
catolicismo institucional e aos representantes oIiciais da igreja, por isso soIreu o embate
violento da assim chamada 'romanizao, que marcou o processo de instaurao no Brasil
de um 'catolicismo universalista, caracterizado pelo maior controle sobre os leigos e suas
associaes e de adequao do catolicismo brasileiro as diretrizes centralizadoras de Roma.
894
Como ja mencionado, nas dcadas de 1930 e 1940, o clero dirigiu as
expresses da I populares um 'combate sem trguas. Principalmente nas cidades, ocorreu
um maior esIoro por controle dos padres sobre o rebanho. 'E para esse catolicismo do
devocionario popular que a Igreja, sob o imprio da romanizao, volta decididamente as
costas, por considera-lo Iorma de exteriorizao 'vazia da I, expresso da ignorncia do
povo ou obra de perverso da maldade ressalta Montes.
895
Para o novo catolicismo
romanizado e as 'elites modernizadoras, era preciso deIinir com preciso as Ironteiras entre
o sagrado e o proIano, o publico e o privado, 'para que a civilizao triunIasse e a Igreja
pudesse Iirmar em outras bases o poder da I,
896
razo porque o sistema popular de crenas e
praticas rituais deveria ser eliminado. Um exemplo dessa reao dos representantes
institucionais, visando enquadrar essas maniIestaes de I e estabelecer Ironteiras de
delimitao entre o sagrado e o proIano, pode ser observado nas palavras a seguir:
De mai s, necessar i o que se compr eenda que a r el i gi o no consi st e
em passeat as que chamam de pr oci sses, acompanhadas de r ui doso
I oguet or i o e de l uzes ar t i I i ci ai s. E pr eci so que se sai ba que uma
acer ba i r oni a e uma sacr i l ega i r r i so quer er cor oar uma I est a
r el i gi osa com bai l e e out r os di ver t i ment os pr oI anos e per i gosos,
onde o homenageado sempr e o demni o ( . . . ) .
8 9 7
A partir da dcada de 60, paradoxalmente ao abraar a 'opo preIerencial
pelos pobres, a Igreja Catolica, em seu esIoro de modernizao, uma vez mais se aIastaria
do povo, ao desritualizar suas praticas liturgicas:
Fazendo o sacer dot e vol t ar - se de I r ent e par a o publ i co de I i i s, el a
o I az de cer t o modo vol t ar as cost as par a o Cr i st o, a Vi r gem e os
sant os do al t ar , nos quai s o cat ol i ci smo t r adi ci onal sempr e vi r a os
si mbol os de sua I .
8 9 8
894
CAMARGO, C. Procopio F. Op. cit., p. 32.
895
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 111.
896
Id., ibid., p. 116.
897
Palavras de D. Antonio Mazarotto, carta pastoral, Iev. 1931, apua AZZI, Riolondo. A neocristanaaae. um
projeto restaurador. So Paulo: Paulinas, 1994, p. 96.
898
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 117.
263
Abandonando o latim em suas cerimnias e os solenes responsorios do
canto gregoriano, os militantes utilizam-se de sons de violo para convocar cada um a luta
para que o Reino de Deus se realize na historia, pelas mediaes politicas e reordenamentos
sociais. A igreja, procedendo assim, enIraquecia a antiga magia, o mistrio, elementos esses
Iundamentais a I crist. Perderia ainda, o encanto da solenidade, o esplendor de suas
procisses e a alegria de suas Iestas que, cortando transversalmente a historia, na longa
durao, sempre Ioram meios pelos quais as grandes massas do povo brasileiro, bem ou mal,
cristianizaram-se ou reinterpretaram a I catolica na logica de outras cosmologias aIro-
amerindias.
899
Tambm cabe citar as palavras de Baudrillard:
Par a as massas, o Rei no de Deus sempr e est eve sobr e a t er r a, na
i mannci a pag das i magens, no espet acul o que a i gr ej a oI er eci a.
( . . . ) As massas absor ver am a r el i gi o na pr at i ca sacr i l ega e
espet acul ar que adot ar am ( . . . ) Nenhuma I or a pde conver t - l as a
ser i edade dos cont eudos, nem mesmo a ser i edade do codi go ( . . . )
desde que el es se t r ansI or mem numa seqnci a espet acul ar .
9 0 0
Ao proceder dessa Iorma, a Igreja Catolica, em sua representao
institucional, abria o caminho para a progressiva perda de hegemonia do catolicismo e a
exposio do campo a oIerta de bens de salvao por outros segmentos religiosos. No
obstante os esIoros empreendidos, no se conseguiu implantar uma Iorma romana na grande
massa de catolicos do pais. Ha uma Iora, um enraizamento de uma teia de simbolos e
valores culturais que Iazem que o apego aos santos e a crena nos milagres, por exemplo,
permaneam como concepes basilares desse catolicismo Iolclorico, mantendo por isso
grande capacidade de se reIazer continuamente. Abandonada pelas elites e pelo poder
eclesiastico, a antiga maniIestao Iolclorica da I iria permanecer ento como memoria ou
Iorma viva apenas entre os segmentos populares.
Dentre as novas expresses religiosas que se projetaram no cenario
brasileiro, principalmente a partir da dcada de 1970 - disputando com o catolicismo, mas
dentro de seus proprios reIerenciais, as massas de presso Iolclorica a IURD ganhou
especial notoriedade por incorporar um universo de crenas magicas, ainda que sob o
discurso de combat-las. Essa Igreja conseguiu, ento, articular com grande eIicincia a
apropriao, 'as avessas, de elementos 'do tradicional ecumenismo popular, demonizando
indiscriminadamente santos, espiritos obsessores e orixas:
Ao I azer da 'guer r a espi r i t ual uma agr essi va ar ma de combat e as
demai s r el i gi es, ao cat ol i ci smo e em especi al ao uni ver so r el i gi oso
899
Ver Id., ibid.
900
BAUDRILLARD, Jean. A sombra aas maiorias silenciosas. o Iim do social e o surgimento das massas. So
Paulo: Brasiliense, 1994, p. 13-15.
264
aI r o- br asi l ei r o, ( . . . ) a I gr ej a Uni ver sal consegui u r eapr opr i ar em seu
beneI i ci o, mas pel o avesso, um r i co I i l o da I dado nas
r el i gi osi dades popul ar es no Br asi l . E nessa ret raauo dout r i nar i a
em t er mos das l i nguagens espi r i t uai s mai s i medi at ament e pr oxi mas,
no cont ext o br asi l ei r o, que r esi de um dos I at or es I undament ai s do
seu xi t o.
9 0 1
Distintivo o Iato do movimento iurdiano - no obstante ao discurso de
combate apresentado - acabar por depender diretamente das praticas magicas, das religies
aIro-brasileiras, das bruxarias, do kardecismo, do catolicismo, ou mesmo dos protestantes
classicos, para deIinir e estabelecer as suas instituies reIerenciais, assim como para Iixar
seus programas de ao. E uma Igreja que tira a sua vantagem exatamente da identidade do
inimigo, exteriorizada na representao do Diabo, presente tambm naqueles seus
concorrentes que operam com Iormas simbolicas arraigadas no imaginario social. Ao
combater a umbanda, o candombl, o espiritismo e o catolicismo, a IURD traz para o interior
dos seus cultos e doutrinas elementos da crena, da teodicia e da viso de mundo das
religies inimigas. Ha, assim, uma apropriao de todo o panteo aIro-brasileiro ou das
crenas mediunicas. A proporo que se Iortalece o inimigo e se justiIica sua existncia,
tambm se tornam legitimas e necessarias as praticas combativas da Igreja:
Sem o Di abo, sem o i ni mi go i ncessant ement e expul so, humi l hado,
combat i do, a I URD no ser i a quem e nem quem pr esume ser .
Pr eci sam est ar combat endo e vencendo um i ni mi go I or t e e poder oso
par a at est ar seu poder i o espi r i t ual , conI i r mado a cada exor ci smo e a
cada conver so nas r ai as das r el i gi es i ni mi gas.
9 0 2
Ao Iazer uma resigniIicao de elementos reconhecidos e proIundamente
arraigados no imaginario religioso, ou na(s) matriz(es) religiosa(s) brasileira(s), de uma
Iorma bastante peculiar e eIicaz a IURD rompe com praticas de carater mais intelectualizado
ou racionalizante como demonstrado pelo protestantismo classico - para ir ao encontro de
um universo encantado ja preexistente no Iiel, que diIicilmente obteria tanta ressonncia em
outro lugar. Essa igreja promoveu apropriaes e empregos distintos, em relao a outros
grupos religiosos, dos mesmos bens simbolicos acumulados e em circulao no campo. Nesse
sentido, o que se observa que o movimento iurdiano no somente participa de um processo
de 'reencantamento, mas, principalmente, recria crenas ja 'encantadas.
Assim, diante de uma realidade na qual se deIronta com a solido, a
oportunidade de inserir-se numa comunidade de I outorga ao Iiel iurdiano espaos de
relaes Iamiliares ou de trabalho, onde compartilha com outros um sistema de interpretao
901
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 92.
902
MARIANO, R. Neopentecostais. o pentecostalismo esta mudando, p. 129.
265
do mundo ao seu redor capaz de dar sentido as experincias-limites em conIronto com as
quais o sagrado volta a emergir como Ionte de signiIicado para a existncia humana. Desta
Iorma, por meio de ancoragens nos processos historicos, que envolvem as multiplas esIeras
da experincia pelas quais o ser humano chamado a conIerir sentido a sua existncia, a I
iurdiana toca o individuo de Iorma intima e proIunda, levando-o a aderir a 'um sistema
cultural no qual um mesmo etos e uma viso de mundo a ele congruentes conIormam sua
interpretao dessas experincias.
903
Ali, a organizao interna do sagrado, na crena e na
pratica ritual e devocional, valores e praticas ritualizadas tornam-se sistema interpretativo.
Desta Iorma, a IURD se conIigura numa 'comunidade de sentido, ao permitir que a
experincia do mundo se torne interpretavel e que no seu interior tambm se deIinam
identidades. O conjunto de praticas e representaes que se revestem de carater sagrado nas
praticas iurdianas, torna-se, desta maneira, uma Iora estruturante da sociedade, pois opera a
ordenao de mundo para o grupo que a compe, assumindo a produo de sentido:
Enquant o si st ema si mbol i co, a r el i gi o est r ut ur ada na medi da em
que seus el ement os i nt er nos r el aci onam- se ent r e si I or mando uma
t ot al i dade coer ent e, capaz de const r ui r uma exper i nci a. As
cat egor i as de sagr ado e pr oI ano, mat er i al e espi r i t ual , et er no e
t empor al , o que do cu e o que da t er r a, I unci onam como al i cer ces
sobr e os quai s se const r oi a exper i nci a vi vi da.
9 0 4
Concluindo esse capitulo, pode-se dizer que as praticas e representaes
vivenciadas pela IURD se orientam a partir de um habitus que, presente no dia-a-dia, baliza
as Ialas, os ritos e o comportamento religioso de cada um dos seus membros, mesmo que
estes no se dem conta dessa Iora reguladora. Por esse elemento, o que se curou ou no se
curou, aquilo em que no se acreditava e que se passou a acreditar, as desgraas, os
maleIicios causados pelos demnios, doenas que surgiram, a expulso de demnios, a saida
de outros movimentos religiosos e a entrada na Igreja so compreendidos e vivenciados,
adquirindo nexo, inteligibilidade e sentido. Esta Iora reguladora ancora-se em anseios,
desejos e simbolos coletivos de que compe o campo religioso, razo porque a IURD
demonstra solidez, projeo e ampla aceitao por Iiis oriundos de diIerentes estratos que
compem a sociedade brasileira.
A economia de produo cultural nas praticas da Igreja Universal trata-se,
portanto, de um imenso trabalho de promoo e divulgao produzido e consumido por
todos. A cultura se torna um produto que se consome ao se produzir. O capitulo, a seguir,
903
Id., ibid.
904
BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. 179.
266
analisara mais detalhadamente este universo cultural que recreativamente se retraduz nas
representaes vivenciadas por este Ienmeno religioso.
267
4 - UMA HISTRIA CULTURAL DA IGRE1A UNIVERSAL DO REINO DE DEUS:
REPRESENTAES
4.1 - Da funerria catedral: representaes do espao sagrado iurdiano
O espao inicial da antiga Iuneraria logo deu lugar a ediIicaes cada vez
mais imponentes para as praticas da Igreja Universal do Reino de Deus. Buscando atingir
escalonariamente as massas, a IURD desde o inicio procurou estabelecer-se em grandes
espaos, em lugares publicos de notoria visibilidade, como cinemas e teatros, supermercados
e galpes, chamando a ateno por sua presena extensiva, contrastando com os modelos
arquitetnicos padro sempre adotado por segmentos pentecostais, como so os casos da
Assemblia de Deus e Congregao Crist. Na Iachada, em letras goticas, sempre muito
visiveis, a Irase Jesus Cristo e o Senhor, ao lado de 'Igreja Universal do Reino de Deus,
logo se tornou uma reIerncia dos templos iurdianos. As varias portas, sempre abertas,
tambm se constituiram outra caracteristica tipica. O escritor Caio Fabio D`Araujo Filho
descreve bem este aspecto ao aIirmar: 'E so porta. A IURD no tem porta, ela uma porta. A
arquitetura dela uma porta (...) Iica aquela boca assim aberta, gulosa, aberta e na
calada....
905
Com a expresso 'no erguemos esse templo para possuirmos conIorto ou
luxo, mas para termos mais trabalho para o Senhor Jesus, o bispo Macedo declarou
inaugurada a Catedral Mundial da F, 'a gloria do novo Israel de Deus como
denominada pelos lideres - na cidade do Rio de Janeiro, no ano 2000. Com auditorio para
comportar 12 mil pessoas conIortavelmente assentadas, o suntuoso e modernissimo templo
agrega ainda em seu complexo uma espcie de shopping-center com lojas de roupas,
livrarias, praa de alimentao, cinema, parques inIantis, museu com exposio de objetos
trazidos de Israel. A inaugurao desse templo marcou uma nova tendncia da IURD:
ediIicar megas 'catedrais da I nas principais cidades brasileiras, comeando pelas capitais
dos diIerentes Estados do pais.
Ao contrario do que ocorre com as igrejas tipologicamente pertencentes ao
protestantismo classico, na IURD os templos permanecem abertos todos os dias, das 7 da
manh as 10 da noite, sendo que muitas vezes esses horarios se estendem pelas madrugadas
nas programaes de vigilias que Ireqentemente se realizam. Com isto, a Igreja Iaz jus a um
905
Revista Jefa, So Paulo, p. 31, 14 nov. 1990.
268
de seus slogans: 'Ha sempre um pastor e um milagre esperando por voc! E, mesmo Iora
dos horarios pr-estabelecidos das reunies ou correntes, sempre ha pelo menos um obreiro
ou obreira (auxiliares dos pastores) para acolher e atender a quem procura pela Igreja. So
solicitos e muitas vezes Iicam a porta dos templos convidando os transeuntes para participar
das reunies ou simplesmente para entrar e conversar ou receber uma orao. Sobre isso,
Montes aIirma que os templos, disponibilizados pela IURD, em movimentados locais
publicos do mundo urbano, tm como uma de suas Iunes estabelecer 'mediaes que, no
dominio do sagrado, se interpem entre o individuo e a vida social mais ampla:
A I URD pr omoveu ext enso da r ede I i si ca dos seus l ocai s de cul t o,
com suas por t as sempr e aber t as e seus past or es di sponi vei s em
di ver sos hor ar i os par a pr egao e or ao comuni t ar i a dos I i i s ( . . . )
I nst al ados em pont os est r at gi cos, per mi t em que as pessoas que
saem apr essadas dos escr i t or i os, l oj as de comr ci o, a sua vol t a,
possam apr ovei t ar as r euni es nos i nt er val os de al moo ou nos
I i nai s de expedi ent es ( . . . ) Esses t empl os si t uados em l ocai s de
gr ande movi ment o r espondem, par a os I i i s, a uma demanda
i ndi vi dual pel o sagr ado ( . . . ) r ecr i ando par a el es, di ant e do
anoni mat o em que se per dem, na vor agem da vi da ur bana, um cer t o
ar de I ami l i a ( . . . ) Cr i a- se, com i sso, uma r ede de soci abi l i dade,
r ecr i ando par a seus I r eqent ador es um novo sent i do de
per t enci ment o a ci dade.
9 0 6
No templo tambm ha linhas teleInicas a disposio daqueles que
necessitam de orientao e atendimento, atividade esta chamada pela Igreja de 'S.O.S.
espiritual. As sedes regionais tambm possuem estudios instalados em suas dependncias,
de onde so produzidos os inumeros programas mantidos em emissoras de radio e TV,
muitos deles transmitindo ao vivo os cultos realizados.
A Igreja Universal tambm rompe com a aridez de simbolos normalmente
observada no protestantismo classico, pois utiliza uma riqueza de objetos signiIicantes em
seus cultos e ritos. E o que mais inusitado: muitos desses objetos culticos so tipicos dos
ritos catolicos e dos cultos aIro-brasileiros - aspecto que denota o lugar Ironteirio ocupado
por essa Igreja no campo representacional. Estabelecendo uma comparao, vale dizer que,
procurando construir uma identidade de negao em relao ao catolicismo, o protestantismo
brasileiro elaborou um culto ausente de riqueza simbolica e com Iorte apelo a razo. Para
isso, dessacralizou a missa catolica, eliminando simbolos, luzes, cores e vestes, tornando
desencantado o seu proprio culto:
A ReI or ma Pr ot est ant e col ocou, no l ugar da devoo em movi ment o,
uma pl at i a de boca I echada e ouvi dos aber t os, est aci onada ao r edor
do pul pi t o, l ugar de onde o sagr ado se i r r ompe at r avs da pal avr a
906
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 149.
269
ar t i cul ada r aci onal ment e. O pr ot est ant i smo t ambm del i mi t ou a
cr i at i vi dade l i t ur gi ca e, mesmo condenando a mi ssa cat ol i ca, i mps
sobr e o cul t o um scri pt r i gi do. O r esul t ado I oi o cul t o I or mal , que,
no caso br asi l ei r o, o pr ot est ant e hi st or i co apr endeu a pr est ar a
di vi ndade com os mi ssi onar i os nor t e- amer i canos, a despei t o de
t odas as i nI l unci as cat ol i cas sobr e el e exer ci das.
9 0 7
Tambm, diIerentemente dos pulpitos utilizados pelos protestantes
historicos - que escondem o corpo do pastor por tras de uma tribuna a Iim de enIatizar sua
Iala ou sermo, ou tambm das igrejas catolicas em que o padre convencionalmente Iica atras
do pulpito e tambm da mesa eucaristica - o templo/palco iurdiano Iaz com que toda a
perIormance verbal e no verbal seja absorvida de Iorma mais dinmica e envolvente. No
importa apenas o que o pastor diz em seus sermes, preciso que seus movimentos tambm
exprimam sua narrativa; no basta vituperar com socos e pises sobre o demnio nem dizer
que se esta 'cheio do Espirito Santo, se Ienmenos extraordinarios no acontecerem.
A IURD realiza eventos religiosos em grandes espaos publicos, como
ginasios e estadios de Iutebol, porm, o culto no templo , sem duvida, com seus ritos,
cerimnias e todo o ritualismo e simbolismo que o envolve, o cenario preIerido para as
praticas dessa Igreja. Devido a tal importncia, os templos iurdianos so estrategicamente
construidos ou adaptados em Iorma de teatro onde o altar e o pulpito Iicam elevados numa
condio de palco. Alias, muitos deles Ioram antes utilizados como cinema, ja predispondo
assim espaos cnicos com vistas a construo de uma ao representativa. Nesse sentido,
aproximam-se mais do catolicismo do que ao protestantismo. Nos templos catolicos, a
suntuosidade observada tambm causa impresses de grandeza e de poder do sagrado em
relao aos Iiis que comparecem para assistir a algo. O que se destaca, entretanto, que no
culto neopentecostal iurdiano a participao da platia mais interativa e constante durante
os rituais, atravs dos quais so revividos, a cada encenao, eventos carregados de Iora
simbolica, Iazendo que se tornem tambm protagonistas das praticas que la ocorrem. Fora do
grupo talvez no Iossem vistos muito alm de massas annimas constituidas de negros,
pobres, mulheres... Mas no mbito iurdiano todos se tornam agentes, personagens ativas de
praticas que constroem sentido.
Vale ressaltar que a concepo do 'espao sagrado como algo miraculoso
ou magico muito presente na cultura religiosa brasileira: assim, os santuarios catolicos de
Iorte apelo e devoo popular, por exemplo, so concebidos como locais a serem visitados
em busca de milagres e os proprios terreiros das crenas aIro-brasileiras, identiIicam-se como
907
CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercaao. Organizao e marketing de um empreendimento neopentecostal,
p. 67, 68.
270
espaos de maniIestaes do sagrado. No templo da IURD tudo publico. O atendimento
particular dado pelo pastor a vista de todos, assim como a orao, imposio de mos,
exorcismo ou uno com oleo aos enIermos. Ha, de uma certa maneira, a reconstruo
simbolica do antigo conIessionario catolico e das consultas aos guias para receberem
'passes, tal como no kardecismo e nas religies aIro-brasileiras. Em vista disso, o templo se
constitui em espao para o desenvolvimento de ritos, utilizao de simbolos, conIigurao da
imagem do lider carismatico, cruzamentos, injunes, remodelagens, apropriao e
resigniIicao de um Iertilissimo capital simbolico disposto no campo religioso brasileiro.
Desempenhando o templo um papel Iundamental nas praticas da IURD
como local sagrado, ha uma orientao dentro da Igreja para que os ritos de cura e exorcismo
no ocorram em qualquer ambiente. Segundo o proprio bispo Macedo, os templos so
espaos propicios para a ao do Espirito Santo. Por isso, pastores e obreiros so orientados a
no se envolverem aIetivamente com o doente ou quem esteja sob 'inIluncia do mal e,
quando nas visitas a doentes nos hospitais ou residncias, convidarem para ir ao templo a Iim
de participar dos rituais la desenvolvidos.
Mesmo quando ocorre algum tipo de auxilio atravs dos programas de radio
e TV, o apelo e orientaes Iinais a que a pessoa procure pelo templo da IURD mais proximo
so sempre enIaticos. Toda a publicidade desta Igreja, na sua propria midia, esta voltada para
um objetivo central: levar pessoas ao templo. Esse lugar , assim, ideal para a realizao do
milagre, e mesmo que o prodigio acontea em casa, naquele espao sagrado que ele
aprovado, legitimado e divulgado. Por isso serem Ireqentes nas programaes de radio e TV
apelos como estes: 'voc precisa tomar uma deciso (sinnimo de 'ir a igreja); 'vena o
Diabo, que no quer que voc va at a Igreja. Tais apelos acabam surtindo resultado. Os
que so atingidos pela mensagem da IURD preIerem o comparecimento ao culto, a
participao pessoal no clima do ato religioso, a presena na apropriao da I proporcionada
pelo oIicio no espao considerado sagrado.
Nos templos iurdianos, como parte da ornamentao, no palco-altar, sobre o
pulpito, Iica permanentemente colocada uma Biblia aberta. Na Irente do palco, uma cruz de
madeira sem imagem do Cristo cruciIicado posiciona-se entre o rigor protestante, que excluiu
de seus templos o cruciIixo, e a Igreja Catolica, que Iaz dele sua marca distintiva. No p da
cruz esto a 'agua abenoada e uma tigela de 'azeite orado, marcas dos cultos kardecistas e
aIro-brasileiros. Sobre a mesa esta a menorah, castial judaico de sete velas. E possivel
constatar, atravs da observao participante na IURD, que tal segmento religioso rompe com
271
o protestantismo classico a medida que este contribuiu diretamente para que o 'pensamento
iconoclasta imperasse entre nos,
908
ao retirar dos seus templos as imagens que eram comuns
nos espaos sagrados do catolicismo.
4.2 - Representaes mgicas dos objetos litrgicos
Quando se desenvolve o espetaculo cultico, os auxiliares dos pastores, no
momento oportuno, trazem outros objetos que sero utilizados: o 'oleo consagrado, os
'galhos de arruda, as 'rosas do amor, a 'agua do rio Jordo, o 'sal grosso, a 'agua
orada etc. Este enorme arsenal simbolico pode signiIicar ainda lavar-se com sabonete ou
xampu abenoados; andar com um retalho de manto sagrado no bolso; levar uma lmpada
eltrica para ser ungida pelo oleo sagrado e coloca-la acesa no quarto, com o proposito de
que 'ilumine a vida; pode-se levar, de casa ao templo, uma Ioto ou um sapato de algum
'problematico, para ser abenoado, para que a pessoa representada seja ento colocada 'no
caminho certo. Fala-se ainda em 'Iechamento do corpo
909
e, no chamado dia de Cosme e
Damio, reedita-se uma pratica tipica do catolicismo de devoo Iolclorica: distribuio da
'bala ungida para as crianas. Destaca-se ainda a utilizao do copo com agua durante a
orao, pratica diaria nos programas iurdianos realizados no radio e na televiso. Tal
procedimento estabelece analogia com a 'agua IluidiIicada comumente utilizada, dentro de
ritual semelhante, em algumas religies mediunicas como o kardecismo. Tambm, o po da
Iartura, a ma do amor, a rosa consagrada, o oleo ungido, o sabo da puriIicao - Ietiches e
amuletos utilizados para exorcizar o mal e aIastar os inIortunios, usados com evidncia pelo
catolicismo medieval - revestem-se agora de nova roupagem simbolica nas praticas iurdianas.
Assim, Iazendo jus a aIirmao de que 'o pensamento popular sempre gostou de procurar nas
imagens simbolicas a meno de acontecimentos concretos,
910
os objetos culticos tornam-se,
para o individuo, a sua casa e seus negocios, proteo contra os males atribuidos e
personalizados na Iigura do diabo e seus demnios.
O que ocorre na IURD se assemelha ao que analisado por Jacques Le GoII
no periodo medieval: 'o homem medieval possui uma 'mentalidade simbolica', vivendo
numa 'Iloresta de simbolos. A simbologia comanda o culto, a vida e os templos com sua
908
BERNARDO, Teresinha. Tcnicas qualitativas na pesquisa da religio. In: Sociologia aa religio no Brasil.
So Paulo: PUC/ UMESP/ Edies Simposio, 1998, p. 140.
909
Pratica tipica dos terreiros de umbanda, segundo a qual os devotos recebem 'passes de benzimentos para que
o corpo Iique, por exemplo, protegido contra doenas e outros males causados por Ioras negativas.
910
BLOCH, M. Op. cit., p. 171.
272
estrutura simbolica. Nota ainda, este autor, que em tal periodo 'o livro essencial, a Biblia,
tem uma estrutura simbolica. A cada personagem, a cada acontecimento do Velho
Testamento, corresponde uma personagem e um acontecimento do Novo Testamento. O
homem medieval assim um 'decodiIicador continuo, o que reIora a sua dependncia em
relao aos clrigos, peritos em simbologia.
'O analIabetismo, que restringe a ao do texto
escrito, conIere as imagens um poder muito maior sobre os sentidos e sobre o espirito do
homem medieval. Representaes iconograIicas.
911
Podem ser identiIicadas algumas Iinalidades representacionais no emprego
dos simbolos Ieitos nas praticas iurdianas. Primeiro, a utilizao para ensino de ilustraes de
relatos biblicos. AIirmando que a Biblia um livro 'cuja linguagem repleta de simbolos, o
bispo Macedo ressalta que 'os simbolos devem ser empregados para transmitir
ensinamentos, acrescentando ainda que 'um objeto Iigura ou idia que representa e
garante a realidade daquilo que esta sendo simbolizado.
912
Em segundo lugar, o emprego dos objetos visa instigar a imaginao dos
participantes daquele universo para o que chamam de 'exercicio da I. Macedo Iaz questo
de Irisar que os objetos simbolicos so 'pontos de contato, elementos usados para despertar a
I das pessoas, de modo que elas tenham acesso as respostas de Deus para seus anseios:
Mui t as pessoas t m di I i cul dade par a col ocar sua I em pr at i ca, por
i sso pr eci sam do pont o de cont at o, que podem ser o ol eo de uno, a
agua, a r osa, uma pea de r oupa e out r os el ement os. Esses obj et os
desper t am o cor ao e as ment es das pessoas par a a r eal i dade de que
o Senhor est a pr esent e par a abenoa- l as.
9 1 3
Terceiro, utilizao dos simbolos como Ietiches ou amuletos. Isto se
observa, por exemplo, em relao aos Irascos de agua, de oleo ou sal, as vezes vendidos, as
vezes distribuidos gratuitamente, os quais, usados no templo ou em casa, cumprem Iunes
de proteo ou realizao de desejos com eIeitos magicos. Por meio desses, acredita-se que o
proprio Cristo se Iaz presente nas reunies ou instala-se no lar de cada um. E por Iim,
estabelecer uma conexo direta com o universo do catolicismo e das crenas aIro-brasileiras,
onde a presena de simbolos e objetos ritualisticos exerce papel Iundamental nos cultos.
Os Estatutos da Igreja Universal oIerecem para os objetos simbolicos as
seguintes explicaes:
Mui t as pessoas necessi t am de si nai s ext er i or es, coi sas concr et as
par a I or t al ecer sua I ou par a cr er . Foi por i sso que Jesus quando
cur ou a um cego I azendo um l odo de sua sal i va e t er r a ( cI . Joo
911
LE GOFF, Jacques (Org.). O homem meaieval. Lisboa: Editorial Presena, 1989, p. 27.
912
MACEDO, Edir. O perfeito sacrificio. Rio de Janeiro: Graa Editorial, 1997, p. 16.
913
Id. Doutrinas aa Igrefa Universal ao Reino ae Deus. V. 2, p. 101.
273
9: 6) . Nem t odas as pessoas necessi t am de 'pont os de cont at o par a
desenvol ver em I suI i ci ent e, mas a mai or i a pr eci sa, r azo pel a qual
r eal i zamos em nossos t r abal hos as cor r ent es e di st r i bui mos coi sas
l i gadas a Pal avr a de Deus. . .
9 1 4
Os episodios descritos a seguir demonstram com mais detalhes as Iunes
desempenhadas pelos simbolos nas praticas iurdianas. Acionando o capital simbolico
acumulado no imaginario e de acordo com a procedncia do Iiel, o bispo Gonalves Iazia o
seguinte apelo na programao levada ao ar pela TV Record, as 23 horas do dia 31/08/95:
Venha a I gr ej a Uni ver sal r eceber uma I i t a par a col ocar no seu
br ao. Voc que hoj e est a com uma I i t a ver mel ha, venha na pr oxi ma
semana r eceber uma I i t a azul em que est a escr i t o: per segui os meus
i ni mi gos e so vol t ei depoi s que os esmaguei ` . Venha! Poi s no
Domi ngo, voc vai r eceber a I i t a azul em t odas as I gr ej as Uni ver sal ;
l ar gue a I i t a do Senhor do BonI i m, dos sant i nhos e venha r eceber a
nossa I i t a azul da cor do cu.
9 1 5
Em julho de 1994, fingles da IURD, veiculados pelas diIerentes emissoras
de radio que transmitem em rede nacional suas programaes, Iaziam anuncio das virtudes
miraculosas da 'rosa ungida:
A r osa ungi da! Par a voc que est a doent e, pr ocur ou os mdi cos,
t omou r emdi o e nada adi ant ou. A r osa ungi da! Par a voc que uma
pessoa depr i mi da, t r i st e, t em pr obl emas i nt er i or es, vi ve per segui do
por l embr anas do passado. A r osa ungi da! Par a voc que t em
pr obl emas nas suas I i nanas, est a endi vi dado, envol vi do com
apost as, i ndo a I al nci a e no sabe mai s o que I azer . A r osa ungi da!
Par a voc que t em pr obl emas na vi da sent i ment al e nunca I oi I el i z
no amor ! ( . . . ) Voc est ar a r ecebendo a r osa ungi da, que r epr esent a o
pr opr i o Jesus, por que na Bi bl i a di z 'Eu sou a r osa de Sar om. 'Eu
Sou o nome de Deus, de Jesus ( . . . ) voc vai col ocar essa r osa no
l ugar mai s al t o de sua casa, por que, assi m como Jesus I oi l evant ado
e col ocado no l ugar mai s al t o, que havi a em Jer usal m na poca, no
Cal var i o, assi m voc vai col ocar a r osa ungi da no l ugar mai s al t o de
sua casa, e t odo o mal vai ser at r ai do par a essa r osa, t odo espi r i t o
de vi ci o, cont endas, homossexual i smo, espi r i t o de pr ost i t ui o, de
adul t r i o, de doenas ( . . . ) E hoj e que voc, meu ami go, vai r eceber
a r osa ungi da ( . . . ) vai r eceber a r osa ao p da cr uz e pel o poder da
I t odo o mal , que at or ment a a sua vi da vai desapar ecer aqui , j a na
i gr ej a ( . . . ) no se esquea de t r azer o envel ope com as pt al as secas
da r osa da semana passada, ser a quei mada na I oguei r a sant a ( . . . )
| musi ca cl assi ca| . I gr ej a Uni ver sal do Rei no de Deus, l ugar de paz
i nt er i or ( . . . ) onde o mi l agr e acont ece.
9 1 6
Vale observar que a 'rosa, no imaginario catolico brasileiro, consiste num
simbolo que possui um signiIicante de grande apelo mitico: representa Maria, me de Jesus.
914
Estatuto e Regimento Interno aa Igrefa Universal ao Reino ae Deus. Cap. VI. Rio de Janeiro: GraIica e
Editora Universal, s.d, p. 50.
915
Apua CAMPOS, Teatro, templo e mercaao. Organizao e marketing de um empreendimento neopentecostal,
p. 79.
916
Ponto ae Lu:. Londrina, Radio Atalaia AM, 20 ago. 2004. Programa de radio. Material gravado em K7,
transcrito para uso como Ionte.
274
Assim, no obstante condenar a pratica do culto mariano, para conseguir que sua mensagem
Iique mais tangivel, a IURD mantm estrategicamente um elemento de grande apelo de
massa 'pela sua potencialidade de mobilizar as pessoas. Com este simbolo, consegue
desempenhar papel importante na vida imaginativa pelo Iato de representar 'uma idia
abstrata por meio de um objeto concreto.
917
Tambm, recentemente, a Igreja organizou uma campanha denominada
'escada de Jaco, alusiva ao episodio biblico relatado no livro do Gnesis, em que esse
personagem biblico teve num sonho a viso de uma escada que ligava a terra ao cu,
representando as conquistas materiais que obteria em sua vida e posteridade. Para representar
tal experincia, a IURD conIeccionou uma escada e a colocou como parte do cenario do
templo, a Iim de ser recorrentemente utilizada como ilustrao pelo pastor em sua prdica.
Ao Iinal do seu discurso, o pastor desaIiou os Iiis a subirem pela escada em busca da
realizao de seus sonhos e da conquista do que Deus lhes pode conceder.
Chama tambm a ateno o que ocorre na reunio denominada 'corrente da
Iamilia. Freqentada quase sempre por pessoas sozinhas, e no por Iamilias, essas pessoas
comparecem trazendo retratos de Iilhos, roupas do marido e garraIas pertencentes aqueles
que 'tm problema de bebida, por exemplo. Os objetos so trazidos para ser abenoados nos
rituais da Igreja, mesmo que as pessoas por eles representadas no Iaam parte dela ou no
estejam ali naquele momento. A IURD se empenha na crena de que uma so pessoa da
Iamilia pode ser o grande ponto de partida para a transIormao de toda a Iamilia envolvida
em algum tipo de crise. Seria o caminho inverso no sentido de se reverter o processo que
originou tais maleIicios. O bispo Macedo procura mostrar como isto ocorre:
O Demni o pode se apossar de t oda uma I ami l i a, pode ent r ar na
vi da de uma pessoa por her edi t ar i edade, por al gum t rabal ho, quando
a me est ava gr avi da, pode ent r ar e se al oj ar na I ami l i a quando
al gum dest a I r eqent a ou I r eqent ou al gum cent r o espi r i t a.
9 1 8
Na corrente da 'sagrada Iamilia, que envolvia a passagem pelo 'arco do
amor,
919
Ioi colocado no corredor um grande arco com Ilores artiIiciais, por onde as pessoas
carentes de amor e de paz no lar deviam passar. Com durao de duas semanas,
920
a IURD
tambm organizou a 'Campanha das Loucuras da F, enIatizando o comportamento tido
como louco daqueles que esperaram milagres de Deus em condies adversas e nas quais
tudo indica o contrario. A propaganda da 'campanha prometia a distribuio de dois objetos
917
EPSTEIN, Isaac. Op. cit, p. 59, 66.
918
MACEDO, Edir. Orixas, caboclos e guias. deuses ou demnios?, p. 46.
919
Observao participante realizada no templo de Londrina, 30 ago. 2004.
920
De 1 a 14 de ago. 2004.
275
que iriam, segundo os pastores, despertar a I das pessoas, as quais os receberam como se
Iossem objetos magicos: dia 07/08, o 'oleo de Israel e dia 14/08, a 'vara de Jaco. Em
relao a este ultimo anuncio, um pastor da IURD, em um de seus programas de radio,
ressaltava: 'Venha para o nosso templo e voc vai receber a vara de Jaco`. Com ela voc
podera apontar para o carro, para a empresa em que voc quiser trabalhar e Deus vai-lhe dar
tudo o que voc pedir. Toda maldio e amarrao que estiver no seu caminho sero
queimadas ou aIastadas.
921
Um programa na televiso entrevistou uma mulher que
testemunhou dizendo ter colocado a 'varinha na garagem e recebido um carro. Disse o
pastor: 'Ela possuia so uma varinha, no tinha mais nada; com uma varinha que nos damos
na Igreja Universal, ela colocou na garagem e ganhou um carro... (mostrando ento no video
aquele objeto, e acrescentando): 'va tambm domingo e receba a sua varinha e conquiste o
que voc deseja (...) voc vai determinar e Deus vai atender.
922
A Iinalidade dessa campanha
mostrar que o milagre se encontra acima do 'senso comum, na dimenso da I, instncia
inatingivel pela logica rotineira da vida.
No templo de Santo Amaro, em outra reunio, pessoas receberam Iitas azuis
e vermelhas para serem amarradas nos pulsos, adquirindo-se assim sorte e proteo contra os
maleIicios demoniacos. Vale ressaltar que as cores azul e vermelha tm signiIicao nos
cultos aIro-brasileiros.
923
Numa sexta-Ieira, na 'vigilia da mesa branca, as pessoas, em Iila,
passavam as mos sobre uma toalha branca, estendida sobre a 'mesa energizada, para
adquirir bnos e proteo para a vida. Aquele objeto teria sido energizado pela imposio
de mos de pastores, que teriam passado '24 horas em orao e santo jejum para aquela
Iinalidade.
924
A IURD tambm reedita uma pratica tipica ocorrida com grande evidncia
no periodo medieval: peregrinaes a Israel e aquisio de objetos tidos como sagrados da
Terra Santa. As campanhas de I denominadas 'campanha do Monte Sinai e 'Iogueira santa
de Israel ostentam especial destaque nos ritos propostos pela IURD. Visto como um 'solo
sagrado, Israel esta a espera de uma peregrinao concreta, para os que tiverem condies
ou por procurao, Ieita pelos Iiis aos pastores, bastando para isso preencher uma Iolha de
papel com os seus 'pedidos de I, cujas cinzas sero, segundo os pastores, por eles levadas
para Israel. E estabelecida, desta Iorma, uma conexo simbolica entre a Terra Santa e o
templo iurdiano por meio de objetos como agua, pedra, sal, oleo, trazidos pelas caravanas de
921
Ponto ae Lu:. Londrina, Radio Gospel FM, 07 ago. 2004. Programa de radio.
922
O Despertar aa Fe. So Paulo, Rede Record, 04 ago. 2004. Programa de TV.
923
Observaes participantes realizadas no templo da IURD em Santo Amaro, Iev. 2005.
924
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, 11 nov. 2004.
276
pastores e Iiis que periodicamente Iazem turismo aquele pais. Nesse imaginario, Israel
mais do que um territorio, pois transcende as Ironteiras geograIicas e adquire uma dimenso
mitica nas pregaes dessa Igreja. Israel a terra 'abenoada, onde tudo dava certo para os
que temiam a Deus, e esta pontuada por locais 'carregados de poder, tais como os montes
Carmelo e Sinai, o Rio Jordo, o mar da Galilia, as minas do rei Salomo e o tumulo de
Jesus, entre outros. Como espao mitico, Israel serve de suporte para nele se apoiarem as
necessidades e desejos concretos a serem satisIeitos, como se pode observar no exemplo de
uma propaganda, transcrita a seguir:
No per ca a 'uno dos di zi mi st as. No pr oxi mo domi ngo, haver a a
consagr ao dos di zi mi st as com ol eo sant o, que o Bi spo Paul o
est ar a t r azendo de I sr ael e na segunda- I ei r a i r emos apr esent ar as
i magens das per egr i naes, que 300 pessoas de nossa I gr ej a I i zer am
a I sr ael . For am moment os i nspi r ador es, i nesqueci vei s mesmo, como
a Sant a Cei a no Get smane, com a par t i ci pao do Bi spo Macedo.
9 2 5
Num dos templos da IURD,
926
sobre a mesa, localizada no altar, Ioi
colocada uma pedra que, segundo os pastores, havia sido trazida do Monte Sinai. Em outra
ocasio,
927
uma pedra apresentada aos Iiis teria sido tirada, segundo um dos obreiros, das
'minas do rei Salomo personagem biblico notadamente lembrado como possuidor de
grande riqueza e poder. Mediante uma oIerta Iinanceira especial, as pessoas tinham ento o
direito de colocar as mos sobre aquela pedra, atravs da qual se transIeririam para os Iiis as
energias de origem divina que no passado teriam gerado a prosperidade daquele personagem
biblico.
No programa matinal Despertar aa Fe e a hora da orao especial de meio-
dia e seis da tarde, ha o momento em que o pastor ora com um copo de agua nas mos. Ele
pede que Deus 'IluidiIique com o Espirito Santo aquela agua e 'que ela seja, em cada uma
de suas molculas, carregada com o poder do Espirito. No Iinal, convida as pessoas que
tiveram o seu copo abenoado, por causa do contato com o aparelho de televiso, a beber
daquela agua com ele. Tal procedimento tambm encontra similaridade nos ensinos de Allan
Kardec. Teoricos kardecistas, entre eles Jos Lhomme, acreditam que ha magnetismos agindo
na natureza, destacando-se entre estes o 'espiritual, cuja atuao se da pelo pensamento
que contm qualidades boas ou mas com o auxilio de entidades espirituais superiores.
928
De
igual modo, vale tambm destacar que, em 1955, o padre Donizetti Tavares de Lima, que era
paroco na cidade de Tambau SP, atraiu a ateno de todo o pais por causa de alguns
925
O Despertar aa Fe. So Paulo, Rede Record, 02 Iev. 2003. Programa de TV.
926
Observao participante no templo da IURD em Londrina, 20 mar. 2004.
927
Observao participante no templo da IURD em Santo Amaro, 30 nov. 2004.
928
LHOMME, Jos. O livro ao meaium curaaor. 6 ed. Rio de Janeiro: Editora Eco, s.d, p. 59, 65.
277
milagres que estariam ocorrendo por meio de seus atos religiosos. Segundo Maria Isaura
Pereira de Queiroz, que dedicou estudos a esse caso, esse padre recomendava que, a hora da
bno das seis da tarde, as pessoas colocassem as suas mos, garraIas de agua ou roupas de
enIermos sobre os aparelhos de radio, aIirmando tambm que, naquela hora, cada aparelho de
radio se transIormaria numa 'sucursal de Tambau, podendo-se receber os milagres em
casa.
929
A numerologia tem importante signiIicado nos ritos iurdianos. E o que
ocorre, por exemplo, em relao ao numero 7,
930
pois, como aIirmam, 'representa a perIeio
divina: sete so os dias da semana; sete Ioram os altares que Balao pediu para Balaque
ediIicar (Numeros 23:1); sete so as bem-aventuranas (Mateus 5); sete Ioi o numero dos
primeiros diaconos da igreja.
931
Em uma programao de radio, o pastor iurdiano deu a
seguinte instruo para a cura de uma Iiel que iria amputar a perna: 'Olha, a senhora vira a
reunio, ira pegar trs petalazinhas da rosa que iremos distribuir, Iazer um cha, um banho e
vai durante sete dias de manh banhar a perna em nome de Jesus com toda a I. Fazendo isso
no precisara mais cortar a perna.
932
Ocorre algo semelhante ao que Le GoII tambm
observa: 'Tambm, o homem medieval vive Iascinado pelo numero simbolico: o trs,
numero da trindade; o sete, numero dos sete sacramentos; 12, numero dos apostolos.
933
Em
setembro de 2003, apareceram em programas televisivos da IURD, pastores contando que se
banharam sete vezes no mar com roupas de pessoas doentes, dizendo que garantiam a cura
para os que viessem a usar tais peas de roupas.
934
E tambm comum pessoas trazerem para
as reunies, seguidamente por sete dias, garraIas com agua, IotograIias de parentes e roupas
de enIermos e coloca-los sob a cruz de madeira para receber a bno. Durante os meses de
maro e abril de 2006, a Igreja realizou a campanha 'Sete Segredos Para a Virada
Econmica. Nesse rito os Iiis recebiam uma carta selada contendo um segredo para a
respectiva semana, devendo ser aberto somente no momento da reunio. No texto da carta
elaborada, aparecem indagaes que desaIiam os Iiis: 'Por que os incrdulos mantm o
controle das industrias, bancos, lojas, empresas ou meios de comunicao do mundo? Por que
os Iilhos de Deus, normalmente, so subordinados dos incrdulos? Sera que Deus pobre e o
929
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Cultura, socieaaae rural, socieaaae urbana no Brasil. So Paulo:
LTC/Edusp, 1990, p. 135-208.
930
Numero tambm bastante utilizado nos ritos das crenas aIro-brasileiras.
931
Folha Universal, Rio de Janeiro, 30 jul. 2000, p. 4.
932
Ponto ae Lu:. Londrina, Radio Atalaia AM, Londrina, 20 jun. 2006.
933
LE GOFF, J. (Org.). O homem meaieval, p. 27.
934
Uma aluso ao episodio biblico de I Reis. Segundo tal narrativa, o rei acometido de lepra banhou-se por sete
vezes no rio Jordo sob recomendao do proIeta Eliseu, sendo por isso curado de sua enIermidade.
278
diabo rico? No! Deus proprietario de tudo o que existe nesse mundo e por isso deseja
que os seus Iilhos estejam no comando de tudo o que Ele criou.
935
Nas praticas e representaes da IURD se cr que, de Iorma magica, os
objetos tm a capacidade de proteger a casa, o individuo e as relaes sociais contra todos
aqueles males atribuidos e personalizados na Iigura do Demnio. Os simbolos desempenham
ali importante papel na 'construo do mundo como representao, pelo Iato de promover
uma 'relao compreensivel entre o signo visivel e o reIerente por ele signiIicado.
936
Os
imaginarios sociais entram em cena quando a linguagem simbolica comunicavel exprime
representaes. Contribui diretamente para a vivncia do universo representacional iurdiano,
num processo de identiIicao com os elementos culturais-religiosos do contexto brasileiro, o
Iato de muitos dos seus Iiis ja terem pertencido ao catolicismo de devoo Iolclorica e as
religies aIro, alm das igrejas do pentecostalismo classico, havendo, portanto, na vivncia
religiosa de tais membros, um Iertilissimo substrato cultural que retrata bem a 'matriz
religiosa brasileira, a qual, segundo Bittencourt Filho, constituida por 'catolicismo ibrico,
magia europia, religies indigenas, religies aIricanas, espiritismo europeu e catolicismo
romanizado.
937
Ha, pois, uma relao de continuidade com o mundo magico das religies
aIro-brasileiras e do catolicismo de devoo popular, imaginario este que - paraIraseando
Marc Bloch - 'herdeiro tanto das tradies do cristianismo quanto das velhas idias |ditas|
pags, e que tem demonstrado grande capacidade de Iiltrar elementos de uma tradio crist
mais elitizada, legada do protestantismo, que se desenvolveu no Brasil a partir de
'prerrogativas da estirpe,
938
arraigadas como substrato cultural desde o periodo colonial e
que se reportam, at mesmo, ao mundo do medievo.
4.3 - O universo representacional dos ritos
Na IURD, o calendario dos ritos e sesses apresenta uma correspondncia
bastante explicita com o calendario ritual estabelecido pelas religies aIro-brasileiras para
celebrar suas divindades. Nessas religiosidades, acredita-se que o tempo um sistema
discreto sob a regncia de divindades especiIicas. Os dias da semana ou meses podem indicar
regncias de principios simbolicos organizadores. Assim, por exemplo, a segunda e sexta-
Ieira so dias consagrados a Exu, que, sendo orixa dos caminhos e das passagens, cultuado
935
Material distribuido pela IURD e recolhido para pesquisa em abril de 2006.
936
CHARTIER, R. A Historia Cultural. entre praticas e representaes, p. 20, 21.
937
BITTENCOURT FILHO, J. Op. cit., p. 99.
938
BLOCH, M. Op. cit., p. 169.
279
nesses dias liminares que circunscrevem as mudanas entre periodos de trabalho e descanso.
Suas horas consagradas so as de mudanas de periodos, como a meia-noite. Por isso,
preIerencialmente nesses dias so Ieitas as giras de exus nos terreiros de umbanda e lhes so
entregues oIerendas em locais de passagem, como encruzilhadas e cemitrios. Sexta-Ieira
tambm consagrada a Oxala, no candombl, quando muitos iniciados se vestem de branco. A
associao desse dia ao da cruciIicao de Cristo, tambm o torna uma reIerncia de morte.
Nas praticas da IURD, as sesses de libertao ou de descarrego realizadas as sextas-Ieiras a
noite ganharam especial evidncia, sendo as mais concorridas. A meia-noite, 'hora grande
de sexta para sabado, o momento em que os Exus se maniIestam e trabalham, justamente
nessa mesma hora que nas igrejas esto sendo realizadas as cerimnias onde esses Exus so
invocados para, em seguida, serem expulsos dos corpos das pessoas presentes. O ms de
agosto, no calendario aIro, dedicado a terra onde se depositam os corpos dos mortos e se
veneram os ancestrais. Na IURD, essa poca Ioi declarada o 'ms dos encostos, espiritos
malignos dos cemitrios.
Tambm esse calendario se utiliza das homenagens aos santos catolicos.
Em janeiro, por exemplo, devido ao dia de So Sebastio, os terreiros saudam Oxossi, deus
da caa associado ao martir cristo que Iora torturado com Ilechas lanadas sobre o seu
corpo. Nesses rituais, comum, por exemplo, que os caboclos recomendem benzimentos com
ervas, uso de sal grosso, oleo etc. Na IURD esses mesmos elementos Iazem parte de rituais
Ieitos nos templos ou recomendados pelos pastores para que os Iiis o Iaam em casa. Em
suas programaes de radio, o pastor Gilberto convida os telespectadores para a busca do
'sabo abenoado, com o qual iriam 'lavar a pea de roupa daquela pessoa que esta
internada, que esta com Exus em cima, esta com Tranca-Rua, com Omolu, algum que
colocou seu nome la no cemitrio na cabea de deIunto Iresco.
939
Nos templos iurdianos ha, pelas razes anteriormente apresentadas, especial
espao para a ao cnica, cujos agentes interagem com a presena de uma simbologia
devidamente compartilhada pelos participantes. Destaca-se a capacidade dos lideres na
conduo desses ritos realizados durante os cultos. Edir Macedo, por exemplo, demonstra
notavel habilidade para manter a ateno dos ouvintes quando conduz essas reunies.
Durante sua prdica - que pode durar cerca de uma hora o publico o observa estaticamente,
ao ponto de raramente se retirar algum do templo antes que sua mensagem se encerre. E
939
SILVA, Vagner Gonalves da. Concepes religiosas aIro-brasileiras e neopentecostais: uma analise
simbolica. RevistaUSP, Religiosidade no Brasil, n. 67, p. 164 set./nov. 2005.
280
como se Iosse um momento 'magico. Alguns choram como se aquelas palavras estivessem
sendo proIeridas unica e exclusivamente para eles:
Quando assi st o aos cul t os di r i gi dos pel o Bi spo Macedo, si nt o que
Deus est a I al ando di r et ament e comi go. O bi spo pr ega pr a t odos, mas
o Espi r i t o Sant o I al a ao meu cor ao de um modo que eu no posso
me cont er e chor o, chor o mui t o. Aquel as pal avr as que el e di z so
pr a mi m, t enho cer t eza di sso.
9 4 0
Mas, no restante da reunio, o imenso publico no Iica impassivel diante do
espetaculo religioso, comportando-se ora como platia, aplaudindo o(s) ator(es) em cena, ora
como ator em transe, arrebatado em xtase religioso diante de um proIeta. Assim, em alta
voz, bastante comum ouvir Irases da platia em concordncia com o pregador ou dirigente
da reunio, as vezes gritando palavras como 'gloria ou 'aleluia, e outras vezes repetindo
vibrantemente Irases de eIeito que o dirigente lana em oraes. Os obreiros auxiliares
tambm costumam percorrer os corredores, estimulando o auditorio a participar com
intensidade das cenas vividas no palco ou propostas pelo pregador.
Em uma reunio observada, numa sexta-Ieira, o pastor, ao entrar no palco-
altar deu inicio a dramatizao, auxiliado por uma equipe de musicos passou a entoar
cnticos ao som de teclados, guitarras e baterias, enquanto os obreiros e obreiras, com seus
uniIormes padronizados, postavam-se a Irente. Com um microIone nas mos, o proprio
pastor se encarregou de conduzir o espetaculo de I, alternando, com voz incisiva e emotiva,
oraes e palavras de ordem e estimulo aos participantes. Desta maneira, uma verdadeira
massa Ioi comandada nos 120 minutos que se seguiram, participando intensamente dos
cnticos, das pregaes, dos rituais de exorcismo, das contribuies Iinanceiras e do contato
com os 'Ietiches simbolicos que Ioram utilizados naquele dia. Nota-se que durante o culto o
pastor apresenta uma perIormance verbal e no-verbal to eIicaz e eloqente quanto a de um
ator em cena. Naquele espao ele representa, conIigurando codigos que nele so projetados a
partir do imaginario do publico que com ele interage.
No livro Teatro, Templo e Mercaao, em que analisa, entre outros pontos, a
teatralizao do sagrado na Igreja Universal do Reino de Deus, o sociologo Leonildo Campos
aIirma que os pastores iurdianos so avaliados no so pela sua intrepidez na arrecadao de
dinheiro, mas tambm pela sua capacidade comunicativa em executar perIormances teatrais:
Par a consegui r t ai s r esul t ados, o past or - at or pr eci sa domi nar as
ar t es ou as t cni cas, pr odut or as de per suaso e r eal i zar o que se
at r i bui ser i mpor t ant e par a o at or , i st o , cor por i I i car os papi s e
eI et i var o dr ama ao r epr esent a- l o em um det er mi nado pal co.
9 4 1
940
Beatriz Gonalves, em depoimento a Folha Universal, Rio de Janeiro, 05 Iev. 2006, p. 7.
281
Durante os cultos e seus ritos, o lider pode demonstrar ao publico extasiado
a sua autoridade e legitimidade como algo divinamente concedido. Exercendo a Iuno de
mediador magico e tornando-se quase um 'xam, observa-se que o pastor se torna o
responsavel por estabelecer o momento em que o combate entre o bem e o mal deve iniciar e
quando o espetaculo deve se encerrar, alm de possibilitar as 'armas espirituais para a
participao interativa dos Iiis. Nesses momentos de cura e libertao, o bispo ou pastor
convoca as pessoas que esto passando por diIerentes problemas, como brigas entre
Iamiliares, Ialta de dinheiro, vicios, doenas, desemprego, perturbao demoniaca a irem a
Irente do pulpito. O lider, ento, chama os pastores auxiliares e obreiros para, junto dele,
intercederem a Deus por aquelas pessoas. Todos comeam a orar ao mesmo tempo em voz
alta. Ocorre uma maniIestao coletiva, um intenso estado de xtase toma conta de muitos.
Assim, possivel dizer que na IURD os rituais so desenrolados como um drama, uma 'ao
representada num palco num espao sagrado -, como nas cerimnias que consagram o
poder, 'a ao reveste a Iorma do espetaculo:
Nesse caso, a r epr esent ao no se r esume a 'exi bi o ( . . . )
pr esume a r eal i dent i I i cao, a r epet i o mi st i ca ou a r epr esent ao
do acont eci ment o. ( . . . ) o r i t ual pr oduz um eI ei t o que, mai s do que
I i gur at i vament e most r ado, r eal ment e r epr oduzi do na ao.
9 4 2
Em suas representaes, a IURD revive praticas que Ioram vistas com
suspeitas pelo catolicismo oIicial no medievo. Jacques Le GoII Iala de um sistema de
controle ideologico dos gestos no ocidente medieval por parte da igreja. O cristianismo da
Alta Idade Mdia considerou a gestualidade como suspeita:
Os cr i st os mant i nham uma l ut a r i gor osa cont r a as sobr evi vnci as
pags, sobr et udo em doi s set or es: o do t eat r o e o da possesso
di abol i ca, os especi al i st as do gest o, mi mos ou possessos do
demni o, vi t i mas ou ser vos de sat anas. A mi l i ci a de Cr i st o er a
di scr et a, sobr i a nos seus gest os. O exr ci t o do di abo apr eci ava a
gr osser i a dos gest os.
9 4 3
Ainda usando como exemplo de comparao a analise Ieita por Le GoII
sobre os gestos no periodo medieval, observa-se que se acreditava nos beneIicios que algum
podia Iazer em Iavor de parentes e amigos, atravs de ritos, inclusive em Iavor da vida no
Alm, no purgatorio. Na IURD, tambm pessoas podem Iazer algo semelhante, porm, no
mbito da existncia terrena, em Iavor de Iamiliares atravs de ritos disponibilizados pela
941
CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercaao. Organizao e marketing de um empreendimento neopentecostal,
p. 101.
942
CARDOSO, C. F. ; MALERBA, J. Op. cit., p. 215.
943
LE GOFF, Jacques. O maravilhoso e o quotiaiano no ociaente meaieval. Lisboa: Edies 70, 1983, p. 64.
282
Igreja, mediante o uso de objetos como Iotos, carteiras de trabalho, peas de roupas que,
levados para a casa, podem beneIiciar com puriIicao espiritual a pessoa a quem se destina.
Umberto Eco aIirma que os elementos presentes nas celebraes religiosas
obedecem a uma esttica kitsch, compreendendo este conceito como uma 'comunicao que
tende a provocao de um eIeito.
944
Assim, desde o emocionalismo dos discursos dos
pastores, passando pelas repetitivas letras de musicas, at a cenograIia do templo, tudo se
dirige como um apelo as emoes do publico. Nas palavras do proprio Umberto Eco, todos
os elementos se apresentam como 'eIeitos ja conIeccionados. Assistir ao culto tambm
participar de um espetaculo visualmente bem construido, no qual a perIormance do lider
religioso ganha centralidade a ponto de arrancar palmas, gritos e outras Iormas de emoes
da platia. De toda ao desenvolvida no palco se exige dramaticidade, que pressupe a idia
de uma presena, expondo uma situao signiIicativa, 'que evoca um encadeamento de
aes, tornando presente o destino, a vida, o mundo tanto em seu aspecto visivel quanto em
suas signiIicaes invisiveis.
945
Pode-se dizer que a IURD, em seus ritos, traz para dentro do templo o
espirito das Iestas populares e das procisses catolicas, promoveu aproximao do
devocionario popular, a medida que incorpora algumas de suas praticas rituais, invertendo,
quando necessario, o seu signiIicado. Exemplo disso a campanha religiosa intitulada
'novena da sagrada Iamilia no coincidentemente iniciada no periodo da Quaresma no
calendario catolico - segundo a qual os Iiis so desaIiados a comparecer a Igreja durante
nove semanas ininterruptas em busca de soluo para problemas que estejam aIligindo a
Iamilia. Seguindo ainda este mesmo calendario, a Universal costuma realizar tambm a
campanha 'Quarentena da F quarenta dias de vitoria, cujo objetivo realizar em todas as
noites nos dias de domingo, segunda, quarta e sexta-Ieira reunies em busca de milagres.
946
Assim, as convocaes para grandes eventos em estadios de Iutebol ou ginasios de esportes
relembram cortejos catolicos Iestivos para conduzir os Iiis a esses lugares. Essas Iestas de
devoo tambm se reeditam no mbito dos templos, nos rituais que semanalmente se
realizam. Por esse motivo, o culto se transIorma num espetaculo do qual Iiis participam
intensamente. No decorrer da encenao ha deslocamento de pessoas, movimentos corporais,
Iormao de Iilas e realizao de procisses. E como se aquelas maniIestaes populares
deixassem as ruas e acontecessem no interior do templo, mediante o que os Iiis dramatizam
944
ECO, Umberto. Apocalipticos e integraaos. So Paulo: Perspectiva, 1993, p.73.
945
Id., ibid., p. 84.
946
Campanha divulgada nas programaes de radio e TV, no periodo de maro a julho de 2005.
283
uma trajetoria que vai da aIlio ao milagre, do proIano ao sagrado, apresentando a divindade
as oIertas, pagando promessas e recebendo as dadivas divinas. Numa dessas correntes,
observou-se intensa movimentao e mobilidade corporal do publico na passagem pelo
'corredor dos milagres, Iormado por 'setenta pastores. Tambm, na campanha 'travessia
do rio Jordo,
947
no meio do corredor jogou-se 'agua do rio Jordo, devendo os Iiis, tal
como Moiss, apontar o cajado (miniaturas que haviam recebido no inicio da reunio) para
aquela agua 'determinando conquistas em sua vida, assim como ocorrera em relao a 'terra
prometida alcanada pelo povo hebreu apos a longa peregrinao do xodo. Em outra vez,
realizou-se a campanha das 'Portas Abertas:
948
pessoas Iormaram Iilas para passar por uma
porta aberta dentro de uma enorme cruz de madeira, sob promessa de sucesso proIissional e
Iinanceiro e uma eIusiva presena do poder de Deus em suas vidas. De igual modo, o toque
de trombetas na 'Queda dos Muros de Jerico,
949
em que os participantes da reunio recebiam
trombetas de plastico que, no momento oportuno do ritual, deveriam ser tocadas,
rememorando assim o episodio biblico da queda dos muros de Jerico quando da conquista
desta cidade pelo povo hebreu sob liderana de Josu.
Os cultos iurdianos so assim, por excelncia, os momentos em que se
vivenciam varios elementos do universo simbolico em que esto inseridos lideres e Iiis.
Devido a esse papel preponderante, tais atividades so realizadas, em mdia, quatro ou cinco
vezes todos os dias da semana. Ha inclusive uma agenda semanal com horarios e objetivos
estabelecidos para cada dia, que segue uma programao padronizada em todos os templos,
ainda que uma vez iniciada cada reunio o templo se transIorme num espao de
espetacularizao do sagrado sem um roteiro rigido, havendo sempre uma expectativa para o
indito e o inusitado. A grade de programao segue, em linhas gerais, o seguinte
cronograma:
Segunda-Ieira: Corrente da prosperidade
Tera-Ieira: Corrente de libertao e sesso de descarrego
Quarta-Ieira: Corrente de cura divina e milagres
Quinta-Ieira: Corrente da Iamilia (problemas conjugais, diIiculdades com os Iilhos etc.)
Sexta-Ieira: Corrente de libertao e sesso de descarrego
Sabado: Terapia do amor (dedicada aqueles que desejam conseguir um casamento ou
solucionar problemas relacionados a vida sentimental)
947
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, 10 mar. 2004.
948
Observao participante realizada no templo da IURD em Santo Amaro, 20 abr. 2004.
949
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, 22 ago. 2004.
284
Domingo: Busca do novo nascimento
A seguir, descrio e analise mais detalhadas de algumas dessas correntes
ou campanhas.
4.3.1 - Corrente da prosperidade: o dinheiro e suas representaes
A Igreja Universal reserva um dia da semana para a realizao de ritos
especialmente voltados a conquista de bens materiais pelos seus Iiis. A Igreja atua
acreditando ser depositaria de poderes magicos que podem ser distribuidos aos Iiis para
auxilia-los em seus problemas Iinanceiros, como o demonstra o anuncio abaixo:
CAMPANHA ESPECI AL DE PROSPERI DADE Voc que: desej a
t r abal har por cont a pr opr i a; pr osper ar no seu empr ego; est a com
di I i cul dades I i nancei r as; vi ve desempr egado; seu sal ar i o no
suI i ci ent e par a pagar as di vi das; est a com pr ej ui zo nos negoci os.
Par t i ci pe dest a campanha e r eceba a chave que abr i r a a por t a do
sucesso. Par t i ci pe t ambm da CORRENTE DA VI DA REGALADA
PARA OS EMPRESARI OS - Se voc est a passando por di I i cul dades
t ai s como: t i t ul os pr ot est ados; I al nci a; di vi das no banco, agi ot as,
no t em como pagar seus I unci onar i os; o seu comr ci o, i ndust r i a,
escr i t or i o est o i ndo de mal a pi or ; no consegue vender nada.
Exi st e uma sai da. Toda a segunda as 19: 00 ( . . . ) .
9 5 0
Nas reunies que dirige, Edir Macedo costuma ser enIatico: 'Cobre de Deus
o que voc tem direito.
951
A Igreja argumenta que existem varias promessas da Biblia para
este assunto, razo porque 'na IURD todos so ensinados a conquistar cada vez mais bnos
materiais:
Por i sso nas noi t es de segunda- I ei r a mi l har es de pessoas se r eunem
em t empl os da I gr ej a Uni ver sal espal hados pel o pai s par a cl amar a
Deus pel o sucesso nos empr eendi ment os. So I i i s que desej am ser
empr esar i os, donos do pr opr i o negoci o, se t or nar pat r es. El es
quer em ser cabea e no cal da, est ar por ci ma e no por bai xo. Os
cnt i cos est i mul am a I , nas or aes os bi spos e past or es
i ncent i vam as pessoas a det er mi nar em a vi t or i a, par a que possam
obt er pr osper i dade, j a que as pr omessas est o na Bi bl i a: 'O Senhor
t e abr i r a o seu bom t esour o, o cu. . . empr est ar as a mui t as gent es,
por m t u no t omar as empr est ado. O Senhor t e por a por cabea e
no por cal da; e so est ar as em ci ma e no debai xo. . . ( Deut er onmi o
28: 12- 13) .
9 5 2
Apos 'determinarem a propria vitoria, nos cultos e ritos realizados para
este Iim, muitos conseguiram estabelecer o seu proprio negocio, 'vencendo o Golias da
950
Folheto divulgado pela Igrefa Universal ao Reino ae Deus, recolhido para pesquisa em 2003.
951
Folha Universal, Rio de Janeiro, 23 mar. 2000, p. 12.
952
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 67, p. 41, 1999.
285
misria e das dividas, chegando ao 'topo do sucesso e da prosperidade, sem o risco de soIrer
quedas inesperadas lembra a Igreja, ressaltando que outros se tornaram empresarios bem
sucedidos, conseguindo reerguer-se Iinanceiramente: 'E devido a esse resgate que muitas
pessoas que viviam na sarjeta, completamente arrasadas por problemas econmicos se
recuperam e de novo prosperam.
953
Ainda em tom de desaIio se aIirma:
Embor a as pesqui sas sej am pessi mi st as e col oquem a mi sr i a como
uma ameaa da vi r ada do scul o, mi l har es de pessoas t m sai do de
uma vi da de der r ot as par a a pr osper i dade at r avs do Senhor Jesus.
Test emunhos no I al t am na I gr ej a Uni ver sal par a most r ar que cr i se
se vence com I .
9 5 4
Duas campanhas so intituladas com este proposito Iinanceiro: a 'vigilia
dos 318 pastores e a 'Iogueira santa de Israel. A primeira campanha alusiva a um
personagem biblico chamado Gideo, que exercendo a Iuno de juiz em Israel, teria se
'revoltado contra a opresso estrangeira dos midianitas sobre o seu povo. Ele reclamou o
abandono de Deus e, movido pela I, 'convocou 318 homens para uma batalha contra um
exrcito inimigo mais poderoso e Ioi vencedor.
955
A IURD explica o signiIicado e a
Iinalidade dessa reunio dizendo que consiste na 'maior concentrao de I em prol da vida
Iinanceira. Argumenta que a reunio tem contribuido, por meio de orientaes transmitidas
com base nas Sagradas Escrituras, para que muitos 'usem a Palavra de Deus como
Ierramenta para vencer os obstaculos que surgem em suas vidas, como por exemplo,
dividas, misrias, Ialncias e tantos outros. 'O exercicio da I Iaz nascer no corao de cada
um a esperana de um Iuturo abenoado e promissor e por meio dessa pratica que muitas
pessoas esto descobrindo os segredos para superar todas as crises observa a Igreja,
acrescentando que 'essas pessoas compreenderam que todas as desventuras Iinanceiras so
ocasionadas, no por conta da crise que assola o pais, mas sim por no terem uma aliana de
Iidelidade com Deus:
Nessa r euni o mui t as pessoas chegam aI l i t as e desesper adas em
I uno de di vi das, pr ot est os, I al nci as e di spost as a at mesmo a
dar em cabo da pr opr i a vi da. Out r as nem dor mem mai s, t amanha a
pr eocupao. No ent ant o, ao ouvi r em as or i ent aes mi ni st r adas
pel os homens de Deus, sur gem em seus cor aes uma esper ana de
que nem t udo est a per di do e que por i nt er mdi o da I podem
conqui st ar a pr osper i dade, mas de uma I or ma segur a, poi s quando se
t em a di r eo de Deus nos negoci os a pessoa no apenas se t or na
vi t or i osa, mas est abel ece t odas as suas conqui st as.
9 5 6
953
Id., ibid.
954
Folha Universal, Rio de Janeiro, 01 abr. 2006, p. 8.
955
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 93, p. 46, 2003.
956
Folha Universal, Rio de Janeiro, 30 mar. 2003, p. 8.
286
A IURD apresenta maiores detalhes sobre a campanha dizendo que Ioi
criada para responder a desaIios de um mundo capitalista onde impera a competitividade e
cada vez mais se torna diIicil vencer o que leva ao aumento do numero de Ialncias, pois 'a
mudana de governo e altas taxas de juros so Iazem espalhar o medo entre patres e
empregados que, desesperados com a condio econmica em que se encontram no
conseguem enxergar uma saida para os seus problemas. Entretanto, 'ha quem esteja
contrariando as estatisticas desanimadoras e alcanando vitorias Iinanceiras usando uma arma
diIerente: a I, pois - como ressalta a Igreja - 'no ha crise que resista a I dos que
participam da vigilia dos 318 pastores!
957
Lembram os lideres que muitas pessoas que
aparentemente tinham tudo para dar errado, atravs da I e da Iora de vontade, 'aprenderam
a transIormar o Iracasso em sucesso, em um momento de crise 'abriram os olhos para
visualizar outras opes. 'Onde elas aprenderam isso? perguntam, ao passo que
apresentam resposta de Iorma incisiva: 'no maior congresso empresarial do Brasil: a Reunio
dos 318, que acontece todas as segundas-Ieiras nos templos da Igreja Universal do Reino de
Deus. Acrescenta-se que:
La as pessoas apr ovei t am os moment o de I r acasso par a col ocar suas
i di as e pr oj et os em ao. Apr endem a conver t er o r evs em xi t o.
Fazem uma pont e par a seus negoci os e exer ci t am a I par a vencer . A
nuvem da cr i se que assombr a o pai s no pai r a sobr e a vi da del es
que, apos par t i ci par da r euni o dos 318 podem ver em suas vi das
r esul t ados sur pr eendent es.
9 5 8
Inegavelmente, uma das propostas mais contundentes e impactantes da
mensagem iurdiana tem sido a chamada 'teologia da prosperidade. Em seu livro, Nos
passos ae Jesus, Edir Macedo inicia seu primeiro capitulo denominado 'a origem do caos,
Iazendo a seguinte aIirmao: 'E o nosso grande desejo, atravs deste livro (...) despertar a I
do leitor, a Iim de que venha a participar de tudo o que tem direito, diante de Deus-Pai,
atravs do nome do Senhor Jesus Cristo, por obra e graa do Espirito Santo.
959
Ressalta que
o proposito idealizado por Deus que a humanidade viva em abundncia. Viver desse modo
um direito do ser humano, desde que havendo cumprido primeiro o seu papel de 'mordomo
Iiel de tudo o que lhe Iora conIiado pelo Criador, que signiIica pagar os dizimos de tudo o
que administra. No mesmo livro Macedo aIirma: 'O dizimo Ioi instituido pelo Senhor, como
uma espcie de imposto as suas criaturas.
960
Alm dos dizimos, ressalta a grande
importncia das 'oIertas voluntarias, as quais so demonstrao de amor a Deus. Havendo
957
Folha Universal, Rio de Janeiro, 23 jan. 2003, p. 8.
958
Id., ibid.
959
MACEDO, Edir. Nos passos ae Jesus. 8 ed. Rio de Janeiro: GraIica Editora Universal, 1986, p. 17.
960
Id., ibid, p. 99.
287
cumprido tais requisitos ensina Macedo - o Iiel Iica no direito de exigir algo de Deus ou
ento determinar o que deseja que a divindade lhe Iaa. Descobrir tal direito um 'despertar
da I, titulo este do primeiro livro publicado por Macedo assim como de varios programas
de radio e televiso realizados pela IURD. O usuIruto da prosperidade se caracteriza, pois,
por uma triade: ter paz espiritual, boa saude e sucesso Iinanceiro:
Quem ganha com i sso? Deus e voc, por que t endo sua r enda
aument ada, vi ver a mai s t r anqi l o e mai s I el i z, e Deus, por que voc
t r ar a mai s a Sua i gr ej a, t er a mai s di nhei r o par a usar em I avor de
out r as pessoas que est o necessi t ando ser abenoadas.
9 6 1
Sobre a idia de que Jesus teria sido pobre, Macedo reage incisivamente:
Est e um t r emendo engano. Jesus nunca I oi pobr e. El e di sse: 'Sou
o senhor dos senhor es, o r ei dos r ei s. Um r ei nunca pobr e, a
menos que est ej a dest r onado. Sendo r ei dos r ei s Jesus er a r i co. El e
vei o ao mundo na pobr eza par a sent i r na pel e o que ser pobr e, o
que vi ver na condi o mai s i nsi gni I i cant e do ser humano. Mas
Jesus no er a pobr e.
9 6 2
Segundo a mensagem da teologia da prosperidade, crer em Jesus Cristo e
tornar-se participante da igreja signiIica deixar de ser pobre, doente, azarado ou derrotado,
para ser uma pessoa rica, s, de muito sucesso social e Iinanceiro. Edir Macedo expressa bem
essa perspectiva ao aIirmar em um dos seus livros:
Ser cr i st o ser I i l ho de Deus e co- her dei r o de Jesus, dono, por
her ana, de t odas as coi sas que exi st em na I ace da t er r a;
pr opr i et ar i o de t odo o Uni ver so ( . . . ) Voc, l ei t or , her dei r o de
t odas as coi sas e na sua vi da deve r espl andecer a gl or i a do seu Pai .
Nada de se cont ent ar com a desgr aa ou a pobr eza. Levant e- se agor a
mesmo e assuma a sua posi o ( . . . ) D adeus as doenas, a mi sr i a e
a t odos os mal es, t enha um r eencont r o com Deus e assuma
novament e a sua posi o na I ami l i a Di vi na ( . . . ) Ver dadei r ament e,
um pai r i co so poder i a t er I i l hos r i cos. Se voc, ami go l ei t or , no
est a vi vendo como um abundant e I i l ho de Deus, por que ou est a
aI ast ado das or i gens da sua ver dadei r a I ami l i a, ou no quer se
apossar da her ana.
9 6 3
O pregador, em um dos cultos observados, disse: 'No adianta voc parar
na Irente de uma casa e pensar: 'Ah! Se esta casa Iosse minha!' Voc tem que dizer: 'Esta
casa sera minha, porque o Senhor vai me dar essa bno, creio nisso'.
964
Em uma de suas
entrevistas, o bispo Macedo Iaz a seguinte aIirmao: 'Nos ensinamos as pessoas a cobrar de
Deus aquilo que esta escrito |na Biblia|. Se ele no responder, a pessoa tem de exigir, bater o
961
MACEDO, Edir. Jiaa com abunaancia. 10 ed. Rio de Janeiro: GraIica Editora Universal, 1990, p. 74.
962
Revista Jefa, So Paulo, 14 nov. 1990.
963
MACEDO, E. Jiaa com abunaancia, p. 42.
964
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, set. 2004.
288
p, dizer: - 'Estou aqui, estou precisando'.
965
O depoimento de uma Ireqentadora assidua da
IURD demonstra como essas palavras ganham interatividade e ressonncia entre os Iiis:
Er a uma sext a- I ei r a, eu est ava or ando enquant o o Bi spo cl amava ao
Espi r i t o Sant o que t ocasse nos nossos cor aes. I sso no moment o
das oI er t as. Sent i o Espi r i t o Sant o ent r ar em mi m, um cal or i menso
t omou cont a de mi m, comecei a I al ar em l i nguas, em segui da, abr i
mi nha bol sa e dei t udo o que t i nha na car t ei r a ( R$ 70, 00) . Ao sai r
do t empl o, I ui a um cai xa el et r ni co sacar uma quant i a par a poder
vol t ar par a mi nha casa e par a passar o I i m de semana. Por t ent ao
do i ni mi go, par a que eu me ar r ependesse de mi nha doao, meu
car t o I i cou pr eso na maqui na e eu so o r ecuper ei na t er a- I ei r a.
Qual I oi a mi nha sur pr esa? Havi a R$190, 00 em deposi t o I ei t o pel a
empr esa que eu t r abal hava ant es de me aposent ar . Tr at ava- se de uma
di I er ena que el es I i car am me devendo. Or ei al i mesmo no Banco,
agr adecendo a Deus pel o seu I ei t o. Bem que o Bi spo nos I al ou, que
se a gent e desse t udo o que t i nha, Deus i r i a mul t i pl i car .
9 6 6
O ato de oIertar dinheiro nas praticas da IURD esta diretamente associado
ao repertorio simbolico dos Iiis, ou seja, tambm denota uma Iora cultural. Pertence a esse
repertorio o 'principio da reciprocidade e da troca, que postula os atos de aar, receber e
retribuir como elementos constitutivos das praticas religiosas, como destacado por Marcel
Mauss em seu Ensaio sobre a aaaiva.
967
Desta Iorma, o dinheiro adquire simbolismo de um
veiculo de comunicao com Deus, num universo em que nada dado ou recebido
gratuitamente. Em uma entrevista, o bispo Macedo emite a seguinte opinio sobre este
principio:
A Bi bl i a, do i ni ci o ao I i m, I al a sobr e oI er t as. A oI er t a r epr esent a
al guma coi sa. No si mpl esment e uma quest o de di nhei r o. El a
si gni I i ca amor . Quando voc ama al gum, voc da al guma coi sa a
al gum. Como expr essar seus sent i ment os por al gum? Dando- l he
al go. Abr ao quase sacr i I i cou o I i l ho par a dar esse al go a Deus. Nos
damos a oI er t a ( . . . ) Na segunda car t a aos Cor i nt i os 9: 6, o apost ol o
Paul o di z: 'o que semei a pouco, pouco t ambm cei I ar a. Eu ensi no
i sso as pessoas. De acor do com o t amanho da I , a pessoa I az a
oI er t a. Par a que al gum al cance as r i quezas de Deus, pr eci so
mani I est ar uma I . A I no Deus vi vo o mel hor i nvest i ment o que
uma pessoa pode I azer na vi da.
9 6 8
Esta relao de reciprocidade estabelecida, em que quanto mais se der mais
se recebera, ganha maior Iora ainda pelo Iato do dinheiro ser inserido num ritual, adquirindo
com isto novos signiIicados que extrapolam o aspecto monetario. O dinheiro, nas praticas da
IURD, de certa Iorma, substitui as promessas Ieitas na devoo catolica, ou ento as
oferenaas de comidas e bebidas assim como sacriIicios de animais comumente praticados nos
965
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 26 ago. 1991.
966
Maria A. S. Londrina, membro da IURD em Londrina. Depoimento concedido em out. 2004. Gravao em
K7, transcrita para uso como Ionte.
967
MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dadiva. In: Sociologia e Antropologia. V. 2. So Paulo: Atica, 1974.
968
Revista Jefa, So Paulo, 06 dez. 1995.
289
cultos aIro-brasileiros. O dizimo e as oIertas assumem o sentido de um pacto entre Deus e o
Iiel. Tal pacto no deve jamais ser quebrado, sob a ameaa de que se isso ocorrer, abrir-se-o
as 'portas para o Diabo entrar e agir na vida da pessoa. Alias, os demnios so vistos como
os responsaveis diretos por toda sorte de misria e Iracasso Iinanceiro. Assim, oIertar o
dizimo a estratgia ideal para aIugenta-lo, o que no incomum nos rituais de exorcismo
durante o culto. ConIorme se acredita, um demnio (atravs do corpo do possuido), depois de
controlado e dominado pelos pastores, costuma passar pela humilhao de ter de percorrer os
corredores do templo recolhendo os dizimos dos Iiis, pratica que signiIica sua dominao e
derrota.
O caminho obrigatorio para uma vida Iinanceira abundante Iazer uma
aliana com Deus, por intermdio de Jesus, o 'Iilho do dono. Para que essa aliana se
estabelea preciso que cada um Iaa a sua parte, isto , realize o sacrificio, que consiste em
doar para a Igreja o que a pessoa tem de mais pessoal e sagrado: o ainheiro. Esse sacriIicio,
'exigido por Deus, atinge, especialmente, aquele dinheiro reservado para outras coisas
'menos sagradas como manter a Iamilia, pagar o aluguel ou um projeto muito especial e
ansiosamente esperado. Sobre isto, Macedo declara: 'E necessario dar o que no se pode dar.
O dinheiro que se guarda na poupana para algum sonho Iuturo, esse dinheiro que tem
importncia, porque o que dado por no Iazer Ialta no tem valor para o Iiel e muito menos
para Deus.
969
Por isso mesmo, Iazer donativos para a Igreja colocar a I em ao,
provar a si mesmo, e Deus, vendo esse esIoro, agora estara obrigado a Iazer a sua parte, isto
, abenoar o Iiel. Somente assim, o cristo comea a se parecer com Cristo, pois ele teria
doado tudo em beneIicio de cada um dos pecadores. Um exemplo disso se observa nas
palavras de Edir Macedo, citadas abaixo:
Dar o di zi mo obr i gao do cr i st o, demonst r ao de seu
compr omi sso, r esponsabi l i dade e I i del i dade a Deus. Ja a oI er t a o
que deve ser oI er eci do al m do di zi mo, como uma demonst r ao
mai or ai nda de amor a Deus. A Bi bl i a nos ensi na que o amor deve
ser compr ovado por doao, como acont eceu com Jesus, que doou a
si mesmo, a sua pr opr i a vi da em I avor daquel es a quem el e amou.
Assi m, par a demonst r ar mos que o amamos, devemos oI er t ar - l he
aqui l o que exi ge de nos sacr i I i ci o. E as Escr i t ur as Sagr adas
ensi nam, no l i vr o de Mal aqui as, capi t ul o 3, que sobr e aquel e que
oI er t a al m do di zi mo, Deus abr e 'as j anel as do cu par a abenoar
e I azer pr osper ar 'sem medi da. Compar ea a i gr ej a e I aa est a
pr ova ent r egando a sua oI er t a.
9 7 0
969
Revista Isto E, So Paulo, 22 nov. 1989.
970
Ponto ae Fe. Londrina, Radio Gospel FM, 01 ago. 2005. Programa de radio.
290
Atravs do site da Igreja, num espao especiIicamente designado para
interatividade com o publico, uma Iiel da Igreja, Sandra Oliveira, de Porto Alegre RS, Iaz
um pedido de esclarecimento: 'Bispo, meu nome Sandra, estou na IURD ha trs anos, sou
Iiel a Deus nos dizimos e nas oIertas, porm tenho uma duvida: sempre participo da Fogueira
Santa e vejo os bispos e pastores dizerem que a pessoa que sacriIica o tudo no precisa tirar o
dizimo. Pois bem, pelo que entendo, na Biblia esta escrito que de tudo que passa pelas nossas
mos devemos devolver o dizimo. Por Iavor, oriente-me, pois no quero permanecer com
essa duvida. O Bispo Alceu Nieckarz responde, apresentando a seguinte explicao:
'Prezada Sandra: O dizimo, 10, pertence a Deus, e o entregamos no altar como devoluo.
Os 90 restantes pertencem a pessoa. Assim, a oIerta sacriIicial, signiIica a pessoa entregar
num ato de I tambm este valor que lhe pertence. Que Deus a abenoe.
971
Edir Macedo detalha ainda mais esta explicao aIirmando que, ao
contrario do que acontecia no Antigo Testamento, hoje no precisamos mais realizar
sacriIicios de animais. Porm, no Novo Testamento as oIertas e os sacriIicios no cessaram e,
assim, ao invs da oIerenda de animais e produtos da terra, passa-se a oIertar agora o
resultado do trabalho, que o dinheiro:
Os di zi mos e oI er t as so manei r as pel as quai s hoj e r eal i zamos
sacr i I i ci os. O di nhei r o que ent r egamos a i gr ej a r esul t ado do nosso
t r abal ho e r epr esent a par t e do t empo no qual gast amos a nossa vi da
par a obt - l o. Nesse aspect o o di nhei r o um pouco de nos mesmos
que deposi t amos no al t ar do Senhor .
9 7 2
Prossegue dizendo que muitos criticam a oIerta que dada com a inteno
de se receber algo em troca. Lembra que Deus, na realidade, 'no precisa de nada, pois
dono de tudo, no entanto, quando estabelece este tipo de relacionamento com o ser humano
esta 'se preocupando com a sua obra na terra, que necessita da assistncia da sua criatura. E,
recorrendo a Biblia, observa que 'uma das mais importantes oIertas a do dizimo, e que no
texto Malaquias 4 se aIirma que quando se oIerta ha uma recompensa. 'Essa relao de troca
o proprio Deus que estabelece ressalta.
973
Essa mensagem da Igreja reIerendada pelos
Iiis. Angela Maria da Conceio, 49 anos, empresaria no ramo de cosmticos, declara:
'Tudo comeou a mudar na minha vida Iinanceira quando cheguei a Igreja Universal e
descobri que quanto mais nos damos a Deus, muito mais Ele nos da. E algo reciproco.
974
971
A IURD mantm em seu site oIicial um espao para que qualquer pessoa possa esclarecer duvidas ou receber
orientao espiritual. Http://www.arcauniversal.com.br Acesso em: 12 mar. 2006.
972
MACEDO, Edir. Doutrinas aa Igrefa Universal ao Reino ae Deus. V. 2, p. 34, 36.
973
Folha Universal, Rio de Janeiro, 01 nov. 1998, p. 6.
974
Folha Universal, Rio de Janeiro, 09 abr. 2006, p. 9.
291
Para a teologia da prosperidade os Iiis so colaboradores da vontade
divina, e 'o dinheiro uma Ierramenta sagrada usada na obra de Deus.
975
Em entrevista
concedida a revista Jefa, Macedo tambm aIirma que o 'dinheiro o sangue que sustenta a
igreja e que, por isso, ao oIerecer a 'casa de Deus o seu dizimo, o cristo esta como que
oIerecendo metaIoricamente o seu proprio sangue, substncia que a igreja precisa para a sua
expanso. O bispo tambm acrescenta que 'quando pagamos o dizimo a Deus, Ele Iica na
obrigao (porque prometeu) de cumprir a sua Palavra, repreendendo os espiritos
devoradores que desgraam a vida do homem.
976
Ocorre, ai, uma espcie de contrato que
estabelece Deus como um socio:
Deci da- se agor a mesmo. D adeus as doenas, a mi sr i a e a t odos os
mal es, t enha um r eencont r o com Deus e assuma novament e a sua
posi o na I ami l i a de Deus ( . . . ) A vi da abundant e que Deus, pel o
seu gr ande amor , nos gar ant e at r avs de Jesus Cr i st o, i ncl ui t odas as
bnos e pr ovi ses de que necessi t amos, ou mesmo que venhamos a
desej ar ( . . . ) No per ca a opor t uni dade de ser soci o de Deus.
Col oque- se a sua di sposi o com t udo o que voc t em e comece a
par t i ci par de t udo o que Deus t em. ( . . . ) O di nhei r o, que humano,
deve ser a nossa par t i ci pao, enquant o que o poder espi r i t ual e os
mi l agr es, que so di vi nos, so a par t i ci pao de Deus ( . . . ) Dar o
di zi mo candi dat ar - se a r eceber bnos sem medi da ( . . . ) quando
pagamos o di zi mo a Deus, El e I i ca na obr i gao de cumpr i r a Sua
Pal avr a.
9 7 7
Segundo essa teologia, todos os Iiis ao se converterem so reconhecidos
como 'Iilhos de Deus e, como tais, portadores do legitimo direito de receber todas as coisas
materiais criadas e terem xito em todos os seus empreendimentos. Por isso Edir Macedo Iaz
um alerta: 'nunca oua a voz dos inimigos de Cristo, que colocam mensagens demoniacas,
aIirmando que o dinheiro mau, que a riqueza diabolica ou coisas semelhantes a estas.
978
Entretanto, ha aqueles que ainda no receberam tais beneIicios, continuando a enIrentar
adversidades, misria, pobreza, doena, soIrimento. Isso ocorre porque a I do convertido
inaugura a chamada 'batalha espiritual contra o Demnio, o qual deseja Iazer com que os
crentes duvidem de Deus ou dele se aIastem. Assim, entre a prosperidade a que o Iiel tem
direito desde a sua converso e a sua vida presente interpem-se as Ioras do Mal, e para
combat-las que a Igreja Universal disponibiliza aos Iiis os ritos em seus cultos, dando-lhes
condies de alcanar a desejada prosperidade. Com esse discurso, a IURD revisita, em
parte, elementos da tica protestante que considera o dinheiro, o lucro e os bens materiais
como sinais de bnos e at ser este o desejo de Deus para o crente, como analise Ieita por
975
Ibid, p. 75.
976
Revista Jefa, So Paulo, 14 nov. 1990.
977
Ibid, p. 76.
978
MACEDO, Edir. Jiaa com abunaancia, p. 43.
292
Max Weber em relao a determinados segmentos do protestantismo surgidos com a
ReIorma do sculo XVI.
979
Segundo analise weberiana, os bons Irutos adquiridos pela tica
do trabalho eram vistos como prova da eleio divina dos seus Iilhos que, ao terem xito em
seus negocios, certiIicavam-se de serem objetos da graa divina. Mas na conIigurao e no
alcance notabilizados nas praticas iurdianas tal proposta ganha novas perspectivas. O que se
constata que a aquisio de riquezas materiais no mais se da pelo ascetismo, rompe-se com
tal categoria e o acesso aos bens materiais se da pelo caminho do simbolico, do elemento
mistico. Agora, o acesso a tais bens percorre um caminho mistico, de 'sobrenaturalidade,
viabilizado pelos ritos magicos da igreja. E, mais, a prosperidade material sintoniza-se com
regras do mercado: um lance maior de oIerta corresponde a uma maior recompensa, quanto
mais se oIerece a igreja mais se recebe de Deus. A mediao do trabalho no mais aparece.
Dessa Iorma, notadamente a IURD, em seu discurso e organizao do
universo da crena, consegue promover a compatibilidade da religio com o sistema
capitalista. O xito alcanado por essa Igreja sem precedentes. Deus visto como uma
espcie de provedor de benesses e prosperidade material para os Iiis. ConIorme esse modelo
de pensamento, todo cristo consagrado tem o direito de 'exigir de Deus uma vida
Iinanceiramente agradavel, ja que adquiriu a posio de legitimo 'Iilho do Rei. Descrever os
bens desejados, como casa, carro, ou outra Iorma de consumo, tornou-se uma pratica comum
entre os evanglicos. Se os cristos soIrem diIiculdades Iinanceiras porque no Iazem
oIertas suIicientes para a obra de Deus. Essa , portanto, a lei do retorno 'cem vezes maior.
A regra espiritual das Iinanas ento seria: se a pessoa quer mais, ela precisa dar mais: 'Se
algum deseja grandes coisas, deve ter I na mesma proporo. As bnos vm pela I, mas
voc so pode colher caso plante aIirma Macedo.
980
Edir Macedo utiliza a expresso 'o direito de cobrar para se reIerir a
condio adquirida por aquele que dizimista: 'Quem tem o direito de cobrar de Deus aquilo
que Ele prometeu? O dizimista! Uma das grandes razes porque devemos dar o nosso dizimo
esta. Utiliza ainda como ilustrao de seu argumento alguns nomes Iamosos:
'Conhecemos muitos homens Iamosos que provaram a Deus com respeito ao dizimo e se
transIormaram em grandes milionarios, tais como o Sr. Colgate, o Sr. Ford e o Sr. Caterpilar.
Homens como estes que alm dos negocios e do acumulo de riquezas se preocupam com a
Iidelidade a Deus, tendem a ser abenoados cada vez mais.
981
979
WEBER, M. A etica protestante e o espirito ao capitalismo, p. 122ss.
980
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 74, 2001.
981
MACEDO, Edir. Nos passos ae Jesus, p. 64.
293
A Iigura do Diabo tambm de grande importncia para este modelo de
mensagem. Com isso, seguir corretamente a orientao do lider assegurar-se de proteo e
livramento da ao demoniaca caracterizada pela crise Iinanceira, doena e outras Iormas de
adversidade. O lider tem a autoridade para 'quebrar as obras do inimigo e impedir a 'ao
do devorador - costumam ressaltar os Iiis. Sobre o dinheiro nas mos de pessoas 'sem
Deus no corao, o bispo Macedo adverte que 'o dinheiro tambm pode trazer desgraa, e
cita exemplos com a autoridade de quem ja conviveu com o setor de loterias: 'ha pessoas que
Iicaram ricas da noite para o dia com loterias e para elas as coisas no terminaram bem. E
acrescenta: 'Por que isso? Porque aquele dinheiro carecia de uma sustentao biblica, no
tinha legitimidade espiritual.
982
De igual modo, 'quem conquista bnos, mas no
estabelece um compromisso srio com o Abenoador, acaba sempre voltando a estaca zero
lembra o bispo.
983
Assim, observa-se a estreita relao entre o Iato de possuir bens materiais
estar diretamente vinculado ao campo do 'espiritual.
De acordo com Bourdieu, no campo as relaes de transao ligam os
diIerentes agentes especializados a grupos sociais. Assim, numa sociedade de dominantes e
dominados, os que pertencem as classes dominantes tendem a pedir a religio que legitime
sua dominao e seu bem-estar material. Ja os grupos dominados tendem a recorrer aos
agentes religiosos para a superao imediata de algum tipo de soIrimento, ou para encontrar a
esperana de libertar-se de sua opresso em um Iuturo no muito distante. Nesse sentido, os
exemplos de Weber 'procuram mostrar a religio como garantia e proteo, justiIicao e
legitimao de interesses econmicos e sociais: a proteo de bens materiais, proteo da
propriedade, proteo das barreiras sociais etc.
984
O evangelho da prosperidade tem eIicazmente conseguido seduzir os Iiis
na busca de ascenso Iinanceira e social. Nos depoimentos que do, os lideres iurdianos no
escondem o orgulho de ver as igrejas sob seu comando prosperarem Iinanceiramente. A
Folha Universal e a Revista Plenitude citam inumeros depoimentos de pessoas que
participam das campanhas pela prosperidade, destacando que 'muitos empresarios,
microempresarios, proIissionais liberais e desempregados, sem encontrar soluo para seus
problemas Iinanceiros 'chegam a pensar em suicidio, mas os que 'aprendem a viver pela I
descobrem que possivel ser um vitorioso. E o caso de Mauricio Ferreira. Aos 35 anos,
982
O Globo, Rio de Janeiro, 29 abr. 1990.
983
Folha Universal, Rio de Janeiro, 09 Iev. 2003, p. 2.
984
MICELI, Srgio. A Iora do sentido. In: BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas. Op. cit, p. LII,
LIII.
294
empresario, tinha uma vida Iinanceira estavel, em Brasilia, quando 'de uma hora para outra
tudo comeou a desmoronar:
De r epent e, as vendas comear am a cai r em mi nhas duas
r evendedor as de aut omovel e t i ve que I echa- l as. Cont r ai di vi das
al t i ssi mas, t i ve bens penhor ados, cheques devol vi dos e per di o
i movel em que eu mor ava. Os oI i ci ai s de Just i a vi vi am em mi nha
casa. Eu est ava no I undo do poo e no consegui a enxer gar uma
sol uo. Desesper ado, cheguei ao pont o de t ent ar o sui ci di o. Foi
quando r esol vi pr ocur ar a I gr ej a Uni ver sal mai s pr oxi ma no ansei o
de achar uma sai da, poi s ouvi a I al ar da I URD e dos i numer os
mi l agr es que l a acont eci am. No moment o em que cheguei na I gr ej a o
past or I al ou al go que I oi di r et ament e par a mi m: voc que t ent ou a
mor t e o Senhor Jesus est a I al ando que sua vi da t em j ei t o e El e quer
muda- l a` . Pensei , se esse Deus exi st e ent o vou mudar . Daquel e di a
em di ant e par ei de quest i onar o que o homem de Deus I al ava. O que
Deus t em I ei t o em mi nha vi da num cur t o per i odo chega a ser
i nacr edi t avel par a mui t as pessoas. Ja adqui r i t r s i movei s, ent r e
el es uma cober t ur a, al m de car r os i mpor t ados. Tenho consci nci a
de que t odas as mi nhas conqui st as so pel a I , I r ut o da par t i ci pao
nas r euni es e, aci ma de t udo, da mi nha I i del i dade a Deus. Venci
por que apr endi na r euni o dos 318 a t er vi so de coi sas gr andes.
9 8 5
O testemunho de Odair Ribeiro de Siqueira, proprietario de uma
conceituada Iabrica de brinquedos, tambm apresentado como exemplo de sucesso
alcanado:
Cheguei a i gr ej a com mi nha vi da I i nancei r a ar r ui nada. Est ava numa
si t uao di I i ci l , em t ot al decadnci a I i nancei r a, com 275 cheques
sem I undos, 95 t i t ul os pr ot est ados e uma di vi da que aos ol hos
humanos er a i mpagavel , embor a t r abal hasse nesse r amo ha 16 anos.
Vej am em que condi o I i quei : um empr esar i o com mai s de 100
I unci onar i os chegou ao pont o de no t er condi es de compr ar 1
qui l o de mat r i a pr i ma par a I abr i car . Meu cont ador aconsel hou- me
ent o a encer r ar a empr esa, mas t udo i sso mudou quando t omei
conheci ment o das r euni es que acont eci am na Uni ver sal ,
especi al ment e a vi gi l i a dos 318 past or es, at r avs da qual apr endi a
agi r com a I , al i ada a i nt el i gnci a e, cl ar o, com a ao. Deus I oi
abr i ndo as por t as gr adat i vament e de I or ma que I ui qui t ando as
di vi das com os I or necedor es e hoj e t enho pr osper ado.
9 8 6
De igual modo, a empresaria Ana Lucia Valente, 38 anos, descreve a sua
participao nesta campanha:
Por t r s vezes r esol vi abr i r meu pr opr i o negoci o, em r amos
di I er ent es, mas no deu cer t o. Sem expl i cao, t odos I al i r am em
pouco t empo me dei xando em si t uao econmi ca mui t o mai s
compl i cada, por que as di vi das se mul t i pl i car am. Pensava at em
comet er sui ci di o. Est ava mui t o angust i ada quando assi st i a
pr ogr amao da I URD pel a t el evi so e sem per ceber consegui t er
uma boa noi t e de sono, o que no acont eci a a al gum t empo. Por i sso
r esol vi i r a i gr ej a. Me l ancei nas mos do Senhor Jesus e cl amei
com t odas mi nhas I or as pel a t r ansI or mao da mi nha vi da. A
r espost a no demor ou. Mont ei um negoci o no r amo de
985
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 93, p. 46, 2003.
986
Id., ibid.
295
comput ador es, o qual t em pr osper ado mui t o. Hoj e possuo t r s l oj as
no r amo da i nI or mat i ca.
9 8 7
Mas no somente empresarios ou micro-empresarios testiIicam sobre as
experincias obtidas nos ritos de prosperidade. Roberto Tavares de Souza, 46 anos, membro
da Catedral Mundial da F, conta que chegou a Igreja Universal com varias diIiculdades
Iinanceiras, e a primeira reunio que Ireqentou Ioi a sesso espiritual de descarrego, onde
Iicou 'livre da opresso dos espiritos imundos. 'Participo desde junho da Reunio dos 318
Pastores, e neste ms entre outras coisas, consegui adquirir um automovel zero quilmetro
destaca.
988
Deuza G. Coutinho, 56 anos, relata que durante sua juventude deixou o serto
nordestino para tentar a vida na cidade grande. Ao chegar em So Paulo deparou-se com a
dura realidade. Sem trabalho e moradia acabou se instalando debaixo de um viaduto na
regio central da capital paulista. 'Nem cobertor eu tinha para passar minha primeira noite na
rua - relembra emocionada. 'Embora eu estivesse numa situao horrivel e deprimente,
dentro de mim havia uma certeza de que eu, um dia, iria mudar de vida e que aquela situao
seria revertida. Eu olhava para o cu e dizia: Deus! Vim para So Paulo para vencer e no
para ser mendiga. Foi quando a IURD surgiu em sua historia de vida: 'Um dia avistei um
local com uma pomba desenhada na Irente e pensei tratar-se de um lugar que tivesse alguma
relao com o nordeste. Entrei e disse que queria Ialar com o responsavel. Era uma Igreja
Universal - conta. Apos conversar com o pastor ela saiu dali com os sonhos renovados: 'Ele
me disse para procurar um emprego. No inicio achei que aquele homem no tinha juizo. Eu
estava maltrapilha e suja, quem iria me atender? Mas ainda assim, voltando para debaixo da
ponte me senti renovada. Havia muito tempo que eu so ouvia palavras de derrota por isso me
apeguei a palavra do pastor. Com aquele incentivo, Iui a um restaurante e perguntei se tinha
trabalho, o dono me respondeu que se eu estivesse limpa haveria sim. Fui ao viaduto, peguei
uma lata de agua e joguei por cima do corpo. Esse era meu banho - revela. Comeou
lavando a calada do estabelecimento e, durante este periodo, 'participava da reunio dos
318 na IURD as segundas-Ieiras. Vendo o empenho de Deusa, seu patro lhe cedeu um
quarto com banheiro no Iundo do restaurante. Deusa se empenhou e paralelamente concluiu
seus estudos. Com muito trabalho e dedicao ao ramo de beleza e esttica, abriu um salo.
Hoje, ela proprietaria de uma clinica de beleza que leva seu nome e esta localizada no
bairro do Morumbi, uma regio nobre da cidade de So Paulo. 'Eu no tinha nada. So
987
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 90, p. 31, 2002.
988
Folha Universal, Rio de Janeiro, 23 out. 2003, p. 8.
296
precisei de uma palavra de incentivo e exercitei a minha I para ir adiante e conseguir as
portas - comemora.
989
Semelhantemente, Maria Aparecida Souza de Oliveira testemunha que
chegou a IURD com a vida destruida: 'Fui abandonada por meu marido, mas no podia
trabalhar, pois tinha que cuidar de um dos meus Iilhos que estava acidentado. Sem saber de
onde tirar dinheiro, a unica saida que encontrei Ioi a de ir as ruas e pedir esmolas. Nessa
poca Ioi ento convidada a participar de uma reunio na Igreja Universal e, na vigilia dos
318, desaIiada com as palavras do pastor: 'Deus no nos chamou para a derrota, mas nos deu
a I para resolver os problemas. O que se seguiu a isto descrito em tom miraculoso:
'Recebi oraes do pastor e com o tempo todas as portas se abriram e comecei a trabalhar,
conseguindo pagar todas as dividas. Hoje sou empresaria, tenho casa propria, carro e posso
comprar tudo o que desejo.
990
A teologia iurdiana sobre prosperidade atribui ao Demnio toda a
responsabilidade pela misria e soIrimento. Do material coletado pelas pesquisas de campo,
um Iolheto trazia o seguinte anuncio:
OS EXTERMI NADORES DE RI QUEZAS: ASSOLAO DOS
GAFANHOTOS DO I NFERNO. | Fi gur as r epr esent ando gaI anhot os
ameaando dest r ui r a casa, o car r o, di nhei r o e j oi as| . Cada t i po de
gaI anhot o r epr esent a uma l egi o de demni os que age na vi da do
homem, em seu pat r i mni o, suas r i quezas, bens, sal ar i os e I ami l i a.
Par t i ci pe dest a cr uzada vencendo os ext er mi nador es de r i quezas.
Deus devol ver a t udo aqui l o que o di abo t omou de voc. Nest a
segunda- I ei r a, as 14 e 19: 30 hor as. Par t i ci pe!
9 9 1
Em um dos templos da IURD, no dia e hora marcados pelo convite acima,
realizou-se uma observao participante de uma campanha voltada a prosperidade.
992
O culto
teve inicio com a entoao de cnticos que enIatizavam a 'guerra espiritual contra o
Demnio. Em seguida, passou-se a leitura do texto biblico de EIsios 2:1-7, cuja nIase dada
pelo pastor era a de que 'atravs de Jesus podemos ter acesso a riqueza, porque esta escrito, a
misria do diabo. A todo instante o pastor procurava Iundamentar seus argumentos no
texto biblico. Alm de proceder a leitura em voz audivel, com entonao enIatica nas
palavras que pretendia destacar, tambm instigava os ouvintes a repetir as Irases do texto
biblico, durante a pregao de aproximadamente vinte e cinco minutos. Ao Iinal, o pastor
disse: 'Deus colocou um alvo |oIerta| em meu corao para atingir nesta tarde. Logo apos,
Ioram distribuidos envelopes de dizimos para quem quisesse ajudar. Em seguida, passou a
989
Folha Universal, Rio de Janeiro, 09 Iev. 2006, p. 08.
990
Id., ibid.
991
Folheto divulgado pela IURD, recolhido para pesquisa em Londrina, em 2004.
992
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, ago. 2005.
297
Iazer o apelo, enumerando valores em escala decrescente a ser oIerecido. Primeiro, pediu aos
que gostariam de oIertar cinco mil reais, depois por etapas reduzindo os valores: mil reais,
quinhentos, cem, cinqenta, dez e, Iinalmente, cinco. A cada apelo, ressaltava: 'O Diabo
contra a doao, no deixe que ele Iique cochichando ao seu ouvido.... Encontrando certa
diIiculdade para atingir o seu alvo Iinanceiro, indagou em tom apelativo: 'Vamos sair daqui
derrotados? Quem no prospera porque no tem coragem de dar um passo de I. E,
ilustrando, ressaltou: 'Se voc no tiver coragem de saltar, o para-quedas no abre! Apos
todas estas etapas cumpridas, o pastor Iinalmente dirigiu-se ao publico com entusiasmo:
'Irmos, alcanamos nosso alvo!
A segunda modalidade de ritos visando a prosperidade envolve
peregrinaes a Terra Santa, mediante a campanha denominada 'Iogueira santa de Israel.
993
De acordo com o bispo Macedo, essa campanha 'serve para tornar possivel em sua vida
aquilo que impossivel. Esse o proposito. No para dar o seu dinheiro ou a sua oIerta
para a igreja. O objetivo determinar que coisas grandes, magniIicas aconteam na vida
daqueles que acreditam que aquilo que Deus prometeu verdade. O Bispo explica porque
necessario levar os pedidos das pessoas para Israel: 'Esse pais disputado por muulmanos,
cristos e judeus, no por causa de ouro, petroleo ou pedras preciosas. O produto mais Iorte
de Israel se chama I, por causa dela ha um desenvolvimento no turismo. O mundo inteiro vai
a Israel, pois quer sentir naquela terra o que os proIetas do passado sentiram. Israel representa
a existncia de Deus nos dias de hoje. Por que no Ioi construido como os demais paises.
Israel nasceu por obra do proprio Deus no corao de Abrao. Deus escolheu aquele lugar,
separado de todos os demais lugares, para que Iosse santo, sagrado, para que tivesse um povo
que no Iosse semelhante aos demais povos pagos. At hoje, tudo naquele lugar leva para a
I do Deus de Abrao, de Isaque e de Jaco. A vida abundante o resultado que essa I
produz. E pela I que voc ira prosperar. E a I que tornara todos os seus sonhos em realidade
e trara cura a todas as enIermidades, independente de sua gravidade. Esse o sentimento que
Iaz a pessoa ser parceira de Deus, ento no tera inimigo que possa barrar seu caminho de
conquistas.
994
Na entrada do ano 2000, a IURD realizou uma grande campanha
denominada 'I e sacriIicio no monte de Deus. Exatamente a meia-noite do dia 31 de
993
As caravanas da IURD a Terra Santa tiveram inicio em 1995. No primeiro grupo havia 52 peregrinos. 'O
objetivo maior reIazer os passos de Jesus Cristo, caminhando exatamente pelos mesmos locais nos quais Ele
esteve destaca a Igreja. Ja naquela poca a IURD conseguiu 'levar milhares de Iiis a Israel, cI. Folha
Universal, Rio de Janeiro, 27 nov. 2005, p. 1.
994
Folha Universal, Rio de Janeiro, 04 dez. 2005, p. 2.
298
dezembro, os bispos, representando as IURD de todo o mundo, iniciaram o chamado
sacriIicio da subida ao Monte Sinai, o monte de Deus. Ao mesmo tempo, os templos das
igrejas Iicaram super-lotados com a presena dos Iiis. A IURD explica o signiIicado desse
rito: 'No monte que o Senhor escolheu para Iazer aliana com o povo de Israel, entregando a
tabua com os 10 mandamentos a Moiss, os bispos clamaro por vitoria, para todo o povo
evanglico e entregaro seus pedidos. Estaro enIrentando para isso uma subida diIicil, em
terreno acidentado, podendo encontrar uma temperatura que nesta poca do ano atinge
indices abaixo de zero. A escalada deve demorar de duas horas e meia a trs horas. E
verdadeiramente um sacriIicio. Mas Israel tambm teve que se sacriIicar antes de Iazer uma
aliana com Deus. Nos vamos subir o monte e voltaremos com a certeza da vitoria.
995
Destacando que o proposito dos bispos que sobem o Monte Sinai 'trazer
libertao, conIorto e a presena de Deus ao povo, Macedo incisivo no desaIio que
apresenta: 'Meu amigo, esta subida do Monte Sinai para mudar a sua vida. Nos vamos
levar o seu pedido, a sua suplica ao mesmo lugar em que Moiss esteve a cobrar de Deus
suas promessas e exigir que Ele nos use assim como usou muitos proIetas em suas
respectivas pocas. Ele o mesmo Deus e assim como respondeu a todos os proIetas a de nos
responder em nome de Jesus.
996
Como resultado do sucesso obtido nesses ritos da Iogueira santa, a Folha
Universal cita inumeros testemunhos, como o do casal Jos e Luiza, comerciantes em So
Paulo: 'Quando abrimos o nosso comrcio no Ioi Iacil, Ioram muitas lutas, inclusive o local
era alugado. 'Determinei que comprariamos o imovel, ento participamos do proposito da
fogueira santa, e Iizemos o nosso voto com Deus, que nos respondeu. Recebemos uma
proposta de compra do imovel e mesmo sem condies Iinanceiras conseguimos Iechar o
negocio. O nosso restaurante Iica em local privilegiado, temos um movimento muito bom,
que me da um padro de vida como nunca tive antes. Tudo que quero posso comprar.
Agradeo a Deus e ja estou me preparando para a proxima Iogueira aIirma Luiza.
997
Alenir Mioto, 47 anos, decoradora, de Curitiba, conta que apos passar por
situaes de Iracasso Iinanceiro e ter perdido muitos bens, chegou a buscar ajuda em varias
religies, 'inclusive em casa de encostos, mas nada resolvia lembra. Foi quando conheceu
a Igreja Universal e comeou a participar da campanha da Iogueira santa: 'Mesmo no
entendendo direito me lancei em busca dos meus objetivos. Os resultados Ioram
995
Folha Universal, Rio de Janeiro, 27 dez. 2005, p. 7.
996
Folha Universal, Rio de Janeiro, 11 jul. 2004, p. 3.
997
Folha Universal, Rio de Janeiro, 27 dez. 2005, p. 7.
299
surpreendentes. Conseguimos comprar um sobrado com trs pisos, carro zero, uma loja de
decorao. Depois de mais algum tempo compramos mais um sobrado que esta em
construo. Todos os meus sonhos Ioram realizados na Iogueira santa, mas o maior deles Ioi
a conquista da paz interior, restaurao Iamiliar e a compra de meu sobrado Iinaliza
Elenir.
998
O depoimento de Francisco Alves da Silva, 42 anos, tambm segue a
mesma nIase:
Quando passava por mui t as di I i cul dades I i nancei r as, I ui convi dado
a par t i ci par de uma r euni o na I gr ej a Uni ver sal . Ao acei t ar o
convi t e per cebi que havi a al go de er r ado, que meu soI r i ment o er a
causado por espi r i t os mal i gnos. Deci di ent o l ut ar par a a mi nha
l i ber t ao t ot al e no mai s acei t ar vi ver na mi sr i a. Hoj e mi nha
I ami l i a est a compl et ament e l i ber t a, nunca mai s passamos por
necessi dades e est amos conqui st ando as bnos de Deus.
9 9 9
4.3.2 - Corrente do descarrego: o mal e suas representaes nas prticas
iurdianas
O anuncio apresentado a seguir demonstra o amplo alcance do universo
simbolico vivenciado pela IURD:
SESSO ESPI RI TUAL DE DESCARREGO! Se voc vi t i ma de um
encost o de vi ci os, doenas, mi sr i a, separ ao conj ugal , VENHA
RECEBER A LI BERTAO NA PRECE DO DESCARREGO, aonde
DEUS, que o pai das l uzes, vai i l umi nar seus cami nhos! Voc
r eceber a gr at ui t ament e a Rosa do Descar r ego. Col oque- a num
ambi ent e onde exi st e um encost o par a que a mal di o sej a quebr ada.
Par t i ci pe t ambm da campanha da ar r uda cont r a os maus espi r i t os na
ul t i ma sext a- I ei r a do ms. Temos a or ao de descar r ego com
ar r uda, uma or ao I or t e, mui t o I or t e par a a sua vi da. Sext a- I ei r a,
as 15 e 19: 30 hor as. Rua Br asi l , 553, cent r o. Se pr eci sar , l i gue par a
o SOS Espi r i t ual : ( 43) 3344- 3557.
1 0 0 0
Na mensagem acima aparecem elementos que conIiguram a magia dos
simbolos (arruda, rosa ungida), dos rituais (encosto, sexta-Ieira, descarrego
1001
) e dos lugares
998
Id. ibid.
999
Folha Universal, Rio de Janeiro, 30 jul. 2000, p. 11.
1000
Folheto publicado pela Igrefa Universal ao Reino ae Deus, de Londrina, recolhido para pesquisa em Janeiro
de 2004. A divulgao destes rituais tambm se Iaz diariamente, em nivel nacional, atravs de programaes
diaria de radio e TV, como registro Ieito, por exemplo, no dia 22/03/04: O Despertar aa Fe. So Paulo, Rede
Record, 22 mar. 2004. Programa de TV. Ponto ae Lu:. Londrina, Radio Atalaia AM, 22 mar. 2004. Programa
de radio.
1001
Uma edio re-signiIicada do ebo, que, nos cultos aIro-brasileiros, consiste num ritual de limpeza para
descarregar o individuo de energias estranhas, que sobrecarregando o individuo, podem provocar desequilibrios
que resultam em doenas Iisicas ou psiquicas ou, de modo geral, em empecilho a realizao de seus projetos e
suas tareIas cotidianas. CI. MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o prinvado. In:
SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit., p. 151, 152.
300
onde ocorrem as maniIestaes taumaturgicas (templos). Fala-se em crena na inveja, mau-
olhado, praguejamento, simpatias, benzimento, apego a objetos como Ietiches e amuletos.
A campanha de 'descarrego consiste num dos ritos Iundamentais
apresentados pela Igreja para quem deseja superar a condio mais proIunda de soIrimento e
de Iracasso:
Se a pessoa admi t e que a sua vi da est a um i nI er no, por que exi st e a
at uao do mal i gno, e com essas pal avr as el a da I or as aos
encost os. O mal quando ent r a na vi da de uma pessoa usa t oda a
I or a par a dest r ui r o ser humano, por i sso, quem par t i ci pa da Sesso
do Descar r ego, t em que usar a I or a que vem de Deus par a vencer
deI i ni t i vament e os encost os.
1 0 0 2
Um panIleto, apresentando como slogan 'venha libertar-se dos encostos!, da detalhes sobre
o que a IURD entende por tal expresso:
Encost o uma I or a espi r i t ual negat i va que se apr oxi ma das pessoas
causando soI r i ment o, t r anst or no, conI uses, vi r ando a vi da do
avesso do di a par a a noi t e como num pi scar de ol hos. O I ei t i o, a
i nvej a, o ol ho- gr ande so os mei os mai s comuns de se l anar um
encost o em al gum. Se voc t em vi ci os, i nsni a, depr esso,
ner vosi smo, dor es de cabea const ant es, desmai os ou at aques, v
vul t os, ouve vozes, t em desej os de mor r er ; se t udo t em dado er r ado
pr a voc . . . Ha um encost o em sua vi da!
1 0 0 3
No inicio de suas atividades no Brasil, essa Igreja costumava empregar
publicamente em seus ritos os nomes das divindades pertencentes as crenas aIro-brasileiras
para identiIica-las com demnios: Exu, Tranca-rua, Maria Padilha, Preto Velho, Pomba-Gira
etc. Porm, devido a intensos conIlitos e processos na Justia movidos por estes segmentos
religiosos contra a IURD, o movimento passou a generalizar os nomes com o termo
'encosto. Por isso tambm a Igreja, ao invs de usar as expresses 'mes ou pai-de-santo,
para se reIerir aos lideres de terreiros de cultos aIro, identiIica-os, agora, por 'me ou pai-de-
encostos.
O poder concedido por Deus sobre o mal se da especialmente por meio dos
exorcismos dos demnios e da cura divina. Todos os problemas tm soluo, sendo que
praticamente todos tm sua explicao na presena de algum, ou geralmente, muitos
demnios. Para isto atuam os pastores e obreiros da IURD, como os que podem exercer o
devido poder da I para curar e libertar da Iora dos demnios os que recorrem a Igreja.
A teologia iurdiana pressupe que todos os Iilhos de Deus tm direito de
usuIruir as melhores riquezas e uma condio de vida sem inIortunios. E se isto no ocorre
1002
Folha Universal, Rio de Janeiro, 02 abr. 2006, p. 21.
1003
Folheto publicado pela Igreja Universal do Reino de Deus, recolhido para pesquisa em 2004.
301
porque existe um adversario que o impede: o Diabo e seus demnios. Por isso o Iiel precisa
tomar conhecimento disto e engajar-se numa batalha espiritual para vencer o inimigo. A
participao nos ritos oIerecidos pela igreja o 'modo como o Iiel trava esses inIindaveis
combates, mediante o que se desvendam 'as Iiguras do sagrado por tras das quais o Maligno
revela sua ao destaca Maria Lucia Montes, que acrescenta:
Os cul t os da I gr ej a Uni ver sal se povoam de I ei t i os e macumbar i as
de exus e pomba- gi r as, de t r abal hos da di r ei t a ou da esquer da, de
or i xas mal vol os e I al sos sant os, de benzi ment os, r ezas, paj el anas
e oper aes espi r i t uai s, al m de I al sas pr omessas de pai s- de- sant o
de umbanda e candombl ou beat os mi l agr ei r os que enganam um
povo i ncr dul o e i gnor ant e.
1 0 0 4
A Universal ressalta que ' comum encontrar pessoas soIrendo com
depresso, desejo de suicidio, insnia, Iamilia destruida, vida Iinanceira arruinada, vicios,
enIim, problemas que no conseguem solucionar, as quais, em alguns casos, chegam a
'gastar Iortunas com especialistas sem contudo descobrir as 'causas de determinadas
doenas ou to pouco obter a cura. Isto ocorre pelo Iato de estarem sendo 'vitimas de
espiritos malignos, encostos que tm como unico objetivo devastar a vida do ser humano,
direcionando ao Iracasso. Com o intuito de combater esses encostos e os males por eles
causados que se realiza a sesso espiritual de descarrego: 'Durante essas reunies, uma
guerra espiritual travada atravs da I no Senhor Jesus e de oraes em Iavor a dar um basta
em tanta humilhao.
1005
O anuncio, a seguir, descreve com mais detalhes a dimenso dos
males que a Igreja se prope solucionar:
Par t i ci pe da SEXTA- FEI RA FORTE! Se Deus por nos, quem ser a
cont r a nos! ! ! ? Exi st em 10 si nt omas de possesso demoni aca: dor es
de cabea; vi ci os; i nsni a e ner vosi smo; per t ur bao; desmai os
const ant es; medo; depr esso; audi o de vozes e vi ses; doenas
sem di agnost i cos; desej os de sui ci di o. No i mpor t a qual a sua
r el i gi o, Deus vai abr i r seu cami nho, mar que com um X o seu mai or
pr obl ema e voc dever a compar ecer nest e ender eo: Rua Mar anho
449 - cent r o. Di ar i ament e, as 8: 00, 10: 00, 15: 00 e 19: 30 hor as. So
depende de voc! Exi st e uma sai da!
1 0 0 6
A Radio Gospel FM, de Londrina, reIorando essa chamada, inseriu a Iala
de Edir Macedo explicando 'o porqu da sexta-Ieira:
Esse di a, a sext a- I ei r a, cr uci al e di I er ent e dos demai s, poi s
quando os demni os se enI ur ecem e agem mai s agr essi vament e
cont r a as pessoas, i sso por que I oi nesse di a que Jesus I oi
cr uci I i cado. E nesse di a t ambm que os 't r abal hos de I ei t i ar i as
so I ei t os em mai or quant i dade. Ha um aI l uxo mai or de pessoas aos
t er r ei r os e encr uzi l hadas. Por i sso nos nos pr epar amos de uma
1004
MONTES, M. L. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit., p. 123.
1005
Folha Universal, Rio de Janeiro, 23 mar. 2003, p. 8.
1006
Folheto recolhido para pesquisa em junho de 2004.
302
manei r a mui t o especi al par a uma guer r a de l i ber t ao dos
per t ur bados por esses espi r i t os.
1 0 0 7
Sobre possesso demoniaca, Macedo deIine-a como 'habitao de um ou
mais demnios no corpo de uma pessoa, exercendo-lhe controle e inIluncia, com prejuizos
para as Iunes mentais e Iisicas. O espirito imundo age bloqueando a viso, entendimento e
compreenso da Palavra de Deus. E em relao aos sintomas o bispo aIirma que signiIicam
'tudo aquilo que Ioge ao normal sem que tenha uma causa plausivel, e apresenta outros
detalhes: 'doenas e enIermidades Iisicas; doenas mentais; constantes dores de cabea ou
dores localizadas em outras partes do corpo, no diagnosticadas pela medicina; insnia; medo
e Iobias; desejo de suicidio; vicios; nervosismo; depresso; viso de vultos e audies de
vozes inexplicadas.
1008
Seguindo o convite de um desses panIletos, convidando para uma 'sesso
de descarrego, Ioram desenvolvidas algumas observaes sobre esse ritual num dos templos
da IURD, localizado em area central da cidade de Londrina, com amplas instalaes,
anteriormente ocupadas por uma loja de eletrodomsticos.
1009
Uma dessas reunies se deu
numa sexta-Ieira, no horario das 19 horas e 30 minutos; o templo, com capacidade para cerca
de 2 mil pessoas, estava completamente lotado. Antes de iniciar a reunio, a porta estavam
colocados os obreiros, vestidos com roupas brancas, que davam boas-vindas aos visitantes e
os conduziam para o interior do templo, aproveitando a ocasio para oIerecer-lhes as
literaturas do bispo Macedo, as quais Iicam estrategicamente em exposio sobre mesas a
entrada do local. No altar havia uma grande mesa pintada de branco, proxima a qual estava o
pastor, assentado em atitude de orao e concentrao, preparando-se para entrar em cena. Na
hora marcada, iniciou-se a reunio com a entoao de um cntico conduzido por um grupo
musical, sendo acompanhado pela multido presente. Terminada a cano, o pastor, com
idade aproximada de vinte cinco e anos, vestido com roupas brancas, levantou-se e se dirigiu
ao pulpito. De Iorma espontnea a multido tambm se levantou e ouviu do pastor as
seguintes palavras: 'Esta uma noite muito Iorte! Voc que sente que ha um encosto, um
trabalho do diabo em sua vida ... um trabalho de Ieitiaria ou de bruxaria contra seu
casamento, seus negocios Iinanceiros, voc que esta tendo uma vida perturbada ... que ja
Ireqentou um terreiro, ja Iez rituais nas encruzilhadas, ja acendeu velas no cemitrio, venha
a Irente, esta a noite da sua libertao! Cerca de uma centena de pessoas se dirigiu a Irente
1007
Ponto ae Lu:. Londrina, Radio Gospel FM, 12 ago. 2005. Programa de radio.
1008
MACEDO, Edir. Doutrinas aa Igrefa Universal ao Reino ae Deus. V. 2, p. 63, 64.
1009
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, mar. 2005.
303
do altar. Sete obreiros (homens e mulheres) de cada lado do pulpito, estrategicamente se
posicionaram para auxiliar o pastor. Quando este comeou a orar, pedindo ao Diabo que se
maniIestasse, tambm Ioi acompanhado por toda a multido que pronunciava, em voz alta,
improprios contra o demnio. Instantes depois, havia dezenas de pessoas caidas ao cho,
com as mos contorcidas para tras, com o rosto desIigurado, supostamente possuidas pelos
maus espiritos. Cessado o momento de orao coletiva, a multido se assentou e o pastor
passou a citar passagens biblicas, explicando como o Diabo age na vida de uma pessoa,
dando destaque ao texto de Tiago 2:9, que aIirma: 'O Diabo anda em derredor como um leo
procurando algum para devorar. Em seguida, para realar os perigos de uma vida sem
Deus, voltou-se para uma enorme Iigura de leo, emoldurada em isopor, que estava exposta
sobre o altar, representando o demnio. Logo apos, dirigiu-se aqueles que estavam sob
possesso demoniaca, declarando aos 'maus espiritos que os esses estavam espiritualmente
'amarrados e no poderiam Iazer nada naquele lugar. Iniciou-se a partir dai um periodo de
entrevistas com os demnios em que o pastor perguntava: 'Qual o teu nome? Ao que
obtinha, em tonalidade de voz aguda e aterrorizante, respostas como: 'sou luciIer, pomba-
gira, z-pilintra, tranca-rua, Maria Padilha ..., nomes tipicamente pertencentes as crenas
aIro. Prosseguiu: 'o que voc pretende Iazer contra esta pessoa? 'Vou destruir o seu
casamento, tirar o seu emprego, no deixa-la ser Ieliz.... O pastor ento se dirigiu a multido
dizendo que o mesmo poderia acontecer com todos os que ali estavam, e que a 'campanha do
descarrego era o meio de se libertarem. Os Iiis Ioram convidados a receber uma Iita em seu
brao, na qual estava escrito 'pai das luzes, para isto, entretanto, teriam de ir de maneira
voluntaria a Irente e entregar uma oIerta em dinheiro para ajudar a igreja. Ressaltou o pastor
que oIertar a Deus a maneira de se proteger contra o ataque do diabo na area Iinanceira: 'o
que voc no da a Deus, o Diabo rouba - enIatizou. Todos ento se colocaram de p, as
luzes Ioram apagadas, Iicando acesa apenas uma grande cruz colocada diante do altar.
Formou-se um corredor com os obreiros diante dos quais a multido passou em Iila,
recebendo oraes e asperso de agua Ieita com galhos de arruda, dirigindo-se at a cruz para
toca-la e receber, Iinalmente, o suposto descarrego de todos os males. Quando as pessoas
retornaram aos seus lugares, as luzes Ioram novamente acesas, representando que os
caminhos estavam agora iluminados. Aqueles que haviam Iicado 'possuidos pelo demnio
desde o inicio do culto, permaneceram estrategicamente nesta condio sobre o altar, durante
as duas horas em que a programao se desenvolveu, aguardando o momento em que viria
ocorrer a derrota Iinal do Diabo e seus demnios. Por Iim, o pastor convidou a multido para
304
ajuda-lo no ultimo ritual daquela noite: libertar aquelas vidas. Antes, porm, lanou um
provocativo desaIio: 'Voc que no acredita que isto aqui demnio ... eu te desaIio a vir
aqui a Irente e tocar nestas pessoas. Porm, se o demnio sair daquela pessoa e entrar em
voc, eu no vou tirar no... Voc vai pra casa com ele! ...|risos|. A multido comeou, de
Iorma sincronizada, a gesticular e a gritar repetitivamente 'queima demnio!, enquanto o
pastor e auxiliares passaram a travar uma verdadeira luta corporal contra os 'demnios em
cima do altar: agarres, quedas ao cho, gritos veementes, davam o tom da dramaticidade e
representao do embate que naquele momento ocorria. Usando o microIone, o pregador
perguntou para a multido de Iiis: 'Ele sai ou no sai? A reposta veio em coro: 'Sai em
nome de Jesus!. O pastor ento pediu mais ajuda a multido: 'Mais I gente! Mais poder! O
nosso Deus maior! A sesso de exorcismos continuou com gritos histricos at que, cerca
de dez minutos depois de iniciado o combate, Iinalmente os demnios Ioram 'vencidos. Em
seguida, aqueles que experimentaram a libertao deram testemunhos em publico aIirmando
que no se lembravam de nada do que havia ocorrido durante todo o tempo em que ali
haviam permanecido, mas que naquele instante ja desIrutavam de intensa sensao de bem-
estar. Encerrou-se aquele momento com a multido, em xtase, aplaudindo mais um
espetaculo cultico e tendo nitida certeza de que naquele lugar estava o poder de Deus, capaz
de oIerecer vitoria mesmo diante dos mais temerosos desaIios que a vida apresenta. Antes de
sairem daquele santuario, entretanto, os Iiis Ioram mais uma vez advertidos a no deixarem
de usar a Iita de proteo que receberam e voltarem na sexta-Ieira seguinte para continuar a
campanha at que se completassem sete dias. Para a proxima reunio deveriam empenhar-se
em trazer mais um visitante para participar do ritual em que o 'leo seria destruido.
O que se observa, portanto, que o exorcismo geralmente se realiza de uma
Iorma coletiva. Quando demnios se maniIestam entre o publico reunido no templo, com a
interveno dos obreiros e apoio ativo dos presentes com seus gritos estridentes 'Sai!
'Queima!, acompanhados de gestos enrgicos, o exorcismo realizado tem carater de um
espetaculo. No altar tambm se costuma desenrolar um dialogo entre o pastor e a pessoa
endemoninhada, que com os seus braos cruzados as costas obrigado a responder a
perguntas do pastor, como por exemplo: Qual o teu nome? Por que estas molestando esta
pessoa? Que trabalho Ioi Ieito contra a vida desta pessoa? Antes de 'expulsar os demnios,
costume o pastor demonstrar o seu poder obrigando o demnio a Iazer movimentos como
dobrar as pernas, caminhar para tras. As vezes, o pastor e seus auxiliares agarram os
endemoninhados pela cabea, demonstrando uma cena bastante agressiva. Acredita-se que a
305
cabea a sede em que se alojam os espiritos malignos. Os exorcismos, sempre com tal
intensidade dramatica e uso de Iortes e numerosas expresses 'Sai em nome de Jesus, so ao
Iinal aplaudidos calorosamente pelos Iiis.
Quando se desenvolve o ritual de descarrego, o templo se transIorma em
palco de uma batalha, uma luta 'dramatica entre espiritos protetores e espiritos malIazejos
pela conquista e dominio de uma alma.
1010
Na realizao desse drama, Deus e o Diabo
possuem papis bem deIinidos. Esse espetaculo de 'batalha espiritual, em que o Diabo o
antagonista por ser a Iigura causadora de tudo aquilo que impede toda sorte de bnos
materiais e espirituais, muitas vezes transmitido tambm atravs do radio ou da TV,
mostrando pastores e equipe de obreiros auxiliares nas sesses de exorcismo realizando um
verdadeiro talk show do alm, presentemente materializados. 'Nestes segmentos religiosos a
promessa de cura divina e exorcismos durante os cultos se tornaram cada vez mais proximos
de um espetaculo- destaca uma reportagem jornalistica.
1011
O agente publicitario Jos
Szekely,
1012
que trabalha com venda de programas evanglicos para a TV, tambm acrescenta
que 'o demnio o principal instrumento da midia para atrair Iiis, argumentando que a
audincia desses programas aumenta quando o Diabo realado. Nas sesses de exorcismo
os demnios acabam se tornando 'vitimas, pois antes de serem expulsos dos corpos tm o
dever de dar entrevistas para maior 'esclarecimento do publico ouvinte. Trata-se do
surgimento de um Ienmeno que inverte as condies comumente aceitas da relao ser
humano/Diabo, uma vez que seus entrevistadores o utilizam como artiIicio na conquista de
audincia bem como de Iiis. Os demnios tornam-se espcie de marionetes nas mos dos
exorcistas, aspectos esses que conIerem noes de segurana e proteo aos que vivenciam
tal universo, alm de dar-lhes garantia de que 'outras expresses religiosas, como as de
tradio aIro-brasileira, esto sob o engano do Demnio, pois ouviram pela propria voz das
entidades espirituais tal conIisso.
Ha convergentes proximidades simbolicas entre os rituais iurdianos e uma
sesso umbandista. Isto se deve, em parte, ao Iato de o proprio lider-Iundador da IURD ser
ex-umbandista, algo que tambm ocorre em relao aos demais bispos e pastores que, em sua
maioria, tm uma historia de vida anteriormente ligada a essas crenas. Tais raizes so
visivelmente detectadas, por exemplo, no momento da expulso de demnios. Os bispos e
pastores iurdianos, inclusive, chamam os demnios por seus nomes, nomes estes conhecidos
1010
LEVI-STRAUSS, C. O Ieiticeiro e sua magia. In: Antropologia Estrutural, p. 222.
1011
Ga:eta ao Povo, Curitiba, 10 set. 2000, p. 4.
1012
Revista Jefa, So Paulo, 31 jul. 1996, p. 7.
306
e citados nos rituais umbandistas. Ainda que algumas diIerenas sejam observadas entre os
rituais de exorcismo desses dois segmentos religiosos, o que se constata, entretanto, que o
principio acaba sendo o mesmo: invocao, pelo lider, de uma Iora espiritual mediante
possesso. Tanto o ritual de exorcismo de uma sesso umbandista como o iurdiano apresenta
uma linguagem verbal e corporal bastante aIins. Nos rituais dos cultos aIro-brasileiros se
observa que o mdium, ao incorporar um determinado 'guia ou espirito, comporta-se como
se estivesse munido de toda a capacidade para retirar espiritos perturbadores das pessoas
presentes. No caso da IURD, a primeira providncia do pastor-exorcista obrigar a vitima
dos demnios a Iicar de joelhos e colocar as mos para tras, simbolizando assim o
reconhecimento, por parte do espirito rebelde, do poder de Jesus corporiIicado no pastor. As
vezes, acontece de algum exorcista usar alguma Iorma de coero Iisica, mas sera atravs do
dialogo que se tentara arrancar-lhe o nome, procedimento simbolico essencial, que garante a
soberania de Jesus sobre o intruso. Depois de muita insistncia, o nome dito entre urros,
suspiros e intensas agitaes corporais. Assim, na IURD, o Demnio retirado da vitima em
nome de Jesus mediante o poder do Espirito Santo que se apossa do bispo ou do pastor; na
umbanda, atribuem-se tais poderes ao 'guia, o espirito que entrou no corpo de um
determinado mdium para cumprir aquela Iuno. Ainda quanto a esse aspecto, cabe destacar
que, depois das cidades do Rio de Janeiro e So Paulo, Salvador - BA a capital em que a
IURD tem obtido seus maiores xitos em relao ao numero de templos. No sem motivo
que isto acontece: essas cidades esto entre as que apresentam o maior numero de adeptos do
kardecismo, umbanda e dos cultos aIro-brasileiros, havendo, portanto, um universo cultural
aIim as praticas e representaes da operosidade iurdiana.
Maria Lucia Montes ressalta que o que se exorciza nas praticas da Igreja
Universal sobretudo o conjunto das entidades do panteo aIro-amerindio incorporado as
religiosidades populares das devoes e praticas magico-rituais do catolicismo ainda
conservadas as religies de negros perseguidos e depois apropriadas por diIerentes estratos
sociais tambm das populaes urbanas.
1013
Percebe-se a importncia da dramatizao do
conIronto entre as Ioras do bem e do mal realizadas no culto, com a espetacularidade dos
rituais de libertao, cumprindo plenamente o papel de comprovar suas crenas. E mais, ali
as pessoas tm como argumentos de persuaso - em relao ao aspecto 'Iarsante das demais
religies - no somente as palavras do lider, mas a voz dos proprios demnios que se auto-
nomeiam identiIicando-se, principalmente, com as divindades dos cultos aIro-brasileiros.
1013
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op. cit.,
p. 122.
307
Mas, inegavelmente, um dos principais elementos pelos quais a IURD
desempenha a sua operosidade inovadora reside na apropriao reversa que Iaz das religies
aIro-brasileiras. Isto pode ser observado nos proprios apelos publicos, como o ocorrido
recentemente, na cidade do Rio de Janeiro, em que alguns templos iurdianos estampavam
uma Iaixa aIixada na parte externa, com os seguintes dizeres: 'Participe das reunies no
Templo do Pai Maior. Outro exemplo pode ser observado na pratica denominada 'consulta
espiritual, realizada desde o ano de 2005. Essa atividade envolve 'ex-pais e ex-mes-de-
santo que, membros da Igreja, agora auxiliam os pastores e bispos no 'diagnostico dos
problemas espirituais que envolvem aqueles que buscam auxilio da IURD. Em observaes
participantes realizadas se veriIicou, durante os dias de campanha de 'descarrego e
libertao, 'ex-pais e ex-mes-de-encosto como a Igreja os identiIica presentes para
oIerecer consulta espiritual aos participantes da reunio.
1014
Vestidos com roupas brancas
idnticas as usadas na umbanda e no candombl Iicam assentados a uma grande mesa
coberta com tolha branca, ouvindo individualmente o drama pessoal de cada solicitante. Logo
apos, identiIicada a 'causa espiritual do problema, a pessoa recebe as instrues para
participar da devida corrente para que possa se libertar de seu mal. Dependendo da gravidade
do problema, o Iiel recebe ali mesmo, imediatamente, oraes de exorcismo para
'descarrego de sua opresso, Ieitas pelos pastores e obreiros. Isto no o desobriga, porm,
de iniciar uma corrente que lhe garantira a vitoria completa. Este mesmo procedimento
tambm vem sendo adotado nos programas de TV,
1015
realizados nos periodos noturnos,
especialmente as sextas-Ieiras, quando os telespectadores tm a oportunidade de teleIonar
para o programa e descrever os problemas que esto enIrentando. As questes so
imediatamente respondidas e os diagnosticos apresentados pelos 'ex-pais e ex-mes-de-
santo que, devidamente trajados com aquelas mesmas roupas anteriormente descritas,
auxiliam os pastores na realizao do programa. Os pareceres emitidos seguem um roteiro
quase padro: um trabalho espiritual de macumba, um despacho Ieito na encruzilhada ou no
cemitrio para prejudicar a pessoa; inveja no trabalho, mau-olhado, ou ainda opresso
demoniaca decorrente de algum envolvimento, da propria pessoa ou de algum de sua
Iamilia, com praticas das religies aIro-brasileiras. A soluo tambm apresentada de
maneira incisiva: procurar o mais rapido possivel um templo da IURD e realizar uma
campanha de descarrego e de libertao.
1014
Observaes participantes realizadas nos templos de Santo Amaro e Londrina, mar./abr. 2006.
1015
Programas: Fala que Eu te Escuto e Misterios, ambos levados ao ar pela Rede Record. Gravao para
pesquisa realizada em maro e abril de 2006.
308
E caracteristica marcante, portanto, o Iato de os pastores aproximarem ou
adaptarem os discursos e os ritos aquilo em que os Iiis ja crem, ocorrendo, assim, um
processo de apropriao e resigniIicao, uma adaptao, uma circulao cultural. E a partir
de uma crena ou 'capital simbolico ja existente que os lideres coordenam os ritos em
sintonia com a viso de mundo das religies populares, de origem crist ou aIro-brasileira. E,
segundo Carlos Brando, nas religies populares, como o catolicismo rural e as crenas aIro-
brasileiras, o milagre 'rotina simples, Iidelidade mutua entre as divindades e os Iiis,
sendo, portanto, 'necessario, acessivel, rotineiro e reordenador.
1016
Os atos de exorcismo
representam um instrumento de reorganizao do universo dos Iiis, separando o bem do
mal.
A Folha Universal destaca que nessa reunio, realizada as sextas-Ieiras, os
que comparecem 'recebem a orao da I que os Iortalece na luta contra os espiritos
causadores das desgraas que acontecem em suas vidas. Nos depoimentos dados pelos Iiis
observa-se a interatividade estabelecida com esse rito de descarrego. A comerciante Sueli de
Souza, 39 anos, conta como venceu os problemas espirituais:
Eu er a compl et ament e per t ur bada. Levava uma vi da de I r acassos,
br i gas e der r ot as, meu casament o est ava dest r ui do, est ava suI ocada
em di vi das. Sem saber o que I azer , ouvi na r adi o o bi spo
convi dando par a a sesso do descar r ego. A par t i r daquel e di a
compar eci as r euni es, apr endi a desenvol ver uma I i nt el i gent e que
pr oduz r esul t ados e dai I ui l i ber t a. Hoj e r eal i zo t odos os meus
pr oposi t os com Deus, t enho uma I ami l i a abenoada e no possuo
di vi das.
1 0 1 7
Alex Cabral Borges, 39 nos, declara ter atuado como 'bruxo durante 20
anos:
Eu t i nha 200 I i l hos de encost os di r et os e mai s 800 i ndi r et os. Eu
I azi a t r abal hos que nor mal ment e vi savam a dest r ui o das pessoas.
Por i sso I i quei conheci do como pai Al ex, apesar de t udo i sso, I i quei
mui t o doent e e mi nha esposa mor r eu j unt ament e com mi nha I i l ha
ai nda no per i odo de gest ao. Os encost os me l evar am a mi sr i a.
Fi nal ment e uma pessoa me convi dou par a i r a I gr ej a Uni ver sal onde
sent i gr ande i mpact o com o que vi naquel e l ugar . Quando cheguei so
me l embr o de t er l i do Jesus Cri st o e o Senhor, depoi s di sso
mani I est ei var i os encost os. Naquel e di a vi com os meus pr opr i os
ol hos aquel es que se apr esent avam como deuses se r endendo ao
poder de Deus. Fi quei r evol t ado, deci di ndo ent o abandonar t oda
aquel a ment i r a. Hoj e sou nova cr i at ur a, t ot al ment e l i ber t a das
I or as das t r evas.
1 0 1 8
1016
BRANDO, C. R. Op.cit., p. 131-132.
1017
Folha Universal, Rio de Janeiro, 01 abr. 2006, p. 21.
1018
Folha Universal, Rio de Janeiro, 23 mar. 2003, p. 5
309
Maria Goreth, 36 anos, chegou a IURD 'totalmente atormentada, pois
servira aos espiritos por mais de 20 anos, soIrendo diversos tipos de enIermidade e com
desejo de suicidio. Envolveu-se com os encostos em busca de ajuda, mas acabou por
complicar ainda mais a sua vida, chegando a tornar-se filha-ae-encosto e despachante de
trabalhos. Somente depois de participar da orao Iorte da sesso de descarrego, Goreth
'alcanou a verdadeira Ielicidade que so o Pai das Luzes pode dar.
1019
O testemunho de Sisleide Maria Coutinho tambm citado como exemplo
dos beneIicios alcanados:
Vi vi escr ava dos encost os por mai s de 25 anos, i ncl usi ve dava
consul t as` . Mas em mi nha pr opr i a vi da havi a desavenas, doenas
vi ci os e mi sr i a. Gast ei mui t o di nhei r o com oI er endas, mas so t i ve
meus ol hos aber t os depoi s de chegar a I gr ej a Uni ver sal e par t i ci par
dessas Reuni es de Li ber t ao. A par t i r dai t udo mudou. Hoj e,
l i ber t a de t odo o mal , sou ver dadei r ament e I el i z.
1 0 2 0
Nessas praticas da IURD possivel observar tambm que 'ha um ato
Iundador da violncia que a conquista dos territorios, a dominao dos corpos, o controle
dos individuos exercida por tais lideres,
1021
pela legitimidade e o direito que ostentam para
agir sobre a pessoa que se acredita estar enIerma ou possuida pelos demnios. Mas essa
violncia tem a sua legitimidade e autorizao delegadas pelo proprio grupo. Pelo carisma
que se atribui ao profeta se estabelece a autoridade e o reconhecimento imediato, a cujas
qualidades milagrosas por concesso divina o discipulo se entrega numa total devoo
pessoal. Chartier aponta para o 'poder da representao ao dizer que 'a distino
Iundamental entre representao e representado, entre signo e signiIicado, pervertida pelas
Iormas de teatralizao da vida social.
1022
A identidade do ser pode ser conIundida com a
aparncia da representao. Para mostrar como a 'aparncia pode valer pelo real, cita
Pascal, quando se reIere a imagem de justia dos magistrados e atuao curativa dos mdicos
mediante o uso de aparatos simbolicos: 'Mas lidando apenas com cincias imaginarias, -
lhes necessario lanar mo desses vos instrumentos que impressionam a imaginao
daqueles com quem tm de tratar; e deste modo, que se do ao respeito.
1023
Nesse sentido,
ao promover 'respeito e submisso, a representao se torna um instrumento que produz
'constrangimento interiorizado, o que na linguagem de Pierre Bourdieu se converte em uma
Iorma de 'dominao simbolica, como bem comenta Chartier:
1019
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 97, p. 30, 2003.
1020
Folha Universal, Rio de Janeiro, 23 mar. 2003, p. 8
1021
CHARTIER, R. Pierre Bourdieu e a historia, p. 154.
1022
Id. A Historia Cultural. entre praticas e representaes, p. 21.
1023
Id., ibid., p. 22.
310
Est a i nspi r ao de Bour di eu per mi t i u i nst al ar no cer ne de mui t as
pesqui sas hi st or i cas um concei t o como o de vi ol nci a si mbol i ca ou
de domi nao si mbol i ca. I st o , pensar que no ha uni cament e,
numa soci edade, I or mas de domi nao br ut ai s ou enI r ent ament os
expl i ci t os, i medi at ament e soci ai s ( . . . ) Par a que uma domi nao se
r epr oduza, pr eci so um mecani smo de vi ol nci a si mbol i ca ou
domi nao si mbol i ca.
1 0 2 4
Os dominados incorporam por meio 'do simbolismo de que se reveste
toda e qualquer dominao
1025
- os principios da dominao que asseguram a sua
dependncia como legitima, comenta Chartier, destacando que isso se da mediante a
instaurao de um mecanismo mais sutil: 'esse tipo de dominao se reproduz a partir da
incorporao da legitimidade do principio da propria dominao nas percepes dos
dominados: Os dominados utilizam as categorias construidas do ponto de vista dos
dominantes sobre as relaes de dominao e, a partir dai, Iazem estas relaes de dominao
parecerem naturais.
1026
4.3.3 - ~Pare de sofrer: corrente de cura divina e milagres
'Pare de soIrer! Existe uma soluo! Este tem sido um dos slogans
caracteristicos proclamados pela IURD desde a sua Iundao. Por isso a Igreja mantm uma
campanha que apresenta permanente variao de tipologia e esttica ritualistica. Reporta-se
geralmente a episodios relatados na Biblia, em grande parte no Antigo Testamento,
estabelecendo ao mesmo tempo, de maneira bastante original, uma conjugao entre os ritos
catolicos, aIro-brasileiros e protestantes. 'DiIiculdades Iinanceiras, crise no casamento,
doenas, vicios e muitos outros problemas tm levado um numero incontavel de pessoas para
a Igreja Universal propaga a propria Igreja, que acrescenta: 'elas tm a oportunidade de
participar de varios propositos de orao, ja que a IURD realiza reunies diarias.
1027
O anuncio publicado no panIleto transcrito a seguir retrata bem o amplo
leque de opes que o Iiel encontra nos cultos e ritos da IURD, na busca de respostas para
seus problemas:
PARE DE SOFRER - Voc que t em al guns desses pr obl emas mar que
um X: i nvej a, vi t i ma de ol ho gor do, I ei t i ar i a, pr est ao at r asada,
quer emagr ecer ou engor dar , passar em concur so publ i co, doenas,
i nsni a, I al nci a, desempr ego, al uguel at r asado, possesso mal i gna,
aposent ar - se, dor es de cabea, di vi das, depr esso, angust i a, et c.
1024
Id. Pierre Bourdieu e a Historia, p. 154.
1025
Id., ibid.
1026
Id., ibid..
1027
Folha Universal, Rio de Janeiro, 05 Iev. 2006, p. 7.
311
Tr aga est e I ol het o, r eceba uma or ao I or t e e uma r osa ungi da!
Sabado, a 1: 00 hor a da t ar de, na I gr ej a Uni ver sal , Rua Benj ami m
Const ant , 1488, cent r o Londr i na.
1 0 2 8
Em vista disso, a Igreja Universal mobiliza um universo muito presente no
chamado catolicismo Iolclorico rural,
1029
no qual comum, por exemplo, a realizao de
Iestas religiosas em que os devotos Iazem donativos aos santos suplicando uma graa a ser
alcanada, bem como a realizao de rezas e rituais de benzimentos em Iavor das colheitas,
do gado e diante de doenas coletivas:
O cat ol i ci smo devoci onal mont ado sobr e r ezas, bnos, devoes,
cur as, pr omessas, t odas el as I undadas na cr ena no mi l agr e. Est e se
r eI er e as doenas ( que podem ser i nt er pr et adas como 'mal I ei t o ou
'como cast i go, i st o , como i nI l unci a mal vol a ou como r esul t ado
da cul pa) , a busca de pr ot eo ( par a a col hei t a, o gado, a saude,
cont r a desast r es nat ur ai s, par a encont r ar obj et os per di dos ( . . . ) o
mi l agr e depende da I de quem pede, do val or da pr omessa I ei t a
como r et r i bui o da gr aa r ecebi da. Mas depende sobr et udo da I or a
do r ezador ou do benzedor , de seu car i sma pessoal .
1 0 3 0
Em relao a 'cura divina, no Manual da IURD, registram-se as seguintes
concepes:
A cur a di vi na est a de acor do com o car at er de Deus, que sendo um
pai amor oso, no poder i a acei t ar na vi da dos seus I i l hos doenas ou
enI er mi dades, ( . . . ) as doenas, na sua gr ande mai or i a, so causadas
pel os demni os, que uma vez sai ndo do cor po das pessoas as l evam
consi go, ( . . . ) el as no cont r i buem par a a gl or i a de Deus, e si m par a
a mi sr i a e desgr aa dos homens ( . . . ) A I gr ej a ( . . . ) mi ni st r a a or ao
par a a cur a di vi na por i nt er mdi o dos seus Bi spos, Past or es e
Obr ei r os, quer com i mposi o de mos conI or me det er mi nam as
Escr i t ur as, quer sem i mposi o de mos, por que obedece a or dem do
Senhor Jesus Cr i st o, que mandou cur ar os enI er mos e expel i r os
demni os. Uma pessoa chei a de doenas no est a a vont ade par a
gl or i I i car a Deus. No pode compr eender cor r et ament e o Seu amor ,
se no I or cur ada e abenoada em t odas as coi sas.
1 0 3 1
Atribuindo a uma dimenso espiritual a causa das enIermidades, Edir
Macedo ressalta em uma de suas entrevistas: 'Quando o problema espiritual, no tem
mdico que consiga resolver.
1032
Destaca tambm a Iormula de se obter a cura: 'Nada de
Iicar Ialando: O Deus, cura! O Deus, liberta! O Deus, abenoa! Isto burrice espiritual! Nos
1028
Folheto distribuido pela Igrefa Universal ao Reino ae Deus de Londrina, setembro e outubro de 2002.
1029
Entendendo tal conceito como reIerindo a um tipo de catolicismo que, mesmo mantendo-se ligado a Igreja
Catolica oIicial, muitas vezes se organiza a margem desta, com expresses tipicamente sincrticas, rurais,
extrapolando o controle dos dogmas oIiciais. CI. CHAUI, M. Raizes teologicas do populismo no Brasil:
Teocracia dos dominantes, messianismo dos dominados. CHAUI, M. et ali. Anos 90 - Politica e socieaaae no
Brasil. So Paulo: Brasiliense, 1994.
1030
Id., ibid., p. 128.
1031
MANUAL DO OBREIRO. Estatuto e regimento interno da Igreja Universal do Reino de Deus. Op. cit.
1032
Revista Jefa, So Paulo, 06 dez. 1995.
312
que temos que curar, libertar e abenoar... Em nome do Senhor Jesus Cristo!
1033
Mostra
ainda a eIicacia de tal procedimento na obteno da cura: '(...) as vezes, gradativamente, as
vezes instantaneamente, dependendo da I da pessoa.
1034
A Revista Plenitude destaca que a 'corrente de Jerico derrubando todas as
muralhas do mal, tem como objetivo despertar a I sobrenatural das pessoas atravs da qual
encontraro Ioras para derribarem os muros que as tem impedido de usuIruir as promessas
de Deus:
Por mai s que as pessoas se esI or cem, sempr e exi st e um obst acul o,
uma bar r ei r a que as i mpede de at i ngi r seus obj et i vos. No pont o de
vi st a humano, as mur al has das di vi das, do I r acasso sent i ment al e
pr oI i ssi onal , das doenas, ent r e out r a, par ece ser i nt r ansponi vei s.
Por m mui t os est o consegui ndo der r ubar essas bar r ei r as ao
par t i ci par em da Cor r ent e de Jer i co. A r euni o t em desper t ado no
cor ao dos que compar ecem, a I sobr enat ur al , at r avs da qual
mui t os encont r am I or as par a vencer os obst acul os e dar em um
bast a ao soI r i ment o.
1 0 3 5
O testemunho de Aureneide Mendes de Souza, 29 anos, citado como
exemplo de algum que transps essas barreiras:
Sem expl i caes comecei a t er convul ses e desmai os e como t oda
mi nha par ent el a ser vi a aos encost os, meus pai s I or am consul t a- l os
sobr e mi nha doena. Por or i ent ao da me- de- encost o comecei a
t r abal har par a esses espi r i t os com apenas 12 anos de i dade. Mi nha
vi da passou a ser cont r ol ada pel os encost os que passar am a me
per segui r com vozes e vul t os, chegar am a me ameaar de mor t e.
Al em de depr i mi da me t or nei ner vosa, agr essi va, est ava a pont o de
comet er sui ci di o quando r ecebi um convi t e par a assi st i r uma r euni o
na I gr ej a Uni ver sal . Chegando a i gr ej a r ecebi uma or ao, ouvi a
pal avr a de Deus e compr eendi que havi a um mal se opondo a mi nha
I el i ci dade, causando t oda sor t e de soI r i ment o. A par t i r dai mi nha
vi da I oi l i ber t a e t r ansI or mada.
1 0 3 6
No templo-sede, em Santo Amaro, na cidade de So Paulo, num culto
voltado a 'saude, organizou-se um ritual denominado 'corredor dos setenta pastores,
1037
em
que pessoas em busca de cura passavam as mos ou beijavam um manto vermelho,
denominado 'manto sagrado. Enquanto os pastores e obreiros oravam e ordenavam que todo
o mal Iisico se desIizesse, o manto Ioi estendido sobre a cabea dos Iiis, ao longo de toda
extenso do templo. Ao Iinal do culto, no momento das oIertas, os obreiros passaram pelas
cadeiras oIerecendo em troca de oIertas um pequeno pedao daquele pano para ser colocado
1033
MACEDO, Edir. O poaer sobrenatural aa fe. 3 ed. Rio de Janeiro: GraIica Editora Universal, 1991, p. 157.
1034
Id. O Espirito Santo. 4 ed. Rio de Janeiro: GraIica Editora Universal, 1992, p. 96.
1035
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 95, p. 29, 2003.
1036
Folha Universal, Rio de Janeiro, 23 jan. 2003, p. 8.
1037
Ao estabelecer o numero de 'setenta pastores a IURD se apropria de crenas judaicas que valorizam a
numerologia, conIorme registros apresentados principalmente no Antigo Testamento.
313
sobre a enIermidade, para que 'o Senhor estivesse completando a obra dele.
1038
Nesse
sentido, a IURD resigniIicativamente reedita a Iesta de Pentecostes ou do Espirito Santo
praticada pelo catolicismo, na qual tambm uma larga tira de pano vermelho, amarrada ao
altar, estendida em todo o comprimento do templo por sobre a cabea dos Iiis, sendo
recortada em pequenos retalhos para ser distribuidos aos Iiis. Pode se constatar tambm uma
verso da 'Bno do Divino - bastante tradicional no catolicismo - mediante a qual os
devotos reverentemente beijam bandeiras, cobrindo com ela por um instante a cabea, com o
proposito de buscar resultados com carater magico especialmente em situaes de grande
aIlio.
Em culto realizado por Edir Macedo na IURD do bairro do Bras, na capital
paulista, constatou-se, numa observao participante, que o templo, com capacidade para
aproximadamente 5 mil pessoas, estava completamente lotado. O bispo desenvolveu sua
pregao enIatizando 'as respostas que Deus da aos aIlitos que a ele recorrem em templos de
aIlio e angustia. No momento da orao, chamou a Irente os que desejavam se 'libertar de
seus males e angustias. O altar Ioi tomado pela multido. O bispo canta e desaIia o povo a
entoar junto com ele uma letra que convida a 'entregar-se completamente a Deus. Um
estado de proIunda emoo toma conta do lugar. O lider ento proIere palavras de repreenso
ao demnio, 'determinando a cura, o milagre, a prosperidade. Apos o xtase coletivo, passa-
se ao momento do oIertorio. Macedo indaga os Iiis:
Quant os est o aqui por que ouvi r am a mensagem da i gr ej a at r avs
de um pr ogr ama de r adi o? At r avs da t el evi so? Ou conhecer am a
i gr ej a at r avs de l i t er at ur as? Al gum deu sua oI er t a par a pat r oci nar
est es pr ogr amas ou par a pagar o al uguel do i movel quando o t empl o
I oi aqui i nst al ado. Por i sso, a sua oI er t a hoj e si gni I i ca t ambm a
opor t uni dade que out r os t er o par a ouvi r esse evangel ho at r avs dos
di I er ent es pr oj et os da i gr ej a.
Ao Iundamentar biblicamente o seu argumento, Macedo cita o texto de Joo
3:16, 'porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Iilho unignito para salvar a
todo aquele que cr, destacando que Deus oIertou a humanidade o que ele possuia de maior
valor e que por isso devemos tambm lhe oIertar com o maximo de esIoro possivel.
1039
Em agosto de 2004 Ioi iniciada a campanha denominada 'troca do anjo da
guarda. Ressaltava-se, nos apelos radioInicos e televisivos, que 'quando o anjo da guarda
esta Ialhando preciso substitui-lo: 'a pessoa necessita ter um anjo mais Iorte para
acompanha-la, guarda-la e ajuda-la a vencer as batalhas espirituais desaIiavam os pastores
1038
Observaes participantes realizadas no templo da IURD em Santo Amaro, out. 2004.
1039
Observao participante realizada no templo da IURD no Bras, em So Paulo, 05 mar. 2006.
314
na ocasio.
1040
Para esse rito, os Iiis so convocados a vir ao templo e, no momento oportuno
do ritual, eIetuar uma substituio do anjo da guarda que tm tido at ento em razo de
terem pertencido ao catolicismo ou de outras crenas at ento proIessadas por outro que,
Iuncionalmente, passara a ser, de Iato, eIicaz. Segundo o bispo Macedo, em reunio realizada
na Catedral da F, no Rio de Janeiro, essa corrente visava pedir que os anjos poderosos
viessem guardar os Iiis: 'porque balas perdidas tm ceiIado muitas vidas nessa cidade. A
coisa esta incontrolavel. So Deus para mudar essa situao. Durante a reunio, o bispo
Macedo enIatizou que 'diante de tantos problemas como violncia, desemprego,
desentendimentos nos lares, entre outros, a pessoa necessita ter um anjo mais Iorte para
acompanha-la. A idia da campanha surgiu a partir da leitura do texto biblico de Daniel
10:13, que diz: 'mas o principe do reino da Prsia me resistiu por 21 dias; porm Miguel, um
dos primeiros principes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitoria sobre os reis da Prsia.
1041
Em setembro de 2004, por exemplo, a IURD realizou a 'campanha da
revolta, mediante a qual os iurdianos poderiam exteriorizar situaes de amarguras, revoltas
contra o Diabo e esperanas de mudanas. Em uma de suas programaes de radio,
1042
Ioi
possivel registrar o quadro descrito, a seguir. Atendendo os ouvintes ao teleIone, o pastor
usou os seguintes termos: 'Al, irm, ta revoltada? Va at a Igreja para maniIestar a sua
revolta, pegue o seu envelope. A ouvinte responde: 'Estou revoltada contra esse Diabo
desgraado, que o responsavel pelo baixo salario de cento e sessenta reais que estou
ganhando. Ao saber que a ouvinte ainda no havia retirado o respectivo envelope de
contribuio e de incluso dos motivos de sua revolta, o pastor disse: 'Ento voc no esta
revoltada nada, porque ainda no tomou a deciso, insistindo que a mulher procurasse um
templo e retirasse o envelope, dizendo que as pessoas, Iazendo isso, estariam 'pegando o
Diabo pelo pescoo.
Vale ressaltar que a pratica de duelos e desaIios um elemento muito
presente na cultura brasileira, isto no so no plano artistico, expresso em composies
musicais e poticas, como tambm nas celebraes religiosas. Esse capital simbolico se Iaz
presente em romarias e peregrinaes, quando as pessoas expressam suas relaes com o
sagrado por meio de um duelo que envolve promessas e pagamento do prometido, quase
sempre por meio de sacriIicios corporais, de tempo ou de dinheiro. Por meio desses gestos
demonstra-se a divindade a coragem, ousadia e disposio dos devotos. Rubem Csar
1040
Gravao de programas veiculados pela Rede Record de Televiso e radios Atalaia AM e Gospel FM, de
Londrina, em Ievereiro de 2006.
1041
Folha Universal, Rio de Janeiro, 13 ago. 2004, p. 8.
1042
Ponto ae Lu:. Londrina, Radio Atalaia AM, 29 set. 2004. Programa de radio.
315
Fernandes se reIere a tais Iormas de expresso social num estudo sobre os romeiros a um
santuario catolico, localizado na cidade de Pirapora do Bom Jesus. Para alguns daqueles
peregrinos, 'romaria coisa para corajosos, para 'pessoas ousadas e nunca para
'medrosos.
1043
Tambm Carlos Rodrigues Brando analisa as Iestas populares como 'Iolia
de reis, 'Iolia do divino e, especialmente, as cavalhadas, como reminiscncias de guerras
mantidas por portugueses e mouros na Idade Mdia.
1044
Esses rituais so de desaIios e contra-
desaIios, que podem ser usados pelo povo como expresso de seu inconIormismo a
determinadas situaes, expressando de uma maneira simbolica sua disposio de vencer as
diIiculdades da vida, sempre atribuidas a presena de Ioras do mal.
Percebe-se com isso a Iorte presena cultural que reside na compreenso de
'desaIio nos ritos que a IURD realiza. Participar dos rituais, seja 'campanha ou 'corrente
de I, ser colocado diante de um repto que envolve provocaes e exige mudana nas
condutas. E constante o Iiel ser ali desaIiado a desempenhar papis que mexem com os seus
brios. Essa atitude de desaIio pode ser a de ir a Igreja, contribuir Iinanceiramente, ir a Irente
no altar, no momento em que o pastor Iaz um apelo para um determinado compromisso, de
acordo com os diIerentes ritos que se desenvolvem. Os ritos dramatizam 'batalhas ou uma
'guerra espiritual que esta em andamento, entre as Ioras de Deus e dos demnios, diante da
qual no se pode permanecer neutro.
Em relao a eIicacia dos rituais, pode-se dizer que essa se deve a 'um
sistema coerente que Iundamenta o universo cultural na qual os participantes esto
inseridos. E esse 'universo mitico que executa as operaes - observa Lvi-Straus.
1045
No
momento em que o ritual se organiza 'mecanismos se ajustam espontaneamente, para chegar
a um Iuncionamento ordenado.
1046
E, vale citar que, se os elementos simbolicos 'no
correspondem a uma realidade objetiva, no tem importncia: os participantes acreditam
nela, e eles so membros de uma sociedade que tambm acredita.
1047
Orientados por um
habitus, ao mesmo tempo que produtores de novos habitus, os ritos e simbolos praticados
pela IURD promovem, assim, indissociabilidade entre o 'Iisico e o espiritual elementos
comumente distinguidos. Destaca-se o Iato do simbolico no ser entendido como mero
reIlexo do real, nem como simples subjetividade, o que aponta para a necessidade de
superao da duvida cartesiana que pressupe a idia da humanidade ser exterior ao seu
1043
FERNANDES, Rubem Csar. Os cavaleiros ao Bom Jesus. Uma introduo as religies populares. So
Paulo: Brasiliense, 1982.
1044
BRANDO, Carlos Rodrigues. Cavalhaaas ae Pirinopolis. Goinia: Edies Oriente, 1974.
1045
LEVI-STRAUSS, C. O Ieiticeiro e sua magia, p. 228.
1046
Id., ibid., 229.
1047
Id., ibid., p. 228.
316
mundo, de onde tambm decorre a concepo de que 'o pensamento ou a representao so o
produto artiIicial ou abstrato de seu intelecto.
1048
Logo, a eIicacia da ritualistica iurdiana se deve no a genialidade do lider,
mas ao imaginario dos participantes daquele universo representacional, como o observa Lvi-
Strauss ao Ialar da atuao do xam, aIirmando que este estabelece uma 'relao imediata
com as representaes dos doentes, sendo esse 'o papel da encantao propriamente dita:
Nest e sent i do, el e se encar na obj et o da t r ansI er nci a, par a se t or nar ,
gr aas as r epr esent aes i nduzi das no espi r i t o do doent e, o
pr ot agoni st a r eal do conI l i t o que est e exper i ment a a mei o- cami nho
ent r e o mundo or gni co e o mundo psi qui co.
1 0 4 9
Como parte do universo da cultura, as praticas iurdianas propiciam,
portanto, a criao de um sistema cultural capaz de instituir um 'corpo consistente de
simbolos, praticas, ritos, valores crenas e regras de condutas, do que lhe advm a
'capacidade de conIerir signiIicado a existncia humana atravs da recorrncia que se Iaz a
um 'outro mundo para atribuir sentido ao que ocorre nesta vida.
1050
4.4 - O papel da leitura nas representaes iurdianas
Historicamente, a leitura da Biblia Ioi sempre uma pratica bastante
controlada na constituio e conIigurao do campo religioso brasileiro. Durante um longo
periodo adeptos do catolicismo no Brasil Iicaram privados de acesso ao texto biblico. At a
dcada de 1960, a sua leitura ocorria somente durante as missas, em latim.
Cabia ao sacerdote
ler o texto sagrado nas homilias explica-lo aos Iiis. O argumento era o de que tal
procedimento, quando Ieito por 'leigos, poderia suscitar interpretaes errneas,
desencadeando praticas de heresias. Mas, na verdade, com tal controle a instituio
dominante quer construir e manter representaes de poder. Dai ter implementado uma
constante vigilncia por parte da igreja em relao as constantes tentativas Ieitas por
protestantes de distribuir tais literaturas entre catolicos.
O protestantismo classico brasileiro, atravs das suas conIisses de I, tem
reivindicado para si a condio de guardio da 'reta doutrina,
1051
mantendo-se reticente a
qualquer tipo de experincia pessoal que Iuja aos seus cnones. Tal procedimento visa
controlar o surgimento de 'heresias em seu meio e coibir o avano de movimentos que
1048
BURKE, P. Historia e teoria social, p. 168.
1049
Id., ibid., 229, 230.
1050
Id., ibid., p. 71.
1051
ALVES, Rubem. Protestantismo e represso, p. 27-36.
317
considera seitas,
1052
usando para isto a Iora de seus dogmas. Entretanto, parece ocorrer algo
ja observado por Weber:
Quant o mai s a r el i gi o se t or nou l i vr esca e dout r i nar i a, t ant o mai s
l i t er ar i a t or nou- se e mai s eI i ci ent e I oi no est i mul o ao pensament o
l ei go r aci onal , l i vr e do cont r ol e sacer dot al . Dos pensador es l ei gos,
por m, sai r am os pr oI et as, que er am host i s aos sacer dot es; bem
como os mi st i cos, que buscavam a sal vao i ndependent e del es e
dos sect ar i os.
1 0 5 3
Edir Macedo e seus seguidores, na condio de 'misticos e 'sectarios,
passaram a ler a Biblia inovando nas suas interpretaes, conIigurando praticas diIerenciadas
em relao ao protestantismo classico. 'As praticas de leitura so mais complexas e mais
dinmicas e devem ser pensadas, antes de tudo, como lutas de concorrncia em que se
procura uma nova distino observa Chartier.
1054
Algumas caracteristicas de leitura que 'incomodam o protestantismo tm
notabilizado as praticas iurdianas. Primeiro, o carater mistico aa leitura. Na IURD, a leitura
realizada 'alimenta as imaginaes em que elementos do sobrenatural, miraculosos ou
diabolicos, rompem com o ordinario do cotidiano.
1055
A Biblia tem a representao de 'um
deposito de simbolos, alegorias e de cenas dramaticas, ou at um amuleto para exorcizar
demnios e curar enIermos, do que regra unica de I e pratica` como a encaram outros
grupos protestantes.
1056
Essa mesma conotao de magia assumiu o ato de ler o texto biblico
no contexto medieval:
Qual quer or ao ou passagem das escr i t ur as podi a t er um poder
mi st i co a esper a de ser r edescober t o. A Bi bl i a podi a ser um
i nst r ument o di vi nat or i o, que aber t a ao acaso r evel ar i a o dest i no da
pessoa. Os evangel hos podi am ser l i dos em voz al t a par a
par t ur i ent es, a I i m de l hes gar ant i r um bom par t o. Podi a- se col ocar
uma Bi bl i a na cabea de uma cr i ana i nqui et a, par a I azer com que
conci l i asse o sono.
1 0 5 7
Nas praticas iurdianas, a leitura da Biblia 'oIerece signos a deciIrar. (...)
Textos que deciIram o universo ou que do receitas de bem-viver;
1058
ela responde a 'uma
1052
O historiador Claudio DeNipoti, ao analisar a obra de David Hall, sobre a Nova Inglaterra, aIirma que a
mesma apresenta interessante contribuio para se veriIicar 'como ministros protestantes buscaram impedir que
ocorressem excessos na livre interpretao da Biblia, principalmente atravs da perseguio de proIetas e
visionarios que se diziam inspirados por Deus, cujo exemplo maximo so os julgamentos de supostos
Ieiticeiros, em Salm, em 1692. CI. DENIPOTI, Claudio. Op. cit., p. 22.
1053
Weber, Max. Rejeies religiosas do mundo e suas direes. In: Weber, Max et al. Ensaios ae Sociologia. 5
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982, p. 402.
1054
CHARTIER, R. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 17.
1055
Id., ibid., p. 116.
1056
CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercaao. Organizao e marketing de um empreendimento
neopentecostal, p. 82.
1057
Id., ibid., p. 50.
1058
CHARTIER, R. Leitura e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 126.
318
expectativa compartilhada, seja da ordem de devoo, da utilidade ou do imaginario.
1059
Denota-se dai algo semelhante ao que Michel de Certeau denominou de 'leitura mistica, ao
reIerir-se ao 'conjunto de procedimentos adotado por grupos designados nos sculos XVI e
XVII, como 'iluminados, misticos, ou espirituais.
1060
Os livros escritos pelos lideres
iurdianos, de igual modo, assumem poder simbolico e mistico.
1061
Segundo, uma pratica de leitura resignificaaora ae substratos culturais. A
interpretao dada por lideres e Iiis as escrituras biblicas se lhes apresenta como revelao,
tendo como Iiltro um substrato cultural que conIigura o seu imaginario. No caso especiIico
dos pastores e bispos, o xito em atingir seus ouvintes com a mensagem que proIerem se
deve em boa parte ao Iato de a interpretao do texto biblico ocorrer em conIormidade com o
imaginario dos Iiis. Contribui para isto o Iato de tambm serem eles mesmos pertencentes a
tal universo representacional, o que lhes permite descortinar eIicazmente o capital
simbolico
1062
que conIigura as representaes por eles vivenciadas. Os iurdianos, atravs da
leitura biblica, a partir de um capital simbolico e de um conjunto de representaes hibrido
constituido em seu imaginario, Iiltram dogmas e postulados teologicos eruditos legados pelo
protestantismo classico, realizando um dinmico processo de circulao cultural. Neste
aspecto, torna-se ilustrativa a comparao com Menochio, personagem de Carlo Ginzburg,
em sua obra O Queifo e os Jermes. Nas varias leituras que Iez, o moleiro de Friuli no soube
nelas encontrar o sentido esperado por todos, a 'verdade dos textos que teve em suas mos,
mas reinterpretou-os. EIetuando leituras desviantes, que Iogem ao controle, Menochio Iez
ressurgir uma tradio cultural no letrada, na qual, ainda que alIabetizado, ele esta
totalmente inscrito. 'Ao condenarem-no, os juizes condenaram sua intruso no controlada e
incontrolavel no mundo da cultura escrita.
1063
Menochi o no est ava si mpl esment e r el endo mensagens t r ansmi t i das
de ci ma par a bai xo na or dem soci al . El e l i a agr essi vament e,
t r ansI or mando o cont eudo mat er i al a sua di sposi o numa concepo
r adi cal ment e no- cr i st do mundo.
1 0 6 4
1059
Id., ibid., p. 270.
1060
Apua. CHARTIER, R. A oraem aos livros. leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os seculos XIJ e
XJIII. Brasilia: UNB, 1999, p. 13,14.
1061
Neste sentido, pode-se aIirmar que a pratica de leitura iurdiana trabalha na contramo do sistema escolar que
prope eliminar este carater mistico, conIorme analise Ieita por Bourdieu. Para este autor o sistema escolar tem
esse eIeito de se contrapor ao carater mistico de leitura, desenraizando a expectativa de 'proIecia, no sentido
weberiano de 'resposta sistematica a todos os problemas da existncia. In: CHARTIER, R. Praticas aa
Leitura, p. 241.
1062
BOURDIEU, P. Ra:es praticas, p. 107.
1063
CHARTIER, R. Praticas aa leitura, p. 64.
1064
DARNTON, Robert. O Beifo ae Lamourette. Miaia, cultura e revoluo. So Paulo: Companhia das Letras,
1990, p. 147.
319
Ginzburg, quando emprega o conceito de circulariaaae,
1065
em tal analise,
seguiu semelhante metodologia e inspirao teorica utilizada por Mikhail Bakhtin,
1066
embora
tenha estudado no um intelectual das elites, mas um simples moleiro que sabia ler, ao passo
que tambm empregou um conceito de cultura Iolclorica interposto em dois vrtices:
primeiro, a oposio desta a cultura letrada ou oIicial das classes dominantes; segundo,
manuteno de certas relaes com a cultura dominante, Iiltrando-a, entretanto, de acordo
com seus proprios valores e condies de vida. E nesta dinmica entre os niveis culturais,
chamados, por vezes, de popular e de erudito, que Ginzburg prope um principio que vai
alm do que Iora adotado por Bakhtin, pois considera as interpenetraes culturais e no
somente as oposies entre elas. Chartier comenta que Carlo Ginzburg analisa 'como um
homem do povo pode pensar e utilizar os elementos intelectuais esparsos que, atravs dos
seus livros e da leitura que deles Iaz, lhe advm da cultura letrada:
E a par t i r de I r agment os empr est ados pel a cul t ur a er udi t a e l i vr esca
que se const r oi um si st ema de r epr esent aes que l hes I or nece um
out r o sent i do, por que na sua base se encont r a uma out r a cul t ur a
( . . . ) Por det r as dos l i vr os r evol vi dos por Menochi o t i nhamos
i ndi vi dual i zado um codi go de l ei t ur a; por det r as dest e codi go, um
sol i do est r at o de cul t ur a or al . O i mpor t ant e i dent i I i car como, nas
pr at i cas, nas r epr esent aes ou nas pr odues, se cr uzam e se
i mbr i cam di I er ent es I or mas cul t ur ai s, ( . . . ) ou sej a, que ent r e o que
se convenci onou cl assi I i car ent r e er udi t o e popul ar , ha um j ogo
subt i l de apr opr i ao, r eempr egos, desvi os, cr uzament os ( . . . ) .
1 0 6 7
Semelhantemente, a leitura biblica iurdiana tem por condio 'evidncias
anteriores,
1068
uma memoria dos sentidos que a sustenta, estrutura, sentidos que se
apreendem mediante um processo de desvelamento 'circunscritos a determinadas condies
socio-historicas:
A l ei t ur a no se r eal i za assi m a par t i r de um vazi o de saber es; a sua
base de eI et uao um campo de si gni I i cao r econheci vel , em que
o t ext o se i nt r oduz par a si gni I i car ( . . . ) Esses saber es 'ant er i or es
nem nascem nem habi t am apenas no i ndi vi duo i sol adament e, mas
r emet em, t ambm el es, a exi st nci a de um cor po soci o- hi st or i co de
t r aos di scur si vos que const i t uem o espao de memor i a. E a par t i r
de t al espao di scur si vo de r egul ar i zao dos sent i dos, ent o, que os
l ei t or es pr ocedem a l ei t ur a.
1 0 6 9
1065
Partindo de conceitos inspirados na Antropologia Cultural, Ginzburg investiga as idias de um moleiro da
regio de Friuli, na Italia, condenado como herege pela Inquisio, no sculo XVI, devido as interpretaes que
passou a Iazer a partir da leitura de textos religiosos. Essas idias de Menochio entraram em conIronto com a
posio escolastica da Inquisio. Desse embate, emerge o enredo transIormando em analise pelo reIerido autor
sobre a cultura Iolclorica e a cultura clerical daquele periodo.
1066
Mikhail Bakhtin procurou analisar a cultura das classes populares na Frana, na dcada de 60, atravs da
obra de um letrado, tentando perceber nisto algum 'conIlito de classe no plano cultural.
1067
CHARTIER, R. Praticas aa leitura, p. 56, 57.
1068
Id., ibid., p. 25.
1069
PAYER, Maria Onice. Memoria de leitura e meio rural. In: ORLANDI, Eni Puccinelli (Org.). A leitura e os
leitores. Campinas: Pontes, 1998, p. 144.
320
Sendo a capacidade de ler uma maneira culturalmente variavel de
estabelecer signiIicado, este emerge no instante em que o leitor iurdiano absorve o sentido
'em sua propria existncia,
1070
pois 'a leitura conceituada de maneira tcnica como a
capacidade de reconhecer simbolos alIabticos e tambm o habito de Iaz-lo com
regularidade tem a sua historia intimamente relacionada com a historia do mundo como a
conhecemos`.
1071
Tal operosidade se torna possivel graas ao habitus, que segundo
Bourdieu
( . . . ) um cor po soci al i zado, um cor po est r ut ur ado, um cor po que
i ncor por ou as est r ut ur as i manent es de um mundo ou de um set or
par t i cul ar desse mundo, de um campo, e que est r ut ur a a per cepo
desse mundo como a ao desse mundo.
1 0 7 2
Assim, tais sistemas de esquemas de 'percepo, apreciao e ao, geradas pelo habitus,
per mi t em t ant o oper ar at os de r econheci ment o pr at i co, I undados no
mapeament o e no r econheci ment o de est i mul os condi ci onai s e
convenci onai s a que os agent es est o di spost os a r eagi r , como
t ambm engendr ar , sem posi o expl i ci t a de I i nal i dades nem cal cul o
r aci onai s de mei os, est r at gi as adapt adas e i ncessant ement e
r enovadas, si t uadas por m nos l i mi t es das const r i es est r ut ur ai s de
que so o pr odut o e que as deI i nem vol t ou- se par a a const r uo de
uma t eor i a da ao, so as 'est r ut ur as est r ut ur adas e est r ut ur ant es
que vi abi l i zam a pr opr i a vi da soci al .
1 0 7 3
Terceiro, uma apropriao 'vivencial` aa leitura biblica. Este processo se
da a partir da reencenao de episodios biblicos, narrados de modo miraculoso e carregados
de Iora simbolica. Os Iiis so desaIiados a tomar o lugar de personagens biblicos. No ms
de maio de 2004, por exemplo, a IURD
1074
realizou a campanha sobre a 'Ressurreio de
Lazaro, uma aluso ao personagem biblico que, conIorme relato Ieito pelo evangelho de
Joo, capitulo 11, Ioi ressuscitado por Jesus. Assim, os pastores e obreiros auxiliares
construiram no interior do templo uma pequena tenda escura, dentro da qual os Iiis
deveriam passar como parte da encenao, enquanto os pastores liam o reIerido texto biblico,
ordenando que os crentes saissem das 'trevas da doena, da misria, do Iracasso para a
'luz da cura, da prosperidade e da vitoria. Nesta teatralizao, pela leitura biblica, os Iiis
assumem o lugar ou os papis das personagens, objetivando a 'apropriao dos beneIicios
que supostamente se lhes torna acessivel. Aplicam-se com propriedade a isto as palavras de
1070
WOLFGANG, Iser. O ato aa leitura. Uma teoria ao efeito estetico. Vol. II. So Paulo: Editora 34, 1999, p.
82.
1071
DENIPOTI, C. Op. cit., p. 14, 20.
1072
BOURDIEU, P. Ra:es praticas. Sobre a teoria da ao, p. 144.
1073
Id., Meaitaes pascalianas, p. 169.
1074
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, 20 maio 2005.
321
Chartier, no sentido de que 'as obras, os discursos, so existem quando se tornam realidades
Iisicas, inscritas sobre as paginas de um livro, transmitidas por uma voz que l ou narra,
declamadas num palco de teatro.
1075
Na IURD 'os textos constroem representaes e imagens.
1076
Observa-se
que o papel da Iala, nos rituais, 'no apenas comunicao, mas poder e sabedoria; no
consiste somente num aglomerado de palavras e de sentenas, mas tem valor ontologico,
sendo capaz de 'remodelar o ser dos que dele participam ao promover a passagem de uma
condio para outra, a substituio de uma condio anterior.
1077
Nesta elevao simbolica a
posies de autoridade, 'os Iracos passam a agir como se Iossem Iortes
.1078
Exemplo disso
tambm se pode observar por ocasio do batismo: nas instrues preparatorias so citados
recorrentemente aos neoIitos textos que lhes asseguram ser 'despojados de sua condio de
pecado, de maldio e de 'velha vida para o renascimento a uma 'nova vida de posio de
'Iilhos de Deus, adquirindo-se, dessa maneira, o direito de viver com todos os 'privilgios
que tal condio representa. Pelo ato das palavras, naquele momento os ritos promovem
'status.
1079
A IURD opera num campo de leituras codiIicadas, de saberes populares,
promovendo, ao mesmo tempo, uma resigniIicao das leituras ja existentes no reIerido
campo. Essas dramatizaes proporcionam tambm aos participantes uma saida momentnea
do presente e um reencontro com dimenses sagradas da existncia, conIorme estudos Ieitos
por Mircea Eliade.
1080
Esse tempo sagrado, segundo Eliade, percebido pelo ser humano
como indestrutivel e capaz de promover ordem. Volta-se a ele nos rituais e Iestas. Estes
permitem a invaso e alterao do presente por Ioras do passado, Iazendo que as pessoas
distantes no tempo e no espao se tornem 'contemporneas dos deuses.
1081
E, nas praticas da
IURD se observa, por exemplo, que os chamados pontos geograIicos sagrados da Terra Santa
so conectados com os 'espaos sagrados em que esto localizados os Iiis.
Ainda neste item, constata-se que nessa Igreja a leitura biblica se torna
como que uma chave usada para abrir espaos temporais residentes no imaginario dos seus
adeptos. A participao nos ritos, mediada pela leitura da Biblia, representa no so um
mergulho nos 'tempos biblicos, como tambm em um imaginario moldado pela tradio
1075
CHARTIER, R. A oraem aos livros, p. 8.
1076
Id. Leitura e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 377.
1077
Id., ibid., p. 127.
1078
Id., ibid., p. 202.
1079
Essas expresses so enIatizadas pelo bispo Macedo quando Iala sobre o signiIicado do batismo, em artigo
na Folha Universal, intitulado 'Batismo, o ato de sepultar a carne. In: Folha Universal, Rio de Janeiro, 08 out.
2006, p. 2.
1080
ELIADE, M. O sagraao e o profano. a essncia das religies, p. 102,117.
1081
Id. Trataao ae historia aas religies. So Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 313, 314.
322
catolico-aIro-brasileira. De acordo com Maria Isaura P. Queiroz, o imaginario pode ser
entendido como um 'conjunto de representaes do qual emerge a capacidade criativa do
espirito humano de compor sinteses originais, 'a partir de mitos, simbolos, imagens, sonhos e
tantos outros materiais estocados por uma determinada cultura.
1082
Nesse sentido, as praticas
de leitura da Biblia tornam-se um importante elemento de produo e transmisso cultural,
pois promove um dinmico processo de retraduo e circulao de elementos pertencentes a
tempos de longa durao:
Os l ei t or es so vi aj ant es ( . . . ) A escr i t a acumul a, est oca, r esi st e ao
t empo pel o est abel eci ment o de um l ugar ( . . . ) A l ei t ur a no se
pr ot ege cont r a o desgast e do t empo; el a pouco ou nada conser va de
suas aqui si es, e cada l ugar por onde el a passa a r epet i o do
par ai so per di do.
1 0 8 3
Desta Iorma, portanto, eventos perdidos no tempo Iixados pelo relato
biblico, ligam-se existencialmente a biograIia de cada iurdiano, que se apropria desses
espaos e acontecimentos, inserindo neles seus sonhos e desejos. Assim, pela leitura
ritualizada da Biblia, as praticas da IURD se tornam uma grande ao simbolica, em que
coletivamente se revivem experincias Iundamentais, geradoras de sentido e de certeza para a
vida presente.
Quarto, uma leitura ae carater 'rebelae` Irente aos dogmas ou cnones
estabelecidos pelos segmentos religiosos dominantes no campo. No mbito da IURD no ha
preocupao com qualquer recurso metodologico de hermenutica ou de exegese para a
leitura que Iazem da Biblia. Assim, sem maiores preocupaes com a sistematizao da
teologia biblica que ocorre pelo agrupamento de grandes blocos literarios dos diIerentes
livros - a pratica de leitura iurdiana se da pela Iragmentao de trechos isolados das escrituras
biblicas que priorizam personagens biblicos descritos como portadores de uma vida prospera
e de sucesso como, so os casos de Abrao e Jos do Egito. Normalmente so evitadas
reIerncias a textos que mencionam 'Iracasso ou diIiculdades que envolveram personagens
biblicos, a no ser quando isso serve como argumento dos pastores para mostrar o que o
Demnio pode Iazer na vida de uma pessoa que ainda no aprendeu a usar os recursos
disponibilizados pela Igreja.
A esse modelo de leitura podem ser aplicadas em paraIrase as
consideraes Ieitas por Chartier, quando cita a temeridade demonstrada por Locke em
relao ao Iato de que esses procedimentos Iragmentados 'quebram a continuidade
1082
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O imaginario em terra conquistada. Textos CERU, So Paulo, n. 4,
1993.
1083
CERTEAU, Michel de. Apua. CHARTIER, Roger. A oraem aos livros, p. 11.
323
ininterrupta do texto, acrescentando-se que tal 'recorte pode ter implicaes Iundamentais
quando se trata de um texto sagrado, por 'provocar uma obliterao a coerncia da palavra
de Deus, propiciando maior Iacilidade a cada 'seita ou partido religioso de Iundar a sua
legitimidade sobre os Iragmentos da Escritura que mais lhe paream conIortaveis.
1084
Essa
mesma temeridade, portanto, poderia paralelamente retratar a opinio do protestantismo ou
mesmo do catolicismo atuais a respeito do que vem ocorrendo nas praticas da IURD:
Bast a a el e ( o I i el de uma i gr ej a qual quer ) muni r - se de cer t os
ver si cul os das Sant as Escr i t ur as cont endo pal avr as e expr esses de
I aci l i nt er pr et ao ( . . . ) par a que o si st ema, que os t er a i nt egr ado a
dout r i na or t odoxa de sua I gr ej a, l ogo os I aa advogados poder osos e
i r r eI ut avei s de sua opi ni o. Essa a vant agem de I r ases separ adas e
da I r agment ao das Escr i t ur as em ver si cul os que, r api dament e,
t or nar - se- o aI or i smos i ndependent es.
1 0 8 5
No obstante os esIoros pelo controle da leitura, as praticas da Igreja
Universal Iazem com que os protestantes classicos no apenas percebam a ineIicacia de se
atingir tal objetivo no campo religioso brasileiro, como tambm levam-no a experimentar dos
eIeitos de sua propria gnese historica, uma vez que a apropriao das praticas de leitura Ioi
preponderante para o desencadeamento da ReIorma Protestante, no sculo XVI. Na ocasio,
vendo a leitura da Biblia como o principal meio de se promover o acesso ao conhecimento da
salvao, ao liderar aquele movimento, Martinho Lutero Ioi enIatico perante a Dieta de
Worms quando inquirido a abdicar de suas idias reIormadoras: 'E impossivel retratar-me, a
no ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho da Escrituras (...)
minha conscincia esta alicerada na Palavra de Deus e no honesto agir-se contra a
conscincia de algum.
1086
Constituiria-se, a partir dai, a doutrina do 'sacerdocio universal
de todos os crentes preconizada pela ReIorma, que popularizou a leitura da Biblia por no
mais imprescindir da Iigura mediadora do sacerdote como o agente devidamente autorizado a
interpretar as Escrituras. Isto acabou, porm, abrindo grande precedente em relao a
interpretao que se Iaria do texto sagrado. Pode-se veriIicar as implicaes deste aspecto na
Iormao de diIerentes grupos e ramiIicaes denominacionais que passaram a conIigurar o
protestantismo em diIerentes lugares para onde se expandiu a partir do sculo XVI, o que esta
em sintonia com o dinamismo que possui a leitura. Por isso mesmo no demorou para que, a
semelhana do catolicismo, as igrejas reIormadas tambm passassem a estabelecer seus
1084
CHARTIER, Roger. A oraem aos livros,, p. 18, 19.
1085
Id., ibid.
1086
NICHOLS, R. Op. cit., p. 151.
324
dogmas e cnones, que deveriam se constituir em parmetro interpretativo das Escrituras
biblicas, incorrendo assim tambm no modelo de classe sacerdotal:
O cor po de sacer dot es t em a ver di r et ament e com a r aci onal i zao
da r el i gi o e der i va o pr i nci pi o de sua l egi t i mi dade de uma t eol ogi a
er i gi da em dogma cuj a val i dade e per pet uao el e gar ant e. ( . . . )
Enquant o r esul t ado da monopol i zao da gest o dos bens da
sal vao por um cor po de especi al i st as r el i gi osos, soci al ment e
r econheci dos como os det ent or es excl usi vos da compet nci a
especi I i ca necessar i a a pr oduo ou a r epr oduo de um ' cor pus'
del i ber adament e or gani zado de conheci ment os secr et os ( e, por t ant o,
r ar os) , a const i t ui o de um campo r el i gi oso acompanha a
desapr opr i ao obj et i va daquel es que del e so excl ui dos e que se
t r ansI or mam por est a r azo em l ei gos ( . . . ) dest i t ui dos do capi t al
r el i gi oso ( . . . ) e r econhecendo a l egi t i mi dade dest a desapr opr i ao
pel o si mpl es I at o de que a desconhecem enquant o t al .
1 0 8 7
Ao se observar um carater de insujeio e rebeldia da leitura nas praticas da
IURD, em relao ao modelo oIicial preconizado por catolicos e protestantes classicos, pode-
se constatar que 'aparentemente passiva e submissa, a leitura , em si, inventiva e criativa,
1088
e que tambm 'liberta-se de todos os entraves que visam submet-la.
1089
A isto se
aplicam com propriedade as palavras de Chartier:
Pensar as pr at i cas cul t ur ai s em r el ao de apr opr i aes di I er enci ai s
aut or i za t ambm a no consi der ar como t ot al ment e eI i cazes e
r adi cal ment e acul t ur ant es os t ext os, as I al as ou os exempl os que
vi sam mol dar os pensament os e as condut as da mai or i a. Al m di sso,
essas pr at i cas so cr i ador as de usos ou de r epr esent aes que no
so absol ut ament e r edut i vei s as vont ades dos pr odut or es de
di scur sos e de nor mas. O at o de l ei t ur a no pode de manei r a
nenhuma ser anul ado no pr opr i o t ext o, nem compor t ament os vi vi dos
nas i nt er di es e nos pr ecei t os que pr et endem r egul ament a- l os. A
acei t ao dos model os e das mensagens pr opost as oper a- se por mei o
dos ar r anj os, dos desvi os, as vezes das r esi st nci as, que mani I est am
a si ngul ar i dade de cada apr opr i ao.
1 0 9 0
Assim, por mais que se queira direcionar a recepo de sentido pelos
leitores acerca do que se l, havera sempre o risco de uma 'subverso hertica
1091
paraIraseando Bourdieu - na apropriao que se Iaz pela leitura:
A l ei t ur a pr at i ca cr i ador a, at i vi dade pr odut or a de sent i dos
si ngul ar es, de si gni I i caes de modo nenhum r edut i vei s as i nt enes
dos aut or es de t ext os ou I azedor es de l i vr os . . . Abor dar a l ei t ur a ,
por t ant o, consi der ar conj unt ament e a i r r edut i vel l i ber dade dos
l ei t or es e os condi ci onament os que pr et endem r eI r ea- l a.
1 0 9 2
1087
BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. 39.
1088
CHARTIER, Roger. In: CHARTIER, Roger et al. Leitura, historia e historia aa leitura. Campinas: Mercado
de Letras, 2000, p. 31.
1089
Michel de Certeau. In: CHARTIER, A oraem aos livros, p. 12.
1090
CHARTIER, R. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 13, 14.
1091
BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. 93.
1092
CHARTIER, R. A Historia Cultural. entre praticas e representaes, p. 123.
325
Chartier ressalta ainda que 'uma conIigurao narrativa pode corresponder
a uma reIigurao da propria experincia e que preciso 'compreender na sua historicidade
as apropriaes que se apoderam das conIiguraes textuais:
1093
Os t ext os no so deposi t ados nos obj et os, manuscr i t os ou
i mpr essos, que o supor t am como r ecept acul os ( . . . ) Consi der ar a
l ei t ur a como um at o concr et o r equer que qual quer pr ocesso de
pr oduo de sent i do, l ogo de i nt er pr et ao, sej a encar ada como
est ando si t uado no cr uzament o ent r e, por um l ado, l ei t or es dot ados
de compet nci as especi I i cas, i dent i I i cados pel as suas posi es e
di sposi es car act er i zados pel a sua pr at i ca do l er , e, por out r o l ado,
t ext os cuj o si gni I i cado se encont r a sempr e dependent e dos
di sposi t i vos di scur si vos e I or mai s chamemos- l hes t i pogr aI i cos.
1 0 9 4
Sendo as praticas, por meio das quais o leitor se apropria do texto, historica
e socialmente determinaveis, o livro esta 'suscetivel a uma pluralidade de usos, sendo
tomado dentro de uma rede de praticas culturais e sociais que lhe da sentido aIirma
Chartier, acrescentando ainda que 'a leitura no uma invariante historica, mas um gesto,
individual ou coletivo, dependente das Iormas de sociabilidade, das representaes, das
concepes da individualidade.
1095
4.5 - Representaes da morte nas prticas iurdianas: mudanas na geografia do
~Alm
A IURD promove signiIicativas mudanas em relao a 'geograIia do
Alm, assim como nas relaes entre 'a sociedade dos vivos e a sociedade dos mortos.
1096
Sobre esse assunto, trs aspectos podem ser destacados: a ausncia de discurso em relao a
morte, e, nesse aspecto, curiosamente, a igreja que nasceu numa antiga Iuneraria mantm
absoluto silncio ou indiIerena, quando no, atitudes combativas, em relao a esse assunto;
o 'celeste porvir antecipado para o 'terrestre presente, propondo-se que as benesses do
paraiso, tradicionalmente projetado pelo cristianismo para a vida Iutura, possa ser acessivel
ao Iiis ja na existncia terrena; antecipao das representaes do inIerno para o mundo
presente. As descries Ieitas pela IURD do que o Demnio Iaz na vida das pessoas apontam
para aes que o cristianismo normalmente projetava para o mundo pos-morte. Jacques Le
GoII, quando descreve as representaes do inIerno no mundo medieval, cita, por exemplo,
'torturas sobre o corpo, gritos, urros, vociIeraes espetaculares e aterradores,
1097
1093
Id., ibid., p. 24.
1094
Ibid., p. 25, 26.
1095
CHARTIER, R. Leitura e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 173.
1096
LE GOFF, J. O maravilhoso e o quotiaiano no ociaente meaieval, p. 63.
1097
Id., ibid., p. 67.
326
provocadas pelos demnios. Esse segmento religioso toma essas imagens projetadas para o
Iuturo e as antecipa, identiIicando sua ocorrncia principalmente nos terreiros aIro. As
sesses de exorcismo, Ieitas no templo, encarregam-se de reproduzir tais maniIestaes,
tornando-se momentos estratgicos para demonstrao de que o diabo ja esta antecipando
para o tempo presente, o que anteriormente se costumava projetar para o devir escatologico.
Jacques Le GoII, no texto anteriormente citado, tambm mostra que no
conjunto gestual medieval proposto para o cristo, caracterizava-se o gesto da 'subida e o da
interiorizao; uma atrao do alto e interior. Na Igreja Universal, ha uma inverso do Iato:
as representaes esto voltadas para 'baixo, para o terreno, para o plano material e para o
'exterior, o que demonstrado na ostentao de riquezas, saude e prosperidade Iinanceira.
Esse 'terrestre presente tambm promove uma alterao na propria escatologia crist: a
'nova Jerusalm, descrita como a cidade ideal, na mensagem do Apocalipse (Ap. 22),
projetada para o Alm, na IURD a Jerusalm atual, geograIicamente localizada na Asia que
tem valor simbolico, razo porque se tornou centro de peregrinao de lideres e Iiis iudianos
para a realizao de seus ritos, como ja observado anteriormente.
Em relao propriamente a morte, vale dizer que consiste num elemento
muito presente na cultura e na religiosidade brasileiras, ocupando, na longa durao, grande e
importante espao na vivncia da I. O historiador Philippe Aries, em notavel pesquisa sobre
as atitudes do ser humano diante da morte, no Ocidente catolico, entre a Idade Mdia e
meados do sculo XVIII, apresenta uma relao de muita proximidade entre vivos e mortos.
Usa a expresso 'morte domesticada para se reIerir a maneira como parentes, amigos,
irmos de conIrarias e vizinhos acompanhavam no quarto dos moribundos seus ultimos
momentos. Observa tambm, como pratica caracteristica, a partir do sculo V, o costume
cristo de se enterrar os corpos dos mortos no interior das igrejas que Ireqentavam ou em
cemitrios absolutamente integrados a vida da comunidade. 'Uma sociedade em que
coabitavam os vivos e os mortos, em que o cemitrio se conIunde com a igreja no corao da
cidade destaca.
1098
Essa pratica religiosa-cultural de proximidade e inter-relao entre os
mundos dos vivos e dos mortos Iincou tambm raizes no Brasil ao longo do periodo colonial.
O historiador Joo Jos dos Reis aIirma que na Bahia da primeira metade do sculo XIX, por
exemplo, havia 'uma cultura Iuneraria com as caracteristicas de raizes em Portugal e AIrica.
Destaca que em ambos os lugares prevalecia a idia de que o individuo devia se preparar para
1098
REIS, Joo Jos dos. A morte e uma festa. So Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 73.
327
a morte, arrumando bem a sua vida, cuidando de seus santos de devoo ou Iazendo
sacriIicios a seus deuses e ancestrais:
Tant o aI r i canos como por t ugueses er am mi nuci osos no cui dado com
os mor t os ( . . . ) Em ambas as t r adi es acont eci am cer i mni as de
despedi da, vi gi l i as dur ant e as quai s se comi a e bebi a com a
pr esena de sacer dot es, I ami l i ar es e membr os da comuni dade. Tant o
na AI r i ca como em Por t ugal , os vi vos e quant o mai or o numer o
dest es mel hor mui t o podi am I azer pel os mor t os, t or nando sua
passagem par a o al m mai s segur a, deI i ni t i va, at al egr e ( . . . ) . Os
mor t os ganhar am mai or i mpor t nci a no cat ol i ci smo popul ar , ai nda
i mpr egnado de I or t es component es magi cos e pagos.
1 0 9 9
Reis observa que os aIricanos mantiveram no Brasil muitas de suas
maneiras de morrer, mas sobretudo incorporaram maneiras portuguesas. Isso se deveu em
grande parte a represso da religio aIricana no Brasil escravocrata, mas tambm a
dramaticidade ritualista dos Iunerais portugueses que se aparentava a dos aIricanos.
1100
Esse
autor tambm se reIere a tradio de sepultamento dos corpos no interior dos templos: 'Por
mais de dois mil anos tinha sido direito de ricos e pobres, senhores e escravos a sepultura no
interior dos templos, acrescentando-se que Iicavam excluidos dessa graa 'so os hereges,
pagos, excomungados, pecadores publicos, autores de crimes hediondos.
1101
Em relao ao protestantismo que se desenvolveu no Brasil, tambm se
conIiguraram representaes muitos Iortes voltadas ao chamado 'celeste porvir. Para isto
dava-se grande nIase nas prdicas a mensagem de converso visando preparar o individuo
para a vida do alem-pos-morte. Houve igualmente especial cuidado com o local de
sepultamento, construindo-se inclusive cemitrios proprios, em razo de conIlitos com o
catolicismo local, sobretudo no sculo XIX, razo porque esses 'cemitrios protestantes so
at hoje encontrados, por exemplo, na capital e em cidades do interior do Estado de So
Paulo, assim como na regio Sul do Brasil. Esse cuidado para com a morte, e os mortos,
decorre da herana protestante, especialmente norte-americana. Naquele contexto, no
obstante os esIoros empreendidos a partir da Inglaterra por autoridades anglicanas e pastores
calvinistas visando a simpliIicao ritual dos Iunerais, acabou prevalecendo a resistncia do
povo: 'os cadaveres geralmente deixaram de ser enterrados no interior das igrejas, mas
permaneceram ocupando seus adros, sinal de resistncia ao distanciamento entre vivos e
mortos. Por esse motivo, na Nova Inglaterra, 'no sculo XVIII, a maioria dos cemitrios se
aproximou dos templos e os Iunerais, antes de chegarem ao cemitrio, paravam na igreja
1099
Id., ibid., p. 90.
1100
Id., ibid., p. 91.
1101
Id., ibid., p. 267.
328
onde o pastor Iazia um sermo Iunebre, conclamando os presentes a abandonarem seus
pecados.
1102
Em relao as crenas aIro, assim como no kardecismo, em periodo mais
recente, ha tambm em suas praticas Iortissimos vinculos estabelecidos entre o mundo dos
vivos e dos mortos. Atravs de seus rituais, acredita-se que o mdium estabelece contato com
o mundo alm, comunicando-se com espiritos dos que ja morreram.
Sobretudo nas regies interioranas do Brasil, a morte ainda consiste num
momento acercado de procedimentos quase que liturgicos, que rompe a Ironteira do privado
para tornar-se publico: parentes, vizinhos e at estranhos tm acesso livre ao interior da casa
e ao leito do moribundo, denotando solidariedade propria dessas horas. Todos, de algum
modo, revezam-se na preparao para a morte, na preparao do corpo, no velorio e no
enterro. Esse envolvimento comunitario expressa a concepo de que, embora o morto seja
da Iamilia, a morte, ao contrario, assunto da comunidade.
A IURD, promove em suas praticas alterao destas representaes. De
Iorma recorrente, tanto em suas reunies como nos programas de radio e TV, citado o texto
biblico de Joo 10:10, que diz: 'O Diabo veio para matar, roubar e destruir. A morte, a dor e
o soIrimento, situaes-limite da vida humana, na cosmoviso iurdiana esto assim
diretamente associadas a atuao do Demnio. Em um depoimento ao programa de televiso
'Em que posso te ajudar?, exibido pela TV Record, um recm-convertido a IURD enIatizou
a morte como tragdia provocada pelos demnios contra a sua Iamilia, antes de sua
converso a Igreja:
Eu no conheci a a Deus. Por i sso, t r abal hos de br uxar i a e I ei t i ar i a
t r ouxer am desgr aas cont r a a mi nha I ami l i a, me I azendo per der um
bom empr ego que possui a, mas pr i nci pal ment e, per der mi nha i r m
doent e no hospi t al e um i r mo em aci dent e de car r o. . . Em busca de
aj uda, r ecor r i aos t er r ei r os par a I azer 't r abal hos que pudessem
desI azer o mal que est ava cont r a mi m. . . Mas vi as coi sas
cont i nuar em i ndo de mal a pi or . . . At que conheci a I gr ej a
Uni ver sal e t udo mudou na mi nha vi da. . .
1 1 0 3
Procurando ser coerente com a teologia da prosperidade, que prega o
usuIruto de saude, riqueza, bem-estar e vida longa, a mensagem iurdiana demonstra, por esse
motivo, grande diIiculdade em lidar com qualquer situao que lembre 'Iracasso e a morte
representa um tipo de derrota de todos os procedimentos ritualisticos criados para conIerir
aos seus Iiis o sentimento de xito e sucesso. O posicionamento da IURD conIronta um
habitus que incorpora o campo religioso brasileiro e isso pode ser observado nas proprias
1102
Id., ibid., p. 80.
1103
Em que posso te afuaar? So Paulo, Rede Record, 10 de maio 2005. Programa de TV.
329
atribuies dos pastores. Em seu regimento interno, artigo 32, que trata das Iunes do
pastor, no ha nenhuma meno a assistncia as Iamilias enlutadas. Em outras igrejas
evanglicas comum os pastores dirigirem oIicios Iunebres nos velorios, templos, casas de
Iamilia ou cemitrios. Ja os pastores iurdianos, simplesmente se calam diante da morte. Em
entrevista com Iamilias, em Londrina, perguntando sobre os procedimentos da IURD quando
do Ialecimento de algum membro, os depoimentos apresentaram inIormaes comuns:
estando ainda hospitalizado, antes de morrer, o doente, nos casos em que houve solicitao
da Iamilia, recebeu uma visita de um obreiro da Igreja, o qual orou pela cura do enIermo,
desaIiando-lhe a acreditar que seria possivel ocorrer um milagre. So oportunas as
observaes Ieitas por Philippe Aries sobre as mudanas de comportamento diante da morte
no mundo contemporneo:
Hoj e, nos hospi t ai s, e cl i ni cas em par t i cul ar , no ha mai s
comuni cao com o mor i bundo. El e no mai s escut ado como um
ser r aci onal , apenas obser vado como um caso cl i ni co, i sol ado, na
medi da do possi vel , como um mau exempl o ( . . . ) Na medi da do
possi vel , el e se beneI i ci a de uma assi st nci a t cni ca mai s eI i caz que
a companhi a cansat i va de par ent es e vi zi nhos. Mas t or nou- se, ai nda
que bem cui dado e por mui t o t empo conser vado vi vo, uma coi sa
sol i t ar i a e humi l hada.
1 1 0 4
Apos o Ialecimento, nos casos aqui analisados, os procedimentos Iunebres
no tiveram nenhum ritual religioso mais especiIico: o corpo, apos liberao do hospital, Ioi
velado na 'casa de velorio municipal; no houve o comparecimento de pastores, apenas a
presena de amigos da igreja num gesto de solidariedade.
Outra observao pode ser constatada na ausncia de registro ou meno de
Ialecimentos de adeptos da Igreja. Examinando-se, para o desenvolvimento desta pesquisa,
centenas de exemplares da Folha Universal, no se encontrou uma nota sequer reIerente a
Ialecimento de membros da Igreja, algo que bastante comum em outros jornais evanglicos.
Mario Justino, um ex-pastor da IURD, em depoimento que Iaz sobre a Igreja, em livro de sua
autoria, narra um episodio envolvendo sua me, que Ireqentava um dos templos iurdianos
no Rio de Janeiro. Seis meses apos o Ialecimento dela, a Iamilia teria recebido uma carta do
pastor redigida nos seguintes termos:
Pr ezada i r m: ul t i mament e t emos sent i do a I al t a de sua pr eci osa
pr esena nos cul t os de l ouvor es ao Di vi no Espi r i t o Sant o. Lembr e-
se: 'r esi st i ao di abo e el e I ugi r a de vos. Esper o ver - t e na pr oxi ma
Cei a do Senhor . Paz sej a convosco. Seu escr avo em Cr i st o, Past or
Ri car do Pel egr i ni . P. S. O ai :i mo aa i rm est a at rasaao em ci nco
meses.
1 1 0 5
1104
ARIES, Philippe. Historia aa morte no Ociaente. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977,
p. 298, 299.
1105
JUSTINO, M. Op. cit., p. 65.
330
Igualmente os hospitais so vistos como espaos de atuao de
'concorrentes, mdicos e enIermeiros, que disputam pelos meios da cincia o controle sobre
os corpos daqueles que deveriam recorrer aos meios sobrenaturais disponibilizados pela
Igreja para a soluo de seus problemas. Por isso, o co-Iundador da IURD, o missionario
R.R. Soares, quando interrogado sobre a Iuno dos mdicos respondeu: 'Algum uma vez
me disse, mas Deus no colocou os mdicos no mundo?` Eu respondi: E verdade. Ele to
bom que pensou nos crentes incrdulos.
1106
Soares apresenta sua propria experincia como
argumento:
Um di a l i o l i vr o ' O Nome de Jesus' , de Kennet h Hagi n. Acabei de
l - l o no di a 2 de dezembr o de 1984 e de l a par a ca nunca mai s t omei
um compr i mi do sequer , com exceo de um ant i aci do que t omei
qui nze di as apos, numa madr ugada, por causa de uma i ndi sposi o
est omacal .
1 1 0 7
Tambm esta associado a essa mensagem de 'vida abundante,
Iundamentada na teologia da prosperidade, o Iato de que gastar o dinheiro com mdicos e
remdios algo proIano, aIinal esse recurso teria melhor utilidade se destinado as Iinalidades
da Igreja. Assim, nas praticas da IURD os mdicos acabam desempenhando um papel
importante apenas em duas circunstncias: para diagnosticar a doena e, posteriormente,
constatar a cura. Em relao ao primeiro caso, os proIissionais da medicina servem para
demonstrar os limites da cincia, emitindo pareceres de que algum esta 'desenganado pela
medicina. Isto Iica bastante evidente quando, depois de ter procurado a Igreja e recebido o
'milagre, o Iiel enIatiza em seu 'testemunho que conseguiu xito quando 'no mais havia
recursos humanos para a soluo do problema. No segundo caso, a Iigura do mdico
novamente utilizada como prova do 'milagre alcanado, ou seja, comum se observar
aIixados nos templos ou expostos nos programas de TV laudos ou atestados mdicos
comprovando que determinado Iiel no mais portador da antiga enIermidade que o
acometia.
Outro aspecto diz respeito as representaes que envolvem o cemitrio.
Tido como 'campo santo ou extenso da propria igreja no Brasil colonial ou imperial
sendo por isso mesmo agregado aos templos na longa tradio do Brasil catolico este
espao passa a ser visto pela IURD como 'lugar de maldio. Para detectar a origem do mal
ou dos trabalhos de Ieitios praticados contra as pessoas que recorrem aos seus templos em
busca de ajuda, a Universal emprega com Ireqncia os seguintes diagnosticos: 'Ioi Ieito um
1106
SOARES, R. R. Como tomar posse aa beno. So Paulo: Graa Editorial, 1987, p. 40.
1107
Id., ibid., p. 16.
331
trabalho espiritual com terra de cemitrio; 'algum, tomado de inveja e de maldade, pegou
terra de cemitrio e jogou no quintal da sua casa ou no patio da sua empresa costumam
alertar os pastores. Assim, como parte de sua atividade, pastores e obreiros periodicamente
deslocam-se at aos cemitrios, especialmente a noite, para travar uma 'batalha espiritual e
desIazer os trabalhos de Ieitiaria realizados naquele local contra a vida de pessoas que
passaram a Ireqentar os seus templos.
Tambm por essas razes no tumulo de adeptos da IURD no se observa
nenhuma representao imagtica que lembre, por exemplo, os costumes catolicos. Por isso,
uma sepultura comum, sem inscries lapidais e ornamentao sacra o modelo
normalmente adotado. A ida ao cemitrio no Dia de Finados, outro costume religioso
presente no contexto brasileiro, tambm so ocorre com um proposito: entregar panIletos
evangelisticos e Iazer convite para que as pessoas compaream a Igreja. O cemitrio visto
como representao viva das mazelas realizadas por aquele que 'veio para matar, roubar e
destruir, o Diabo.
332
CONSIDERAES FINAIS
A Igreja Universal do Reino de Deus consiste num Ienmeno
absolutamente inaugural no campo religioso brasileiro. Estabeleceu reconIiguraes, criou
praticas e promoveu mudanas to radicais no cenario religioso do pais a ponto de se poder
dividi-lo em antes e aepois da IURD. Ao contrario do que comumente ocorre na Iormao de
novas denominaes, uma Igreja que no surge de um cisma ou dissidncia e nem apenas
extenso de segmentos que migraram de outros contextos para o solo brasileiro: ela criada,
irrompe com a Iora de processos historicos. 'Sindicato de Magicos , assim, uma expresso
que traduz bem a capacidade de um movimento de atuar eIicazmente em niveis que o capital
cultural do campo permite, cujos recursos outros segmentos no tiveram a ousadia, a
coragem e nem a habilidade para operacionalizar.
Entre as caracteristicas que notabilizaram as praticas iurdianas no
transcorrer das trs ultimas dcadas no Brasil esta o desenvolvimento de uma religiosidade
liminar, Iolclorica, interior, pessoal, que no necessita de oIicializao, mais associada ao
imaginario do mundo rural que migrou para a cidade, nesse periodo. No contexto urbano,
marginalizada, essa cultura religiosa Iolclorica exerceu presso sobre a cultura clerical,
catolica ou protestante, que no soube acolh-la ou absorv-la. Foi a IURD, portanto, que
surgiu e passou a trabalhar com essa religiosidade, conseguindo chegar as bases, as massas
onde o protestantismo e o catolicismo institucional no conseguiram alcanar. Ela representa
um cristianismo que deu certo no contexto religioso brasileiro; obteve uma eIicacia que as
outras ramiIicaes crists no atingiram porque no souberam utilizar as regras do campo
nem interagir com os elementos nele constituidos.
Nos capitulos desta pesquisa, anteriormente desenvolvidos, Ioram
abordados aspectos que Iizeram do movimento iurdiano o mais impactante Ienmeno
religioso ocorrido no Brasil, nas ultimas dcadas. Alguns desses elementos sero pontuados,
a seguir, a guisa de consideraes Iinais.
Primeiro, a Igreja Universal se caracteriza como um 'sindicato.
'Sindicato a expresso mais apropriada para identiIicar um movimento que emergiu do
povo, conseguiu traduzir os anseios das massas, colocar-se como uma organizao paralela a
instituio religiosa hegemnica e operar habilmente suas praticas com regras coletivamente
construidas no campo. E mais: a liderana do lider carismatico Iundador, juntaram-se outros
magos, como agentes autnomos, igualmente livres das sanes institucionais que, pela Iora
333
do habitus, conseguem reproduzir estilo e semelhante carisma de seu lider principal,
conquistando com isso maior legitimidade perante o grupo ao qual dirigem suas Iunes.
Esse sindicato religioso conseguiu, de Iato, chegar as massas. Para isso,
desenvolveu a habilidade de integrar em suas praticas conIiguraes classicamente tidas
como paralelas, concorrentes ou opostas no interior do campo religioso, presentes nas
instituies oIiciais e nos movimentos liminares. Ostentando titulos clericais de 'bispos, os
agentes iurdianos interativamente atuam como proIetas autnomos de salvao ou
empresarios individuais de socorro e ajuda, emergindo do povo e prestando atendimento a
Iiis que, muitas vezes, parecem conIigurar-se como clientes. Um jogo de imagens e
representaes que transcende Ironteiras e limites conceituais. Denominando-se 'igreja, a
IURD desenvolve simultaneamente praticas caracterizadas por magia, messianismo e
proIetismo. Vale dizer que, desde o periodo colonial, a Igreja Catolica institucional no
conseguiu chegar aos grandes estratos do pais - o que permitiu que se desenvolvesse um
catolicismo Iolclorico, montado em rezas, magia, messianismos. O protestantismo, inserido
no Brasil a partir do sculo XIX, semelhantemente, no conseguiu penetrar nas grandes
camadas sociais, rejeitando tambm todo o substrato cultural conIigurado em solo brasileiro
por considera-lo, a luz de sua mensagem racional, idolatrico, demoniaco. Da liminaridade a
prioridade, o movimento iurdiano percorreu um caminho inverso, promovendo a consagrao
de elementos 'herticos existentes no campo, enIatizando elementos da I que o catolicismo
e protestantismo consideraram 'marginais, como so os casos do Diabo, do exorcismo, do
transe, da magia e do messianismo. Edir Macedo tornou esses assuntos prioritarios: ele se
apossou deles e os trouxe para o centro das praticas da sua Igreja.
Tambm se tem convencionado explicar que, inicialmente organizados Iora da
estrutura de igreja, os movimentos liminares, com o passar do tempo, podem cristalizar-se,
crescer e solidiIicar-se, para eventualmente Iormarem a sua propria ortodoxia. Desse modo, a
institucionalizao do carisma permitira que se constituam novos sacerdotes, os quais
sistematizaro a mensagem proItica em Iorma de doutrina e criaro novos rituais, o que se
pode chamar, na linguagem de Bourdieu, de 'banalizao da proIecia. E dessa Iorma que
ocorre a transIormao da seita em igreja, que no Iuturo podera ser alvo da contestao de
novos proIetas. As aparentes contradies ou paradoxos vivenciados no mbito iurdiano
emblematicamente ganham sentido e coerncia a partir de regras que o campo religioso
capaz de promover. Por isso, esse segmento passou a requerer o emprego de novos
334
parmetros explicativos, dai a atribuio do titulo 'sindicato de magicos para o
desenvolvimento da tese aqui elaborada.
O uso da representao do 'sindicato, portanto, plausivel para a
compreenso do segmento iurdiano. Primeiramente, porque esse movimento congrega
anseios de expressivas camadas sociais, o qual desenvolveu um grau de organizao e, tendo
surgido com proposta proItica, passou a se aproximar de uma instituio, no deixando
ocorrer, entretanto, a rotinizao do carisma nem a institucionalizao de suas praticas.
Operacionaliza suas praticas e representaes a partir de regras do campo religioso, as quais
permitem o avano de Ironteiras convencionalmente estabelecidas para as Iunes dos tipos
ideais de agentes religiosos, identiIicados, por exemplo, por Weber. No movimento iurdiano,
os lideres - denominados pastores ou bispos - assumem para os Iiis simultaneamente
diIerentes representaes e cumprem Iunes de mago, proIeta ou messias. Isso demonstra
que, na verdade, o campo religioso no opera por Ironteiras estanques, por limites bem
deIinidos ou puros, havendo magia no que se convenciona classiIicar como religio clerical e
um certo grau de institucionalizao em movimentos de vocao liminar.
Outro elemento que torna a IURD um sindicato religioso esta na construo
coletiva do lider carismatico. Nesse caso, Iica evidente que no plausivel pensar o seu
carisma a partir da valorizao da Iigura do 'heroi, ou pela excepcionalidade de uma
imagem isolada. A dimenso coletiva pela atribuio de Ioras sociais e historicas. O poder
que se acerca do lider baseia-se na Iora do grupo. Assim, as relaes entre os lideres
iurdianos e seus seguidores se do a medida que 'aspiraes que ja existiam antes dele vm
a tona 'por causa de seus discursos, conduta exemplar ou palavra de ordem. So 'Ialas
exemplares perante o grupo de seus seguidores.
1108
E o poder das regras do campo que
permite a quebra do 'monopolio dos instrumentos de salvao por pessoas simples,
tornando-as lideres com notoria griIe religiosa. Esses novos produtores religiosos se tornaram
possiveis, portanto, porque havia condies historicas e sociais Iavoraveis a sua construo.
Nesse sentido, no contexto brasileiro, criou-se uma situao que clamava pelo advento de
uma nova teodicia, uma vez que as Iormas de entender e explicar a vida no mais estavam
em sintonia com as condies sociais, gerando novas demandas, as quais so podiam ser
atendidas por uma palavra proItica, messinica. Nesse momento de crise e de latncia do
campo, Edir Macedo surgiu como um 'proIeta que conseguiu dizer o que para ser dito,
1108
BOURDIEU, P. A economia aas trocas simbolicas, p. 92.
335
catalisando os elementos do campo e indicando novos caminhos para a superao da crise
estabelecida.
1109
E, por Iim, em termos de mecanismos mais propriamente externos, um
'sindicato de magicos inserido na dimenso da cultura tornou-se tambm um espao
alternativo para a busca de mudanas da realidade na qual grandes setores da sociedade
estavam imersos. Num contexto de controle e represso politica por que passava o pais nas
dcadas de 1960 a 1980, um segmento religioso que prope solues por meios no politicos,
mas espirituais, evidentemente no apresentava maiores preocupaes aos orgos
controladores de maniIestaes populares, at porque a mensagem iurdiana tambm acenava
para a possibilidade de se obter a ascenso social e prosperidade Iinanceira em consonncia
com o proprio sistema econmico vigente. Os Iatores geradores da misria e do soIrimento
no so atribuidos a dimenso politica ou econmica, mas sim ao Demnio e as Ioras
espirituais do mal nele representadas. Dessa Iorma, enquanto outras modalidades sindicais
soIriam represses, um 'sindicato de magicos encontrou mecanismos historicos que
permitiram a propagao de sua mensagem, ainda que no deixasse de ser, mesmo que
sutilmente, uma Iorma de resistncia, no nivel da cultura: por mais que o sistema politico
vigente insistisse em propagar um espirito de otimismo, o simples surgimento de um espao
de socorro e ajuda para as massas denuncia que ha problemas existentes em tal contexto e
que os caminhos de natureza intra-historica buscados para supera-los tm a preIerncia
popular.
Segundo, a Igreja Universal se caracteriza como um movimento de magia.
O catolicismo e o protestantismo desenvolvidos no campo religioso brasileiro empreenderam
inumeros esIoros visando proteger-se da magia, pois consideravam-na algo incompativel
com a 'verdadeira religio. Porm, ritos 'magicos realizados pelos leigos, por proIetas,
magos ou Ieiticeiros, situados a margem da instituio eclesial e de suas normas, nunca
deixaram de existir, pois quaisquer que tenham sido as pretenses dos clrigos, os ritos
eclesiasticos nunca Ioram os unicos capazes de garantir exclusiva e totalmente a
comunicao entre os devotos e as potncias sagradas. Foi essa incapacidade dos ritos
clericais, para satisIazer aos pedidos dos Iiis, que contribuiu para a recorrncia as praticas
magicas liminares pelos devotos com o objetivo, por exemplo, de se 'devolver a saude a um
doente ou para desviar os maleIicios de algum mal-intencionado,
1110
e tambm para o
1109
Id., ibid., p. 76.
1110
SCHMITT, Jean-Claude. Ritos. In: LE GOFF, Jacques ; SCHMITT, Jean-Claude (Orgs.). Op. cit. p. 423,
424.
336
surgimento de um movimento que percorreria um caminho inverso daquele adotado por
catolicos e protestantes: a Igreja Universal do Reino de Deus, que se apropriou do
instrumental magico, vindo a constituir-se num 'sindicato de sua propagao.
Com esse diIerencial, a IURD estabeleceu um 'divisor de aguas no campo
religioso, pois consegue no apenas chegar a matriz cultural, recuperando praticas que lhe
so proprias desde longa durao, mas tambm manter-se atualizada na oIerta de respostas a
novos anseios propiciados pelo dinamismo do campo. No estando presos a controle
institucional e nem a rotina liturgica do sacerdote, os lideres iurdianos criam e recriam
permanentemente novos ritos, empregam novos simbolos para atender a demanda de seus
adeptos e com isso conseguem responder na mesma agilidade com que os dramas existenciais
e sociais tambm se multiplicam no mundo urbano.
Outro aspecto que caracteriza a presena da magia nessa Igreja esta em sua
capacidade de reverter em seu Iavor aspectos que se apresentam como adversidade ou
obstaculo. ConIorme visto, a IURD experimentou em sua trajetoria historica as mais variadas
Iormas de conIlito, perseguio, ataques e denuncias, sobretudo de setores da midia e de
outros segmentos religiosos, mas teve, em tais contextos, a capacidade de obter os maiores
xitos de projeo e recrutamento de novos Iiis. Sua historia parece Iazer jus e tornar logicas
as palavras de Edir Macedo quando declara que 'a igreja semelhante ao omelete: quanto
mais batem nela mais ela cresce.
1111
Enquanto outros empreendimentos religiosos, surgidos
na mesma poca, cairam no anonimato, a Universal superou todos os desaIios, mantendo uma
capacidade magica de arregimentao de Iiis. Em meio a uma grande crise econmica, que
leva a Ialncia diIerentes estabelecimentos comerciais ou empresariais, essa denominao
parece demonstrar imunidade Irente as adversidades, avanando de Iorma escalonaria na
ocupao de espaos cada vez maiores.
Esta pesquisa no se props investigar se a IURD teria xito em contextos
sem crises, mas o oposto disto Ioi possivel aIerir: o movimento iurdiano nasceu e cresceu
num quadro social proIundamente marcado por crise e se alimenta desse ingrediente.
1112
Esse
um componente externo de seu Iuncionamento. A exploso urbana dos anos 1970 e 1980, a
violncia, o traIico, a globalizao, que desencadeia uma extenso de problemas econmicos,
sociais e politicos, so alguns dos Iatores geradores do agravamento das condies de vida.
1111
Revista Jefa, So Paulo, 17 out. 1990.
1112
Uma analise sobre o crescimento da IURD em outros paises, em diIerentes contextos, pode ser encontrada na
obra: CORTEN, Andr; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari Pedro (Orgs.). Igrefa Universal ao Reino ae Deus: os
novos conquistadores da I. Op. cit.
337
Tal quadro social evidentemente gera uma busca desenIreada por respostas mais rapidas,
pelos meios 'sobrenaturais, criando-se, ento, um terreno Irtil para a operosidade da magia.
Porm, ha mecanismos internos que garantem o Iuncionamento dessa
Igreja, independentemente de crises externas: um universo de crenas que concebe o Diabo
como um agente causador de permanente ameaa a vida pessoal e Iamiliar; a pratica do
exorcismo e conseqente proteo em Iace do mal; a proposta de vida mais longa e Ieliz; a
antecipao das benesses do paraiso para o mundo presente; a construo de identidade no
mbito de um grupo; ou ento, a necessidade de se legitimar o acumulo de dinheiro e a posse
de bens, pois como observa Max Weber, 'os ricos no se contentam em serem poderosos e
Ielizes: querem ser assegurados que sua Ielicidade terrena a recompensa celeste por sua
pratica de virtudes.
1113
Por toda a abordagem desenvolvida ao longo desta investigao
historiograIica constata-se que a IURD, evidentemente, no apenas magia. Ela opera
eIicazmente a combinao de varios elementos presentes no campo religioso brasileiro.
DesaIiando os instrumentos conceituais explicativos, a alquimia iurdiana Iaz que o conjunto
de elementos, alguns inclusive aparentemente contraditorios, Iuncione com xito e nisto
reside o seu principal segredo. Esses elementos que do sustentao as suas praticas esto
culturalmente constituidos, dai a necessidade de se pontuar as raizes historicas de suas
praticas, como especiIicado, a seguir.
Terceiro, o movimento iurdiano exige novos parmetros conceituais
explicativos. Ha novidades, ha rupturas apresentadas pela Igreja Universal que deIinem a
vivncia de novas tipologias em relao ao sagrado. Essa inovadora e emblematica
conIigurao religiosa no Brasil contemporneo extrapola os instrumentos conceituais
normalmente utilizados para analise do campo religioso em suas maniIestaes. Desse modo,
a IURD desaIia historiadores, antropologos e sociologos, convocando-os inclusive a rever
conceitos ou categorias de analise at ento empregadas para a compreenso das expresses
de I. A Universal, por exemplo, inovou no emprego da magia. Suas praticas quebraram
paradigmas classicos, a saber: 'a magia tem uma clientela, no se constituindo, portanto, em
'igreja;
1114
'ha nos procedimentos do mago algo de proIundamente anti-religioso, sendo
por isso necessario 'encontrar o ponto em que se distingue.
1115
Convencionalmente, religio
e magia tambm tm sido separados em relao a garantia do eIeito desejado: na religio, o
1113
Apua OLIVEIRA, P. A. R. A teoria do trabalho religioso em Pierre Bourdieu. Op. cit., p. 100.
1114
DURKHEIM, Emile. As formas elementares aa viaa religiosa, p. 76.
1115
Id., ibid., p. 75.
338
pedido Ieito em orao depende de a divindade aceitar ou no a solicitao; ja no magismo, o
eIeito so depende de o agente seguir a risca o ritual, pronunciar corretamente a Iormula:
Todas as vezes que, em vez de pr ost r ar - se par a supl i car um I avor
aos cus, o agent e di t o r el i gi oso exi gi r de um deus ou de um sant o o
eI ei t o sobr enat ur al pr et endi do, podendo por i sso pr omet er com
segur ana que o eI ei t o buscado I at al ment e se dar a, est ar emos di ant e
de um at o de magi a, no de r el i gi o. Pr omessa de eI ei t o gar ant i do
pr omessa de mago.
1 1 1 6
Seguindo essa proposio classica, Antnio Flavio Pierucci, por exemplo,
mesmo admitindo que o ritual religioso contm certos componentes magicos - Iazendo que
sacerdotes ajam, as vezes, como se Iossem magos, curandeiros ou exorcistas - adverte que o
procedimento adotado por alguns pesquisadores, de usar o termo hiIenizado, 'magico-
religioso para designar praticas magicas e religiosas como um so sintagma, algo
generalizante e abusivo, que 'mal disIara a operao traioeira e empobrecedora de reduzir
magia e religio. Por isso, segundo esse autor, esses dois conceitos 'devem ser separados
analiticamente:
Hoj e, na pesqui sa soci al , no da mai s par a abr i r mo dos ganhos
t eor i cos t r azi dos par a a di st i no ent r e est e par de concei t os, magi a
e r el i gi o, e est e out r o cor r el at o, mago e sacer dot e. Magi a ou
r el i gi o? E I undament al ent ender os t er mos dessa di sj unt i va
cul t ur al . E uma di I er ena que r eal ment e cont a no est udo das
soci abi l i dades cont empor neas. E que de r est o adequadament e a
at ual r el i gi osi dade do povo br asi l ei r o. E os ganhos cogni t i vos I i cam
ai nda mai or es quando magi a e r el i gi o so encar adas da per spect i va
do desenvol vi ment o hi st or i co de sua conI l i t uosa r el ao na cul t ur a
oci dent al .
1 1 1 7
As praticas da Igreja Universal, entretanto, exigem que esses procedimentos
metodologico-classicos utilizados por pesquisadores do campo religioso - que distinguem
magia de religio - sejam absolutamente revistos. Rompendo clichs, os lideres desse
segmento se tornaram empresarios inaiviauais ae salvao, agentes de socorro e ajuda,
conseguindo uma aproximao das massas, Iundando uma igreja, com titulos, teologia e
organizao. Porm, com capacidade magica, essa instituio no permitiu a
institucionalizao da magia.
Outro elemento importante reside na pratica da magia por pessoas dos mais
variados estratos sociais e econmicos, prevalecendo o elemento cultural, o qual no esta
acorrentado aos trilhos daquelas respectivas clivagens e no permite o estabelecimento de um
recorte entre erudito e popular, conIorme se costuma as vezes classiIicar. No movimento
iurdiano, a magia se tornou um caminho que perpassa todos os niveis sociais, ultrapassando
1116
Id., ibid., p. 86.
1117
PIERUCCI, A. F. Magia. Op. cit., p. 9, 10.
339
os limites convencionalmente estabelecidos entre o que Iolclorico e o que clerical,
evidenciando-se que para o elemento magico no existem Ironteiras. Nessa Igreja, magia e
instituio no se excluem, mas eIicazmente andam juntas.
Essa instigao de revises epistemologicas, reivindicadas pela IURD, Iaz
que se processe um movimento nos dominios do proprio saber historiograIico, possibilitando
que a historiograIia mantenha o dinamismo de mudana na mesma medida com que tambm
mudam ou ampliam seus objetos, personagens e espectros espao-temporais.
Quarto, a IURD realiza um dinmico processo de apropriao e
resigniIicao de compositos culturais estabelecidos no campo religioso brasileiro. Antes do
surgimento da Universal, a umbanda chegou a ser vista como a religio mais propriamente
brasileira: 'Para muitos a umbanda era a religio que melhor encarnava a tradio sincretica
nacional; pensava suas raizes como plenamente brasileiras.
1118
Mais do que qualquer outro
segmento evanglico, soube aproximar-se dos elementos culturais e operar a partir das
respectivas regras dispostas no campo. Neste aspecto, vale citar as observaes de um
jornalista e lider da umbanda, na cidade do Rio de Janeiro, comentando, com um certo tom
de espanto e de denuncia, as praticas de 'apropriao Ieitas pela Igreja Universal:
Par adoxal ment e, essa i gr ej a ut i l i za mt odos e t er mi nol ogi as que
pel o menos t eor i cament e so cont r ar i os a seus ensi nament os e
convi ces, I azendo uma adapt ao, t ent ando dar uma r oupagem a
pr at i cas que ha mui t os anos so usadas por r el i gi es de cunho
espi r i t ual i st a que el es combat em.
1 1 1 9
Destacando sobretudo as teras-Ieiras, em que se da a reunio denominada
'descarrego, quando os pastores se vestem de branco e usam terminologias umbandistas,
esse depoimento destaca ianda que 'ha pouco tempo, estavam distribuindo sabo de arruda`
para tirar as coisas ruins do corpo e da alma. A inovao evidente at mesmo para o meio
umbandista, 'pois nunca eu tinha visto Ialar de sabo de arruda` - observa.
Nota-se que a IURD acaba se beneIiciando de elementos que se prope a
combater: ao mesmo tempo em que se ope veementemente as crenas aIro-brasileiras, por
exemplo, delas depende para a constituio de suas praticas, reeditando-as, inclusive, com
outros nomes. No simbolismo empregado nos ritos iurdianos, ha o uso de objetos tipicos de
cultura Iolclorica, tais como panos coloridos, chas de sete dias, galhos de arruda molhados
1118
Id., ibid., p. 25.
1119
Palavras de Ricardo Machado. Trecho transcrito de artigo publicado na Revista Ultimato, citado na
conIerncia proIerida por Ariovaldo Ramos, no CONGRESSO BRASILEIRO DE EVANGELIZAO, em
2003, na cidade de So Paulo. (Material em CD-ROM, disponivel no acervo do Centro de Documentao e
Pesquisa Historica CDPH, da Faculdade Teologica Sul Americana, a Rua Martinho Lutero, 277, Londrina
PR.).
340
em bacias cheias de agua benta e sal aspergidos nos Iiis para que sejam libertos, o que indica
uma apropriao desse universo de uma magia popular diIusa, mas muito comum nos rituais
de umbanda. O simbolismo do Iogo tambm esta presente numa relao com os rituais aIro-
brasileiros. A arruda as vezes conduzida pelo Iiel para captar o mal existente em casa e nos
moradores, sendo depois levada de volta ao templo para ser queimada. Envelopes contendo
dinheiro e os pedidos dos Iiis iurdianos escritos num papel tambm so levados para a 'terra
santa de Jerusalm, onde so queimados ritualmente. Nos ritos de encenao praticados esse
segmento religioso entende ocorrer a vivncia do Evangelho. A emoo compartilhada se da
numa plenitude de sentido, num eixo 'vertical que liga os homens as potncias sagradas que
o mobilizam. O mito esta inextricavelmente misturado ao 'rito, cujo desenrolar desempenha
Iunes. E vale considerar que o mito encontra-se imerso na historia e tambm nas
transIormaes inerentes a durao historica, por isso, o seu sentido reside, antes de tudo, no
seu desempenho no presente e se torna real e eIicaz quando recriado. Com isso, modiIica-se
a cada ocorrncia, ja que a Iorma, as circunstncias e os agentes nunca so exatamente os
mesmos razes por que na IURD soIreram mutaes.
Quinto, a Igreja Universal conquistou um capital simbolico decisivo no
campo religioso brasileiro: o transe. Quando so analisados os dados estatisticos de Iiliao
religiosa no Brasil, surge uma inevitavel questo: por que a IURD escolheu o candombl, a
umbanda e o espiritismo como principais alvos de seu ataque, considerando-se que, juntos
segundo o Censo DemograIico do IBGE de 2000 essas expresses religiosas somam apenas
1,7 da populao, enquanto que o catolicismo representa, segundo estas mesmas Iontes, 73
do cenario nacional? Esse combate as religies aIro-brasileiras parece operar, ento, como
uma estratgia as avessas, ou seja, objetiva-se tomar posse de um dos principais bens
simbolicos para um grande segmento da populao, que a experincia do transe religioso,
transIormando-os em um valor interno do sistema iurdiano.
Ha um capital simbolico de crenas mediunicas constituidas no campo e a
IURD empreendeu a conquista desse valor cultural. Na conIigurao religiosa do pais, o
transe ocupa um papel historico central na mediao entre os grupos tnicos e sociais
portadores, a principio, de diIerentes patrimnios culturais que entraram em contato. Mircea
Eliade
1120
utiliza o termo xam para se reIerir ao mago ou ao Ieiticeiro que acredita, atravs
do estado de transe, entrar em contato com seres sobrenaturais sejam eles as almas dos
antepassados ou diIerentes tipos de espiritos. Este caso da maioria dos lideres espirituais
1120
ELIADE, Mircea. El chamanismo y las tcnicas arcaicas de extasis. Mxico: Fondo de Cultura Economica,
1994.
341
indigenas.
1121
A maior parte do trabalho do xam consiste em eIetuar curas por meio do
controle dos espiritos que provocam as doenas e, at mesmo, a morte. Durante o ritual de
cura o paj entra em transe ao receber o espirito. 'E durante esse transe, enquanto esta
possuido pelo espirito, que o paj cura.
1122
Foi tambm por meio do transe que deuses
aIricanos romperam suas linhagens e se 'abrasileiraram ao descerem nos corpos dos seus
Iilhos na nova terra - negros, mestios e, Iinalmente, brancos; ou que indios e escravos, na
condio de divindades veneradas, puderam voltar a terra para a remisso das injustias
sociais e habitar os mais diIerentes corpos na Iorma de caboclos e pretos-velhos. O
pentecostalismo classico, pela experincia do 'batismo com o Espirito Santo - evidenciado
pela capacidade de se Ialar em 'outras linguas reintroduziu no campo das religies crists
uma relao de proximidade do individuo com o sagrado, mediada pelo corpo em xtase, que
ha muito vinha sendo combatida em virtude da proposta de converso racional e
desencantamento. A possibilidade de receber 'na pele o proprio espirito de Deus recupera a
experincia extatica no cristianismo, das devoes Iolcloricas mais proximas que descartam
os intermediarios e enIatizam o monoteismo na Iigura do Espirito Santo. Dai a importncia
do episodio de pentecostes como mito biblico legitimador desse movimento, nomeando-o,
inclusive.
Em relao ao transe religioso, observa-se, entretanto, que na
operacionalizao desses elementos a IURD promove uma ruptura com praticas do proprio
pentecostalismo: as divindades da umbanda assumiram lugar na cosmogonia do culto,
inclusive em detrimento do transe do proprio Espirito Santo. O apice desse transe ocorre no
momento das sesses de exorcismo, com aqueles que 'maniIestam possesso por 'espiritos
malignos, com os quais o lider Iala diretamente entrevistando-os, num 'dialogo do alm.
As vezes, o pastor no se contenta com a resposta e pergunta novamente ao demnio se ele
o espirito mais Iorte entre os inumeros que esto ocupando aquele corpo. 'Quem o mais
Iorte? 'Quem o cheIe? - enIatiza. Nota-se que a lingua utilizada para esta comunicao
entre o mundo terreno e o mundo do 'alm, neste caso, no mais a 'dos anjos, e sim, a
lingua dos homens e de sua cultura, no vernaculo dos lideres e Iiis.
Dessa Iorma, a IURD pretende monopolizar a experincia do sagrado,
vivenciada no proprio corpo, caracteristica que tradicionalmente esteve sob o controle das
religies aIro-brasileiras e do espiritismo. Com tal estratgia, o movimento iurdiano objetiva
1121
A palavra tupi-guarani que designa xam signiIica pai, graIada em portugus como pafe.
1122
LARAIA, Roque de Barros. Religies indigenas. Revista USP, Religiosiaaae no Brasil, So Paulo, n. 67, p.
9, set./nov., 2005.
342
criar uma Iorma de atrair Iiis avidos pela experincia com Iorte apelo magico e extatico,
retirando Iiis daquelas expresses de I, com a vantagem da legitimidade social conquistada
pelo campo religioso cristo. Da apropriao de certos termos da linguagem, dos ritos, dos
simbolos, produzem-se alquimias que se transIormam em instrumentos de combate em Iavor
da constituio e do monopolio do capital simbolico disposto no campo. Quando a Universal
admitiu o transe, recriando-o de Iorma especiIica, cravando-o no centro de seu ritual mais
elaborado, as entidades puderam irromper no seu universo religioso. Mais que o transitar de
entidades, o que de Iato transitou e adquiriu uma nova Iormula Ioi o proprio transe,
conseguindo por meio de um processo de aculturao conjugar o pluralismo religioso do
campo religioso brasileiro. Nesse sentido, a Igreja Universal combate aquilo que, em parte,
ajudou a criar.
Sexto, ha tambm, nas praticas iurdianas, um procedimento de
'desnaturao de crenas existentes no campo. O termo 'desnaturao utilizado por Le
GoII para se reIerir ao processo de luta da cultura clerical contra a cultura Iolclorica no
periodo medieval, quando 'os temas Iolcloricos mudavam radicalmente de signiIicado nos
seus substitutos cristos.
1123
Um exemplo disso pode ser observado na experincia de
'audio de vozes, identiIicada pela IURD como um dos dez sintomas que caracterizam a
possesso demoniaca. A Igreja rompe com praticas da tradio crist, catolica ou pentecostal,
que classiIica tal elemento como recepo de sinais ou mensagens divinas, envolvendo
geralmente misticos, monges, ou santos.
Outro exemplo de desnaturao tem relao com os deuses das crenas
aIro-brasileiras, pois uma das caracteristicas da teologia da batalha espiritual empregada pela
IURD esta na identiIicao dos demnios ou Ioras operantes do mal nas praticas daqueles
segmentos religiosos. O livro mais impactante de Edir Macedo deixa isso bem claro ao
apresentar em seu titulo uma provocativa questo: Orixas, caboclos e guias. aeuses ou
aemnios?
Tambm pode ser classiIicada como muaana ae nature:a a atitude
apresentada pela Igreja Universal em relao a morte. Nas praticas adotadas por catolicos,
protestantes e outras religiosidades que operam no campo religioso brasileiro, ha diversas
atitudes voltadas a preparao e as Iormas de 'bem morrer. Philippe Aries situa na longa
durao os comportamentos preparatorios ocidentais em Iace da morte, destacando que entre
os sculos XI e XVI o individuo Iazia o aprendizado da 'morte de si, numa representao
1123
LE GOFF, Jacques. Para um novo conceito ae Iaaae Meaia. Tempo, trabalho e cultura no ocidente, p. 214.
343
mais individualizada, e depois, entre os sculos XV e XVI, preparaes para a morte passam
a revelar sentimentos comuns e praticas coletivas. No mundo contemporneo, porm,
mudanas de atitudes promoveram um 'novo consenso |que| exige que se esconda aquilo que
antigamente era preciso exibir e mesmo simular, o seu soIrimento.
1124
Por isso, na
civilizao ocidental, passou-se 'da exaltao da morte na poca romntica, comeo do
sculo XIX, a recusa da morte hoje. Aries destaca alguns Iatores que contribuem
diretamente para isso. Inicialmente, os 'novos donos do dominio da morte no so mais os
Iamiliares e os religiosos, mas a equipe do hospital, mdicos e enIermeiros. Depois, o local
de se morrer no mais a residncia: 'a morte recuou e deixou a casa pelo hospital; esse
espao restrito e privativo diIiculta o ajuntamento de Iamiliares e amigos. Em seguida, o
tempo previsto de chegada da morte se tornou muito mais 'imprevisivel: em meio a
modernos recursos tcnicos, o moribundo no mais sente a morte chegar; o seu tempo de vida
pode ser prorrogado por aparatos que 'prolongam a vida, 'a morte no chega na hora
prevista, na hora certa, o que diIiculta a realizao de cerimonial preparatorio de 'bem
morrer. E por Iim, alm do individualismo que permeia as sociedades contemporneas,
Aries usa a expresso 'os moribundos no tm mais status para se reIerir ao abandono do
costume que as sociedades tradicionais tinham de rodear o moribundo e de receber suas
comunicaes at seu ultimo suspiro.
1125
Rompendo com comportamentos culturais de longa durao em relao a
morte, a IURD se aproxima das atitudes de escamoteamento tipico da sociedade urbana e
industrial, indo, inclusive, alm dessa indiIerena: concebe a morte, o ambiente de hospital e
o cemitrio como representaes do mal, elementos que procura combater em suas praticas e
discursos. Ao contrario de preparativos para o 'bem morrer, luta-se para aIugentar essa
ameaa por completo, pois vista como uma presena demoniaca, sendo preciso, portanto, o
exercicio da I para no permitir que prevalea. A morte se torna, portanto, simbolo de
derrota ou Iracasso que conIronta diretamente a mensagem, a proposio teologica e a Iuno
dos ritos realizados pela Igreja: assegurar vida abundante e longa aos seus Iiis na dimenso
da existncia terrena.
Stimo, essa Igreja promoveu mutaes ou revolues culturais no campo
religioso brasileiro ao inovar as praticas de leitura da Biblia. Mesmo recebendo identiIicao
de igreja evanglica ou protestante, a IURD rompe com procedimentos adotados por essas
tipologias na maneira de ler a Biblia. Do modo tradicional de leitura pelo protestantismo - a
1124
ARIES, P. Op. cit., p. 149.
1125
Ibid., p. 293, 294.
344
religio do livro, que v a Biblia como um conjunto de inscries da palavra divinamente
inspirada, cuja leitura sistematica e racional permite a converso - pouco sobrou nas praticas
iurdianas. O biblicismo protestante - leitura pessoal das Escrituras pelo Iiel como parte
Iundamental de sua espiritualidade - substituido pela insistente recitao de alguns
versiculos biblicos pelos lideres, durante as reunies, visando a um eIeito magico: um
'ecumenismo popular negativo, unica cosmologia em operao ao longo de todo o rito
Irancamente magico que ali executado.
1126
Logo, o ato de ler iurdiano tem basicamente
uma Iuno ritualistica: os textos Iundamentam a representao dos ritos, descrevendo-os e
dando a sua interpretao razo porque o maior apego ao Antigo Testamento, dada a sua
maior riqueza de simbolismos.
Ao recuperar, por meio das Escrituras Biblicas, a dimenso das tradies
orais, como agente magico-religioso transIormador da realidade, que pode servir como
balizas para condutas rituais, a IURD estabelece maior aproximao do contexto aIro-
brasileiro no qual a palavra Ialada tambm revestida de semelhantes poderes simbolicos. E
o caso do candombl, em que a palavra pronunciada considerada emanao de ax,
importante mecanismo de movimentao de Ioras sagradas. Semelhantemente, a Iora da
Iala, mais do que um meio privilegiado de pregao dos escritos divinos, tornou-se, na
Universal, emanao de um poder magico. Nas sesses de cura, por exemplo, comum o
pastor ou o bispo pedir as pessoas que Iechem os olhos, enquanto ele recita versiculos
biblicos, usando termos carregados de nIase e veementemente ordenando, 'em nome de
Jesus, que os males saiam do corpo dos enIermos. E no momento dessa 'ordem verbal que
Deus, acredita-se, opera a cura. E as pessoas que acreditam estar curadas so convidadas a
dar publica e oralmente um testemunho sobre o milagre alcanado. O mesmo uso de palavras
biblicas com eIeitos magicos se observa nos rituais de exorcismo, tanto no momento em que
o pastor ordena que os demnios se maniIestem no corpo dos Iiis, quanto no instante em que
so expulsos do corpo do endemoninhado. Nesse momento, ha inclusive um ato de
eIervescncia coletiva quando a multido tambm eIusivamente grita: 'Sai! Sai! Ou
'Queima! Queima!
Nessa pratica de leitura, que visa a recepo do eIeito magico do texto,
pode se observar algo semelhante as atitudes que se tinham para com os 'almanaques,
1127
no
1126
MONTES, M. L. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In: SCHWARCZ, L. M. (Org.). Op.
cit., p. 123.
1127
DUTRA, Eliana R. Freitas. O Almanaque Garnier, 1903 1914: ensinando a ler o Brasil, ensinando o Brasil
a ler. In: DUTRA, Eliana R. F. et al. Leitura, Historia e Historia aa Leitura. Campinas: Mercado de Letras,
2000, p. 477504. O Almanaque Garnier, lanado no Brasil em 1903, atravs da publicao de especialistas nas
cincias ocultas, como astrologia, por exemplo vista como uma 'cincia de desvendar o porvir oIerecia aos
345
inicio do sculo XX, os quais, segundo Bourdieu, eram vistos como 'depositarios de
segredos magicos climaticos, de um saber para iniciados, com uma aura sacralizada.
1128
Ou
ainda, algo semelhante a leitura paraaigmatica,
1129
identiIicada por Roger Chartier em
estudos que realiza sobre maneiras de ler ocorridas na Europa Ocidental, no sculo XVIII.
Naquele contexto tambm se adotavam 'estilos de leitura religiosos e espirituais que
promoviam 'o acesso a verdade absoluta,
1130
sendo responsaveis pela orientao da vida em
diIerentes dimenses. De igual modo, pela 'Ireqentao intensa dos mesmos textos lidos e
relidos que 'molda os espiritos, habituados pelas mesmas citaes,
1131
a leitura magica
iurdiana orienta a busca de proteo, prosperidade Iinanceira nos negocios, saude,
estabelecendo os ritos para guerrear e vencer o demnio. Por essa pratica so criadas as
regras de comportamento, elaborados os argumentos para a entrega de 'dizimos e oIertas;
ela que tambm da sustentao ao poder exercido pelo lider e legitimao aos titulos que
ostenta, conIerindo-lhe autoridade perante o grupo a Iim de conduzi-lo.
Outra caracteristica que se notabiliza a pratica de leitura coletiva,
1132
que
transIorma a Igreja Universal numa 'comuniaaae ae leitores`.
1133
DiIerentemente do
protestantismo classico, ou mesmo do pentecostalismo - cujos Iiis prezam pela leitura
individual do texto biblico, mantendo tambm o habito de conduzir a Biblia nas mos quando
se dirigirem aos seus cultos - na IURD, os Iiis no costumam levar a Biblia ao templo e nem
cultivam o habito de ler individualmente as Escrituras como regra de sua espiritualidade. O
ato de ler possui, como principal caracteristica a pratica coletiva, mediada por uma leitura em
voz alta, Ieita pelo pastor ou bispo dirigente da reunio. Esta conduo pelo lider se da de
maneira participacional: os Iiis incansavelmente respondem a incitao do pregador para
que repitam os versos biblicos no momento em que desenvolve a sua prdica. Transliterando
Chartier, pode-se dizer que nessa Igreja a leitura coletiva
vi sa engaj ar mesmo os mai s humi l des, mesmo os anal I abet os que so
podem r eceber o escr i t o por i nt er mdi o de uma I al a ( . . . ) mi st ur a na
I aquel es que l em e os que ouvem. ( . . . ) Reuni ndo homens e
mul her es, l et r ados e anal I abet os, I i i s de pr oI i sses e de bai r r os
di I er ent es, os cul t os | i ur di anos| so um dos l ugar es em que se
oper a, em comum, a apr endi zagem do l i vr o.
1 1 3 4
leitores a garantia da 'exatido incontestavel das suas revelaes e predies.
1128
BOURDIEU, P. A Leitura: uma pratica cultural. Debate com Roger Chartier. In: CHARTIER, R. (Org.).
Praticas aa leitura, p. 241.
1129
CHARTIER, Roger. A oraem aos livros, p. 131.
1130
Id., In: Leitura, Historia e Historia aa Leitura, p. 26.
1131
Id., Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 217.
1132
Id.,. A Historia Cultural. entre praticas e representaes, p. 131.
1133
Id., ibid.
1134
Id. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime, p. 101.
346
Nesse sentido, notavel tambm a habilidade iurdiana de conjugar
eIicazmente esses antigos modos de ler com recursos ultra-modernos. Nos programas
realizados pelos pregadores radioInicos ou televisivos, em que empregam insistente e
sistematicamente a leitura e exposio de textos biblicos, tambm prevalece a Iorma coletiva.
Nesse sentido, o radio e a TV no romperam necessariamente com o estilo de leitura do
passado, quando grupos ae artesos, no sculo XIX, por exemplo, 'revezavam-se, lendo ou
ouvindo um leitor para se manterem entretidos, enquanto trabalhavam - observa Robert
Darnton, que acrescenta:
At hoj e, mui t as pessoas t omam conheci ment o das not i ci as at r avs
da l ei t ur a de um l ocut or de t el evi so. A t el evi so pode ser menos
um r ompi ment o do passado do que ger al ment e se supe ( . . . ) par a a
mai or i a das pessoas at r avs da mai or par t e da hi st or i a, os l i vr os
t i ver am mai s ouvi nt es que l ei t or es. For am mai s ouvi dos do que
l i dos.
1 1 3 5
Os meios de comunicao de massa, portanto, ampliaram o aspecto
instrumental da leitura, intensiIicando sua capacidade comunicacional. Como ja dito ao longo
desta pesquisa, a IURD utiliza de Iorma intensiva recursos do radio e TV para veiculao de
suas mensagens. Assim, ela apropriou-se de um meio capaz de no apenas instrumentalizar o
modo de ler, mas tambm de tornar a leitura uma pratica mais Iamiliarizada a grande parcela
da populao, uma vez que vantajosa a preIerncia popular pelos dispositivos de
comunicao audio-visual no contexto brasileiro, como observa Antonio Cndido:
A mai or i a da popul ao br asi l ei r a ouve r adi o e v t el evi so, sendo
mi nor i t ar i a a par cel a que l r evi st as, l i vr os ou j or nai s ( . . . ) o que se
obser va a mai or audi nci a conqui st ada pel o r adi o e pel a t el evi so,
per manecendo a l ei t ur a ci r cunscr i t a aquel es segment os da popul ao
que I r eqent am a obr i gao de l er .
1 1 3 6
A IURD, nesse aspecto, mais uma vez consegue atingir com eIicacia um
dos elementos que marcam a sociedade brasileira, Iazendo que a leitura se torne viavel
mesmo a quem no dispe de tal habilidade lingistica, como observa Srgio Miceli, ao dizer
que 'a televiso brasileira integrada a uma Iuno paraescolar, tendo como um dos Iatores
para o sucesso de audincia com esta qualiIicao, o 'alicerce do analIabetismo.
1137
Pode-se dizer, ento, que em suas praticas de leitura, a IURD promove a
vivncia da I mediante a reatualizao de um processo historico de longa durao, cortado
por novas tcnicas ultra-modernas, que atingem a vida privada e o cotidiano. Com isso, em
tempos de novos e agressivos recursos de comunicao e expresso, a leitura
1135
DARNTON, R. Historia da leitura, p. 216.
1136
Apua BARZOTO, Valdir H. (Org.). Estuao aa leitura. Campinas: Mercado das Letras, 1999, p. 65.
1137
Folha ae S.Paulo, So Paulo, 18 set. 2005, p. E1.
347
emblematicamente resiste, sobrevive e continua a ser um elemento-chave para promover a
seduo do sagrado, retraduzindo um Iertilissimo passado cultural que Iaz incurses no
mundo contemporneo.
Oitavo, ha um novo modo de Iazer teologia nas praticas iurdianas: a
teologia do viviao. Na IURD, a I despertada avessa a teologia Iormal e as instituies
teologicas Iormadoras de um clero intelectualizado. Com isso, a religio iurdiana torna-se
pratica, associada aos problemas da vida cotidiana, aos quais procura apresentar solues
espirituais. O bispo Edir Macedo Iaz questo de estabelecer uma diIerena entre o que
entende ser 'I e religio: 'Durante toda minha vida ministerial, tenho ensinado sobre a
diIerena entre I e religio; entre o que espirito e verdade, e a simples emoo, isto , a
diIerena entre a letra que mata e o poder viviIicante do espirito ressalta Macedo.
Comentando ainda esse aspecto, aIirma que:
r el i gi o al go que est a pr esent e em t odas as ci vi l i zaes,
adapt ando- se do I et i che a i dol at r i a, i ncor por ando l endas l ocai s e
cost umes. A r el i gi o sempr e se vendeu par a t odos os gost os, e
I i del i za o cl i ent e, em al guns casos o escr avi za, l evando- o ao
I anat i smo, que o aI ast ament o da r eal i dade. Par a a r el i gi o e os
r el i gi osos val e mui t o o que pode ou no ser compr ovado por
descober t as ci ent i I i cas. Val e mui t o t ambm, o que di zem os
i nt el ect uai s de qual quer cor r ent e. A r el i gi o passada de ger ao
em ger ao como t r adi o e val or es hi st or i cos a se pr eser var .
1 1 3 8
Em relao ao que denomina 'I, Macedo aIirma: 'a I uma experincia
pessoal medida pelos Irutos que produz. E a verdade que liberta de maneira consciente e
inteligente. Ela vem preencher a Iome da alma, que naturalmente mistica, porque viemos de
Deus. O antidoto para as religies continua sendo uma experincia pessoal com o Espirito
Santo Iinaliza o bispo.
1139
DiIerentemente do catolicismo e do protestantismo, a nIase dada em sua
mensagem no mais no cristocentrismo - Cristo no centro do culto e das expresses de I -
mas sim, o teocentrismo - Deus no centro algo semelhante ao proposto pela espiritualidade
judaica descrita e vivenciada no Antigo Testamento. Em relao ao pentecostalismo, a nIase
no mais recai na glossolalia como evidncia do batismo com o Espirito Santo e seus
respectivos carismas que envolvem todos os Iiis; os carismas ocorrem no em Iorma de
experincia pessoal dos Iiis, mas numa dimenso coletiva atravs dos rituais.
Nono, a IURD recria praticas religiosas do campo religioso brasileiro em
relao as representaes do dinheiro. Voltados a teologia da prosperidade,
os pregadores
1138
Folha Universal, Rio de Janeiro, 30 abr. 2006, p. 18.
1139
Id., ibid.
348
iurdianos no cansam de enIatizar que ' dando (dinheiro) que se recebe, destacando
inclusive uma relao eqitativa entre a quantia doada e a proporo do milagre desejado. O
caminho de acesso a uma vida prospera e economicamente bem-sucedida, passa
necessariamente pelo ato de oIertar. Nesse sentido, a Igreja opera de acordo com as regras do
campo, promovendo modiIicaes em relao ao protestantismo. Maria Isaura de Queiroz,
quando aponta para um substrato religioso que conIigurou o catolicismo rural no Brasil,
aIirma que o culto dos santos, a Iesta da novena, as oraes tm por objetivo assegurar a boa
vontade dos seres sobrenaturais e 'uma retribuio. Desta Iorma, a relao religiosa basica
entre os homens e o sobrenatural a do 'ut aes, ou seja, dou para receber em troca.
1140
E o
principio da reciprocidade e da troca, observado, por exemplo, no catolicismo Iolclorico, com
suas promessas individuais ou coletivas aos santos. Vale notar que essa pratica de oIerecer
algo para se obter o socorro divino, ou o pagamento pelos servios do Ieiticeiro, tambm
um componente do repertorio simbolico das crenas aIro-brasileiras.
O protestantismo, quando de sua insero no Brasil, trouxe consigo uma
pratica diIerente: o chamado 'evangelho da graa, o qual pedia nada ou quase nada em
troca. Alias, preocupou-se mais em oIerecer gratuitamente literaturas, servios religiosos tais
como educao, atendimento em hospitais e outros projetos de cunho social. Ja a IURD, ao
contrario, no rompe com as regras culturalmente estabelecidas no campo: enIatiza a oIerta
ou o sacriIicio Iinanceiro como mediao dos servios religiosos que presta. Ao agir com
essas regras do campo religioso brasileiro, pela denegao da alquimia da oIerenda, o
segmento iurdiano acaba se protegendo e se deIendendo de acusaes de charlatanismo ou
explorao Iinanceira dos Iiis.
Mas a teologia da prosperidade, surgida inicialmente nos Estados Unidos,
com pregadores e autores de auto-ajuda, tambm ganha evidncia nas praticas iurdianas por
modiIicar radicalmente um habitus catolico: enquanto que para o catolicismo a ascese ou
abstinncia de bens vista como preparao para salvao, na IURD se enIatiza o mundo, ou
seja, ter bens sinal ou prova da salvao alcanada. Sendo a misria vista como sinnimo de
atuao do Demnio na vida das pessoas e conseqente sujeio ao pecado e ao mal; obter
prosperidade e sucesso material representa estar mais proximo de Deus ou ser pertencente ao
seu reino. EnIaticamente, os pastores proclamam que ao crente esta destinado no apenas ter
um bom emprego, mas tornar-se patro ou empregador, ser rico e no pobre.
1140
QUEIROZ, Maria Isaura P. de. O campesinato brasileiro. Petropolis / So Paulo: Vozes / EDUNESP, 1973,
p. 94.
349
Dcimo, e ultimo item, ha uma inovao nas praticas iurdianas em relao
ao messianismo e ao milenarismo. A Igreja Universal realiza uma vivncia da escatologia ja
no tempo presente. Ha um reino de paz anunciado e trazido para a terra sob a liderana de
Edir Macedo. No mbito do grupo iurdiano se prope o alcance imediato de benesses
milenaristas tradicionalmente projetadas para o devir apocaliptico; promove-se a
materializao de uma esperana em relao a modiIicao benIica do mundo para um
estado ideal.
E, diretamente relacionado a esse aspecto do milenarismo, no mbito do
grupo iurdiano conIigura-se um tipo de messianismo localizado no mais no contexto rural, e
sim no mundo urbano. Como observado, as maniIestaes messinicas que historicamente
marcaram o Brasil ocorreram em tempos de crise ou de desagregao social, constituindo-se
normalmente em mecanismos que visam a reorganizao de sociedades camponesas: 'quanto
mais a estrutura e a organizao dessas sociedades camponesas Iorem Irageis, mais existem
possibilidades para que tais movimentos surjam.
1141
Neste aspecto, vale citar Roger Bastide,
quando aIirma: 'Se me permitirem levar at ao extremo essa tese, da eIicacia dos surtos
messinicos, diria que o campesinato brasileiro, ao qual recusada uma ReIorma Agraria,
como que a realiza por si mesmo, sob inspirao de seus lideres carismaticos, e segundo
valores que lhe so peculiares.
1142
A expulso da mo-de-obra do campo, evidenciada no Brasil, sobretudo a
partir da dcada de 1970, possibilitou o rapido crescimento das cidades, onde contingentes
esperavam encontrar melhores condies de vida. Nas areas marginais dos centros urbanos
'surgiram ento, da noite para o dia, as Iavelas com todos os seus problemas nas areas de
educao, saude, habitao, comunicao, lazer, transporte, aumentando com isso a Iome, a
marginalizao, a violncia e insegurana.
1143
Formava-se, desta Iorma, um contexto
propicio para que aIlorassem representaes milenaristas:
Os movi ment os mi l enar i st as baseados em sonhos ut opi cos de
sal vao so bast ant e I r eqent es, sobr et udo ent r e gr upos
mar gi nal i zados das popul aes r ur ai s br asi l ei r as cuj a vi da,
nor mal ment e di I i ci l I oi ameaada por mudanas econmi cas ou
1141
Tambm neste aspecto, generalizando, Eric Hobsbawm aIirma que 'a historia dos vinte anos apos 1973 a
de um mundo que perdeu suas reIerncias e resvalou para a instabilidade e a crise cI. HOBSBAWM, E. A era
aos extremos. breve sculo XX, p. 393.
1142
BASTIDE, Roger. Brasil, terra ae contrastes. 5 ed. So Paulo: DiIel, 1973, apua QUEIROZ, Renato da
Silva. Mobilizaes sociorreligiosas: os surtos messinico-milenaristas. Revista Usp, Religiosiaaaes no Brasil,
n. 67, p. 133, 2006.
1143
Folha ae Lonarina, Londrina, 12 Iev. 1976, p. 01 (Material disponivel no acervo de Jornais da Biblioteca
Publica de Londrina).
350
pol i t i cas, ou ent o ent r e gr upos pr oI undament e r el i gi osos mas que
I or am aI ast ados da i gr ej a i nst i t uci onal .
1 1 4 4
Ao migrarem para as cidades, os contingentes rurais carregaram consigo
crenas messinicas das quais esta impregnado o imaginario Iolclorico brasileiro. O
catolicismo ao qual estavam nominalmente vinculados, quase que na totalidade, dada a sua
liturgia burocratizada - com uma ortodoxia que tenta aprisionar o sagrado, transIormando-o
de selvagem em dominado - no Ioi capaz de articular respostas ao nivel desse imaginario
devocional e encantado. E nem tampouco o protestantismo, com seu discurso racional, teve
habilidade de Iaz-lo. Foi ento a IURD que se conIigurou como espao de acolhimento,
apropriando-se, pelo habitus, desse imaginario da massa de presso camponesa, apresentando
uma Iorma de resposta em nivel cultural. Em um periodo de mobilidade populacional,
urbanizao e aumento do mal-estar e soIrimento para grandes estratos sociais estabelecidos
sobretudo nas periIerias das grandes cidades, pessoas que se encontram aIastadas de suas
raizes e abandonadas a propria sorte, em meio a condies sociais adversas e sem sentido,
aderiram ao movimento iurdiano pelo Iato de terem encontrado espao para a reaIirmao de
principios e valores que o deslocamento do mundo rural para o urbano ameaou usurpar-lhes.
Os espaos da Igreja propiciam um modo mais pessoal de contato e 'algum tipo de
proteo.
1145
Ao inIundir 'segurana em pessoas traumatizadas pela privao, pelas
vicissitudes e pela incerteza econmica,
1146
a IURD exerce Iunes sociais e psicologicas
sobre os crentes, orientando-os quanto a conduta, proporcionando-lhes apoio emocional e
satisIazendo aspiraes quanto a uma viso espiritual e magica do mundo, no sentido de
muni-los de mecanismos de superao das crises e mazelas a que passaram a estar
submetidos. Desses se pode dizer algo semelhante ao que aIirmou Pierre Bourdieu sobre
camponeses da Arglia: optaram pela 'esperana magica por ser esta 'a mira de Iuturo
proprio daqueles que no tm Iuturo.
1147
O desenvolvimento de praticas messinico-milenaristas no contexto urbano,
conIiguradas no mais no contexto rural - como tradicionalmente se denotou nos movimentos
com tais perIis Iaz que as Ironteiras convencionalmente estabelecidas entre o que rural e
urbano sejam rompidas, o que torna a cidade - teoricamente deIinida como lugar de
1144
LEVINE, R. O serto prometiao. o massacre de Canudos, p. 330.
1145
OLIVEN, Ruben G. A antropologia ae grupos urbanos. Petropolis: Vozes, 1996, p. 42.
1146
Robert Levine, reIerindo-se a experincia vivida pelos participantes do movimento de Canudos. CI.
LEVINE, R. O serto prometiao. massacre de Canudos, p. 321.
1147
BOURDIEU, P. O aesencantamento ao munao. estruturas econmicas e estruturas temporais, p. 102.
351
'desencantamento - em local de magiIicao do sagrado em suas expresses mais
Iolcloricas e encantadas.
Finalizando, ha de se ressaltar que o principal segredo do xito da Igreja
Universal do Reino de Deus, em termos de projeo e constituio de um Ienmeno sem
precedentes, promotor de remodelagens do campo religioso brasileiro, reside na alquimia ao
confunto. Ao Iazer uma reinterpretao da teoria weberiana da religio, Pierre Bourdieu
destaca a oposio entre 'magicos e 'sacerdotes,
1148
levantando instigantes questes:
magicos no poderiam construir comunidades? Ou seja, uma clientela da magia no poderia
evoluir na direo de praticas comunitarias, tipo igreja, sistematizando vises de mundo,
dando origem a doutrinas, gerando at mesmo um clero especialista no manuseio de ritual
apropriado? De igual modo, proIetas e sacerdotes no poderiam lanar mo de uma viso
magica da vida e de seus rituais para atender as necessidades dos que a eles recorrem na
condio de 'clientes? No poderiam tambm praticar atos magicos para aumentar a
capacidade de atrao de seu templo? No caso iurdiano, a resposta emblematicamente
'sim a todas essas questes.
A alquimia ao confunto, nas praticas da IURD, permite a combinao de
elementos tidos como opostos ou contraditorios e a recuperao de um capital simbolico
retrabalhado numa mensagem como as outras expresses religiosas contemporneas no
conseguiram Iaz-lo. E por esse aspecto emblematico, que demonstra Iuncionalidade, que
outras categorias do conhecimento - embora contribuam - no do conta de explicar os
mecanismos internos e externos que engendram e Iornecem sustentabilidade ao
Iuncionamento dessa Igreja. Assim, no obstante possuir uma historia recente, as raizes de
suas praticas esto Iincadas na longa durao e nisto reside o ponto de partida para a
compreenso de suas praticas. Por isso, ela no apenas uma religio de pobres, Iruto de
crises socio-econmicas desencadeadas nas ultimas dcadas, como tentaram classiIicar os
sociologos; no apenas uma religio que responde aos anseios emocionais das massas,
como querem as vezes categorizar os psicologos; no somente Iruto de um eIicaz
empreendimento de marketing e bom uso de recursos midiaticos de comunicao; no
apenas uma continuidade das crenas aIro-brasileiras, como uma espcie de 'verso
evanglica da macumba, como rotularam alguns segmentos evanglicos; no meramente
uma nova tipologia de pentecostalismo. Por tais aspectos, o avano em busca de uma
1148
Id., A economia aas trocas simbolicas, p. 79.
352
compreenso plausivel do Ienmeno iurdiano requer abordagem pelo vis de uma historia
cultural, como destacado nesta pesquisa.
A partir de parmetros da Historia Cultural aqui utilizados Ioi possivel
perceber mais proIundamente que o xito da Igreja Universal do Reino de Deus esta na
combinao de elementos produzidos como capital simbolico no campo religioso brasileiro.
Nessa igreja, magia e instituio deixam de ser elementos opostos e se tornam
complementares. Enquanto 'sindicato de magicos, a IURD no opera apenas com a magia.
Em sua alquimia, Iaz a combinao de elementos que a tornam simultaneamente tambm
igreja, movimento proItico, com carater messinico-milenarista. No espao iurdiano, bispos
e proIetas, magos e messias, complementam-se no exercicio de sua Iuno. O conjunto de
seus ritos agrega compositos culturais-religiosos legados pelo protestantismo,
pentecostalismo, catolicismo Iolclorico, religiosidade aIro, tradies judaicas. O sagrado, em
seu estado mais encantado, transversalmente cortado pelo emprego de recursos
ultramodernos. SoIisticadas estratgias de arrecadao Iinanceira so adotadas sem que se
perca o aspecto emblematico da economia da oIerenda em atos coletivos que transIiguram as
especulaes meramente mundanas. A posse e o usuIruto de riquezas materiais so obtidos
com mecanismos 'sobrenaturais. A geograIia do 'Alm pode ser alterada. O devir
escatologico ja se torna presente. O messianismo tambm ocorre nas grandes metropoles. A
cidade pode ser lugar de encantamentos em seu estado mais verticalizado. EnIim, a historia
recente esconde raizes proIundamente Iincadas em substratos estabelecidos na longa durao;
a religiosidade pode ser historicamente construida, articulada a lugares socio-econmicos e
politicos especiIicos, permitindo ser compreendida a partir de suas transIormaes no interior
das experincias vivenciadas pelos individuos e grupos sociais.
Portanto, nas praticas dessa Igreja, Ilutuaes historicas criaram outros
deuses, propagados por novos agentes, seguidos por antigos e novos Iiis, que transIormam o
campo religioso na mesma dimenso com que tambm so por ele transIormados. Desse
modo, o cristianismo - que uma religio de mistrio - o revive na sua intensidade, com o
emblema do encanto, da Iora recriativa e da riqueza cultural historicamente estabelecidos e
perpetuados no Iolclorico contexto brasileiro.
353
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
1 . Fontes
Fontes impressas: jornais
Folha Universal, Rio de Janeiro, 24 jul. 1994.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 15 out. 1995.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 28 jan. 1996.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 19 out. 1997.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 01 nov. 1998.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 07 nov. 1998.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 23 mar. 2000.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 30 jul. 2000.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 23 jan. 2003.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 09 Iev. 2003.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 23 mar. 2003.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 30 mar. 2003.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 23 out. 2003.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 09 maio 2004.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 25 maio 2004.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 11 jul. 2004.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 13 ago. 2004.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 14 mar. 2005.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 18 abr. 2005.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 29 maio 2005.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 13 jun. 2005.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 07 jul. 2005.
354
Folha Universal, Rio de Janeiro, 03 set. 2005.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 14 set. 2005.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 27 nov. 2005.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 04 dez. 2005.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 25 dez. 2005.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 27 dez. 2005.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 31 dez. 2005.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 05 Iev. 2006.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 09 Iev. 2006.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 12 Iev. 2006.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 01 abr. 2006.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 09 abr. 2006.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 16 abr. 2006.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 30 abr. 2006.
Folha Universal, Rio de Janeiro, 08 out. 2006.
Fontes impressas: revistas
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 50, 1990.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 67, 1999.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 65, 1999.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 66, 1999.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 69, 1999.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 70, 2000.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 118, 2000.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 74, 2001.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 82, 2002.
355
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 90, 2002.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 93, 2003.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 95, 2003.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 97, 2003.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 106, 2004.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 122, 2005.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 124, 2005.
Revista Plenituae, Rio de Janeiro, Universal Produes, n. 126, 2005.
Fontes impressas: livros
CABRAL, J. Entre o vale e o monte. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1998.
ESTATUTO E REGIMENTO INTERNO DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE
DEUS. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, s. d.
HELDE, Srgio von. Um chute na iaolatria. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal,
1999.
JUSTINO, Mario. Nos bastiaores ao Reino. A vida secreta na Igreja Universal do Reino de
Deus. So Paulo: Gerao Editorial, 1995.
MACEDO, Edir. Carater ae Deus. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1986.
. Pecaao e arrepenaimento. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1986.
. O avivamento ao Espirito ae Deus. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal,
1986.
. As obras aa carne & os frutos ao Espirito. Rio de Janeiro: GraIica e Editora
Universal, 1986.
. Nos passos ae Jesus. 8 ed. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1986.
. O poaer sobrenatural aa fe. 3 ed. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1991.
. O aiabo e seus anfos. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1995.
. Mensagens. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1995.
. O perfeito sacrificio. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1996.
356
. Orixas, caboclos e guias: deuses ou demnios? 14 ed. Rio de Janeiro: GraIica e
Editora Universal, 1990.
. O aespertar aa fe. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1997.
. O poaer sobrenatural aa fe. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1997.
. Jiaa com abunaancia. 10 ed. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1990.
. Apocalipse hofe. 3 ed. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1990.
. A libertao aa teologia. 7 ed. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1990.
. O Espirito Santo. 4 ed. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1992.
. Aliana com Deus. 2 ed. Rio de Janeiro: GraIica e Editora Universal, 1993.
UNIVERSAL: IGREJA DO REINO DE DEUS. Louvores ao reino. Rio de Janeiro: GraIica e
Editora Universal, 1998.
Fontes udio-visuais:
CRESCIMENTO da Igreja Universal do Brasil para o mundo. Rio de Janeiro: Universal
Produes, 2000. Documentario em video.
DOCUMENTARIO em video gravao sobre bastidores da Igreja Universal do Reino de
Deus, Ieita pelo ex-pastor iurdiano Carlos Magno de Miranda e levada ao ar pela Rede Globo
de Televiso, no Jornal Nacional, em dezembro de 1995. Copia disponivel no acervo do
Centro de Documentao e Pesquisa Historica CDPH, da Faculdade Teologica Sul
Americana, a Rua Martinho Lutero, 277, Londrina PR.
Em que posso te afuaar? So Paulo, Rede Record, 10 maio 2005. Programa de TV.
Em que posso te afuaar? So Paulo, Rede Record, 10 maio 2005. Programa de TV.
Entrevista 107. Londrina, Radio Universidade FM, 07 jul. 2006. Programa de radio.
Fala Que Eu Te Escuto. So Paulo, Rede Record, 15 jul. 2005. Programa de TV.
O Despertar aa Fe. So Paulo, Rede Record, 22 mar. 2004. Programa de TV.
O Despertar aa Fe. So Paulo, Rede Record, 02 Iev. 2003. Programa de TV.
O Despertar aa Fe. So Paulo, Rede Record, 04 ago. 2004. Programa de TV.
Ponto ae Lu:. Londrina, Radio Atalaia AM, 20 ago. 2004. Programa de radio. Material
gravado em K7, transcrito para uso como Ionte. Arquivo pessoal.
357
Ponto ae Lu:. Londrina, Radio Gospel FM, 07 ago. 2004. Programa de radio.
Ponto ae Lu:. Londrina, Radio Atalaia AM, 22 mar. 2004. Programa de radio.
Ponto ae Lu:. Londrina, Radio Gospel FM, 12 ago. 2005. Programa de radio.
Ponto ae Lu:. Londrina, Radio Atalaia AM, 29 set. 2004. Programa de radio.
Ponto ae Fe. Londrina, Radio Gospel FM, 01 ago. 2005. Programa de radio.
Ponto ae Lu:. Londrina, Radio Atalaia AM, Londrina, 20 jun. 2006. Programa de radio.
25 Hora. So Paulo, Rede Record, 15 nov. 1991. Programa de TV.
Fontes orais:
CABRAL, Jos Vasconcelos. So Paulo, 2002. Entrevista concedida a Leonildo Silveira
Campos. Copia disponivel em CD-ROM, no acervo do Centro de Documentao e Pesquisa
Historica CDPH, da Faculdade Teologica Sul Americana, a Rua Martinho Lutero, 277,
Londrina PR.
FREITAS, Georgino Matias de. Entrevista concedida em 17 jul. 2003. Material em CD-
ROM, disponivel no Centro de Documentao e Pesquisa Historica CDPH, da Faculdade
Teologica Sul Americana, a Rua Martinho Lutero, 277, Londrina PR.
Joo Luis M. Depoimento concedido a Wander de L. Proena, Londrina, ago. 2004.
Gravao em K7, transcrita para uso como Ionte. Arquivo pessoal.
L. M. S., pastor da IURD na cidade de Londrina. Depoimento concedido a Wander de L.
Proena, nov. 2004. Gravao em K7, transcrito para uso como Ionte. Arquivo pessoal.
Maria A. S., membro da IURD na cidade de Londrina. Depoimento concedido a Wander de
L. Proena, out. 2004. Gravao em K7, transcrito para uso como Ionte. Arquivo pessoal.
PRADO, Oswaldo, secretario executivo da Associao Evanglica Brasileira (AEVB).
Depoimento concedido a Wander de L. Proena, ago. 2004, sobre a visita que Iez ao bispo
Edir Macedo na priso, em maio de 1992. Gravao em K7, transcrito para uso como Ionte.
Arquivo pessoal.
R. A., bispo da IURD em Londrina. Depoimento concedido a Wander de L. Proena,
Londrina, set. 2004. Gravao em K7, transcrita para uso como Ionte. Arquivo pessoal.
STULTZ, Uzias. Entrevista concedida em 10 out. 2003. Material em CD-ROM, disponivel
no acervo do Centro de Documentao e Pesquisa Historica CDPH, da Faculdade
Teologica Sul Americana, a Rua Martinho Lutero, 277, Londrina PR.
358
Fontes produzidas pela pesquisa de campo: observaes participantes
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, 16 maio 2003. Registro
em diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, 10 mar. 2004. Registro
em diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observao participante no templo central na cidade de Londrina, 20 mar. 2004. Registro em
diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observao participante realizada no templo da IURD em Santo Amaro, 20 abr. 2004.
Registro em diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, 22 ago. 2004. Registro
em diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observao participante realizada no templo de Londrina, 30 ago. 2004. Registro em diario
de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observaes participantes realizadas no templo da IURD em Santo Amaro, out. 2004.
Registro em diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observao participante realizada no templo da IURD em Santo Amaro, So Paulo, 30 nov.
2004. Registro em diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, set. 2004. Registro em
diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, 11 nov. 2004. Registro
em diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observaes participantes realizadas no templo da IURD em Santo Amaro, Iev. 2005.
Registro em diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, 27 mar. 2005. Registro
em diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, 20 maio 2005. Registro
em diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observao participante realizada no templo da IURD em Londrina, ago. 2005. Registro em
diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observao participante realizada no templo da IURD no Bras, em So Paulo, 05 mar. 2006.
Registro em diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
Observaes participantes realizadas nos templos da IURD em Santo Amaro e Londrina,
mar/abr. 2006. Registro em diario de campo, catalogao e analise. Arquivo pessoal.
359
Fontes eletrnicas:
http://www.arcauniversal.org.br
http://www.igrejauniversal.org.br
http://www.ricardogondim.com.br/artigos
Fontes externas (no produzidas pela IURD): jornais
A Noticia, Rio de Janeiro, 09 set. 1971.
Folha ae Lonarina, Londrina, 12 Iev. 1976.
Folha ae Lonarina, Londrina, 22 maio 1984.
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 26 ago. 1991.
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 18 out. 1991.
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 17 set. 1995.
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 01 out. 1995.
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 01dez. 1995.
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 16 out. 1995.
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 02 abr. 2000
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 12 Iev. 2003.
Folha ae S. Paulo, So Paulo, 18 set. 2005.
Folha Online.www1.Iolha.uol.com.br Acesso em: 14 maio 2005.
Ga:eta ao Povo, Curitiba, 10 set. 2000.
Jornal aa Manh, Marilia - SP, 13 nov. 2005.
Jornal aa Manh, Marilia SP, 20 nov. 2005.
Jornal aa Tarae, So Paulo, 02 abr. 1991.
Jornal aa Tarae, So Paulo, 06 abr. 1991.
Jornal ao Brasil, Rio de Janeiro, 18 dez. 1988.
Jornal Expositor Cristo, So Paulo, ano 83, n. 19, 01 out. 1968.
360
Jornal Parana-Norte, Londrina, n. 1, 9 de out. 1934 .
Jornal Soma, Goinia, - GO, ano 4, n. 9, dez. 2000.
O Dia, Rio de Janeiro, 9 out. 1990.
O Estaao ae S. Paulo, So Paulo, 05 jun. 1992.
O Globo, Rio de Janeiro, 03 set. 1971.
O Globo, Rio de Janeiro, 23 out. 1988.
O Globo, Rio de Janeiro, 29 abr. 1990.
O Globo, Rio de Janeiro, 25 maio 1992.
O Parana Evangelico, Londrina, jun. 1980.
Tribuna aa Imprensa, Rio de Janeiro, 04 set. 1971.
ltima Hora, Rio de Janeiro, 13 set. 1971.
Fontes externas: revistas
Revista Eclesia, Rio de Janeiro, ano V, n. 50, jan. 2000.
Revista Eclesia, Rio de Janeiro, n. 50, jan. 2000.
Revista Eclesia, Rio de Janeiro, n. 67, abr. 2001.
Revista Exame, ano 40, n. 17, p. 20, 30 ago. 2006.
Revista Igrefa, So Paulo, jul. 2007.
Revista Isto E Senhor, So Paulo, 22 nov. 1989.
Revista Isto E, So Paulo, 14 dez. 1994.
Revista Isto E, So Paulo, 25 jan. 1995.
Revista Meio e Mensagem, So Paulo, n. 25, nov. 1984.
Revista Jefa, So Paulo, 17 out. 1990.
Revista Jefa, So Paulo, 14 nov. 1990.
Revista Jefa, So Paulo, 06 dez. 1995.
361
Revista Jefa, So Paulo, 31 jul. 1996.
Revista Jefa, So Paulo, 06 set. 2000.
Revista Jefa, So Paulo, 03 jul. 2002.
Revista Jefa, So Paulo, 16 maio 1990.
Revista Jefa, So Paulo, 14 nov. 1990.
Revista Jefa, So Paulo, 17 jul. 1991.
Revista Jefa, So Paulo, 06 dez. 1995.
Revista Jefa, So Paulo, 12 jul. 2006.
Revista Ultimato, So Paulo, mar. 1994.
Outras fontes externas:
DADOS DO CENSO DEMOGRAFICO 2000 DO IBGE. In: Um estuao aas aenominaes
evangelicas nas regies ao Brasil. Londrina: SEPAL, 2005.
DECLARAO DA COMISSO CENTRAL DA CNBB, de 27/05/1964. REB 24 (2), jun.
1964.
PRONUNCIAMENTO SOBRE A IURD, por Caio Fabio D'araujo Filho - Presidente da
Associao Evanglica Brasileira (AEVB). Documento com copia impressa disponivel para
pesquisa no acervo do Centro de Documentao e Pesquisa Historica - CDPH, da Faculdade
Teologica Sul Americana, em Londrina PR. No publicado.
PRONUNCIAMENTO SOBRE A IURD, pelo Conselho de Pastores Evanglicos de
Londrina (CPEL). Livro de Registros do CPEL, 1989. No publicado.
VARGAS, Getulio. Discurso em homenagem ao Episcopado Nacional, reunido no 1
Concilio Plenario. Ao Catolica, ano II, n. 10, out. 1939.
2 . Obras de referncia
Eliade, Mircea. Dicionario aas religies. So Paulo: Martins Fontes, 1995.
ENCICLOPEDIA EINAUDI. V. 5. Lisboa: Imprensa Nacional, 1985.
LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude (Orgs.). Dicionario tematico ao ociaente
meaieval. 2 vols. Trad. Hilario Franco Junior. Bauru: EDUSC, 2002.
362
3 . Bibliografia
ALBUQUERQUE, Eduardo Basto de. Distines no campo de estudo da religio e da
historia. In: GUERRIERO, Silas (Org.). O estuao aas religies: desaIios contemporneos.
So Paulo: Paulinas, 2003.
. Oraes & re:as populares. Texto disponivel em: http:// www.planetanews.com.
Acesso em: 25 out. 2006.
ALMEIDA, Ronaldo R. M. A universalizao do reino de Deus. Novos Estuaos CEBRAP,
So Paulo, n. 44, p.12-23, 1996.
ALVES, Rubem. Protestantismo: dogmatismo e tolerncia. So Paulo: Paulinas, 1982.
AMADO, Janaina; FERREIRA, Marieta de M. (Orgs.). Usos e abusos aa Historia Oral. 5
ed. Rio de Janeiro: FGV, 2002.
ANDERSON, Perry. In: ANDERSON, Perry et al. Pos-neoliberalismo: as politicas sociais e
o Estado Democratico. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1995. P. 10-25.
ANDRADE FILHO, Ruy de Oliveira. Imagem e reflexo: religiosidade e monarquia no Reino
Visigodo de Toledo (sc. VI VII). So Paulo: USP, 1997. 250 p. Tese (Doutorado em
Historia Social) Programa de Pos-Graduao em Historia, Universidade de So Paulo,
1997.
ARIES, Philippe. Historia aa morte no Ociaente. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.
AZZI, Riolondo. A neocristanaaae: um projeto restaurador. So Paulo: Paulinas, 1994.
BACZKO, B. Imaginario Social. In: Enciclopeaia Einauai. V. 5. Lisboa: Imprensa Nacional,
1985.
BARROS, Mnica do Nascimento. A batalha ao Armageaom: uma analise do repertorio
magico-religioso proposto pela Igreja Universal do Reino de Deus. Belo Horizonte: UFMG,
1995. 200 Il. Dissertao (Mestrado em Sociologia) Programa de Pos-Graduao em
Sociologia, Universidade Federal de Minas Gerais, 1995.
BARZOTTO, Valdir Heitor (Org.). Estuao ae leitura. Campinas: Mercado de Letras, 1999.
BASTIDE, Roger. As religies africanas no Brasil. V. 1, 2 . So Paulo: Pioneira, 1971.
. Brasil, terra ae contrastes. 5 ed. So Paulo: DiIel, 1973, Apua QUEIROZ, Renato da
Silva. Mobilizaes sociorreligiosas: os surtos messinico-milenaristas. Revista USP,
Religiosiaaaes no Brasil, So Paulo, n. 67, p. 133-149, set./nov. 2005.
. O sagraao selvagem e outros ensaios. So Paulo: Companhia das Letras, 2006.
BAUER, Martin; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som.
Petropolis: Vozes, 2002.
363
BAUDRILLARD, Jean. A sombra aas maiorias silenciosas. o Iim do social e o surgimento
das massas. So Paulo: Brasiliense, 1994.
BENEDETTI, Luiz R. Os Santos Nmaaes e o Deus Estabeleciao. So Paulo: USP, 1981.
Dissertao (Mestrado em Sociologia) Programa de Pos-Graduao em Cincias Sociais,
Universidade de So Paulo, 1981.
BERGER, Peter L. O aossel sagraao: elementos para uma teoria sociologica da religio. So
Paulo: Paulinas, 1985.
BERNARDO, Teresinha. Tcnicas qualitativas na pesquisa da religio. In: SOUZA, Beatriz
Muniz (Org.). Sociologia aa religio no Brasil. So Paulo: PUC/ UMESP/ Edies
Simposio, 1998. P. 134-141.
BITTENCOURT FILHO, Jos. In: SOUZA, Beatriz Muniz (Org.). Sociologia aa Religio no
Brasil. So Paulo: PUC/UMESP, 1998.
BLOCH, Marc. Os reis taumaturgos. So Paulo: Companhia das Letras, 1993.
BONFATTI, Paulo. A expresso popular ao sagraao. So Paulo: Paulinas, 2000.
BONNEWITZ, Patrice. Primeiras lies sobre a sociologia ae Pierre Bouraieu. Petropolis:
Vozes, 2003.
BOSI, AlIredo (Org.). Cultura brasileira: temas e situaes. So Paulo: Atica, 1987.
BOURDIEU, Pierre. O aesencantamento ao munao: estruturas econmicas e estruturas
temporais. So Paulo: Perspectiva, 1979.
. Questes ae sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.
. Coisas aitas. So Paulo: Brasiliense, 1990.
. A economia aas trocas lingisticas. So Paulo: EDUSP, 1996.
. Ra:es praticas. Sobre a teoria da ao. Campinas: Papirus, 1996.
. A leitura: uma pratica cultural. Debate com Roger Chartier. In: CHARTIER, Roger.
(Org.). Praticas aa leitura. So Paulo: Estao Liberdade, 1996.
. As regras aa arte. So Paulo: Companhia das Letras, 1996.
. A economia aas trocas simbolicas. So Paulo: Perspectiva, 1999.
. Meaitaes pascalianas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
. A proauo aa crena. Contribuio para uma economia dos bens simbolicos. So
Paulo: Zouk, 2002.
364
. Os usos sociais aa cincia. Por uma sociologia clinica do campo cientiIico. So
Paulo: Edunesp, 2004.
. Esboo ae auto-analise. So Paulo: Companhia das Letras, 2005.
. ; WACQUANT, L. J. D. Reponses... Pour une anthropologie reflexive. Paris: Le
Seuil, 1992. Traduo de Lucy Magalhes.
BRANDO, Carlos Rodrigues. Cavalhaaas ae Pirinopolis. Goinia: Edies Oriente, 1974.
. Os aeuses ao povo. So Paulo: Brasiliense, 1980.
BURKE, Peter. Sociologia e Historia. Porto: Edies AIrontamento, 1980.
. O munao como teatro. Estudos de Antropologia Historica. Lisboa: DIFEL: 1992.
. A fabricao ao rei. A construo da imagem publica de Luis XIV. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1994.
. Jarieaaaes ae Historia Cultural. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000.
. O que e Historia Cultural? Rio de Janeiro: Jorge ZAHAR Editor, 2004.
CADERNOS DO ISER, Rio de Janeiro, n. 44, ano 12, 1992.
CAMPOS, Leonildo Silveira. O milagre no ar: persuaso a servio de quem? Simposio So
Paulo, ASTE, v. 5, ano XV, p. 92, dez. 1982.
CAPELATO, Maria Helena. Multiaes em cena. Campinas: Papirus, 1998.
CASTELLS, Manuel. O poaer aa iaentiaaae. So Paulo: Paz e Terra, 1999.
CLASTRES, Helene. Terra sem Mal. So Paulo: Brasiliense, 1978.
CAMPOS, Bernardo. Da Reforma Protestante a pentecostaliaaae aa igrefa: debate sobre o
pentecostalismo na Amrica Latina. So Leopoldo: Sinodal, 2002.
CAMPOS, Hlide Maria Santos. Catearal eletrnica. Itu SP: Ottoni Editora, 2002.
CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e mercaao. Organizao e marketing de um
empreendimento neopentecostal. Petropolis: Vozes, 1997.
. O estudante de teologia candidato a pastor: contribuies das Cincias Sociais para
uma analise da Iormao do Iuturo clero protestante brasileiro. Simposio, So Paulo, Aste, n.
45, nov. 2003.
CNDIDO, Antonio. Os Parceiros ao Rio Bonito. So Paulo: Livraria Duas Cidades, 1975.
365
. In: BARZOTO, Valdir H. (Org.). Estuao aa leitura. Campinas: Mercado das Letras,
1999.
CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Dominios aa historia. Ensaios de
teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
. ; MALERBA, Jurandir. (Orgs.). Representaes: contribuio a um debate
transdisciplinar. Campinas: Papirus, 2000.
CARVALHO, Jos Murilo. Cidados ativos: a revolta da Vacina. Os bestiali:aaos: o Rio de
Janeiro e republica que no Ioi. So Paulo: Companhia das Letras, 1998
CASTRO, Celso; FERREIRA, Marieta de M.; OLIVEIRA, Lucia Lippi. Conversanao com
Jacques Le Goff. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
CHARTIER, Roger. A Historia Cultural: entre praticas e representaes. DiIel: Lisboa, 1990.
. O mundo como representao. Estuaos Avanaaos, So Paulo, USP, n. 11, 1991.
. Cultura Popular: revisando um conceito historiograIico. Estuaos Historicos, Rio de
Janeiro, v. 8, n. 16, p.179-192, 1995.
. Textos, simbolos e o espirito Irancs. Historia. questes e aebates. Curitiba,
Associao Paranaense de Historia APAH, jul./dez., 1996.
. Critica Textual e Historia Cultural: o Texto e a Voz Sculo XVI e XVII. Leitura.
Teoria e Pratica. Campinas, Associao ae Leitura no Brasil; Porto Alegre, Mercado Aberto,
n. 30, 1997.
. A oraem aos livros. leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os sculos XIV e
XVIII. Brasilia: UNB, 1999.
. In: CHARTIER, Roger et al. Leitura, historia e historia aa leitura. Campinas:
Mercado de Letras, 2000.
. Pierre Bourdieu e a historia. Topoi, Rio de Janeiro, URFJ, n. 4, 2002.
. Leituras e leitores na Frana ao Antigo Regime. So Paulo: Edunesp, 2003.
CHAUI, Marilena. Conformismo e resistncia: aspectos da cultura popular no Brasil. So
Paulo: Brasiliense, 1986.
. Raizes teologicas do populismo no Brasil: teocracia dos dominantes, messianismo
dos dominados. In: CHAUI, Marilena et ali. Anos 90 - Politica e socieaaae no Brasil. So
Paulo: Brasiliense, 1994.
COHN, Norman. Na senaa ao milnio. Milenaristas, revolucionarios e anarquistas misticos
da Idade Mdia. Lisboa: Presena, 1981.
366
CONDE, Emilio. Historia aas Assembleias ae Deus no Brasil - Belem 1911-1961. Rio de
Janeiro: Livraria Evanglica, 1960.
CONGRESSO Brasileiro de Evangelizao, em 2003, na cidade de So Paulo. (Material em
CD-ROM, disponivel no acervo do Centro de Documentao e Pesquisa Historica CDPH,
da Faculdade Teologica Sul Americana, a Rua Martinho Lutero, 277, Londrina PR.)
CORTEN, Andr; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari Pedro (Orgs.). Igrefa Universal ao Reino
ae Deus: os novos conquistadores da I. So Paulo: Paulinas, 2003.
COSTA, Milton Carlos. Joaquim Nabuco entre a politica e a historia. So Paulo: Editora
ANNABLUME, 2003.
DARNTON, Robert. O granae massacre ae gatos e outros episoaios aa Historia Cultural
Francesa. Rio de Janeiro: Graal, 1986.
. O beifo ae Lamourette. Midia, cultura e revoluo. So Paulo: Companhia das
Letras, 1990.
. A Historia da Leitura. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita aa Historia: novas
perspectivas. So Paulo: UNESP, 1992.
DAVIS, Natalie Z. Ritos de Violncia. In: Culturas ao povo: sociedade e cultura no inicio da
Frana noturna. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
DEIROS, Pablo. Historia ael cristianismo en la America Latina. Buenos Aires: FTLA, 1992.
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves; FERREIRA, Jorge (Orgs.). O Brasil republicano. O
tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em Iins do sculo XX. V. 4. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 2003.
DELUMEAU, Jean. Le Catholicisme entre Luther e Joltaire. Paris: PUF, 1971.
. Historia ao meao no ociaente (1300 1800). So Paulo: Companhia das Letras,
1990.
. Uma travessia do milenarismo ocidental. In: NOVAES, Adauto et al. A aescoberta
ao homem e ao munao. So Paulo: Companhia das Letras, 1998.
DENIPOTI, Claudio. A seauo aa leitura: livros, leitores e historia cultural Parana (1880
1930). Curitiba: UFPR, 1998. Tese (Doutorado em Historia) - Programa de Pos-Graduao
em Historia, Universidade Federal do Parana.
DOBRORUKA, Vicente. Historia e milenarismo. Ensaio sobre tempo, historia e milnio.
Brasilia: UNB, 2004.
DREHER, Martin. A igrefa no Imperio Romano. So Paulo: Sinodal, 1995.
. A igrefa no munao meaieval. So Leopoldo: Sinodal, 1996.
367
DUBOIS, Claude Gilbert. O imaginario aa Renascena. Brasilia: UNB, 1985.
DURKHEIM, Emile. The elementary forms of religious life. Nova York: Free Press, 1965.
. As formas elementares aa viaa religiosa. So Paulo: Paulinas, 1983.
DUTRA, Eliana R. Freitas. O Almanaque Garnier, 1903 1914: ensinando a ler o Brasil,
ensinando o Brasil a ler. In: Leitura, Historia e Historia aa Leitura. Campinas: Mercado de
Letras, 2000.
ECO, Umberto. Apocalipticos e integraaos. So Paulo: Perspectiva, 1993.
ELIADE, Mircea. O sagraao e o profano. A essncia das religies. Lisboa: Edio Livros do
Brasil, s.d.
. La nostalgie aes origines. mthodologie et histoire des religions. Paris: Gallimard,
1978.
. Imagens e simbolos. Ensaio sobre o simbolismo magico-religioso. So Paulo:
Martins Fontes, 1991.
. El chamanismo y las tecnicas arcaicas ae extasis. Mxico: Fondo de Cultura
Economica, 1994.
EPSTEIN, Isaac. O signo. So Paulo: Editora Atica, 1985.
ESTUDOS AVANADOS. Religies no Brasil. So Paulo: USP, v.18, n. 52, 2004.
EVANS-PRITCHARD, E. E. Antropologia social aa religio. Rio de Janeiro: Campus, 1978.
FERNANDES, Rubem Csar. Os cavaleiros ao Bom Jesus: uma introduo as religies
populares. So Paulo: Brasiliense, 1982.
. Religies populares: uma viso parcial da literatura recente. In: Boletim Informativo
ae Cincias Sociais, So Paulo, ANPOCS, 1984.
FERREIRA, Julio A. Historia aa Igrefa Presbiteriana ao Brasil. 2 ed. V. 1. So Paulo:
Cultura Crist, 1959.
. Religio no Brasil. Campinas: LPC, 1992.
FICO, Carlos. Reinventanao o otimismo. Rio de Janeiro: FGV, 1997.
FRY, Peter; HOW, Gary Nigel. Duas respostas a aIlio: Umbanda e Pentecostalismo.
Debate e Critica, So Paulo, n. 6, 1975.
FREYRE, Gilberto. Casa granae e sen:ala. Rio de Janeiro: Maria Schimidt, 1933.
368
FRESTRON, Paul. Protestantes e politica no Brasil. da constituinte ao impeachment.
Campinas: UNICAMP, 1993. Tese (Doutorado em Sociologia) Programa de Pos-
Graduao em Sociologia, Universidade Estadual de Campinas.
GEERTZ, CliIIord. A interpretao aas Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
GODBEER, Richard. The Bevils Dominion: magic and religion in early new england.
Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
GOMES, Antnio Maspoli de Araujo. Origens e imagens do protestantismo brasileiro no
sculo XI numa perspectiva calvinista e weberiana. In: Cincias aa Religio. Historia e
Socieaaae, Universidade Presbiteriana Mackenzie, So Paulo, ano 1, n.1, 2003.
GONZALEZ, Justo. A era aos martires. So Paulo: Edies Vida Nova, 1992.
GURIVITCH, Aaron. A sintese historica e a escola aos anais. So Paulo: Perspectiva,
2003.
GUTIERREZ, Benjamin (Org.). Na fora ao Espirito. os pentecostais na Amrica Latina, um
desaIio as igrejas historicas. So Paulo: AIPRAL/UMESP, 1996.
HACK, Osvaldo Henrique. Formao Teologica dos Pastores Presbiterianos. Revista
Teologica, Seminario Presbiteriano do Sul, Campinas, v. 62, jul., 2002.
HAHN, Carl Joseph. Historia ao culto protestante no Brasil. So Paulo: ASTE, 1995.
HOBSBAWM, Eric. A era aos extremos. o breve sculo XX (1914-1991). So Paulo:
Companhia das Letras, 1998.
HOLANDA, Srgio Buarque. Viso ao paraiso. So Paulo: Nacional, 1969.
. Rai:es ao Brasil. So Paulo: Companhia das Letras, 1999.
HOORNAERT, Eduardo. Formao ao catolicismo brasileiro. Petropolis: Vozes, 1991.
. Sacerdotes e conselheiros. In: HOORNAERT, Eduardo et al. Estuaos Biblicos n 37.
Petropolis: Vozes, 1993.
HUNT, Lynn. (Org.). A Nova Historia Cultural. So Paulo: Martins Fontes, 1992.
IDIGORAS, J. L. Religio, religiosidade popular. In: IDIGORAS, J. L. et al. Jocabulario
teologico para a America Latina. So Paulo: Paulinas, 1983.
JOANILHO, Andr Luiz. Revoltas e rebelies. So Paulo: Contexto, 1989.
JUNGBLUT, Airton Luiz. Deus e nos, o diabo e os outros: a construo da identidade
religiosa da Igreja Universal do Reino de Deus. Caaernos ae Antropologia, Porto Alegre,
UFRGS n. 9, 2000.
369
JUNIOR, Hilario Franco. Cocanha. a historia de um pais imaginario. So Paulo: Companhia
das Letras, 1998.
KARNAL, Leandro; NETO, Jos Alves de F. (Orgs.). A escrita aa memoria: interpretaes e
analise documentais. So Paulo: Instituto Cultural Banco Santos, 2004.
LAPLANTINE, Franois; TRINDADE, L. O que e imaginario. So Paulo: Brasiliense, 1996.
LARA, Silvia H. Historia Cultural e Historia Social. Dialogos, UEM, Maringa, n.1, 1997.
LARAIA, Roque de Barros. Religies indigenas. Revista USP, Religiosiaaae no Brasil, So
Paulo, n. 67, p. 9, set/nov, 2005.
LE GOFF, Jacques. Historia, novas aboraagens. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.
. Para um novo conceito ae Iaaae Meaia. Tempo, trabalho e cultura no ocidente.
Lisboa: Editorial Estampa, 1980.
. O maravilhoso e o quotiaiano no ociaente meaieval. Lisboa: Edies 70, 1983.
. (Org.). O homem meaieval. Lisboa: Editorial Presena, 1989.
. A civili:ao ao ociaente meaieval. V. 1. Lisboa: Editorial Estampa, 1994
LEVINE, Robert M. O serto prometiao. O massacre de Canudos. So Paulo: Edusp, 1995.
LEVI-STRAUSS, Claude. O Ieiticeiro e sua magia. In: Antropologia estrutural. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967.
LINDHOLM, Charles. Carisma. xtase e perda de identidade na venerao do lider. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
LHOMME, Jos. O livro ao meaium curaaor. 6 ed. Rio de Janeiro: Editora Eco, s.d.
LOYOLA, Maria. A. Pierre Bouraieu entrevistaao por Maria Anarea Loyola. Rio de
Janeiro: Eduerj, 2002.
MACHADO, Maria das Dores Campos; MARIZ, Cecilia Loreto. Sincretismo e trnsito
religioso: comparando carismaticos e pentecostais. Comunicaes ao ISER, Rio de Janeiro, n.
45, ano 13, 1994.
MAFRA, Clara. Os evangelicos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
MAGGIE, Yonne. Meao ao feitio. Relaes entre magia e poder no Brasil. Rio de Janeiro:
Ministrio da Justia, 1992.
MAY, Tim. Pesquisa social. Questes, mtodos e processos. Porto Alegre: Artemed, 2000.
MALINOWSKI, Bronislaw. Magic, science, and religion. Em: James Needham (Ed.).
Science, religion ana reality. London: Free Prees, 1925.
370
MARIANO, Ricardo. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. So
Paulo: Loyola, 1999.
. Igreja Universal do Reino de Deus: a magia institucionalizada. Revista USP, So
Paulo, n. 31, set-nov, 1996.
. Neopentecostais: os pentecostais esto mudando. So Paulo: USP, 1995, 250 p.
Dissertao (Mestrado em Sociologia) Departamento de Sociologia da Faculdade de
FilosoIia, Letras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo.
MARIANO, Ricardo e PIERUCCI, Antnio Flavio. O envolvimento dos pentecostais na
eleio de Collor. Novos Estuaos CEBRAP, n. 34, So Paulo, nov., 1991.
MARIZ, Cecilia Loreto. In: Sociologia no Brasil. So Paulo: UMESP, 1998.
. A sociologia da religio de Max Weber. In: TEIXEIRA, Faustino. Sociologia aa
religio: enIoques teoricos. Petropolis: Vozes, 2003.
MARTINS, Carlos Benedito. Notas sobre a noo de pratica em Pierre Bourdieu. In: Novos
Estuaos CEBRAP, So Paulo, n. 62, maro, 2002.
MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dadiva. In: Sociologia e Antropologia. V. 2. So Paulo:
Atica, 1974.
MINAYO, Maria C. S. (Org.). Pesquisa Social: teoria, mtodo e criatividade. Petropolis:
Vozes, 1999.
MENDONA, Antonio Gouva. O celeste porvir: a insero do protestantismo no Brasil.
So Paulo: Paulinas, 1984.
. ; FILHO, Procoro Velasques. Introauo ao protestantismo no Brasil. So Paulo:
Edies Loyola, 1990.
. Protestantes, pentecostais e ecumnicos. O campo religioso e seus personagens. So
Bernardo do Campo: UMESP, 1997.
. In: SOUZA, Beatriz Muniz (Org.). Sociologia aa religio no Brasil. So Paulo:
PUC/UMESP, 1998.
. Cristo no cu e a egreja ausente. Cincias aa Religio, So Bernardo do Campo, n.
6, abr. 1989.
MICELI, Srgio. A Iora do sentido. In: BOURDIEU, Pierre. A economia aas trocas
simbolicas. So Paulo: Perspectiva, 1999.
MONTES, Maria Lucia. As Iiguras do sagrado: entre o publico e o privado. In:
SCHWARCZ, L. M. (Org.). Historia aa viaa privaaa no Brasil 4. Contrastes da intimidade
contempornea. So Paulo: Companhia da Letras, 2002.
371
MOURA, Paulo Viana. Escola ae Pastores. Elite intelectual e presbiterianismo. Londrina:
Editora da UEL, 2001.
NAPOLITANO, Marcos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes historicas. So Paulo:
Contexto, 2005.
NARBER, Gregg. Entre a cru: e a espaaa: violncia e misticismo no Brasil rural. So Paulo:
Editora Terceiro Nome, 2003.
O BRASIL EM SOBRESSALTO. 80 anos de historia contados pela Folha de S. Paulo. So
Paulo: PubliFolha, 2002.
OLIVEIRA, Estevam Fernandes. Converso ou aaeso: uma reIlexo sobre o
neopentecostalismo no Brasil. Joo Pessoa: Proclama Editora, 2004.
OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro. A teoria do trabalho religioso em Bourdieu. In: TEIXEIRA,
Faustino (Org.). Sociologia aa religio. EnIoques teoricos. Petropolis: Vozes, 2003.
OLIVEN, Rubem Georg. Urbani:ao e muaana social no Brasil. Petropolis: Vozes, 1984.
. A Antropologia ae grupos urbanos. Petropolis: Vozes, 1996.
ORLANDI, Eni Puccinelli. (Org.). A leitura e os leitores. Campinas: Pontes, 1998.
ORO, Ari Pedro. O avano pentecostal e reao catolica. Petropolis: Vozes, 1996.
OTTEN, A. O contexto historico-religioso. In: OTTEN, A. et al. So Deus e granae. So
Paulo: Loyola, 1990.
PAES DE ALMEIDA, Jozimar. Errante no campo aa ra:o. Londrina: UEL, 1996.
PAYER, Maria Onice. Memoria de leitura e meio rural. In: ORLANDI, Eni Puccinelli (Org.).
A leitura e os leitores. Campinas: Pontes, 1998.
PIERUCCI, Antonio Flavio. Magia. So Paulo: PubliFolha, 2001.
. O aesencantamento ao munao. Todos os passos do conceito em Max Weber. So
Paulo: Editora 34, 2003.
PIERUCCI, Antnio Flavio; PRANDI, Reginaldo. Religio popular e ruptura na obra de
Procopio Camargo. Novos Estuaos CEBRAP, So Paulo, n. 17, 1987.
PINTO, Louis. Pierre Bouraieu e a teoria ao munao social. Rio de Janeiro: Editora FGV,
2000.
PORTELLI, A. Sonhos Ucrnicos. Memorias e possiveis mundos dos trabalhadores. In:
Profeto Historia. So Paulo: Educ, n. 10, 1993.
. O que Iaz a Historia Oral diIerente. Profeto Historia, So Paulo, n. 14, Iev. 1997.
372
. Memoria e Dialogo. desaIios da Historia Oral para a ideologia do sculo XXI. Rio
de Janeiro: Fio Cruz - Fundao Getulio Vargas, 2000.
PRANDI, Reginaldo. Um sopro ao Espirito. So Paulo: EDUSP, 1997.
. Os canaombles ae So Paulo. So Paulo: Hucitec-Edusp, 1991.
PRIEN, H. J. La historia ael cristianismo em America Latina. So Leopoldo: Sinodal, 1985.
PRIORE, Mary Del et al. 500 anos ae Brasil. Historias e reIlexes. So Paulo: Editora
Scipione, 1999.
PROENA, Wander de Lara. Magia, prosperiaaae e messianismo. Representaes e leituras
no neopentecostalismo brasileiro. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 2003.
. Estratgias e perIis de liderana no neopentecostalismo brasileiro. In: BARRO,
Antonio Carlos; KOHL, W. ManIred. (Orgs.). Liaerana para um novo seculo. Londrina:
Editora Descoberta, 2003.
. De 'casa de proIetas a seminarios teologicos: a preparao vocacional em
perspectiva historica. In: BARRO, Antonio Carlos; KOHL, W. ManIred. (Orgs.). Eaucao
teologica transformaaora. Londrina: Editora Descoberta, 2004.
. O palimpsesto e a religiosidade brasileira. In: VV.AA. Respostas evangelicas a
religiosiaaae brasileira. So Paulo: Editora Vida Nova, 2004.
. Formao e desenvolvimento das primeiras igrejas evanglicas na cidade de
Londrina. In: MUZIO, Rubens R. (Org.). A revoluo silenciosa. V.1. So Paulo: SEPAL,
2004.
. Fontes para estudo do neopentecostalismo brasileiro: o caso da Igreja Universal do
Reino de Deus. Assis - SP, Patrimnio e Memoria, CEDAP, v.1, n.1, p.1-20, 2005.
. Entre leituras e representaes: um caso de messianismo milenarista no Norte do
Parana. Ponta Grossa -PR, Revista ae Historia Regional, v. 8, 2005.
. Multiplos pastoreios: trajetorias e impactos de novas expresses evanglicas na
cidade de Londrina. In: A revoluo silenciosa. V. 2. Belo Horizonte: Editora Palavra, 2006.
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira. Messinic Miths and Movements. Diogenes, Paris, n. 90,
1975.
. O messianismo no Brasil e no munao. So Paulo: AlIa e Omega, 1982.
. Messianismo e conflito social. A Guerra Sertaneja do Contestado 1912-1916. So
Paulo: Atica, 1981.
. Cultura, socieaaae rural, socieaaae urbana no Brasil. So Paulo: LTC/Edusp, 1990.
. O imaginario em terra conquistada. Textos CERU, So Paulo, n. 4, 1993.
373
REILY, Duncan. Historia aocumental ao protestantismo no Brasil. So Paulo: ASTE, 1993.
REIS, Joo Jos dos. A morte e uma festa. So Paulo: Companhia das Letras, 1991.
RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-Franois (Orgs.). Para uma historia cultural. Rio de
Janeiro: Editorial Estampa, 1998.
ROLIM, Francisco Cartaxo. Pentecostais no Brasil: uma interpretao socio-religiosa.
Petropolis: Vozes, 1995.
. Dicotomias religiosas. Ensaio de sociologia da religio. Petropolis: Vozes, 1997.
. A religio em uma socieaaae em transformao. Petropolis: Vozes, 1997.
RUUTH, Anders. Igreja Universal do Reino de Deus. Estuaos ae religio. So Bernardo do
Campo, UMESP, ano XV, n. 20, jun. 2001.
SADER, Emir. A hegemonia neoliberal na Amrica Latina. In. SADER, Emir (Org.). Pos-
neoliberalismo. As politicas sociais e o Estado Democratico. Rio de Janeiro: Paz & Terra,
1995.
SANCHIS, Pierre. Para no dizer que no Ialei de sincretismo. Comunicaes ao ISER, Rio
de Janeiro, ISER 13, 1994.
. O repto pentecostal a cultura catolico-brasileira. In: ANTONIAZZI, A. et al. Nem
anfos nem aemnios. Interpretaes sociologicas do pentecostalismo. Petropolis: Vozes,
1996.
SEMANA DE ESTUDOS TEOLOGICOS, XI, 1992, Londrina. Anais. O
neopentecostalismo Brasileiro. Londrina: STL, 1992.
SIEPIERSKI, Carlos Tadeu. O sagraao num munao em transformao. So Paulo: Edies
ABHR, 2003.
SILVA, Vagner Gonalves da. Concepes religiosas aIro-brasileiras e neopentecostais: uma
analise simbolica. Revista USP, Religiosiaaae no Brasil, n. 67, p. 164, set./nov. 2005.
SHAULL, Richard; CESAR, Waldo. O pentecostalismo e o futuro aas igrefas crists.
Petropolis / So Leopoldo: Vozes/ Sinodal, 1999.
SOARES, Luiz Eduardo. A guerra dos pentecostais contra o aIro-brasileiro: dimenses
democraticas de conIlitos religiosos no Brasil. Caaernos ao ISER, Rio de Janeiro, n. 44, ano
12, 1992.
SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra ae Santa Cru:. Ieitiaria e religiosidade
popular no Brasil Colonial. So Paulo: Companhia das Letras, 1986.
. Inferno Atlantico: demonologia e colonizao - Sculo XVI - XVIII. So Paulo:
Companhia das Letras, 1993.
374
TEIXEIRA, Faustino. Faces do catolicismo brasileiro contemporneo. Revista USP,
Religiosiaaae no Brasil, n. 67, set/nov, 2005.
THOMAS, Keith. Religio e aeclinio aa magia. So Paulo: Companhia das Letras, 1991.
THOMPSON, Paul. A vo: ao passaao: Historia Oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
TURNER, Victor W. O processo ritual. Estrutura e antiestrutura. Petropolis: Vozes, 1974.
VAINFAS, Ronaldo. A heresia aos inaios. So Paulo: Companhia das Letras, 1999.
VELHO, Otavio. Globalizao: antropologia e religio. Mana, Rio de Janeiro, vol. 3, n.1,
1997
VOVELLE, Michel. In: D`Alessio, Marcia Mansor. Reflexes sobre o saber historico. So
Paulo: UNESP, 1998.
WACH, Joachim. Sociologia aa religio. So Paulo: Paulinas, 1990.
WALKER, W. Historia aa Igrefa Crist. V.1, 2. So Paulo: ASTE, 1980.
WEBER, Max. Economy ana socity. Berkeley: University oI CaliIornia Press, 1978.
. A etica protestante e o espirito ao capitalismo. So Paulo/Brasilia: Pioneira/EdUNB,
1981.
. Ensaios ae sociologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1982.
. In: GERTH, H.; MILLS, C. (Orgs.). Ensaios ae sociologia. Rio de Janeiro: Zahar,
1982.
. Economia ae socieaaae. V.1. Brasilia: UNB, 1991.
WEFFORT, Francisco. O populismo na politica brasileira. Rio de Janeiro: Paz & Terra,
1990.
WISSENBACH, Maria Cristina. In: SEVECENKO, Nicolau (Org.). Historia aa viaa privaaa
no Brasil 3: republica, da belle poque a era do radio. So Paulo: Companhia das Letras,
1998
WOLFGANG, Iser. O ato aa leitura: uma teoria do eIeito esttico. V. 2. So Paulo: Editora
34, 1999.
Você também pode gostar
- A Farsa Dos "Protocolos Dos Sábios de Sião"Documento8 páginasA Farsa Dos "Protocolos Dos Sábios de Sião"MarceloAinda não há avaliações
- Curso de Alta Magia 2Documento156 páginasCurso de Alta Magia 2Luciano Junior100% (3)
- Culturas e Religioes Na Contemporaneidade PDFDocumento342 páginasCulturas e Religioes Na Contemporaneidade PDFDanielle Moraes100% (1)
- Missão Como Compaixão - Roberto Ervino ZwetschDocumento405 páginasMissão Como Compaixão - Roberto Ervino ZwetschRafael PelegriniAinda não há avaliações
- Tópicos Especiais Segurança Do TrabalhoDocumento133 páginasTópicos Especiais Segurança Do TrabalhoWeve RsonAinda não há avaliações
- Decreto 51-2017 de 09 de Outubro Aprova o Regulamento de Seguranca Social ObrigatoriaDocumento16 páginasDecreto 51-2017 de 09 de Outubro Aprova o Regulamento de Seguranca Social Obrigatoriaarmando zualoAinda não há avaliações
- 1 Contabilidade Mestre Dos ConcursosDocumento333 páginas1 Contabilidade Mestre Dos ConcursosRodrigo Petry GalloisAinda não há avaliações
- Resumo - o Mundo de SofiaDocumento13 páginasResumo - o Mundo de SofiaEverson NauroskiAinda não há avaliações
- Apostila Modulo4 AUXILIAR PDFDocumento39 páginasApostila Modulo4 AUXILIAR PDFEDVANDERSON DA SILVA CAMPOSAinda não há avaliações
- Irmandades dos Homens Pretos: Sentidos de Proteção e Participação do Negro na Sociedade Campista (1790-1890)No EverandIrmandades dos Homens Pretos: Sentidos de Proteção e Participação do Negro na Sociedade Campista (1790-1890)Ainda não há avaliações
- Andrea Caselli GomesDocumento146 páginasAndrea Caselli GomesjaniAinda não há avaliações
- Apostila AlegoDocumento358 páginasApostila AlegoGilvan NetoAinda não há avaliações
- Os Negócios do Pai: uma análise sociológica sobre a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno - AdhonepNo EverandOs Negócios do Pai: uma análise sociológica sobre a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno - AdhonepAinda não há avaliações
- Anptecre IV CongressoDocumento2.320 páginasAnptecre IV CongressoAmparo RibeiroAinda não há avaliações
- Técnico de Informatica - Instalação e Gestão de Redes (481041)Documento79 páginasTécnico de Informatica - Instalação e Gestão de Redes (481041)ismaelpvtAinda não há avaliações
- Teoria Pontiana e Negocio Juridico RESUMODocumento4 páginasTeoria Pontiana e Negocio Juridico RESUMOMateus Romano VieiraAinda não há avaliações
- Flavio Cesar Conrado - Religião e Cultura CívicaDocumento208 páginasFlavio Cesar Conrado - Religião e Cultura CívicaThiago Paiva100% (1)
- Proença - Sindicato Dos MágicosDocumento374 páginasProença - Sindicato Dos MágicosAnonymous goHsmLe4Ainda não há avaliações
- 2012 EwelterDeSiqueiraERocha PDFDocumento269 páginas2012 EwelterDeSiqueiraERocha PDFAnonymous CHAkpy3wrAinda não há avaliações
- Tese - Ana Cristina RochaDocumento271 páginasTese - Ana Cristina RocharodrigokarbonoAinda não há avaliações
- EdilsonSouza PDFDocumento316 páginasEdilsonSouza PDFEderVedder100% (1)
- 2019d Creligião Etica Política Kuyper No BrasilDocumento112 páginas2019d Creligião Etica Política Kuyper No BrasilCláudio Antônio Cardoso LeiteAinda não há avaliações
- Daniel Alves - Tese - Conectados Pelo Espirito PDFDocumento0 páginaDaniel Alves - Tese - Conectados Pelo Espirito PDFanacandidapenaAinda não há avaliações
- 2011 CarlosAndradeRivasGutierrez VRevDocumento189 páginas2011 CarlosAndradeRivasGutierrez VRevtroll87Ainda não há avaliações
- PDFDocumento363 páginasPDFJennifer SmithAinda não há avaliações
- Rodrigo Follis PDFDocumento231 páginasRodrigo Follis PDFCosme PeixotoAinda não há avaliações
- Cidadãos do Céu: a construção da identidade batista nos conflitos com o catolicismo, segundo O Batista Mineiro (1918 a 1960)No EverandCidadãos do Céu: a construção da identidade batista nos conflitos com o catolicismo, segundo O Batista Mineiro (1918 a 1960)Ainda não há avaliações
- Helmut RendersDocumento404 páginasHelmut Rendersjuniorsousa211184Ainda não há avaliações
- Maria Da Consolacao LucindaDocumento398 páginasMaria Da Consolacao LucindaProjeto Vem Ser na CozinhaAinda não há avaliações
- A Esquerdização Do Catolicismo No Brasil - JÚLIO de MESQUITA FILHODocumento261 páginasA Esquerdização Do Catolicismo No Brasil - JÚLIO de MESQUITA FILHOCabral Wallace100% (1)
- Maxwell Pinheiro Fajardo: Assis 2015Documento359 páginasMaxwell Pinheiro Fajardo: Assis 2015ramses010203Ainda não há avaliações
- Entre o Velho e o Novo Mundo:: Família, Igreja Católica e Imigração Italiana no ParanáNo EverandEntre o Velho e o Novo Mundo:: Família, Igreja Católica e Imigração Italiana no ParanáAinda não há avaliações
- Edileia Mota Diniz PDFDocumento189 páginasEdileia Mota Diniz PDFGustavo MartinsAinda não há avaliações
- Alencar Assembleias Brasileiras de Deus 1911 2011 DissertDocumento285 páginasAlencar Assembleias Brasileiras de Deus 1911 2011 DissertWashington Carneiro100% (3)
- Geertz Armin Estudo Da História Das ReligiõesDocumento26 páginasGeertz Armin Estudo Da História Das ReligiõeshermenericoAinda não há avaliações
- RHRparte1 PDFDocumento92 páginasRHRparte1 PDFotnasirCAinda não há avaliações
- Via (Da) Gens TeológicasDocumento525 páginasVia (Da) Gens TeológicasSérgio GiniAinda não há avaliações
- EM BUSCA DO BRASIL - Cópia PDFDocumento382 páginasEM BUSCA DO BRASIL - Cópia PDFThalles SoaresAinda não há avaliações
- Watanabe THB DR AssisDocumento276 páginasWatanabe THB DR AssisIan CardozoAinda não há avaliações
- Benelli Pescadores de Homens A Produção de Sbjetividade Na Formação de Padres em SemináriosDocumento401 páginasBenelli Pescadores de Homens A Produção de Sbjetividade Na Formação de Padres em SemináriosAna Carolina RamosAinda não há avaliações
- Indígenas e A Mensagem Do Segundo AdventoDocumento375 páginasIndígenas e A Mensagem Do Segundo AdventoHermanodeJesusAinda não há avaliações
- Tese Maria Cecilia Domezi - A Devoção Nas CebsDocumento329 páginasTese Maria Cecilia Domezi - A Devoção Nas CebszeliacebiAinda não há avaliações
- Ser Cristão No Século IVDocumento99 páginasSer Cristão No Século IVjimmy davidAinda não há avaliações
- Os Santos Da Igreja e Os Santos Do Povo - Devoções e Manifestações Da Religiosidade Popular. JURKEVICS, VERA IRENEDocumento229 páginasOs Santos Da Igreja e Os Santos Do Povo - Devoções e Manifestações Da Religiosidade Popular. JURKEVICS, VERA IRENERECIRIO JOSE GUERINOAinda não há avaliações
- Avalanche Escola de Missões Urbanas UndergroundDocumento104 páginasAvalanche Escola de Missões Urbanas UndergroundAnderson AlexandreAinda não há avaliações
- Igreja Apostólica Santa VóRosaDocumento191 páginasIgreja Apostólica Santa VóRosaMaria BellaAinda não há avaliações
- PráticasArqueológicase Alteridades IndígenasDocumento131 páginasPráticasArqueológicase Alteridades IndígenasDinoelly AlvesAinda não há avaliações
- TESE Bibliotecas Pedagógicas CatólicasDocumento391 páginasTESE Bibliotecas Pedagógicas CatólicaswamsbernardoAinda não há avaliações
- REIS FIGUEIRA, Cristina Aparecida - A Trajetória de José OiticicaDocumento284 páginasREIS FIGUEIRA, Cristina Aparecida - A Trajetória de José OiticicaIgor SantosAinda não há avaliações
- Tese Maçonaria e AboliçãoDocumento286 páginasTese Maçonaria e AboliçãoAugusto CésarAinda não há avaliações
- REIS, G. S. (2010) - Ambiguidade Como Inventividade PDFDocumento234 páginasREIS, G. S. (2010) - Ambiguidade Como Inventividade PDFJoao Inacio Bezerra da silvaAinda não há avaliações
- CP 073191Documento126 páginasCP 073191Marcelo SampaioAinda não há avaliações
- Embate Entre As Instituições Católica e Espírita (Autoria Desconhecida)Documento119 páginasEmbate Entre As Instituições Católica e Espírita (Autoria Desconhecida)Alex RosasAinda não há avaliações
- Odisseu e o Abismo Roger Bastide As Religiões de Origem Africana e As Relações Raciais No Brasil PDFDocumento326 páginasOdisseu e o Abismo Roger Bastide As Religiões de Origem Africana e As Relações Raciais No Brasil PDFLuan CorbêäuAinda não há avaliações
- Religião e Crise SocioambientalDocumento317 páginasReligião e Crise SocioambientalLeo CunhaAinda não há avaliações
- Eusébio de Constantino Igreja e EstadoDocumento158 páginasEusébio de Constantino Igreja e EstadoDenis Cardoso100% (1)
- ELBER SOARES. Projeto de TCC DefinitivoDocumento15 páginasELBER SOARES. Projeto de TCC DefinitivoElberAinda não há avaliações
- Guanxi Nos TrópicosDocumento189 páginasGuanxi Nos TrópicosMatheus CostaAinda não há avaliações
- TCC - Francisco KennedyDocumento53 páginasTCC - Francisco KennedyWilliam Dos Santos da SilvaAinda não há avaliações
- Denílson Meireles BarbosaDocumento149 páginasDenílson Meireles BarbosaFernanda VarelaAinda não há avaliações
- 2012 IrineiaMariaFrancoDosSantos PDFDocumento361 páginas2012 IrineiaMariaFrancoDosSantos PDFcelsobarretoAinda não há avaliações
- Tese Emiliano Unzer MacedoDocumento262 páginasTese Emiliano Unzer MacedoLuiz Gustavo LopesAinda não há avaliações
- Dissertacao Angela Oliveira 20.07Documento174 páginasDissertacao Angela Oliveira 20.07Caio Vinícius Silva TeixeiraAinda não há avaliações
- TESE Márcio Ananias Ferreira VilelaDocumento293 páginasTESE Márcio Ananias Ferreira VilelaJ Eduardo B. SantanaAinda não há avaliações
- Tese Ciencia Da Religiao Aplicada Como PDFDocumento253 páginasTese Ciencia Da Religiao Aplicada Como PDFAmanda MunizAinda não há avaliações
- Douglas Oliveira Dos SantosDocumento270 páginasDouglas Oliveira Dos SantosmagaliAinda não há avaliações
- Tese Adalberto Goncalves Araujo JuniorDocumento211 páginasTese Adalberto Goncalves Araujo JuniorMarcos LuzAinda não há avaliações
- Edição 794 On Line 14 09 12Documento24 páginasEdição 794 On Line 14 09 12Atos_e_FatosAinda não há avaliações
- Trabalho PopulaçãoDocumento10 páginasTrabalho PopulaçãoElton MatolaAinda não há avaliações
- A Assembleia Nacional (1934-1974)Documento390 páginasA Assembleia Nacional (1934-1974)João Alfredo Santos FerreiraAinda não há avaliações
- Francisco AndradeDocumento24 páginasFrancisco AndradeCarmen Bárbara PereiraAinda não há avaliações
- Edital Pref Gov ValadaresDocumento147 páginasEdital Pref Gov ValadaresSylas TrovariusAinda não há avaliações
- Entrevista Com Andre Cancian PDFDocumento5 páginasEntrevista Com Andre Cancian PDFjoseandrade2013Ainda não há avaliações
- Artigo Sobre Karl MarxDocumento7 páginasArtigo Sobre Karl MarxPaulo AndradeAinda não há avaliações
- BNCC HabilidadesDocumento14 páginasBNCC HabilidadeswilsonAinda não há avaliações
- LESSA, S. Abaixo A Família MonogâmicaDocumento112 páginasLESSA, S. Abaixo A Família MonogâmicawrmonjardimAinda não há avaliações
- A Violência Doméstica Contra A Mulher e A Ineficácia de Medidas Protetivas PDFDocumento54 páginasA Violência Doméstica Contra A Mulher e A Ineficácia de Medidas Protetivas PDFAna Beatriz Martins dos SantosAinda não há avaliações
- Módulo - 1 - Fundamento e Atuação Da Ouvidoria PúblicaDocumento20 páginasMódulo - 1 - Fundamento e Atuação Da Ouvidoria PúblicaLuma AlvesAinda não há avaliações
- Mensagem de de Despedida Do PCMVNDocumento3 páginasMensagem de de Despedida Do PCMVNErnesto da Lina Paulino MaculuveAinda não há avaliações
- BR 04 Iii Serie Suplemento2 2010Documento18 páginasBR 04 Iii Serie Suplemento2 2010Alberto RubyAinda não há avaliações
- ZOTTI Solange - As Configuracoes Do Curriculo Ofical No BR No Contexto Da Ditadura MilitarDocumento0 páginaZOTTI Solange - As Configuracoes Do Curriculo Ofical No BR No Contexto Da Ditadura MilitarVinicius SantosAinda não há avaliações
- Artigo 1-C (Grátis)Documento4 páginasArtigo 1-C (Grátis)Mário SouzaAinda não há avaliações
- Dialogo Da Maconaria Portuguesa e Brasileira 1869 1909Documento162 páginasDialogo Da Maconaria Portuguesa e Brasileira 1869 1909Carlos Henrique Abrantes FerreiraAinda não há avaliações
- Lei de Tortura PDFDocumento50 páginasLei de Tortura PDFAna Cleide Pires100% (1)
- Aspectos Gerais Da Administração e Organizaçoes Como Sistema AbertoDocumento11 páginasAspectos Gerais Da Administração e Organizaçoes Como Sistema AbertoThiago MaiaAinda não há avaliações
- PRADO, Maria Lygia. O Populismo Na América Latina (Coleção Tudo É História #4)Documento76 páginasPRADO, Maria Lygia. O Populismo Na América Latina (Coleção Tudo É História #4)emillyAinda não há avaliações
- Contrato-Aluguel RESIDENCIALDocumento6 páginasContrato-Aluguel RESIDENCIALFilomena BarbosaAinda não há avaliações