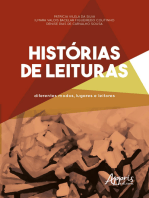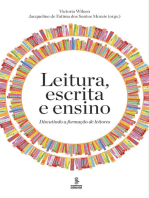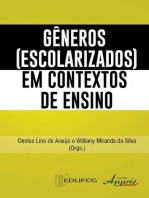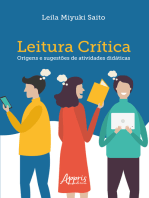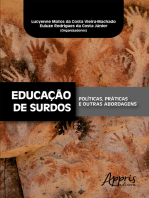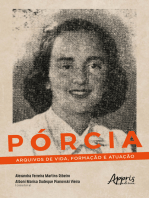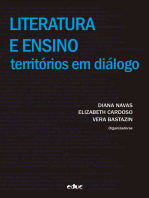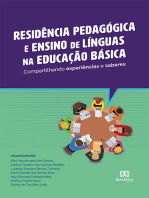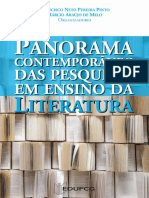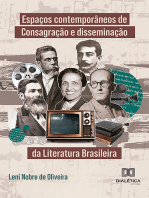Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Anais 2013
Enviado por
Malane Apolonio DA Silva0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
145 visualizações430 páginasEste documento apresenta o resumo do IV Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, realizado em Salvador entre 21 e 24 de outubro de 2013. O evento contou com 75 inscritos e 72 comunicações apresentadas em seções temáticas sobre literatura, leitura, mídias e oralidade. Os anais compilam 28 textos selecionados que abordam esses temas e suas intersecções com a educação e a formação de leitores.
Descrição original:
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoEste documento apresenta o resumo do IV Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, realizado em Salvador entre 21 e 24 de outubro de 2013. O evento contou com 75 inscritos e 72 comunicações apresentadas em seções temáticas sobre literatura, leitura, mídias e oralidade. Os anais compilam 28 textos selecionados que abordam esses temas e suas intersecções com a educação e a formação de leitores.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
145 visualizações430 páginasAnais 2013
Enviado por
Malane Apolonio DA SilvaEste documento apresenta o resumo do IV Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, realizado em Salvador entre 21 e 24 de outubro de 2013. O evento contou com 75 inscritos e 72 comunicações apresentadas em seções temáticas sobre literatura, leitura, mídias e oralidade. Os anais compilam 28 textos selecionados que abordam esses temas e suas intersecções com a educação e a formação de leitores.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 430
Anais do Encontro de Leitura e
Literatura da UNEB (ELLUNEB)
Anais do Encontro de Leitura e
Literatura da UNEB (ELLUNEB)
Verbena Maria Rocha Cordeiro (ORG.)
Rodrigo Matos de Souza
Caio Vinicius de Souza Brito
Reitor da Universidade do Estado da Bahia
Lourisvaldo Valentim da Silva
Diretor do Departamento de Cincias Humanas
Prof. Antnio Jos Batista de Azevedo
Coordenador do Programa de Ps-Graduao em Estudos de Linguagem
Prof. Gilberto Nazareno Telles Sobral
Presidente da Comisso Organizadora do IV ELLUNEB
Profa. Verbena Maria Rocha Cordeiro
Projeto Grfico da Capa
Rodrigo Matos de Souza
Caio Vinicius de Souza Brito
Formatao
Rodrigo Matos de Souza
Caio Vinicius de Souza Brito
Endereo para Correspondncia
UNEB
Departamento de Cincias Humanas
Rua Silveira Martins, n. 2555, Prdio da Ps-Graduao
Cabula, 41195-001, Salvador BA
Fone (71) 3117-2442
E-mail: ppgel@listas.uneb.br
secretariappgel@yahoo.com.br
Ficha catalogrfica
Comisso Organizadora
Elizabeth Gonzaga de Lima
Elizeu Clementino de Souza
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios
Jussara Fraga Portugal
Lcia Maria Freire Beltro
Marcia Rios da Silva
Midian Angelica Monteiro Garcia
Verbena Maria Rocha Cordeiro
Comit Cientfico
Biagio DAngelo PUCRS
Carlos Augusto Magalhaes UNEB
Dislane Zerbinatti Moraes USP
Edil Silva Costa UNEB
Katia Maria Santos Mota UNEB
Kenia Maria de Almeida Pereira UFU
Lcia Maria Freire Beltro UFBA
Lynn Rosalina Gama Alves UNEB
Maria Anria de Jesus Oliveira UNEB
Maria Antnia Ramos Coutinho UNEB
Maria do Socorro Silva Carvalho UNEB
Maria Helena da Rocha Besnosik UEFS
Marly Amarilha UFRN
Obdalia Santana Ferraz Silva UNEB
Sayonara Amaral De Oliveira UNEB
Silvio Roberto dos Santos Oliveira UNEB
Vera Dantas de Souza Motta UNEB
Sumrio
APRESENTAO
15
Literatura e Leitura na escola
CRCULOS DE LEITURA DENTRO E FORA DA ESCOLA: A vez e a voz do leitor
Andria Caricchio Caf Gallo
21
ESPAOS DE LEITURA NA ESCOLA: Uma articulao entre a sala de aula e a
biblioteca escolar
Edileide Reis
35
LETRAMENTO LITERRIO NO LIVRO DIDTICO: A circulao da leitura no
Projeto Intervalo
Aparecida de Ftima Brasileiro Teixeira
53
O LDICO, A LEITURA E O ENSINO HOJE
Zlia Malheiro Marques
Ginaldo Cardoso de Arajo
71
PRTICAS DE LEITURA NO I CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL: Desafios e
contribuies do PIBID
Fabrcio Oliveira da Silva
81
Mdias e prticas de recepo
A LITERATURA INFANTIL E OS NOVOS PARADIGMAS DO FENMENO
LITERRIO: Os entrelaces da hipermdia com a hiperliteratura
Enia dos Santos Costa
99
DO FEMININO E OUTROS ESPELHOS: Um estudo analtico do curta-metragem No
Corao de Shirley
Jober Pascoal Souza Brito
113
PARA ALM DA PLATAFORMA NOVE E MEIA: Um estudo de Recepo Crtica
do Fenmeno Pottermania
Roberto Rodrigues Campos
125
RESSONNCIAS DO FANTSTICO NA AMRICA LATINA: A construo da
realidade meta-emprica no filme O Labirinto do Fauno
Calisto Ribeiro dos Santos
137
Leitura, literatura, experincia e autobiografia
CONFLITOS FAMILIARES, TRANSGRESSO E REVOLTA: elementos de uma
lavoura destruda
Aline Nery dos Santos
157
DAS EXPERINCIAS LEITORAS DE PROFESSORES ALFABETIZAO
ATRAVS DAS ESCRITAS DE SI
Sara Menezes Reis
Fulvia de Aquino Rocha
171
ENTRE MEMRIAS, HISTRIAS, SABORES E SABERES LITERRIOS: a trajetria
de vida de uma formadora de leitores
Nanci Rodrigues Orrico
185
HISTRIAS DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS: prticas de leitura na escola
Natalina Assis de Carvalho
197
INFLUNCIAS, REFERNCIAS E INTERTEXTOS POTICOS: aparies de
Elizabeth Bishop em Ana Cristina Cesar e Anglica Freitas
Raquel Machado Galvo
211
LEITURAS E LEITORES: o papel do Ncleo de Leitura Multimeios da UEFS na
formao de leitores
Snia Moreira Coutinho
Rita de Cassia Brda M. Lima
Maria Helena da Rocha Besnosik
224
NUNCA TARDE PARA FORMAR-SE LEITOR: A contribuio das cartas com
indicaes literrias circunscritas em Projetos Institucionais
Aline Carvalho Nascimento
239
O CANTO DA LEMBRANA: A memria nas canes de Caetano Veloso
Juan Mller Fernandez
253
O PAPEL DAS EXPERINCIAS LEITORAS NA FORMAO INICIAL DE
PROFESSORES PARA AS SRIES INICIAIS: CONTRIBUIES DO PIBID
Maria do Socorro da Costa e Almeida
265
O POETA E A POESIA EM TEMPOS DE CANTAR O FEIO
Vanusa da Mota Santana
277
Oralidades no trnsito das culturas contemporneas
NARRADORES DE JAV: histria e discurso
Jorge Augusto de Jesus Silva
Clia Ribeiro
291
ORALIDADE, IDENTIDADE E REPRESENTAES: Quem somos e qual a nossa
voz?
Tatiane Malheiros Alves
Rita de Cssia Mendes Pereira
309
Literatura, alteridade e polticas afirmativas
GRITARAM-ME NEGRA: Sou negra sim! E da?
Hildalia Fernandes Cunha Cordeiro
325
IDENTIDADE NEGRA NA CENA LITERRIA BRASILEIRA
Rosilda da Silva
343
IDENTIDADES DESTERRITORIALIZADAS: o entre-lugar dos personagens hbridos
de Milton Hatoum
Sandra Lcia SantAna dos Santos Pimentel
359
LITERATURA INFANTO-JUVENIL AFRO-BRASILEIRA NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE SALVADOR: analisando o livro EP LAIY
Valdecir de Lima Santos
373
MULHER NEGRA: representaes de gnero e raa em A Menor Mulher do Mundo, de
Clarice Lispector
Malane Apolonio da Silva
Cristian Souza de Sales
385
O DESENCLAUSURAMENTO DO SILNCIO DE STELA DO PATROCNIO EM
REINO DOS BICHOS E DOS ANIMAIS O MEU NOME
Ina Silva Pereira Sodr
397
QUEM ODEIA LER AGORA? Os Saraus como mola propulsora do incentivo
leitura nas margens
Jacqueline Nogueira Cerqueira
411
Apresentao
O Encontro de Leitura e Literatura da UNEB
Com a publicao dos Anais do 4 Encontro de Leitura e Literatura da Universidade
do Estado da Bahia (ELLUNEB) encerramos um ciclo de aes que teve incio onze meses
atrs, em maro de 2013, quando da primeira reunio preparatria do evento, passando pela
publicao do Caderno de Resumos, pela realizao do encontro e, por fim, da publicao
dos textos completos das comunicaes apresentadas nas sees temticas coordenadas,
editados nesse volume.
A publicao dos anais tambm tem o carter de reafirmao dos interesses, antes em
potncia, do evento, que realocam leituras e propem outros rumos para abordagens
consagradas pela crtica e pelos estudos literrios, provocando encontros e desvios tericos
muito oportunos e produtivos nos percursos dos textos que ora se apresentam. O trabalho de
compilao, organizao e edio do Anais a derradeira oportunidade de aproximar
questes, mesmo que seja pela proximidade fsica dos textos, e de provocar outras
consideraes, no pensadas ou conjecturadas nos dias de ELLUNEB.
O Evento deste ano ocorreu sob o ttulo Modos de Ler oralidades, escritas e
mdias, realizado no perodo de 21 a 24 de Outubro de 2013, fruto da parceira dos grupos
de pesquisa Literatura e Ensino: imprimindo identidade, tecendo leitura, vinculado ao Programa
de Ps-Graduao em Estudos de Linguagens (PPGEL/UNEB) e o grupo de pesquisa
(Auto)Biografia, Formao e Histria Oral GRAFHO, vinculado ao Programa de Ps-
graduao em Educao e Contemporaneidade (PPGEduC/UNEB) na organizao do
evento e a colaborao, reiteradas nas quatro edies do evento, do Centro Universitrio
Jorge Amado (UNIJORGE) e do grupo de pesquisa Educao e Linguagem (GELING) da
Universidade Federal da Bahia (UFBA).
O primeiro ELLUNEB foi realizado h quase uma dcada, em 2005, a partir dos
desdobramentos das aes de pesquisa e extenso promovidos pela professora Dr. Verbena
Maria Rocha Cordeiro, que mobilizava (e continua a mobilizar) um contingente de alunos,
professores e funcionrios da universidade em torno dos temas da leitura e da literatura e
suas relaes com outras linguagens e fenmenos culturais. Desde o evento inicial, alm das
preocupaes com o papel da leitura literria na escola, se promoveu espaos para que a
leitura e a literatura se manifestassem, atravs de prmios, concursos e da publicao das
produes intelectuais apresentadas no formato de comunicao nos Anais, por reconhecer
que esta uma forma de preencher espaos que, por ventura, ainda restem e so muitas e
espaosas as lacunas - nos campos de conhecimento que atravessam as temticas do evento.
Sua realizao nos ltimos nove anos no s reafirma a importncia dos temas que
aborda, notadamente a Leitura e a Literatura, para os grupos de pesquisa que hoje
participam da organizao do evento, mas consolida o interesse pela leitura como um objeto
de estudo frequente para a UNEB, de onde emergiram, nas ltimas dcadas, uma srie de
profissionais que se ocupam da interseo entre estes conceitos e seus desdobramentos
prticos na escola, no contexto e na vida dos leitores.
Os Anais que aqui se apresentam so uma representao em dimenso menor do
material apresentado nas comunicaes orais foram 75 inscritos, 72 comunicaes
apresentadas, mas somente 28 trabalhos finais foram remetidos para a edio final dentro do
prazo estipulado pela Comisso Organizadora do encontro. Este fator, longe de ser um
problema, qualifica os textos aqui publicados, no sendo apenas uma verso escrita das
comunicaes proferidas, so o extrato que pode ser melhorado a partir dos comentrios e
crticas que receberam em sua leitura pblica. Acreditamos que, apesar de no oferecer a
totalidade das comunicaes apresentadas oralmente, os textos aqui publicados so
significativos da qualidade do evento e um singular extrato das motivaes que a leitura e a
literatura puderam provocar nos dias de ELLUNEB.
A publicao foi organizada em blocos homnimos s sees de comunicao, o que
permitir aos autores a rpida localizao de seu texto a partir da identificao do eixo em
que apresentaram suas leituras. As sees so as seguintes, por ordem, ao longo do texto:
Eixo I: Literatura e Leitura na Escola, Eixo II: Mdias e Prticas de Recepo, Eixo III:
Leitura, Literatura, experincia e autobiografia, Eixo IV: Oralidade no trnsito das culturas
contemporneas, Eixo V: Literatura, alteridade e polticas afirmativas.
Esperamos que a leitura dos Anais, que compartilhamos agora com os demais
leitores, extrapole a condio de arquivo, de repositrio que muitas publicaes desta
natureza acabam por se conformar e encontre nas ressignificaes propostas outras leituras e
outros enlaces problematizadores e uma nova histria provocada pela citao, pela
parfrase, pela meno, pela crtica e, neste devir, reencontre-se novamente como texto vivo
e em dilogo com seu horizonte epistemolgico.
Verbena Maria Rocha Cordeiro
Rodrigo Matos de Souza
Caio Vinicius de Souza Brito
Eixo I
Literatura e Leitura na
escola
CRCULOS DE LEITURA DENTRO E FORA DA ESCOLA:
A vez e a voz do leitor.
Andria Caricchio Caf Gallo
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
andgallo@uefs.br
Resumo: O presente trabalho visa a defender a prtica dos crculos de leitura como uma
alternativa de trabalho com leitura de textos literrios em contraposio s prticas
tradicionais de leitura que ocorrem em contextos diversos, mas principalmente naqueles
cujos objetivos so educacionais, como as instituies de ensino. Para tanto, utilizamos como
referencial terico Chartier (1994), Hrbrard (1999), Goulemot (2011) e Certeau (2012) no que
concerne ao entendimento das prticas de leitura; Mendona (2001) e Pfeiffer (1998) no que
se refere ao modo como o ensino tradicional trabalha com leitura e, finalmente, Dagnino et al.
(2004) para uma compreenso sobre tecnologias sociais, dentre as quais os crculos de leitura
esto inseridos. A ideia de que os crculos de leitura so uma alternativa aos modos
tradicionais de trabalho com textos literrios nas instituies de ensino surgiu a partir de
nossas observaes como integrante do Ncleo de Leitura Multimeios (NULM), um dos
ncleos de extenso da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), que tem como
um de seus objetivos promover a circulao de textos variados entre as comunidades interna
e externa UEFS. O NULM oferece oficinas de leitura para alunos da graduao e
desenvolve dois projetos de extenso. O primeiro intitula-se Projeto Leitura Itinerante: uma
alternativa de mobilizao de leitores e promove crculos de leitura para alunos e professores do
ensino fundamental I de uma escola pblica de Feira de Santana a Escola Irm Rosa
Aparecida ; o segundo intitula-se Crculos de Leitura: uma tecnologia social para alm do espao
escolar e atua junto a mulheres beneficiadas pelo Programa Bolsa-famlia, tambm
proporcionando crculos de leitura com textos literrios, em comunidades pertencentes ao
municpio de Antnio Cardoso. Com base nessa experincia e no referencial terico
supracitado, percebemos que os crculos de leitura podem mobilizar leitores de faixas etrias,
graus de escolaridade e situaes socioeconmicas diversas e ativar o que Certeau (2012)
afirma ser um leitor atuante e criativo, que escapa condio de mero receptor, imposta por
uma ideologia do consumo-receptculo. Verificamos que os crculos de leitura
proporcionam aos seus participantes a possibilidade de fugir dessa condio de apatia e de
priso na qual o sistema tenta encerr-los. Se a condio do leitor j preestabelecida por um
sistema que privilegia aqueles que Certeau (2012) chama de produtores em detrimento dos
consumidores, na escola, segundo Pfeiffer (1998) e Mendona (2001), mais do que em
outros contextos, que o leitor se encontra submetido a mecanismos de controle tais que lhe
subtraem a possibilidade de se desenvolver e de atuar como produtor de sentidos.
Entretanto, com base em Dagnino et al. (2004), que oferece um esclarecimento sobre o marco
analtico-conceitual da tecnologia social (TS), os membros do NULM concebem o crculo de
leitura como uma TS, uma vez que surgiu, espontaneamente, no seio dos grupos humanos,
como soluo para a necessidade de socializao e de circulao de textos orais e escritos. Da
por que o crculo de leitura constitui uma atividade alternativa que devolve ao leitor seu
potencial criativo.
Palavras-chave: crculos de leitura; prticas de leitura; tecnologia social.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
22
Apresentao
A motivao para esta defesa dos crculos de leitura (CL) como uma atividade
alternativa aos modos tradicionais de trabalho com textos literrios na escola veio de
nossas observaes feitas a partir de CL com alunos da graduao da UEFS, com
professoras do ensino fundamental e com mulheres moradoras das comunidades do
municpio de Antnio Cardoso. Contrariamente ao que costuma acontecer nas aulas
de leitura e interpretaode texto quando as atividades de leitura so direcionadas
pelo livro didtico ou nas aulas de literatura, nas quais a leitura de literatura fica
limitada ao conhecimento das caractersticas das escolas literrias, a leitura atravs
dos CL promove momentos de fruio dos textos, de reflexo e de trocas de
experincia entre os participantes. Como consequncia, os leitores se sentem
incentivados a ler outros textos, o que provoca uma ampliao cada vez maior da
viso de mundo das pessoas envolvidas nesse tipo de atividade.
Refletindo sobre prticas escolares tradicionais de leitura
Segundo Pfeiffer (1998), as clssicas queixas por parte dos professores sobre a
dificuldade de se criar o hbito da leitura nos alunos requer que se faa uma reflexo
a respeito dos mecanismos envolvidos na constituio do leitor no contexto escolar
brasileiro. Alicerada no aporte terico da Anlise do Discurso, a autora empreendeu
uma pesquisa sobre o trabalho com leitura na escola, tendo, para isso, gravado aulas,
entrevistado professores e alunos e analisado livros didticos. Dentre os elementos
encontrados pela pesquisadora como constituidores do sujeito-leitor no contexto
escolar esto: a) o conceito de bom leitor e suas implicaes, b) o contexto
estruturante dos discursos, c) a representao da linguagem, d) a diviso social do
trabalho da leitura e e) o apagamento da oralidade. Existe na escola uma ideia de que
o bom leitor aquele que sabe classificar os textos de acordo com as escolas
literrias, sabe ler o sentido nico das palavras e est atento transmisso de um
saber literrio esttico e inquestionvel. A noo de contexto estruturante,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
23
conforme Pfeiffer, est baseada em Orlandi (1989)
1
e refere-se ao modo como os
discursos so colocados em prtica na aula. Na maior parte das aulas observadas por
Pfeiffer, o modo discursivo predominante foi o dissertativo, isso implica o
apagamento das vozes tanto dos alunos quanto dos professores, ou seja, os
professores apenas repetem e transmitem um saber pronto, esttico e inquestionvel
e os alunos so os receptores passivos de tudo isso. No h espao para a reflexo
nem para o dilogo
2
. Esse modo discursivo predominante nas aulas est em
comunho com o papel designado a alunos e professores na diviso social do
trabalho da leitura. Com base em Pcheux (1981)
3
, a autora ressalta que, da oposio
por ele proposta entre intrprete (aquele que tem o poder de atribuir sentidos) e
escrevente (aquele que s pode sustentar o sentido estabilizado), professores e
alunos, nessa diviso do trabalho da leitura, ficam com o papel de escrevente.
Quanto representao da linguagem, a autora percebeu que o sentido das palavras
e dos textos concebido como algo inerente e no como algo atribudo pelos leitores.
Por fim, o apagamento da oralidade acontece porque na escola o escrito muito mais
valorizado do que o oral, portanto algo verdadeiro porque est escrito. Alm disso,
a anulao da oralidade fica mais evidente quando, em algumas matrias, a leitura
oral aplicada como um castigo.
Ainda com relao s prticas de leitura na escola, Mendona (2001), tambm
tomando como base os pressupostos da Anlise do Discurso, destaca o fato de que as
atividades de leitura na escola funcionam como uma forma de silenciamento dos
sujeitos, uma vez que autorizam uma leitura nica, reforada pelas respostas dadas
pelo livro do professor para as questes de interpretao de texto, silenciando, assim,
professores e alunos, os quais somente podem exercer a funo de escreventes. A
respeito disso, a autora afirma o seguinte:
1
ORLANDI, E. Vozes e contrastes: discurso na cidade e no campo. So Paulo: Cortez, 1989.
2
So trs os modos discursivos: dissertativo, descritivo e narrativo. No modo dissertativo, o professor
no emite opinio nem permite que os alunos o faam. O conhecimento direcionado pelo que est
escrito pelas autoridades nos livros. O modo descritivo refere-se descrio de cenas cujos atores no
so o professor e os alunos; so sujeitos atemporais. O modo narrativo o nico em que professor e
alunos dialogam. Ocorre quando, por exemplo, o professor narra um fato de sua prpria vida.
3
PCHEUX, M. Lire larquive aujourdhui, St. Cloud, Paris: 1981
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
24
importante destacar que determinados sentidos de textos
(principalmente os sentidos de textos literrios, que tm sua histria
de leituras mais conhecida) so naturalizados. A seleo desses
sentidos feita da perspectiva dos leitores privilegiados (diga-se,
formadores de opinio: crticos literrios, autores de livros didticos
etc.), que se utilizam tambm da escola e do professor [...] para
produzir a monoleitura autorizada. [...] Mas no s com textos literrios
essa poltica de silenciamento de sentidos de textos ocorre. Em livros
didticos, frequentemente, a prtica de leitura de quaisquer textos
segue de perto um conceito de sentido transparente, no com a
opacidade prpria da heterogeneidade discursiva. Procura-se abolir
dos textos sua tendncia natural ambiguidade, ao meio-tom,
relatividade. (MENDONA, 2001. p. 245-246)
Se atentarmos para o que diz Hbrard (1999), a respeito do desenvolvimento das
prticas de leitura e de escrita nas escolas da Frana, possvel vislumbrar possveis
explicaes para o que temos hoje em termos do trabalho com leitura na escola
brasileira. Ao traar uma trajetria dessas atividades do sculo XVI ao XX na Frana,
ele nos oferece, sob a tica da histria cultural, valiosas informaes sobre como se
tem lidado com essas questes na escola do Ocidente. De acordo com cada poca,
foram atribudas leitura e escrita finalidades diversas; para tanto, mtodos
apropriados a cada finalidade foram utilizados no decorrer da histria. O autor
identifica quatro perodos distintos do trabalho com leitura e escrita com seus
respectivos objetivos. Inicialmente ler e escrever serviam para a memorizao do
catecismo, posteriormente o trinmio ler-escrever-contar objetivava a formao de
artesos e comerciantes, em seguida a leitura passou a ser direcionada para a
divulgao de um saber cientfico, enciclopdico ou para a formao de uma
conscincia moral e, a partir da ltima dcada do sculo XIX, a leitura passou a ter
como propsito a fruio do texto literrio, ou seja, a leitura pelo amor do texto. A
despeito da diversidade de objetivos ao longo dos sculos, possvel detectar um fio
condutor ideolgico que liga todas as etapas: a preocupao em moldar a conscincia
dos alunos. Mesmo quando a leitura passou a ter como meta a fruio do texto
literrio, havia a seguinte recomendao:
[...] os professores tinham de fazer sentir os textos s crianas que
instruam. Para consegui-lo, no se precisava de retrica. Bastava
dominar a arte de dar voz ao autor, de restituir por meio das palavras
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
25
os sentimentos, as emoes que tomavam conta do leitor no momento
em que ele se impregnava das idias do texto, aderindo a elas. Ao
mesmo tempo que eles as fizessem suas, nesse movimento de
simpatia, eles as comunicavam quase fisicamente a seus jovens
leitores. A leitura expressiva era, ento, o exerccio que possibilitava,
formando o leitor, formar o professor. (HBRARDT, 1999.p. 68)
Segundo Hbrard, no sculo XX, a leitura que passou a vigorar nas escolas francesas
era realizada de forma a no mais ler um texto por seu valor literrio, mas para
proporcionar o conhecimento e o acmulo de palavras e expresses que
posteriormente seriam trabalhadas em ditados (para o trabalho com ortografia e com
gramtica) e em redaes. Por essas informaes, percebemos que a leitura de um
texto literrio sempre esteve atrelada a outros interesses dentro do ambiente escolar.
Nem mesmo o chamado ler por prazer acontece de forma efetiva na escola, pois
esta sempre se preocupou em direcionar a leitura dos alunos de forma a faz-los se
impregnar de determinadas ideias consideradas convenientes em cada momento
histrico. Na perspectiva de Hbrard, apesar de a escola no ser o nico lugar onde
se constroem e transmitem os equipamentos intelectuais de uma sociedade o
conhecimento de sua atuao no decorrer da histria passou a ter um lugar de
destaque no mbito da pesquisa em histria cultural. A respeito do estudo sobre a
histria dos cnones escolares, ele nos diz:
A histria dos cnones escolares (obras no programa), por exemplo,
mostrou-se um meio proveitoso para abordar a difuso das prticas
de leitura da elite. Da mesma forma, a histria das modalidades de
explicao de textos (a praelectio nos colgios de Antigo Regime, a
leitura explicada nos liceus do sculo XX) permitiu melhor
compreender a formao das elites e as especificidades da relao
letrada com a literatura francesa e a latina. Mais recentemente as
tcnicas retricas foram compreendidas no somente como modos
essenciais de formao para a escrita at o final do sculo XIX, mas
tambm como instrumentos fundamentais na formao do
pensamento nos sculos XVI e XVII. (HBRARDT, 1999. p. 37-38)
A leitura como construo de significados
Historicamente a leitura de textos literrios tem sido orientada e monitorada, seja
pela tradio formada por especialistas, estudiosos de literatura e crticos literrios,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
26
que oferecem ou impem suas exegeses aos leitores comuns, seja por professores
imbudos em criar nos alunos o hbito da leitura dos cnones e preocupados em
fazer com que estes sejam interpretados de uma forma considerada correta, ou seja,
de uma forma que garanta uma efetiva identificao das intenes do autor ou que
garanta uma aproximao entre a interpretao do aluno e as exegeses elaboradas
pela tradio. Sendo assim, ao leitor considerado comum, ao nefito ou ao aluno no
se tem dado o direito a uma leitura, como um processo de atribuio de significados,
de acordo com uma experincia individual e com o contexto histrico dentro do qual
essa experincia se insere. Como vimos em Pfeiffer (1998) e em Mendona (2001), tal
situao compromete tambm a leitura do professor, que fica submetido a todo um
conjunto de interpretaes preestabelecidas, formadoras de uma espcie de cnone
exegtico, que ele deve transmitir ao aluno. Dessa forma, o contexto escolar tem sido
um dos que mais cerceiam a atividade, a liberdade e o potencial criativo do leitor.
Esse o estado de coisas que caracteriza a maioria das nossas salas de aula, o qual se
contrape ao que nos revelam pesquisadores como, Chartier, Certeau e Goulemot
sobre a natureza da atividade da leitura, tomando como o centro da ateno a relao
leitor-texto, ou seja, a relao que existe entre o leitor e o texto, a despeito dos
esforos e imposies de instituies como, a escola, a Igreja, a mdia e o Estado.
Em A ordem dos livros, Chartier descortina o universo mvel, instvel e dinmico que
abriga os livros, seus autores, seus editores e seus leitores. Sob o enfoque da histria
da leitura, o autor nos aponta a natureza contingente da leitura, ao revelar que,
novos leitores atribuam novos significados aos textos e que editores, ao longo da
histria, mudavam o formato das obras literrias com o intuito de torn-las mais
acessveis ao pblico comum, o que resultava em leituras inditas e todo esse
movimento acabava por interferir na prpria atividade criadora dos autores das
obras. Percebe-se com isso o quo complexa e rica a atividade leitora, cujos tipos,
manifestaes e consequncias so imprevisveis, estando muito alm das investidas
institucionais, pois, segundo Certeau:
Quer se trate de um jornal ou de Proust, o texto no tem significao
a no ser atravs de seus leitores; ele muda com eles, ordenando-se
graas a cdigos de percepo que lhe escapam. Ele s se torna texto
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
27
atravs de sua relao com a exterioridade do leitor, por um jogo de
implicaes e de ardis entre duas expectativas combinadas: aquela
que organiza um espao legvel (uma literalidade) e aquela que
organiza uma diligncia, necessria efetuao da obra (uma leitura).
(CERTEAU, 2012. p. 242)
Apesar dos mecanismos de controle empregados por uma ideologia denominada por
Certeau de ideologia do consumo-receptculo, que elege leitores autorizados, os
quais forjam um sentido nico para o texto, tentando deix-lo inacessvel ao pblico
comum, os leitores, inconscientemente, criam estratgias, que se manifestam nas
pequenssimas aes cotidianas para fugir dessa manipulao.
Hoje h os dispositivos sociopolticos da escola, da imprensa ou da
TV que isolam de seus leitores o texto que fica de posse do mestre ou
do produtor. Mas por trs do cenrio teatral dessa nova ortodoxia se
esconde (como j acontecia ontem) a atividade silenciosa,
transgressora, irnica ou potica, de leitores (ou telespectadores) que
sabem manter sua distncia da privacidade e longe dos mestres.
(CERTEAU, 2012. p.244)
Portanto, contrariando a prxis escolar, que cerceia a capacidade leitora do aluno, ao
frear sua liberdade de atribuir novos sentidos aos textos, a histria das prticas de
leitura nos apresenta um panorama no qual o texto depende do leitor para existir,
para significar algo e ter sua significao renovada e at mesmo transformada ao
longo do tempo a partir das leituras feitas pelas novas geraes. A respeito disso,
Goulemot ressalta:
Ler dar um sentido de conjunto, uma globalizao e uma
articulao aos sentidos produzidos pelas sequncias. No
encontrar o sentido desejado pelo autor, o que implicaria que o
prazer do texto se originasse na coincidncia entre o sentido desejado
e o sentido percebido, em um tipo de acordo cultural, como algumas
vezes se pretendeu, em uma tica na qual o positivismo e o elitismo
no escaparo a ningum. Ler , portanto, constituir e no
reconstituir um sentido. A leitura uma revelao pontual de uma
polissemia do texto literrio. (GOULEMOT, 2011.p. 108)
A natureza polissmica do texto literrio destacada por todos os autores aqui
citados tambm dependente do leitor. Este, inscrito num dado momento
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
28
histrico, atribui sentidos diversos daqueles atribudos por leitores de outros
momentos. Somente neste sentido o de estar circunscrito numa conjuntura
histrica que a liberdade do leitor conhece um limite.
Por histria cultural entendo a histria poltica e social, que, sem que
sejamos seus autores, trabalha aquilo que ns lemos. H alguns anos,
uma determinada representao do Tartufo em Paris provocou apenas
debates estticos ou morais. Esse Mesmo Tartufo, na Madri dos anos
1970, quando o Opus Dei estava no poder, desencadeou uma
manifestao poltica e foi proibido. A histria, aceitemos ou no,
orienta mais nossas leituras do que nossas opes polticas.
(GOULEMT, 2011. p. 110)
Os crculos de leitura como uma tecnologia social
Os crculos de leitura tm sido registrados pela histria cultural e pela histria da
leitura como uma prtica de socializao de textos orais e escritos. , portanto, uma
prtica culturalmente significativa, surgida a partir das necessidades dos grupos
humanos de fazer circular seus textos orais e escritos; estes ltimos podendo ser
manuscritos ou impressos. Por ter emergido das comunidades de forma espontnea,
como fruto de um desejo coletivo de suprir uma necessidade real de
compartilhamento de histrias e todo um conjunto de saberes, ideias e valores nelas
contido, os crculos de leitura constituem uma herana cultural da humanidade.
Partindo desses pressupostos, os membros do NULM consideram o crculo de leitura
uma tecnologia social, uma vez que se encaixa no conceito estabelecido por Dagnino
et al. (2004), que estabelecem o marco analtico-conceitual para a TS.
[...] a TS em si mesma um processo de construo social e, portanto,
poltico (e no apenas um produto) que ter de ser operacionalizado
nas condies dadas pelo ambiente especfico onde ir ocorrer, e cuja
cena final depende dessas condies e da interao passvel de ser
lograda entre os atores envolvidos [...] (DAGNINO et al., 2004.p. 51)
O carter social dessa forma ou tcnica de ler textos em que um leitor-guia l o
texto em voz alta para um grupo de pessoas alfabetizadas ou no manifesta-se na
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
29
sua contribuio em formar leitores e em proporcionar conversas e livres discusses
sobre o texto lido, possibilitando troca de experincias e, consequentemente,
ampliao da viso de mundo dos participantes. Da forma como nasceu e se
desenvolveu no seio das sociedades, os crculos de leitura constituem um processo
livre de qualquer tipo de normatizao por parte de instituies como, escola, mdia,
Igreja ou Estado. Portanto consideramos os CL uma TS que pode ser realizada tanto
dentro quanto fora da escola como uma alternativa para mobilizar leitores e
incentivar leituras livres e criativas.
Crculos de leitura dentro e fora da escola: a vez e a voz do leitor
Como foi mencionado anteriormente, o NULM promove atividades de leitura para
as comunidades interna e externa UEFS. Temos realizado crculos de leitura com
alunos da graduao e, atravs de dois projetos de extenso, temos proporcionado
essa atividade para professores e alunos de uma escola pblica de Feira de Santana e
para mulheres do municpio de Antnio Cardoso. Trataremos de cada uma dessas
experincias e de como os diferentes pblicos tm reagido durante nossos encontros.
Nossas atividades com alunos da graduao deram-se atravs de duas oficinas de
leitura com carga horria de 30 horas cada, com grupos de aproximadamente vinte
alunos. A primeira oficina intitulava-se O homem, o mundo e a religiosidade e foi
realizada a partir de contos e poemas cujos temas giravam em torno da relao do
homem com sua espiritualidade, com uma religio ou com Deus. A segunda oficina,
intitulada Representaes literrias de um real absurdo, foi planejada com contos
cujas temticas giravam em torno de situaes absurdas, as quais, muitas vezes so
interpretadas como naturais. No primeiro encontro de cada oficina, esclarecia-se para
os alunos que nossas leituras seriam feitas atravs de crculos de leitura em que eu,
leitora-guia, leria o texto em voz alta e depois a palavra seria franqueada para que
pudssemos conversar sobre ele, sem nenhum compromisso com teorias literrias ou
com avaliaes para nota. Alm disso, eles poderiam falar, no necessariamente do
texto, mas de quaisquer coisas que tivessem sido suscitadas pela leitura: lembranas
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
30
de fatos ocorridos, filmes vistos, outros textos lidos, msicas etc. Ao final das 30
horas, aqueles alunos que quisessem escrever algo para comentar a experincia da
oficina poderiam faz-lo sem a necessidade de assinar o texto. Observamos que, no
incio, os alunos sentiam-se inseguros para falar porque estavam acostumados a ter
de interpretar um texto luz de uma teoria ou da opinio de um crtico literrio. Aos
poucos, eles foram sentido mais segurana e comearam a participar ativamente e
das conversas. Alguns dos alunos da primeira oficina gostaram tanto da experincia,
que se inscreveram na segunda oficina, oferecida no semestre seguinte. A maioria
dos participantes entregou seu comentrio por escrito ao final de cada oficina; a
avaliao que eles fizeram da atividade foi muito positiva.
O projeto Leitura Itinerante: uma alternativa de mobilizao de leitores proporciona CL
com professores e alunos do ensino fundamental I da Escoa Irm Rosa Aparecida.
Nossas bolsistas de extenso realizam leituras com os alunos e ns realizamos
leituras com as professoras. O objetivo desse projeto mobilizar o leitor em
formao, seja ele professor ou aluno, numa tentativa de incentivar a adoo de
prticas prazerosas de leitura de literatura na escola. Entendemos que somente o
professor que tem o hbito de ler literatura por prazer pode levar seus alunos a fazer
o mesmo. As bolsistas, aps os CL ou uma sesso de contao histria, propem aos
alunos atividades como, dramatizao ou ilustrao do texto lido, escrita de finais
alternativos para a histria etc. Em nossos seminrios internos, as bolsistas relatam
que, no incio, os alunos ficam dispersos, inquietos ou com vergonha de falar sobre o
texto lido, porm, com a continuidade das leituras eles vo ficando cada vez mais
interessados e participativos e chegam a dar sugestes de leituras para os prximos
encontros. No decorrer dos encontros quinzenais com as bolsistas, os alunos vo se
tornado cada vez mais interessados nas atividades de leitura.
Com as professoras, foram realizados CL mensais com dois romances (leitura de
alguns captulos), dois contos, dois poemas e um filme, cujos temas tocavam na
questo da relao entre professor e aluno. Aps a leitura, a palavra era franqueada
para as professoras falarem sobre o texto ou qualquer coisa que tivesse sido suscitada
por ele. Geralmente as professoras falavam pouco sobre o texto lido ou sobre outros
textos relacionados a ele; preferiam falar de seus alunos, do quanto eles estavam cada
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
31
vez mais difceis de controlar e cada vez mais desrespeitosos e agressivos. Os textos
acabaram provocando momentos de desabafo e de reflexo sobre a relao dos
alunos com elas. A Escola Irm Rosa Aparecida, situada nas dependncias do
Dispensrio Santana, recebe alunos baixa renda, moradores de uma comunidade
localizada no entorno do Dispensrio, conhecida por seus casos de violncia. So os
mesmos alunos atendidos pelas nossas bolsistas, segundo as quais, inicialmente se
mostram difceis, mas, com o andamento das atividades de leitura tornam-se
cooperativos.
Outro projeto de extenso desenvolvido pelo NULM o Crculos de Leitura: uma
tecnologia social para alm do espao escolar, cujo pblico alvo composto por mulheres
do municpio de Antnio Cardoso. O objetivo geral do projeto divulgar entre essas
mulheres o CL como uma forma de socializar textos e de proporcionar troca de
experincias dentro da comunidade, mobilizando e formando leitores atravs de
uma TS, que, por ser tambm uma prtica de letramento secular, pode ser apropriada
pela comunidade, auxiliando na busca de solues para os problemas locais. Os
crculos ocorreram em cinco localidades: Gavio, Caboronga, Santo Estevo Velho,
Tocos e na sede do municpio. O grupo do NULM se organizava em duplas,
acompanhadas de uma ou duas bolsistas, para fazer CL mensais em cada localidade.
Os CL foram realizados com contos populares brasileiros e estrangeiros, filmes e
contos da literatura brasileira e estrangeira. Nos primeiros encontros, as mulheres
mostravam-se acanhadas, o que foi mudando com o passar do tempo. A partir do
segundo ano de atividades, as mulheres de Gavio comearam a pedir que
levssemos textos que tratassem da temtica das drogas, pois estavam muito
preocupadas com a situao dos jovens da comunidade. Levamos o filme Meu nome
no Johnny, que foi amplamente discutido por todas as participantes. Pudemos
observar que, do primeiro ao ltimo CL, as mulheres de Antnio Cardoso foram se
envolvendo cada vez mais com as discusses sobre os textos e sobre os problemas de
cada comunidade, que, muitas vezes, eram identificados nas narrativas lidas.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
32
Consideraes finais
A partir de observaes feitas durante as atividades de leitura realizadas como aes
do NULM, pudemos verificar que os CL mobilizam leitores de faixas etrias,
condies socioeconmicas e graus de escolaridade diversos e reativam o que
Certeau (2012) afirma ser um leitor atuante e criativo, que escapa condio de mero
receptor ou de mero escrevente nos termos de Pcheux (1981) imposta por uma
ideologia do consumo receptculo.
Por ser uma atividade que restitui ao leitor o seu papel criativo, o seu poder de fazer
um texto existir a partir de seu trabalho de criao de sentidos que o CL aqui
apesentado como uma atividade alternativa de leitura que oferece vez e voz ao leitor,
tanto dentro quanto fora da escola. Portanto professores podem adot-la como uma
maneira de trabalhar com leitura de textos na escola de forma a mobilizar o leitor que
existe em cada um de seus alunos. Entretanto preciso ter cuidado para no
desvirtuar o CL, isto , transform-lo em mais uma daquelas prticas escolares que
tolhem a criatividade dos alunos. O professor deve ser apenas o leitor-guia ou um
dos que acompanham a leitura enquanto um aluno voluntrio l o texto. Ele no
deve cobrar dos alunos uma interpretao preestabelecida por livros didticos ou por
quem quer que seja. imprescindvel que os alunos estejam completamente
vontade para expressar suas opinies e para que possam tambm sugerir textos para
os CL.
Referncias
DAGNINO, R.; BRANDO, F.; NOVAES, H. Sobre o marco analtico-conceitual da
tecnologia social. In: BARBOSA, E. J. et al. Tecnologia social: uma estratgia para o
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundao Banco do Brasil, 2004.
CERTEAU, M. de A inveno do cotidiano: 1 artes de fazer. 18. ed. Petrpolis: Vozes,
2012.
CHARTIER, R. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os sculos
XIV e XVIII. Braslia: UNB, 1994.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
33
GOULEMOT, J. M. Da leitura como produo de sentidos. In: CHARTIER, R. (org.)
Prticas de leitura. 5. ed. So Paulo: Estao Liberdade, 2011.
HBRARDT, J. Trs figuras de jovens leitores: alfabetizao e escolarizao do ponto
de vista da histria cultural. In: ABREU, M. (org.) Leitura, histria e histria da leitura.
Campinas: Mercado de Letras, 1999.
MENDONA, M. C. Lngua e ensino: polticas de fechamento. In: MUSSALIN, F.,
BENTES, A. C. (orgs.) Introduo lingustica: domnios e fronteiras. v. 2. So Paulo:
Cortez, 2001.
PFEIFFER, C. C. O leitor no contexto escolar In: ORLANDI, E. P. (org.) A leitura e os
leitores. Campinas: Pontes, 1998.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
34
ESPAOS DE LEITURA NA ESCOLA:
Uma articulao entre a sala de aula e a biblioteca escolar
Edileide Reis
Universidade Federal da Bahia
leidesilva05@gmail.com
Resumo: Este artigo focaliza dois dos principais espaos de leitura na escola a sala de aula
e a biblioteca , tomando-os como ambientes educativos, que possuem potencial para o
fomento do ato de ler e, consequentemente, o desenvolvimento de competncias leitoras em
estudantes da educao bsica. A sala de aula universo pluricultural e pluridialetal
(MENDES; CASTRO, 2008, p. 8) uma amostra do universo escolar, que agrega aspectos
comuns e distintos, simultaneamente, e nela os educandos passam a maior parte do tempo
durante o perodo de escolarizao, fase em que do continuidade ao seu processo de
aprendizagem j instaurado em outros espaos extraescolares. A partir da sala de aula,
tambm possvel discutir aspectos relacionados construo de identidades de indivduos
letrados, conforme estudo sobre o processo de letramento de alunos do ensino fundamental
realizado por Silva (2007). Isso evidencia que tal ambiente dispe de elementos que precisam
ser observados e analisados, pois o ensino-aprendizagem de leitura ainda est restrito a ele.
Para alm do espao da sala de aula, a biblioteca escolar, segundo Andrade e Blattmann
(1998), constitui-se em [...] instrumento indispensvel como apoio didtico-pedaggico e
cultural, e tambm elemento de ligao entre professor e aluno na elaborao das leituras e
pesquisas. Nesse sentido, tambm responsvel pelo processo de ensino-aprendizagem de
estudantes, por isso no pode ser relegado a mais um anexo nem apndice da escola. Com
esse olhar, foi elaborada a dissertao de mestrado Herdando uma biblioteca: uma investigao
sobre espaos de leitura em uma escola de rede pblica estadual, proveniente de uma
pesquisa de campo da qual participaram como agentes a gestora da instituio selecionada,
uma professora de lngua portuguesa e seus alunos cursantes do 9 ano. Um dos objetivos
especficos do estudo realizado consistiu em investigar a relao da docente e dos educandos
participantes com a biblioteca escolar, a qual era beneficiria do Programa Nacional
Biblioteca da Escola (PNBE), uma das mais importantes polticas de Estado de promoo da
leitura na sociedade brasileira. Apoiado na etnografia educacional, o referido estudo utilizou
os seguintes instrumentos de pesquisa: questionrios, entrevistas e observaes de aulas, os
quais deram subsdios necessrios para a discusso empreendida. A pesquisa etnogrfica em
educao se caracteriza tambm pela interao construda entre o pesquisador e o contexto
educacional, bem como com sua comunidade, buscando, assim, descrever os aspectos
culturais que os particularizam e os significados produzidos por eles, sobretudo, nas
atividades pedaggicas desenvolvidas na sala de aula ou fora dela. (MATTOS, 1995;
TELLES, 2002). Esta teve como alicerce os pressupostos da Educao, da Cincia da
Informao e, sobretudo, da Lingustica Aplicada, a qual [...] se ocupa da pesquisa sobre
questes de linguagem situadas na prtica social com procedimentos especficos
determinados pela natureza aplicada da pesquisa que tipicamente a serve. (ALMEIDA
FILHO, 2008, p. 26). Assim, o presente artigo reflete sobre alguns resultados da pesquisa
desenvolvida por ocasio do mestrado, apresentando um recorte dos dados coletados e
analisados, bem como as contribuies do estudo para as referidas reas, que focalizam,
comumente, a formao de leitores.
Palavras-chave: formao de leitores; espaos de leitura; biblioteca escolar.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
36
Introduo
A queixa de que os estudantes apresentam dificuldades para ler e escrever j
transpassou h muito tempo os recintos das salas de aula e das paredes dos
ambientes educativos. Ela reproduzida pela sociedade civil, que, alm de conviver
com essa realidade, v nos programas televisivos e nas capas de jornais de grande
circulao o sucateamento do sistema educacional brasileiro. Essas constataes
desencadeiam a elaborao de propostas diversificadas, tanto por parte da iniciativa
pblica quanto privada, as quais consistem em uma espcie de fora-tarefa para
amenizar os efeitos de fatores presentes no contexto familiar e no cotidiano dos
espaos escolares, de onde egressam milhares de indivduos com dficits de
habilidades e competncias leitoras e escritoras. Tal cenrio inquietou-me a ponto de
fomentar a reflexo sobre a leitura, como objeto de estudo, sobretudo, nos limites
territoriais da escola. A iniciativa tornou-se projeto de pesquisa de mestrado, o qual
foi desenvolvido e resultou na dissertao Herdando uma biblioteca: uma investigao
sobre espaos de leitura em uma escola da rede pblica estadual. Desta,
especificamente da seo de anlise dos dados, intitulada de Espaos de leitura na
escola: uma articulao entre a sala de aula e a biblioteca escolar, nome atribudo a
este texto, compartilho algumas ideias.
Pautada nos Parmetros Curriculares Nacionais de Lngua Portuguesa PCNLP
(BRASIL, 2001), propus que o processo de ensino-aprendizagem de Lngua Materna
(LM) na escola deve ser articulado aos seguintes elementos: aluno lngua/leitura
ensino-aprendizagem biblioteca escolar professor, valorizando-os por
compreender que cada um deles delineia a escola e intervm de forma direta em sua
dinmica.
Nesse sentido, cabe ressaltar que o ensino-aprendizagem de leitura ainda est restrito
sala de aula, que, sob o ponto de vista da estrutura fsica, um espao onde,
geralmente, esto enfileiradas as carteiras e os alunos, tendo estes sua frente o
professor, atrs do qual h um quadro. (MOREIRA, 2005). Apesar de a estrutura das
salas de aula da maioria das escolas pblicas no atenderem a requisitos que os
docentes e profissionais da educao consideram favorveis para os fins a que se
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
37
destina, esse ambiente o santurio para o exerccio docente e a realizao de uma
aprendizagem significativa. Por isso, a complexidade do processo de ensino-
aprendizagem de leitura exige que sejam utilizados, ainda dentro dos muros da
escola, outros espaos que tornem a ao de ensinar crianas e adolescentes a ler
variados gneros textuais, de diferentes modos e competentemente. (ABREU, 2001).
Assim, esses indivduos podero atuar de forma ativa e relevantemente em suas
comunidades e na sociedade em geral.
Embora a estrutura curricular seja fragmentada, a escola somente conseguir cumprir
sua misso mediante aes coletivas e comprometidas por parte de toda a sua
comunidade. Desse modo, considerar a biblioteca escolar, doravante BE, como um
ambiente de ensino-aprendizagem de leitura exigncia do contexto
socioeducacional. Ela possui potencial para contribuir com o cumprimento do papel
social da escola e fomentar aes de incentivo leitura. (SILVA, 1998; BARRETO,
2006). Para alm do espao da sala de aula, a biblioteca escolar, segundo Andrade e
Blattmann (1998), constitui-se em [...] instrumento indispensvel como apoio
didtico-pedaggico e cultural, e tambm elemento de ligao entre professor e
aluno na elaborao das leituras e pesquisas. Nesse sentido, tambm responsvel
pelo processo de ensino-aprendizagem de estudantes, por isso no pode ser relegado
a mais um anexo nem apndice da escola.
A relao entre sala de aula e biblioteca escolar uma prtica pouco fomentada na
maioria das unidades de ensino no nosso pas; situao que caracteriza o cenrio
pesquisado, constitudo por um colgio estadual situado em Salvador e a gestora
deste, bem como pela professora de lngua portuguesa do 9 ano e uma turma deste
seriado no perodo letivo de 2011. Esses participantes contriburam
significativamente para a discusso do tema apresentado.
Tomando a escola como contexto especfico, o estudo de campo empreendido se
identificou com a etnografia educacional, por isso fez uso de diferentes instrumentos
e procedimentos que lhe so caractersticos (aplicao de questionrio, observao de
aula, entrevista gravada em udio e anlise documental). A etnografia em sala de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
38
aula, segundo Andr (2008), volta-se para experincias e vivncias dos indivduos e
grupos que participam e constroem o cotidiano escolar.
A sala de aula de portugus
Segundo Rojo (2009), as aes em sala de aula reclamam pelo desenvolvimento de
capacidades afetivas, cognitivas, discursivas, lingusticas, motoras, perceptuais e
sociais. Tais competncias tm sido objeto de inmeras pesquisas, pois a importncia
em se tratar dessas questes to contemporneas deve-se trajetria do panorama
educacional brasileiro, sobretudo, na sua configurao atual e aos mltiplos
contextos em que esto inseridos os estudantes do/no nosso pas. (ANTUNES, 2009).
Estudos, como este, ponderam o ponto de vista expresso nos documentos oficiais
para discutir as nuances da educao lingustica. Esse exerccio pertinente, porque
apesar de certos esforos empreendidos por parte do governo, dos educadores e da
sociedade em geral, a discrepncia entre o que dizem esses textos e o que predomina
na nossa realidade bastante acentuada. Nesse sentido, o trabalho docente
corporifica uma opo poltica, que abrange aspectos tericos e metodolgicos
presentes em sala de aula. (GERALDI, 2002). E um desses elementos condutores da
atividade pedaggica a concepo adotada pelo educador.
Para Antunes (2003, p. 39):
Toda atividade pedaggica de ensino de portugus tem subjacente,
de forma explcita ou apenas intuitiva, uma determinada concepo de
lngua. Nada do que se realiza na sala de aula deixa de estar
dependente de um conjunto de princpios tericos, a partir dos quais
os fenmenos lingsticos so percebidos e tudo, conseqentemente,
se decide.
Assim, o professor delineia o seu trabalho na escola, considerando os contedos a
abordar durante o ano letivo, bem como quais metodologias e estratgias de ensino o
apoiaram, o que inclui o acesso a outros espaos em que a aprendizagem possa ser
fomentada. Essa etapa do contexto escolar resulta no Planejamento Anual do
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
39
Professor (PA), o qual se associa a outros documentos, como o Projeto Poltico-
Pedaggico (PPP), e ambos interferem na dinmica do universo escolar e da sala de
aula.
Segundo Matencio (1994, p. 99):
A elaborao do plano de trabalho de um ano letivo envolve tanto as
exigncias do currculo do curso e da srie como sua interpretao
pela instituio escolar em questo. Portanto, esse planejamento deve
atender, por um lado, demanda dos elementos que so externos
escola e, por outro, s caractersticas das pessoas envolvidas na
instituio em particular.
O PA da professora (P) privilegia aspectos textuais e gramaticais da lngua, os quais
esto listados intercaladamente. Um plano de trabalho com essas caractersticas
tende a abarcar diferentes competncias lingusticas e um indcio de que prticas de
letramento, como a leitura e a escrita, se fazem presentes na sala de aula analisada. O
observado, entretanto, foi que o foco esteve na metalinguagem e no ensino
tradicional de gramtica, norteando as aulas ministradas. Esse modelo de atuao
docente tem sido exaustivamente discutido por diversos especialistas de educao
lingustica (SILVA, 1998; GERALDI, 2002; ANTUNES, 2003; MENDES, 2008 e outros)
e nos PCNLP (BRASIL, 2001), que censuram o trabalho exclusivo com a gramtica,
porque ele reproduz concepes educacionais equivocadas e descontextualizadas.
A colega participante concebe a leitura como decodificao dos sinais grficos e
apreenso das ideias de quem escreve os textos circulantes na sala de aula.
Entendimento que se contrape com a leitora crtica, que assume ser, e refora a sua
atuao docente. Os alunos da turma 9M1 partilham da mesma concepo de leitura
de P. Esses indivduos, quanto influncia das aulas de LP no exerccio das prticas
de leitura, dizem que essa disciplina tem uma interveno positiva, embora suas
respostas exprimam que a lngua um mero sistema, uma estrutura, ou,
simplesmente, gramtica. Ento, pode-se dizer que a opinio do que seja tal prtica
social nas palavras da docente j foi incorporada pelos educandos, os quais
reproduzem a ideia supracitada, que j faz parte do senso comum.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
40
As limitaes quanto ao que o ato de ler e ser leitor na escola so reforadas,
sobretudo, porque oportunidades cultivadoras entre o estudante e os livros so
escassas e reduzem as prticas de leitura a textos curtssimos, seguidos de exerccios
de interpretao. As respostas dos educandos a seguir ratificam isso:
As aulas de Lngua Portuguesa influenciam no seu hbito de leitura? De que maneiras
elas influenciam?
A2: Por que nas Aulas de portugus sempre h historia para os Alunos ler
A11: Derivaes, prefixal, sufixal ensinando frases como endentificalas etc.
A12: A professora fala muitas coisas que cada vez mais me influncia a leitura
A19: Influenciam no habito de ler
A26: Na maneira de entender a pronunciao das palavras que leio
(Questionrio dos alunos)
A partir do exemplo e dos demais dados gerados, pode-se afirmar que embora a
linguagem na sala de aula observada seja trabalhada mediante o uso de textos, os
contedos de gramtica so o foco. Eles, apesar da nfase, no tm se refletido na
escrita dos alunos, que apresenta quase o espelhamento da fala.
Os alunos, ao opinarem sobre as aulas de portugus, falam como a leitura se faz
presente, como podemos verificar no trecho a seguir:
A5: Eu acho as aulas muito boa mais ela tinha que focar mais aqui na biblioteca, pra gente levar mais
livro pra ler vrias coisas. Ento, passar mais textos. Acho que isso.
A12: Eu acho que as aula de portugus ensinava ns a aprender falar direito. S isso.
A24: So boas as aulas. As aulas nos ensina muito sobre a leitura bastante, porque sempre nas aulas
dela ela entrega texto pra ns ler, refletir, resumir e isso nos interessa muito na leitura e nos traz mais
benefcio.
A30: Eu gosto l da aula de portugus, mais s que... ela no passa muito texto pra gente interpretar.
No. Passa, alis, mas ela no d um livro pra gente ler, ela d um texto dela l pra gente resumir.
(Recorte da entrevista dos alunos)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
41
A triangulao dos dados gerados na pesquisa explicita que as prticas de leitura e
escrita no fazer-pedaggico da professora ocupam posio marginal, o que contribui
com a manuteno dos estgios crtico e muito crtico de proficincia de estudantes do
9 ano referentes aos atos de ler e escrever.
A biblioteca no contexto da escola
O colgio analisado possui uma biblioteca e herdou materiais informacionais
bastante variados:
livros didticos; livros paradidticos; romances; livros literrios; dicionrios; enciclopdias e revistas
informativas. (Questionrio da gesto escolar)
Parte desse acervo proveniente do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE),
uma das principais iniciativas governamentais gerenciadas pelo Ministrio da
Educao, que tambm envia para a escola vdeos, documentrios e filmes
educativos. Quanto aos livros didticos distribudos, segundo Campello e outros
(2010), eles no compem o acervo da BE, por se tratar de um material de apoio s
atividades pedaggicas. Apesar de o acesso a eles ser quase irrestrito, isso no
impede que a BE seja seu almoxarifado.
positivo o fato de a biblioteca da escola analisada ter mais de mil exemplares entre
obras literrias, de gneros textuais e formatos diversificados, e ttulos terico-
metodolgicos, considerando as reas de formao universitria dos professores. A
BE, porm, no uma das principais rotas indicadas pelos docentes e gestoras para a
circulao de livros e, consequentemente, a promoo do gosto e do cultivo pela
leitura. A respeito disso, Ezequiel Silva (1998, p. 28) defende que [...] a biblioteca
deve se transformar num ambiente rico em estimulao sociocultural para a leitura, e
com significao para professores, alunos e comunidade. Tal perspectiva,
entretanto, ainda no compartilhada por todos os agentes da educao, enquanto
isso a BE fica a merc de pequenas iniciativas.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
42
Em uma das reunies pedaggicas, a diretora incentivou o corpo docente a utilizar a
BE. As condies, entretanto, no eram convidativas realizao de atividades no
espao, nem ao uso do seu acervo. A prpria gestora reconhece que os professores
somente fazem uso dos materiais disponveis na BE esporadicamente, porque no h
uma assistncia mnima que possibilite uma utilizao efetiva. Situao ratificada
pelos alunos, que pouco utilizam a BE ou at desconhecem sua existncia. O quadro
1 demonstra as opinies desse grupo.
Quadro 1 Usurios e no-usurios da biblioteca escolar do CEAV
Neste colgio, h biblioteca escolar. Voc a utiliza? Por qu?
Sim 11 34,37%
No 21 65,63%
Sim
A1 Porque e muito importante
A11 Porque ler e bom para meditar e divertido as vezes, e um modo
de quando crecer se formar trabalhar etc.
A18 Eu j havia ultilizado quando no havia professor dando o
horario na sala de aula
A24 Por qu quero conhecer mais sobre o meu desenvolvimento na
leitura, e tambem conhecer coisas novas que atraves da leitura
garantimos ao nosso futuro coisas boas.
A30 Por qu quando eu quero fazer pesquisa eu vou a biblioteca da
minha escola para ultilizar os livros.
No
A6 Por que no tem!
A8 No utilizo por que so anda fechada.
A12 Por que ela no abri a biblioteca. J ouve uma vez na 5 sere s
essa vez e depois nunca mas
A20 porque a biblioteca vive fechada.
A25 Por qu sempre esta fechado ou responsavel no estar.
A28 Por que no tenho tempo.
A26 No justificou sua resposta.
Fonte: Dados da pesquisa: Questionrio dos alunos.
As respostas da maioria dos educandos denunciam uma das contradies mais
perversas do sistema educacional brasileiro: a falta de condies que estimulem o
convvio com livros e publicaes impressas. A escola, como organismo social, deve
desenvolver medidas educacionais e culturais que proporcionem sua comunidade e
sociedade em geral a apropriao da leitura e de seus benefcios. (BARRETO, 2006).
No entanto, no isso que se tem promovido no mbito dos seus muros.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
43
A escola, como uma das principais instituies sociais, tem a responsabilidade de
assegurar aos seus atores a oportunidade de experimentar situaes de
aprendizagem significativa, principalmente, com as prticas de letramento. Sendo
assim, as aes para a sua implantao e implementao dependem da participao
de todas as equipes atuantes nesse recinto.
A relao da docente e dos educandos com a biblioteca
Como o referido estudo discute o uso da biblioteca escolar, busquei conhecer se e
como esse espao interveio na formao leitora da docente. Ento, ao questionar se
seus professores utilizavam de algum modo a BE, a resposta foi no e o(s) porqu(s)
de tal prtica desconhecido(s), mesmo havendo o referido ambiente pedaggico em
duas das unidades de ensino onde a professora estudou.
Essa postura, infelizmente, bastante comum h dcadas, o que reverbera a
deficincia tanto na oferta de materiais de leitura e no acesso a eles no contexto da
escola, quanto na formao de professores e, como j se discute na
contemporaneidade, na formao de bibliotecrios para atuar no cenrio educativo.
Ambos os profissionais so agentes fundamentais na promoo de atividades leitoras
no que tange disseminao e ao gerenciamento da informao, ao ensino-
aprendizagem de prticas de letramento, bem como aquisio e ao
desenvolvimento de competncias relacionadas a essas aes, sobretudo, por parte
dos educandos.
A professora informa que a sua famlia e a escola contriburam para que ela se
tornasse uma leitora, ao responder:
Sempre tive acesso a livros em minha casa, pois meus irmos mais velhos tambm gostam de ler e as
atividades escolares me ajudaram a manter o hbito de ler. (Questionrio da professora)
Contudo, as demais respostas dadas ainda no questionrio e na entrevista,
contrastadas com sua atuao profissional, no ratificam sua fala. Para a docente,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
44
ambas as entidades se complementam na formao de leitores, entretanto, se a
famlia fracassar nessa rea, a escola pouco ou nada pode fazer para reverter os
impactos da educao leitora. Ela considera-se, uma leitora crtica; criticidade que
no aparece em seu percurso profissional, haja vista que sua postura refora o status
de no-leitores dos alunos. Isso porque a docente no se dispe a oferecer um
processo de escolaridade que se caracterize pela imerso dos aprendentes na cultura
letrada.
O ensino-aprendizagem de leitura deve incentivar o acesso a uma variedade de
materiais impressos (GERALDI, 2002) como os que constituem o acervo da biblioteca
do colgio. Assim, Ezequiel Silva (1998) e Geraldi (2002) propem algumas aes
para que um programa de leitura na sala de aula seja efetivado quanto ao acesso
diversidade de livros: aquisio com pais e responsveis dos educandos, pedido a
editoras, uso de bibliotecas pblicas, constituio de biblioteca com auxlio de
associaes de bairro, clubes etc. e, claro, bibliotecas escolares. Coaduno com a ideia
desses autores de que no h leitura qualitativa em apenas um livro durante uma
trajetria escolar extensa.
A certeza de que a colega no usava a BE se deu em momento singular para os
educandos da turma 9M1: visita a esse ambiente pedaggico, quando ela justificou
que no ia a esse lugar, porque sofre de renite. As condies de higiene mencionada
pela colega tambm foram ratificadas pelos alunos em diversos momentos. Em
relao aproximao entre os aprendentes e o acervo da BE, eles admitem o fosso
entre a teoria e a prtica. Quanto atividade realizada na BE, os educandos a
avaliaram da seguinte maneira, como mostra o excerto a seguir.
A8: [...] Como a professora fez mesmo essa aula aqui que ela pede pra gente pegar o livro aqui,
responder as perguntas que tem no bagulho, ela nunca fez uma aula assim, acho diferente interessante
que alm da gente buscar o conhecimento da leitura, a gente aprender mais sobre a lngua portuguesa.
A30: [...] ela no d um livro pra gente ler, ela d um texto dela l pra gente resumir. Essas coisas
assim, mas podia trazer a gente mais pra biblioteca, pra sempre escolher livro, pra fazer comentrio de
livro na sala. Ah! Sei l acho que ficaria legal a aula. No pra ficar aquela rotina passar texto, ler texto,
copiar... Umas coisas assim... Sei l. (Inc.) ah se ela fizesse assim trouxesse a gente pra biblioteca seria
melhor. A aula ia se diferenciar, entendeu? (Recorte da entrevista dos alunos)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
45
Considerando as falas destacadas acima e a de P, depreende-se que a aproximao
entre o grupo 9M1 e a BE ocorria apenas para a consulta de livros didticos, cuja
finalidade era a pesquisa para trabalhos extraclasse momentos em que esse espao
era citado tambm por outros professores ou ainda, por iniciativa prpria, como
apontam alguns alunos, o que era bastante difcil, pois como no havia um
responsvel pela biblioteca o acesso era muito restrito. Em geral, os alunos, inclusive,
os veteranos, desconheciam a existncia de outras publicaes e ficavam admirados
quando viam as estantes repletas de obras para leitura.
O quadro a seguir evidenciam a relao dos estudantes com a biblioteca.
Quadro 2 Usurios e no-usurios de biblioteca
Voc frequenta biblioteca? Por qu?
Sim 13 40,62%
No 19 59,38%
Sim
A1 Porque tenhe muitas coisas boas
A9 Por que eu adoro ler
A24 Por que l onde tem o que eu procuro para o meu
enteresse que a leitura
A29 De vez em quado, para mim distrair um pouco
No
A3 Por que procurar na internet e mas fcil de achar
A4 Por que ela s anda fechada
A7 Porque a biblioteca da escola abre mais durante o
turno que estuda.
A8 Por que no acho uma perto de mim e a daqui da
escola anda fechada
A20 Porque a d escola vive fechada
A10, A15,
A16, A17,
A27, A31
No justificaram
Fonte: Dados da pesquisa: Questionrio dos alunos.
No quadro supracitado, as vozes dos alunos denunciam a situao de descaso com a
educao, pois a coleo de livros da BE dificilmente circula entre esse pblico. A
falta de contato com os materiais, conforme mostram os prprios aprendentes, deve-
se tambm ao fato de a BE estar fechada e no ser higienizada. A consequncia ou
causa disso que no h uma pessoa (professor, funcionrio ou voluntrio)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
46
responsvel pelo espao, com a funo de oferecer comunidade escolar servios
bibliotecrios. E claro que apenas essa justificativa no constitui esse cenrio.
Uma proposta didtica: atividade de leitura e visita biblioteca escolar
imprescindvel que o fazer-pedaggico no interior da sala de aula corrobore com o
hbito de leitura dos aprendentes e o gosto por essa prtica, promovendo mudanas
que extrapolem as paredes da escola, ou seja, possibilitar que esses atores sociais
percorram as etapas dos diferentes nveis educacionais, (re)construindo
competncias e saberes necessrios para alcanarem objetivos individuais e coletivos,
almejados durante e aps egressarem do recinto escolar. Sendo assim, propostas
pedaggicas devem ser planejadas e implementadas tanto para grupos pequenos
quanto para pblicos maiores. Para isso, torna-se fundamental conhecer as
especificidades das diversas turmas com as quais os professores estabelecem uma
interlocuo. Um programa bem fundamentado, no apenas teoricamente, mas,
sobretudo, nos contextos em que esto inseridos os partcipes desse processo, tende a
repercutir positivamente. Alguns princpios so importantes nessa trajetria
educativa e um deles a reflexividade, a qual contribui muito para que se corrijam as
imperfeies e busque-se o aperfeioamento e a sensibilidade, visando perceber os
elementos que interferem em uma ao que se quer efetiva, sem, contudo, se deixar
abater por ele. (SILVA, 1998).
Como parte do objetivo principal da pesquisa realizada, foi apresentada a docente
uma proposta didtica, cuja finalidade era:
Promover a leitura de diferentes obras literrias, constituintes do acervo da biblioteca escolar, a partir
da preferncia dos educandos, viabilizando o acesso a esse material e incentivando-os a essa prtica.
(Recorte da proposta didtica)
Nessa proposta didtica, a turma 9M1 visitaria a BE e seus integrantes poderiam
escolher os livros literrios dispostos e organizados nas estantes, segundo seus
prprios critrios. Embora o foco no estivesse na obrigatoriedade do cumprimento
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
47
da atividade por parte da turma 9M1, sugeri que ela integrasse o rol de trabalhos
avaliativos da unidade letiva em andamento, deixando a critrio de P as possveis
adaptaes, as quais incluam as orientaes para os alunos, a estrutura do roteiro de
leitura, a atribuio de nota e o peso desta etc., bem como a adoo ou no do
projeto. A princpio, esperava que a docente participante e eu dialogssemos, a ponto
de analisarmos, conjuntamente, a configurao da Proposta Didtica, o que no
aconteceu.
A exposio oral foi sugerida, porque, dessa forma, toda a turma poderia conhecer os
livros lidos pelos colegas, mediante a audio das narrativas e o compartilhamento
de experincias leitoras, fomentando, ento, que outras atividades fossem realizadas
a partir desta. Nesse sentido, em outra oportunidade, o grupo poderia ler as obras
mais interessantes em sua viso, debater os temas abordados, dentre outras
possibilidades. Essa prtica, chamada por Ezequiel Silva (1998) e Geraldi (2002) de
circuito da leitura e circuito do livro, respectivamente, poderia desencadear um certo
encantamento pela leitura, aproximar os aprendentes tambm da BE, alm de
proporcionar docente a construo de um programa de trabalho com a leitura e as
competncias relacionadas a esse eixo de ensino e aos demais da educao
lingustica.
A professora pressupe que os alunos escolhero livros pequenos e que somente umas trs alunas se
disporo a apresentar oralmente o livro lido. Compartilhei com ela os resultados bons e ruins obtidos
com a atividade, quando eu mesma a apliquei, estando ciente de que, geralmente, so selecionadas
obras pouco densas, com fontes grandes e imagens. Apesar disso, afirmei que valia a pena realiz-la. A
colega diz que trabalhar os conceitos necessrios para que os alunos realizem as atividades bem,
levando em considerao a escolha dos livros. (Recorte do dirio de campo)
No trecho destacado, aparece uma das ocorrncias mais comuns no discurso dos
professores e de outros agentes de letramento: a censura da leitura (SILVA, 1998;
LAJOLO, 2010), a qual consiste em preterir os livros escolhidos pelos alunos,
elegendo, assim, o que pode ou no ser lido pelos educandos. A censura da leitura
tambm influencia as experincias leitoras nos diferentes ambientes e se caracteriza
pelo desrespeito caminhada dos leitores. (GERALDI, 2002; LAJOLO, 2010).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
48
Pude observar a surpresa de muitos discentes por vislumbrarem os diversos livros
literrios, principalmente, os livros novos, e acompanhar a interao de alguns com
os materiais que agora estavam em suas mos.
Os aprendentes discutiam entre si a escolha dos livros. Para isso, eles focalizaram,
principalmente, o nmero de pginas e ilustraes, o tamanho e formato das fontes,
alm de o ttulo das narrativas e outros elementos que se destacavam em um
primeiro olhar. Alguns queriam saber que obras eu indicaria e se poderiam levar
mais de uma. Havia tambm aqueles alunos que desconheciam a finalidade da
visitao e/ou o que fariam com o livro selecionado.
Uma proposta didtica simples, que, embora tenha sido breve, foi significativa para
os aprendentes presentes no dia em que ela, finalmente, pde ser realizada. o que
expressa um aluno participante da entrevista, ocorrida no dia seguinte aludida ao
pedaggica.
Pe: Ento, considerando o que alguns colocaram ... usar mais a biblioteca, o que vocs acharam da...
da experincia de ontem, n, de vim, escolher um livro? ..., enfim, o que vocs... qual ... foi a
sensao de vocs e o que vocs acharam mesmo da proposta?
A8: Eu achei legal. interessante mesmo. tanto que todo mundo que... que vi que tava aqui hoje,
todo mundo trouxe o livro e tava lendo... Sim. Foi que bateu o tempo da outra aula e quando esse
intervalo entra na sala todo mundo tava lendo. Achei interessante. (Recorte da entrevista dos
alunos)
De modo geral, A8 e outros educandos entrevistados destacam como uma aula
diferenciada a ida BE e como novidade o emprstimo de livros. A maioria dos
alunos demonstra algum interesse em manusear livros e espera por atividades mais
dinmicas, criativas e atrativas por parte de cada professor, em suas aulas especficas,
e da escola em sua coletividade.
Consideraes finais
A respeito do que acontece na escola, Rojo (2009, p. 8) sintetiza bem a atual situao,
que agravada pela configurao das prticas educativas, as quais so ineficazes,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
49
devido ao [...] desinteresse, desnimo e resistncia dos alunos das camadas
populares diante das propostas de ensino e letramento oferecidas pelas prticas
escolares [...]. As causas e as consequncias do sucateamento da educao j fazem
parte de um processo cclico, o que dificulta reconhecer cada uma delas, o que as
provoca e como interromper essa continuidade. Embora isso acontea, a elaborao
de medidas contextualizadas e, por isso, exequveis, possvel; estas precisam ser
realizadas, principalmente, em respeito aos mais prejudicados com a atual
conjuntura educacional.
Apesar de os percalos para concretizar a Proposta Didtica, pode-se concluir que a
prtica promovida pode ter provocado algum impacto na vida de todos os
participantes. Os significados e sentidos construdos, por exemplo, pelos educandos,
dimensionam que pequenas medidas podem apontar outros caminhos para que o
contexto escolar seja melhorado e a articulao entre sala de aula e biblioteca escolar
seja estreitada.
Referncias
ABREU, Mrcia. Diferentes formas de ler. Disponvel em:
<http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/Marcia/marcia.htm>. Acesso em:
31 ago. 2010.
ALMEIDA FILHO, Jos Carlos Paes de. A lingstica aplicada na grande rea da
linguagem. In: SILVA, Kleber Aparecido; ALVAREZ, Maria Luisa Ortiz. Perspectivas
de investigao em lingstica aplicada. Campinas: Pontes Editores, 2008, p. 25-32.
ANDR, Marli. A pesquisa do tipo etnogrfico no cotidiano escolar. In: FAZENDA,
Ivani. (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 11. ed. So Paulo: Cortez, 2008. p. 35-
45.
ANDRADE, Araci Isaltina de; BLATTMANN, Ursula. Atividades de incentivo leitura
em bibliotecas escolares. Disponvel em:
<http://www.ced.ufsc.br/~ursula/papers/leitura.html>. Acesso em: 18 maio 2009.
ANTUNES, Irand. Aulas de portugus: encontro e interao. So Paulo: Parbola
Editorial, 2003.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
50
______. Lngua, texto e ensino outra escola possvel. So Paulo: Parbola Editorial,
2009.
BARRETO, Angela Maria. Memria e leitura: as categorias da produo de sentidos.
Salvador: EDUFBA, 2006.
BRASIL. Ministrio da Educao. Secretaria da Educao Fundamental. Parmetros
Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: lngua
portuguesa. 3. ed. Braslia: Secretaria da Educao Fundamental, 2001.
CAMPELLO, Bernadete; et al. Biblioteca escolar como espao de produo do conhecimento:
parmetros para bibliotecas escolares. Belo Horizonte: Autntica, 2010.
GERALDI, Joo Wanderley. Concepes de linguagem e ensino de portugus. In:
______. O texto na sala de aula. (Org.). 3. ed. So Paulo: tica, 2002. p. 39-46.
______. Unidades bsicas do ensino de portugus. In: ______. O texto na sala de aula. 3.
ed. So Paulo: tica, 2002. p. 59-79.
LAJOLO, Marisa. Leitura e linguagens na contemporaneidade. In: ENCONTRO DE
LEITURA E LITERATURA DA UNEB, 3., 2010, Salvador. ELLUNEB: Encontro de
Leitura e Literatura da UNEB. Salvador: UNEB, 2010.
MATENCIO, Maria de Lourdes Meirelles. Leitura, produo de textos e a escola:
reflexes sobre o processo de letramento. Campinas, SP: Mercado das Letras, 1994.
MATTOS, Carmen Lcia Guimares de. Etnografia crtica em sala de aula: o
professor pesquisador e pesquisador professor em colaborao. Revista brasileira
Estudos pedaggicos. Braslia, v. 76, n. 182/183, p. 98-116, jan./ago. 1995. Disponvel
em: <http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/292/294>.
Acesso em: 19 dez. 2011.
MENDES, Edleise. Lngua, cultura e formao de professores: por uma abordagem
de ensino intercultural. In MENDES, Edleise; CASTRO, Maria Lcia Souza. (Org.).
Saberes em portugus: ensino e formao docente. Campinas: Pontes Editores, 2008. p.
57-77.
MENDES, Edleise; CASTRO, Maria Lcia Souza. Apresentao. In: ______. Saberes em
portugus: ensino e formao docente. (Org.). Campinas: Pontes Editores, 2008. p. 9-
10.
MOREIRA, Nanci Saraiva. Espaos educativos para as escolas de ensino mdio. 2005. p.
321. Tese (Doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas) Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2005.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
51
ROJO, Roxane. Letramentos mltiplos, escola e incluso social. So Paulo: Parbola
Editorial, 2009.
SILVA, Ezequiel Theodoro da. Elementos de pedagogia da leitura. 3. ed. So Paulo:
Martins Fontes, 1998.
SILVA, Maria Laura Petitinga. Construo de identidades de letramento no contexto da
sala de aula. 2007. 170 p. Dissertao (Mestrado em Lingustica) Instituto de Letras,
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
TELLES, Joo A. pesquisa ? Ah, no quero, no, bem! Sobre pesquisa acadmica
e sua relao com a prtica do professor de lnguas. Linguagem & Ensino, [s. l.], v. 5, n.
2, p. 91-116, 2002.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
52
LETRAMENTO LITERRIO NO LIVRO DIDTICO:
A circulao da leitura no Projeto Intervalo
Aparecida de Ftima Brasileiro Teixeira
(UNEB/UESB)
cidabrasileiro@hotmail.com
Resumo: Nas prticas dirias escolares, a leitura encontra lugares de prestgio, desde os
espaos extraclasse s empoeiradas estantes das bibliotecas e porque no no protagonista
dirio que trilha os trajetos dos leitores, o livro didtico. Este gnero discursivo traz
constante nuances de leitura, embora este texto debruce na leitura literria, especificamente
no letramento literrio. Utilizado como um dos poucos recursos leitores na sala de aula, este
material didtico preenche o espao escolar e insere, mesmo que em fragmentos textuais, um
olhar limtrofe para a leitura e convida o leitor, em seus projetos e suas atividades leitoras, a
insero no processo de recepo leitora. Como um mediador social, a voz do projeto
editorial do livro didtico amparada com a interseco da tessitura do educador que ora
pode compactuar com as propostas utilizadas, ora pode modific-la. O livro didtico de
Lngua Portuguesa um dos recursos que norteia uma das esferas da atividade humana, a
esfera educacional, e traz consigo caractersticas prprias de utilizao da lngua de acordo
com uma viso cultural proposta pelos enunciados entendidos como produtos sociais.
Ademais, um dos poucos recursos utilizados nas aulas de Lngua Portuguesa, nico meio
de formar leitores. Destarte, este texto debrua em um estudo do livro didtico do Ensino
Mdio, da forma pela qual a leitura vista no ensino de literatura, configurando-se em um
exerccio de investigao, em estgio de execuo do objeto que tematiza o letramento
literrio no livro didtico de portugus no Ensino Mdio. Neste sentido, a proposta desta
pesquisa tem por objetivo verificar de que forma o letramento literrio exposto no Livro
didtico do Ensino Mdio. Com isso, esta investigao terica basear-se- em autores que
discutem gneros do discurso, Bakhtin (1997,1981) letramento literrio, Cosson (2006) e livro
didtico de lngua portuguesa, Bunzen (2005), dentre outros. Para compor uma interseco
entre as bases terico-metodolgicas sero tecidas uma verificao de como se configura o
letramento literrio no livro didtico Portugus: linguagens de William Roberto Cereja e
Thereza Cochar Magalhes, da Editora Saraiva, Edio de 2010, 2 ano, tomando como
recorte da pesquisa a anlise discursiva do Projeto Intervalo, seguida das atividades que
norteiam a leitura e a interao com o leitor do texto literrio. A dialogia prevista entre o
aspecto esttico composto na obra, pelo autor da obra literria e os efeitos causados nos
diferentes leitores ao perfazerem o caminho da leitura no livro didtico do Ensino Mdio se
configura em uma perspectiva de compreenso responsiva (Bakhtin) do leitor, por meio de
questes norteadoras das atividades de leitura.
Palavras-chave: leitura; letramento literrio; livro didtico
Apresentao
A discusso que ser delineada discutir sobre a proposta de leitura norteada atravs
de uma anlise do Projeto Intervalo do livro didtico de Lngua Portuguesa do
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
54
Ensino Mdio Portugus: linguagens, volume 2 de autoria de William Roberto
Cereja e Thereza Cochar Magalhes, edio de 2012- considerado com uma avaliao
positiva pelo Programa Nacional do Livro de Ensino Mdio (PNLEM). A forma como
a leitura circula no projeto analisado e as adjetivaes do letramento literrio nas
atividades sugeridas esboa o papel cultural deste material pedaggico que transita
todo um percurso, do seu processo de produo at as salas de aulas e espaos
pedaggicos diversos.
Aps a discusso sobre linguagem, interao relacionada com a compreenso
responsiva do leitor e associada ao percurso do ensino de literatura no LD, no vis do
letramento literrio ser analisado um dos projetos do LD citado, a fim de verificar
de que forma os enunciados so expostos e se a compreenso responsiva pode ser
vista como um rplica ativa verificando o letramento literrio como base de interao
e relao com outros leitores. Com o foco na formao do leitor, sendo este o seu
papel fundamental, o LD considerado como gnero discursivo complexo traz
diversidade de dilogos capazes de propor a discursividade prenhe dos enunciados,
oportunizando a interao desde o processo de produo circulao.
Relao dialgica: a palavra minha e a palavra do outro
A palavra uma espcie de ponte lanada entre mim e os outros. Se
ela se apia sobre mim numa extremidade, na outra apia-se sobre o
meu interlocutor. Mikhail Bakhtin/V. N. Volochnov (1981, p. 84)
Atinente a teoria bakhtiniana que desfaz a viso de isolamento, de individualidade e
de abstrao da linguagem este mote enunciativo, exposto na epgrafe acima,
preludia a exposio iminente que se desdobra na perspectiva terico-metodolgica
desta pesquisa. Visto que ao refletir sobre a palavra no mbito enunciativo-
discursivo salienta a mobilidade significativa que esta transporta. E sendo uma
ponte entre mim e os outros fica evidenciada a transitividade presente nessa
relao interativa entre interlocutores. Com esse quadro situacional, a citao do
autor, oriunda de discusses do Crculo de Bakhtin, atm a valorizao desse
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
55
mosaico interacional, deixando bem claro a possibilidade de no priorizar, mas sim
de relacionar tanto a palavra minha como a palavra do outro. Nessa tica, a
produo de sentido oportuniza embates construtivos de aspectos discursivos,
histricos, culturais e identitrios.
Para a reflexo do objeto em anlise, Projeto Intervalo do livro didtico,
primeiramente, sero destacados pontos cruciais abordados na teoria bakhtiniana
(1997), com o intuito de visualizar uma abordagem terica consistente para
compreender os gneros discursivos na esfera da atividade humana. Assim, seguem
breves assertivas que adjetivam esse aparato lingustico com sua cientificidade. A
proposio do dilogo se evidenciar no percurso terico-metodolgico ao propor
um aspecto discursivo dialgico no corpo da pesquisa.
Cada esfera comunicativa est repleta de enunciados com particularidades
correspondentes (s) finalidade(s) de cada falante e sua identidade lingustica
situacional. Sendo que os enunciados mesclam-se, complementam-se e interagem,
produzindo conhecimentos e saberes. Nesse sentido, a duplicidade de faces no se
postula na linearidade do ir para algum, mas sim no processo cclico que se constri
e se relaciona produzindo discursos. Nesse prisma, Bakhtin (1981, p. 84) informa que:
Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela determinada
tanto pelo fato de que procede de algum, como pelo fato de que se
dirige para algum. Ela constitui justamente o produto da interao
do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expresso a um em
relao ao outro. Atravs da palavra, defino-me em relao ao outro,
isto , em ltima anlise, em relao coletividade.
No h, nessa tessitura apresentada pelo autor, uma relao monolgica e limtrofe,
mas sim uma coletividade de vozes que vai tecendo e produzindo enunciados,
atravs da interao dos discursos. Essa concretizao do dilogo no pode ser
considerada como inovadora, pois traz indcios temporais e sociais, marcantes de
espaos culturais.
nessa relao entre o interlocutor e o outro que constitui a resposta. E a busca pela
resposta no se finda na palavra do outro, nem na palavra minha, visto que em
cada palavra do outro h, necessariamente, a palavra de um outro e com essa palavra
de outros elabora-se a palavra minha. (BAKHTIN, 1997, p. 313). Essas
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
56
particularidades so prprias do enunciado, ou seja, a partir do elo entre os
interlocutores que possvel vislumbrar este dilogo em um prisma construtivo da
linguagem e seu processo interativo. Uma analogia fundante esboada por
Bakhtin/Voloshinov (1981, p. 93) quando representa uma comparao entre a
enunciao e uma ilha capaz de se manter emersa no espao ilimitado do discurso
interior:
A enunciao realizada como uma ilha emergindo de um oceano
sem limites, o discurso interior. As dimenses e as formas dessa ilha
so determinadas pela situao da enunciao e por seu auditrio. A
situao e o auditrio obrigam o discurso interior a realizar-se em
uma expresso exterior definida, que se insere diretamente no
contexto no verbalizado da vida corrente, e nele se amplia pela ao,
pelo gesto ou pela resposta verbal dos outros participantes na
situao de enunciao. Uma questo completa, a exclamao, a
ordem, o pedido so enunciaes completas tpicas da vida corrente.
Um gnero discursivo... Construes dialgicas
Os enunciados, produtos dessa diversidade, no so construdos convencionalmente
e intercalados em um elo entre o locutor e seu interlocutor. H uma inteno
comunicativa que se desdobra diante do trnsito lingustico em que o sujeito
enunciador visa promover uma manifestao - de concordncia, resignao,
consenso - do interlocutor ao evidenciar sua presena atravs da linguagem. O
produto dessa inteno desdobra nos escritos de Bakhtin (1997, p. 301) ao priorizar a
escolha do gnero do discurso condizente com a esfera da atividade humana e a
necessidade de abordar a temtica com o propsito de adaptar ao querer-dizer do
falante:
O querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha de um
gnero do discurso. Essa escolha determinada em funo da
especificidade de uma dada esfera da comunicao verbal, das
necessidades de uma temtica (do objeto do sentido), do conjunto
constitudo dos parceiros, etc. Depois disso, o intuito discursivo do
locutor, sem que este renuncie sua individualidade e sua
subjetividade, adapta-se e ajusta-se ao gnero escolhido, compe-se e
desenvolve-se na forma do gnero determinado.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
57
Diante da diversidade e heterogeneidade dos gneros do discurso, na esfera
comunicativa, fica evidente a sua polaridade, no em uma perspectiva estvel, mas
sim em um nvel taxionmico, a fim de diferenciar situaes simples e complexas
expostas no dia a dia em circunstncias da vida que englobam o elo ideolgico
lingustico. Tanto os gneros primrios quanto os secundrios, expostos por Bakhtin
(1997, p.281), vm se modificando e mesclando, de acordo com cada contexto scio
cultural, visto que a atividade lingustica constitui um processo ininterrupto e de
constante interao. Bakhtin, ento, assevera: Qualquer enunciado considerado
isoladamente , claro, individual, mas cada esfera de utilizao da lngua elabora
seus tipos relativamente estveis de enunciados, sendo isso que denominamos
gneros do discurso (1997, p.280).
Fazem parte dos enunciados e constituem os gneros discursivos, nos pressupostos
das ideias do Crculo de Bakhtin, o contedo temtico relacionado ao estilo e a
construo composicional.
De antemo, o contedo temtico traz consigo o objeto temtico do enunciado e este
direcionar ao estilo e a estrutura composicional. No que tange o LD, Teixeira e
Souza (2012) enfocam: o(s) contedo(s) temtico(s), no caso em questo,
apresentam-se em um vis pedaggico do ensino de lngua, em uma perspectiva da
lingustica aplicada. com essa viso que os gneros que se inserem no LD tero
um valor discursivo diferenciado da sua esfera comunicativa de uso, pois as
finalidades dialgicas desdobram-se partindo de objetivos do ensino de lngua,
desde aspectos referentes leitura, compreenso dos diversos gneros que o
completa, s propostas direcionadoras da produo textual. Bunzen (2005, p. 46) cita
Brait (2000) com o intuito de ratificar o que foi enfatizado acima: os textos em
gneros diversos, quando so recontextualizados para os LDPs, passam a integrar a
realidade concreta do gnero do discurso LDP que se constitui justamente atravs
desta complexa intercalao.
Enquanto que o estilo no determinado e especfico. Alguns gneros, como os
literrios, oportunizam uma participao mais individualizada, quanto outros, com
um enfoque padronizado, ocultam exigncias a esse respeito. Corroborando com
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
58
uma viso bakhtiniana, o estilo lingustico se d a partir da apropriao a sua
especificidade com uma determinada esfera comunicativa; no gnero discursivo
analisado, livro didtico, com aspectos individuais baseados nas escolhas feitas por
todos que fizeram parte do projeto editorial. Tanto autores, editores, revisores, ao
fazerem uso de estruturas lingusticas/lexicais, escolhas de imagens ou textos,
deixaro evidentes a expressividade imanente no contexto de produo direcionado
pela apreciao valorativa de cada interlocutor. Ferreira (2013, p.28) confirma a
particularidade do estilo e menciona o filsofo russo que: ressalta o carter dialgico
da linguagem e dos seus enunciados, chamando a ateno para o aspecto social do
estilo, j que o autor/escritor est sempre dialogando com outros enunciados e se
dirigindo a algum.
O estilo no perfaz o seu trajeto isolado, ele juntamente com o tema so responsveis
pela concepo de cada contribuio dada para montar a estrutura composicional,
visto que elementos da composio do gnero sero fundantes para a relao entre os
pares comunicativos. O livro didtico, considerado como um gnero do discurso
secundrio e complexo, em seu projeto editorial grfico, possvel distinguir dois
momentos: o de planejamento destinado edio, e o de realizao grfica baseado
na concretizao das atividades previstas. A diviso em unidades, a intercalao
entre atividades diferenciadas, o entremeio de gneros, de fato, ficam visveis, nesse
material impresso, tanto aspectos pedaggicos, quanto um produto comercial que
visa categorias diferenciadas de leitores ao pensar no corpo central de elaborao,
circulao e produo.
O livro didtico do ensino mdio insere-se em uma esfera educacional, por
conseguinte esfera da atividade humana, relacionada com o uso da lngua, uso este
imbrincado em situaes comunicativas dirias, independente do espao scio
histrico. E divide o espao de diversos outros gneros, que dispem os educandos,
desde a escola at o mbito familiar com seus diversos eventos de letramentos.
Ao refletir sobre a esfera educacional, o LDLP faz parte de um dos materiais
didticos mais utilizados e traz consigo uma heterogeneidade de gneros
discursivos. Bunzen (2005) cita a terminologia utilizada por Canclini ao mencionar o
processo de hibridao e deixa evidente o que se visualiza no LDLP, pois notria
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
59
a juno e modificao constante dos gneros de acordo com a agilidade diante do
processo tecnolgico constante. E como enunciado discursivo, BAKHTIN (1997,
p.279) apresenta:
A riqueza e a variedade dos gneros do discurso so infinitas, pois a
variedade virtual da atividade humana inesgotvel, e cada esfera
dessa atividade comporta um repertrio de gneros do discurso que
vai diferenciando-se e ampliando-se medida que a prpria esfera se
desenvolve e fica mais complexa. Cumpre salientar de um modo
especial a heterogeneidade dos gneros do discurso (orais e escritos),
que incluem indiferentemente: a curta rplica do dilogo cotidiano.
A adjetivao esboada pelo autor sobre os gneros discursivos (riqueza e variedade)
representa este misto de incompletudes e isso possibilita amplos olhares que so e
podem ser vislumbrados diante do processo de construo e uso social. Com essa
vertente, vale a advertncia feita por Bunzen (2005, p. 37):
Estudar o LDP como um gnero do discurso implica justamente
procurar entend-lo como um produto scio-histrico e cultural em
que atuam vrios agentes (autores, editores, revisores, leitores
crticos, professores, etc.), com certas relaes sociais entre si, na
produo e seleo de enunciados concretos com determinadas
finalidades.
A compreenso responsiva e o letramento literrio: rplicas dialgicas
Nesse decurso interativo, elos ideolgicos unem-se na trama discursiva promovendo
rplicas ativas de discursos anteriores constitudos de outros que esto por vir. A
relao que se tece na situao vivenciada no contexto extra verbal constitui em um
processo indissocivel. Em seu texto, Voloshinov/Bakhtin (1926, p. 4) explicitam esta
relao interativa e esboa a assero seguinte:
Na vida, o discurso verbal claramente no auto-suficiente. Ele nasce
de uma situao pragmtica extraverbal e mantm a conexo mais
prxima possvel com esta situao. Alm disso, tal discurso
diretamente vinculado vida em si e no pode ser divorciado dela
sem perder sua significao.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
60
Os autores mencionados (Voloshinov/Bakhtin, 1926, p. 5) estruturam uma trade de
categorias que compreendem este contexto extra verbal, alicerado na compreenso
de sentidos do enunciado e na interao entre interlocutores: 1) a espacialidade
comum dos interlocutores, a unidade do visvel, exposta s visualizaes do
entorno social; 2) a unidade do saber, compreendida das informaes obtidas sobre
a situao dos interlocutores; 3) o julgamento de valor da situao visualizada, o que
foi unanimemente avaliado. Para vislumbrar os elementos citados em uma tica
dos parceiros discursivos, os interlocutores na sua atitude respondente, participam
da situao externa lngua verbal, conhecem e compreendem esta situao e na
subjetividade de cada sujeito so possveis de expor a sua apreciao valorativa sobre
o fato visualizado.
Em Marxismo e filosofia da linguagem, Bakhtin/Volochinov (1981, p. 22) expem que a
compreenso no se revela isolada do material semitico, proporo que:
compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido de outros signos
j conhecidos; em outros termos, a compreenso uma resposta a um signo por meio
de signos.
Partindo dos elementos mencionados, a discusso esboada, sucintamente, detm
um olhar mais especfico sobre a visualizao de aspectos similares sobre a
compreenso responsiva.
Nas reflexes bakhtinianas, o receptor/ouvinte despe da sua funo singular de
apenas receber o j dito por outro e se configura na posio dialgica de ativo no
discurso e com isso promove atitudes responsivas que o faz mudar de posio no
quadro comunicativo, revertendo papis. Nessa rplica, o receptor mescla a sua
colocao (que no se constitui esttica, mas sim em constante flexibilidade
lingustica) posicionando como enunciador e se manifestando como participante
ativo.
Diante da breve exposio sobre a responsividade, em um cunho geral da linguagem,
vale especificar a necessidade desta pesquisa de direcionar esse trajeto especfico
leitura e pensar sujeitos norteadores do ato de ler, em um contexto no s
imanentista do texto literrio, mas tambm sociolgico. Com isso, tem-se desde o
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
61
autor, a sua palavra e o leitor com sua palavra. So tessituras de palavras diversas,
marcadas pela individualidade e pelo contexto e vistas para Bakhtin (1981, p.313):
a palavra existe para o locutor sob trs aspectos: como palavra neutra
da lngua e que no pertence a ningum; como palavra do outro
pertencente aos outros e que preenche o eco dos enunciados alheios;
e, finalmente, como palavra minha, pois, na medida em que uso essa
palavra numa determinada situao, com uma inteno discursiva,
ela j se impregnou de minha expressividade.
Nesse tranar de palavras no h junes arbitrrias, h dilogos e rplicas que
surgem constantemente. A troca de palavras (autor - texto - leitor) constri um novo
dizer capaz de mobilizar outras palavras que possam trilhar esse percurso. Fica claro
que nunca ser possvel uma repetio dos dizeres. So infinitas construes
enunciativas possveis e que juntas podem colher leitores em demasia.
Destarte Bakhtin/Volochinov (1981, p. 9) argumentam que o modo de expressar de
cada leitor, insere-se na conjuntura de comunicao organizando um desempenho
enunciativo, o qual se esboa em uma atuao responsiva capaz de protagonizar
todos os envolvidos nesta trama. Dessa forma:
qualquer locuo realmente dita em voz alta ou escrita para uma
comunicao inteligvel (isto , qualquer uma exceto palavras
depositadas num dicionrio) a expresso e produto da interao
social de trs participantes: o falante (autor), o interlocutor (leitor) e o
tpico (o que ou o quem) da fala (o heri).
Com isso, abordar o ensino de literatura, limitado no termo ensinar a literatura,
uma incompreensvel expresso, visto que no se configura ensinar literatura sem
antes de ler literatura. E por que no traar um vis pelo letramento literrio? Cosson
(2011, p. 23) considera o letramento literrio como prtica social inserido e de
responsabilidade da escola, alm disso, questiona como deve ser feita a
escolarizao da literatura sem descaracteriz-la, sem transform-la em um simulacro
de si mesma que mais nega do que confirma seu poder de humanizao. Uma
relao significativa se faz presente na discusso de Rangel (2007, p.128) ou seja, a de
um convvio pedaggica (SIC)e culturalmente mais interessante entre escola e
literatura, livro didtico e texto literrio. Pensar a literatura em outra vertente traz a
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
62
possibilidade de ser vista da forma como ela , arte literria. Arte como uma relao
dialgica entre aquele que cria e o contemplador da obra lida. Tendo em vista a sua
insero no meio social.
As atividades no ensino de literatura so apresentadas por Cosson (2011, p. 22) ele
demonstra como se oscilam ao prescrever informaes sobre literatura e a autoridade
veemente sobre o exerccio do gosto de ler. No objeto estudado, livro didtico, no h
espao para o que o leitor deseja ler, e sim imposies de leituras, consideradas
como artsticas por um grupo que as julgam a partir de atitudes valorativas
condizentes com seu grupo de valor. Na verdade, a leitura fica em segundo plano e o
priorizado so contextos scio-histricos de perodos ornados por excerto de poemas,
romances que sero produtos de anlises procedimentais formais, temticas e
ideolgicas, em atividades. Na concluso do captulo Intervalo, objetivos direcionam
qual ser o roteiro de estudo, informando ao aluno quais habilidades ele deve ter ao
final da leitura dos textos. Com isso vale ater ao que menciona Rangel (2007, p. 143):
os textos literrios do LDP no podero ser tratados como sendo toda
a literatura. O complexo mundo de autores e obras que uma certa
ordem cultural consagrou como literrios devera ser lembrado a todo
momento, a comear pelas obras e pelos autores dos excertos que
figuram no prprio LDP.
O entrelaar sociolgico do mtodo bakhtiniano no projeto intervalo
Na anunciao do processo de tessitura, o corpus dessa pesquisa ser analisado
recorrendo ao mtodo sociolgico proposto por Bakhtin/Volochinov (1981). Os
autores reiteram que o foco compositor da enunciao no interior, mas sim
exterior e se situa no contexto social que circunda o indivduo. Ainda traz consigo o
fulcro fundante da interao social.
De acordo com a proposta conceitual, nessa pesquisa, a lngua constitui vivaz e
evolve historicamente com nuances variadas. Para tanto, a metodologia basear-se-
no mtodo sociolgico esboado por Bakhtin/Volochinov em Marxismo e Filosofia da
Linguagem. Isso no ser criteriosamente seguido como um preceito, mas a
adequabilidade permitir d voz e autonomia ao objeto, a fim de que ele, por meio
das particularidades da pesquisa dialgica, possa falar ao indicar o percurso a ser
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
63
seguido. Em virtude disso e da anlise do objeto livro didtico, a disposio
metodolgica, para este estudo, ser configurada em uma pesquisa qualitativa e
lana mo da anlise discursiva do projeto Intervalo do livro didtico Portugus:
linguagens de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhes, da Editora
Saraiva, 7 edio reformulada, 2 ano, manual do professor, integrante do Programa
Nacional de Livro Didtico do Ensino Mdio 2012.
Perante a totalidade atividades de ensino de literatura foi priorizado o enunciado,
nas suas condies de produo para buscar o leitor/ouvinte do gnero discursivo
em suas variadas tessituras. Diante da complexa circulao do LD e da
heterogeneidade de gneros discursivos que o compe ser feita uma anlise do
Projeto Intervalo: Romantismo em revista, objeto de pesquisa deste texto.
O projeto estreado com o ttulo do projeto INTERVALO, disposto em composio
grfica irreverente com uma fonte colorida; na sequncia uma tela introdutria para
a contemplao dos educandos, pois no expem atividades direcionadas. Abaixo a
imagem:
Figura 1- Abertura do captulo Intervalo
Fonte: CEREJA e MAGALHES (2010)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
64
A proposio inicial sugere uma interao discursiva entre os alunos ao recomendar
a organizao da turma em grupo. Isso fica evidente ao visualizar que toda
enunciao ao focar na sua organizao central no interior, mas sim exterior e se
situa no meio social em que o indivduo est envolto. Diante das sugestes de
atividade do projeto supracitado, sugerida a escolha e a realizao de uma delas.
Como interlocutor do discurso, a esfera educacional mantm constante a interao e
o dialogismo. Esse processo prvio no segue prescries. Ante a flexibilidade
lingustica e os seguintes imperativos: Escolha uma delas e realizem-na, Busquem
informaes complementares em livros, enciclopdias o ouvinte compreende ou
no a significao lingustica do discurso do LD, as possveis modificaes feitas pelo
docente e assume para com esta enunciao uma rplica ativa. permissvel fazer
um paralelo com a formao polifnica dos enunciados, pois eles esto ligados tanto
aos elos que os antecedem quanto aos que os sucedem na conjuntura da comunicao
verbal. Para Goulart (2007, p.38-39): o papel dos outros, como interlocutores,
destinatrios - participantes ativos, , ento, muito importante. Aqui, destacamos o
papel dos Outros na escola - Outros/professores, Outros/autores, Outros/colegas.
So estas vozes que se encontram constantemente no dia a dia da sala de aula e que
sero convocadas a ocuparem sua colocao de enunciador discursivo ao aceitarem o
proposto no projeto, modificarem sugerindo novas possibilidades ou silenciarem
atividade e de forma autnoma substituindo-a por outra condizente com sua prtica
situada.
Figura 2 - Projeto Intervalo Romantismo em revista
Fonte: CEREJA e MAGALHES (2010)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
65
O gnero literrio (poesia e prosa) sugerido como base na seo O amor romntico
e inicia-se com um questionamento ao sujeito em dialogia solicitando que eles
respondam O que era o amor para os romnticos?. Nesta atividade, evidencia-se
uma compreenso responsiva ativa, em que ao leitor/aluno so propostos poemas
cannicos e leituras tericas para definir o amor romntico. O iniciar do projeto no
norteia a leitura a partir da vivncia do leitor. O contexto social no indicativo de
manifestao nessa proposio e so feitas indicaes de um tempo e espao do
sculo XIX. O leitor/aluno no se posiciona integralmente, e necessrio buscar o
outro (textos tericos e poticos), para a partir desses se evidenciar a manifestao do
eu. Outras sees so sugeridas e buscam um dilogo entre a literatura e outras
artes. A seo 2 direciona a pesquisa para as artes plsticas, a seguinte para a msica
romntica propondo um paralelo entre a erudita e a msica popular hodierna.
Enquanto que as atividades seguintes prosseguem com o estilo literrio. Como a
prxima que ser esboada.
Figura 3 - Seo: Sou muito romntico! - Declamando poemas
Fonte: CEREJA e MAGALHES (2010)
Nessa mesma temtica, em Sou muito romntico! Declamando poemas, a primeira
solicitao sugere a escolha de poemas estudados para serem declamados e
caracterizados com vestimentas correspondentes a cada estilo. Essa escolha do
gnero poema pode ser uma enunciao provocativa em que o leitor/ouvinte faa
questionamentos sobre autores, estilos, estrutura de poemas, uma atitude
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
66
respondente ativa ou o discente pode apenas seguir a determinao do educador.
Isso pode ser evidenciado outrora na leitura dos poemas, e montagem da mostra
panormica da poesia romntica (CEREJA e MAGALHES, 2010, p. 130). O
procedimento metodolgico induz, tambm, o leitor/aluno manifestar, por meio do
desempenho do aluno, gestos, enunciados, produzidos espontaneamente e
resultantes do seu processo interpretativo do letrar literalmente. Na prxima seo
h a presena de outra fase romntica.
Figura 4 - Seo: Stamos em pleno mar!
Fonte: CEREJA e MAGALHES (2010)
Em Stamos em pleno mar! - Declamando ou encenando O navio negreiro, aps a
leitura do poema O navio negreiro, visualiza-se seguindo particularidades
referentes trama anterior, embora acrescente a montagem de um cenrio e
transmutao do poema em pea teatral. Esse fato possibilita adaptaes a serem
feitas de acordo com o interesse do leitor/aluno. Ao mobilizar o leitor para
montagem do cenrio, isso feito a partir da responsividade inerente ao texto e ao
seu contexto de vivncias. Fica evidente o convite a leitura e a significao dada a
leitura do texto literrio.
A proposta acima traz outra roupagem para o ensino de literatura, nesse sentido
indaga-se qual o valor atribudo pluralidade cultural dos discentes na prtica de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
67
ensino de literatura proposta pelo livro didtico do ensino mdio? Estuda-se
literatura sem que se leia literatura, sem que se perceba a insero das obras literrias
no seu contexto de origem, permitindo um dilogo ente culturas diversas. Leituras,
em excesso, so feitas de fragmentos contidos no livro didtico e estes so base para
o estudo da literatura e suas configuraes estticas. J que passam suas aulas de
literatura sem experincias de leitura como menciona Cosson (2011, p. 22-23):
Raras so as oportunidades de leitura de um texto integral, e quando
isso acontece, segue-se o roteiro do ensino fundamental, com
preferncia para o resumo e os debates, sendo que estes so
comentrios assistemticos sobre o texto, chegando at a extrapolar
para discutir situaes tematicamente relacionadas.
Nessa seo final, h indicao de interlocutores, desde a voz do professor,
juntamente com os leitores, mas tambm h a proposta de participao dos leitores
do LD, ao indicar atravs de verbos no imperativo, sugestes de como a atividade
pode ser desenvolvida. Nessa proposio, a indicao de escolha de espao para
apresentao da revista e material a ser utilizado, manifesta de forma evidente. H
uma interao constante e pode ser intensificada com a voz do educador que ao
analisar a proposta e sugerir outra condizente com o a prtica situada do mbito
escolar.
Figura 5- Proposta de atividade para montar a revista
Fonte: CEREJA e MAGALHES (2010)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
68
Algumas consideraes
A leitura do texto literrio representante de interao e dilogo entre o autor, o
texto e o leitor, seguido da possibilidade de troca discursiva com a comunidade que
vivenciada. A noo de compreenso responsiva ativa necessria para qualificar o
trabalho com as prticas de leitura, pois, quando se focaliza a multimodalidade dos
gneros literrios, provoca-se produo de respostas demandadas dos percursos
interativos de ensino da lngua. Isso refora a possibilidade do desenvolvimento de
atividades didticas que focalizem a explorao dialgica dos gneros escolares.
Nesse sentido, a prioridade pelo ensino de literatura no Ensino Mdio deve repensar
a prtica docente e o uso do livro didtico ao rever de que forma a literatura est
sendo imposta a estes jovens. Mudar este panorama requer uma mudana de
atitude dos docentes, enfocando no ensino de literatura o gosto pela leitura.
Aps termos em sala de aula um grupo de leitores literrios possvel falar de
literatura com aqueles que leem literatura. O espao de leitor ser mais visvel ao
deparar com situao similar. E ao questionar o porqu da escola ser um momento
de leitura se este ato pode ser feito fora dela, difere completamente, visto que na
escola que presenciamos o mbito de diversidades de olhares, cada um com seu
modo significativo montar a colcha de retalho da leitura.
Referncias
BAKHTIN, M. Os gneros do discurso. In:_____. Esttica da criao verbal. 2.ed. So
Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 277-327.
______. Marxismo e filosofia da linguagem. Problemas fundamentais do mtodo
sociolgico na cincia da linguagem. Traduo de Michel Lahud e Yara Frateschi
Vieira. 2ed. So Paulo: Hucitec, 1981.
BUNZEN, Clecio. Livro didtico de Lngua Portuguesa: um gnero do
Discurso. 2005. 168p. Dissertao (Mestrado em Lingustica Aplicada) -
Departamento de Lingusticas Aplicada, no Instituto de Estudos da Linguagem,
Universidade Estadual de Campinas. Campinas. So Paulo. 2005.
CEREJA, William Roberto & MAGALHES, Thereza Cochar. Portugus linguagens:
vol. 2. 7. ed. So Paulo: Saraiva, 2010.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
69
COSSON, Rildo. Letramento literrio: teoria e prtica. 2. ed.1 reimpresso. So
Paulo: Contexto, 2011.
FERREIRA, Valmria Brito Almeida Vilela. Dialogismo e cronotopia no livro
didtico de portugus: a construo de um gnero do discurso. 2013. p. 124.
Dissertao (Mestrado em Letras: Cultura, Educao e Linguagens) -Departamento
de Estudos Lingusticos e Literrios, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,
Vitria da Conquista, BA. 2013.
GOULART, Ceclia M. A. Questes de estilo no contexto do processo de letramento:
crianas de 3 srie elaboram sinopses de livros literrios. In. PAIVA, Aparecida et all
(orgs.) Literatura e letramento: espaos, suportes e interfaces - O jogo do livro. 2.
reimp. Belo horizonte: Autntica/ CEALE/UFMG, 2007.p. 35-49
RANGEL, Egon. Letramento literrio e livro didtico de lngua portuguesa: os
amores difceis. In.: PAIVA, Aparecida et all (orgs). Literatura e letramento: espao,
suportes e interfaces - O jogo do livro. 2. reimp Belo Horizonte:
Autntica/CEALE/UFMG, 2007. p.127-145
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
70
O LDICO, A LEITURA E O ENSINO HOJE
Zlia Malheiro Marques
Professora da Universidade do Estado da Bahia UNEB, Campus VI, Caetit.
zeliacte@yahoo.com.br
Ginaldo Cardoso de Arajo
Professor da Universidade do Estado da Bahia UNEB, Campus VI, Caetit.
garaujo@uneb.br
Resumo: Este texto resultado das aes do Programa de Iniciao Docncia
PIBID/CAPES da rea de Lngua Portuguesa, Campus VI, em desenvolvimento no Instituto
de Educao Ansio Teixeira IEAT, em Caetit Bahia. Tambm se vincula s discusses da
Linha de Pesquisa Leitura e Formao Docente do Grupo de Pesquisa Leitura, Cultura e
Formao Docente GPLEC. Das aes vivenciadas, tanto em sala de aula, quanto em outros
espaos dessa escola pblica, importante refletir sobre o tema deste trabalho O ldico, a
leitura e o ensino hoje, cujo objetivo discutir as relaes entre ensino, leitura e ludicidade,
apresentando prticas de leitura exitosas desenvolvidas pelos bolsistas de Iniciao
Docncia nos espaos do IEAT, numa perspectiva de constituio leitora. Como exemplo
dessa articulao entre a leitura e as atividades ldicas, apresentamos o carrinho da
leitura, proposta que transformou o carro da merenda escolar em um carrinho contendo
livros, histrias em quadrinhos, gibis, revistas, dentre outros e visitava as salas de aula dos
anos finais do Ensino Fundamental do IEAT promovendo dramatizao de textos literrios,
atividades ldicas e mediao da leitura. Os estudos de tericos como Nvoa (1992), Moraes
(2000), Chartier (2001), Paulino (2001), Abreu (2007), Freire (2009) e Yunes (2009, 2012),
dentre outros, servem de sustentculo para pensarmos as aes que esto em
desenvolvimento nessa escola pblica, pioneira na regio. As atividades desenvolvidas pelos
bolsistas, sob a orientao dos coordenadores do PIBID, demonstram que possvel ampliar
a formao leitora de nossos alunos, medida que diversificamos as formas como
apresentamos e trabalhamos com os textos na escola. Numa sociedade em constantes
transformaes, garantir a formao de sujeitos leitores letrados condio fundamental
para o exerccio pleno da cidadania. Assim sendo, a escola deve se organizar como um
espao de mediao da leitura e do letramento. Nossa contribuio com este texto suscitar
reflexes que possam desencadear prticas pedaggicas favorveis ao exerccio do ato de ler
nos diversos segmentos da Educao Bsica e nas diversas reas do conhecimento, que
concebam a leitura como uma atividade significativa, prazerosa e necessria para a
apropriao e construo de novos conhecimentos.
Palavras - chave: Leitura; Ldico; Prticas Culturais de Leitura.
APRESENTAO
[...] o recurso da pesquisa indispensvel como recolha de dados
para iniciar o trabalho, mas a experincia no deve se esgotar nesses
dados. Sobretudo se estivermos em sala de ensino mdio, onde as
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
72
experincias so mais diversificadas e j se deve discutir inclusive,
questes de linguagem deste e/ou daquele autor [...] (PINHEIRO,
2007, p. 367).
Pensar temas importantes, como o ldico, a leitura e o ensino, na atualidade,
perpassa pela importante combinao entre ensino e pesquisa. Com pesquisa
associada a outras experincias, o professor poder buscar conhecer o aluno e
trabalhar temticas mais prazerosas relacionadas s atividades mais procuradas e
vivenciadas no cotidiano do educando, como acena a epgrafe escolhida.
Pretende-se, neste texto, discutir a relao entre o ldico, a leitura e o ensino,
apresentando prticas de leitura, associadas ludicidade, desenvolvidas pelos
bolsistas de Iniciao Docncia do curso de Licenciatura em Letras, UNEB, Campus
de Caetit, vinculados ao Programa de Iniciao Docncia PIBID/CAPES, em
execuo com alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Mdio no
Instituto de Educao Ansio Teixeira IEAT.
A ideia pensar os leitores e o seu campo diversificado. Isso no quer dizer que seja
uma ao simples. Ao contrrio, difcil inferir anlise e interpretaes nessas
circunstncias. Pensamos, no entanto, que o campo no para essas consideraes,
talvez seja mais relevante favorecer produo de experincias em que todos os atores
sejam atrados a pensar a vida, sendo possvel favorecer aes atrativas para as
experincias formativas, a exemplo do ensino hoje, cujas aes podem ser pensadas
pelo vis do ldico, uma leitura que convida a atrair leitores pelas aes necessrias
no processo de ensino e da aprendizagem.
Uma leitura que transforma a sala de aula ou os outros espaos eleitos para o saber,
como lugar que lembra um teatro, um cinema ou uma praa de diverso em que o
divertir tambm uma ao educativa e no destrutiva. Por essa condio, ao
favorecer as aes do PIBID com alunos do Instituto de Educao Ansio Teixeira
IEAT, fomos entrelaando teoria e prtica e propiciando prticas culturais em que o
ldico, a leitura e o ensino se articularam para a expresso de leituras e de leitores,
sendo experincias de leitura individual e coletiva, socializadas nas diversas prticas
leitoras em que se fez possvel intensificar o dilogo com tericos, como Nvoa
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
73
(1992), Chartier (2001), Paulino, (2001), Abreu (2007), Moraes (2000), Yunes (2009,
2012), na perspectiva de poder favorecer a construo de atividades formativas, a
exemplo do projeto IEAT: 50 anos de educao, uma continuidade da escola normal
de Caetit e do Projeto Carrinho da Leitura, ambos com o envolvimento dos
bolsistas do PIBID.
O trabalho com o ldico e a leitura com alunos do IEAT, em Caetit/BA
So muitos os estudos e as pesquisas que abordam o conceito e a importncia da
leitura. Entretanto, a compreenso clara por parte de todos os atores do cenrio
educacional de seu significado no processo de ensinar e aprender ainda algo que
precisa ser discutido e apropriado com mais segurana. Para Martins (2007), o ato de
ler nasce desde os nossos primeiros contatos com o mundo, com a necessidade da
comunicao. Assim, a leitura uma prtica social e no podemos considerar a sua
aprendizagem somente a partir do momento em que o educando adentra o espao
escolar. Por isso, consideramos aqui a leitura como dilogo, interao entre sujeito e
mundo materializado nas suas mais diferentes formas de textos. Freire (2009) traduz
essa ideia quando afirma que
a leitura da palavra sempre precedida da leitura do mundo. E
aprender a ler, a escrever, a alfabetizar-se , antes de mais nada,
aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto no numa
manipulao mecnica de palavras, mas numa relao dinmica que
vincula linguagem e realidade. (FREIRE, 2009, p.8)
Ampliando essa idia sobre a importncia da leitura, Yunes destaca:
Ler , pois, um ato de primeira instncia no esboo da conscincia de
si mesmo e do outro e sua inscrio no mundo se d como uma
escrita de vida. Do ato de ler decorre o ato de se escrever, de escrever
a prpria histria e dos outros, de marcar a prpria existncia social
com traos que podem, no entanto, guardar-se sob a forma das
oralidades, tanto quanto ganhar volumes, cores e sinais. [...]. A leitura
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
74
no mero exerccio sobre a escrita dos outros, mas formulao lenta
da prpria escrita em resposta, em dilogo, seja como relatos, seja
como aes. Ler inscrever-se no mundo como signo, entrar na
cadeia significante, elaborar continuamente interpretaes que do
sentido ao mundo, registr-las com palavras, gestos, traos. Ler
significar e, ao mesmo tempo, tornar-se significante. A leitura uma
escrita de si mesmo, na relao interativa que d sentido ao mundo.
(YUNES, 2009, p.35)
A leitura, nessa perspectiva, s desperta interesse quando interage com o leitor,
quando faz sentido e traz conceitos que se articulam com as informaes que j se
tem. Essa idia nos levou a pensar em como promover, na escola, situaes que, de
fato, favoream a aprendizagem e o gosto pela leitura, bem como pelos contedos
que se trabalham nas disciplinas do currculo. Os estudos na linha de pesquisa do
Grupo de Pesquisa Leitura, Cultura e Formao Docente GPLEC contriburam para
pensarmos nessas alternativas. Assim, surgiu o projeto PIBID A leitura na sala de
aula sertaneja com a preocupao de trabalhar prticas de leitura que levassem em
considerao os aspectos culturais e ldicos. So os resultados das prticas de leitura
desenvolvidas nesse projeto que constituem o fio condutor da escrita deste texto.
Com a vinculao entre leitura e ludicidade, o trabalho parece ser mais aceito entre
os alunos e o professor pesquisador, como ganho, tem a sensao de quem descobre
alternativas em meio complexidade do mundo contemporneo, podendo propiciar
a novidade como causadora de entusiasmo e de prazer. Ressalta-se, pois, a ideia de
avanar por caminhos no conhecidos, na expectativa de que o desconhecido venha
favorecer planos de trabalho inditos, necessrios e indispensveis, tanto em
ambientes escolares, quanto em outros espaos em que se faz possvel a mediao do
saber. As prticas de leitura das mais diversas formas passam a ser instrumentos de
leitura, impressas ou no:
[...] A necessidade de compreenso do impacto da inveno e da
difuso da escrita e, posteriormente, da imprensa e dos suportes
eletrnicos converteu a escrita, o impresso, esses novos meios
eletrnicos e as prticas de leitura em instrumentos para a
explorao, por historiadores, antroplogos e psiclogos, dos
processos sociais, culturais, polticos, econmicos e cognitivos
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
75
associados ao surgimento e ao uso dessas tecnologias de comunicao
e conservao do conhecimento [...] (BATISTA & GALVO, 2005. p.
12).
Como um instrumento relevante, a leitura entendida para apoiar na compreenso
dos diferentes grupos sociais, como so representados, quais suas experincias
leitoras. Para isso, faz-se necessrio um mediador para essas leituras. Dentre os
muitos mediadores, o professor, ao ser bom leitor, poder demonstrar o quanto
significativo ler pela partilha de situaes vivas e emocionantes, mobilizadoras da
vida, pelas experincias diversas, sendo docentes, discentes ou no, todas que
estiverem na proposio da ao de ler.
Com essa ideia, podemos pensar a palavra atrao para associ-la ao ldico,
leitura e ao ensino hoje pelas prticas culturais de leitura em que a ao de ler
perpassa pela ludicidade e pelo dinamismo do mundo em combinao com os
muitos textos, verbais ou no. Alis, no mundo atual, tem sido uma forte marca das
relaes cotidianas, a utilizao dos diversos tipos de textos, como se o leitor, para se
sentir assim, venha exigir esse entrelaamento textual.
Mundos pessoais e sociais, a todo instante, se integram ou desintegram numa
tentativa de oferecer compreenso da vida para um pblico diversificado e exigente:
[...] aposto numa Educao que se esvazie da substncia humanista que a satura e
na busca de alternativas sobrevivncia em um estado ps-humano: sonmbulo,
inconsciente, sem ao, inabitado (AMORIM, 2010, p. 55).
Com o projeto IEAT: 50 anos de educao, as narrativas educacionais de tempos
anteriores se entrelaaram com as atuais para as necessrias discusses sobre o
ensino, especificamente, sobre o trabalho pedaggico do momento atual.
Experincias e subjetividades vivenciadas foram expressas pelos diversos espaos de
mediao do saber. Para isso, o planejamento realizado previu aes de divulgao e
de execuo pela integrao das prticas de leitura terico-metodolgicas em
intercmbio com a histria da educao de Caetit, sua contextualizao, alguns
docentes e discentes, suas caractersticas da poca em confronto com as atuais.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
76
No momento da culminncia do projeto, em meio Feira de Educao, evento anual
que acontece na escola com tema em discusso durante o desenvolvimento das aes
cotidianas das diversas reas, foi pensada tambm a gincana em meio aos jogos
abertos envolvendo direo, professores, alunos, funcionrios e o pblico geral
relacionado ao IEAT.
Dentre as muitas aes, elegemos as atividades pensadas para a gincana da leitura
em meio aos jogos abertos. Por elas, os leitores foram criando novas aes, a exemplo
da confeco de jornais sobre as aes em espaos escolares e virtuais pelas redes
sociais. As equipes foram distribudas, algumas tarefas reveladas, outras divulgadas
no momento da gincana. Desse lugar, entrelaamos algumas experincias que
evidenciaram a possibilidade de integrao entre o ldico, a leitura e o ensino,
revelando o quanto se faz importante pensar essas temticas de forma imbricada.
Desde o momento da apresentao das equipes, observamos a criatividade na
escolha do nome, o texto justificativo, a camiseta e o grito de guerra demonstram a
sintonia com a histria docente do lugar. Como havia, nas tarefas, a solicitao de
que houvesse divulgao dos trabalhos nas redes sociais, as aes ganharam um
espao bem mais amplo e participativo, fazendo com que mais leitores se inteirassem
da proposta.
Na apresentao das coreografias, as equipes realaram questes significativas,
reveladoras de outros tempos, trazendo oportunidades das leituras de poca pela
msica, pela dana, pelas roupas e por todo o cenrio em que o pblico presente
passou a interagir, medida que a apresentao foi acontecendo, porque favoreceu
lembranas reveladoras de outros espaos do saber. A caricatura de Ansio Teixeira,
o educador, deixou em destaque sua filosofia de trabalho, realando a arte como uma
habilidade dos alunos criadores desses painis.
A campanha Natal com Leituras, coleta de instrumentos de leitura, para
idealizao de novas prticas leitoras em lugares sem essa mediao do saber,
contribuiu para a integrao com a comunidade. Nessas leituras, evidenciou-se a
ideia do quanto devemos e podemos contribuir para que a leitura ganhe fora em
outros lugares, alm dos muros escolares.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
77
Para a realizao dessas aes ldicas, muitos espaos foram utilizados, tantos os
ambientes formais, quanto os no formais e assim em salas de aula, ginsios
esportivos, praas pblicas, auditrios, dentre outros, conforme leitura a ser
realizada, os alunos, os professores, a direo, os funcionrios e o pblico em geral
formam os leitores que aceitam discutir uma temtica pela criao de prticas
culturais de leitura, fazendo um intercmbio de uma diversificada tipologia textual.
Para finalizar, o grupo leitor confraterniza as aes em meio a comidas que so
partilhadas num clima festivo e comemorativo.
Neste momento, at mesmo a equipe no vencedora no se sente em situao de
perda. Os diversos depoimentos trazem o prazer de vivncia no grupo e o esforo
pela busca de aes mais interativas e participativas parece ser evidenciado como o
mais importante trofu e no necessariamente a pontuao da equipe vencedora. A
vitria est associada ao esforo de criar aes e de ocupao desse palco da vida.
Outra experincia bastante significativa, desenvolvida pelos bolsistas do PIBIB, com
os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, e que deixa evidente como o
ldico pode motivar a formao de leitores, foi o projeto A leitura em movimento.
A proposta consistiu em levar o carrinho da leitura contendo livros, histrias em
quadrinhos, gibis, revistas, dentre outros para a mediao da leitura em sala de aula,
combinando dramatizao, dilogos sobre as leituras realizadas e culminava com o
oferecimento e livros aos alunos para que eles levassem para realizar a leitura em
casa. Nas aulas seguintes, os alunos retornavam com os livros, e tinham a
oportunidade de contar para os colegas as experincias adquiridas com a leitura
feita. Como o carrinho, antes era da merenda escolar, nessa adaptao, os bolsistas
que fizeram a mediao da leitura com os alunos, vestiam-se de copeiros e se
juntavam aos que se caracterizavam de personagens literrias, conforme texto
escolhido para ser dramatizado antes de explorao dos textos/livros pelos alunos.
Assim, entre formao docente e leitura, possvel pensar uma prtica pedaggica
pela acolhida aos diversos textos, ressaltando a importncia da ludicidade to aceita
entre leitores contemporneos. Acreditamos que o ldico, nesse processo, funciona
como motivador para a interao dos alunos com os textos. Importante tambm
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
78
destacar que atividades como essas contribuem de forma positiva para a constituio
de leitores vidos por ler o mundo e os textos que nele circulam.
Nesta perspectiva, as aes do PIBID esto se multiplicando nos espaos da escola,
disseminando a ideia de que possvel trabalhar o gosto pela leitura e formar leitores
conscientes de que o texto mais importante a ser lido o mundo em que vivemos.
Para tanto, a escola deve se colocar, de forma ativa, como mediadora desse processo.
Consideraes finais
Consideramos a iniciativa como propiciadora do necessrio intercmbio entre o
ldico e a leitura to indispensveis prtica pedaggica de hoje, cujos resultados
podem revelar leitores produtores de novas prticas de leitura. Por se sentirem
assim, colocam-se abertos para acolher novos textos como os que chegam pela
literatura ou pela exigncia curricular de cada srie correspondente ao ensino
fundamental ou mdio. Assim sendo, muitas novas aes so pensadas, ressaltando
a importncia do trabalho associando ludicidade to aceita entre leitores
contemporneos. Podemos dizer que esta ideia favoreceu aos leitores o desejo de
construo de aes para a ressignificao do IEAT, escola com histria de formao
docente desde longas datas. Desse entrelaamento, o espao museolgico comeou a
ganhar fora para ser edificado, favorecendo a necessria discusso da formao
docente do lugar.
Para os bolsistas, as experincias vivenciadas no PIBID esto se tornando verdadeiras
aulas de formao de professores mediadores da leitura. Para a escola, a
oportunidade de reflexo sobre suas prticas de leitura e letramento nas diversas
reas do conhecimento e seu papel na formao de leitores. Esperamos, assim,
contribuir com a ressignificao do conceito de leitura e sua importncia no processo
de construo de saberes no cenrio educacional e na vida social, permitindo aos
educandos a aplicao desses conhecimentos no enfrentamento dos desafios do
mundo contemporneo, que a cada dia se torna mais complexo e exigente. O
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
79
desenvolvimento da competncia leitora torna-se, portanto, uma aprendizagem
necessria e indispensvel para o pleno exerccio da cidadania.
Referncias
ABREU, M.. (Org.). Percursos da leitura. In: ABREU, M. Leitura, histria e histria
da leitura. Campinas, SP: Mercado de Letras: Associao de Leitura do Brasil; So
Paulo: Fapesp, 2007 , pp. 9-15.
AMORIM, A. C. Experincia do cinema brasileiro na/pela identificao popular. In.
BARBOSA, R. L. L. e PINAZZA, M. A. (Orgs). Modos de narrar a vida: cinema,
fotografia, literatura e educao. So Paulo: Cultura Acadmica, 2010.
BATISTA, A.A. G. e GALVO, A. M. de O. Prticas de leitura, impressos,
letramentos: uma introduo. In: GALVO, A. M. de O. e BATISTA, A.A. G. (Orgs.)
Leitura: prticas, impressos, letramentos. 2 ed. Belo Horizonte: Autntica, 2005.
CHARTIER, R. (org). Do livro leitura. In: _________. Prticas da leitura. So Paulo:
Estao Liberdade, 2001, pp. 35-73.
FREIRE, Paulo. A importncia do ato de ler: em trs artigos que se complementam.
27 ed. Cortez. So Paulo. 1992
MARTINS, Maria Helena. O que leitura? So Paulo: Brasiliense, 2007.
MORAES, A. A. de A. Histrias de leitura em narrativas de professoras: uma
alternativa de formao. Manaus: EDUAM, 2000, 238p.
NVOA, A. Vida de Professores. Porto: Porto Ed., 1992, 215p.
PAULINO, G. et al. Tipos de textos, modos de leitura. Belo Horizonte: Formato
Editorial, 2001, 163p.
PINHEIRO, H. Poesia na sala de aula. Campina Grande: Bagagem, 2007.
YUNES, Eliana. Tecendo um leitor: uma rede de fios cruzados. 1 ed.. Curitiba:
Aymar, 2009.
YUNES, E. Leituras partilhadas, leitores multiplicados. In.: PINA, P. K. da C. e
RAMOS, R.T. (Orgs.) Leitura e transdisciplinaridade: linguagens em mltiplos
olhares. Salvador: EDUNEB, 2012.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
80
PRTICAS DE LEITURA NO I CICLO DO ENSINO
FUNDAMENTAL:
Desafios e contribuies do PIBID
O PIBID na formao de leitores
Fabrcio Oliveira da Silva
Professor Auxiliar, Nvel B da UNEB DCHT Campus XVI Irec
faolis@uol.com.br
Resumo: O trabalho discute os impactos das prticas de leitura em crianas do ensino
fundamental I, a partir das experincias desenvolvidas no PIBID. Faz uma anlise das
questes referentes ao PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciao Docncia,
desenvolvido no mbito da UNEB no Departamento de Cincias Humanas e Tecnologias
DCHT Campus XVI. Prope-se uma discusso sobre o objetivo caracterizador do PIBID,
enquanto programa de iniciao docncia que visa incentivar o desenvolvimento de
prticas de leitura na escola bsica. Evidenciam-se as propostas pedaggicas constantes do
subprojeto intitulado: Acompanhamento pedaggico das crianas das sries inicias do
Ensino Fundamental de Irec -Bahia: intervenes e aprendizagens da leitura escrita. As
abordagens metodolgicas centram-se nos relatos de experincias de bolsistas de iniciao
docncia e de supervisores. Analisa-se a importncia desse projeto na formao dos futuros
licenciados em pedagogia do referido Departamento e aborda-se a sua contribuio para o
entendimento de como se d o processo de alfabetizao a partir das experincias de leitura
vivenciadas no mbito do PIBID. Como referencial terico aponta-se a discusso com base
nos estudos realizados por Emlia Ferreiro (2000), Ana Teberosky (1985) e Josette Joliberte
(1994) que abordam saberes e aspectos essenciais sobre a aprendizagem da leitura/escrita
elucidando a configurao de processos alfabetizadores. Discute-se, ainda as concepes de
Paulo Freire (1996), quanto formao docente, contribuindo para o entendimento da
importncia do PIBID na formao de leitores. O trabalho discute algumas atividades de
leitura na escola, as quais foram resultados da pesquisa-ao produzida por bolsistas PIBID a
partir das experincias pedaggicas de fomento a leitura dos diversos gneros textuais
presentes na sala das sries iniciais. Analisa-se o PIBID como programa que favorece o
desenvolvimento de estratgias metodolgicas de fomento leitura, que promove a
potencializao da aprendizagem dos alunos da escola bsica pela dinamizao das
propostas pedaggicas que facultam a prtica de leitura em sala de aula. Ressalta-se a
relevncia do programa como forma de aproximar os futuros professores s prticas
docentes inovadoras e eficazes, desenvolvidas a partir das realidades da escola, que
realmente promovem aprendizagens no dia a dia de sala de aula, considerando o ato de ler
como um ato criador e de liberdade da imaginao da criana. O artigo finaliza apresentando
sugestes para a promoo de prticas de leitura que se considerem significativas para o
desenvolvimento do gosto pelo ato de ler.
Palavras-chave: Leitura; PIBID; Escola; Ensino Fundamental
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
82
Introduo
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciao a Docncia - PIBID um programa
financiado pela CAPES (Coordenadoria de Aperfeioamento Pessoal de Nvel
Superior) que busca inserir os estudantes de licenciaturas durante o perodo de
formao nas escolas bsicas, com o intuito de promover uma melhora na formao
acadmica, valorizao profissional, articulao entre teoria e prtica, parceria da
universidade com as escolas bsicas. Proporciona aos bolsistas de ID (iniciao
docncia) um incentivo na condio financeira, visando a continuidade dos estudos,
e possibilitando um contato maior com a realidade escolar, sua dinmica estrutura e
vivncias do cotidiano escolar, antes mesmo da concluso da graduao.
De acordo com dados da CAPES, a inteno do programa tambm unir as
secretarias estaduais e municipais de educao e as universidades pblicas, a favor
da melhoria do ensino nas escolas pblicas em que o ndice de Desenvolvimento da
Educao Bsica (IDEB) esteja abaixo da mdia nacional de 4,4.
O programa desenvolvido em vrias instituies de ensino superior em todo o
Brasil, com diversos projetos e subprojetos, envolvendo vrios coordenadores de
rea, professores supervisores, e a uma grande quantidade de bolsistas graduandos
nas mais diversas licenciaturas.
Atualmente, participam do Pibid 195 Instituies de Educao
Superior de todo o pas que desenvolvem 288 projetos de iniciao
docncia em aproximadamente 4 mil escolas pblicas de educao
bsica. Com o edital de 2012, o nmero de bolsas concedidas atingiu
49.321, o que representa um crescimento de mais de 80% em relao a
2011. (CAPES, 2013)
Tem crescido significativamente, inclusive no mbito da UNEB, o nmero de pojetos
e subprojetos, e consequentemente o nmero de beneficiados, pois cada subprojeto
deve ser composto por Coordenador de rea, Pofessores Supervisores, e Bolsistas ID.
Para desenvolvimento do programa em sua universidade o Coordenador de rea
deve construir um subprojeto, que ser sujeito a aprovao pela CAPES. Aps a
aprovao acontece o processo seletivo das escolas bsicas que sero atendidas, e dos
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
83
Professores Supervisores de cada instituio. Depois da escolha das escolas e dos
Professores Supervisores acontece a seleo dos Bolsistas ID.
De acordo com as diretrizes propostas pela CAPES, o coordenador de rea deve
possuir experincia em projetos de ensino, ter disponibilidade de vinte horas
semanais para o projeto, no possuir bolsa de estudo, e apresentar um subprojeto
que esteja dentro dos critrios exigidos.
Os professores supervisores devem lecionar em escolas pblicas da rede municipal
ou estadual, estar trabalhando por no mnimo dois anos na escola onde ser
desenvolvido o projeto, ter experincia na rea do tema do subprojeto e se
comprometer em auxiliar os bolsistas nas atividades referentes ao projeto.
J os alunos que pretendem participar do programa devem estar regularmente
matriculados em um curso de licenciatura presencial, possuir frequencia mnima de
75% nas aulas, mdia minma de sete nas disciplinas cursadas nos semestres
anteriores, no possuir renda mensal, tampouco vnculo empregatcio. Os bolsistas
selecionados devem dispor de oito horas semanais, ou trinta horas mensais para
dedicao exclusiva ao projeto, porm este no deve promover prejuizos s
atividades acadmicas. Para participar os mesmos devem elaborar uma carta de
inteo mostrando o porqu do interesse em participar do programa, e
posteriormente passar por uma entrevista com o Coordenador de rea. So
selecionados aqueles que atederem aos critrios, e se enquadrarem no perfil do
subprojeto.
Alm de todos esse deveres, e regras que os Bolsistas, Supervisores e Coordenadores
devem cuprir, segundo oedital do PIBID/UNEB 2012 os mesmos tambm devem
estar em dias com a obrigaes eleitorais, ser brasileiro ou possuir visto de
permanencia no pas. necessrio entregar frequncia mensalmente, bem como
apresentar quadrimestralmente relatrio das atividades desenvolvidas pelo
subprojeto.
O subprojeto PIBID da UNEB no campus XVI Irec - Bahia desenvolvido em trs
escolas pblicas municipais e composto por vinte e quatro Bolsistas de ID (iniciao
a docncia), trs Professores Supervisores (da rede municipal) e um Coordenador de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
84
rea, os quais recebem mensalmente 400,00R$, 750,00R$ e 1.400,00R$
respectivamente como auxlio na formao acadmica.
A proposta do subprojetode Irec-Ba est voltada para questes relacionadas
leitura e escrita. Inicialmente o objetivo do projeto foi o de desenvolver base terica
nos bolsistas, com relao s questes de leitura e escrita. Num segundo momento, os
Bolsistas ID passaram a referenciar suas leituras e discusses as partir de observao
detalhada do cotidiano escolar, das dinmicas das aulas, de estratgias pedaggicas
utilizadas pelo professor entre outros. Somente aps certo perodo de
desenvolvimento do programa, con solidada oela formao ofertada pelo
coordenador de rea, os bolsistas puderam participar do planejamento do professor
dando sugestes e fazendo pequenas participaes nas aulas, e atuaes junto ao
professor regente.
Segundo o que consta como proposta de atuao dos agentes a partir das diretrizes
do subprojeto, os Bolsistas ID do subprojeto do PIBID em Irec-Ba cumprem uma
carga horria de 30 horas mensais, sendo quatro horas semanais na escola, fazendo
observaes, e pequenas atuaes nas aulas junto ao professor regente. Duas
reunies mensais com o professor regente tendo duas horas de durao, momento
em que se discutem as observaes produzidas, evidenciando o que tem sido feito e
o que pode ser melhorado. Tambm durante esse perodo que os bolsistas do
sugestes de atividades para as aulas, participam do planejamento do professor, e
fazem uma reflexo sobre as aulas. H ainda duas reunies com o coordenador de
rea do projeto tambm com durao de duas horas a cada quinze dias. Esses
encontros servem para realizar formao, dar os informes gerais sobre entrega de
frequncia, orientaes para escrita de trabalhos, eventos sobre o PIBID, indicaes
de leituras, e principalmente ouvir o relato dos Bolsistas e dos Supervisores sobre o
que tem sido desenvolvido dentro da escola, quais as dificuldades, e quais as
aprendizagens construdas.
atraves dessas observaes do contidiano escolar, das estratgias pedaggicas
utilizadas pelo professor regente, das pequenas participaes nas aulas, nos
planejamentos, e tambm a partir da juno teoria e prtica que os Bolsistas ID do
subprojeto Irec Ba esto se constituindo pedagogos, professores reflexivos, e bem
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
85
capacitados para enfrentarem a realidade que se apresenta como desafiadora a todo
aquele que se licencia porofessor na regio de Irec.
As contribuies do PIBID para a formao do docente alfabetizador.
Ao ser inserido em algumas escolas de Irec o PIBID tinha como principal foco
contribuir para aprendizagem da leitura e escrita e proporcionar aos licenciandos de
pedagogia uma aproximao com o contexto escolar. Ao longo do projeto os bolsistas
passaram a interagir com as atividades e consolidar o processo de formao docente
uma vez que sentiram a necessecidade de estar inseridos no contexto escolar e agir
sobre essa realidade, contribuindo para aprendizagem da leitura e escrita ao mesmo
tempo em que buscavam a compreenso do processo de alfabetizao. Diante de tal
afirmativa nos remete Freire (1996), que ao discutir o conceito de docncia e discncia
diz que No existe docncia sem discncia, quem ensina aprende ao ensinar e quem
aprende ensina ao aprender(FREIRE, 1996, p.12)
diante dessa perspectiva que o PIBID est inserido nas escolas de Irec propiciando
ao licenciando de pedagogia saberes necessrios para a formao docente ao mesmo
tempo em que contribui para a aquisio da leitura e escrita das crianas do ensino
fundamental.
Embora o PIBID no propricie aos estudantes de pedagogia total regncia da sala de
aula, tem sido destinado pelos supoervisores um tempo em que so desenvolvidas
atividades propostas pelos bolsistas. Tal ao tem revelado uma condio de se
perceber como a criana desenvolve seu processo de leitura e escrrita, que apesar de
heterogneo, se conslida por prticas docentes uniformizadoras. Isso tem sugerido ao
grupo poder orientar as crianas e consequentemente pensar em alternativas para
ampliar a prtica docente, percebendo qual a melhor estratgia para trabalhar na sala
de aula. Assim ampliam-se saberes essenciais a formao docente. Como aborda
Freire (1996) na prtica que se confirmam, modificam e ampliam saberes.
O PIBID proporciona ao licenciando total autonomia para pensar em estratgias para
tornar as aulas mais produtivas, instigar a curiosidade das crianas e assim
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
86
contribuir para aprendizagem. Segundo Freire (1996) o licenciando em pedagogia
deve ter concincia diante do processo de ensino e aprendizagem desde o incio da
sua formao, compreendendo que ensinar no tranferir conhecimento, mas
fornecer os caminhos necessrios para a prpria criana buscar suas respostas, pois
ensinar vai alm de depositar um contedo vazio provocar inquietaes,
curiosidade, desejo de aprender. nessa perspectiva que os bolsistas de iniciao a
docncia vem construndo sua identidade docente.
Por ter como foco a aprendizagem da leitura e escrita, o PIBID proporciona ao
licenciando de pedagogia articular o processo de alfabetizao a outras disciplinas,
pensando em estratgias que propiciem a aquisio dos cdigos escritos de forma
prazerosa. Durante essas atividades o bolsista vai percebendo as dificuldades das
crianas como trocar letras, formulao de silabas e associar o som a escrita. Disso
constri saberes prticos para poder sanar as dificuldades dos alunos da Educao
Bsica, partindo de princpios prticos e reais do processo de ensino e aprendizagem.
O desenvolvimento da leitura e escrita, como o de qualquer outro conhecimento, no
acontece de forma isolada e muito menos mecnica, para a qual basta o professor
treinar o aluno. O conhecimento parte das experincias da criana, da sua relao
com mundo e com o outro. Como aborda Franchi (1988)
O professor no pode deixar de considerar a necessidade de
atividades que exijam dos alunos a concentrao de esforos
individuais. Mas o trabalho cooperativo, quando se integra aos
hbitos sociais das crianas, no se confunde com uma exibio de
liderana: transforma-se em um exerccio de partilha que abre espao,
em crculos menores e mais discretos, a uma participao de todos
mesmo que com diferentes papis. (FRANCHI 1988, p.128)
So os sentidos da vida no sujeito que se constroem na relao com o outro. Ao
mediar este processo, cabe ao professor fornecer os estmulos necessrios, instigando
e provocando a criana para que a aprendizagem surja de forma prazerosa.
O PIBID levou os bolsistas perceberem as maiores dificuldades das crianas durante
a aquisio da leitura e escrita. Favoreceu a possibilidade de se articular conceitos
estudados a partir do que estava posto no subprojeto sobre a prtica docente.
Compreendeu-se, contudo, que o processo de alfabetizao se d de maneira distinta
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
87
para cada sujeito. Disso vislumbraram-se aplicaes de atividades com um carter
ldico que tornasse este processo mais prazeroso e significativo, alm de possibilitar
uma pequena reflexo diante de sua formao docente.
Contribuies do PIBID no processo inicial de alfabetizao
O desenvolvimento de leitura e escrita uma das contribuies que o PIBID tem
promovido para os alunos da Educao Bsica que so contemplados com as aes
do subprojeto. O processo de alfabetizao o incio dos estabelecimentos formais do
desenvolvimento de leitura e de escrita. Nesse sentido, a escola Municipal So Pedro,
escolhida como campo de observao e reflexo para insero dos bolsistas, tem
duplamente ofertado oportunidades de criao e participao em experincias
metodolgicas, tecnolgicas e prticas docentes, que culminam na potencializao e
dinamizao dos primeiros procedimentos de leitura e escrita, materializados nas
aes da alfabetizao.
Previamente, vale ressaltar que os bolsistas so alunos de licenciatura e certamente
esto se inserindo num universo de discusso trorico-metodolgica do processo de
alfabetizao. Dessa maneira, o bolsista ID est em desenvolvimento de
conhecimentos prvios que lhe permite promover uma possvel articulao entre
teoria e prtica de esnino, com vistas a analisar e fundamentar as trajetrias adotas
pela escola para poder alfabetizar os alunos. Ferreiro e Teberosky (1985) nos mostra
os processos e as formas mediante as quais a criana chega a aprender a ler e a
escrever:
(...) Pretenderemos demonstrar que a aprendizagem da leitura e da
escrita, entendida como o questionamento a respeito da natureza,
funo e valor desse objeto cultural que a escrita, inicia-se muito
antes do que a escola o imagina, transcorrendo por insuspeitados
caminhos. (FERREIRO e TEBEROSKY, 1985, p. 11).
Ferreiro (2011) nos explica todo o processo de alfabetizao, especificando
como ocorre cada procedimento at chegar lgica da escrita alfabtica. No incio do
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
88
processo de alfabetizao antes mesmo de aprender a ler, a criana precisa pensar
sobre o que a escrita representa e como ela se apresenta nas mais diversas
representaes linguisticas. A priori a criana vai representar a escrita como uma
forma de desenho. Mas, preciso que ela compreenda como uma representao da
linguagem falada, e s a partir de ento, quando a criana comear a perceber as
caractersticas formais da escrita, iniciar a criao de hipteses as quais
acompanhar o seu processo de alfabetizao. Perceber que uma letra s no serve
para ler e que preciso ter mais de duas letras para formar uma palavra. Perceber a
relao sonora das letras, o que caracterizar o incio da hiptese silbica, em que
cada letra representa uma slaba. A posteriori observar que as letras tm um valor
sonoro silbico, e que partes sonoras semelhantes entre as palavras comeam a
exprimir-se por letras semelhantes.
Diante de tal complexidade esse procedimento pode gerar conflitos, favorecendo a
configurao de uma nova fase, que se correlaciona com a fase da hiptese silbico-
alfabtica, na qual a slaba no pode ser considerada como uma unidade, e que a
cada letra tem um valor sonoro. Ento, chega-se fase alfabtica que quando a
criana j tem uma compreenso melhor do que est escrevendo, mas ainda comete
alguns erros ortogrficos.
Porm, preciso que atentemos ao perigo de se reduzir na escola o desenvolvimento
de leitura a este processo amplamente tcnico. Existem, de fato, outros elementos que
devem ser levados em considerao para que o processo de alfabetizao se construa
num cenrio real, contextual e especfico de cada sujeito. Neste cenrio, o PIBID
juntamente com as aes de experincias e vivncias de cada professor no espao
escolar tem se articulado em torno de preocupaes em se desenvolver leituras pelos
alunos, permitindo-lhes a compreenso do porqu de se aprender a ler, e criando
situaes reais de leitura para que esse aprendizado tenha sentido expressivo para
Daca sujeito aprendente. Segundo Emlia Ferreiro:
Temos uma imagem empobrecida da lngua escrita: preciso
reintroduzir, quando consideramos a alfabetizao, a escrita como
sistema de representao da linguagem. Temos uma imagem
empobrecida da criana que aprende: a reduzimos a um par de olhos,
um par de ouvidos, uma mo que pega um instrumento para marcar
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
89
e um aparelho fonador que emite sons. Atrs disso h um sujeito
cognoscente, algum que pensa, que constri interpretaes, que age
sobre o real para faz-lo seu (FERREIRO, 2011, p. 41)
No que se refere s atividades de leitura e escrita, observa-se que as contribuies do
PIBID somam-se de maneira bastante significativa ao processo de desenvolvimento
da aprendizagem dos alunos. Inicialmente isso ocorre porque o professor/supervisor
da sala de alfabetizao tem o suporte de outras mentes pensantes (bolsistas) para
apoi-lo na criao de metodologias que vo acelerar e potencializar os saberes
necessrios para que se empreenda um processo eficiente e funcional de leitura e
escrita. Entretanto para que isso ocorra, se faz necessrio que cada aluno seja levado
em considerao e que seu desenvolvimento seja objeto de anlise e reflexes dos
educadores. E pela sua natureza larga, extensionista, de aes extremamente
fundamentadas, tem o PIBID colaborado para efetivar um novo olhar do professor
para os encaminhamentos que cada docente deve fazer para atender as reais
necessidades dos seus alunos.
O olhar dos bolsistas ID constri uma alternativa de superao e inovao dos
problemas identificados por meio das observaes feitas em sala, e do
acompanhamento proximal com o aluno. a partir das horas estabelecidas aos
bolsistas, dedicadas s atividades formativas de ensino e pesquisa acerca das
necessidades das crianas no processo de alfabetizao que se pensa contribuir com
uma dupla formao: A dos supervisores que constantemente se inserem em
discusses mais pontuais e atualizadas e a dos bolsistas que aprendem a desenvolver
sistematicamente tcnicas e estratgias metodolgicas de aperfeioamento de leitura
e escrita nesta etapa de escolarizao.
Segundo Ferreiro (2011) no existe um mtodo especfico e ideal para a alfabetizao.
Tendo em vista este conhecimento, entendendo que o processo algo relativo e
flexvel, os bolsistas acompanham os alunos e fazem intervenes pedaggicas (sobre
o acompanhamento do professor/supervisor).
A ajuda consiste em transmitir o equivalente sonoro das letras e exercit-las na
realizao grfica atravs de atividades que no ignoram os conhecimentos prvios
dos alunos, mas que permitem interpretar esses dados prvios com os novos dados, a
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
90
fim de produzir novos conhecimentos. Tratando-se da leitura, so enfatizados
diversos gneros textuais que tm funcionalidades distintas para os alunos. Pelos
gneros textuais se contextualizam seus cotidianos e suas rotinas de modo que se
aproxime da sua prpria realidade, e dessa forma chegue-se compreenso e ao
desenvolvimento da leitura. O apoio de imagens tambm facilita a interpretao e o
desenvolvimento da escrita, pois, segundo Ferreiro (2011) as antecipaes que o
aluno realiza atravs de imagens so elementos essenciais da atividade de leitura:
Se h fotografias ou desenhos, antecipa-se que o texto mais prximo
tem a ver com o desenhado ou fotografado e, em se tratando de uma
personagem pblica, pressupes que seu nome esteja escrito. [...]
Construir antecipaes sobre o significado e tratar depois de
encontrar indicaes que permitam justificar ou rejeitar a antecipao
um atividade intelectual complexa, bem diferente da pura
adivinhao ou da imaginao no controlada. (FERREIRO, 2011, p.
35 e 36)
O processo inicial da leitura e escrita relevante, pois incidir nos futuros nveis de
formao dos alunos, positivamente ou negativamente, porque este processo, em
sendo deficiente, prejudicar a construo e internalizao dos saberes necessrios ao
seu desenvolvimento cognitivo. Com isto, a leitura e a escrita so instrumentos
imprescindveis para que possamos elaborar conhecimentos, refletir sobre as
informaes e sistematiza-las numa perspectiva dialgica.
Concepes e aplicaes dos processos de leitura no pIBID
A leitura sempre se fez presente na vida dos seres humanos. Antes mesmo das
crianas ingressarem na escola, estas j esto imersas no universo das letras, pois em
todos os espaos, seja nas ruas, na escola ou na televiso o signo lingustico est
presente. Compreende-se que viver sem ter contato, seja direta ou indiretamente,
com a leitura impossvel, uma vez que ler fator preponderante nas vidas dos
sujeitos.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
91
Em seu livro Reflexo sobre Alfabetizao, Ferreiro (2001) traz consideraes
imprescindveis que auxiliam os educadores, pois de fato, interessante que estes
saibam que a codificao e a decodificao se entrelaam, promovendo assim, a
relevncia de ambos os processos para o desenvolvimento cognitivo das crianas.
Conforme a autora, numa sala de alfabetizao deve haver materiais para serem
lidos, sejam cartazes, murais informativos entre outros. O ato de leitura um ato
essencial para a vida dos sujeitos. As pessoas ao lerem podem ter diversas sensaes,
rir ou chorar, e isto no significa que esto loucas ou desequilibradas. Ler permite a
criao de um imaginrio que projeta o sujeito a sensaes e moes diversas. O
leitor pode visualizar formas distintas diante de uma pgina de texto. A revelao
dos sentidos se d de maneira diferente para cada leitor. Neste sentido o PIBID nos
permite compreender e acompanhar o desenvolvimento do ato de ler, bem como a
representao que este ato promove.
exatamente nesta direo, de um olhar atento s prticas de leitura na sala de aula,
que nos faz entender como efetivamente promover dinamismo nas leituras das
crianas. Entender a essncia discursiva sobre leitura disposta nos mais diversos
livros que abordam o tema, nos factvel pela condio efetiva de estar vivenciando
de modo prtico como isso se d na escola. A ficam pistas para produzirmos
material de apoio ao professor regente na conduo de prticas significativas de
leitura.
Por meio do PIBID entendemos uma nova concepo daquilo que chamamos de
linguagem. Vemos na atuao escolar uma linguagem que possui palavras
diversificadas e que se organiza de maneira sistemtica, mas tambm aleatria.
Talvez seja por esta natureza to heterognea da produo de fala que a escola tenha
dificuldade de lidar com a diversidade das falas dos alunos. Nesta direo,
percebemos que a linguagem na escola percebida pelas leituras que pudemos a
cada momento realizar. Defende-se ento, a funo da leitura, sabendo da sua
influncia exercida na vida de todos os sujeitos. Entretanto, deve-se tambm saber,
que a leitura alm de possibilitar momentos prazerosos, possibilita ao indivduo
enxergar o mundo de diversas formas, como por exemplo: ser um sujeito mais crtico
e participativo.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
92
Expressivamente a prtica de leitura em sala de aula ainda encarada de forma
vazia. Muitos professores se apegam ao tradicionalismo, trabalhando numa
perspectiva ilusria. Ferreiro (2001) incrementa que no se deve conservar as crianas
assepticamente afastadas da lngua escrita. E nem tampouco trata-se de ensinar-lhes
o modo de sonorizar as letras, nem de inserir atividades de escrita mecnica e a
repetio em coro na sala de sala. Esta viso das crianas sentadas, quietas e
repetindo o texto ditado pelo educador um paradigma ultrapassado, em que o
professor se estereotipa como detentor do saber, e os educandos so tachados de
tbulas rasas.
Em sua obra Escola leitura e produo de textos, Kaoufman e Rodriguez (1995),
abordam a leitura e a produo de textos numa perspectiva diferente. Sob um olhar
aprofundado, crtico e despertador, o educador deve propiciar o encontro adequado
entre as crianas e os textos, usando as diversas possibilidades que a leitura pode
proporcionar.
Kaoufman e Rodriguez ressaltam:
indiscutvel que os leitores no se formam com leituras escolares de
materiais escritos elaborados expressamente para a escola com a
finalidade de cumprir as exigncias de um programa. Os leitores se
formam com a leitura de diferentes obras que contm uma
diversidade de textos que servem, como ocorre nos contextos extra-
escolares, para uma multiplicidade de propsitos (informar,
entender, argumentar, persuadir, organizar atividades, etc.). No
entanto, isso no implica descartar a priori todos os textos escolares.
Alguns destes textos- usados convenientemente- podem favorecer os
trabalhos de produo e de compreenso. (2001. p. 45).
fundamental que os educadores saibam selecionar materiais de leitura para os
alunos, suprindo as necessidades dos mesmos. importante levar para sala de aula
textos que fazem parte do contexto dos alunos, estabelecendo vnculos entre o
cotidiano e os contedos escolares. Infelizmente muitos educadores ainda se apegam
somente aos textos escolares ou livros didticos, nunca trabalham com a diversidade
de textos, ou seja, os materiais extra-escolares, como por exemplo: enciclopdias,
dicionrios, jornais, revistas, obras de literatura infantil livros de consultas sobre
temas diversos.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
93
Vemos sempre nas diretrizes e propostas de ensino a defesa da ideia de que o
educador deve provocar no educando o esprito critico por meio da leitura. De fato a
nosso ver esta uma viso idealista do processo educativo, mas que pode claramente
se tornar realidade factvel em nossas escolas. Afirmamos isso, baseadas nas
vivncias e experincias que o PIBID tem nos proporcionado, ao percebermos o
desenvolvimento mgico e fantstico dos processos de leitura na escola. As crianas
se revelam a cada instante, apresentando diferentes estgios de construo do seu
conhecimento lingustico. Verdadeiramente muito fascinante perceber a evoluo,
bem como compreender em que consiste a dificuldade de um ou de outro aluno.
O espao da sala de aula, para os professores, representa um local em que a maioria
do tempo se destina s prticas organizativas do fazer pedaggico. Ao professor
pouco tempo sobra para que ele perceba as reais necessidades dos alunos. So tantos
os afazeres, como proceder chamada dos alunos, orientar questes disciplinares,
registrar as ocorrncias, elaborar avaliaes, proceder checagem de tarefas, elaborar
planejamento, atender pais, participar de reunies, elaborar e planejar
comemoraes, entre tantos outros, que falta tempo para perceber as dificuldades de
leitura de seus alunos. Falta mais tempo ainda para promover aes efetivas e
significativas de desenvolvimento do ato de ler e escrever.
A criticidade do aluno, to desejada, s poder acontecer se o papel do professor
for alm de um mero expositor de aulas. Por isso, espera-se que as aulas de leitura
no sejam simplesmente limitadas ao componente curricular de portugus, mas que
perpasse por outros componentes, como matemtica, educao fsica, arte entre
outros.
A leitura desempenha papel fundamental na vida do sujeito, seja poltica, social ou
economicamente. por este e outros motivos que ela deve ser valorizada na escola,
espao onde se acredita que a criana saia lendo convencionalmente. Por isso, espera-
se que os professores despertem nos educandos o gosto pela leitura, e ainda mais,
que estes saibam exercer sua autonomia. A ns bolsistas o gosto pela leitura tem se
configurado a cada instante em que sentamos para planejar e provocar os saberes e
sabores que o ato de ler promove. Estar semanalmente na escola, acompanhando o
desenvolvimento deste processo tem se constitudo como grande momento
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
94
formativo. como se fosse o componente curricular de grande valia e relevncia na
nossa formao pedaggica.
Consideraes finais
O trabalho buscou evidenciar que o PIBID est sendo fundamental na formao
inicial oferecendo uma experincia na formao acadmica de licenciandos, visto que
insere estudantes de graduao na escola e os proporciona trabalhar com as crianas
numa tica de compreenso das dinmicas do ato de ler. Favorece desde cedo uma
insero nas prticas de leitura da escola, relacionando essas prticas com o saber
universitrio.
Neste sentido o trabalho evidenciou a relevncia de se conhecer as prticas leitoras
na realidade escolar, a partir da compreenso de tcnicas para favorecer o processo
de leitura e escrita, e a est tambm a essncia do processo de alfabetizao, de
crianas em situao real.
Buscou-se delinear como o PIBID possibilita fazer uma articulao entre os
contedos, de forma a enriquecer o processo de desenvolvimento educativo, em se
tratando dos processos de leitura trabalhados em escolas do Ensino Fundamental I a
partir de uma abordagem interacionista entre estudantes do Ensino Superior e da
Educao Bsica.
Portanto essencial a todos os graduandos terem experincias como as apresentadas
no trabalho, que visam promover uma compreenso da dinmica escolar e como esta
favorece os processos de leitura. De fato o trabalho sinalizou que a leitura e escrita
constitui-se em um desafio que deve ser assumido pela escola, como forma de
favorecer ao aluno a potencializao do seu ato comunicativo.
O PIBID, no cenrio descrito neste artigo, se apresenta como um programa
promissor, por meio do qual as experincias de leitura e escrita na escola se
desenvolvem num contexto real das dificuldades lingusticas apresentadas pelos
alunos. Destas dificuldades, criam-se condies e atividades que promovam o
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
95
desenvolvimento de competncias e habilidades que tornem a criana um pouco
mais comunicativa, transitando entre diferentes normas lingusticas.
O programa foi entendido como potencializador da formao dos licdenciandos, bem
como de crianas contempladas com a participao dos bolsistas, o que contribuiu de
forma eficaz para uma aprendizagem significativa, pois como foi discutido ao longo
do artigo, o PIBID atravs de suas preocupaes e aes oportuniza s crianas a
descoberta de suas habilidades, e capacidades comunicativas. Por meio da leitura e
escrita ofereceram-se reais condies para que os alunos da Educao Bsica
pudessem participar de todas as atividades oferecidas no ambiente escolar a fim de
contribuir para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor em todo o
processo de desenvolvimento da alfabetizao.
Conclui-se, enfim, que o PIBID um programa que vem potencializando e
dinamizando as estratgias pedaggicas de fomento e desenvolvimento de leitura.
Tem promovido uma efetiva articulao entre os saberes tericos e prticos, alm de
aproximar a universidade e a escola bsica, garantindo uma parceria que tem dado
certo. Neste cenrio a universidade v a escola no como palco para proceder crticas
e delas criar conjecturas sobre o exerccio profissional docente. Portanto, a escola
constitui-se como campo de estudo e de desenvolvimento de prticas pedaggicas,
que junto universidade tem a misso de formar os novos trabalhadores da
educao.
Referncias
CAPES. Programa Institucional de Bolsas de Iniciao Docncia. Edital, Pibid n /2012
FERREIRO, Emilia. Reflexes sobre alfabetizao. 26 ed, So Paulo: Editora Cortez, 2011.
FERREIRO, Emilia: TEBEROSKY, Ana. Psicognese da lngua escrita. Traduo de
Diana Myriam Lichtenstein, Liama Di Marco e Mario Corso. Porto Alegre: artes
Midicas, 1985. 284.p.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. So Paulo: paz e terra, 1996.
FRANCO, Maria Amlia Santoro. Pedagogia como cincia da educao. Campinas:
Papirus, 2006.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
96
FERREIRO, Emlia. Reflexes sobre Alfabetizao. So Paulo: Cortez, 2001.
JOLIBERT, J. Formando crianas leitoras. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1994.
KAUFMAN, Ana Maria e RODRIGUEZ, Maria Helena. Escola, leitura e produo de
textos. Porto Alegre: Artes Mdicas- Artmed, 1995.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
97
Eixo II
Mdias e prticas de
recepo
A LITERATURA INFANTIL E OS NOVOS PARADIGMAS
DO FENMENO LITERRIO:
Os entrelaces da hipermdia com a hiperliteratura.
Enia dos Santos Costa
Universidade del Salvador - USAL
costa.enia@gmail.com
RESUMO: A literatura infantil tem atualmente um papel fundamental na formao da
identidade dos sujeitos sociais, sendo disseminada e assumindo novas formas de narrativas
com os gneros digitais que criam novos paradigmas narrativos, e consequentemente,
sociais. O nosso estudo vem suscitar uma discusso sobre a temtica da literatura infantil
associada s novas mdias e cibercultura, posto que h ainda uma lacuna nestes estudos, e
sua repercusso social e cultural relevante, j que a hiperliteratura surge com um novo
modo de fazer e chegar s narrativas. Com o advento da cibercultura, a literatura vem
tomando novos rumos, e com destaque para a literatura infantil que consegue uma
adaptao aos mais variados suportes de veiculao das narrativas, seja no papel ou nas
mdias digitais e audiovisuais: quadrinhos, livros, e-books, audiobooks, cinema, tv, blogs,
games, etc. Conquanto a literatura infantil tem papel relevante na formao das crianas e
jovens, os novos gneros digitais favorecem o desenvolvimento de novos processos
cognitivos, e portanto, novas formas de ver, entender e dar sentido ao mundo e a si prprio.
A juno das palavras, sons e imagens transformam as narrativas atuais, dando maior
dinamismo e rapidez na leitura, exigindo, no entando, mais dos leitores em termos de
habilidades perceptivas, de decodificao e interpretao. Acrescente-se o fator da
interatividade que os leitores tm com as narrativas veiculadas por suporte digital. O fator
de interatividade entre os leitores e o hipertexto trazem mudanas significativas no
comportamento daqueles. O leitor dever ter novas habilidades visuais, auditivas, de
memoria e processamento mental para poder dar conta das informaes. Desta forma, a
maneira de sentir e dar sentido aos textos divergem das leituras estticas e lineares de
outrora, apenas com os livros impressos. A hipermdia vm acrescentar complexidade
literatura infantil, que abarca todos os gneros literrios, adaptando-se perfeitamente ao
gnero digital. Um novo foco de investigao e entendimento da teoria literria surge a
partir da literatura infantil, que reposiciona os estudos e leituras literrias, destacando-as das
leituras filosfica, de psicologia, sociologia e poltica. A literatura infantil destaca o aspecto
ficcional do objeto de investigo literria, acoplando a este estudo, com as novas mdias
digitais, recursos de som e imagem que despertaro e desenvolvero a imaginao e
criatividade dos leitores. O crtico em literatura infantil, Peter Hunt, o filsofo Pierre Lvy,
Lev Vigotsky, alm de outros estudiosos do fenmeno literrio como Cademartori, Jesualdo,
Khde, Longhi subsidiam nossos estudos na tentativa de entender o que conecta a literatura
infantil ao mundo ciberntico, trazendo novos parmetros de entendimento do fenmeno
literrio diantedos novos gneros digitais.
Palavras-chave: Literatura infantil; Cibercultura; Hipermdia; Hiperliteratura; Teoria da
Literatura.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
100
INTRODUO
O universo da literatura infantil bastante amplo e instigante, e vem
crescendo, se diversificando e tornando-se mais complexo medida que as
tecnologias intelectuais vo se desenvolvendo e surgindo. Desde os primrdios da
escrita, novos suportes para esta so criados, e hoje temos os espaos virtuais como
cenrio das narrativas infantis. Podemos dizer cenrios porque no mais s com
palavras estas narrativas se desenvolvem, mas atravs da juno de mltiplos
aspectos como sons, imagens, animaes, utilizao das hipermdias e
hipertextualidades, os sentidos das narrativas vo se ampliando, pari passu aos novos
processos de leitura que se justapondo a esta nova realidade, com configuraes de
tramas que so colocadas em espaos dinmicos e interativos.
Para compreendermos este universo, precisamos antes saber o que a
literatura infantil, para quem dirigida e suas caractersticas latentes. Sem este
entendimento no seria possvel contextualiz-la e inferir seu papel social, nem como
compreender o modo como atua na criao de sentidos. Hoje mais ainda com as
novas tecnologias intelectuais.
A cibercultura criou um novo fenmeno dentro da literatura que a
hiperliteratura, prpria dos ciberespaos, com caractersticas prprias e
diversificadas, dependentes dos recursos de hipermdia existentes. As mdias digitais
e audiovisuais: quadrinhos, livros, e-books, audiobooks, cinema, tv, blogs, games, do
novos contornos s narrativas. Esta interao entre as narrativas e os novos suportes
criam novos significados e novos processos de leitura, que iro ser refletidos nas
respostas dos leitores quanto s leituras feitas. O fenmeno literrio amplia desta
forma sua funo e influncia nos leitores e na vida social e cultural.
A literatura infantil, sendo a primeira a que os sujeitos tm contato, em geral,
exerce uma influncia significativa na construo do imaginrio dos indivduos, e na
formao de sua identidade. Os ciberespaos requerem sujeitos com habilidades
especificas para a sua utilizao. A adaptao das narrativas a estes espaos
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
101
cibernticos, esto de acordo com estas novas exigncias, e requerem novos
parmetros cognitivos dos indivduos.
Nosso estudo se direciona a reflexes sobre o fenmeno literrio da literatura
infantil que se insere no contexto da cibercultura, e que precisa de novas
metodologias e ideias, a fim de apreender os novos sentidos que as narrativas tomam
e como estes sentidos vo se delineando dentro dos novos paradigmas sociais e
culturais.
1. LITERATURA INFANTIL
A literatura infantil a fonte original e primria da formao intelectual,
cognitiva e imaginativa do ser humano. Tem um papel fundamental na formao da
identidade dos sujeitos sociais, pois atua propiciando o desenvolvimento das
habilidades cognitivas a partir da leitura de textos literrios em variadas
modalidades, estas que vo assumindo novas formas com o desenvolvimento
tecnolgico. Como Lajolo explicita ... a obra literria um objeto social (1991, pag.
16), e o diz acertadamente, j que no existiria sem a coletividade e sem os sujeitos
sociais, e criada para estes sujeitos. Desta forma, a literatura infantil tem a sua
funo ligada ao social, e dentro dos contextos scias deve ser estudada.
Sempre ocupou lugar de relevncia na vida das pessoas, mas enquanto foco de
estudo, vem sendo relegada a uma categoria de menor valor. Poucos estudos so
feitos, e a maioria dos que existem focam sua ateno para a educao. A literatura
usada, desta forma, como subsdio para formao pedaggica dos indivduos. No
entanto, entendemos que o estudo da literatura infantil perpassa uma gama de
interesses bem maior, indo de estudos da formao de ideologias, passando por
estudos sobre o desenvolvimento cognitivo, a apreciao esttica, e de anlise da
narrativa, do discurso em geral e da estrutura cultural contida nos textos.
Com o desenvolvimento tecnolgico, novos suportes surgem dando novos
desenhos de significao e alcance das obras literrias. Modificaes nos processos de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
102
leitura e de apreenso de significados so desenvolvidos, mudando a estrutura
cognoscente do indivduo, o que ir influenciar o seu comportamento.
1.1. LITERATURA INFANTIL: O QUE ? PARA QUE SERVE?
Devemos pensar primeiramente o que seja a literatura infantil para podermos
traar qualquer considerao sobre o assunto. Os livros para crianas so diferentes
dos de adultos. Aqueles so escritos para uma audincia diferente, com habilidades
diferentes, e diferentes caminhos e formas de ler.
Quando se fala em literatura infantil, atravs do adjetivo,
particulariza-se a questo dessa literatura em funo do destinatrio
estipulado: a criana. Desse modo circunscreve-se o mbito desse tipo
de texto: escrito para a criana e lido pela criana.
(CADEMARTORI, p. 21).
Cademartori (1991) bastante objetiva e clara, e nos traz uma definio que
direciona nosso entendimento do objeto a que nos propomos estudar. Se a literatura
qualificada como infantil, aos infantes se direciona e dever ter caractersticas que
satisfaam s necessidades de linguagem e aparato psquico destas. Da termos a
necessidade de saber quais caractersticas so estas para podermos apreender com
mais pertinncia seu significado. O que Jesualdo (1978) coloca como caractersticas
do texto literrio infantil e delimita o que em um texto literrio dever apresentar
enquanto estrutura lingustica e desenvolvimento narrativo. O autor nos diz que um
texto de literatura infantil dever ter: linguagem simples; dramatismo (o drama
vivido por seus sentidos repetem-se nos movimentos interiores que passam a ser seu
drama, o da criana); tcnica de desenvolvimento sbrio, sem criar confuso; e
enredo fantstico. Estes iro caracterizar a literatura infantil diferenciando-a da
literatura para adulto, mas, mesmo sendo caracterizada pela simplicidade de
linguagem bem como de enredo, no deixa de ser complexa, e ter influncia para a
criana no que diz respeito sua formao psquica, cognitiva e social. Estas
caractersticas se conciliam com a prpria origem da literatura, que nasce da Poesia e
do mito, que a infncia da literatura.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
103
A poesia um tipo de literatura que requer especial tipo de leitura. Assim, a
literatura surge com a literatura dentro dos padres da simplicidade, exercendo
predominantemente a funo potica, que ir destrinchar-se em todas as outras
funes que a literatura possa ter. Toda poesia visa comunicar ao sujeito o ser
prprio de seu ser em si e no mundo. Est intrinsecamente associado a constituio
do homem em sua subjetividade, que ir moldar-lhe a identidade.
O homem constri seu meio ambiente medida dos padres de
interpretao que lhe forem oferecidos... o processo de constituio
de um homem depende de sua formao conceitual. (Cademartori,
1991, p. 22).
atravs das leituras que o sujeito faz ao longo de sua vida, que a sua forma
de pensar, a formao de sua personalidade, sua cultura se constitui, em um processo
dialgico do sujeito com a leitura e com o meio que o cerca. Deste entrelace dialgico
o sujeito vai surgindo.
Peter Hunt (1999) reitera este pensamento ao considerar que devemos pensar
que a literatura infantil tem influncia social, cultural e histrica. Os reflexos da
literatura infantil sobre a ideologia, a linguagem poltica patente. No podemos
negar o peso ideolgico que os livros infantis trazem, formando desde cedo modos
de pensar, de ver, enxergar a realidade. As respostas s leituras feitas refletem a
formao conceitual do indivduo e o patamar cognitivo alcanado em termos de
referencias realidade em que se encontra inserido.
1.2. UMA TEORIA DA LITERATURA (INFANTIL).
O estudo da literatura infantil interessa a estudiosos de diversas reas do
conhecimento: estudiosos da literatura, educao, histria, psicologia, arte, cultura
popular, media, profisses da sade (teraputicas), filosofia, sociologia e poltica,
pedagogia, folcloristas, alm da indstria cultural, artes grficas, psicolingustica e
sociolingustica, etc. Interessa tambm ao mercado. O seu estudo amplo, complexo
e interdisciplinar, j que os livros infantis so complexos e seu estudo infinitamente
variado. A complexidade maior est na disposio da linguagem e no formato da
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
104
comunicao, que oferecem leituras que afetam nossa cognio, e desta forma,
influenciam nossa personalidade e nosso modo de pensar, nosso comportamento e
ser no mundo.
Peter Hunt (1999) considera que a literatura infantil tem visveis e prticos
usos, bem como leitores com diferentes argumentos. Desta forma, a teoria da
literatura infantil traz uma prtica que combina livros e leitores, ou seja, deve estar
atenta no s ao estudo das narrativas infantis, mas tambm aos leitores a quem estes
textos so dirigidos. Da combinao do estudo destes dois elementos poderemos ter
dispostos os parmetros de anlise da literatura que se dirige a infantes como um
todo.
O estudo desta literatura especfica no pode estar separada da vida real, pois
para a vida real que ela existe, sendo verossimilhante a esta, como um espelho que
reflete sua realidade e faz com que os sujeitos possam capturar sua essncia, e a
partir da assumir uma postura social advinda de uma construo psquico-cognitiva,
a partir da formao de sua subjetividade.
Children's literature is an obvious point at which theory encounters
real life, where we are forced to ask: what can we say about a book,
why should we say it, how can we say it, and what effect will what
we say have? We are also forced to confront our preconceptions.
Many people will deny that they were influenced by their childhood
reading ('I read xyz when I was a child, and it didn't do me any
harm'), and yet these are the same people who accept that childhood
is an important phase in our lives (as is almost universally
acknowledged), and that children are vulnerable, susceptible, and
must be protected from manipulation. Children's literature is
important - and yet it is not to work through fundamental
arguments, to look at which techniques of criticism, which
discourses, and which strategies are appropriate to - or even unique
to - our subject. (Hunt, 2013, p. 1991).
Para se traar uma teoria que abarque a literatura infantil, precisamos
estabelecer alguns conceitos bsicos, ideias e mtodos. Precisamos nos subsidiar de
considervel aparato terico advindo desde a filosofia at a psicoterapia. O estudo
denso.
Devemos estar atentos para o fato que a infncia diferente de lugar para
lugar, de tempo a tempo, e nos dias atuais algumas peculiaridades devem ser
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
105
levadas em conta devido s substanciais mudanas nos cdigos lingusticos, nos
modos de comunicao associados s novas tecnologias intelectuais que vm
modificando os processos de leitura. A cibercultura tem feito surgir novos espaos de
leitura e a infncia tem suas peculiaridades neste momento sociocultural. No papel
ou nas mdias digitais e audiovisuais, como: quadrinhos, livros, e-books, audiobooks,
cinema, tv, blogs e games, as narrativas vo sendo dispostas e criadas. Cada suporte
deste oference um tipo de interao com o leitor e novos olhares para o texto vo
sendo desenvolvidos. A insero de sons, imgens, animaes, recursos de interao e
co-criao narrativa agregam novos parmetros aos processos de leitura.
Os estudos literrios devem seguir este desenvolvimento e adequar-se em seus
mtodos para poder extrair desta realidade ciberntica as ideias que acompanham o
fenmeno literrio atualmente. Precisamos de uma teoria da literatura que contemple
estes novos parmetros de leitura e estes novos paradigmas socioculturais,
desvendando-lhes os caminhos, caractersticas e ideias contidas no fenmeno
literrio hodierno.
Para a literatura infantil, este novo espao se faz bastante propcio, pois
oferece uma infinidade de possibilidades expressivas e criadoras de sentidos.
2. CIBERCULTURA E HIPERLITERATURA
A hiperliteratura nasce a partir da cibercultura, que fornece os recursos
necessrios para o desenvolvimento de novas formas de narrao, que conglomeram
palavras, sons, imagens, mecanismos de interao, tudo atrelado aos meios
hipermiditicos.
H uma estreita relao entre a hiperliteratura e a cibercultura. Os
ciberespaos fomentam novas formas de comunicao e informao. Pedem mesmo
novos aparatos comunicativos e informativos que servem s narrativas hipertextuais.
Para entendermos esta relao, precisamos saber o que seja tanto a
cibercultura quanto a hiperliteratura.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
106
2.1. A CIBERCULTURA
A cibercultura designa uma rede digital como lugar que abriga encontros,
relaes, conflitos, estabelecendo uma nova fronteira econmica e cultural. Este novo
espao subsidia novas correntes artsticas e novas subjetividades. Sons, imagens,
movimentos, gestos, perfazem uma rede de sentidos e novos sentidos, alargando as
possibilidades de leitura e, consequentemente, apreenso de sentidos da realidade. A
leitura insere-se, na cibercultura, em uma inter-relao com os novos espaos do
conhecimento, no mais em um processo linear de apreenso, mas em uma
hipercognoscncia que exige novos mtodos, tcnicas e tecnologias. E com as novas
tecnologias intelectuais, tcnicas de transmisso tm como suporte o coletivo social
que condicionam novas formas de cognio e, concomitantemente, novos valores e
estabelecimento de novas culturas.
A cibercultura contribui para o estabelecimento de novos paradigmas acordes
com as novas tendncias e necessidades culturais, que se constroem com as novas
redes sociais, na WEB, nos ciberespaos.
[...]o ciberespao suporta tecnologias intelectuais que amplificam,
exteriorizam e modificam numerosas funes cognitivas humanas:
memria (banco de dados, arquivos digitais de todos os tipos),
imaginao (simulaes), percepo (sensores digitais, telepresena,
realidades virtuais), raciocnios (inteligncia artificial, modalizao de
fenmenos complexos). (Lvy, 1999, p.157).
O que condiciona estas novas tendncias e necessidades culturais so as novas
tecnologias intelectuais que revelam-se nas hipermdias. Todo este aparato
tecnolgico precisa de um suporte para ser efetivado e funcionar.
[...]no pode haver, no universo fsico, comunicao sem suporte
material: ora , a informao codificada diferentemente, conforme
passamos de um suporte para outro...ou seja, no h comunicao
sem operaes de traduo. (Lvy, 1998, p.92).
Atravs das novas tecnologias intelectuais as informaes so decodificadas,
ou melhor, so disponibilizadas decodificao, pois ficam expostas leitura e
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
107
interpretao, e por um processo de interao dialgica entre o leitor e o texto
(hipertexto) os sentidos vo se formando. Para a cibercultura, o suporte textual no
pode ser apenas de transposio textual. Isto os meios grficos do conta. Nose
criariam novas possibilidades de novos sentidos apenas com esta transposio. H
mister uma dinmica que condicione novos olhares, e suscite novos processos
mentais de leitura, sem a linearidade habitual, mas em um esquema circular de
leitura que agrega leituras diversas em uma s.
2.2. HIPERLITERATURA
O texto linguagem. Devemos, antes de tudo entender o texto enquanto
linguagem para podermos fazer sua anlise. O estudo da literatura dever, assim,
focar-se na linguagem para desvelar as estruturas narrativas e seus aspectos culturais
contidos nele. Atualmente, o estudo as linguagens adentraram no mundo da
cibercultura, j que, como explicita Lvy As metforas centrais da relao com o
saber so hoje, portanto, a navegao e o surfe (1999, pag.161) Por traz de um
grande hipertexto fervilham a multiplicidade e suas relaes (1999, p.162) Porque
a pessoa que l no est se relacionando com uma folha de celulose, ela est em
contato com um discurso, uma voz, um universo de significados que ela contribui
para construir, para habitar com sua leitura (1999, p.162) Nossas faculdades de
conhecer trabalham com lnguas, sistemas de signos e processos intelectuais
fornecidos por uma cultura (1999, pag. 163). Estes sistemas de signos podem ser
lingusticos, sonoros, pictricos, imagticos, gestuais, em justaposio.
As imagens no so to fceis de se entender como muitos pensam. O cone
polifnico e exige do leitor uma habilidade de leitura complexa. A experincia de um
livro comea antes das palavras e das imagens contidas em suas pginas.
Com o advento da internet as narrativas passaram a ter formatos digitais, que
se renovam constantemente, adquirindo novas formas de compor e de escrita, com a
articulao de escrita, som, imagens, design, contando com os aspectos
multimiditicos, da interatividade e hipertexto. Temos a inveno das webnovelas,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
108
que contam os clssicos, as twitelitaraturas, com 140 caracteres, os games (RPG). As
narrativas digitais agregam vrios tipos de interao.
Numa poca extremamente audiovisual, a ilustrao predominante
resultado da soma de diversos cdigos: o desenho, a fala dos
personagens, a articulao das imagens na pgina ou na tira e at
mesmo o discurso grfico-narrativos, que se d atravs dos cortes.
Esta multiplicidade um atrativo a mais para provocar a ateno da
criana para o livro. (Khde, p. 83).
Segundo Vygotsky (1997), a utilizao dos instrumentos modifica globalmente
a estrutura das funes psicolgicas superiores, exigindo mudana e evoluo nas
estruturas intelectuais. O homem por meio do uso dos instrumentos modifica a
natureza e acaba modificando a si mesmo, numa dupla constituio de realizar e ser
realizado.
Al estar inserto en el proceso de comportamiento, el instrumento
psicolgico modifica globalmente la evolucin y la estructura de las
funciones psquicas, y sus propiedades determinan la configuracin
del nuevo acto instrumental del mismo modo que el instrumento
tcnico modifica el proceso de adaptacin natural y determina la
forma de las operaciones laborales. (VYGOTSKY, 1997, p.65).
Para Vygotsky (1995), as pessoas so fruto da histria e da cultura da
sociedade onde nasceram e se desenvolveram e as caractersticas dessa cultura so
internalizadas em um processo mediado por instrumentos (fsicos e psicolgicos).
Vygotsky (1993) via o individuo como um ser inserido em um processo histrico em
constante movimento, transformando-se a partir da interao com os outros seres
humanos e da apropriao da cultura. Assim, a construo da mente humana, para
esse autor, um fenmeno social. Ela no inerente natureza humana, no
preexiste no ser humano, mas vai sendo formada a partir da condio social,
econmica e cultural em que vive esse ser. Assim, a vida social entendida como
reguladora da conduta humana, ideia explicada pelo autor no seguinte trecho:
[...] la posibilidad de que se forme un nuevo principio regulador de la
conducta es la vida social y la interaccin de los seres humanos. En el
proceso de la vida social, el hombre cre y desarroll sistemas
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
109
complejsimos de relacin psicolgica, sin los cuales sedan imposibles
la actividad laboral y toda la vida social. [...] La vida social crea la
necesidad de subordinar la conducta del individuo a las exigencias
sociales y forma, al mismo tiempo, complejos sistemas de
sealizacin, medios de conexin que orientan y regulan la formacin
de conexiones condicionadas en el cerebro de cada individuo. La
organizacin de la actividad nerviosa superior crea la premisa
indispensable, crea la posibilidad de regular la conducta desde fuera.
(VYGOTSKY 1995, p. 85-86).
Vygotsky (1995) argumenta que a relao do homem com o mundo no ocorre
de forma direta, como nos animais, essa relao mediada. A mediao, ento, est
na base dos processos psicolgicos superiores. Ela levada a cabo, principalmente,
por meio do uso de instrumentos. O uso de instrumentos permite o controle
voluntrio da atividade psicolgica humana, ampliando a capacidade de ateno, de
memria e a possibilidade de acumular informaes, entre outras funes. Vigotsky
(2001) argumenta ainda que cada ser, no caso, cada ser humano resulta de um
contexto social, histrico e cultural em que est inserido, e onde tem experincias e
inter relaes pessoais, e que estas relaes ocorrem atravs da mediao, que est na
base dos processos psicolgicos superiores, e que se utiliza de instrumentos que
aumentam a capacidade de ateno, de memria e de acumular informaes. No
mundo ciberntico, a mediao ocorre atravs das tecnologias intelectuais, atravs a
hipermdia.
Transpondo para a literatura infantil, os livros no formato digital agregam
plrimas formas de interao nas narrativas, como a animao, ilustraes, design de
personagens, design de som.
O computador e a internet so instrumentos culturais de aprendizagem, so
instrumentos de linguagem, de leitura e de escrita. Na Era da Mdia, segundo
Palange (2012), a escrita evoluiu da linearidade para uma organizao em rvore,
com hierarquia de contedos:
A escrita digital a do hipertexto, um conjunto de ns de significao
interligados por palavras, pginas, imagens fotografias, grficos. O
hipertexto um rizoma, modelo de crescimento orgnico, catico.
Apropria-se das tradies oral e escrita. (2012, p. 63).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
110
O processo de apropriao da cultura, por meios digitais de informao,
podem preceder do entendimento de novos aspectos das narrativas como a
hibridao, a no-linearidade ou a estrutura circular, a navegabilidade. Estes novos
parmetros nos mostram aspectos das narrativas digitais como a insero de sons e
imagens; ausncia da sequncia lgica de princpio, meio e fim; repeties; uso do
espao virtual. Todos estes aspectos significam rupturas literrias que atribuem
novos sentidos s coisas, que vo sendo produzidos e incorporados culturalmente.
(LONGHI, 2001, p.84).
Na hiperliteratura a palavra no a ltima palavra na criao literria. H a
cooperao da msica da palavra, de sons diversos, imagens.
A ideia de referncias cruzadas e no-linearidade j existiam muito antes da
palavra hipertexto, e na literatura isto se chama dialogismo, nos quadrinhos, cross-
overs e na informtica, hipertexto.
CONSIDERAES FINAIS
O instigante na literatura infantil que ela se adapta ao meio pelo qual
veiculada, criando novos sentidos e com um brilho e propriedade que torna a leitura
muito prazerosa. Podemos dizer que com o advento da cibercultura e a insero das
narrativas nas hipermdias, um novo tom foi dado literatura infantil, conferindo-lhe
maior dinamismo e permitindo uma interao entre os leitores e o texto.
A teoria da literatura dispe atualmente de material riqussimo para suas
investigaes do fenmeno literrio, e que ir dialogar com os novos paradigmas
sociais, desvendando seu perfil e caractersticas dentro do meio social. Uma jornada
interdisciplinar, profunda e ampla se abre a todos aqueles que se aventuram por este
caminho de estudos. No poderemos nos furtar a entender o fenmeno da
hiperliteratura, suas conexes com as vrias disciplinas sociais, humanas e da
informao para podermos entender a literatura, e mais especificamente a literatura
infantil. Logo, conhecer os produtos hipermiditicos, as novas tecnologias da
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
111
comunicao e informao, os novos processo de leitura e de cognio so
imprescindveis a todos que querem estudar a literatura.
Deveremos seguir buscando novos mtodos de estudos e novas prticas de
leitura, ter um novo olhar sobre o texto. Ou melhor, entender que um texto pode ser
muito mais que palavras rabiscadas em papel, que pode ampliar-se com os sons, as
imagens, a msica, e ser refeito interativamente por seus prprios leitores. Estamos
neste momento rico e entusiasmante de leituras e novas leituras, de sentidos e novos
sentidos. Faamos nossa parte.
Referncias
CADEMARTORI, Lgia. O que literatura infantil. Ed. Brasiliense. Coleo
primeiros passos, 5 edio, 1991.
HUNT, Peter. Crtica, Teoria e Literatura Infantil. Traduo de Cid Knipel. So
Paulo, Cosacnaify, 2010.
___________. Understanding Children's Literature. Edition 2. Rouyledge, 2013.
Disponvel em:
http://books.google.com.br/books?id=4ikEPN7LKzsC&pg=PA1991&lpg=PA1991&
dq=Children's+literature+is+an+obvious+point&source=bl&ots=5pLHqwIMa2&sig
=63zj00aZ7CeUMW867I979hW-frQ&hl=pt-
BR&sa=X&ei=eKqCUvWDJO7G4APcnoGoAQ&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&
q=Children's%20literature%20is%20an%20obvious%20point&f=false
JESUALDO. A literatura infantil. Editora Cultrix, So Paulo, 1978.
KHDE, Sonia Salomo. Personagens da literatura infanto-juvenil. Editora tica.
Srie Princpios, So Paulo, 1990.
LAJOLO, Marisa. O que literatura. Ed. Brasiliense. Coleo primeiros passos13
edio, 1991
LVY, Pierre. A mquina universo: criao, cognio e cultura informtica. Artmed,
Porto Alegre, 1998.
__________. A inteligncia coletiva. Por uma antropologia do ciberespao. Edies
Loyola, so Paulo, 2000.
__________. Cibercultura. Editora 34, So Paulo, 1999.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
112
LONGHI, R. R. Narrativas digitais e estruturas circulares. Revista Famecos, Porto
Alegre, n.14, p.84-90, abril 2001.
PALANGE, Ivete. Texto, hipertexto, hipermdia: uma metamorphose ambunte. B.
Tc. SENAC: a R. EDUC. PROF., Rio de Janeiro, vol. 38, n 1, jan./abr. 2012
Disponvel em: http://www.senac.br/BTS/381/artigo6.pdf
VIGOTSKI, Lev S. A Construo do Pensamento e da Linguagem. So Paulo,
Martins Fontes, 2001. 496p.
VYGOTSKY, Lev S. Obras Escogidas, Tomo III, Historia Del desarrollo de ls
funciones psquicas superiores . Madri, Editorial Visor, 1995.
DO FEMININO E OUTROS ESPELHOS
Um estudo analtico do curta-metragem No Corao de
Shirley
Jober Pascoal Souza Brito
Programa de Ps-Graduao em Estudos de Linguagens UNEB/BA
joberelis@yahoo.com.br
Resumo: Este trabalho busca compreender como se ampara a cinematografia dirigida por
mulheres no Brasil, em presena da cada vez mais frequente multiplicao de telas, da
ampliao tecnolgica engendrada pela era digital e pelos movimentos tericos produzidos
pelo Feminismo, Ps-Estruturalismo e pelas teorias das Representaes Sociais. Nestas
condies, tomar-se- como objeto de anlise, o curta-metragem baiano No Corao de
Shirley (2002) de Edyala Lima Yglesias, cuja narrativa enovela uma rede de tenses
agenciadas por relaes de negociao e conflito, tomando como referente simblico o
reordenamento urbano vivenciado pela cidade de Salvador em fins de dcada de 90. O filme
alude para o encontro de duas personagens que atuam como profissionais da noite, uma
prostituta (Shirley), a outra, uma travesti (Eva). Elas esto inscritas em contexto tanto de
disputas simblicas, quanto de fronteiras genricas. O argumento flmico busca ajustar
confisses, rivalidades e carncias, que podem ser percebidas como espaos de interlocuo
entre o discurso da tradio do ser mulher em compasso ao devir mulher e outros devires,
como efeito das discusses instigadas pelas novas tecnologias de gnero na
contemporaneidade, introduzidas na narrativa a partir de um jogo de espelhos,
simbolicamente montado no camarim, que serve de artefato tanto para o cenrio onde as
personagens esto inscritas, quanto de metfora para o jogo estabelecido entre a tela e o
espectador. A pelcula encena dramas que emergem por meio de uma atmosfera complexa e
densa, evocada, sinestesicamente, atravs da combinao de aromas de cigarros e cafs em
compasso ao uniforme movimento em vermelho e azul dos veculos da Avenida Manoel
Dias, acedendo a uma leitura saturada da cidade, emoldurada a partir de um colorido
soturno em que corpos e rgos so exibidos em um mercado de prazeres difusos. Um dos
principais objetivos deste trabalho investigar como este filme produzido por uma
feminista, ao recorrer a uma coletnea de esteretipos, busca dilatar, a seu estilo, a maneira
como sujeitado pelo discurso hegemnico, de modo a permitir a fabricao de novos
cdigos sexuais para a leitura do feminino e de suas variantes. no imaginrio projetado
pelo cinema aqui adotado como uma progressiva elaborao do inconsciente psquico,
intercedido pelos cdigos simblicos engendrados mediante diversas linguagens que se d
o dilogo que interessa a esse trabalho, como tentativa de redimensionar as representaes
genricas fundadas pelo monismo sexual masculino, que toma a mulher como um outro do
discurso dominante. Esse estudo, neste sentido, busca constituir-se em mais uma via
produtiva para se discutir o lugar ideolgico e simblico do feminino na
contemporaneidade, recorrendo-se a outras linguagens, potencializando a crtica ideia de
unidade identitria.
Palavras-chave: Cinema, No Corao de Shirley, Gnero
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
114
1 APRESENTAO
Uma pequena nota no jornal baiano sobre o assassinato de uma travesti na
Avenida Manoel Dias na madrugada de 04 de agosto de 1998. O fato.
Quatro anos depois, resultando de um workshop em parceria com diversos
profissionais do ramo artstico, o curta-metragem que ser analisado, No Corao de
Shirley da diretora Edyala Lima Yglesias.
A narrativa enovela uma rede de tenses agenciadas por zonas de negociao
e conflito, tomando como referente simblico o reordenamento urbano da cidade de
Salvador em fins da dcada de 90. O foco, a anulao dos estranhos, tomados como
rudimentos invisveis que sujam e enfeitam o universo noturno da Cidade da Bahia.
A pelcula alude para o encontro de duas profissionais da noite, uma
prostituta, Shirley; a outra, a travesti Eva, inscritas em contexto tanto de disputas
simblicas, quanto de fronteiras genricas, buscando justapor confisses, rivalidades
e carncias, que podem ser compreendidas como espaos de interlocuo entre o
discurso da tradio do ser mulher em compasso devir mulher e outros devires, como
efeito das novas tecnologias de gnero na ps-modernidade, introduzidas na
narrativa a partir de um jogo de espelhos, simbolicamente montado no camarim e
que serve de artefato tanto para o cenrio onde esto inscritas as personagens,
quanto de metfora para o jogo estabelecido entre a tela e o espectador.
A montagem deste drama emerge atravs de uma atmosfera complexa e
densa, evocada, sinestesicamente, pela combinao de aromas de cigarros e cafs em
compasso ao uniforme movimento em vermelho e azul dos veculos, acedendo a uma
leitura saturada da cidade, enquadrada a partir de uma tonalidade soturna em que
corpos e rgos so exibidos em um mercado de prazeres difusos.
2 O CORAO DA CIDADE INVISVEL
Sexta-feira, 23:15 h, Avenida Manoel Dias. Mediada por estas marcaes
espao-temporais e em meio ao incidental barulho dos carros, em um
enquadramento de perspectiva, surge Shirley, em pequenos trajes, sem maquiagem,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
115
aparentando tratar-se de uma prostituta em decadncia. Ao fundo, ironicamente
esboam-se na tela propagandas com mulheres e um manequim com roupas
femininas, metaforizando um corpo que serve de modelo ao ideal feminino, pretenso
pelo mercado, e Shirley, o modelo disponvel para consumo.
A cena expande-se e Eva, a travesti, revelada no foco principal da cmera,
dublando Crazy. Embora o plano esteja enquadrado na imagem da travesti, a cano
americana evoca o drama de sua rival, Shirley. A cano de Willie Nelson traduz a
sensao de isolamento experimentada pela prostituta face espera duradoura pelo
taxista Silveira, objeto de seu desejo, e que se encontra seduzido pela imagem
imantada em brilhos de Eva.
Uma nova personagem projetada na histria, Faf, amiga de Shirley e
tambm profissional da noite. Um relance sonoro toma destaque quando dois
motoqueiros trafegam e um deles grita Vai, Puta! O comentrio do motociclista
direcionado s prostitutas, Faf e Shirley, aponta para as conformaes da violncia
exercitada sobre os agentes que negociam o corpo no mercado do prazer. Na medida
em que o sexo pago uma prtica indispensvel ao pblico masculino, que,
historicamente, fundamentou o uso comercial atravs da prostituio, de igual efeito,
so tambm os mesmos usurios que aplicam sobre os indivduos agenciadores desse
comrcio as maiores infraes.
Este fenmeno das violncias verbal e fsica sobreposto s profissionais da
noite deve-se a vrios fatores, dentre os quais destaca-se o esteretipo calcado na
nfase da pobreza resultante do estar na rua e o fato de o sujeito prostitudo tambm
ser do gnero feminino e/ou de suas variantes genricas resvalando entre travestis e
transexuais, aprofundam sintomaticamente a condio de vulnerabilidade do
trabalho ofertado.
Michel Foucault
(2011) nos informa que o direito de morte e poder sobre a vida
tender a funcionar na sociedade moderna como um atributo da sociedade civil, para
manter a vigilncia e o controle dos desvios comportamentais, visto que at a poca
monrquica o poder sobre a vida e a morte era reservado aos reis e igreja. O
Filsofo francs informa que a potencialidade da morte, que era um smbolo de
poder de um nico domnio sobre os demais, ser, a partir do iluminismo,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
116
reencenado pela administrao pblica dos corpos e pela gesto calculista da vida,
desenvolvendo-se, com isso, tcnicas diversas e numerosas a fim de se obter a
sujeio dos corpos e o controle das populaes. O dispositivo da sexualidade
funcionar como um dos itens mais importantes. Instaura-se a era do que o autor
classifica como biopoder, e que ser um elemento indispensvel ao desenvolvimento
do capitalismo, podendo ser assimilado custa da admisso vigiada dos corpos no
aparelho de produo e por meio de uma acomodao dos fenmenos de grandes
populaes aos interesses econmicos.
3 ENTRE AS MALHAS DO CORPO
O corpo da travesti pode ser interpretado como um enfrentamento gesto
calculista da vida, desajustado ao controle, expande-se atuando como um corpo sem
rgos, conforme conceituam Gilles Deleuze e Flix Guattari (2012), funcionando
muito mais como uma prtica, ou conjunto de prticas, em vez de uma noo bem
acabada. No necessrio compreender o CsO (Corpo sem rgos). preciso
experiment-lo, viv-lo.
O corpo organizado trabalha como uma aparelho que aponta para a sua
produo. Quando este corpo alcana os contornos de organismo, ganha, portanto,
uma funcionalidade e serve para realizar determinados fins, muito mais de carter
externo do que interno, muitas vezes, abafando e camuflando o desejo, que dever
ser fundeado a uma lgica capitalista de ordenao social. O rgo sempre um
instrumento para alm dele mesmo, agindo de forma contraventora a seus
deslimites. Esse modelo de corpo com rgos opera como uma espcie de priso,
retirando do agente a autonomia de decidir acerca de quais modelos aplicar sobre si
e quais experincias podem ser efetivadas. O CsO sempre uma tecnologia a servio
da desordem visto que deseja tomar o que dele: a potncia de existir.
No tocante a investigar como estes novos corporais projetam-se sobremaneira
sobre as travestis e menos nas prostitutas, acendendo nestas um certo mal-estar,
toma-se a base dos estudo realizados pela psicanalista Maria Rita Kehl (2004) sobre o
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
117
corpo, que maneira de Foucault tematizar o cuidado de si como uma tcnica de si,
autora replicar este conceito, visando compreender a cultura do corpo no mundo
contemporneo.
Diferentemente do conceito cunhado pelo filsofo francs que apresenta a
cultura de si, na antiguidade, articulada ao papel dos homens na Grcia, ou seja, ser
capaz de cuidar bem do corpo e da mente como condio para cuidar bem dos
assuntos na polis o corpo, na atualidade, representa o depositrio de todas apostas
do mercado de trocas simblicas. A cultura do corpo, diz a psicanalista, no uma
cultura voltada sade, mas ao exibicionismo, como cultivo de um sistema fechado,
claustrofbico e txico, encerrado pelo uso cada vez mais frequente de anabolizantes
e silicone, a fim de turbinar e produzir um corpo que seja capaz de render as somas
de um comrcio da imagem de si como esteticamente admissvel.
O primeiro conceito elencando um corpo sem rgos aplica-se
convenientemente vivencia das travestis, que podem, atravs das novas tecnologias
de produo e modificao do corpo, desafiar as estruturas que estabelecem a
obedincia e o controle da subjetividade. J o segundo pressuposto, apresentado por
Kehl, relaciona-se ao mal-estar suscitado por uma cultura do corpo que atende a
processos de dessubstanciao, ou deontolgicos.
O curta explora, criticamente, essa cultura voltada ao corpo, atravessada pela
sensao de desconforto e desvantagem das prostitutas em relao ao mercado de
prazeres difusos, cada vez mais vantajoso s travestis.
Shirley, por que voc no vira Mona?, diz Natanael, vendedor de cafezinho.
A prostituta contesta: T trocando as bolas, ? Eu sou 100% mulher. T vendo no?
Eu l quero ser imitao barata. Alis, v se picando logo daqui, maquete de viado.
A escolha de Silveira por Eva e a subsequente pergunta de Natanael reeditam o mal
estar experimentado por Shirley, por no encontrar-se agenciada, tecnologicamente,
a atender libido do mercado do sexo. Kehl afirma que somado ao corpo uma
dupla funo, o de oferecer a si um amor narcsico e de ofertar ao outro uma imagem
pessoal como tentativa de incluso social. O corpo ser um escravo a que se
submeter uma rigorosa disciplina na indstria da forma, e um senhor a quem ser
sacrificado tempo, economias e prazeres.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
118
Faf, amiga de Shirley, desabafa: (...) Que sinaleira essa, Shirley, pode uma
coisa dessas, tambm com tanta novidade, o cliente nem tem tempo de olhar para a
gente. A cidade tambm adquire um corpo, muitas vezes amorfo visto pelas suas
contingncias, pelas suas reformulaes, transformando-se como um elemento
concorrente que desafia o ordenamento desajustado do mercado do sexo.
A reconfigurao urbana projetada para as cidades modernas, com seus
semforos com medidor de tempo, faixas de pedestre, radares e cmeras, funciona
como uma tecnologia em contraveno ao trabalho ofertado pelas profissionais da
noite, subordinado s paradas de veculo.
4 A ANULAO DOS ESTRANHOS SOCIAIS
A narrativa aprofunda-se com a priso e posterior assassinato de Dora,
episdio que reencena o martrio suportado na madrugada do dia 04 de agosto de
1998 pela travesti Luana, Jnior da Silva Lago, 22 anos, vtima de assassinado por
afogamento cometido por um cabo e dois militares da 13 Companhia Independente
da Polcia Militar, sediada no bairro da Pituba, em Salvador.
Conforme o Primeiro Relatrio Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil,
os policiais acusados pelo crime faziam parte de um programa de policiamento
comunitrio que estava sendo implantado pela Polcia Militar. O relatrio ainda
aponta os ndices anuais de assassinatos de homossexuais na Bahia, correspondendo
a dezesseis em 1996, 12 em 1997 e 9 de janeiro a setembro de 1998. O contedo ainda
informa que Gays, lsbicas e travestis continuam sendo vtimas constantes de
agresses fsicas, tortura, discriminao, ameaas de morte, extorses, com
participao de policiais civis e militares.
Nas palavras da policial-personagem que inquire travesti que horas depois
ser assassinada T pensando o que, Boneca, que reformaram essa avenida para
vocs desfilarem, ? Isso aqui bairro nobre. No passarela de viado, no, v-se
amparado o olhar feminino em space-off da diretora Edyalla Iglesias acerca do
genocdio de travestis e das polticas sanitaristas que cultivam a eliminao dos
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
119
estranhos que tornam a Avenida Manoel Dias uma enorme Passarela de Viados,
como refere o policial, e reedita a sensao de impotncia vivenciada e relatada pela
cineasta, moradora da Pituba que, a passeio pela orla martima que desenha
turisticamente a regio da Avenida, leu uma pequena nota no jornal baiano
noticiando a morte da travesti Luana. Essa sensao lhe acompanhou por quatro
anos, culminando no curta analisado neste trabalho.
No que tange a entender as polticas higienistas cultivadas ainda no fim do
sculo XX, e que permanecem ativas na contemporaneidade como um dispositivo a
servio do status quo, o socilogo polons Zygmunt Bauman, em seu livro O Mal-
estar da Ps-Modernidade (1998), busca controverter a universalizao do medo ou
das perdas derivadas de ordem pela busca da liberdade. J no segundo captulo A
Criao e Anulao dos Estranhos, o intelectual afirma que todas as sociedades
produzem suas espcies particulares de estranhos, sua prpria maneira, inimitvel,
e estes formam uma classe de pessoas que no se encaixam no mapa cognitivo, moral
ou esttico do mundo tomada como ameaa para a noo de pureza, de higiene
social aplicada s sociedades.
Os estranhos, apenas por sua simples presena, deixa turvo o que deve ser
transparente, confuso o que deve ser coerente. Os seres humanos que transgridem os
limites se convertem em estranhos sociais e so o refugo do zelo do estado. Na
sociedade moderna, e sob o escudo do estado moderno, informa o socilogo, a
aniquilao cultural e fsica dos estranhos e do diferente foi uma destruio
criativa assim conclui, ironicamente demolindo e construindo, mutilando e
corrigindo, na tentativa de ordenar a nao, pondo os elementos constitutivos em
harmonia com as suas dessemelhanas, ou extirpando-os do convvio em sociedade.
5 O JOGO DOS ESPELHOS
A captura e o posterior afogamento da personagem Dora, o medo provocado
pelos policiais, so componentes que colaboram para que Shirley e Eva possam
encontrar uma na outra o apoio que geralmente recusam em condies de trabalho.
Os mundos, anteriormente separados por fronteiras simblicas, vo paulatinamente
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
120
se liquefazendo e se humanizando ante os desabafos enunciados em carter de
confisso.
As duas personagens duelam a todo instante num jogo de perguntas e
respostas, ao mesmo tempo, em que ocorre, como uma estratgia discursiva de
cinema, a inverso dos papis assumidos na narrativa.
A primeira pergunta instalada por Eva colega refere ao sucesso que as
travestis possuem na noite quando comparada s prostitutas, diz: A diferena que
ns, as travecas, vivemos a fantasia da mulher ideal, e ainda enceta, Pra que ser
mulher, basta parecer!. Esta alocuo atualiza o aforismo de Simone de Beauvoir em
O Segundo Sexo (1960) em que se celebra uma mulher que , principalmente, um
produto da cultura, e menos um resultado da biologia. Eva ainda diz que foi o
homem que pariu a mulher. T na bblia!. Ou seja, que a mulher tenderia a ser uma
produo agenciada para/pelo homem desde a bblia. A travesti encerra dizendo
que todas as mulheres maravilhosas que se conhece inclusive as divas do cinema,
foram tiradas da cabea do homem. Eva diz que aliado ao sucesso das travestis ao
tornar possvel a fantasia da mulher ideal, seus clientes geralmente invocam uma Eva
com o sexo de Ado, assim reeditando o mito judaico-cristo.
O universo das duas personagens vai sendo revelado a partir de um jogo de
espelhos inserido no camarim, que serve de cenrio, como uma aluso ao jogo de
telas, convoca experincias em que entra em cena o olho do espectador em dilogo ao
trabalho do cineasta. O olho ocupa uma posio de destaque e poderia ser
considerado um rgo com funo sexual, como a diria a psicanlise, por desnudar o
corpo, distinguindo-os entre rgos sexuais feminino e masculino.
no encontro da imagem com o olho que o cinema instala a possibilidade de
participao do espectador. no imaginrio aqui adotado como uma progressiva
elaborao do inconsciente psquico, intercedido pelos cdigos simblicos
engendrados mediante diversas linguagens que se d o dilogo cinematogrfico e
que, a depender das experimentaes estticas, conecta as mais diversas tramas de
natureza paradoxal e conflitante para o mundo real. Universos que se discordam
mutuamente encontram no cinema a ponte para a sua complementariedade, ou sua
polarizao. Estas relaes cambiadas entre o imagtico do cinema e o olho do
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
121
espectador s podem ser lidas e/ou tornadas complexas atravs do recurso da
linguagem.
6 CORTA
A narrativa culmina com um Corta! ouvido pela voz da narrao feminina,
que at aquele momento no havia se personificado. A tentativa de pr um corte
sequncia de planos em que as duas personagens decidem procurar a Corregedoria
de Polcia a fim de denunciar os policiais pela morte de Dora, expe o outro lado do
espelho, que a tela no exibe, o lado do espectador, que a partir desta perspectiva
funcionar como um interlocutor para o qual a imagem de Eva e Shirley buscam
dialogar, ou mirar. Como se, ao mesmo tempo que relata at onde possvel contar a
histria, estivesse convocando o pblico de cinema a uma experincia de coproduo
da narrativa ou convidando-o a tomar cincia dos fatos verdicos ocorridos com a
travesti Luana, assassinada por afogamento.
Referncias
ADELMAN, Miriam; CORRA, Amlia Siegel; RUGGI, Lennita Oliveira; TROVO,
Ana Carolina Rubini (Orgs.). Mulheres, homens, olhares e cenas. Curitiba: Ed.
UFPR, 2011.
AGAMBEN, Giorgio. O que o contemporneo e outros ensaios. Trad. Vinicius N.
Honesko. Chapec: Argos, 2012.
ALVES, Mirela Souto. A Cidade em Tela: A construo da memria Social a partir
do ciclo de cinema baiano. (III Enconto Baiano de Estudos em Cultura (EBECULT),
2010). Disponvel em: <http://www.ufrb.edu.br/ebecult/wp-
content/uploads/2012/04/A-cidade-em-tela-a-construcao-da-memoria-social-a-
partir-do-ciclo-de-cinema-baiano.pdf >. Acesso em 17 de julho de 2012.
ANDRADE, Regina Glria Nunes. A cena Iluminada (Psicanlise e Cinema). 1988.
240 f. Tese (Doutorado em Comunicao) Escola de Administrao, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de janeiro, 1988.
ARRUDA, A. Teoria das representaes sociais e teorias de gnero. Cadernos de
Pesquisa, Fundao Carlos Chagas, Campinas, SP, v. 117, p. 127-147, 2003
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
122
AUMONT, Jacques, [et al.]; trad. Marina Appenzeller. A Esttica do Filme. 9 ed.
Campinas, SP: Papirus, 2012.
BAUMAN, Zygmunt. O Mal-Estar da Ps-modernidade. Trad. Mauro Gama,
Cludia Martinelli Gama; Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
BEAUVOIR, Simone. O Segundo Sexo. So Paulo: Difuso Europeia, 1960.
BENJAMIN, Walter. Magia e Tcnica, Arte e Esttica. In: Obras escolhidas, vol. 1.
So Paulo: Brasiliense, 1985.
BENTHAM, Jeremy. Uma introduo aos princpios da moral e da legislao. 2a
ed. So Paulo: Abril Cultural, 1979. (Os Pensadores)
BERNADET, Jean-Claude. Cinema e Histria do Brasil. So Paulo: Editora da
Universidade de So Paulo (USP), 1988.
BIRMAN, Joel. Cartografias do feminino. So Paulo: Ed. 34, 1999.
__________ Entre cuidado e saber de si: sobre Foucault e a psicanlise. Rio de
Janeiro; Relume-Dumar, 2000.
CARVALHO, Maria do Socorro Silva. Imagens de Um Tempo em Movimento;
cinema e cultura na Bahia nos Anos JK (1956-1961). Salvador: Edufba, 1999.
Dissertao (Mestrado em Cincias Sociais) Faculdade de Filosofia e Cincias
Humanas, Universidade Federal da Bahia, 1992.
CARVALHO, Maria do Socorro Silva. A Nova Onda Baiana; cinema na Bahia (1958-
1962). Salvador: Edufba, 2003. Tese (Doutorado em Histria Social) Faculdade de
Filosofia, Letras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo, 1999.
CARVALHO, Maria do Socorro Silva. Aonde Anda a Onda? Notas sobre a recepo
gacha danovssima onda baiana. Letras de Hoje: Porto Alegre, v. 46, n. 4, p. 60-67,
out./dez. 2011.
Direitos Humanos DHnet: Primeiro Relatrio Nacional sobre os Direitos Humanos
no Brasil. Disponvel em: <
http://www.dhnet.org.br/dados/relatorios/nacionais/i_relatorio_nacional/bahia.h
tm> Acesso em 01 de agosto de 2013.
COSTA, Claudia de Lima. O Sujeito no Feminismo: revisitando os debates. Cad.
Pagu. 2002, n.19, pp. 59-90. Disponvel em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
83332002000200004> . Acesso em 08 de agosto de 2013.
COSTA, Maria Helena Braga e Vaz da. Geografia, gnero e espao no contexto do
cinema brasileiro contemporneo. Universidad de Barcelona, 2008. Disponvel em:
<http://www.ub.es/geocrit/-xcol/34.htm>. Acesso em 12 de junho de 2012
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
123
DEL PRIORI, Mary (Org.). Histria das Mulheres no Brasil. So Paulo: Contexto,
1997
DELEUZE, Gilles. A Imagem-Movimento: Cinema I. Trad. Stella Senra. So Paulo:
Editora Brasiliense, 1983
______________ A Imagem-Tempo: Cinema II. Trad. Eloisa de Araujo Ribeiro. So
Paulo: Editora Brasiliense, 1990.
DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Flix. Mil Plats. Capitalismo e Esquizofrenia. Vol.
3. Traduo Aurlio Guerra Neto, Ana Lcia de Oliveira, Lcia Cludia e Suely
Rolnik. So Paulo: Editora 34, 2012.
FOUCAULT, Michel, A Hermenutica do Sujeito. Trad. Mrcio Alves da Fonsesa e
Salma Tannus Muchail. So Paulo: Martins Fontes, 2004.
________________Ditos & Escritos: arqueologia das cincias e histria dos sistemas
de pensamento. (v. II). Organizao Manoel Barros da Motta. Traduo Elisa
Monteiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2005.
________________Ditos & Escritos: tica, sexualidade, poltica. (v. V). Organizao
Manoel Barros da Motta. Traduo Elisa Monteiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitria, 2006.
________________Histria da Sexualidade 1: A Vontade de Saber. Trad. Maria
Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: edies
Graal, 2011.
________________ Histria da Sexualidade 2: O uso dos prazeres. Trad. Maria
Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: edies
Graal, 2011
________________Histria da Sexualidade 3: O cuidado de si. Trad. Maria Thereza
da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: edies Graal,
2011
________________Vigiar e punir. O nascimento da priso. Traduo Raquel
Ramalhete. 32. ed. Petrpolis: Vozes, 1987.
FREUD, Sigmund. As Pulses e as Vicissitudes, 1915. In: ANDRADE, Regina Glria
Nunes. A cena Iluminada (Psicanlise e Cinema). 1988. 240 f. Tese (Doutorado em
Comunicao) Escola de Administrao, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de janeiro, 1988.
GARCIA, Wilton. Mediaes do Corpo no Cinema de Shirley. Revista udio Visual.
UNISINOS: So Leopoldo. Ano 1, novembro, 2003.
GOMES, Renato Cordeiro. Todas as cidades, a cidade: literatura e experiencia
urbana. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
124
HYPPOLITE, Jean. Introduction La philosophie de lhistoire de Hegel. Seuil,Parigi
1983, p.43, 1948.
KAPLAN, E. Ann. A mulher e o cinema: Os dois lados da cmera. Rio de Janeiro:
Rocco, 1995.
KEHL, Maria Rita & BUCCI, Eugnio. Videologias: ensaios sobre a televiso. So
Paulo: Boitempo, 2004.
MARIANO, Silvana Aparecida. O sujeito do feminismo e o ps-estruturalismo.
Londrina, Universidade Estadual de Londrina, 2005.
NO CORAO de Shirley. Produo e direo de Edyala Lima Iglesias. Salvador,
2002. 1 DVD (20 min), sonoro, color; 35 mm.
SCHPUN, Mnica Raisa (org.). Masculinidades. So Paulo: Boitempo Editorial;
Santa Cruz do Sul. Edunisc, 2004.
SCOTT, Joan W. O enigma da igualdade. Florianpolis, Revista Estudos Feministas
vol.13, 2005.
SANTOS, Roberto Corra dos. Modos de saber, modos de adoecer: o corpo, a arte, o
estilo, a vida, o exterior. Belo Horizonte: editora UFMG, 1999.
STAM, Robert. Introduo Teoria do Cinema. Campinas: Papirus, 2003.
TEIXEIRA, Ins Assuno de Castro; LOPES, Jos de Souza Miguel (Org.). A mulher
vai ao cinema. Belo Horizonte: Autntica, 2005.
TERRA. Letras.mus.br: Patrcia, Caetano Veloso. Disponvel em <
http://letras.mus.br/caetano-veloso/1058248/> Acesso em 13 de setembro de 2013
______ Letras.mus.br: Crazy, Willie Nelson. Disponvel em <
http://letras.mus.br/willie-nelson/262313/traducao.html > Acesso em 13 de
setembro de 2013.
PARA ALM DA PLATAFORMA NOVE E MEIA
Um estudo de Recepo Crtica do Fenmeno Pottermania
Roberto Rodrigues Campos
Universidade Estadual da Bahia
betinho40@hotmail.com
Resumo: Em 1997, foi publicado na Inglaterra o livro Harry Potter e a pedra filosofal, escrito
pela britnica Joanne Kathleen Rowling, que se configura no mundo como o primeiro
volume de uma srie de narrativas fantsticas reunidas em sete volumes, a qual, hoje, j
representa um fenmeno literrio e cultural, quando adicionados livros spin-off, verses em
audiobooks, adaptaes cinematogrficas recordes de bilheteria, jogos, brinquedos, vesturio,
um parque temtico, e at mesmo criao de um vocabulrio particular; obra, a qual jamais
algum cogitaria dizer que faria tanto sucesso ao ponto de, quinze anos depois, ter se
tornado a terceira obra mais lida nos ltimos 50 anos, vendendo mais de 450 milhes de
cpias, traduzidas em 72 idiomas. Questiona-se o porqu de tanto sucesso, uma vez que,
para os estudiosos mais conservadores, Harry Potter e todas as obras contemporneas de
entretenimento no correspondem ao ideal literrio, e combatem toda e qualquer produo
literria de mesmo estilo, alegando m qualidade esttico-literrio por sempre seguirem uma
mesma forma, por terem seus sucessos premeditados, perdendo, assim, a beleza esttica e o
esprito artstico. A crtica literria j vem apreciando textos como os de Rowling, tornando-
se importante discutir o significado de literatura, uma vez que ela um fenmeno cultural e
histrico, e, portanto, passvel de receber conceitos diferentes de pessoas diferentes em
ocasies diferentes. Nesse sentito, este trabalho busca apresentar parte da fortuna crtica do
fenmeno cultural massivo - Pottermania -, articulando uma anlise da recepo da srie de
narrativas Harry Potter, no ambiente acadmico brasileiro. Para tanto, tomar-se- como
objeto de anlise o livro Alm da Plataforma nove e meia: pensando o fenmeno Harry Potter, uma
coletnea de estudos sobre a srie do menino bruxo, organizada pelos professores doutores
Sissa Jacoby e Miguel Rettenmaier. O livro agrupa textos de especialistas e pesquisadores da
leitura e da literatura infanto-juvenil, que contemplam e investigam os leitores, tanto pela
interpretao do texto quanto discutindo o prprio gnero infanto-juvenil e seu pblico-
leitor uma compilao que resulta da necessidade de se pensar o fenmeno Pottermania, de
se considerar uma escrita que promove a formao leitora de muitos jovens, e que j faz
parte do acervo de leitura de muitos adultos. Estudar o livro escolhido permite elucidar a
metodologia de leitura e recepo utilizada pelos acadmicos brasileiros no presente, na qual
a srie Harry Potter abordada e compreendida segundo as interpretaes que o pblico-
leitor desse momento foi capaz de fazer dessa obra, a fim de apontar at onde os mtodos de
leitura, pesquisa e anlise da recepo da obra de Rowling se cruzam e se afastam.
Palavras-chave: Pottermania; Recepo Crtica; Leitores; Harry Potter; J. K. Rowling
1. APRESENTAO
Configura-se a obra de J. K. Rowling no mundo como uma srie de narrativas
fantsticas reunidas em sete volumes, com um sucesso de vendas ultrapassando
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
126
pouco mais de 460 milhes de cpias, a qual, hoje, j representa um fenmeno
literrio e cultural, quando adicionados livros spin-off, verses em audiobooks,
adaptaes cinematogrficas recordes de bilheteria, jogos, brinquedos, vesturio, um
parque temtico, e at mesmo criao de um vocabulrio particular. No entanto, no
se pode negar que o consumismo desempenhou um papel fundamental na
propagao de sua fama em todo o mundo, conhecida como Pottermania, uma
literatura de massa, a qual elevou Harry Potter categoria de obra literria base para
o que vem a ser produzido posteriormente, os novos Harry Potter.
Em virtude do sucesso que a srie de Rowling alcanou, de acordo com Eliane
Ferreira,
a maior parte das crticas obra advm de caractersticas que a
situam no contexto da produo literria ps-moderna, como, por
exemplo, configurar-se como um romance hbrido, situado no
mercado de bens simblicos, sob a forma de best-seller, que
estabelece dialogia com outras produes, por meio de sua narrativa
intertextual. (FERREIRA, 2009, p. 27-28).
Desde a publicao do primeiro dos sete volumes da srie, Harry Potter e a
Pedra Filosofal (1997), a obra de Joanne Kathleen Rowling j vendeu milhes de
cpias por todo o mundo, sendo reverenciada por uma multido de leitores fiis a
qualquer material cujo tema seja Harry Potter. A crtica literria j vem apreciando
textos como os de Rowling, do ponto de vista da produo do fenmeno literrio-
cultural. De acordo com Patrcia Pitta, doutora em Letras pela Pontifcia
Universidade Catlica do Rio Grande do Sul (PUC-RS),
o estudo das obras da srie Harry Potter tem sua justificativa no fato
de que uma obra literria lida por milhes dificilmente virar
poeira, pois seu registro no intelecto humano com certeza produzir
frutos, independente do julgamento esttico que se faa da obra.
(PITTA, 2006, p.12).
O consumo dos best-sellers fez surgir a ideia de uma reclassificao literria,
cujo nome provm de um dos seus objetivos: literatura de entretenimento. Jos Paulo
Paes faz a defesa de um desenvolvimento de uma tradio de uma literatura de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
127
entretenimento no Brasil, estimuladora do gosto e do hbito da leitura, adquire o
sentido de degrau de acesso a um patamar mais alto onde o entretenimento no se
esgota em si, mas traz consigo um alargamento da percepo e um aprofundamento
da compreenso das coisas do mundo (PAES, 1990, p. 28), e acusa a histria da
literatura brasileira de no ter dado ateno a isso, pois h uma formulao do que
dito como cnone a fim de forar algum a ler alguma coisa, o que bastante
prejudicial quando se trata da formao de um pblico leitor, visto que para ser
frudo, o livro, mesmo de entretenimento, exige o mnimo de esforo intelectual
(PAES, 1990, p. 36).
A leitura de clssicos da literatura vem perdendo fora; a Academia, bem
como a Escola, ainda assegura a leitura dos mesmos, temendo, quem sabe um dia,
que deixem de existir. Conforme Robert Darnton vemos a literatura de cada sculo
como um conjunto de obras agrupadas em torno dos clssicos; e nossa ideia de
clssico provm de nossos professores, que por sua vez a receberam de seus mestres
(DARNTON, 1998, p.9). Esses clssicos esto em desarmonia com a moda literria,
visto que esta, hoje, caracterizada pela leitura de best-sellers, os quais configuram o
quadro de uma nova literatura: a de entretenimento.
O Grupo Silvestre
4
, por exemplo, manifesta-se a favor da volta narrativa, ao
entretenimento e popularizao da literatura brasileira, uma reformulao e/ou
determinao das caractersticas dessa literatura contempornea. Embora as
propostas do Grupo Silvestre sejam voltadas para a literatura brasileira, pelas
caractersticas apresentada enfoque no gosto, no prazer e na recepo de um
pblico-leitor abraam uma gama de literaturas estrangeiras, as quais vm sendo
publicadas e consumidas com bastante fervor pelos brasileiros, como uma publicada
em 1997, cuja traduo fora apresentada no Brasil em 2000, e que hoje se configura
como o maior fenmeno literrio/cultural jamais visto pelo mundo outrora, de
desabafa Ana Maria Machado: Nunca existiu um fenmeno to forte como o de
Harry Potter (MACHADO apud MIRANDA, 2011).
4
Grupo formado por Felipe Pena, Andr Vianco, Luis Eduardo Matta, Pedro Drummond e outros
escritores e estudiosos da literatura; lanaram o Manifesto Silvestre contendo propostas para
valorao da literatura brasileira contempornea.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
128
A partir dessa afirmao de Ana Maria Machado, despertou-se o desejo de se
fazer um estudo da recepo crtica da srie Harry Potter. Para tanto, foi escolhido o
livro Alm da plataforma nove e meia: pensando o fenmeno Harry Potter, organizado por
Miguel Rettenmaier e Sissa Jacoby, o qual rene dez artigos de pesquisadores
brasileiros do fenmeno Pottermania, para, atravs dele, observar como os estudiosos
da Literatura esto recepcionando as narrativas do menino bruxo, e propor possveis
respostas para levantar definies do que seja um clssico literrio ocidental, num
momento em que o processo cannico-literrio tem se tornado dialtico, frente ao
consumo vido de literaturas de entretenimento, partindo de um estudo das funes
da Crtica Literria e dos critrios de valorao de uma obra.
2. A RECEPO CRTICA PENSANDO O FENMENO HARRY POTTER
Sissa Jacoby e Miguel Rettenmaier, Doutores pela PUC-RS, organizaram o
livro chamado Alm da plataforma nove e meia: pensando o fenmeno Harry Potter, o qual
rene dez artigos de estudiosos e pesquisadores da srie Harry Potter, produzidos no
Brasil. A professora da Universidade de Passo Fundo, Tania Rsing, apresenta o livro
como resultado de uma crtica sem interesses outros alm de pensar honestamente
um texto de tal forma apreciado por crianas e adolescentes (para no referir os
adultos que eventualmente tenham gostado da srie Harry Potter) (RSING, 2005,
p. 6).
Famoso entre aqueles de 8 a 80 anos: acredita-se que uma pesquisa iria revelar
que mais de 75% da populao brasileira j ouviu falar, em algum momento, de
Harry Potter. Por isso, legtimo questionar o que se entende por essa paixo por
uma srie de sete livros infantis e oito adaptaes cinematogrficas; merece reflexo.
Para Sissa Jacoby:
A propsito dessa extrapolao da faixa etria ao inverso, uma
questo, entre tantas outras que o fenmeno suscita, se impe: por
que adultos esto lendo livros escritos para crianas, assistindo a
filmes de animao destinados a crianas, nem sempre
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
129
acompanhados por elas, mas por escolha prpria? (JACOBY, 2005,
p.117)
A questo saber o porqu de tanto sucesso, j que no foi como uma onda
como mar, teve seu boom, mas no fora destrudo rapidamente, no diminura. Para
os estudiosos mais conservadores, Harry Potter e todas as obras contemporneas de
entretenimento no correspondem ao ideal literrio, e combatem toda e qualquer
produo literria de mesmo estilo, alegando m qualidade esttico-literrio por
sempre seguirem uma mesma forma, por terem seus sucessos premeditados,
perdendo, assim, a beleza esttica e o esprito artstico. Harold Bloom, reipeitado
crtico literrio, questiona: se extistem to bons escritores para crianas com Lewis
Carrol e at mesmo Shakespeare, por que no reuni-los em um s volume,
oferecendo uma oportunidade para os pais oferecerem boa literatura para seus
filhos? (BLOOM, 2003b). Em contrapartida, a Professora Doutora Alice urea
Martha, da Universidade Estadual de Maring (UEM), diz que:
Apesar de crticas como a de Bloom e de muitas outras autoridades
reconhecidas desde o primeiro volume, Harry Potter e a pedra filosofal,
a srie assumiu o topo do rol dos best-sellers, obrigando, inclusive,
veculos da mdia, jornais e revistas a inclurem obras de literatura
infantil em suas colunas semanais de livros mais vendidos.
(MARTHA, 2005, p.121)
Para Alice Martha, Harry Potter uma prova de que a juventude da era
internet realmente se interessa por literatura, j que considera a obra de Rowling
como literatura. Na viso de Martha:
A cada lanamento, a situao se repete, e crianas que jamais haviam
lido um livro, entusiasmadas, enfrentam a maratona de leitura
propiciadas pelos imensos volumes da srie; adultos h muito
distanciados da lides da leitura so vistos deliciando-se com as
aventuras do pequeno feiticeiro, ou, pelo menos, procurando
descobrir o que leva a garotada de volta aos meios impressos, que
julgavam em situao de morte iminente. Assim, crticos e estudiosos
de questes sobre a literatura infantil e juvenil e sobre hbitos de
leitores tm buscado respostas para o impasse: seria to-somente o
resultado de fora publicitria ou possvel encontrarmos no texto
elementos catalisadores do interesse dos jovens leitores? (MARTHA,
2005, p.121).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
130
Ao que parece, a considerao quanto ao sucesso de Rowling, para muitos,
trata-se de um xito merecido, tal como sugere o escritor Pedro Bandeira:
Muita gente h de atribuir o megassucesso de Harry Potter moda
do esoterismo e da magia que assola o mundo literrio, mas o
segredo desse gol de placa o profundo conhecimento que a autora
possui da psicologia das crianas a quem pretende agradar: a faixa
entre os 9 e os 12 anos. [...] Joanne Rowling sabe o que pensam,
imaginam e sonham esses pr-adolescentes e lhes oferece um prato
cheio de modelos com os quais eles podem se identificar. [...] O livro
merece o sucesso mundial que obteve. No ser diferente no Brasil.
Ns, autores brasileiros de literatura para jovens, devemos dar a mo
palmatria: a senhora Rowling conhece o caminho das pedras.
(BANDEIRA, 2000)
Muito se tem discutido sobre o fato de que, na era digital, o entretenimento
oriundo da internet e dos jogos eletrnicos afasta crianas e adolescentes do mundo
dos livros. J.K. Rowling recebeu diversos prmios pelos seus livros, dentre os quais
destacam-se o Nestl Smarties Book Prize Gold Medal conquistado por trs vezes
consecutivas, isto porque a autora desistiu de continuar a se candidatar e o Prmio
Prncipe de Astria da Concrdia por ter ajudado crianas de todas as raas e
culturas a descobrirem o prazer da leitura, [...] a encontrarem nas fascinantes
aventuras de Harry Potter um estmulo imaginao e criatividade
5
.
O fato incontestvel que, de forma premeditada ou no, Harry Potter se
tornou um best-seller, um fenmeno de vendas, no Brasil e no mundo, tal como
sugere a crtica literria Nelly Novaes Coelho:
Do ponto de vista do mercado, a srie Harry Potter literatura
destinada a crianas e adolescentes tornou-se o primeiro produto
editorial infantil/juvenil a se igualar aos grandes best-sellers
adultos. Fenmeno resultante de uma gigantesca engrenagem
editorial globalizada, [...] o sucesso da srie tem incio com a
inteligente e complexa estrategia da traduo: cada volume traduzido,
com antecedncia, em dezenas de idiomas, para ser lanado,
5
Traduo minha do recorte "for having helped children of all races and cultures to discover the joy of
reading, []to find in Harry Potter's fascinating adventures a stimulus for imagination and creativity".
Disponvel em: <http://staugustine.com/stories/091103/com_1796005.shtml>. Acesso em 30 ago.
2011.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
131
simultaneamente, em centenas de pases e em tiragens que chegam a
milhes de exemplares. Os lanamentos so sempre precedidos de
um formidvel marketing: notcias invadem as colunas literrias da
imprensa. [...] Fotografam-se filas de crianas espera da compra,
criam-se concursos que envolvem o livro, etc. (COELHO, 2005, p.55).
Por esta razo que muitos ainda se perguntam se Harry Potter , ou vir a
ser um dia, um clssico da literatura universal. De acordo com Joo Lus Ceccantini:
A intensa celeuma deflagrada por Harry Potter emblemtica da
ciso que ainda hoje afeta o universo da cultura: cultura erudita /
cultura de massa; alta cultura / baixa cultura; arte / indstria cultural,
estas, entre outras tantas dicotomias que afloram no debate cultural
relativo srie Harry Potter, mas tambm, no caso brasileiro, aos
livros de Paulo Coelho, aos romances polciais, ao gnero infanto-
juvenil, aos folhetins (de ontem e de hoje), para ficar em alguns
poucos exemplos do meio literrio. (CECCANTINI, 2005, p.23).
De acordo com Borges (1974), um livro se torna clssico quando lido com
fervor e lealdade. Para Jauss ([1967]1994), o cnone literrio se define de acordo com
os processos de leitura que o pblico-leitor daquela nao foi capaz de fazer. O
Wolfgang Iser, terico do efeito, pensa que a leitura s se torna um prazer no
momento em que nossa produtividade entra em jogo, ou seja, qundo os textos nos
oferecem a possibilidade de exercer as nossas capacidades (ISER, 1999, p.10). A
experincia de pesquisa vivida pela Professora Doutora da PUC-RS Ana Cludia
Pelisoli mostra que a esttica da recepo tem como um de seus princpios bsicos o
potencial de efeito inerente obra, o que permite uma anlise baseada nos dois plos
da leitura: a estrutura textual e sua implicao na concretizao do leitor (PELISOLI,
2005, p.144), ou seja, segundo os pressupostos de Jauss, Harry Potter tambm um
clssico. A partir desse confronto de ideias de pesquisadores acadmicos brasileiros,
Harry Potter se enquadra perfeitamente dentro dos preceitos cannicos, e pode,
certamente, ser considerado um clssico, para no dizer o maior clssico dos ltimos
tempos.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
132
CONSIDERAES FINAIS
Desde a publicao do primeiro dos sete volumes da srie, Harry Potter e a
Pedra Filosofal (1997), a obra de Joanne Kathleen Rowling j vendeu milhes de
cpias por todo o mundo, sendo ela reverenciada por uma multido de leitores fiis a
qualquer material cujo tema seja Harry Potter. A crtica literria j vem apreciando
textos como os de Rowling, do ponto de vista da produo do fenmeno literrio,
baseado no objeto e no no assunto. Os livros foram escritos para crianas e
adolescentes, mas so apreciados, tambm, por um pblico adulto, porque so
escritos de uma forma que cativa o leitor, repletos de diversos recursos literrios de
fantasia, gtico e de horror; outra razo pela qual os romances so to populares e
cativantes, alm de serem cheios de fantasia, magia e aventura, que eles so muito
realistas, descrevem as vidas de jovens estudando diversas matrias e prestando
exames na escola, e relaes humanas, tais como brigas familiares, amizade,
rivalidade, paixes, etc.
Despertou-se o interesse em verificar se o sucesso de vendas da obra de
Rowling se caracteriza como subliteratura ou se a mesma se insere dentro de um
possvel perodo literrio contemporneo inovador, marcado pela produo de
literatura de entretenimento e popularizao da arte literria.
Os clssicos literrios existem e no podem ser deixados de lado; papel do
professor, enquanto pesquisador e formador de opinio, apresent-los aos jovens
leitores. Recomenda-se, no entanto, uma reviso da questo sobre o que literrio,
um reconhecimento de que a literatura de entretenimento tem seu valor, e que deve
ser estudada. Pesquisas no sentido de se apurar se h um novo momento artstico-
literrio em formao, entretanto, no se mostram mais to relevantes, uma vez que
isso j est claro a partir dos Estudos Culturais. Todavia, favorecer a discusso sobre
o ideal de clssico a partir do leitor, tendo em vista a grande recepo de
literaturas de entretenimento, como a srie Harry Potter, que se configura como
fenmeno literrio e cultural, reavaliar a recepo da srie Harry Potter, num
momento em que o processo cannico-literrio se torna dialtico, frente ao consumo
vido da literatura de entretenimento. Dentro de tal contexto, procurei avaliar as
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
133
fronteiras estabelecidas entre o pop e o erudito pela Crtica Literria contempornea,
buscando a repercusso da srie Harry Potter no meio acadmico e os modos de
recepo peculiar desta obra de entretenimento, por um novo tipo de leitor, com um
novo tipo de valor.
A partir de uma categoria de leitores da srie Harry Potter - a do leitor
acadmico -, adensou-se as reflexes acerca de como se deu a recepo de J. K.
Rowling dentro da Academia, onde estudiosos, ao invs de se preocuparem em
interpretar o texto e o meio em que esse texto foi produzido, passam a investigar os
modos como os leitores de vrias pocas conseguiram ler determinadas obras. A
abordagem partiu do estudo do livro Alm da plataforma nove e meia: pensando o
fenmeno Harry Potter, analisando a metodologia de leitura/recepo utilizada por
acadmicos no presente, no qual um texto literrio abordado e interpretado
segundo as interpretaes que o pblico-leitor desse momento capaz de fazer dessa
obra, a fim de estabelecer uma anlise de at onde os mtodos de leitura, pesquisa e
anlise da recepo da obra de Rowling se cruzam e se afastam.
Portanto, de modo geral, o estudo crtico da srie Harry Potter, sob Esttica da
Recepo, dentro da Academia, um exemplo de que a teoria literria tambm pode
ser influenciada por elementos que lhe so exteriores, mas, de modo geral, ela tenta
estabelecer critrios mais ou menos permanentes para que se diga que uma obra
boa ou no.
Referncias
BANDEIRA, Pedro. Um gol de placa da fico infantil. In: GRAIEB, Carlos. A mgica
de atrair leitores. Veja online, n. 1644, 12 abr. 2000. Disponvel em:
<http://veja.abril.com.br/120400/p_150.html>. Acesso em 10 ago. 2013.
BLOOM, Harold. Harold Bloom resgata clssicos juvenis para enfrentar Harry Potter:
entrevista concedida a Ubiratan Brasil. O Estado de So Paulo, So Paulo, 22 fev.
2003.
BORGES, J. L. Sobre os clssicos. In: ______. Jorge Luis Borges Obras Completas:
1923-1972. Buenos Aires: Emec Editores, 1974.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
134
CECCATINI, Joo Lus C. T. Leitores de Harry Potter: do negcio negociao da
leitura. In: JACOBY, Sissa; RETTENMAIER, Miguel (org). Alm da plataforma nove
e meia: pensando o fenmeno Harry Potter. Passo Fundo: UPF, 2005, p.23-52.
COELHO, Nelly Novaes. O fenmeno Harry Potter e o nosso tempo em mutao. In:
JACOBY, Sissa; RETTENMAIER, Miguel (org). Alm da plataforma nove e meia:
pensando o fenmeno Harry Potter. Passo Fundo: UPF, 2005, p.120-142.
DARNTON, Robert. Os best-sellers proibidos na Frana pr-revolucionria. So
Paulo: Companhia das Letras, 1998.
FERREIRA, Eliane Aparecida Galvo Ribeiro. Construindo histrias de leitura: a
leitura dialgica enquanto elemento de articulao no interior de uma biblioteca
vivida. 2009. 456 f. Tese (Doutorado em Letras) Faculdade de Cincias e Letras de
Assis, Universidade Estadual Paulista, So Paulo. 2009.
ISER, Wolfgang. A indeterminao e a resposta do leitor na prosa de fico. In:
______ Cadernos do Centro de Pesquisas Literrias da PUC-RS. Trad. de Maria
Aparecida Pereira, Porto Alegre, v.3, n.2, mar.1999.
JACOBY, Sissa. Harry Potter: ou isto ou aquilo. In: JACOBY, Sissa; RETTENMAIER,
Miguel (org). Alm da plataforma nove e meia: pensando o fenmeno Harry Potter.
Passo Fundo: UPF, 2005, p.103-119.
JAUSS, Hans Robert. A Histria da Literatura como Provocao Teoria Literria.
So Paulo: tica, 1994.
MARTHA, Alice urea Penteado. A presena feminina no mundo de Harry Potter.
In: JACOBY, Sissa; RETTENMAIER, Miguel (org). Alm da plataforma nove e meia:
pensando o fenmeno Harry Potter. Passo Fundo: UPF, 2005, p.120-142.
MIRANDA, Andr. Como nasceu e o que vem por a depois de Harry Potter, o maior
fenmeno pop da ltima dcada. O GLOBO online, Rio de Janeiro, 16 jul. 2011
Disponvel em: < http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/07/16/como-nasceu-
o-que-vem-por-ai-depois-de-harry-potter-maior-fenomeno-pop-da-ultima-decada-
924921149.asp>. Acesso em 10 ago. 2013
PAES, Jos Paulo. A aventura literria: Ensaios sobre fico e fices. So Paulo:
Companhia das Letras, 1990.
PELISOLI, Ana Cludia. A escrita do leitor de Harry Potter: vestgios de uma nova
recepo. In: JACOBY, Sissa; RETTENMAIER, Miguel (org). Alm da plataforma
nove e meia: pensando o fenmeno Harry Potter. Passo Fundo: UPF, 2005, p.143-171.
PITTA, Patrcia Indira Magero. A literatura infantil no contexto cultural da ps-
modernidade: o caso Harry Potter. 2006. 293 f. Tese (Doutorado em Letras Teoria
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
135
Literria) Faculdade de Letras, Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do
Sul PUC-RS, Porto Alegre. 2006.
RSING, Tania. Uma reflexo necessria. In: JACOBY, Sissa; RETTENMAIER,
Miguel (org). Alm da plataforma nove e meia: pensando o fenmeno Harry Potter.
Passo Fundo: UPF, 2005, p.5-7.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
136
RESSONNCIAS DO FANTSTICO NA AMRICA
LATINA:
A construo da realidade meta-emprica no filme O Labirinto
do Fauno
Calisto Ribeiro dos Santos
UNIJORGE
csantos0211@hotmail.com.br
Resumo: A finalidade deste artigo analisar a construo da realidade meta-emprica na
obra cinematogrfica O Labirinto do Fauno, dirigida pelo cineasta mexicano Guillermo del
Toro, realidade esta possibilitada pelo dilogo com os postulados da Crtica Literria
Estrutural introduzidos por Tzvetan Todorov acerca de elementos do discurso literrio e
pelo antroplogo estruturalista Joseph Campbell. Este ao abordar na Narratologia a tese do
Monomito, prope um modelo comum em maior ou menor grau a todas as narrativas
pr-modernas. Paradigma tambm adotado pelo filme que, devido ao enfoque em
fragmentos da Guerra civil espanhola, possibilita uma percepo esttica da mesma, a partir
do gnero fantstico ou meta-emprico cuja relevncia nas ltimas dcadas do sculo XX fez
desse gnero um tpico relevante na discusso dos novos rumos da literatura
contempornea, embora ainda seja comum, mas inaceitvel, o descaso do gnero fantstico
no panorama crtico literrio nacional. Nos ltimos cem anos 873 milhes de livros do gnero
em foco foram vendidos, sendo 460 milhes esgotados nos ltimos vinte anos devido ao
fenmeno Pottermania. A recepo crtica sobre a esttica literria de algumas dessas obras
so consideradas de m qualidade, pois as produes contemporneas quase sempre
apresentam a mesma tendncia narrativa, fugindo da originalidade. Porm, das vertentes do
fantstico, a Amrica Latina apresenta tanta singularidades que fragiliza as prprias
delimitaes do fantstico realizadas por Tzvetan Todorov, o que demonstra a carncia de
estudos crticos sobre a anatomia do fantstico e seus desdobramentos. Um exemplo dessa
triste realidade foi o estudo realizado pela Fundao Agncia Brasil pelo historiador, escritor
e professor da PUC-RIO, Joo Alegria, cuja pesquisa aponta que os ttulos de literatura
fantstica no costumam ser includos nas listas dos cadernos literrios, das anlises e das
leituras dos crticos nacionais, com efeito, a invisibilidade dos processos de formao dos
sujeitos leitores e de suas preferncias literrias aumenta assim como o abismo entre a
academia e o gosto popular que merece, incisivamente, um estudo de caso. A obra de Del
Toro, por fugir do plo cultural do cinema americano e estar imbuda nas manifestaes
literrias efetivadas na contemporaneidade, resgata acervos documentais da guerra civil
espanhola como plano de fundo ao fantstico dissolvido na trama narrativa. Por tanto, o
dilogo entre a literatura hispano-americana e a necessidade de estudo sobre a formao da
subjetividade do sujeito contemporneo e seu reflexo nas escolhas literrias, to ignoradas
pela crtica literria especializada, impe-se relevante ao valorizar as possveis implicaes
entre literatura fantstica, mdia e prticas de recepo.
Palavras-chave: Anlise flmica; Narrativa; Tzvetan Todorov; Joseph Campbell; Realidade
meta-emprica.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
138
1 APRESENTAO
A construo da realidade meta-emprica, a qual se designa anlise,
formada a partir da desconstruo da realidade pragmtica por meio da insero de
elementos fantsticos no cotidiano. Na realidade ficcional de O Labirinto do Fauno,
devido ao seu carter simblico, o meta-emprico possibilitado devido a influncias
que vo desde arqutipos femininos do inconsciente, teoria de Carl Gustav Jung, at
a saga do heroi pr-moderno teorizado por Joseph Campbell. Tal saga o elemento,
visto aqui como paradigmtico, que corrobora para uma desautomatizao do real na
pelcula em pauta, como ser evidenciado ao longo deste artigo.
de bom alvitre salientar alguns aspectos relevantes e imbudos sobre o tema
ao qual se designa anlise, tal como a formao subjetiva dos sujeitos na
modernidade e ps-modernidade, pois estes so os leitores/escritores que esto
mudando o rumo da literatura contempornea; a literatura fantstica na Amrica
Latina, conceito este imprescindvel para melhor esclarecimento das temtica que
sero abordadas, assim como os conceitos e paradigmas que subjazem na pelcula
ps-moderna do cineasta mexicano Guillermo Del Toro.
importante ressalvar que esta discusso se utiliza de um vis estruturalista.
Para melhor esclarecimento, a Crtica Estrutural foi uma tendncia baseada nas
cincias naturais de racionalizar ou codificar os fenmenos tpicos da natureza
humana em termos funcionais, da o nascimento de frmulas prescritivas para a
explicao da aquisio da linguagem e paradigmas narrativos, a fim de descrev-los
e interpret-los.
O mundo na tica dos estruturalistas, que se propuseram a desvendar as
produes humanas por meio da identificao de paradigmas presentes na
essncia de toda humanidade, largamente desacreditado, principalmente aps
conceitos como o de desconstruo, proposto por Jacques Derrida, e a arqueologia
de Michel Foucault. Ambos por serem contrrios a ideia de essncia so
considerados ps-estruturalistas.
Contudo, ainda relevante a pesquisa daqueles que se dedicaram a analisar
em forma de estruturas toda a cultura humana. Por exemplo, a produo de roteiros
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
139
para cinema, teatro e televiso obedece mesma tendncia seguida pelas cincias
naturais durante o sculo XX, a diferena que a tendncia da lgica matemtica
antes utilizada por praticamente todas as cincias naturais, hoje se reduz a um plano
especfico de uma das reas do conhecimento humano, a Narratologia.
2 CONCEITOS, CONTEXTOS E CONSIDERAES:
Considerar a expanso martima europeia iniciada pelos portugueses como o
marco das realizaes modernas uma verdade mais do que axiomtica.
Logicamente, as mudanas do final da idade mdia para incio da idade moderna foram
gradativas, mas num ritmo constante e irreversvel. Eis por que mudanas
irremediveis como o nascimento do Estado Moderno, viabilizado pela crescente
centralizao do poder, implicaram em novas iniciativas econmicas a partir do
Mercantilismo.
No campo ideolgico, surgiu o Antropocentrismo como resposta aos
questionamentos sobre o poderio hegemnico da Igreja Catlica, que reconhecia
somente Deus como centro do universo. Logo, a valorizao das artes, da
racionalidade, o acmulo de riquezas, a crescente e constante modernizao dos
centros urbanos, aliada s prticas mercantis possibilitou os recursos necessrios
para a revoluo da sociedade, cultura, e economia europeia.
Desde a antiguidade o mundo era explicado a partir de uma perspectiva mtica
onde o tempo era cclico e sem fim, uma vez que Deus e as entidades do passado
Greco-romano eram inquestionveis, o mundo ficara envolvido por uma zona de
conforto, logo, em uma plenitude; assim sendo, tudo tinha um valor absoluto e
absolutamente explicvel pela f e pelo mito.
2.1 QUANDO A LUZ COMO A GUA, HORA DE TEORIA.
Com as diversas mudanas filosficas, comportamentais, e econmicas de
toda uma conjuntura social, a humanidade entrara em um sbito pesadelo. A
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
140
realidade tal como explicada pelos mitos e dogmas religiosos agora se demonstrava
insustentvel e o mundo, nas palavras de Freud, passou por trs feridas narcsicas.
A primeira foi a queda do Geocentrismo por Coprnico, ao postular que a terra
no o centro do universo. A ferida seguinte ao ego humano foi Charles Darwin com
o livro A Origem das Espcies, que desfez qualquer meno sobre a nossa origem
divina (Criacionismo) e por fim, o prprio Freud ao defender que a racionalidade, at
ento principal motivo de orgulho da espcie humana, a menor parte de nossa vida
psquica, pois no seramos senhores nem de ns mesmos, devido predominncia
involuntria do inconsciente.
Como muito bem coloca Marshall Berman, ao citar a novela romntica A Nova
Helosa (1761), de Jean-Jacques Rousseau: tudo absurdo, mas nada chocante,
porque todos se acostumam a tudo (Rousseau Apud BERMAN, 1984, p.256). Para
Berman, o forte apelo niilista, na qual nada neste mundo vale a pena, o que bem
traduz o esprito do homem moderno que, depois de passar por vrias feridas
narcsicas, desiluses e mudanas, percebe que est dentro de um tourbillon social
(BERMAN, 1982, p. 11).
Apesar dos inegveis avanos tecnolgicos decorrentes da primeira revoluo
industrial iniciada pela Inglaterra no sculo XVIII, observa-se o nascimento de um
perodo de grandes contradies no sculo XIX, conforme afirmam as autoras
Aranha e Martins:
Nos grandes centros da Europa, apesar da difuso das ideias
democrticas, permanecem sem soluo questes econmicas e
sociais que afligem a crescente massa de operrios: pobreza, jornada
de trabalho de quatorze horas, mo-de-obra mal paga de mulheres e
crianas. (1993, p.231-2)
Se por um lado havia ordem e progresso nas ideias cientficofilosficas no
panorama cultural do sculo XIX, por outro, como j demonstraram as autoras
supracitadas, havia apenas injustia social. Nascendo em direta crtica ao capitalismo
liberal e ao conservadorismo, surge o Socialismo e o Manifesto Comunista escrito em
1848.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
141
A palo seco, a modernidade um fenmeno de ruptura com tudo aquilo
concernente estabilidade, zona de conforto e plenitude. Como consequncia, tem-se
o desconcerto do mundo e seu descompasso.
Embora, a cincia tenha se transformado no grande mito moderno, ainda h
indivduos fieis aos dogmas religiosos ao ponto do fanatismo religioso, embora haja
liberalismo econmico e viva-se em uma majoritria democracia, ainda h pases
com regimes fortemente opressores e totalitrios. Ainda que se conviva em uma
sociedade, isso no implica dizer que a mesma seja homognea, pois tudo converge a
uma fragmentao do sujeito na ps-modernidade na qual vivemos.
Mesmo no havendo um consenso entre os tericos na conceituao de
modernidade e ps-modernidade, as caractersticas so indelveis e explcitas, pois o
pr-moderno foi marcado pela mentalidade ainda mtica, com puro apelo f e ao
mito. Na modernidade, devido s feridas narcsicas da humanidade, a sociedade
entrou em uma profunda frustrao, por decorrncia, de no sermos mais o centro
do universo, no sermos filhos de um Deus e nem senhores de ns mesmos.
Portanto, a subjetividade na ps-modernidade marcada pela angstia de no sofrer,
preservar aquilo que ainda se tem como uma proteo aos estmulos geradores de
trauma, que seria tudo aquilo que foge do esperado, do automatizado. Como reflexo
disso nas manifestaes literrias, Bella Josef pontua que:
A literatura fantstica aquela em que se marca a emergncia da
questo do inconsciente. A narrativa fantstica subverte toda a
racionalidade, a linearidade da narrativa e a oniscincia do narrador,
utilizando-se de vrios processos. H, assim, a quebra da relao de
causa e efeito. (JOSEF, 1986.p.223.)
2.2 VERTENTES DO FANTSTICO E A HERMENUTICA LATINA-
AMERICANA
Em resposta ao caos do mundo moderno no caso da Espanha, o
autoritarismo fascista a literatura passa a ocupar mais explicitamente o cargo de
crtica da sociedade, mas tambm espelho da mesma que a criou.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
142
Observa-se, ento, que quando um texto literrio definido como simples
imitao do real, h um aumento da dependncia entre a literatura e a realidade
como observada por Aristteles com sua noo de verossimilhana.
Segundo Freud, o pai da psicanlise, quando a realidade torna-se insuportvel
de to fria e cruel, necessria uma vlvula de escape, como uma forma natural do
indivduo de proteger-se dos fatores que o levariam a uma frustrao.
No campo da teoria literria, os formalistas russos definem a literatura como
um escape do automtico, das situaes rotineiras, uma segunda viso sobre uma
situao corriqueira, pois a arte literria considerada o enriquecimento de pequenos
detalhes, o que h de especial dentro de um emaranhado de coisas.
Na perspectiva dos formalistas russos sobre a criao literria, nota-se que at
a obra mais realista, em seu sentido prosaico, no passa de uma possibilidade, de
uma verso sobre a nossa trivial realidade, que est to longe quanto qualquer
realidade fantstica, pois ambas recriam para si verses e no fatos, sendo estas
trabalhadas na polissemia do discurso do autor, que a recria como bem entender.
Segundo Josef:
Desde Saussure, sabemos que a linguagem pertence ordem do
simblico (isto , mundo da cultura e da civilizao) e dentro dela
efetua-se um sistema que contraria as prprias regras do simblico: a
do imaginrio. Na literatura fantstica no se trata de crer no real
para reconhecer o imaginrio, mas, tomar por imaginrio o real que
recusamos assumir. No fantstico o inconsciente vem tona. (1986, p.
219)
A partir dessa constatao, observa-se que enquanto na lingustica a
linguagem humana definida como a capacidade de expresso por meio de lnguas
convencionadas por signos lingusticos, na literatura fantstica ocorre algo
equivalente, pois a literatura passa a ser o prprio signo que segundo Saussure de
natureza arbitrria. Com efeito, a arbitrariedade do discurso na literatura traz tona
a insegurana, a impreciso dos fatos e o relato do dbio, pois se o signo lingustico
relativo, a literatura desta vertente no foge regra.
Na Amrica Latina, em meado dos anos 30 ou 40, nasce uma tendncia
literria, chamada Realismo mgico, nos moldes do Surrealismo (ltimo movimento
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
143
vanguardista europeu lanado por Andr Breton em 1924 com o manifeste Du
Surralisme) que visa potencializar a desconstruo do real, pois o fantstico na
literatura possibilitou uma abertura para temas como homossexualidade,
sensualidade exarcebada, necrofilia, incesto, todos os temas possveis de censura sem
ser vtima da mesma, pois tudo delegado figura do monstro, do demnio ou da
loucura.
No se sabe se os acontecimentos sobrenaturais realmente acontecem ou so
produtos da imaginao da personagem, pois at mesmo o leitor compartilha desta
dvida, devido ao emprego do dbio e da incerteza como bem define o novelista,
diplomata e escritor guatemalteco Asturias:
Meu realismo mgico porque revela um pouco de sonho, tal como o
concebe os surrealistas. Tal como o concebe tambm os Maias em
seus textos sagrados. Lendo estes ltimos dei-me conta de que existe
uma realidade palpvel sobre a qual se enxerta outra realidade,
criada pela imaginao, e que se envolve de tantos detalhes, que ela
chega a ser to real como a outra. Toda a minha obra se desenvolve
entre essas duas realidades: uma social, poltica, popular, com
personagens que falam como o povo guatemalteco, a outra
imaginria, que os encerra em uma espcie de ambiente e de
paisagem de sonho. (1986, p. 186)
3 CONSIDERAES SOBRE CINEMA, LITERATURA E RECEPO
Ganhador de trs prmios do Oscar de direo de arte, de fotografia, de
maquiagem; premiado pelo Bafta Film Award de figurino, de melhor filme estrangeiro
e maquiagem, direo artstica, roteiro e trilha sonora, no ano de 2007; O Labirinto do
Fauno torna ainda mais crvel a Teoria da Montagem, que pregava a ideia de que a
narrativa deve seguir e favorecer a estrutura do pensamento. Logo, o cinema
perderia a sua funo descritiva da realidade, deixando de reproduzi-la para
produzi-la conforme a intencionalidade da linguagem usada pelo diretor em seus
filmes. Isto se verifica, por exemplo, na vertente cinematogrfica, dos anos 30,
conhecida como Expressionismo alemo, na qual a manipulao da imagem
maximizava o efeito esttico do filme na plateia.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
144
interessante evidenciar o impacto e a necessidade de sustentao da
impresso de realidade sobre o espectador, enfocada pela Teoria da Montagem, pois
estes aspectos so bastante trabalhados em O Labirinto do Fauno, pois se observa que
dos prmios conquistados pelo filme, todos so relativos produo tcnica, com
efeito, dificilmente a pelcula de del Toro ganharia o Oscar sem o investimento alto
nos mecanismos de manipulao da imagem, possibilitados pela avanada
tecnologia atualmente disponvel e pelo alicerce terico e pioneiro de Eisenstein e sua
Teoria da Montagem. Desnudando a preocupao dos cineastas com a famigerada
Impresso de Realidade trabalhada pelo cinema, partindo da concepo de quanto mais
prximo da realidade, mais crvel e menos questionvel passa a ser a veracidade dos
fatos veiculados pela narrativa. Revelando assim, a dinmica relao entre autor,
obra e comunicao
4 O LABIRINTO DO FAUNO, UM ESPETCULO ATERRADOR DA MORTE
Ao desvendar o pano de fundo da narrativa ambientada no perodo ps-
guerra civil espanhola no ano de 1944 o narrador desautomatiza as expectativas
sobre a histria deste perodo ao contrapor um mundo cruel, de guerra e ranger de
dentes a uma realidade mgica onde no h mentiras ou dor. Ao desvendar o pano
de fundo da narrativa e a dualidade da mesma, torna-se evidente a existncia de uma
realidade paralela a do perodo retratado no filme.
Moama, princesa do submundo, que era curiosa e apaixonada pelo mundo
dos humanos, transgredira os portes do mundo subterrneo. Uma vez do lado de
fora, ela morrera cega, sem lembranas do seu passado e prisioneira daquela vil
realidade at o aguardo retorno ao seu reino perdido.
Em outro corpo, tempo e espao, Moama, agora Oflia, descobrir em sua
jornada labirntica uma realidade mgica to aterradora quanto qualquer outra, mas
que para acess-la por completo ter que passar por trs provas antes da lua cheia a
fim de provar ao seu mentor que a humanidade no corrompera o seu esprito ainda
puro.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
145
O signo da mudana apresenta-se sob diferentes mscaras no decorrer da
narrativa e configura a primeira etapa do Monomito. Das mscaras a serem reveladas,
a fuga do submundo em que vivia a personagem que primeiramente ser
analisada.
4.1 MUNDO COMUM DA HERONA ANTES DO INCIO DA NARRATIVA
Motivada por seu aguado interesse sobre o mundo dos humanos, Moama
no se limitava as experincias normais permitidas aos membros comuns da
comunidade em que vivia, queria ir alm da sua trivial realidade.
A sua curiosidade pode ser definida como uma incompletude da alma que por
um desejo irreprimvel de conhecer os segredos pertinentes ao mundo dos humanos
atravessa os portes do submundo, e devido a sua transgresso ordem natural,
logo morre em seu primeiro contato com o to desejado mundo humano. E como
represlia para todo aquele que ousa desobedecer s convenes sociais, ela
permanentemente afastada de seus pais, seu povo.
A fuga da princesa pelas escadarias de seu mundo obscuro repleto de sombras
representa a ascenso do indivduo na busca pelo conhecimento, uma retomada dos
valores platnicos sobre a alma, pois o plano terrestre seria dividido em duas partes:
o mundo da cpia e o mundo ideal, das ideias. Para tal tarefa, deve o indivduo
pertencente cpia abdicar-se dos prazeres do corpo, pois este concebido como
percalo para uma plena ascenso tica ou moral, que devido a essa desmedida
imediatamente punida.
Para voltar ao seu mundo comum deve provar sua redeno da transgresso
que realizara. O submundo e suas sombras representam a realidade da qual o
indivduo (Moama) deve sair para vislumbrar, o que era para ela, o verdadeiro
mundo das realidades, correspondente em Plato ao mundo das ideias.
Os portes do submundo o acesso s escadas que saem das sombras em
direo luz, ou seja, os portes uma vez abertos configuram segundo Chevalier e
Gueerbrant:
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
146
Um valor dinmico, psicolgico; pois no somente indica uma passagem, mas
convida a atravess-la. o convite viagem rumo a um alm... A passagem qual
ela convida , na maioria das vezes, na acepo simblica, do domnio profano ao
domnio sagrado. (2009, p. 735)
Essa concepo corrobora ainda mais a aproximao do percurso mtico da
personagem com a simbologia do indivduo rumo ao conhecimento, cujo acesso
torna-se restrito em muitas culturas, sobretudo no mito cristo do paraso perdido de
Ado e Eva.
atravs desta porta, ponto de acesso entre os dois mundos, que se
desdobrar toda a narrativa.
4.2 CHOQUE DE REALIDADE: A ENTRADA DO PATRIARCADO
Diferente do projeto cultural para o corpo feminino (reproduo), o masculino
est condicionado o tempo inteiro a provar sua masculinidade por medo de uma
castrao flica simblica por tornar-se menos homem, no sentido que, se no agir
conforme o molde para o seu corpo, i.e., caso no corresponda altura das
expectativas sobre o seu comportamento, ele se tornar menos homem, pois ser
homem um ttulo de poder que se no for constantemente defendido ou exercido
acaba-se por perd-lo, para outro homem ou para mulher.
Sob a perspectiva do gnero como construo, observa-se que o masculino
passa a ser definido como status a ser conquistado por queles predestinados a essa
classificao, pois se torna homem quem reprime a sua feminilidade latente a todo
custo, porque esta durante sculos tornou-se sinnimo de fraqueza, de subservincia.
O homem criado desde criana e cobrado o tempo inteiro para ser o
dominador da espcie, se fracassa renegado por outro, pois no digno de ter o
ttulo de poder: o poder do macho alfa, predominante, sendo este explicitado pela
figura do falo como componente simblico da sexualidade e do poder masculino em
seu nvel arquetpico, a fim de reforar o mito do macho; para que o homem, em
forma de mito, exera a sua peculiar autoridade na sociedade.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
147
Em O labirinto do fauno, capito Vidal, por representar a fora militar fascista, a
figura do macho demonstra-se ainda mais opressora devido aos horrores da guerra.
A dimenso simblica do falo representada pela figura do relgio que herdara de
seu pai, um grande oficial do exrcito, pelo qual nutre grande amor e admirao por
sua conduta honrosa de morrer em guerra.
O relgio compartilhado por ambos smbolo representativo dos tempos
modernos iniciados pelo estopim da Revoluo Industrial do sculo XVIII em que
traduz a chamada morte de Deus, termo popularizado a partir das ideias do
filsofo Friedrich Nietzsche, devido ao fim da noo do tempo como figura mtica e
cclica, sem fim. Estes novos tempos so marcados pela runa, velhice e por fim a
morte. Premissa essa representada na mitologia Greco-romana pelo poderoso e
tirano Zeus que devora seus filhos com receio de perder o seu imperioso poder.
Por ser poderosa e austera, a figura do homem altamente coercitiva, em
especial, na relao entre me e filha. Vidal representa o chamado ao mundo exterior
dessa relao simbitica, ele o furor que seca o lquido amnitico que prende Oflia
ao corpo da me.
A inimizade entre a garota e o capito acaba por estragar a ideia de felicidade
absoluta para Oflia que estar a ss com a sua me Carmem. Esta por sua vez, no
aparece muito no desdobramento da histria, mas to importante para a narrativa
quanto sua filha.
Carmem apresenta constantemente um medo tipicamente feminino, o medo
materno. Ela submete-se aos caprichos do marido a fim de agrad-lo e, com efeito,
garantir um futuro melhor para seus filhos, pois grvida e ao mesmo tempo doente,
ela atormentada o tempo inteiro pela guerra, pela fome, pelos filhos, pela morte do
primeiro marido e a fraqueza causada pela doena.
Embora o heroi seja encarnado geralmente por uma figura masculina
Campbell ressalva que a mulher tambm pode ocupar esse lugar, por exemplo, na
civilizao Asteca o paraso destinado s mulheres mortas em parto era o mesmo dos
guerreiros mortos em combate. Neste caso, nas palavras de Jung:
A exacerbao do feminino significa uma intensificao de todos os
instintos femininos, e em primeiro lugar do instinto materno. O
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
148
aspecto negativo desta representado por uma mulher cuja nica
meta parir. O homem, para ela, manifestamente algo secundrio;
essencialmente o instrumento de procriao, classificado como um
objeto a ser cuidado entre as crianas, parentes pobres, gatos,
galinhas e mveis. A sua prpria personalidade tambm de
importncia secundria; frequentemente ela mais ou menos
inconsciente, pois a vida vivida nos outros e atravs dos outros, na
medida em que, devido inconscincia da prpria personalidade, ela
se identifica com eles. (2000, p. 97)
Contudo o carter heroico da personagem que sacrifica as suas vontades e o
seu prprio corpo a fim de garantir um futuro melhor para seus filhos totalmente
ignorado pelos olhos do capito Vidal, que pensa ser natural mulher o
comportamento subserviente s vontades do homem, pois, mulheres no apresentam
nenhuma ameaa. Segundo uma anlise Crtica do Discurso realizada pela mestra em
Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gnero e Feminismo, Sabrina Uzda:
Esse discurso como prtica social se origina, na transmisso e na
legitimao de ideologias sexistas e/ou racistas, valores e doutrinas
que colaboram para a naturalizao de discursos particulares como
sendo universais, a respeito daquilo que normal ou essencial no
momento de definir um fruto social. Essa ideologia construda nos
discursos geralmente a do branco, masculino, ocidental, de classe
mdia ou superior, e esto imbudas posies que vem raas, classes,
grupos e sexos diferentes dos seus como secundrios, inferiores e
subservientes. (2007, p. 49)
justamente o ponto de vista misgino do capito que o leva runa, devido
ser a governanta (brao direito do capito) uma rebelde ao governo totalitarista, que
apoiada pelo seu irmo, retira o poder das mos de Vidal por meio de sua morte.
No ponto de vista simblico, Chevalier e Gueerbrant em seu dicionrio de
smbolos define a presena do pai como:
Smbolo da gerao, da posse, da dominao, do valor. Nesse sentido,
ele uma figura inibidora; castradora, nos termos da psicanlise.
Uma representao de toda forma de autoridade: chefe, patro,
professor, protetor, Deus. Ele representa a conscincia diante dos
impulsos instintivos, dos desejos espontneos, do inconsciente. (2009,
p. 678)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
149
De acordo com os autores pode-se inferir que, apesar de Oflia no ter pai,
Vidal exerce sobre ela a funo do mesmo, ou seja, a transcendncia de uma
construo social que faz presente aquilo que j nem mais existe. Pois, no pai no
sentido familiar, mas no sentido de instituio social, um lcus no qual o poder da
figura paterna pode ser imposto.
justamente nesse contexto conturbado de foras opressoras que Oflia
atrada para o labirinto por meio de uma pequena fada noite enquanto todos
dormiam e ela segue o chamado at a entrada do seu inslito destino cuja
representao espacial d-se pela caverna presente no labirinto.
4.3 UM CHAMADO AVENTURA: O DESPERTAR DO PARASO
Os acontecimentos desenrolados no terceiro captulo do filme correspondem ao
terceiro estgio da Saga do heroi ou Monomito. A passagem que faz referncia a esse
tpico mostra a personagem descendo as escadas em espirais at o centro da caverna,
que no labirinto se configura como um antro cova profunda e escura.
Segundo os autores Chevalier e Gueerbrant (2003) no tocante ao seu aspecto
positivo, a caverna representa o arqutipo do tero materno, figura nos mitos de
origem, de renascimento e de iniciao de numerosos povos, um retorno ao eu
primitivo. Considerada como antro a caverna representa, segundo, os autores
supracitados:
O outro aspecto simblico da caverna, o mais trgico dos aspectos. O
antro, cavidade sombria, regio subterrnea de limites invisveis,
temvel abismo, que habitam e de onde surgem os monstros, o
smbolo do inconsciente e de seus perigos, muitas vezes inesperados.
(2009, p.213)
Assim sendo, o acesso ao antro presente no centro do labirinto metaforiza o
contato mais ntimo da personagem consigo mesma, pois a figura arquetpica do
labirinto configura-se como um sistema de defesa que anuncia a presena de algo
importante, valioso. Este por sinal apresenta-se de forma espiral assim como as
escadas que do acesso ao antro do labirinto.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
150
As escadas em espirais so as mesmas que a princesa utilizou para escapar do
submundo, com efeito, apesar de serem as mesmas escadas, a direo e seu sentido
decorrente geram significados distintos. Enquanto que na fuga do submundo a
escada representou ascenso do indivduo que sai do mundo das sombras em
busca da luz (tica, moral), a descida representa a entrada ao mundo subterrneo, a
psique inferior do indivduo o seu mago.
A caverna como smbolo materno gera uma nova realidade para a
personagem, que devido as espirais voltadas ao centro da terra, representa o regresso
do indivduo as suas origens, ou seja, a realidade mgica antes abandonada pela
personagem. Porm, como comum a natureza dos signos serem ambivalentes, nem
tudo pode ser tomado como verdade, pois todos os eventos so noturnos, fazendo
meno ao sono, a imaginao, o que possibilita a insero do fantstico devido
possibilidade de sonhos, ou delrio onrico da personagem, uma vez que ningum
tem acesso a esta realidade noturna, alm dela.
4.4 O ENCONTRO COM O MESTRE: AJUDA SOBRENATURAL
Portanto, o monstro concebido nos mitos iniciticos (Miller,1987) como o
portador dos tesouros e a figura responsvel por reprimir o medo da personagem
diante das dificuldades, assim como o auxlio nas tarefas que sero designadas
personagem a fim de que por meio destas se torne digna do tesouro a ser revelado
pelo mentor, Fauno.
Como de praxe a etapa do Monomito, Oflia, apesar de no duvidar da
existncia do Fauno e tampouco dos acontecimentos fantsticos desenvolvidos a
partir desse encontro, a personagem se recusa ao chamado aventura. Tal
comportamento passa a ser mais bem justificado nas palavras de Vogler:
O problema do heri, agora, passa a ser como ele ir responder ao
Chamado. Ponha-se na situao dele e ver que um momento
difcil. Esto lhe pedindo que responda "sim" a uma grande incgnita,
a uma aventura que vai ser emocionante, mas tambm perigosa, e
que pode ameaar sua vida. De outra forma, no seria uma aventura
de verdade. Voc est diante de um limiar de medo, e uma reao
compreensvel hesitar, ou mesmo recusar o Chamado. (1998, p.115)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
151
A hesitao ou a falta da mesma na personagem, ao se encontrar com o
monstro, a linha tnue que diferencia o fantstico do realismo mgico. No fantstico a
explicao dos acontecimentos maravilhosos consensual, enquanto que na realidade
mgica a justificativa para a ocorrncia dos acontecimentos considerados estranhos
no compartilhada por todas as personagens como assim sugere Todorov:
Em um mundo que o nosso, que conhecemos, sem diabos, slfides,
nem vampiros se produz um acontecimento impossvel de explicar
pelas leis desse mesmo mundo familiar. Quem percebe o
acontecimento deve optar por uma das duas solues possveis: ou se
trata de uma iluso dos sentidos, de um produto de imaginao, e as
leis do mundo seguem sendo o que so, ou o acontecimento se
produziu realmente, parte integrante da realidade, e ento esta
realidade est regida por leis que desconhecemos. Ou o diabo uma
iluso, um ser imaginrio, ou existe realmente, como outros seres,
com a diferena de que raras vezes o encontramos. (1996, p.15)
No filme isso no ocorre devido falta de consenso, pois o liame entre o
mundo mgico e o mundo familiar nunca desfeito, pois no passvel de
explicao.
Com efeito, a ambiguidade dos acontecimentos persiste mesmo depois do fim
da narrativa. At porque, somente a personagem principal entra em contato com o
mundo mgico, enquanto que para se tornar fantstico deveria haver um consenso
entre as personagens, para compactuar a mesma opinio sobre os acontecimentos.
CONSIDERAES FINAIS
O fato que apesar do incomensurvel lapso temporal que separa as
longnquas narrativas de no mnimo 2.000 mil anos das atuais, esto atualmente mais
prximas do que jamais estiveram graas aos estudos desenvolvidos por Campbell
acerca da mitologia que muito se assemelham ao do russo Vladimir Prop em sua
Morfologia dos contos de fadas, que divide as narrativas do gnero maravilhoso em
diferentes estgios.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
152
O paradigma narrativo proposto por Campbell que subjaz na pelcula
mexicana de del Toro se torna possvel devido presena constante de arqutipos
relacionados ao sagrado feminino que trazem em sua leitura a noo da morte como
possibilidade de renascimento, de transcendncia, no h um trmino, mas um ciclo
sem fim. Pensamento este desenvolvido graas aos estudos da psicologia analtica de
Jung que serve de fora propulsora ao fantstico no filme.
O Realismo mgico na obra audiovisual consiste na expectativa de saber se os
acontecimentos foram reais ou no, pois segundo Todorov quando os
acontecimentos por mais incrveis que sejam, ou quando pouco plausveis de
esclarecimento, h sempre uma explicao racional para tudo e todos os personagens
da narrativa compartilham da mesma opinio (TODOROV, 1996), caracterizando
dessa forma o Estranho.
O Maravilhoso ao contrrio, concebe os acontecimentos sobrenaturais como
parte do mundo corriqueiro, pois todos os personagens, assim como o leitor,
concordam que tudo possvel. Fato ocorrente em o Labirinto do Fauno, pois h um
flerte entre as duas realidades como se essas fossem possveis ao mesmo tempo; no
h alternncia e tampouco esclarecimento, ao contrrio das demais apresentadas.
Assim sendo, o presente artigo buscou relacionar paradigmas
comportamentais, ideolgicos e at mesmo sexistas crtica literria e flmica, em
uma narrativa deslocada do hegemnico polo cultural do cinema Hollywoodiano.
Referncias
ARISTTELES. Arte Retrica e Potica. Rio de Janeiro: Edies de ouro, 2001.
ASTURIAS, ngel Miguel. In: JOSEF, Bella. O fantstico e o misterioso. In:___. A
mscara e o enigma: A modernidade da representao transgresso. Rio de janeiro:
Francisco Alves, 1986.p.186-227.
BERMAN, Marshall. Tudo que slido desmancha no ar: a aventura da
modernidade. So Paulo: Companhia das letras, 2003.
BERNADET, Jean-Claude. O que cinema. So Paulo: Brasiliense, 2000.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
153
BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia: histria de deuses e herois. 26.
ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.
CAMPBELL, Joseph. O heroi de mil faces. 10. ed. So Paulo: Cultrix/pensamento,
1989.
CARRIRE, Jean-Claude. A linguagem secreta do cinema. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira: 2006.
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionrio de mitos e smbolos. 24. ed.
Rio de Janeiro: Jos Olympio,2009.
JOSEF, Bella. O fantstico e o misterioso. In:___. A mscara e o enigma: A
modernidade da representao transgresso. Rio de janeiro: Francisco Alves,
1986.p.186-227.
JUNG, Carl Gustav. Os arqutipos e o inconsciente coletivo. 2. ed. Petrpolis, Rio de
Janeiro: Vozes, 2000.
MEIHY, J.C. Sebe Bom. Guerra Civil Espanhola: um entre guerras. Disponvel em: <
HTTP://www.oolhodahistoria.ufba.br/01guerra.html>
NIETZSCHE, Friederich W. Os pensadores. Trad. Rubens Torres Filho. So Paulo:
Abril Cultural, 1978.
TODOROV, Tzvetan. Introduo literatura fantstica. So Paulo: Perspectiva, 1996.
TREVISAN, Joo Silvrio. A crise do masculino. Rio de Janeiro: Record, 1998.
UZDA, Sabrina. A mulher na propaganda de cerveja. Disponvel em:
www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/.../Dissertao%20sabrina. pdf
VOGLER, Christopher. A jornada do escritor: estruturas mticas para escritores. 2.
ed. Botafogo, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.
VELEDA, Valentina Terescova. A Espanha sob o regime franquista: do isolamento
aceitao internacional (1939 1953). Disponvel em:
HTTP://www.pucrs.br/edipucrs/
ZOLA, Emile. In: FISHER, Ernest. A necessidade da arte. 5. ed. Rio de Janeiro: Zahar,
1976.p.89
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
154
Eixo III
Leitura, literatura,
experincia e autobiografia
CONFLITOS FAMILIARES, TRANSGRESSO E REVOLTA:
elementos de uma lavoura destruda.
Aline Nery dos Santos
Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS
E-mail: neryline@hotmail.com
Resumo: O romance Lavoura Arcaica de Raduan Nassar uma narrativa que traz tona as
relaes familiares e os conflitos que inicialmente parecem comuns a qualquer famlia, mas
que no decorrer da trama vai se intensificando at chegar ao limiar de uma tragdia. A
famlia aparentemente vive em harmonia. O pai com sua figura austera simbolizando o
conservadorismo ao contrrio da me que representa afetividade. Os filhos vivem a rotina
dos afazeres da lavoura, sendo que cada um desempenha uma funo, com exceo de
Andr que tem um comportamento ocioso e aptico. Com base nestes aspectos da narrativa,
este trabalho objetiva-se a investigar as transgresses no romance Lavoura arcaica e como
estas se relacionam com a postura do personagem Andr, abordando a relao familiar e
seus conflitos, j que na obra destacado um patriarcalismo exacerbado que gera toda
revolta apresentada pelo protagonista caracterizando sua crise identitria e o seu desejo de
mudana e desconstruo da famlia. A questo moral analisada a partir da subverso dos
valores de Andr diante incesto destacando a amplitude do discurso persuasivo do mesmo
aps a realizao do ato com sua irm Ana. Para a discusso terica acerca dos aspectos
citados, foram utilizados alguns autores como SANTIAGO (2002), COMPANGNON (2001),
NIETZSCHE (2004), FOUCAULT (1996) E THOMPSON (2002), que trazem em seus conceitos
algumas explicaes para as questes investigadas na obra.
Palavras-chave: Incesto; Moral; Famlia. Transgresso.
1. INTRODUO
Entre a Literatura e a Filosofia h sempre possibilidades de dilogos, e no
romance Lavoura arcaica, de Raduan Nassar, esta relao se coloca presente,
revelando a zona de interseco que aproxima ambas as reas.
O romance Lavoura arcaica traz uma srie de inquietaes e questionamentos
que aproximam o protagonista Andr do pensamento filosfico, sustentando sua
vida busca pelo conhecimento e por novas experincias. A fora filosfica, aliada ao
veculo literrio, abre caminhos para mltiplas interpretaes e leituras acerca dos
personagens do romance, das relaes que guardam entre si, dos espaos que
preenchem e dos discursos que interiorizam, gerando inquietaes, dvidas e
fascnios.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
158
No presente trabalho busca-se analisar as transgresses no romance Lavoura
Arcaica, relacionando-as ao comportamento do personagem Andr, abordando
principalmente o seu discurso aps cometer o incesto. A narrativa foi escrita no ano
de 1975 e nesse perodo o Brasil passava por transformaes, entre as quais se
destacam: o aumento da industrializao e o xodo rural, causando assim o aumento
da populao metropolitana. Nesse contexto de vivncias e experincias a famlia
tambm se renova e se transforma, principalmente com a postura da mulher, que
passa a participar ativamente da sociedade ocupando lugares de destaque que antes
eram ocupados por homens.
A temtica abordada na obra revela a tenso existente em toda a narrativa,
envolvendo um misto de acontecimentos que vo ter ligao direta com a rigidez
moral e a ideologia arcaica que proporcionam os conflitos familiares, gerando
polmica no ambiente pacato de uma fazenda.
O embate filosfico no romance aguado atravs do conflito de idias no
qual vive o personagem Andr. Ele um questionador que no se contenta com a
vida simplria em que vivem, com o ambiente de instabilidade familiar, e por isso
busca, atravs da transgresso aos valores defendidos pela famlia, derrubar o muro
de falsidade no qual vivem. perceptvel que o pensamento filosfico de Andr lhe
permite ver a situao de forma diferente e assim inferir, da sua maneira, de forma a
quebrar a pseudo-harmonia do lar.
2. A FAMLIA: UMA QUESTO DE (DES) UNIO
O conceito de famlia sobreviveu por sculos e sculos. A histria relata que
desde tempos remotos h registros da relao familiar, ou seja, h presena de
pessoas de elos consangneos convivendo juntas. Por isso, difcil encontrar algum
que no tenha experincia para falar de famlia, como afirma Prado (1981):
[...] todos sabem o que uma famlia, j que todos ns somos parte
integrante de alguma famlia. uma entidade, por assim dizer, bvia
para todos. No entanto, para qualquer pessoa difcil definir esta
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
159
palavra e mais exatamente o conceito que engloba, que vai alm das
definies livrescas. (PRADO, 1981, p. 08)
Mesmo sobrevivendo entre os tempos, a famlia foi evoluindo e ganhando
novas caractersticas e definies. Aquela famlia tradicional, centrada na figura do
patriarca como o chefe e da mulher como dona de casa e responsvel pela educao
dos filhos foi mudando para novos perfis, em que se destaca primeiramente a
posio da mulher que exerce a funo de chefe da famlia tanto na questo das
funes do lar, tanto no trabalho remunerado fora de casa. Outro ponto reside na
ausncia da figura paterna, ficando a cargo da mulher conduzir e administrar a
instituio.
A famlia retratada por Raduan Nassar (1989) no romance Lavoura arcaica
bastante tradicional e traz o homem-pai como o chefe da famlia. ele quem exerce o
poder e quem toma todas as decises referentes sua famlia, enquanto a mulher-
me a dona de casa atarefada com os afazeres domsticos e com o cuidado com as
crianas.
O autor aborda as questes vigentes s relaes familiares de uma forma lrica
e ao mesmo tempo reflexiva. Atravs dessas questes pode-se evidenciar o
patriarcalismo, representado pelo pai de Andr, uma relao de afetividade muito
forte entre os membros da famlia simbolizando uma pseudo-unio, e um incesto,
vivido por Andr e Ana. Tais questes refletem-se diretamente nas concepes do
personagem central da histria, o qual oscila entre uma imagem moral de seus
familiares e um comportamento imoral. A imoralidade ento passa a assumir um
papel de vil na vida de Andr, que carrega consigo um sentimento de culpa e
autopunio.
As relaes familiares so marcadas ora por afetividade, ora por
conservadorismo. A afetividade representada pela figura da me, que, pela forma
carinhosa com que trata o filho Andr, enfatiza certa preferncia por ele. O
conservadorismo representado na obra pelo pai de Andr. Sobretudo nos sermes
proferidos mesa, o patriarca da famlia manifestar a sua austeridade. No momento
das refeies, as palavras dele transmitem lies aos demais membros da famlia,
emitindo parbolas de alto teor moral, que ensinavam e mantinham a ordem na casa.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
160
O tempo o maior tesouro que um homem pode dispor; embora inconsumvel, o
tempo o nosso melhor alimento; sem medida que o conhea, o tempo contudo
nosso bem de maior grandeza[...] (NASSAR , 1989 p 53). H ainda a representao
metafrica da mesa, indicando uma aproximao analgica com Jesus Cristo e seus
Discpulos, exaltando-se assim o poder da palavra paterna.
Numa famlia tradicional e patriarcal como a de Lavoura arcaica, a religio
possui grande influncia, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de
regras e tradies passadas de gerao a gerao. So os ensinamentos religiosos que
definem as regras de bem viver em famlia e na obra esta funo est bem definida
atravs do Pai, que insiste em manter a moral e os bons costumes atravs dos
ensinamentos bblicos.
O pice do conflito familiar marcado pelo incesto. Andr nutre uma paixo
pela irm Ana. Ele a observa em todos os momentos, e mesmo sob o teto familiar to
carregado de moralidade, ele a deseja profundamente. Esse desejo aumenta a um
grau to intenso, que o ato do incesto torna-se inevitvel. Contudo, aps o ocorrido,
Ana se isola e Andr, perdido em meio a sua paixo, foge na busca de conter uma
tragdia maior.
Todavia, a culpa que Andr sente no por causa do envolvimento com a
irm, mas pela no aceitao de Ana em viver uma relao de amor fsico no seio da
famlia tradicional. Para Andr no haveria culpados. Ambos seriam inocentados
uma vez que o fato ocorrido tinha se concretizado devido a foras de ordem maior,
maktub, ou seja, j estava escrito. Esse amor seria para Andr uma recompensa,
algo a que tinha direito e o transformaria em um novo homem, capaz de se relacionar
com os outros irmos, contribuir com as tarefas da lavoura e ainda manter a unio e a
harmonia no lar, como ilustra Nassar na seguinte passagem do romance:
[...] quero uma recompensa para o meu trabalho, preciso estar certo
de poder apaziguar a minha fome neste pasto extico, preciso do teu
amor, querida irm, e sei que no exorbito, justo o que te peo, a
parte que me compete, o quinho que me cabe, a rao a que tenho
direito (NASSAR, 1989 p. 125/6).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
161
A agonia do personagem Andr aumenta ainda mais em consequncia de seu
envolvimento com a irm Ana. Ele, que j se sentia um estranho, um estrangeiro,
aps o episdio incestuoso se sente ainda mais deslocado e rejeitado. Ningum da
famlia conseguir perceber seu tormento e sua dor. Seus apelos s sero ouvidos
aps ele abandonar a casa. A partir desse momento, todos sua volta notam-lhe a
crise e a necessidade de ajuda. Dessa forma, o autor destaca a ausncia da unio que
inicialmente parecia to slida. Nesse contexto ainda ficam evidentes as aparncias
que existem na famlia e que por trs da grande unio existe um abismo imenso,
como desabafa Andr:
[...] perteno como nunca desde agora a essa inslita confraria dos
enjeitados, dos proibidos, dos recusados pelo afeto, dos sem sossego,
dos intranqilos, dos inquietos, dos que se contorcem, dos aleijes
com cara de assassino que descendem do Caim [...] (IDEM, p. 139).
Com o peso de todos os acontecimentos, Andr decide abandonar a famlia e
esta fica abalada com sua fuga. A ausncia se reflete no rosto acabado da famlia.
Com a sua partida, instala-se a desunio e a desestruturao da casa. O que faz com
que a me pea ao filho mais velho, Pedro, para trazer Andr de volta, j que a fuga
abriu lacunas e abalou o alicerce familiar. Pedro cumpre a sua misso. No retorno,
Andr percebe que muita coisa mudou, inclusive seu pai, que, ao rever o filho, deixa
transparecer sentimentos de alegria, carinho e afeio, uma atitude inesperada
devido austeridade do patriarca.
[...] e eu ainda ouvia um silncio carregado de vibraes e
ressonncia, quando a porta foi aberta [...] surgindo, em todo a sua
majestade rstica, a figura de meu pai, caminhando, grave, na minha
direo; j de p, e olhando para o cho, e sofrendo a densidade da
sua presena diante de mim, senti num momento suas mos benignas
sobre minha cabea [...] e logo seus braos poderosos me apertavam o
peito contra o seu peito, me tornando depois o rosto entre suas
palmas para me beijar a testa [...] (IDEM, p. 151).
O retorno de Andr simboliza a parbola bblica do retorno do Filho Prdigo,
porm, ao contrrio da parbola, esse filho no traz alegria e felicidade. A fuga
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
162
desperta nele a capacidade de enfrentar o pai, de question-lo, e de fazer a sua voz
ser ouvida. O dilogo quebra a obedincia formal, que j prenuncia o fim da
harmonia no lar. Esse retorno tambm traz tona conflitos passados, deixando as
feridas expostas e causando assim a tragdia final que abala todas as estruturas
familiares, fazendo desmoronar de vez as aparncias que restavam.
3. ANDR: O FRUTO TRANSGRESSOR
O personagem Andr, mesmo tendo sido criado nos ensinamentos religiosos e
sob sermes paternos, verifica-se no se deixar dominar pelos preceitos defendidos
pela religio. Ele observa o comportamento de seus irmos, que cedem vontade do
pai e seguem numa obedincia cega e sem questionamentos, e se sente diferente, ou
seja, a ovelha negra da famlia, o doente que precisa se isolar para no contaminar os
outros, como ilustra o seguinte trecho:
[...] Nosso irmo um epiltico, um convulso, um possesso e conte
tambm que escolhi um quarto de penso pros meus acessos e diga
sempre ns convivemos com ele e no sabamos, sequer
suspeitamos alguma vez e vocs podem gritar num tempo s ele
nos enganou. (NASSAR, 1989 p. 40).
A culpa de Andr o faz punir-se. Sua fuga tem um carter purificador, um
calvrio que o expurgaria de seus pecados. A vida desregrada que mantinha longe
de casa traria para si o esteretipo de mau rapaz, que ele mesmo adota para
justificar seus atos. Sua conscincia o faz refletir sobre suas atitudes, mas ele prprio
afasta todas as perspectivas possveis de melhora para a sua personalidade. A
vergonha de assumir seus atos e dar vazo aos seus instintos o conduz a reflexes
condenveis em que ele mesmo ora se julga culpado, ora se julga inocente, no
conseguindo reagir frente ao moralismo social que exige do homem uma vida
centrada em conceitos. Essa reao destaca um comportamento de transitoriedade
interior. Como explica Antonio Candido (1992, p. 45) esses tipos de personagem
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
163
[...] Muitas vezes debatem-se com a necessidade de decidir-se em face
da coliso de valores, passam por terrveis conflitos e enfrentam
situaes limites em que se revelam aspectos essenciais da vida
humana: aspectos trgicos, sublimes, demonacos, grotescos ou
luminosos. [...] (CNDIDO, 1992, p. 45)
Alguns aspectos esto em embate no interior do personagem que se apresenta
diferente dos demais integrantes da casa. Suas lembranas deixam explcitas o
repdio ao poder exercido pelo pai e pelos conceitos que ele defendia. Ainda nesse
momento de excluso total, Andr tentava entender o contexto familiar, mais suas
atitudes no eram entendidas e nem se buscava entend-las dentro de sua casa.
Ao tempo em que Andr tenta resgatar-se no campo moral, ele volta a se
perder na imoralidade. O seu amor por Ana, sua irm, fere intensamente a moral
criada pela religio crist. O incesto condenvel do ponto de vista religioso e o
sujeito que o pratica est exposto a severos castigos impostos pelo Onipotente que
tudo v, controla e pune, que Deus. Esse sentimento de ser controlado por um olho
invisvel gera a crise de conscincia e a autopunio, como aborda Foucault, 1996,
p.218: apenas um olhar. Um olhar que vigia e que cada um sentindo-o pesar sobre
si, acabar, por interiorizar a ponto de observar a si mesmo[...].
Esse sentimento de ser controlado faz com que Andr, com seus anseios, no
se sinta merecedor do amor de sua famlia. Sua presena macularia todo o ambiente
inocente e fraterno, mas ao mesmo tempo no consegue abrir mo da paixo
avassaladora que sente por Ana. O poderoso olhar divino poderia entender seus
motivos e necessidades e por isso ele estaria disposto a encarar todos os castigos e
punies.
O lao familiar intenso que marca a obra cria uma obsesso em Andr, que o
faz ver na irm a possibilidade de manter essa harmonia e perpetuar a pureza da
famlia, ou seja, no seria necessrio incorporar novas pessoas ao seio familiar, pois
sua relao com Ana seria suficiente para manter a unio no lar. Para Andr, esse
amor o transformaria em um novo homem. Ao invs de se manter no cio habitual,
ele se ergueria para contribuir nas atividades cotidianas da lavoura, daria mais
ateno aos seus pais e seria uma pessoa alegre e disposta. Como ilustra a seguinte
passagem do romance:
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
164
[...] As coisas vo mudar daqui pra frente, vou madrugar como
nossos irmos, seguir o pai para o trabalho, arar a terra e semear,
acompanhar a brotao e o crescimento, participar das apreenses, da
nossa lavoura, vou pedir a chuva e o sol quando escassear gua ou
a luz sobre as plantaes, contemplar os cachos que amadurecem,
estando presente com justia na hora da colheita trazendo para casa
os frutos, provando com tudo isso que eu tambm posso ser til.
(NASSAR, 1989, p.188-189)
Mas suas promessas batem de frente com a austeridade religiosa de Ana,
que no aceita as propostas do irmo e em meio s suas preces tenta redimir-se de
seus pecados. Esse sentimento em nenhum momento questionado ou dialogado
entre os personagens. O vestgio do pecado evidencia a culpa que pesa ainda mais na
conscincia de Andr, resultando na sua fuga. A autopunio de Ana marcada pela
transformao de sua personalidade: ela passa a ser uma moa fechada e
introspectiva.
Nassar cria um personagem que transcende seu ambiente habitual. Andr
revela uma crise identitria na sua constituio, tentando adequar o ambiente, as
coisas e as pessoas sua vontade. Ao perceber que sua ideologia no era apreciada
por ningum, ele passa a lutar contra tudo e todos, criando um universo regido por
ele mesmo, onde somente suas regras eram plausveis, e dessa maneira poderia tudo
dominar sua vontade, satisfazendo necessidades prprias.
Dessa maneira que se justifica tambm o amor incestuoso por sua irm e seu
discurso mantm essa inteno, ao distorcer a concepo de famlia harmnica com o
ato de unir-se prpria irm. Esse comportamento demonstra um deslocamento
diante das coisas, criando contrastes de desejos sobre a famlia que por alguns
momentos preferia distncia, mas por outros no desejava afastar-se dela.
Ainda sobre a identidade de Andr, percebe-se uma presena dionisaca. O
vinho um smbolo que marca os momentos revolucionrios e de conflito, como se o
desequilbrio estivesse atrelado a uma fora maior. Atravs da bebida e da
embriaguez, o personagem d vazo as suas idias e alimenta seus desejos.
Conforme Nietzsche a arte dionisaca: [...] repousa no jogo com a embriaguez, a
pulso da primavera e a bebida narctica [...]( NIETZSCHE, 2005, p.08). Para
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
165
transgredir era necessrio sair de si e penetrar um novo universo, ser conduzido por
outro elemento.
No penltimo captulo, a celebrao feita para marcar o retorno de Andr
tambm ilustra cenas de rituais ao Deus Baco, que no romance desenha da seguinte
forma:
[...] J transportavam contentes garrafes de vinho, correndo
sucessivas vezes todos os copos, despejando risonhas o sangue
decantado e generoso em todos os corpos, recebido sempre com
saudaes efusivas que eram o prenncio de uma gorda alegria. [...]
Logo meu velho tio, velho imigrante, mas pastor na sua infncia,
puxou do bolso a flauta, um caule delicado nas suas mos pesadas, e
se ps ento a soprar nela como um pssaro, suas bochechas se
inflando como bochechas de uma criana, e elas inflavam tanto, tanto,
e ele sanguneo dava a impresso de que faria jorrar pelas orelhas,
feito torneiras, todo o seu vinho, e ao som da flauta a roda comeou
[...] ( NASSAR, 2004, p. 184-5)
Ainda para Nietzsche,
As festas de Dioniso no firmam apenas a ligao entre os homens,
elas tambm reconciliam homem e natureza. Voluntariamente a terra
traz seus dons, as bestas mais selvagens aproximam-se pacificamente:
coroado de flores, o carro de Dioniso puxado por panteras e tigres.
Todas as delimitaes e separaes de casta. Que a necessidade e o
arbtrio estabeleceram entre os homens, desaparecem: o escravo
homem livre, o nobre e o de baixa extrao unem-se no mesmo coro
bquico [...]. ( NIETZSCHE, 2005, p.8-9)
A comparao da festa como culto a Dioniso para marcar o momento de
entrega total, de esquecimento dos valores e a busca pelo prazer imediato. Ao
retratar as festas dionisacas, percebe-se, que o autor exalta a liberdade e o poder de
se tornar uno. Dessa forma, Andr no seria to diferente, to estranho. Ele estaria
ligado, ainda que por pouco tempo a sua famlia, que embriagada o ampara sem
distines.
Por vrios momentos Andr se intitula como insano, um demente, e por
outros momentos consegue exaltar sua astcia e inteligncia. O prprio personagem
em suas inquietaes se mostra perdido diante dos seus atos, mais [...] o servidor de
Dioniso precisa estar embriagado e ao mesmo tempo ficar a espreita de si. O carter
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
166
artstico dionisaco no se mostra na alternncia de lucidez e embriaguez, mas sim
em sua conjugao. (NIETZSCHE, 2005, p.10). O personagem tenta abrir as portas
para entender suas fraquezas, mas ao mesmo tempo se protege para no ser
acometido por intromisses e julgamentos. Ele observa e define a forma na qual
poderia quebrar com o manto instvel que cobre a hipocrisia da famlia. Afinal, o que
Andr deseja a mudana e, principalmente, que ela acontea sua maneira, de
acordo com a sua vontade.
Descontrolado diante das descobertas e perdido em meio aos seus desejos,
Andr segue como um Bacante, que impulsionado pela vontade de ser diferente,
de transgredir a ordem vigente, abriu uma fenda no seio familiar que jamais seria
fechada. Sua atitude era o meio de sanar o erro e ocultar a sua culpa em no se
enquadrar ao modelo de filho perfeito criado por seu pai.
4. ANDR E O DISCURSO PERSUASIVO DO INCESTO
Aps o ato do incesto, Andr ainda sob o impacto dos acontecimentos, tenta
convencer a irm de que o que ambos fizeram foi algo glorioso, como registra a
citao:
[...] foi um milagre o que aconteceu entre ns, querida irm, o mesmo
tronco, o mesmo teto, nenhuma traio, nenhuma deslealdade, e a
certeza suprflua e to fundamental de um contar sempre com o
outro no instante de alegria e nas horas de adversidade; foi um
milagre, querida irm, descobrirmos que somos to conformes em
nossos corpos, e que vamos com nossa unio continuar a infncia
comum, sem mgoa para nossos brinquedos, sem corte em nossas
memrias, sem trauma para a nossa histria; foi um milagre
descobrirmos acima de tudo que nos bastamos dentro dos limites da
nossa prpria casa, confirmando a palavra do pai de que a felicidade
s pode ser encontrada no seio da famlia [...] (NASSAR, 1989, p. 118)
O discurso revela que o incesto seria divino e milagroso, teria o poder de unir
os laos da famlia. Ao fazer esta indagao, Andr apela para dois pontos fracos de
Ana: a religio e a famlia. Os argumentos tentam convenc-la e persuadi-la a
sucumbir aos seus objetivos. O amor pela famlia justificaria o ato e tambm poderia
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
167
salv-lo da autodestruio, j que ele sempre era o filho torto, a ovelha negra que
ningum confessa, o vagabundo irremedivel da famlia [...] ( NASSAR, 1989, p.
118). a partir dessa unio que nasceria um novo homem, capaz de Madrugar com
nossos irmos, seguir o pai para o trabalho, arar a terra e semear, acompanhar a
brotao e o crescimento, participar das apreenses da nossa lavoura[...] (NASSAR,
1989, p. 119). nas mos de Ana que Andr deposita a responsabilidade de
promover a felicidade da famlia e a sua salvao, a deciso dela o pice para as
decises e diante da recusa tem-se o desfecho da fuga do personagem.
Foucault (1999), caracteriza que o discurso usado pela sociedade de forma
controlada, ou seja, no se pode falar tudo abertamente, por que preciso filtrar o
que se diz para no causar desavenas e manter a harmonia entre os indivduos.
Suponho que em toda a sociedade a produo do discurso ao
mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuda
por certos nmeros de procedimentos que tem como funo conjurar
seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatrio,
esquivar sua pesada e temvel materialidade. ( FOUCAULT, 1999, p.
09)
Na narrativa, Andr inverte essa ordem e no priva seu discurso, no contem
suas palavras e desabafa de forma sincera sem se preocupar no momento com o
resultado que elas possam causar.
Foucault (1999) ainda relaciona o discurso s relaes de poder, revelando que
o mesmo sempre vlido mediante a posio de quem o profere. O discurso passa a
ter mais valia de acordo com o poder de quem discursa, principalmente quando o
cargo que este ocupa alto. Como visvel no romance em relao hierarquia
paterna ao emitir seus sermes moralistas com a inteno de consolidar valores
morais famlia. No entanto, Andr rebate fortemente as palavras do pai e utiliza do
seu prprio sermo "confirmando a palavra do pai de que a felicidade s pode ser
encontrada no seio da famlia (NASSAR, 1989, p. 118), para transgredir a ordem e
subverter o poder, o atraindo para suas mos e mostrar suas prprias razes e
vontade.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
168
Eu tambm tenho uma histria, pai, tambm a histria de um
faminto, que mourejava de sol a sol sem nunca conseguir aplacar sua
fome, e que de tanto se contorcer acabou por dobrar o corpo sobre si
mesmo alcanando com os dentes as pontas dos ps; sobrevivendo
custa de tantas chagas, ele podia odiar o mundo [...](NASSAR, 1989,
p. 159).
Andr mantm o discurso forte e coeso. Demonstra a carga de amor que ele
carrega pela famlia, e que as atitudes tm como finalidade retornar ao seio da
famlia, voltar a ser um filho normal, vivendo sob a gide paterna e comungando
dos afazeres da fazenda com os demais irmos. Porm para isso ele testa a unio da
famlia, deturpando o discurso paterno e vivendo amorosamente com a irm. Esse
amor nascido dentro do lar seria para ele um prmio a que tinha direito.
[...] farei tudo com alegria, mas para isso devo ter um bom motivo,
quero uma recompensa para o meu trabalho, preciso estar certo de
poder apaziguar a minha fome neste pasto extico, preciso do teu
amor, querida irm, e sei que no exorbito, justo o que te peo, a
parte que me compete, o quinho que me cabe, a rao que tenho
direito. (NASSAR, p. 124)
Sua mudana no seria gratuita, tem um preo alto a pagar pelos desejos. E
mais uma vez Andre deixa transparecer em seu discurso que seus objetivos esto
acima de tudo e de todos. Para conseguir o que quer, ele passaria por cima de todo
tipos de regras e convenes e seu trofu estaria pronto para ser exibido
simbolizando a vitria.
Mesmo buscando a vitria Andr revela atravs de suas palavras, que j
esperava pelo desfecho negativo: [...] porque ento esses caprichos, tantas cenas,
empanturrar-mos de expectativas, se j estava decidida minha sina? (NASSAR,
1989, p.117). Mas isso no o impediu de partir com fora total na enxurrada de
enunciados a fim de convencer a irm a comungar com seus desejos. Andr optou
pela ousadia em mudar o destino e como resposta trouxe a destruio do lar que
tanto amava.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
169
Consideraes finais
No presente trabalho buscou-se mostrar as transgresses na narrativa Lavoura
arcaica e os frutos criados por elas. perceptvel que a revolta comea na famlia e
que o maior problema gerado pelo pai e por seu modelo de educao, mal sucedido
e ditador, que priorizava apenas sua vontade e opinio, a fim de manter a famlia
moralmente amestrada e harmonizada, dentro dos padres exigidos por ele e
transformando todos em suas propriedades. Andr o fruto da desordem, o mesmo
no preenchia os requisitos determinados pelo pai, que queria acima tudo, filhos que
reproduzissem suas atitudes. O que para Andr era inaceitvel, porque ele queria
mais, queria romper com essa tradio hierarquizante e partir para uma vida que
tivesse a liberdade como lema.
Essa busca pela libertao, pela mutao que faz com que Andr cresa e
ganhe foras para mudar o rumo da famlia. A coragem, o rompimento religioso e o
carter questionador a vlvula propulsora para que desperte o novo homem capaz
de transcender os limites e contaminar a famlia por completo, ou seja, estabelecer
uma nova realidade para o seu meio familiar.
O pensamento filosfico na obra em estudo faz com que o autor, Raduan
Nassar, crie uma narrativa envolvente prendendo o leitor desde o primeiro at o
ltimo captulo. A presena filosfica um instrumento que torna a narrativa ainda
mais densa e permite os personagens fazerem questionamentos instigantes
conduzindo a outros questionamentos, deixando a incompletude falar por si. A crise
e a revolta tambm so caracterizadas e ganham espao no personagem Andr, que
desemboca toda sua ira em atos que fogem das circunstancias normais para o padro
da sociedade, produzindo uma transfigurao de todos os valores prezados e
emergindo valores ocultos e subversivos.
Mas o romance no finaliza com a tragdia familiar, essa incgnita continua,
pois no se pode determinar o limite do certo e errado nem do bom e mau. O
discernimento acerca dos valores dialoga diretamente com o leitor e nas mos dele
que fica a chave para desvendar todo mistrio. Mistrio esse que a boa e velha
literatura ainda capaz de proporcionar.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
170
Referncias
CANDIDO, Antonio. A personagem de fico. 9. ed. So Paulo: Perspectiva, 1992.
(Vol. 1)
COMPAGNON, Antoine. O demnio da teoria e senso comum. Traduo Cleonice
Paes Barreto Mouro, Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.
FOUCAULT, Michel. Microfsica do poder. 12. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1996.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collge de France,
pronunciado em 2 de dezembro de 1970. 15. ed. So Paulo, SP: Loyola, 1999.
NASSAR, Raduan. Lavoura arcaica. So Paulo: Companhia das Letras, 1989.
NIETZSCHE, Friedrich W. Alem do bem e do mal: preldio a uma filosofia do
futuro. Traduo Paulo Csar de Souza. 2 ed. So Paulo: Companhia das Letras, 2004.
NIETZSCHE, Friedrich. A viso dionisaca do mundo, e outros textos de juventude.
Traduo Marcos Sinzio, Maria Cristina dos Santos de Souza. So Paulo: Martins
Fontes, 2005.
PRADO, Danda. O que famlia. 3. ed So Paulo: Brasiliense, 1981.
SANTIAGO, Silviano. Nas malhas da letra. Rio de Janeiro: Rocco, 2002.
THOMSON, Oliver. A assustadora histria da maldade. Traduo Mauro Silva. 3.
ed. So Paulo: Ediouro, 2002.
DAS EXPERINCIAS LEITORAS DE PROFESSORES
ALFABETIZAO ATRAVS DAS ESCRITAS DE SI.
Sara Menezes Reis-UNEB
saramre@hotmail.com
Fulvia de Aquino Rocha-UNEB
fulviarocha@yahoo.com.br
Resumo: Nossas trajetrias e itinerncias formativas so repletas de sentidos, pessoas,
saberes e experincias que se entrecruzam com outras tantas ao nosso redor. Quando
dialogamos sobre a docncia, no podemos deixar de contemplar aspectos que marcaram
nossas vidas pessoais e profissionais. H uma indissociabilidade entre essas dimenses,
como nos lembra Nvoa (1992; 2000), pois o que mobiliza a vida do professor, pode
repercutir diretamente em sua prtica docente. a histria de leitura de uma professora que
atua em uma escola pblica de Salvador, que influencia a realizao de um trabalho
diferenciado na Educao de Jovens e Adultos: ela lana o olhar sobre a construo do saber
e a valorizao do conhecimento de mundo dos educandos, estimulando-os a estabelecerem
uma relao diferente com a leitura. O que permite que professora e educandos vivam um
processo de formao e autoformao. Discutimos assim, uma perspectiva de alfabetizao
como ato poltico, capaz de possibilitar aos sujeitos a construo de sua cidadania e permitir
sua participao crtica/ativa na sociedade, rumo a sua emancipao e transformao da
realidade. A experincia da professora com a utilizao das escritas de si, nos leva a embas-
la a partir de nossa implicao com a abordagem (auto)biogrfica, por compreendermos que
esta permite emergir no percurso formativo dos sujeitos, a conscincia dos vrios registros de
expresso e de representao de si, refletindo/orientando sua formao, perspectiva
fundamental quando se trata da formao docente e da EJA. Encontramos acolhimento
terico nos trabalhos de Josso (2002), Nvoa (2010), Souza (2006), dentre outros. A
importncia das prticas de leitura encontradas/perpetuadas na vida da docente se torna
elemento fundamental na inspirao do processo formativo e na alfabetizao dos sujeitos,
bem como os mobiliza a escreverem os textos de suas prprias histrias.
Palavras-chave: Educao de Jovens e Adultos; experincias leitoras; escritas de si.
CONHECER NOSSOS PRPRIOS PERCURSOS FORMATIVOS: EIS A
QUESTO!
A busca contnua de articular a reflexo, a pesquisa, a crtica e as experincias
pessoais e profissionais aos movimentos formativos dos quais vivenciamos, nos
conduz a ratificar as elaboraes de Nvoa (2010) e a articul-las com as construes
de Larrosa (2002), quando este nos prope que pensemos a Educao a partir da
articulao entre experincia/sentido.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
172
O autor nos diz que a experincia algo raro de se viver, pois, mesmo que
vivamos muitos acontecimentos em nossa trajetria de vida, poucas coisas nos tocam
significativamente. E o fato de no nos tocarem reflexo de nossa imerso num
movimento de constante busca por informaes; por estarmos encharcados de
saberes advindos da facilidade de acesso s informaes; porque nos excedemos no
trabalho, numa rotina atribulada de compromissos que nos impedem de parar,
silenciar e rememorar.
experincia aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos
acontece, e ao nos passar, nos forma e nos transforma. Somente o
sujeito da experincia est, portanto, aberto sua prpria
transformao. Se a experincia o que nos acontece, e se o sujeito da
experincia um territrio de passagem, ento a experincia uma
paixo. [...] O sujeito da experincia seria algo como um territrio de
passagem, algo como uma superfcie sensvel que aquilo que acontece
afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas
marcas, deixa alguns vestgios, alguns efeitos. [...] O sujeito da
experincia , sobretudo um espao onde tm lugar os
acontecimentos. [...] tem algo desse ser fascinante que se expe
atravessando um espao indeterminado e perigoso, pondo-se nele
prova e buscando nele sua oportunidade, sua ocasio (LARROSA,
2002, p. 24 - 25).
Assim sendo, compreendemos que, mesmo imersos em um movimento que
nos impede de viver a experincia nesta dimenso complexa, imperativo que
vivamos em nosso percurso, outro movimento. Um movimento que seja de
resistncia e que nos permita, na dimenso formativa, viver a experincia em sua
plenitude, a partir do momento em que possibilita que paremos, silenciemos,
lembremos e narremos nossa histria.
Um movimento que nos permita sermos capazes de nos modificar e
transformar as outras dimenses de nossas vidas. Este o saber da experincia: o
que se adquire no modo como algum vai respondendo ao que vai lhe acontecendo
ao longo da vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos
acontece (Idem, p. 27).
Em busca da potncia em torno desse conhecimento outro, que pensamos na
necessidade de que a formao de professores se constitua enquanto um processo
de conhecimento que se constri ao longo da vida e que se materializa nas
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
173
experincias e aprendizagens constitutivas de identidades e subjetividades
(SOUZA, 2008, p. 88), tendo na escrita de si e/ou nas narrativas autobiogrficas a
potencializao para a reflexo e a construo de sentido das experincias vividas.
O lastro epistemolgico-metodolgico possibilitado pela abordagem
(auto)biogrfica, nos permite adentrar o espao das discusses sobre formao, com
olhares lanados sob outras perspectivas para alm dos modelos de formao
encapsulados em disciplinas, que transcendam os espaos tradicionais de formao,
rumo a processos que valorizam o conhecimento de si. Insere-se no movimento que
traz o debate epistemolgico sobre o papel da subjetividade na elaborao do
conhecimento, aspecto de difcil aceitao aos modelos emprico-analticos
(DOMINIC, 2010, p.145).
Essa perspectiva de trabalho configura-se como investigao porque
se vincula a produo de conhecimentos s relaes do sujeito com a
experincia: ter experincia, fazer experincia e pensar a experincia.
Ela formao, porque parte do principio de que o sujeito toma
conscincia de si e de suas aprendizagens experienciais quando vive,
simultaneamente, os papis de ator e investigador de sua prpria
histria (JOSSO, 2010, p.13).
nesse sentido que o trabalho focado nas Histrias de Vida de professores, a
partir de suas narrativas de vida e profisso, possibilita que o movimento de pensar-
se/narrar-se traga contribuies e possam ressignificarem seus processos formativos.
Emerge dessa reflexo, o desafio de (re)pensar o processo de formao de
professores, em que a superao dos limites impostos nas prticas pedaggicas,
ajude-os a pensar sobre o trabalho que desenvolvem e a encontrar solues para seus
desafios cotidianos no seio do seu fazer docente, pois dele emerge o conhecimento da
experincia que precisa ser valorizado e que d sentido ao prprio fazer.
O processo de formao pelas histrias de vida apresenta-se enquanto
movimento de reivindicao, reconhecendo os saberes subjetivos, no formais, e
adquiridos nas experincias e nas relaes sociais. Assim, em suas reflexes
Dominic (2010), afirma que:
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
174
[...] a histria de vida outra maneira de considerar a educao. J
no se trata de aproximar a educao da vida, como nas perspectivas
da educao nova ou da pedagogia ativa, mas de considerar a vida
como o espao de formao. A histria de vida passa pela famlia.
marcada pela escola. Orienta-se para uma formao profissional, e
em consequncia beneficia de tempos de formao contnua. A
educao assim feita de momentos que s adquirem o seu sentido
na histria de uma vida (p. 199).
neste mbito que o trabalho com as narrativas aponta um caminho que
comporta a complexidade de uma Vida, e promove a compreenso das dimenses
formativas subjacentes a ela.
A abordagem experiencial, conforme Josso (2008) institui inelutavelmente um
movimento de investigao-formao ao longo da vida, na formao de adultos e na
formao inicial e continuada de professores, o que permite a esses profissionais
sarem do isolamento, viverem as experincias que lhes passa, que lhes toca, a partir
do momento que fazemos certo trabalho reflexivo sobre o que se passou e sobre o
que foi observado, refletido e sentido (Idem, p. 48).
O que est em jogo na formao, sob a perspectiva das histrias de vida, que
seja percebido pelos formandos que suas narrativas carregam em si o conhecimento
de uma existencialidade singular, que tem sentido e se insere numa existencialidade
plural, e que os institui como sujeitos e d acesso aos seus projetos/processos
formativos.
A compreenso de como cada um de ns nos tornamos o que somos
imprescindvel. A formao de um adulto no pertence a ningum, se no a ele
prprio, ressalta Nvoa (2010, p. 1999). Portanto, uma formao continuada entre a
pessoa-professor e a organizao-escola so eixos estratgicos de uma formao que
pode contribuir para a mudana desejada e redefinio da profisso docente.
Deste modo, apreendemos que um processo formativo necessita desenvolver o
pensamento crtico, promover o conhecimento de si e vivncias to significativas de
exerccio da autonomia, de prticas emancipadoras, que coloque os professores no
lugar que lhes pertence de intelectuais transformadores. E mais, que ao se
transformarem, possam transformar tambm seus espaos, suas relaes e sejam
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
175
instigados necessidade de que essas experincias de si norteiem tambm a
formao que venham a promover aos seus educandos.
o que propomos a seguir, a partir da discusso da alfabetizao, enquanto
processo de muitas facetas, complexidade e multidimensionalidade (PREZ, 2008)
concepo que pode estar articulada diretamente a um posicionamento poltico
inerente ao pensar/fazer a Educao de Jovens e Adultos.
NO CONTEXTO DA EJA: ALFABETIZAO PARA A EMANCIPAO
O (re)pensar da educao necessita conduzir ao esclarecimento da necessidade
de se oferecer para diferentes pessoas, em diferentes realidades, oportunidades
tambm diversas de desenvolvimento de suas potencialidades, evocando a histria
de cada um enquanto elemento potencializador.
Premente o despertar da conscincia desse direito em cada sujeito, uma vez
que no somos formados com vistas emancipao liberdade de estar frente do
prprio processo com autonomia e criticidade. De fato, a nica concretizao efetiva
da emancipao consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas nessa direo
orientem toda a sua energia para que a educao seja uma educao para a
contradio e para a resistncia (ADORNO, 1995, p.183), exigindo-se mais de uma
formao que a mera instrumentalizao. Entretanto, o currculo, o projeto poltico-
pedaggico, a prtica pedaggica e, especialmente, a formao dos profissionais de
educao, no passaram pelas transformaes necessrias, ou estas ainda so
insuficientes, para responder aos desafios propostos escola: conhecer o contexto
para melhor intervir; repensar a forma de conceber o conhecimento; a possibilidade
do livre exerccio da criatividade; a compreenso da condio humana (MORIN,
2001); a incluso, a diversidade e pluralidade cultural dos sujeitos que a compe.
A existncia de discursos e prticas que dissociam as prticas de alfabetizao
e letramento torna necessria a continuidade da discusso acerca de seus
entendimentos. Soares (2004) destaca ser metodologicamente e at politicamente
conveniente a distino, propondo assim a reinveno da alfabetizao.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
176
preciso reconhecer a possibilidade e necessidade de promover a
conciliao entre essas duas dimenses da aprendizagem da lngua
escrita, integrando alfabetizao e letramento, sem perder, porm, a
especificidade de cada um desses processos, o que implica reconhecer
as muitas facetas de um e outro e, consequentemente, a diversidade
de mtodos e procedimentos para ensino de um e de outro, uma vez
que, no quadro desta concepo, no h um mtodo para a
aprendizagem inicial da lngua escrita, h mltiplos mtodos, pois a
natureza de cada faceta determina certos procedimentos de ensino,
alm de as caractersticas de cada grupo de crianas, e at de cada
criana, exigir formas diferenciadas de ao pedaggica (SOARES,
2004, p. 15).
Temos Prez (2008) que, embora defenda que a teorizao existente em torno
da perspectiva do letramento, reduz e simplifica o processo de alfabetizao,
contribui com seu conceito de alfabetizao como um conceito plural, complexo,
multidimensional (envolve dimenses polticas, sociais, culturais, econmicas,
epistemolgicas, pedaggicas etc.) e dialgico.
Ao se articular perspectiva propagada por Freire, da alfabetizao como ato
poltico, capaz de possibilitar aos sujeitos a construo de sua cidadania e permitir
sua participao crtica/ativa na sociedade, rumo a sua emancipao e transformao
da realidade, avalia que neste cenrio ganha sentido conceber este processo como
alfabetizaes, o que implica um enfoque integrado e flexvel, articulado a todos os
aspectos da vida cotidiana e que, para alm da comunicao oral ou escrita, traduz
uma concepo complexa de linguagem (Idem, p. 199).
Por certo que, no contexto da EJA pensar a alfabetizao como ato poltico
imprime no professor tambm a responsabilidade de pensar a sua prtica distante da
neutralidade.
Assim, Giroux (1997) embasado na teoria educacional crtica e nas ideias
emancipadoras de Freire, prope desvelar as maneiras como a dominao e a
opresso so produzidas nos mecanismos escolares; revelar como as escolas
reproduzem a lgica do capital e problematizar acerca destas serem espaos de
democracia e mobilidade social. Reconceber as escolas como esferas pblicas
democrticas nas quais professores e alunos trabalhem juntos para tecer uma nova
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
177
viso emancipadora da comunidade e da sociedade (Idem, 1997, p.31), implica que
os professores sejam concebidos como intelectuais transformadores.
Trata-se de uma concepo que no se pauta na diferenciao entre os que
pensam, e por isso estariam autorizados a ser chamados de intelectuais, e os que
executam. A categoria de intelectual mobiliza o educador a compreender que a
autonomia e a emancipao acontecem com base no compromisso tico e
humanitrio, e na trajetria formativa do educando contribui no sentido de
assegurar-lhe a conquista da emancipao efetiva.
Tais questes so tramadas quando pensamos em uma alfabetizao de jovens
e adultos que possa valorizar seus sujeitos, validar seus saberes extraescolares,
advindos de suas relaes cotidianas e promover rupturas com as concepes mais
tradicionais de alfabetizao, voltadas para a decodificao. Para isso, faz-se
necessrio aliar essa perspectiva a um movimento de formao docente que seja
sensvel a essas questes, e propicie ao sujeito-professor a construo de uma prtica
pedaggica que leve em conta essas dimenses outras da alfabetizao de jovens e
adultos, por meio da reflexo de sua prxis.
As prticas sociais relativas leitura e a escrita transcendem os limites da
escola. So diversas, mltiplas, plurais, e precisam ser consideradas em seus
contextos e complexidades. A leitura aqui compreendida enquanto ato de produo
de sentidos (BELTRO, 2005).
Devido ao arcabouo de experincias que os adultos acumulam ao longo de
suas vidas, suas aprendizagens se do significativamente quando os objetos de
ensino se aliam s suas atividades profissionais e contribuem para a soluo de
problemas reais. So necessrios, para a eficcia do trabalho com jovens e adultos,
pressupostos tais como a auto-gesto, aprendizagem focada na necessidade do
educando e valorizao das experincias, corroborando com os princpios de Freire
(2007), que estimulava a educao como elemento libertador e construtor da
autonomia.
A experincia vivida em um estgio curricular socializada a seguir demonstra
como uma professora alfabetizadora desafiava os paradigmas tradicionais de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
178
alfabetizao em uma escola pblica municipal de Salvador, com uma prtica que se
alia a perspectiva que defendemos, ainda que ela no tivesse essa conscincia.
AMPLIAO DE PERSPECTIVAS A PARTIR DA EXPERINCIA LEITORA DE
UMA PROFESSORA
Ao adentrarmos o espao de uma classe de EJA, o simples cumprimento de
um estgio curricular ao final de um curso de especializao, se tornou uma
experincia singular de crescimento e aprofundamento terico quanto s histrias de
vida e de leitura, e formao de leitores. O que nos esperava, ao longo de
aproximadamente 10 dias (40 horas de estgio) era incerto, at conhecermos a
histria da professora Maria Emlia
6
que possua mais de vinte e cinco anos
dedicados alfabetizao, dez deles com o trabalho de alfabetizao de jovens e
adultos.
Fomos instigadas pelas prticas dessa professora que desafiava os paradigmas
tradicionais de alfabetizao e buscava por meio de contaes de histrias, leituras de
jornais e revistas, cordis e outros gneros textuais, proporcionar a seus alunos um
processo de alfabetizao e letramento realmente significativo. Ela instigava e
provocava seus alunos a serem leitores curiosos e questionadores.
importante ressaltar que a histria de leitura de um indivduo comporta no
apenas os gestos e vozes de leitores considerados e prestigiados socialmente. So
levadas em conta, principalmente, as outras trajetrias e prticas de leitura de
sujeitos outrora comuns (MORAES, 2011). O objetivo reconhecer a dimenso
plural da leitura, na qual tambm so dignos de ateno os leitores no convocados,
os sentidos inimaginveis, as leituras imprevistas e, em muitos casos, clandestinas ou
desprestigiadas.
Conhecer a histria de leitura da professora Maria Emilia foi fundamental
para compreender a natureza de suas prticas pedaggicas. Leitora tardia (como a
6
Respeitando os princpios preconizados pela resoluo 196/96 da Comisso Nacional de tica em
Pesquisa- CONEP, utilizamos aqui um pseudnimo para preservar a real identidade da professora
que colaborou com esta pesquisa.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
179
mesma se caracterizava), com poucas oportunidades, muitas limitaes financeiras e
acesso restrito a livros, a docente descreveu-se como apaixonada e implicada com a
leitura desde muito jovem. Com dificuldades cursou o magistrio, sendo aprovada
em concurso pblico alguns anos depois. Seu acesso restrito aos livros e a outros
materiais de leitura, no a impediu de ler como pudesse. E essa histria de
insistncia em busca da leitura, o que buscava comunicar aos alunos.
Relacionamos a histria de vida/leitura da professora Maria Emilia,
narrativa do escritor Miguel Sanches Neto. Em seu livro Herdando uma Biblioteca
(2004), ele que se tornou crtico e professor universitrio, confessa a diversa rede de
acontecimentos que possibilitou a ele, garoto marcado por uma infncia pobre, ter os
livros que sua famlia no tinha condies de possuir. Sua trajetria de formao e
constituio leitora se confunde com sua prpria histria de vida, como tambm
percebemos e sentimos acontecer com a histria da professora Maria Emlia.
Depois das conversas que revelaram sua trajetria leitora, a professora
permitiu que adentrssemos o espao da sua sala de aula. Nos primeiros dias foram
feitas apenas observaes a fim de compreendermos como funcionava a dinmica de
trabalho com a leitura e a escrita em sala. Aps esse momento, ela mesma solicitou
algumas sugestes de interveno em relao a leitura com os alunos.
Apesar de termos desenvolvido outras atividades que envolviam a leitura de
histrias e contos durante o estgio, foi com o livro de Davide Cali, Fico Espera,
que obtivemos uma das mais significativas experincias neste processo formativo.
O livro escrito pelo autor suo radicado na Itlia, publicado na Frana em
2005 e no Brasil em 2007, uma obra que abarca diversas situaes que compem a
trajetria de vida e os percursos formativos de um homem - desde a infncia
recheada com bolos e biscoitos cuidadosamente feitos pela me, at a morte da
esposa, j na velhice - e as repercusses de cada um desses momentos em sua
histria.
A interao com os alunos foi surpreendente, compartilhamos as poucas frases
(por meio da leitura em voz alta) e mostramos, simultaneamente, as imagens que
compem a obra. Antes da contao propriamente dita, todos compartilharam o que
se recordavam a respeito das suas trajetrias de vida e momentos mais marcantes.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
180
A partir do debate sobre a vida do personagem, foram feitas relaes com
temas atuais, tais como: abandono de menores, as diferentes constituies de famlia,
amor, nascimento de filhos, perda de entes queridos. Aps a leitura, propusemos a
escrita de trechos marcantes da vida dos alunos, que de certa forma, se identificavam
com a personagem da obra lida.
Todos participaram e escreveram no quadro de acordo com suas hipteses de
escrita, validando a contribuio que nos traz Ferreiro (2008) em suas pesquisas (pr-
silbicos, silbicos e alfabticos). A mediao e a atividade proposta foram feitas
atravs de uma escuta cuidadosa, cooperativa e sensvel.
Sobre a escuta sensvel, importante ressaltar que a leitura prvia dos escritos
de Barbier (2002) embasou significativamente o trabalho das pesquisadoras. A
dimenso sensvel da escuta de que nos fala o autor, foi fundante, pois uma postura
que abre espao para possveis transformaes em diversas dimenses (pessoal,
profissional, emocional). Para o autor, a escuta sensvel no faz juzos de valor, mas
aceita, atravs da empatia, a existncia dos outros enquanto sujeitos. Na socializao
das experincias (e dos escritos) no h espao para julgamentos ou a pretenso de
comparar o que compartilhado. Os estudantes se posicionam como sujeitos que
escutam e se colocam no lugar do outro:
A escuta sensvel reconhece a aceitao incondicional de outrem. O
ouvinte sensvel no julga, no mede, no compara. Entretanto, ele
compreende, sem aderir ou se identificar s opinies dos outros, ou
ao que dito ou feito. A escuta sensvel pressupe uma inverso de
ateno. Antes de situar uma pessoa em seu lugar comea-se por
reconhec-la em seu ser (BARBIER, 2002, p.1).
Percebemos a importncia da validao do outro no processo de construo da
formao, quer no mbito profissional ou social, sendo a escuta aqui percebida como
uma qualidade do ofcio da professora alfabetizadora em questo.
O que mais impressionou foi o fato de que escrever sobre si, para a maioria
dos alunos, era uma novidade. At o momento, os alunos no haviam tido
oportunidade de escrever e contar sobre si mesmos, suas trajetrias e histrias de
vida e de leitura, ainda que se tratasse de uma classe de EJA. Frases como eu no
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
181
consigo, professora ou minha histria no importante, pois ainda no sei ler
como voc eram comuns. Desconstruir essas certezas cristalizadas ao longo dos
anos, no tarefa fcil, mas conseguimos iniciar esse movimento.
Desafiar a escrita dos educandos em sala, sejam eles adultos ou crianas em
formao, complexo, porm desafios e ousadia necessitam fazer parte da prtica
docente. So oportunas as palavras de Cordeiro (2006) quando discorre que esse
acaba por ser um processo de:
[...] tomada de conscincia de cada sujeito que, ao construir seu
relato, redimensiona a importncia desse percurso para si prprio e
v com mais clareza seu lugar na sociedade e a fora de sua
capacidade de autotransformao e de interferncia na vida coletiva
(CORDEIRO, 2006, p.318).
Atrelar registros de formao, vida e aprendizagens, permite aos
estudantes se descobrir em suas diversas instncias. oportuna a contribuio que a
abordagem (auto)biogrfica nos traz nesse processo. Foi possvel perceber como, na
prtica, a trajetria e implicao da docente pde influenciar e encorajar os
educandos a comprometerem-se com uma alfabetizao e formao leitora para alm
da decodificao.
PARA/POR UMA CONSTITUIO LEITORA...
preciso considerar os educandos, sejam eles crianas ou adultos, como seres
que constroem suas aprendizagens, estabelecem significados e alimentam a
subjetividade, estabelecendo relaes com as realidades das quais participam. O que
esperamos conquistar a colaborao para a construo de uma Educao pblica de
qualidade, que garanta a formao integral dos sujeitos nela envolvidos e sua efetiva
participao social, e que valorize as histrias de vida e de leitura enquanto
elementos potenciais produo de conhecimentos.
Fica evidente, seja na histria da professora alfabetizadora aqui narrada, seja
em nossas prprias histrias, como as histrias de leitura esto implicadas nas
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
182
histrias de vida, e como a narrao da prpria vida expressa a interioridade e
afirmao de si mesmo.
Evidenciamos, portanto, que um leitor se constitui pelas diversas experincias
que constituem suas histrias de vida, e pelos processos singulares de formao e
autoformao pelos quais passa. A leitura, sendo plural em prticas e sentidos,
propicia representaes concretas e simblicas diferentes nos leitores.
Construir essa conscincia nos professores contribui para potencializar os
processos de alfabetizao, compreendida em suas dimenses polticas, sociais,
culturais, econmicas, epistemolgicas, pedaggicas, dialgica, como vimos
afirmando aqui apoiadas em Prez.
Analisar as temticas da leitura e formao de leitores possibilita o
mapeamento de diversas histrias de leitura, cujas fronteiras no fragmentaram
preferncias, mas permitem atrelar diferentes olhares sobre o ato de ler. Assim, o
professor, o estudante, o leitor delimita e cria novos espaos de leitura, para narrar
outras histrias.
Sendo complexo o trabalho com jovens e adultos, que necessitam superar
desafios de instncias diferentes e voltar a acreditar que so capazes de aprender,
bem como se sintam to responsveis pelas decises sociais como qualquer outro
leitor fluente, mais complexo se torna quando suas vozes, que falam de suas prprias
experincias no so consideradas.
Que possamos ns, servir de pares para que outros possam experienciar o
prazer da leitura, para longe de modelos de verdadeiros leitores, mas como prtica
liberada e emancipada, contribuindo para que cada sujeito escreva e se d conta de
sua prpria histria de leitura em diferentes lugares, tempos e pocas de sua vida; e
assim sejam capazes de ter suas vidas transformadas.
Afinal de contas, como compartilha conosco Sanches Neto, nos constitumos
leitores: no seio de uma famlia culta ou humilde; na busca solitria por uma cultura
letrada; na troca, no emprstimo, nas visitas s bibliotecas, tambm herdadas ou
formadas pela compra de livros. Mas acima de tudo, pelo desejo de ler despertado e
cultivado em algum momento de nossa existncia.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
183
NOTA
O resumo deste trabalho foi apresentado no IV Elluneb. Verificamos que em lugar da
Palavra-Chave dirio de bordo necessrio que seja lido escritas de si. Na
comunicao oral, essa foi a expresso utilizada para a socializao da experincia. O
resumo que segue apresenta algumas alteraes em relao ao que foi publicado no
caderno de resumos do evento, sem, entretanto, trazer modificaes significativas em
seu contedo, especialmente no que se refere s discusses e aportes tericos.
Referncias
ADORNO, Theodor W. Educao e Emancipao. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
BELTRO, Lcia Maria Freire. A escrita do outro: anncios de uma alegria possvel.
2005. Tese (Doutorado) Faculdade de Educao da Universidade Federal da Bahia.
CORDEIRO, Verbena Maria Rocha. Os bastidores da leitura: prticas e
representaes ou do lixo biblioteca. In: SOUZA, Elizeu Clementino de (Org).
Autobiografias, histrias de vida e formao: pesquisa e ensino. Porto Alegre: EDIPUCRS,
2006.
DOMINIC, Pierre. O que a vida lhes ensinou. In: NVOA, A.; FINGER, M. (org.). O
mtodo (auto)biogrfico e a formao. Natal, RN: EDUFRN; So Paulo: Paulus, 2010. P.
189-222. (Coleo Pesquisa (auto)biogrfica & Educao. Clssicos das Histrias de
vida).
FERRERO, Emilia e TEBEROSKY, Ana. Psicognese da Lngua Escrita. Porto Alegre:
ArtMed, 2008.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessrios prtica educativa. 36
Ed. So Paulo: Paz e Terra, 2007.
GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crtica da
aprendizagem. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997.
JOSSO, Marie-Chistine. As narraes centradas sobre a formao durante a vida
como desvelamento das formas e sentidos mltiplos de uma existencialidade
singular-plural. In: Revista da FAEEBA Educao e Contemporaneidade. Salvador, v.
17, n.29, jan./jun., 2008, p. 17-30.
__________________. Experincias de Vida e formao. 2.ed. Natal, RN: EDUFRN; So
Paulo: Paulus, 2010. (Coleo Pesquisa (auto)biogrfica & Educao. Clssicos das
Histrias de vida).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
184
LARROSA, Jorge. Notas sobre a experincia e o saber de experincia. Revista Brasileira de
Educao. Anped, So Paulo, n.19, 2002.
MORAES, Ana Alcdia. Histrias de leitura em narrativas de professores: uma
alternativa de formao. In: SILVA, L. Entre leitores: alunos, professores. So Paulo:
Campinas, 2011.
MORIN, Edgar. Os sete Saberes Necessrios Educao do Futuro. 2a. ed. So Paulo:
Cortez; Braslia, DF: UNESCO, 2001.
NETO, Miguel Sanches. Herdando uma Biblioteca. Rio de Janeiro: Record, 2004.
NVOA, Antnio (org.). Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 1992.
________________. A formao tem que passar por aqui: as histrias de vida no
Projeto Prosalus. In: NVOA, A.; FINGER, M. (org.). O mtodo (auto)biogrfico e a
formao. Natal, RN: EDUFRN; So Paulo: Paulus, 2010, p. 155-187. (Coleo Pesquisa
(auto)biogrfica & Educao. Clssicos das Histrias de vida).
PREZ, Carmen Lcia Vidal. Alfabetizao: um conceito em movimento. In:
GARCIA, Regina Leite (org.). Alfabetizao: reflexes sobre saberes docentes e saberes
discentes. So Paulo: Cortez, 2008, p. 178-201.
SOUZA, Elizeu Clementino de. O conhecimento de si: estgio e narrativas de formao
de professores. Rio de Janeiro: DP&A; Salvador: UNEB, 2006.
SOUZA, Elizeu Clementino de. Modos de narrao e discursos da memria:
biografizao, experincias e formao. In: PASSEGGI, Maria da Conceio; SOUZA,
Elizeu Clementino (Orgs.). (Auto)biogrfica: formao, territrios e saberes. Natal, RN:
EDUFRN: So Paulo: PAULUS, 2008, pp. 85-101.
SOARES, Magda Becker. Letramento e alfabetizao: As muitas facetas. Revista
Brasileira de Educao. So Paulo: Campinas: Autores Associados, n. 25, 2004.
ENTRE MEMRIAS, HISTRIAS, SABORES E SABERES
LITERRIOS:
a trajetria de vida de uma formadora de leitores
Nanci Rodrigues Orrico
7
Resumo: Esse texto, de cunho autobiogrfico, busca trilhar pela minha histria de vida como
professora/leitora, apontando memrias, histrias e experincias literrias ao longo de uma
trajetria pessoal e profissional voltada para a leitura e para a formao de leitores. A opo
pela autobiografia teve como base terica os trabalhos de Nvoa (1992, 1998, 2003), Josso
(2004), Lacerda (2003), Souza (2004, 2006) e Catani (1998), entendendo, assim como estes
autores, o quanto as histrias de vida so fundamentais para se discutir o processo de
formao de professores e leitores, j que o ser humano ao narrar suas histrias, narra-se e
ressignifica suas experincias, vivncias e aprendizagens, possibilitando a si e a outros um
importante instrumento de investigao e formao. O objetivo desse texto o de socializar
com os leitores interessados na temtica da formao literria de alunos e professores uma
experincia rica iniciada ainda na graduao em Pedagogia na Uneb- Campus I, quando fui
monitora do Projeto Pr-Leitura na Formao do Professor e comecei minhas andanas e leituras
sobre o tema em questo. Os primeiros contatos com os estudos de Lajolo (1999), Kato (1986),
Freire (1999), Kleimann (1989) s reafirmaram a vontade de me debruar sobre as discusses
e pesquisas que apontam a importncia da formao do leitor literrio e, ao longo da
vivncia profissional, esse desejo foi crescendo e levou-me ao contato com os livros e textos
de autores como Colomer (2002, 2007), Koch (2006), Paulino (2001, 2007, 2012) e Cordeiro
(2004). Em meio s leituras, ressalto minha participao na elaborao e concretizao de
oficinas, encontros e projetos literrios significativos, tais como Lendo para outros, Leitura
compartilhada, Vamos todos cirandar nossos livros? e Caf literrio, todos eles voltados ao
estmulo da leitura e vivenciados no perodo de minha atuao como professora e
coordenadora na Educao Bsica. Como especialista em Educao Inclusiva, desenvolvi,
nas escolas do campo no municpio de Amargosa, estudo intitulado: Entrelaando o sabor da
literatura ao saber da cultura, no qual tenciono uma reflexo sobre a forma como a cultura
afro-brasileira vem sendo abordada em muitos livros de literatura ainda hoje, aps 10 anos
da implementao da lei 10.639/03, que alterou o texto da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e
instituiu o ensino obrigatrio sobre Histria e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, em
especial nas reas de Educao Artstica, de Literatura e Histria Brasileira. Atualmente,
como professora do Ensino Superior no curso de Pedagogia, minhas inquietaes voltam-se
para a necessidade de uma discusso mais efetiva entre os professores universitrios sobre a
formao leitora literria dos seus alunos. A inteno desenvolver novos estudos e projetos
que possam reafirmar a importncia de se pensar em uma universidade que forme
profissionais tambm na perspectiva da literatura, j que a formao literria dos seus alunos
ser a eles atribuda. Em outras palavras, caber aos aprendizes de professores de hoje o
futuro dos leitores do amanh.
Palavras-chave: formao de leitores; formao de professores; autobiografia.
7
Professora Substituta da UFRB (Universidade Federal do Recncavo Baiano)- Campus CFP (Centro
de Formao de Professores), pedagoga pela UNEB (Universidade do Estado da Bahia)- Campus I e
especialista em Educao Inclusiva pela FSC (Faculdade Santa Cruz), e-mail: nanciorrico@ufrb.edu.br.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
186
1. APRESENTAO: O CONTEXTO DESSE TEXTO
Falar da nossa histria de vida lidar com memrias, sensaes e situaes
carregadas de um significado muito especial, nos permitir olhar para nossa prpria
trajetria com lentes diferenciadas, enxergando-nos com olhos de outrem, mas, ao
mesmo tempo, mantendo nossa essncia nesse processo.
lembrando o que vivemos que reconhecemos quem somos e para onde
caminhamos, pois como disse David Lowenthal (1998, p. 83): Relembrar o passado
crucial para nosso sentido de identidade: saber o que fomos confirma o que somos.
A ideia de narrar minha prpria histria profissional e os inmeros percursos
percorridos nas pontes por mim construdas em prol da formao de leitores surge,
ento, da constatao de que ressignificar experincias profissionais vividas amplia o
nosso potencial (auto) formativo, alm de oferecer instrumentos de formao e
investigao profissional a outros.
Ao relembrar a vida profissional, por consequncia, relembramos a pessoal, j
que estas dimenses entrelaam-se na constituio do ser humano. Evocando
lembranas, histrias e memrias da nossa carreira, estamos ressignificando, dando
um novo sentido ao nosso saber experiencial, entendendo, como disse Larrosa, que a
experincia "[...] aquilo que nos passa, ou que nos toca ou que nos acontece, e ao
passar-nos nos forma e transforma. (LARROSA, 2001, p.21). Esse saber advindo das
nossas prprias vivncias permite que repensemos a educao sobre outro vis, [...] a
partir do par experincia/sentido. (LARROSA, 2001, p. 19).
Da a importncia de refletirmos sobre nossa trajetria profissional, pois nessa
construo subjetiva, carregada das relaes com nossos saberes, com outros atores e
com o mundo, somos levados a pensar e a repensar a nossa formao e atuao
profissional, inclusive nossas contribuies e possibilidades enquanto docentes.
atravs de situaes em que somos levados a nos deparar com as memrias da nossa
trajetria de vida que surgem ricas possibilidades de reflexo sobre nossas prticas
pedaggicas e, a partir da, a possibilidade tambm de novas construes,
significados e identidade acerca da nossa histria e do nosso potencial formativo.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
187
Ao optar por um texto de cunho autobiogrfico para relembrar meu percurso
como leitora e formadora de leitores, escolho uma nova forma de se pensar a
formao dos leitores na contemporaneidade, pautada no reconhecimento de que h
um espao que vem se constituindo cada vez mais fortemente: o das autobiografias,
memrias, dirios, testemunhos e histrias de vida. Esse universo profcuo pode
oferecer respostas satisfatrias na busca de caminhos novos e redefinidores para a
promoo de uma maior e mais prazerosa relao entre alunos e livros.
Estudos de autores como Sousa (2006) valorizam a pesquisa a partir das
histrias de vidas dos professores e concebem essa abordagem como importante
instrumento formativo e autoformativo. Um novo sentido dado atravs da
valorizao das experincias dos atores/professores, como sustenta Nvoa (1995,
p.25) quando aponta que:
[...] urge por isso (re) encontrar espaos de interao entre as
dimenses pessoais e profissionais, permitindo aos professores
apropriar-se dos seus processos de formao e dar-lhes um sentido
no quadro das suas histrias de vida. (NVOA, 1995, p.2 5)
A abordagem autobiogrfica vem se apresentando atualmente como uma
alternativa de mobilizao no professor do emergir dos seus conhecimentos,
principalmente o conhecimento de si, na medida em que promove nele um
distanciamento do vivido e consequente deslocamento para uma posio analtica
sobre as suas experincias profissionais. Tambm prope um pensar a partir de
instrumentos e processos formativos que fogem dos estudos centrados no
racionalismo cientfico e no automatismo das aes.
nesse contexto que surge esse texto, como uma tentativa de repensar as
prticas educativas e ressignificar minhas experincias profissionais, principalmente
aquelas relacionadas formao de leitores, oferecendo aos interessados nessa
temtica um instrumento de reflexo sobre as inmeras possibilidades de leitura
literria na escola.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
188
Fernando Pessoa diz que: Em tudo que passei, fiquei em parte. Sendo assim,
esse texto uma parte do que vivi, dos lugares por onde passei e mostra, no s uma
parte, mas muito de mim, de quem sou e acredito.
2. MINHA TRAJETRIA: UMA VIDA NA E PELA LEITURA
Entendendo que para desenvolver esse trabalho autobiogrfico seria preciso
reviver memrias e histrias, mas tambm buscar documentos e materiais pessoais,
como enfatiza Sousa (2006), debrucei-me sob uma variedade de fontes, tais como
livros e fotografias e ainda busquei pessoas que fizeram parte da minha trajetria
pessoal e profissional para entrevist-las. As primeiras lembranas sobre a leitura que
surgem so muito agradveis e esto relacionadas com o fato de que aprendi a ler
lendo livros literrios, sozinha, com cinco anos de idade, durante o perodo de frias,
j iniciada em processos de contatos com as letras na escola. Essa minha relao com o
livro literrio, que sempre foi intensa, comeou ento de forma prazerosa e se
intensificou rapidamente.
Passei a ler muito e os livros da escola, de casa e os que meus pais comprovam
eram rapidamente devorados. Nesse momento, ocorre um fato importante na
minha infncia: a descoberta da farta biblioteca da casa de minha tia Angelina. Posso
dizer que uma janela se abriu na minha vida, tal qual a de Ceclia Meireles em A
arte de ser feliz: Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que
parecia ser feita de giz. S que a minha janela se abriu sobre um mundo de livros.
Minha tia, irm do meu pai, alm de gostar muito de ler, tinha um casal de filhos
adolescentes e guardava todos os livros e colees deles desde que eles eram crianas.
E assim, passei a infncia lendo os livros desta biblioteca, alm dos da minha casa.
Logo, a criana leitora virou uma adolescente leitora, incentivada pela famlia e
pelas escolas por onde passei, pois sempre me deparei com professores que me
incentivaram, ainda que as prticas escolares vivenciadas no fossem as ideais para
formao de leitores.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
189
A aprovao na UNEB - Universidade do Estado da Bahia no curso de
Pedagogia aconteceu no ano de 1995 e, logo em 1996, candidatei-me e fui aprovada
como monitora em um projeto da universidade chamado Pr-Leitura na Formao do
Professor. Ser bolsista desse projeto foi uma experincia valiosssima e fundamental
para a minha formao profissional. Entre inmeras leituras e cursos que fui
participando nessa rea, iniciava uma preparao para realizar capacitaes com
professoras das escolas estaduais e municipais. Nesse trabalho, alm das capacitaes,
realizvamos oficinas literrias em escolas da prefeitura e foi a que comeou a se
definir uma das minhas marcas profissionais: o de formadora de leitores.
O contato com as professoras da UNEB Maria Antnia Coutinho, Verbena
Cordeiro e Naddija Nunes foram fundamentais na minha vida, deixando marcas
preciosas na minha formao e despertando em mim o desejo pela temtica
envolvendo a leitura e a mediao do professor nesse processo.
Em 1999, graduei-me em Pedagogia na UNEB, j tendo despertado uma
grande preocupao com a qualidade do ensino na Educao Bsica e com a formao
de leitores na Educao Infantil e nas Sries Iniciais do Ensino Fundamental. Isso me
levou, durante muitos anos, a atuao como docente em turmas de crianas e depois
como coordenadora pedaggica. Influenciada pelas leituras que marcaram minha
passagem na universidade, tais como as de Marisa Lajolo, Mary Kato, ngela
Kleimann passei a desenvolver uma caracterstica muito pessoal no meu trabalho, a
minha marca profissional passou a ser de leitora e formadora de leitores.
Na escola da rede privada que trabalhei durante muitos anos percebi a
preocupao com a formao continuada dos profissionais no que diz respeito
formao de leitores. Nessa escola, situada em bairro nobre de Salvador, existia um
grande cuidado com a formao de leitores, tanto de textos informativos como de
textos literrios, e desenvolvia-se um intenso trabalho de formao continuada em
parceria com uma escola de So Paulo. L participei, durante todo o tempo que
trabalhei neste local, de inmeros cursos, eventos e elaborao de projetos sobre uma
temtica que sempre me interessou muito: a formao do leitor literrio. Foi a que
tive contato com os livros e textos de autores como Ingedore Koch, Teresa Colomer,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
190
Isabel Sol, Graa Paulino e voltei por diversas vezes a ler os escritos de Verbena
Cordeiro. Em meio s leituras, participei de muitas oficinas e projetos literrios
significativos, dentre eles destaco Lendo para outros, Leitura Compartilhada e Vamos
todos cirandar nossos livros?
Lendo para Outros era um projeto de leitura no qual alunos das sries iniciais
do ensino fundamental escolhiam livros e liam para alunos da educao infantil.
Nesse processo, alm de refletirem sobre suas escolhas, tinham que pensar no
pblico leitor e garantir, com uma entonao e ritmos adequados, que o sentido do
texto fosse alcanado a partir da sua leitura. Isso demanda importantes estudos e
aprendizagens para o aluno leitor.
Leitura Compartilhada um projeto de leitura permanente, do qual toda a
escola faz parte, somente os livros que eram lidos modificam-se, adequando-os
turma. Esse um bom exemplo do tratamento adequado que se pode dar aos livros
de literatura que a escola solicita que os pais comprem para seus filhos naquela
famosa lista de livros entregue aos pais no incio de cada ano letivo. Os livros de
leitura compartilhada so lidos pela professora e acompanhados pelos alunos. Esse
momento o propcio para que as crianas tenham o professor como modelo de
leitor, aquele que saber fazer as pausas necessrias, usar o tom, o ritmo ideal para
garantir o interesse na leitura e criar, dentre os alunos, a expectativa pelo que vir na
prxima pgina.
Vamos cirandar os nossos livros? uma ideia minha, surgida em um momento
que a biblioteca da escola estava em reforma e os alunos ficaram sem ter como levar
para casa os livros, como era de costume fazer toda semana. Propus que cada um
trouxesse um livro seu querido para realizarmos uma troca por uma semana. Isso
cresceu tanto que passou para outras salas e passou para outros nveis de ensino. As
professoras comearam a fazer, a pedidos dos alunos, com eles a ciranda quando
estes iam para os anos finais do ensino fundamental e eu fao at hoje na faculdade.
Como sou docente universitria atualmente, tento desenvolver nos estudantes de
Pedagogia uma conscincia da importncia de se conhecer livros literrios de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
191
qualidade, j que os professores em formao sero os responsveis pela formao
leitora dos seus alunos.
Ao chegar cidade de Amargosa, local que resido hoje, vendo que essas
mesmas prticas no eram adotadas e o tratamento dedicado aos livros didticos era
descontextualizado, fragmentado e desmotivador, optei pela realizao de oficinas
literrias e capacitao com as professoras da escola no sentido de que estas
repensassem e ampliassem a sua formao leitora literria. Tambm sugeri e efetivei
um Caf literrio, evento que passou a ser anual voltado para o estmulo da leitura, no
qual acontecia feira de livros, apresentao de peas teatrais adaptadas de livros e
encontros com escritores dentre outras atividades.
A busca pela temtica da leitura literria e a formao do professor nessa
perspectiva persiste. Recentemente, desenvolvi, nas escolas do campo no municpio
de Amargosa, estudo intitulado: Entrelaando o sabor da literatura ao saber da cultura,
no qual tenciono uma reflexo sobre a necessidade da formao literria do professor
para que este possa realizar as tessituras necessrias ente literatura e cultura
africana/afro brasileira, j que com a implementao da lei 10.639/03, que alterou o
texto da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), houve a instituio do ensino obrigatrio da
Histria e Cultura Afro Brasileira nas escolas, em especial nas reas de Educao
Artstica, de Literatura e Histria Brasileira.
Hoje, como professora no Ensino Superior, no curso de Pedagogia da
Universidade Federal do Recncavo Baiano, minhas inquietaes voltam-se para a
necessidade de uma discusso mais efetiva entre os professores universitrios sobre a
formao leitora literria dos seus alunos. A minha inteno agora realizar novos
estudos e pesquisas que possam se reverter em propostas e projetos pedaggicos que
apontem novos caminhos e, assim, reafirmar a importncia de se pensar em uma
universidade que forme profissionais tambm na perspectiva da literatura, j que a
formao literria dos seus futuros alunos ser a eles atribuda.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
192
3. A LEITURA LITERRIA NA ESCOLA: REPENSAR PRECISO
Nas ltimas dcadas, as produes acadmicas sobre a formao do leitor tm
aumentado de forma significativa. Isso se deve ao fortalecimento dos programas de
ps-graduao no pas e tambm inquestionvel relevncia da temtica para a
melhoria da qualidade da educao brasileira. O leitor e sua interao com o texto
tm sido extremamente analisados pelos olhares de professores, psiclogos,
psicolinguistas, bibliotecrios e uma infinidade de pesquisadores. Entretanto, a
despeito do aumento do nmero de estudos, o leitor que se pretende formar, aquele
que consegue interagir com o texto, dialogando com ele, continua sendo um desafio.
inegvel que a leitura essencial ao desenvolvimento pleno do indivduo,
possibilitando-lhe crescimento pessoal e profissional. Entretanto, mesmo as
instituies de ensino reconhecendo a importncia da leitura, atribuindo-lhe,
inclusive, centralidade na formao de cidados mais crticos e conscientes do seu
papel na sociedade, no vm conseguindo formar leitores competentes, que
reconhecem os diferentes usos e modos de leitura, como sinaliza Soares (2004), ao
problematizar sobre o verbo ler: Ler, verbo transitivo, um processo complexo e
multifacetado: depende da natureza, do tipo, do gnero daquilo que se l, e depende
do objetivo que se tem ao ler.
Uma anlise sobre as prticas leitoras nas escolas principalmente as da rede
pblica, onde estudam a maioria dos alunos, mostra a necessidade de se repensar a
formao de leitores. preciso desenvolver um trabalho que possibilite aos
estudantes um mergulhar no texto, confundindo-se e entrelaando-se com ele,
tecendo dilogos com o lido em busca de sentido, tal qual uma aranha, como aponta
Barthes (1977):
Texto quer dizer tecido; apesar de at agora ter sido tomado como
um produto, por um vu todo acabado, por trs do qual se mantm,
mais ou menos oculto, o sentido, [...] o texto se faz, se trabalha atravs
de um entrelaamento perptuo; perdido neste tecido- nessa textura-
o sujeito se desfaz nele, qual uma aranha que se dissolve ela mesma
nas secrees construtivas de sua teia. Barthes (1977, p.82-83)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
193
Urge que a leitura literria na escola propicie uma relao de interao entre
texto e leitor, levando os alunos a estabelecer uma relao dialgica com o texto nessa
busca de produo de sentido. Segundo Kleiman (2002):
[...] o contexto escolar no favorece a delineao de objetivos
especficos em relao a essa atividade. Nele a atividade de leitura
difusa e confusa, muitas vezes se constituindo apenas em um
pretexto para cpias, resumos, anlise sinttica, e outras tarefas do
ensino da lngua. Kleiman (2002, p.30)
Para reverter este quadro, sabe-se que os caminhos que se apresentam esto
intimamente relacionados com a formao e atuao do professor. Entretanto, o
professor, aquele que o mediador da leitura e da relao entre aluno e texto,
vivenciou uma trajetria na qual a sua prpria formao no privilegiou a promoo
da relao dele com a literatura; muito pelo contrrio, o texto literrio que se conhece
nas escolas to fragmentado, limitado e escolarizado que o aluno j o l achando
que ter que prestar contas do que leu. Paulino (2008) atenta para o fato de que nas
escolas os textos literrios tm sido (...) lidos e tratados como as notcias do
maremoto: quantas foram as vtimas, como sucedeu o evento, que pases atingiu, por
que no houve dele previso?
Acreditando que a literatura no pode se prestar a esse papel, e que a obra
literria um objeto social como afirma Lajolo (1986), objeto que nasce da relao
entre autor e leitor, novas pesquisas sobre a temtica so fundamentais, j que
Paulino (2011), ao desenvolver estudos sobre a formao leitora literria dos
professores das sries iniciais do ensino fundamental, alerta que estes profissionais
quando comeam a trabalhar nas escolas:
(...) no tm facilidade de se apresentarem como modelos de leitores
para seus alunos, o que constitui um dos agravantes do baixo nvel de
motivao para a insero desses alunos no mundo da escrita, seja ela
literria ou no. (Paulino, 2011, p.2)
Diante do exposto, observa-se a necessidade da busca de caminhos que levem
a um novo pensar sobre a formao e atuao dos professores no sentido de formar
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
194
alunos leitores nas escolas de Educao Bsica. Sendo assim, a socializao de
experincias bem sucedidas, como a autobiografia aqui apresentada, pode ser uma
das alternativas necessrias na busca das muitas perguntas sobre essa temtica que
permanecem sem respostas.
Consideraes
H uma grande preocupao envolvendo a formao de leitores na
contemporaneidade. Essa temtica, que urge por novos estudos e socializao de
experincias, sabe-se que tem estreita relao com a formao literria dos
professores.
A maioria dos professores que est nas escolas desenvolvendo prticas leitoras
literrias com os estudantes no vivenciou, ao longo da sua formao, experincias
que os levassem a construir uma relao prazerosa com o texto literrio. Inclusive nas
universidades, observa-se que a leitura literria no tem tido prestgio e vista
muitas vezes como uma fuga aos textos acadmicos, como se a literatura se situasse
no campo oposto ao do saber.
preciso que o profissional que trabalha com crianas seja formado para ser
mediador da leitura e passe a ter uma atuao que leve seus alunos a se permitirem
uma relao com o texto no sentido de apreenso do seu sentido e no de mera
decifrao de signos lingusticos sem a devida compreenso do significado. Mas,
para que isso acontea, vale a pena ressaltar mais uma vez, ser necessrio repensar a
formao (inicial e continuada) dos professores na perspectiva da literatura,
pensando que assim novas propostas leitoras, como as apresentadas por mim nesse
texto, podem ser desenvolvidas nas escolas.
Referncias
BARTHES, R. O prazer do texto. So Paulo: Perspectiva, 1977, p. 82,83.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
195
CATANI, D.B. Histria, memria e autobiografia na pesquisa educacional e na
formao. In.: BUENO, Belmira Oliveira; CATANI, Denice Brbara e Sousa, Cynthia
Pereira de (Orgs.) A Vida e o Ofcio dos Professores: formao contnua,
autobiografia e pesquisa em colaborao. So Paulo: Escrituras, 1998, pp.15/48.
COLOMER, T. e CAMPS, A. Ensinar a ler, ensinar a compreender. Porto Alegre:
Artmed, 2002.
COLOMER, T. Andar entre livros: a leitura literria na escola. Trad. Laura Sandroni.
So Paulo: Global, 2007, p.31.
CORDEIRO, V. M. R. Itinerrios de leitura no espao escolar. Revista da FAEEBA,
Salvador: Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educao, v.1, n.1,
p.95- 102. jan/jun 2004. Disponvel em
http://www.uneb.br/revistadafaeeba/files/2011/05/numero21.pdf< > Acesso em
22 de setembro de 2013.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessrios prtica educativa, 2009,
Paz e Terra.
JOSSO, C. Experincias de vida e formao. So Paulo: Cortez. 2004
KATO, M.A. No mundo da escrita: perspectiva psicolingustica. So Paulo: tica,
1986.
_____. O aprendizado da leitura. 6 ed., So Paulo: Martins Fontes, 2007.
KLEIMAN, . Oficina de leitura: teoria e prtica. 10 ed. Campinas: Pontes/Editora
da Universidade estadual de Campinas, 2004.
______. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas, SP: Pontes, 1989.
KOCH, I.V. e ELIAS, V.M. Ler e compreender: os sentidos do texto. So Paulo:
Contexto, 2006.
LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. So Paulo: tica, 1999.
_______.O texto no pretexto. In: ZILBERMAN, R. (org). Leitura em Crise na
Escola. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1986. p. 51-62.
LARROSA, J. B. Notas sobre a experincia e o saber de experincia. 2001.
LOWENTHAL, D. Como Conhecemos o Passado. In: Projeto Histria N17
Trabalhos da Memria. Revista do Programa de Estudos Ps-graduandos em
Histria e do Departamento de Histria da PUC-SP. So Paulo: Educ / Fapesp, 1998.
p. 63 201.
NVOA, A. (Org.) Vida de Professores. Porto: Porto Ed., 1992.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
196
NVOA, A. e FINGER, M. O mtodo (auto) biogrfico e a formao. Lisboa
MS/DRHS/CFAP, 1988.
PAULINO, G. Tipos de texto, modos de leitura. So Paulo: Formato, 2001.
_________. Algumas especificidades da leitura literria. In: PAIVA, Aparecida et al.
(Orgs.). Leituras literrias: discursos transitivos. Belo Horizonte: Ceale; Autntica,
2007. p. 55-70
_________. Contribuies para a leitura literria de educadores das sries iniciais
do Ensino Fundamental. Disponvel em
http://www.ufjf.br/praticasdelinguagem/files/2011/06/Relato-2-
Contribui%C3%A7%C3%B5es-para-a-leitura-liter%C3%A1ria-de-educadores-das-
s%C3%A9ries-iniciais-do-Ensino-Fundamental-LIED.pdf,> Acesso em 17/09/2012.
SOARES, M.B. Ler, verbo transitivo. 2004. Disponvel em
http://www.leiabrasil.org.br/old/leiaecomente/verbo_transitivo.htm > Acesso em
agosto de 2013.
________. As condies sociais da leitura: uma reflexo em contraponto. In:
ZILBERMAN, R. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
SOL, I. Estratgias de leitura. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1998.
SOUZA, E.C.de. Epistemologia da formao: polticas e sentidos de ser professor no
sculo XXI. Revista de Educao. 2004.
_______. O conhecimento de si: estgio e narrativas de formao de professores. Rio
de Janeiro: DP&A, 2006.
HISTRIAS DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS:
prticas de leitura na escola
Natalina Assis de Carvalho
UNEB/PPGEduC/GRAFHO/FAPESB
nataassis@yahoo.com.br
Resumo: O presente trabalho tem a inteno de socializar um recorte da pesquisa intitulada
Histrias de professoras alfabetizadoras: prticas de leitura na escola, de abordagem
qualitativa, ancorada no mtodo (auto)biogrfico e que versa sobre as histrias de leitura de
quatro professoras alfabetizadoras que desenvolvem a docncia em uma escola pblica no
municpio de Catu, situado no Territrio de Identidade Litoral Norte e Agreste Baiano.
Trata-se de uma atividade realizada no mbito da disciplina Abordagem (Auto)biogrfica,
Formao de Professores e de Leitores, no contexto do Programa de Ps-graduao em
Educao e Contemporaneidade PPGEduC/UNEB. A inteno da pesquisa foi conhecer as
histrias de leituras das referidas professoras, no intuito de entender como as mesmas se
constituram leitoras e professoras alfabetizadoras e como desenvolvem prticas de leitura
na sala de aula, tendo em vista a formao de pequenos leitores. A entrevista narrativa foi o
procedimento metodolgico utilizado para a recolha das fontes, as quais retratam diferentes
histrias de vida e de formao das colaboradoras da referida pesquisa. As narrativas
contemplam histrias sobre as memrias de escola, os professores marcantes e a influncia
de familiares no processo de constituio de leitoras. As narrativas evidenciam prticas
pedaggicas adjetivadas de tradicionais, as quais so sustentadas pelas orientaes,
atividades e textos contidos nos livros didticos, concebidos com o principal recurso
didtico-pedaggico utilizado pelas professoras. Para todas as professoras, o Cantinho de
Leitura constitui o nico lugar destinado leitura das crianas. Segundo as professoras,
uma vez por semana, cada criana levava um livro emprestado para casa. Entretanto, no
havia um retorno sobre a leitura realizada em casa. Assim, fica evidente, que o espao
reservado para o acesso aos livros de literatura infantil no era explorado cotidianamente
pelas professoras, o que denota a falta de uma proposta de formao voltada para a prtica
de leitura na referida escola. Alm disso, emergiram nas narrativas, elementos que sinalizam
a necessidade de promover formao continuada de professores alfabetizadores, com intuito
de discutir o processo de alfabetizao e a formao da criana leitora. Deste modo, a
pesquisa com as histrias de vida fez com que as professoras refletissem no que mais
marcou, no seu processo de vida e formao, retomando as experincias a partir do que
foram mais significativos. Foi com o olhar voltado para o professor leitor e sua insero nas
memrias que foram tecidas as construes com base no entendimento das subjetividades e
experincias, pensando no processo de formao leitora. A pesquisa deu visibilidade as
histrias de leitura e de professoras alfabetizadoras que cotidianamente enfrentam diversos
desafios no devir da docncia.
Palavras-chave: Histria de vida; Profisso docente; Formao do professor leitor.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
198
APRESENTAO
O presente trabalho nasce no mbito da disciplina Abordagem
(Auto)biogrfica, Formao de Professores e de Leitores, no contexto do Programa
de Ps-graduao em Educao e Contemporaneidade PPGEduC/UNEB. Cujo
objetivo da pesquisa foi conhecer as histrias de leituras das referidas professoras, no
intuito de entender como as mesmas se constituram leitoras e professoras
alfabetizadoras e como desenvolvem prticas de leitura na sala de aula, tendo em
vista a formao de pequenos leitores. O trabalho ganha fora metodolgica por se
tratar de um mtodo de investigao-formao, mediante as narrativas das
professoras alfabetizadoras.
Considerando que a ao educativa deve ser um processo dinmico em
contextos de relevncia social, entendemos que os sujeitos envolvidos no processo de
alfabetizao buscam desenvolver uma compreenso sobre a importncia de ensinar,
aprender, ler, escrever e conhecer em situaes que envolvem o uso da linguagem.
Desta forma, a educao tem como objetivo central possibilitar aos indivduos seu
preparo para o exerccio da cidadania, promovendo, assim, seu progresso pessoal e
social por meio de atividades individuais e coletivas. Manifestar-se por meio da
linguagem, atividade inerente ao ser humano, representa, primeiramente, sua
necessidade de projetar-se no mundo, de expressar suas capacidades e de
desenvolver-se socialmente, possibilitando tambm a outras oportunidades de ao.
Entretanto, diferentes relatrios brasileiros mencionam a inteno manifestada
pelos governos tanto federal como estadual melhorar a educao bsica em nosso
pas, e isso se d atravs de muita dedicao. O atual fenmeno de alfabetizao nos
pases subdesenvolvidos, numa perspectiva mais ampla que explica boa parte dos
fracassos dos processos de ensino de alfabetizao. Os alunos que no sabem ler nem
escrever, isto que carecem dos conhecimentos necessrios para ler e escrever ainda
muito grande.
Entretanto, no mundo contemporneo em que o uso do escrito do prprio
idioma e a sua leitura considerado um direito bsico do ser humano, muitos
governos realizam grandes esforos para erradicar o analfabetismo no Brasil. No
sabendo que, este, se d pelo fracasso escolar no ensino fundamental. O fracasso
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
199
escolar pode ser um processo das pessoas que no tem o domnio do alfabeto ou de
algum outro sistema de leitura e formas para entender o que lem. Diversos docentes
do ensino de Lngua Portuguesa tm procurado contribuir, de forma intensa e
decisiva, na formulao de novas teorias que garantam prticas pedaggicas mais
eficazes e voltadas para uma maior integrao entre a escola, os docentes, os
discentes e a sociedade como um todo. preciso d mais importncia ao ensino de
portugus, pois, atravs da aprendizagem da leitura no ensino fundamental e de seu
entendimento, que se permitem muitos outros conhecimentos fluirem.
Este trabalho pretende abordar as narrativas de professoras alfabetizadoras
sobre seus processos dentro da docncia. Sabemos que para lhe dar com a
alfabetizao preciso de professores capacitados, assim perece-se a necessidade de
uma formao continuada do professor.
No Brasil muitas escolas do ensino fundamental possuem baixos ndices de
aprendizagem no ensino de portugus. Em que a leitura e a interpretao do que est
sendo lido uma dificuldade para as crianas. Segundo Cagliari (2003) a leitura a
extenso da escola na vida das pessoas. uma herana maior do que qualquer
diploma. Muitos acham que l e compreender um texto um problema que o
professor de portugus deve resolver na educao das crianas, mas no
necessariamente assim, cabem professores de outras matrias fazer essa interpretao
ensinando os alunos.
A educao fundamental em todos os nveis, sabendo que muita das vezes se
h pouca importncia na fase em que esta estar sendo alfabetizada. Embora, na fase
de aquisio de escrita e leitura que se deve uma ateno maior do docente. A
resoluo desse problema despertou-me curiosidade, pois um bom processo de
alfabetizao pode ser um grande avano na educao do nosso pas.
HISTRIA DE VIDA
No presente texto trago a autobiografia como potencial de formao e mtodo
de conhecimento, que busca no territrio da formao de professores, encontrar
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
200
recursos que possam subsidiar o trabalho desenvolvido por estes professores, em
especial as alfabetizadoras. A abordagem autobiogrfica uma forma de
investigao e procura na formao de professores localizar elementos significativos
para os sujeitos seja ele pessoal ou profissional.
A autobiografia tem sido utilizada como metodologia de pesquisa e de
formao para professores e pesquisadores, como instrumento de produo e de
autoconhecimento. Emprega conceitos em diversos campos do conhecimento, seja a
histria de vida, a narrativa de formao ou outros. No momento da atuao
acadmica destes profissionais, estes encontram na prtica autobiogrfica a
probabilidade de reflexo sobre sua trajetria de vida (SILVA; COSTA, 2008). Assim,
analisar as narrativas um processo de construo de conhecimento para a formao
dos professores.
As narrativas so muito importantes para o pesquisador pois, podem
propiciar uma melhor compreenso do professor e constituem um momento em que
se rememora o vivido, seja ele na experincia pessoal ou profissional. A escrita das
narrativas exige um esforo do sujeito na construo de suas escritas, resultando em
lembranas organizadas linearmente ou no.
No que diz respeito, as narrativas estas permitem que o sujeito passe por um
processo de busca das experincias no seu interior para chegar aos acontecimentos.
Alm do mais, fornece estado de esprito, sensibilidade, pensamentos a propsito de
emoes, sentimentos, assim como, atribuies de valores (JOSSO, 2004). A partir do
momento em que se busca esses sentimentos durante as narrativas, entra-se no
processo de conhecimento para a prpria formao.
Assim sendo, a narrativa autobiogrfica conduz o sujeito uma compreenso
sobre o passado, o presente e as questes experienciais. Entender as narrativas
autobiogrficas e o processo de formao fundamental para a aprendizagem do
professor. A partir da sua histria, do percurso percorrido durante a profisso, o
conhecer e aprender com as experincias adquiridas ao longo da vida, revelam-se
processos de constantes formaes, assim, as implicaes sobre influncias familiares
e a profisso so elementos para os sujeitos compreenderem o seu processo nas
experincias.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
201
A pesquisa com quatro professoras alfabetizadoras no municpio de Catu
Bahia, foi realizada com intuito de entender como eram desenvolvidas as como as
mesmas se constituram leitoras e professoras alfabetizadoras e como desenvolvem
prticas de leitura na sala de aula, tendo em vista a formao de pequenos leitores. A
realizao da pesquisa foi com quatro professoras alfabetizadoras de uma escola
pblica municipal. No primeiro contato com as quatro professoras alfabetizadoras,
informou-se como seria realizada a pesquisa e o objetivo da pesquisa. Esclareceu-se
todo processo de trabalho com as entrevistas narrativas, elucidando que essa
metodologia de trabalho seria no s um mtodo de investigao, mas de formao.
Com as histrias das professoras temos a narrativa de Maria que tem sob sua
orientao, um grupo de quinze alunos da alfabetizao, com idade entre seis e sete
anos.
[...] Sou professora desde 24 anos, mas comecei a trabalhar com
alfabetizao tem dois anos. Meu interesse com a leitura sempre foi
muito pouco, porque no tinha pais para incentivar o tempo todo, o
livro era sempre um cansao. Hoje vejo a importncia de ler,
trabalhar com alfabetizao abriu meus horizontes. Meus alunos
sempre foram bastante interessados, mas na verdade muitos tm
muita dificuldade, e compreendi que por conta das leituras no
realizadas em casa. Sempre incentivo meus alunos, alm das leituras
exerccios, tenho o cantinho da leitura, onde levam sempre um livro a
cada dia para casa. (Alfabetizadora Maria)
A professora mostra a sua experincia na docncia, mas afirma que trabalha
com a alfabetizao a pouco tempo. A fala marcada pelo pouco interesse a leitura,
por conta do no incentivo dos pais. Trs a alfabetizao como um processo que
resgata o interesse no processo leitor. A docente Maria consta a importncia da
famlia no processo de leitura. E na sua fala, aponta o cantinho de leitura como um
fator importante para incentivo, mas parece que no h um retorno com os livros que
so lidos pelos alunos.
Na presente pesquisa, as quatro professoras que corroboraram no quiseram
se identificar nos seus nomes, assim foram usados nomes fictcios para substituir o
nome de cada professora. As narrativas, das professoras apontam:
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
202
[...] A minha vida sempre muito difcil, mas de muitas vitrias. Ser
professora era sempre uma vontade minha. E conseguir realizar,
comecei a alfabetizar desde muito cedo. muito lindo ensinar a ler e
escrever. Complica tudo isso, porque os subsdios so poucos. No
temos muitos textos diferentes para a idade deles. E a uma
confuso, porque tenho que me virar para fazer o trabalho que esta
bastante precarizado. No sei, mas pouca ateno a nos professores
alfabetizadores. O cantinho de leitura nem um projeto[...].
(Alfabetizadora Bete)
A profisso coloca qualquer pessoa a repensar o ser e estar na sala de
aula. E estar no curso de pedagogia me fez amar o estgio com
alfabetizao. Depois, nossa fiquei apreensiva para trabalhar com a
alfabetizao, como moro em Catu, tive essa oportunidade de
trabalhar aqui na prefeitura. difcil as vezes, porque no h uma
formao continuada voltada a alfabetizao, e assim fica complicado
as vezes. Temos o cantinho de leitura, mas fica faltando algo. A
formao importante para trabalharmos, e as dvidas sempre
surgem. (alfabetizadora Carla)
Com o pincelar das vozes, a alfabetizadora Bete, demonstra as dificuldades no
decorrer de suas vidas. Com efeito as lutas concede que todo este esforo valeu em
vitrias. O processo de formao acontece quando o sujeito tem a oportunidade de
conhecer as suas interaes e subjetividades. A reflexo da vida pessoal, profissional
e social remete o sujeito a questionar suas aprendizagens e compreender sua
trajetria autoformativa. A docente Bete coloca emoo quando vai falar do ensino
referente a leitura e escrita. Assim, expe dificuldades na sala de aula, e mais um
trabalho com o cantinho de leitura com poucas inferncias.
A profisso coloca qualquer pessoa a repensar o ser e estar na sala de
aula. E estar no curso de pedagogia me fez amar o estgio com
alfabetizao. Depois, nossa fiquei apreensiva para trabalhar com a
alfabetizao, como moro em Catu, tive essa oportunidade de
trabalhar aqui na prefeitura. difcil as vezes, porque no h uma
formao continuada voltada a alfabetizao, e assim fica complicado
as vezes. Temos o cantinho de leitura, mas fica faltando algo. A
formao importante para trabalharmos, e as dvidas sempre
surgem. (alfabetizadora Carla)
Na narrativa da alfabetizadora Carla, a professora passa por um momento de
rememorao da profisso docente. Segundo Josso (2004), a formao como
aprendente um agente para se pensar nos processos de temporalidade, experincia,
aprendizagem, saber-fazer, subjetividade e identidade. A narrativa de Carla fala do
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
203
seu processo de constituio de ser professora alfabetizadora. Alm disso, emergiram
nas narrativas, elementos que sinalizam a necessidade de promover formao
continuada de professores alfabetizadores. Ainda Carla diz,
Desde pequena, via a minha me indo pra escola da aula. Decidi ser
professora. Certamente, foi uma deciso certa do que queria, porque
gostava muito da ideia de ser professora. (alfabetizadora Carla)
Ainda assim, percebemos a influncia familiar na escolha da profisso. E toma
a escolha enquanto uma deciso correta e certa de ser professora.
Segundo Souza (2006), adota-se o mtodo autobiogrfico e as narrativas de formao
como movimento de investigao-formao, seja na formao inicial ou continuada
de professores. A abordagem autobiogrfica externaliza a escrita da vida e os faz
entender a experincia adquirida ao longo desta. A abordagem (auto)biogrfica pode
ser entendida como uma forma de mediar estratgias que permitam ao professor
tomar conscincia de suas responsabilidades pelo processo de sua formao, atravs
da apropriao retrospectiva do seu percurso de vida. E, nesse sentido, quando eles
tentam justificar a opo pela profisso, retomam elementos que nos parecem
essenciais construo transacional da identidade docente. (PASSEGI, 2006, p.262)
O processo de lembranas propicia ao professor analisar a sua prtica na
profisso docente, a responsabilidade que exerce perante a sua profisso. A
abordagem autobiogrfica auxilia o docente a criar formas de entender o seu
percurso e, na profisso docente, que se descobrem enquanto profissionais. A
memria constituda pelas experincias passadas e com planos do futuro, desta
forma, no ato de narrar volta-se ao passado de uma histria at questionar o
presente. Os questionamentos do sujeito decorrem das aprendizagens passadas e, a
partir destas, buscam resposta para o futuro, esto sempre em busca de algo e se
questionando.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
204
PROFISSO DOCENTE
A profisso docente no bojo de alguns problemas atuais deve ser discutida,
para tentar entender o trabalho que os professores alfabetizadores vm
desenvolvendo no seu dia-a-dia. O professor alfabetizador lida com muitas questes
na sua profisso, e devem ser percebida para futuras respostas. Segundo Veiga A
profisso uma palavra de construo social. uma realidade dinmica e
contingente calcada em aes coletivas. produzida pelas aes dos atores principais
no caso, os docentes. (2008, p.14). Entendendo o que a docncia, este o trabalho
realizado pelos professores na sala de aula. Estes acabam realizando o ensino que
ultrapassa muitas outras funes. A docncia envolve uma construo do lugar, das
pessoas e das aes. Alm do mais, a realizao desse trabalho pode ser individual
ou coletiva.
Segundo Nvoa (1999, p, 15) a funo docente desenvolveu-se de forma
subsidiria no especializada, constituindo uma ocupao secundria de religiosos
ou leigos das mais diversas origens. Ainda, segundo o autor durante anos imputou-
se a profisso docente a ao dos sistemas estatais do ensino. Nesse caso, a
interveno do Estado vai provocar uma homogeneizao bem como uma
hierarquizao escala nacional, de todos estes grupos: o enquadramento estatal
que institui os professores como corpo profissional, e no uma concepo corporativa
do ofcio. Devido a estas questes, Nvoa diz que:
a partir do final do sculo XVIII, no permitido ensinar sem uma
licena ou autorizao do Estado, a qual concedida na sequncia de
um exame que pode ser requerido pelos indivduos que preencham
um certo nmero de condies (habilitaes, idade, comportamento
moral. (1999, p, 17)
Com efeito, podemos perceber um avano na regularizao da profisso
docente, onde existem condies para ser professor. Para Nvoa (1999) a criao
desta autorizao levada a profissionalizao do trabalho docente, alm do mais
facilita a definio de um perfil de competncias tcnicas, que servir para delinear a
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
205
carreira docente. O percurso profissional de professores traado por diversas
formas, Nvoa afirma que,
As dinmicas de afirmao e de reconhecimento social dos
professores apiam-se fortemente na consistncia deste ttulo, que
ilustra o apoio do Estado ao desenvolvimento da profisso docente (e
vice-versa). Os professores so funcionrios, mas de um tipo
particular. (NVOA, 1999, p, 17)
Fica marcado e estabelecido eu o Estado mantm um papel importante no
desenvolvimento da profisso docente. Estes possuem uma carreira, onde
construda e marcada pela regularizao. Para Nvoa (1999, p, 16) o trabalho
docente diferencia-se como conjunto de prticas tornando-se assunto de
especialistas, que so chamadas a consagrar-lhe mais tempo e energia.
possvel entrever um certo desconforto, quando se trata da profisso docente
na sociedade capitalista. Existem algumas questes que so desafios no trabalho do
professor. Tem um ponto que a ressignificao da profisso docente, onde caberia a
formao de professores da conta destas questes atuais. O homem atravs de sua
prxis compreende as relaes existentes no processo criativo do trabalho. Ou seja, o
modo tecnicista do trabalho no d mais conta, de dizer que a prxis humana, recai
com uma ao apenas tcnica, mas sim cheia de subjetividades. O trabalho manual,
mas perpassa pelas subjetividades do indivduo. Por isso, a profisso docente no
contexto capitalista, sofre com elementos que advm de questes postas dentro da
realidade.
O que esta institudo pela escola, algo que o professor d conta de maneira
mais passiva. No entanto, no atual contexto o instituinte sempre se coloca dentro da
profisso docente. Assim, o professor dever ter conhecimentos para manuseios das
questes que iro aparecer no contexto escolar. Nesse sentido, em se tratando do
contexto da sala de aula este tambm atingido pelo capitalismo e tecnologias, por
isso o instituinte adentrado nos espaos, mesmo com dificuldades, devem ser
manuseados e com ateno. A formao de professores ainda trabalhada de forma
muito tradicional e precisa de suporte, por isso,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
206
...a formao de professores, as instituies educacionais, no
representam o nico espao de saber, uma vez que co-existem,
mltiplos espaos como a mdia, as empresas, os movimentos sociais,
as Organizaes No Governamentais (ONGs), os sindicatos, as
comunidades virtuais, os blogs, o grupo de amigos, as associaes
entre outros espaos geradores de experincia e saberes. (Hetkoswski,
2009, p, 245)
O contexto contemporneo demonstra a necessidade de processos formativos
reflexivos e em vrios espaos. Os espaos formativos muitas vezes so medidos por
serem instituies escolares ou de universidades. Mas, se partimos do ponto de vista
da experincia, constatamos que toda experincia formativa, seja essa no trabalho,
nas ONGs, nas comunidades, na rua e nos mais diversos lugares. O saber adquirido
em outros espaos no acadmicos so lugares de formao. Chamo a ateno, com
relao aos percursos formativos, que vamos tendo dentro da nossa vida pessoal e
profissional.
FORMAO DO PROFESSOR LEITOR
Para Veiga (2008) a formao de professores o ato de formar, educar o
profissional. Esta vem ao longo do tempo, se desenvolve em momentos individuais
ou coletivos, no sentido de construir saberes adquiridos pela experincia ou pelas
aprendizagens acontece de forma gradativa, na qual muitos elementos podem estar
envolvidos.
A formao pode ajudar o docente a encontrar respostas s dificuldades
encontradas do dia-a-dia e um processo inicial e contnuo. Para Mizukami,
[...] a formao inicial sozinha no d conta de toda a tarefa de formar
professores, como querem os adeptos da racionalidade tcnica,
tambm verdade que ocupa um lugar muito importante no
conjunto do processo total dessa formao, se encarada na direo da
racionalidade prtica. (2002, p.23).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
207
Nota-se assim que a formao inicial um ponto de partida para o professor e
esta no ser suficiente para resolver todos os assuntos que enfrentar no decorrer de
sua atuao, por isso, a formao continuada o que dar suporte ao professor.
Ao longo dos anos, vem se questionando os cursos de formao continuada
fragmentados e de pouca durao, como um meio efetivo para alterao da prtica
pedaggica, Mizukami (2002, p.71) diz a esse respeito: Esses cursos, quando muito,
fornecem informaes que, algumas vezes, alteram apenas o discurso dos professores
e pouco contribuem para uma mudana efetiva. Essa uma perspectiva clssica da
formao continuada de professores, que vista como um processo de reciclagem,
uma atualizao. Segundo Candau (1996) h uma reciclagem dos professores quando
recebem cursos de aperfeioamento oferecidos pelas universidades ou pela secretaria
de educao e/ou quando participam de simpsios, congressos e encontros.
Contrria a essa viso clssica, pesquisas sobre uma nova concepo de
formao continuada foram desenvolvidas. Para Candau (1996) todo processo de
formao continuada deve ter como fundamental a valorizao do saber docente e a
experincia que este possui na escola. Sendo assim, o professor deve apropriar-se de
seu processo de formao e fazer um processo de reflexo sobre a sua histria de
vida seja numa dimenso pessoal ou profissional. Candau afirma ainda
A formao continuada no pode ser como um processo de
acumulao (de cursos, palestras, seminrios etc., de
conhecimentos ou de tcnicas), mas sim como um trabalho de
reflexividade crtica sobre as prticas de (re)construo
permanente de uma identidade pessoal e profissional, em
interao mtua. E nessa perspectiva que a renovao da
formao continuada vem procurando caminhos novos de
desenvolvimento. (ibidem, p. 150)
A reflexo sobre saberes que esto se configurando na docncia importante
para uma construo da identidade profissional do professor. Segundo Mizukami
(2002) com o novo perfil do professor, o conceito de formao docente relacionado
ao de aprendizagem permanente, onde se consideram os saberes, as competncias
docentes, como decorrncia da formao profissional, das aprendizagens ao longo da
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
208
vida. O processo de construo do professor se desenvolve a partir da prtica
pedaggica, pelo compromisso com o seu trabalho, atravs de uma formao
contnua e mediadora de conhecimentos. O que acrescenta, tambm, nesse processo
de construo de identidade so as experincias vividas, as relaes dos professores
entre si e com outras pessoas.
Consideraes
O estudo realizado a partir das Histrias de professoras alfabetizadoras: prticas de
leitura na escola, comprovou, dentre outras coisas, que o modo como estava sendo
alfabetizado os alunos, caia em moldes tradicionais. A falta de retorno do cantinho
de leitura, como apenas, mas um elemento a ser posto na sala de aula.
Ainda que ao professor, a leitura se apresente como uma forma de ser que se
enraza e se fortalece ao longo da sua histria profissional, podemos perceber, pelos
dados da narrativa aqui apresentada, que existem vrios condicionantes agindo
negativamente na constituio de leitor. O retrato do professor alfabetizador , sem
dvida, de muitas dificuldades por conta de uma formao continuada,
considerando a necessidade de projetar aos estudantes o entusiasmo pela escrita e
leitura.
No podemos suceder no engodo determinista, achando que o professor no
tem sada para o dilema acima exposto. Entretanto, considerando a aprendizagem
constante do mundo, existe sempre uma porta aberta de que o professor desenvolva
competncias de leitura, mesmo aquela que j deveria ter dominado em etapas
anteriores de sua vida. Dessa forma, seja pelo esforo pessoal, seja pela implantao
de polticas de formao continuada, voltadas ao incremento do repertrio cultural
dos agentes da educao formal, o professor pode e deve caminhar no sentido de se
tornar um leitor capaz de entender os seus alunos.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
209
Referncias
CAGLIARI, L. C. Alfabetizao & lingstica. So Paulo: Scipione, 2003.
CANDAU, Vera Maria Ferro. Formao Continuada de Professores: Tendncias
Atuais. In: REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues; MIZUKAMI, Maria da Graa
Nicoletti. (Orgs.). Formao de professores: tendncias atuais. So Carlos:
EDUFSCar, 1996, p.139-152.
HETKOWSKI, Tnia Maria; NASCIMENTO, Antnio Dias. Educao e comunicao.
Dilogos contemporneos e novos espaos de reflexo. Educao e
contemporaneidade: pesquisas cientficas e tecnologias. HETKOWSKI, Tnia Maria;
NASCIMENTO, Antnio Dias (orgs). 1. ed. Salvador: ed. Edufba, 2009. 400 p.
JOSSO, Marie-Cristine. Experincias de Vida e Formao. So Paulo: Cortez, 2004.
LAVALLE, Marcel. Analfabetismo e sistema escolar na Bahia. So Paulo, editora
tica, 1995.
NVOA, Antnio. (org.). Profisso Professor. Porto: Editora Porto, 1999.
MIZUKAMI, M. G. N. et al. Escola e aprendizagem da docncia: processos de
investigao e formao. So Carlos: EDUUFSCar, 2002.
PASSEGI, Maria Conceio. et al. Formao e pesquisa autobiogrfica. In: SOUZA,
Elizeu Clementino de. (Org.) Autobiografias, histrias de vida e formao: pesquisa
e ensino. Porto Alegre: EDIPUCRS: EDUNEB 2006, p.257-268.
SILVA, Nilce da; COSTA. P. C. da. Autobiografizao mtua na pesquisa sobre a
formao dos professores por meio das histrias de vida: algumas consideraes
epistemolgicas. Revista da FAEEBA- Educao e Contemporaneidade. Salvador,
v.17, n.29, p.51-66, jan./jun., 2008.
SOUZA, Solange Jobim e, e KRAMER, Sonia. Apresentao. Professores: Sujeitos na
histria e sujeitos da histria. In: Sonia Kramer e Solange Jobim e Souza. (Orgs).
Histria de Professores. So Paulo: Editora tica, 2008.
SOUZA, Solange Jobim e, e KRAMER, Sonia. Experincia humana, histria de vida e
pesquisa: Um estudo da narrativa, leitura e escrita de professores. In: Sonia Kramer e
Solange Jobim e Souza. (Orgs). Histria de Professores. So Paulo: Editora tica,
2008.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Docncia como atividade profissional. In: VEIGA,
Ilma Passos Alencastro; dAVILA, Cristina. (Orgs.). Profisso docente: novos
sentidos, novas perspectivas. Campinas, SP: Papirus, 2008. p.13-21.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
210
INFLUNCIAS, REFERNCIAS E INTERTEXTOS
POTICOS:
aparies de Elizabeth Bishop em Ana Cristina Cesar e
Anglica Freitas
Raquel Machado Galvo
8
Mestranda em Estudos Literrios pela Universidade Estadual de Feira de Santana;
e-mail: raquelgcultura@gmail.com
Resumo: Este ensaio prope uma abordagem acerca das influncias, referncias e relaes
intertextuais da poeta americana Elizabeth Bishop presentes nas poesias de Ana Cristina
Cesar e Anglica Freitas. A histria de cada uma das escritoras aparece enlaada nas suas
construes poticas, assim como a presena direta e indireta de diversos escritores em um
texto potico. Seja por incorporao, admirao ou simples influncia, um poeta traz no seu
labor de construo e pulso lrica, palavras, expresses, citaes e informaes que remetem
direta ou indiretamente a outros escritores. Essas referncias podem se apresentar em
diversos formatos. s vezes, como uma homenagem assumida, outras como cpia indireta.
Mas em todas elas presente o que nos estudos literrios se chama de intertexto. Entre
percursos, leituras, referncias e influncias aluses e citaes - e diante do texto e do
contexto do ensaio trs poetas (por ironia e coincidncia, mulheres): Elizabeth Bishop, Ana
Cristina Cesar e Anglica Freitas. Cada uma delas poetizando seu tempo e a sua gerao,
sem perder o elo com o seus lcus vivendi e com os seus percussores de escrita. Tambm
apresentaram, nos seus poemas, os limites de produo caractersticos da vida moderna
labirintos, incertezas, perdas e fragmentos. O auge produtivo das trs poetas encontram-se
em pocas diferentes. A primeira, Elizabeth Bishop, produziu de forma constante entre as
dcadas de 40 e 70 do sculo XX. Ana Cristina Cesar, por sua vez, teve o seu auge literrio no
final da dcada de 70 e incio da dcada de 80, um pouco antes do salto inesperado que a
levou ao suicdio em 1983. Anglica Freitas j uma poeta do sculo XXI: publicou o seu
primeiro livro de poesias no ano de 2007. A partir da produo de Elizabeth Bishop
possvel perceber como ela influenciou, foi referenciada e apareceu nos textos das duas
outras autoras que sucederam a sua obra. O que torna-se impossvel uma dissociao da
histria de vida com a histria literria de cada uma delas, para assim, linkar as suas
vivncias sociais e suas influncias com os indcios de experincia que aparecem nas suas
poesias. As ideias apresentadas consideram estudos e pesquisas realizados por Julia
Kristeva, T.S. Eliot, Roland Barthes, Leonor Arfuch, Carlos Alberto Messeder Pereira, Maria
Lucia de Barros Camargo, entre outros. A interpretao aqui exposta desemboca em uma
discusso sobre a importncia de Elizabeth Bishop para os escritores a seguiram, com uma
referncia de escrita e de trabalho rduo com a linguagem. Em comum, as trs trouxeram
8
Mestranda do programa de Ps-graduao em Estudos Literrios (PROGEL) da Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS). Especialista em Gesto Pblica pela Universidade do Estado da
Bahia (UNEB). Bacharel em Comunicao Social com habilitao em Jornalismo pela Universidade
Federal do Esprito Santo (UFES).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
212
fragmentos e temticas caractersticas de seus tempos. Romperam e impregnaram a sua
escrita com o suor do outro, de forma intertextual.
Palavras-chave: Ana Cristina Cesar; Anglica Freitas; Elizabeth Bishop; Intertexto; Poesia.
Cada texto potico est entremeado com outros textos poticos. Ele
no est sozinho. uma rede sem fim. o que a gente chama de
intertextualidade. (CESAR, 1999, p. 267)
1. Introduo
Seja por incorporao, admirao ou simples influncia, um poeta traz no seu
labor de construo e pulso lrica, palavras, expresses, citaes e informaes que
remetem direta ou indiretamente a outros escritores.
Essas referncias podem se apresentar em diversos formatos. s vezes, como
uma homenagem assumida, outras como cpia indireta. Mas em todas elas est
presente o que nos estudos literrios se chama de intertexto.
Julia Kristeva, uma das estudiosas que props a noo de intertextualidade
para os estudos literrios, influenciada por Mikhail Bakhtin, trouxe o pensamento
que a escrita literria traz textos anteriores ao seu, implcita ou explicitamente. Para
ela, todo texto se constri como mosaico de citaes, todo texto absoro e
transformao de um outro texto. (KRISTEVA, 1979, p. 68)
Para T.S. Eliot, o poeta utiliza emoes e influncias para trabalh-las em um
nvel potico elevado:
A mente do poeta de fato um receptculo destinado a capturar e
armazenar um sem-nmero de sentimentos, frases, imagens, que ali
permanecem at que todas as partculas capazes de se unir para
formar um novo composto estejam presentes juntas. (ELIOT, 1989, p.
44)
Entre percursos, leituras, referncias e influncias aluses e citaes - e
diante do texto e do contexto do ensaio trs poetas (por ironia e coincidncia,
mulheres): Elizabeth Bishop, Ana Cristina Cesar e Anglica Freitas. Cada uma delas
poetizando seu tempo e a sua gerao, sem perder o elo com o seus locus vivendi e
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
213
com os seus percussores de escrita. Tambm apresentaram, nos seus poemas, os
limites de produo caractersticos da vida moderna labirintos, incertezas, perdas e
fragmentos.
O auge produtivo das trs poetas encontra-se em pocas diferentes. A
primeira, Elizabeth Bishop, produziu de forma constante entre as dcadas de 40 e 70
do sculo XX. Ana Cristina Cesar, por sua vez, teve o seu auge literrio no final da
dcada de 70 e incio da dcada de 80, um pouco antes do salto inesperado que a
levou ao suicdio em 1983. Anglica Freitas j uma poeta do sculo XXI: publicou o
seu primeiro livro de poesias no ano de 2007.
A partir da produo de Elizabeth Bishop possvel perceber como ela
influenciou, foi referenciada e apareceu nos textos das duas outras autoras que
sucederam a sua obra. Fenmeno que Roland Barthes indica e descreve em O Rumor
da Lngua:
A leitura condutora do Desejo de escrever (estamos certos agora de
que h um gozo da escritura, se bem que ainda nos seja muito
enigmtico). No que desejemos escrever como o autor cuja leitura
nos agrada; o que desejamos apenas o desejo que o escritor teve de
escrever, ou ainda: desejamos o desejo que o autor teve do leitor
enquanto escrevia, desejamos o ame-me que est em toda escritura.
(BARTHES, 2004, p. 39)
O que torna-se impossvel uma dissociao da histria de vida com a
histria literria de cada uma delas, para assim, linkar as suas vivncias sociais e suas
influncias com os indcios de experincia que aparecem nas suas poesias. Como
Leonor Arfuch traz nas suas reflexes sobre o espao biogrfico na literatura:
No h texto possvel fora de um contexto, inclusive, esse ltimo
que permite e autoriza a legibilidade, no sentido que refere Derrida; e
tambm no h um contexto possvel que sature o texto e clausure a
sua potencialidade de deslizamento para outras instncias da
significao. (ARFUCH, 2010, p. 132)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
214
2. Indcios de Bishop em Bishop
Elizabeth Bishop (1911-1979) foi uma escritora americana que nasceu em
Worcester-EUA. Estudou literatura inglesa em Vassar e viajou por vrios pases
como Canad, Frana, Inglaterra, Marrocos e Espanha. Recebeu diversos prmios por
sua produo potica, entre eles, o Poet Laureate of the United States (1949-1950), o
Pulitzer (1956), o National Book (1970) e o Neustadt International Prize for Literature
(1976). Lecionou em vrias universidades americanas, como a Universidade de
Washington, em Harvard, na Universidade de Nova York e no Instituto de
Tecnologia de Massachussetts.
Em 1951, empreendeu uma viagem pela Amrica do Sul, com uma parada no
Brasil, onde, por ironia do destino, permaneceu at 1966 (por conta de uma alergia a
Cajus perdeu o embarque no navio em Santos). Passou a viver na Fazenda
Samambaia, perto de Petrpolis, propriedade da arquiteta Lota de Macedo Soares,
com quem foi casada durante o tempo que permaneceu no pas. Nesse perodo, teve
passagens espordicas pelo Rio de Janeiro e Ouro Preto, e excursionou por outras
regies, tendo passado pela Amaznia e navegado o So Francisco. Tanto o Brasil,
quanto a sua relao com Lota, esto presentes na sua vasta produo potica. o
que verifica Paulo Henriques Britto, principal tradutor de Bishop para o portugus e
organizador do livro Poemas Escolhidos de Elizabeth Bishop:
O que Bishop deixa claro, tanto nos poemas de amor como nas cartas
escritas nos anos 1950, que sua paixo pelo Brasil sempre mediada
pela paixo por Lota. Ou seja, s na medida em que lhe possvel
identificar a terra com a mulher amada que Bishop pode amar o
Brasil. (BISHOP, 2012, p. 37)
Suas principais referncias literrias foram Marianne Moore - com quem se
correspondia com frequncia e que a ajudou a publicar seu primeiro livro, T. S. Eliot,
Ezra Pound e Wallace Stevens. Foi tambm influenciada por poetas da Amrica do
Sul e Central, como o mexicano Octvio Paz, e os brasileiros Joo Cabral de Melo
Neto e Carlos Drummond de Andrade, os quais traduziu para o ingls.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
215
Na sua produo potica destacam-se as seguintes publicaes: North & South
(1946), A Cold Spring (1955), Questions of Travel (1965), Uncollected Work (1969) e
Geography III (1976)
9
. Nesse ltimo, est presente um dos mais celebrados poemas de
Bishop, One Art ou A Arte de Perder (traduo). O texto traz algumas referncias
autobiogrficas e reflete sobre o sentido da arte, da vida e das perdas:
A arte de perder no nenhum mistrio;
tantas coisas contm em si o acidente
de perd-las, que perder no nada srio.
Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero,
a chave perdida, a hora gasta bestamente.
A arte de perder no nenhum mistrio.
Depois perca mais rpido, com mais critrio:
lugares, nomes, a escala subsequente
da viagem no feita. Nada disso srio.
Perdi o relgio de mame. Ah! E nem quero
lembrar a perda de trs casas excelentes.
A arte de perder no nenhum mistrio.
Perdi duas cidades lindas. E um imprio
que era meu, dois rios, e mais um continente.
tenho saudade deles. Mas no nada srio.
Mesmo perder voc (a voz, o riso etreo
que eu amo) no muda nada. Pois evidente
que a arte de perder no chega a ser mistrio
por muito que parea (Escreve!) muito srio.
(BISHOP, 2012, p. 363)
Ao tratar com leveza as problemticas encontradas nos interstcios da vida, e
j dotada de uma maturidade de escrita e de reflexo, a poeta remete ao continente
que perdeu, a Amrica do Sul, aos dois rios, que remete ao Amazonas e ao So
Francisco, pelos quais ela passou nos anos de Brasil, as duas cidades lindas, o Rio
de Janeiro e Ouro Preto, e as trs casas excelentes nas quais se dividia no Brasil
(Rio de Janeiro, Ouro Preto e Petrpolis).
9
Norte & Sul (1946), Uma Primavera Fria (1955), Questes de Viagem (1965), Obras Dispersas (1969) e
Geografia III (1979)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
216
3. Ana Cristina Cesar e Bishop em Ana Cristina Cesar
Ana Cristina Cesar (1953-1983) foi uma escritora nascida no Rio de Janeiro em
uma famlia de classe mdia alta e envolvida com a rea de literatura. Demonstrou,
desde muito nova, habilidade com as palavras. Em depoimento para Carlos Alberto
Messeder Pereira, em Retrato de poca: poesia marginal anos 70, lanado pela Funarte
em 1981, ela fala um pouco desse background familiar:
eu fui uma menina prodgio. Esse gnero, assim, aos seis anos de
idade faz um poema e papai e mame acham timo... na escola, as
professoras achavam um sucesso. Ento literatura assim pra mim
comeou... mame era professora de literatura, aqui (em casa) era
sempre (local de) encontro de intelectuais, papai transava na
Civilizao Brasileira, no sei o que. Ento tem esse lance assim de
famlia de intelectual que voc... estimulava e publicava nas
revistinhas de igreja, ou algum conhecia algum na Tribuna da
Imprensa... botava no mural da escola... A quando eu cresci, essa
coisa me incomodou muito... (PEREIRA, 1981, p.190-191)
Quando cresceu, foi literalmente e na rea literria. A menina que ditava
poemas para a me, se transformou em uma jovem com agitada vida acadmica,
cursou Letras na PUC-RJ (1971-1975), obteve o ttulo de mestre em Comunicao pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o estudo da representao da literatura
no cinema - Literatura no documento (1978-1979), financiado pela Funarte, e em
Master of Arts pela Universidade de Essex (1979-1981), com uma traduo comentada
do conto Bliss, de Katherine Mansfield. No que tange a produo literria, esteve
fortemente envolvida na produo literria dos anos 70.
Publicou trs livros de forma alternativa: Cenas de Abril (1979), Correspondncia
Completa (1979) e Luvas de Pelica (1980). Eles, contudo, se diferenciavam um pouco do
restante da produo marginal por alguns sinais de requinte e capricho, tpicos da
escritora, assim como pelos recursos de construo potica utilizados. Participou,
ainda na dcada de 70, da coletnea 26 Poetas Hoje (1976) organizada por Helosa
Buarque de Holanda. Em 1982, publicou por uma editora comercial, a Brasiliense, o
livro A teus ps, que incluiu os trs livros anteriores, alm do indito A teus ps. A
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
217
partir da, apenas livros pstumos, a maioria organizados pela famlia Cesar e pelo
escritor Armando Freitas Filho, a quem Ana Cristina deixou a responsabilidade de
cuidar do seu material ps morte: Inditos e Dispersos (1985), Escritos na Inglaterra
(1988), Escritos no Rio (1993) e Correspondncia Incompleta (1999). Pelo Instituto
Moreira Sales, Antigos e Soltos (2008), organizado por uma das principais
pesquisadoras de Ana Cristina Cesar do Brasil, Viviana Bosi.
Essa sobrevida da obra de Ana Cristina Cesar deve-se a inmeros fatores,
principalmente originalidade, ao que ela traz de novo. Da mesma forma que
produziu uma literatura de compreenso menos direta, e, consequentemente, mais
difcil, ela traz textos com montagens de coisas reais, cotidianas, brinca com
correspondncias, biografias, dirios e documentos. uma literatura tambm
marcada pela influncia de outros autores. Somado ao trabalho de traduo de
poetas como Sylvia Plath, Mariane Moore, Anthony Barnet, Emily Dickinson e
William Carlos Williams, ela apresenta na sua produo potica um estilo que
prprio, mas tambm dos outros.
No livro A teus ps apresenta, ao final, um ndice Onomstico, no qual traz 23
nomes, entre escritores consagrados ou amigos, que esto diretamente ligados sua
produo ou influenciaram a sua escrita
10
. Elizabeth Bishop est includa entre esses
nomes citados. Em uma das poesias presentes no livro aparece uma aluso e
referencia direta a Bishop, no poema Travelling:
Tarde da noite recoloco a casa toda em seu
lugar.
Guardo os papis todos que sobraram.
Confirmo para mim a solidez dos cadeados.
Nunca mais te disse uma palavra.
Do alto da serra de Petrpolis,
com um chapu de ponta e um regador,
Elizabeth reconfirma, Perder
10
ndice Onomstico de A teus ps: Francisco Alvim, Eudoro Augusto, Manuel Bandeira, Elizabeth
Bishop, Helosa Buarque, Angela Carneiro, Emily Dickinson, Grazyna Drabik, Carlos Drummond,
Armando Freitas, Billie Holliday, James Joyce, Mary Kleinman, Katherine Mansfield, Ceclia Meireles,
Angela Melim, Murilo Mendes, Katia Muricy, Octvio Paz, Vera Pedrosa, Jean Rhys, Gertrude Stein,
Walt Whitman.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
218
mais fcil que se pensa.
Rasgo os papis todos que sobraram. [...]
(CESAR, 1993, p 44)
Imerso no prprio limite de armadilhas intertextuais que Ana Cristina prope,
a poesia comea em um tom confessional, que se encontra a uma referncia direta
vida de Elizabeth Bishop em Petrpolis, algo bem biogrfico no trecho: Do alto da
serra de Petrpolis, com um chapu de ponta e um regador, Elizabeth reconfirmava. Em
seguida, uma referncia direta ao poema One Art, com o trecho Perder mais fcil que
se pensa, de encontro traduo A arte de perder no nenhum mistrio.
Maria Lcia de Barros Camargo, na tese de doutorado sobre Ana Cristina
Cesar, publicada no livro Atrs dos Olhos Pardos: Uma Leitura da Poesia de Ana Cristina
Cesar, diz que:
evidente que toda obra literria tem relao com a tradio que a
antecede, seja por influncias, seja por adeso, por mimese, por
negao, por resistncia, por releitura ou recuperao [...] Mas em
Ana Cristina a relao com a tradio literria no vai se limitar a
influncias, nem ser apenas prtica epigonal da modernidade.
processo construtivo da obra, conscientemente planejado e elaborado:
pardias, pastiches, apropriao de versos, aluses e referncias
diretas a autores amados, a amigos e outras artes. (CAMARGO, 2003,
p. 119)
Ana Cesar aprimorava, assim, seu mtodo potico com a aproximao a
outros autores, observando traos, esquemas da escrita e imagens presentes nos
textos.
4. Anglica Freitas, liz e lota
Anglica Freitas (1973-) uma escritora em atividade que exerce o papel de
poeta e tradutora, semelhante ao das j citadas autoras. Nasceu em Pelotas-RS, tendo
cursado Comunicao Social da UFRGS e atuado como reprter dos jornais O Estado
de So Paulo e Revista Informtica Hoje. J morou em pases como Holanda, Bolvia e
Argentina.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
219
Em 2007, publicou seu primeiro livro, Rilke Shake, j traduzido para ingls,
francs, espanhol e alemo. Fez parte de outras coletneas nacionais e internacionais,
at lanar o seu segundo livro em 2012, chamado O tero do Tamanho de um Punho.
A escritora participa de uma gerao que ainda no foi batizada pela crtica
literria. Contudo, assim como Ana Cristina Cesar, mistura referncias pop com
nome de escritores consagrados. Em Rilke Shake referencia Gertrude Stein, Djuna
Barnes, Mariane Moore, Ezra Pound, Rilke, Mallarm, Shakespeare, John Keats, entre
outros.
Elizabeth Bishop aparece em Anglica Freitas no poema liz e lota, tambm
presente em Rilke Shake:
liz e lota
imagino a bishop entre cajus
toda inchada e jururu
da janela o rio a seu
lado a lota, com um conta-gotas.
but you must stay.
forget that ship, she said.
ao que bishop riu, olho esquerdo
sumiu, afundou na plpebra.
a americana dormiu em alfa.
e no seu sono, to geogrfica
sonhou com a carioca rica
e com a vastido da amrica.
(FREITAS, 2007, p.29)
Anglica Freitas traz referncias vida pessoal de Elizabeth Bishop, fazendo
aluso a uma forte alergia que a manteve no Brasil e possibilitou a sua aproximao
com Lota Macedo. Trata com humor a situao de liz e lota, o incio da paixo e o
sonho da escritora uma tranquilidade financeira para escrever. Quando diz em seu
sonho to geogrfica, Freitas remete ao livro Geografic III, e ao poema One Art, ao falar
do continente no trecho e com a vastido da amrica.
Segundo Hilary Kaplan, tradutora de Rilke Shake para o ingls, a poesia de
Anglica Freitas: apresenta um shake de linguagens e palavras com a tradio
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
220
cannica e um toque de prazer, batidas no liquidificador irnico da ps-
modernidade
11
.
Lota Macedo, volta a aparecer de forma en passant, em outra poesia de
Anglica Freitas presente em Rilke Shake. Um pequeno trecho traz informaes
indiretas sobre o fato da frequente conduta da arquiteta de andar armada.
[...]
olhei praquele espelho
o suficiente pra
sem relgio caro
fazer pose de lota
e sem pistola automtica
pose do anjo do charlie
ento eu disse: , gata
rpida peguei as chaves
sa num pulo, s fui rir no elevador.
(FREITAS, 2007, p. 58)
Embora Anglica Freitas no cite Ana Cristina Cesar diretamente, ela tambm
tem nessa poeta uma inspirao para a sua escrita, como colocou em uma recente
entrevista concedida para a jornalista Raquel Cozer da Folha de So Paulo:
Esse estilo inspirou mais de uma gerao de poetas. Um dos nomes
mais conhecidos no gnero hoje, a gacha Anglica Freitas, 40,
credita a leitura de Ana C. seu interesse por escrever poesia:
eu a li aos 15 anos. At ento, tinha escrito uns versinhos. Os poemas
me causaram grande estranhamento. Muita coisa ali era um mistrio.
Mas um mistrio que mostrou que poesia tambm pode ser
investigao, ela diz. (COSER, 2013, online)
5. Consideraes Finais: Aparies do outro no outro
Mais que influncia, Elizabeth Bishop foi, para as duas poetas que a
sucederam, uma referncia de escrita e de trabalho rduo com a linguagem. Em
11
Traduo da autora: poetry approached as a shake of languages, words, canonical tradition and a
measure of delight, whirred in postmodernitys ironic blender. (KAPLAN, Hilary. Translating
Poems. Em: <
http://www.digitalartifactmagazine.com/issue2/Translating_Poems_from_Angelica_Freitas_
Rilke_shake>. Acesso em 22 de agosto de 2013)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
221
comum, as trs trouxeram fragmentos e temticas caractersticas de seus tempos.
Romperam e impregnaram a sua escrita com o suor do outro, onde encontram
Barthes:
A linguagem uma pele: esfrego minha linguagem no outro.
como se eu tivesse palavras ao invs de dedos, ou dedos, na ponta
das palavras. Minha linguagem treme de desejo. (BARTHES, 1981,
p. 64)
O que tambm aparece de similaridade entre as poetas o desprendimento ao
trazer temticas como a sexualidade, tratando as relaes humanas com
naturalidade. Destemidas, mesclam vida e obra com o trabalho literrio rduo e
constante. Independente de serem mulheres, figuram de forma consagrada ou no
entre os grandes escritores. Reconhecidas, reconhecem o poder e a delicadeza do
poeta diante do desafio de tratar sobre temticas universais. Poeta esse que estuda,
cria, recria, se espelha e no v mistrio na arte de perder. Afinal de contas, nada
srio.
Referncias
ARFUCH, Leonor. O espao biogrfico: dilemas da subjetividade contempornea.
Traduo: Paloma Vidal. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010
BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1981.
BARTHES, Roland. O rumor da lngua. Traduo de Mario Laranjeira. 2. ed. So
Paulo: Martins Fontes, 2004.
BISHOP, Elisabeth. Poemas escolhidos. Seleo, traduo e textos introdutrios de
Paulo Henriques Britto. 1 ed. So Paulo: Companhia das Letras, 2012
CAMARGO, Maria Lucia de Barros. Atrs dos olhos pardos: uma leitura da poesia de Ana
Cristina Cesar. Capec: Argos, 2003
CESAR, Ana Cristina. A teus ps. 8 ed. So Paulo: Editora Brasiliense, 1993
CESAR, Ana Cristina. Crtica e Traduo. 1 ed. So Paulo: Editora tica, 1999
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
222
CESAR, Ana Cristina [et al.]. Poesia Marginal. So Paulo: tica, 2006
COSER, Raquel. Falso tom confessional de Ana Cristina Cesar influenciou geraes. So
Paulo: Folha de So Paulo, 2013. Disponvel em:
<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/08/1324204-falso-tom-
confessional-de-ana-cristina-cesar-influenciou-geracoes.shtml> . Acesso em: 17 de
ago. 2013
ELIOT, Thomas Stearns, Tradio e Talento Individual. Em: Ensaios. Traduo e
Introduo: Ivan Junqueira. So Paulo: Art Editora, 1989
FREITAS, Anglica. Rilke Shake. So Paulo: Cosac & Naify; Rio de Janeiro: 7 letras,
2007.
HOLLANDA, Heloisa Buarque de (Org). 26 Poetas Hoje. 6 ed. Rio de Janeiro:
Aeroplano Editora, 2007
HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Impresses de Viagem CPC, Vanguarda e Desbunde:
1960-1970. So Paulo, Editora Brasiliense, 1980
HOLLANDA, Heloisa Buarque de; PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. Poesia Jovem
anos 70. So Paulo, Abril Educao, 1982
KRISTEVA, Julia. Introduo semanlise. Traduo de Lcia Helena Frana Ferraz.
So Paulo: Perspectiva, 1974.
MORICONI, Italo. Ana Cristina Cesar: o sangue de uma poeta. Rio de Janeiro: Relume-
Dumar, 1996
PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. Retrato de poca: poesia marginal anos 70. Rio de
Janeiro, FUNARTE, 1981
LEITURAS E LEITORES:
o papel do Ncleo de Leitura Multimeios da UEFS na formao
de leitores
Snia Moreira Coutinho
Professora Assistente do DLA - UEFS sonicoutinho@bol.com.br
Rita de Cassia Brda M. Lima
Professora Assistente do DEDU - UEFS rbredalima@yahoo.com.br
Maria Helena da Rocha Besnosik
Professora Titular do DEDU - UEFS maria.besnosik@gmail.com
Resumo: Acreditar no poder transformador da leitura, de uma leitura que se quer ampla,
espontnea, prazerosa e multimodal exatamente o propsito que o Ncleo de Leitura
Multimeios da Universidade Estadual de Feira de Santana vem trilhando desde a sua
fundao aproximadamente trs dcadas. Na ltima dcada, o Ncleo de Leitura
Multimeios vem desenvolvendo projetos de pesquisa e de extenso, tanto no mbito interno
como em convnios com outras instituies, voltados para o aprofundamento e
ressignificao da concepo e prticas de leitura. Atualmente esto vinculados ao Ncleo o
Projeto de Extenso Leitura Itinerante uma alternativa de mobilizao de leitores
(desenvolvido em escolas pblicas de Feira de Santana e em espaos no-formais) e o Projeto
de Articulao Pesquisa e Extenso Crculos de Leitura: uma tecnologia social para alm do
espao escolar (realizado com mulheres rurais do municpio de Antonio Cardoso-BA).
Nestes projetos graduandos de diversas licenciaturas como Histria, Letras, Pedagogia esto
vinculados como bolsistas e ou como voluntrios tanto de iniciao extenso quanto de
iniciao cientfica. A metodologia basilar que envolve as prticas de leitura do Ncleo tem
sido os Crculos de Leitura (vivncias compartilhadas com textos literrios, nas quais a
leitura em voz alta feita por um leitor guia e, posteriormente, as discusses so
oportunizadas) e as Oficinas de Contao de Histrias, envolvendo alunos e professores das
diversas reas do conhecimento, com destaque aos dos cursos de Letras e Pedagogia, bem
como professores das escolas pblicas do municpio e da regio circunvizinha. No presente
trabalho buscamos socializar os resultados oriundos de uma pesquisa realizada sobre os
impactos e contribuies que o Ncleo de Leitura Multimeios tem proporcionado aos
graduandos envolvidos para sua constituio/formao leitora. Utilizamos como
instrumentos de coleta de dados os relatrios parciais e finais entregues Pr-Reitoria de
Extenso e de Pesquisa da UEFS, alm de questionrios e entrevistas. Para corpus de pesquisa
foram selecionados graduandos em efetiva atividade no Ncleo e nos Projetos, e alguns ex-
bolsistas que atualmente j esto em efetivo exerccio da profisso docente. Sendo um espao
privilegiado de estudos, debates, aprofundamentos e produes na rea da Histria da
Leitura e das Prticas Culturais de Leitura a relevncia de um estudo dessa natureza se d
pela necessidade que o prprio Ncleo tem em analisar e ressignificar suas prticas, bem
como de conhecer as representaes sobre sua contribuio na formao do sujeito leitor, em
foco neste trabalho, o olhar e os stios de significncias dos graduandos e ex-graduandos da
UEFS.
Palavras-chave: Formao leitora; Crculos de leitura; Leitura literria
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
224
1. FORMAO DO LEITOR
O cenrio contemporneo tem sido frtil tanto na produo quanto na anlise
sobre as prticas e polticas pblicas de formao de leitores. Muitos estudiosos e
pesquisadores vm se debruando sobre essa temtica por considerar que mesmo
com todo o acmulo j existente sobre o assunto, ainda h muito o que se investigar,
principalmente nos espaos considerados como lcus privilegiados de formao do
leitor.
Pensar o espao de formao do leitor uma necessidade crescente posto que,
em muito j se superou a velha ideia de que a escola a nica responsvel por esta
formao. Nos dias atuais compreendemos que alm da escola, lugar do espao da
biblioteca escolar, muitos outros vm se revelando como locais propcios para
propagao da leitura e seduo dos leitores. Estamos falando dos espaos como
praas, bibliotecas, livrarias e eventos como festivais literrios, feiras, saraus,
banquete literrios, entre outros.
Os estudos e as prticas cotidianas j revelaram que no basta ter o livro, faz-
se necessrio investimento em estratgias de aproximao e encontro do leitor com o
livro e ou outros suportes de leitura. Pesquisadoras como Silva, Ferreira e Scorsi
(2009, p.52) afirmam que ter acesso aos livros ou tempo para ler no suficiente,
nem simplesmente deixar ler. Para que o interesse pela leitura ocorra, faz-se
necessrio apresentar os livros aos leitores em formao. H que se investir na
mediao da leitura. Portanto, mais do que um modo de leitura peculiar, parece
que o engajamento afetivo de fato componente essencial da leitura em geral como
preconiza Jouve (2002, p. 21).
Tomando como referncia a definio de Arajo (2006, p. 20) sobre o que ler
... atribuir sentido s coisas do mundo, interagir com elas, interpret-las, pensar
dialeticamente, estabelecer alteridades de vozes, intercambiar experincias, transitar
para a cidadania plena. Faz-nos cada vez mais pensar sobre a importncia e a
necessidade de assegurar que todos tenham direito ao exerccio pleno da leitura e,
portanto, desse modo no pode ser considerando uma bandeira ultrapassada, posto
que ainda nos dias de hoje, muitos so aqueles distantes do usufruto desse direito.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
225
Ainda hoje permanecem os dilemas sobre se o Brasil um pas de leitores ou
no. Estes dilemas se avolumam em virtude das vrias concepes de leitor que
possvel encontrar na literatura. Neste trabalho, defendemos a concepo de leitor
como o sujeito que estabelece com o texto uma relao de interlocuo, de dilogo, de
coautoria, logo que atribui sentido e significado ao que ler.
Ezequiel Theodoro da Silva ao discutir sobre as competncias da leitura
crtica, na sua obra Criticidade e Leitura, afirma que estas competncias precisam ser
ensinadas, visto que elas no acontecem automaticamente. Segundo o autor, na
sociedade atual os usos da leitura so mltiplos e diversificados, portanto cabe
escola desde os anos iniciais do ensino fundamental investir em atividades que
promovam atitudes reflexivas, questionadoras perante o material disponibilizado
para a leitura.
O estmulo leitura exige esforos de todas as instncias sociais (famlia,
escola, biblioteca, editoras, instituies governamentais e no-governamentais), visto
que o leitor se constitui a partir de mltiplas referncias, mltiplas experincias. Para
Paulino (2001, p.22), ao ler, um indivduo ativa seu lugar social, suas vivncias, sua
biblioteca interna, suas relaes com o outro, os valores de sua comunidade.
Defendemos a leitura para alm do texto escrito, a leitura como construo de
sentidos, e que inexiste sem a atuao efetiva do leitor. Assim, ler um processo de
interao entre o texto e o leitor, em consonncia com o que postula Kleiman:
O mero passar de olhos pela linha no leitura, pois leitura implica
uma atividade de procura por parte do leitor, no seu passado de
lembranas e conhecimentos, daqueles que so relevantes para a
compreenso de um texto que fornece pistas e sugere caminhos, mas
que certamente no explicita tudo o que seria possvel explicitar.
(KLEIMAN, 1989, p.27)
Desse modo, cabe Universidade, como instituio mediadora de saberes e
prticas, desenvolver programas e projetos de difuso da leitura, como garantia de
vivncia da cidadania. Concordamos com Arajo (2006, p. 17) quando afirma que a
dignidade e a capacidade no ato de ler e escrever no so privilgios de classes ou
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
226
grupos, mas antes se inscrevem como exerccio de direito e justia, necessidade
bsica e inalienvel de cada indivduo.
Reconhecendo a importncia de investimentos na perspectiva de formar
leitores salutar focar o olhar nas instncias reconhecidamente responsveis por esta
funo. Neste sentido, nos propomos analisar o papel que o Ncleo de Leitura
Multimeios da Universidade Estadual de Feira de Santana vem desempenhando ao
longo da sua trajetria enquanto um espao de formao docente e de leitores.
2. TRAANDO A HISTRIA DO NCLEO
O Ncleo de Leitura Multimeios teve a sua origem durante a realizao do
Programa Nacional de Incentivo Leitura - PROLER, no ano de 1992, da Fundao
Biblioteca Nacional, cujo objetivo era assessorar e articular, nas vrias regies do
pas, aes que visassem formao de recursos humanos para o desenvolvimento
de atividades de leitura em diversos espaos.
Num primeiro momento, atuvamos como um Comit de Leitura, agregando
professores da Universidade (UEFS) e das redes pblicas de ensino estadual e
municipal, bem como estudantes interessados em discutir sobre a formao de
leitores. Depois o Comit se transformou institucionalmente no Ncleo de Leitura,
vinculado ao Departamento de Letras e Artes e, a partir de 1999, o Ncleo de Leitura
agrega o termo Multimeios por entender que as prticas culturais de leitura
envolvem outros suportes para alm do impresso.
Desde a sua criao, o Ncleo vem desenvolvendo, por meio de servidores
docentes, servidores tcnico administrativos, bolsistas de iniciao pesquisa e
extenso, alm de estudantes voluntrios e colaboradores externos, projetos de
pesquisa e de extenso no campo da Histria da Leitura, Formao do Leitor,
Leitura, Letramento e Prticas de Leitura numa perspectiva social e cultural.
O Ncleo vem assumindo, no espao da universidade, um importante papel
de formao e sensibilizao para a formao do leitor. Ao longo da sua existncia j
foram organizados oito edies de Encontros de Leitura em carter nacional;
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
227
oferecidas inmeras oficinas; minicursos; conversa com escritores, leituras pblicas,
alm de ter assento na comisso de elaborao do Plano Estadual do livro e da leitura
no estado da Bahia e na comisso organizadora do Festival Literrio e Cultural de
Feira de Santana/Feira do Livro que j se encontra na sexta edio.
possvel afirmar que o Ncleo de Leitura Multimeios desempenha um papel
preponderante na formao do leitor, pois vem oportunizando aos seus membros
(acadmicos e comunidade externa), momentos significativos de leituras, debates e
aprofundamentos acerca da histria da leitura e de suas prticas culturais. Em
entrevista realizada com bolsistas e ex-bolsistas do Ncleo acerca do papel deste na
sua formao, muitos depoimentos ratificam tais entendimentos como:
Participando do Ncleo pude perceber a existncia de outras prticas
de leitura das quais mantinha distanciamento por prioridades outras
e mesmo por desconhecimento de outras possibilidades. Alm disso,
foi fundamental descobrir a historicidade da leitura. E,
consequentemente, to importantes e desafiadoras, as descobertas de
que o leitor, to almejado, no um ente abstrato; que as pessoas
leem de formas diferentes, de lugares sociais desiguais; que ler um
romance no o mesmo que ler um artigo cientfico ou um manual
de instrues; que a leitura ou as leituras nem sempre so desejadas,
afinal, no por acaso, livros e leitores foram queimados por
representarem risco a determinadas configuraes sociais. Dessa
forma, a leitura perdeu para mim sua suposta neutralidade e carter
universal.
Com estes saberes e experincias promovidos, a minha participao
no ncleo direcionou a minha formao, pois dei prosseguimento aos
estudos sobre formao de leitores e leituras literrias na
especializao e no mestrado. (Ex-bolsista 1)
As leituras tericas realizadas no Ncleo contriburam no maior
embasamento na prtica da escrita, sendo que as discusses de textos
literrios, o compartilhamento das experincias de leitura como
tambm das atividades de pesquisa/extenso influenciaram na
ampliao do meu encantamento pela leitura. (Ex-bolsista 2)
Um olhar mais crtico com todas as formas de texto e um olhar para a
literatura infantil com mais credibilidade como leitora e formadora de
cidados. (Ex-bolsista 3)
Atravs dos encontros semanais pude ter um contato maior com
outros autores que ainda no conhecia, bem como, me senti mais
atrada em aumentar as minhas leituras sobre temticas
diversificadas. (Bolsista 4)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
228
O papel exercido pelo Ncleo de Leitura Multimeios no fortalecimento dos
estudos literrios, da histria da leitura, formao de leitores e pelas prticas
culturais de leitura pode ser ainda referendado pelas escolhas, de alguns de seus
membros, em seus objetos de pesquisa ao longo da sua trajetria formativa.
So exemplos de profissionais que ampliaram seus estudos nas temticas
discutidas no Ncleo;
Uma bolsista concluinte do curso de Graduao em Pedagogia escreveu seu
trabalho monogrfico, a partir das experincias desenvolvidas junto ao
Ncleo, mais precisamente, no Projeto de Extenso Leitura Itinerante: uma
alternativa de mobilizao de leitura, TCC intitulado: A Literatura Infantil em
sala de aula: uma prtica extensionista para formao de leitores.
Uma ex-bolsista (Pedagoga do IFBaiano) fez como trabalho de concluso do
curso de especializao: Concepes de leitura: entre ditos e no ditos e no
Programa de Mestrado em Lingustica defendeu a dissertao denominada:
Leituras literrias: representaes de professores de Lngua Portuguesa do
Ensino Mdio;
Outra ex-bolsista (Doutoranda do Programa de Educao e
Contemporaneidade UNEB) tambm defendeu sua dissertao sobre -
Saberes Literrios e Docncia: (re)constituindo caminhos na (auto)formao
de professores leitores e atualmente estuda Relicrio da memria: as
prticas da leitura presentes na trajetria sem estilo de uma educadora
Santamarense;
Esta uma pequena amostra de trabalhos de pesquisa realizados na
graduao, na especializao, em programa de mestrado e em doutorado, que se
originaram a partir da insero no Ncleo de Leitura. Estes estudos fortalecem uma
importante linha de estudos que tem na formao do leitor e nas prticas culturais de
leitura um olhar e um propsito claro.
A concepo de leitura que norteia as prticas de leitura do Ncleo est
ancorada na ideia de que ler um processo complexo e multirreferencial de
atribuio de sentidos, estabelecimento de relaes, dilogos e construes de novos
sentidos e significados. nesta perspectiva que na ltima dcada, o Ncleo de
Leitura Multimeios vem desenvolvendo projetos de pesquisa e de extenso, alm de
outras atividades, tanto no mbito da academia como em convnios com outras
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
229
instituies, sempre voltados para o aprofundamento das concepes e prticas
culturais de leitura.
Apresentaremos de forma sucinta apenas os projetos que se encontram em
fase de execuo.
2.2 PROJETO DE EXTENSO LEITURA ITINERANTE: UMA ALTERNATIVA DE
MOBILIZAO DE LEITORES
O Projeto pauta-se em concepes tericas de leitura que enfocam a Sociologia
da Leitura e a Histria da Leitura na perspectiva da Histria Cultural, embasado nos
autores: Abreu (1995), Aguiar (2001), Chartier(1996/1998) Hbrard (1996), Jouve
(2005), Lajolo (2004), Larrosa ( 2001), Leenhardt (2006), Manguel (1997), Neves (et.al.,
2004), Proust (1991), Silva (1998), Yunes (2002), Zilberman 1991), entre outros. Estes
tericos, no panorama da sociedade letrada, apresentam variados tipos de leitores,
desde os que se enquadram nos moldes cannicos, at os que esto fora do padro
estabelecido, a exemplo de leitores autodidatas. So, portanto, estudiosos que
registram a importncia da leitura, ao longo da histria e na contemporaneidade,
mostrando uma histria a contrapelo, apresentando leitores que se encontravam
escondidos pela histria oficial. Tomar como referncia esses pesquisadores para um
projeto de extenso sobre o ato de ler, em que os participantes so professores e
alunos de escolas pblicas, nos fortalece para a compreenso da nossa contribuio
para a formao de leitores crticos, emancipados. A relevncia social deste projeto
evidencia-se pela possibilidade de formar cidados crticos numa sociedade desigual,
a partir da leitura em sua diversidade de linguagens.
O projeto acontece em espaos escolares e em espaos no-formais. A
metodologia est pautada na realizao dos Crculos de Leitura e nas prticas de
contao e leitura de histrias.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
230
2.3 PROJETO DE PESQUISA E DE EXTENSO: CRCULOS DE LEITURA- UMA
TECNOLOGIA PARA ALM DO ESPAO ESCOLAR
Este projeto surge com o lanamento pela Fundao de Amparo Pesquisa do
Estado da Bahia FAPESB, de um Edital pioneiro de articulao Pesquisa e Extenso.
A equipe de pesquisadores e extensionistas do Ncleo de Leitura Multimeios,
submeteu o Projeto Crculos de Leitura: uma tecnologia social para alm do espao
escolar, para atuar junto a mulheres rurais do municpio de Antonio Cardoso,
beneficiadas pelo Programa do Leite e do Programa Bolsa Famlia do Governo
Federal.
Objetiva implantar, como tecnologia social, os crculos de leitura, na
perspectiva de possibilitar aos sujeitos envolvidos, compreenderem seu modo de
vida, bem como suas prticas de leitura presentes no cotidiano rural, na perspectiva
do efetivo exerccio da cidadania e na construo coletiva de estratgias de
enfrentamento das demandas educacionais e sociais. Dentre os objetivos especficos
propomos reaplicar os crculos de leitura como tecnologia social em outros espaos e
momentos; investigar as percepes que as mulheres envolvidas no projeto tm sobre
o benefcio recebido como forma de leitura e compreenso de mundo; ressignificar a
prtica de narrativas orais na zona rural do municpio de Antonio Cardoso, por meio
dos Crculos de Leitura; partilhar histrias e prticas de leitura cotidianas; discutir
temas sociais relevantes para a comunidade, alm de propor estratgias de
enfrentamento s demandas sociais.
Neste projeto esto envolvidas quatro comunidades rurais (Caboronga,
Gavio, Tocos e Santo Estevo velho) e a sede do municpio de Antonio Cardoso.
A metodologia utilizada tem sido a vivncia dos Crculos de Leitura. Os Crculos de
Leitura constituem-se em vivncias compartilhadas com textos literrios, nas quais a
leitura em voz alta a prtica inicial, oportunizando discusses posteriores. uma
metodologia simples e precisa apenas de um leitor que seja o guia. Esse leitor-guia
responsabiliza-se por apresentar e compartilhar com os demais participantes o texto
previamente selecionado pelo nosso grupo de pesquisa/extenso com base nos
interesses da pesquisa e da comunidade. Segundo o Almanaque do Agente de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
231
Leitura (p.120), um leitor-guia deve, antes de mais nada, ser um bom ouvinte.
Salienta, ainda, que para realizar um bom crculo de leitura preciso se preparar
para ele. Estas orientaes so importantes para entender que as prticas de leitura
em espaos no formais carecem tanto de planejamento quanto das propostas que
ocorrem nos espaos institucionais.
Este movimento do Ncleo se constitui na ampliao de aes a partir do
contato com as tecnologias, j que sua prioridade abrir-se leitura de mundo,
portanto, leitura de todos os suportes e linguagens. O investimento do grupo
centra-se no poder transformador da leitura, na incorporao de profissionais
comprometidos com a formao de leitores proficientes, gerenciando instrumentos
tecnolgicos, com vistas a viabilizar profcuas experincias leitoras. relevante
considerar que a leitura do livro ter seu destaque como garantia de momentos de
reflexo, somando-se aos diversos suportes textuais disponveis aos leitores, na
atualidade, pois h o entendimento de que ser leitor requer a capacidade de reflexo,
interferncia e transformao da realidade, a partir de uma leitura crtica dos meios a
que se tem acesso.
3. LEITURA, LEITORES E FORMAO DO LEITOR
Para incio de conversa sobre esta importante trade leitura, leitores e
formao do leitor recorreremos a Geraldi quando afirma:
[...] ningum aprende a ler sem debruar-se sobre textos. E este
debruar-se pode ser individual ou coletivo. No o professor que
ensina, o aluno que aprende ao descobrir por si a magia e o encanto
da literatura. Mediar este processo de descobertas o papel do
professor, que s pode faz-lo tambm ele como leitor. (GERALDI,
2013, p.25)
Reafirma, assim, a premissa bsica defendida por muitos estudiosos que s
despertaremos no outro o gosto e o encanto pela leitura se ns tambm formos
leitores seduzidos e encantados pela prtica da leitura.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
232
Nesta perspectiva que o Ncleo de Leitura vem investindo em uma
metodologia de trabalho formativa, ou seja, estabelecemos internamente uma rotina
de trabalho. Nesta rotina elegemos o momento do aprofundamento terico;
momento da socializao das aes desenvolvidas; momento do planejamento e do
replanejamento das aes e o momento dos Crculos de Leitura. Os Crculos de
Leitura vem sendo a estratgia basilar que perpassa todas as aes tanto de pesquisa
quanto de extenso.
O momento do aprofundamento terico e posterior debate vm sendo a
oportunidade de traar um paralelo entre o que dizem os tericos e o que
vivenciamos nos cotidianos escolares. A riqueza das relaes tecidas com os textos
ratifica a concepo de leitura defendida por Cosson (2012, p.27) Ler implica troca
de sentidos no s entre o escritor e o leitor, mas tambm com a sociedade onde
ambos esto localizados, pois os sentidos so resultado de compartilhamentos de
vises do mundo entre os homens no tempo e no espao. E na intensa vivncia dos
debates, dos crculos de leitura e atos de planejamento os colaboradores da pesquisa
admitem ser esta a grande contribuio do Ncleo no seu processo formativo como
afirmou uma das bolsistas: Alm de possibilitar trocas de conhecimentos e
experincias, o Ncleo contribui na formao dos discentes preparando para
exercer a docncia.
4. O PAPEL DO NCLEO DE LEITURA MULTIMEIOS DA UEFS SOB O
OLHAR DOS BOLSISTAS E EX-BOLSISTAS
Depois de uma trajetria de mais de duas dcadas de existncia, sentimos a
necessidade de conhecer as percepes dos bolsistas sobre o papel que o Ncleo de
Leitura Multimeios da UEFS exerce ou exerceu em sua formao acadmica e leitora.
Ao longo da sua histria, muitos bolsistas tanto de iniciao pesquisa quanto de
iniciao extenso, alm de voluntrios, deixaram suas marcas. A fim de realizar
esta pesquisa, buscamos reestabelecer o contato com alguns deles para realizao de
entrevista na tentativa de conhecer suas percepes sobre o papel do Ncleo em sua
trajetria.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
233
Foram enviados 16 (dezesseis) convites on-line
12
para participao na pesquisa.
Destes, obtivemos retorno de 13 (treze) e 03 (trs) no responderam. Dos 13 (treze)
que sinalizaram o recebimento do convite, apenas 10 (dez) efetivamente
participaram.
As colaboradoras da pesquisa so todas do sexo feminino, com idade entre 22
(vinte e dois) e 30 (trinta) anos. Das 10 entrevistadas, 05 ainda possuem vnculos com
o Ncleo por meio de bolsas
13
; e as demais: 01 bolsista do Programa Institucional
de Bolsas a Iniciao Docncia - PIBID; 01 bolsista de programa de estgio
vinculado Secretaria de Educao do Municpio de Feira de Santana e 03 j
concluram suas graduaes e exercem a profisso em outros espaos. Das que j no
tem mais vnculo com a UEFS, uma pedagoga/orientadora educacional no Instituto
Federal da Bahia - IFBA Campus Santo Amaro - BA e j concluiu o mestrado em
Estudos Lingusticos, outra professora de Instituio Superior Privada e atualmente
faz o doutorado em Educao na Universidade do Estado da Bahia - UNEB e a
terceira encontra-se sem vnculo empregatcio.
4.1 TECENDO ANLISES SOBRE UMA EXPERINCIA VIVIDA
A escrita da histria do Ncleo s possvel se as pessoas que fizeram e fazem
parte dessa construo, puderem rememorar suas influncias, acontecimentos,
marcas deixadas e/ou impressas ao longo desse processo. A tessitura dos fios de
uma histria traz muito alm de fatos, datas e pessoas, eles imprimes som, saber,
sabor e vida.
E foi na busca desse emaranhado de sentimentos e aprendizagens que
procuramos aguar a escuta sobre o que significou a experincia vivenciada no
Ncleo de Leitura.
12
Trs bolsistas so vinculadas ao Programa Interno de Bolsas de Extenso PIBEX/UEFS e as outras
duas so do Programa de Bolsas de Iniciao Cientfica da UEFS.
13
Os convites foram enviados a partir do endereo eletrnico encontrados nas fichas de quando eram
bolsistas ou voluntrios. Talvez, por isso, alguns convites no tenham sido respondidos.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
234
Esta questo foi comum a todas as entrevistas e selecionamos apenas algumas
para socializar:
A partir do Ncleo de Leitura pude trilhar caminhos imprevistos e
dar passos importantes em minha vida acadmica, profissional e
pessoal. A minha vivncia no ncleo significa um marco na minha
vivncia acadmica e na construo da minha personalidade. A
reaproximao com a literatura promovida pelas atividades do
ncleo para mim tem a ver com descobrir quem sou, descobrir o
outro, buscar outras linguagens e direcionar a minha formao
acadmica e profissional dentro de uma linha de interesse: formao
de leitores. Isto, no entanto, no me afastou de outras discusses, at
porque a formao de leitores abrange um leque amplo de
conhecimentos e promove a aproximao a uma diversidade de
linguagens e perspectivas (Ex-bolsista)
Fazer parte desse ncleo viabilizou a ampliao do meu
conhecimento acadmico como tambm pessoal. Aprofundei meu
conhecimento terico sobre a histria da leitura e histria da leitura
das mulheres, alm disso, realizar atividade de Iniciao Cientifica e
Extenso possibilitou experincias enriquecedoras tanto em escola
como em espao no institucionalizados. Poder contribuir na
formao de leitores foi uma experincia muito significativa (Bolsista)
.
Extremamente relevante visto que as discusses provocadas pelas
professoras do Ncleo nos permitem conhecer a realidade da
educao mais de perto, acreditar na nossa funo como mediadoras
do conhecimento bem como nos compreender como profissionais
capazes de, em conjunto com pais, alunos e sociedade transformar a
realidade da educao brasileira com os ps no cho, conhecendo
nossa possibilidade e impossibilidade sem fantasias (Bolsista).
Experincia inenarrvel. Nele me constitu socialmente, politicamente
e profissionalmente (Ex-bolsista)
Os depoimentos revelam que as experincias oportunizadas pelo Ncleo vo
alm da formao acadmica, pois como afirma Gregrio Filho (2002, p. 136) Somos
aquilo que vamos adquirindo ao longo da vida. Assim, nas construes e relaes
tecidas ao longo dos estudos e debates os sujeitos vo se constituindo como sujeitos
histricos e como profissionais mais atentos, mais sensveis, mais crticos.
Quando indagados sobre at que ponto a participao no Ncleo de Leitura
influencia na atuao docente, as colaboradoras assim admitiram:
Aprendi a trabalhar a contao de histrias como ponto de partida
para as aulas, independente do contedo trabalhado, alm de lidar
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
235
com mais segurana com as diferenas encontradas em classe a
partir o momento que estou sempre refletindo e reciclando o meu
olhar acerca da importncia da leitura na vida de cada sujeito
aprendiz (Bolsista).
Atualmente no atuo diretamente como docente, mas carrego marcas
do Ncleo na minha atuao profissional desenvolvendo projetos de
formao de leitores, retomando os crculos de leitura,
desenvolvendo projetos relacionados ao cinema e atravs de um
olhar esttico, por assim dizer, a temtica da formao de
professores. Nesse sentido, acredito que uma representao positiva
sobre literatura e experincia de intimidade com a mesma constitui
diferencial no trabalho docente que envolve a leitura de modo geral, a
leitura literria e a formao do leitor. Nesses aspectos, o que construi
at ento, devo em grande parte ao Ncleo de Leitura. (Ex-bolsista).
Quando fui incorporada ao grupo, eu no passava de uma criana
que estava aprendendo a caminhar sozinha e balbuciar as primeiras
palavras incompreensveis. Hoje, estou concluindo o curso de Letras
com a minha linha de atuao j estabelecida, graas a convivncia
enriquecedora com as mais cativantes, belas e inteligentes
profissionais que j tive o prazer de conhecer. (Ex-bolsista)
As falas das colaboradoras reafirmam que a participao na dinmica e nos
projetos do Ncleo de Leitura tem fortalecido a formao acadmica, pessoal e
amadurecido a compreenso sobre o papel social e poltico da docncia. Como
afirma Freire (1996, p.25) ensinar no transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua produo ou a sua construo. Assim sendo, cabe aos
graduandos e ou aos profissionais a busca diuturna por uma prtica educativa
coerente, sria, comprometida e entusiasmada. Pensando desse modo, o
envolvimento na rotina do Ncleo, uma rotina que envolve leituras, estudos,
vivncias dos crculos de leitura, debates, intercmbio de saberes e prticas corrobora
para o processo reflexivo inerente a profisso docente, visto que o Ncleo mais um
espao formativo no nterim da prpria academia.
A formao acadmica prev a interlocuo entre o ensino, a pesquisa e a
extenso, mas, infelizmente, muitos so os graduandos que passam quatro ou cinco
anos dentro da academia e, efetivamente, desconhecem esse trip formativo.
Portanto, para ns do Ncleo, importante saber na viso das colaboradoras da
pesquisa, qual a importncia da existncia do Ncleo de Leitura para a comunidade
acadmica da UEFS.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
236
Ele ajuda a ampliar o conhecimento dos alunos e possibilita uma
interao com o meio acadmico e com a comunidade fora da
universidade. (Bolsista)
Muito grande, uma vez que o mesmo est sempre aberto aos
estudantes, tanto da prpria universidade quanto de outras escolas e,
at mesmo, outras comunidades, a partir dos projetos que
desenvolve. (Bolsista)
A existncia do Ncleo de Leitura no Campus muito relevante para
a caminhada acadmica, pois representa mais um espao de
discusses e reflexo da prtica docente para a atuao profissional.
Os alunos que tm a oportunidade de adentrar o espao do Ncleo
certamente saem contemplados e enriquecidos de conhecimento. Isso
no quer dizer que eles no enfrentaro dificuldades na profisso,
mas sabero resolv-las com os ps no cho e podero contar com a
bagagem de conhecimento e experincia que as discusses
provocadas no espao do Ncleo de Leitura Multimeios lhes
possibilitaram. (Bolsista)
O Ncleo um grande suporte para os estudantes que acreditam no
poder transformador da leitura, alm de oferecer, aos participantes,
um grande embasamento terico no tocante formao do professor-
leitor. (Bolsista)
A importncia do Ncleo na UEFS fundamental devido
contribuio indizvel que tem ofertado a estudantes de diferentes
cursos da instituio, aos projetos de pesquisa e extenso que tem
desenvolvido sobre prticas de leitura e formao de leitores e, nesta
perspectiva, ao dilogo que abre com a sociedade (escola, professores,
secretaria de educao, estudantes etc). (Ex-bolsista)
Fundamental. Um ambiente propcio pesquisa, aprendizagem
(coletiva e individual), estreitamento dos laos amistosos, e vivncia
de leituras. (Ex-bolsista)
O estudante que participa do Ncleo tem um conhecimento
acadmico mais amplo e uma viso de mundo mais crtica. (Bolsista)
Alm de possibilitar trocas de conhecimentos e experincias, o
Ncleo contribui na formao dos discentes preparando para exercer
a docncia, como tambm proporciona aos estudantes o
desenvolvimento de atividades de iniciao cientfica e extenso,
contribuindo no fomento a prtica de leitura na sociedade e no
fortalecimento de estudos no campo da leitura. (Bolsista)
Reafirmado em todas as falas, sobre o papel e a relevncia do trabalho
desenvolvido pelo Ncleo de Leitura Multimeios, ao longo da sua existncia, na
formao acadmica e profissional das colaboradoras da pesquisa, ento cabe a ns,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
237
um desafio ainda maior que investir cada vez mais em oportunidades de
aproximao, sensibilizao e formao de leitores.
Consideraes
possvel afirmar que o Ncleo de Leitura Multimeios desempenha um papel
preponderante na formao do leitor, pois vem oportunizando aos seus membros
momentos significativos de leituras, debates e aprofundamentos acerca da histria e
das prticas culturais de leitura. Considerando assim, a pesquisa e a extenso
enquanto prticas que propiciam processos de aprendizagens significativas dos
sujeitos envolvidos em seus projetos, com destaque, aqui, para os discentes que
tiveram a oportunidade de ampliarem as suas competncias leitoras enquanto
participantes ativos destas aes.
Referncias
ARAJO, Jorge de Souza. Letra, leitor, leituras: reflexes. Itabuna: Via Litterarum, 2006.
COSSON, Rildo. Letramento literrio: teoria e prtica. 2, Ed., 2 reimpresso. So Paulo:
Contexto, 2012.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessrios prtica educativa. So
Paulo: Paz e terra, 1996.
GERALDI, Joo Wanderley. In.: BARBOSA, Juliana Bertucci; BARBOSA, Marinalva
Vieira. Leitura e Mediao - Reflexes Sobre a Formao do Professor. Campinas SP.:
Mercado das Letras, 2013.
GREGRIO FILHO, Francisco. Prticas leitoras (de cor... corao): algumas vivncias
de um contador de histrias. In.: YUNES, Eliana (Org.). Pensar a leitura:
Complexidade (pp.136-151). Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; So Paulo: Loyola, 2002.
JOUVE, Vincent. A leitura. So Paulo: Editora UNESP, 2002.
KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: Aspectos cognitivos da leitura. Campinas, SP: Pontes,
1989.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
238
PAULINO, Graa. [et al.] Tipos de textos, modos de leitura. Belo Horizonte: Formato
Editorial, 2001.
SILVA, Ezequiel Theodoro da. Criticidade e leitura: ensaios. So Paulo: Global, 2009.
SILVA, Llian Lopes Martin da.; FERREIRA, Norma Sandra de Almeida; SCORSI,
Roslia de Angelo. Formar leitores: desafios da sala e da biblioteca escolar. In.: SOUZA,
Renata Junqueira de. (Org.) Biblioteca Escolar e prticas educativas: o mediador em
formao. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2009.
YUNES, Eliana; REZENDE, Nilza. Almanaque do agente de leitura. Rio de Janeiro:
Compostela Comunicao, 2012.
NUNCA TARDE PARA FORMAR-SE LEITOR
A contribuio das cartas com indicaes literrias circunscritas
em Projetos Institucionais
Aline Carvalho Nascimento
Instituto Chapada de Educao e Pesquisa
alinenascimento@institutochapada.org.br
Resumo: O presente trabalho circunscreve-se no mbito da formao continuada, que
assume a prtica profissional como eixo central da formao das equipes tcnicas e
pedaggicas atuantes nas redes municipais de ensino de Itaet e Marcionlio Souza, na
Chapada Diamantina, que integram o Instituto Chapada de Educao e Pesquisa. Parte da
premissa de que nunca tarde para formar-se leitor, e que tal investimento tem impacto
direto na escola e na comunidade, situando a escola como uma comunidade de leitores.
Nesse sentido, vale ressaltar que possvel formar-se leitor na profisso, e para tanto
importante entender o significado que a leitura literria exerce na vida dos profissionais da
educao, e partindo das suas histrias de vida com a literatura seguir numa aproximao
constante de variados autores, leituras, livros. Os projetos institucionais de leitura e escrita
so importantes dispositivos de (auto)formao tendo em vista a mobilizao de uma rede
leitora, que sustenta-se com a formao de todos os envolvidos no processo educativo,
secretrios de educao, equipes tcnicas, diretores escolares, coordenadores pedaggicos,
professores, estudantes. E nesse contexto que tais projetos possibilitam que os educadores
assumam um lugar de quem pode compartilhar experincias, histrias de vida e falar sobre
as suas preferncias leitoras, frente a uma variedade de obras literrias, trilha interessante
para aportar a condio humana de se emocionar com os livros e estreitar os laos afetivos e
profissionais. Tudo isso contribui para que os estudantes desfrutem de ambientes
alfabetizadores e possam ir tecendo relaes cada vez mais afetuosas com a leitura literria.
Uma experincia ainda mais encantadora quando se une tudo isso ao fato de que os
educadores so convidados a escrever cartas com indicaes literrias no marco da
publicao do livro Histrias de carta em carta, e com isso tirarem proveito das crnicas,
romances, novelas, gneros diversos, mas tambm das suas prprias vidas, o que no ir e vir
das histrias de vida, das leituras, dos livros possibilita ir encurtando a distncia entre dois
municpios vizinhos e alimentando/retroalimentando o exerccio de leitura daqueles que
participaram do projeto. E nesse movimento de leituras, escrita, envio de cartas, a querncia
pela resposta carta, h um duplo prazer: comunicar-se com um colega at ento pouco
conhecido ou desconhecido e receber o livro naquele mesmo envelope, sentimentos que se
somam e vo contribuindo para que todos percorram um caminho sem volta, que gosto por
ler e contribuir para que outros tambm tenham a mesma vontade de faz-lo. E assim, nas
histrias de carta em carta, nesse territrio ocenico onde vivemos, cada cidade como se
fosse uma ilha solitria, mas os habitantes/educadores desses lugares, quase sempre
distantes entre si, comearam a se encontrar graas ao ideal comum da educao.
Palavras-chave: formao continuada; cartas; indicaes literrias; municpios; formao
leitora
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
240
1 APRESENTAO
Quem de ns nunca ouviu ou proferiu a seguinte mxima: O educador para
formar leitores preciso antes de tudo ser um bom leitor? Isso sempre me instigou a
pensar sobre como nos constitumos leitores. Seria algo de bero, um exerccio que se
aprende a fazer com a prtica? Comecei, ento, a reportar meus pensamentos para a
minha histria de vida, minha infncia, meu processo de alfabetizao... Foi, assim,
que percebi que no tinha recordaes sobre rodas de leitura na infncia,
professores lendo em voz alta livros literrios, leitura em casa antes de dormir,
leitura por prazer.
Decorridos o ensino fundamental e mdio li vrios livros literrios, mas muito
mais com o carter obrigatrio, que era caracterstico da escola tradicional. A leitura
no era motivada pelo prazer, e assim era sem curiosidade e interesse; lia para
responder uma ficha de leitura que j vinha nos livros, fazer uma prova, uma
encenao da histria lida que serviria como avaliao... Na universidade vrias
leituras foram feitas, principalmente de livros tcnicos, ainda mais quando do
perodo da elaborao da monografia.
Mas foi enquanto profissional da educao participando do processo de
formao continuada no Projeto Chapada que eu senti necessidade/vontade de ler
por prazer, de compor o meu acervo pessoal de livros. Foi vendo os meus
formadores, a cada formao, lendo com tanto entusiasmo e compartilhando seus
livros literrios que percorri um caminho sem volta: a trilha pelo mundo da
literatura.
No estou querendo dizer com esse breve relato que a famlia no deve
contribuir com a formao leitora, que nascer num ambiente rodeado pelos livros
no faz diferena na vida do indivduo, muito pelo contrrio, considero
extremamente relevante que tenhamos acesso s leituras desde o ventre materno, e
essa diferena proporcionada pelo contato desde a mais tenra idade com os livros
pode ser essencial, como revela o depoimento de Lgia Bojunga:
Pra mim, o livro vida; desde que eu era muito pequena os livros me
deram casa e comida.
Foi assim: eu brincava de construtora, livro era tijolo;
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
241
Em p, fazia parede; deitado fazia degrau da escada;
Inclinado, encostava num outro e fazia telhado.
E quando a casinha ficava pronta eu me espremia l dentro pra
brincar de morar em livro.
De casa em casa eu fui descobrindo o mundo (de tanto olhar para as
paredes).
Primeiro, olhando desenhos; depois, decifrando palavras.
Fui crescendo; e derrubei o telhado com a minha cabea.
Mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais ntima a
gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de
construir novas casas.
S por causa de uma razo: o livro agora alimentava a minha
imaginao.
Todo dia a minha imaginao comia, comia e comia; e de barriga
assim toda cheia, me levava pra morar no mundo do inteiro: iglu,
cabana, palcio, arranha-cu, era s escolher e pronto, o livro me
dava.
Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca to gostosa
que no meu jeito de ver as coisas - a troca da prpria vida; quanto
mais eu buscava no livro, mais ele me dava.
Mas como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um
dia de alargar a troca: comecei a fabricar tijolo pra - em algum lugar-
uma criana juntar com outros, e levantar a casa onde ela vai morar.
Mas tambm posso afirmar que nunca tarde para formar-se leitor
14
. o
que este artigo destina-se a discutir, a partir do vis de uma experincia na formao
continuada de educadores, dialogar acerca da importncia dos projetos institucionais
de leitura como experincia na formao leitora. Para tanto, este texto est
organizado de forma a discorrer sobre uma abordagem terica do que ler, uma
viso burguesa da leitura e a necessidade de super-la, apresentar os Projetos
Institucionais de leitura como uma experincia de formao continuada de
educadores leitores, que vo se formando na profisso. Assim, o contato com os
livros e a leitura transcende as barreiras das escolas, das salas de aula, dos
14
Abordo uma experincia no campo da formao continuada de educadores, e vale reportar a uma
experincia que revela a importncia da formao leitora tambm na formao inicial realizada pela
professora Verbena Cordeiro, UNEB, no trecho do seu artigo: De caso com a literatura demonstra o
quanto razo e sensibilidade se entrelaam na prtica iniciada em sala de aula, e como o professor o
agente estimulador e orientador para o despertar ou o redespertar da literatura como uma experincia
global de vida, ultrapassando os limites da escola. Tambm apreendi que, arriscando prticas de
leitura fora do script escolar e me abrindo escuta sensvel das diferentes histrias de leituras
desses muitos alunos, consegui resultados surpreendentes e senti-me plenamente til na tarefa que
tinha pela frente.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
242
municpios, e torna-se um exerccio de leitura/interlocuo que construdo quando
do contato com outros leitores, outros livros.
2 O QUE LER
Comecemos refletindo acerca de duas questes precpuas considerando a
leitura literria: O que ler? E... Por que ler?
Quanto primeira questo consideramos que [...] Ler dar liberdade aos
sentidos e escutar suas interpretaes, reconhecendo que, antes de qualquer tipo de
socializao, h um percurso que emociona s depois ele reflete, organiza o
pensamento, racionaliza e divulga, [...] (LOIS, 2012. p. 48). Isso j responde/remete
segunda questo, j que primeiro h um momento solitrio da leitura literria, que
pode cumprir um duplo objetivo: emocionar-se, para depois socializar e tentar
conquistar o outro para fazer aquela leitura.
Porm, para indicar livros aos colegas preciso conhec-los. E nesse
movimento, as rodas de leituras e indicaes literrias nas formaes so
imprescindveis. Assim como na apresentao de um amigo que gostamos a outro
acontece com os livros, para que convenamos a algum que vale a pena l-lo
preciso que gostemos muito do livro, para que possamos envolver o outro a tambm
querer ler.
Quando queremos que algum goste de um amigo nosso, precisamos
falar bem de nosso amigo, precisamos convencer, seduzir, instigar e
valorizar as qualidades de nosso amigo, precisamos provar por A
mais B que a pessoa s tem a ganhar com a nossa amizade. (Jonas
Ribeiro, 2002. p.13).
Nesse sentido, contribuir com a formao de comportamentos leitores
importante, pois
indiscutvel que os leitores no se formam com leituras escolares de
materiais escritos elaborados expressamente para a escola com a
finalidade de cumprir as exigncias de um programa. Os leitores se
formam com a leitura de diferentes obras que contm uma
diversidade de textos que servem, como ocorre nos contextos extra-
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
243
escolares, para uma multiplicidade de propsitos [...]. (KAUFMAN,
1995. p.45).
Porm, ainda precisamos refletir sobre quais os critrios usar para escolher um
livro literrio para ler ou indicar um livro lido. Nesse enquadre, importa insistir na
viso de que existem leitores e leituras, quando se faz necessrio superar a viso
burguesa do que ser leitor de literatura.
Em entrevista a uma revista, o polmico crtico literrio americano Harold
Bloom rejeita listas que rotulam os melhores livros, mas ao mesmo tempo tece
comentrios carregados de juzo de valor sobre obras que considera boas e ruins
na literatura universal, o que, de certa forma, contribui tambm para os rtulos. Mas
Bloom, na mesma entrevista, aborda de forma valiosa sobre por que ler.
A informao est cada vez mais ao nosso alcance. Mas a sabedoria,
que o tipo mais precioso de conhecimento, essa s pode ser
encontrada nos grandes autores da literatura. Esse o primeiro
motivo por que devemos ler. O segundo motivo que todo bom
pensamento, como j diziam os filsofos e os psiclogos, depende da
memria. No possvel pensar sem lembrar e so os livros que
ainda preservam a maior parte de nossa herana cultural. Finalmente,
e este motivo est relacionado ao anterior, eu diria que uma
democracia depende de pessoas capazes de pensar por si prprias. E
ningum faz isso sem ler. (Bloom, 2001).
fundamental deixar de lado o rigor colocado sobre os grandes autores da
literatura como um critrio para a leitura nas rodas literrias no processo de
formao continuada, consideramos boas aquelas obras que emocionam, e emoo
tem a ver com a subjetividade de cada um.
importante uma aproximao dos educadores queles livros considerados os
clssicos da literatura universal, mas isso no pode se constituir como uma barreira
para o contato com outras obras desprestigiadas pela crtica. Afinal, passa por
quem o crivo de definir as obras como de qualidade ou ruins? Tudo isso tem a ver
com uma viso burguesa acerca da literatura, que sempre se institui historicamente.
Tudo isso tem a ver com o fato da to propagada ideia de que os brasileiros
no leem ou leem muito pouco. Mas como coloca Marisa Lajolo
15
h pesquisas
15
Publicao no texto Leitura: voc faz a diferena. Marisa Lajolo. RevRed(UEFS)2011.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
244
recentes
16
que sugerem que no Brasil se l, sim. S que no os autores e os livros que
os especialistas acham que deveriam ser os mais lidos e os mais apreciados.
Devido a essa viso burguesa h, entre os educadores, um medo em
externalizar as leituras feitas e indicar obras porque no so bem avaliadas pela
crtica, mas h que se considerar que
A avaliao esttica e o gosto literrio variam conforme a poca, o
grupo social, a formao cultural, fazendo que diferentes pessoas
apreciem de modo distinto os romances, as poesias, as peas teatrais,
os filmes. Muitos, entretanto, tomam algumas produes e algumas
formas de lidar com elas como as nicas vlidas. E a reclamam
porque o brasileiro no l e no tem interesse pela cultura. (ABREU,
2006. p. 59).
Essa perspectiva em torno dos critrios usados para escolha dos livros, bem
posta por Mrcia Abreu em toda a sua obra intitulada Cultura letrada literatura e
leitura dialoga com o que pensamos sobre o assunto no sentido de que no h
universalidade na apreciao esttica, e que esse quesito instala-se no campo da
subjetividade, que deve ser considerada, isso bem nos ensina Roger Chartier quanto
ele nos provoca enfatizando que a leitura uma prtica social mvel em sua forma e
sentidos.
Liberados das amarras da ditadura do bom livro, o acesso aos livros
literrios acompanhado de uma resenha daquele que leu e gostou pode contribuir
para o que Lena Lois (2012) coloca como a perspectiva esttica da recepo, se abrir
para a polissemia do texto literrio, experimentar, estranhar, gostar ou no gostar,
pois como coloca a autora o texto literrio arte e dialoga com a subjetividade de
cada um.
Para tanto imprescindvel a recuperao da histria de vida do leitor
17
, to
bem colocado por Lajolo, o que um ponto essencial para que, a partir da escuta
16
A autora Marisa Lajolo sugere consultar o site da Universidade de Campinas
www.unicamp.br/iel/memoria
17
O que voc realmente gosta de ler em suas horas vagas? Como comeou a apreciar esse tipo de
literatura? Qual o primeiro livro lido por voc? Lembra-se de como esse exemplar chegou a suas
mos? As primeiras leituras foram experincias agradveis ou dolorosas? Na sua trajetria individual
voc encontrar pontos em comum com a de outras pessoas, a de seus colegas e mesmo a de alguns
pais de seus alunos. Seria timo se todos escola e comunidade pudessem compartilhar essas
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
245
atenta histria de vida/leitura de cada um, possa estabelecer elos e fios invisveis
entre educadores que se unem rumo a qualificao de suas prticas leitoras.
3 PROJETOS INSTITUCIONAIS DE LEITURA: Uma experincia na
formao continuada de educadores
Precisamos acreditar que possvel formar leitores na experincia da
formao continuada de educadores. E para tanto, os projetos institucionais so
extremamente importantes. Vejamos algumas das relevantes etapas nesse percurso.
Etapa I Concepo do projeto escrita e apresentao
O Projeto Institucional de Leitura de Cartas com Indicaes Literrias surgiu
da necessidade de seguir qualificando a formao leitora de equipes tcnicas,
diretores escolares, coordenadores pedaggicos, consequentemente, de professores
dos municpios de Marcionlio Souza e Itaet. Assim, o propsito comunicativo foi
promover a troca de correspondncias, experincias e histrias de vida, estreitar
laos entre esses profissionais de municpios to prximos por meio da tessitura das
leituras.
Mas poderamos nos perguntar Por que socializao por meio de Cartas na
era da tecnologia quando o mais apropriado so correios eletrnicos?. certo que
todos tm acesso internet, mas nem todos o fazem com frequncia e habilidade.
Outro motivo, e o mais importante, que gostaramos de resgatar por meio desse
meio de comunicao as cartas a emoo sentida quando do seu recebimento,
ainda mais que junto com o envelope da carta seguiria, ainda, algo valiosssimo: o
livro, que foi de remetente para destinatrio numa ciranda literria. Em tempos de
grandes aparatos tecnolgicos as cartas serviram como meios para concatenar
pessoas e fomentar a leitura, formar leitores.
No fomento a prticas de leitura o Instituto Chapada de Educao e Pesquisa
tem um papel fundamental, haja vista que tem como meta do seu trabalho, junto aos
municpios parceiros, a erradicao do analfabetismo na regio em que atua,
vivncias, pois a histria de leitura de cada um de ns pode coincidir em muitos pontos com a histria
da leitura no Brasil - texto Leitura: voc faz a diferena. Marisa Lajolo. RevRed(UEFS)2011
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
246
entendendo por alfabetizao o processo amplo de atribuio de sentidos leitura e
escrita de textos diversos que circulam socialmente. Nesse sentido, a formao de
leitores e escritores autnomos inclui-se como meta prioritria.
A literatura, naturalmente, uma das possibilidades de explorao e
utilizao da lngua, das palavras, para uma diversidade de fins, de
propsitos os quais as teorias literrias e as teorias lingusticas, bem
como outras vertentes dos estudos das lnguas e das literaturas, tm
contribudo decisivamente para caracterizar, pontuando as mudanas
de acordo com diferentes momentos histricos, com os diferentes
povos, com as diferentes lnguas, mas sempre, apesar de todas as
diferenas de gneros e contedos, apontando para essa marca da
natureza humana que o fazer literrio, o fazer potico, fazer em que
a lngua, em sua modalidade escrita ou oral, utilizada para
expressar e justificar a existncia humana. (BRAIT, 2003. p. 19-20).
Dessa forma, fundamental cuidar da formao daqueles que esto
diretamente ligados aos estudantes coordenadores pedaggicos, diretores escolares
e professores j que eles tm papel fundamental na alfabetizao plena das crianas
e jovens. Assim, preciso cuidar de cada um deles, qualificando sua formao
leitora.
E assim fomos escrevendo a vrias mos o nosso projeto institucional de
leitura e todos foram se corresponsabilizando com suas aes. O projeto contribuiu
com as aes de formao continuada implementadas nos municpios, articulando s
demais prticas, bem como fortalecendo a formao nas escolas. Todas as etapas do
trabalho foram pensadas considerando os leitores, os propsitos sociais que guiavam
as produes, com a incumbncia de que muitas pessoas que tenham acesso ao livro
de cartas possam desfrutar de leituras de livros que marcaram tanto a vida desses
autores das indicaes, bem como conhecer um pouco sobre a histria de vida dos
remetentes/destinatrios das cartas (por isso h a articulao dos gneros carta e
resenha literria).
Etapa II - Rodas de leitura de resenhas e livros, momentos de emprstimos
Um propsito que consideramos durante todo o percurso do projeto
institucional referiu-se ao ler por prazer. Nesse sentido os momentos de formao
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
247
leitora na formao continuada contriburam como espao de fomento leitura,
momentos muito agradveis, em que todos se sentiram vontade para compartilhar
histrias lidas, emocionarem-se com elas, trouxeram questes parecidas que
aconteceram em suas vidas, enfim, momentos de pura fruio. Isso tudo porque,
como afirma Lajolo (2002) A literatura constitui modalidade privilegiada de leitura,
em que a liberdade e o prazer so virtualmente ilimitados.
A cada formao lamos resenhas que motivavam a leitura dos livros, os
interessados se inscreviam para ler em voz alta trechos de livros que gostavam, e
assim, ao final de cada oficina de formao montvamos uma banca com os livros
que cada um disponibilizava para emprstimo.
Saamos das formaes preenchidos pelas leituras em voz alta feitas pelos
colegas e com o livro que cada um se interessara por ler.
Etapa III Intercmbio entre remetente/destinatrio. Publicao do livro
Paulo Freire nos traz que ensinar exige alegria e esperana, dialogando com
ele Rubem Alves fala do ato de ensinar, de que o mestre precisa ensinar felicidade
em suas aulas. Aproprio-me do olhar desses dois autores para fazer uma relao com
a literatura, com a formao do leitor que forma outros leitores.
Pois o que vocs ensinam no e um deleite para a alma? Se no fosse,
vocs no deveriam ensinar. E se , ento preciso que aqueles que
recebem, os seus alunos, sintam prazer igual ao que vocs sentem. Se
isso no acontecer, vocs tero fracassado na sua misso, como a
cozinheira que queria oferecer prazer, mas a comida saiu salgada e
queimada... (ALVES, 1994. p.9).
E foi com esse prazer que cada um ia fazendo suas leituras, escrevendo suas
cartas, ansiando pela resposta... E junto com a carta seguiam os livros, um duplo
prazer: comunicar-se com um colega at ento pouco conhecido ou desconhecido e
receber o livro naquele mesmo envelope, como possvel observar em uma
carta/resposta enviada por uma coordenadora pedaggica:
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
248
Fiquei muito feliz em receber sua carta compartilhando comigo suas
experincias pessoais e profissionais. Amei os livros que me indicou.
J li Em busca de mim e fiquei encantada com a histria escrita por
Izabel Vieira, parece que me deparei com um fato da vida real. Estou
lendo Cartas entre amigos e como voc diz uma verdadeira
prola. Em uma de minhas formaes comentei sobre o trabalho que
est sendo desenvolvido entre os profissionais de educao de
Marcionlio Souza e o nosso municpio, com o Projeto Institucional de
Leitura Histrias de carta em carta para indicao literria, no
qual falei de voc, inclusive fiz indicao dos livros que voc me
enviou. Estou com uma lista de espera, pois uma professora est
lendo Em busca de mim e outras aguardando. Bem legal esse
movimento.
Nesse percurso havia carta que apresentava ao destinatrio como era bom
mergulhar num livro de poesias, por exemplo, e a remetente pde contemplar como
sua indicao fez florescer novas perspectivas naquele leitor/destinatrio, como
podemos notar no trecho de uma carta de uma diretora escolar:
Com relao ao livro confesso que logo quando eu o vi fiquei receosa
porque no costumo ler poemas, na realidade nunca li um livro de
poemas, foi a primeira vez. Estou passando por um momento muito
difcil, o qual meu marido est trabalhando em outro estado, mas
precisamente no Amap. Pense a? Quando li o livro me senti muito
bem, principalmente com o poema 62, tambm fiz a leitura dele para
alguns dos meus colegas.
Tiraram proveito das crnicas, romances, novelas... E o ir e vir das histrias de
vida, das leituras, dos livros foi encurtando a distncia entre dois municpios
vizinhos e alimentando/retroalimentando o exerccio de leitura daqueles que
participaram do projeto.
Numa dessas cartas um depoimento de uma diretora escolar muito
interessante aparecia: J estamos quase ntimas! Preciso lhe confessar uma coisa - o
despertar para minha formao leitora comeou com a chegada do ICEP (Instituto
Chapada de Educao e Pesquisa) - desde ento j li mais do que em toda minha
vida.
Assim, nas histrias de carta em carta, alteramos os espaos geogrficos e os
estabelecimentos comerciais. Posto de gasolina, farmcia, lanchonete ou secretaria de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
249
educao transformaram-se em agncias dos correios pontos estratgicos de
envio e coleta de cartas. Como coloca Cybele Amado, diretora presidente do ICEP,
no prefcio ao livro produto desse projeto - Nesse territrio ocenico onde
vivemos, cada cidade como se fosse uma ilha solitria, mas os
habitantes/educadores desses lugares, quase sempre distantes entre si, comearam a
se encontrar graas ao ideal comum da educao.
Certamente essa experincia que contribuiu para seguir qualificando a
formao leitora de profissionais da educao ter um impacto direto sobre a
formao dos professores e, consequentemente, dos alunos, que o que desejamos
para constituio de redes leitoras. Isso tudo tem um impacto direto nas instituies
escolares em que os profissionais participantes do projeto atuam, j que, como
aborda Lerner (2002, p.99) Um dos mritos fundamentais dos projetos institucionais
o de proporcionar um quadro no qual a leitura ganha sentido no s para os alunos
como tambm para os professores.
A culminncia do Projeto Institucional de Leitura foi o lanamento do livro
Histrias de carta em carta, produto desse projeto, lanado numa confraternizao
em que os remetentes/destinatrios dos dois municpios se encontraram e puderam
conhecer uns aos outros que se corresponderam durante o ano de 2011. O passo
seguinte ao lanamento do livro foi sua distribuio nas escolas, secretaria de
educao, biblioteca municipal, enfim, espaos em que todos tenham acesso. Assim,
favoreceremos um belo intercmbio entre os livros e histrias de vida que marcaram
pessoas de Marcionlio Souza e Itaet e que oferecem um para o outro como presente
um passeio literrio, que como coloca uma supervisora tcnica participante Foi uma
experincia muito bonita, muito feliz, pois muito mais do que escrever resenhas, ns
partilhamos histrias de vida nessas cartas que iam e vinham nos coloridos
envelopes, chegando s nossas mos da forma mais inusitada possvel. As indicaes
literrias fizeram brotar novas amizades, novos leitores e muita gente mais feliz.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
250
CONSIDERAES FINAIS
notrio que a leitura imprescindvel na vida de qualquer pessoa, que um
ambiente leitor desfrutado desce cedo favorece a construo da proficincia leitora.
Mas vale ressaltar que possvel formar-se leitor na profisso, possvel que
educadores qualifiquem suas prticas leitoras e se constituam efetivamente como
leitores cada vez mais obstinados pelo ato de ler.
Nesse nterim importante entender o significado que a leitura literria exerce
na vida dos profissionais da educao, e partindo das suas histrias de vida com a
literatura seguir numa aproximao constante de variados autores, leituras, livros.
Os projetos institucionais de leitura so importantes dispositivos de
(auto)formao tendo em vista a mobilizao de uma rede leitora, que no fixa-se
apenas no professor, mas que sustenta-se com a formao de todos os envolvidos no
processo educativo, desde secretrios de educao, equipes tcnicas, diretores
escolares, coordenadores pedaggicos, professores, alunos.
E nesse contexto que tais projetos possibilitam que os educadores assumam
um lugar de quem pode compartilhar experincias, histrias de vida, e falar sobre as
suas preferncias leitoras, frente a uma variedade de obras literrias, trilha
interessante para aportar a condio humana de se emocionar com os livros e
estreitar os laos afetivos e profissionais. Tudo isso na eminncia de superao de
uma viso burguesa da literatura que dita os melhores livros que devem ser lidos e
recomendados.
Nesse enquadre a formao de uma rede de educadores leitores contribui para
que os estudantes desfrutem de ambientes alfabetizadores e possam ir tecendo
relaes cada vez mais afetuosas com a leitura literria.
Referncias
ALVES, Rubem. A alegria de ensinar. 3.ed. So Paulo: Ars Potica, 1994.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
251
ABEU, Mrica. Cultura letrada: literatura e leitura. So Paulo: Editora UNESP, 2006.
BLOOM, Harold. Leio, logo existo: o mais polmico dos crticos literrios diz por que ainda
se deve ler num mundo dominado pelas imagens. Veja online, 31 de jan. 2001. Disponvel
em: http://veja.abril.com.br/310101/entrevista.html. Acesso em 11 jan. 2012.
BRAIT, Beth. Estudos lingsticos e estudos literrios: fronteiras na teoria e na vida. In:
FREITAS, Alice Cunha de e CASTRO, Maria de Ftima F. Guilherme de (Orgs.).
Lngua e literatura: ensino e pesquisa. So Paulo: Contexto, 2003.
CHARTIER, Roger. Formas e sentidos. Cultura escrita: entre distino e apropriao.
Campinas: Mercado de Letras, 2003.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessrios prtica educativa. So
Paulo: Paz e Terra, 1996.
KAUFMAN, Ana Maria. Escola, leitura e produo de textos. Trad. Inajara Rodrigues.
Porto Alegre: Artmed, 1995.
LAJOLO, Mariza. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. Ed. 6. So Paulo: tica,
2002.
LOIS, Lena. Teoria e prtica da formao do leitor: leitura e literatura na sala de aula. Porto
Alegre: Artmed, 2012.
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possvel e o necessrio. Porto Alegre,
Artmed, 2002.
NUNES, Lygia Bojunga. Livro. Um encontro com Lygia Bojunga Nunes. RJ: Agir,
1988, p.7-8.
RIBEIRO, Jonas. Colcha de Leituras. So Paulo: Elementar, 2002.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
252
O CANTO DA LEMBRANA:
A memria nas canes de Caetano Veloso
Juan Mller Fernandez (UFBA)
Aluno do curso de Especializao em Estudos Lingusticos e Literrios
juan_muller168@hotmail.com
Resumo: Neste estudo se prope uma reflexo sobre a memria nas canes que integram o
elep intitulado "Domingo" (1967), compostas por Caetano Veloso. A anlise empreendida
foi impulsionada pela voga atual do retorno ao sujeito, ao autor, do memorialismo e do
resgate das histrias de vida. Compreende-se que escrever, pintar, cantar e fotografar, na
contemporaneidade, tornam-se sinnimos de (auto)biografar-se, de lembrar, de excluso do
mundo em detrimento do Eu. nesse espao de criao (auto)biogrfica que se insere o
cancioneiro plural, que fala da Bahia e problematiza a sociedade brasileira, mas tambm
autocentrado de Caetano Veloso. Apesar de os textos do cantor baiano possibilitarem
anlises diversas, inegvel que estratgias de autorreferncia e deslocamento temporal so
marcas recorrentes. Assim, desde o primeiro disco, so notveis a preocupao com o Eu,
com a prpria existncia; a constituio de uma identidade autor-sujeito lrico e o sentimento
de melancolia em torno prpria terra natal, traduzido na vontade de regressar a Santo
Amaro do passado. "Domingo" o primeiro elep do cantor e, para muitos, inclusive o autor,
foi lanado tardiamente, quando o santo-amarense j estava filiado aos ideais tropicalistas,
da a pouca visibilidade. Na obra, a memria revestida de disfarces diversos: ora assume a
vertente ensimesmada e introspectiva, caracterizada pelo desprezo de referencialidades e,
por outro lado, pela concentrao no estado psicolgico do eu-autor, ora se manifesta por
fluxo temporal intenso, constitudo de incurses no passado subjetivo de Caetano. Observou-
se que o canto memorialstico motivado pelo deslocamento da terra natal, o que gera a
sensao de melancolia e saudade dum tempo e dum lugar perdidos. Predomina, no elep,
assim como na literatura brasileira da poca (1964), a ficcionalizao da prpria experincia
do ser. Procurou-se resgatar tais textos a fim de se observar como o tema da memria
atravessa sua potica, apresentando-se desde o incio da carreira. Ademais, as canes
selecionadas ("Corao Vagabundo", "Onde eu nasci passa um rio" e "Quem me dera") foram
analisadas no intuito de se investigar o papel da memria na criao de estratgias de
subjetivao e introspeco e sobre o eu lrico construdo por Caetano Veloso,
frequentemente autocentrado, a investigar o prprio passado e os vestgios do homenino
de outrora. Para tanto, buscou-se apoio em textos confessionais do autor e em bibliografia
que trata dos ditames da memria (Bergson, Santo Agostinho), dos dilemas da subjetividade
(Arfuch, Sarlo, Sssekind) e de pensadores que questionam a produo de Caetano
(Franchetti e Pcora; Lucchesi e Dieguez).
Palavras-chave: Literatura brasileira. Teoria da Lrica. Caetano Veloso. Memria.
Autobiografia.
A mera vocalizao no capaz de abarcar a paleta sensorial do fenmeno da
memria, nem segue o compasso do ato potico, bem mostra a tradio literria
ocidental. Desde a Antiguidade, o canto, aqui entendido como interface entre msica
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
254
e literatura, se apresenta enredado pela memria. Rapsodos e aedos, ambos
possudos pela Mnemsine
18
, possuam o dom da lembrana e do canto, o que lhes
permitia recuperar longos textos e o passado heroico, superando o potencial dos
demais mortais.
Nesse momento, a atuao destes no estava vinculada subjetividade, de
modo que a reminiscncia exercia papel mais social que individual. Ocorre que,
quando representada, Mnemsine aparece em atitude contemplativa e ensimesmada,
com a mo apoiando o queixo (PUGLIESI, 2003), na posio de quem busca, nos
recnditos da mente e da prpria alma, aquilo que o tempo transformou em imagem,
em pura memria, citando Trem das Cores, cano de Caetano. Assim, ainda que
timidamente, o Eu j passa a ser reconhecido como mais uma categoria vinculada
capacidade de lembrar, fazendo par com a categoria de Tempo.
O elemento da subjetividade aceito aps as contribuies de Santo
Agostinho (1996) e Bergson (2011) que inovaram ao considerar, respectivamente, a
memria como lugar de encontro consigo mesmo e resultado de um estado
psicolgico de ateno prpria vida. Essas concepes ressoam ainda hoje,
sobretudo, em razo da voga do retorno ao sujeito, ao autor, do memorialismo e do
resgate das histrias de vida. Escrever, pintar, cantar e fotografar, na
contemporaneidade, torna-se sinnimo de lembrar, de excluso do mundo em
detrimento do Eu. nesse espao de criao (auto)biogrfica que se insere o
cancioneiro plural, que fala da Bahia e problematiza a sociedade brasileira, mas
tambm autocentrado de Caetano Veloso.
Ao analisar a produo literria brasileira, a partir de 1964, que se nota, seno,
o predomnio da escritura memorialstica? Como negar que o ex-doce brbaro
persegue as prprias recordaes? Dos baiunos, Caetano Veloso o nico em que a
atividade de pensar na Bahia, num passado vivido s margens do Suba e beira das
guas da Baa de Todos os Santos, se faz presente em momentos diversos da carreira.
18
A personificao da memria, Mnemsine, uma das filhas de Geia e Urano, pertenceu primeira
gerao divina, integrando o grupo de deusas chamado Titnidas. Possua funo de lembrar aos
homens os grandes feitos dos heris. Ela presidia a poesia lrica, e as nove filhas Musas inspiram
o poeta pico. As Musas (Clio, Euterpe, Tlia, Melpmene, Terpscore, rato, Polmnia, Urnia e
Calope) representam todas as formas do pensamento eloquncia, persuaso, sabedoria, histria,
matemtica e astronomia , alm disso, simbolizam as artes liberais (BRANDO, 1993; GUIMARES,
1972).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
255
Em comparao com os outros doces brbaros se nota que Gilberto Gil sempre teve o
interesse pelo aspecto conceitual, pela brincadeira com a linguagem da cano-
poema, para Gal, voz e interpretao, j em Maria Bethnia, destacam-se a
capacidade de dramatizao, representao e elaborao de jogos cnicos. Isso sugere
que a produo de Caetano Veloso, por apresentar pontes com a histria pessoal do
compositor, ocupa o espao da diferena entre os companheiros de palco e de vida.
Apesar de Franchetti e Pcora (1988) notarem a existncia indescartvel de
um eu que percebe e exibe a sua prpria individualidade nas obras do baiano, tal
obstinao no se restringe autoexibio esvaziada, antes, reflete o desejo de um
sujeito que deseja se afirmar e se diferenciar dos demais atravs da trajetria de vida,
como em Onde eu nasci passa um rio, Trilhos Urbanos, O Leozinho. Alm
disso, a autorreferencialidade torna-se uma estratgia que enseja o autoconhecimento
e o avivamento das recordaes.
Domingo (1967), primeiro long-play do cantor, gravado em parceira no
vocal com Gal Costa, inaugura sucessos como Corao Vagabundo, Um dia e
Avarandado. O elep composto de 12 canes que reconstituem a Bahia de
Caetano, isto , de um sujeito distante da terra-me, Santo Amaro da Purificao, j
acostumado s viagens ao Rio de Janeiro e a So Paulo para participar de programas
televisivos e divulgar sua imagem. No disco, a vida calma de Santo Amaro se traduz
no ritmo lento e apaziguador dos acordes, a tradio do samba de roda se apresenta
de modo explcito em Remelexo, a religiosidade aparece simbolicamente
representada pela procisso de velas brancas de Candeia, assim como pela
prpria capa do elep. No se pode deixar de mencionar a herana de Joo Gilberto
no timbre intimista dos cantores e, sobretudo, a predominncia do tom melanclico,
caracterstico de quem partiu e que deseja o regresso, que contamina as canes. Na
tentativa de compensar a frustrao, a estratgia da memria entra cena, liberando
do palcio imagens poticas de uma vida.
Apesar de, no livro de memrias, intitulado Verdade Tropical, o santo-
amarense deixar dvidas quanto espontaneidade da representao do espao
baiano nesse disco, ao revelar que a gravadora tinha a inteno de forjar uma Bahia,
ao menos na capa (ANEXO A), e que Dorival Caymmi artficie da saudade baiana
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
256
tambm assinava a produo do elep, contribuindo nos arranjos musicais, foroso
contestar a fora estranha que Santo Amaro e as experincias vividas l exerce(m)
sobre suas composies. A partir da o que se pode cogitar, sem inocncia, que a
esttica da nostalgia e da memria foi utilizada como meio de divulgao da imagem
do cantor e desse long-play. No livro, Caetano Veloso confessa:
A gravadora encarregou-se da programao visual. Gal e eu fomos
levados para o Outeiro da Glria, perto do centro do Rio, para sermos
fotografados em frente igrejinha antiga, para que parecesse que
estvamos na Bahia. Eram fotos em preto e branco, e a que foi
escolhida simpaticamente inconclusiva e despretensiosa. [...] O texto
que eu escrevi para a contracapa era bom. Sincero e claro, ele rendia
homenagens ntimas, trazia muito de Santo Amaro e de Salvador em
duas ou trs linhas [...]. (VELOSO, 2008, p.151-152).
Uma das hipteses de Flora Sssekind (2004) que a dominncia dos
discursos memorialista e testemunhal na literatura brasileira, aps 1964, deve-se s
estratgias adotadas pelos governos militares, tais como: [...] limites mais ou menos
estreitos para o trabalho intelectual; censura ou cooptao; prises, expurgos ou
tapinhas nas costas [...] (SSSEKIND, 2004, p. 65). Ademais, deve-se observar esse
fenmeno em termos genricos: em momentos de grandes tenses sociais, como uma
mudana de organizao poltica, a tendncia ao alheamento, em suas diversas
nuanas, se faz imperativa. Com isso, no se justifica a esttica do cancioneiro do
santo-amarense pela situao de produo, antes, se reala aqui que este tambm
um fator a ser considerado para alguns textos, afinal, Caetano viveu as
transformaes polticas do Brasil e sofreu na pele as consequncias das imposies
militares. Canes como Terra, London, London e Maria Bethnia, por
exemplo, ilustram as dores e angstias da expatriao forada, decorrente daquele
Golpe. Em Domingo (1967), no se nota influncia direta do contexto poltico da
dcada de 1960, visto o desligamento espacial da terra natal, isto , o deslocamento
do eixo Santo Amaro-Salvador para as grandes capitais provocar a experincia do
sonho e da vontade de regresso, possvel apenas na memria.
Em Corao Vagabundo, cano de abertura do elep, o discurso subjetivo
fica evidente tanto na superfcie do texto, quanto no plano das imagens. Termos
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
257
como Meu, ser e quer representam sua aura ensimesmada, uma vez que
conjugam as categorias de individualidade, ou pessoalidade intransfervel contida
no pronome e existencialismo, nos verbos ser e quer. Dessa forma, sujeito,
vontade e memria so palavras-chave da cano: ressalte-se a ausncia do
determinante antes do pronome, o que indica a essncia narcsica, e o desejo mordaz
de abarcar o mundo em si. Mundo a faz aluso s imagens das coisas vistas e
experimentadas que o sujeito tem medo de se perderem com o passar do tempo, bem
como ao deslocamento espacial iminente, por conta da carreira musical. Destaque-se
ainda que o encontro entre o eu textual e o eu autoral representado simbolicamente
pelas iniciais do ttulo da cano: exatamente CV, como o nome do autor, Caetano
Veloso (com grifos nas maisculas), constituindo, de certo modo, um pacto
autobiogrfico
19
.
Meu corao no se cansa
De ter esperana
De um dia ser tudo o que quer
[...]
Meu corao vagabundo
Quer guardar o mundo
Em mim
(GAL; VELLOSO, 1967).
Desde a, se assiste a uma ligao ntima entre os sujeitos, reforada cada vez
mais nas outras canes, de modo que se torna rdua a dissociao entre eles.
Lucchesi e Dieguez (1993, p. 22) tambm observam nesse poema interferncias da
vida pessoal do autor, de toda transformao que ocorre aps o incio na cena
artstica, como se v:
Corao Vagabundo se transforma, assim, na criao potico-
musical que encarna o esgotamento de uma fase de preparao para
algo cujas faces ainda no se revelaram. a constatao simblica da
existncia de uma porta espera de ser aberta, o que agencia a
insegurana somada determinao.
19
O conceito de pacto autobiogrfico foi desenvolvido por Philippe Lejeune (2008) para designar a
relao de identidade entre o autor, o narrador e o personagem.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
258
A segunda cano, Onde eu nasci passa um rio, possui essncia
autobiogrfica e mescla o ufanismo da terra tenso do deslocamento. Esse tema,
prenunciado em Corao Vagabundo, se desenvolve no canto de um eu que,
diante duma situao presente, plena de novidades desestabilizadoras, evoca o
passado, a terra onrica, para se (a)firmar como sujeito.
Onde eu nasci passa um rio
Que passa num igual sem fim
Igual, sem fim, minha terra
Passava dentro de mim
(GAL; VELLOSO, 1967).
J na primeira estrofe, possvel observar a tentativa de priorizar categorias
de subjetivao, como espao, tempo e self. O onde, pronome especfico para a
marcao de lugar abre a cano, de forma a inserir, num plano superior, a ideia da
terra, enquanto o self, expresso no pronome eu, se impe sobre a desinncia do
verbo e aparece aps o relativo, sugerindo que o indivduo no nega contar-se,
ainda que o canto seja dedicado a tratar do local de nascimento. O ato de nascer, das
primeiras vivncias, indica a ligao afetiva e umbilical do eu para com o lugar,
impossibilitando seu esquecimento. Nascer, sem dvidas, remonta ao contato ntimo,
entrecortado de carcias e afagos, relao me-filho, a qual, por sua vez, encontra
amparo nas simbologias da terra, a me Geia. Dessa forma, lugar e sujeito, onde e
eu, se conjugam, sem qualquer possibilidade de se desvencilharem, pois um abriga
o outro.
Quem espera dos poemas de Caetano Veloso a mesma estratgia de
autofico, acaba deixando passar despercebidos jogos lingusticos e
correspondncias entre palavra e mundo. Nesse poema, rio no um mero
elemento referencial, antes est correlacionado natureza do espao habitado, ao rio
Suba, e se constitui um recurso para falar de si, sem a insistncia do uso
pronominal, bem como falar de Santo Amaro, sem referncia direta. A memria das
experincias vividas no Recncavo vem tona, sobretudo, quando o sujeito
estabelece um dilogo entre os termos rio e terra, de modo a construir uma
relao de equivalncia entre estes, rio = terra (leia-se rio passa a sinnimo de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
259
terra). Conforme mostra o relato de Caetano, o Suba um elemento importante
para se pensar a feio e a estrutura da cidade, de maneira que sem ele, talvez, esta se
descaracterizasse para os habitantes mais inteirados:
Santo Amaro da Purificao quase na foz do rio Suba, tanto que l
comum que se diga l em cima, l embaixo, ou fulano mora l
em cima, mora l embaixo, embora a regio seja plana, pois a
referncia mais importante o rio, de modo que as coisas ficam rio
acima ou rio abaixo. (VELOSO apud FERRAZ, 2003, p. 64-65).
Nessa mesma quadra, deve-se tambm destacar o vaivm temporal que marca
a esttica da escrita de si ou do espao biogrfico, nos termos de Leonor Arfuch
(2010). Para a autora (2010), os textos de nuana autobiogrfica adquirem relevncia
filosfica, no sentido de reorganizarem a vida, ao postularem possveis relaes
entre os tempos do mundo da vida, do relato e da leitura. Do incio ao fim, os quatro
versos da estrofe do mostras, concomitantemente, da passagem temporal, que parte
do tempo vivido (nasci), tangencia o tempo do relato e da leitura (passa) e do
processo de reinterpretao da vida, uma vez que, ao se distanciar da terra, o sujeito
percebe quanto o rio representativo de seu afeto pela cidade natal. A memria, em
termos bergsonianos, poderia ser identificada a, nesse contato entre passado e
presente, na imposio de um tempo no atuante sobre o atuante. Esclarece
Bergson (2011) que,
A memria, praticamente inseparvel da percepo, intercala o
passado no presente, condensa tambm, numa intuio nica,
momentos mltiplos da durao, e assim, por sua dupla operao, faz
com que de fato percebamos a matria em ns, enquanto de direito a
percebemos nela. (BERGSON, 2011, p.77).
A cano Quem me dera refora o binmio deslocamento/ memria,
retratando-a como elemento transformador da subjetividade, de modo que a certeza
do no esquecimento se traduz em gozo para aquele que precisa lembrar para se
sustentar existencialmente. O texto apresenta, de incio, um eu lrico a despedir-se da
terra natal melancolicamente. Esse tom grave gerado ainda nos versos iniciais,
sendo reforado pela alternncia entre vogais abertas e mdias, predominando uma
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
260
assonncia fechada. Alm disso, o elemento meldico colabora para constituir tal
efeito, uma vez que a voz grave e lenta se sobrepe aos instrumentos:
Adeus, meu bem
Eu no vou mais voltar
Se Deus quiser, vou mandar te buscar
De madrugada, quando o sol cair dendgua
Vou mandar te buscar
(GAL; VELLOSO, 1967).
Em seguida, ao dar-se conta da possibilidade de recuperar o locus querido por
vias onricas, sonho e memria (De madrugada, quando o sol cair dendgua/ Vou
mandar te buscar), o canto se transforma, dando lugar ao contentamento. Esse
momento adquire feies de euforia, constatadas pela acelerao rtmica e
instrumental e, sobretudo, pela estridncia tnica do i, em termos como dia,
alegria e Bahia:
Ai, quem me dera
Voltar, quem me dera um dia
Meu Deus, no tenho alegria
Bahia no corao
Ai, quem me dera voltar
Quem me dera o dia
De ter de novo a Bahia
Todinha no corao
(GAL; VELLOSO, 1967).
Se por um lado a potica ensimesmada se abranda a, a verve memorialstica
se amplia, pois, alm da vontade das lembranas existenciais e da terra, observa-se
ainda uma memria discursiva em relao s canes aqui analisadas. Sustentando
tal afirmao, Lucchesi e Dieguez salientaram, em estudos diversos (1993; 2010), que
a potica de Caetano Veloso possui a caracterstica de retomar de termos e estruturas,
da a sugesto de imaginar a espiral como smbolo de sua produo. Nessa cano,
so revisitadas a angstia de reter as memrias, interiorizando-as no corao, tal qual
em Corao Vagabundo; de Onde nasci passa um rio so recuperadas a
morfologia de Santo Amaro, representada pelas guas, o sentimento de lugar
diferente ou incomparvel, (Ai, gua clara que no tem fim/No h outra cano em
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
261
mim/ Que saudade). De ambos os textos, recupera-se a eleio do rgo de
subjetivao, o corao, como espao das lembranas e o gesto narcsico de
introjeo, de modo que tudo parte do eu e para o prprio deve voltar (Meu corao
vagabundo/ Quer guardar o mundo/ Em mim; Igual sem fim minha terra/Passava
dentro de mim; No h outra cano em mim).
A anlise dessa pequena mostra de canes indica que a luta de Caetano
Veloso simbolicamente travada contra o tempo e o esquecimento, da o encargo de
citar nomes dos conhecidos (Gente), recompor paisagens (Trem das cores),
escrever um livro de memrias (Verdade Tropical). Obrigao tamanha que fica
explcita em Trilhos urbanos (Bonde da Trilhos Urbanos vo passando os anos/
E eu no te perdi, meu trabalho te traduzir) e que revela o compromisso do sujeito
autor com a memria e com a recuperao do passado. Assim, pela lembrana no s
so revistos rostos e espaos, mas tambm se revive.
Na obra do cantor, a memria utiliza disfarces diversos: ora assume a vertente
ensimesmada e introspectiva, na qual eu lrico e eu autoral se correspondem, ora se
manifesta por fluxo temporal intenso e motivada por estmulos tambm variados.
Em Domingo (1967) observou-se que o canto memorialstico motivado pelo
deslocamento da terra natal, gerando a sensao de melancolia e saudade dum
tempo e dum lugar perdidos. Predomina, nesse elep, assim como na literatura
brasileira dessa poca, a ficcionalizao da prpria experincia do ser, de modo que
[...] no a referncia o mais importante nessa comunicao potica, mas sim a
expresso de uma subjetividade to onipotente que se permite afirmar que vai vir o
dia/ quando tudo que eu diga/ seja poesia, como no poema de Leminski
(SUSSEKIND, 2004, p.118).
Referncias
ARFUCH, Leonor. A vida como narrao. In: O espao biogrfico: dilemas da
subjetividade contempornea. Traduo Paloma Vidal. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010,
p. 111-150.
BERGSON, Henri. Matria e memria: ensaio sobre a relao do corpo com o esprito.
4.ed. Traduo Paulo Neves. So Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
262
BRANDO, Junito de Souza. Dicionrio mtico-etimolgico da mitologia e da religio
romana. Petrpolis: Vozes, 1993.
FERRAZ, Eucana (Org.). Sobre as letras. So Paulo: Companhia das Letras, 2003.
GAL; VELLOSO, Caetano. Domingo. 1967. LP: Philips.
GUIMARES, Ruth. Dicionrio da mitologia grega. So Paulo: Cultrix, [1972].
FRANCHETTI, Paulo; PCORA, Alcyr. Literatura comentada: Caetano Veloso. 2.ed.
So Paulo: Nova Cultural, 1988.
LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiogrfico: de Rousseau a internet. Belo Horizonte:
UFMG, 2008.
LUCCHESI, Ivo; DIEGUEZ, Gilda Korff. Caetano, o pensamento e a espiral. In:
SCHAEFER, Sergio; SILVEIRA, Ronie Alexsandro Teles da. (Orgs.). Caetano e a
Filosofia. Santa Cruz do Sul: EDUNISC; Salvador: EDUFBA, 2010. p.9-34.
LUCCHESI, Ivo; DIEGUEZ, Gilda Korff. Caetano. Por que no?: uma viagem entre a
aurora e a sombra. Rio de Janeiro: Leviat, 1993.
PUGLIESI, Mrcio. Mitologia greco-romana: arqutipos dos deuses e dos heris. So
Paulo: Madras, 2003.
SANTO AGOSTINHO. Confisses. Traduo J. Oliveira Santos, S.J., e A. Ambrsio de
Pina, S.J.. So Paulo: Nova Cultural, 1996.
SSSEKIND, Flora. Literatura e vida literria: polmicas, dirios & retratos. 2.ed. Belo
Horizonte: UFMG, 2004.
VELOSO, Caetano. Verdade Tropical. So Paulo: Companhia das Letras, 2008.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
263
ANEXO A - Capa do Elep Domingo (1967)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
264
O PAPEL DAS EXPERINCIAS LEITORAS NA
FORMAO INICIAL DE PROFESSORES PARA AS
SRIES INICIAIS:
CONTRIBUIES DO PIBID
Maria do Socorro da Costa e Almeida
Professora Assistente da UNEB; DEDC-I
Doutoranda do PPGEduC GRAFHO / UNEB
help26@uol.com.br
Resumo: O presente trabalho aborda a influncia da promoo de experincias leitoras na
formao inicial de professores como uma oportunidade multilateral de apropriao
sociocultural e acadmica dos ritos da profisso e dos aportes teoricometodolgicos para a
promoo de situaes didticas, especialmente sobre leitura, na educao fundamental. O
estudo se d em um subprojeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciao Docncia
(PIBID) que integra bolsistas, licenciandos em Pedagogia, em um Departamento, da
Universidade do Estado da Bahia. Seu desenvolvimento ocorre por meio da
operacionalizao de um ciclo formativo. Sua programao constituda de seminrios
internos de apropriao conceitual, como atividades de culminncia dos encontros semanais
de leituras, discusses e produo de materiais. Durante cada momento da agenda semanal,
a leitura de textos impressos: cientficos, informativos, didticos, literrios, etc., alm de
textos imagticos: filmes, vdeos com aulas filmadas no contexto da escola pblica, fotos,
rtulos, cartazes, folders, dentre outras possibilidades, compem situaes formativas
intencionais de leitura e pela leitura. Os pressupostos que orientam a conduo da proposta
apoiam-se em subsdios do campo da formao de professores, nos referencias
socioteracionistas sobre aprendizagem e nos aportes tericos contemporneos sobre a leitura.
A construo de rituais de leitura e formao tem gerado a ampliao de repertrios
conceituais e interpretativos na atuao didtica dos participantes do PIBID. A intensificao
do gosto pela leitura, a intencionalidade na construo de acervos, a dinamizao de prticas
leitoras nas aulas das sries iniciais, a compreenso acerca das dimenses social e
emancipatria do 'ato de ler' e o contato sistemtico com as relaes que permitem novas
construes de sentidos so evidenciadas nas injunes do processo formativo e podem ser
consideradas como resultados parciais da experincia, alm, do desvelamento de concepes
emergentes sobre as prticas pedaggicas que subsidiam o trabalho docente na escola
pblica, promovendo melhores situaes de aprendizagens para os educandos, no ensino
fundamental.
Palavras-chave: Formao Inicial de Professores; PIBID; Leitura.
1. INTRODUO
Trata-se de uma abordagem sobre formao do educador alicerada em
pressupostos contemporneos que envolvem o debate sobre educao e sociedade
(IMBERNN, 2005). A formao do educador, considerando os subsdios dos
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
266
debates emergentes est inscrita nas relaes que caracterizam a sociedade do
conhecimento, sua fluidez, simultaneidade, contradio, historicidade e polifonia
(FREIRE, 1999), (CATANI, 2001), (WEISZ e SANCHES, 2006). O sujeito participa
como agente da realidade. Age e interpreta. Prope, constri e transforma. Opera em
instituies, recria possibilidades e amplia sua compreenso, ativando seus
dispositivos de subjetividade (CORDEIRO e SOUZA, 2010).
Nesse contexto, a formao inicial do educador encontra-se marcada por
traos inerentes sua iniciao escolar, ao seu percurso como estudante, escolha da
profisso, alm de todas as experincias vividas por meio das relaes propiciadas
pelos componentes curriculares e pelas situaes transversais ao curso de
licenciatura (CATANI, 2001), que extrapolam as propostas do currculo oficial. Elas
esto caracterizadas pelas oportunidades de imerso em outras ordens de
experienciao: sociais, filosficas, culturais, estticas, lingusticas, dentre outras,
atravessadas pelos sujeitos.
O presente texto aborda, nessa perspectiva, as contribuies das experincias
leitoras para os licenciandos, participantes de um subprojeto do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciao a Docncia Pibid (BRASIL, 2013), em andamento
na Universidade do Estado da Bahia. So debatidas as relaes que esses estudantes,
do Curso de Licenciatura em Pedagogia, estabelecem com a leitura e como essas se
articulam com as injunes da formao docente, que podem se tornar subsdios para
a futura atuao como profissionais.
Ao considerar esses aspectos, a discusso proposta neste texto aborda a
complexidade do conjunto de relaes que integram as aproximaes entre leitura,
formao, formao inicial (CATANI, 2001) e experincias leitoras (LAJOLO, 1999).
E, ao tratar dessas experincias no percurso de formao, no momento que o sujeito
vivencia dois papis, escolhidos por intencionalidade: licenciando e bolsista, muitos
elementos emergem no debate: a histria de formao vivida por cada um, suas
memrias de leitor (CORDEIRO e SOUZA, 2010), as relaes entre ser leitor e
preparar-se para atuar como formador de novas geraes de leitores na escola bsica
(YUNES, 2009), os impactos das experincias leitoras no Pibid, dentre outros aspectos
e dimenses.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
267
2. PERCURSOS DE LEITURA E INICIAO DOCNCIA
Construir percursos de leitura (CORDEIRO e SOUZA, 2010) envolve vivenciar
experincias. A concepo de experincia integra as dimenses do sentir, do
pensar e do agir (VAN MANEM, 2003) Ela possibilita o conhecimento de si
(CORDEIRO e SOUZA, 2010), por um aprofundamento da autopercepo,
suscitando mudanas na forma de perceber-se e ao entorno. As experincias leitoras
constituem-se em encontros profcuos entre o leitor e as diversas possibilidades
textuais. Nesses encontros, eles se desafiam, reelaboram seus rudos e
estranhamentos, constrem alianas interpretativas sobre os distintos gneros
textuais, se desvelam e, sobretudo, operam pactos de deleite ao saborear as leituras.
Para Freire (1999) e Kleiman (1999), ler consiste em uma experincia social
ampliada que dialoga com mltiplas facetas da apropriao do sujeito sobre o
mundo. Ultrapassa os exerccios de decodificao e assoletramento de palavras.
Todavia,
a capacidade de leitura existente anterior escrita, leitura de
mundo, dos sinais dos tempos, dos acontecimentos,
traduzidas em formas orais, ainda que consolidadas pelos
costumes, perderam a sua fora. A imagem teve sua expresso
narrativa reduzida a uma cena ver nos museus o apogeu da
pintura nos sculos ps-renascentistas e somente com a
emergncia de novos suportes, a criao de novas linguagens
cinema, TV, outras mdias no sculo passado, - atentou-se para
a necessidade de formar leitores para estes modos de
narratividade que j estivera presente na oralidade dos povos
grafos. [...] (YUNES, 2008, p.1)
Assim, no mbito das trocas simblicas contemporneas, a leitura apoia-se nas
aventuras de construo de sentidos, transversaliza o particular e o pblico, relaciona
o individual e o coletivo. O ato de ler modifica o leitor e, tambm, a realidade lida,
pois, relaciona mltiplos atravessamentos de percepo e de autopercepo. A leitura
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
268
supe a existncia de uma intencionalidade: na escolha do que ler, nos modos de ler
e at nas tramas de apropriao (LAJOLO, 1999).
O leitor convidado a ser mediador entre vrios mundos (FREIRE, 1999),
relacionando-os aos seus sistemas de significaes e com as emergncias do
intangvel. Como mediador opera sempre na interface dessas mltiplas realidades.
Debrua-se sobre a esttica, sobre o indizvel, agua paladares, modifica papis, gera
novas indagaes, recusa-se s respostas fceis. Faz das situaes leitoras, momentos
de encontros e de desconstrues de suas razes e percepes. Aposta na amplitude e
no frio na barriga; no encontro com a prxima pgina, com o prximo texto e,
especialmente, com os sentimentos desconhecidos. A leitura possui dimenses social
e esttica,
aprender a ler familiarizar-se com diferentes textos
produzidos em diferentes esferas sociais (jornalstica, artstica,
judiciria, cientfica, didtico-pedaggica, cotidiana, miditica,
literria, publicitria, entre outras) para desenvolver uma
atitude crtica, quer dizer, de discernimento, que leve a pessoa a
perceber as vozes presentes nos textos e perceber-se capaz de
tomar a palavra diante deles (YUNES, 2009, p . 9).
A leitura pode ativar redes de sentidos e memrias, construdas nas interaes
entre sujeitos e fenmenos. Seu desenvolvimento depende do aparecimento e da
qualidade das experincias leitoras. Sua qualidade se expressa, levando em conta as
condies em que ocorrem, tais como: local, clima, possibilidade de escolhas de
temas e suportes, estratgias, iluminao, tipos de mediao, etc.
As experincias leitoras podem se constituir como elementos estruturantes da
formao inicial de professores. Os percursos de sujeito leitor, realizados pelos
licenciandos, podem ser ativados quando so desafiados a construir sentidos a partir
de suas leituras cotidianas e dos rituais de leituras que as iniciativas curriculares
acadmicas lhes oportunizam.
Parte-se do pressuposto que as experincias leitoras, especialmente, na
formao profissional, compem um rico mosaico de oportunidades de tematizaes
e contextualizaes que integram muitas vozes no processo de interpretao da
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
269
realidade da formao e das dinmicas encontradas na escola da educao bsica,
lcus de atuao do futuro egresso da licenciatura.
2.1 O PIBID COMO ESPAO SOCIAL DE LEITURA: VIVENCIANDO AGENDAS
FORMATIVAS
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciao Docncia Pibid - faz parte
de uma poltica nacional, vigente, de formao de professores com vistas a ampliar
os investimentos na elevao da qualidade da educao no Brasil. No referido
Programa (BRASIL, 2013), licenciandos, selecionados, recebem bolsas mensais
aportes financeiros, para se dedicarem aprendizagem da docncia, na etapa inicial
da formao, em subprojetos, vinculados a Universidades e realizados em escolas
pblicas de educao bsica. Sua atuao acompanhada por um coordenador de
subprojeto, um professor universitrio e por um supervisor, professor da educao
bsica. Ambos so bolsistas, selecionados por meio de avaliao prevista em edital
prprio.
No subprojeto do Pibid do Curso de Pedagogia, da Universidade do Estado da
Bahia, foco da ateno deste estudo, o eixo norteador consiste na relao entre a
universidade e a escola, considerando as contribuies do uso do Ambiente Virtual
de Aprendizagem AVA - na formao de professores.
Foram acompanhados quatro semestres de trabalho docente, no referido
subprojeto, no perodo de 2011 a 2012. Nesse intervalo de tempo, os participantes
cumpriram um cronograma constitudo por trs ciclos formativos, com encontros
semanais, integrando horizontalmente: estudantes, coordenadora, supervisora e
pesquisadores. Sua programao foi constituda por leituras, discusses e seminrios
internos de apropriao conceitual, organizados para celebrar a culminncia de cada
ciclo de formao.
A disposio semestral dos referidos ciclos formativos, os caminhos da
mediao, as categorias norteadoras (Ver Quadro 1., p. 6) e, sobretudo, os referenciais
sociointeracionistas de aprendizagem (WEISZ e SANCHES, 2006) adotados,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
270
possibilitaram a transformao dos encontros do Pibid e da sua agenda, em espao
social de leitura (CHARTIER, 1996), discusso e colaborao.
2.2 SOBRE AS EXPERINCIAS LEITORAS NO MBITO DO PIBID
As experincias leitoras foram desenvolvidas a partir da concepo e da
operacionalizao de agendas com itinerrios de leituras e de produes, nos ciclos
formativos do subprojeto do Pibid acompanhado neste estudo, conforme ilustra o
recorte a seguir:
Quadro 1. Exemplo de um Ciclo Formativo
1 Agenda Formativa (seis semanas)
Aes Desenvolvidas Resultados Evidenciados
- Construo do itinerrio de leituras,
considerando as categorias de
investigao previstas no subprojeto, a
saber: prxis, aprendizagem colaborativa
e mediao;
- Levantamento coletivo de textos, fontes
e experincias que se constituam em
aporte para leitura;
- Partilha no AVA da agenda de leituras;
- Encontros formativos para socializao e
discusso sobre as leituras realizadas;
- Ampliao e cruzamentos dos conceitos
e impresses emergentes;
- Produo escrita e partilha no AVA das
aprendizagens construdas;
- Elaborao de propostas de aulas para
- Apropriao de rituais de leitura,
discusso e sistematizao de
aprendizagens sobre docncia,
aprendizagem, prxis, colaborao e
mediao;
- Horizontalizao das experincias
leitoras, integrando coordenadora,
docentes e discentes no contexto das
produes;
- Elaborao e apresentao em
congressos cientficos de sistematizaes
das experincias desenvolvidas na
interface universidade e escola bsica.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
271
educao bsica, considerando os
pressupostos estudados e valorizando as
prticas leitoras nos encontros didticos
com as crianas.
Fonte: Acervo da autora. (ALMEIDA, 2013)
Nas observaes realizadas, nos encontros semanais do Pibid, h evidncias
de que as experincias leitoras esto inscritas nas relaes de aprendizagem sobre a
profisso. A leitura abarca, nessa esfera, processos individuais e coletivos. Possibilita
reflexes acerca dos saberes necessrios para a docncia nos anos inicias da educao
bsica e, especialmente, sobre o lugar da prtica no desenvolvimento profissional do
educador.
As experincias leitoras promovidas nos encontros formativos do Pibid
geraram implicaes muito favorveis na constituio da identidade docente e da
trajetria profissional de professores (GATTI e BARRETO, 2009). Embora, se esboce
em meio de muitas tenses e contradies, pois, cada participante dotado de uma
determinada memria de prticas sociais de leitura, constituindo repertrios
distintos. No entanto, muitas vezes, revelam a superao das vivncias fragmentadas
de leitura e de uma ligao meramente protocolar com as prticas de leituras no
contexto da formao.
Para isso, o papel do mediador nas experincias leitoras estratgico. Esse
mediador precisa ser um leitor e, sobretudo, um educador-leitor. Pois, sua atuao
precisa contribuir para a ressignificao da concepo de docncia e de leitura, para
que o bolsista de iniciao docncia licenciando - vivencie novas aproximaes e
relaes teoricometodolgicas, qualificando o embasamento de sua formao inicial.
A professora que participa do subprojeto como supervisora bolsista, tem
contribudo no processo de mediao, demonstrado muita responsabilidade e
entusiasmo na promoo de condies para a vitalizao das experincias leitoras
entre os participantes, como evidencia a atitude de enviar um e-mail, socializando a
promoo: Leia para Uma Criana, realizada pela Fundao Ita Social, atravs de
distribuio de livros, selecionados da literatura mundial, possibilitando aos adultos
os lerem para crianas, em seus lares ou em instituies. A seguir o texto do e-mail:
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
272
Meninas,
Olha que maravilha!!! No deixem passar e faam logo seus pedidos.
http://ww2.itau.com.br/itaucrianca/index.htm
Abcs, C. (Supervisora bolsista do Pibid)
Enviada: Segunda-feira, 21 de Outubro de 2013 23:42
Os mediadores de experincias leitoras precisam torn-las significativas e
instigantes, por isso, envolvem os estudantes nas escolhas de repertrios, dinmicas e
fontes de leitura. Alm, de inclu-los na organizao dos seminrios internos de
apropriao conceitual, nos encontros semanais de leitura e de produo de materiais
para as aulas que sero mediadas pelos prprios bolsistas de ID. Durante cada
momento da agenda semanal, so promovidos modos diferentes de leituras de textos
impressos: cientficos, informativos, didticos, literrios, etc., alm de textos
imagticos: filmes, vdeos com aulas filmadas no contexto da referida escola, fotos,
cartazes, folders, dentre outras possibilidades, compondo situaes formativas
intencionais de leitura, para a leitura e pela leitura.
Ao apreciar essa diversidade de prticas, se percebe que muitos aspectos
positivos resultam das experincias leitoras no Pibid, dentre eles a articulao entre
processos individuais e institucionais que enriquecem a percepo sobre o trabalho
docente. E, rompe uma cultura individual de formao, contribuindo para o
desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes e pesquisadores envolvidos, a
partir da vivncia de uma perspectiva de interformao, com redes de
aprendizagem, possibilitadas pelas trocas colaborativas entre os integrantes e os
parceiros do subprojeto.
A discusso que aqui se apresenta, portanto, sinaliza para evidncias muito
favorveis acerca das experincias leitoras no contexto da formao inicial (CATANI,
2001). Pode-se considerar que elas contribuem para o fortalecimento das
oportunidades de desenvolvimento profissional (GATTI e BARRETO, 2009) dos
licenciandos, assim como, para o delineamento de uma identidade de educador
leitor, pois, eles articulam as construes de sentidos a partir de suas histrias
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
273
individuais e de leitores, relacionando-as com as vivncias partilhadas nos encontros
formativos do subprojeto onde so bolsistas.
Nesse sentido, vale destacar, tambm, as evidncias de motivao,
amadurecimento e de organizao do pensamento reflexivo nesses bolsistas de
Iniciao Docncia ID. Eles passam a vivenciar a autonomia e a exercer, tambm,
a mediao, como fruto da aprendizagem em rede e de seus processos colaborativos.
Superam a hegemonia das verticalizaes e modelos cartesianos de aprendizagem,
predominantes ainda nas propostas acadmicas, nos quais, os universitrios
aguardam passivamente as instrues externas para a promoo de uma
heteroformao. Eis um exemplo que contraria esse modelo: uma das citadas bolsista
do Pibid ficou to mobilizada com os desdobramentos filosficos e pedaggicos dos
Ciclos Formativos em sua trajetria em formao e com a retomada de seu prazer
pela leitura, durante a iniciao docncia, que encaminhou um e-mail para os
demais participantes deste subprojeto, socializando uma descoberta:
dica de site http://www.skoob.com.br/, voc pode adicionar
livros que j leu, criando sua prpria biblioteca, livos que quer
ler, livros que est lendo, entre outros recursos. (Vi, bolsista de
Iniciao Docncia do Pibid/UNEB, 2013.2)
Dessa forma, o amadurecimento das percepes acerca de si mesmo, da escola,
dos alunos, da aprendizagem e de sua prpria formao vai aparecendo em atitudes
que revelam mais iniciativa e capacidade criativa de propor solues. O Pibid pode
se consolidar, desse modo, como um espao profcuo de formao desse educador
leitor, tendo em vista que as experincias leitoras suscitam a elaborao de
narrativas de si (CORDEIRO e SOUZA, 2010) que esboam o que ser docente em
formao e como a leitura pode contribuir para pensar sua atuao na escola,
sobretudo, neste momento de iniciao.
A promoo de experincias leitoras, nessa etapa da formao, portanto,
apresenta um potencial singular quando de se trata de refinar percepes, ampliar
repertrios e dinamizar acervos, contribuindo, para a construo uma possvel
cultura leitora, que articule sujeitos, tempos, preferncias e estratgias para
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
274
responder s demandas criadas pelas novas geraes de leitores, da Universidade
Escola, em caminhadas transversais, cruzadas e muitas vezes, contraditrias, porm,
sempre desafiadoras, tendo como pressuposto que no h transformao
humanizadora, sem sensibilidade, enfrentamento e criatividade.
Consideraes Crticas
O acompanhamento propiciado pela investigao, realizada at o momento,
revela que as experincias leitoras vivenciadas pelos bolsistas de ID, do Pibid,
propiciam construes multilaterais de sentidos, especialmente em duas direes:
dos licenciandos para a realidade da formao e das necessidades da escola dos anos
iniciais para as propostas acadmicas do curso de Pedagogia. Esse fenmeno de mo-
dupla interpretativa possibilita a criao de prticas pedaggicas (WEISZ e
SANCHES, 2006) mais contextualizadas e significativas para todos os integrantes do
processo, enriquecendo os percursos de quem se qualifica para trabalhar na
preparao de novas geraes de leitores (LAJOLO, 1999), especialmente na
educao bsica.
Nos ciclos formativos, por exemplo, surgem nos bolsistas de ID, a saudvel
preocupao de se levar em conta o que a criana j sabe e a histria de vida
construda na comunidade, assim como, valorizar suas linguagens e caractersticas
culturais nas propostas de mediao e de construo de situaes leitoras. Os
bolsistas de ID tendem a enriquecer as discusses, a partir das leituras realizadas,
com sugesto de temticas para aprofundamento dos estudos e de critrios de
organizao das sequncias didticas que sero desenvolvidas na escola, com o
acompanhamento da supervisora bolsista. Ficam, ainda, os desafios de construo de
sentidos por meio do delineamento de uma cultura leitora que aproxime seus
agentes das dimenses: social, esttica, sensorial e cientfica, em contnua formao.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
275
Assim, as experincias leitoras durante a iniciao docncia, revelam o
potencial emancipatrio do ato de ler (FREIRE, 1999), (LAJOLO, 1999), (CHARTIER,
1996), possibilitando apropriaes socioculturais e acadmicas acerca das
caractersticas do trabalho docente, integrando o pensar, o sentir e o fazer da e na
profisso, traduzindo o gosto pela leitura em oportunidades concretas de operar com
teias de subjetividades para a construo de sujeitos melhores e de uma sociedade
mais justa, flida e humana, unindo, sujeitos, palavras, gestos e intuio.
Referncias
BRASIL. Ministrio da Educao. Programa Institucional de Bolsas de Iniciao
Docncia, 2013. Disponvel em: http://www.capes.gov.br/educacao-
basica/capespibid Acesso em: 10 maio 2013.
CORDEIRO, Verbena Maria Rocha e SOUZA, Elizeu Clementino. Rascunhos de
Mim: escritas de si, (auto) biografia, temporalidades, formao de professores e de
leitores. In: ABRAHO, Maria Helena Menna Barreto. (Auto)biografia e Formao
Humana; Natal: EDUFRN; So Paulo: Paulus; Porto Alegre: EdiPUCRS, 2010, 217-
223.
CATANI, Denice. B. A didtica como iniciao: uma alternativa no processo de
formao de professores. In: CASTRO, A. D.; Ana Maria Pessoa CARVALHO. (Org.).
Ensinar a ensinar: didtica para a escola fundamental e mdia. So Paulo: Pioneira,
2001, p. 53-72.
CHARTIER, Roger. Prticas da leitura. Traduo de Cristiane Nascimento. So
Paulo: Estao Liberdade, 1996.
FREIRE, Paulo. A Importncia do Ato de Ler. So Paulo: Autores Associados,
Cortez, 1999.
GATTI, Bernadete. A. e BARRETO, Elba.S.S. Professores: aspectos de sua
profissionalizao, formao e valorizao social. Braslia, DF: UNESCO, 2009.
(Relatrio de pesquisa). Disponvel em:
http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/educacao-entrevista-00.asp?Edite
CodigoDaPagina=3099 Acesso em: 02 abril 2013
IMBERNN, Francisco. A Educao no Sculo XXI: os Desafios do Futuro Imediato.
Porto Alegre: Artmed, 2005.
KLEIMAN, ngela. Leitura: ensino e pesquisa. 3. ed. Campinas-SP: Pontes, 2008.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
276
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. So Paulo: tica,
1999.
YUNES, Eliana, Livro, leitura, literatura... - Entrevista realizada com Eliana Yunes.
Revista do SESC-Rio, ano 1, n 5, novembro de 2008, p.1. Disponvel em:
http://picpedagogia.blogspot.com.br/2009/03/entrevista-com-eliana-yunes-
conversando.html Acesso em: 02 nov. 2013.
YUNES, Eliana. Tecendo um leitor: uma rede de fios cruzados. Curitiba: Aymar,
2009 apud http://www.catedra.puc-
rio.br/portal/catedra/a_catedra/o_que_e_leitura/ Acesso: 01 nov. 2013.
VAN MANEM, Max. Investigacin Educativa y experiencia vivida. Ciencia humana
para una pedagoga de la accin y la sensibilidad. Barcelona: Idea Books, 2003. pp. 219.
WEISZ, Telma. SANCHES, Ana. O dilogo entre o ensino e a aprendizagem. So
Paulo: Ed tica, 2006.
O POETA E A POESIA EM TEMPOS DE CANTAR O FEIO
Vanusa da Mota Santana
Universidade Estadual de Feira de Santana UEFS
vanusamota1@hotmail.com
Resumo: As mudanas na esfera social relacionadas ao crescimento da civilizao e da
produo de mercado reduzi o homem condio de coisa e, cada vez mais, as relaes
humanas so atropeladas pela avalanche da busca exacerbada pelo lucro. sobre esta
matria que o poeta, pesquisador e professor Jorge de Souza Araujo faz surgir a outra voz,
possibilitada pela poesia, que resgata a sensibilidade humana, quase perdida. No livro de
poemas Os becos do homem (2006), este autor pe em xeque os conflitos existenciais humanos,
perdidos nos prprios becos da solido emergidos da convivncia conturbada na sociedade
moderna. Nessa perspectiva, prope-se a discusso sobre o lugar da poesia e o papel do
poeta em uma sociedade cada vez mais tecnicista, que robotiza o homem transformando-o
em mquina de produo e consumo, a partir da anlise das poesias Tempo de cantar o feio e
Declarao de poesia II, publicadas em Os becos do homem. Jorge de Souza Araujo natural de
Baixa Grande, Bahia. Licenciado em Letras pela Faculdade de Filosofia de Itabuna, mestre e
doutor pela Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Poeta,
pesquisador, professor universitrio, ministra cursos, oficinas, seminrios e congresso por
todo o pas. Militou em rdio, teatro e jornalismo impresso. Tem publicaes na rea de
poesia, prosa, teatro, literatura infanto-juvenil e crtica literria. O livro Os becos do homem
est organizado em seis blocos: As falas, Os enigmas, Os seres, Mortos & Sobreviventes,
Munio & vveres, princpios como proposta de debater sobre a poesia em si mesma e
seu papel ante a ameaa de mecanizao do homem, hoje submetido aos rigores de um
capitalismo desastroso, que promove a misria da violncia e a violncia da misria
(ARAUJO, 2006, p. 151). Em Os becos do homem a misria, o tdio, a solido, a violncia, a
intolerncia, a insensibilidade, a morte, enfim, as mazelas da sociedade capitalista e
excludente esto intercruzadas nos labirintos, nos becos do homem. E nessa conjectura, a
outra voz que habita o poeta registra a marca, ainda que suja, da vida humana. Portanto, a
poesia a outra voz que habita o individuo e possibilita ao mesmo versar sobre as coisas do
mundo e sobre questes intrnsecas ao homem, suscitando discusses que vo alm do
tempo e do prprio ser humano. As anlises empreendidas fundamentam-se em discusses
propostas por Fonseca (2006 e 2013), Gullar (1989), Paz (1993), e Pereira (2000).
Palavras-chave: Poeta; Poesia; Solido; Modernidade; Jorge de Souza Araujo;
1. CONSIDERAES INICIAIS
As mudanas na esfera social relacionadas ao crescimento da civilizao e da
produo de mercado traz a necessidade de (re)pensar a poesia no mundo
conturbado e demonaco, oposto virtude crist. Essas mudanas proporcionadas
pelo crescimento das cidades mudam a dinmica das relaes humanas e
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
278
representaes artsticas. Neste contexto, a poesia refletir a nova condio de vida
gerada pela sociedade moderna: a exacerbada busca pelo lucro no mundo regido
pela produo de mercado. O mundo moderno dessacralizado e a poesia moderna
parte para um processo de ressacralizao, a recuperao de uma origem perdida.
Tendo em vista as discusses de Pereira (2000), a ressacralizao a partir da
poesia no se refere conciliao com o mundo religioso mesmo porque em relao
com o cristianismo a poesia estabelece uma ruptura, como na voz dos poetas
malditos, que trazem imagens e vozes diablicas de um mundo deplorado. A
ressacralizao, ento, entendida como o resgate das diferenas entre a relao do
homem com o mundo. Diferenas que aparecem e dialogam no processo criador
artstico. O poeta converte o mundo simblico de deuses e demnios e temas opostos
so colocados baila, muitas vezes, em um nico poema. No se trata, portanto, de
separar o religioso e o profano, mas coloc-los em confronto no mesmo patamar. a
partir do processo de fragmentao e da descentralizao da abordagem de opostos
no mesmo espao a lrica que a poesia restabelece a autonomia.
Esse mundo deplorado versado em os Becos do homem (1982) do poeta Jorge
de Souza Araujo. da secreo oriunda da inflamao da modernidade que este
poeta retira a matria do labor artstico, que no mais um poema romntico e
contemplativo, um poema sujo porque saiu da sujeira, das mazelas de uma
sociedade que mecaniza o homem na busca desenfreada pelo capital, que invade as
ruas e o prprio ser humano, alienando-o.
Jorge de Souza Araujo natural de Baixa Grande, Bahia. Licenciado em Letras
pela Faculdade de Filosofia de Itabuna, mestre e doutor pela Faculdade de Letras da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Poeta, pesquisador, professor universitrio,
ministra cursos, oficinas, seminrios e congressos por todo o pas. Militou em rdio,
teatro e jornalismo impresso. Tem publicaes na rea de poesia, prosa, teatro,
literatura infanto-juvenil e crtica literria.
O livro Becos do homem foi publicado em 1982 pela editora Antares, e 2 edio,
em 2006, pela editora Via Litterarum. Este livro est organizado em seis blocos: As
falas, Os enigmas, Os seres, Mortos & Sobreviventes, Munio & vveres e princpios
como proposta de debater sobre a poesia em si mesma e seu papel ante a ameaa de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
279
mecanizao do homem, hoje submetido aos rigores de um capitalismo desastroso,
que promove a misria da violncia e a violncia da misria (ARAUJO, 2006, p. 151)
2. O POETA PASSEIA NO MEIO DA MULTIDO
No mundo antigo, o poeta tinha o estatuto de Deus, um ser privilegiado que
beirava a perfeio, e a poesia coincidia com a palavra sagrada. No mundo moderno,
em que o sentimento de caos e crise circunda a vida moderna, medida que robotiza
os seres humanos no ritmo veloz da produo de mercado, o poeta perde o seu locus
original de divindade e a poesia deixa de lado a busca da transcendncia para relatar
o cotidiano.
Alelton Fonseca (2000) no texto O poeta na metrpole expulso e deslocamento
prope a discusso sobre a sensao de pertena e no pertena do poeta em uma
sociedade onde j no h um lugar definido para o poeta. No mundo das aes
prticas, o poeta recebe uma valorao ambgua - pode ser visto como elo que revive
a cultura uma vez que possibilita ver o mundo alm da razo, ou como elemento
margem da estrutura produtiva. Esta segunda caracterizao de pertena ou no
pertena do poeta engrenagem central da sociedade est vinculada a relao da
poesia como no geradora de lucro comercial, viso deste ofcio como fora dos
propsitos da sociedade da produo de mercado.
Sendo assim, j no h a crena na inspirao celestial para a criao da poesia.
O poeta desce do pedestal de ser privilegiado, guiado pelas musas inspiradoras, para
caminhar no cho quente de asfalto no meio da multido das cidades, respirar os
gases poluentes das grandes indstrias, passear entre os dejetos da sociedade
industrial.
Neste contexto, a cidade se impe como lugar fundamental e adverso do poeta
e da poesia. A rua em seu movimento e organizao o lugar que deve ser
frequentado, pois o poeta moderno sai procura da matria da poesia nas situaes
corriqueiras da vida. E a poesia nasce da inquietude do poeta frente s questes por
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
280
ele vivenciadas, nasce como desejo de reflexo e mudana de uma realidade
problemtica.
Segundo Gullar (1989), no sculo XIX se incorpora o satanismo na poesia, a
rebelio do poeta, que nega a viso teolgica sem se libertar dela. O divino e o
demonaco esto em conflito permanente na natureza humana. A contraposio do
divino com o satnico ser inscrita pelos poetas malditos, a exemplo de Baudelaire. O
satanismo aparece em oposio ao poeta bem comportado, que idealiza a realidade, a
fim de negar a exacerbada virtude propagada pela moral catlica e adotada pela
burguesia, constituindo-se, desta forma, como negao ao mundo burgus.
Para Baudelaire, como discute Berman (1986), o artista deve trazer para a
produo artstica as foras explosivas da modernidade, respirando no corao da
multido para de l retirar a matria de poesia, porque o poeta um solitrio em
meio multido de muitos outros homens solitrios. O poeta um homem comum
que convive com os problemas, anseios, experincias, partilhadas pelo grupo ao qual
est inserido. Sendo assim, Baudelaire demonstra, em suas produes, que a poesia
moderna exige uma nova linguagem sem ritmo e sem verso, uma linguagem
prosaica que nasce da observao da vida acontecendo na cidade.
justamente da matria do cotidiano, da exposio da opresso do sistema
capitalista sobre o homem, e como as foras da modernidade pervertem a
sensibilidade humana, que emerge a poesia de Jorge de Souza Arajo. Uma poesia
que mergulha nos becos do homem e de l extrai a substancia perdida de indivduos
perdidos e solitrios em meio multido de milhares de outros solitrios.
3. TEMPO DE CANTAR O FEIO
Esse o tempo de cantar o feio, reflete Jorge de Souza Araujo. A vida no
bela, por trs das fachadas luminosas que enfeitam as grandes e pequenas cidades, se
escondem as sujeiras, as emendas, os fios decapados da modernidade. O mundo
atual prosaico, conturbado, problemtico e a poesia deve acompanhar essa
mudana. Novos temas, abordagens, nova estrutura. A poesia, nesta instancia, exibe
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
281
o carter limitado e ilimitado da linguagem, nela h o no dito, expresso em lacunas
a partir da construo da linguagem. Rompe-se com o elo constitutivo do discurso
objetivo. O poeta, neste sentido, trabalha com a palavra transformando-a sem
obedecer a uma sequncia de regras, pois j no h espao para versos lricos, o
mundo moderno prosaico e problemtico; e a poesia hoje se tece da matria
tragicmica que se chama morte, avesso da vida, declara o eu lrico em Tempo de
cantar o feio:
J no h tempo
nem espao
para cantar intil canto
Tempo de napalam
e de funerais esses
no permitem versos lricos
nem comportamentos arrebis
ou arroubos ou alumbramentos
A poesia hoje se tece
dessa matria tragicmica
que se chama morte
- avesso da vida
(ARAUJO, 2006, p. 64)
A ltima estrofe de Tempo de cantar o feio, expe que o poeta sai a rua e de l
retira a substancia de seu poema. Traz para a produo artstica as foras explosivas
da modernidade. A organizao da linguagem, a escolha lexical, a estruturao
sinttica reflete a vivencia da conturbada vida moderna, nela a palavra aparece como
pus, secreo de uma inflamao que corri a humanidade: o esvaziamento do eu na
massificao da sociedade de consumo:
Por isso nos perdemos
na rua
assim dbeis e bestas
soltos na voz do mundo que nos cobra
a crua palavra feita pus
dessa alegria adiada uma vez mais
(ARAUJO, 2006, p. 64)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
282
Na corrida da vida moderna e de toda a aspereza advinda com esse processo,
no h espao para feitos heroicos porque a vida humana conturbada. No temos
heris de comportamentos arrebis. Temos heris de sobrevivncia no tempo
fnebre, que cada dia deixa na nossa carne os germes da nossa morte: sobrevivncia
da violncia, da excluso social, de ditames polticos e administrativos, da alienao
do homem na corrida pelo capital, como podemos observar na poesia As pessoas da
urbe:
Essas pessoas apressadas que vedes passar
no tem pressa
tem medo.
So solitrias
e slidas em seu conformismo
Tem medo de barata e ratos-de-esgoto
medo de si mesmas
e seus fantasmas
medo de suas sobras na parede
medo de pensamento palavras e obras
[...]
essas pessoas apressadas da urbe morrem um dia
uma aps uma
vede!
(ARAUJO, 2006, p. 44)
Nessa poesia o tdio, a solido, a multido, a alienao, a exploso
demogrfica so temas evocados como componentes da subjetividade do homem
moderno, que tem medo de seus prprios medos.
No mais, as cidades das ltimas dcadas se organizam como um imenso
turbilho, redemoinho de novidades, ornamentada pela incerteza, medo, sentimento
de insegurana e instabilidade, pois a modernidade traz consigo a outra face do
desenvolvimento: a violncia, a marginalizao, o vazio existencial. Nesse cenrio, as
pessoas tendem a se isolar cada vez mais em ambientes fechados, aludidos pela
hiptese de um dentro fechado e seguro, criando um habitat de afastamento e
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
283
proteo, isolando-se em seu mundo das consequncias catastrficas da
modernizao, como podemos observar na poesia Apartartamental:
Uma noite dessas
O senhor do 302 jogou um cinzeiro na cabea do filho
E a cabea do menino abriu-se vermelho
O senhor do 302 desceu aflito as escadas com o filho no colo
O olhar dele (do senhor do 302)
Era medo maior que o mundo
E tudo se passou nas quatro paredes do 302
Eu nem pude ir l perguntar como vai a cabea
Do menino
Estou esperando reunio de condomnio para fazer
isto.
(ARAUJO, 2006, 54)
Em Apartamental podemos perceber como as relaes de vizinhana so
alteradas na nova dinmica de vida na urbe. No poema, o homem identificado a
partir da numerao do apartamento. Um morador observa uma cena atpica e
catastrfica na moradia ao lado, mas no passa de mero espectador; est preocupado
com os afazeres pessoais e profissionais e dentro desse universo de ocupaes no h
espao para uma ateno afetiva em demonstrar preocupao com o problema do
outro geograficamente prximo a ele. A demonstrao de preocupao pode esperar
para um momento em que outras atividades sero resolvidas, no caso especfico,
uma reunio de condomnio, sem data precisa, mas componente de um calendrio de
afazeres previamente estabelecido na agenda de muitos outros compromissos desse
homem urbano.
Em Declarao de poesia II, o eu lrico declara: queremos uma poesia que
assuma o tecido miservel, que se nutre das mazelas da modernidade para, assim,
denunci-las. Porque ao fazer isso lembra certas realidades camufladas para sugerir,
inspirar e insinuar mudanas de paradigmas:
Quero agora uma poesia patifa
que se exponha e denuncie
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
284
e assuma o seu tecido miservel
uma poesia que tresande dissolva
o amargo desamparo
da natureza pobre da linguagem
poesia que nada represente
seno seu estado mineral e gato
solicitante e enferma namorada
Quero uma poesia nojenta
que diga assim lugar comum lugarcomum
lugarcomumlugarcomum
e que coisa alguma seja smbolo imagem ou alegoria
e seja s nusea e vmito
enjoo maior do intil e vazio
definitiva outorga do nihil dixit
[...]
(ARAUJO, 2006, p. 76)
A poesia moderna, assim como exige uma nova estruturao de linguagem e
temas, tambm exige uma nova postura do leitor. Um leitor que seja co-criador de
significados, que preencha, com o seu prprio arsenal de significao, as lacunas da
linguagem traadas pelo poeta, pois esta a estratgia do poeta moderno: conferir ao
leitor o papel de co-criador, no mais uma postura meramente contemplativa e
passiva.
Depois de criar o poema, o poeta j no o tem como seu, nem pode se
reconhecer nele porque o poema passa nova significao, se torna a imagem-
matriz que cada leitor utiliza para a sua ressignificao, recriao em contato com ela,
cada leitor se defronta com a possibilidade de fazer despertar seu prprio arsenal de
imagens. (PEREIRA, 2000, p. 36). A poesia moderna no para ser contemplada
porque o funesto, a impureza, o obscuro, impera:
[...]
sim quero neste instante uma poesia srdida
que nenhum poeta nela se reconhea ou asile
e nenhum irmo bbado e solitrio a venha declamar
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
285
poesia azeda metfora do nada-tenho-a-declarar
poesia dos covardes dos incmodos dos supersrdidos
que renegue a si mesma filha neta e me do inconformismo
porque quero a poesia impotica
a poesia assptica a poesia improftica
que se avexe da epstola dessa fala inexpressiva
essa coisa discursiva e letal que a palavra natimorfa.
(ARAUJO, 2006, p. 76)
O poeta rel o mundo e as coisas a sua volta. Lana-se aos abismos da
existncia para de l revigorar uma sensibilidade humana quase perdida. Lana-se
aos abismos materiais, sociais e polticos de uma sociedade que cada vez mais
valoriza o ter em detrimento do ser. Questiona, problematiza e sentencia porque uma
das formas de resistncia e revoluo humana est na poesia:
O poeta um ser
muito justamente pueril
sentenciou o ministro
da Agricultura
beira do abismo:
e lanou-se
(ARAUJO, 2006, p. 106)
O poeta lana-se ao abismo para fecundar a esperana e a f nos homens. H
sujeira e podrido no mundo, mas essa podrido pode ser o hmus para fertilizar os
abismos humanos de esperana e f em novos tempos. No , com isso, negar a
modernidade, mas refletir sobre a proposta de ser moderno. E nessas condies se
encontra o poeta: passeando no podre para cultivar a esperana, que move a
humanidade, que move o mundo.
CONSIDERAES
Neste mundo fragmentado, no tumultuar das transformaes em todos os
setores da humanidade, j no cabe a mitologia nem a divindade do poeta. O poema
reflete as inquietudes do sujeito inserido num contexto de transformaes
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
286
tecnolgica, social e humana. O mundo moderno torna-se prosaico e a poesia
confunde-se com a prosa. Assim, o abandono das formas clssicas da poesia uma
exigncia da vida contempornea. O poeta o homem comum, no mais deseja, nem
pode, a condio de eleito dos deuses.
de posse dessas discusses que nos confrontamos ao ter contato com a
poesia de Jorge de Souza Araujo. Uma poesia que lateja na mente do leitor e, como
ebulio, promove um arsenal de imagens sobre o ser humano no vazio existencial,
perdidos nos desafios advindos com a modernidade que sobreleva a mquina
sensibilidade humana.
Em Becos do homem a misria, o tdio, a solido, a violncia, a intolerncia, a
insensibilidade, a morte, enfim, as mazelas da sociedade capitalista e excludente
esto intercruzadas nos labirintos, nos becos do homem. E nessa conjectura, a outra
voz que habita o poeta registra a marca, ainda que suja, da vida moderna.
Portanto, a poesia a outra voz que habita o indivduo e possibilita ao mesmo
versar sobre as coisas do mundo e sobre questes intrnsecas ao homem, suscitando
discusses que vo alm do tempo e do prprio ser humano. O homem no pode se
esquecer da poesia porque a poesia o habita a voz que clama de suas entranhas e se
materializa em forma de palavras. Se o homem se esquecer da poesia, se esquecer
de si prprio. (PAZ, 1993, p.).
Referncias
ARAUJO, Jorge de Souza. Os becos do homem. Itabuna: Via Litterarum, 2006.
BERMAN, Marshall. Baudelaire: o modernismo nas ruas. In: Tudo que slido
desmancha no ar: a aventura da modernidade. Traduo de Carlos Felipe Moiss e
Ana Maria L. Loriatti. So Paulo: Companhia das Letras, 1986. p. 129-165.
FONSECA, Aleilton. O poeta na metrpole: expulso e deslocamento. In:
FONSECA, Aleilton & PEREIRA, Rubens Alves (Orgs.). Rotas e imagens: literatura e
outras viagens. UEFS: Feira de Santana, 2000. p. 43-55.
__________________Por uma abordagem sensvel do poema. In.: FILHO, Miguel
Attie; ett all. Revista Poesia Sempre. Nmero 24. Ano 13, 2006.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
287
GULLAR, Ferreira. Poesia e realidade contempornea. In: Indagaes de Hoje. Rio
de Janeiro: Jos Olympio, 1989. p. 8-15.
PAZ, Octvio. A outra voz. Traduo de Waldir Dupont. So Paulo: Siciliano, 1993.
p. 133-148.
PEREIRA, Roberval Alves. Unidade primordial da lrica moderna: o tumultuado
aflorar de uma linguagem esquecida. In: FONSECA, Aleilton & PEREIRA, Rubens
Alves (Orgs.). Rotas e imagens: literatura e outras viagens. UEFS: Feira de Santana,
2000. p. 29-41.
SEVCENKO, Nicolau. Metrpole: matriz da lrica moderna. In: PECHMAN, Robert
Moises. Olhares sobre a cidade. Rio de Janeiro: UFRJ, 1994. p. 61-70.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
288
Eixo IV
Oralidades no trnsito das
culturas contemporneas
NARRADORES DE JAV:
histria e discurso.
Jorge Augusto de Jesus Silva
20
Clia Ribeiro
21
Resumo: O presente artigo busca discutir atravs do aporte terico da Anlise do Discurso o
filme Narradores de Jav, utilizando as categorias de interdiscurso, intradiscurso e
formao imaginria. Nosso objetivo identificar as relaes de poder que envolvem a
escrita da histria do vilarejo. A partir da necessidade de registrar a histria do povoado de
Jav os discursos presentes na obra iro expor a tentativa de objetivar a narrativa histrica
como tambm, iro evidenciar que a busca pelo enredo da comunidade inseparvel da
construo da prpria identidade. Assim, por meio dos dispositivos da AD, buscaremos
analisar os efeitos de sentidos presente na obra em questo.
Palavras-chave: Discurso, Histria, Interdiscurso, Identidade.
Introduo
O auge da teoria estruturalista ocorreu entre as dcadas de sessenta e oitenta
do sculo XX, e como nos diz Gregolin (2006), houve um esfacelamento da
lingstica acadmica ps-saussureana nesse perodo, mas marcadamente desde o
incio da dcada de 60, sob o efeito da teoria da Gramtica Gerativa, e a (re)leitura de
Marx, Freud e Saussure, por Levi-Strauss, Lacan, Althusser e Derrida. A anlise do
Discurso francesa surgiu nesse contexto como disciplina transversal fortemente
marcada por essa conjuntura epistemolgica. (Gregolin, Idem, p. 32). A autora
afirma ainda que houve, no perodo de 1960 1975, uma reestruturao disciplinar
em torno da lingstica.
Muitas disciplinas que hoje povoam os currculos dos cursos universitrios na
rea de linguagem marcaram nesse escopo temporal ao menos o seu inicio, ou da
declinaram graas aos estudos de Bevenistes, Percheux, Greimas, e outros. Podemos
citar vrias disciplinas que hoje envolvem a pesquisa em Letras: enunciao,
20
Jorge Augusto - Mestre em Estudos de Linguagem UNEB. Autor.
21
Clia Ribeiro - Especialista em Anlise do Discurso, co-autora.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
292
Lingustica Textual, Argumentao, retrica, semntica, a clssica filologia, algumas
delas ou tiveram suas estrutura modificada ou nasceram no prprio cerne dessas
discusses de meados do sculo XX na Frana, como foi o caso da Anlise do
Discurso de Linha Francesa (doravante denominada AD). Disciplina a qual a partir
de agora, centraremos nossas discusses.
A AD, surge, portanto dessa releitura empreendida por tericos franceses
sobre teorias nucleares do pensamento ocidental moderno, Marx, Freud e Saussure, e
marcando um corte, uma fissura com a lingstica puramente estrutural e a-histrica.
Aps a fase inicial, onde AD se concentra mais na anlise de textos polticos, graas a
conjuntura social da frana e a vinculao poltica de seus intelectuais com o Partido
Comunista Frances, o objeto de estudo da disciplina passa a vincular-se tambm a
semitica junto com a lingstica pois, no sentido de que, mesmo tendo ainda que
vincular o seu objeto de pesquisa uma materialidade lingstica a AD no se
restringe a anlise de objetos verbais, pois, trabalhando com a idia de anlise de
discurso e no da estrutura da lngua, qualquer materialidade lingstica torna-se
portadora de sentido sendo ela verbal ou no-verbal.
O rompimento entre lingstica e AD como disciplinas distintas marca-se
definitivamente quando a AD em detrimento da anlise estrutural da lngua, insere a
histria como constituinte do sentido do texto. Surgia ento uma teoria do discurso
que considerava a histria como elemento central da constituio do sentido,
portanto, a AD, em recusa ao fechamento estrutural da lingstica sincrnica traa
uma teia densa de interdisciplinaridade que ir marcar de forma decisiva a histria
da disciplina gravitando em seu entorno, o Marxismo, a Lingstica e a Psicanlise,
dialogando com essas trs disciplinas a AD se volta para o externo lngua,
buscando entender como os sentidos so construes discursivas. A respeito dessa
interdisciplinaridade nos diz Orlandi,
a AD herdeira das trs regies do conhecimento: Psicanlise,
Lingustica e Marxismo - no o de modo servio - (...) Interroga a
Lingustica pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o
materialismo perguntando pelo simblico, e se demarca da
psicanlise pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a
ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser
absorvida por ele. (ORLANDI, 2003 p. 20).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
293
a partir da importncia da histria na constituio do sentido que
empreenderemos nossa anlise do Filme, Narradores de Jav, apoiados no aporte
terico da AD, buscando identificar as formaes ideolgicas que cercam as noes
de histria postas em jogo no cenrio terico desenhado. Para tanto, passemos uma
leitura parafrstica do intradiscurso da narrativa, buscando pontuar aspectos centrais
no enredo, para posteriormente buscar analisar a formao ideolgica de seus
discursos.
O Filme
O filme Narradores de Jav, 2003, dirigido por Eliane Caff, em 1h e 40 min,
relata por meio do gnero drama a histria de um vilarejo chamado Jav e de seus
habitantes. O elenco do filme composto por importantes nomes do cinema Nacional
como: Jos Dumont, Mateus Nachtergaele, Nelson Xavier e Nelson Dantas.
Narradores de Jav foi indicado como o melhor filme do Festival do Rio,
segundo os jris, popular e oficial, melhor filme e melhor roteiro no 3 Festival
Internacional do Filme Independente de Bruxelas.
Jav um vilarejo fictcio que est prestes a ser inundado para a construo
de uma hidreltrica e como meio para tentar salvar Jav a populao resolve se
unir para escrever a histria local, na tentativa de transform-lo em patrimnio
cultural a ser preservado. A partir da uma trama ir se formar trazendo a tona
histrias particulares/peculiares para compor a histria do povoado. O filme
Narradores de Jav, lana num primeiro momento, por meio da necessidade da
contao das estrias de seus moradores, a relevncia dos fatos histricos,
preservados atravs da oralidade, para a construo simblica, cultural de um povo.
Contudo, surge um novo problema e uma nova necessidade, Jav um
vilarejo pequeno e constitudo, em sua maioria, por analfabetos, o nico escriba
capacitado para a tarefa parece ser Antonio Bi. Este por sua vez, j fra expulso da
localidade por inventar estrias a respeito dos moradores a fim de movimentar a
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
294
agncia dos correios onde trabalhava e evitar assim o fechamento do mesmo, e a
perda de seu emprego. Antonio Bi conhecido por florear as noticias e
acontecimentos a respeito dos moradores. O papel do historiador pode ser
comparado ao que Bi assume dentro da narrativa quando ao reunir os fatos e relatos
acaba interferindo na histria. Nesse sentido, podemos perceber a existncia de uma
relao de poder que permeia a coleta dos fatos Javlicos. Aquele que
alfabetizado, apesar de em outra situao j ter sido expulso de Jav agora
chamado a regressar ao vilarejo por ser o nico morador capaz de registrar as
memrias de Jav.
No tecer da trama iremos perceber que a histria ganha cores e sabores a
partir de quem as conta. Os sujeitos retratam os fatos partindo de sua histricidade e
sua formao discursiva. Em Jav, os narradores so mltiplos e mltiplas sero
suas verses. A seguir nos deteremos mais em algumas questes levantadas at
aqui e levantaremos outras que se faam necessrias ou proveitosas para a
compreenso da obra.
Intradiscursos
O relato de uma comunidade que levada a pensar sua existncia, a partir de
um hipottico marco zero, nos impe uma srie de abordagens, quase todas
perpassando a questo da histria, ou melhor, do estatuto de fico ou realidade, que
compreende o fazer historiogrfico. A narrativa aciona, da memria discursiva, uma
teia densa de interdiscursos, que remontam desde a montagem do Evangelho atravs
de vrios apstolos contando a mesma estria, passando por Hmero, que catalogou
na Ilada e na Odissia, grande parte das rapsdias, estrias orais, da Grcia antiga,
at os novos pressupostos tericos da Nova-Histria, que considera diferentes vozes
na construo do discurso histrico.
Na tentativa de imaginar a comunidade (Andersen, 2008) e fundar o senso
de pertencimento coletivo, (Hall, 2001), os narradores se empenham em privilegiar,
nos relatos orais a busca do mito de origem, onde evidente a representao dos
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
295
heris e do mtico, elementos comuns nas literaturas de origem ou nacionalistas,
caracterstica do romantismo literrio. Na obra, esses personagens so encarnados
pelas figuras de Mariadina herina e feiticeira, ou Indalcio heri.
Como j foi dito, o que a comunidade vislumbrava era escrever a grande
histria do Vale do Jav, para atravs de seu valor simblico, impugnar a
construo da represa que os desalojaria. S que essa histria se embasaria em
mtodos cintficos para que pudesse ser aceita pelo Estado. Essa condio de
cintificidade veio a originar um dos principais dilemas expressos no filme: a relao
dicotmica entre saber cintifico x saber popular, que no filme , mais
especificamente, encarnada pela relao tensa entre oralidade e escritura.
Porque a escritura o lugar do estanque, da institucionalizao, e da verdade.
Enquanto a oralidade o espao do dinmico, do popular, e da diversidade. Ambas
encarnam cada uma a seu modo a tenso inerente a linguagem quando buscamos
adentrar seu campo discursivo, tenso que segundo Orlandi (2003), estrutura-se em,
parfrase e polissemia.
Os processos parafrsticos so aqueles pelos quais em todo dizer h
sempre, algo que se mantm, isso , o dizvel, a memria. A parfrase
representa assim, o retorno aos mesmo espaos do dizer. Produzem-
se diferentes formulaes do mesmo dizer sedimentado. A parfrase
esta do lado da estabilizao. Ao passo que, na polissemia, o que
temos deslocamento, ruptura de processos de significao. Ele joga
com equvoco. (ORLANDI, 2003, p 36)
Assim a escritura, ou seja, a institucionalizao de um discurso significa a
tomada do poder, atravs da linguagem, e a sua manuteno atravs da parfrase,
por um determinado grupo social, o que opera a interdio de discursos atravs do
Direito exclusivo, ou privilgio do sujeito que fala (FOUCAULT, 1970). Essa
tentativa de tomada de poder atravs da palavra representada vrias vezes ao
longo da narrativa, todas as vezes que algum quer impor seu relato como verdade,
em detrimento de todos os outros relatos.
A soluo sugerida pelo autor do filme, a certa altura da narrativa, no
escrever nenhuma estria, pois como diz o personagem Bi: no h mo que d
razo aquelas histrias. E aqui voltamos questo da escritura como verdade;
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
296
escrever dar razo. E quem se insurge contra a razo? Ou melhor, quem se insurge
contra a verdade? Est a delineada grande parte do questionamento da narrativa, a
saber: Histria ou estria, onde fico, onde realidade? um questionamento,
tambm, sobre a iseno do pesquisador frente ao objeto de pesquisa em histria.
Mas a tenso entre realidade e fico certa hora extrapola a disciplina historiogrfica
e estabelece outra dicotomia, entre Literatura e Histria, a primeira encarnando o
floreio do fato atravs da escrita como queria Bi, e a segunda o relato do fato,
como exigia a cincia.
A narrativa caminha nos apontando a impossibilidade da cientificidade do
relato histrico, o que fica impresso na impotncia de Bi em escrever a narrativa
fundacional da comunidade de Jav. Fato que ele se props a fazer apenas, na
ultima cena do filme, quando o povoado j havia sido destrudo. Porm, aponta que
o faz dando espao a polifonia e a polissemia construindo uma narrativa permeada
pelas vrias vozes, longe da cientificidade exigida pelo livro que seria entregue ao
governo para embargar a construo da hidreltrica.
As relaes de poder tambm aparecem no decorrer da narrativa em diversas
formas e encarnada por relaes que sempre impunha como uma das partes o
narrador da grande estria de Jav, Bi. Pois, sendo ele, autoridade que julgaria
o que era, enfim, a Histria oficial daquele povoado, passou a gozar de repentino
prestgio entre seus habitantes, j que foi a ele delegado escrever o discurso que
interditara todos os outros.
importante salientar que, os termos: Jav, livro da salvao e grande
parte dos nomes prprios no filme, remetem narrativa bblica, o que nos possibilita
uma leitura do filme que busca atravs de um dilogo interdiscursivo com o livro
Sagrado question-lo enquanto relato verdico, e situ-lo enquanto uma narrativa
estrica e fundacional como todas as outras, relativizando seu status de verdade e
seu poder de interdio. Esse gesto de interpretao possibilitado quando
atentamos para o fato de o povoado se chamar: narradores de Deus, (que a
traduo de Jav), ou seja, em um trocadilho nada ingnuo, quem narra a histria
da comunidade, narra a histria de Deus e est por sua vez, est na bblia. Assim,
para concluir o seu projeto de questionar a autoridade e veracidade das narrativas
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
297
fundacionais, o autor, questiona a narrativa paradigma, buscando apontar o carter
poltico e ideolgico presente em qualquer narrativa histrica.
Portanto a narrativa a forma de resistncia simblica encontrada pela
comunidade para no desaparecer, ou seja, reencarna-se a milenar ttica oriental das
mil e uma noites de Sherazade narrar para no morrer. Assim, o povoado,
atravs da narrativa, opera uma srie de procedimentos que lhes permitir eternizar-
se: a inveno da tradio, o mito fundacional, a figura do heri, e o passado
histrico aonde se constroem a identidade local. Identidade essa que permeia entre
silenciosa e silenciada toda narrativa.
Zygmunt Bauman (2004), discorrendo sobre o tema da idntidade, nos aponta
dois tipos de comunidade: as de vida e de destino. Primeiro os membros vivem
juntos numa relao absoluta , segundo as que so fundidas unicamente por
idias ou uma srie de princpios. O autor sustenta que as idntidades s so
questionadas, ou pensadas quando so deslocadas: a questo da idntidade s surge
com a exposio a comunidades de segunda categoria . Ou seja, dialogamos com as
idias de Bauman para dizer: quando o indivduo levado a pensar sobre a
identidade, porque est se encontra ameaada, suprimida, negligenciada, ou
preterida dentro das relaes de poder que o cercam.
exatamente assim, que ocorre em Narradores de Jav quando a busca
pela narrativa da comunidade inseparvel da busca pela prpria identidade. a
identidade local a nica que nos dada, adquirida de nascena, mas, nem essa
possibilidade tinham os moradores de Jav, pois a prpria comunidade no tinha
identidade para lhes fornecer, da a necessidade urgente de se pensar o local, no
apenas, como sugere superficialmente o filme, para embargar as obras da represa,
mas sim, para cada morador saber e compreender quem seriam fora da localidade.
Sobre a questo da narrativa e da identidade importante ratificar que, o
enredo do filme inclui um homem que conta a histria de Jav, estando em outra
comunidade, aps a destruio do povoado. Isso aponta para o sucesso do
empreendimento dos narradores que perpetuaram a comunidade, pois al est ela,
simultneamente na mesa de um bar, num livro e num filme, eternizada e, de certo,
plural, como aponta as ultimas falas do filme, cada um que escreva a sua. O
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
298
questionamento da narrativa enquanto histria oficial se deu em uma narrativa
ficcional, e dentro desta uma narrativa conta a outra, em uma teia metalingustica
que parece nos querer apontar para o dever de auto-questionamento que deve
permear o fazer histrico, ou qualquer outra forma de narrativa ou pretenso de
verdade absoluta.
Como uma smula, do exposto at aqui gostariamos de pontuar dois
momentos chave no filme Narradores de Jav: Em sua primeira entrevista Bi,
personagem central (no principal) na narrativa, explica, ao morador que ir relatar
seus causos, o porqu de usar lpis e no caneta na escrita das estrias. O que nos
aponta, sem dvida, para a possibilidade de re-escritura eterna da histria, j que
esta no passa de uma estria elevada ao status de verdade por relaes de poder
que permeiam discurso e sujeitos na sociedade. A outra cena ocorre j perto do fim
da narrativa, quase quisa de concluso, quando Bi, admite que no escreveu
histria nenhuma e argumenta que esta no seria suficiente para salvar o povoado e
um outro personagem lhe diz: se Bi j no valia nada, sem Jav, vale menos
ainda, essa fala nos parece uma sntese da breve discusso feita acima, sobre o
sujeito e sua identificao com o local, o indivduo e sua identidade. Pois, se o sujeito
ps-moderno descentrado e fragmentado, justamente no territrio aonde se
busca, muitas vezes, a utopia de um resqucio de unidade. Cremos que nessas duas
metforas: a histria escrita a lpis e o homem valendo menos sem o territrio, so
nortes imprescindveis para que possamos verticalizar a anlise desse filme e
compreend-lo na sua diversidade de abordagens. Acrescentando, claro, a narrao
enquanto ferramenta pela qual, esses processos discursivos se tornam possveis. Pois,
recorrendo de novo a Sherazade, temos que salientar que: se a narrativa garante a
vida, perpetua junto com ela, o ato de narrar, a inveno, novas estrias, e permite
assim o movimento polissmico da identidade e da histria.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
299
O interdiscurso: memria discursiva e a construo da memria.
Como discutimos na introduo, a relao entre linguagem e histria que
estabelece os sentidos de um enunciado, de um signo. A historicidade do sujeito e do
enunciado parte constituinte do sentido. Para AD no h sentido apenas na
linguagem em si. na relao com a histria e graas a ela que o sentido se instaura e
se multiplica em vrias direes. O que determina tambm o aspecto mltiplo e
instvel do objeto estudado na AD, em nosso caso, no a materialidade do filme
propriamente dita que guarda todos os efeitos de sentido e discursos que o
significam, mas sim a teia densa de interrelaes entre discursos, as diferentes
maneiras de acionarmos e significarmos o interdiscurso, como nos aponta Brando,
Sobre a relao interdiscursiva, Maingueneau (1984) adota uma
oposio mais radical ainda ao proclamar o primado do interdiscurso
sobre o discurso. E isso o leva a afirmar que a unidade de anlise
pertinente no o discurso mas um espao de trocas entre vrios
discursos convenientemente escolhidos (BRANDO, 2004, p. 89)
Essa caracterstica da AD delega interdiscursividade, ou memria discursiva,
papel central, dessa forma, como nos aponta Brando (2007) a anlise de um discurso
construda estabelecendo sua relao com outros discursos. Assim, estabelece-se
que no h discurso original, nem originrio, h a relao entre historicidades
contextos e linguagem, na formao do sentido. Portanto, buscaremos atravs do
interdiscurso do filme Narradores de Jav acionar sua memria discursiva e
atravessar a opacidade de seu discurso.
Portanto, com base na noo de interdiscurso, que estamos buscando a
anlise discursiva de Narradores de Jav. Utilizamos aqui o conceito de
interdiscurso conforme trabalhado por Orlandi,
o conjunto, o todo, a dominante, das formaes discursivas. O
interdiscurso o conjunto do dizvel, histrica e linguisticamente
definido. Pelo conceito de interdiscurso, Pcheux nos indica que
sempre j h discurso, ou seja, que o enuncivel, (o dizvel) j est a e
exterior ao sujeito enunciador. (Orlandi, 2007, p. 87)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
300
De posse do conceito, veremos como as discusses empreendidas pelo filme
nos lanam a alguns eixos centrais de problematizao, todos presentes no
interdiscurso. O mais nuclear deles a impossibilidade histrica, por essa
expresso entendamos a impossibilidade de compreender a histria como uma
narrativa generalizante e homognea, portadora da verdade. A Filosofia da histria
desde Nietzsche e antes dele, tem se preocupado com o papel da histria na
sociedade. As propostas do filsofo alemo para a histria eram as de questionar a
validade da histria que usava o passado como objeto de culto e venerao, sem
extrair apenas o que nele era grande. Para o filsofo, apenas o passado que servisse
para melhorar o presente era digno de ser lembrado.
Algumas das mais fundamentais concepes de Nietzsche foram retomadas
por Foucault, na Frana da dcada de 60, e discutidas em suas obras As Palavras e as
Coisas e principalmente Arqueologia do Saber, o que essas idias foucaltianas
sugeriam que a concepo de uma histria linear e evolutiva fosse substituda pela
noo de descontinuidade e ruptura. Em suma, para Foucault (2005) em Arqueologia
do Saber, os novos estudos em histria deveriam privilegiar a descontinuidade em
detrimento da linearidade, e a histria e o documento deveriam ser desligados do
papel de memria, passando estes a serem estudados atravs da organizao, recorte
e estabelecimento de sries, fundando-se com esses pressupostos a Histria
arqueolgica. Da qual o autor cita como algumas de suas conseqncias: a
multiplicao das rupturas na histria das idias; a noo de descontinuidade toma
lugar importante nas disciplinas histricas; comea a se apagar, o tema e a
possibilidade de uma histria global. O que se desenha nesse perodo com esses
estudos de Foucault, e antes na Revista Analles na Frana dos anos 20, e tem sua
origem como dissemos em Nietzsche uma ruptura com a idia tradicional de
histria. Ou seja, a concepo de histria como fato, verdade relativizada na ps-
modernidade. A histria passa a ser compreendida como uma construo discursiva,
sendo assim, entendida como discurso imerso nas relaes de poder que configuram
o tecido social. A partir de ento, eram necessrias algumas perguntas, como: quem
escreve a histria? E de onde fala quem a escreve?
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
301
Essas mudanas tericas na concepo de histria causaram grande impacto
em algumas reas das cincias humanas, como filosofia e literatura. Em filosofia
contribuindo para a transformao e questionamento do conceito de Histria, e em
Literatura, imbricando de vez o fazer histrico e o literrio como demonstra em seus
estudos a autora, Linda Hutcheon, para quem a presena da histria na potica ps-
moderna ocorre de forma paradoxal, pois, a histria resgatada, mas para ser
ironizada, problematizada, como em Memorial do Convento de Jos Saramago, ou
Viva o povo Brasileiro de Joo Ubaldo Ribeiro. No h, em relao histria, uma
postura de crena e obedincia como se costumava ter antes das transformaes
tericas empreendidas no campo da histria pelos estudos da arqueologia de
Foucault, e dos tericos da Nova-histria, Burk, Le Goff, Certeau, entre outros.
Com base nesse resgate histrico para problematizar a prpria histria que
resgatada, a autora desenvolve o conceito de metafico historiogrfica que:
Refuta os mtodos naturais, ou de senso comum, para distinguir
entre o fato histrico e a fico[literatura]. Ela recusa a viso de que
apenas a histria tem pretenso verdade, por meio do
questionamento da base dessa pretenso na historiografia e por meio
da afirmao de que tanto a histria como a fico so discursos,
construtos humanos, sistemas de significao, e a partir dessa
identidade que as duas obtm sua pretenso verdade.
(HUTCHEON, 1991)
Ou seja, a discusso, empreendida no filme, em que, como citamos a
cientificidade e a verdade da Histria contraposta caracterstica ficcional da
literatura tem sua memria discursiva imersa nas discusses tericas sobre nova-
histria e literatura moderna, e mais, nas teorias do discurso, j que ambas, literatura
e histria, passam a ser entendidas e estudadas como discursos ideologicamente
marcados. Assim, quando a personagem de Antnio Bi, diz que vai florear as
histrias que lhe so contadas e o lder da comunidade se ope instaura-se o embate
entre a cientificidade e a cultura popular, ou entre as concepes de Histria
Tradicional e Histria Nova.
Outra abordagem que nos permitir acionar o interdiscurso em torno do filme
a idia de progresso como pilar das polticas de desenvolvimento nacional. Embora
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
302
distinta do primeiro aspecto trabalhado como interdiscurso constituinte do sentido
em Narradores, a saber, a histria, este, o progresso, guarda com o primeiro,
intersees que se tornaro mais clara, no desenrolar da anlise.
As primeiras aparies acerca da concepo de evoluo, desenvolvimento e
progresso, surgiram no pensamento nacional, justamente quando a nao se
emancipava enquanto tal, quando as naes europias, desenvolvidas e civilizadas
serviam como modelo a ser seguido. Dessa forma, desenvolver-se, tinha modelo e
nome: Europa. Aps a independncia a idia de progresso deu-se paralela a de
modernizao, desenvolver-se modernizar-se. A partir de ento foi grande a
aplicao do lema positivista impresso em nossa bandeira, nas vrias frentes da vida
nacional. Para iniciar em 1922 a semana de arte moderna de So Paulo, marca de
forma decisiva a vontade de modernidade que deveria emergir na sociedade
nacional, depois, com o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, vimos a previso
de desenvolver a indstria e o mercado nacional proporo de 50 anos em apenas
5, adicionado a isso, a Braslia de Lcio Costa e Niemayer, no apenas como uma
cidade, mas um signo de modernidade e desenvolvimento. Poderiamos descrever e
discorrer inumerveis aparies do projeto progressista na poltica e nas letras da
nao, mas nosso intuito aqui outro, apenas pontuar a existncia desse discurso
de progresso e mostrar como ele significa no filme Narradores de Jav.
Na obra em questo justamente progresso a palavra mais silenciada na
narrativa. Como expresso no filme, a idia de destruir uma comunidade inteira em
detrimento da vontade de progresso, reencena inmeros fatos antigos e recentes,
como o genocdio indgena pelos colonizadores para tomada de terras, e atualmente
a instalao da Hidreltrica de Belo Monte, projeto do Governo Federal que levar ao
desalojamento de reservas indgenas no Amazonas.
O que nos interessa entender que a noo de progresso tal como ela foi
encenada na poltica nacional desde que a nao era colonizada uma idia que
custou muito caro: primeiro, se desenvolver-se era ser igual ao europeu, no
poderamos ser negros, e a exclu-se o negro do projeto de formao da nao, antes
disso, precisamos nos livrar dos ndios para usar a terra de forma a desenvolver a
economia e os matamos, por ltimo no af de modernizarmos construmos
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
303
metrpoles com problemas bsicos de saneamento e esgoto. Terminamos
construindo uma modernizao para ver, processo que a muito custo est se
adequando a realidade nacional atravs de polticas recentes de incluso e reparao
para as classes populares.
Essa realidade nos leva obviamente a pensar a quem serve esse projeto de
progresso que permeou a histria nacional, de forma to desorganizada e aleatria,
com projetos visionrios e cidades futuristas em meio a problemas elementares de
sade, emprego e educao. Quem geria e gerava esse projeto de progresso nacional,
as custas da prpria nao? De certo, essa questo nos indicar a formao ideolgica
dos discursos que formulam as concepes de histria e progresso em Narradores de
Jav.
O interdiscurso que concretiza os sentidos na materialidade lingstica
estudada por tanto, um apanhado das discusses sobre a histria nas cincias
humanas, aonde na verdade o autor do filme, busca contrapor duas noes de
histria, a hegeliana, a histria tradicional e a nietziniana ou foucaltiana, que deram
origem a nova-histria. E a noo de progresso que permeia a formao poltica do
estado brasileiro. Esses dois eixos centrais, constituem as relaes de fora e sentido
que habitam atravs do interdiscurso as formaes ideolgicas no discurso do filme.
Formao Ideolgica
A ideologia encontra como uma de suas formas de materializao o discurso,
nele que a superrestrutura e a linguagem estabelecem relaes significantes,
constituindo-se o discurso como um dos aspectos materiais da ideologia pode-se
afirmar que o discurso uma espcie de pertencente ao gnero ideolgico (Brando,
2007. Pg 47). Ainda segundo a autora, ao analisarmos a relao da ideologia com o
discurso, dois conceitos chaves despontam como centrais, o de Formao Discursiva
(FD) e o de Formao Ideolgica (FI).
As FD inscrevem-se nas FI como espaos de dizeres que institucionalizam o
que pode e o que deve ser dito (Courtine, 1981), dessa forma as FD so dizeres
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
304
institudos e legalizados para reafirmar a ideologia a que pertencem, estabelecem-se
a partir de um vasto campo parafrsico de afirmao do mesmo, ou seja, da mesma
ideologia. dessa forma que a interpretao se transforma em uma maneira de
reafirmar os poderes que a materialidade lingstica expes ou institui, contra a
evidncia da interpretao que se posiciona a AD, pois, toda interpretao j data,
como ideologicamente marcada pela FD, de onde o enunciador se posiciona. o que
Orlandi (2000) nos alerta com o nome de transparncia da linguagem. A linguagem
no transparente por isso a AD busca atravessar sua opacidade estabelecendo a
relao da lngua com a histria e o sujeito, atravs dos feixes que ligam o discurso e
a ideologia que os profere, estando essa, em ltima instncia, sempre relacionada as
estruturas econmicas da realidade social,
o funcionamento da instncia ideolgica deve ser concebido como
determinado em ltima instncia pela instncia econmica na
medida em que ele aparece como uma das condies (no-
econmicas) da reproduo da base econmica, mais especificamente
das relaes de produo inerentes a esta base econmica.
(BRANDO, 2007, p. 46)
Portanto, no h discurso descaracterizado ideologicamente, neutro diante as
tenses e polaridades da sociedade na qual se inscreve, pois se o signo enquanto
linguagem neutro, ou melhor, arbitrrio, tanto em Saussure quanto em Pierce, isso
quer dizer que o signo no tem significado em si, ele dado em relao a outros
significados e no caso da AD, em relao ao exterior e a histria. Dessa maneira a
relao do enunciado com seu contexto e sua histria que o significam, essa
inscrio dos efeitos lingusticos na histria que a discursividade (Orlandi,2000.
Pg 47), da a impossibilidade da neutralidade, j que cada contexto enunciador
significar conforme seu prprio interesse. Porm a questo que essa significao
no se d na superfcie do enunciado, mas sim, sob a poeira de sua opacidade, ou
seja, no se d, na lngua, nem na linguagem, mas no discurso. E muitas vezes a
revelia de quem a enuncia. Pois a FI no pertence ao sujeito, mas a posio sujeito
que ele ocupa quando enuncia, como nos diz Orlandi:
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
305
devemos ainda lembrar que o sujeito discursivo pensado como
posio entre outras. No forma de subjetividade mas um lugar
que ocupa para ser sujeito do que diz, (M.Foucault, 1969), a posio
que pode e deve ocupar todo sujeito para ser sujeito do que diz. O
modo como o sujeito ocupa seu lugar enquanto posio, no lhe
acessvel, ele no tem acesso direto a exterioridade (interdiscurso)
que o constitui. (ORLANDI, 2000, p. 49)
Ento buscando atravessar a opacidade da linguagem em Narradores de Jav,
o que nos interessa , a partir do interdiscurso j aqui discutido, delimitar a FI do
filme. H uma ironia que atravessa toda a narrativa, que o fato da comunidade
chamar-se Narradores de Jav, de fato h nessa denominao a inteno de nos
remeter a busca de uma origem, um comeo. Essa origem o que marca a identidade,
Zygmund Bauman, em Identidade (2000), discute a busca da identificao como uma
condio que somente perturba aquele a quem sua identidade tida como natural foi
deslocada, ou questionada. justamente o que aparece no Filme em questo, mas a
estamos diante da grande ironia da obra, que a seguinte: A histria da civilizao
ocidental moderna em grande parte um dilogo ininterrupto com o paradigma da
narrativa bblica, no sentido de estabelecer o mito de origem. As naes fundaram
seus nacionalismos no mesmo modelo bblico de forjar uma origem e uma tradio
para o povo.
A partir, do momento em que o autor explicita a impossibilidade de escrever a
histria dos Narradores de Jav, com base nos pressupostos positivistas da histria
tradicional pautada no fato e no documento, como exigido pelo lder comunitrio
no filme, a histria tem que ter base cientfica, ele est relativizando a prpria
narrativa bblica e, por conseguinte, toda a narrativa histrica do mundo ocidental. A
questo que discretamente o autor nos impes : Se impossvel escrever a histria
com base num pressuposto nico de verdade do fato, que histria essa que
conhecemos como nossa? Quem a escreveu? E aqui pela primeira vez encontramos a
FI do filme, pois, atravs desses questionamentos o autor expe o carter arbitrrio e
social da histria. Quando Robsbawn (1999) disse que o Nacionalismo um
fenmeno visto do alto ele disse justamente que a Histria escrita do alto, ou seja,
pelas camadas dominantes socioeconomicamente, como tambm nos aponta Certeau,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
306
A histria era, antes de tudo, obra de justificao dos progressos da
F ou da Razo, do poder monrquico, ou do poder burgus. Por
isso, durante muito tempo ela se escreveu a partir do centro. Os
papis representados pelas elites do poder, da fortuna, ou da cultura
pareciam ser os nicos que contavam. A histria dos povos se dilua
na histria dinstica, e a histria religiosa na da igreja e dos clrigos.
Fora dos grandes autores e das letras eruditas no havia literatura. A
partir do centro irradiava-se a verdade, qual eram comparados
todos os erros, desvios ou simples diferenas por isso, o historiador
podia legitimamente situar no centro sua ambio de escrever uma
histria autntica e total. O que escapava ao seu olhar era apenas
resto suprfluo, sobrevivncia anacrnia, silncio
cuidadosamente entendido ou simples rudo sobre o qual se evita
falar. (Certeau, apud. Le Goff, 2005).
Nesse ponto chegamos ao que Brando (2007) denominou como a relao da
materialidade lingstica sempre em ltima instncia com a superrestrutura,
definindo a FI.
Se a histria escrita do alto justifica-se o fato de Antnio Bi no ter
conseguido escrever uma histria que se oficializasse para representar a comunidade
e impedir o seu apagamento geogrfico. Pois, as camadas populares tm o direito
escrita da histria interditado. Por isso, a histria dos Narradores de Jav, escrita,
pelos populares, como sinalizada no final do filme, destituda das bases de
cientificidade, objetividade, e verdade exigidas para a transformao da comunidade
em Patrimnio Cultural, o que sinaliza a existncia de outra histria silenciada e
marginalizada nos pores do esquecimento da histria oficial. Dessa forma, nos diz o
autor que a histria ocidental serve ao poder, a camada economicamente dominante
da sociedade.
Outro recorte do interdiscurso que nos permite sinalizar a FI do filme a idia
de progresso, que sinalizamos acima. A noo de desenvolvimento e progresso to
caros poltica nacional de incio dos anos trinta estendida durante parte do regime
militar e incorporada a vontade de formao do Brasil como grande nao, de certo
um projeto Burgus. O filme mostra a destruio da comunidade para construo de
uma represa, sem em momento algum demonstrar preocupao estatal com o
destino das pessoas da comunidade do Vale do Jav. O silncio sobre a questo na
verdade expe o discurso da justificao do progresso, ou seja, no h nada nem uma
comunidade sua herana e sua cultura, ou um grupo de pessoas nem de interesses
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
307
comunitrios, nada pode atrapalhar o desenvolvimento e o progresso da nao. De
certa forma, o autor do filme satiriza, ou melhor, ironiza o projeto de
desenvolvimento nacional, apontando que a medida que este processo predatrio de
desenvolvimento se desenrola a nao vai devastando sua memria e sua gente.
A FI expressa no filme , portanto, contrria a noo homogeneizante de
histria, e a noo capitalista de progresso, por julgar que ambas servem ao poder
institudo e reafirmam atravs de suas produes simblicas, sociais e econmicas as
desigualdades presentes na sociedade. Em Narradores do Jav, h a vontade de uma
escrita histrica que oua as vozes sociais de forma democrtica, como tambm, a
ambio de propor um novo modelo de desenvolvimento socioeconmico, mais
inclusivo e mais humano, onde a construo do progresso tecnocientfico no
signifique negao da identidade e das histrias da nao.
Referncias
Achard, Pierre...[et al.] Papel da Memria. 2 Ed. Campinas, So Paulo. Pontes
Editores.
Anderson, Benedict. Comunidades Imaginadas. So Paulo: Companhia das Letras,
2008
Bauman, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
Brando, Helena Nagamine. Introduo anlise do discurso. 2 ed. Ver. Unicamp.
Campinas, 2004.
Courtine, Jean- Jacques. Metamorfoses do Discurso Poltico: Derivas da fala
pblica. So Carlos: Clara Luz, 2006.
Fiorin, Jos Luiz. Linguagem e Ideologia. 8 ed. rev. atual. So Paulo: tica, 2006.
Foucault, Michel. A ordem do Discurso. 17 Ed. Edies Loyola. So Paulo, 2008.
Gregolin, Maria do Rosrio. Foucault e Pcheux na anlise do discurso: dilogos &
duelos. 2 Ed. So Carlos: Clara Luz, 2006.
Gregolin, Rosrio Maria. Discurso e Mdia: a Cultura do Espetculo.1 ed. So
Carlos. Clara Luz, 2003.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
308
Hall, Stuart. Identidade Cultural na Ps-Modernidade. 11 ed. Rio de Janeiro. DP&A,
2006
Hall, Stuart. Identidade Cultural na Ps-Modernidade. 11 ed. Rio de Janeiro. DP&A,
2006.
Hobsbawn, Eric. Naes e Nacionalismos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
Orlandi, Eni P. Anlise de discurso. Princpios e procedimentos. Campinas, SP:
Pontes, 1999.
Orlandi, Eni Puccinelli. As Formas do Silncio: no movimento dos sentidos.
Campinas, SP 6 Ed. Editora da Unicamp, 2007.
Orlandi, Eni. P. Lngua, Conhecimento Lingustico Para uma histria das idias no
Brasil. 1 ed. So Paulo. Cortez, 2002.
Ortiz, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. So Paulo: Brasiliense, 2006.
Possenti, Srio. Ainda sobre a noo de efeito de sentido. In: Anlise do Discurso:
as Materialidades do Sentido. 1 ed. So Paulo. Clara luz, 2001.
Risrio, Antnio. A Nova Histria Oficial do Brasil. in: A utopia Brasileira e os
Movimentos Negros. 1 ed. So Paulo. Editora 34, 2007.
ORALIDADE, IDENTIDADE E REPRESENTAES:
Quem somos e qual a nossa voz?
Tatiane Malheiros Alves
IFBaiano / Uesb-PPGCEL
tatiane.alves@guanambi.ifbaiano.edu.br
Rita de Cssia Mendes Pereira
Uesb-PPGCEL
ricamepe@hotmail.com
Resumo: As prticas sociais de uso da lngua circundam por sistemas complexos e que
transitam do aspecto terico-cientfico ao aspecto pragmtico. Nesse vis, as atividades
humanas esto vinculadas a formas diferenciadas de comunicao e interao que exigem
dos seus falantes competncias e habilidades para se expressar com eficcia. A pluralidade
na qual se inscrevem essas possibilidades de interagir tem modificado o cenrio das
pesquisas lingusticas no Brasil direcionando-as a ressignificar os problemas que permeiam o
ensino de uma lngua materna viva e mutvel. Torna-se, pois, inevitvel inserir as
manifestaes lingusticas orais como objeto de estudo em vrias reas do conhecimento. No
entanto, o que se observa que, durante muito tempo, a fala foi considerada espontnea e,
pois, relegada no contexto da educao bsica. Com a nova roupagem que a escola assume
diante do processo de democratizao do ensino, os gneros discursivos orais exigem
ateno e anlise por parte dos pesquisadores, a fim de aproximar os currculos escolares da
realidade dos grupos estigmatizados e silenciados pelo poder que exerce a norma padro nos
contextos de interao verbal. Essas constataes foram motivadoras para a investigao
acerca dos perfis identitrios e fixao de esteretipos diante dos falares marcados pelas
variaes lingusticas que se erguem nas interaes entre alunos e professores. As
observaes iniciais e incitantes dessa pesquisa demonstram que a oralidade ainda
negligenciada nas prticas de ensino; como resultado, a fala do aluno e, tambm, de
professores conduzida ao submundo do erro gramatical ou, no extremo, intimidao e ao
silenciamento dos prprios sujeitos. As manifestaes discursivas desses alunos comportam
traos identitrios e representaes estereotpicas que interferem no comportamento e no
desempenho escolar dos discentes e so frequentemente apontadas como entraves ao ensino
de lngua materna, alm de se mostrarem associadas a meios sociais e culturais inferiores.
Os dados foram coletados mediante observaes diretas e cotejados com os discursos
enunciados aps formao de grupo focal com os alunos matriculados no 1 Ano da
Educao Profissional Tcnica Integrada ao Ensino Mdio, ofertado pelo Instituto Federal de
Educao, Cincia e Tecnologia Baiano, no campus de Guanambi-Ba, alm de entrevistas
estruturadas com professores de diversas reas. Os resultados demonstram que a
responsabilidade com os discursos orais faz-se urgente no contexto das polticas lingusticas
e culturais cujas metas devem estar aliadas educao da lngua no pautada na tolerncia
da diversidade, mas alicerada na alteridade e no dilogo das diferentes identidades. Os
dados cotejados percorrem na contramo dessa perspectiva, pois as variaes lingusticas
desprestigiadas alm de evidenciar contornos identitrios fixos e inegociveis, provocam
preconceitos, estigmas e o assujeitamento dos falantes que deveriam encontrar, neste espao
de educao formal, conhecimentos para desenvolver as competncias de comunicao.
Palavras-chave: Oralidade; Identidade; Estereotipia; Preconceito.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
310
4 APRESENTAO
Lngua e identidade esto dialeticamente relacionadas e no podem ser
pensadas fora do contexto das relaes sociais, do espao no qual os discursos se
concretizam com flexibilidade e naturalidade. Os discursos entrelaados manifestam
ideologias e sustentam uma hierarquia lingustica, que esto em estreita correlao
com as relaes de poder. Lngua e linguagem devem ser consideradas, pois, como
um elemento crucial na anlise das relaes entre os sujeitos.
As interaes entre lngua, indivduo e sociedade ocorrem por meio do
discurso e sobre elas se estruturam as identidades sociais, profissionais e pessoais
dos interlocutores. Entretanto, ancoradas na contingncia e na indeterminao, as
identidades so sempre transitrias. Em um contexto de globalizao e de constante
transformao, os processos identitrios so fundamentais ao autorreconhecimento
dos sujeitos, mediante a individualizao do seu outro e construo de leituras
especficas do mundo. tambm por meio do discurso que so fixados esteretipos,
replicados, mais ou menos conscientemente, pelos atores sociais.
A presente pesquisa est ancorada em uma experincia pedaggica
desenvolvida em um ambiente escolar marcado por atos de constrangimento e
imposio ao silncio: as salas de aula do 1 ano dos cursos de Agropecuria e
Agroindstria, na modalidade da Educao Profissional Tcnica Integrada ao Ensino
Mdio, ofertados pelo Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia Baiano, no
campus de Guanambi-Ba, nos anos de 2012 e 2013. Pretende-se, pois, suscitar as
discusses luz das bases tericas da Lingustica Aplicada e dos Estudos Culturais.
As abordagens recentes da Lingustica Aplicada tm repercutido no campo
educacional e aportado importantes questionamentos sobre os diferentes usos da
lngua materna, postos em evidncia com o processo de universalizao do acesso
escola, especialmente a partir da segunda metade do sculo XX. A chegada escola
de novos atores, com demandas polticas e sociais especficas, e, nomeadamente,
advindos de contextos lingusticos diferenciados, reclama dos professores uma
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
311
reconfigurao do trato com os problemas com a lngua materna, agora no mais
concebida como fixa e imutvel, como prope a gramtica normativa.
5 Quem somos e por que falamos assim?
Os conflitos sociais e de origem potencializam-se no ambiente escolar em
razo do processo de ampliao do acesso escola que, no Brasil, se desenvolve a
partir da dcada de 1970. Desde ento, e especialmente desde o incio do sculo XXI,
com a difuso de polticas de incluso e reparao, amalgamam-se, nas instituies
de ensino, os saberes e os modos peculiares de expresso de indivduos provenientes
das vrias esferas sociais. A quebra de unicidade e homogeneidade decorrente da
chegada de novos sujeitos provoca uma crise das velhas identidades e a instabilidade
dos grupos que, outrora, ocupavam, em privilgio, os espaos das salas de aula:
Velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo
social, esto em declnio, fazendo surgir novas identidades e
fragmentando o indivduo moderno, at aqui visto como um sujeito
unificado. A assim chamada crise de identidade vista como parte
de um processo mais amplo de mudana, que est deslocando as
estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando
os quadros de referncia que davam aos indivduos uma ancoragem
estvel no mundo social (Hall, 2005, p. 7).
Mais que isso, as identidades reveladas nesse novo contexto sob a marca da
descentralizao, da fragmentao e da transitoriedade demandam uma reviso
dos sistemas conceituais. Para Bauman (2005, p. 18), em nossa poca lquido-
moderna, o mundo em nossa volta est repartido em fragmentos mal coordenados,
enquanto as nossas existncias individuais so fatiadas numa sucesso de episdios
fragilmente conectados.
Os novos Parmetros Curriculares Nacionais de Lngua Portuguesa (PCNs),
elaborados no final da dcada de 1990, representaram, na opinio de Bagno (2007) e
Rojo (2000), um avano considervel no atendimento s demandas da Educao
Bsica em todo o territrio nacional. Os PCNs do Ensino Fundamental elencam as
competncias e habilidades que os alunos devem adquirir e esto direcionados para
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
312
uma perspectiva sociopoltica que prope o respeito aos registros lingusticos,
considerados inerentes s identidades sociais dos sujeitos.
22
Os resguardos designados em prol de uma educao lingustica ali propostos
so resultantes de uma srie de manifestaes poltico-pedaggicas propositivas de
uma democracia lingustica, que desaprovam a concepo de erros na fala dos
sujeitos e desguam em propostas educacionais antenadas com os processos
identitrios dos alunos. No entanto, passados 15 anos desde a sua implantao,
professores e alunos ainda compartilham a perspectiva de que a lngua materna um
organismo fixo e imutvel, alm de tentar, inocuamente, engessar as identidades dos
falantes em um processo de gramaticalizao que dissocia as prticas lingusticas dos
contextos nos quais elas se realizam.
Entender as identidades como fixas assumir uma posio essencialista diante
de um elemento to malevel, vivo e cambiante que a identidade. Comunidades
guarda-roupa a expresso utilizada por Bauman (2005, p. 37) para exemplificar a
situao em que os atributos se revelam e so construdos. Os sujeitos so impelidos
a assumir determinadas identidades e a anul-las, quando necessrio. Lopes (2006, p.
139) conclui: dependendo das relaes de poder existentes exercidas em prticas
sociais particulares, o mesmo indivduo pode estar posicionado em identidades
sociais contraditrias.
A presente pesquisa toma como objeto de investigao os alunos
primeiranistas dos Cursos Tcnicos Integrados em Agroindstria e Agropecuria que
ingressaram na Instituio no primeiro semestre de 2012. Recm-chegados, tais
estudantes exibem comportamentos idiossincrticos e, ao longo do primeiro ano de
escola, a percepo das diferenas toma contornos de conflitos e resistncias ou
provoca mudanas no modo de agir e se expressar.
A investigao sobre esteretipos e processos identitrios entre esses
sujeitos foi realizada com o contributo dos prprios alunos que se prontificaram a
responder e participar das discusses.
22
Parmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental Lngua
Portuguesa. Braslia: MEC/SEF, 1998.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
313
Como procedimento inicial da pesquisa, dedicamo-nos a analisar as imagens e
discursos dos alunos primeiranistas convidados participar de um grupo focal cujo
momento foi marcado pela espontaneidade nos relatos sobre as identidades e as
representaes.
Esse mtodo objetiva obter dados qualitativos a partir das percepes dos
envolvidos sobre em tema em epgrafe. Com formaes reduzidas, os sujeitos-
pesquisados sentem-se a cmodo para expor as situaes conflituosas qual esto
expostos diariamente, neste caso, s situaes de comunicao engendradas naquele
ambiente de educao formal.
Os cursos tcnicos em Agropecuria e Agroindstria somavam, no ano de
2012, 125 alunos de primeiro ano. Os ingressantes do curso de Agroindstria so
alocados em uma nica turma, com 40 alunos, enquanto o curso de Agropecuria
abriga, anualmente, 85 alunos, divididos em trs turmas.
O curso de Agroindstria agrega 67,5% de alunos oriundos da sede de
Guanambi. 17,5% dos alunos desse curso so egressos de escolas da rede particular
de ensino e 27,5% declararam receber rendimentos do Programa Bolsa Famlia. Dos
alunos do curso de Agropecuria, 40% so oriundos da prpria zona urbana de
Guanambi e apenas 6% so egressos de escolas particulares.
Quanto ao perfil socioeconmico, a renda mensal familiar informada pelos
alunos dos dois cursos varia entre meio e cinco salrios mnimos. A maioria se
enquadra na faixa de um a trs salrios mnimos. Para alunos enquadrados neste
perfil e oriundos, em sua maioria de cidades pequenas, carentes de infraestrutura e
de investimentos na educao pblica, compor o quadro discente de um Instituto
Federal se constitui em um privilgio s acessvel a poucos, tanto mais porque,
segundo dados divulgados pelo Ministrio da Educao, durante os ltimos quatro
anos, os alunos do IFBaiano Guanambi vm ocupando a primeira posio em
desempenho no Enem, entre as escolas pblicas do municpio.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
314
6 Esteretipos, Preconceito e Invisibilidade
A oralidade um importante recurso comunicativo que motivada por atos
individuais voluntrios faz parte das prticas sociais e contribui para sustentar o
poder de determinados grupos.
Os indivduos so (in)conscientemente impelidos a relacionar, analisar ou
avaliar a oralidade do outro ou o grupo ao qual o outro pertence. Empreita complexa
e que pode recorrer em injustia e em falso juzo decorrentes de uma desigualdade
lingustica e cultural. Valendo-se de uma investigao histrica e literria, torna-se
legtimo afirmar que ajuizar e classificar simploriamente e com impropriedade
determinadas manifestaes orais da lngua ou mesmo os grupos aos quais essas
variaes esto vinculadas uma praxe humana.
Paralelamente, os falantes da lngua, por meio dos registros lingusticos orais
que lhes concedem ou no o prestgio social, so alvo de processos estereotpicos ao
tempo em que, por tautocronismo, a prpria lngua contribui para sustentar o poder
de determinados grupos sociais, ou seja, a lngua assume ativa ou passivamente o
papel na construo dos esteretipos e do preconceito.
Para explicar as bases causais do preconceito, Pereira (2002) adita fatores como
a dominao social, a integrao das ameaas e a hierarquizao. As ideologias de
dominao utilizam de diversos recursos para legitimar e convencer a sua
superioridade diante dos outros grupos. Essa atitude percorre duas vertentes: de um
lado, os grupos inferiorizados pelas massas aceitam a condio nfera a que so
submetidos como se essas diferenas tivessem origem sobre-humana, admitem-se,
pois, a opresso e o fomento s polticas pblicas de hierarquizao social; de outro,
os grupos que, filiados ao lema dos revolucionrios franceses, promovem conflitos a
fim de levar a cabo os muros que cerceiam o contato entre os sujeitos.
A teoria da integrao das ameaas reconhece e isola os fatores que
desencadeiam o preconceito. Esses fatores podem ser visveis, ou seja, reais ou,
simplesmente, simblicos. E, medida que as atitudes preconceituosas se dissipam,
os fatores so ocultados e retirados da sociedade, no entanto, h casos em que os
fatores reais no podem ser dissimulados, como por exemplo, um falante da lngua
que no domina a variante urbana de prestgio no pode ser privado de pronunciar e
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
315
comunicar utilizando a fala, dessa forma o sujeito no se esquiva de atitudes
preconceituosas, pois as razoes que incitam o preconceito esto explcitas. Somado
aos fatores reais e simblicos, tem-se o afetivo. Nessa situao, os sentimentos de
incomodidade, hesitao e dvidas so expressos formalmente pelos membros do in
group
23
que veem sua fala como superior e conduzem a uma defesa ou proteo de
contato com os membros do out group. (PEREIRA, 2002).
A fixao de esteretipos lingusticos conduz discriminao que
corporificada, conforme Pereira (2002, p. 88), por meio da rejeio verbal e da
evitao. Comentrios corrosivos e chistosos enunciados no encalo das variaes
lingusticas conduzem o sujeito-discriminado invisibilidade social, ao
silenciamento e, no extremo, a agresses violentas.
7 A nossa fala nos representa?
H tratamento diferenciado no s da zona urbana para a rural, como
tambm de uma cidade para outra: Quando eu morei em So Paulo,
l tinha um preconceito muito grande quando chegava pessoa daqui
l, daqui da regio, do Cear... nordestino. Preconceito pelo que ela
fala, e dizem assim: Ahh, no come nada, s farinha mesmo t
bom.
Uma vez eu briguei na escola porque vi uma menina fazendo, e
pensei que no podia deixar, pois minha me tambm baiana.
Mas quando chegou aqui, o caso mudou de lado. As pessoas tm
preconceito com a pessoa, simplesmente porque a pessoa de outro
lugar. Como o r, por exemplo, voc no v muito aqui agora, mas
quando eu fico brava, vou puxar o r pra tudo que lado.
Mas, quando eu cheguei aqui, o porta [referncia ao R retroflexo
alveolar vozeado], era mais aguado ainda. Ento as pessoas tinham
normalmente muito preconceito, ficava zuando, enchendo o saco,
justamente por causa disso (Mnica, 16 anos)
Esse relato de uma aluna que, durante as observaes realizadas, sempre se
posicionou margem da interao que existe entre os adolescentes dessa turma.
Visivelmente, Mnica no compartilha da mesma naturalidade nem dos mesmos
assuntos e da mesma maneira de pensar e se comportar de um grupo de
23
In group e out group so termos utilizados por Corona e Nagel (1978) para indicar os membros do
prprio grupo respectiva e antagonicamente queles que se encontram, no imaginrio popular e por
razes diversas, excludos do crculo de referncias.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
316
adolescentes, composto por seis meninas, que provoca e desrespeita alguns colegas
na sala de aula.
Mnica sente-se lisonjeada por poder falar e ser ouvida acerca de um tema to
nevrlgico que exala naquele ambiente: o preconceito. Para tanto, a aluna recorre
narrativa da prpria experincia pessoal e argumenta que a diferena e o preconceito
existem tambm quando se trata de pessoas advindas de cidades e regies diferentes.
A reao dos ouvintes ao som retroflexo alveolar vozeado que marca o dialeto
paulista da estudante indica a inexistncia de marcas lingusticas intransponveis:
Na verdade, estabelecem-se limites de acordo com determinadas
convenincias. o que nos mostram os estudos de Atlas Dialetais em
que no se encontram linhas precisas de demarcao de dialetos, mas
apenas certas reas de maior concentrao de um determinado
conjunto de caractersticas. Assim, difcil dizer onde acaba o dialeto
nordestino e comea o caipira, ou o carioca, e a distino do falar
gacho (TRAVAGLIA, 2008, p. 43).
O confronto entre identidades lingusticas de base regional deve-se
ignorncia sobre as inmeras variaes dialetais na imensa dimenso territorial do
Brasil. E ele potencializado pela obstinao, sustentada pelo sistema escolar, de se
trabalhar somente a norma culta da lngua, desvendando todos os seus meandros e
conceitos, em prejuzo de outras formas de expresso, desprestigiadas no ambiente
escolar, mas perfeitamente adequadas a determinadas situaes. Como resultado, os
alunos mostram-se alheios pluralidade regional, social e cultural que a lngua
comporta e utiliza das especificidades lingusticas para imputar sobre seus falantes
esteretipos jocosos que hostilizam as identidades de origem do sujeito.
No cenrio escolar, os atores sociais so instados a avaliar constantemente os
outros e a si mesmos. As interaes discursivas levam os sujeitos a pensar de que
maneira esto sendo vistos e, principalmente, ouvidos. Silva (2012, p. 91) esclarece:
aqui que a representao se liga diferena. A identidade e a diferena so
estreitamente dependentes da representao.
O dilogo torna-se, pois, ponto de conflito por ser a mola mestra na formao
da conscincia e dos respectivos construtos identitrios. A identidade do sujeito,
segundo Brait (2006, p. 123), se processa por meio da linguagem, na relao com a
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
317
alteridade. Bauman (2005, p. 19) adverte, entretanto, sobre a constante edificao
malevel das identidades identidades que flutuam no ar, algumas de nossa
prpria escolha, mas outras infladas e lanadas pelas pessoas em nossa volta - e
alerta para a necessidade de defesa das primeiras em relao s ltimas.
As identidades so assumidas e ressignificadas diante da necessidade que tm
os falantes de se apropriar de padres, que se impem na constituio complexa e
heterognea das identidades. No conjunto discursivo que se organiza no espao
escolar, as interaes entre interlocutores de identidades dessemelhantes levam
construo do si e do outro. Destarte, as interaes discursivas no podem ser
isoladas das relaes sociais e ideolgicas que se encontram no mago das palavras.
Valendo da assertiva bakhtiniana que atribui palavra uma carga ideolgica, a
representatividade lexical j seria razo suficiente para conceb-la na essncia das
construes ideolgicas subjacentes ao signo lingustico, que reclama uma
abordagem dos vnculos que existem entre linguagem e sociedade. Isso significa que
os textos percorrem uma via de mo dupla. Eles constroem e transformam a
estrutura da lngua, ao tempo em que se transformam como parte do enredo social.
Em outra turma, as observaes restringiram-se a dois meses apenas,
perodo de substituio da professora regente que se encontrava em gozo de licena
maternidade. Dessa forma, os dados coletados no sofreram incurses de teorias
sobre as variaes lingusticas, pois os alunos ainda no tinham assistido s aulas que
tratariam das concepes e da pluralidade da lngua.
Assim como nas demais turmas dos cursos Tcnico em Agropecuria, o
nmero de alunos no ultrapassa trinta e a maioria egressa de escola da rede
pblica de ensino. Dos 29 discentes devidamente matriculados nesta turma,
denominada aqui de Gama, apenas 3 so egressos de instituies particulares e
somente 11 so naturais de Guanambi. 10 alunos tm contato direto com atividades
agrcolas, pois seus pais so lavradores, logo, parte da renda adquirida por essas
famlias proveniente de atividades rurais. No entanto, os registros assinalam que
outros pais desempenham profisses mais urbanas, como motoristas, comerciantes e
agentes comunitrios.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
318
Nessa turma, os questionrios socioeconmicos indicam que o endereo
residencial de 7 alunos distribudo entre fazendas, comunidades e stios, isso
confirma que o contingente de pessoas provenientes da zona rural grande.
O fato de pertencerem a grupos sociais menores, sejam rurais ou urbanos, faz
desses sujeitos alvo de avaliaes e julgamentos que hostilizam suas identidades e
atribuem-lhes esteretipos que expressam desaprovao.
Induzido, no debate, a falar, sobre erros de portugus, o aluno Hermes
declara que eles so frequentes entre as pessoas do campo e exemplifica,
apontando para a colega Hera que utiliza o lexema frores ao invs da variante
culta flores. Sem detena, Hera ao ser incriminada toma o turno e confirma o que
j se observara durante as aulas: por isso que fico calada, fico com medo de falar e
todo mundo comear a rir; igual quando eu falo pren-drive.
A discente assume que acumula o peso da condio de negra, filha de pai
lavrador e me domstica, com renda familiar de meio salrio mnimo, egressa de
escola pblica e residente e domiciliada no Stio Curral Novo, o papel do outro a
elege fazer-se inaudvel diante dos eus que, no discurso e na prtica, recusam-se a
ser como ela.
As identidades no so intrnsecas ao indivduo. Segundo Lopes (2006, p.37),
elas so construdas no discurso e emergem na interao [...] agindo em prticas
discursivas particulares. Assim, o sujeito-aluno, ao apontar a colega como
transgressora de regras gramaticais, impe o seu poder sobre os outros, define um
conjunto de caracteres concebidos como ideal para a turma e considera como
agresso exterior tudo que excede a esse modelo:
Ao dizer algo sobre certas caractersticas identitrias de algum grupo
cultural, achamos que estamos simplesmente descrevendo uma
situao existente, um fato do mundo social. O que esquecemos
que aquilo que dizemos faz parte de uma rede mais ampla de atos
lingusticos que, em seu conjunto, contribui para definir ou reforar a
identidade que supostamente apenas estamos descrevendo (Silva,
2012, p. 93).
A queda da autoestima e o consequente silenciamento da adolescente que
fala errado resultam de um comportamento coletivo que naturaliza a crena na
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
319
homogeneidade da lngua em um contexto escolar marcado pela presena de
mltiplas identidades.
Na sequncia, a aluna Hstia pontua sua percepo sobre as diferenas entre
os sujeitos rurais e urbanos e afirma que h diferenas entre o povo da roa e da
cidade, quando eles vo ao banco, a gente percebe isso.
Hstia, neste momento, refere-se, de maneira generalizada, ao comportamento
das pessoas que no tm afinidade e no so conhecedoras das novas Tecnologias da
Informao e Comunicao, em especial, aquelas que saem da zona rural e se
dirigem ao permetro urbano, mas no conseguem acompanhar a dinamicidade dos
movimentos que concernem os centros comerciais.
Observa-se, pois, que Hstia tem em seu imaginrio uma representao fixa e
estereotipada dos sujeitos rurais, isso fica mais evidente quando a aluna acrescenta
que: aqui na escola, quando a gente fala errado ou faz alguma coisa errada, a gente
ouve logo: s podia ser mesmo da roa.
As pessoas refletem diferentes concepes estereotpicas. Hstia, ao ser
provocada sobre a representao que faz das identidades de origem rural, remete-se
instantaneamente ideia do homem do campo inserido em um ambiente
eminentemente urbano e tecnolgico o banco.
Alm disso, o termo roa que, objetivamente, significa uma propriedade
agrcola no portugus brasileiro, assume, no discurso de Hstia, uma categorizao
depreciativa, i.e., o sujeito que pratica alguma atividade vexatria automaticamente
julgado e caracterizado como provindo do meio rural.
Essa forma de avaliar e fixar esteretipos particular de cada sujeito e dos
fatores que o levaram a criar uma ideia pr-concebida do indivduo que pertence ao
out group. Esse conceito de atribuir o comportamento do sujeito ao ambiente agrcola
ou campestre formado, segundo Pereira (2002, p. 155), a partir de contatos e
experincias pessoais entre o percebedor e alguns membros do grupo objeto da
estereotipizao ou ainda a partir do contato com outros agentes de socializao
[...] mesmo sem que o percebedor tenha encontrado a oportunidade de estabelecer
contatos com qualquer membro do grupo alvo de estereotipizao.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
320
Serpa utiliza-se da metfora dos muros internalizados para tratar da
marginalizao daqueles que se encontram prejulgados e sentenciados ao submundo
da invisibilidade e da excluso, como a rotulao imposta por Hstia ao homem do
campo.
Vinte anos se passaram desde a queda do Muro de Berlim. [...] tenho
ouvido a afirmao recorrente de que o muro persiste enquanto
paisagem interiorizada pelos habitantes da cidade. [...] Onde buscar
esse muro internalizado? [...]
Tudo isso faz pensar nas cidades brasileiras, onde os muros tomam
conta da paisagem [...]. Berlim nos ensina que o muro forma-
contedo, produto e tambm processo, reflete e condiciona o modo
como uma sociedade lida com a diferena. O muro tambm produz a
diferena e radicaliza a ocultao do outro, transforma diferena
em segregao e desigualdade. (Serpa, 2009, p. A3).
O limite imaterial consolidado no imaginrio do aluno uma forma de
discriminao. O preconceito existe quando o indivduo pensa o in group como um
arqutipo das suas referncias e, ao mesmo tempo, identifica e repele o out group.
(PEREIRA, 2002, p. 77).
Aquele que julga, unifica e restringe a identidade do sujeito examinado ao
subtrair-lhe qualquer possibilidade de ser mais algum alm daquilo que se v.
Trata-se de um reducionismo identitrio, contra o qual Lopes (2006, p. 16) prope o
conceito de identidades fragmentadas, j que se entendem as identidades sociais
como envolvendo a classe social, o gnero, a sexualidade, a raa, a nacionalidade, a
idade etc. Todas coexistindo, ao mesmo tempo, na mesma pessoa.
Hstia no deixa claro se a forma como concebe o homem do campo baseada
em abstraes ou em exemplares. Por se tratar de uma adolescente que reside na
zona urbana e apresenta no seu convvio social contato com pessoas citadinas, a
concepo de sujeito rural expressa pela discente genrica e abrange um todo no
especfico. Segundo Pereira (2002) essa a tendncia das pessoas que avaliam o outro
pelas abstraes, pelo que ouve falar e, dessa forma, tende-se a ser mais extremista
em suas categorizaes.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
321
Consideraes finais
Os esforos empreendidos na busca por um ensino que valorize o indivduo,
sua cultura e sua identidade so muitos. O ensino de lngua materna destina-se a
preparar o aluno para se comunicar, para entender e fazer-se entender nas mais
diversas situaes.
Dominar a prpria lngua um recurso incontestvel ao acesso s demais
reas do saber. Logo, o ensino de Lngua Portuguesa no deve furtar-se tarefa de
possibilitar ao aluno o desenvolvimento de habilidades e das competncias
lingusticas, ponto de partida para a comunicabilidade e acesso s demais reas do
conhecimento. Todavia, os indivduos so ainda classificados de acordo com a
facilidade ou dificuldade de expressar na norma culta. Aqueles que, por essa
classificao, ocupam a condio de inferioridade manifestam, frequentemente,
desinteresse pelos contedos programticos e pela prpria escola e, o que mais
preocupante, tende a calar-se com receio das censuras e dos comentrios jocosos.
A teia comunicativa engloba o ato de fala, a enunciao, segundo Bakhtin
(2006, p. 113) tudo aquilo que, tendo se formado e determinado de alguma maneira
no psiquismo do indivduo, exterioriza-se objetivamente para outrem com a ajuda de
algum cdigo de signos exteriores.
Desconsiderar o que foi dito pelo aluno coibir as suas formas de expresso,
invalidar os elementos constitutivos de sua prpria histria, como seus pais, o lugar
de onde veio, as pessoas com as quais convive. Enfim, contribui para segregar ainda
mais um indivduo j to marcado pelos estigmas sociais. Ser professor no ser um
dspota que assume uma postura inquisitorial ao privar seus alunos de se
expressarem. Antunes (2003, p.45) argumenta que, para um aluno ser um bom
escritor, faz-se necessria uma atividade interativa de expresso, de manifestao
verbal das ideias, informaes, intenes, crenas ou dos sentimentos que queremos
partilhar com algum, para, de algum modo, interagir com ele. Ter o que dizer ,
portanto, uma condio prvia para o xito da atividade de escrever. No h
conhecimento lingustico (lexical ou gramatical) que supra a deficincia do no ter o
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
322
que dizer. As palavras so apenas a mediao, ou o material com que se faz a ponte
entre quem fala e quem escuta, entre quem escreve e quem l.
Referncias
ANTUNES, Irand. Aula de portugus: encontro & interao. So Paulo: Parbola,
2003.
BAGNO, Marcos. Preconceito lingustico: o que , como se faz. So Paulo: Loyola,
2007.
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. So Paulo: Hucitec, 2006.
BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Traduo de Carlos Alberto Medeiros. Rio de
Janeiro: Zahar, 2005.
BRAIT, Beth. Bakhtin: Conceitos-chave. So Paulo: Contexto, 2006.
CORONA, Lcia C. Guimares. NAGEL, Lzia Helena. Preconceitos e esteretipos
em professores e alunos. Petrpolis: Vozes, 1978.
HALL, Stuart. A Identidade cultural na ps-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A,
2005.
LOPES, Luiz Paulo da Moita. Identidades fragmentadas: a construo discursiva de
raa, gnero e sexualidade em sala de aula. Campinas: Mercado de Letras, 2006.
PEREIRA, Marcos Emanoel. Psicologia Social dos Esteretipos. So Paulo: E.P.U.,
2002.
ROJO, Roxane (Org.). A prtica de linguagem em sala de aula: praticando os PCNs.
So Paulo: Educ; Campinas: Mercado de Letras, 2000.
SERPA, ngelo. Muros internalizados. A Tarde, Salvador, Primeiro Caderno, p. A3,
1 ago. 2009.
SILVA, Tomaz Tadeu da. A produo social da identidade e da diferena. In: SILVA,
Tomaz Tadeu da. (Org.). Identidade e diferena: a perspectiva dos Estudos
Culturais. Petrpolis: Vozes, 2012. p. 73 a 102.
TRAVAGLIA, Lus Carlos. Gramtica e interao: uma proposta para o ensino de
gramtica. So Paulo: Cortez. 2008.
Eixo V
Literatura, alteridade e
polticas afirmativas
GRITARAM-ME NEGRA
Sou negra sim! E da?
Hildalia Fernandes Cunha Cordeiro
Faculdade D. Pedro II
hildaliafernandes@hotmail.com
Resumo: O presente trabalho se prope a apresentar um poema ritmado de Victoria Eugenia
Santa Cruz Gamarra, compositora e coregrafa afroperuana intitulado de Gritaram-me
negra sendo este fruto de uma vivncia da autora, ainda na infncia, e que narra episdios
racistas. Deseja-se, com tal comunicao, provocar reflexes a partir da anlise desse corpus
sobre processos de constituir-se como negra, processos de construo identitria e
pertencimento de ordem etnicorracial que envolvem e implicam necessria e inevitavelmente
em processos de autoconhecimento, autoconcepo, autoentendimento, autocompreenso,
autoconceito, autoaceitao, autoconscincia e autodefinio que podero desaguar em
construes identitrias positivas e sadias (FANON, 1979) para uma parcela significativa
da populao que historicamente tem sido estigmatizada e estereotipada e que por isso
mesmo acaba por sofrer psiquicamente, no mais das vezes, com distores de autoimagem
que podem culminar em autorrejeio e no aceitao do que se ! Tais processos no
costumam acontecer em guas tranquilas. Estas so, no mais das vezes, revoltas e,
portanto, essencialmente instveis. Mas, ainda que assim acontea, o que se pode notar com
as letras negras de Victoria, a serem compartilhadas nesse artigo, que a possibilidade de
resistir e no sucumbir alm de possvel e vivel, sempre alternativa para manter a
dignidade, a beleza e a humanidade do povo negro. E assim sendo, o gostar do que v
refletido no espelho, o real e belo fentipo negro-africano apresenta-se como inadivel e
imprescindvel, rebatendo, dessa forma, a crena e a internalizao do racismo que tentaram
impor sobre o corpo e valores negros. (Des) colonizar corpos e mentes e propor novas
referncias, as que so ancestrais, para pensar em concretizar o que Pinho (2004) apresenta
que a possibilidade de: Nascer preto, tornar-se negro e conceber-se humano,
humanidade essa por tanto tempo negada e interditada para tais povos so desejos, tambm,
desse artigo. Processos que possam alcanar a (auto) aceitao, a (auto) realizao e a
emancipao. Assim sendo, objetiva-se, ainda, destacar o caminho percorrido pela poeta em
seus processos de tornar-se o que se , mulher negra, fortemente imbricados com a histria
do movimento literrio iniciado nas Antilhas na dcada de 40 e denominado de Negritude
(CSAIRE, 1935). Memrias, experincias e literatura se mesclam para compor a trama ora
tecida com o intuito de apresentar possibilidades outras de ser e estar no mundo, diferentes
sim, mas nem por isso inferiores. Experincias de processos de tornar-se negra (SOUZA,
1979). Compartilhar histrias afrodiaspricas que mesmo marcadas por agruras, apontam,
tambm, para superaes das mesmas, via a afirmao do que se ! Esses so os desejos e
pretenses a que esse artigo se prope a alcanar. Para tanto, elegeu-se a Anlise de
contedo (BARDIN, 1977) como mtodo.
Palavras-chave: negritude; literatura afroperuana; identidade
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
326
1. APRESENTAO
Em nosso mundo fluido, comprometer-se com uma nica identidade
para toda a vida, ou at menos do que a vida toda, mas por um longo
tempo frente, um negcio arriscado. (BAUMAN, 2005. p. 96).
A comunicao ora apresentada se inicia com uma afirmao de Bauman
(2004) que aqui passa a se configurar como uma provocao. Em tempos que se
pretendem e se denominam, pelo menos para alguns, de lquidos, de fludos,
conforme o prprio autor aponta GRITAR uma identidade ser mesmo um negcio
arriscado? E para aqueles que nem ousam balbuciar a sua condio por que tem
quem o faa primeiro do que ele mesmo e sempre de forma ofensiva e pejorativa? E
os outros tantos que no tem a opo de faz-lo porque a alteridade j sentenciou o
que ele ?
O poema a ser compartilhado nesta comunicao, de autoria de Victoria
Eugenia Santa Cruz Gamarra, compositora e coregrafa afroperuana, intitulado de
Gritaram-me negra revela um episdio de racismo sofrido pela mesma na infncia
e que acaba por apontar para a necessidade de se aceitar e se assumir como se at
mesmo para que tal postura possa se configurar como forma contestao desse mal
que tem acompanhado a histria da humanidade e tanta dor tem causado, sobretudo
nas vtimas e nos alvos preferenciais com o passar dos sculos, sobretudo do perodo
da escravizao para frente que so os negros.
Sofrimentos de ordem principalmente psquica tem sido publicizados e
denunciados das mais diferentes formas ao longo da histria e encontra-se imbricado
nas memrias afrodiaspricas e ainda que o ato de racismo tenha se tornado, pelo
menos no Brasil, um crime imprescritvel e inafianvel, ainda assim, inmeras so
as denncias que explicitam a existncia do mesmo.
A construo, fabricao e divulgao de um padro de beleza e humanidade
acabam por intensificar os fenmenos e processos at ento narrados, criando
modelos a serem seguidos, sob pena de no serem aceitos. Paralelo a imposio desse
padro, h, tambm, a construo da suposta feiura, daquele que no se adqua a
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
327
tais padres. Cria-se ento, o que Mauss (1974) chamou de imitao prestigiosa
concebida como:
Existncia de uma construo cultural do corpo e nessa construo h
a valorizao de certos atributos e comportamentos em detrimento de
outros, fabricando, assim, (ou pelo menos se tenta, quase sempre
eficazmente) um corpo tpico para cada sociedade. Vale lembrar,
contudo, que tais construes e modelos a serem alcanados, variam,
sempre, de acordo com o contexto histrico e cultural. (MAUSS,
1974).
Muitos negros passam, assim, a procurar perseguir um ideal de ego branco
(SOUZA, 1983) e feridas narcsicas (SOUZA, 1983) surgem, acompanhadas de
identidades que Nogueira (1998) chama de fantasmticas.
a autoridade da esttica branca quem define o bel e sua contraparte,
o feio, nesta sociedade classista, onde os lugares de poder e tomada
de decises so ocupados hegemonicamente por brancos. Ela quem
afirma: o negro o outro do belo. esta a mesma autoridade quem
conquista, de negros e brancos, o consenso legitimador dos padres
ideolgicos que discriminam um em detrimento do outro. (SOUZA,
1983. p. 29).
O presente artigo objetiva, a partir do exposto, apresentar a poeta, autora do
corpus escolhido para essa comunicao, em seguida falar, ainda que brevemente, do
movimento literrio chamado Negritude, por perceber que a produo a ser
analisada encontra-se fortemente impregnada e influenciada por tal Movimento e
segue aprofundando um pouco mais a discusso em torno de processos de
constituir-se como negra, processos de construo identitria e pertencimento de
ordem etnicorracial que envolvem e implicam necessria e inevitavelmente em
processos de autoconhecimento, autoconcepo, autoentendimento,
autocompreenso (ou no), autoconceito (positivo ou negativo), autoaceitao ou
autorejeio, autoconscincia e autodefinio.
Ao final deseja-se, ainda, explicitar a construo da beleza e da feiura, os
reflexos da imposio desses padres nos processos de construo de ordem
identitria e como o autoconhecimento e o compartilhar de memrias afrodiaspricas
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
328
podem auxiliar, sobremaneira, no apaziguamento com a imagem que se v refletida
no espelho, aprendendo a se gostar e a parar de zanzar na encruzilhada identitria,
sem saber por qual caminho seguir.
(Des) colonizar corpos e mentes e propor novas referncias, as que so
ancestrais, para pensar em concretizar o que Pinho (2004) apresenta que a
possibilidade de: Nascer preto, tornar-se negro e conceber-se humano,
humanidade essa por tanto tempo negada e interditada para tais povos so desejos,
tambm, desse artigo. Processos que possam alcanar a autoaceitao, a auto
realizao e a emancipao.
2. NOTAS SOBRE A POETA: VICTORIA EUGENIA SANTA CRUZ
GAMARRA
Victoria Eugenia a autora do poema que constitui o corpus do artigo ora
apresentado e a mesma declara que se tratou de um episdio verdico de racismo em
sua tenra infncia e que posteriormente, j adulta ela decide por compartilhar com o
mundo como forma de protesto e denncia.
Nesse poema, Gritaram-me negra, pode-se perceber o caminho percorrido por
muitos negros que quase sempre sai de problemas de autoaceitao da autoimagem e
a depender da conduo dada ao processo poder culminar, ou no, conforme j
sinalizado anteriormente, ainda que de forma breve, em construes identitrias
sadias (FANON, 1979).
O interessante no corpus ora em estudo que a autora acaba por encontrar a
chave para reverter o processo negativo de autorrejeio que se encontrava pela
forma como a palavra negra foi dita e com a ajuda de outras memrias dos seus,
memrias que aqui chamaremos de afrodiaspricas, sobretudo as pertencentes ao
Movimento Literrio que se iniciou em Paris por volta de meados da dcada de 30 e
depois se propagou mundo afora e especialmente nas Antilhas, denominado de
Negritude, ela encontra meios de tornar o que era at ento e historicamente
negativo em positivo, devolvendo a pedra que lhe atiraram como sentencia Sartre
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
329
(apud SANTOS. 1987): Preto uma pedra que lhe atiraram; se voc atira de volta,
ser um negro.
Devido enorme repercusso e por ilustrar com fidedignidade episdios que
muitos dos nossos passam durante toda a sua existncia e pelo seu carter quase
didtico pedaggico de encontrar formas de sair do negativo, torna-se um exemplo
bem sucedido de como inverter a ordem e a lgica racista de tentar nos inferiorizar e
que muitos dos nossos acabam por internalizar e se transformar no que as palavras
sugerem e muitas vezes determinam quem somos ou que devemos ser.
Na pgina do Instituto Geledes encontra-se as seguintes informaes sobre a
mesma:
Estudou em Paris, na Universidade do Teatro das Naes (1961) e na
Escola Superior de Estudos Coreogrficos. Ao voltar a Lima fundou a
companhia Teatro e Danas Negras do Peru, que se apresentou em
inmeros teatros e na televiso. Este grupo representou o Peru nas
comemoraes dos Jogos Olmpicos do Mxico (1968), sendo
premiada por seu trabalho. Em 1969 realizou turns pelos EUA;
quando voltou a Lima, foi nomeada diretora do Centro de Arte
Folclrica, hoje Escola de Folclore. No primeiro Festival e Seminrio
Latino-americano de Televiso, organizado pela Universidade
Catlica do Chile em 1970, venceu como a melhor folclorista. Foi
diretora do Instituto Nacional de Cultura (1973 a 1982).(GELEDES,
s/d).
3. APRESENTANDO O CORPUS
O poema musicado e performaticamente apresentado pela Companhia Teatro
de Danas Negras do Peru o abaixo reproduzido:
Tinha sete anos apenas,/ apenas sete anos,/ Que sete anos!/ No
chegava nem a cinco!/ De repente umas vozes na rua/ me gritaram
Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra!/ "Por
acaso sou negra?" me disse/ SIM!/ "Que coisa ser negra?"/
Negra!/ E eu no sabia a triste verdade que aquilo escondia./
Negra!/
E me senti negra,/ Negra!/ Como eles diziam/ Negra!/ E retrocedi/
Negra!/ Como eles queriam/ Negra!/ E odiei meus cabelos e meus
lbios grossos/ e mirei apenada minha carne tostada/ E retrocedi/
Negra!/ E retrocedi .../ Negra! Negra! Negra! Negra!/ Negra! Negra!
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
330
Neeegra!/ Negra! Negra! Negra! Negra!/ Negra! Negra! Negra!/
Negra!/ E passava o tempo,/ e sempre amargurada/ Continuava
levando nas minhas costas/ minha pesada carga/ E como pesava!.../
Alisei o cabelo,/ Passei p na cara,/ e entre minhas entranhas sempre
ressoava a mesma palavra/ Negra! Negra! Negra! Negra!/
Negra! Negra! Neeegra!/ At que um dia que retrocedia, retrocedia e
que ia cair/ Negra! Negra! Negra! Negra!/ Negra! Negra! Negra!
Negra!/ Negra! Negra! Negra! Negra!/ Negra! Negra! Negra!/ E
da?/
E da?/ Negra!/ Sim/ Negra!/ Sou/ Negra!/ Negra/ Negra!/ Negra
sou/
Negra!/ Sim/ / Negra!/ Sou/ Negra!/ Negra/ Negra!/ Negra sou/
De hoje em diante no quero/ alisar meu cabelo/ No quero/ E vou
rir daqueles,/ que por evitar segundo eles / que por evitar-nos
algum disabor/ Chamam aos negros de gente de cor/ E de que cor!/
NEGRA/ E como soa lindo!/ NEGRO/ E que ritmo tem!/ NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO/ NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO/
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO/ NEGRO NEGRO NEGRO/
Afinal/ Afinal compreendi/ /AFINAL/ J no retrocedo/ AFINAL/
E avano segura/ AFINAL/ Avano e espero/ AFINAL/ E bendigo
aos cus porque quis Deus/ que negro azeviche fosse minha cor/ E
j compreendi/ AFINAL/ J tenho a chave!/ NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO/ NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO/ NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO/ NEGRO NEGRO/ Negra
sou! (GUAMARRA, s/d).
Conheamos agora, ainda que de forma breve o Movimento Literrio que
parece respaldar a escrita denncia da poeta, O movimento literrio da Negritude e
em seguida, faz-se um esforo de analisar o corpus a luz da Anlise de Contedo
(BARDIN, 1977).
4. BREVE HISTRICO SOBRE UM MOVIMENTO LITERRIO CHAMADO
NEGRITUDE
Duas obras foram essenciais e de grande valia na difcil tarefa de resumir em
poucas linhas esse Movimento Literrio ocorrido a princpio em Paris quando do
momento de alguns estudantes negros para l terem ido cursar a Universidade, por
volta de meados da dcada de 30 e posteriormente se propaga pelo mundo e se
destaca nas Antilhas e que tanto auxiliou a muitos dos nossos em seus processos de
autoconhecimento, autoconcepo, autoentendimento, autocompreenso,
autoconceito, autoaceitao, autoconscincia e autodefinio. Foram elas: Negritude:
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
331
usos e sentidos de autoria de Kabengele Munanga, publicado pela Autntica em 2009
e outra publicao de autoria de Zil Bernd intitulada de O que negritude,
pertencente coleo Primeiros Passos da editora Brasiliense em 1984. E com base
nessas publicaes que ouso sintetizar esse Movimento de tanta importncia na luta
de combate ao racismo e de valorizao do processo de tornar-se negro.
O Movimento foi definido pelo poeta antilhano Aim Csaire como: uma
revoluo ma linguagem e na literatura que permitiria reverter o sentido pejorativo
da palavra negro para dele extrair um sentido positivo mas que s ser denominado
de Negritude em 1939 em um trecho de uma publicao sua, de nome: Capier dn
retour ou pays natal - Caderno de um regresso ao pas natal (CSAIRE apud
BERND ,1988). Relata ele sobre o comeo do Movimento:
Por que eu disse negritude?
No de maneira alguma porque acredito na cor. No de maneira
alguma isso.
preciso sempre re-situar as coisas no tempo, na Histria, nas
circunstncias. No se esquea de que, quando a negritude nasceu, na
vspera da Segunda Guerra mundial, a crena geral, no liceu, na rua,
era uma espcie de racismo subjacente. H a selvageria e a
civilizao. De boa f, todo o mundo estava convencido de s havia
uma civilizao, a dos europeus - todos os outros eram selvagens.
Lembro-me ainda que, um dia em que eu estava perto da biblioteca
Sainte-Genevive, um grande tipo vem em direo a mim, um homem
de cor. Ele me diz: Csaire, gosto muito de voc, mas h uma coisa
que reprovo em voc. Por que voc fala assim da frica? um bando
de selvagens. No temos mais nada a ver com eles. Eis o que ele me
disse. terrvel! At mesmo os negros estavam convencidos disso.
Eles estavam penetrados de valores falsos. contra isso que se
tratava, e que se trata, ainda, de reagir.
E depois, um belo dia, Lopold Sdar Senghor disse: Estamos pouco
nos lixando! Negro? Mas sim, sou um negro! E da?! E eis aqui como
nasceu a negritude: de um movimento de humor. Dito de outra
maneira, o que era proferido e lanado na cara como um insulto
trazia a resposta: Mas sim, sou negro, e da?! (CESAIRE).
Vem-se, com as declaraes de Cesaire que se trata de reverter o processo
histrico de negativao de tudo que diz respeito ao processo de tornar-se negro e
ainda com o intenso intento de pensar os negros espalhados pela forada dispora
provocada pela escravizao como irmos, como uma grande famlia advinda do
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
332
continente africano. Sua proposta e ideia original de Grande famlia e de irmandade
permanece ecoando, ainda nos dias de hoje, na tentativa de povos negros de todo o
mundo unirem-se e solidarizar-se.
5. APONTAMENTOS SOBRE PROCESSOS DE CONSTRUO DE
IDENTIDADE DA MULHER NEGRA
As elaboraes e padres de beleza tem sido construdos e fortemente
influenciados a partir de ideais helnicos, considerados, historicamente como
princpios universais de classificao e julgamento de beleza, to distantes dos belos
e diversos fentipos negro-africanos. Nesse contexto, nessa tentativa, quase sempre
bem sucedida (pelo menos no que diz respeito a seguidores do mesmo) de imposio
desse modelo quase nrdico como nica possibilidade de beleza e humanidade, ao
mesmo tempo em que atraia sobremaneira, fazendo com que muitos realizem at
mesmo mutilaes que no comeam, nem se esgotam no plano fsico, , certamente,
no plano psquico que se encontram as maiores mazelas e, talvez, as mais difceis de
serem trabalhadas (re) feitas e (re) elaboradas.
Faz-se necessrio, ento, pensar a beleza como uma construo social, e,
assim sendo, anlises que passem por tais questes precisam, necessariamente, ser
sempre historicamente contextualizadas. O que pode ser notado o fato de que ao
longo do tempo, a noo de beleza vem sofrendo adaptaes as diferentes, mas
dentre as caractersticas que sempre estiveram presentes tem-se a harmonia nas
propores, da os eternos modelos serem a Vnus de Milo e o homem vitruviano
(DA VINCI).
O que h, incontestavelmente, uma busca por modelos, padronizaes e
mesmo que esse processo sofra alguns reajustes e alteraes (e sempre sofre), ao
longo do tempo, o que parece no mudar nesse desejo de encontrar um ideal de
beleza que trancafie toda a diversidade existente justamente a harmonia nas
formas e o cuidado com o equilbrio geral das propores para alcanar a perfeio,
sendo o modelo eleito como mais prximo da perfeio e o ideal a ser perseguido, o
grego.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
333
O que se precisa avanar na direo da descolonizao das mentes e corpos,
enfim, para que se possa realizar a construo do que cada um , a partir de
referncias muito mais prximas do real fentipo de cada um, no mais buscando,
muitas vezes, insanamente, perseguir um ideal de ego branco, conforme sinaliza
Souza (1983), irrealizvel para o povo negro.
O item a seguir busca refazer o caminho percorrido pela poeta e como o
conhecer da histria do seu povo e mais especificamente de um perodo da histria
dos seus, o movimento poltico-literrio chamado Negritude a auxiliou no descobrir
a chave para desmontar todo o artefato que vinha sendo construdo, sem trgua e
que tanto atrapalhava os processos de tornar-se o que se , dos seus.
Conhecer a sua histria se conhecer e se assim , compartilhar histrias e
memrias, mais especificamente aqui nessa comunicao, as afrodiaspricas, auxilia,
sobremaneira em tais processos de tornar-se mulher negra que segundo Souza
(1983):
A descoberta de ser negra mais que a constatao do bvio [...]
Saber-se negra viver a experincia de ter sido massacrada em sua
identidade, confundida em suas perspectivas, submetidas a
exigncias, compelida a expectativas alienadas. Mas tambm, e,
sobretudo, a experincia de comprometer-se a resgatar sua histria e
recriar-se em suas potencialidades (SOUZA, 1983. p. 17).
Nos permitamos, ento, conhecer o entrelaar de histrias e memrias
aparentemente individuais, mas que so, necessariamente, tambm , coletivas,
pertencentes sobretudo, a todos aqueles que nos antecederam e deixaram rastros
mais do que fortes e ntidos dos caminhos trilhados.
12.1 QUANDOS OS FIOS HISTRICOS E COLETIVOS SE EMBARAAM COM AS
HISTRIAS E MEMRIAS QUE PARECEM INDIVIDUAIS
O corpus ora em estudo apresenta episdios traumticos racistas sofridos pela
poeta desde a infncia quando ainda tinha a idade de 5 anos apenas.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
334
Vale comentar que o racismo ser concebido aqui como um mal estar
psquico (GUIMARES; PODKAMENL. 2012. p. 211) que acomete todas as vtimas
do mesmo e deixa seqelas as mais diversas, dificultando os processos de construo
identitria e que costuma deixar reverberaes, ecos a partir do silenciar de suas
vtimas que acabam por calar e no compartilhar tais vivncias do racismo visto que
impregnadas de dor, muitas das quais no cicatrizadas, uma vez que no tratadas.
Trata-se de memrias que s, nos mais das vezes, interditadas pelo fato de seus alvos
acreditarem que no falar sobre o assunto e sobre os episdios poder bloquear,
tambm, as dores advindas do trauma. Uma vez interditadas, muitas vezes
intensificaram as dores, as feridas e que no possibilita que essa memria se torne
apaziguada, uma vez trabalhada ou qui que possa novamente encontrar o estado
sadio trazido por Fanon (1979).
O que pode ser notado no processo compartilhado por Guamarra o fato de
que a alteridade rejeita e sinaliza para uma diferena que na sua perspectiva
sinnimo de inferioridade e que deseja convencer o outro disso marcar a diferena
para inferiorizar, subjugar, provocando em seu alvo a internalizao do julgamento
expresso. A vtima passa a crer que as palavras proferidas em alto e bom som para
ofender, discriminar e humilhar e acaba, quase sempre, acreditando que se resume as
expresses pejorativas proferidas como sentenas definitivas sobre a sua condio.
Quase nunca ocorre a denncia, o protesto, sobretudo em forma de arte e de
grande alcance como foi o caso do poema Gritaram-me negra de Guamarra. Essa
escrita negra feminina acaba por rasurar, por borrar os esteretipos e suas
deformadas representaes sobre o povo negro e aqui mais especificamente sobre a
mulher negra. A medida de decide por publicizar o mal existente no outro, defende-
se da possibilidade de passar a crer e internalizar o negativo jogado em seu rosto, na
sua pele e que tende a embaraar-se nos seus cabelos e cabeas. Termina por
construir, tambm, um forte e poderoso aparato de alm da denncia, do no
silenciar tais atrocidades, auxilia, sobremaneira na reversa do processo de
negativizao/internalizao, proporcionando, quase sempre, a construo positiva
do que se . Essa arte-denncia/protesto, essa palavra-lmina (MARTINS. 1996)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
335
corta, minimiza a imagem deformada, deturpada, caricaturizada feita das mulheres
negras, sobretudo pelos no negros.
Guamarra revela, ainda, em sua potica que aprendeu no susto, de supeto,
pois desconhecia que era negra e muito cedo que h, pelo menos para a alteridade,
alguma coisa errada e extremamente negativa com sua existncia a partir do seu
fentipo como revela a passagem: [...] E eu no sabia a triste verdade que aquilo
escondia./ Negra!/ E me senti negra,/ Negra!/ Como eles diziam/ Negra!/ [...].
Parecia desconhecer a sua condio negra visto que foi apresentada muito cedo a
uma situao vexatria, do que se era de fato, negra.
Buscando refletir sobre o fato de que a construo de identidade processo de
uma vida inteira e que a procura por pertencimento se inicia com os primeiros
grupos de socializao a exemplo da famlia, comunidade e escola, quando estes
revelaram para ela de maneira abrupta e extremamente negativa o que de fato era,
foi, tambm, no susto que esta reagiu quando sentiu gritada a sua condio de negra
e a reao imediata foi a de retroceder, na inteno de minimiza o impacto da rejeio
da no aceitao da sua condio: [...] E eu no sabia a triste verdade que aquilo
escondia./ Negra!/ E me senti negra,/ Negra!/ Como eles diziam/ Negra!/ E
retrocedi/ Negra!/ Como eles queriam/ Negra!/ [...](grifo nosso), ficando a merc
da vontade alheia sobre a sua corporalidade, sobre seu fentipo, sobre, enfim, sua
condio no mundo. Presa aos ditames de um padro que no aceita a bela e rica
diversidade existente na humanidade. Um padro que elegeu, desde muito tempo o
branco europeu como uma possibilidade de humanidade e beleza e que condena
todos os que no se aproximam de tal modelo. Estes outros so feios e no humanos
e, portanto, precisam se submeter ao que for possvel objetivando aproximar-se do
normativo e aceito.
A alteridade empreende os mais diferentes esforos em seu poder de
persuaso e de convencimento e assim sendo as ofensas, os esteretipos criados e
difundidos ao longo da histria vo sendo creditados e internalizados, desaguando,
no mais das vezes em processos de autorrejeio como os descritos pela poeta:
[...] odiei meus cabelos e meus lbios grossos/ e mirei apenada minha carne
tostada/ E retrocedi/ Negra!/ E retrocedi .../ Negra! Negra! Negra! Negra!/ Negra!
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
336
Negra! Neeegra!/ Negra! Negra! Negra! Negra!/ Negra! Negra! Negra!/ Negra!
[...].
Nota-se nas passagens acima reproduzidas e nos trechos negritados a
amargura, o peso de ser o que se , negra, concebida nesse caso como carga difcil de
suportar, pois nada do que sua corporalidade apresenta concebido como aceitvel,
como belo pelo restante da sociedade, sobretudo por aquelas parcelas que tendem ao
racismo e ao subjugo a partir de diferenas encontradas em outros grupos humanos
quase no considerados como tal.
O processo descrito por Valente (1994) e sintetizado no esquema: Ser (negra)
sem querer ser X Desejar ser (branco) sem conseguir ser parece ilustrar bem esse
trecho do poema e do processo vivenciado por Guamarra. Ser o que no se deseja
ou o que a alteridade ensinou como negativo e repulsivo, gerando rejeio e no
aceitao. isso que o trecho a seguir vai revelar processos de autorrejeio, de no
aceitao do que se : [...] E passava o tempo,/ e sempre amargurada/ Continuava
levando nas minhas costas/ minha pesada carga/ E como pesava!.../ [...].
O que acaba por ocorrer quase sempre a rendio a violncia da alteridade
que prega, sem trgua, e propaga uma mesmidade. A vtima acaba por se convencer
de que imprescindvel e inevitvel acatar o determinado por ela como belo e
humano e submete-se aos ditames impostos pelo outro, descendente do coloniza-dor.
o que se pode notar nas linhas a seguir e que do continuidade ao relato do
episdio de racismo sofrido pela poeta em sua infncia: [...] Alisei o cabelo,/ Passei
p na cara,/ e entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra/ Negra!
Negra! Negra! Negra!/ [...].
Percebe-se que a diferena e marcada e sinalizada a partir dos traos
fenotpicos, principalmente cabelo e cor da pele, considerados por Gomes (2004)
como: uma dupla inseparvel.
No cessava de ouvir o veredicto sobre sua condio no mundo e retrocedia,
se submetia as mais diferentes e nefastas tentativas de se aproximar do padro
branco, at se aproximar da queda quando se torna muito mais difcil a possibilidade
de se reerguer e reagir, a possibilidade de resistir ou at mesmo de rebelar-se contra a
imposio da violncia perpetrada pela alteridade. isso que nos conta e nos chama
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
337
ateno Guamarra no trecho: [...] At que um dia que retrocedia, retrocedia e que ia
cair [...].
Mas, antes que chegar ao fundo do poo, ela evita a queda e passa a
compreender o engodo e a armadilha sofisticada e ininterruptamente elaborada e
propagada pelo outro que acha feio o que no espelho, tal qual o mito de Narciso
e por ter a possibilidade de compreender o processo vivenciado e arquitetado pelo
branco opressor, no mais retrocede e devolve a pedra que lhe atiraram, como nos
ensina Sartre (apud Santos. 1987): [...] Negra! Negra! Negra! Negra!/ Negra! Negra!
Negra! Negra!/ Negra! Negra! Negra! Negra!/ Negra! Negra! Negra!/ E da?/ E
da?/ Negra!/ Sim/ Negra!/ Sou/ Negra!/ Negra/ Negra!/ Negra sou/ Negra!/
Sim/ / Negra!/ Sou/ Negra!/ Negra/ Negra!/ Negra sou/ [...].
Igualmente a Cesaire em sua obra e relato sobre o incio do Movimento poltico
literrio de negritude indaga: E da?. Assume-se negra com todos os significados e
sentidos que esta condio apresenta ao longo da histria. Que se conta com
momentos de forte e ininterrupta rejeio, apresenta, tambm, reaes contrrias a
essa negativizao e transforma o vocbulo e a condio negra no mundo como
extremamente positiva e condio sine qua non para se alcanar a autoaceitao e
qui, em muitos casos a autorrealizao. E segue a poeta ao encontro do
apaziguamento consigo e com os seus traos fenotpicos, no mais os rejeitando
como desejava a alteridade que por fora e pela persuaso j tinha convencido a ela e
outros tantos negros que se fazia imprescindvel e inadivel a tentativa de imit-los
para que humano e belo se tornasse, sem ao menos garantir que isso de fato
acontecesse.
Chega um momento que at mesmo por conto do processo iniciado de
conscientizao do que se , a aceitao dos seus traos torna-se inevitvel e urgente.
o que nos revela Guamarra nos trechos a seguir, decidida a no mais tentar imitar o
que no se e no se render a imposio e enquadramento num modelo to distante
do seu real e belo fentipo: [...] De hoje em diante no quero/ alisar meu cabelo/
No quero/ E vou rir daqueles,/ que por evitar segundo eles / que por evitar-nos
algum disabor/ Chamam aos negros de gente de cor/ E de que cor!/ NEGRA/ E
como soa lindo!/ NEGRO/ E que ritmo tem!/ NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO/
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
338
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO/ NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO/ NEGRO
NEGRO NEGRO/ Afinal/ Afinal compreendi/ /AFINAL/ J no retrocedo/
AFINAL/ E avano segura/ AFINAL/ Avano e espero/ AFINAL/ E bendigo aos
cus porque quis Deus/ que negro azeviche fosse minha cor/ E j compreendi/
AFINAL/ J tenho a chave!/ NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO/ NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO/ NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO/ NEGRO NEGRO/ Negra
sou!
O aceitar-se e mais do que isso o assumir-se, fazendo as pazes com a imagem
que ver refletida no espelho traz paz, segurana, apaziguamento, um gostar-se at
ento no experimentado e o termo que outrora feria e a fazia retroceder, hoje de
posse da chave, da descoberta da possibilidade de reverter o sinistro e perigoso
jogo de tentar agradar a alteridade que sedenta da vontade de exclusividade a todos
exclui vem seguido do termo que anteriormente feria e no cicatrizava, agora
grafado em letras maisculas NEGRO - sinalizando para a possibilidade de
gritos mas que no mais machucam ou ferem. Afinal o que ela mesmo e em
definitivo, concretizando processos de autoconhecimento, autoconcepo,
autoentendimento, autocompreenso, autoconceito, autoaceitao, autoconscincia e
autodefinio que nesse caso especificamente desagua em construo identitria
positiva e sadia (FANON, 1979) e que pela repercusso que teve a obra, poder
ainda servir de modelo para uma parcela significativa da populao que
historicamente tem sido estigmatizada e estereotipada e que por isso mesmo acaba
por sofrer psiquicamente, no mais das vezes, com distores de autoimagem que
podem culminar em autorrejeio e no aceitao do que se !
Processos de ordem identitria no costumam acontecer em guas
tranquilas. Estas so, no mais das vezes, revoltas e, portanto, essencialmente
instveis. Mas, ainda que assim acontea, o que se pode notar com as letras negras de
Victoria, compartilhadas nesse artigo, que a possibilidade de resistir e no
sucumbir alm de possvel e vivel, sempre alternativa para manter a dignidade, a
beleza e a humanidade do povo negro. E assim sendo, o gostar do que v refletido no
espelho, o real e belo fentipo negro-africano apresenta-se como inadivel e
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
339
imprescindvel, rebatendo, dessa forma, a crena e a internalizao do racismo que
tentaram impor sobre o corpo e valores negros.
Alguns autores se apresentam aqui como de grande valia no que diz respeito a
possibilidade de reverter processos de negao e rejeio causados sobretudo pelo
racismo, discriminao e preconceito e se configuram como possveis sadas do
labirinto identitrio que tanto nos faz zanzar, quase sempre perdidos nas
encruzilhadas pela deciso do que se de fato e sem conseguir decidir por quais
caminhos devemos optar e trilhar. So eles com as suas respectivas ideias: Gostar da
imagem refletida no espelho (hooks, 2000); Filosofia do Colibri: Ver a si mesmo como
valioso (OLIVEIRA, 2007); A gente s pode ser aquilo que (SOBRAL, 2011, p. 25)
e S aquilo que somos tem o poder de curar-nos (JUNG, 2000). Enfim, so pistas
que esses tericos nos oferecem e que auxiliam sobremaneira nos processos de
tornar-se o que se e que Jung (2000) chamar de individuao.
Assim sendo, objetivou-se, com a presente comunicao, destacar o caminho
percorrido pela poeta em seus processos de tornar-se o que se , mulher negra,
fortemente imbricados com a histria do movimento literrio iniciado nas Antilhas
por volta da dcada de 40 e denominado de Negritude. Memrias, experincias e
literatura se mesclam para compor a trama ora tecida com o intuito de apresentar
possibilidades outras de ser e estar no mundo, diferentes sim, mas nem por isso
inferiores. Experincias de processos de tornar-se negra (SOUZA, 1983).
Compartilhar histrias afrodiaspricas que mesmo marcadas por agruras, apontam,
tambm, para superaes das mesmas, via a afirmao do que se ! Esses foram os
desejos e pretenses a que esse artigo se props a alcanar.
CONSIDERAES FINAIS
Buscou-se nessa comunicao acompanhar e socializar o caminho percorrido
pela poeta e como o conhecer da histria do seu povo e mais especificamente de um
perodo da histria dos seus, o movimento poltico-literrio chamado Negritude a
auxiliou no descobrir a chave para desmontar todo o artefato que vinha sendo
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
340
construdo, sem trgua e que tanto atrapalhava os processos de tornar-se o que se e
dos seus tambm.
Conhecer a sua histria se conhecer e se assim , compartilhar histrias e
memrias, mais especificamente aqui nessa comunicao, as afrodiaspricas, auxilia,
sobremaneira em tais processos de tornar-se mulher negra,
A ideia era a de conhecer o entrelaar de histrias e memrias aparentemente
individuais, mas que so, necessariamente, tambm, coletivas, pertencentes
sobretudo, a todos aqueles que nos antecederam e deixaram rastros mais do que
fortes e ntidos dos caminhos trilhados e possveis sadas do complexo labirinto
identitrio que tantas vezes nos faz zanzar perdidos sem saber que direo tomar.
Referncias
BARDIN, Lawrence. Anlise do contedo. Lisboa: Edies 70, 1977.
BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro; Jorge Zahar, 2005.
BERND, Zila. O que negritude: So Paulo: Brasiliense, 1984.
FANON, Franz. Os condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1979.
GOMES. Nilma Lino. Uma dupla inseparvel: cabelo e cor da pele. In: BARBOSA,
Lcia Maria de A.; SILVA, Petronilha Beatriz Gonalves e; SILVRIO, Valter Roberto
(Orgs.) De preto a afro-descendente: trajetria de pesquisa sobre o Negro, Cultura
negra e relaes tnico-Raciais no Brasil. So Carlos: EduFSCar, 2004. p. 137-150.
GUIMARES; Marco Antnio; PODKAMENL, Angela Baraf. Racismo: um mal
estar psquico. In: WENECK, Jurema; BATISTA, Lus Eduardo; LOPES, Fernanda
(Ogrs.). Sade da populao negra. Petrpolis, Rio de Janeiro: DP; Braslia, DF:
ABPN, 2012. p. 211-224.
hooks, bell. Vivendo de Amor. In: WERNECK, J. O Livro da Sade das Mulheres
Negras: nossos passos vm de longe. Rio de Janeiro: Pallas; Criola, 2000.
JUNG, C.G. Arqutipos e o inconsciente coletivo. Petroplis: Vozes, 2000.
MARTINS, Leda Maria. A fina lmina da palavra. In: MUNANGA, Kabenguele
(Org.). Histria do negro no Brasil. Braslia: Fundao Cultural Palmares, 2004.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
341
MAUSS, M. As tcnicas corporais. In: Sociologia e antropologia. So Paulo:
EPU/Edusp, 1974.
MUNANGA, Kabengele. Negritude: usos e sentidos. Belo Horizonte: Autntica,
2009.
NOGUEIRA, Izildinha Baptista. Significaes do corpo negro. So Paulo: USP, 1998
(Tese de doutorado em psicologia escolar e do desenvolvimento humano).
OLIVEIRA, Eduardo. Filosofia da ancestralidade: Corpo e Mito na Filosofia da
Educao Brasileira. Curitiba: Editora Grfica Popular, 2007.
PINHO, Patrcia de Santana. Reinvenes da frica na Bahia. So Paulo:
Annablume, 2004.
SANTOS, Joel Rufino dos. O que um negro? Revista Tempo e Presena, CEDI, n
220, junho de 1987.
SOBRAL, Cristiane. Espelho, Miradouros, Dialticas da Percepo. Braslia: Dulcina,
2011.
SOUZA, Neusa Santos. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro
brasileiro em ascenso social. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
VALENTE, Ana Lcia E.F. Ser negro no Brasil Hoje. So Paulo: Moderna, 1994.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
342
IDENTIDADE NEGRA NA CENA LITERRIA BRASILEIRA
Autora: Rosilda da Silva (UNEB/PPGEL).
E-mail: rosildaletras23@yahoo.com
Resumo: Este artigo apresenta uma discusso sobre o processo de construo de identidades
negras mediante a produo literria de escritores e escritoras que fazem parte do coletivo
literrio Cadernos Negros. Para tanto, busca-se refletir sobre a identidade inventada pela elite
dominante brasileira para o negro e as estratgias utilizadas pelos escritores dos Cadernos
com vistas reverso de tal identidade e assim fomentar nos leitores afro-brasileiros
representaes positivas de si, de sua cultura e motiv-lo a insurgir-se frente s situaes de
preconceito e discriminao racial. Essa discusso tem como norte os estudos de: Alves
(2010) Antonio (2008), Bernd (1988), Castells (2009), Costa (2008), Cuti (2002, 2010a e b),
Dalcastagn (2012), Hall (2010), Martins (1995) e Souza (2006).
Palavras-chave: Identidade; literatura negra; Cadernos Negros.
O uso literrio das palavras para representar os recnditos das subjetividades
do sujeito, das mazelas sociais ou de qualquer outra dimenso imaginada pela mente
humana, tem historicamente agregado valor simblico. Com isso, a literatura
permanece como uma prtica cultural de prestgio junto s demais que compem
determinadas sociedades, mantendo o seu status sacralizado.
No podemos perder de vista, que a literatura uma construo social e com
tal est envolta em jogos de poder, sendo assim, passvel de manipulao. O fazer
literrio atribudo queles que fazem parte da elite cultural que, em geral,
tambm a elite econmica. Tal elite cria os mecanismos e os critrios de valorao e
legitimao das obras. Desse modo, consegue manter um certo controle sob o
discurso literrio que faz circular, tendo em vista que as obras legitimadas tem
trnsito garantido em todos os espaos sociais. Olhando por esse ngulo, fica fcil
perceber porque os grupos socialmente marginalizados tm dificuldade de adentrar
o campo literrio como produtores.
Se por um lado, como diz o terico Roland Barthes (1992, p. 19), A escritura
faz do saber uma festa, por outro nem todos esto convidados a festejar. Os grupos
dominantes impem as regras para o trnsito na festa do fazer literrio, que vo
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
344
desde a quem deve produzir, que obras tm valor simblico e quem o pblico leitor
preferencial.
No tradicional salo de festas das letras brasileiras, comandado por uma elite
que se pretende branca, a entrada do negro enquanto escritor sempre foi dificultada.
Como leitor no era cogitado e na condio de personagem, ou estava ausente ou era
representado pejorativamente. Entretanto, medida que os negros no Brasil
tornam-se negros, no sentido enunciado por Neusa Souza em sua obra Tornar-se
negro
24
, urge a necessidade de requerer representaes positivas de si e o direito de
expressar literariamente as suas experincias. Por conseguinte, leitores/escritores
negros
25
atentos aos modos de excluso ou incluso segregada nos textos da
literatura brasileira instituda, forjam o seu espao de enunciao. Rejeitam o lugar
de objeto que lhes foi atribudo e assumem o protagonismo do discurso.
Regina Dalcastagn (2012), em sua pesquisa sobre o universo da literatura
contempornea brasileira que abrange os anos 1990 a 2004, apresenta o perfil dos
escritores que ainda so publicados pelas grandes editoras: homens, brancos, de
classe mdia, moradores do Rio de Janeiro e So Paulo e que exercem profisses
privilegiadas na produo de discurso.
Em funo disso, de acordo com a autora, acontece um estranhamento
quando escritores e escritoras que destoam desse perfil conquistam espaos nesse
campo que se pretende restrito. Isto incomoda principalmente queles que querem
manter seu espao descontaminado. Dalcastagn (2012, p. 12) acrescenta A
definio dominante de literatura circunscreve um espao privilegiado de expresso,
que corresponde aos modos de manifestao de alguns grupos, no de outros, o que
significa que determinadas produes esto excludas de antemo.
A escritora Miriam Alves (2002), em seu ensaio Cadernos Negros (nmero 1):
estado de alerta em fogo cruzado, diz que a vertente negra da literatura brasileira
caracteriza-se principalmente por atitudes literrias de organizar a fala atravs do
24
Para a autora Saber-se negra viver a experincia de ter sido massacrada em sua identidade,
confundida em suas perspectivas, submetida a exigncias, compelidas a expectativas alienadas. Mas
tambm, e sobretudo, a experincia de comprometer-se a resgatar sua histria e recriar-se em suas
potencialidades. (SOUZA, 1983, p. 18)
25
Ao citar o escritor negro, estamos nos referindo quele que, sendo negro, escreve sem renegar sua
experincia subjetiva-racial e elege o leitor negro em seu ato de criao, conforme definio de Cuti
(2009).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
345
coletivo, promovendo mudanas culturais. Tal vertente composta de escritores
que alm da produo literria comprometem-se com a publicao de livros, teses e
promoo de eventos. (ALVES, 2010, p. 224). Assim, alm de forjar espaos de
enunciao, produz-se uma rede de legitimao do fazer literrio desse grupo que
no pretende fazer a sua escrita comungar da literatura dominante.
Os Cadernos Negros so um desses espaos construdos e mantidos a partir do
trabalho coletivo de produo e divulgao do discurso literrio do negro.
Intelectuais negros se unem e se renem para que as geraes atuais e as prximas
tenham possibilidades de representaes literrias plurais dos segmentos sociais que
compem a sociedade brasileira.
Miriam Alves, em anlise do texto-documento publicado no Cadernos Negros 1,
relata quais foram as motivaes para o surgimento do primeiro volume:
[...] rebelava-se contra a perpetuao do negro como segmento mais
atingido nas formas de explorao social. Naquele momento a frica
servia de parmetro para as duas categorias: a de explorao e a de
rebelio. Inspirados nesse devir, os autores diziam fazer da
negritude, exposta em poesia, instrumento de luta contra a
explorao social. Recusavam-se, ento, a inscrever-se na literatura
dominante, a qual tem como inspirao um modelo idealizado de
branquitude. (ALVES, 2002, p. 227)
A antologia literria Cadernos Negros foi idealizada pelos militantes/escritores
Cuti, pseudnimo de Lus Silva, e Hugo Ferreira. O lanamento do primeiro volume
(uma edio de bolso mimeografada que contava com oito poetas
26
) aconteceu em
1978, em So Paulo.
A inveno do nome do peridico, Cadernos Negros
27
, creditada a Hugo
Ferreira. O escritor relata que a escolha foi uma homenagem escritora Carolina
Maria de Jesus falecida em 1977, que escrevia em cadernos, assim como o grupo de
poetas negros formado nessa dcada, que viria a produzir no peridico criado. (Apud
COSTA, 2008, p. 25).
26
Cuti, Hugo Ferreira, Oswaldo Camargo, Henrique Cunha Jr, ngela Lopes Galvo, Clia Aparecida
Ferreira, Eduardo de Oliveira e Jamu Minka, conforme pesquisa de Fausto (2005, p.32). Em sua tese
Fausto Antonio cita os escritores que compem os Cadernos Negros, dos volumes 01 ao 27.
27
Doravante tratados tambm com a sigla CN
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
346
Negra, pobre, com pouca escolaridade formal, para Carolina Maria de Jesus,
escrever em cadernos, que por sua vez eram encontrados no lixo, era a nica opo
que tinha. Como catadora de lixo, alm de conseguir o seu sustento fsico, a escritora
alimentava o seu o repertrio intelectual atravs dos livros que encontrava.
No somente o fato de utilizarem o mesmo suporte para a produo literria
ligam os escritores dos CN Carolina Maria de Jesus. As funes que as elites
dirigentes atribuam ao o negro e negra na sociedade brasileira nunca estiveram
relacionadas com o labor intelectual. Em funo disso e dos demais critrios j
citados, estabelecer-se como escritor ou escritora negra sempre foi uma tarefa rdua.
No caso de Carolina Maria de Jesus, soma-se ao preconceito de cor, o de gnero, o de
classe e ainda o fato de a escritora ter tido pouco acesso escolaridade formal.
A presena de vozes no autorizadas pelo discurso dominante, ao
apresentar as suas experincias individuais e coletivas, as mazelas sociais sob pontos
de vistas diferenciados provoca deslocamentos nas representaes literrias que j
estavam acomodadas na cena literria brasileira. Isso contraria as expectativas dos
grupos dominantes.
Conscientes das barreiras materiais e simblicas que dificultam a entrada de
escritores e escritoras negras no campo da literatura, desde a publicao do primeiro
volume dos CN, os organizadores j anunciavam o segundo e assim sucessivamente.
Essa foi uma das estratgias utilizadas para que o peridico se perpetuasse e
atravessasse dcadas, conforme relata Cuti, na introduo dos CN, Os melhores contos
(1998, p.17). Dessa forma, mantinha-se o grupo empenhado na continuidade do
trabalho.
Os CN so publicados anualmente, nos anos pares so coletneas de poesias e
nos mpares contos. At o presente momento (2013) contam com 35 volumes. A
antologia mantida por um sistema de cooperao, em que os escritores, aps terem
seus textos aceitos (mediante seleo,
28
na qual assinam com pseudnimos),
responsabilizam-se com parte dos custos e das vendas. Essas estratgias para a
28
Nos primeiros volumes dos Cadernos no havia seleo. Os textos enviados eram automaticamente
publicados, ou selecionados pelos prprios escritores que faziam parte do grupo. A seleo comeou a
ser feita de forma mais rigorosa a partir do nmero 16. (COSTA, 2007, p. 35). Possivelmente, esse rigor
foi necessrio devido o aumento do nmero de autores solicitantes.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
347
manuteno da antologia esto pautadas em laos de solidariedade e no
compromisso de reinveno de uma identidade que de fato favorea a raa negra.
Nos primeiros anos (1978 a 1982), os CN ficaram sob responsabilidade de Cuti
e o objetivo inicial era:
[...] publicar textos de autores negros, pois animava-nos a
considerao de que literatura , tambm, ideologia. E, em assim
sendo, precisvamos, enquanto escritores e militantes do Movimento
Negro, mostrar textualmente as vivncias da nossa gente, nossa
subjetividade individual e coletiva, atravs da publicao de poemas
e contos, e arregimentar escritores de todo o Brasil. (CUTI, 2010a, p.
293).
A partir do nmero 06 (1983), os CN passaram a ser publicados com o selo do
grupo Quilombhoje Literatura
29
, uma entidade sem fins lucrativos que, desde ento,
responsabiliza-se pela organizao, edio, lanamento e divulgao da srie. Tal
grupo, criado em 1980, tinha por objetivos iniciais discutir e estudar literatura negra
nacional e internacional, alm de divulgar e declamar as prprias produes,
segundo Cuti (2010a).
Em 1983, dos primeiros participantes que fizeram parte do Quilombhoje,
apenas Cuti permaneceu e outros escritores ingressaram: Esmeralda Ribeiro, Jamu
Minka, Jos Alberto, Mrcio Barbosa, Miriam Alves, Oubi Ina Kibuko, Snia Ftima
da Conceio e Vera Lcia Alves. Em 1984, o escritor Ablio Ferreira passou a fazer
parte do grupo. J, em 1995, a maioria dos participantes se afastou e ficaram apenas
trs: Esmeralda Ribeiro, Mrcio Barbosa e Snia Ftima da Conceio. E, desde 1999,
o peridico coordenado por Mrcio Barbosa e Esmeralda Ribeiro.
Mrcio Barbosa, na introduo do CN 17, resume o que seria a essncia do
grupo Quilombhoje:
[...] o desejo de que a solidariedade venha permear a vida cotidiana
no s daqueles que escrevem, mas de todo o nosso povo sofrido, o
qual tem sido levado devido negao oficiosa de seus valores e
carncia de referncias fortes e verdadeiras a um permanente estado de
29
Segundo Esmeralda Ribeiro, fazia parte da formao inicial do grupo: Abelardo Rodrigues, Cuti,
Mrio Jorge Lescano, Paulo Colina e Oswald de Camargo. (Texto de apresentao do CN, Os melhores
contos, 2008. p. 10)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
348
desunio e uma constante necessidade de melhora na auto-estima.
(CN 17, p. 14, grifos nossos)
O permanente estado de desunio ao qual o negro foi submetido, citado por
Mrcio Barbosa nos remete ao longo perodo de escravido no Brasil e os seus
legados. Antes de ser inserido na sociedade escravista brasileira, o negro j era
vitimado por um aparato ideolgico engenhosamente articulado para promover a
sua dessocializao e coisificao. De incio, a desarticulao familiar, a destituio
da condio social que ocupava em sua nao, depois a imposio de outros
costumes e tentativa de destruio ou desqualificao das suas referncias
simblicas.
Dificultar a construo de laos de amizade e de solidariedade entre negros
escravizados era mais uma das tticas de dominao utilizadas pelos senhores de
escravos. Para tanto, compravam negros de grupos tnicos diferentes e por vezes at
incitavam a rivalidade entre eles, conforme os estudos da historiadora Ktia Mattoso
(2003). Lngua, cultura e religio diferentes constituam-se obstculos para que os
negros escravizados se reorganizassem. No entanto, a condio de oprimido, os
infortnios vividos e o desejo latente por liberdade forjaram novas conexes que
resultaram em insurreies, fugas e formao de quilombos.
No perodo ps-colonial, quando a questo da identidade nacional tornou-se
prioridade para consolidar o processo de formao da nao brasileira, a literatura
foi um dos instrumentos usados para disseminar as caractersticas do que seria a
comunidade imaginada: Brasil. Nessa construo identitria iniciada no sculo XIX, o
negro e tudo que estava relacionado a ele foi excludo ou representado
pejorativamente.
Em funo disso, as geraes ps-escravistas, ps-coloniais, conviveram com
produes que, de modo sutil ou declarado, atribuam tudo que fosse negativo e
lascivo ao negro
30
. Isto contribuiu para incutir no imaginrio da nao brasileira uma
obsesso pelo branqueamento e pela necessidade de imitao das imaginadas
culturas europeias.
30
Sobre a representao estereotipada do negro na literatura, ver BASTIDE, Roger. Esteretipos de
negro atravs da literatura brasileira. In: Estudos afro-brasileiros. 1993.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
349
Inseridos nesse contexto, no entanto, atentos s consequncias negativas dos
discursos inferiorizantes que ainda circulam sobre o negro, os autores dos CN tm,
atravs de contradiscursos, trabalhado na construo de outra possibilidade de
identidade, a identidade negra. Para tanto, os autores rejeitam qualquer necessidade
de embranquecimento e buscam no repertrio da cultura negra mecanismos de
positivao dessa identidade.
De acordo com a percepo do socilogo Manuel Castells (1999), a identidade
um processo que est relacionado com a construo de significados, com base em
atributos culturais inter-relacionados que sempre ocorre em contextos marcados por
relaes de poder.
Castells (1999) distingue trs formas de construo social da identidade:
legitimadora, resistncia e projeto. A primeira introduzida pelas classes dirigentes
com o intuito de expandir e racionalizar a dominao. Com tendncia
homogeneizante, essa identidade reproduzida por um conjunto de instituies
(escolas, igrejas, entidades cvicas, partidos e etc.) que fazem parte da sociedade civil
a fim de assegurar a sua validade e continuidade. A identidade de resistncia
criada por grupos que se encontram em condies desvalorizados pela lgica da
dominao e que por isso reforam os seus princpios divergentes dos princpios que
permeiam as instituies sociais, com o objetivo de refugiarem-se neles e garantir a
sobrevivncia. E a identidade projeto, a que mais nos interessa nesta pesquisa, ocorre
do seguinte modo:
[...] quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de
material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de
redefinir sua posio na sociedade e, ao faz-lo, buscar a transformao
de toda a estrutura social. (CATELLS, 2009, p. 24, grifos nossos)
No Brasil, a construo de identidades negras est na contracorrente da
identidade introduzida pelas instituies dirigentes da sociedade. Os movimentos
negros brasileiros contemporneos trabalham na tessitura de identidades negras que
contribuam com a elevao da autoestima, produzam marcas positivas na
autoimagem, fortaleam os laos de solidariedade do grupo, e por consequncia, o
sentimento de pertena.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
350
Positivar a identidade coletiva uma das formas de fortalecer os grupos
minoritrios em suas lutas por melhores posies no tecido social. A literatura dos
CN, gestada no seio da militncia e por escritores/militantes, assume, no campo
literrio, a funo de afirmar a identidade negra.
Em seu quadro conceitual, Manuel Castells chama a ateno para a
mobilidade das identidades, que podem comear como resistncia, resultar em
projeto e at mesmo tornarem-se legitimadora. Com esse deslocamento de posies,
as foras que atuam na manuteno da estrutura social seriam redimensionadas.
Para a realizao de suas produes, os escritores dos CN investem no resgate
e na valorizao de elementos relacionados ao segmento social negro, os quais foram
ignorados pelo projeto de identidade forjada pelo Estado-nao: histria, memria
coletiva, heris, cor, lendas. Trata-se de um patrimnio simblico que posiciona a
cultura negra no apenas como mera contribuinte para a formao da cultura
brasileira, mas como partcipe basilar.
Porm, o reconhecimento quanto ocupao da centralidade da cultura negra
junto s demais no discurso da identidade nacional uma questo lateral frente aos
outros objetivos pretendidos pelos CN. A partir da bibliografia pesquisada,
possvel inferir que uma das causas defendidas pelo peridico, e qui a principal,
a mudana de posio do segmento negro no contexto brasileiro, aproximando-se da
ideia de identidade projeto definida por Castells. Ainda com relao identidade
projeto, o socilogo acrescenta: consiste em um projeto de uma vida diferente,
talvez com base em uma identidade oprimida, porm expandindo-se no sentido de
transformao da sociedade como prolongamento desse projeto de identidade.
(CASTELLS, 1999, p. 26)
Segundo o pesquisador Fausto Antonio (2008), a problematizao da
identidade o centro pelo qual circulam as poesias, os contos e os textos tericos que
compem os CN. O pesquisador afirma que, para os peridicos, a identidade racial
significa empreender movimento para a superao das desigualdades raciais, a que
esto submetidos os negros (ANTONIO, 2008, p. 81).
Uma das justificativas para a insurgncia do discurso literrio do negro est
explcita neste relato de Cuti, citado por Costa (2008, p. 25) Nosso pais no podia
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
351
mais viver sem a nossa experincia de vida colocada em forma de literatura por duas
razes: ns negros precisvamos estar representados e tambm o branco precisava
ser visto de outra maneira.
Em Literatura negro-brasileira (2010b), Cuti discorre sobre as foras poltico-
ideolgicas que atuam no campo da literatura, e afirma que a questo racial, outrora
silenciada, tem sido enunciada por vozes negras insurgentes. No entanto, esta tarefa
em curso encontra resistncia, pois, a fibra com a qual foi tecida a literatura brasileira
ainda entoa loas s iluses de hierarquias congnitas para continuar alimentando
com seu veneno o imaginrio coletivo de todos os que dela se alimentam direta ou
indiretamente. (CUTI, 2010b, p. 13).
Cuti (2010b, p.13) acrescenta que a literatura brasileira precisa de forte
antdoto contra o racismo nela entranhado. A produo literria dos CN vem h
mais de trs dcadas contribuindo com a reconstruo do imaginrio coletivo, de
modo a atenuar os prejuzos psicolgicos que foram causados ao leitor negro.
Seguindo a prpria nomenclatura dos CN, que, a partir do volume 18,
publicado em 1995, passou a adotar como subttulo a expresso afro-brasileiro, o
termo literatura negra entendido aqui, como sinnimo de literatura afro-brasileira.
O enunciador de tal produo literria sabe ou sentiu as agruras de ser negro em um
pas cujas culturas prestigiadas tm como modelo a europeia e as vozes ouvidas
durante sculos foram a do branco ou a do mestio que assume somente uma parte
da sua mestiagem: a branca.
Vale ressaltar que um dos fundadores e escritor que publica na maioria das
edies dos CN, Cuti, rejeita a nomenclatura afro-brasileira para nomear a literatura
negra, e afirma que o termo apropriado literatura negro-brasileira
31
. Para alm da
atual polmica acerca desse termo que gira em torno das seguintes classificaes:
literatura afro-brasileira, afrodescendente e negra , tericos, escritores,
31
Denominar de afro a produo literria negro-brasileira [...] projet-la origem continental de
seus autores, deixando-a a margem da literatura brasileira, atribuindo-lhe, principalmente uma
desqualificao com base no vis da hierarquizao das culturas, noo bastante disseminada na
concepo de Brasil por seus intelectuais. (CUTI, 2010, p. 35-36)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
352
pesquisadores e leitores tem sua disposio uma vasta produo literria que
aborda questes relevantes sobre as relaes etnorraciais no Brasil
32
.
Zil Bernd (1988) destaca esse papel do escritor negro em romper com uma
tradio literria brasileira que, salvo algumas excees, trazia-o apenas como tema
ou como objeto, um negro sem voz, o outro de quem se falava, constituindo uma
literatura sobre o negro. Nesse sentido, a literatura produzida pelo negro marcada
pela presena de um enunciador que se quer negro, imbudo de uma subjetividade
intransfervel. Trata-se de uma produo literria que surge a partir de uma tomada
de conscincia da questo negra, com o intuito de desvelar as nuances que
desprestigiam o ser negro e positivar valores culturais que foram propositalmente
esquecidos ou escamoteados.
Estabelece-se um discurso literrio assumido por escritores que se
autonomeiam negros e inserem a sua escrita no campo da literatura negra. Tal escrita
traz a luz outros modos de expresso literria e provocam uma ruptura no crculo de
discursos que representam a sociedade a partir da miopia conveniente das classes
dominantes.
Para Miriam Alves (2010), a presena de escritores e escritoras negros motiva
um mal-estar em alguns segmentos da sociedade brasileira, por estarem
acostumados a ignorar as vivncias do sujeito negro. A escritora acredita que existe
uma potencialidade de transformao nesse assumir a subjetividade negra. Ressalta
ainda a importncia de se reverter a carga semntica negativa do signo negro, pois
desse modo opera-se a inverso do olhar sobre o brasileiro negro, tirando-lhe a
mscara da invisibilidade e dando existncia ao que se considera massa amorfa, sem
rosto, sem sentimento, interioridade e humanidade. (ALVES, 2010, p.234)
Para analisarmos o processo de produo de contradiscursos realizado pelos
escritores dos CN, comecemos pelos estudos realizados por Florentina Souza (2006),
em Afro-descendncia em Cadernos Negros e Jornal do MNU. Nessa obra, a pesquisadora
analisa o processo de inveno de um discurso de representao e de produo de
identidades afro-brasileiras, proposto pelos peridicos citados no ttulo da obra e
32
Sobre essa polmica em torno do termo, ver estudos de Eduardo Assis Duarte (2007), Maria
Nazareth Soares Fonseca (2006), dentre outros.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
353
afirma que ambos viabilizam a criao de um espao pblico para a expresso de
um grupo excludo, silenciado e tornado invisvel nos setores privilegiados da
sociedade brasileira. (SOUZA, 2006, p. 13).
De incio, os autores desses peridicos tiveram que se confrontar com as j
citadas imagens negativas que lhes foram introjetadas ao longo da sua formao
cultural. Conforme nos explica Souza:
Obrigados a conviver desde a infncia com os sentidos negativos
atribudos as expresses pertencentes ao campo semntico negro,
tambm utilizadas para nos definir e caracterizar tnico-racialmente,
somos colocados diante do dilema: como nos amarmos se o preto feio, o
perverso, o mal, o pecado? (SOUZA, 2006, p. 135, grifos nossos)
Livrar-se das imagens depreciativas que circundam a mente de cada escritor
negro, a partir dos vrios discursos ainda vigentes, foi o primeiro passo para o incio
de reverso da carga semntica negativa da palavra negro. A partir de ento, o
escritor comea a trabalhar na produo de um discurso literrio do negro, tendo
como ponto de partida as suas subjetividades.
Contudo, forjar identidades negras, em um contexto que se quer branco, no
qual as elites dirigentes se esforaram exaustivamente na tentativa de apagamento
das culturas negras, seja por meio de perseguies seculares, por discursos
inferiorizantes ou pela tentativa de invisibilizao, um desafio rduo para o escritor
negro.
Sobre a (in) visibilidade social do negro, Florentina Souza (2006) afirma que o
negro torna-se invisvel socialmente quando ocupa os lugares desprestigiados no
tecido social, uma vez que esta ocupao vista como natural. Em contrapartida,
quando conquista lugares de prestgio sua visibilidade excessiva, haja vista a
dificuldade que a sociedade tem em aceitar que os afro-brasileiros ocupem lugares
que no lhes forem previamente destinados. Outra forma de tornar o negro invisvel
em determinadas situaes Apagar os vnculos tnicos e os traos fsicos, apagar a
a cor, (SOUZA, p. 36). Com essa estratgia de apagamento, a atuao desse
segmento nos vrios setores da sociedade brasileira, torna-se imperceptvel.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
354
Ainda de acordo com Souza (2006, p. 37), a invisibilidade imposta aos afro-
brasileiros, estende-se ao campo das letras, e produo textual cannica, na
maioria dos casos, continua a reproduzir os esteretipos negativos e a omitir o
registro e a apario da produo textual autodenominada negra ou afro-brasileira.
Esta mais uma das estratgias utilizadas pela elite dominante para a manuteno
do seu status, haja vista que, se o sujeito negro no tem referncias positivas do seu
grupo tnico, isto pode lev-lo descrena quanto as suas chances em angariar
conquistas.
Com relao ao racismo brasileira, cujos modos de atuao so denunciados
pelos textos que compem os CN, Leda Maria Martins, em A cena em Sombras (1995),
explica que este se exercita por meio de uma linguagem violenta, que circula nas
falas do cotidiano. Nesses discursos, o signo negro aparece quase sempre
negativado. Desse modo, os lugares atribudos ao negro via produo discursiva,
identificam um sujeito negro enunciado na prpria margem do discurso, destaca-o
como um outro no apenas diferente, mas indesejvel, ou desejvel em lugares
previamente determinados. (MARTINS, 1995, p. 36).
Regina Dalcastagn (2012) tambm chama ateno para os processos de
invisibilizao e silenciamento de grupos sociais inteiros no campo literrio brasileiro
institudo. Essa mais uma indicao do carter excludente de nossa sociedade, de
acordo com a autora, que sugere uma mudana de posicionalmente frente s obras
literrias: de reverncia crtica.
Stuart Hall percebe que as classes menos favorecidas tm conquistado alguns
espaos no mbito cultural, mas adverte que tais espaos so policiados, regulados
e que no lugar da invisibilidade o que existe uma espcie de visibilidade
cuidadosamente regulada e segregada. Ampliando a discusso acerca desses
embates, o terico diz que algumas estratgias podem efetuar diferenas e
promover o descolamento das disposies de poder. E afirma que o nico jogo
que vale a pena o da guerra de posies culturais. (HALL, 2011, p. 321)
Hall (2011) enfatiza a ambiguidade que paira sobre esses espaos, pois, ao
mesmo tempo em que o momento atual representa uma abertura para as margens,
para o diferente, as classes dominantes desenvolvem polticas culturais para tentar
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
355
homogeneizar a identidade, a partir do resgate das grandes narrativas da histria, da
lngua e da literatura.
medida que vrios grupos no se sentem contemplados na concepo de
identidade construda pelas classes hegemnicas, eles vo reivindicando novas
identidades e foram a redefinio das que esto legitimadas. E nessa simbiose,
imposta pelas relaes de foras simblicas que vai se reconfigurando as disposies
do poder na estrutura social.
Essas reflexes de Hall (2011) nos remetem luta travada no campo da
literatura pelos escritores dos CN, que insistem e persistem, a partir das suas
prprias experincias, em expressar contranarrativas que valorizam a cultura
negra e atuem na redefinio de suas prprias identidades. Nessa guerra posicional,
em que a pgina literria tornou-se o campo de luta, os autores dos CN redefinem as
suas posies frente aos discursos produzidos pelas classes dominantes.
Florentina Souza (2006) sintetiza o amplo universo abordado e o modo de
atuao do escritor negro que,
[...] seleciona e reelabora os dados culturais de que necessita para
construir um desenho identitrio positivo para si e para o seu grupo;
tentar, por conseguinte, desvelar o apagamento e o desprestgio
constitudos pela ocidentalizao. Deste modo, assenhorando-se da
cosmologia de origem africana dos mitos, rituais e smbolos, propor
prticas eficazes para repens-los e reconstru-los dentro de uma
perspectiva que instala a discusso sobre a ambivalncia da sua
relao com o universo cultural do Ocidente. (SOUZA, 2006, p. 62,
grifos nossos).
Os CN investem na construo da identidade negra a partir dos contos e
poesias que destacam a apresentao das situaes de discriminao racial. Os
processos de invisibilizao corroboraram para dificultar a assuno de uma
identidade negra nos discursos literrios. Os textos dos CN mais do que rejeitam a
assimilao de uma identidade negra atribuda pelo branco. Apresentam identidades
negras construdas e reconstrudas pelas ticas de escritores e escritoras, fundadas na
conscincia da ancestralidade africana e afro-brasileira.
Em sntese, a identidade proposta pelos CN tem bases na ancestralidade, nas
culturas e religies forjadas no encontro dos vrios grupos tnicos durante a dispora
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
356
negra no Brasil com as tradies do ocidente. Tal identidade reatualizada
continuadamente, numa relao dialgica com as necessidades, conflitos e conquistas
do sujeito negro contemporneo, seguindo as reflexes de Florentina Souza (2006).
Referncias
ALVES, Mirian. Cadernos Negros (nmero 1): estado de alerta em fogo cruzado. In:
__. FIQUEIREDO, Maria do Carmo Lana; FONSECA, Maria Nazareth Soares (org).
Poticas afro-brasileiras. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, Mazza Edies, 2002.
ANTONIO, Fausto. As noes textuais da negrura na srie Cadernos Negros. In:__.
RIBEIRO, Esmeralda e BARBOSA, Mrcio Org. Cadernos Negros trs dcadas:
ensaio, poemas e contos. So Paulo: Quilombhoje: Secretria Especial de Polticas de
Promoo da Igualdade Racial, 2008.
BARTHES, Roland. Aula. 6 ed. Trad. Leyla Perrone-Moiss. So Paulo: Cultrix, 1992.
BERND, Zil. O que Literatura negra? In:__. Introduo Literatura Negra. So
Paulo: Ed. Brasiliense, 1988.
CASTELLS, Manuel. Parasos comunais: identidade e significado na sociedade em
rede. In: O poder da Identidade volume II. Trad. Krauss Brandine Gerhardt. So
Paulo: Paz e terra, 1999.
COSTA, Aline: Uma histria que est apenas comeando. In:__. RIBEIRO, Esmeralda
e BARBOSA, Mrcio Org. Cadernos Negros trs dcadas: ensaio, poemas e contos.
So Paulo: Quilombhoje: Secretria Especial de Polticas de Promoo da Igualdade
Racial, 2008.
CUTI, Luiz Silva. O leitor e o texto afro-brasileiro. In:__ FIQUEIREDO, Maria do
Carmo Lana; FONSECA, Maria Nazareth Soares (org). Poticas afro-brasileiras. Belo
Horizonte: Editora PUC Minas, Mazza Edies, 2002.
_______. Cinco autores afro-brasileiros contemporneos In:__. PEREIRA, Edmilson
de Almeida. Malungos na escola: Questes sobre culturas afrodescendentes e
educao. So Paulo: Paulinas, 2010a.
_______. Negro ou afro no tanto faz. In: Literatura Negro-Brasileira. So Paulo: Selo
negro, 2010b.
DALCASTAGN, Regina. Literatura brasileira contempornea: um territrio
contestado. Rio de Janeiro: Horizonte, 2012.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
357
HALL, Stuart. Que negro esse na cultura negra? In:__. Da Dispora: Identidades
e Mediaes culturais. Trad. Sayonara Amaral. Belo Horizonte. UFMG, 2011.
MARTINS, Leda Maria. A cena em sombras. So Paulo: Perspectiva, 1995.
MATTOSO, Ktia de Queirs. Ser escravo no Brasil. Trad. James Amado. So Paulo:
Brasiliense, 2003.
SOUZA, Neusa Santos. Tornar-se Negro: as vicissitudes da identidade do negro
brasileiro em ascenso social. 2 Edio. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
SOUZA, Florentina da Silva. Afro-descendncia em Cadernos Negros e Jornal do
MNU. Belo Horizonte: Autntica, 2006.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
358
IDENTIDADES DESTERRITORIALIZADAS:
o entre-lugar dos personagens hbridos de Milton Hatoum
Sandra Lcia SantAna dos Santos Pimentel
33
Universidade Estadual de Feira de Santana
sandraliss1@hotmail.com
Resumo: A identidade do sujeito migrante torna-se tema exaustivamente discutido no
cenrio atual global, tendo-se em vista a quantidade de migrao que tem ocorrido
ultimamente. Diante deste gozo do ir e vir, ou da acentuada necessidade de deslocamento,
verifica-se a troca cultural entre diferentes povos. Pois, se por um lado o sujeito do
deslocamento faz transitar as suas experincias culturais, por outro assimila (claro, no de
forma passiva) os bens culturais do outro, dando espao ao que Bhabha (1998) chama de
traduo cultural. A literatura, como forma de expresso e representao cultural de um povo,
no poderia deixar de representar este deslocamento dos sujeitos e este trnsito cultural.
Neste contexto literrio, o autor manauara contemporneo, Milton Hatoum figura como
nome importante, pois busca d voz a sujeitos imigrantes, que carregam ao mesmo tempo
em sua vivncia a tradio e a traduo cultural, buscando (con) viver com as diferenas
culturais. Os livros do autor percorrem esta linha temtica e trazem como forma narrativa
recortes de memrias. Neste trabalho, buscando uma reflexo mais acentuada sobre estas
questes, foi que se pensou em analisar o romance de Milton Hatoum, Dois Irmos, sob a
perspectiva das construes identitrias dos seus personagens e dos lugares ocupados por
estes, em situao de migrao, neste caso Brasil Lbano e Lbano Brasil. Entre estes
personagens destacamos Yaqub, por experienciar a emigrao, tornando-se um sujeito
estrangeiro em seu prprio pas; Omar, o personagem que sempre retorna a seu lugar de
origem; Nael, o narrador, personagem nativo, mas claramente influenciado pelo ir e vir dos
outros personagens; Galib, personagem que mantm forte vnculo com sua terra natal; e
Halim, que traduziu-se completamente em seu novo pas, o Brasil. Estes personagens vo
compor esta anlise. A proposta perceber as caracterizaes destes personagens, suas
(trans)formaes identitrias e suas subjetividades frente a desterritorializao/
reterritorializao, assim como as identidade dos sujeitos nativos. Pretende-se, tambm
lanar um olhar analtico sobre como se d a ocupao do entre-lugar, do sujeito da dispora,
o qual dissolve as fronteiras entre a terra natal e a nova nao ocupada. Para a realizao
deste trabalho fez-se uma anlise do referido romance e de teorias que subsidiassem a
vertente crtica-terica. Dentre os tericos estudados destacam-se, por contriburem de forma
direta com a temtica, Hall (2003)-(2005), Homi Bhabha (1998), Bernd (2011), Cury (2011) e
Bauman (2004). Busca-se, baseado nestas vertentes crticas tericas, um olhar sobre as
fragmentaes e a reconstrues dos sujeitos diaspricos e suas reconstituies enquanto
indivduos reterritorializados.
Palavras-chave: Identidade, Personagens, Deslocamento, Hibridismo cultural.
33
Mestranda em Estudos Literrios pelo Programa de Ps-graduao em Estudos Literrios
(PROGEL), da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
360
1. CONSIDERAES INICIAIS
O sujeito ps-moderno vive uma crise de identificao to acentuada, que h
recentes relativizaes do que se compreendia como identidade. Este conceito
fragmentou-se junto com o indivduo. De acordo com Hall (2005) as velhas
identidades no atendem mais aos anseios desses novos sujeitos, marcados pelo
trnsito cultural. Percebe-se assim que as identidades dos cidados ps-modernos
esto em processo constante, no h como pensar na sua fixidez nesses tempos
globalizantes.
A arte constitui-se como uma forma de representao do homem, exprimindo
suas angstias ou alegrias. Ela exprime, tambm, as situaes vivenciadas por eles na
ps-modernidade, dentre estas, os deslocamentos espaciais e culturais. A literatura,
mais especificamente o romance, como uma dessas formas de representar o homem,
cria enredos no qual personagens vivenciam trnsitos culturais diversos e se (trans)
formam a partir destes trnsitos.
A estes sujeitos, com identidades em construo e em deslocamentos, que
Milton Hatoum busca dar voz. Na narrativa desse autor ressoa o universo dos que
vivenciam a experincia do deslocamento e dos questionamentos de pertencimento a
um determinado lugar. Instaura-se assim, a fragmentao da identidade, pois o
sujeito marcado pelo trnsito cultural vivencia a duplicidade de pertencer, ao mesmo
tempo, a dois lugares, o de nascimento e o da construo das experincias.
No romance Dois Irmos do autor, h personagens hbridos, fragmentados e
em busca de suas identidades. Esta narrativa rememora a vivncia de uma famlia de
origem libanesa, que passou grande parte de sua vida em Manaus, onde construiu
lar. Em sua complexa existncia a famlia passou por profundos conflitos,
desencadeados, principalmente, pelos dois irmos Yaqub e Omar. O primeiro, sujeito
errante, sai de sua terra, ora obrigado pelo pai (Halim) para o Sul do Lbano, ora para
construir carreira em So Paulo. J Omar sente-se enraizado terra manauara, tanto
pelo excessivo zelo materno, quanto pelo forte pertencimento ao seu espao.
O hibridismo cultural, ento corre na veia destes personagens, assim como
de outros, que mesmo no experimentando diretamente o deslocamento, convivem
com seres em migrao. Assim h nas construes desses personagens centrais da
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
361
narrativa, como nos demais a multiplicidade de identidades que nos traz Hall (2003),
quando expressa que na situao da dispora, as identidades se tornam mltiplas.
(p. 27).
A fragmentao e a relativizao das identidades, enquanto processo em
construo, a temtica que interessa este artigo. Objetiva-se um olhar analtico
sobre as construes das personagens hatoumianas, suas identidades em estado
lquido, partindo de seus deslocamentos espaciais.
2. IDENTIDADE E DESLOCAMENTO: PERSPECTIVAS TERICAS
Fernando Pessoa, em seus heternimos, conseguiu se multiplicar em vrios
eus, todos preservando suas particularidades. A multiplicidade de Pessoa representa
para o homem dos sculos XX e XXI os seus fragmentos, as suas diversas pessoas
fluindo para uma nica. Assim se constitui a identidade, ou como mais recentemente
nos trazem os tericos Hall e Bauman, as identidades dos sujeitos ps-modernos.
Os mesmos autores enfatizam a no fixidez da identidade, pois esta
permanece em constante negociao com o mundo exterior do sujeito. De acordo
com Hall (2005, p. 38) a identidade no pode ser algo inato ao ser humano, como por
muito tempo se acreditou, ela est em constante processo, algo inacabado.
Ao se pensar na identidade em formao, ou em seu estado lquido
(BAUMAN, 2004), requer-se uma ateno ao fenmeno da globalizao. Esta alm de
tentar, sem xito total, homogeneizar as culturas mundiais, facilitou o trnsito entre
os espaos mais distantes. Houve, atravs da globalizao, uma aproximao cultural
e espacial entre as diversas comunidades.
Este trnsito propiciou ao homem vivenciar o que Hall (2005) e Bhabha (1998)
denominam de traduo cultural. Na concepo dos autores ps-coloniais, a
traduo cultural relaciona o que o sujeito guarda de suas tradies, com as novas
aquisies culturais, geradas pelo deslocamento espacial. De acordo com Hall (2005),
as pessoas
so obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem
simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
362
completamente suas identidades. Elas carregam os traos das
culturas, das tradies, das linguagens e das histrias particulares
pelas quais foram marcadas. (p.88-89).
Ao experienciar a migrao e misturar-se a outros universos, s vezes to
distantes dos seus, os homens vivenciam a fragmentao de suas identidades (Hall,
2005). Segundo Hall (2005), neste mundo de fronteiras dissolvidas e de
continuidades rompidas [...] h uma crise na identidade do sujeito (p.84), o qual
busca nas negociaes culturais um equilbrio para a sua crise.
As negociaes culturais so tambm chamadas de hibridismo cultural. Para
Bernd (2011):
Culturas hbridas so [...] aquelas em que a tenso entre elementos
dspares gera novos objetos culturais que correspondem a tentativas
de traduo ou de inscrio subversiva da cultura de origem em uma
outra cultura. No se trata, portanto, de assimilaes foradas ou de
fuses, nem to pouco de mestiagens com tendncias
homogeneizao, mas de modos culturais que, oriundos de um
determinado contexto de origem, se recombinam com outros de
origem diversa, configurando novas prticas. (p. 75).
Contribuindo com a ideia de hibridismo cultural, Oliveira (2012) argumenta
que o hibridismo realmente o termo que indica a lgica cultural da traduo [...].
Assim, verifica-se que o hibridismo a terminologia que melhor traduz nossa ps-
modernidade, marcada por constantes deslocamentos de indivduos em busca do
novo.
A identidade destes seres deslocados permeada pela posio intersticial, pois
estes ocupam o entre-lugar. De um lado as tradies da terra natal permanecem e de
outro h aquisies culturais da nova ocupao. A vivncia dessas pessoas
imigrantes figura entre o preservar suas memrias e o adquirir outros
conhecimentos.
Homi Bhabha (1998) afirma que a globalizao cultural figurada nos entre-
lugares de enquadramentos duplos [...] (p. 297, grifos do autor) e que se interessa em
negociar narrativas em que se vivem vidas duplas no mundo ps-colonial, com suas
jornadas de migrao e seus viveres diaspricos. (idem, p. 294). Diante desta
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
363
concepo de vida dupla a partir do deslocamento, percebe-se que as pessoas
migrantes esto fragmentadas ocupando o entre-lugar.
Ao migrar os indivduos convivem com dois mundos culturais que se
entrecruzam e do espao para a criao de outro mundo: o do sujeito da dispora.
Mundo este marcado pelo dilogo constante entre os outros dois e, ao mesmo tempo,
um mundo prprio, com marcas de estar entre, e no pertencer unicamente a
nenhum dos outros dois.
O sujeito da dispora ocupa o entre-lugar, o qual consiste em um espao entre
as duas culturas: a de origem e a do novo espao. Lugar este que demarca uma nova
identidade - no de pura assimilao, mas de identificao - para os sujeitos do
deslocamento.
As sociedades contemporneas esto marcadas pela j referida hibridizao, o
que acentua o entre-lugar ocupado pelos seus sujeitos. Segundo Bhabha (1998):
[...] na cidade ps-moderna [...] tanto a comunidade conhecvel de
Raymond Willian como a comunidade imaginada de Benedict
Anderson tm sido alteradas pela migrao e povoao em massa. As
comunidades migrantes so representativas de uma tendncia muito
mais ampla em direo minorizao das sociedades nacionais. (p.
304).
O que se verifica como consequncia desse processo globalizante uma
sociedade diversificada, pluricultural. Sociedade que dissolve as fronteiras entre um
eu, essencialmente puro e um outro. Neste ambiente pluralizado, os sujeitos se
reafirmam como possuidores de algumas tradies, mas tambm negociam com a
nova cultura a que so expostos.
3. O DESLOCAMENTO ENTRE LBANO E BRASIL NO ROMANCE
HATOUMIANO
O romance Dois Irmos de Milton Hatoum traz uma diversidade de
personagens em crise existencialista, que fomentaria um denso trabalho sobre
identidade em fragmentos. Mas o que se pretende um olhar sobre as construes
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
364
identitrias dos personagens migrantes e os lugares, no novo espao, ocupado por
estes personagens.
No romance, h personagens como Galib e Halim respectivamente av, e pai
dos protagonistas da narrativa, Yaqub e Omar que saram do Lbano e foram
buscar uma nova vida no Brasil. Mas tambm h Yaqub, que no escolheu sair de sua
terra, mas foi mandado para o sul do Lbano. Personagens que experimentam a
migrao e com ela vivenciam a reterritorializao, ou simplesmente sentem-se
desenraizados, tentando conviver com as diferenas.
Neste processo de reterritorializar-se, os personagens de Hatoum constroem
suas identidades, mediadas pelo trnsito cultural. Galib, o pai de Zana com marcas
tradicionais libaneses, busca uma forma de vivenciar suas tradies aqui no Brasil.
Sua identidade permeada pela aproximao entre as duas culturas, mas sua ligao
com a terra natal ainda era muito forte: Zana sugeriu ao pai que viajasse para o
Lbano, revisse os parentes, a terra, tudo. Era o que Galib queria ouvir (HATOUM,
2000, p. 55).
Por fora do destino de um homem que retorna ptria (ibidem), Galib
morre em sua terra natal. Configura-se, na terra natal, um entrecruzamento do incio
e do fim da vida, para Galib. Halim, talvez, vivenciando mais a traduo que a
tradio cultural, rememora a morte de Galib: voltar para a terra e morrer, suspirou
Halim. Melhor permanecer, ficar quieto no canto que escolhemos viver (idem p. 56).
O posicionamento de Halim espelha sua negociao com seu novo lar. Neste
espao, convive desde criana e oscila entre uma infncia no Lbano e longos anos
vividos no Brasil: Vim para o Brasil com um tio, o Fadel. Eu tinha uns doze anos [...]
Ele foi embora, desapareceu, me deixou sozinho num quarto da Penso do Oriente
(idem, p.180). Assim, Halim constri muitas de suas experincias em espao distante
de sua terra de origem.
Os traos identitrios deste personagem so construdos a partir de sua
relao familiar. Como comum na maioria das narrativas orientais, a famlia um
microcosmo. Neste vnculo familiar, Halim deixa-se transparecer fraco e suas
reminiscncias trazem a histria de um homem dominado pelo amor de Zana e entre
os conflitos de seus dois filhos.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
365
O personagem constri lar no Brasil, e mesmo estabelecendo um vnculo de
afetividade com o pas escolhido, o Brasil, no consegue apagar os traos orientais
que herdou da terra que nasceu. Quando Yaqub retorna do Lbano, Halim d quatro
beijos em seu rosto e o cumprimenta em rabe, ratificando a fora cultural da lngua
de uma nao.
A lngua traa a aparente sintonia que Halim mantinha com seu novo pas: s
vezes ele se distraa e falava em rabe. Eu sorria, fazendo-lhe um gesto de
incompreenso: bonito, mas no sei o que o senhor est dizendo (HATOUM,
2000, p. 51). Esta imposio da lngua evidenciava que o personagem ainda
possua forte ligao com a terra natal.
Outro personagem migrante, um dos protagonistas do romance, Yaqub
emigra para o Lbano e l experimenta um trnsito cultural, no por opo, mas
porque seus pais mandam-no para essa experincia diasprica. Yaqub, nessa
migrao forada, vivencia o duplo deslocamento descrito por Hall (2005), o qual
acentua que a crise do sujeito est atrelada descentrao dos indivduos tanto de
seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos (p. 09).
O personagem Yaqub vivencia essa crise identitria multiplicando-se em
vrias identidades, s vezes, no resolvidas (HALL, 2005, p. 12), pois vivenciou
amargamente a experincia da dispora. Arrancado de seu lugar, ele expressa seu
sentimento de tristeza e de revolta:
No morei no Lbano seu Talib [...] Me mandaram para uma aldeia no
sul do Lbano, e o tempo que passei l, esqueci. isso mesmo, j
esqueci tudo: a aldeia, as pessoas, o nome da aldeia e o nome dos
parentes. S no esqueci a lngua... (HATOUM, 2000, p. 118-119).
O universo ficcional de Hatoum no figurado apenas por sujeitos errantes,
h tambm os que no se deslocam de seus lugares, ou quando saem retornam
brevemente aos seus espaos. So exemplos respectivos Nael, o narrador do romance
e Omar, um dos protagonistas. Ambos os personagens, mesmo com ausncias ou
com poucos deslocamentos espaciais, tornam-se hbridos pelo contato com os
personagens em trnsito.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
366
Atravs destes personagens se constri o universo narrativo de Milton
Hatoum. A narrativa deste autor aproxima universos culturais to dspares, quanto
o brasileiro e o libans. Ao serem traduzidos culturalmente, os personagens
imigrantes, no so conduzidos homogeneizao, anulando a memria cultural do
povo libans. Na verdade, o que se verifica um hibridismo cultural.
3.1 OS ENTRE-LUGARES DOS SUJEITOS MIGRANTES EM DOIS IRMOS
Pensar na subjetividade dos sujeitos da imigrao pensar no que restou de
seu eu, e no que se adquiriu do outro diante da experincia da dispora. Entre este
lado mais subjetivo e os contatos com a identidade do outro que se forma um
sujeito fragmentado. Os sujeitos em trnsito experimentam esta fragmentao, esta
duplicidade, o que pode lev-los alterao de sua identidade.
No romance hatoumiano perceptvel este jogo dual das identidades.
Personagens como Halim, Galib e Yaqub exprimem suas identidades num processo
dialgico entre culturas diferentes.
Halim revive a infncia na terra natal atravs da experincia do filho. Ao
mandar Yaqub para o sul do Lbano, Halim busca conciliar os distantes espaos e
culturas, que permearam a sua vida. Para o personagem, tal deslocamento ir aflorar
no filho um sentimento prximo ao seu, no referente ao espao libans.
Galib possui um sentimento mais forte quanto a sua terra natal. O personagem
cria formas de reviver no atual territrio, Manaus, um pouco do Lbano, atravs da
culinria. Este ligamento com o Lbano se solidifica quando a morte se concretiza na
terra natal. Morrer no lugar que nasceu, no seu lugar, talvez fosse esse o grande
desejo de Galib, que no Lbano, se unissem as duas pontas de sua vida.
Um terceiro personagem Yaqub, tem a experincia de emigrao marcada pela
recusa e o desprezo de quem teve algo interrompido antes do tempo: a infncia.
Quando Yaqub chegou do Lbano, o pai foi busc-lo no Rio de Janeiro [...] No era
mais o menino, mas o rapaz que passara cinco de seus dezoito anos no sul do
Lbano. (HATOUM, 2000, p. 13).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
367
Ao retornar ao Brasil, Yaqub, por ter sido retirado do seio familiar e entregue a
uma cultura que no era a sua, guarda profundos ressentimentos. As reminiscncias
vo tomando conta deste personagem e suas dores vo-se acentuando.
No caminho do aeroporto para casa, Yaqub reconheceu um pedao
da infncia vivida em Manaus, se emocionou com a viso dos barcos
coloridos, atracados s margens dos igaraps poronde ele, o irmo e o
pai haviam navegado numa canoa coberta de palha. (idem, p. 16).
O novo homem, que retorna a Manaus, traz na bagagem uma mgoa imensa e
pronuncia que quer esquecer tudo o que viveu no sul do Lbano. Alis, precisa
esquecer, pois fica subentendido no texto que Yaqub tem pssimas experincias de
emigrao. Mas a lngua com sua fora cultural se impe a esta tentativa de
esquecimento.
Ao voltar para casa, Yaqub sente-se [...] como se os elos naturais e
espontneos que antes possuam tivessem sido interrompidos por suas experincias
diaspricas. Sente-se feliz por estar em casa. Mas a histria, de alguma forma,
interveio irrevogavelmente. (HALL, 2003, p. 27).
Este personagem faz do silncio sua armadura e nunca pronunciou o que lhe
aconteceu de to grave no Lbano, calava quando podia, e, s vezes, quando no
devia. (HATOUM, 2000, p. 16). O silncio e a seriedade levavam o narrador a
refletir sobre o porqu de tanto vazio na vida de Yaqub:
Eu via, em relances, o rosto srio de Yaqub, e imaginei o que teria lhe
acontecido durante o tempo em que viveu numa aldeia do sul do
Lbano. Talvez nada, talvez nenhuma torpeza ou agresso tivesse
sido to violenta quanto a brusca separao de Yaqub de seu mundo.
(idem, p. 116).
O personagem Yaqub representa as angstias dos seres humanos que so
desterritorializados. Ele se enclausurou no mais absoluto silncio e no exps nada
de sua subjetividade. Isto o torna uma incgnita para os que com ele convivem, os
quais pensam na oscilao de um Yaqub srio e equilibrado ou um indivduo sfrego
e marcado pelo abandono de sua terra: [...] Ele me deixou uma impresso ambgua,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
368
de algum duro, resoluto e altivo, mas ao mesmo tempo marcado por uma
sofreguido que se assemelha a uma forma de afeto. (idem, p. 114).
Entre o silncio e as reminiscncias, percebe-se o entre-lugar ocupado por
Yaqub. Este personagem carrega na bagagem as experincias de sua origem e
obrigado a viver a emigrao. Entre o seu mundo e o mundo obrigado a ocupar, o
personagem cria uma resistncia incorporada no seu silncio.
Assim como Yaqub, os personagens Halim e Galib vivenciam nos entre-
lugares. Halim consegue negociar com sua nova terra e a partir dessa negociao
percebe-se a predominncia dos aspectos culturais brasileiros se sobrepondo aos
libaneses, mas no aniquilando-os. J Galib traz para o Brasil suas experincias
libanesas, tentando fazer de seu novo lar um reflexo de sua terra natal.
3.2 RELAES HBRIDAS E A IDENTIDADE DO NATIVO
As construes identitrias na obra hatoumiana so mediadas pelo trnsito
cultural e pelas relaes estabelecidas atravs deste trnsito. Logo, o processo de
hibridismo verificado tanto no sujeito que chega de outro espao, quanto no que se
relaciona com este. Culturas hbridas, ento, so globais. Dessa forma, imaginar
lugares fechados de culturas puras algo ilusrio frente ao processo migratrio
acentuado pela globalizao.
Alguns personagens na obra literria hatoumiana vivenciam a experincia de
relacionar-se com o outro culturalmente sem rompimento com o seu espao. Esta
relao se d tanto atravs de sadas com rpidos retornos, neste caso tem-se como
exemplo o personagem Omar. Quanto atravs do contato com personagens em
deslocamento, que o caso do narrador Nael.
Omar um personagem que mantm fortes ligaes com o local de infncia.
Mesmo afastando-se algumas vezes do lar materno, o personagem sempre retorna.
Quando h na narrativa a impresso de que Omar soltara-se de vez (HATOUM,
2000, p.145), o personagem est ali, bem perto, entrincheirado trezentos metros da
casa dos pais.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
369
Tanto estes breves deslocamentos, quanto as relaes estabelecidas no seio
familiar conduzem Omar fragmentao identitria. Talvez este seja permeado por
todas as crises configuradas no romance: a crise familiar, a social, a identitria. Nele,
percebe-se uma dependncia quase vital da me, uma relao de competitividade
com o irmo e um forte conflito com o pai. Estes fatores aliados identificao com
as farras de Manaus sero as causas da referida crise, pois fazem dele um sujeito
deslocado na prpria famlia.
Omar no vivencia nada seu, suas experincias esto sombra e sobre o
controle da me, Zana. Sua identidade marcada pelo no-ser, por refletir as
preferncias de uma me controladora e por viver desejando/odiando a vida do
irmo. Neste paradoxo de sentimentos, o dio superou e o Caula (apesar de ser
gmeos Omar nasceu primeiro que Yaqub), quando no ignorava completamente a
presena do irmo mesmo a presena na ausncia cultuada por Rnia e Zana,
atravs de cartas e fotos provocava e incitava a rivalidade.
O Caula experimenta o desconforto de no poder fazer suas prprias
escolhas, de no ter suas prprias e independentes experincias. Ele vivencia o que
Sousa (2012) pontua como desconforto e precariedade do homem moderno, os quais,
de acordo com a estudiosa, esto vinculados questo identitria, necessidade de
perceber o desvirtuamento dos valores e da convivncia do eu com o seu estranho
outro. (p. 136).
A identidade de Omar est entrelaada s outras identidades de seus
familiares, pois o indivduo permeado pela formao identitria coletiva. Seus
significados culturais so construdos a partir dessa relao com o outro. necessrio
destacar o fato deste outro ser o sujeito migrante. Logo, os deslocamentos e as redes
culturais que englobam o outro, na situao de deslocamento, tambm vo refletir-
se na vida de Omar.
H na narrativa outro personagem marcado pelas influncias do outro, Nael
o narrador do romance. Este de forma mais significativa que Omar, pois no se
desloca em momento nenhum da cidade manauara. Este personagem caracterizado
pelo no-deslocamento, alis, atravs do olhar dele - um sujeito subalterno, pois
filho bastardo da empregada da casa que vemos as experincias de migrao dos
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
370
outros personagens. Nael experimenta, mais acentuadamente que Omar, os reflexos
dos deslocamentos dos outros.
O narrador constri sua identidade entre as observaes que realiza da
vivncia da famlia rabe e as histrias desta mesma famlia contadas por Halim.
Seus traos pessoais e seus legados culturais trazem a marca de diversas influncias,
inclusive a indgena, considerando que Domingas, sua me, uma ndia. Estes traos
identitrios no ganham relevo na narrativa, pois o narrador o filho bastardo de
Omar ou Yaqub fato que no fica claro no enredo. Seu papel no ultrapassa os
limites de quem ouve as lembranas de Halim e o de quem, vivendo nos fundos da
casa e trabalhando tambm como empregado, observa o drama familiar.
A identidade de Nael uma busca constante, atravs das junes dos retalhos
da memria. O narrador se pergunta sobre sua origem e tenta descobrir da me
quem seu verdadeiro pai. s vezes, pensa que fruto de um abuso sexual de Omar,
num momento de bebedeira, mas no descarta a possibilidade de seu pai ser o outro
gmeo: Hoje, penso: sou e no sou filho de Yaqub, e talvez ele tenha compartilhado
comigo esta dvida (HATOUM, 2000, p. 264).
Nesta crise de quem sou eu?, quais so minhas bases?, Nael vai
reconstruindo a sua histria atravs de suas memrias, mas percebe que seu papel na
vida familiar marcado pela subalternidade, pois mesmo sendo da famlia, no
tratado como tal, pela maioria. Pelo contrrio, as humilhaes persistem em
acompanhar o narrador. Omar se destaca nestes atos de humilhao:
A algazarra de um grupo de homens me despertou. Quando se
aproximaram do caramancho, um deles apontou para mim e gritou:
o filho da minha empregada. Todos riram e continuaram a andar.
Nunca esqueci. Tive vontade de arrastar o Caula at o igarap mais
ftido e jog-lo no lodo, na podrido dessa cidade. (HATOUM, 2000,
p. 179).
Nael tinha a percepo do quanto os membros da famlia libanesa sufocavam
a sua identidade. Ele vivenciava a anulao de seu eu e percebia a sua no-
identidade, reafirmada por sua prpria famlia: [eles] deveriam rir de mim. Filho de
ningum! (p. 251). A construo identitria, a partir das relaes de poder expressas
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
371
por Foucault (1968), citado por Hall (2005), descreve bem a situao do personagem
Nael. Alm dessa relao de poder, tal identidade se define nos encontros culturais.
O personagem, assim como Omar vivencia uma constante crise de identidade,
pois suas referncias de origem tornam-se um enigma. Na narrativa, Nael rememora
os acontecimentos em busca dessa enigmtica origem. Atravs dessa rememorao
h uma tentativa do narrador de reconstruir-se, enquanto sujeito integrado.
CONSIDERAES FINAIS
Ao ler a obra hatoumiana, visualiza-se que o narrador reconstri, atravs de
retalhos de memria, as vivncias de imigrantes libaneses no Brasil. Esta
rememorao abrange uma famlia dentre muitos imigrantes e traz o conflito e a
decadncia desta famlia. Ao mesmo tempo em que a narrativa foca o seio familiar,
no deixa de expressar as mudanas que acontecem em Manaus, em seu perodo de
modernizao.
Dois Irmos uma obra para insero em universos culturais diferentes, ao
mesmo tempo entrelaados. Ler esta obra um dilogo constante com esta
negociao cultural, fazendo-nos refletir sobre nossas experincias diaspricas (s
vezes, no fisicamente), mas, principalmente, leva-nos a refletir sobre nossas
identidades fragmentadas pelo mundo ps-moderno.
Diante de uma narrativa plural e instigante, como a hatoumiana, percebem-se
temas como hibridismo cultural, negociao cultural, alteridades, crises dos sujeitos,
enfim h uma diversidade investigativa na obra do autor manauara.
Os personagens Galib e Halim mantm fortes ligaes com sua terra de
origem, mas vivem bem no pas que escolheram viver. Preservam-se traos da
tradio, mas adquirem-se muitos novos traos do novo lar. J o personagem Yaqub,
como foi arrancado de seu lar e experimentou a dispora, prefere esquecer que foi
para o Lbano. Atravs do silncio, ele se tranca em seu mundo, repelindo qualquer
tentativa de insero neste mundo.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
372
J os personagens Omar e Nael, por experimentarem mais sutilmente o
deslocamento, so arraigados ao seu lugar de nascimento. Ambos so influenciados
pelos legados culturais do sujeito em deslocamento.
A identidade do migrante, portanto, no algo slido e enclausurado em
tradies perfeitas e impenetrveis, assim tambm no o a identidade do sujeito
nativo. Contrariamente a esta ideia, a identidade do sujeito ps-moderno pode
adquirir mltiplas facetas, ser dupla, diversa. Pode-se utilizar cada uma de suas
mltiplas identidades em situaes diferentes. a ideia do ser mltiplo em um.
Referncias
BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Trad. Carlos Alberto
Medeiros. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2005.
BERND, Zil. Literatura e identidade nacional. 3. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS,
2011.
BHABHA, Homi. Como o novo entra no mundo: o espao ps-moderno, os tempos
ps-coloniais e as provaes da traduo cultural. In:______ O local da cultura. Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 1998, p. 292-325.
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Ps Modernidade. Rios de Janeiro: DP& Editora.
2005.
HALL, Stuart. Pensando a Dispora: reflexes sobre a terra no exterior. In:______Da
Dispora: identidades e mediaes culturais. Org. Liv Sovik. Belo Horizonte: Editora
UFMG, Braslia: Representao da UNESCO no Brasil, 2003a. p. 25-50.
HATOUM, Milton. Dois Irmos. So Paulo: Campanhia das Letras, 2000.
OLIVEIRA, Romilton B. Uma abordagem ps-moderna da obra literria o vendedor
de passados, de Jos e Agualusa: identidade, desterritorialidade, hibridismo e
cultura. In:______ Literatura, Identidade e memria. 2. Ed. Rio de Janeiro: CBJE (Cmara
Brasileira de Jovens Escritores). 2012, p. 121-137.
SOUZA, Eneida Maria. Tempos de ps-crtica: ensaios. 2. ed. Belo Horizonte: Veredas e
Cenrios, 2012.
LITERATURA INFANTO-JUVENIL AFRO-BRASILEIRA
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SALVADOR:
analisando o livro EP LAIY
Valdecir de Lima Santos (PPGEL/UNEB)
34
Analia Santana (PPGEduc/UNEB)
35
Resumo: Neste trabalho, tecemos reflexes sobre a importncia da literatura negro-brasileira
infantil ou afro-brasileira como uma prtica pedaggica concreta de ao contra o racismo, a
discriminao e o preconceito, alm da contribuio individual do ser humano para o
equilbrio do planeta na contemporaneidade. Abordar essa temtica, especificamente nas
turmas do Ensino Fundamental, do primeiro ao nono ano, imprescindvel para romper os
limites e as fronteiras institudas pela ideologia eurocntrica, que negligenciou durante
sculos os conhecimentos e os saberes de tradio africana. Sabemos que esses valores
culturais, filosficos, religiosos, histricos, lingusticos etc., foram reelaborados pela
comunidade negra e ajudaram na construo da sociedade brasileira. Um dos pilares da
epistemologia africana o cuidado e a preservao do meio ambiente, pois por meio dos
seus elementos gua, fogo, terra e ar que o/a homem/mulher conecta o aiy (mundo
visvel) ao orum (mundo invisvel). A Lei 10.639 de 2003 instituindo o ensino da Histria e
Cultura Africana e Afrobrasileira nas instituies escolares de todo o pas, contribui
positivamente, para a insero e reelaborao desses conceitos. Assim, no presente artigo,
visamos analisar a obra literria Ep Laiy: terra viva, de Maria Stella de Azevedo Santos,
trabalhada pedagogicamente nas rodas de leitura das Escolas Marechal Rondon e Novo
Marotinho da Rede Municipal de Ensino de Salvador. Ao incentivar a reflexo de temticas
que afirmem a alteridade, estamos, de algum modo, incentivando os nossos alunos a
perceberem que o conhecimento deve constituir-se numa ferramenta essencial para intervir
no mundo (GADOTTI, 1998, p.30). A obra analisada faz-nos pensar em caminhos
alternativos para minimizar os problemas do mundo, cuja interao ocorre, principalmente,
pelo processo imaginativo e do sonho que a literatura proporciona. A eleio de Me Stella
para a Academia de Letras da Bahia viabilizou o alargamento de discusses e
questionamentos sobre a possibilidade de uma produo literria negra que corrobora para
uma prxis que privilegie a abordagem transversal e interdisciplinar. Observamos que o
processo ensino-aprendizagem, com o uso dessa temtica, tornou-se mais significativo para a
maioria dos alunos, entretanto, imps desafios diante da resistncia dos pertencentes a
religies de matriz judaico-crist. Como agentes sociais, os educandos podem comear
plantando uma rvore real e tambm literria, como prope a obra, mas tambm plantar
sonhos, por exemplo, formando redes de colaboradores, para reconstruir o mundo,
tornando-o mais harmonioso, apto a romper com conceitos tradicionais de verdade e poder,
que possibilitam apreender o real e intervir diretamente sobre ele.
Palavras-chave: Literatura Afro-brasileira; Prtica Pedaggica; Alteridade.
34
Mestranda do Programa de Ps Graduao em Estudo de Linguagens da Universidade do Estado
da Bahia (PPGEL/UNEB) valdecyr_lima@yahoo.com.br
35
Mestre em Educao pelo Programa de Ps Graduao em Educao e Contemporaneidade da
Universidade do Estado da Bahia (PPGEduc/UNEB) nalsantana33@hotmail.com
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
374
1. APRESENTAO
Nesta ltima dcada observamos uma redefinio nas pautas reivindicatrias
dos descendentes de africanos ou negros do Brasil. Atravs de lutas diversas, de
resistncia histrica, do movimento negro e outras organizaes sociais em diferentes
pocas; tm conquistado importantes direitos, e, tambm, questionado os lugares de
poder na sociedade brasileira. Contudo, os modos de apropriao desses espaos
sociais, polticos, culturais, literrios esto se constituindo de forma lenta, a partir do
reconhecimento e valorizao da cultura de matriz africana e afro-brasileira, que,
paulatinamente, evidencia que, para alm da cultura eurocntrica, colonialista,
racista e sexista; existem outras maneiras de conceber o mundo.
A eleio de Me Stella para a Academia de Letras da Bahia viabilizou o
alargamento de discusses e questionamentos sobre a possibilidade de uma
produo literria negra que corrobore para uma prxis que privilegie a abordagem
transversal e interdisciplinar. Vale ressaltar, tambm, que a eminncia deste novo
espao, repercutido no mbito literrio brasileiro, se materializa atravs da
perspectiva de escritores que assumem para si e para seus escritos uma identidade
negra e/ou afro-brasileira. Isto em decorrncia do desejo de produzir um discurso
identitrio que expresse a trajetria histrica e cotidiana do povo negro no Brasil.
Essa arte literria, forjada a partir dos diversos saberes cumpre o papel de valorizar e
representar de forma propositiva a comunidade negra.
No entanto, observamos, que estas manifestaes no espao educacional
brasileiro, embora venham a cada dia se ressignificando, principalmente aps a
implementao da Lei 10.639/2003, que inclui no currculo oficial da Rede de Ensino
a temtica Histria da frica e da Cultura Afro-brasileira como obrigatrio, ainda
tem muito que se desenvolver. Isto em decorrncia das relaes de poder
estabelecidas que privilegiam um conhecimento de negao da alteridade, da [.]
convivncia com processos de civilizao e cultura diversos (Luz, 2000, p.30).
Na contramo deste processo, tentando fazer valer os direitos de equidade da
comunidade negra, diferentes grupos se organizam, negros e no-negros, para
pensar em rotas alternativas. Entre eles, podemos destacar as Escolas Municipais
Marechal Rondon e Novo Marotinho, localizadas em bairros perifricos da cidade de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
375
Salvador, no estado da Bahia, compostas na sua maioria por alunos negros ou
afrodescendentes. Ainda que sejam aes pontuais, estas veem corroborando para a
discusso e incluso das temticas da diversidade tnica, alteridade e pluralidade
cultural garantidas por lei.
Estas escolas buscam assegurar, atravs de projetos poltico-pedaggicos, um
ensino de qualidade de cunho multicultural e plurtnico, que oportunize aos
educandos aprendizagens significativas. Para tanto, as prticas pedaggicas
referendam-se nas experincias, nas necessidades e na diversidade de conhecimentos
que cada educando traz consigo, a fim de que experenciem o exerccio consciente da
cidadania ao mesmo tempo em que reconstroem a sua identidade negra de forma
proativa e propositiva.
Motivados por estas reflexes que esse artigo se fundamenta, buscando
apresentar o trabalho literrio desenvolvido em sala de aula nas respectivas escolas
supracitadas, a partir da obra literria Ep Laiy: terra viva, de Maria Stella de
Azevedo Santos (2009). Essa ao constitui- se eficaz no combate ao racismo,
discriminao e ao preconceito, alm de contribuir com mudana de atitudes que
minimizem os impactos negativos sobre o meio ambiente, atravs da trade relacional
eu-outro-sociedade.
Um dos pilares da epistemologia africana o cuidado e a preservao do meio
ambiente, pois por meio dos seus elementos gua, fogo, terra e ar que o/a
homem/mulher conecta o aiy (mundo visvel) ao orum (mundo invisvel). A Lei
10.639 de 2003 instituindo o ensino da Histria e Cultura Africana e Afrobrasileira
nas instituies escolares de todo o pas, contribui positivamente, para a insero e
reelaborao desses conceitos. A obra analisada faz-nos pensar em caminhos
alternativos para minimizar os problemas do mundo, cuja interao ocorre,
principalmente, pelo processo imaginativo e do sonho que a literatura proporciona.
2. TRILHANDO OS CAMINHOS DE EP LAIY
O livro Ep Laiy: terra viva assinala mais uma vez, pela temtica abordada e
pela autenticidade da narrativa, a tradio da cultura africana e de seus descendentes
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
376
na literatura afrobrasileira. Em outros tempos, Maria Stella de Azevedo Santos s nos
poderia apresentar esta histria, plenas de valores sociais, religiosos, filosficos,
ticos de tradio nag, atravs da literatura oral.
Com as lutas dos povos negros em busca de sua efetiva integrao na
sociedade brasileira, narrativas como estas, que se propem a desconstruir os ditos e
os interditos sobre os povos de santos, vm se constituindo. Elas [...] se
caracterizam como um aspecto da pedagogia inicitica, servindo como ilustrao
dessa prtica pedaggica para as pessoas desvinculadas dela (LUZ, 2011, p. 92).
Neste sentido, entender a complexidade que circunscreve esta produo
literria afrobrasileira voltada para o pblico infanto-juvenil negra, um fator de
suma importncia, pois esta corrobora para fazer valer os procedimentos
democrticos determinantes para o exerccio da cidadania. Alm do que, neste
contexto, o povo negro e a produo literria negra deslocam-se da margem e passa a
ocupar lugar de centralidade na ordem do discurso, desmistificando os esteretipos
construdos em seu entorno.
Como forma de contextualizar na prtica este cenrio literrio, levamos para a
sala de aula a magia do livro Ep Laiy: terra viva. Brincando com as palavras fomos
transpondo as fronteiras da realidade com o vo da fantasia, e adentramos ao espao
educacional, buscando consolidar e contribuir na construo de polticas estratgicas
educacionais de aprendizagens atravs da leitura e da literatura. Afinal,
(...) uma histria uma histria, e voc pode cont-la como sua
imaginao, sua essncia e seu ambiente determinarem; e se sua
Histria criar asas e passar a pertencer a outras pessoas, talvez voc
no consiga traz-la de volta. Um dia ela retornar a voc,
enriquecida por novos detalhes e com uma nova voz (MANDELA,
2009, p. 9).
Desse modo, vale salientar que tais medidas para se efetivarem em sala
exigem uma ampla mobilizao individual, social, formativa e informativa do
educador/a pesquisador/a, pois este/a, enquanto mediador/a do conhecimento
necessita suscitar nos educandos diferentes habilidades e competncias
mobilizadoras para que o mundo real seja redimensionado e operacionalizado no
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
377
sentido da resoluo dos conflitos (MOORE, 2010). O fazer pedaggico exige um
posicionamento poltico de discusso, de denncia, de investigao e de
desconstruo dos saberes historicamente institudos (FREIRE, 1987).
Neste contexto, a literatura uma maneira significativa de se estudar as
diferentes temticas em sala de aula, propiciando a ampliao da viso de mundo e,
consequentemente, a construo do conhecimento das diversidades tnicas, sociais e
culturais de forma plstica, crtica e prazerosa. E se constitui forma de resistncia,
meios de assegurar, valorizar e difundir o legado cultural, filosfico e religioso do
povo negro, to presentes nas comunalidades e na forma de pensar e organizar a
vida da sociedade brasileira. De acordo com (MACHADO, & et al., 2012, p. 29)
A sutileza da literatura se d na formao humanstica da criana e
do jovem proporcionadas pela leitura. Ao tomar contato com um
mundo imaginrio, inventado, diferente do nosso, realizamos um
caminho de subjetivao, nos apropriamos da liberdade, da
autonomia do nosso mundo de sentimentos.
Instigadas por muitas dessas reflexes e inquietaes, nos lanamos a
experimentar nas rodas de leitura corporificadas em algumas classes dessas duas
escolas municipais a Obra Literria Ep Laiy Terra Viva como profcuas e prazerosas
atividades. A literatura pode ser vivenciada pelas crianas e pr-adolescentes porque
as mesmas dispem de nmero razovel de livros (em mdia quarenta exemplares).
Assim, foi possvel que cada aluno acompanhasse a narrativa, lesse e manuseasse o
seu prprio livro, rico pela narrativa que aborda e tambm pelas imagens coloridas e
instigantes que apresentam.
Observamos ao analisar a obra que Nando, um menino de 10 anos, vivia
inquieto, com suas ponderaes sobre o que fazer para ajudar a diminuir os
problemas do mundo. Ao escutar o pulsar do seu corao, o menino decidiu plantar
uma rvore, dando-lhe o nome de Ep Laiy, palavra de origem Yorub
36
que significa
terra viva.
36
Yorub: Lngua Africana falada no sudoeste da Nigria e em parte do Benin, aqui no Brasil
sobrevive alguns substratos linguisticos na religio de matriz africana do Candombl. A expresso
usada para designar os povos africanos (Yorubanos, Nags, Jejes e Fons) enviados para o Brasil pelo
processo escravocrata n reinos da Costa Africana tambm chamada Costa dos Escravos.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
378
A rvore era uma grande sonhadora, chegara ao mundo impregnada das
ideologias do seu criador que se pautava numa cosmogonia africana, cuja filosofia
encontra-se sempre calcada no saber cuidar, seja a si mesmo, ao outro ou a natureza.
Mas, como se encontrava fixa ao solo, no podia andar para colocar em prtica seus
anseios de construir um mundo melhor e mais harmonioso.
Conhecedor dos pensamentos de Ep Laiy, Osanyin
37
, o orix responsvel
pelas plantas curativas, realizou o seu desejo de andar. Agora liberta das amarras
impostas pelas razes, que lhe fixavam ao solo e a um nico lugar, saiu em luta. No
entanto, ao longo do caminho encontrou inmeras barreiras, principalmente a falta
de apoio dos seus pares, [...] mas a ousada esperana, de quem marcha cordilheiras
(EVARISTO, 2008, p.15), no a fez estancar seus sonhos. Ao longo do caminho,
comeando a ficar desanimada, apareceu-lhe em socorro o senhor do movimento e
da ao, Exu. Este a aconselhou a conectar o mundo visvel, o aiy, ao mundo
invisvel, o orum. E assim ela o fez.
margem de uma cachoeira invocou Oxum, mas sua voz no encontrava ecos
de ressonncia, pois as guas encontravam-se fracas, sujas, poludas. Tal descaso com
a natureza enfraquecia a orix, e s aps muitos chamados que a mesma apareceu,
chorando, entristecida e indignada com a forma como o homem estava destruindo os
recursos naturais, todos imprescindveis vida. E assim, as lgrimas de Oxum
misturaram-se as lgrimas de Ep Laiy em face da destruio.
Para fortalec-la, rvore mais uma vez contou com os encaminhamentos
dados por Exu. Este lhe instrui a realizar uma oferenda. E assim ele o fez. Aps tal
feito, seguiu a sua trajetria e encontrou Yans, tambm muito zangada, pois suas
guas, as do mar, encontravam-se cheias de lixo, Para acalm-la, retirou todo o lixo e
ela voltou a sorrir
Aps ajudar Yans, seguiu caminho e encontrou Ogum e Oko conversando de
forma exaltada. Percebendo-lhes o descontentamento em face das queimadas e do
desmatamento, teve receio e no os interrompeu decidindo voltar para casa. J em
37
Nesta obra a autora usa os nomes dos orixs de forma tranquila no texto, por ser uma autoridade no
assunto em termos religiosos e filosficos e literrios no cabe a ns trazermos mais explicaes visto
que, na obra por si s, ela esclarece a funo de cada um dos orixs na natureza numa linguagem
envolvente.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
379
casa, pensando em desistir dos seus propsitos, recebeu uma visita surpreendente,
Nando, o menino que lhe plantara, tambm viera a seu socorro, a sua frente vinha
Oxossi, o protetor dos animais e das florestas, para ajud-la a reestabelecer o
equilbrio, guiando outros orixs. E assim, cada um assumiu para si uma funo.
S neste momento, diante de tal rede de solidariedade que Ep Laiy
compreendeu que nas suas incurses, nunca estivera s. Sua peregrinao fora
indispensvel para alicerar a sua crena em si mesmo e na fora transformadora que
/est no/com o outro.
Aps a leitura, as salas vivenciaram momentos de festividades, as crianas no
cessavam de ver o livro, de mostrar o que mais lhes chamara a ateno. As
professoras, como mediadoras do conhecimento, levantaram aspectos textuais,
temticos e interpretativos para fins de anlise da obra. Questionamentos foram
levantados, vocbulos desconhecidos elucidados, compreenso e apreenso crtica da
temtica foram realizadas com efetividade. Dessa forma, a literatura
africano/brasileira deu acesso a novos mundos, socioculturais com valores distintos
e comportamentos prprios queles valores (LUZ, 2007, p. 83) inculcados com a
ideologia embranquecida, eurocntrica que recalca a afirmao existencial e
impedem o acesso outras leituras de mundo.
Neste processo interativo, a reinveno, a fantasia e a reapropriao do
conhecimento que proporciona a aprendizagem ocorreu de forma significativa
porque:
O conhecimento um bem imprescindvel produo de nossa
existncia. Por isso, ele no pode ser objeto de compra e venda cuja
posse fique restrita a poucos. Paulo Freire tinha verdadeiro amor pelo
conhecimento e pelo estudo. [...] O conhecimento deve constituir-se
numa ferramenta essencial para intervir no mundo (GADOTTI,
1998, p.30).
3. VOZES NO SILENCIADAS: ELAS ECOAM NO PULSAR DO CORAO
E assim, Entre os prs e os contras, ou entre os ditos e os interditos, vozes que
em outros contextos so silenciadas, nestas salas de aula se fizeram ecoar,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
380
expressando contentamentos, dvidas, questionamentos, concordncias,
discordncias, esteretipos e at alguns medos, suscitados pela obra. Os meninos e
meninas expressaram, nas rodas de leitura, suas impresses sobre a obra. Obra esta
que pouqussimos educadores se dispem a levar para a sala de aula, mesmo que
esta esteja h quase dois anos disponvel na maioria das escolas municipais de
Salvador.
As falas que seguem foram colhidas nos momentos das rodas de leitura nas
duas escolas em que o projeto foi realizado. As educadoras questionaram quais
foram as impresses que as crianas e jovens tiveram da obra. Algumas das
respostas:
- Ele cuidava da natureza, boa a histria, ajudava as rvores e o meio
ambiente com a ajuda dos deuses (U. F., 11anos);
- Achei boa a histria porque ele quis mudar o mundo, ele teve uma ideia
tima e contou com Yemanj. Ajudou Oxum a ficar forte (E. V., 10 anos);
- Achei legal porque falava sobre a natureza. Exu, Ep Laiy falou que a gua
estava fina porque estava muito suja e a deusa das guas estava fraca (N. V., 11
anos);
- Fala sobre a natureza e tem palavras ni Yorub falava sobre Oxum, Oxumar,
Yemanj [...] (E. V., 9 anos);
- Gostei porque ele quer mudar, como mudar o planeta! (M.S. 10 anos);
- Nando teve uma boa ideia e plantou uma rvore mgica (L. F., 09 anos);
- Em toda pgina, tinha figura diferente, bonita sobre as plantas. (C. J, 09
anos);
- L na casa da minha v tem um bucado dessas plantas! (R. P., 11anos);
- "Eu gostei de umas partes: natureza, rvores, Ep Laiy. No da parte que
falava de Exu porque eu sou da igreja (E. G., 09 anos);
- Pr ela falou que fala de diabo, que macumba! (M, 10 anos); E voc sabe
o que significa macumba?(Professora). feitio! O que chamamos feitio oferenda,
macumba um instrumento musical. A religio se chama Candombl (no Rio de
Janeiro e Minas a expresso macumba no ofensa religio o nome popular aqui
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
381
na Bahia geralmente se usa para ofender as pessoas). Esta religio foi criada pelos
negros aqui no Brasil para preservar sua f trazida da frica. uma religio diferente
no tem nada a ver com diabo. So foras da natureza com nomes diferentes em
outras lnguas diferentes da nossa.
- Eu s no gostei da parte que fala de Yemanj e do Exu, porque eu sou por
caso que tem vez que vou pra a igreja. Mas linda a histria, o Pastor falou que
ruim essas coisas! (J.M., 8 anos);
- pr nem fiquei com medo dos orixs! (P. A., 10 anos).
-E quem disse que orix faz medo? (Professora).
-Muita gente fala! (P.A., 10 anos).
-Eles no fazem medo. Eles so energias e foras positivas da natureza
(Professora).
- A senhora acredita? (P.A., 10 anos).
- Eu acredito! (Professora).
Nessa perspectiva, as rodas de leitura com a obra de Me Stella constituiu-se
como uma importante ferramenta para nossa prtica pedaggica, uma aliada para
tratar de forma leve, prazerosa, envolvente e questionadora, uma temtica to
imprescindvel na atualidade que a preservao ambiental inter-relacionada pela
ao dos elementos religiosos de matriz africana, neste caso os orixs. Observamos
que o processo ensino-aprendizagem, com o uso dessa obra literria, tornou-se mais
significativo para a maioria dos alunos, entretanto, imps desafios diante da
resistncia dos pertencentes religies de matriz judaico-crist.
O projeto literrio desenvolveu-se durante duas semanas, e nessa prtica
pedaggica os educandos foram estimulados a incorporar os seus saberes aos saberes
de ordem poltico, econmico e tnico-cultural e de preservao do planeta como
agentes ativos que interagem em suas vrias dimenses, compreendidos dentro de
uma tica prpria e externados a partir da reelaborao de sua prpria lgica interna.
A execuo das atividades propostas foi marcada por um misto de magia,
encantamento, e at tenso por parte dos educandos, pois os mesmos tinham
dvidas quanto s suas potencialidades, e o novo sempre ocasiona um efeito de
estranhamento. Principalmente porque a obra traz a atuao e a ao dos orixs
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
382
como elementos dinmicos da natureza, o que se distancia da realidade de vrios
alunos, cuja prtica religiosa de fundamento judaico-cristo, e no tm essas
discusses em pauta, nem mesmo na escola. Marco Aurlio Luz colabora com esta
reflexo ressaltando que a compreenso da diversidade humana, cultural e
civilizatria aceitando a variedade das identidades e acolhendo a diversidade das
alteridades (LUZ, 2007, p. 166), torna-se imprescindvel.
Este trabalho foi imprescindvel para abrir um dilogo sobre a religio de
matriz africana, como maneira de preservao das fontes naturais de riqueza que na
contemporaneidade encontra-se em processo de degradao ambiental. Na medida
em que foram se auto-descobrindo capazes e aptos a produzir conhecimentos,
engajaram-se ao mximo na execuo do trabalho, superando as expectativas. Os
discursos foram gradativamente sendo transformados e as atividades se
apresentaram como ricas oportunidades de desconstruir os construdos, tornando o
indizvel dizvel.
Foi possvel perceber que rearticulando, reorganizando e levando em
considerao as demandas do grupo, seu imaginrio e suas representaes podemos
sim articular dilogos literrios que questionem tramas conceituais que possibilitem
ao outro, novas percepes de mundo. Para tanto, necessrio literal e literariamente
construir possibilidades de circulao das informaes que lhes so apresentadas.
Um desafio que foi validado na medida em que resultou no avano argumentativo e
reflexivo dos educandos. Portanto, a escola no pode se furtar a atividades
pedaggicas que contemplem a Histria e Cultura Africana e Afro-brasileira para a
desconstruo dos esteretipos, dos conceitos tradicionais de verdade e poder, e
devem sim fornecer mecanismos que tornem possvel apreender o real, o imaginrio
e o investigativo e intervir diretamente sobre ele.
Torna-se necessrio assegurar aos alunos a sua insero, permanncia e
desenvolvimento no contexto escolar para que se potencialize diferentes saberes,
habilidades e competncias estimulando sua criticidade e autonomia. Tarefa das
mais difceis que requer de um lado, um slido projeto de desenvolvimento
econmico e, de outro, uma poltica de emancipao cultural (KRAMER, 2010, p.14).
No entanto, possvel, na medida em que a escola, junto a outros segmentos sociais,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
383
engaja-se nas lutas e mobilizaes em torno de uma educao de qualidade,
antirracista e de igualdade de oportunidades.
CONSIDERAES FINAIS
Foi de importante relevncia a experincia que nos propomos a discutir neste
texto, assim, reafirmamos e recomendamos o uso da Obra Ep Laiy: Terra Viva como
referncia para trabalhar nas sries iniciais do ensino fundamental porque a mesma
aborda de forma leve e clara questes ambientais, histricas, culturais, de cidadania e
dentre outras numa forma interativa, mgica, com enredo e dilogo envolvente com
os personagens. Quando Nando diz: Voc pode! Voc pode muito! Um muito que
pode parecer pouco, mas um pouco que muito (SANTOS, 2009, p.11). chama-nos
a agir e interagir de diferentes formas para deixar o mundo mais harmonioso e
possvel para a vivncia das interrrelaes humanas com nfase na alteridade.
Numa dimenso poltica pedaggica e relacional continuaremos a contar
outras/novas histrias, aquelas que no se encontram nos livros didticos, que so
pouco divulgadas pela mdia, corroborando para estilhaar a lgica narcsica de
colocar margem o que no espelho. Finda-se essa prtica educacional, mas o
momento de continuidade, pois cada uma das experincias vivenciadas tornou-se
base para novas reflexes e respostas para as muitas indagaes que rondam o
desafiante processo ensino/aprendizagem.
Portanto, como agentes sociais, os educandos e tambm nos educadores
podem comear plantando uma rvore real ou literria, como prope a obra, mas
tambm plantar sonhos. Por exemplo, formando redes de colaboradores, para
reconstruir o mundo, tornando-o mais harmonioso, apto a romper com conceitos
tradicionais de verdade e poder, que possibilitam apreender o real e intervir
diretamente sobre ele.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
384
Referncias
CUTI. Literatura negro-brasileira. So Paulo: Selo Negro Edies, 2010.
JOVINO, Ione da Silva. Literatura infanto-juvenil com personagens negros no Brasil.
In. SOUZA, Florentina e LIMA, Maria Nazar (Org.). Literatura Afro-Brasileira.
Centro de Estudos Afro-Orientais, Braslia: Fundao Cultural Palmares, 2006.
KRAMER, Sonia. Alfabetizao, leitura e escrita: formao de professores em curso.
So Paulo: tica, 2010.
LUZ, Marco Aurlio. Agad: dinmica da civilizao africano-brasileira. Salvador:
EDUFBA, 2000.
LUZ, Marco Aurlio. Cultura negra e ideologia do recalque. 3. Ed., Salvador:
EDUFBA; rio de Janeiro: Pallas, 2011.
MACHADO, Emlia [et al]. Da frica e sobre a frica: textos de l e de c.
Colaborao de Beatriz Moura, Tatiana Kauss. 1 Ed. So Paulo: Cortez, 2012.
MCLAREN, Peter; LEONARD, Peter; GADOTTI, Moacir. Paulo Freire: poder,
desejo e memrias da libertao. Trad. Mrcia Moraes. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
SANTOS, M. Deoscoredes, LUZ, Marco Aurlio de Oliveira. O rei nasce aqui Oba
Biyi , a Educao pluricultural africano-brasileira. Salvador: Fala Nag, 2007.
SANTOS, Stella de Azevedo Santos. Ep Laiy: terra viva. Salvador: Sociedade Cruz
Santa do Ax Op Afonj, 2009.
Souza, Florentina da Silva. Afro-descendncia em Cadernos Negros e Jornal do
MNU. Belo Horizonte: Autntica, 2005.
MULHER NEGRA:
representaes de gnero e raa em A Menor Mulher do Mundo,
de Clarice Lispector
Autora: Malane Apolonio da Silva (9 semestre/UNEB Campus XVI
malane10@hotmail.com)
Coautora: Prof Ms. Cristian Souza de Sales (crissalessouza@gmail.comUNEB/ CAMPUS
XVI)
Resumo: O presente artigo objetiva analisa as questes de gnero e raa imbricadas no conto
A menor mulher do mundo, da escritora Clarice Lispector, publicado em 1960, na coletnea de
contos Laos de Famlia A proposta pretende analisar como a mulher afrodescendente
representada pelo discurso narrativo, sob uma viso estereotipada e preconceituosa: uma
mulher, madura, negra, calada... escura como um macaco. Por meio de inferncias do
narrador, procuramos desvendar processos de coero que consolidam a dominao de
gnero e raa, e as relaes de poder nele entrelaadas.
Palavras - chave: Mulher; Gnero; Raa; Representao;
1. INTRODUO
Este artigo pretende dialogar sobre os aspectos de gnero e raa presentes no
conto A Menor Mulher do Mundo, da escritora brasileira Clarice Lispector que aps
consagrar-se na escrita de quatro romances, publica em 1960 sua primeira obra
dedicada ao gnero literrio conto, intitulada Laos de Famlia. Neste trabalho a autora
prope treze contos com indagaes relacionadas aos laos maternais, matrimoniais
ou sociais que, por vezes, tornam-se um n nas trajetrias atravs dos personagens,
contidos nas narrativas. O conto A Menor Mulher do Mundo tece a imagem social da
mulher negra, na personagem Pequena Flor, permeada por esteretipos, e aqui
analisada atravs do olhar do explorador Marcel Pretre, que se faz presente na voz
do narrador.
Pensando nas representaes do discurso colonial a partir de suas
ramificaes (esteretipos e alteridade) definido por Homi K. Bhabha (1998), em O
Local da Cultura, como trajetria de discriminao e hierarquias raciais e culturais,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
386
relacionado as reflexes propostas por Sueli Carneiro em Enegrecer o Feminismo: a
situao da mulher negra na America Latina a partir de uma perspectiva de gnero, no que
concerne representao racial e primitiva, do corpo das mulheres africanas, pela
hegemonia masculina e branca, e diversas outras leituras aos estudiosos de gnero e
raa e crticos as obras de Lispector, irei tecer minha discusso construindo um olhar
analtico para Pequena Flor, personagem preponderante no decorrer da narrativa.
Ao contemplar uma literatura de autoria feminina, notria a preocupao da
autora Clarice Lispector com os laos que, no decorrer dos contos, transformam-se
em enlaces sociais, sob base insegura, ou em um n irreversvel, e, se desfeitos,
trazem o trivial clariceano: da epifania enquanto travessia e redeno para uma nova
sensao de desconforto e passividade rejeitada aps os olhos feridos.
Os aspectos norteadores desse artigo demonstraram o lugar social da mulher e
sua representao histrica, assim como afirma Raimunda Bedasse (1999, p.17) em
Violncia e Ideologia Feminista na Obra de Clarice Lispector: [...] uma violncia
subterrnea e acha-se implcita no texto. Assim sendo, a caracterizao das
personagens femininas faz-se em relao ntima com essa violncia.
Com cita Bedesse, nas entrelinhas da linguagem tpica clariceana, h uma
violncia clandestina, e em A menor mulher do mundo, essa violncia recorre ao
artifcio da mudez, como fuga para uma expresso de si. Desaguando em uma
coletividade feminina com maneiras e reflexos de ser mulher no decorre do conto:
mulher negra, oprimida pelo olhar do outro, representada literriamente sob os
aspectos hegemnicos burgueses e idealizadores do racismo, por meio do discurso
colonial.
2. METODOLOGIA
O procedimento metodolgico escolhido se constitui de leituras, fichamentos
e anlises a diversas obras e tericos da autora Clarice Lispector, respectivamente, as
referncias de gnero e raa que discutem o processo de autoria feminina na
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
387
literatura contempornea e a luta contra a revalidao dos esteretipos e discursos
discriminatrios sobre a mulher negra.
3. DESENVOLVIMENTO:
3.1. Fragilidades utpicas
Ironicamente, o conto clariceano inicia sua narrativa com a presena de um
personagem masculino, Marcel Pretre, descrito como caador e homem do mundo
(LISPECTOR, 1995, p.87). Com o curso da narrativa, em mais uma viagem o caador
informado da presena de uma tribo de pigmeus, considerados como menores
povos do mundo, e entre catalogaes e dados, encontra uma mulher, ao que seria
para o ele semelhante a um macaco. Sob um olhar depreciativo e estereotipado, na
busca por categorizar e estud-la da forma mais conveniente, dando ao conto os
primeiros aspectos da forma repressora de juzo de valores pautada em modelos
idealizados, quanto caracterizao da personagem clariceana apresentada ao leitor,
como podemos perceber em fragmento:
Entre mosquitos e rvores mornas de umidade, entre folhas ricas do
verde mais preguioso, Marcel Pretre defrontou-se com uma mulher
de quarenta e cinco centmetros, madura, negra, calada. Escura como
um macaco, informaria ele a imprensa, e que vivia no topo de uma
rvore com seu pequeno concubino. (LISPECTOR, 1995, p. 87)
A autora Clarice Lispector questiona e apresenta em seu conto, Pequena Flor
ao olhar desqualificador e utpico de uma sociedade em pleno sculo XX, ainda
pautada nas urgncias idealizadoras do patriarcalismo e racismo, em que, o perfil
social imposto a mulher negra, dialogando com os princpios do matrimnio, ainda
direcionada ao concubinato, fmea reprodutora, desqualificada ao cerimonial do
casamento e fisicamente animalizada. Iderio que revalida a fixidez presente na
permanncia dos esteretipos no decorrer da histria, sendo eles repetidos e
massificados como reflete Bhabha:
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
388
[...] o esteretipo um modo de representao complexo, ambivalente
e contraditrio, ansioso na mesma proporo que afirmativo,
exigindo no apenas que ampliemos nossos objetivos crticos e
polticos mas que mudemos o prprio objetivo da anlise.
(BHABHA, 1998, p. 110)
Toda a narrativa clariceana prope as principais marcas de esteretipos
historicamente perpetuados na trajetria da mulher negra cultuada como selvagem,
com dotes culinrios, servial e objeto de erotismo exacerbado. Para tanto, Bhabha ao
priorizar a renovao do carter analtico agncia a postura contempornea que ser
permeia uma nova forma interpretativa, imersa a noes de fixidez do discurso
colonial, como rito de ampliao e fixao dos esteretipos de carter racial e
cultural.
Exemplos basilares que nos remota ao perodo colonial em que a mulher
negra, foi posta contemplao animalesca. Neste sentido, possvel relacionar o
conto A Menor Mulher do Mundo, de Lispector s reflexes propostas por Sueli
Carneiro:
Nos tpidos humores silvestres, que arredondam cedo as frutas e lhes
do uma quase intolervel doura ao paladar, ela estava grvida. [...]
Sentindo a necessidade imediata de ordem, e de dar nome ao que
existe. Apelidou-a de pequena flor. (LISPECTOR, 1995 p.87).
Quando falamos que mulher subproduto do homem, posto que foi
feito da costela de Ado, de que mulher estamos falando? Originrias
de uma cultura violada, folclorizada e marginalizada, tratada como
coisa primitiva, coisa do diabo, esse tambm um aliengena para
nossa cultura. (CARNEIRO 2003. p.2)
A folclorizao explorada por Carneiro reflete sobre a mulher enquanto ser
inferior e frgil, ponte para compreenso da descrita clariceana de sua personagem
central, como uma flor, coisificada quando posta ao olhar de dominao e poder
incutido como meta ao discurso colonial, que busca inser-la no patamar das
realidades conhecveis, ou melhor, subproduto, o que leva ao leitor atento a
interpretar o carter de aculturao incutida no discurso de Marcel Pretre.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
389
A atitude inicial de categorizar, dar nomes, uma raa, sobressalta o leitor que
se v em meio a um constante discurso patriarcal, que elege perfis a serem seguidos,
socialmente plausveis. Os estudos de Bhabha denotam ao discurso colonial
caractersticas que ele define como:
O objetivo do discurso colonial apresentar o colonizado como uma
populao de tipos degenerados com base na origem racial de modo
a justificar a conquista e estabelecer sistemas de administrao e
instruo. (BHABHA, 1995, p. 111)
Ser pequena, negra e africana, d a personagem uma atmosfera entre
colonizador versus colonizado, em que a mesma assujeitada aos mais diversos
estmulos humanos para definir e empoderar o explorador Pretre, diante do
diferente, ao referir-se a cultura privilegiada.
Em sua maioria, a fora histrica da mulher, origem do contraponto que
enfatiza a fragilidade pretensiosa e ilusria na narrativa clariceana, presente tambm
nos discursos sexistas sobre a dimenso biolgica historicamente categorizante,
dispondo ao homem o perfil de fora, bravura e poder, e que Lispector exprime de
forma enftica desde o nome Pequena Flor, a caracterizao do corpo da
personagem. Sueli Carneiro ir defender em fragmento a seguir a fragilidade
feminina sob a tica de sua construo mtica:
[...] Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou
historicamente a proteo paternalista dos homens sobre as mulheres,
de que mulheres estamos falando? Ns, mulheres negras, fazemos
parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritrio,
que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca
fomos tratadas como frgeis. Fazemos parte de um contingente de
mulheres que trabalham durante sculos como escravas na lavoura
ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas... fazemos
parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto.
(CARNEIRO, 2003, p.1)
A personagem clariceana remonta uma irnica imagem coletiva da mulher
africana e sua trajetria de escravido, lutas e perseguio entre ideologias coloniais,
compe o entre-lugar favorecido pela repetio dos esteretipos de liberdade sexual
e selvageria. Dessa forma, compreende-se na fala de Carneiro, o possvel dilogo com
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
390
a literatura de Clarice Lispector, quanto s divergncias mticas da fragilidade da
mulher negra.
Unida a violenta descrio elegida como corpo ertico, presente no decorrer
da narrativa, trechos da obra enfatizam ao olhar inquiridor de Pequena Flor frente ao
homem branco Marcel Pretre, que presenciou: [...] nesse instante Pequena Flor
coar-se onde uma pessoa no se coa. (LISPECTOR, 1995 p.89). Causando tamanha
vergonha no explorar, diante de mais uma caracterizao nativa, entretanto, presente
em discursos hegemnicos masculinos sobre os dotes da mulher africana quanto
ferocidade do sexo e diferenciao dos rgos genitais e moral duvidosa.
A pesquisadora Mayara Santos Febres escreve em artigo Mais Mulher que Todas
(2010) sobre a dimenso desse corpo africano descrito na narrativa clariceana, e uma
construo social, ao dizer:
[...] as mulheres e o corpo sempre tiveram uma relao problemtica.
s vezes vivemos fechadas em seus limites, sem poder sair do corpo.
Em outros momentos, vemo-nos como oferta para a demanda de
homens, tanto que queremos nos converter em donzelas puras,
honradas, bonitas, amadissmas. Ou nas sedutoras famintas. Posto
que, admitamos quem no desejou secretamente ser completamente
possuda? (FEBRES, 2010 p. 82)
[...] Se soubesse falar e dissesse que o amava, ele inflamaria de
vaidade. Vaidade que diminuir quando ela acrescentasse que amava
muito o anel do explorador e que amava muito a bota do explorador.
(LISPECTOR, 1995 p.94).
Assim, como o corpo descrito por Febres, em que a mulher vista atravs de
sensaes ntimas, na narrativa clariceana, inclui as permisses para o ato de desejar,
sob novos paradigmas da evoluo dos discursos pautados na urgncia ps-
moderna, ficcionalizada por Lispector. O tom de fragilidade, ser primitivo, ao olhar
do personagem Pretre, o deixa desconcertado e surpreso, para que a narrativa supere
o discurso colonial rgido e enverede nas contemplaes do sujeito enquanto
diferente.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
391
3.2 Reflexos de uma mulher negra no conto clariceano
Evidncias angustiantes so narradas quando a foto de Pequena flor
divulgada na mdia, estando ela disposta aos mais diversos olhares, em famlias
ocidentais regidas pela necessidade de possuir e dominar. Em primeiro momento,
uma mulher teve aflio da foto, em outra casa, uma senhora encheu-se de ternura,
uma menina de cinco anos em outro apartamento teve medo da desgraa, para outra
poderia ser um boneco de assustar, tambm fez surgir sentimentos perversos de uma
infncia em uma mulher que no passado escondeu um cadver de criana para
brincar de boneca.
Retomando ao que diz Bedasse, referindo-se ao:
[...] No referido conto, as mulheres tem uma reao de rejeio ou de
bizarra ternura por Pequena Flor, a menor mulher do mundo. Uma
delas no quer olhar sua foto no jornal de domingo onde coube em
tamanho natural e parecia um cachorro com o nariz chato, a cara
preta e os olhos fundos, porque a viso lhe dava aflio. Outra
mulher sente por pequena flor uma perversa ternura. De qualquer
maneira, qualquer que seja a reao, o que se verifica o quanto as
mulheres se desconhecem e se rejeitam entre si. Ou seja, a mulher
moderna desconhece a sua ancestralidade que representada pela
mulher africana, esta menos construda socialmente por ser menos
civilizada, e dentro do conceito clariceano, mais humana. (BEDASSE,
1999 p.70)
O paradoxo contemporneo entre mulheres nos remete a constatar, como as
relaes de poder esto ligadas aos preceitos do ato de coisificar o outro que,
destitudo da fala no decorrer do conto, est lanada ao olhar e direcionamento do
cruel narrador, ideologicamente preparado para estabelecer paradoxos entre os
perfis das mulheres em suas mais diversas posies sociais, porm, distanciando-as
do passado que para muitas por vergonha ou indiferena escondem, e compem
uma dependncia histrica norteadora das relaes sociais.
O leitor presencia todo o ritual sob o olhar estereotipado do explorador e das
mulheres da sociedade vigente. Assim tambm define a escritora e pesquisadora de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
392
Clarice Lispector, Ndia Battella Gotlib (2009), em Uma vida que si conta, sobre o perfil
do narrador no conto:
[...] e a intensa crueldade da narradora, ela que tambm leu a notcia
no jornal e que reage com esse modo de narrar, acrescentando pitadas
sadicamente irnicas ao liricamente sublime, que ao mesmo tempo
grotesco quase pattico. (GOTLIB, 2009, p.406)
A voz do narrador preponderante mesmo que sdica no desenrolar do conto
que tem em seu ponto central, no sorriso irnico de Pequena flor, pois ela ria da vida
e estava feliz, conforme possvel ler no fragmento a seguir: era um riso como
somente quem no fala ri. Esse riso, o explorador constrangido no conseguiu
classificar. (LISPECTOR, 1995, p.94). Atribuies que desconcertaram Marcel Pretre,
por acreditar na ingnua inocncia daquela mulher que para ele seria joia rara em
suas pesquisas.
Pequena Flor uma representao do outro que a observa de um local de fala
repressor, para inferiorizar e qualific-la como inofensiva diante das demais
caracterizaes, ligando-as aos perfis dos animais. Porm, a pigmeia encontrada no
se trata de um macaco, e, sim, de A menor mulher do mundo, que no conto clariceano
enxergamos atravs dos espelhos, casas, jornais, em sua mais doda constituio.
Para tanto, Febres descreve sobre o corpo da personagem clariceana:
[...] nesse corpo negro e escuro, como o de um animal, fica o limite da
tica. o corpo que pode esconder-se nos laboratrios, em campos de
concentrao ou guetos, nos fundos e em quartos de empregada das
grandes casas nos arrabaldes da pobreza. (FEBRES, 2010 p. 82)
Em uma luta contra toda a animalidade e represso do corpo posto aos
esteretipos da mulher negra, encontramos no conto clariceano o poder de sua
condio. Mesmo estando inrcia do explorador e submetida aos mais
repreensivos discursos, sentimentos de posse, medo, horror ou piedade, Pequena
Flor meche com o que a de mais primitivo em Pretre, as relaes matrimoniais e
sociais. Por esta razo, ela o deixava submerso, fora do recorte de mundo em que tem
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
393
como real, assim como as mulheres Pretre compreende dentro de si a humanidade
despojada, da mulher que consegue no ser apenas objeto, comida ou animal.
CONSIDERAES
Pequena Flor ou A Menor Mulher do Mundo
No decorrer do conto de Lispector, ao analisar as caractersticas adotadas pelo
narrador para a personagem Pequena Flor, possvel identificar a exaltao ao
discurso estereotipado, defendido pela hegemonia masculina, atuando como uma
forma de repetio e identificao da diferena. Uma forma de dizer a mulher negra
que ainda est cristalizada no imaginrio coletivo, especialmente no que diz respeito
sexualidade exacerbada, revelando nuances do racismo e do sexismo que ainda
imperam em nossa sociedade.
A partir da apresentao e constituio clandestina de uma mulher desejante,
representao de um povo, os personagens so direcionados s reflexes do eu
primitivo, postura contempornea que, no conto, ligam-se as lembranas de atos e
povos repugnantes, que deveriam ser esquecidos, postos da distancia e
menosprezados.
As mulheres das casas por onde perpassa a notcia de Pequena Flor, assim
como Marcel Prete, apresentados no curso da narrativa, no se colocam enquanto
coparticipes do percurso de esteriotipao, desconhecem a revalidao do discurso
hegemnico masculino cristalizado do colonizador, sendo superiores a Pequena Flor.
Mesmo postos as armadilhas do narrador, os personagens entrelaam conceituaes
de cunho racista e sexista, sobretudo, no que diz respeito existncia da mulher
negra, e a sua coletividade.
A Menor Mulher do Mundo ou Pequena Flor compe um paradoxo, que o
estudo apresentado por Mayra Santos Febres, prope ao inserir a discusso do
reflexo da mulher negra, seja no contexto social ou na trajetria literria, da mulher
dizimada enquanto imaginrio masculino dentro das representaes discursivas de
poder. Como possvel ler em no trecho a seguir:
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
394
[...] Se a linguagem um espelho, como se reflete a mulher nele? Em
virtude do falocentrismo que pulsa no centro do sistema de signos
Irigaray (1974) diz que da mesma maneira que uma mulher se
relaciona com um espetculo, algo que lhe abre o corpo em dois, no
permitindo se ver, mais sim que a vejam, a mulher, dessa forma,
permanece sendo vista como um objeto de estudo, escura como um
macaco. (FEBRES, 2010, p.3, grifos da autora)
Assim, Clarice Lispector ficcionaliza um perfil de mulher negra que abraa a
liberdade, expondo repressora voz masculina necessria reflexo dos pontos que
embasam o lar, profanando aps o retornar a uma viagem mental, a um passado
opressor, em que a fala ou presena feminina negra inclui moldes de existir em
mudez, a sombra do olhar do outro que a perscruta, identifica.
Porm, os personagens perdem-se na armadilha clariceana, do corpo
minsculo sob formas humanas, que sentem e acreditam no valor da existncia em
meio ao natural, encontrando fora vital em si, fotossntese de vida. Contudo, apesar
de os discursos sexistas e racistas ainda persistirem na contemporaneidade, as
mulheres negras, em toda trajetria social, marcada pela luta e pela sobrevivncia,
tm buscado construir outras representaes de si, rechaando olhares como os de
Lispector, pois elas j no admitem mais ser confundidas com a personagem
Pequena Flor.
Referncias
BHABHA, Homi K.O Local da Cultura. Minas Gerais: editora da UFMG, 1998.
LISPECTOR, Clarice. A Menor Mulher do Mundo. In: Laos de Famlia. Ed. 28.
Francisco Alves: Rio de Janeiro, 1995.
FEBRES, Mayra Santos. Mais Mulher que Todos. In: Sobre Piel y Papel. V.1 n.1. San
Juan: Ediciones Callejon, 2005.
CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o Feminismo: A Situao da Mulher Negra na Amrica
Latina a partir de uma Perspectiva de Gnero. In: Racismos Contemporneos. Rio de
Janeiro: Takomo Editores, 2003.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
395
BEDASSE, Raimunda. Violncia e Ideologia Feminista na Obra de Clarice Lispector.
Salvador: Edufba, 1999.
GOTLIB, Ndia Battella. Clarice: Uma vida que se conta. 6. Ed. So Paulo: Editora da
Universidade de So Paulo, 2009.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
396
O DESENCLAUSURAMENTO DO SILNCIO DE STELA
DO PATROCNIO EM REINO DOS BICHOS E DOS
ANIMAIS O MEU NOME
Ina Silva Pereira Sodr - Mestranda do PPGEL UNEB. Bolsista Fapesb.
inaesodre@gmail.com
Resumo: A loucura sempre existiu na histria das sociedades ocidentais, assim como houve
os mtodos de cura ou de excluso dos loucos e, igualmente, a perversidade humana
manifestada para com o diferente. Neste trabalho, sob a perspectiva dos Estudos Culturais,
objetiva-se provocar uma discusso acerca das representaes identitrias de Stela do
Patrocnio em Reino dos bichos e dos animais o meu nome cuja obra foi produzida oralmente
dentro de um hospital psiquitrico bem como a sua configurao esttico-subjetiva. Busca-
se pensar em que medida os mtodos de excluso e punio recebidos pelo intitulados
loucos esto histrica e culturalmente determinados. Na obra estudada, pretende-se
apresentar a voz de uma mulher negra, poeta e interna do Hospital Psiquitrico Juliano
Moreira - Rio de Janeiro, que passou trinta, dos seus cinquenta e dois anos, internada num
manicmio, tendo uma identificao imposta a ela pela sociedade: a de louca. Stela do
Patrocnio denuncia, em linguagem potica e filosfica, as atrocidades que aconteciam
dentro do espao manicomial, onde os objetivos consistiam em silenciar e mortificar o
sujeito, custa de violncia, em nome da razo e sob a conivncia da sociedade. Segundo
Michel Foucault, a ciso da linguagem, por Ren Descartes, sculo XVII, coloca a razo como
soberana e a loucura como subalterna dentro de uma cultura, esta que isola os doentes
mentais para marcar os normais, enquanto tais, por estarem fora dos muros excludentes
do manicmio. Stela foi uma das sobreviventes do processo de mortificao que foi o sistema
asilar, e tambm uma das internas que vivenciou os primeiros momentos da Reforma
Psiquitrica no Brasil, na dcada de 1980. Depois dessa reforma, Stela do Patrocnio foi
descoberta em meio a tantas outras internas, por sua palavra, ou seja, por seu falatrio
num ateli ltero-artstico produzido por psiclogas e artistas plsticas. Suas falas foram
gravadas durante dois anos, de 1986 a 1988, transcritas e organizadas por Viviane Mos. Um
dos intuitos, neste estudo, mostrar como ocorreu e como repercutiu esse encontro o
qual resultou na quebra de um silncio secular imposto aos loucos. Essas criaes de Stela
(o falatrio) podem ser entendidas como gnero hbrido, centrado na voz do autor e
reinventado na palavra escrita, como fonte de visibilidade de um corpo exemplar de novas
identidades sociais. A obra analisada a partir das postulaes tericas do filsofo e terico
francs Michel Foucault, inscrito nos seus trabalhos Histria da Loucura na Idade Clssica,
Vigiar e Punir: nascimento das prises, Doena mental e psicologia e A ordem do discurso; da
filsofa, psicloga, psicanalista e poeta Viviane Mos em O homem que sabe; e do olhar das
investigaes da jornalista brasileira Daniela Arbex em Holocausto brasileiro.
Palavras-chave: razo; loucura; literatura; representaes identitrias.
No incio de tudo era a Palavra, que se tornou Fala. E que tomou Corpo. E,
que, por sua vez, se encorpou Linguagem. As palavras nomeiam as coisas, traduzem
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
398
os sentimentos, delimitam um pedao da intensidade da vida, representam o mundo.
Mas as palavras utilizadas para compreender e interpretar o nosso mundo, de
verdades palpveis e provveis, podem diminuir as possibilidades de sentido que a
palavra pode nos dar. A linguagem, como um rio no tempo, num dado momento, se
parte e segue por duas vias na histria do pensamento. Uma parte desemboca no
dicionrio e a outra parte desemboca na poesia. Ser que as palavras exatas do
vocabulrio da razo so suficientes para compreender e interpretar o nosso mundo?
Segundo Viviane Mos, a razo se caracteriza pela capacidade que todo o ser
humano tem de criar e articular palavras e pensamentos, quer dizer, pensar por
causa e efeito, por identidade, de forma organizada, esclarecida, contida, sem
contradies, sem excessos, sem emoes (MOS, 2012, p. 112). Na modernidade, ou
idade clssica, como diz Foucault, sculo XVII, o matemtico e filsofo francs Ren
Descartes inaugura a Razo como modelo de pensamento filosfico fundamentado
na exatido matemtica. Penso, logo sou a mxima clebre do pensamento
cartesiano encontrada em sua obra Discurso sobre o mtodo para bem conduzir a razo na
busca da verdade dentro da cincia, na qual a dvida eleita como ferramenta para
investigar e compreender o mundo. Isso porque, para ele, ainda que se duvide ao
mximo, no se pode duvidar daquele que duvida, porque a dvida um ato do
pensamento, de modo que esse pensamento no pode acontecer sem sujeito.
Percebi que, quando pensava que tudo era falso, necessrio se
tornava que eu - eu que pensava- era uma cousa e, notando que esta
verdade - penso logo sou - era to firme e to certa que todas as
extravagantes suposies dos cticos no era capaz de abalar, julguei
que podia aceit-la, como escrpulo como primeiro princpio da
filosofia que procurava (DESCARTES, 2011, p. 50)
O que a razo quer , desde o seu nascimento platnico, rejeitar uma parte da
vida, a que muda, a que delira, a que morre. O que a razo quer produzir um
mundo de identidades e verdades, um mundo previsvel e claro (MOS, 2001. p. 22).
Michel Foucault acusa Ren Descartes em dividir a linguagem em duas partes: Razo
e Desrazo. De um lado, a Razo como verdade, conscincia, claridade, normalidade,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
399
lucidez e, do outro, a Desrazo como erro, obscuridade, desordem (FOUCAULT,
1997. p. 45).
A principal preocupao de Descartes, diante de uma tradio
escolstica em que as espcies eram concebidas como entidades
semimateriais, semi-espirituais, separar com exatido mecanismo e
pensamento, o corporal sendo inteiramente reduzido ao mecnico
(SARTRE, 2008, p. 13).
Segundo Viviane Mos (2012), Descartes reduz a existncia ao pensamento,
valoriza o mundo das ideias, busca a verdade e exclui o corpo como possibilidade de
interpretao de mundo. Desse modo, excluindo da vida as intensidades, a
linguagem artstica. E pensar cartesianamente pensar por causa e efeito, por
identidade, por no contradio. Para que o pensamento racional tenha sentido, as
coisas precisam se opor, fixamente, uma outra: o belo oposto ao feio, o certo ao
errado, o claro ao escuro, o normal ao anormal, a razo loucura. Ele acredita que o
corpo, as sensaes e as emoes so as fontes dos erros e da desordem (MOS, 2012,
p. 130). Posto isso, o homem precisa se opor s sensibilidades e percepes e buscar a
verdade como essncia das coisas que vm com o pensamento e ideias. Portanto, a
razo no natural, ela foi inventada num determinado tempo de nossa histria,
quer dizer, foi construda pela cultura e um produto da nossa civilizao.
A razo, como tradio inventada, foi fundamentada por um conjunto de
prticas reguladas por regras tcitas ou abertamente aceitas. Essas prticas, de
natureza ritual ou simblica, visam inculcar certos valores e normas de
comportamentos por meio da repetio do discurso (HOBSBAWM, 2012, p. 12). A
gramtica normativa serve de exemplo de como o discurso da razo perdurou no
tempo. Pois a gramtica normativa se sustenta na ideia de sujeito e predicado, em
regras, normas, na no contradio, na lgica da excluso. Para Viviane Mos,
Este absoluto, centrado na noo de Ser, fundamenta a crena na
identidade, razo de ser de toda a gramtica, fazendo com que se
instaure em todo o texto uma lgica da identidade que sempre exclui
as diferenas e que encontra suporte na posio de um sujeito estvel,
nico, sem afetos e sem corpo (MOS, 2012, p. 53).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
400
Para que o pensamento racional pudesse se manter como modelo de discurso
verdadeiro, alm de repetir o discurso verdadeiro do falar certo e falar errado,
procurou-se internar os que se lhe opem, quer dizer, todos os que fossem de
encontro a ele: os que deliram, os que se excedem, os que se desequilibram, os que
ultrapassam as normas estabelecidas. Como diz Foucault, a dvida de Descartes
desfaz os encantos dos sentidos, atravessa as paisagens dos sonhos, sempre guiada
pela luz das coisas verdadeiras; mas ele bane a loucura em nome daquele que
duvida, e que no pode desatinar mais do que no pode pensar ou ser
(FOUCAULT, 2012, p. 47).
Michel Foucault, em seu livro A ordem do discurso, defende que a ciso da
linguagem est no domnio do discurso. por intermdio das palavras que se
reconhece a loucura do louco. Afirma que desde os arcanos da Idade Mdia que o
louco aquele cujo discurso no pode transmitir-se como o dos outros: ou a sua
palavra nada vale e no existe, no possuindo nem verdade, nem importncia, no
podendo testemunhar em matria de justia, no podendo autenticar um ato ou um
contrato, no podendo sequer, no sacrifcio da missa, permitir a transubstanciao e
fazer do po um corpo; ou, como reverso de tudo isso, e por oposio a outra palavra
qualquer, so-lhe atribudos estranhos poderes: o de dizer uma verdade oculta, o de
anunciar o futuro, o de ver, com toda a credulidade, aquilo que a sagacidade dos
outros no consegue atingir (FOUCAULT, 1970; p. 10). Segundo Roland Barthes, em
seu livro Aula, a linguagem o objeto em que se inscreve o poder (BARTHES, 1980,
p. 11). E a razo impe, julga, controla, adoece, silencia, isola, exclui, tortura e mata.
Entre as mais antigas experincias de internao, temos a construo dos
leprosrios. Estes foram construdos no sculo IV d.C. e mantidos como lugar de
excluso at o desaparecimento da lepra no sculo XV, no fim da Idade Mdia. Tais
espaos acolhiam no somente os leprosos, mas igualmente demais tipos indesejados
da sociedade: mendigos, pobres, homossexuais, prostitutas, aleijados, entre outros
(FOUCAULT, 2012, p.4). Depois que a lepra desapareceu, a sociedade precisava
preencher aquele espao vazio de excluso. O manicmio foi o espao escolhido para
excluir os loucos, e todos os tipos diferentes ou estranhos representados na figura do
louco.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
401
Quem adentrava o manicmio entrava para o vale da morte. As pessoas
morriam de frio, porque dormiam no cho, sem roupas e sem cobertas, ou eram
jogadas ao relento. Morriam de fome, de eletrochoque, de infeco por beber gua
podre ou por comer fezes e ratos. Muitos morriam de pneumonia e outros muitos
morriam em cima da mesa cirrgica, em decorrncia de lobotomia. Stela do
Patrocnio foi testemunha do que acontecia na parte interna do espao manicmio e
denunciou, poeticamente, os cuidados mdicos e as formas mais violentas como
mtodo de cura" de quem ousou a desestruturar a Norma. Ou desordenar a Ordem.
Ou escapar do Padro. Stela pde, por meio de sua fala, dar testemunho de suas
vivncias, na condio de vtima de um sistema ultrapassado de tratamento
manicomial que, segundo palavras de Michel Foucault usava as formas mais
bizarras de violncia e tortura para mtodo de controle dos corpos (FOUCAULT,
1997 p. 141). Segundo Daniele Arbex (2013),
(...) durante dcadas, as pessoas eram enfiadas em geral
compulsoriamente dentro de um vago de trem que as
descarregava na Colnia. L, suas roupas eram arrancadas, seus
cabelos raspados e, seus nomes, apagados. Nus no corpo e na
identidade, a humanidade sequestrada, homens, mulheres e at
mesmo crianas viravam "Ignorados de Tal. Eram epilticos,
alcolatras, homossexuais, prostitutas, mendigos, militantes polticos,
gente que se rebelava, gente que se tornara incmoda para algum
com mais poder. Eram meninas grvidas, violentadas por seus
patres, eram esposas confinadas para que o marido pudesse morar
com a amante, eram filhas de fazendeiros que perderam a virgindade
antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam extraviado
seus documentos. Alguns deles eram apenas tmidos. Cerca de 30
eram crianas (ARBEX, 2013, p.14).
Por causa do pensamento excludente da razo, habita em cada um de ns um
leprosrio vazio. Mas por que a nossa cultura exclui? Por que certos sentimentos so
considerados patologia? E o normal, o que seria?
Segundo George Canguilhem (2012), em seu livro O Normal e o Patolgico, na
perspectiva objetiva se alcana a ideia de normal com base na regularidade
estatstica. Ou seja, a partir da medida de comportamento e experincia de uma
determinada populao se tem um parmetro de normalidade. E os que desviam
desse padro so considerados fora do Normal. Por outro lado, de uma perspectiva
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
402
subjetiva, j sabido que todos os seres humanos so dotados de uma mente, quer
dizer, de uma vida subjetiva, que regula a sua relao com os outros e com o meio
ambiente, de modo que essa relao com os outros implica prazer e desprazer,
frustraes e sofrimento. Sofrer, assim como alegrar-se e entristecer-se, inerente
condio humana. Para Canguilhem, se relacionar normalmente com algum implica
um indivduo tratar o outro como sujeito tico, ou seja, como um sujeito igual a si. E
quando, de alguma maneira, ele destitui aquela pessoa da condio de sujeito,
passando a trat-la como instrumento do seu prazer, estar, dessa forma,
ultrapassando o limite e desembocando para o campo da patologia. E, portanto,
qualquer julgamento que aproprie ou qualifique um fato em relao a uma norma,
essa forma de julgamento est subordinada quele que institui as normas
(CANGUILHEM, 2012, p. 80). Nesse sentido, dubitvel se a normalidade est fora
ou dentro dos muros excludentes dos manicmios.
Com o livro Reino dos Bichos e dos animais o meu nome, de Stela do Patrocnio
(1941-1992), apresenta-se a voz e a palavra de uma mulher negra, poeta e interna do
Juliano Moreira, hospital psiquitrico do Rio de Janeiro, que passou trinta, dos seus
cinquenta e dois anos, internada num manicmio, vtima da excluso imposta pelo
pensamento racional, pela cincia e pela conivncia da sociedade. Ela tambm foi
uma das internas que viveu antes e depois da Reforma Psiquitrica, no Brasil, na
dcada de 1980. Por meio da linguagem potica, a fala de Stela do Patrocnio foi
ouvida, gravada e transcrita para o papel. Esse livro nos mostra a quebra de um
silncio secular imposto aos loucos pelo poder de um tempo e de uma cultura. A
sua produo se deu em um contexto sui generis de oralidade e posterior transcrio
dos poemas e textos. E consciente do seu tempo, do seu espao e de sua condio,
Stela falava e falava e falava:
Dias semanas meses o ano inteiro/ minuto segundo toda hora dia
tarde a noite inteira querem me matar/ S querem me matar/ Porque
dizem que eu tenho vida fcil/ Tenho vida difcil/ Ento porque eu
tenho vida fcil/ Tenho vida difcil/ Eles querem saber como que
eu posso ficar nascendo sem facilidade e com dificuldade/ Por isso
que eles querem me matar (PATROCNIO, 2001, p.64).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
403
O que se sabe de Stela do Patrocnio que ela nasceu em 9 de janeiro de 1941,
filha de Manoel do Patrocnio e Zilda Xavier do Patrocnio. Solteira, de instruo
secundria, trabalhava na funo de empregada domstica. Morava na Rua Maria
Eugenia, nmero 50, apto 501, Botafogo no Rio de Janeiro. E se prostitua para poder
se alimentar. Botando o mundo inteiro pra gozar e sem gozo nenhum
(PATROCNIO, 2001, p. 126). Stela se enquadrava perfeitamente fora dos padres
sociais normativos estabelecidos: mulher, negra e pobre. Posto isso, ser que Stela do
Patrocnio, na condio de subalternizada, dentro da nossa cultura, patriarcal,
escravocrata, embranquecida e capitalista, foi mesmo louca, ou foi enlouquecida?
Depois de uma queda, na Rua Voluntrios da Ptria, colocaram Stela dentro
do Posto do Pronto Socorro. Aplicaram-lhe uma injeo. Deram um remdio. Deram
eletrochoque. Mandaram tomar um banho de chuveiro. Mandaram procurar mesa,
cadeira, cadeira, mesa. Deram-lhe uma bandeja com arroz, chuchu, carne, feijo, e a
chamaram uma ambulncia, assistncia e disseram: Carreguem ela!
(PATROCNIO, 2001, p. 49). Eu estou num asilo de velhos/ Num hospital de tudo
quanto doena/ Num hospcio/ lugar de maluco/ louco/ doido (PATROCNIO,
2011, p. 47).
Stela foi internada em 1962, aos 21 anos, permanecendo quatro anos no
primeiro manicmio da Amrica Latina, no Rio de Janeiro: o Hospital Pedro II.
Depois foi transferida para o Hospital Psiquitrico Juliano Moreira, onde
permaneceu at morrer, vtima de uma infeco generalizada em 1992. Essa
personalidade singular descrita nas palavras de Viviane Mos, filsofa, poeta,
psicloga e psicanalista, mestra e doutora em filosofia, pelo Instituto de Filosofia e
Cincias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autora de seis livros de
filosofia e sete livros de poesia:
Stela foi uma sobrevivente do processo de mortificao caracterstico
das estruturas psiquitricas arcaicas e tradicionais, os asilos. Nestes,
h o apagamentos das individualidades, da subjetividade, do desejo e
da singularidade. As pessoas ficam reduzidas a um amontoado, sem
formas e sem rosto. O uniforme apenas smbolo da real
uniformizao. O tempo o tempo da morte. O tratamento, dito
cientifico, se reduz ao controle dos corpos, pela violncia daqueles
que ousam desafiar a ordem (MOS, 2001, p.13).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
404
Em Reino dos bichos e dos animais meu nome, nota-se, desde o ttulo, o olhar
lanado para sua condio no hospital psiquitrico: Primeiro veio o mundo dos
vivos/ Depois veio a vida e a morte/ Depois dos mortos/ Depois dos bichos e dos
animais/ Depois do entre a vida e a morte/ Depois dos mortos/ Depois dos bichos e
dos animais/ S fica a vontade/ Como bicho e como animal. (PATROCNIO, 2001,
p. 116). Ou ento os cuidados dos mdicos psiquitricos: O remdio que eu tomo
me faz muito mal/ E eu no gosto de tomar remdio pra ficar passando mal/ Eu
ando um pouco e cambaleio/ fico cambaleando quase levo um tombo e se eu levo
um tombo eu levanto/ Ando mais um pouquinho/ torno a cair. (PATROCNIO,
2001, p. 54). Num dos poemas, como se ela descrevesse os passos de uma
lobotomia:
Eu j fui operada vrias vezes/ Fiz vrias operaes/ sou toda
operada/ Operei o crebro, principalmente/ Eu pensei que ia
acusar/ Se eu tenho alguma coisa no crebro/ No, acusou que eu
tenho crebro/ Um aparelho que pensa bem pensado/ Que pensa
positivo/ E que ligado a outro que no pensa/ Que no capaz de
pensar nada e nem trabalhar/ Eles arrancaram o que est pensando/
E o que est sem pensar/ E foram examinar este aparelho de pensar e
no pensar/ Ligadas um a outro na minha cabea, no meu crebro/
Funcionar em cima da mesa/ Eles estudando fora da minha cabea/
Eu j estou nesse ponto de estudo/ de categoria (PATROCNIO, 2001
p. 69).
Em 1989, o deputado Paulo Delgado deu entrada no projeto que extinguiria,
progressivamente, os manicmios e regulamentaria os direitos dos doentes mentais,
mas s em 2001 a lei da Reforma Psiquitrica foi sancionada: a Lei n 10.216 de 6 de
abril de 2001, que tambm conhecida como Lei Paulo Delgado (FERREIRA, 2006, p.
77-85). O Hospital Psiquitrico se extinguiu para dar lugar a um novo modelo de
tratamento. A criao do Centro de Ateno Psicossocial- C.A.P.S.- que tem como
objetivo evitar que o doente fique enclausurado e esquecido em confinamento, ao
mesmo tempo objetiva colocar o doente em contato direto com a famlia e com a
sociedade, como uma forma de ajuste social. Nesses centros, o doente tem um
acompanhamento, psicolgico e farmacolgico, alm de uma integrao dentro da
unidade com pessoas do bairro ou da cidade.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
405
Conforme relatam Gonalves & Sena (2001); Ferreira (2006), a Reforma
Psiquitrica, no Brasil, ocorreu na dcada de 1980, na ocasio da implementao do
Sistema nico de Sade (SUS). Stela se beneficiou do momento, pois os portes, que
ficaram fechados durante sculos, se abriram. Trata-se de um tempo, no to distante
de ns, em que os doentes mentais eram tratados como animais irracionais e, que por
isso mesmo, foram isolados, enjaulados, acorrentados, punidos. E, como animais,
foram cobaias para o progresso da cincia. Depois da Reforma Psiquitrica,
inaugura-se um novo tempo. O tempo do dessilenciamento dos silenciados. Stela
falava e falava e falava...
As frases de Stela do Patrocnio escapam da construo sinttica esperada para
entrar num outro ritmo. O ritmo dos olhos esgazeados. Palavras enfileiradas
arrumadas sem respirar. E, para essa falta de respirao, a organizadora achou por
bem economizar nas vrgulas para dar um ritmo de rio em sua fala. nesse desaguar
no mundo da dita desrazo - dos smbolos, do sonho, da poesia, da arte enfim - que
Stela estrutura o seu pensamento. O seu discurso se organiza na tenso entre ordem e
desordem. Stela falou com seu falatrio e falando se desdobrava em seu falar. Stela
falava de sua fala. E falava de uma forma muito prpria. Suas palavras
extremamente bem pronunciadas eram sempre carregadas de muita emoo.
(MOS, 2001, p. 28). Ciente do seu Ser e do seu Estar-no-mundo, Stela afirma sua
identidade confirmada na perspectiva do outro:
Eu sou Stela do Patrocnio bem patrocinada/ Estou sentada numa
cadeira pregada numa mesa/ Nega preta e crioula/ Eu sou uma
negra preta e crioula/ Que a Ana me disse/ Nasci louca/ Meus pais
queriam que eu fosse louca/ Os normais tinham inveja de mim que
era louca (PATROCNIO, 2011, p. 66).
O livro no foi escrito por Stela, apesar de sabido que ela escrevia em papelo.
Os textos foram falados e gravados durante dois anos, de 1986 a 1988, pela artista
plstica Neli Gutmacher e Carla Guagliardi. Depois foram transcritos pela psicloga
Mnica Ribeiro e organizado por Viviane Mos. A organizadora, em um dos seus
depoimentos, no livro, diz que este livro resulta de um processo coletivo,
construdo, em muitos momentos, no anonimato e nutrido do sentimento de
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
406
solidariedade com os que no possuem amanh nem ontem (MOS, 2001, p. 15).
Segundo Viviane Mos, Stela foi diagnosticada como portadora de uma
personalidade psicoptica mais esquizofrnica hebefrnica, evoluindo para aes
psicticas. E da sua existncia, Stela fala:
Eu era gases puro, ar, espao vazio, tempo/ Eu era ar, espao vazio,
tempo /E gazes puro, assim, , espao vazio, / Eu no tinha
formao/ No tinha formatura/ No tinha onde fazer cabea/ Fazer
brao, fazer corpo/ Fazer orelha, fazer nariz/ Fazer cu da boca,
fazer/ falatrio/ Fazer msculo, fazer dente/ Eu no tinha onde
fazer nada dessas coisas/ Fazer cabea, pensar em alguma coisa/ Ser
til, inteligente, ser raciocnio/ No tinha onde tirar nada disso/ Eu
era espao vazio puro (PATROCNIO, 2001, p. 21).
O livro Reino dos bichos e dos animais o meu nome foi lanando em 2001 pela
editora Azougue Editorial, intitulado de poesia brasileira. A orelha foi assinada
por Srgio Cohn, coordenador da Azougue Editorial. Teve a organizao e
apresentao de Viviane Mos. O livro composto por agradecimento; Epgrafe;
Sumrio; Estrela, apresentao: Stela do Patrcnio - Uma trajetria potica em
uma instituio psiquitrica, parte I- Um homem chamado cavalo o meu nome,
Parte II- Eu sou Stela do Patrocnio, bem patrocinada, Parte III- Nos gazes eu me
formei, eu tomei cor, Parte IV- Eu enxergo o mundo, Parte V- A parede ainda
no era pintada de tinta azul e parte VI- Reino dos bichos e dos animais o meu
nome; Stela por Stela- Entrevista e Cronologia. Na entrevista feita por Neli
Gutmacher e Carla Guagliardi a Stela do Patrocnio, destacam-se alguns trechos que
nos d uma ideia do que foi a sua experincia no manicmio:
Como o seu dia aqui na Colnia?
Segunda tera quarta quinta sexta sbado domingo janeiro fevereiro
maro abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro
dezembro dia tarde noite eu fico pastando vontade Fico pastando
no pastando vontade que nem cavalo
Ele j disse um homem chamado cavalo o meu nome.
Voc passa muito mal aqui?
Passo mal porque eu tomo constantemente injees.
Injees para o homem e o lquido desce.
Quem te d essas injees?
O invisvel polcia secreta o sem cor
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
407
E para que serve essas injees?
Para forar a ser doente mental.
No dia que voc parar de tomar injees voc fica curada?
Fico completamente curada se eu no tomar remdio
No tomar eletrochoque
Eu no fico carregada de veneno envenenada.
Voc estudou Stela?
Estudei em livro
Linguagens
Comment allez vous?
Como voc est? Thank you very much
O tanque da vera est cheia de mate
a va bien, a senhora vai bem?
Voc professora?
No sou professora, mas tive trabalho de estudar letra por letra frase
por frase folha por folha
Seu nome Stela, voc sabe o que quer dizer, Stela?
Estrela
Estrela do mar
Fala uma poesia pra gente?
No.
No tenho mais lembrana de poesia mais nenhuma
Tudo o que voc fala poesia Stela.
s histria que eu estou contando, anedota (PATROCNIO, 2001,
p.153).
Stela e seus relatos tiveram uma significativa repercusso: O livro Reino dos
bichos e dos animais o meu nome, organizado por Viviane Mos, tornou- se finalista do
Prmio Jabuti em 2002 e 2005. Seus textos foram usados em shows musicais, pelo
msico e artista plstico Cabelo. Foram adaptadas para o teatro, no monlogo Stela
do Patrocnio culos, vestido azul, sapato preto, bolsa branca e...doida, interpretado por
Clarisse Baptista e dirigido por Nena Mubrac. Stela foi para o cinema, em Stela do
Patrocnio a mulher que falava coisas (Documentrio, 14 min., DV, RJ, 2006), realizado
por Mrcio de Andrade. E transformada em pera pelo compositor Lincoln Antnio.
Do ttulo do livro, segue o poema:
Meu nome verdadeiro caixo/ Enterro/ Cemitrio defunto
cadver/ esqueleto humano/ Asilo de velho/ hospital de tudo
quanto doena/ Hospcio/ Mundo dos bichos e dos animais/ Os
animais: dinossauro camelo ona tigre leo macaco dinossauro girafa
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
408
tartaruga/ Reino dos bichos e dos animais o meu nome/ Jardim
zoolgico/ Quinta da Boa Vista (PATROCINIO, 2001, p.118).
Para Viviane Mos, o texto de Stela do Patrocnio nasce como um marco na
literatura brasileira, revestindo-se da maior importncia e significado. Ele se junta a
tantos outros livros de depoimentos de escritores que relataram suas experincias em
asilos. E chega com vigor e densidade, fazendo-se histria. Neste captulo, intitulado
ESTRELA, a organizadora comea, e eu termino, com uma epgrafe do cantor cubano,
Paulo Milanez, apontando para a Estrela Stela: O que brilha com luz prpria
ningum pode apagar (MOS, 2001, p. 13).
Referncias
ARBEX, Daniela. Holocausto Brasileiro. So Paulo. Vol.1. 2. ed. Gerao Editorial,
2013.
ANDRADE, Marcio de. Curta Cinema 2006 Festival de Curtas no Rio de janeiro.
Disponvel em:
<http://steladopatrocinio.blogspot.com/2006_11_01_archive.html>. Acesso em:
12/07/2010.
BARTHES, Roland. Aula. So Paulo: Editora Cultrix, Traduo de Leyla Perrone-
Moiss, 1980.
CANGUILHEM, Georges. O Normal e o Patolgico. Traduo de Maria de Threza
Redigde C. Barrocas e Luiz Octvio F. B. Leite. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitria, 2002.
DESCARTES, Ren. Discurso do mtodo. Braslia: UnB, 1985.
FERREIRA, Gina. A Reforma Psiquitrica no Brasil: Uma anlise sociopoltica.
Psicanlise e Barroco Revista de Psicanlise, v.4, n.1, p. 77-85, 2006.
FOUCAULT, Michel. Doena mental e psicologia. Traduo: Lilian Rose Shalders.
Coleo Biblioteca Tempo Universitrio, Vol. 11, 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1984.
_______. Vigiar e Punir: nascimento das prises. Petrpolis: Vozes, 1997.
_______. A Histria da Loucura na Idade Clssica. So Paulo: Perspectiva, 2012.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
409
______. A Ordem do discurso. 7. ed. So Paulo: Loyola, 1996.
GONALVES, Alda Martins; SENA, Roseli Rosngela. A reforma psiquitrica no
Brasil: contextualizao e reflexos sobre o cuidado com o doente mental na famlia.
Revista Latino Americana de Enfermagem, v.9, n.2. p. 48-55, 2001.
HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence (Org.). A Inveno das Tradies. [edio
especial]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.
MOS, Viviane. O homem que sabe. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2012.
PAES, Victor. Stela do Patrocnio - O Tempo o gs, o ar, o espao vazio. Em:
Confraria Revista de Literatura e Arte, n11, 2006. Disponvel em:
<http://www.confrariadovento.com/revista/numero11/phantascopia.htm>.
Acesso em: 02/07/2010. Stela do Patrocnio. Disponvel em:
<www.steladopatrocinio.blogspot.com/>. Acesso em: 21/08/2010.
PATROCNIO, Stela do. Reino dos bichos e dos animais o meu nome - Stela do
Patrocnio, Viviane Mos (Org.). Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2001.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
410
QUEM ODEIA LER AGORA?
Os Saraus como mola propulsora do incentivo a leitura nas
margens
Jacqueline Nogueira Cerqueira, Graduada (2013) em Letras com Habilitao em Lngua
Portuguesa e Literaturas, pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB Campus V.
Email: jacqueline-nogueira@hotmail.com
Resumo: O presente trabalho busca estudar a importncia dos Saraus e da Literatura
Marginal/ Perifrica (SP) como nova possibilidade de interveno e incentivo a leitura nas
periferias e em escolas pblicas paulistanas. Um cenrio de leitura, produo, e socializao
textuais se forma na periferia, alguns dos responsveis por tais acontecimentos desde o incio
desse sculo, na transformao de imagem da periferia so eles, os escritores e ativistas
perifricos: Ferrz, Alessando Buzo, Srgio Vaz, dentre outros. Os saraus movimentaram a
cena literria da periferia, e as atividades que a priori eram apenas para a periferia, j
ultrapassa aos limites do asfalto. Com os saraus modernos, formou-se o novo quilombo
cultural, a nova imagem da periferia aps uma dcada de iniciativas culturais, a leitura
presente na vida das pessoas, fotografia pouco circulada na sociedade, as quais raramente
tm um espao de divulgao na mdia.A importncia dessa literatura se d alm da voz de
representantes da periferia, pois se configura como uma produo no isolada que possui
meios diretos de ligao com seu povo atravs dos saraus e sua responsabilidade de
incentivo a leitura.Alm da importncia cultural, da desmistificao da literatura, da
aproximao da arte para povo, algo que sempre lhe foi negado ou inacessvel, os poetas e
autores desses espaos oferecem no s a esses locais, mas vrios outros a necessidade
dessas iniciativas, uma possvel transformao de vida, atravs da criao da prpria cultura
e acesso ao conhecimento. O que acontece hoje na Zona Sul Paulistana e em outras partes do
Brasil, por meio da Literatura Marginal Contempornea, Literatura Divergente ou de Lite-
rua, no, no Alice no pas das maravilhas, mas tambm no o inferno de Dante. s o
milagre da poesia. Quem odeia ler agora? (Srgio Vaz).
Palavras-chave: Leitura; Saraus; Literatura Marginal Contempornea; Periferia;
1. A INVASO LITERRIA A PERIFERIA
Por acepo da palavra Sarau entende-se como reunio festiva, noite, para
danar, ouvir msica ou conversar, encontro de amigos com msica, reunio com
finalidade literria. Os saraus chegaram ao Brasil no sculo XIX com a vinda a
Famlia Real, esteticamente um evento da alta sociedade que configurava-se na
diverso de intelectuais reunindo poetas e msicos cariocas, logo serviu de modelo
para outras partes do pas.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
412
No sculo XX os saraus despontaram na sociedade atravs das iniciativas de
estudantes, artistas professores e ativistas culturais, tendo um carter menos
sofisticado em relao ao do sculo anterior, mas ainda caracterizado como uma
atividade da elite.
J no incio do sculo XXI os saraus atravs de ativistas e poetas perifricos se
transformaram na efervescncia cultural da periferia em bairros da zona sul paulista.
Surpreendendo a todos por se caracterizar no em apenas um acontecimento
eventual, pois sua existncia responsvel por uma nova realidade e imagem que a
periferia paulistana vivencia h mais de uma dcada, a formao de uma
comunidade leitora.
A periferia nunca esteve to violenta, pelas manhs comum ver, nos
nibus, homens e mulheres segurando armas de at quatrocentas
pginas. Jovens traficando contos; adultos, romances. Os mais
desesperados cheirando crnicas sem parar. Outro dia um cara
enrolou um soneto bem na frente da minha filha. Dei-lhe um
acrstico bem forte na cara. Ficou com a rima quebrada por uma
semana. (VAZ, 2008, COOPERIFA, p.117)
Esteticamente modernos os saraus passaram acontecer nos bares, ruas, galpes
e assim formou-se o novo quilombo cultural, espao que ajudou a construir a nova
imagem da periferia aps uma dcada de iniciativas culturais que tornaram a leitura
presente na vida dos moradores locais, fotografia pouco circulada na sociedade, as
quais raramente tm um espao de divulgao na mdia. Acontece atualmente
inmeros saraus na cidade de So Paulo, tendo concentrao maior na zona sul
paulistana, alguns dos mais conhecidos so o Sarau Cooperifa, Sarau do Binho, Sarau
Suburbano Convicto, 1 da Sul , Elo da Corrente, Sarau dos Mesqueteiros e outros.
importante salientar que os saraus se constituem no s como espaos de
socializao textual e divulgao dos artistas perifricos, mas sim enquanto espao
poltico onde o perifrico atua como sujeito da histria, ao assumir a sua voz na
sociedade enquanto representao social de si e do seu povo.
A periferia que historicamente foi descrita apenas como lugar de excluso,
pobreza, misria, analfabetismo, no produo de conhecimento e pensamento, hoje
propaga um acontecimento histrico no pas e na periferia, a criao de um cenrio
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
413
literrio para as massas, que surgiu atravs de alguns poetas e ativistas perifricos e
foram se disseminando a partir dos modelos dos saraus percussores um dos mais
importantes o Sarau da Cooperifa, idealizado por Srgio Vaz e Marcos Pezo.
Assim de suma importncia, estudar o que vem ocorrendo na Zona Sul
Paulistana para compreender como as iniciativas literrias nesses locais
possibilitaram a produo e divulgao da arte perifrica, mas sobretudo de que
forma contriburam para a construo da cultura e representao social da periferia.
Por isso essa pesquisa prope-se em estudar a importncia dos Saraus e da Literatura
Marginal/ Perifrica (SP) como nova possibilidade de interveno e incentivo a
leitura nas periferias e em escolas pblicas paulistanas.
A periferia sempre foi vista como um lugar restrito ao analfabetismo e a
criminalidade, pensar em um acontecimento literrio neste local at o final sculo
passado era algo inimaginvel. Razes que levam muitos a se assustarem com a nova
realidade da periferia, sendo os saraus grandes responsveis por essa nova imagem.
De que forma os saraus perifricos atuam como incentivadores da leitura nos espaos
em que acontecem?
Para responder a tal questionamento a pesquisa fundamenta-se a partir do
recentes estudos da literatura marginal no Brasil como da antroploga rica Peanha
do Nascimento que produziu sua tese de mestrado a insero dessa literatura na
sociedade e tese de doutorado sobre a existncia e atividades do sarau da cooperifa
na zona sul paulistana.
Bem como nas discusses e trabalhos da pesquisadora, crtica literria,
ensasta e escritora, Helosa Buarque de Hollanda, que detm um acompanhamento
das geraes da literatura marginal no brasil e da criao dos saraus em SP e RJ
sendo at curadora de alguns eventos. Nas discusses tericas de Alfredo Bosi, sobre
a Escrita e os Excludos enquanto identificao da obra literria por parte do
perifricos e do poder de voz da periferia como sujeito da histria e construo
identitria.
Com essa pesquisa documental e bibliogrfica constituda atravs da anlise
em sites, blog, revistas, vdeos, teses, artigos, monografias e entrevistas, referentes
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
414
aos acontecimentos de saraus e da literatura marginal/perifrica na zona sul
paulistana e abordagens de poetas e seus idealizadores.
2. AGORA EU SOU VERSO INVS DO INVERSO MIDITICO: A
PERIFERIA POESIA
2.1. O olhar do outro diante da margem X Eu fao literatura
A realidade de favelas brasileiras, ou de espaos cuja rea fica a margem do
centro comporta os mais variados tipos de problemas sociais, sendo as condies de
vida em grande parcela inumanas, pela falta de acesso aos meios necessrios de
sobrevivncia e dos seus direitos de cidado, negado pelo prprio sistema social que
envolve governo e habitaes irregulares no Brasil.
O preconceito quanto a origem geogrfica de lugar justamente
aquele marca algum pelo simples fato de pertencer ou advir de um
territrio, de um espao, de um lugar, de uma vila, de uma cidade, de
uma provncia, de um estado, de uma regio, de uma nao, de um
pas, de um continente considerado por outro ou outra, quase sempre
mais poderoso ou poderosa como sendo inferior, rstico, brbaro,
selvagem, atrasado, subdesenvolvido, menor, menos civilizado,
inspito, habitado por um povo cruel, feio, ignorante, racialmente ou
culturalmente inferior. (JUNIOR,2007. p.11)
Apontados constantemente na mdia, nos livros e jornais e pela prpria
sociedade, apenas pelos seus aspectos negativos, reduzido ao ambiente de violncia,
e quando retratam a produo cultural desses espaos, esta sempre vista como
inferior.
A ideia de falar sobre a cultura da periferia quase sempre esteve
associada ao trabalho de avalizar, qualificar ou autorizar a produo
cultural dos artistas que se encontram na periferia por critrios
sociais, econmicos e culturais. Faz parte da percepo de que a
cultura da periferia sempre existiu, mas no tinha oportunidade de
ter sua voz. ( HOLLANDA, 2010)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
415
Descrito sempre pelo outro, atravs de esteretipos que circundam a histria
do Brasil, contexto o qual revela a falsa democracia racial do pas, presentes em
discursos camuflados quando oportunos e brutalmente julgadores nas formas de
representar o outro dentro de narrativas.
O discurso da estereotipia um discurso assertivo, imperativo,
repetitivo, caricatural. uma fala arrogante, de quem se considera
superior ou esta em posio de hegemonia, uma voz segura e auto-
suficiente que se arroga no direito de dizer o que o outro em poucas
palavras. (JUNIOR,2007. p. 13)
H sculos o excludo social/ perifrico/subalterno/favelado foi apresentado
a sociedade atravs da literatura e grande mdia por aspectos no representativos da
identidade cultural do seu povo.
Alavancados por uma imagem negativa e ofensiva culturalmente viram por
sculos contarem aquilo que caracterizaram como histria da margem, um discurso a
viso do elitizado que pouco vivenciou ou pretendeu retratar o dia-a-dia de uma
favela/periferia, sem contar e exaltar os reais protagonistas destes espaos, os quais a
sculos leram /ouviram uma histria no representativa da sua histria,do seu povo,
do seu lugar , uma espetacularizao essencialmente da violncia e da pobreza,
propagao que agora rasgada e reconstruda pela prpria periferia.
Bosi (2002) menciona em, A escrita e os excludos, a relao que h entre a
escrita e o excludo social, sob dois pontos de vista, o primeiro sob a abordagem do
excludo social ou marginalizado como objeto da escrita e a segunda do excludo
social enquanto sujeito do processo simblico, posio a qual este assume ao ganhar
voz com o papel de protagonista ao narrar a prpria histria.
O excludo social saiu da posio de objeto o qual era caracterizado diante de
narrativas e temticas como subalterno, inferior, ocupando sempre situaes dentro
da narrativa que julga a margem sobre esteretipos criados juntamente com a viso
eurocntrica. E passa a contar a sua verso da prpria histria, como protagonista ou
a histria real do seu povo. Ou seja, o individuo passa a desmitificar o ideal de
"coisificao" socialmente destinado a ele e passa a se inserir como sujeito ativo e
construtor de sua prpria histria.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
416
Uma das primeiras vozes a ecoar pelo Brasil, advinda da favela foi a de
Carolina Maria de Jesus nos anos 60 com a obra, Quarto do Despejo, a autora serve
no s como influencia para a literatura perifrica, pois uma das primeiras
protagonista da inverso de lugar que agora ocupa um destaque maior dentro do
cenrio brasileiro com a literatura representativa do perifrico.
Outro exemplo notvel , e j plenamente urbano, de culturas de
fronteiras o de uma favelada, apenas alfabetizada, que registrou o
seu cotidiano em um dirio pungente, publicado em 1960 com o
titulo de Quarto de despejo. Falo de Carolina de Jesus, cuja obra foi
traduzida para as principais lnguas do mundo, reproduziu-se
amplamente e atingiu um milho de exemplares. O romancista
Alberto Moravia prefaciou a edio italiana. Sem dvida, um tento
difcil de repetir-se. ( BOSI, 2002, p 261)
Dentro dessa perspectiva onde o excludo assume o papel de Sujeito da
Histria, Bosi (2002) acredita que, atravs da representatividade e inscrio,
possvel identificar , na dinmica dos valores vividos em contextos de pobreza, certas
motivaes que levam atividade social da leitura e da escrita(BOSI, 2002, p. 261) .
Esse pensamento traduz parte do ideal defendido pelos escritores atuais da periferia,
ao dessacralizar a literatura tida especialmente ainda sob um ponto de vista antigo
para os cultos.
A literatura nos dias atuais circula margem do centro, tendo como
prioridade a palavra (a qual antes praticamente eles no tinham acesso), seja ela
escrita por quem for, cnone, perifrico, literatura negra ou afro-brasileira, literatura
brasileira ou estrangeira e outras, bebe-se de todas as fontes, o cenrio aberto para a
cultura, a arte, a expresso, mas sobretudo ao conhecimento e voz da prpria
periferia perante o que escreve e l.
Diante dessa inverso de posio da representatividade do perifrico na
literatura como sujeito protagonista do seu discurso literrio, passou-se a notar a
importncia que essas produes exercem no cenrio brasileiro; percebe-se que ainda
a mdia e at a academia resumem a temtica dessas produes a um foco limitado, a
violncia presente nesses espaos, associando-a exaustivamente a uma realidade
restrita, que no a sua nica face. Novas produes perifricas demonstram de
forma mais abrangente um novo ngulo de pensar esses discursos literrios.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
417
3. O PODER DE VOZ, UM GRITO A LITERATURA E A RESPOSTA A
LETRA DE FORMA
(...)Enquanto discutamos sobre o assunto surgiu a palavra sarau,e
ningum sabe por que, at porque a palavra era estranha a todos ns.
Acho que todos j tinham ouvido esta palavra, mas conhecer o
significado a fundo, acho que ningum conhecia. (VAZ,2006.
Cooperifa.p. 88)
A palavra que causou estranheza ao ser pronunciada em uma reunio sobre a
idealizao de montar um espao para encontros poticos na periferia ainda em sua
fase inicial hoje se caracteriza como uma das palavras de grande referncia cultural
deste espao. O incio dessa articulao literria para as margens demonstra atravs
dos relatos e discursos que contam a implantao dessa proposta o quanto os
idealizadores romperam como ao paradigmas sociais, desde a viso da favela como
lugar de no produo intelectual , quem dir apresentar a sociedade e expandir a
prpria cultura.
Esses eventos eram chamados de sales muito provavelmente
pelo ambiente que ocupavam. Chegaram como tradio importada
da Famlia Real, em 1808, e imediatamente ganharam terreno no Rio
de Janeiro. Era o local onde se reunia a Corte, e onde tambm
deveriam acontecer os encontros para regar o crebro da aristocracia
e dos nativos que sonhavam ganhar um certo ar europeu.So Paulo
s entrou no circuito mais tarde, quando perdeu os bares
provincianos e seus ricos fazendeiros de caf comearam a fazer de
tudo para afrancesarem-se. Outros sales menos ricos (ou esnobes),
mas sempre elitistas, tambm apareceram na cidade naquele
perodo.A partir dos anos 1940, a dinmica da elite culta mudou e
os ricos saraus foram escasseando. A organizao desse tipo de
evento mudou de mos e coube aos intelectuais universitrios
realiz-los em bares, pores, praas, teatros, geralmente espaos
underground esfumaados e com convidados com o copo cheio de
bebida. As drogas tambm aumentavam a viagem literria.Sem saber
de nada disso, eu e o Pezo, numa fria noite de outubro de 2001,
criamos na senzala moderna chamada periferia o Sarau da Cooperifa,
movimento que anos mais tarde iria se tornar um dos maiores e mais
respeitados quilombos culturais deste pas. (VAZ, 2006. Cooperifa
Antropofagia Perifrica, p. 89)
Com essa cena literria a periferia paulistana vive um advento da literatura
por meio dos mais diversos saraus e projetos culturais desenvolvidos na periferia,
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
418
saraus que se inspiraram na ao de Srgio Vaz, que no incio do sculo XXI deu
origem ao Sarau Cooperifa. Atualmente desafiador expressar em nmeros reais
quanto saraus acontecem na cidade de So Paulo, principalmente na zona sul, dados
que demonstram uma relao intensa e propagadora da literatura com as margens.
Literatura esta responsvel por esse vrus literrio que contaminou as
periferias paulistanas. Quando fez parte da imaginao da sociedade a periferia
devorando crnicas, poesias e livros? A dessacralizao da literatura foi um
importante passo para a expanso da literatura perifrica/marginal e da circulao
da literatura nacional e estrangeira nos encontros literrios, pois a comunidade
passou a ver a literatura como algo acessvel com a utilizao da linguagem coloquial
bem prxima do real idealizao pretendida pelos modernistas de 22, que se
consagra com a literatura marginal.
No dia 17 de Setembro de 2011, o jornal Folha de So Paulo, com reportagem
de Fbio Victor, exibia no impresso a chamada Cooperifa mistura todos os versos e
leva at estrangeiro a periferia, a reportagem faz um recorte do sarau da cooperifa
como espao literrio e a relao com os freqentadores e visitantes, dois deles
escritores perifricos, o Ademiro Alves (Sacolinha) e o Binho, ambos idealizadores de
outros saraus em suas periferias. A reportagem apesar de notria e relevante
restringiu-se em maior parte a um nico sarau, alm de anunciar tardiamente o que
outro sites ligados ao movimento da prpria periferia j exaltam a alguns anos, a
exemplo do site Periferia e Movimento que faz uma crtica a esta matria:
O jornal lido basicamente pela elite paulistana Folha de S. Paulo
deste sbado, 17, deu um espao especial Cooperifa e a outros saraus
que rolam na periferia de So Paulo. fato: esse reconhecimento
mostra que estamos vivenciando a maior revoluo cultural das ltimas
dcadas no Brasil. Aqui no blog, j mostramos isso h bastante tempo.
(2011.09.19.Periferia e Movimento)
Em sequncia a esta crtica o Blog periferia e movimento faz um panorama de
alguns saraus que vem ocorrendo na regio metropolitana, mapa que traz
informaes e acesso a esses espaos como pode ser visualizado abaixo:
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
419
(imagem retirada do site Periferia e Movimento, Disponvel em:
http://periferiaemmovimento.wordpress.com/2011/09/19/na-folha-cooperifa-e-literatura-periferica-
sao-destaques-no-jornal/)
A leitura incentivada por esses lugares, em grande parcela por meio da
oralidade, nos saraus, rompe as barreiras do livro, com as poesias que encantam ou
com as palavras que indignam, levando pessoas a se tornarem leitores, de todos os
tipos de livros, sem se importar com o nome do autor, mas sim com o que o contedo
pode proporcionar.
A Literatura Marginal juntamente com seus escritores propicia a periferia, o
contato com a cultura, criando e registrando a sua prpria cultura. A expresso
literria que ganhou uma nova roupagem com as produes perifricas ecoa a voz
dos excludos no s do mercado editorial, mas da prpria sociedade.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
420
A periferia/favela deixa de ser vista s como um lugar de violncia para um
lugar tambm de produo cultural, seja pelos diversos tipos de artes, que ainda no
tem o respeito e o seu espao na sociedade, mas aos poucos esta conquistando o que
lhe de direito. Exemplo dessa notoriedade so os escritores/poetas perifricos, o
hip hop, o rap, os grafiteiros e as outras artes em geral ganhando destaque
nacional.
Srgio Vaz um dos maiores responsveis por esse acontecimento, que
juntamente com seu amor a leitura e arte cidad, propaga por onde passa a
desmistificao do livro como algo sagrado e distantes das pessoas, ao acreditar
nesta como poder de transformao social, este um dos fatores que contribui para o
motivo para ele ser considerado um dos nomes mais importantes na cultura e na
literatura perifrica na cidade de So Paulo.
A literatura que ganhou destaque na periferia atravs da circulao dos livros
nesses projetos sociais, hoje ganha grande sustentao da prpria escrita advinda da
periferia nos saraus literrios, atravs deles que os textos chegam ao conhecimento
da comunidade, como tambm por intermdio destes que muitos talentos so
revelados, nos concursos literrios, ou nas antologias que so lanadas durante o ano.
Essa literatura abre portas, no s para a literatura de forma geral, mas
principalmente para leitura, a periferia que antes era vista como um lugar de no
produo cultural, hoje aps uma dcada ganha notoriedade nos principais jornais
da cidade e serve de estudos devido o advento de transformao social por meio do
espao literrio.
3.1. Os Saraus como mola propulsora do incentivo leitura nas margens
Um cenrio de leitura, produo, e socializao textuais se forma na periferia,
alguns dos responsveis por tais acontecimentos desde o incio desse sculo, na
transformao de imagem da periferia so eles, os escritores e ativistas perifricos:
Ferrz, Alessando Buzo, Srgio Vaz, Sacolinha, Marcelino Freire, Allan da Rosa,
Rodrigo Criaco, Binho, os raps Gog e Dexter, e outros juntamente com as
colaboraes das jornalistas, Jessica Balbino e Eliane Brun, a antroploga oriunda da
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
421
periferia, rica Peanha do Nascimento e a crtica, Helosa Buarque de Hollanda.
Agora, todas as quartas-feiras, guerreiros e guerreiras de todos os lados e de todas
as quebradas vm comungar o po da sabedoria que repartido em partes iguais,
entre velhos e novos poetas sob a bno da comunidade (Vaz, 2008).
Os saraus movimentaram a cena literria da periferia, e as atividades que a
priori eram apenas para a periferia, j ultrapassa aos limites do asfalto. Com os
saraus modernos, o novo quilombo cultural, a literatura freqenta os casares,
bibliotecas inacessveis a olho nu, e prateleiras de livrarias que crianas no alcanam
com os ps descalos (VAZ, 2008).
A nova imagem da periferia aps uma dcada de iniciativas culturais, a leitura
presente na vida das pessoas, fotografia pouco circulada na sociedade, as quais
raramente tm um espao de divulgao na mdia. Na mesma semana 01 a 09
novembro de 2012 em que a periferia paulistana foi noticiada sobre os atentados
violentos entre policias e traficantes, e a morte de dezenas de inocentes, acontecia a
5 Amostra Cultural da Cooperifa , em comemorao aos 11 anos de atividades
culturais.
A amostra que iniciou com a Semana de Arte Moderna da periferia chega ao
5 ano, com nove dias de socializao artstica, Mia Couto foi um dos convidados, ao
fim de sua participao deu a seguinte declarao, "Estou saindo do Sarau da
Cooperifa, sem sair. impossvel sair desse lugar".
A receptividade de vrias pessoas para participar em uma laje do bate-papo
com o autor, j havia surpreendido o escritor Moambicano, pelas perguntas e
interao ao falar sobre seus livros, sua vida enquanto bilogo e jornalista e no
combate da liga libertao nacional. Mas ao chegar ao Sarau Cooperifa, deparou-se
com uma escrita simples e direta e viveu um dos momentos mgicos que os
freqentadores do sarau costumam rotular: ningum entra no boteco do Z Batido
impunemente. Sai de l transtornado pelo que viveu ou melhor, sai transformado.
O que acontece no boteco do Z Batido toda quarta-feira muda cada um de ns e
muda o Brasil, afirma a Jornalista Eliane Brum (2008), o encontro histrico na
periferia com Mia Couto foi descrito por Vaz como um encontro muito alm da
literatura.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
422
Na segunda-feira, 12 de Novembro de 2012, o escritor Moambicano Mia
Couto, em So Paulo na entrevista ao site africa21digital,disse:Acredita-se que a
periferia pode dar futebolista, cantor, danarino. Mas, poeta? No sentido que o poeta
no produz s uma arte, mas pensamento. At uma dcada atrs era uma piada
falar em escritor da periferia, pois se pensava a partir de esteretipos disseminados
socialmente que na periferia no existia seres pensantes, tanto que muitos ainda
nos dias atuais demonstram em sua face o estranhamento ao ouvirem falar em
leitores e escritores na periferia. Como demonstra a citao o autor questiona
justamente essa no aceitao da produo perifrica e acusa no decorrer da sua fala
essa excluso social como uma prtica racista.
A nova face de representao cuja literatura est ajudando a construir
modifica a vergonha que muitos moradores tinham de dizer sou da periferia
paulistana, por sofrer discriminao e muitas vezes perder oportunidades de
trabalhar ao revelar o endereo de residncia, comenta o poeta Vaz em suas
entrevistas, agora tudo mudou. Assim todas as quartas-feiras: professores,
metalrgicos, donas de casa, taxistas, vigilantes, desempregados, mecnicos,
estudantes, jornalistas, advogados, entre outros, exercem a sua cidadania atravs da
poesia. Os saraus recebem nos dias atuais gente de todos os lugares, um ambiente
que no se restringe a periferia, e rompe o impasse entre centro e periferia.
Atravs da criao da sua prpria cultura a literatura marginal contempornea
ajuda gente que nunca havia lido um livro, escrito um poema, assistido a uma pea
de teatro se interessar por arte e cultura. Assim o incentivo a leitura vai se
perpetuando dentro e fora da comunidade, Toninho que poeta, leva seu sobrinho
Lus Miguel, de 11 anos para os Sarau Cooperifa toda quarta-feira, influenciado pelo
gosto da literatura de cordel, Miguel j possui 8 poesias de sua autoria, o menino
admirado pela confiana ao se apresentar e pelas rimas que faz.
Quem surpreende tambm ao pblico a todas as quartas-feiras, no Sarau da
Cooperifa, dona Edtih, h alguns anos deficiente visual, comeou a recitar pela
primeira vez na periferia ao 63 anos, ao entrevista-la em 2010 o site Vivafavela
afirma: Dona Edith amante de poesias e literatura desde criana, na cidade de
Pirapora, no Estado de Minas Gerais, onde nasceu, era fascinada pelos livros. Como
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
423
no podia compr-los, pedia emprestado ou pegava na biblioteca da cidade. Essa
senhora que hoje est na casa dos 70 anos, mesmo apaixonada por poesia desde a
infncia ganhou a oportunidade de ser ouvida por meio do sarau e atualmente uma
das mais belas figuras reais que descreve esse ambiente mgico na periferia.
No existe arte pela arte, preciso ser um artista cidado. Voc no
pode ir ao teatro e depois no comentar sobre o que viu. A arte tem
que causar reflexo, argumenta Vaz. O artista tem um
compromisso com a verdade. Por que o que ele ? um fotgrafo do
cotidiano. Eu quero ser isso, eu quero ser um representante do meu
cotidiano e quero ser lembrado por isso, completa. (INZINNA, 2011,
p. 9)
Os encontros literrios idealizados por esses poetas perifricos se estendem
aos mais diversos ambientes e configura-se na sociedade como uma nova atividade
artstica e literria para o povo.
Candido, ao argumentar sobre a relao que h entre autor, obra e pblico
indica os efeitos de um sobre o outro:
A literatura pois um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as
outras e sobre os leitores; e s vive na medida em que estes a vivem,
decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. A obra no um produto
fixo, unvoco ante qualquer pblico; nem este passivo, homogneo,
registrando uniformemente o seu efeito. So dois termos que atuam
um sobre o outro, e aos quais se junta autor, termo inicial desse
processo de circulao literria, para configurar a realidade da
literatura atuando no tempo. (CANDIDO, 2006, p.84)
O crtico enfatiza o poder de transformador da leitura e respectivamente da
literatura no ser humano, demonstrando que a mesma no passa sem agir em que
l.
A Literatura Perifrica um contedo coletivo, a qual possibilita atravs dos
seus escritores que essa ganhe uma proporo maior, a qual no se restringe
unicamente a leitura destes contedos, mas se amplia para formao crtica dessas
pessoas, diante do seu direito a arte e cultura de uma forma geral. o que afirma
Arajo, em, Manifesto pelos direito de ler:
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
424
A dignidade e a capacitao no ato de ler e escrever no so
privilgios de classe ou grupos, mas antes se inscrevem como
exerccio de direito e justia, necessidade bsica e inalienvel de cada
indivduo. (ARAUJO 2006, p.17)
Richard Bamberger 2006, argumentar que, A leitura dos meios mais
eficazes de desenvolvimento sistemtico da linguagem e da personalidade.
Acredita-se que mesmo com a literatura produzida na periferia possuindo uma
grande influncia da oralidade e do hip-hop, ela pode atuar no desenvolvimento da
linguagem da comunidade, assim como incentivo educacional no mbito escolar,
fazendo com que uns voltem a estudar e outros no desistam da formao escolar,
fator que ocorre j h algum tempo nessas comunidades.
O prazer pela leitura chegou periferia, e este contribui atualmente para o
nascimento de escritores, poetas, cidados que se expressam pro mundo ao narrarem
sua prpria histria. Bamberger pontua que:
Os livros, portanto, no tem importncia menor hoje do tiveram no
passado, mas ao contrrio. So o que tm sido h sculos: portadores
de conhecimento de uma gerao para outra ( e dificilmente podero
ser ultrapassados por qualquer outro meio de transmisso das
descobertas intelectuais), pedras angulares da vida intelectual e
emocional. Para os jovens leitores, os bons livros correspondem s
suas necessidades internas de modelos e ideais, de amor, segurana e
convico. Ajudam a dominar problemas ticos, morais e
sociopolticos da vida, proporcionando lhes casos exemplares,
auxiliando na formulao de perguntas e respostas correspondentes (
e a pergunta , por is mesma, uma formao bsica de confrontao
intelectual). (BAMBERGER 2006, P. 11)
A literatura marginal, ao propagar a idia do artista-cidado, proporciona a
periferia uma nova perspectiva de vida e uma chance de contar a sua histria, de no
terem vergonha da onde moram, de se orgulharem de quem so no escrito ou no.
A poesia, gnero textual que sempre enalteceu os ambientes e floresceu as
almas, dar agora voz a comunidade, pessoas que eram silenciadas pela literatura,
pelos jornais, pela elite que os descrevia como bem entendia, pessoas que se
mantinham em seus lugares e as vozes que tentavam falar, no conseguiam espao,
esse era/ o interesse da classe dominante, a periferia sem voz.
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
425
Porm a face mudou, e mesmo assim muitos ainda discriminam esse tipo de
arte, acreditam no discurso ainda antigo, o qual no livro, O que faz o Brasil, Brasil? ,
afirma Roberto da Matta, Numa sociedade onde na h igualdade entre as pessoas, o
preconceito velado forma muito mais eficiente de discriminar as pessoas de cor,
desde de que elas fiquem no seu lugar e saibam qual ele .
A periferia mudou a face, ao ter outras alternativas de vida, oportunidades,
que sempre lhe foi negada. E estas acontecem atravs da literatura e da cultura de
forma geral, principalmente atravs da poesia contempornea que atinge os mais
diversos ambientes como na dcada de 60/70, quando a Literatura Marginal, que
deslanchou com a classe mdia frente a ditadura e ganhou destaque nacional.
A presena de uma linguagem informal, primeira vista fcil, leve
engraada e que fala da experincia vivida contribui ainda para
encurtar a distncia que separa o poeta e o leitor. Este, por sua vez,
no se sente mais oprimido pela obrigao de ser um entendido para
se aproximar da poesia. (HOLLANDA, 2007, P.9)
Essa argumentao um retrato do que acontece na periferia paulistana , ao
romper a distncia que havia do seu povo com o livro ao no t-lo como algo
sagrado, fazendo com que a poesia e a literatura, seja um elemento crucial para a
vida das pessoas por intermdio da leitura, h uma poesia que desce agora da torre
de prestgio literrio e aparece com uma atuao que, restabelecendo o elo entre
poesia e vida, restabelece o nexo entre poesia e pblico (HOLLANDA, 2007. P. 10)
A literatura marginal mais do que uma narrativa sobre essas pessoas a
identificao coletiva diante do que ler, seja pela forte retratao do cotidiano, ou
pelos flashes da realidade social, fatos do dia-a-dia que inspiram textos, ou pela
linguagem informal que caracteriza a linguagem utilizada pela comunidade,
possibilitando uma aproximao, maior com as cenas vivenciadas no ambiente em
que vivem.
Candido diz que, a Literatura, porm, coletiva, na medida em que requer
uma certa comunho de meio expressivos (a palavra, a imagem, e mobiliza
afinidades profundas que congregam os homens de um lugar e de momento, para
chegar a uma comunicao. (p. 147).
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
426
Comunicao que hoje divulga atravs das obras de fico e de no fico um
novo lado da periferia, a real vida de um povo, ou a imagem que queriam que fosse,
seja nos jornais, na televiso, nos livros, falem ou no, a periferia junto com a
literatura vive outro momento.
4. Consideraes Finais
A importncia dessa nova face para a periferia contribuiu nos mais diversos
aspectos sociais, devido a atuante ao, nas escolas pblicas de So Paulo, que
comunga tambm desse acontecimento da periferia, ao levar essa literatura para o
ambiente escolar.
Ao pesquisar sobre a leitura de textos da Literatura Marginal na escola, a
mestranda em Letras, Mei Hua Soares, diz que a leitura de textos em sala de aula
trouxe um dado importante:
Tanto os textos de literatura marginal-perifrica como os demais
gneros narrados nas experincias (reportagem, obras de relato e
testemunhais) apresentam uma caracterstica comum j apontada
antes: todas so muito prximas do real. O que pde ser percebido ao
longo das leituras que existe no jovem aluno uma necessidade de
verdade em relao ao texto literrio. (SOARES, 2008, P.111)
A autora argumenta que na prpria experincia de sala de aula, pode ser
comprovado em turmas de idades diferentes, atravs de reportagens ou obra de
relatos testemunhais como as obras de no-fico, h uma ntida confirmao do
valor da obra e consequentemente validao da experincia literria.
As leituras dos textos marginal-perifricos em sala de aula
propiciaram um conjunto de apontamentos, reflexes, debates e
embates, enfim, uma ao crtica durante e aps a leitura literria.
Pde-se verificar que determinadas obras despertam em grande parte
dos alunos uma projeo ou identificao. O ato individual de
fruio torna-se uma experincia coletiva com a formao de uma
comunidade leitora (ou comunidade interpretativa, como vimos
em Fish) que se identifica com determinados textos. (SOARES, 2008,
P. 114)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
427
Para Soares essa identificao atravs desses processos de leitura se d porque
as obras marginal-perifricas, apesar de no serem registros da realidade, eles
apresentarem fatos efetivamente ocorridos, retratam uma forte relao com o real,
um real perifrico, trazendo para a literatura e para o texto fatos fictcio, mas
verdadeiros, um novo realismo.
Bosi, menciona em, A escrita e os excludos sobre a relao que h entre
ambos, a primeira sob a abordagem do excludo social ou marginalizado como objeto
da escrita e a segunda do excludo enquanto sujeito do processo simblico.
possvel identificar, na dinmica dos valores vividos em contextos
de pobreza, certas motivaes que levem atividade social da leitura
e da escrita. Trata-se de descobrir o leitor-escritor potencial. O que me
move pensar o excludo como agente virtual da escrita, quer literria,
quer no literria. Como o excludo entra no circuito de uma cultura
cuja forma privilegiada a letra de forma? Rastreando os passos do
itinerrio ( isto , de um de um desses itinerrios), consigo ver melhor
a zona de interseco que se entende entre a situao de classe e a
escrita. Nesse horizonte, atos de ler e de escrever podem converter-se
em exerccios de educao para a cidadania. (BOSI, 2002, P.261)
Esses fatores afirma o que acontece na periferia Paulistana e a funo social
que vem sendo exercida atravs dessa literatura, mesmo diante da relao que se
evidencia para a sociedade, classe x escrita, lugar x pessoa. A literatura permite o
acesso ao conhecimento, a cultura e at ao resgate da prpria dignidade enquanto ser
humano visto pelo social.
Essa funo social ganha espao nesta pesquisa atravs do poeta / cronista
Srgio Vaz e do Sarau Cooperifa, levando a refletir a importncia e a disseminao da
literatura nesse espao e do prprio poeta como porta voz dessa comunidade.
Naquela casota de periferia tomei conscincia de que os excludos do
milagre econmico (negros e mestios de subrbio, filhos de
migrantes com baixa escolaridade, condenados a marcar passo na sua
condio de pobreza) ansiavam, em primeiro lugar, pelo acesso ao
conhecimento). E mediante o conhecimento, ter vez e voz em um
mundo que se fecha para os que conseguiam transpor o limiar da
escrita. (BOSI 2002, P. 263)
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
428
A ideia que nasceu como levar o conhecimento para as pessoas se concretizou,
mas ao atingir o lugar de destaque social, o qual crescente, a sede de conhecimento,
de oportunidade vivido no s pelo Jardim Guaruj , mas pela periferia de So
Paulo, mais especificamente na Zona Sul, demonstra o que a poesia e a literatura
pode fazer na vida das pessoas, o afirma Grossmann, A funo da literatura no
resulta num mero pr a dormir, mas num despertar (p.13), e a literatura despertou a
periferia para si mesma diante do mundo.
Alm da importncia cultural, da desmistificao da literatura, da
aproximao da arte para povo, algo que sempre lhe foi negado ou inacessvel, os
poetas e autores desses espaos oferecem no s a esses locais, mas vrios outros a
necessidade dessas iniciativas, uma possvel transformao de vida, atravs da
criao da prpria cultura e acesso ao conhecimento. O que acontece hoje na Zona
Sul Paulistana e em outras partes do Brasil, por meio da Literatura Marginal
Contempornea, Literatura Divergente ou de Lite-rua, no, no Alice no pas das
maravilhas, mas tambm no o inferno de Dante. s o milagre da poesia. Quem
odeia ler agora? (Srgio Vaz).
Referncias
ALBUQUERQUE JNIOR, D. M. Preconceito contra a origem geogrfica e de lugar:
as fronteiras da discrdia. So Paulo: Cortez, 2007.
ARAUJO, Jorge de Souza, Letra, leitor, leituras e reflexes. Ed. Via litteratum. 2ed.
2006
BOSI, Alfredo. A escrita e os excludos . In:______ Literatura e Resistncia. So
Paulo. Companhia das Letras, 2002.
HOLLANDA, Helosa Buarque. Viva Favela. entrevista (12 de agosto 2007).
Disponvel em: <http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/viva-favela/ >
.Acesso 28 de Setembro de 2012 s 23h e 18 min.
INZINNA, Natlia. UniVERSO Perifrico: A periferia tambm vive na periferia de So
Paulo Universidade paulista UNIP; 2011.
JINKINGS, Daniella. Na agncia Brasil: Literatura Marginal ganha espao e
conquista leitores, principalmente jovens . Publicado por, Periferia e Movimento (
Anais do Encontro de Leitura e Literatura da UNEB, vol. 4, nico, 2014
429
18/04/2012) Disponvel em:
<http://periferiaemmovimento.wordpress.com/2012/04/18/na-agencia-brasil-
literatura-marginal-ganha-espaco-e-conquista-leitores-principalmente-jovens/>.
Acesso em 15 de Setembro de 2012 s 02h e 37 min.
PEANHA, rica. Literatura Marginal: os escritores da periferia entram em cena.
Dissertao de Mestrado, Programa de Ps-graduao em Antropologia Social,
Universidade de So Paulo, 2006.
___________. tudo nosso! Produo cultural na periferia paulistana. Tese
(Doutorado) Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da Universidade
de So Paulo. Departamento de Antropologia. rea de concentrao Antropologia
social. So Paulo , 2011.
HOLLANDA, Helosa Buarque de. Site: HYPERLINK
"http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/"http://www.heloisabuarquedeho
llanda.com.br/
REDACO. Impedir a periferia de ter pensamento prprio forma de racismo .O
pas oline. 12 de Novembro de 2012. Disponvel em:
<http://www.opais.co.mz/index.php/cultura/82-cultura/23002-impedir-a-
periferia-de-ter-pensamento-proprio-e-forma-de-racismo.html> Acesso dia 14 de
Novembro de 2012 s 16h 24 min.
SOARES. Mei Hua. A literatura marginal-perifrica na escola. s.n., 2008.158 f.
Dissertao de Mestrado, Programa de Ps Graduao em Educao. rea de
Concentrao: Linguagem e Educao.Faculdade de Educao da Universidade de
So Paulo, 2008.
VAZ Srgio. Blog: Colecionador de Pedras. Disponvel em: HYPERLINK
"http://colecionadordepedras2.blogspot.com.br/"http://colecionadordepedras2.blo
gspot.com.br/
VICTOR, Fbio. Cooperifa mistura todos os versos e leva at estrangeiro periferia.
17 out. 2011. Disponvel em: < http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/976574-
cooperifa-mistura todos-os-versos-e-leva-ate-estrangeiro-a-periferia.shtml>. Acesso:
20 de Novembro de 2012 s 09h e 19 min.
Anais do Encontro de Leitura e
Literatura da UNEB (ELLUNEB)
Realizao
Universidade do Estado da Bahia
Programa de Ps-Graduao em Estudo de Linguagens
Programa de Ps-Graduao em Educao e Contemporaneidade
GP Literatura e Ensino: Tecendo Identidades, Imprimindo Leituras
GRAFHO - Grupo de Pesquisa Autobiografia Formao Histria Oral
Parceria
Unijorge
GELING
Financiamento
CAPES
UNEB/PROEX
Você também pode gostar
- Anais2015 PDFDocumento1.076 páginasAnais2015 PDFle_09876hotmailcomAinda não há avaliações
- Histórias de Leitura: Diferentes Modos, Lugares e LeitoresNo EverandHistórias de Leitura: Diferentes Modos, Lugares e LeitoresAinda não há avaliações
- Leitura, escrita e ensino: Uma abordagem psicodramática para empresas, escolas e clínicasNo EverandLeitura, escrita e ensino: Uma abordagem psicodramática para empresas, escolas e clínicasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Litertura e EducaçãoDocumento227 páginasLitertura e EducaçãoMarcos Luiz WiedemerAinda não há avaliações
- IX SEF Antonio Marcos Ribeiro PDFDocumento29 páginasIX SEF Antonio Marcos Ribeiro PDFMarcos MacribialAinda não há avaliações
- Educação LiteráriaDocumento101 páginasEducação LiteráriaFabianaNascifAinda não há avaliações
- Ensino de Literatura no Ensino Médio: a formação do leitor ideal a partir do realNo EverandEnsino de Literatura no Ensino Médio: a formação do leitor ideal a partir do realAinda não há avaliações
- Gêneros (escolarizados) em contextos de ensinoNo EverandGêneros (escolarizados) em contextos de ensinoAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos Elluneb 2015Documento161 páginasCaderno de Resumos Elluneb 2015Isabela TavaresAinda não há avaliações
- Leitura Crítica: Origens e Sugestões de Atividades DidáticasNo EverandLeitura Crítica: Origens e Sugestões de Atividades DidáticasAinda não há avaliações
- Das Mangueiras às Sombras Daqueles Eucaliptos: Um Caminho Possível para Formação de Leitores AutônomosNo EverandDas Mangueiras às Sombras Daqueles Eucaliptos: Um Caminho Possível para Formação de Leitores AutônomosAinda não há avaliações
- Outras histórias: Ensaios sobre a composição de mundos na América e na ÁfricaNo EverandOutras histórias: Ensaios sobre a composição de mundos na América e na ÁfricaAinda não há avaliações
- Dossie Letramento e Diferenca Cultural RDocumento358 páginasDossie Letramento e Diferenca Cultural RErisvaldo Pedrosa da SilvaAinda não há avaliações
- Educação de Surdos: Políticas, Práticas e Outras AbordagensNo EverandEducação de Surdos: Políticas, Práticas e Outras AbordagensAinda não há avaliações
- PÓRCIA: Arquivos de Vida, Formação e AtuaçãoNo EverandPÓRCIA: Arquivos de Vida, Formação e AtuaçãoAinda não há avaliações
- Seminario Modulo V FinalizadoDocumento15 páginasSeminario Modulo V FinalizadojeaneAinda não há avaliações
- Leitura de Literatura Na Escola - DemonstraçãoDocumento14 páginasLeitura de Literatura Na Escola - DemonstraçãoJoel MocoAinda não há avaliações
- Práticas de Ensino de Linguagens: Experiências do ProfletrasNo EverandPráticas de Ensino de Linguagens: Experiências do ProfletrasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Alma de Andersen - Lygia Bojunga (P 234-251)Documento590 páginasAlma de Andersen - Lygia Bojunga (P 234-251)Danieli Dani100% (1)
- O texto na sala de aula: um clássico sobre ensino de língua portuguesaNo EverandO texto na sala de aula: um clássico sobre ensino de língua portuguesaAinda não há avaliações
- Itinerarios Formativos No Profletras Circularidade de VozesDocumento175 páginasItinerarios Formativos No Profletras Circularidade de VozesLuana FrancisleydeAinda não há avaliações
- Estudos Linguísticos Abordagens ContemporâneasDocumento357 páginasEstudos Linguísticos Abordagens ContemporâneasAdilio SouzaAinda não há avaliações
- Ensino de libras: aspectos históricos e sociais para a formação didática de professoresNo EverandEnsino de libras: aspectos históricos e sociais para a formação didática de professoresAinda não há avaliações
- A Pratica Docente Ea Perpetuacao de Este PDFDocumento194 páginasA Pratica Docente Ea Perpetuacao de Este PDFWando GustavoAinda não há avaliações
- EBOOK - Linguagem, Discurso e Cultura Vol 5Documento335 páginasEBOOK - Linguagem, Discurso e Cultura Vol 5luis.henriqueAinda não há avaliações
- Ebook Leitura e SujeitoDocumento302 páginasEbook Leitura e SujeitoJoy LuaAinda não há avaliações
- Textos em contextos: Reflexões sobre o ensino da língua escritaNo EverandTextos em contextos: Reflexões sobre o ensino da língua escritaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Culturas Ancentrais e Contemporâneas Na EscolaDocumento278 páginasCulturas Ancentrais e Contemporâneas Na EscolaClaudia Moitinho100% (1)
- Caderno de Resumos TelaDocumento506 páginasCaderno de Resumos Telaisadora6machado-1Ainda não há avaliações
- Residência Pedagógica e ensino de línguas na educação básica: compartilhando experiências e saberesNo EverandResidência Pedagógica e ensino de línguas na educação básica: compartilhando experiências e saberesAinda não há avaliações
- 2017 2Documento150 páginas2017 2Ester SouzaAinda não há avaliações
- Panorama Contemporâneo Das Pesquisas em Ensino de Literatura - UfcgDocumento96 páginasPanorama Contemporâneo Das Pesquisas em Ensino de Literatura - UfcgIvon Rabêlo100% (1)
- Duas décadas de contribuições do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem - UELNo EverandDuas décadas de contribuições do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem - UELAinda não há avaliações
- Biblioteca escolar e a formação de leitores: O papel do mediador de leituraNo EverandBiblioteca escolar e a formação de leitores: O papel do mediador de leituraNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Educação Sem Distância Volume 3: as múltiplas linguagens na educaçãoNo EverandEducação Sem Distância Volume 3: as múltiplas linguagens na educaçãoAinda não há avaliações
- Interfaces entre Literatura, Língua e Sequência DidáticaNo EverandInterfaces entre Literatura, Língua e Sequência DidáticaAinda não há avaliações
- Leitura infantojuvenil: abordagens teórico-práticasNo EverandLeitura infantojuvenil: abordagens teórico-práticasAinda não há avaliações
- Espaços contemporâneos de Consagração e disseminação da Literatura BrasileiraNo EverandEspaços contemporâneos de Consagração e disseminação da Literatura BrasileiraAinda não há avaliações
- Leitura e BilinguismoDocumento213 páginasLeitura e BilinguismoClaudia MarcheseAinda não há avaliações
- Introdução à historiografia da linguísticaNo EverandIntrodução à historiografia da linguísticaAinda não há avaliações
- Pedagogia histórico-crítica: 40 anos de luta por escola e democracia – Volume 2No EverandPedagogia histórico-crítica: 40 anos de luta por escola e democracia – Volume 2Ainda não há avaliações
- Cadernos De: Letramentos AcadêmicosDocumento143 páginasCadernos De: Letramentos Acadêmicoslucas Rodrigo uchoaAinda não há avaliações
- Estudos Discursivos em Diferentes Contextos: Discurso, Sujeito e EnsinoNo EverandEstudos Discursivos em Diferentes Contextos: Discurso, Sujeito e EnsinoAinda não há avaliações
- Suzana Cardoso:: um legado para a dialetologia brasileiraNo EverandSuzana Cardoso:: um legado para a dialetologia brasileiraAinda não há avaliações
- Razão Nas Letras A Obra e o Percurso de Roberto Acízelo de SouzaDocumento508 páginasRazão Nas Letras A Obra e o Percurso de Roberto Acízelo de SouzaGabriel FelipeAinda não há avaliações
- Fazer, pensar e ensinar artes cênicas: Epistemologias do extremo Leste do BrasilNo EverandFazer, pensar e ensinar artes cênicas: Epistemologias do extremo Leste do BrasilAinda não há avaliações
- Fazendo a cidade: Trabalho, moradia e vida local entre as camadas populares urbanasNo EverandFazendo a cidade: Trabalho, moradia e vida local entre as camadas populares urbanasAinda não há avaliações
- Maria de Fátima Berenice Da Cruz - Leitura Literária Na Escola - LIVRODocumento223 páginasMaria de Fátima Berenice Da Cruz - Leitura Literária Na Escola - LIVROEntsu06Ainda não há avaliações
- Estudos Culturais e ContemporaneidadeDocumento226 páginasEstudos Culturais e ContemporaneidadeTheodor AdornoAinda não há avaliações
- Projeto de IntervençãoDocumento12 páginasProjeto de IntervençãoJuliane Lopes da Silva Godinho100% (1)
- Educação, Linguagem e Literatura: reflexões interdisciplinares: – Volume 1No EverandEducação, Linguagem e Literatura: reflexões interdisciplinares: – Volume 1Ainda não há avaliações
- A Invenção Das TradiçõesDocumento11 páginasA Invenção Das TradiçõesMalane Apolonio DA SilvaAinda não há avaliações
- Regina ZilbermamDocumento5 páginasRegina ZilbermamMalane Apolonio DA SilvaAinda não há avaliações
- Poemas de Catulo Inspiraram Clássicos RomanosDocumento6 páginasPoemas de Catulo Inspiraram Clássicos RomanosMalane Apolonio DA SilvaAinda não há avaliações
- CatuloDocumento9 páginasCatuloMalane Apolonio DA SilvaAinda não há avaliações
- João Luiz Lafetá - O Mundo À Revelia (Ensaio)Documento13 páginasJoão Luiz Lafetá - O Mundo À Revelia (Ensaio)Gislei Martins De Souza OliveiraAinda não há avaliações
- Antologia Olavo BilacDocumento11 páginasAntologia Olavo BilacMalane Apolonio DA SilvaAinda não há avaliações
- Psicologia Do SexoDocumento236 páginasPsicologia Do SexoMalane Apolonio DA SilvaAinda não há avaliações
- COMPAGNON, Antoine - O Trabalho Da CitaçãoDocumento171 páginasCOMPAGNON, Antoine - O Trabalho Da CitaçãoMalane Apolonio DA SilvaAinda não há avaliações
- Curso de Historia Da Lingua Portuguesa Ivo CastroDocumento277 páginasCurso de Historia Da Lingua Portuguesa Ivo CastroMalane Apolonio DA Silva100% (1)
- Questionário 1Documento3 páginasQuestionário 1Jorge RodriguesAinda não há avaliações
- Ifi Amadiume - A Teoria Dos Valores Matriarcais de Cheikh Anta Diop Como Base para A Unidade Cultural AfricanaDocumento14 páginasIfi Amadiume - A Teoria Dos Valores Matriarcais de Cheikh Anta Diop Como Base para A Unidade Cultural AfricanaKaka PortilhoAinda não há avaliações
- Geometria Diferencial - Capítulo 6 (Apêndices) - Delgado PDFDocumento43 páginasGeometria Diferencial - Capítulo 6 (Apêndices) - Delgado PDFTonyStarkMatemticaAinda não há avaliações
- Os Segredos Da MotivacaoDocumento21 páginasOs Segredos Da MotivacaoEdson Palma100% (1)
- Revista Pergunte e Responderemos No. 001-2 MARÇO/ABRIL 1957Documento36 páginasRevista Pergunte e Responderemos No. 001-2 MARÇO/ABRIL 1957Apostolado Veritatis Splendor100% (3)
- Frieza BurguesaDocumento15 páginasFrieza BurguesaRafael Carvalho SousaAinda não há avaliações
- Conteudo Programatico - Tecnico Seguro Social InssDocumento4 páginasConteudo Programatico - Tecnico Seguro Social InssRosângela Gomes DanielAinda não há avaliações
- Avaliação Formativa II - Revisão Da TentativaDocumento15 páginasAvaliação Formativa II - Revisão Da TentativaJoaquim Neto100% (1)
- Livro Revelador Fala de Dramas e Obsessões de Richard SerraDocumento2 páginasLivro Revelador Fala de Dramas e Obsessões de Richard SerraVachevertAinda não há avaliações
- Ebook - A Crise Da Cultura t4WNHJDocumento117 páginasEbook - A Crise Da Cultura t4WNHJmariana lucia100% (1)
- Ficha Individual e AutoavaliaçãoDocumento2 páginasFicha Individual e Autoavaliaçãocriscare80% (5)
- Panóptico EducaçãoDocumento5 páginasPanóptico EducaçãoGabriel GonzagaAinda não há avaliações
- Material Intervencao IDocumento56 páginasMaterial Intervencao ITeresa Fortes91% (70)
- Livro Da Instituicao Dos Primeiros MongesDocumento126 páginasLivro Da Instituicao Dos Primeiros MongesJorge CandidoAinda não há avaliações
- A Empatia No Processo TerapêuticoDocumento4 páginasA Empatia No Processo TerapêuticoHumberto RodriguesAinda não há avaliações
- Introdução À Engenharia de Manutenção PDFDocumento2 páginasIntrodução À Engenharia de Manutenção PDFS. ChavesAinda não há avaliações
- Advérbio NPPDocumento3 páginasAdvérbio NPPdturmapelAinda não há avaliações
- Metodologia CientíficaDocumento50 páginasMetodologia CientíficaRicardo Simões SilvaAinda não há avaliações
- Filosofia 2º TesteDocumento5 páginasFilosofia 2º TesteCrónicasAinda não há avaliações
- TCC Direito Pedro 18.10 - 2.7Documento103 páginasTCC Direito Pedro 18.10 - 2.7Pedro CruzAinda não há avaliações
- O Que É A ArgumentaçãoDocumento1 páginaO Que É A ArgumentaçãoLuiz Felipe CandidoAinda não há avaliações
- Livro Ciencias T Carga Cognitiva PDFDocumento9 páginasLivro Ciencias T Carga Cognitiva PDFAna Maria C. LeãoAinda não há avaliações
- Apostila I - Direito CIVIL DA PESSOA JURÍDICADocumento43 páginasApostila I - Direito CIVIL DA PESSOA JURÍDICANosbaAinda não há avaliações
- Conceitos - Espaço, Lugar e Território PDFDocumento3 páginasConceitos - Espaço, Lugar e Território PDFFrancisco GimenesAinda não há avaliações
- Os TattvasDocumento18 páginasOs TattvasLucília Oliveira100% (2)
- Slid Intercessores em Ordem de BatalhaDocumento12 páginasSlid Intercessores em Ordem de BatalhaMARIA VERENICEAinda não há avaliações
- Felicidade RealistaDocumento4 páginasFelicidade RealistaJoao Vitor SilvaAinda não há avaliações
- Lista de Verifica - o ISO9001 2000 Auditoria InternaDocumento29 páginasLista de Verifica - o ISO9001 2000 Auditoria InternajoburbanoAinda não há avaliações
- Fichamento Sobre Eclea BosiDocumento3 páginasFichamento Sobre Eclea BosiPatrick Vaz SoaresAinda não há avaliações
- Livro Voce É o Que Voce Compartilha PDFDocumento85 páginasLivro Voce É o Que Voce Compartilha PDFRose RodriguesAinda não há avaliações