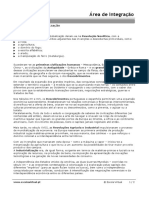Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pobreza e Desigualdade No Brasil - Unesco
Enviado por
Ant Garcia100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
105 visualizações271 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
105 visualizações271 páginasPobreza e Desigualdade No Brasil - Unesco
Enviado por
Ant GarciaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 271
UNESCO 2003 Edio da UNESCO no Brasil
Social and Human Sciences Sector
Division of Social Sciences Research and Policy
Policy and Cooperation in Social Sciences Section/UNESCO-Paris
Os autores so responsveis pela escolha e apresentao dos fatos contidos neste livro,
bem como pelas opinies nele expressas, que no so necessariamente as da UNESCO,
nem comprometem a Organizao. As indicaes de nomes e a apresentao do material
ao longo deste livro no implicam a manifestao de qualquer opinio por parte da
UNESCO a respeito da condio jurdica de qualquer pas, territrio, cidade, regio ou
de suas autoridades, nem tampouco a delimitao de suas fronteiras ou limites.
edies UNESCO BRASIL
Conselho Editorial da UNESCO no Brasil
Jorge Werthein
Cecilia Braslavsky
Juan Carlos Tedesco
Adama Ouane
Clio da Cunha
Comit para a rea de Desenvolvimento Social
Julio Jacobo Waiselfisz
Carlos Alberto Vieira
Marlova Jovchelovicth Noleto
Edna Roland
Colaborao
Rosana Sperandio Pereira
Traduo: Patrcia Zimbres
Reviso Tcnica: Rosana Sperandio Pereira
Reviso: Mirna Saad
Assistente Editorial: Rachel Gontijo de Arajo
Diagramao: Fernando Brando
Projeto Grfico: Edson Fogaa
UNESCO, 2003
Organizao das Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura
Representao no Brasil
SAS, Quadra 5 Bloco H, Lote 6,
Ed. CNPq/IBICT/UNESCO, 9 andar.
70070-914 Braslia DF Brasil
Tel.: (55 61) 2106-3500
Fax: (55 61) 322-4261
E-mail: UHBRZ@unesco.org.br
Pobreza e desigualdade no Brasil: traando caminhos para a incluso social /
organizado por Marlova Jovchelovitch Noleto e Jorge Werthein. Braslia :
UNESCO, 2003.
XXXp.
Anais do Seminrio Internacional Pobreza e Desigualdade no Brasil
Braslia, 8-9 de maio de 2003.
ISBN: 85-87853-96-1
1. Pobreza - Brasil 2. Desigualdade Social - Brasil 3. Integrao Social -
Brasil I. Noleto, Marlova Jovchelovitch II. Werthein, Jorge III. UNESCO
CDD 362.5
5
SUMRIO
Apresentao................................................................................................. 11
Abstract ........................................................................................................... 15
A Unesco e o compromisso com o desenvolvimento e o
combate pobreza ........................................................................ 17
Jorge Werthein e Marlova Jovchelovitch Noleto
Pobreza, a prxima fronteira na luta pelos direitos humanos .... 27
Pierre San
Construindo estratgias para combater a desigualdade social:
uma perspectiva socioeconmica................................................. 45
Aloizio Mercadante
O combate fome no Brasil ........................................................ 41
Jos Graziano
Assistncia Social e pobreza: o esforo da incluso ................... 37
Benedita da Silva
POBREZA NO BRASIL
Desnaturalizar a desigualdade e erradicar a pobreza no Brasil .... 63
Ricardo Henriques
Pobreza e transferncias de renda................................................ 69
Snia Rocha
Nova poltica de incluso socioeconmica ................................. 75
Mrcio Pochmann
6
POBREZA COMO VIOLAO DE DIREITOS HUMANOS
A pobreza como violao dos direitos humanos: justia
global, direitos humanos e as empresas multinacionais ............. 89
Tom Campbell
Pobreza como violao de direitos humanos ............................ 133
Flvia Piovesan
O Programa Fome Zero ............................................................. 159
Frei Betto
PROGRAMAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENFRENTAMENTO
DA POBREZA E DA EXCLUSO
Gesto intergovernamental para o enfrentamento
da excluso social no Brasil ....................................................... 173
Aldaza Sposati
O municpio de Porto Alegre no enfrentamento pobreza ..... 173
Ana Paula Motta Costa
Sistema Integrado de Controle Social de Polticas Pblicas:
uma proposta de incluso poltica como instrumento
de incluso social ........................................................................ 179
Celeste Cordeiro
Rede Social SP Programa de aes integradas do Governo
do Estado de So Paulo ............................................................. 191
Maria Helena Guimares de Castro
DESENHANDO ESTRATGIAS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA:
A CONTRIBUIO INTERNACIONAL
Cincias Sociais e pobreza: a busca de um enfoque integrado... 205
Alberto Cimadamore
7
As demandas morais da justia global ....................................... 215
Thomas Pogge
A contribuio da FAO para o combate fome........................ 233
Jos Tubino
ESTRATGIAS DO GOVERNO FEDERAL DE COMBATE POBREZA E DE
ARTICULAO COM A SOCIEDADE CIVIL
Estado e sociedade: a experincia da participao social ........ 241
Cezar Alvarez
Para acabar com a fome ............................................................. 249
Flvio Borges Botelho Filho
Sobre os autores ......................................................................................... 255
Para minha filha Laura, que eu espero possa crescer
em um Brasil mais justo e humano.
Marlova Jovchelovitch Noleto
Para Cludio, Paulo, Rodrigo, Gustavo e Lucas.
Jorge Werthein
11
APRESENTAO
Toda pessoa tem direito a um padro de vida capaz de assegurar
a si e a sua famlia sade e bem-estar, inclusive alimentao,
vesturio, habitao, assistncia mdica e os servios sociais
indispensveis....
(Declarao Universal dos Direitos Humanos, artigo 25, 1,
adotada e proclamada pela resoluo 217 A, III, da Assemblia
Geral das Naes Unidas em 10 de dezembro de 1948).
A pobreza, resultado da combinao de fatores scio-
econmicos e polticos diversos, revela-se uma das mais
perversas e histricas faces da desigualdade social que
vem exigindo, para alm da identificao de suas causas, a
descoberta de alternativas criativas para sua superao. Seja
qual for o caminho a ser escolhido, sabemos que, tanto no
Brasi l como em todo o mundo, esse desafi o passa pel a
igualmente desafiadora viabilizao da incluso social.
A excluso social no fruto to-somente da insuficincia
de renda, ainda que, sem gerar e distribuir a renda de forma mais
equnime, para que todo cidado possa ter acesso a bens privados
e a servios pblicos essenciais, ser difcil pensar que a pobreza
ser superada, e ainda mais distante ficar o desenvolvimento
social e humano. Aes de combate pobreza cujo alvo esteja
centrado em sua definio apenas com base em aspectos
econmicos no podem gerar resultados satisfatrios.
Precisamos entender que a situao de vulnerabilidade
social vivida por muitos , antes de tudo, uma questo de
violao de direitos humanos, a comear pelo mais bsico deles:
o direito vida, direito primordial de qualquer ser humano
previsto na Declarao Universal dos Direitos Humanos e o
primeiro a ser comprometido em situaes de pobreza e misria.
Nesse sentido, como to bem ressaltou o Secretrio Geral
das Naes Unidas, Kofi Annan, temos que deixar de pensar
que os nicos direitos humanos que nos interessam so os nossos,
12
individuais, e lembrar que a violao dos direitos humanos de
qualquer indivduo nos influencia e afeta a todos. Significa dizer
que a existncia de milhes de pessoas vivendo em situaes
sub-humanas de pauperizao um problema que diz respeito
ao conjunto da sociedade, aos governos e comunidade
internacional e, portanto, responsabilidade de todos.
por assi m entender que a UNESCO, dando
prosseguimento s aes que vem desenvolvendo para o
enfrentamento e a erradicao da pobreza no Brasil, realizou
em Braslia, nos dias 8 e 9 de maio deste ano, o Seminrio
Internacional Pobreza e desigualdade no Brasil: traando caminhos para
a incluso social, em parceria com a Organizao das Naes
Unidas para Agricultura e Alimentao (FAO), o Ministrio
de Assistncia Social, o Setor de Mobilizao Social do
Programa Fome Zero e o Mi ni stri o Extraordi nri o de
Segurana Alimentar e Combate Fome, com o objetivo de
promover um debate mais aprofundado sobre a tema, trazendo
para a realidade brasileira discusses que possam agregar novas
idias, reflexes e possibilidades de atuao tanto para o Estado
como para a sociedade.
O seminrio contou com a presena de representantes de
governos, acadmicos, especialistas na temtica, pesquisadores
nas reas de assistncia social e direitos humanos nacionais e
internacionais , que analisaram diversos temas relacionados
pobreza como violao dos direitos humanos, cujos textos
debatendo a questo so apresentados agora nesta coletnea.
Esse seminrio faz parte de um novo projeto da UNESCO
sobre pobreza, coordenado pelo Diretor-Geral Adjunto para
Cincias Humanas e Sociais da UNESCO, Pierre San, lanado
em junho de 2002, que inclui um ciclo de debates internacionais
que esto ocorrendo este ano (como o Seminrio de Filosofia
realizado no All Souls College da Universidade de Oxford,
realizado em abril, e o Seminrio Internacional de Pobreza, que
se realizar no prximo ano, em Nova Deli). Entre seus objetivos,
13
o projeto pretende organizar seminrios comtcnicos e especialistas
em filosofia, direito, economia e cincia poltica para discutir o
tema, trocar informaes e agregar novas perspectivas ao debate
que possamauxiliar na proposio de solues concretas, a exemplo
do que foi produzido no seminrio realizado no Brasil.
Neste momento, em que o Presidente Luiz Incio Lula da
Silva e seu governo se comprometem publicamente com o
combate pobreza e fome, num grande esforo para a
superao da desigualdade social no Brasil, a UNESCO espera
que iniciativas como essas e outras que vem desenvolvendo
em parceria com os governos federal, estaduais e com as
organizaes da sociedade civil possam contribuir para que
a incluso social, mais que um desejo coletivo, torne-se uma
realidade irreversvel.
Jorge Werthein
Representante da UNESCO no Brasil
15
ABSTRACT
This book gathers a variety of academic articles written
by national and international government representatives,
specialists and researchers in the areas of social aid and human
rights. These individuals analyzed several themes related to
poverty and inequality and paths to social inclusion based on
the International Seminar on Poverty and Inequality in Brazil: Creating
Paths for Social Inclusion. The seminar was held in Brasilia on
May 8 and 9 this year in partnership with the United Nations
Food and Agriculture Organization, the Ministry of Social
Security and Welfare, the Social Mobilization Sector of the Zero
Hunger Program and the Ministry of Food Security and Hunger
Prevention.
This seminar is a follow-up to the actions UNESCO has
developed to combat and eradicate poverty in Brazil. These
actions are developed in partnership with the government and
society and their objective is to promote a more comprehensive
debate on the matter by encouraging discussions that might result
in new ideas, reflections and possibilities for action in Brazil.
UNESCO understands that only through the involvement of
society, the government and the international community can
the subhuman conditions of poverty millions of people all over
the world live in be overcome.
This book also includes articles that focus on poverty as a
violation of human rights.
17
Em 1995, durante a Cpula Mundial para o Desenvolvimento
Social, realizado em Copenhague, na Dinamarca, inaugurava-se o
Relgio da Pobreza, uma tentativa de mostrar, de forma dramtica,
a rapidez do crescimento da pobreza no mundo. Nesse relgio, a
cada minuto, 47 pessoas se somavam ao j enorme contingente de
pobres, o que representava por ano, poca, nada menos que 25
milhes de pessoas.
Em 1947, um ano aps a criao da Unesco e um ano
antes da aprovao da Declarao Universal dos Direitos
Humanos, a populao mundial era de 2,3 bilhes de pessoas.
Desse total, 400 milhes eram pobres, que representavam 17,3%
da populao mundial. J em fins do sculo XX, estudos de
diversos organismos internacionais estimavam em 1,3 bilhes o
nmero de pobres, o que significa aproximadamente 22% dos 6
bilhes de pessoas que hoje habitam o mundo, apesar de a
riqueza produzida pela humanidade haver aumentado, nesse
mesmo perodo, mais de sete vezes.
A situao da Amrica Latina, em especial, no diferente
desse quadro desolador. No perodo compreendido entre 1980
e 1999, o nmero de pessoas pobres na regio aumentou de 63
A UNESCO E O COMPROMISSO
COM O DESENVOLVIMENTO E O
COMBATE POBREZA
Jorge Werthein*
Marlova J. Noleto**
* Representante da UNESCO.
** Diretora Tcnica da UNESCO no Brasil.
18
para 130 milhes. Em 2000, a pobreza na regio era ainda maior
que em 1980. Segundo Kliksberg (2001), a Amrica Latina a
regio mais desigual do mundo, tendo em vista que 5% da
populao de maior renda detm 25% do PIB e 30% da
populao de menor renda s possui 7,6%. Entre os pases latino-
americanos, segundo relatrio do PNUD, o Brasil ocupava, em
2002, a 73
o
posio no ndice de Desenvolvimento Humano
(IDH), embora seja a oitava economia do mundo. Estima-se
que o pas precisaria crescer 5% ao ano, durante 20 anos, e
implantar, com urgncia, polticas redistributivas e
autopromotoras para que possamos nos igualar a padres como
o da Grcia, pas em que a populao no enfrenta nveis
intolerveis de desigualdade social e que conseguiu promover
reformas no campo social e econmico. Alm disso, precisamos,
necessariamente, elevar os nveis de participao democrtica
da populao, respeitar os direitos humanos e desenvolver um
compromisso com a igualdade e a democracia.
inegvel que enormes avanos foram registrados nas
ltimas dcadas: desde 1960, a mortalidade infantil nos pases
em desenvolvimento caiu mais de 50%. A incidncia da
subnutrio teve queda de 30%. Em 20 anos, a China e outros
14 pases, que representam 1,6 bilho de pessoas, diminuram
em 50% a parcela da populao vivendo abaixo do nvel de
pobreza. Ainda assim, 840 milhes de pessoas, entre elas 160
milhes de crianas, esto subnutridas, 100 milhes de crianas
esto sem escolas, cerca de quase 900 milhes de habitantes
so analfabetos e um nmero ainda maior no tem acesso
gua potvel.
em razo de alarmantes nmeros como esses que se
coloca a necessidade de implantao de polticas redistributivas,
as quais apontam para a direo do desenvolvimento auto-
sustentvel, cujos efeitos se revertem para o combate s causas
da pobreza, podendo, a longo prazo, constituir-se em fator para
quebrar o ciclo retroalimentador da misria. Tais polticas podem
19
ser capazes de interromper, como queria Gunnar Myrdal
1
, o
princpio de causao circular, em que a pobreza e misria
acabam gerando mais pobreza e misria, perspectiva que adquire
enorme dimenso econmica se tentarmos calcular o custo da
pobreza gerando mais pobreza.
Atender s questes sociais e combater a pobreza, com um
claro compromisso centrado no desenvolvimento, no uma
concesso. Trata-se sim de, em uma democracia, respeitar os
direitos fundamentais de seus membros. O que est em jogo, como
adverte a ONU, a questo de violao de direitos humanos.
Como ressalta o Informe de Desenvolvimento Humano
2000 do PNUD, a erradicao da pobreza constitui uma tarefa
importante dos direitos humanos no sculo XXI. Um nvel
decente de vida, nutrio suficiente, ateno sade, educao,
trabalho e proteo contra as calamidades no so simplesmente
metas do desenvolvimento, so tambm direitos humanos.
Se, apesar de todos os esforos, a pobreza continua a
vitimar milhes de pessoas, torna-se necessrio e urgente
proceder reviso do paradigma de desenvolvimento em curso,
de forma a encontrar alternativas que possam viabilizar uma
nova tica para presidir o desenvolvimento e regular as relaes
internacionais. A construo de uma nova tica, como quer a
UNESCO (1998), ou de uma democracia mundial, para usar a
expresso de Rouanet (2000), passa, necessariamente, pela
superao de algumas falcias implcitas no atual modelo de
desenvolvimento econmico e social. Entre essas falcias,
segundo Kliksberg (2001), oportuno destacar as seguintes:
1. Negao ou minimizao da pobreza: Na Amrica
Latina, a pobreza no ano 2000 foi maior que em 1980. Houve
1
Economista e socilogo sueco, Prmio Nobel de Economia em 1974. Trabalhando a
convite do Carnegie Corporation (N.Y.), Myrdal explorou os problemas sociais e
econmicos dos negros nos Estados Unidos entre 1938 e 1940 e escreveu "Um
Dilema americano: o problema do negro e a democracia moderna" (1944). Neste
trabalho, Myrdal apresentou sua teoria da causao circular, que se transformou em
caracterstica principal de seus estudos sobre economia do desenvolvimento.
20
um crescimento, entre 1997 e 2000, de 204 para 220 milhes
de pessoas pobres. No Brasi l , esti ma-se que 43, 5% da
populao ganha menos de dois dlares por dia e 40 milhes
de brasileiros vivem em pobreza absoluta; na regio Nordeste,
essa cifra atinge 48,8%. Segundo Kliksberg, a falcia funciona
por intermdio de dois canais: um, pela relativizao da
situao, quando se afirma que a pobreza existe em todo
l ugar; e outro, pel o di scurso de que os pobres sempre
existiram. A falcia de desconhecer ou relativizar a pobreza
no incua para Kliksberg, j que gera severas conseqncias
na formulao de polticas pblicas. Se existem pobres em
todos os l ados e se el es sempre exi sti ram, por que dar
prioridade pobreza?
2. Fal cia da pacincia: mui to comum os
formul adores de pol ti cas soci ai s pedi rem paci nci a na
soluo dos problemas enfrentados pela populao pobre,
alegando, com freqncia, tratar-se de etapas que devem se
suceder umas s outras; assim, haveria uma etapa de aperto,
em seguida, a reativao do desenvolvimento para depois
enfrentar-se a pobreza. Esta poltica acaba por conduzir a
um panorama sombrio, como, por exemplo, a existncia, na
Amrica Latina, no ano 2000, de 36% de crianas com menos
de dois anos, em situao de risco alimentar.
3. Falcia do crescimento econmico: Se as metas do
cresci ment o forem at i ngi das, t odas as demai s sero
facilitadas. Todavia, a realidade no funciona como quer a
ortodoxi a econmi ca. As promessas fei tas na Amri ca
Latina, no comeo dos anos oitenta, no se cumpriram.
4. A desigualdade um dado da natureza e no
impede o desenvolvimento: Para os defensores dessa falcia,
a desigualdade , simplesmente, uma etapa inevitvel da
marcha para o desenvolvimento. Alguns chegam mesmo a
admitir a acumulao de recursos em poucas mos para
ampliar a capacidade de investimento.
21
5. Desvalorizao da poltica social: Muitos chegam a
admitir que a nica poltica social a econmica. Consideram
a poltica social como uma categoria inferior, o que significa
colocar os direitos humanos margem das polticas pblicas.
6. Maniquesmo do Estado: No contexto do pensamento
econmico convencional, h uma tendncia para fragilizar o
papel do Estado. Procura-se associar a idia de Estado com
corrupo, incompetncia e excesso de burocracia. Essa viso
ajudou a engendrar uma oposio entre Estado e sociedade civil.
Em decorrncia, houve a reduo das funes do Estado e o
conseqente debilitamento de polticas sociais importantes.
7. Descrena sobre a possibilidade de contribuio da
sociedade civil: O pensamento econmico em vigor procura
minimizar, e mesmo desvalorizar, o papel da sociedade civil,
atribuindo-lhe uma funo secundria. A nfase est sempre
no mercado, na fora dos incentivos econmicos e na gerncia
de negcios. Procura-se ignorar que alguns dos modelos de
organizao e gesto social mais efetivos do nosso tempo foram
engendrados no mbito da sociedade civil, muitos dos quais
apoiados em trabalhos voluntrios.
8. Resistncia participao comunitria: Malgrado
os i nmeros exempl os posi ti vos de gesto comuni tri a,
persiste ainda a viso imposta verticalmente, em que uns
poucos formul am e deci dem, rel egando comuni dade
desfavorecida o papel de sujeito passivo do processo.
9. A iluso tica: A anlise econmica convencional
centra sua fora nas questes de custo-benefcio, sem nenhuma
considerao pelas implicaes ticas do desenvolvimento. A
racionalidade tcnica tem a primazia em detrimento de uma
discusso mais ampla e profunda sobre os fins. Entre as
perguntas-chave que devem ser feitas nessa perspectiva,
destacam-se: Quais so as conseqncias ticas das polticas
em curso? eticamente lcito o sacrifcio de geraes? Por que
os mais frgeis, como as crianas e os velhos, so mais afetados?
22
Por que as famlias esto sendo destrudas? As prioridades no
deveriam ser reexaminadas? No h polticas que precisariam
ser descartadas por seu efeito letal em termos sociais?
10. No h outra alter nativa: Uma argumentao
preferida no discurso econmico ortodoxo a alegao de que
as medidas adotadas so as nicas possveis. Portanto, os
problemas sociais que se criam so inevitveis. No se admitem
vias alternativas em que pese s discusses que vm sendo feitas
nessa direo, com a participao de chefes de Estado dos pases
mais desenvolvidos.
O enfrentamento dessas falcias, por intermdio de uma
nova matriz conceitual do desenvolvimento, poder, a mdio e
a longo prazos, romper com o crculo vicioso da inevitabilidade
do atraso e ensejar uma viso mais ampla do desenvolvimento,
no contexto em que se tornar factvel uma efetiva poltica de
combate excluso social.
Devi do i nterdependnci a das pol ti cas de
desenvolvimento, a definio e a operacionalizao de uma
nova matriz conceitual implicam revises no plano externo e
interno. No plano externo, analistas como J. Stiglitz e A.
Giddens vm chamando a ateno para a necessidade de novos
caminhos. Giddens (2001), por exemplo, ressalta a natureza
i nterdependente do mundo contemporneo. Por i sso, a
globalizao precisa ser administrada para que todos possam
dela se beneficiar. Em outras palavras, a globalizao precisa
ser administrada na perspectiva de uma nova tica, de um novo
direito mundial. Giddens (2001) vai mais longe ainda:
Se quisermos que a frica, algum dia, viva seu milagre
econmico prprio, ser preciso que os pases africanos, longe
de serem excludos dos processos de globalizao, sejam mais
e mais includos neles.
O exemplo da frica se aplica a outros continentes.
O importante a sensibilizao dos pases mais ricos em funo
23
de sua liderana mundial, com relao ao maior desafio da histria,
qual seja, o de encontrar alternativas de desenvolvimento que
proporcionem a todos um patamar mnimo de atendimento s
necessidades bsicas da pessoa humana. oportuno lembrar que
estamos falando de necessidades bsicas e no de mnimas para
deixar claros os contornos do conceito.
No plano interno, torna-se necessrio, sobretudo em pases
como o Brasil, a adoo de polticas redistributivas que priorizem
a reduo da desigualdade, como propem Barros, Henriques e
Mendona (2000). A desigualdade na distribuio da renda tem
sido, historicamente, um dos grandes entraves ao combate
excluso. Essa estratgia, insistem esses autores, deve combinar
polticas redistributivas estruturais a partir da redistribuio
de ativos, em particular: acelerao da educao, reforma agrria
e acesso a crdito , que tm impacto de mdio e longo prazos,
com polticas redistributivas compensatrias como programas
de renda mnima que corrigem, temporariamente, as
desigualdades a posteriori com impacto de curto prazo.
Os programas de renda mnima so um bom exemplo,
sobretudo quando associ ados educao e a outros
componentes do desenvolvimento humano.
em direo a essa perspectiva que a UNESCO vem
envidando esforos para reorientar suas polticas de ao
voltadas erradicao da pobreza. Trata-se de uma posio
importante, na medida em que a UNESCO, ao longo de sua
existncia de mais de meio sculo, acumulou um acervo de
conhecimentos construdo no embate direto com diferentes
ti pos de probl emas soci ai s em todo o mundo. Assi m,
percebendo a necessidade de mudanas, a UNESCO est
si nal i zando o advento de um novo paradi gma de
desenvolvimento, mediante a reorientao de seus planos de
ao, de modo a situ-los no esforo de combate pobreza.
No campo da Educao, os esforos da UNESCO
convergiro para melhorar o acesso de populaes de baixa renda
24
educao bsica, criao de programas direcionados
comunidade, promoo de amplas iniciativas de acesso
universidade para os menos favorecidos, como tambm para a
criao de uma Agenda para a Educao no Sculo XXI, baseada
no Frum Mundial de Educao, realizado em Dacar, em 2000.
No campo da Cincia, a UNESCO busca desenvolver vrios
programas cientficos intergovernamentais relacionados aos diversos
temas do desenvolvimento sustentvel, diretamente ligados gua,
energia, reciclagem e ao uso apropriado de tecnologias.
Quanto ao microfinanciamento, o desafio reside em
promover a sua expanso, com o acesso dos menos
privilegiados, especialmente das mulheres, a servios sociais
e facilidades de benefcios.
A dimenso cultural do desenvolvimento explorada pela
UNESCO como condio primordial para o acesso de famlias
e de grupos populacionais, em situao de pobreza, educao.
O combate pobreza converteu-se no grande desafio deste
milnio. Precisamos estar sempre atentos para as medidas
paliativas que perpetuam a misria. Nesse aspecto, a proposta
de Pierre San (2002), Diretor Geral Adjunto para Cincias
Humanas e Sociais da UNESCO, deve ser objeto de reflexo e
de debate por sua relevncia e pela profundidade que encerra.
Di z el e que, no i nstante de estabel ecer as metas do
desenvolvimento para o novo milnio, as Naes Unidas fixaram
como a mais importante meta a reduo metade, nos prximos
15 anos, do nmero de pessoas que vivem na extrema pobreza.
Todavia, esta meta, ainda que sumamente louvvel por si, no
encerra a questo da pobreza. Com efeito, esse objetivo no
ser alcanado com facilidade e, mesmo que o seja, o problema
da misria continuar intacto: poderemos seguir tolerando a
perpetuao da pobreza? pergunta e adverte San.
preciso colocar a questo em termos muito diferentes,
continua San. Se continuarmos abordando a pobreza como um
dficit quantitativo natural incluindo o qualitativo que preciso
25
reparar, no conseguiremos mobilizar a vontade pblica necessria
para combat-l a. Isso somente ser poss vel quando
reconhecermos que a pobreza se constitui em violao aos
Direitos Humanos e que, por conseguinte, for declarada sua abolio.
San argumenta, ento, que, se se define a pobreza em termos
relativos, ela se mostrar inesgotvel e incurvel, porque seremos
obrigados a aceit-la indefinidamente e a gastar recursos e mais
recursos para reduzi-la sem cessar. Da a necessidade de proclamar
sua abolio, o que significaria introduzir o reconhecimento do direito
dos pobres. No entanto, a pobreza no desapareceria de forma
milagrosa ou por arte de ensalmo, mas se criariam as condies para
que a causa abolicionista se erigisse em prioridade das prioridades,
por ser do interesse de todos.
A aplicao do princpio da Justia e o rigor do Direito, postos
a servio dessa causa, so foras extremamente potentes. Foi assim
que se conseguiu abolir a escravido e combater o colonialismo e o
apartheid. Importa salientar e advertir que a pobreza est
desumanizando a metade dos habitantes de nosso planeta, em meio
a uma indiferena generalizada, enquanto a escravido e o apartheid
foram rechaados e combatidos (San, 2002).
Hoje difcil discutir as evidncias de que o investimento
soci al gera capi tal humano, transformando-se em
produtividade, progresso tecnolgico e em fator decisivo para
a competitividade dos pases.
Na real i dade, a pol ti ca soci al bem desenhada e
eficientemente executada um poderoso instrumento de
desenvolvimento econmico. Como colocado por Touraine
(1997), ao invs de compensar todos os efeitos da lgica
econmica, a poltica social deve conceber-se como condio
indispensvel do desenvolvimento econmico.
Acreditamos que o Brasil vive seu momento mais
oportuno para discutir um modelo de desenvolvimento que
possa combater a pobreza e a desigualdade e acelerar o processo
de incluso social, com participao e crescimento econmico.
26
O que precisamos de uma poltica social com letra maiscula,
como diz Kliksberg, em que possamos dar prioridade efetiva s
metas sociais no desenho das polticas pblicas, procurar articular
de forma estreita as polticas econmicas e as sociais, montando
uma institucionalidade moderna e eficiente, assegurando recursos
apropriados, formando recursos humanos qualificados na rea
social, fortalecendo e hierarquizando as capacidades de gerncia.
Somente assim poder ser possvel avanar na promoo do
desenvolvimento com incluso social.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARROS, R.P. & HENRIQUES, R. & MENDONA, R.
Desigualdade e pobreza no Brasil. Revista Brasileira de Cincias
Sociais, v. 15, n. 42, p. 123-142, fev.2000.
CULLAR, J.P. Nossa diversidade criadora. Campinas: Papirus/
UNESCO, 1998.
GIDDENS, A. O fim da globalizao. Folha de S.Paulo, So
Paulo, 28 out.2001, p. 34.
KLIKSBERG, B. Falcias e mitos do desenvolvimento social. So
Paulo, 14 jul. 2000. 47p.
NOLETO, Marlova Jovchelovitch. A UNESCO Brasil e o
combate pobreza. Brasil: UNESCO, 2001(mimeo)
ROUANET, S.F. A revoluo francesa das letras. Folha de
S.Paulo, 14 jul. 2002 (Caderno Mais, p.15).
SAN, P. Abolir la pobreza no es uma utopia, sino todo lo
contrario. Paris: UNESCO, 2002 (mimeo).
TEDESCO, J. C. O novo pacto educativo. So Paulo: tica, 1997.
WERHTEIN, J. & CUNHA, C. Polticas de educao: idias e
aes. Braslia: UNESCO, 2001. 37p.
27
PROPOSTA: A pobreza s acabar quando for
reconhecida como uma violao dos direitos
humanos e, como tal, abolida.
Devemos ter conscincia de que a caracterstica mais
marcante de nossa civilizao, num tempo em que ela se globaliza
em torno da aspirao a uma prosperidade sem precedentes, a
persistncia e at mesmo o agravamento da pobreza. O fato
esmagador: a pobreza afeta metade da populao do mundo e
vem se alastrando. A grande maioria dos 2 ou 3 bilhes de seres
humanos que se acrescentaro populao do mundo antes do
fim deste sculo estar exposta pobreza. Ela vem colocando
presses alarmantes sobre o meio ambiente e os equilbrios globais.
As cifras so apocalpticas: 8 milhes de crianas morrem a cada
ano em razo de pobreza, 150 milhes de crianas com menos de
cinco anos sofrem de desnutrio extrema, 100 milhes de crianas
moram nas ruas. A cada trs segundos, a pobreza mata uma
criana em algum lugar. E nosso mundo tolera essa situao.
Quando, em 1994, 800.000 cadveres de Tutsis e de seus
opositores Hutu, vtimas do genocdio em Ruanda, foram
arrastados por rios de sangue atravs de todo o pas das mil colinas,
o mundo prendeu o flego. Todos ns nos sentimos culpados.
POBREZA, A PRXIMA FRONTEIRA
NA LUTA PELOS DIREITOS HUMANOS
Pierre San*
* Diretor-Geral Adjunto para Cincias Humanas e Sociais da UNESCO.
28
Teramos gostado que algum tivesse agido para evitar a tragdia.
Ns todos, mais uma vez, dissemos: nunca mais! As Naes
Unidas criaram um tribunal para estabelecer a verdade dos fatos
e fazer justia. No podemos trazer os mortos de volta, mas os
culpados pagaro. O direito internacional prevalecer, a
moralidade continua em segurana. Mas, e as 8 milhes de
crianas que morrem a cada ano de doenas relacionadas
pobreza? Conhecemos bem esses nmeros, e bem provvel
que eles estejam subavaliados. No seremos novamente pegos de
surpresa e, alm disso, poderamos evitar essa matana com meios
que, em ltima anlise, so bastante modestos.
Qual seria, ento, a razo para o padro tico dplice que
nos leva a aceitar a pobreza fabricada por nossa sociedade, apesar
de ela causar matanas mais constantes e metdicas que os faces
afiados e as milcias? Haveria sequer uma nica justificativa
moral ou tica para essa contradio central entre a igualdade
proclamada na concesso de direitos e a crescente desigualdade
no acesso aos recursos vitais? Tratar dessa questo de
importncia crucial para a preservao de nossa humanidade.
Ao que tudo indica, contudo, os famosos padres de
decncia esto mudando. Assim, a comunidade internacional
estabeleceu como prioridade para o milnio (Metas de
Desenvolvimento para o Milnio MDMs) reduzir pela metade,
nos prximos 15 anos, o nmero de pessoas que vivem em
pobreza extrema. Esse enfoque, por mais elogivel que seja em
si mesmo, no esgota a questo. Para comear, a meta
estabelecida no ser fcil de se cumprir. Mas mesmo que
consegussemos cumpri-la, a questo bsica permaneceria
intocada: a persistncia da pobreza pode ser tolerada?
O problema tem que ser abordado de outro ngulo.
Enquanto a pobreza for vista como um dficit quantitativo e
natural a ser sanado, a vontade poltica de erradic-la no
ser mobilizada. A pobreza s chegar ao fim quando for
vista como uma violao dos direitos humanos e, como tal,
abolida. Aqui vo o porqu e o como.
29
Quando a pobreza definida em termos relativos, ela,
imediatamente, passa a ser infindvel e incurvel. Somos forados,
simultaneamente, a tolerar indefinidamente sua existncia e a
esgotar, em vo, incontveis recursos na tentativa de minor-la.
Esse enfoque relativista em nada resulta, alm de determinar uma
linha arbitrria para a definio da pobreza, a ser adotada como
um horizonte artificial. Mas esse falso horizonte continua
intolervel: o que significam um ou dois dlares por dia e,
sobretudo, que direito temos ns de nos contentarmos com essa
quantia? Pois a pobreza no um destino a ser aliviado por atos
caridosos ou por ajuda internacional. Tampouco a pobreza se
deve falta de competncia dos pobres, ou sua incapacidade de
competir na arena das oportunidades supostamente iguais. A causa
da persistncia da pobreza no so apenas governos incompetentes
ou corruptos, e insensveis sorte de sua populao. No.
Fundamentalmente, a pobreza no pode ser definida como um
padro de vida, ou como determinados tipos de condies de vida:
ela , simultaneamente, a causa e o efeito da sonegao, total ou
parcial, dos direitos humanos.
Das ci nco fam l i as de di rei tos humanos c vi cos,
polticos, culturais, econmicos e sociais proclamados pela
Decl arao Uni versal dos Di rei tos do Homem como
inerentes pessoa humana, a pobreza consiste numa violao
do quinto, sempre; do quarto, em geral; muitas vezes do
terceiro e, s vezes, at mesmo do segundo e do primeiro.
Reciprocamente, a violao sistemtica de qualquer um
desses direitos rapidamente degenera em pobreza. Como foi
reconhecido na Conferncia Internacional sobre Direitos
Humanos, realizada em Viena, em 1993, h um vnculo
orgnico entre pobreza e violao dos direitos humanos.
No entanto, os direitos humanos so inalienveis e
inseparveis. Sua violao uma infrao fundamental da
dignidade humana como um todo, e no um deplorvel
embarao a ser lamentado por vizinhos distantes. Ela, portanto,
30
tem que terminar, e esse imperativo assume uma forma simples:
a pobreza tem que ser abolida. Essa reivindicao soa ingnua, a
ponto de provocar sorrisos.
A condescendncia, entretanto, seria to equivocada
quanto imprpria. No h nada que possa provocar sorrisos
na aflio, na misria, no desamparo e na morte que marcham,
numa parada sombri a, l ado a l ado com a pobreza.
Deveramos, de fato, nos envergonhar. Mas a questo tambm
substantiva: a abolio da pobreza o nico ponto de apoio
capaz de permitir a alavancagem de sua erradicao.
A alavancagem, neste caso, viria dos investimentos, das
reformas e das polticas nacionais e internacionais, visando a
remediar as muitas deficincias que formam o pano de fundo
da pobreza. Felizmente, a humanidade, hoje, possui os meios
de responder a esse desafio: nunca fomos to ricos, to
tecnicamente competentes e to bem-informados. Mas, na
ausncia de um ponto de apoio, essas foras no podero ser
empregadas em seu pleno potencial.
Se, no entanto, a pobreza fosse declarada abolida, como
de fato deveria ser, por consistir numa violao macia,
sistemtica e contnua dos direitos humanos, sua persistncia
deixaria de ser vista como uma lamentvel caracterstica da
natureza das coisas, vendo-se transformada numa negao da
justia. O nus da prova mudaria de mos. Os pobres, uma vez
reconhecidos como a parte prejudicada, obteriam o direito de
indenizao, pela qual os governos, a comunidade internacional
e cada cidado seriam conjuntamente responsveis. Gerar-se-ia,
assim, um forte interesse na eliminao urgente das bases dessa
responsabilidade, sendo de se esperar que esse interesse viesse a
desencadear foras muito mais poderosas que aquelas que a
compaixo, a caridade ou mesmo a preocupao com a prpria
segurana so capazes de mobilizar, em benefcio alheio.
bvio que, com a concesso de direitos aos pobres, a
abolio da pobreza no faria com que a pobreza desaparecesse
31
da noite para o dia. Seriam criadas, contudo, as condies para
que a causa da erradicao da pobreza fosse elevada condio
de prioridade mais alta e de interesse comum a todos deixando
de ser apenas uma preocupao secundria dos mais esclarecidos
ou dos meramente caridosos. Da mesma forma que a abolio
da escravatura no significou a erradicao desse crime, e que a
abolio da violncia do genocdio no extirpou essa violao
da conscincia humana, a abolio jurdica da pobreza no far
com que a pobreza desaparea. Mas, com ela, a pobreza ser
colocada, na conscincia da humanidade, no mesmo nvel que
essas injustias do passado, cuja sobrevivncia no presente nos
ofende, choca e conclama ao.
A invocao do princpio da justia, aliada fora da lei
mobilizada a seu servio, tem um enorme poder. Afinal, foi assim
que a escravatura, o colonialismo e o apartheid chegaram ao
fim. Mas, enquanto a escravatura e o apartheid se confrontaram
com o ativismo ferrenho de seus opositores, a pobreza
desumaniza metade do planeta, reduzindo-a a um coro silencioso
e a total indiferena. Entender como violaes to macias,
sistemticas e cotidianas no chegam a perturbar a conscincia
das boas pessoas que as contemplam de cima para baixo consiste,
sem dvida, na questo moral mais aguda do novo sculo.
Embora a igualdade de direitos seja proclamada, desigualdades
crescentes na distribuio de bens materiais continuam existindo,
entrincheiradas em polticas econmicas e sociais injustas, tanto
no nvel nacional como no global. Encarar a pobreza como uma
violao dos direitos humanos significa ir alm da idia de justia
internacional que trata das relaes entre Estados e naes
avanando na direo de uma justia global que se aplica s
relaes entre os seres humanos que vivem numa sociedade
global e gozam de direitos absolutos e inalienveis, como o
direito vida, assegurados pela comunidade internacional. Esses
direitos no pertencem aos cidados dos Estados, mas sim,
universalmente, aos seres humanos enquanto tais, para quem esses
32
direitos so uma condio necessria vida neste planeta. A
obrigao de denunciar violaes e assegurar o respeito, a
proteo e o gozo efetivo desses direitos cabe a todos, sem
distino de raa, pas ou credo. O princpio da justia global
estabeleceria, assim, as condies para uma distribuio mais
justa entre seus habitantes dos recursos do planeta, luz de
determinados direitos absolutos. Lembremo-nos que, em termos
morais, o direito propriedade no absoluto: segue-se da que
a soberania territorial, que implica a propriedade dos recursos
naturais, no pode se qualificar como um direito absoluto, da
mesma ordem que o direito vida.
Temos que atentar para o fato de que 3 bilhes de pessoas
recebem apenas 1,2% da renda mundial, enquanto 1 bilho de
outras, nos pa ses desenvol vi dos, recebem 80%. Uma
transferncia anual de 1% de um grupo para o outro seria o
bastante para eliminar a pobreza extrema. O que acontece, na
verdade, que essa transferncia continua a se dar em sentido
inverso, apesar de todos os esforos destinados reduo da
dvida e ajuda ao desenvolvimento.
No final das contas, a escolha simples. No se trata de
optar entre um enfoque pragmtico, baseado na ajuda
concedida aos pobres pelos ricos, e a alternativa aqui esboada.
A verdadeira escolha se faz entre a abolio da pobreza e o nico
outro caminho possvel aos pobres para a conquista desses
direitos que se apoderarem deles pela fora. desnecessrio
dizer que essa ltima soluo, invariavelmente, causa sofrimento
para todos: nessas circunstncias, conflitos sociais, criminalidade
desenfreada, migraes em massa e fora de qualquer controle,
contrabando e trfico so as nicas atividades a prosperar. Mas
que base moral temos ns para exigir um comportamento moral
de pessoas a quem recusamos qualquer oportunidade de viver
uma vida saudvel? Que direito teramos de exigir que elas
respeitassem nossos direitos? Essa alternativa sombria vir a se
configurar como cada vez mais provvel, caso nada seja feito
33
ou se o que for feito no for o bastante, como tende a acontecer
com o pragmatismo, por mais bem-intencionado que ele seja.
Nossas opes vm-se assim reduzidas a uma nica
escolha, que tambm a nica compatvel com o imperativo
categrico do respeito aos direitos humanos: abolir a pobreza
vi sando a erradi c-l a, e extrai r desse pri nc pi o todas as
conseqncias implcitas em sua livre aceitao.
Nenhum grande programa poder garantir a erradicao
da pobreza. A proclamao de sua abolio ter que, antes de
tudo, criar direitos e obrigaes, mobilizando assim as foras
verdadeiramente capazes de corrigir o estado de um mundo
flagelado pela pobreza. Pelo simples estabelecimento de uma
prioridade efetiva, e tambm de sua obrigatoriedade, a abolio
altera as regras do jogo e contribui para a criao de um novo
mundo. Esse o preo a ser pago pela humanizao da
globalizao, e essa tambm a maior oportunidade que temos
a nosso alcance de vir a criar um desenvolvimento sustentvel.
Quais seriam as implicaes dessa abolio para as
at i vi dades das ONGs? Pri mei rament e, i mperat i vo
desenvolver estratgias que confiram significado tangvel aos
princpios de indivisibilidade e interdependncia dos direitos
humanos. A infeliz separao histrica dos direitos humanos
em civis e polticos, por um lado, e econmicos, sociais e
culturais, por outro, tendeu a criar a arraigada viso de que a
pobreza estaria alm do mbito dos direitos humanos e da
competncia das ONGs, relegando a questo s foras de
mercado e aos processos de desenvolvimento. As campanhas
para a ratificao dos acordos internacionais tero que
promover tratados sobre di rei tos soci ai s, econmi cos e
culturais; as legislaes nacionais devero ser emendadas de
forma compatvel e as violaes desses direitos devem tornar-
se sujeitas a processos judiciais. Alm disso, com relao aos
t rabal hos de campo, t cni cas de pesqui sa devem ser
empregadas, de modo a monitorar as violaes sofridas pelas
34
vtimas, o cumprimento de suas obrigaes por parte dos
Estados e dos atores internacionais e as indenizaes para as
partes lesadas.
Em ltima anlise, o que est em questo a mobilizao da
opinio pblica a favor de uma justia universal que se encontra a
nosso alcance. O surgimento dessa mobilizao foi lento lento
demais. No perodo decorrido entre a Declarao Universal dos
Direitos Humanos e a Conferncia de Roma, que criou o Tribunal
Penal Internacional, a justia universal foi conspurcada por atos
de barbrie que representaram graves crimes contra a dignidade
humana. Hoje, contudo, temos a nosso dispor todos os
instrumentos jurdicos necessrios e, pouco a pouco, novos
experimentos e novas iniciativas nos trazem esperana. Resta
manter acesa a vontade poltica, atravs de mobilizao incessante,
de um pensamento genuno, da contribuio de especialistas e do
apoio s vtimas e s suas famlias.
Que promessas encerrariam uma tal justia global?
Ci tando o ganhador do Prmi o Nobel , Jos Saramago:
Houvesse essa justia, e nem um s ser humano mais morreria de fome
ou de tantas doenas que so curveis para uns, mas no para outros.
Houvesse essa justia, e a existncia no seria, para mais de metade da
humanidade, a condenao terrvel que objetivamente tem sido. Tenho
dito que para essa justia dispomos j de um cdigo de aplicao prtica
ao alcance de qualquer compreenso, e que esse cdigo se encontra
consignado desde h cinqenta anos na Declarao Universal dos
Direitos Humanos... E tambm tenho dito que a Declarao Universal
dos Direitos Humanos... poderia substituir com vantagem, no que
respeita a retido de princpios e clareza de objetivos, os programas de
todos os partidos polticos do orbe.
Quanto UNESCO, seu objetivo, nos termos de sua
Carta de Fundao, o de promover, atravs das relaes
educacionais, cientficas e culturais entre os povos do mundo,
os objetivos da paz internacional e do bem-estar comum da
humanidade, para os quais a Organizao das Naes Unidas
35
foi criada e que so proclamados em sua Carta. No h
dvida quanto ao fato de que o atual estado do mundo zomba
grosseiramente dessa aspirao de bem-comum, e o faz, alm
disso, de maneira que se vem convertendo na principal ameaa
ao objetivo de paz.
Cabe, portanto, UNESCO, nos termos de suas
atribuies, desempenhar, no cerne dos debates internacionais,
o papel de porta-estandarte da idia seminal uma idia
poderosamente pragmtica de que a pobreza uma violao
dos direitos humanos. Essa a contribuio da UNESCO
para a consecuo dessa MDM fundamental, aquela da qual,
em ltima anlise, todas as outras dependem. Para a superao
dessa ameaa que tanto pesa sobre seu futuro, o mundo possui
agora a alavanca exigida por Arquimedes a ela falta apenas o
ponto de apoio. A deciso de abolir a pobreza, banindo assim
todos os atos que a geram ou a mantm, nos fornecer esse exato
ponto de apoio.
37
CONSTRUINDO ESTRATGIAS PARA
COMBATER A DESIGUALDADE SOCIAL:
UMA PERSPECTIVA SOCIOECONMICA
Aloizio Mercadante*
O Brasil um pas profundamente desigual e
estruturalmente injusto. Somos um dos pases mais desiguais
do planeta e esta desigualdade tem sido uma caracterstica
permanente da nossa estrutura econmica e social.
A participao dos 20% mais pobres da populao na renda
total, por exemplo, da ordem de 2,5%. Somente em Serra Leoa,
na Repblica Central Africana, na Guatemala e no Paraguai os
mais pobres tm uma participao menor na renda do que no
Brasil. Somos o quinto do mundo. Mas se tomarmos o extremo
oposto, os 20% mais ricos da populao, ganhamos trs posies:
somos o segundo do mundo, com um nvel de participao dos
mais ricos na renda em torno de 63,8%, s superado pela Repblica
Central Africana, que ostenta uma marca de 65%.
Mas a estrutura de distribuio de renda no Brasil no
apenas polarizada. Tambm os segmentos intermedirios
apresentam porcentagens de participao muito inferiores s
que se encontram em pases com estruturas sociais mais
homogneas. Por exemplo, se dividirmos a populao brasileira
em cinco grupos, cada um com 20% do total de habitantes, os
trs grupos de rendas mais baixas (60% da populao) tm
uma participao de somente 18% da renda total. No caso da
* Senador da Repblica e Lder do Governo no Senado Federal.
38
Itlia, estes grupos detm 40,8% da renda total. por isso
que o coeficiente de Gini um indicador-sntese do nvel de
desigualdade, que varia entre zero e a unidade de 0,600 no
Brasil (o terceiro mais alto entre 110 pases listados pelo Banco
Mundial) e de apenas 0,273 na Itlia.
O mesmo acontece com a distribuio da riqueza. Um
dos poucos estudos disponveis sobre o tema
1
indica que 1% da
populao, pouco mais de 1,5 milho de pessoas, equivalentes a
cerca de 400 mil famlias, controla 17% da renda nacional e 53%
do estoque lquido de riqueza privada do pas que, em 1995, era
avaliado em 2.022 bilhes de dlares. S para comparar, nos
Estados Unidos, por exemplo, que no so propriamente um
modelo em termos de distribuio eqitativa da renda e da
riqueza, os percentuais correspondentes ao 1% mais rico da
populao so de 8% e 26%, respectivamente. Este segmento
social est entre os principais beneficirios do extraordinrio
aumento das despesas nominais do setor pblico com juros da
dvida interna que atingiram, no perodo 1995/2002,
aproximadamente, 423 bilhes de reais, a maior parte dos quais
convertidos em novos ttulos da dvida pblica.
Mas no s a dimenso do problema distributivo que
chama a ateno no caso brasileiro. O que surpreendente a
permanncia deste padro de desigualdade ao longo do tempo.
Nos l ti mos 30 anos, por exempl o, apesar do pa s ter
experimentado um sem nmero de polticas e vivido diversas
fases em sua evoluo econmica nestas trs dcadas tivemos
perodos de rpido crescimento e de estagnao da economia,
de inflao moderada ou acelerada e de relativa estabilidade de
preos a concentrao da renda manteve, como regra, uma
1
Veja-se o artigo Reinaldo Gonalves - GONALVES, R. Distribuio de riqueza
e renda: alternativas para a crise brasileira. In: LESBAUPIN, I. (Org.) O desmonte
da Nao: balano do governo FHC. So Paulo: Editora Vozes, 1999.
39
tendncia concentrao. As excees foram episdicas, como em
1986, com o Plano Cruzado, ou em 1995, com o controle da
hiperinflao e o aumento significativo do salrio mnimo, quando
se verificaram melhorias passageiras no padro distributivo. Estes
avanos, no entanto, foram sempre revertidos em prazos
relativamente curtos, dando lugar a processos de reconcentrao
da renda, como o que ocorreu na dcada passada.
O modismo neoliberal difundiu a idia, simplificadora
como quase tudo naquela ideologia, de que a inflao o fator
central na distribuio da renda. Obviamente, a inflao agrava
o conflito distributivo fundamentalmente porque i) os
trabalhadores, ao contrrio do governo, das empresas e dos
rentistas, no tm como transpassar para outros segmentos os
aumentos de preos e ii) as polticas antiinflacionrias ou de
controle da inflao que tm sido praticadas no pas envolveram
sempre a reduo do salrio real dos trabalhadores. Mas a
inflao est longe de ser seu determinante principal.
As grandes desigualdades no Brasil esto associadas a
trs vetores principais:
i) matriz social originria, fundada na concentrao
da terra e do poder poltico e na dependncia externa,
que impe sua marca a todo processo de constituio
histrica e evoluo da nao brasileira;
ii) ao carter patrimonialista do Estado e forma como
so obtidos e utilizados seus recursos (o carter regressivo
do sistema tributrio e a apropriao privada dos
recursos pblicos pelos grupos que controlam ou se
beneficiam do poder poltico, por exemplo);
iii) ao carter concentrador e excludente dos modelos
econmi cos hi stori camente adotados no pa s,
voltados para a acumulao do capital e preservao
e reproduo dos interesses dos grupos econmicos
i nternos e externos que ocupam uma posi o
hegemnica na estrutura de poder poltico.
40
A experincia recente do pas ilustrativa da permanncia e
interao desses determinantes. As polticas neoliberais adotadas
neste perodo, embora tenham viabilizado uma relativa
estabilizao dos preos internos, no somente engessaram nosso
crescimento econmico de 1995 a 2002 o pas cresceu a uma
taxa mdia de apenas 2,3%, menos, portanto, do que na dcada
perdida mas tambm levaram a nveis extremos a dependncia
e vulnerabilidade externa do pas e agravaram extraordinariamente
a questo social agora amplificada pelo flagelo do desemprego
reforando os vetores de excluso social e de enfraquecimento do
estado nacional embutidos no funcionamento espontneo da
economia de mercado e na dinmica do processo de globalizao.
O Brasil no um caso isolado de fracasso dessas polticas.
Em realidade, o modelo neoliberal foi incapaz de encaminhar
solues s questes centrais que afetam o funcionamento e o
desenvolvimento de praticamente a totalidade das economias
latino-americanas. Nelas, como aqui, esse modelo agravou os
problemas existentes e, em muitos casos, adicionou novos
complicadores ao j complexo quadro socioeconmico da regio.
Um olhar sobre a Amrica Latina, ao final de 2002, mostrava um
cenrio desolador: guerra civil na Colmbia, num processo de
acirramento tal como nunca tivemos; crise institucional na
Venezuela; colapso econmico e poltico na Argentina
anteriormente citada em prosa e verso como um exemplo a ser
seguido cujo PIB diminuiu mais de 20% nos ltimos quatro
anos; crise poltico-institucional na Bolvia, com manifestaes
de rua que deixaram trinta mortos e trezentos feridos; no Paraguai,
pedido de impeachment; no Uruguai, curralito; no Chile e no Mxico,
quedas acentuadas e sucessivas nas taxas de crescimento do PIB.
Ou seja, um entorno de crise econmica sem precedentes.
Como construir um novo modelo de desenvolvimento
capaz de distribuir renda, de promover o crescimento com
sustentabilidade, de promover a incluso social e diminuir a
vulnerabilidade externa, depois desse longo perodo de poltica
41
neoliberal? uma tarefa importante e difcil, porque no est
escrita, no est pronta e ningum a realizou at agora.
Qual era a essncia da lgica neoliberal? O corao daquele
modelo era o dficit de transaes correntes, ou seja, era a
necessidade permanente de endividamento externo. Quanto
maior o dficit em transaes correntes, mais dinheiro externo
era preciso para financiar a economia. Quanto mais dinheiro
era necessrio, mais empresas estatais deveriam ser vendidas para
financiar o balano de pagamentos. Em funo dessa lgica, o
governo anterior vendeu 76% do patrimnio que o Brasil
construiu em 50 anos, desnacionalizou a economia, vendendo
todos os ativos rentveis disponveis, e manteve os juros altos
para poder atrair capital especulativo e fechar as contas externas.
Essa era a essncia do modelo.
Em 1994, o dficit em transaes correntes era de 1,7 bilho
de dlares. Quatro anos depois, o dficit em transaes correntes
passou para 34 bilhes de dlares. Ou seja, o Brasil precisava,
para fechar suas contas, de 34 bilhes de dlares adicionais aos
compromissos que j tinha feito em perodos anteriores. O
passivo externo dolarizado, quer dizer, os passivos em dlar,
resultantes da desnacionalizao, da privatizao e do
endividamento externo, atingiram, nesses quatro anos, 115
bilhes de dlares. O impacto dessa poltica nas contas externas
pode ser medido de diversas maneiras. Cito apenas um indicador:
somente com remessas de lucros e pagamento de juros externos,
o pas desembolsou, em 1998, quase 23 bilhes de dlares (contra
11 bilhes em 1994), consumindo nestes itens 44,2% de suas
receitas de exportao. Isto, somado ao crescente dficit na
balana comercial, fez com que o dficit nas transaes correntes
do balano de pagamentos saltasse de 0,31% do PIB, em 1994,
para 4,24% do PIB em 1998.
A lgica desse modelo tinha como eixo o dficit de
transaes correntes. E o que significa isso? Significa que esse
modelo era insustentvel. No havia mais como continuar
42
endividando o pas nessa velocidade, nem havia mais como vender
patrimnio pblico e nacional no ritmo em que isso vinha sendo
feito. Tanto que o prprio mercado rompeu parcialmente esse
modelo, com o ataque especulativo em janeiro de 1999, que
enterrou o regime de cmbio semifixo e imps uma taxa de cmbio
flexvel, para comear a ajustar as contas externas e diminuir a
necessidade de endividamento e financiamento.
Para que se tenha uma idia do volume de recursos
envolvidos, os encargos externos do Pas ou seja, o dficit
nas transaes correntes mais as amortizaes da dvida externa
eram de 22 bilhes de dlares em 1994; em 1998, tinham
chegado a 67 bilhes, caindo posteriormente, em 2002, para
51,7 bilhes de dlares, em funo da recuperao do saldo
comercial propiciada pela desvalorizao do Real.
A dependncia crescente de recursos externos, alm da
vulnerabilidade externa que tornou o pas indefeso frente s
manobras do capital financeiro especulativo, criou um segundo
grave problema: a fragilidade das finanas pblicas. A manuteno
de taxas de juros elevadas criava uma fragilidade crescente nas
finanas pblicas, que ia sendo ajustada com a venda de
patrimnio, o aumento de impostos e o corte de gastos em
investimento. Entre 1995 e 2002, a carga tributria total passou
de 27,90 % para 35,86% do PIB. Apesar deste extraordinrio
aumento, a dvida pblica mobiliria federal, que era de 64 bilhes
de reais, no dia 31 de dezembro de 1994, passou para 623 bilhes
de reais em dezembro de 2002. Houve um crescimento explosivo
da dvida, principalmente no perodo 1995/98, e quase 50% dele
foram decorrentes das elevadas taxas de juros.
Diferentemente do Plano de Metas dos anos 50, que
construiu Braslia, a indstria automotiva, a estrutura de
transporte e outras realizaes, ou do II PND, que na dcada
de 70 possibilitou a construo de Tucuru, Carajs, a ferrovia
do ao, expandiu a produo de bens de capital e de bens
intermedirios os dois programas endividaram o Brasil,
43
geraram um perodo de instabilidade, mas as obras e realizaes
esto a. difcil encontrar obras nesse perodo (1995/2002)
que justifiquem o aumento de 559 bilhes de reais da dvida
mobiliria federal e de 200 bilhes de dlares no passivo externo
do pas, ao longo desses oito anos. O modelo patrimonial/
financeiro que vigorou nesse perodo colocou o pas numa
situao de vulnerabilidade externa sem precedentes, dilacerou
as rel aes soci ai s, fragi l i zou as fi nanas pbl i cas e
comprometeu os instrumentos de poltica econmica e social
do governo e a capacidade de ao autnoma do Estado.
Consumiu enormes energias e imps enormes sacrifcios
populao somente para reproduzir as polticas restritivas e o
padro de integrao subordinado economia globalizada que
esto na base da sua lgica.
Bom, esse era o modelo e essa a herana estrutural. Agora,
em que conjuntura se inicia o novo governo que tomou posse
em janeiro de 2003? A bolha especulativa e financeira nos Estados
Unidos tinha estourado em maro de 2000 e vinha desabando o
mercado de aes, havendo perdas patrimoniais monumentais
da Enron e da Worldcom, manipulao de balanos de diversas
outras companhias e uma crescente averso ao risco por parte
dos investidores, do que resultou uma retrao violenta do fluxo
de financiamentos e investimentos para o pas. Em segundo lugar,
a crise da Argentina agravava o risco e o acesso ao crdito de
todos aqueles pases da Amrica Latina que mantinham
vinculaes mais estreitas com a economia daquele pas. Em
terceiro lugar, havia a previso do incio de uma guerra, que gerava
um quadro de instabilidade e de insegurana.
Ento, no segundo semestre do ano passado, o pas no
ti nha mai s crdi to externo nenhum, nenhuma l i nha de
financiamento e nenhum investimento externo. Os fluxos
externos de investimento e financiamento ficaram praticamente
paralisados. As empresas no conseguiam rolar nem mesmo
os crditos comerciais. Nunca, nem na moratria de incio dos
44
anos 80, os crditos comerciais tinham sido afetados. A taxa de
rolagem das dvidas caiu a 17%. O risco Brasil, que o termmetro
disso, foi para 2.400 pontos. Quer dizer, era preciso pagar 24%
de juros acima da taxa internacional. Ento, no havia mais crdito
para ningum. E internamente a rolagem da dvida era cada vez
mais difcil e mais custosa naquele cenrio internacional de falta
de perspectiva. A dvida pblica que, em 2001, era rolada a 18,5%
ao ano teve seu custo de rolagem elevado para 44% no ano
passado.
A evoluo da crise cambial, com o aumento das presses
sobre o dlar que j vinham se manifestando desde abril de 2002,
levou a uma forte desvalorizao da taxa de cmbio no segundo
semestre daquele ano. Apesar de suas repercusses negativas,
isso teve um benefcio importante nas contas externas. As
exportaes comearam a crescer, a produo agrcola aumentou
em 30% e, com isso, diminuiu o dficit externo, que agora est
na faixa dos US$ 3,5 bilhes. Ou seja, progressivamente o Brasil
est saindo daquela lgica do modelo neoliberal, marcado por
um elevado dficit externo, que exigia privatizao,
desnacionalizao e endividamento crescente. As exportaes
no primeiro trimestre cresceram 25%, o que significa um maior
ingresso de divisas e, dado que as importaes praticamente no
aumentaram, um incremento significativo do saldo comercial,
que o elemento central para que o pas possa superar a
vulnerabilidade externa.
O Brasil no ter uma alternativa para esta crise se no
exportar mais, se no vender mais. No podemos trocar
exportao por capital voltil. Capital bom que vem para o pas
o capital que fica, que exporta, que gera emprego, tecnologia,
desenvolvimento. necessrio manter um saldo exportador
elevado, diminuir a vulnerabilidade externa, para no depender
de capital financeiro especulativo, este capital motel, que entra
de manh, sai de noite e no deixa nada. preciso buscar crescer
diminuindo a vulnerabilidade externa, como se est comeando
45
a fazer. Isto est permitindo que a taxa de cmbio caia de forma
sustentada embora no se possa exagerar nessa direo para
no prejudicar as exportaes. Essa queda ajuda a melhorar as
contas pblicas. Em outubro do ano passado, a dvida pblica
era de 62% do PIB, agora est em 52%. Isto ocorreu porque
49% da dvida esto indexados ao cmbio e, portanto,
contabilmente diminui em reais quando a taxa de cmbio cai.
A queda no dlar fez a inflao comear a cair. Todos
os indicadores mostram uma queda significativa e sustentada
da inflao: o ndice de preos ao consumidor amplo (IPCA)
passou de 2,10% em dezembro de 2002 para 0,97% em abril;
no caso do ndice geral de preos de mercado (IGP-M), a queda
foi ainda mais acentuada, de 3,75% para 0,92%. Se a dvida
pblica melhora e a inflao retorna a nveis aceitveis,
possvel comear a reduzir a taxa bsica de juros. Essa reduo
pode ser potencializada com a adoo de medidas que reduzam
os juros na ponta, diminuindo o chamado spread a diferena
entre a taxa paga pelo banco para captar recursos e a taxa
utilizada nos emprstimos que realiza , tais como a ampliao
do microcrdito, o fortalecimento das cooperativas de crdito,
a criao de linhas especiais de crdito com taxas preferenciais,
uti l i zando recursos dos depsi tos compul sri os, a
instrumentalizao dos bancos pblicos como vetores de
aumento da concorrncia no sistema financeiro.
A queda sustentvel da taxa de juros, progressiva porque
no adianta reduzir juros de uma forma populista e apressada
para logo depois ter que aument-los de novo vai permitir ao
pas crescer mais, gerar mais empregos e recuperar a capacidade
de investimento pblico que est totalmente comprometida pela
taxa de cmbio e pela taxa de juros que pressionam o oramento.
Dentro desse contexto, a atual poltica econmica uma
poltica de transio para sair daquele modelo neoliberal e criar
as bases de um crescimento sustentvel. Agora, olhando para
a nossa histria, a estabilidade econmica importante para
46
reduzir a desigualdade? . O fim da inflao importante? .
Mas uma condio suficiente? No. Crescer importante
para resolver o problema da desigualdade? muito importante.
Mas no necessariamente resolve o problema da desigualdade.
Ento, no basta crescer ou estabilizar a economia. No bastam
polticas compensatrias, que atenuem a situao dos mais
pobres sem alterar sua condio econmica e social e afetar os
determinantes da pobreza e da desigualdade. Ao mesmo tempo
em que ter que criar condies para crescer, para manter a
estabilidade e para recuperar o oramento pblico, o pas vai
ter que mexer nas estruturas arcaicas poderosas que foram se
mantendo ao longo do tempo e que so as razes fundamentais
da reproduo da desigualdade.
O primeiro movimento nessa direo aprofundar a
democracia. Quando se cria o Conselho de Desenvolvimento
Econmico e Social para discutir polticas pblicas, se est
criando um espao para engajar a sociedade, para que ela saia
de uma l gi ca corporati va. Quando se constroem os
conselhos de participao de sociedade, se esto criando
formas de participao da vida pblica, no estatal, que
permitem sociedade quebrar esta lgica patrimonialista e
autoritria do Estado brasileiro. Esta uma frente ampla de
trabalho que envolve o estmulo organizao da sociedade
civil, o desenvolvimento dos partidos polticos, das centrais
sindicais, dos movimentos sociais, das ONGs, a consolidao
e ampliao da negociao como mtodo de soluo de
conflitos e diferenas, o controle social sobre o Estado.
A segunda ao estratgica colocar a incluso social
como prioridade na poltica de governo e na alocao dos
recursos pblicos. Isso envolve estimular a participao dos
movimentos sociais na formulao e implementao das
polticas pblicas e fazer com que os temas da incluso social
sejam prioridades no debate nacional das estratgias de
desenvolvimento. Quais so os objetivos macrossociais no
47
atual estgio da economia brasileira? So basicamente trs: i) a
incluso de cerca de 50 milhes de brasileiros, subcidados que
sobrevivem em condies de extrema precariedade, sem acesso
aos bens e servios essenciais a uma vida minimamente digna;
ii) a preservao do direito ao trabalho e proteo social de
milhes de assalariados, pequenos e mdios produtores rurais
e urbanos, inativos de baixa remunerao e jovens que buscam
ingressar no mercado de trabalho, todos eles ameaados pelas
tendncias excludentes e concentradoras associadas ao modelo
econmi co que preval eceu nos l ti mos anos; e i i i ) a
universalizao dos servios e direitos sociais bsicos, com a
elevao progressiva da qualidade dos servios prestados e o
crescente envolvimento da populao na sua gesto.
E qual o modelo de desenvolvimento do Brasil?
necessri o abri r esta di scusso, com uma caracter sti ca
importante: ns no temos modelo a copiar. Um pas do
tamanho do Brasi l , to compl exo, nas ci rcunstnci as
histricas atuais, tem que construir o seu prprio caminho.
Tambm no existe nenhuma literatura promissora que diga
como avanar em um cenrio ps-neoliberalismo. Ns somos
nosso prprio modelo.
Um terceiro aspecto central a criao de um mercado
interno forte, vigoroso, que incorpore os excludos e os
transforme em produtores, consumidores e cidados. Esta
a grande tarefa histrica deste pas. O Fome Zero uma forma
de col ocar esta agenda no centro do debate sobre o
desenvolvimento nacional. Um programa estruturante que
abranja simultnea e integradamente os aspectos relacionados
com a produo, a circulao dos produtos e a distribuio
da renda, de forma tal que as aes emergenciais no sejam
autocontidas, mas sim parte de um processo que, via gerao
de fontes produtivas de trabalho e renda, contribui para a
expanso da economia e para a eliminao da dependncia
dos segmentos mais vulnerveis da populao de polticas
emergenciais e assistenciais.
48
Mas quais as polticas que podem acelerar a construo desse
modelo? O primeiro parmetro fundamental o salrio mnimo.
preciso ter uma poltica de recuperao sustentvel, progressiva e
corajosa do valor do salrio mnimo. Ao aumentar o salrio mnimo,
melhora-se a distribuio de renda e diminui-se a brecha salarial,
porque melhora a condio dos de baixo.
O segundo parmetro a incorporao dos trabalhadores
do setor informal ao sistema de proteo social. A questo central
da reforma da Previdncia Social no o ajuste fiscal. o
problema da incluso social. So 40 milhes de brasileiros fora
do sistema de seguridade social. A reforma da Previdncia e a
reforma tributria no s do consistncia s melhorias
macroeconmicas, como tambm fazem parte de uma poltica
de incluso social. Reforma tributria tem que tratar da
progressividade dos impostos, como imposto de renda e imposto
sobre herana. Em um pas que tem uma multido que no tem
herana nenhuma, o imposto sobre herana uma maneira de
se ajudar a construir uma herana social mnima.
A reforma agrria outra dimenso estratgica do combate
desigualdade social. Isto porque uma das manifestaes
fundamentais da desigualdade na distribuio da riqueza a
concentrao da propriedade da terra. Completados mais de
quatro sculos e meio do processo de monopolizao territorial
e formao do latifndio, inaugurado com as capitanias
hereditrias e preservado, em sua verso ps-colonial, pela Lei
de Terras de 1850, o grau de concentrao da propriedade agrria
no pas atinge ainda nveis extraordinariamente elevados.
Segundo o Censo Agropecurio de 1995/6, existiriam no
pas 5.050.307 estabelecimentos rurais, ocupando uma rea total
de 353.611.247 hectares. A comparao entre os pontos
extremos da estrutura fundiria ilustrativa do grau de
concentrao e polarizao existente. Os estabelecimentos com
menos de 10 hectares so 2.518.628 unidades ocupam uma
rea de 7,9 milhes de hectares, inferior rea ocupada por
49
somente 37 estabelecimentos com 100.000 hectares ou mais de
superfcie, que da ordem de 8,3 milhes de hectares. A
superfcie mdia destes 37 estabelecimentos de mais de 224.000
hectares, ou seja, mais de 74.000 vezes o tamanho mdio do
grupo de pequenos estabelecimentos com menos de 10 hectares,
que de apenas 3,0 hectares
2
.
precisamente neste segmento de pequenos produtores
ao qual haveria que adicionar a maior parte da populao
agrcola que no tem acesso a terra que se concentram os
fenmenos de pobreza relativa e absoluta no campo. Agregue-
se o fato de que o desenvolvimento do capitalismo na agricultura,
ao gerar uma concentrao da propriedade do capital ainda
maior do que a da propriedade da terra, contribuiu para
reproduzir e amplificar o processo de concentrao e polarizao
da distribuio da renda no setor rural.
A acelerao do processo de reforma fundamental
tambm para, no curto prazo, aumentar o emprego na
agricultura, com um investimento relativamente baixo e
praticamente sem gastos relevantes em divisas, e proporcionar
segurana alimentar aos trabalhadores sem terra e suas famlias.
A expanso e a integrao da produo, paralelamente ao
desenvolvimento das diversas formas e nveis de organizao
produtiva dos beneficirios, permitiro consolidar, a mdio e
a l ongo prazos, os efei tos redi stri buti vos da reforma e
contribuir decisivamente para a regulao dos fluxos de
abastecimento nas esferas local e regional.
A reforma urbana, direcionada para a ampliao e
agilizao do acesso propriedade imobiliria da populao de
baixa renda, articulada com programas de infra-estrutura
2
Mesmo considerando que uma parte destas megapropriedades se encontra no norte
do pas, eventualmente em reas de menor aptido agropecuria, injustificvel,
sob qualquer ponto de vista, a existncia de um grau de concentrao e polarizao
fundirias dessa magnitude.
50
voltados para a gerao de emprego, um outro elemento central
do processo de distribuio da renda e incluso social. A
democratizao e regulao da propriedade do terreno na
periferia e reas de ocupao irregular das grandes cidades um
fator de viabilizao do financiamento imobilirio e do estmulo
construo civil popular. Ela permitir ampliar o sentido social
dos programas de saneamento bsico e habitao popular, que
so essenciais para a elevao do nvel de emprego e reduo
dos dficits nas condies sanitrias e de moradia da populao,
contribuindo para o aumento da renda familiar e melhoramento
da qualidade de vida dos segmentos sociais mais carentes.
Por ltimo, h um aspecto que vital, tanto pelo seu
significado intrnseco quanto pelo papel que desempenha na
sustentabilidade dos efeitos redistributivos das demais polticas
pblicas: a educao. As deficincias quantitativas e qualitativas
do si stema educaci onal consti tuem um dos pri nci pai s
problemas estruturais do pas e um dos fatores que favorecem
a concentrao da renda e contribuem perpetuao das fortes
desigualdades que caracterizam a sociedade brasileira.
O analfabetismo est para o sculo XXI como a escravido
para o sculo XIX. No possvel tolerar o analfabetismo neste
contexto de tantas exigncias no mundo do trabalho e no prprio
exerccio da cidadania. Temos cerca de 15 milhes de analfabetos
absolutos e 35 milhes de analfabetos funcionais. Os ndices de
evaso escolar so ainda muito elevados e a qualidade do ensino
bsico se deteriorou acentuadamente nos ltimos anos.
A educao no , na sua essncia, uma forma de
adestramento da fora de trabalho, como apregoam as
concepes de corte neoliberal. A educao um vetor de
promoo da cidadania em todas suas dimenses. Nessa
perspectiva, a reforma e consolidao do sistema de educao
pblica em todos os nveis, que assegure o acesso dos segmentos
de rendas mdias e baixas da populao a um ensino gratuito da
mais alta qualidade e que incorpore os critrios e prioridades do
51
desenvolvimento nacional e de preservao e desenvolvimento
de nossa identidade cultural, constitui um dos elementos centrais
de um novo padro de desenvolvimento que tenha no social
um dos seus eixos fundamentais.
Os avanos no salrio mnimo, na expanso e formalizao
do emprego, no redirecionamento dos recursos pblicos, nas
reformas estruturais nas reas urbanas e rurais e na reforma
educacional, que do contedo estratgia proposta de combate
pobreza e desigualdade social, supem a retomada e a
sustentao do crescimento da economia. Quanto mais
rapidamente cresa a economia, tanto maior a margem de
manobra para avanar simultaneamente na mudana do perfil
de distribuio da renda e da riqueza.
Mas no est demais insistir em que to importante quanto
o ritmo de expanso do PIB o estilo de crescimento que se
estabelea. Para criar uma sinergia positiva entre distribuio e
crescimento, necessrio muito mais do que adicionar aos
modelos econmicos tradicionais polticas compensatrias, que
podem atenuar expresses localizadas da excluso social, mas
so incapazes de alterar os mecanismos de reproduo e
aprofundamento da desigualdade e da pobreza, dentro de prazos
compatveis com a preservao da nossa democracia e da nossa
integridade como Nao.
Sem a incorporao a todas as polticas pblicas de um
contedo que priorize o processo redistributivo, sem o
estabelecimento de um novo padro de insero internacional
que reduza nossa vulnerabilidade externa e resgate nossa
autonomia de decises na esfera econmica, e sem uma
transformao poltica que permita aprofundar e radicalizar a
democracia, no h nenhuma possibilidade de dar soluo efetiva
e permanente aos problemas de pobreza e da desigualdade social.
Nosso desafio histrico est, precisamente, em construir esse
novo caminho de desenvolvimento.
53
O COMBATE FOME NO BRASIL
Jos Graziano da Silva*
Sabemos que a fome a face mais cruel da desigualdade
social e da pobreza. Embora sejam conceitos distintos, h uma
forte relao entre pobreza e fome, especialmente no Brasil.
No h dvidas que a dificuldade de acesso alimentao est
relacionada falta de renda para adquirir os alimentos, o que
nos remete s causas estruturais de extrema concentrao de
renda e elevado nvel de desemprego e, principalmente, de
subemprego.
No entanto, h componentes especficos em todo esse
quadro que exigem um programa de garantia da segurana
alimentar, vez que a alimentao um direito bsico de cidadania.
O Estado deve garantir, no mnimo, condies para que as
famlias se alimentem dignamente. Isso o que determina o
Direito Humano Alimentao, do qual o Brasil um dos
signatrios desde 1933, quinze anos antes da Declarao
Universal dos Direitos Humanos da ONU colocar a alimentao
em primeiro lugar entre os direitos fundamentais do homem.
Nessa perspectiva, a Proposta de Emenda Constitucional
n 21/2001, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares
(PSB/SE), recentemente aprovada pelo Senado e j encaminhada
Cmara dos Deputados insere a alimentao ao lado da
educao, da sade do trabalho, da moradia, da proteo
* Ministro de Estado Extraordinrio de Segurana Alimentar e Combate Fome.
54
infncia, da proteo maternidade e da assistncia aos
desamparados, no conjunto dos direitos sociais garantidos pela
Constituio Federal.
fundamental entender que a fome, alm de ser uma
conseqncia da pobreza, tambm sua causa. Uma criana
com fome pode at ir escola, mas no aprende. A situao
ainda pior no caso da primeira infncia. Se uma criana no
tiver uma alimentao adequada at os seis anos de idade, ter
sua capacidade de aprendizado comprometida por toda vida.
Mes em situao de vulnerabilidade alimentar no conseguem
amamentar. O mesmo acontece com o trabalhador que,
vivenciando essa mesma situao, no consegue trabalhar.
Pesquisas nacionais apontam que a preocupao com a
fome ganha destaque entre os principais problemas do pas.
Segundo o levantamento do Datafolha, publicado em 9 de
abril, a preocupao da sociedade brasileira com a fome passou
de 6%, em setembro de 2002, para 22%, em abril de 2003,
tornando-se a segunda principal preocupao da populao
depois do emprego.
Por todas essas razes, o Presidente Lula colocou o tema
da fome na agenda brasileira e vem fazendo o mesmo em mbito
mundial. gratificante ver que se multiplica a cada dia a adeso
da sociedade ao Mutiro contra a Fome, convocado pelo
Presidente no seu discurso de posse, ao considerada no
somente do governo, mas de toda a sociedade brasileira. Como
disse a Ministra da Assistncia Social, Benedita da Silva, queremos
construir uma rede de solidariedade para reconstruir a nao
brasileira em outros moldes.
A urgncia da luta contra a fome foi apenas o atalho
escolhido pelo Governo Federal e, de certa forma, imposto a
ele pela realidade para atingir o ncleo duro da excluso brasileira
e, a partir da, irradiar uma trama de insero e cidadania.
A fome no Brasil no decorre de constrangimentos
naturais. No pas no h escassez de alimentos, mas, ainda assim,
55
vive-se uma situao histrica de insegurana alimentar: milhes
de brasileiros no tm acesso a uma alimentao adequada,
regular e digna.
Solues assistenciais no conseguem resolver o problema.
Ainda que medidas emergenciais sejam necessrias para amenizar
os impactos advindos da herana de nossos graves problemas
econmicos e sociais, s teremos segurana alimentar com a
insero de milhes de excludos ao processo de
desenvolvimento.
O Governo Lula no deseja e no vai perpetuar a fila
da misria. Nosso objetivo garantir o direito humano
alimentao ao mesmo tempo em que se estimulam as economias
locais para o desencadeamento de dinmicas de desenvolvimento
sustentveis.
O Programa Fome Zero um divisor de guas em termos
de polticas sociais no pas, as quais, nos ltimos anos, no
conseguiram alterar de fato nossos desequilbrios de renda e de
oportunidades.
No Brasil, a pobreza e a fome esto fortemente
concentradas na regio Nordeste, ainda que ambas venham
crescendo em quase todas as regies metropolitanas do pas.
no Semi-rido Nordestino que o Programa Fome Zero comeou
a ser implementado, com o Carto-Alimentao, mas, em funo
de sua amplitude, o Programa atingir toda a sociedade e todas
as cidades pelo carter educativo e organizativo embutido em
suas diversas aes. Algumas dessas aes esto sendo
desenvolvidas em parceria com instituies diversas, buscando
a garantia da cidadania inicialmente nos municpios contemplados
pelo Carto Alimentao. So exemplos de parcerias:
com a Unesco para a implantao de cursos de
alfabetizao;
com a ASA Articulao do Semi-rido para
construo de cisternas, permitindo o acesso da
populao a gua de forma sustentvel;
56
com o Estado do Mato Grosso do Sul para a garantia da
produo sustentvel para o autoconsumo alimentar;
com o Ministrio do Desenvolvimento Agrrio e o
Ministrio da Agricultura/Conab no programa de
compra de alimentos da agricultura familiar, que ser
lanado em breve; entre outras.
preciso ressaltar, finalmente, que com a participao
de todos os setores e segmentos do governo e da sociedade que
conseguiremos atingir a meta ambiciosa de garantir a segurana
alimentar a todos os brasileiros e brasileiras e fazer com que, no
futuro prximo, as pessoas no precisem depender apenas de
aes assistencialistas para minimizar o sofrimento de milhares
de brasileiros, alternativa que, observando a realidade brasileira,
no vem conseguindo resolver alguns de nossos mais graves
problemas, como a pobreza e a fome.
57
A temtica da pobreza e da desigualdade necessita ser alvo
de discusses mais freqentes, de modo que se torne um debate
de toda a sociedade.
A anlise da questo social permite vislumbrar um quadro
que indica, com elevado grau de preciso, o tamanho do desafio
para a superao da pobreza e da desigualdade. A fim de se ter
uma idia da disparidade gerada pela pobreza e pela desigualdade,
basta considerar que cerca de 64% da renda total do pas
controlada pelos 20% mais ricos da populao, enquanto que
os 20% mais pobres sobrevivem com 2,5% dela.
Existe hoje um acmulo importante de estudos sobre
pobreza e de inmeras experincias que buscam a eliminao
da mesma. No entanto, acreditamos que a questo central a ser
enfrentada a desigualdade.
Uma faceta dessa desigualdade diz respeito etnia. Quase
a metade da populao brasileira (45%) constituda de afro-
descendentes. Parcela que corresponde a 65% de nossa
populao pobre e 70% da populao indigente, segundo a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios do IBGE.
Portanto, no Brasil, a pobreza tem cor. Ela negra.
Ademais, essa desigualdade possui gnero e endereo. Ela
tambm mulher e nordestina. Se analisarmos os indicadores
ASSISTNCIA SOCIAL E POBREZA:
O ESFORO DA INCLUSO
Benedita da Silva*
* Ministra de Estado da Assistncia Social.
58
de analfabetismo, decrescente nos ltimos anos (13%),
verificamos discrepncias regionais (So Paulo 66%, Piau
31,6%). Analisando dados de desemprego, encontramos
discrepncia raa/gnero (homem branco 7,5%; mulher negra
16,5%). Esses dados tambm podem ser encontrados na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domiclios.
Os indicadores educacionais tambm confirmam esta
realidade de desigualdade social. A escolaridade mdia do jovem
negro de 25 anos de 6,1 anos de estudos. A escolaridade mdia
do jovem branco, da mesma idade, de 8,4 anos de estudos.
No mbito da estratgia governamental para reverter esse
quadro, convm ressaltar dois princpios norteadores da ao
do Ministrio da Assistncia Social: de um lado, a diretriz de
substituir o carter clientelista tradicional por uma ao
governamental proativa, que transforme o usurio da ao
protetora em sujeito de direito com vista a capacit-lo para o
exerccio da cidadania e, de outro, o fato de a famlia ser o ncleo
e destinatrio de todo e qualquer benefcio. O Plano Nacional
de Atendimento Integral Famlia (PAIF) foi elaborado a partir
dessas premissas.
Esses princpios nos remetem a outros dois aspectos
igualmente importantes. Em primeiro lugar, ao papel da
assistncia social e relevncia de uma das funes do Ministrio
da Assistncia Social. A assistncia social enquanto poltica
pblica reconhece o cidado como sujeito de direito e o Estado
como instituio que tem o dever de atend-lo. Por seu turno, o
Ministrio da Assistncia Social exerce a funo de articulao
entre as polticas setoriais bsicas.
Portanto, o resgate da cidadania poderia ser ilustrado como
uma rvore que passa pela etapa da sobrevivncia, para atingir
posteriormente o crescimento e, finalmente, produzir frutos.
Em termos comparativos, a estratgia de superao da pobreza
se desdobra em dois eixos: a rede de proteo social, para garantir
os direitos bsicos s famlias em situao de vulnerabilidade, e
59
o programa de promoo social, que funciona como uma espcie
de alavanca e constitui um conjunto de aes emancipatrias.
O carter interativo desse conjunto de aes tem a finalidade de
abrir novas perspectivas ao usurio e criar condies favorveis
para que ele prprio participe ativamente da sua incluso social.
Da a relevncia deste seminrio que, ao reunir um
conjunto muito especial de pensadores e atores da rea social,
oferece uma rica oportunidade de se articular novas idias e
formas de operacionalizao dessas estratgias.
Dessa forma, talvez a principal indagao seja como
romper o crculo vicioso do trinmio desigualdade-pobreza-
fome, condio sine qua non para uma efetiva poltica de incluso
social.
Pobreza no Brasil
63
A eleio do presidente Lula promoveu um deslocamento
sem precedentes nas pautas sociais da agenda nacional. O
complexo debate acerca dos horizontes e das polticas de combate
desigualdade e pobreza em nosso pas, ganha fora e espao.
Dos bares s academias, nos lares ou no Congresso Nacional,
nas empresas ou atravs da mdia, cresce o desconforto com a
condio de pobreza que vem excluindo parte significativa da
populao brasileira do acesso a condies mnimas de dignidade
e cidadania. O vergonhoso ttulo de campees mundiais da
desigualdade, produto de uma herana de injustia social,
mobiliza a arena pblica para o debate de uma realidade social
contundente e aterradora.
A pobreza a questo mais urgente que o pas necessita
enfrentar no incio do novo milnio. Temos cerca de 55 milhes
de brasileiros pobres, dos quais 24 milhes esto na condio de
extrema pobreza. Simplesmente 34% da populao, um patamar
estarrecedor, alm de desnecessrio, dada a riqueza do pas.
Essa enorme quantidade de pessoas pobres encontra-se
mergulhada em um pas cuja renda per capita no permite
consider-lo pobre. Cerca de 77% da populao mundial vive
em pases com renda per capita inferior brasileira. O Brasil
encontra-se, portanto, no quarto mais rico do mundo.
DESNATURALIZAR A DESIGUALDADE
E ERRADICAR A POBREZA NO BRASIL
Ricardo Henriques*
* Secretrio-Executivo do Ministrio da Assistncia Social.
64
Nossa desigualdade de renda nos transtorna ainda mais que
a pobreza. Se reduzssemos, por exemplo, o grau de desigualdade
do Brasil para o padro do Uruguai (o menor entre os pases latino-
americanos) e mantendo-se a atual renda per capita, seria possvel
reduzir em cerca de 20 pontos percentuais a pobreza no Brasil, isto
, passaramos a ter 14% da populao pobre ao invs de 34%.
Considerando um conjunto de 92 pases, o Brasil s perde em
termos de desigualdade para Malawi e frica do Sul. Aqui, a renda
mdia dos 10% mais ricos representa 28 vezes a renda mdia dos
40% mais pobres.
O grfico abaixo desenha a injusta realidade brasileira do
ltimo quarto do sculo com a preciso de um bisturi, expondo
nossas entranhas e denunciando o incmodo fato de
convivermos com a desigualdade como uma realidade algo
natural. Demonstra nossa perversa simetria social onde os 10%
mais ricos se apropriam de 50% do total da renda das famlias e,
como por espelhamento, os 50% mais pobres possuem cerca
de 10% da renda. Alm disso, 1% da populao, o 1% mais rico,
detm uma parcela da renda superior apropriada por metade
de toda a populao brasileira.
EVOLUO DA DESIGUALDADE DE RENDA NO BRASIL
Porcentagem da renda apropriada por diferentes grupos na populao
Fonte: Barros, Henriques e Mendona "A estabilidade inaceitvel: desigualdade e pobreza no Brasil" in Henriques,
R.(Org.) com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD) - 1981 a 2001.
Nota: PNAD no foi coletada em 1991, 1994 e 2000.
65
Naturalizada, a desigualdade no se apresenta aos olhos de
nossa sociedade como um artifcio. No entanto, trata-se de um
artifcio, de uma mquina, de um produto de cultura que resulta de
um acordo social excludente, que no reconhece a cidadania para
todos, onde a cidadania dos includos distinta da dos excludos e,
em decorrncia, tambm so distintos os direitos, as oportunidades
e os horizontes.
A tradio da poltica econmica e social brasileira, no
entanto, refora de forma recorrente a via nica do crescimento
econmico, sem gerar resultados satisfatrios no que diz respeito
reduo da pobreza. O velho modelo culinrio, tipicamente
brasileiro, do crescer o bolo para depois distribuir, ou ainda
em sua verso nouvelle cuisine do crescer, crescer e crescer como
via nica de combate pobreza, parece apresentar um
pensamento que sucumbe inrcia, no resistindo
complexidade da realidade brasileira. O raciocnio simples, por
vezes simplista, parece operar por metonmias: pobreza resulta
de no riqueza, crescimento gera riqueza, riqueza reduz pobreza.
Desse modo, para combater a pobreza s restaria, segundo esse
raciocnio, a estratgia do crescimento.
evidente que o crescimento econmico deve ser
perseguido de forma incessante mas, ao contrrio do que
comungam alguns cnones da economia, creio que no deve
ser perseguido como um fim em si mesmo. Como nos sugere o
prmio nobel de economia, Amartya Sen, o desenvolvimento
deve referir-se melhoria da qualidade de vida que levamos e
s liberdades que desfrutamos. Desse modo, redistribuir a
renda e a riqueza no Brasil emerge como elemento central para
erradicar a pobreza, contribuir para a dinmica do crescimento
econmico e criar as bases slidas para o desenvolvimento
sustentado e solidrio.
O desenho das polticas de redistribuio de renda e de
combate pobreza, no entanto, no nada trivial. Desigualdade
e pobreza, apesar de serem confundidas em diversos momentos
66
na discusso cotidiana, so dimenses radicalmente distintas de
nossa realidade e solicitam, portanto, solues diferenciadas.
O custo financeiro de erradicar a pobreza no Brasil no
astronmico, nem incompatvel com a riqueza relativa do pas.
Pelo contrrio, a renda familiar per capita e o PIB per capita,
representam valores cinco a oito vezes superiores linha de
indigncia e trs a quatro vezes linha de pobreza. O que
confirma categoricamente a hiptese da inexistncia da escassez
de recursos, na medida em que uma distribuio eqitativa dos
recursos nacionais disponveis seria muito mais do que suficiente
para eliminar toda a pobreza.
Da mesma forma, os gastos sociais atualmente existentes
no Brasil no podem ser considerados de pequeno porte. Em
anos recentes, o conjunto dos gastos sociais, englobando
Previdncia Social, Sade, Educao e Cultura, Assistncia
Social, Trabalho e Emprego, Saneamento Bsico e Habitao e
Poltica Fundiria, excludos os gastos com pessoal inativo,
correspondem a um montante de recursos da ordem de 15% do
PIB. Todavia, o gasto social definitivamente no chega aos
pobres. O que impe um urgente processo de definio de
prioridades que faam com que a populao pobre tenha acesso
aos programas sociais.
Mas no basta a formulao brilhante e bem intencionada de
mentes iluminadas. imperativo avaliar os diversos programas
sociais para sabermos quais so seus impactos. Aqui surge nova
perplexidade. No dispomos de um sistema de acompanhamento
das aes sociais nas diversas esferas de governo para avaliarmos
os impactos das polticas pblicas. Paradoxal equao da poltica
social brasileira: gasta-se bastante, no alvo errado e com resultados
desconhecidos.
Entre as diversas dimenses de incluso dos pobres,
assegurando igualdade de oportunidades e condies mnimas
de cidadania, sabemos com certeza que a educao a principal
explicao da desigualdade e, portanto, da pobreza.
67
A enorme heterogeneidade entre os nveis de escolaridade
dos indivduos representa a principal fonte da desigualdade
salarial brasileira. Nas condies atuais, o mercado de trabalho
brasileiro no , de forma preponderante, gerador de
desigualdade, mas apenas revela uma desigualdade anterior, a
desigualdade educacional. Alm dela, nosso nvel de escolaridade,
relativamente experincia internacional, muito baixo.
A escolaridade mdia de um brasileiro em torno de 6
anos de estudo. Isso significa que um adulto entra no mercado
de trabalho com uma escolaridade equivalente a uma criana de
13 anos de idade que no apresenta defasagem escolar. A
escolaridade mdia dos pobres inferior a 3 anos de estudo.
Isso significa que um adulto pobre, em mdia, entra no mercado
de trabalho com uma escolaridade equivalente a uma criana
de 10 anos de idade. A escolaridade mdia dos 25% mais ricos
da populao, por sua vez, superior a 10 anos de estudo.
escandaloso o nvel de escolaridade de nossa populao.
evidente que com essa heterogeneidade na escolaridade formal
no h qualquer possibilidade de igualdade de oportunidades
entre os brasileiros.
Dispomos de uma massa de excludos que analfabeta ou
no concluiu o ensino fundamental e uma elite de includos
universitrios ou, ao menos, com segundo grau. O elevado
diferencial salarial entre os 25% mais ricos e os 25% mais pobres
da populao explicado em 80% pela diferena no acesso
educao desses dois grupos no extremo da distribuio de
renda. Um poder explicativo enorme, derivado da desigualdade
educacional. Alm disso, metade desse efeito, ou seja 40% do
total da diferena de salrios entre esses grupos, est associada
s diferenas nos nveis de escolaridade das mes e dos pais.
Crculo vicioso onde a insuficincia de educao transforma-
se em insuficincia de renda, acionando o motor de reproduo
da pobreza entre geraes. Pobres so filhos de pobres, imersos
em um sistema educacional de elevada imobilidade, onde a
68
educao das pessoas depende significativamente da escolaridade
de seus pais.
A educao at recentemente no fez parte da estratgia de
desenvolvimento do pas. A acelerada expanso tecnolgica
brasileira, constitutiva de nosso propalado perodo de milagre
econmico, esteve sistematicamente associada a um lento processo
de expanso educacional. O progresso tecnolgico claramente
venceu a corrida contra o sistema educacional. Vitria de Pirro,
anunciando um triunfo perverso da sociedade brasileira.
Nesse contexto, a provocativa frase de Nelson Rodrigues
toma contornos trgicos: subdesenvolvimento no se
improvisa, obra de sculos. Sabemos da evidente limitao
do conceito de subdesenvolvimento, mas trata-se, hoje, de pensar
os parmetros de uma sociedade mais justa, que crie as bases
para um desenvolvimento sustentado em termos sociais,
econmicos, polticos, ticos e culturais.
Do ponto de vista estrutural, fundamental reconhecer a
desigualdade como principal fator de explicao do excessivo
nvel de pobreza do pas. preciso conceber programas de
natureza compensatria, com prioridade aos mais pobres, para
enfrentar o horizonte de curto prazo e programas redistributivos
estruturais, direcionados sobretudo para uma intensa
redistribuio de ativos na sociedade. Redistribuio de terra,
redistribuo de renda e de riqueza, acesso a credito e educao
universal de qualidade pilares de uma poltica estrutural de
erradicao da pobreza a partir da reduo da desigualdade.
A sociedade brasileira precisa tecer as redes de um novo
acordo social. Uma repactuao que reconhea a pobreza como
o maior problema econmico do pas e a desnaturalizao da
desigualdade como seu maior problema estrutural.
69
Quando se trata da prioridade a ser dada eliminao da
pobreza, freqente que o debate venha centrado na possibilidade
de mobilizar novos recursos para o financiamento de aes especficas
dos diferentes nveis de governo. Neste contexto, freqente tambm
que a pobreza seja tratada apenas como insuficincia de renda. O
custo de sua erradicao ento associado eliminao do hiato de
renda, isto , ao montante de recursos necessrio para elevar a renda
de todos os pobres ao valor da linha de pobreza.
A estimativa deste valor, em 1999, era de R$27,1 bilhes ou
o equivalente a 2,7% do PIB daquele ano.
1
Esse montante
aparentemente modesto quando se tem em vista o benefcio
potencial, isto , a eliminao da pobreza do ponto de vista da
renda. Deve-se levar emconta, no entanto, que transferncias diretas
de renda aos pobres no podem ser feitas uma s vez, mas tm que
se repetir ao longo dos anos, at que as medidas que realmente
atacam as causas da pobreza venham reduzir paulatinamente o
tamanho da populao-alvo. Ademais, a facilidade de estimao
estatstica do chamado hiato da renda mascara as dificuldades reais
de operacionalizao de programas de transferncia direta de renda.
POBREZAE TRANSFERNCIAS DE RENDA
Snia Rocha*
* Coordenadora de Projetos IBRE Fundao Getlio Vargas.
1
Este valor do hiato est associado ao uso de 23 diferentes linhas de pobreza derivadas
da Pesquisa de Oramentos Familiares, do IBGE. A respeito ver ROCHA, S. Do
consumo observado linha de pobreza, Pesquisa e Planejamento Econmico, v. 27, n. 2,
p. 239-250, ago. 1997.
70
Apesar das reconhecidas dificuldades operacionais, vem
ganhando importncia no Brasil, desde meados da dcada de noventa,
mecanismos antipobreza baseados em transferncia de renda. No
se trata de programas de renda mnima universais e de valor
compatvel com o atendimento das necessidades bsicas,
2
mas
geralmente da utilizao de transferncias monetrias vinculadas a
outras aes sociais focalizadas em clientelas especficas.
A justificativa principal a este tipo de mecanismo se baseia
no fato de que, numa economia moderna e monetizada, a
cidadania plena depende de dispor de renda para atender a
necessidades no mbito do consumo privado. Ademais, para um
mesmo valor do gasto pblico, o bem-estar do beneficirio maior
quando obtm renda, em comparao com recebimentos sob
forma de bens e servios.
3
Alguns programas desse tipo, como o amparo assistencial
aos idosos e deficientes, expandiram a clientela atendida e o valor
do benefcio, a partir de programas existentes desde a dcada de
setenta.
4
Outros foram criados recentemente, levando em conta
a prioridade j reconhecida do atendimento s crianas e da
funo educacional da poltica antipobreza, como o caso da bolsa-
escola, da bolsa alimentao e do programa de erradicao do
trabalho-infantil (PETI). Outros ainda, como o auxlio-gs, tm
como objetivo apenas repassar para famlias de baixa renda o valor
correspondente eliminao de um subsdio ao consumo,
anteriormente de carter generalizado.
2
Propostas de implementao de uma renda mnima de cidadania foram feitas no
Brasil desde a dcada de setenta. Ver SILVEIRA (1975); BACHA & UNGER (1978).
Com os resultados adversos que vinham se verificando desde o incio dos anos 80 em
relao evoluo do nvel e do grau de desigualdade de renda, a temtica ganhou
novo impulso nos anos 90. O projeto de Lei n
o
2561, de autoria do Senador Suplicy,
foi aprovado no Senado em 1992, mas no chegou a ser votado na Cmara. A lei
atualmente em vigor a 9.533, de 10 de dezembro de 1997.
3
SABIA; ROCHA, S. An Evaluation Methodology for Minimum Income Programmes in
Brazil. Genebra: SES Papers, Sep. 2002.
4
Renda Mensal Vitalcia.
71
As informaes apresentadas na tabela a seguir mostram que,
em dezembro de 2001, estes programas realizavam 19,4 milhes
de transferncias, certamente com alguma mltipla contagem de
beneficirios. Se anualizado, o valor consolidado relativo aos
benefcios novos, criados depois de 1999, corresponderia acerca
de 10% do valor do hiato de renda estimado para aquele ano,
evidenciando que, mesmo com a grande expanso dos programas,
a pobreza enquanto insuficincia de renda est longe de ser
erradicada.
5
Alm da restrio de recursos, h a questo central da
focalizao dos benefcios, de modo que existe consenso de que a
expanso dos programas de transferncia de renda tem que ser
necessariamente feita de forma cautelosa e, em particular, que
necessrio instrumentalizar a administrao pblica para lidar com
a complexidade dessas polticas.
Algumas Caractersticas dos Programas Federais deTransferncia
de Renda
Fonte: MPAS, MEC, MS.
5
Mesmo supondo uma focalizao perfeita dessas transferncias.
72
Como a pobreza no se limita insuficincia de renda,
dispndios associados a outras necessidades dos mais pobres,
em particular aquelas vinculadas ao provimento de servios
pblicos bsicos e os de promoo social, formam o conjunto
indispensvel de aes no escopo de uma poltica antipobreza.
Tanto aes antipobreza como mecanismos de poltica social de
carter universal resultam em despesas genericamente consideradas
como gasto social.
O gasto social no Brasil que inclui a totalidade dos gastos
da previdncia, da sade, da educao equivale acerca de 20%
do PIB. evidente que a persistncia da pobreza no est
vinculada insuficincia do gasto pblico, e que, por
conseqncia no se trata apenas da mobilizao de recursos
adicionais, mas de mudana na natureza e melhoria da eficincia
do gasto social em geral. Isto suscita questes de
operacionalizao pura e simples, mas tambm questes
distributivas complexas do ponto de vista poltico, como aquelas
relativas s caractersticas do gasto previdencirio. O consenso
terico sobre a necessidade de priorizar as despesas voltadas
satisfao de necessidades bsicas de alimentao, sade,
educao e saneamento, focalizando os mais pobres, assim como
de corrigir iniqidade distributivas bvias do gasto social, se
defronta, na prtica, com obstculos legais e polticos mudana.
O outro lado da questo, o da receita pblica, est sujeito a
restries da mesma natureza, como bem demonstram as polmicas
sem fim em torno da reforma tributria, em geral, e da incidncia e
progressividade do imposto de renda, em particular.
6
6
HOFFMAN (2001) incansvel em colocar em termos concretos a vinculao
entre desigualdade e pobreza, mostrando que, em 1999, indivduos com renda
superior a R$ 625 por ms eram relativamente ricos. Neste sentido, aumentos de
rendas acima deste valor resultavam em aumento do ndice de desigualdade,
enquanto aumento das rendas abaixo de R$625 contribuam para a sua reduo.
73
Adotar o combate pobreza como bandeira poltica
conseqente requer a reestruturao do gasto social em geral e
o redesenho dos mecanismos voltados especificamente ao
atendimento dos pobres. Implica, ainda, que os mecanismos de
financiamento do gasto pblico levem em conta explicitamente
desigualdades da distribuio de renda no pas. Especificamente
na operacionalizao de polticas antipobreza, indispensvel
concentrar o uso de recursos, antigos ou novos, em polticas de
objetivos claros e focalizados em populaes bem definidas.
essencial priorizar o atendimento aos mais pobres, mas
garantindo a eficincia operacional tanto de medidas assistenciais,
que apenas amenizam os sintomas presentes da pobreza, como
daquelas que tm o potencial de romper, de forma definitiva, o
crculo vicioso da pobreza.
75
O Brasil tem sido cada vez mais identificado como um
pas de referncia internacional no campo da desigualdade,
marcada por enorme contradio nacional. Apesar de encontrar-
se entre as 10 maiores economias mundiais, permanece entre as
quatro naes com pior distribuio de renda. Situa-se entre os
seis pases com maior exportao de alimentos, mas mantm
uma parcela significativa de sua populao passando fome,
utilizando cerca de 1/3 do total de terras agriculturveis.
destaque internacional no combate AIDS e nas tcnicas de
cirurgia plstica, porm convive com doenas e situao de
analfabetismo prximo do sculo XIX.
Procurar enfrentar essa complexa realidade no algo
simples. Isso porque, de um lado, o pas no tem larga
experincia democrtica. Desde 1500 para c, houve menos
de cinqenta anos de pleno regime democrtico.
Alm do trao pouco democrtico que a nao possui na
gesto pblica, h, de outro lado, a necessidade de superar o
contedo clientelista e assistencialista presente no conjunto das
polticas pblicas nacionais. Em funo dessas condicionalidades
nacionais, foi desenvolvido o presente texto, apresentando uma
NOVA POLTICA DE INCLUSO
SOCIOECONMICA
Marcio Pochmann*
* Secretrio do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade do Municpio de
So Paulo.
76
breve recuperao da construo das sociedades salariais nas
economias capitalistas avanadas que se caracterizaram por se
expandir muito no processo de incluso socioeconmica.
Posteriormente, analisa-se a situao brasileira para, em seguida,
apresentar alguns elementos favorveis construo de uma
nova poltica de incluso socioeconmica no Brasil.
A EXPERINCIA NO CAPITALISMO
AVANADO
A sociedade salarial, consolidada a partir do sculo XX
nos pases desenvolvidos, foi caudatria de dois processos
civilizatrios do capitalismo. De um lado, a estruturao do
mercado de trabalho, que possibilitou a predominncia dos
contratos de empregos assalariados no total da ocupao, todos
eles apoiados numa rede de proteo social e trabalhista. De
outro, a constituio de uma distribuio secundria da renda
nacional, que se mostrou capaz de garantir, por intermdio de
polticas tributrias e sociais, a ampliao do rendimento do
trabalho no total do excedente econmico.
Assim, assistiu-se, a partir do avano da urbanizao
influenciada pelo amplo processo de industrializao originria
da Segunda Revoluo Tecnolgica (1870-1910), que a cada
dez postos de trabalho gerados, oito ou nove eram empregos
assalariados. A predominncia do assalariamento deu vazo ao
novo sindicalismo, que terminou por se fortalecer politicamente,
contando com representao prpri a no parl amento e
sustentando a generalizao de modernas e avanadas legislaes
social e trabalhista, todas favorveis especialmente s classes
que vivem do trabalho.
Com isso, o modo de produo capitalista, pela primeira
vez na Histria, possibilitou que determinados segmentos das
classes trabalhadoras passassem a viver sem estarem subordinados
77
dinmica das foras de mercado
1
. Mais precisamente foram os
casos de crianas e adolescentes com menos de 16 anos que
puderam ficar afastados do mercado de trabalho para elevar a
escolaridade, assim como doentes, deficientes fsicos e mentais,
idosos, entre outros. Em sntese, permaneceu dependendo do
mercado de trabalho uma menor parte da fora de trabalho,
sobretudo aqueles maiores de 16 anos e abaixo da idade mxima
de aposentadoria.
Essa condio de conteno da dependncia por parte das
classes trabalhadoras das foras de mercado somente se mostrou
possvel com a instalao de uma estrutura secundria de
distribuio da renda, necessria para transgredir a tradicional
repartio simples da renda entre o trabalho e o capital. Com o
Estado de bem-estar social absorvendo parcelas significativas
do excedente econmico gerado, por intermdio de fundos
pblicos oriundos das reformas fundirias, tributrias e sociais,
foi possvel atingir a etapa do capitalismo de consumo de massa.
O pleno emprego, a estabilidade ocupacional e a difuso do
crdito ao consumo foram os elementos estratgicos das
sociedades salariais modernas
2
.
O avano no sistema de proteo social tornou-se uma
real i dade a parti r de um ci cl o vi rtuoso de expanso
econmica, sustentado na estrutura de funcionamento do
mercado de trabalho e na firme regulao da concorrncia
pelo Estado. Mas quando a realidade econmica transforma-
se, altera-se, por conseqncia, a situao do mercado de
trabalho e os esquemas de proteo social e trabalhista.
As metamorfoses do capitalismo avanado, desde o ltimo
quartel do sculo passado, vieram acompanhadas de inovaes
nas polticas sociais e do trabalho, diante do maior desemprego
e da ampliao da ocupao precria. Ainda no h convergncia
1
Para mais detalhes ver CASTEL (1998); OFFE & HEIZE (1997).
2
Para aprofundamento ver KALECKI (1943); BEVERIDGE (1944); AGLIETTA
(1979); MATTOSO (1995); POCHMANN (1995).
78
possvel a ser assinalada, a partir do conjunto de experincias
nacionais at o momento, embora sejam registrados tanto sinais
de maior individualismo, combinado ao fortalecimento das
foras de mercados, como inovaes de garantia de renda
ampliada e imposio de maior dependncia ao funcionamento
do mercado de trabalho
3
.
A EXPERINCIA BRASILEIRA
Nas economias no desenvolvidas, como o Brasil, no
houve experincias consolidadas de constituio plena do
estgi o de soci edades sal ari ai s, conforme veri fi cada no
capitalismo avanado, devido condio de estruturao
incompleta do mercado de trabalho e da ausncia de uma
efetiva distribuio secundria da renda. De um lado, a
economia nacional passou, entre as dcadas de 1930 e 1970,
por um i mport ant e ci cl o vi rt uoso de i ndust ri al i zao
nacional, acompanhado da rpida e descontrolada urbanizao,
o que favoreceu a constituio de um movimento rumo
estruturao do mercado de trabalho, embora constrangido pelo
enorme xodo rural para as grandes cidades
4
.
3
Para detalhamento das distintas experincias ver ESPING-ANDERSEN (1999); VAN
PARIJS (2002); SADER & GENTILI (1995); GORZ (1998); GIOVANNI (1998).
4
Entre 1940 e 1980, por exemplo, a cada 10 postos de trabalho abertos no pas,
8 eram assalariados, sendo 7 com carteira assinada. J na dcada de 1990, a cada
10 vagas abertas, 8 so no assalariadas (ocupao sem remunerao, autnomo,
ambulante, conta prpria, trabalho independente, empresrio, cooperativado),
sendo somente 2 assalariados, uma apenas com carteira assinada. Ainda para os
anos 90, os postos de trabalho em alta foram o emprego domstico, vendedor
ambul ante, l i mpeza e conservao e segurana pbl i ca ou pri vada, que
responderam por 7 a cada 10 vagas geradas no pas. Ver mais em POCHMANN
(1998); POCHMANN (2001).
79
De outro lado, contudo, as reformas clssicas do capitalismo
contemporneo no foram realizadas (agrria, tributria e social),
possibilitando a consolidao de uma sociedade apartada entre
os includos pelo mercado de trabalho organizado, com acesso s
polticas sociais de garantia de uma certa cidadania regulada, e os
excludos, mais conhecidos como despossudos do progresso
econmico
5
. Assim, o bolo cresceu sem distribuio justa da renda
nacional gerada, aprofundando a herana escravista de elevadas
diferenas entre ricos e pobres.
A partir de 1980, contudo, o Brasil ingressou numa fase de
estagnao da renda per capita e da desestruturao do mercado
de trabalho. As baixas taxas de expanso da economia nacional,
acompanhadas de forte oscilao na produo, impediram a
gerao de postos de trabalho necessrios para absorver a
populao trabalhadora.
Com isso, assistiu-se a expanso do desassalariamento
(reduo do emprego assalariado no total da ocupao), do
desemprego e dos postos de trabalho precrios. No obstante os
constrangimentos evoluo do bem-estar social, terminou sendo
implementado um conjunto de medidas orientadas para a
desregulamentao do mercado de trabalho, o que colaborou ainda
mais para afastar o movimento emtorno da construo da sociedade
salarial num pas que opta por no realizar as reformas civilizatrias
do capitalismo contemporneo (tributria, agrria e social).
POR UMA POLTICA DE INCLUSO
A reverso da situao atual de forte excluso social
possvel, urgente e necessria. Tecnicamente realizvel.
Precisa, no entanto, da superao de dois grandes problemas de
difcil resoluo.
5
Sobre isso, ver mais em: SPOSATI & FALCO (1989); DRAIBE (1993).
80
De uma parte, o problema da conformao de um novo
padro de financiamento capaz de alavancar o crescimento
econmi co sustentado, com a necessri a el evao da
produo interna, do nvel geral de empregos e das divisas
internacionais. Sem isso, o Brasil pode vir a consolidar uma
tercei ra dcada perdi da, ai nda conti ngenci ado por uma
crescente dependncia externa de capitais e de tecnologia.
De outra parte, o problema da construo de uma
verdadeira estratgia nacional de incluso social, portadora
de novos mecanismos institucionais e de gesto pblica, capaz
de superar o atual padro de polticas sociais e do trabalho
fundado na setorializao das aes, na desarticulao dos
programas, na focalizao de clientelas e na falta de integrao
operacional. At o momento, o resultado disso tem sido a
baixa eficcia das polticas sociais e do trabalho para romper
com o ciclo estrutural de produo da excluso social no
Brasil (pobreza, desigualdade de renda e desemprego).
Mais grave ainda o pouco preparo por parte do setor
pblico para dar conta das novas condies de reproduo
da pobreza. Atualmente, cresce a pobreza sobre segmentos
com maior escolaridade, com famlias monoparentais, com
faixas etrias mais precoces, entre outras caractersticas
distintas da conhecida velha pobreza.
De acordo com as vrias metodologias de construo e
avaliao das polticas pblicas orientadas para a questo social,
h, pelo menos, dois elementos a resolver: o padro de
financiamento e o nvel de proteo social a ser assegurado a
todos
6
. Sabe-se que, no Brasil, o volume do gasto social alcana
quantias no desprezveis, ainda que no seja o suficiente.
Por isso, fundamental rever e simultaneamente ampliar
as bases do financiamento do gasto com as polticas sociais e
6
Ver mais em: SCHMID et alii (1996); MARTIN (1998); CARVALHO & BARREIRA
(2001); RICO (1998).
81
do trabalho. Da mesma forma, necessita-se procurar fazer mais
e melhor do mesmo recurso existente, elevando a efetividade,
efi cci a e efi ci nci a das pol ti cas pbl i cas naci onai s. A
consti tui o de um verdadei ro oramento uni fi cado da
seguridade social, envolvendo tambm a problemtica do
trabalho no Brasil, com garantia de verbas carimbadas,
representaria um grande avano ao quadro atual.
Mas a superao do atual modelo de poltica social e do
trabalho exige uma inovadora metodologia de ao governamental,
capaz de identificar o cidado na sua totalidade, no de maneira
parcial e setorizada
7
. Como exemplo, observar, no plano do
governo federal, como as polticas de garantia de renda so
operadas de forma fragmentada e pulverizada em diversos
organismos e ministrios (bolsa escola na Educao, bolsa
alimentao na Sade, bolsa de erradicao do trabalho infantil
na Previdncia, seguro desemprego e qualificao profissional no
Trabalho etc.), com a promoo de elevado e injustificado custo
meio (diversos cadastramentos e banco de informaes,
atividades socioeducativas, exigncias especficas de seleo,
acompanhamento dos beneficirios, muitas vezes sem avaliao
e monitoramento).
Estima-se, atualmente, que o chamado custo meio de
implementao e desenvolvimento das polticas pblicas no
Brasil varia, em mdia, de 32% a 51% do total dos recursos
apl i cados. Tudo i sso acrescentando a contabi l i zao da
reproduo de certa concorrncia entre as diferentes esferas
governamentais, assim como a setorializao, desarticulao
e desintegrao das aes sociais e do trabalho no plano dos
governos estaduais, municipais e federal.
7
Sobre isso ver mais em: MONTAO & BORGIANNI (2000); JOIN-LAMBERT
(1997); POCHMANN (2002).
82
Sem a articulao e integrao das aes, o objetivo da
incluso social geralmente termina no sendo alcanado, pois
dificilmente h condies de identificao plena das clientelas
atendidas com um ou mais programas. Quando so assistidas por
um determinado programa, no h integrao com outro, o que
inviabiliza a operacionalizao sistmica de uma estratgia de
incluso social, sem falar na ausncia de polticas pblicas para
diversos segmentos sociais e economicamente excludos.
Da mesma forma que uma cirurgia, em determinado
paciente, exige a ao integrada de uma equipe (mdico cirurgio,
anestesista, enfermeira, entre outros), a incluso social constitui
um processo com comeo, meio e fim, que envolve a coordenao
de mltiplas e transversais aes. Apenas o pagamento de uma
bolsa de garantia de renda a uma famlia carente no permite,
necessariamente, a plena incluso, pois pode haver pessoas com
problemas psicolgicos, de sade, de dependncia qumica, de
baixa escolaridade, alm dos problemas de moradia, transporte,
saneamento bsico, entre tantas outras condies de excluso
social. Assim, a oferta de uma ao governamental isolada no
suficiente para a ruptura do ciclo estrutural de pobreza no Brasil.
Nesse sentido, a promoo da intersetorialidade no
conj unto dos programas governamentai s poderi a ser
alcanada por meio de um comando nico, garantindo maior
xito na gesto de aes multivariadas, tanto no sentido
horizontal de um mesmo nvel de governo (sade, educao,
assistncia, trabalho, etc.), como no sentido vertical entre as
vrias esferas de governo (unio, estados e municpios). Como
resultado imediato, obtm-se a drstica reduo do custo-meio
de implementao e desenvolvimento das polticas pblicas,
permitindo fazer mais e melhor do mesmo recurso existente,
ao mesmo tempo em que torna o processo de incluso social
possvel no Brasil.
Dessa forma, com a constituio de um sistema nico de
gesto, capaz de operar descentralizadamente por meio de aes
83
intersetorializadas, articuladas e integradas, o ciclo estrutural da
pobreza poderia ser rompido efetivamente. E, assim, o pas pode
vir a seguir uma nova rota de incluso social.
CONSIDERAES FINAIS
Conforme assinalado anteriormente, o Brasil no conseguiu
alar o estgio de sociedade salarial, no contando, portanto, com
a estruturao do mercado de trabalho e com a instalao de uma
distribuio secundria da renda. Mesmo durante o perodo de
maior expanso econmica, entre as dcadas de 1930 e 1970,
coma forte expanso do emprego assalariado, permaneceu excluda
uma parcela importante da populao.
A partir de 1980, com o ciclo de estagnao da renda per
capita, no apenas se reverteu o movimento de estruturao do
mercado de trabalho, como se acentuou a concentrao da renda
nacional. Nesse cenrio, a retomada sustentada do desenvolvimento
econmico fundamental, porm no suficiente. Torna-se
necessria a construo de um sistema nico de incluso social,
coma reverso das prioridades, revendo procedimentos e ampliando
os esforos de apoio emancipao socioeconmica.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AGLIETTA, M. Regulacin y crisis del capitalismo. Madrid: Siglo
XXI, 1979.
BARREIRA, M.; CARVALHO, M. Tendncias e perspectivas na
avaliao de polticas e programas sociais. So Paulo: PUC, 2001.
BEVERIDGE, W. Full Employment in a Free Society. London: G.
Allen & Unwin Ltd, 1944.
84
BORGIANNI, E.; MONTAO, C. La poltica social hoy. So
Paulo: Cortez, 2000.
CASTEL, R. As metamorfoses da questo social. Petrpolis: Vozes,
1998.
DRAIBE, S. As polticas sociais e o neoliberalismo, Revista da
USP. So Paulo: USP, 1993.
ESPING-ANDERSEN, G. Les trois mondes de ltat-providence.
Paris: PUF, 1999.
GIOVANNI, G. Sistemas de proteo social. In: OLIVEIRA,
M. (Org.) Reforma do Estado & Polticas de emprego no Brasil.
Campinas: IE/UNICAMP, 1998.
GORZ, A. Miserias del presente, riqueza de lo posible. Buenos Aires:
Paids, 1991.
JOIN-LAMBERT, M. Politiques sociales. Paris: PSP, 1997.
KALECKI, M. Political Aspects of Full Employment. PQ 4, 1943.
MARTIN, G. La dynami que des pol i t i ques soc i al es . Pari s:
LHarmattan, 1998.
MATTOSO, J. A desordem do trabalho. So Paulo: Scritta, 1995.
OFFE, C.; HEIZE, R. Economia senza mercato. Roma: Riunit,
1997.
POCHMANN, M. A dcada dos mitos. So Paulo: Contexto, 2001.
_____________. Desenvolvimento, trabalho e solidariedade. So
Paulo: Cortez, 2002.
_____________. Polticas do trabalho e de garantia de renda no
capitalismo em mudana. So Paulo: LTr, 1995.
85
POCHMANN, M. O trabal ho sob f ogo cruzado. So Paulo:
Contexto, 1998.
RICO, E. Avaliao de polticas sociais. So Paulo: Cortez, 1999.
SADER, E. ; BORN, A. As polticas sociais e o Estado democrtico.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
SCHMID, G. et al. International Handbook of Labour Market Policy
and Evaluation. Cambridge: GBUP, 1996.
SPOSATI, A.; FALCO, M. Os direitos (dos desassistidos) sociais.
So Paulo: Cortez, 1989.
VAN PARIJIS, P. O que uma sociedade justa? So Paulo: tica,
2002.
Pobreza como violao dos
direitos humanos
89
A proposta de que a persistncia da extrema pobreza tem que ser
concebida como uma violao dos direitos humanos tem o mrito de
priorizar a erradicao da pobreza, de forma compatvel com os direitos
civis e polticos fundamentais, sugerindo o emprego de instrumentos de
natureza equivalente, tais como o uso de coero, inclusive de sanes
penais e de interveno armada, de forma a garantir a abolio da pobreza.
A proposta no deve ser interpretada como significando que os direitos
humanos exijam a erradicao apenas da extrema pobreza que a
conseqncia causal de condutas censurveis ou injustas por parte de
sistemas econmicos, ou que a razo de ser do direito subsistncia decorra
inteiramente de consideraes relativas justia, com suas conotaes de
merecimento e equidade, com excluso do discurso humano menos voltado
s questes de mrito, que enfoca a obrigao de aliviar o sofrimento como
um fim em si. A aplicao dessa anlise s obrigaes relacionadas aos
direitos humanos das empresas multinacionais nos permite: (1) endossar
A POBREZA COMOVIOLAO DOS
DIREITOS HUMANOS:
JUSTIA GLOBAL, DIREITOS
HUMANOS EAS EMPRESAS
MULTINACIONAIS
Tom Campbell*
* Professor do Centro de Filosofia Aplicada e tica Pblica (CAPPE), da
Universidade Charles Sturt, Camberra, Austrlia, e Professor visitante na Escola
de Direito, Kings Colleges em Londres.
90
as obrigaes negativas geralmente aceitas das empresas, tais como a
obrigao de no destruir economias e meios ambientes de forma a
empobrecer aqueles que deles dependem para seu sustento, ou manter
ligaes com regimes corruptos que vendem os recursos naturais de seu
pas sem usar as receitas em benefcio de suas populaes pobres, (2)
acrescentar obrigaes de reparao pela violao dessas obrigaes
negativas e (3) considerar a possibilidade de estabelecer obrigaes
positivas (morais e jurdicas), de modo que elas contribuam com a
erradicao da pobreza na proporo de seus recursos e oportunidades,
obrigaes essas que elas teriam em comum com outros indivduos e
coletividades em situao semelhante.
A categorizao da pobreza como uma violao dos
direitos humanos e o uso do termo abolio (em lugar de
erradicao) da pobreza podem ser vistos como tentativas de
conferir prioridade mais alta eliminao da pobreza como um
objetivo econmico e poltico.
1
Como tal, essa idia deve ser
aplaudida e incentivada por todos os que reconheam as
realidades horrendas da extrema pobreza, que to generalizada,
atingindo mais de um quarto da populao mundial. Pois,
embora sej a ofi ci al mente reconheci do que os di rei tos
econmicos e sociais, por um lado, e os direitos civis e polticos,
por outro, sejam de igual importncia,
2
no h dvida de que,
por uma razo ou por outra, os direitos sociais e econmicos
sejam, na prtica, relativamente negligenciados. A tortura vista
como inaceitvel, j a pobreza, como apenas lamentvel.
A categorizao da pobreza como uma violao dos
direitos humanos pode tambm ser vista como uma medida
destinada a criar novos mecanismos para a eliminao da
1
Ver UNESCO (2003); POGGE (2003).
2
ICESCR. Prembulo ao Pacto Internacional sobre Direitos Econmicos, Sociais e
Culturais: o ideal de seres humanos livres desfrutarem de uma vida livre de medo
e de privaes s poder ser alcanado se forem criadas condies atravs das
quais todos possam gozar de seus direitos econmicos, sociais e culturais, tanto
quanto de seus direitos civis e polticos.
91
pobreza.
3
Por exemplo, possvel afirmar que agora seja a hora
de pensar em utilizar sanes jurdicas, como responsabilidade
civil por atitudes que, por omisso, promovam a pobreza, ou de
punio jurdica, por implementar, conscientemente, polticas
governamentais ou prticas empresariais que, de maneira
evitvel, agravem ou no faam diminuir a pobreza. Pode ser
tambm que, ao ver a pobreza como uma violao dos direitos
humanos, estejamos de fato incentivando a constitucionalizao
dos direitos econmicos e sociais,
4
de forma que a tarefa de
estabelecer padres mnimos para essas reas seja conferida aos
tribunais, e no aos governos, revogando legislaes que, a seu
ver, agravem ou no faam diminuir a incidncia ou o grau de
pobreza naquela jurisdio, ou que no contribuam de forma
suficiente com a ajuda internacional. Uma outra implicao de
considerar a pobreza como uma violao dos direitos humanos
seria a possibilidade de examinar o uso de sanes econmicas,
perda de acesso a emprstimos ou interveno armada, contanto
que esses mtodos sejam utilizados visando proteo dos
direitos civis e polticos.
Cenrios como esses talvez sejam mais problemticos no
caso dos direitos sociais e econmicos que no caso dos direitos
civis e polticos, no porque, por exemplo, a pobreza generalizada
tenha menor importncia moral que a privao do direito de
voto ou a tortura sistemtica, mas porque as causas e as curas
da pobreza so muito mais evasivas, muito mais controversas e
muito mais desafiadoras que muitas das outras falhas dos direitos
humanos. Mesmo os especialistas discordam quanto a quais
polticas econmicas oferecem maiores esperanas de eliminao
3
Ver em TURK (1992) sobre a Subcomisso para a Preveno da Discriminao e
a Proteo das Minorias: a questo de se os direitos econmicos, sociais e culturais
podem ser violados em sentido jurdico foi respondida convincentemente em
sentido afirmativo, citado em HUNT (1996).
4
Como, em alguma medida, nas Constituies da ndia, da frica do Sul e da Finlndia.
92
da pobreza. No existem mecanismos para a redistribuio
sistemtica dos recursos do mundo. A pobreza no pode ser
abolida com a simples aprovao de leis que tornem ilegal sua
persistncia, mesmo que as pessoas faam todo o possvel para
obedecer a essas leis. Em relao constitucionalizao dos
di rei tos econmi cos e soci ai s, fal tam aos tri bunai s os
conhecimentos especializados para que eles determinem quais
leis deveriam ser revogadas no interesse da reduo da pobreza,
como falta tambm a legitimidade para formular polticas
econmicas e sociais. Nessas circunstncias, talvez seja injusto,
ineficaz e contraproducente contemplar a possibilidade de
adoo de remdios jurdicos e de sanes internacionais
destinadas a abolir a pobreza.
5
Isso no significa, contudo, que essas vias no devam ser
examinadas. Est agora bem estabelecido que as diferenas lgicas
e prticas entre direitos sujeitos ou no apreciao judiciria,
entre direitos gratuitos e direitos caros, e entre direitos positivos
e direitos negativos foram grandemente exageradas, talvez por
razes ideolgicas.
6
Ao contrrio, teremos que trabalhar com
grande afinco para esclarecer o significado e as implicaes de
considerar a pobreza como uma violao dos direitos humanos e
fornecer os argumentos claros e convincentes que sero
necessrios para emprestar credibilidade a essa tese.
Nest e ar t i go, t rat o de al guns desses t pi cos,
par t i cul ar ment e as responsabi l i dades das empresas
multinacionais (EMNs), com relao aos direitos humanos em
geral e abolio da pobreza em particular. Na primeira seo
do artigo, desenvolvo posies sobre uma srie de questes
pertinentes relacionadas ao conceito e ao contedo dos direitos
humanos e s responsabilidades associadas a eles. Nessa
5
Para uma exposio e resposta a tais crticas, ver JACKMAN (1992).
6
Ver SHUE (1980).
93
primeira seo, defendo uma perspectiva que abra espao aos
deveres de humanidade (relativos benevolncia, altrusmo e
prestao de assistncia), e tambm dos deveres de justia
(relativos equidade, ao merecimento e ao mrito), sem dar
prioridade justia sobre a humanidade. Investigarei tambm
alguns dos pontos complexos na relao entre direitos humanos
e deveres humanos.
Com respeito sugesto de que a pobreza seja uma
violao dos direitos humanos, afirmo que ela benfica, no
sent i do de pri ori zar o al vi o da pobreza e de sugeri r
estratgias que poderiam vir a ser adotadas em alguns casos,
tais como a criminalizao de atos que conscientemente
provocam o empobrecimento de outros. No entanto, falar da
pobreza como uma violao dos direitos humanos pode ser
contraproducente, caso implique que a nica pobreza a ser
priorizada aquela que resulta de aes governamentais ou
de falhas dos sistemas econmicos e sociais, sem incluir
tambm, por exempl o, a pobreza causada por desastres
naturais ou por atos individuais que impliquem prejuzos
econmicos. Esse ponto, entretanto, pode ser resolvido com
a afirmativa de que a omisso no alvio pobreza, tanto
quanto a responsabilidade por atos que venham a provocar
pobreza, ou cumplicidade neles, devem ser vistas como
violaes dos direitos humanos relativos pobreza.
Na segunda seo deste artigo, trato das questes mais
especficas das responsabilidades das EMNs com relao aos
direitos humanos. Partindo do pressuposto de que as empresas
possuem as obrigaes normais e universais relativas aos
direitos humanos negativos de no causar prejuzo a outros
das maneiras identificadas no contedo dos direitos humanos
em questo, discuto a questo de se as EMNs tm a obrigao
especial de proteger e promover os direitos humanos. Defendo
a idia de que as EMNs falham, caso tentem apresentar
argumentos a priori que as isentem de responsabilidades
94
especiais quanto aos direitos humanos. Mas, quando as questes
so colocadas em debate, o argumento em favor da imputao
de amplos e distintos deveres relativos a direitos humanos s
EMNs em geral no fica claro, exceto com relao a fatores
especficos que tornam uma determinada categoria de EMNs
propensa a perpetrar alguns tipos caractersticos de violaes
dos direitos humanos, como acontece com as EMNs cujas
operaes extrati vi stas esto di retamente i mpl i cadas na
destruio de sistemas econmicos existentes, nos casos em
que as pessoas afetadas no contem com alternativas de
sobrevivncia, ou com aquelas que compram produtos naturais
de regimes corruptos e usam essas receitas em benefcio
prprio, em sociedades onde a pobreza generalizada.
No entanto, baseando-me na tese de que a pobreza uma
violao dos direitos humanos e aceitando que isso implique
uma obrigao universal e proporcional aos meios, afirmo que
as EMNs tm que assumi r sua parcel a das obri gaes
humanitrias e fazer uso de quaisquer oportunidades que
surj am no decorrer de suas operaes para promover a
consecuo desses fins. Defendo a idia de que, ao aceitar o
princpio da humanidade como o princpio moral supremo nas
questes relativas pobreza, possvel exigir das EMNs que
elas assumam a responsabilidade por uma parcela do impacto
de um imposto mundial sobre a riqueza, alm das demais
obrigaes de indenizar aqueles que foram prejudicados por
qualquer omisso no respeito aos direitos negativos.
Numa proposta ilustrativa, que visa a demonstrar as
possveis implicaes de considerar a pobreza extrema e
persistente como uma violao dos direitos humanos, sugiro
que examinemos a idia de um Tributo Humanitrio Global
(THG) que implique uma forma internacional de tributao,
paga pelos governos participantes diretamente a um Fundo
Global Humanitrio, administrado pela ONU e destinado ao
alvio da pobreza extrema e, se necessrio, por sua prpria
95
agncia. A no-participao nesse fundo consistiria numa
violao dos direitos humanos, justificando a adoo de
sanes contra governos, empresas e indivduos que se recusem
a contribuir.
I.
Os fatos relativos s desigualdades, tanto entre naes
quanto internamente a elas, so extremos e bem documentados.
Quaisquer que sejam os desacordos que possam existir com
relao mensurao absoluta e comparativa dos recursos
materiais e de outros tipos, todos os mtodos resultam no
mesmo cenrio: uma minoria significativa da populao do
mundo vive em extrema pobreza, num tempo em que uma
pequena minoria tem acesso a riquezas abundantes. Ningum
di scorda tambm de que essa si tuao sej a no apenas
moralmente inaceitvel como tambm remedivel na prtica.
Quer o enfoque adotado seja utilitrio ou deontolgico, quer
falemos em termos de direitos humanos, de justia ou de
simples humanidade, a amplitude e o grau da injustia que
hoje prevalece no mundo uma desgraa perfeitamente
passvel de ser sanada.
7
Pode-se argumentar, portanto, que possvel dispensar
sutilezas morais, tais como as apresentadas nas teorias da
justia internacional, relativas ao porqu de essas igualdades
7
As estatsticas so geralmente apresentadas em termos das mensuraes do Banco
Mundial, de rendimentos dirios com o poder de compra de menos de 1 dlar,
segundo as quais hoje, no mundo, 1 bilho de pessoas encontra-se em situao de
extrema pobreza. O que isso significa, na prtica, de difcil compreenso para os
que no tm que passar por situaes como essa, mas as conseqncias, em termos
de sade e felicidade, so mais do que claras.
96
serem consideradas como moralmente erradas, e prosseguir na
tarefa de determinar como pode ser remediado aquilo que,
como todos concordam, um estado de coisas moralmente
inaceitvel, passando ento a buscar meios de motivar, a ns
mesmos e a outros, a fazer algo para reverter essa situao.
Em certos aspectos, esse ponto de vista correto. a
factibilidade das diferentes medidas corretivas que tem que,
agora, receber a mais urgente ateno intelectual no
determinar o que errado, mas como remedi-lo. Alm disso,
o que falta vontade poltica e compromisso moral. As maiores
questes prticas so como superar os obstculos econmicos,
sociais e polticos que impedem o alvio contnuo e eficaz da
pobreza generalizada, devastadora e desnecessria.
No entanto, h uma outra questo que tem que ser
tratada, que guarda uma relao complexa com esses tpicos
de meios efetivos e motivao prtica. Essa questo se refere
a quem deve assumir a liderana ou desempenhar os principais
papis nas aes necessrias para corrigir os desequilbrios da
riqueza mundial. Colocando a questo em termos de direitos:
se os que vivem em pobreza evitvel tm o direito ao sustento,
de quem so os deveres correlatos, e qual a extenso desses
deveres? Ou, para colocar a questo em termos utilitrios: se
o total da misria humana pode ser grandemente reduzido,
quem teria o dever de fazer com que isso acontea, e quais os
contedos especficos desses deveres?
Pelo menos parte da inao relativa s questes de justia
global tem a ver com a falta de consenso quanto a quem cabe
a responsabilidade de tomar medidas para sanar essa situao,
e quais seriam essas medidas. As inquietaes quanto a quem
responsvel por tomar iniciativas eficazes a respeito da
desigualdade global so, no mnimo, um dos fatores que
contribuem para essa inao generalizada. Levar adiante a
discusso sobre esse assunto pode nos ajudar a superar o
97
impasse e exercer um impacto indireto sobre a resoluo do
problema, sendo, portanto, uma questo que vale a pena ser
tratada. E uma questo que no pode ser tratada sem ser
remetida ao conceito de justia global e, particularmente,
pergunta por que razo causar ou consentir existncia da
extrema pobreza consiste num delito, delito esse que talvez
deva ser conceituado como uma violao dos direitos humanos.
Os fatos sobre a injustia global figuram em dois nveis
bastante distintos: a extenso da pobreza e o grau de desigualdade
em questo. Trata-se a da conhecida distino entre pobreza
absoluta e pobreza relativa. Esta ltima se relaciona desigualdade,
ao fato de uma pessoa ou um grupo possuir menos que outros.
Pobreza relativa significa apenas estar situado no extremo inferior
da escala adotada para comparar as posses do grupo em estudo.
J a pobreza absoluta trata do que ser pobre, de maneira
independente de comparaes com os demais. A pobreza absoluta
definida como uma privao dos bens materiais, implicando
uma situao inferior aos padres definidos como necessrios
vida (que colocam necessidades bsicas, capacidades mnimas
etc.), provao essa que se aplica independentemente das posses
relativas. Conceitualmente, ela admite a possibilidade de sermos
todos igualmente pobres, ou de que, em algumas sociedades
desiguais, ningum seja realmente pobre.
Neste artigo, trato tanto da pobreza absoluta quanto da
pobreza relativa, mas esses dois tpicos possuem focos
diferentes. principalmente a existncia da pobreza absoluta
que irei considerar como sendo problema. A pobreza relativa
algo que mencionarei, no para determinar o que h de errado
com a pobreza absoluta, mas sim no contexto de determinar
quem tem a obrigao de remediar esse indesejvel estado de
coi sas. Ou sej a, o probl ema bsi co a pobreza, no a
desi gual dade como t al , embora essa desi gual dade v
comparecer na busca de uma soluo para o problema.
98
Colocando a questo em termos de direitos, a proposio
a ser analisada a de que todos tm o direito de acesso aos
meios de subsistncia bsica: o direito s condies materiais e
sociais necessrias para continuar vivo, com sade normal e em
razovel conforto. Na medida em que esse um direito universal
(que se aplica a todos, em qualquer parte) e, inegavelmente, um
direito importante (talvez o mais importante) deles, e como se
trata de al go sobre o qual ns, tanto col eti va quanto
individualmente, podemos afetar atravs de nossas aes, ele
um candidato bvio a ingressar na categoria dos direitos.
Que fundamento teramos para acreditar que um tal direito
exista ou deveria existir? Aqui, tem que estar claro para ns se
estamos tratando de direitos humanos morais ou de direitos
humanos posi ti vos. Os di rei tos humanos morai s so
reivindicaes que acreditamos devam ser reconhecidas (ou pela
moralidade ou pela lei). Os direitos humanos positivos so direitos
que de fato constam dos sistemas de normas sociais (direitos
societrios), ou que so postulados nos sistemas jurdicos
humanos, tais como a Carta Internacional dos Direitos (ou seja, a
Declarao Universal dos Direitos Humanos das Naes Unidas,
o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Polticos e o Pacto
Internacional sobre os Direitos Sociais, Econmicos e Culturais).
Os direitos humanos jurdicos positivos colocam, de fato,
esse direito subsistncia. O artigo 25.1 da Declarao Universal
dos Direitos Humanos das Naes Unidas (que pode ser
considerada como uma soft law) postula: Todo o homem tem
direito a um padro de vida capaz de assegurar a si e a sua famlia
sade e bem-estar, inclusive alimentao, vesturio, habitao,
cuidados mdicos e os servios sociais indispensveis, e direito
segurana em caso de desemprego, doena, invalidez, viuvez,
velhice ou outros casos de perda de meios de subsistncia em
circunstncias fora de seu controle. Esses princpios so
corroborados no Pacto Internacional sobre Direitos Econmicos,
Sociais e Polticos, artigo 11.1: Os Estados-partes no presente
99
Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nvel de vida
adequado para si prprio e para sua famlia, inclusive
alimentao, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma
melhoria contnua de suas condies de vida.
A questo normativa sobre os direitos humanos morais
se eles deveriam ou no constar dos direitos humanos positivos
(societrios ou jurdicos). Poucos duvidariam de que a resposta
a essa pergunta deveria ser positiva, mas a questo : por qu?
A resposta mais bvia seria o sofrimento causado pela falta
de meios de subsistncia: fome, doenas e morte. Numa escala
de valores utilitria, dor e sofrimento so os grandes males. Por
essa razo, a forma mais evidente de fazer o que certo consiste
em eliminar as formas extremas de sofrimento humano. O alvio
do sofrimento extremo, em si mesmo, um impulso cuja
j usti fi cati va uma i ntui o central no apenas da ti ca
utilitarista, mas de qualquer sistema plausvel de pensamento
moral.
8
A verso do conseqencialismo chamada de utilitarismo
negativo, que poderia, com mais acerto, ser denominada de
humanitarismo, confere prioridade moral ao alvio da dor, do
sofrimento e da aflio.
Tal vez sej a i gual mente bvi o que a subsi stnci a
necessria sobrevivncia e, sem sobreviver, no seria possvel
desempenhar atividade alguma, nem passar por experincias
consideradas como moralmente desejveis. A subsistncia uma
precondio material ou um pr-requisito causal, no apenas da
felicidade, mas de tudo que valorizado pelos seres humanos.
Uma dessas precondies necessrias a agncia. Desse ponto
8
Adam Smith, em sua Teoria dos Sentimentos Morais VI. ii. 3.I, afirma: no
podemos conceber a idia de um ser inocente e sensvel cuja felicidade no
deveramos desejar, ou cujo sofrimento, quando trazido de forma distinta
imaginao, no despertaria em ns algum grau de averso. A caracterstica
distintiva do utilitarismo como uma teoria tica que ele transforma a produo
de prazer e de dor em seu nico critrio moral.
100
de vista, preciso que os agentes estejam vivos e em condies
de pensar racionalmente, e de exercer escolhas a fim de exercer
sua natureza de agentes.
9
Boa parte do discurso dos direitos humanos, com razo,
centra-se na idia da agncia moral, da agncia particularmente
moral: o modelo enobrecedor de uma vida genuinamente humana
como uma vida de deliberao, escolha moral e de oportunidade
de agir de acordo com essas escolhas. Muitas vezes, isso
considerado como constituindo um aspecto nico e distintamente
valioso da existncia humana genuna, na qual se funda o prprio
conceito de direitos humanos. Diz-se que essa fundamentao
explica o porqu de a vida humana possuir tanto valor intrnseco,
e de ser marcantemente distinta da de qualquer outro ser que
possua dignidade inerente. Essa opinio, que de aplicao bvia
aos direitos liberdade e participao democrtica, aplicada
s necessidades da vida, atravs do argumento de que esses
direitos so importantes fundamentalmente como pr-requisitos
para o exerccio da agncia moral.
10
Esse enfoque da precondio causal transforma o
sofrimento inerente pobreza num fator circunstancial da
pobreza como um mal, em algo derivado (uma possibilidade
que nem sempre se real i za) da ausnci a dos fatores da
capacidade de agncia. Essa abordagem radicalmente diferente
9
Esse enfoque neokantiano exemplificado no trabalho de GEWIRTH (1982):
em virtude de serem agentes atuais ou prospectivos dotados de determinadas
necessidades de agncia, as pessoas tm direitos morais liberdade e ao bem-
estar. Como todos os seres humanos so agentes, os direitos genricos liberdade
e ao bem-estar so direitos humanos... bvio que a fome um prejuzo bsico,
uma depravao do bem-estar bsico.
10
O artigo 22 da Declarao Universal dos Direitos Humanos, da ONU, reza:
Todo o homem, como membro da sociedade, tem direito segurana social e
realizao, pelo esforo nacional, pela cooperao internacional e de acordo
com a organizao e recursos de cada Estado, dos direitos econmicos, sociais
e culturais indispensveis sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua
personalidade.
101
de embasar o direito ao sustento na mera sordidez implicada
numa vida de privaes. Quando a nfase colocada no aspecto
da precondi o causal , nossa ateno desvi a-se do fato
independente de a pobreza provocar experincias terrveis e da
urgente necessidade moral de alivi-la.
Embora essas duas anlises (o sofrimento em si e a
capacidade de agncia) paream se reforar mutuamente, sem
competir uma com a outra, elas, na verdade, so radicalmente
diferentes em termos de seu contedo e de suas implicaes.
No t ocant e ao cont edo, a pri mei ra anl i se t rat a da
i ndesej abi l i dade i ntr nseca da pobreza como for ma de
sofrimento, enquanto a segunda trata das conseqncias
causais da agncia humana. Em termos de suas implicaes, a
adoo da abordagem da pobreza como um mal coloca a
questo de quem ou deveria ser responsvel por atender s
necessidades de subsistncia. Por outro lado, se o valor da
agncia for colocado no cerne dos direitos humanos, haver
um inevitvel impacto, no apenas sobre a questo de por que
a pobreza errada, mas tambm na questo de quem
responsvel por sua erradicao.
inevitvel, portanto, que o foco na agncia moral levante
questes sobre a responsabilidade daqueles que vivem em pobreza
sobre sua prpria condio. Se algum, pelo menos em parte,
responsvel por seu prprio empobrecimento, como a adoo da
viso da agncia moral leva a indagar, o mero fato de haver
privaes no justificativa suficiente para o direito ao alvio
dessas privaes. Desse modo, o impacto do impulso humanitrio
enfraquecido por razes morais aparentemente slidas.
Alm disso, a anlise dos direitos humanos que parte do
princpio da agncia moral tende a nos resguardar das implicaes
morais mais imediatas levantadas pelos fatos do sofrimento
humano, uma vez que ela aponta na direo da avaliao da
responsabilidade moral pela causao da pobreza, o que pode
levar at mesmo afirmao de que o dever de aliviar o
102
sofrimento depende de o agente em questo ser ou no a causa
culpvel desse sofrimento.
Sem negar que existam deveres especiais decorrentes da
causao culpvel do sofrimento e de outros males relacionados
a ele (deveres que, conceitualmente, se enquadram na categoria
justia, discurso esse no qual os mritos relativos melhor se
enquadram
11
), importante enfatizar que existem outras
fundamentaes, independentes do mrito, para os deveres de
aliviar a pobreza; fundamentaes essas que se derivam da
humanidade, e no da justia. Esses deveres no so especiais,
mas, sim, aparentemente gerais, uma vez que eles se fundam
na relao moral entre o sofrimento como um mal e a obrigao
de al i vi -l o, rel ao essa que no apresent a grande
complexidade.
A escolha entre embasar o direito subsistncia no fato
do sofrimento ou na promoo da autonomia moral, portanto,
t em profundas i mpl i caes prt i cas. O pri nc pi o da
benevolncia, ou humanidade (no sentido de humanitarismo)
baseia-se na adequao da reao primria de ajudar outro ser
humano, ao assistir ou imaginar o sofrimento dessa pessoa,
i ndependentemente de quem el a sej a, ou de como esse
sofrimento veio a acontecer. A justia encara essa questo de
um prisma mais complexo, levantando sempre a questo de se
tal sofrimento merecido ou de alguma forma foi provocado
por sua vtima, considerando que o mal maior o sofrimento
imerecido, e a pessoa responsvel por sua ocorrncia, caso haja.
O mnimo que pode ser dito que tanto a humanidade
quanto a justia so igualmente relevantes para a erradicao
da pobreza e, talvez, que o ponto de vista da humanidade com
relao ao sofrimento extremo deva ter uma certa precedncia
sobre a justia. Essa prioridade assume importncia quando
11
Ver CAMPBELL (2001).
103
se trata das justificativas apresentadas pelas pessoas para
eximir-se de suas obrigaes de fazer algo para remediar a
situao, como, por exemplo, as justificativas baseadas na
alegao de supostas falhas morais das vtimas de privaes
extremas, ou nos direitos de propriedade daqueles que se
encontram em condies de aliviar esse sofrimento.
12
importante, portanto, que, no exame da idia de que a
pobreza possa ser uma violao dos direitos humanos, ns
aceitemos que, pelo menos em algumas esferas, a humanidade
tenha precedncia sobre a justia e que, ao contrrio de Rawles,
ns no afirmemos que a justia seja, por definio, o fato
preponderante na distribuio de benefcios e encargos.
13
Se a
pobreza uma violao dos direitos humanos, isso se deve
gravidade das necessidades provocadas pela existncia do
sofrimento, independentemente das caractersticas especiais
ou dos mri tos das pessoas envol vi das. A pobreza a
fundamentao de uma reivindicao universal e incondicional,
que tem como base as relaes morais entre os que sofrem e
os que podem fazer algo para aliviar esse sofrimento.
Pode-se dizer que seja por demais precipitada essa
passagem entre afirmar que a pobreza um mal e imputar a
obrigao de aliviar essa pobreza queles que se encontram
em condies de faz-lo. Seria possvel simplesmente perguntar
se a fome e as privaes so situaes moralmente desejveis
ou indesejveis, se essas condies, em ltima anlise, tm
valor intrnseco positivo ou negativo. Supondo que cheguemos
concluso de que essa situao seja um mal, e no um bem
(concluso essa que no inevitvel, se privilegiarmos o valor
moral sobre a felicidade humana), poderamos ento passar
12
Ver CAMPBELL (1974).
13
Essa afirmativa tantas vezes repetida simplesmente estipulada nas primeiras
pginas de Uma Teoria da Justia (1972).
104
afirmativa de que moralmente correto proporcionar alvio
pobreza e moralmente incorreto agir de forma a provoc-la.
Mas no se segue da que essas valoraes morais envolvam a
imputao de obrigaes no sentido de fazer o que certo e
evitar o que errado. A desejabilidade moral no acarreta
responsabilidade moral.
Quando levantamos essas questes em termos de direitos,
contudo, estamos trabalhando em direo a concluses relativas
s obrigaes societrias e morais que deveriam impor restries
numa sociedade, seja ela comunitria ou global. E, quando se
trata de obrigaes, fazer o que certo e evitar o que errado
dei xam de ser comportamentos opci onai s, tornando-se
moral mente ou j uri di camente obri gatri os. Os di rei tos
representam a face inflexvel da moralidade. Isso significa que,
para estabelecer que algum seja possuidor de um direito,
preciso estabelecer tambm que algum mais tenha uma
obrigao, que se constitui num dever mandatrio, tanto no caso
de um direito positivo (de conferir algum benefcio ao detentor
do direito), quanto no de um direito negativo (de abster-se de
prejudicar o detentor do direito).
14
Segue-se da que o direito subsistncia no seja postulado
apenas pela meno indesejabilidade moral da condio de
pobreza. Tem que ser demonstrado tambm que pelo menos
algumas outras pessoas tm a obrigao de aliviar aquela
pobreza, o que pode ser contestado. Argumenta-se, s vezes,
que a existncia de um direito seja a base para a imputao de
uma obrigao correlata, de maneira que os direitos tenham um
14
Em termos estritos, isso no se aplica a todos os direitos. dito que os direitos de
pura liberdade, de Hohfeld, implicam que o detentor do direito no esteja errado
ao fazer o que dito que ele tem direito a fazer. Isso significa que outras pessoas
no tm o dever de permitir a ele fazer o que ele tem direito a fazer. Suponho que
esse direito de pura liberdade seja irrelevante neste contexto, uma vez que o direito
de pura liberdade de ser pobre no beneficia a pessoa que pobre.
105
embasamento independente. Segundo esse ponto de vista, as
pessoas podem possuir direitos a algo, mesmo que ningum mais
tenha uma obrigao que os permita ou capacite a obter esse
algo. De fato, os direitos podem ser considerados como a
fundamentao para a afirmativa de que outros tm a obrigao
correlata. Desse ponto de vista, os direitos so logicamente
anteriores s obrigaes.
Essa opinio tem sua razo de ser. As razes pelas quais
imputamos obrigaes se sobrepem s razes pelas quais
conferimos direitos. No caso da pobreza, os sofrimentos em
questo aparecem tanto nas razes de os pobres possurem o
direito quanto nas razes para os ricos terem a obrigao. No
entanto, no se trata de estabelecermos primeiramente que algum
tenha um direito, para ento procurar por algum a quem a
obrigao deva ser imputada, na certeza de que essa pessoa deva
existir. possvel que o direito putativo no seja realmente um
direito, pelo fato de simplesmente no haver uma outra pessoa a
quem a obrigao correlata possa ser imputada. No caso da
pobreza, isso talvez seja pouco provvel, mas, mesmo aqui, em
algumas situaes nas quais todos so pobres, a ausncia de
obrigaes significa que, de partida, no haja direito.
Esse no um ponto suprfluo, uma vez que ele chama a
ateno para o fato de que a imputao de uma obrigao algo
mais complexo que o simples estabelecer que uma outra pessoa
(o detentor do direito putativo) seria beneficiada por alguma
ao ou omisso do detentor do direito putativo. Se pretendemos
determinar quem tem o dever moral obrigatrio de agir segundo
as exigncias desse direito, necessrio mais do que a simples
reafirmao da importncia dos interesses a serem protegidos
por esse direito.
Somos t ent ados a argument ar que essa exi gnci a
adicional consista em algum tipo de relao especial existente
entre o detentor do direito putativo e o detentor da obrigao
putativa. Algum est sofrendo. Concordamos que seria bom
106
se isso no acontecesse. Mas quem tem a obrigao correlata?
A obrigao de fazer algo talvez recaia na pessoa que causou
aquele sofrimento (o modelo do delito civil), na pessoa que
prometeu ajudar (o modelo do contrato), nos parentes da
pessoa (o modelo familiar), em seus amigos (o modelo do
companheirismo), na comunidade onde ela vive (o modelo
comunitrio), no grupo ao qual ela pertence (o modelo da
i denti dade), no Estado do qual el a ci dad (o model o
poltico) e nas empresas, principalmente as que possuem
interesses econmicos na unidade territorial em questo (o
modelo das partes interessadas), ou qualquer que seja essa
relao especial.
No entanto, a abordagem das relaes especiais no se casa
bem com os direitos humanos. Pode-se afirmar que os direitos
humanos sejam no apenas direitos de todos, mas tambm
obrigaes de todos.
15
O Prembulo da Declarao Universal dos
Direitos Humanos proclama esta Declarao Universal dos
Direitos do Homem como o ideal comum a ser atingido por todos
os povos e todas as naes, com o objetivo de que cada indivduo
e cada rgo da sociedade, tendo sempre em mente esta
Declarao, se esforce, atravs do ensino e da educao, por
promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoo
de medidas progressivas de carter nacional e internacional, por
assegurar o seu reconhecimento e a sua observncia universais e
efetivos, tanto entre os povos dos prprios Estados Membros,
quanto entre os povos dos territrios sob sua jurisdio.
Observando que, quer se trate de Estados ou de indivduos,
a Carta Internacional dos Direitos parece reconhecer as obrigaes
particulares que as pessoas e os povos tm para com aqueles que
15
Ver em LUBAN (1985): Um direito humano, ento, ser um direito cujos
beneficirios sejam todos os seres humanos, e cujas partes obrigadas sejam todos
os seres humanos em condies de pr em efeito aquele direito.
107
so membros de sua prpria comunidade ou Estado. A maneira
mais fcil de entender de que forma a universalidade dos direitos
humanos se estenderia com relao s obrigaes correlatas
mediar esse princpio atravs das instituies coletivas que tm
como base alguma forma de proximidade. No entanto, necessrio
aqui distinguir as obrigaes positivas das negativas. Cada
indivduo e cada rgo da sociedade tm a obrigao de no
prejudicar os outros de maneiras especificadas na listagem dos
direitos humanos. Com respeito s obrigaes positivas, quer elas
pretendam evitar que outras pessoas venham a violar esses direitos
ou fazer algo de positivo com respeito a criar as condies
desejveis identificadas no direito (como o direito vida e sade),
elas cabero principalmente aos Estados e, aos indivduos, apenas
na condio de cidados desse Estado, em seu papel de eleitores
ou de partidrios leais desse Estado, na medida em que ele cumpra
esses direitos positivos.
Mas o que significa cada rgo da sociedade? Essas
entidades seriam equivalentes aos indivduos, onerados apenas
com as obrigaes negativas de no cometer violaes contra
os direitos de outros indivduos, ou seriam elas, de forma
mais semelhante ao Estado, partes com obrigaes especiais,
tanto positivas quanto negativas, em relao a seu pas? E se
esses rgos da sociedade existem em muitas sociedades
diferentes, suas obrigaes transcenderiam as fronteiras de
uma sociedade especfica, como se diz agora que acontece
com as obrigaes dos Estados com respeito interveno
em outras sociedades onde esteja havendo violao dos
direitos humanos?
So essas as questes que i rei exami nar a segui r,
sugerindo que os princpios da humanidade tendem a uma
concluso mais ampla quanto localizao espacial desses
direitos humanos positivos relacionados pobreza, havendo
conexo direta entre os sofrimentos impostos pela pobreza
e a obrigao de participar de sua eliminao.
108
Ao tratar dos argumentos favorvei s a uma mai or
participao dos rgos da sociedade, concentrar-me-ei
principalmente nas organizaes empresariais, apresentando
algumas consideraes para embasar minha afirmativa de que
elas devem ter obrigaes morais com relao aos direitos
humanos, algumas delas passveis de serem aplicadas por fora
de lei, que so anlogas s obrigaes dos prprios Estados.
Ao mesmo tempo, eu gostaria de observar que o direito com
relao ao qual as empresas tm essas obrigaes pode no
consistir no prolongamento dos mesmos direitos formulados
numa poca em que os est ados, e no as empresas,
representavam as principais ameaas e continham as maiores
promessas com relao ao bem-estar dos cidados do mundo.
O que sugi ro que os di rei t os de subsi st nci a
fundamentam-se, basicamente, na obrigao humanitria
universal de participar no alvio do sofrimento extremo. A
universalidade dessa obrigao relativa capacidade da
pessoa ou do coletivo de contribuir para a reduo da extrema
pobreza. O dever de aliviar a pobreza do mundo recai sobre
todos, na proporo de sua capacidade de faz-lo e, alm do
mai s, aument ado por qual quer papel que cada um,
porventura, desempenhe na existncia dessa pobreza.
Do ponto de vista humanitrio, a capacidade o fator
mais importante, talvez at mesmo o nico fator relevante na
determinao das responsabilidades. Deve, aqui, significa
pode. No h obrigao sem capacidade. E, nesse contexto,
poder implica dever. A capacidade no meramente uma
precondio da obrigao, ela a prpria condio. O nico
bom nadador que se encontre nas proximidades de uma criana
que esteja se afogando tem a obrigao de salvar essa criana
apenas se partirmos do pressuposto que todos os que tenham
capacidade de faz-lo deveriam faz-lo. Nesse caso, se a
situao tal que haja diversas pessoas capazes de salvar a
criana, a capacidade, ento, deixar de ser o nico fator a
109
pesar na deciso quanto a quem deveria mergulhar e conduzir
o socorro. Essa, sem dvida, a situao no que concerne
pobreza. Estados ricos, empresas muitas vezes ainda mais ricas
e inmeros empreendimentos cooperativos, formados pela
associao de pessoas que no so necessariamente ricas,
poderiam fornecer esse socorro. Alm do mais, as operaes
de socorro aos pobres e famintos no consistem no socorro de
tipo ou tudo ou nada, ilustrado no caso da criana que se
afoga. Trata-se mais de uma questo de o quanto deveriam
contribuir os diferentes agentes morais, e no se eles deveriam
contribuir ou no. Quanto a esse tpico, poder-se-ia adotar o
princpio de que a assistncia deveria ser pro rata, de acordo
com os meios existentes.
Poder-se-i a di zer que essa proporci onal i dade das
obrigaes introduz, de imediato, uma longa srie de fatores
morais aparentemente relevantes, como, por exemplo, quais
outras obrigaes que impliquem esgotamento de recursos j
so incumbncia desses agentes morais, e se os recursos
possudos por eles so merecidos ou imerecidos. O critrio da
capacidade de ajudar pode ser qualificado referindo-o a
quaisquer relaes especiais que as pessoas ou as coletividades
possam ter por outras razes que no sua capacidade de prestar
auxlio, tais como a fonte ou as causas da desigualdade e seus
mri tos rel ativos, as rel aes espec fi cas de parentesco,
proximidade e nacionalidade, e estas devem ser qualificadas
ainda pelos outros deveres que cabem queles cujo dever de
ajudar os pobres est em questo.
Isso significaria que nos vemos de volta questo da
justia distributiva que tentamos superar, ao afirmar que todos
so responsveis por tomar alguma iniciativa de combate
pobreza? Em certa medida tem que ser assim, mesmo que pela
nica razo de que a obrigao universal de ajudar a erradicar
a pobreza esteja sujeita ressalva de que os indivduos no
so obrigados a fazer mais do que a parcela que lhes caberia,
110
caso todos os demais cumprissem suas obrigaes na estrutura
geral de alvio da pobreza. No entanto, possvel conferir
prioridade humanidade em relao ao sofrimento extremo,
convertendo-a na considerao preponderante neste contexto.
E como ficam as organizaes? No resta dvida de que,
neste particular, tende-se muito a empurrar a responsabilidade
para outros. Os indivduos e os grupos argumentam que a
distribuio funo do Estado. Os Estados afirmam que seus
deveres se restringem a suas fronteiras e que, alm do mais,
esses deveres so limitados pela vontade democrtica que,
certa ou errada, no favorece uma redistribuio ampla nem
ao menos dentro, quanto mais fora das fronteiras do pas.
certo que os pases ricos contribuem com apenas uma quantia
minscula de seus produtos nacionais brutos para a ajuda
humanitria direta e para os fundos de desenvolvimento isentos
de condies e, ao mesmo tempo, se beneficiam enormemente
do regime de comrcio global.
As pessoas costumam ver o alvio pobreza como
incumbncia daqueles que possuem meios financeiros muitos
superiores aos delas prprias e, apesar do enorme esforo das
entidades beneficentes de todo o mundo, como a Oxfam e a
Action Aid, as doaes para fins humanitrios constituem uma
parte muito pequena daquilo que seria necessrio para causar
impacto real. E essas doaes so apenas isso, doaes:
presentes oferecidos por generosidade, e no pagamentos
devidos por uma questo de obrigatoriedade.
Nessas circunstncias (a no-contribuio dos Estados,
a ausncia de uma governana global efetiva e a insuficincia
das doaes privadas), natural que lancemos o olhar aos
grandes conglomerados empresariais do mundo: essas empresas
multinacionais, cuja receita maior que a da maioria dos
Estados. Obviamente, essas empresas tm a capacidade de
exercer um impacto de peso real. Elas possuem os recursos, a
estrutura de comando, os meios de acesso aos pases em
111
desenvolvimento, muitas vezes influncia sobre o governo
desses pases, que desejam que essas empresas l instalem
partes de suas atividades, e elas no so limitadas pela tacanhez
das maiorias democrticas.
At um certo ponto, essas empresas hoj e acei tam
argumentos dessa natureza, pelo menos no que diz respeito quilo
que chamado de responsabilidade social das pessoas jurdicas,
segundo a qual as empresas deveriam agir como bons cidados.
No apenas elas deveriam se submeter s leis do Estado no qual
elas operam, mas elas, alm disso, deveriam tomar todos os
cuidados para no prejudicar os outros de maneiras moralmente
inaceitveis; no deveriam causar danos ao meio ambiente nem
vender produtos noci vos, devendo tambm tratar seus
empregados, clientes e fornecedores de maneira justa.
16
Em grande parte graas aos esforos das ONGs, muitas
grandes empresas que dependem de uma boa imagem para
manter e ampliar sua participao no mercado esto tomando
providncias no sentido da eliminao gradual do trabalho infantil,
do pagamento de salrios decentes e de evitar prticas de
corrupo. As grandes empresas extrativistas agora do alguma
ateno s conseqncias ambientais de suas operaes e
contribuem, numa certa medida, com as comunidades onde elas
operam, em termos do fornecimento de servios sociais e
educacionais. E algumas delas pressionam os governos opressores
e corruptos, no sentido de mudar sua maneira de atuar.
Por que no, ento, ampliar os deveres negativos das grandes
empresas, que deixariam de tratar apenas de salrios justos e
condies de trabalho aceitveis, passando a ter participao direta
e positiva na adoo de uma distribuio mais humana dos
recursos do mundo? Esse seria um corolrio bvio do enfoque
que v a pobreza como uma violao dos direitos humanos.
16
Ver DONALDSON (1989).
112
No entanto, as grandes empresas, por mais ricas que sejam,
observam que as decises sobre a destinao de seus recursos
no cabem apenas a elas, e afirmam que sua incumbncia gerar,
e no distribuir riquezas; tarefa essa para a qual elas no estariam
equipadas e pela qual elas no so responsveis. Sim, elas
deveriam ser boas cidads, cumprir a lei, no prejudicar os outros
de maneira desleal, mas elas no possuem nem os recursos
administrativos nem o poder jurisdicional para gerir programas
de distribuio de riquezas ou formular e implementar planos
de desenvolvimento.
Na prxima seo deste artigo, afirmo que as grandes
empresas perdero terreno nessa discusso, caso elas optem por
vetar todos os planos de conferir a elas obrigaes positivas de
combate pobreza. No h fundamentao a priori para que elas
se eximam do imperativo humanitrio. Elas no podem se basear
em direitos de propriedade (o dinheiro nosso) ou em outros
direitos naturais, tais como de liberdade, liberdade de contrato
ou liberdade de comrcio. Tampouco elas podem usar argumentos
definitrios (as empresas visam o lucro), ou apelar pretensa
ilegalidade de as empresas se lanarem em tais empreitadas (uma
vez que isso pode vir a ser alterado).
Por outro lado, uma vez iniciada a discusso, seja em
termos de di rei tos humanos, de uti l i tari smo ou de
consideraes de natureza prtica, no est totalmente claro
que haja argumentos convincentes a favor de conferir s grandes
empresas em geral a responsabilidade de corrigir a pobreza
global.
17
Mas isso no o bastante para isentar essas grandes
empresas das obrigaes advindas de sua significativa capacidade
de aliviar a aflio da extrema pobreza, tanto de forma imediata,
atravs da ajuda direta, quanto a longo prazo, atravs de
desenvolvimento seletivo e projetos empresariais.
17
Para uma tentativa vigorosa, ver BROCK (1998).
113
II.
Ao tratar da extenso das responsabilidades das grandes
empresas em geral e da extrema pobreza em particular, temos
que, antes de tudo, nos confrontar com uma srie de estratgias
de recusa empregadas pelas grandes empresas: argumentos
aparentemente indiscutveis, que as eximem de quaisquer
responsabilidades pelos direitos humanos, e chegam mesmo a
isent-las das obrigaes que cabem s pessoas fsicas. O primeiro
argumento a priori (o argumento estatista) o de que quaisquer
deveres especiais relacionados proteo e ampliao dos
direitos humanos so de responsabilidade dos Estados. O segundo
argumento (o argumento negcios so negcios) que os deveres
das grandes empresas se limitam a objetivos empresariais,
particularmente ao lucro, excluindo assim como ilegtimos todos
os objetivos externos. O terceiro argumento (no podemos dar
o que no nos pertence) que a riqueza das grandes empresas,
diferentemente da riqueza dos indivduos, pertence aos acionistas
dessas empresas, dos quais alguns so ricos e alguns so pobres.
O quarto argumento a priori (o veto libertrio) que roubo tirar
aquilo que pertence a outra pessoa que legitimamente adquiriu
esses bens em resultado de seu trabalho ou de transferncias
voluntrias da parte de outros.
Em termos mais gerais, usado o argumento de que
apenas as organizaes de direitos humanos e os governos
possuem objetivos de direitos humanos. O que organizaes de
outro tipo podem ter so limitaes quanto aos direitos humanos.
As organizaes tm seus prprios objetivos, que elas devem
desempenhar dentro dos limites estabelecidos por lei, em
particular a legislao de direitos humanos. Desse modo, as
organizaes empresariais existem para gerar lucros, embora,
nesse processo, no devam se permitir assassinatos, tortura,
escravizao ou genocdio. Essas limitaes sua busca de lucros
no significam que elas possuam objetivos de direitos humanos.
114
Neste artigo, concentrar-me-ei no argumento estatista, de
que a proteo aos direitos humanos incumbncia do Estado,
mas algumas palavras so necessrias com relao a outras
tentativas de eximir de obrigaes as grandes empresas, com
relao proteo e ampliao dos direitos humanos. O
argumento negcios so negcios geralmente toma a forma
da tese Friedman, de que o nico objetivo das empresas gerar
lucros.
18
Salvo se tomada como uma definio estipulativa e
crua do conceito de atividade empresarial, essa afirmativa
confunde os deveres cotidianos das empresas com a justificativa
do sistema econmico em questo, no caso, o capitalismo de
mercado. Em qualquer economia poltica que oferea um
arrazoado normativo da atividade produtiva, o lucro no consiste
no objetivo das empresas, mas apenas num meio para a criao
dessa riqueza, definida como as coisas materiais valorizadas pelos
seres humanos para seu sustento e seu prazer. Gerar lucros a
precondio normal do funcionamento de um empreendimento
produtivo num sistema capitalista, e a busca do lucro um
objetivo correto e saudvel dentro desse sistema.
No entanto, no h fundamento em afirmar que esse
objetivo no possa ser complementado e restringido por outros
objetivos legitimados ou pelo mesmo objetivo de criao de
riqueza ou por outras consideraes de relevncia moral, tais
como a humanidade ou a justia social. Tudo o que se pode
afirmar que qualquer poltica que ignore o papel legtimo do
lucro pode vir a prejudicar o funcionamento eficiente do
capitalismo de mercado, tal como definido pela finalidade ltima
da maximizao da riqueza. Isso significa que desviar as
empresas para outros objetivos pode trazer conseqncias que
precisam ser levadas em conta. No se trata de um veto, mas
sim de uma limitao prudente responsabilidade das grandes
empresas quanto ao objetivo dos direitos humanos.
18
Ver FRIEDMAN (1970).
115
O argumento no podemos dar o que no nos pertence
vlido em contraposio ao ponto de vista de que as grandes
empresas so proprietrias de seus recursos da mesma forma
que os indivduos o so dos deles, e que atribui aos seus
Conselhos Diretores as mesmas prerrogativas sobre os bens
da empresa que os indivduos tm sobre suas propriedades.
O mais correto, ao contrrio, seria dizer que as empresas de
fundo acionrio so de propriedade de seus acionistas, ou
seja, daqueles que investiram na associao em questo, a
pedido dessa mesma associao, para fins da operao de
atividades econmicas lucrativas. As empresas de fundo
acionrio no podem ser vistas como ricas, na mesma acepo
dada a esse termo quando aplicado a indivduos. E certamente
verdade que muitos dos acionistas dessas empresas no so
individualmente ricos, de maneira que, se a participao
dessas empresas em empreendimentos de direitos humanos
redundar em prejuzo financeiro, haver uma reduo do
n vel dos pagament os de di vi dendos, si gni f i cando
dificuldades para esses acionistas. No entanto, em razo
dos privilgios jurdicos conferidos s empresas de fundo
aci onri o em questes de responsabi l i dade l i mi tada, e
tambm dos obj eti vos soci ai s mai s ampl os usados para
justificar o sistema econmico, as regulamentaes externas
no podem, sem exame por menori zado, ser decl aradas
ilegtimas. Alm do mais, se os acionistas forem previamente
notificados da participao da empresa em atividades sem
fins lucrativos, eles podero exercer seu arbtrio e se retirar
do fundo acionrio em questo.
Da mesma forma, o veto l i bertri o, que ressal ta a
importncia moral da liberdade e do consentimento, pode
ser convincente, na medida em que incorpora uma verso
da teoria trabalhista do valor, bem como o compromisso
com o valor da livre escolha individual, ambos ingredientes
cruciais de um sistema econmico justificado. No entanto,
116
como deixam claro as extensas crticas ao trabalho de Robert
Nozick,
19
esse argumento tambm no consegue excluir outras
consideraes moralmente relevantes da avaliao da posio
normativa de um sistema poltico e econmico.
Voltando ento ao argumento estatista, devemos observar
que ele tem razes na histria dos direitos humanos e da tradio
dos direitos naturais em geral, na qual o papel dos direitos
humanos o de estabelecer objetivos e limites ao poder do
Estado. A Carta Internacional dos Direitos moderna, que tem
como base a ONU, , primordialmente, um pacto entre os
Estados e os povos, no sentido de respeitar, proteger e promover
os direitos de seus cidados, embora todos os rgos da
sociedade sejam conclamados a participar, apoiando seus
Estados no cumprimento dessas obrigaes de direitos humanos.
Isso se enquadra na histria dos direitos humanos, que enfoca,
principalmente, os direitos concedidos pelos Estados, listando
o que estes no devem fazer a seus cidados, e que papis
positivos eles devem desempenhar a fim de preservar sua
legitimidade poltica.
A postura estatista quanto aos direitos humanos pode
ser observada no surgimento dos exames judiciais, meio esse
largamente empregado na proteo aos direitos humanos. Se os
Estados so a principal ameaa aos direitos humanos, faz sentido,
ento, conferir aos tribunais o poder no apenas de acompanhar
a atuao dos governos, para que el a se d dentro das
formalidades do estado de direito, mas tambm de impedir que
esses governos promulguem leis que consistam numa violao
dos direitos humanos.
Embora esse modelo possa parecer inteiramente correto no
caso dos direitos civis e polticos, o Estado continua a ocupar um
lugar central nas modernas concepes dos direitos sociais e
19
Ver PAUL (1982).
117
econmicos, uma vez que, com seu poder de tributao, sua
capacidade administrativa para a redistribuio, o fornecimento
dos bens pblicos e servios universais e, ao que se espera, sua
legitimidade democrtica, eles possuem a autoridade, a capacidade
burocrtica e os recursos financeiros para proteger e promover
esses direitos.
bvio que todos os cidados esto obrigados a no violar
determinados interesses importantes identificados por direitos
humanos especficos, evitando atos, tais como matar, roubar e privar
outros de liberdade, mas o Estado tem o especial dever de proteger
os cidados uns dos outros atravs de legislao, de procedimentos
administrativos e de polticas apropriadas. Faz parte das obrigaes
de direitos humanos dos Estados cuidar para que seu prprio aparato
no transgrida os direitos humanos e atuar, sempre que necessrio,
no sentido de assegurar esses direitos a todos os que vivam dentro
de sua jurisdio.
Tudo isso compatvel com a idia de que as grandes
empresas, tanto quanto qualquer cidado, possuem obrigaes
de direitos humanos: elas no devem matar, roubar, ou privar
outros de liberdade. E tambm, como qualquer pessoa fsica, elas
tm o dever de compensar as transgresses dos direitos humanos
cometidas por elas. Ningum duvida de que as empresas
multinacionais no devam tomar parte nas violaes de direitos
humanos perpetradas pelos governos dos pases nos quais elas
operam, como, por exemplo, na intimidao ou assassinato de
empregados seus, na expulso de populaes e no emprego de
mo-de-obra infantil, mesmo que tais atos no sejam ilegais
naquele pas. E pode-se defender a idia de que elas possuem a
obrigao moral e/ou jurdica de oferecer indenizaes pelas
transgresses dos direitos humanos que elas tenham perpetrado
ou nas quais tenham consentido, como acontece com qualquer
outro agente.
Mas isso no significa que as empresas multinacionais
tenham deveres especiais de corrigir danos cometidos por
118
outros, nem de fazer algo a respeito da pobreza cujo surgimento
eles no tenham provocado atravs de meios ilcitos. Isso no
cabe a elas, como no cabe a ningum mais, exceto ao Estado.
o que diz o argumento estatista.
Esse cenrio no tanto um argumento a favor do
estatismo quanto uma afirmao de sua realidade histrica. Os
direitos humanos foram criados e desenvolvidos com base na
suposio de eles serem atribuio do Estado. Mas o mundo
vem mudando em muitos aspectos, o que talvez venha a tornar
aconselhvel ampliar a outras organizaes as responsabilidades
pelos direitos humanos que hoje cabem aos estados. O simples
fato da existncia das empresas multinacionais, que comandam
vastas riquezas e imensas foras produtivas, com atividades em
muitos pases, quando visto no contexto de uma economia global
na qual a liberdade de ao de muitos Estados se v reduzida,
abre espao para uma mudana no enfoque dos direitos humanos,
que abranja meios alternativos de assegurar os interesses
identificados com esses direitos. Os estados j no so mais
nem a nica ameaa aos direitos humanos nem o nico recurso
para sua proteo. Isso vale, sobretudo, se levarmos a srio a
importncia dos direitos econmicos e sociais. O poder, tanto
benfico quanto malfico, das empresas multinacionais hoje
equivalente ou superior ao de muitos estados. Elas trazem
consi go benef ci os econmi cos que so uni versal mente
desejados, mas que, muitas vezes, implicam efeitos colaterais
danosos, que os estados no tm a capacidade de impedir. Numa
economia global baseada nos princpios do mercado, os estados
no tm a capacidade de proteger seus cidados contra os regimes
de comrcio internacional desfavorveis a eles, contra a
degradao do mei o ambi ente, nem contra as pol ti cas
empresariais das empresas multinacionais. H aqui um vcuo
de poder que tem que ser preenchido.
Embora esse quadro talvez seja exagerado, ele tem fora
suficiente para nos levar ao exame da possibilidade de transferir
119
pelo menos algumas das obrigaes de direitos humanos dos
estados para organizaes de outros tipos, particularmente dos
direitos econmicos e sociais para as multinacionais, cujo papel
o desempenho eficiente das atividades produtivas. Pode-se
argumentar que os estados, historicamente, nunca foram outra
coisa seno um mecanismo importante de proteo e de promoo
dos interesses humanos bsicos. Agora, o cetro, ou pelo menos
parte dele, est passando a outras mos.
No tocante ao al vi o da pobreza, as empresas
mul ti naci onai s tm mui to a seu favor. El as possuem e
administram os recursos necessrios para gerar atividades
produtivas, tm o poder de comando e de controle para empregar
grande nmero de pessoas de forma organizada e eficiente. Elas,
direta ou indiretamente, tm acesso aos pases onde grassa a
pobreza e contam com peso econmico que pode ser usado para
influenciar os pases onde regimes opressivos e incompetentes
perpetuam a pobreza de seus cidados.
Da mesma forma, elas tm muito contra elas, no que se refere
ao efeito de suas atividades sobre as condies de vida das
populaes mais pobres do planeta. Seus empreendimentos, muitas
vezes, desalojam economias anteriormente viveis, que davam
sustento a pessoas que no possuem as qualificaes para serem
absorvidas pelas novas indstrias. Elas provocam danos ao meio
ambiente que sustenta outras formas de vida e incentivam polticas
econmicas que exacerbam as desigualdades existentes.
Esses benefcios e esses danos podem ser vistos como um
eco do desempenho ambivalente que antes caracterizava os
estados, dando-nos, assim, mais uma razo para considerar que
correta a viso de que as empresas multinacionais so
organizaes que necessitam de padres de direitos humanos
para orientar e controlar sua atuao. O fato de no ter
aconteci do assi m ao l ongo da hi stri a no val e como
argumento contra o exame dessa possibilidade. possvel que
as empresas multinacionais representem a exata combinao de
120
ameaa e promessa, em rel ao ao bem-estar humano,
pri nci pal mente o bem-estar econmi co, que i nspi rou a
concepo da idia dos direitos humanos.
Mais que uma mudana, isso representaria uma ampliao
do foco, uma vez que no se pretende que as multinacionais
simplesmente assumam as responsabilidades dos governos com
relao aos direitos humanos. Elas no possuem determinados
poderes, como o de tributao (do qual elas no necessitam) e
de l egi sl ao (que, de qual quer modo, el as conseguem
influenciar), nem poder administrativo sobre as populaes
(embora seu controle empresarial sobre seus empregados seja
muito maior). Mas elas possuem algumas capacidades que as
colocam em posio de fazer contribuies importantes, embora
pontuais, aos papis de proteo e promoo tradicionalmente
atribudos aos estados, particularmente na esfera econmica,
incluindo as funes associadas de educao, treinamento
profissional, moradia e sade.
No est exatamente claro quais seriam essas obrigaes
relativas a direitos humanos. Uma vez que elas no possuem os
poderes jurdicos do Estado, elas no teriam condies de
simplesmente assumir as obrigaes deste. Em relao pobreza,
poderamos identificar o dever de levar em conta o alvio da
extrema pobreza, ao tomar decises relativas a investimentos,
estabelecer nveis salariais e gerar condies de emprego. Poderia
ser a acrescentado o dever de proteger as economias vulnerveis
que se encontram ameaadas por suas atividades, a promoo da
educao nos territrios nos quais elas recrutam sua fora de
trabalho e o apoio a polticas progressistas de bem-estar social
nas jurisdies nas quais elas operam.
Para que essas tarefas se constituam em genunas obrigaes
de direitos humanos, as empresas teriam que ser obrigadas a
desempenh-las por fora de leis nacionais e internacionais? Se
as obrigaes relativas causao ou ao alvio da extrema pobreza
devem ser encaradas como violaes dos direitos humanos, isso
121
significaria que o no-cumprimento dessas obrigaes deveria
acarretar danos civis, sanes econmicas e penalidades legais,
bem como intervenes e confisco?
Essas implicaes no derivam, necessariamente, do fato
de as responsabilidades relativas proteo e promoo dos
direitos humanos serem atribudas aos estados. Se assim fosse,
no haveria tanta pressa em atribuir essas obrigaes s empresas
multinacionais, mesmo que pela nica razo de elas talvez virem
a se mostrar contraproducentes com relao ao alvio da pobreza.
No entanto, afirma-se com freqncia que encarar como
meramente morais essas obrigaes discricionrias, no sentido
de que cabe a quem tem essas obrigaes decidir se ir ou no
cumpri-las, significa rebaix-las a um nvel de menor importncia.
Esse argumento, no entanto, no apenas parte do pressuposto de
que as obrigaes meramente morais nunca sejam cumpridas
em grau suficiente, mas tambm confunde a questo pragmtica
da eficcia dos meios com a importncia moral atribuda s
conseqncias de adotar um mecanismo, ao invs de outro, para
a reduo de um fenmeno social, tal como a pobreza.
As obrigaes morais que se enrazam nas expectativas
sociais, tornando-se portanto institucionalizadas na cultura nacional
ou internacional, no tm que ser apresentadas como acrscimos
opcionais e, em determinadas circunstncias, podem exercer mais
efeito sobre a conduta do que um sistema de normas baseado em
sanes que no conte com o apoio daqueles que so adversamente
afetados por ele. E, claro, essas obrigaes podem obter o apoio
de toda uma gama de presses sociais no-coercivas, tais como
aprovao e desaprovao, preferncia por parte de consumidores
ou acionistas e a conscincia dos benefcios a serem auferidos a
longo prazo a partir da erradicao da pobreza.
Alm do mais, embora o fato de essas obrigaes serem
vistas como isentas de coero legal, certamente no resulta da
incluso do elemento humanitrio (nem do da justia social) na
fundamentao da obrigao de aliviar a pobreza. Retirar o
122
el emento coerci vo das obri gaes de di rei tos humanos
relacionadas pobreza tem a vantagem de nos ajudar a evitar o
duvi doso cami nho de fundamentar essas obri gaes na
identificao de uma culpa prvia nos detentores dessas
obrigaes. As razes humanitrias podem, e muitas vezes
devem, figurar na justificativa das intervenes jurdicas e
coercivas. Esse papel conferido s razes humanitrias mais
polmico que no caso das consideraes que tomam por base a
justia, que mais facilmente se enquadram nas sanes civis e
penais, embora tal fato possa ser visto como um preconceito
herdado de outras pocas.
No , portanto, necessariamente incongruente falar do
no-cumprimento da obrigao moral de propiciar alvio
extrema pobreza como uma violao dos direitos humanos. Essa
retrica tem como efeito sublinhar a importncia moral inerente
a essas obrigaes, da mesma forma que falar de abolir a
pobreza implica que no deveramos nos contentar com os
objetivos menos ambiciosos que caracterizam a maioria das
tentativas de lidar com a pobreza. Mas tudo isso deixa em aberto
a opo de fazer uso da fora da lei, incluindo o uso coercivo de
sanes internacionais, tanto jurdicas quanto polticas.
neste ponto que tendemos a nos sentir atrados pelo
enfoque de Thomas Pogge, segundo o qual, aps termo-nos
confrontado com o fenmeno horrendo da pobreza global, o
fato crucial o grau de cumplicidade de cada um de ns
governos, cidados e empresas, no sistema que provoca essa
pobreza. O mal no tanto a pobreza em si, mas o fato de ela
resultar de instituies humanas e de escolhas coletivas.
20
Uma vez estabelecido esse fato, passar do discurso sobre
os direitos humanos ao discurso sobre as violaes dos direitos
humanos pode parecer um passo rel ati vamente curto.
20
Ver POGGE (2002).
123
A suposio mais fcil seria de que a responsabilidade causal
culpvel estabelece que aqueles que so assim responsveis tm
a obrigao de compensar aqueles que vivem em situao de
pobreza em decorrncia dessa conduta culpvel. Uma conexo
semelhante, embora mais frgil, pode ser feita entre aqueles que
se beneficiaram (inconscientemente ou sua revelia) de um regime
econmico ou poltico que tenha reduzido outros pobreza.
Estabelecidas essas relaes, possvel compreender
prontamente o discurso da indenizao, talvez exigida pelos
tribunais de justia, e da responsabilidade penal daqueles que,
de forma deliberada, participam de sistemas que os beneficiam
de maneira injusta, empobrecendo outros. Se tomarmos a analogia
com a escravido, a tese que os benefcios derivados dessa
instituio so de natureza criminosa. Decretar a ilegalidade desses
benefcios talvez no venha a erradicar, de imediato, o fenmeno
da escravido, mas o enfoque das violaes tem, de fato, o efeito
de sanar as dvidas legais quanto legitimidade dessa instituio
e de abrir caminho para remdios adequados, a serem aplicados
contra os culpados; algo que no apenas passvel de justificativa
imediata, mas que, a longo prazo, poder ser de grande eficcia
para a erradicao do fenmeno.
Pogge, baseando-se num raciocnio semelhante, prope um
Dividendo dos Recursos Globais (DRG), a fim de levantar
fundos para o alvio da pobreza, atravs da tributao das
receitas da extrao e da venda de recursos no-renovveis,
como forma de retificar as injustias presentes no mercado
global, mtodo esse que teria o benfico efeito colateral de
desacelerar o esgotamento desses recursos.
21
Mesmo que no lancemos dvidas srias sobre a tese de
que o sistema econmico internacional injusto, e de que ele
implica todo o mundo desenvolvido no oprbrio da pobreza global,
21
Idem.
124
podemos questionar essa vinculao da retrica das violaes dos
direitos humanos anlise da fundamentao da obrigao de
abolir a pobreza em termos de culpa/cumplicidade.
Parte desse questi onamento nos remete questo
fundamental levantada anteriormente, de se os imperativos
morais aqui tratados so exclusivamente aqueles relativos
justia, excluindo os relativos humanidade. Outras partes
dessa crtica se relacionam s diversas maneiras pelas quais o
contedo e as i mpl i caes da tese de Pogge podem ser
questi onados. Agrupari a esses questi onamentos sob os
seguintes cabealhos: (1) controvertibilidade emprica, (2)
responsabilidade individual e coletiva, (3) contra-moralidade,
(4) constries conceituais.
(1) Controvertibilidade emprica. A crtica da controvertibilidade
emprica enfoca a tese de Pogge de que a omisso no apoio ou na
implementao de um sistema social e econmico, que teria
conseqncias melhores para os pobres, implica culpa. As
objees, aqui, no seriam tese moral, mas sim dificuldade
prtica de estabelecer a possibilidade da existncia de um
sistema mais justo, onde essa justia seja considerada como
parcialmente dependente dos resultados desse sistema.
Tomemos a questo bastante crua dos benefcios ou
prejuzos econmicos resultantes da tentativa de encontrar
exemplos da ideologia libertria de governo mnimo e liberdade
de comrcio. Muitas histrias de terror podem ser contadas sobre
a pobreza que resultou da implementao desse racionalismo
econmico, como a histria recente do Mxico e de muitas outras
economias sul-americanas o demonstram fartamente. Mas o
problema chegar a um acordo quanto existncia de opes
melhores, seja atravs da adoo mais rigorosa do modelo
libertrio ou de outras polticas de natureza bem diversa. Todos
ns temos opinies sobre essa questo, mas tanto depende de
especulaes sobre situaes no-factuais e sobre seus possveis
resultados, que temos que concluir que falta, mesmo entre pessoas
125
de boa vontade, o consenso emp ri co necessri o para
fundamentar, mesmo que em bases probabilsticas, uma afirmativa
sobre as violaes dos direitos humanos sobre a qual pudssemos,
de forma segura, embasar medidas coercivas.
(2) Responsabilidade individual e coletiva. Supondo que no haja
dvida quanto aos fatos, e que sejamos capazes de chegar a um
acordo quanto a ter havido ou haver alternativas viveis s ordens
econmicas passadas e presentes, isso seria suficiente para
identificar os responsveis por essa ordem que, portanto, com base
na justia, deveriam indenizar aqueles que foram lesados por ela
ao ponto do empobrecimento? Os problemas aqui levantados se
relacionam responsabilidade individual por sistemas coletivamente
formulados, sistemas esses que tm que ser, em muitos aspectos,
os resultados no-intencionais da falta de coordenao entre
escolhas individuais, com conseqncias imprevistas e, muitas
vezes, imprevisveis, da parte de pessoas que, de qualquer modo,
no tm poder para mudar a ordem vigente.
bvio que isso no significa que a atual ordem social e
econmica no seja gravemente injusta, ou que vantagens
indevidas no sejam conferidas s minorias privilegiadas do
mundo ou s elites de alguns pases em desenvolvimento,
embora sugira que a grande maioria dessa minoria no pode
ser responsabilizada por algo que no foi de criao sua, e
que eles nada podem fazer para mudar, pelo menos no a
ponto de gerar a obrigao de corrigir os desequilbrios morais
causados por sua culpabilidade.
Isso no exclui usar a existncia de uma ordem econmica
injusta, no nvel nacional ou internacional, como fundamentao
para a necessidade de promover mudanas polticas que levem a
uma distribuio mais eqitativa da riqueza e acordos comerciais
mais justos entre as naes, embora sugira que o principal
argumento em favor desse reordenamento no deva se fundar
numa imputao de grave culpa moral queles que nada fizeram
para promover acordos mais justos.
126
Consideraes a respeito de culpa moral poderiam, em
princpio, se aplicar melhor queles que, no desempenho de
papis de liderana poltica ou empresarial, cometem ou
apiam, com conhecimento de causa, injustias dessa natureza,
vi sando ganho pessoal . Nos casos onde as cadei as de
responsabilidade moral so claras, e a gravidade dos atos
per pet rados no est suj ei t a a quest i onament o,
responsabilidade civil e penal deve ser imputada, tanto a
pessoas quanto a governos e empresas. Na verdade, esse ser
o ponto mximo da categorizao da pobreza extrema como
uma violao dos direitos humanos, chegando ao ponto de
descrev-lo como um crime contra a humanidade. O perigo
de um tal raciocnio ser mais amplamente aplicado a pessoas
cuja culpa moral nem de perto atinge o ponto que daria motivo
ao uso dessa terminologia.
Como resposta a essa objeo, pode-se dizer que o que se
alega no que as pessoas que se beneficiam do empobrecimento
alheio sejam moralmente culpadas, mas apenas que a situao est
errada e deve ser corrigida. O recebimento de benefcios indevidos
errado, quer os beneficirios sejam culpados pela situao ou
no. Essa fundamentao para a distribuio coerciva de recursos
talvez esteja correta. Mas isso no significa que aqueles que,
inconscientemente ou minimamente, contribuem para esses
resultados devam ser tachados de violadores dos direitos humanos,
ou que essa seja uma base slida para o uso de sanes contra eles.
(3) Contra-moralidade. Uma das maneiras de lidar com a
diluio da responsabilidade moral que ocorre em relao aos
sistemas polticos e econmicos , ao tentarmos estabelecer
a obrigao de remediar situaes injustas, basearmo-nos
numa acepo muito fraca de participao nesses sistemas,
segundo a qual, para determinar a obrigao, seria necessrio
apenas que houvesse um sistema, no sentido de que as
decises e aes ocorridas num determinado local tenham efeitos
sistemticos em outro local. Desse modo, o fato de eu comprar
127
ch, e no caf, aliado a escolhas semelhantes por parte de
milhes de outros consumidores, pode representar prejuzos para
os produtores de caf e vantagens para os produtores de ch
localizados em partes diferentes do mesmo sistema econmico.
Esse sistema pode ser descrito como uma ordem, tanto na
acepo fraca de que ele obedece a um padro, sendo portanto
ordenado, quanto devido ao fato de ele ser o produto de
ordens, que ocorrem na forma de regras estabelecidas e
aplicadas pelas autoridades constitudas, como, por exemplo, o
regime de propriedade intelectual, nos termos do acordo TRIPS.
J afirmei anteriormente que, nesses sistemas, aqueles que
agem ou so afetados pelos atos de outros no podem ser
responsabilizados, pelo menos em grau significativo, pelos
resultados sistmicos de seus atos, a no ser que essas pessoas
possam ser identificadas como os agentes centrais dos processos
decisrios ou normativos implicados nesses sistemas. Isso vale
mesmo que as conseqncias da operao desses sistemas sejam
claras e extremamente injustas. Pode-se argumentar tambm que
um sistema dessa natureza necessita ser justificado por critrios
abrangentes que l evem em conta suas ori gens e suas
conseqncias.
Desse modo, no que se refere pobreza, as avaliaes dos
sistemas de mercado, ou de formas especficas de sistema de
mercado, tm que encarar os mercados como mecanismos
econmicos e sociais que talvez sejam precondies necessrias
para os progressos materiais do bem-estar humano.
Nesse contexto, os mercados tm que ser aceitos como
desejveis, caso aceitemos que a pobreza indesejvel. Como
aponta A. K. Sen, o status moral dos mercados tem que ser
alto.
22
Mas, se os sistemas de mercado so a forma mais eficaz
de produo da riqueza que tira as pessoas da pobreza e gera
22
Ver SEN (1985).
128
recursos que podem ser usados para aliviar essa pobreza, segue-se
da que estar implicado ou participar nos sistemas de mercado
possui um valor positivo que pode ser contraposto afirmativa de
que aqueles que assim participam so responsveis pela pobreza
daqueles que sofrem em conseqncia desse sistema de mercado
especfico. Pode-se inferir da que no razovel criticar as pessoas
por agir de acordo com a ordem do mercado, como, por exemplo,
ao fazer opes de consumo e empregar os recursos de que elas
dispem com base em suas prprias preferncias e prioridades. Ao
agir assim, essas pessoas esto contribuindo, como de fato devem,
para o sistema de mercado que gera os recursos indispensveis para
tantos fins moralmente imperativos.
Isso, obviamente, talvez no seja intencional da parte
daqueles que vem os mtodos atualmente empregados pelo
mercado e, possivelmente, todas as economias de mercado,
como implicando violaes dos direitos humanos, ou porque
elas mantm na pobreza um grande nmero de pessoas ou
porque elas reduzem condio de pobreza um nmero quase
equivalente de pessoas. Mas, caso no haja intencionalidade
nessa gerao de pobreza, precisa ento ficar claro que o que
se faz necessrio so adaptaes nesses mtodos de mercado,
ou para torn-los mais justos ou (o que no a mesma coisa)
para assegurar que el es no resul tem em pri vaes
significativas para algumas das pessoas afetadas por eles,
atravs de, por exemplo, um sistema de redistribuio da
riqueza. Essas recomendaes polticas no tm necessariamente
que se basear em crticas gerais aos sistemas de economia de
mercado, nem implicam culpa da parte das pessoas que
participam desses sistemas. Ao contrrio, a participao nessas
ordens econmicas, de acordo com as normas vigentes, pode
ter aspectos benficos e elogiveis.
Aqui tambm, essas consideraes no contradizem a
moralidade de aperfeioar esses sistemas de modo que eles
proporcionem benefcios maiores e mais bem distribudos,
129
embora sugiram que identificar atores comuns do mercado como
cmplices em violaes de direitos humanos pode ser simplista,
enganoso e contraproducente. Si mpl i sta por i gnorar o
desempenho geral desses sistemas em relao gerao de
riqueza,; enganoso por atribuir de forma errada responsabilidades
pel os si stemas vi gentes, que sem dvi da so al tamente
imperfeitos, e contraproducentes porque as falhas desse
argumento levam as pessoas a pr em dvida e, portanto, a evitar
cumprir as obrigaes que seriam mais bem fundamentadas em
consideraes de outra ordem (humanitria).
(4) Restries conceituais. Por fim, a ttulo de crtica ao que
poderia ser chamado do enfoque da culpabilidade com relao
abolio da pobreza, eu gostaria de apontar uma srie de
suposies dbias quanto ao discurso dos direitos humanos,
presentes pelo menos na verso de Pogge. Refiro-me tese
de que os direitos humanos se relacionam unicamente s
rei vi ndi caes movi das contra i nsti tui es soci ai s,
particularmente o Estado.
23
A tese de Pogge que nem todas
as injustias contam como injustias contra os direitos humanos.
Se algum rouba meu carro ou me mantm em crcere privado,
essa no seria uma violao de meu direito humano propriedade
ou liberdade, mas, se o Estado confisca meu carro, ou me pe
na cadeia, talvez houvesse violao de meus direitos humanos.
Como j vimos anteriormente, h poderosos argumentos
histricos e prticos a favor de encarar o Estado como o foco
primrio das violaes de direitos humanos, e tambm como o
foco primrio das obrigaes de proteger e promover esses
direitos. Mas considerar a totalidade das violaes de direitos
23
POGGE (2002). Op. Cit. p. 441: Devemos conceber os direitos humanos
primordialmente como reivindicaes endereadas s instituies sociais coercivas
e, de modo secundrio, como reivindicaes contra aqueles que do sustentao
a essas instituies.
130
humanos como ocorrendo atravs das instituies dotadas de
poderes coercivos confundir o instrumento contingente com
o mal que estamos tentando conter. Excluir os danos que foram
infligidos ou no-reparados pelas organizaes empresariais,
pel as condutas cri mi nosas e pel os desastres naturai s,
principalmente numa poca em que a capacidade da maioria
dos estados de remediar esses danos foi drasticamente reduzida,
seria minimizar a importncia e o impacto potenciais do discurso
dos direitos humanos.
No h dvida de que as ofensas aos direitos humanos
exigem respostas organizadas e sistemticas. Pessoalmente, eu
de fato favoreo as solues conceituais que relacionam a idia
de direitos existncia ou desejabilidade do estabelecimento
de um sistema de regras efetivo, visando preveno e reparao
dessas ofensas. Mas, limitar os males que exigem remdio queles
perpetrados pelas organizaes humanas dotadas de poder
coercivo significa diminuir o potencial dos direitos humanos de
vir a abranger os danos causados por indivduos e por desastres
naturais. Suspeito, alm disso, que essa limitao ter tambm o
papel subsidirio de incentivar enfoques que tentam fundamentar
as obrigaes de direitos humanos nica e exclusivamente na
identificao das partes que criam ou se beneficiam de sistemas
injustos. No entanto, como j vimos, embora essa seja uma parte
importante da questo, ela apenas uma parte.
Ao col ocar esses pontos, no pretendo cri ti car as
recomendaes polticas que costumam acompanhar as posies
tericas usadas para justificar essas polticas. Dou preferncia a
mtodos distributivos radicais, atravs de sistemas de tributao
progressiva no nvel nacional e, no nvel internacional, de medidas
coercivas de tipo passvel de ser adotado pela ONU. Uma dessas
propostas se refere a um Tributo Humanitrio Global (THG) que
vise a reforar a base humanitria para o alvio da extrema pobreza,
instituindo a obrigao universal de participar do esforo de
enfrentar a pobreza como uma questo global, atravs de um
131
mecanismo que incorpore uma proporcionalidade aproximada com
relao capacidade de ajuda. Para tal, poderia ser criado um
imposto de 2% sobre toda a renda individual acima de 50 mil
dlares anuais, e uma taxao de 2% sobre todos os bens de
propriedade individual cujo valor ultrapasse 500 mil dlares, bem
como tributos a incidirem sobre as empresas, calculados com base
nos lucros e no capital. Esses impostos poderiam ser cobrados
por intermdio dos governos nacionais, mas seriam administrados
no nvel global.
A legitimidade dessa tributao depende da eficincia do
uso dos fundos gerados, visando abolio da extrema pobreza,
o que significa que essas verbas no poderiam ser usadas
unicamente atravs de governos cuja eficincia, moralidade e
responsabilidade sejam questionadas. A resoluo dessas
dificuldades polticas e administrativas seria a precondio da
legitimidade desse sistema, como ocorre tambm com a
implementao de todos os esforos no sentido da redistribuio
e do desenvolvimento globais.
Uma vez que o estabelecimento de um sistema humanitrio
universal como esse exige o emprego de coero e interveno,
ele se enquadra bem no paradigma de que a extrema pobreza,
num mundo repleto de recursos, consiste numa violao dos
direitos humanos, e que essa pobreza deve ser erradicada com a
mxima urgncia. Esse sistema tem o mrito de no vincular de
modo demasiadamente estreito essa concepo com a tese
controvertida e fragmentria de que a pobreza decorre da
injustia, e de dar nfase idia de que as violaes surgem
principalmente em decorrncia da omisso em remediar essa
pobreza, mais que da cumplicidade em provocar seu surgimento.
A violao ocorre quando aqueles que possuem a capacidade
de faz-lo no tomam as devidas providncias. Deixar que
pessoas continuem em extrema pobreza a afronta humanidade
capaz de justificar as intervenes coletivas em defesa de um
Tributo Humanitrio Global.
132
Proponho que identifiquemos o princpio da humanidade
como a razo de ser fundamental do Tributo Humanitrio
Global. Segundo esse princpio, obrigao de todos aqueles
que tm capacidade para tal aliviar o extremo sofrimento de
outros seres humanos, obrigao essa que independe de mritos
e demritos relativos, e da identificao dos responsveis pelas
causas da pobreza ou do sofrimento em geral, exceto como parte
da estratgia de conceber maneiras de atuar de forma eficaz no
combate aos males da pobreza. O caminho que nos leva adiante
o de negar que as consideraes de natureza humanitria sejam
menos precisas, mais arbitrrias e menos exigentes que as que
tomam por base a justia.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BROCK, G. Are Corporations Morally Defensible? Business Ethics
Quarterly, n. 8, p. 703-21, 1998.
CAMPBELL, T. Humanity Before Justice, British Journal of
Political Science, n. 4, p. 1-16, 1974.
_____________. Justice. 2.ed. London: MacMillan, 2001.
DONALDSON, T Moral Minimums for Multinationals. Ethics
and International Affairs, n. 3, p. 163-82, 1989.
FRIEDMAN, M. The Social Responsibilities of Business is to
Increase Profts. New York Times Magazine, 13 Sep. 1970.
GEWIRTH, A. Human Rights. Chicago: University of Chicago
Press, 1982, p. 201.
HUNT, P. Reclaiming Social Rights. Aldershot: Darthmouth, 1996.
133
JACKMAN, M. Constitutional Rhetoric and Social Justice:
Reflections on the Justiciability Debate. In: BAKAN, J.;
SCHNEIDERMAN, D. (Eds.) Social Justice and the Constitution:
Perspectives on a Social Union for Canada. 1992.
LUBAN, D. Just War and Human Rights. In: BEITZA, C. et al.
International Ethics. Princeton: Princeton University Press, 1985.
p. 209
ONU. Declarao Universal dos Direitos Humanos. Nova Iorque:
ONU, 1948.
PAUL, J. (Ed). Reading Nozick. [U.S.A.]: Blackwell, 1982.
POGGE, T. Severe Poverty as a Human Rights Violation. 2003.
(mimeografado).
__________, World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan
Responsibilities and Reforms. Cambridge: Polity Press, 2002.
SEN, A. K. The Moral Standing of the Market. Social Philosophy
and Policy, n. 2, p. 1-19, 1985.
SHUE, H. Basic Rights. Princeton: Princeton University Press,
1980.
UMA TEORIA DA JUSTIA. Oxford: Oxford University Press,
1972.
TURK, D. The Realization of Economic, Social and Cultural
Rights, New York: United Nations, 1992. (E/CN4/Sub2/1992/
16; 184). In: HUNT, P. Reclaiming Social Rights. Aldershot:
Darthmouth, 1996, p. 27.
UNESCO. Abolishing Poverty Through the International Human Rights
Framework: An Integrated Strategy. Paris: UNESCO, 2003.
(Working Paper).
135
1. INTRODUO
O obj eti vo deste ensai o propor uma refl exo a
respeito da pobreza como violao de direitos humanos, sob
a perspectiva do Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Para tanto, preliminarmente, ser enfocada a concepo
contempornea de direitos humanos, luz do sistema internacional
de proteo, avaliando-se o seu perfil, os seus objetivos, a sua lgica
e principiologia. O sistema internacional de proteo dos direitos
humanos constitui o legado maior da chamada Era dos Direitos,
que tem permitido a internacionalizao dos direitos humanos e a
humanizao do Direito Internacional contemporneo, como atenta
Thomas Buergenthal
1
. Considerando esta concepo, indaga-se:
constituiria a pobreza uma forma de violao aos direitos humanos?
Em um segundo momento, sero avaliados os principais
desafios e perspectivas para a implementao do direito
incluso social na ordem contempornea, a fim de que o valor
dos direitos humanos assuma a centralidade referencial a orientar
a agenda internacional contempornea.
POBREZA COMO VIOLAO DE
DIREITOS HUMANOS
Flavia Piovesan*
* Procuradora do Estado de So Paulo.
1
BUERGENTHAL (1991). No mesmo sentido, afirma HENKIN et alii (1993): O
Direito Internacional pode ser classificado como o Direito anterior Segunda Guerra
Mundial e o Direito posterior a ela. Em 1945, a vitria dos aliados introduziu uma
nova ordem com importantes transformaes no Direito Internacional.
136
2. COMO COMPREENDER A CONCEPO
CONTEMPORNEA DE DIREITOS
HUMANOS? LUZ DESTA CONCEPO,
CONSTITUIRIA A POBREZA UMA FORMA
DE VIOLAO AOS DIREITOS HUMANOS?
Enquanto reivindicaes morais, os direitos humanos
nascem quando devem e podem nascer. Como reala Norberto
Bobbio, os direitos humanos no nascem todos de uma vez e
nem de uma vez por todas
2
. Para Hannah Arendt, os direitos
humanos no so um dado, mas um construdo, uma inveno
humana, em constante processo de construo e reconstruo
3
.
Considerando a historicidade destes direitos, pode-se afirmar que
a definio de direitos humanos aponta a uma pluralidade de
significados. Tendo em vista tal pluralidade, destaca-se, neste
estudo, a chamada concepo contempornea de direitos
humanos, que veio a ser introduzida com o advento da Declarao
Universal de 1948 e reiterada pela Declarao de Direitos
Humanos de Viena de 1993.
Esta concepo fr uto do movi mento de
internacionalizao dos direitos humanos, que constitui um
movimento extremamente recente na histria, surgindo, a partir
do ps-guerra, como resposta s atrocidades e aos horrores
cometidos durante o nazismo. Apresentando o Estado como o
grande violador de direitos humanos, a era Hitler foi marcada
2
Ver BOBBIO (1988).
3
Ver: ARENDT (1979); LAFER (1988). No mesmo sentido, afirma SACHS (1998a):
No se insistir nunca o bastante sobre o fato de que a ascenso dos direitos fruto
de lutas, que os direitos so conquistados, s vezes, com barricadas, em um processo
histrico cheio de vicissitudes, por meio do qual as necessidades e as aspiraes se
articulam em reivindicaes e em estandartes de luta antes de serem reconhecidos
como direitos. Para ROSAS (1995): O conceito de direitos humanos sempre
progressivo. () O debate a respeito do que so os direitos humanos e como devem
ser definidos parte e parcela de nossa histria, de nosso passado e de nosso presente.
137
pela lgica da destruio e da descartabilidade da pessoa humana,
que resultou no envio de 18 milhes de pessoas a campos de
concentrao, com a morte de 11 milhes, sendo 6 milhes de
judeus, alm de comunistas, homossexuais, ciganos, O legado
do nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a
condio de sujeito de direitos, pertinncia a determinada raa
a raa pura ariana. No dizer de Ignacy Sachs, o sculo XX foi
marcado por duas guerras mundiais e pelo horror absoluto do
genocdio concebido como projeto poltico e industrial
4
.
neste cenrio que se desenha o esforo de reconstruo
dos direitos humanos, como paradigma e referencial tico a
orientar a ordem internacional contempornea. Se a 2 Guerra
significou a ruptura com os direitos humanos, o Ps-Guerra
deveria significar a sua reconstruo.
Neste sentido, em 10 de dezembro de 1948, aprovada a
Declarao Universal dos Direitos Humanos, como marco maior
do processo de reconstruo dos direitos humanos. Introduz ela a
concepo contempornea de direitos humanos, caracterizada pela
universalidade e indivisibilidade destes direitos. Universalidade
porque clama pela extenso universal dos direitos humanos, sob a
crena de que a condio de pessoa o requisito nico para a
dignidade e titularidade de direitos. Indivisibilidade porque a
garantia dos direitos civis e polticos condio para a observncia
dos direitos sociais, econmicos e culturais e vice-versa. Quando
um deles violado, os demais tambm o so. Os direitos humanos
compem, assim, uma unidade indivisvel, interdependente e inter-
relacionada, capaz de conjugar o catlogo de direitos civis e polticos
ao catlogo de direitos sociais, econmicos e culturais.
Ao examinar a indivisibilidade e a interdependncia dos
direitos humanos, leciona Hector Gros Espiell: S o
reconhecimento integral de todos estes direitos pode assegurar a
4
Ver: SACHS (1998b).
138
existncia real de cada um deles, j que sem a efetividade de
gozo dos direitos econmicos, sociais e culturais, os direitos
civis e polticos se reduzem a meras categorias for mais.
Inversamente, sem a realidade dos direitos civis e polticos, sem
a efetividade da liberdade entendida em seu mais amplo sentido,
os direitos econmicos, sociais e culturais carecem, por sua vez,
de verdadeira significao. Esta idia da necessria integralidade,
interdependncia e indivisibilidade quanto ao conceito e
realidade do contedo dos direitos humanos, que de certa forma
est implcita na Carta das Naes Unidas, se compila, se amplia
e se sistematiza em 1948, na Declarao Universal de Direitos
Humanos, e se reafirma definitivamente nos Pactos Universais
de Direitos Humanos, aprovados pela Assemblia Geral em
1966, e em vigncia desde 1976, na Proclamao de Teer de
1968 e na Resoluo da Assemblia Geral, adotada em 16 de
dezembro de 1977, sobre os critrios e meios para melhorar o
gozo efetivo dos direitos e das liberdades fundamentais
(Resoluo n. 32/130).
5
A Declarao Universal de 1948, na qualidade de marco
maior do movimento de internacionalizao dos direitos
humanos, fomentou a converso destes direitos em tema de
legtimo interesse da comunidade internacional. Como observa
Kathryn Sikkink: O Direito Internacional dos Direitos
Humanos pressupe como legtima e necessria a preocupao
de atores estatais e no estatais a respeito do modo pelo qual os
habitantes de outros Estados so tratados. A rede de proteo
dos direitos humanos internacionais busca redefinir o que
matria de exclusiva jurisdio domstica dos Estados.
6
5
Ver: ESPIELL (1986).
6
SIKKINK (1993) p.413. Acrescenta a mesma autora: Os direitos individuais bsicos
no so do domnio exclusivo do Estado, mas constituem uma legtima preocupao
da comunidade internacional. p. 441.
139
Fortalece-se, assim, a idia de que a proteo dos direitos
humanos no deve se reduzir ao domnio reservado do Estado,
isto , no deve se restringir competncia nacional exclusiva ou
jurisdio domstica exclusiva, porque revela tema de legtimo
interesse internacional. Por sua vez, esta concepo inovadora
aponta a duas importantes conseqncias:
1) a reviso da noo tradicional de soberania absoluta
do Estado, que passa a sofrer um processo de
rel ati vi zao, na medi da em que so admi ti das
intervenes no plano nacional em prol da proteo
dos direitos humanos; isto , transita-se de uma
concepo hobbesiana de soberania centrada no
Estado para uma concepo kantiana de soberania
centrada na cidadania universal)
7
;
2) a cristalizao da idia de que o indivduo deve ter
di rei tos protegi dos na esfera i nternaci onal , na
condio de sujeito de Direito.
Prenuncia-se, deste modo, o fim da era em que a forma
pela qual o Estado tratava seus nacionais era concebida como
um problema de jurisdio domstica, decorrncia de sua
soberania.
O processo de universalizao dos direitos humanos
permitiu, por sua vez, a formao de um sistema normativo
internacional de proteo destes direitos. Na lio de Andr
Gonalves Pereira e Fausto de Quadros: Em termos de Cincia
Poltica, tratou-se apenas de transpor e adaptar ao Direito
Internacional a evoluo que no Direito Interno j se dera, no
incio do sculo, do Estado-Polcia para o Estado-Providncia.
Mas foi o suficiente para o Direito Internacional abandonar a
7
Para LAFER (1999), de uma viso ex parte prncipe, fundada nos deveres dos sditos
com relao ao Estado passa-se a uma viso ex parte populi, fundada na promoo da
noo de direitos do cidado.
140
fase clssica, como o Direito da Paz e da Guerra, para passar
era nova ou moderna da sua evol uo, como Di rei to
Internacional da Cooperao e da Solidariedade.
8
A partir da aprovao da Declarao Universal de 1948 e a
partir da concepo contempornea de direitos humanos por ela
introduzida, comea a se desenvolver o Direito Internacional dos
Direitos Humanos, mediante a adoo de inmeros tratados
internacionais voltados proteo de direitos fundamentais. A
Declarao de 1948 confere lastro axiolgico e unidade valorativa
a este campo do Direito, com nfase na universalidade,
indivisibilidade e interdependncia dos direitos humanos. Como
leciona Norberto Bobbio, os direitos humanos nascem como
direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos
positivos particulares (quando cada Constituio incorpora
Declaraes de Direito), para finalmente encontrarem sua plena
realizao como direitos positivos universais
9
.
O processo de universalizao dos direitos humanos
permitiu a formao de um sistema internacional de proteo
destes di rei tos. Este si stema i ntegrado por tratados
internacionais de proteo que refletem, sobretudo, a conscincia
tica contempornea compartilhada pelos Estados, na medida
em que invocam o consenso internacional acerca de parmetros
protetivos mnimos relativos aos direitos humanos. Neste
8
PEREIRA & QUADROS (1993) acrescentam: As novas matrias que o Direito
Internacional tem vindo a absorver, nas condies referidas, so de ndole variada:
poltica, econmica, social, cultural, cientfica, tcnica, etc. Mas dentre elas o
livro mostrou que h que se destacar trs: a proteo e a garantia dos Direitos do
Homem, o desenvolvimento e a integrao econmica e poltica. Na viso de
FIX-ZAMUDIO (1991): (...) o estabelecimento de organismos internacionais de
tutela dos direitos humanos, que o destacado tratadista italiano Mauro Cappelleti
tem qualificado como jurisdio constitucional transnacional, enquanto controle
judicial da constitucionalidade das disposies legislativas e de atos concretos de
autoridade, tem alcanado o Direito interno, particularmente a esfera dos direitos
humanos e tem se projetado no mbito internacional e inclusive comunitrio.
9
BOBBIO (1988). Op. Cit. p. 30.
141
sentido, cabe destacar que, at agosto de 2002, o Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Polticos contava com 148
Estados-partes; o Pacto Internacional dos Direitos Econmicos,
Soci ai s e Cul turai s contava com 145 Estados-partes; a
Conveno contra a Tortura contava com 130 Estados-partes;
a Conveno sobre a Eliminao da Discriminao Racial
contava com 162 Estados-partes; a Conveno sobre a
Eliminao da Discriminao contra a Mulher contava com 170
Estados-partes e a Conveno sobre os Direitos da Criana
apresentava a mais ampla adeso, com 191 Estados-partes.
10
.
Ao lado do sistema normativo global, surgem os sistemas
regionais de proteo, que buscam internacionalizar os direitos
humanos nos planos regionais, particularmente na Europa, Amrica
e frica. Adicionalmente, h um incipiente sistema rabe e a
proposta de criao de um sistema regional asitico. Consolida-se,
assim, a convivncia do sistema global da ONU com instrumentos
do sistema regional, por sua vez, integrado pelo sistema americano,
europeu e africano de proteo aos direitos humanos.
Os sistemas global e regional no so dicotmicos, mas
complementares. Inspirados pelos valores e princpios da
Declarao Universal, compem o universo instrumental de
proteo dos direitos humanos, no plano internacional. Nesta
tica, os diversos sistemas de proteo de direitos humanos
interagem em benefcio dos indivduos protegidos. O propsito
da coexistncia de distintos instrumentos jurdicos garantindo
os mesmos direitos , pois, no sentido de ampliar e fortalecer a
proteo dos direitos humanos. O que importa o grau de eficcia
da proteo, e, por isso, deve ser aplicada a norma que, no caso
concreto, melhor proteja a vtima. Ao adotar o valor da primazia
da pessoa humana, estes sistemas se complementam, interagindo
com o sistema nacional de proteo, a fim de proporcionar a maior
10
A respeito, consultar UNDP (2002).
142
efeti vi dade poss vel na tutel a e promoo de di rei tos
fundamentais. Esta inclusive a lgica e principiologia prprias
do Direito Internacional dos Direitos Humanos.
A concepo contempornea de di rei tos humanos
caracteri za-se pel os processos de uni versal i zao e
internacionalizao destes direitos, compreendidos sob o prisma
de sua i ndi vi si bi l i dade
11
. Ressalte-se que a Declarao de
Direitos Humanos de Viena, de 1993, reitera a concepo da
Declarao de 1948, quando, em seu pargrafo 5, afirma:
Todos os direitos humanos so universais, interdependentes e
inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os
direitos humanos globalmente de forma justa e equitativa, em
p de igualdade e com a mesma nfase.
Logo, a Declarao de Viena de 1993, subscrita por 171
Estados, endossa a universalidade e a indivisibilidade dos direitos
humanos, revigorando o lastro de legitimidade da chamada
concepo contempornea de direitos humanos, introduzida pela
Declarao de 1948. Note-se que, enquanto consenso do ps
Guerra, a Declarao de 1948 foi adotada por 48 Estados, com
8 abstenes. Assim, a Declarao de Viena de 1993 estende,
renova e ampl i a o consenso sobre a uni versal i dade e
indivisibilidade dos direitos humanos. A Declarao de Viena
afirma ainda a interdependncia entre os valores dos Direitos
Humanos, Democracia e Desenvolvimento.
Em face da indivisibilidade dos direitos humanos, h de ser
definitivamente afastada a equivocada noo de que uma classe
de direitos (a dos direitos civis e polticos) merece inteiro
reconhecimento e respeito, enquanto outra classe de direitos (a
dos direitos sociais, econmicos e culturais), ao revs, no merece
11
Note-se que a Conveno sobre a Eliminao de todas as formas de Discriminao
Racial, a Conveno sobre a Eliminao da Discriminao contra a Mulher e a
Conveno sobre os Direitos da Criana contemplam no apenas direitos civis e
polticos, mas tambm direitos sociais, econmicos e culturais, o que vem a
endossar a idia da indivisibilidade dos direitos humanos.
143
qualquer observncia. Sob a tica normativa internacional, est
definitivamente superada a concepo de que os direitos sociais,
econmicos e culturais no so direitos legais. A idia da no-
acionabilidade dos direitos sociais meramente ideolgica e no
cientfica. So eles autnticos e verdadeiros direitos fundamentais,
acionveis, exigveis e demandam sria e responsvel observncia.
Por isso, devem ser reivindicados como direitos e no como
caridade, generosidade ou compaixo.
Como aludem Asbjorn Eide e Allan Rosas: Levar os direitos
econmicos, sociais e culturais a srio implica, ao mesmo tempo,
um compromisso com a integrao social, a solidariedade e a
igualdade, incluindo a questo da distribuio de renda.
Os direitos sociais, econmicos e culturais incluem como
preocupao central a proteo aos grupos vulnerveis. () As
necessidades fundamentais no devem ficar condicionadas
caridade de programas e polticas estatais, mas devem ser definidas
como direitos.
12
Neste contexto, a afirmao dos direitos econmicos,
sociais e culturais como verdadeiros direitos humanos implica
cinco conseqncias:
1) mapear o campo dos direitos econmicos, sociais e
culturais, fixando os delineamentos e o alcance destes
direitos, o que apontaria ao direito incluso social,
demarcando a pobreza como violao de direitos
humanos;
2) cri ar proteo especi al aos gr upos soci al mente
vulnerveis, enquanto vtimas preferenciais de violao
destes direitos;
3) identificar o campo da responsabilidade em face da
violao a estes direitos, na perspectiva de correlao
entre direitos e deveres;
12
EIDE & ROSAS ( 1995) p.17-18.
144
13
LAFER (1999). Op. Cit.
14
ROSAS (1995). Op. Cit. p. 254-255.
4) aval i ar quai s os agentes responsvei s por estas
violaes; e
5) adotar mecanismos para a efetivao do direito
incluso social e para o enfrentamento da pobreza
enquanto violao de direitos humanos
A compreenso do direito incluso social ou da pobreza
como violao a direitos humanos demanda ainda que se
recorra ao direito ao desenvolvimento. Para desvendar o alcance
do direito ao densevolvimento, importa realar, como afirma
Celso Lafer, que, no campo dos valores, em matria de direitos
humanos, a conseqncia de um sistema internacional de
polaridades definidas Leste/Oeste, Norte/Sul foi a batalha
ideolgica entre os direitos civis e polticos (herana liberal
patrocinada pelos EUA) e os direitos econmicos, sociais e
culturais (herana social legado do socialismo patrocinada
pela ento URSS). Neste cenrio, surge o empenho do Terceiro
Mundo de el ababorar uma i denti dade cul tural prpri a,
propondo direitos de identidade cultural coletiva, como o
direito ao desenvolvimento.
13
, assim, adotada pela ONU a Declarao sobre o
Direito ao Desenvolvimento, em 1986, por 146 Estados, com
um voto contrrio (EUA) e 8 abstenes. Para Allan Rosas: A
respeito do contedo do direito ao desenvolvimento, trs
aspectos devem ser menci onados. Em pri mei ro l ugar, a
Declarao de 1986 endossa a importncia da participao.
() Em segundo lugar, a Declarao deve ser concebida no
contexto das necessidades bsicas de justia social. () Em
terceiro lugar, a Declarao enfatiza tanto a necessidade de
adoo de programas e pol t i cas naci onai s, como da
cooperao internacional. ()
14
145
O artigo 2 da Declarao sobre o Direito ao
Desenvolvimento, de 1986, consagra que: A pessoa humana o
sujeito central do desenvolvimento e deve ser ativa participante e
beneficiria do direito ao desenvolvimento. Adiciona o artigo 4
da Declarao que os Estados tm o dever de adotar medidas,
individualmente ou coletivamente, voltadas a formular polticas
de desenvolvimento internacional, com vistas a facilitar a plena
realizao de direitos, acrescentando que a efetiva cooperao
internacional essencial para prover aos pases emdesenvolvimento
meios que encorajem o direito ao desenvolvimento.
O direito ao desenvolvimento demanda uma globalizao
tica e solidria. No entender de Mohammed Bedjaqui: Na
real i dade, a di menso i nternaci onal do di rei to ao
desenvolvimento nada mais que o direito a uma repartio
equitativa concernente ao bem-estar social e econmico
mundial. Reflete uma demanda crucial de nosso tempo, na
medida em que os quatro quintos da populao mundial no
mais aceitam o fato de um quinto da populao mundial
continuar a construir sua riqueza com base em sua pobreza.
15
O desenvolvimento h de ser concebido como um processo
de expanso das liberdades reais que as pessoas podem usufruir,
para adotar a concepo de Amartya Sen
16
. Acrescente-se ainda
15
BEDJAQUI (1991). p. 1182.
16
Ao conceber o desenvolvimento como liberdade, sustenta Amartya SEN (2002)
Op. Cit. p. 35-36 e p. 297: Neste sentido, a expanso das liberdades vista
concomitantemente como 1) uma finalidade em si mesma e 2) o principal
si gni fi cado do desenvol vi mento. Tai s fi nal i dades podem ser chamadas,
respectivamente, como a funo constitutiva e a funo instrumental da liberdade
em relao ao desenvolvimento. A funo constitutiva da liberdade relaciona-se
com a importncia da liberdade substantiva para o engrandecimento da vida
humana. As liberdades substantivas incluem as capacidades elementares, como a
de evitar privaes como a fome, a subnutrio, a mortalidade evitvel, a
mortalidade prematura, bem como as liberdades associadas com a educao, a
participao poltica, a proibio da censura, Nesta perspectiva constitutiva, o
desenvolvimento envolve a expanso destas e de outras liberdades fundamentais.
Desenvolvimento, nesta viso, o processo de expanso das liberdades humanas.
Sobre o direito ao desenvolvimento, ver tambm VASAK (1979).
146
que a Declarao de Viena, de 1993, enfatiza ser o direito ao
desenvolvimento um direito universal e inalienvel, parte integral
dos direitos humanos fundamentais. Reitere-se que a Declarao
de Viena reconhece a relao de interdependncia entre a
democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos.
Transita-se, assim, reflexo final:
3. QUAIS OS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
PARA A IMPLEMENTAO DO
DIREITO INCLUSO SOCIAL
NA ORDEM CONTEMPORNEA?
O enfrentamento desta questo remete a cinco desafios:
1) Consolidar e fortalecer o processo de
afirmao do direito incluso social
como um direito humano inalienvel,
constituindo a pobreza uma violao aos
direitos humanos
Os direitos humanos enquanto adquirido axiolgico
esto em constante processo de elaborao e redefinio.
Se, tradicionalmente, a agenda de direitos humanos
centrou-se na tutela de direitos civis e polticos, sob o forte
impacto da voz do Norte, testemunha-se, atualmente, a
ampliao desta agenda tradicional, que passa a incorporar
novos direitos, com nfase nos direitos econmicos, sociais e
culturais, no direito ao desenvolvimento, no direito incluso
social e na pobreza como violao de direitos. Este processo
permite ecoar a voz prpria do Sul, capaz de revelar as
preocupaes, demandas e prioridades desta regio.
So, assim, necessrios avanos na expanso contnua
do alcance conceitual de direitos humanos, contemplando as
necessi dades bsi cas de j usti a soci al . Neste cenri o,
147
fundamental consolidar e fortalecer o processo de afirmao
do di rei t o i ncl uso soci al como um di rei t o humano
i nal i envel , const i t ui ndo a pobreza uma vi ol ao aos
direitos humanos.
2) Incorporar o enfoque de gnero, raa e etnia na
concepo do direito incluso social e da pobreza
como violao a direitos humanos, bem como criar
polticas especficas para a tutela de grupos
socialmente vulnerveis
A efetiva proteo do direito incluso social demanda
no apenas polticas universalistas, mas especficas, endereadas
a grupos socialmente vulnerveis, enquanto vtimas preferenciais
da pobreza. Isto , o di rei to i ncl uso soci al requer a
universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos,
acrescidas do valor da diversidade.
Ao processo de expanso dos direitos humanos soma-
se o processo de especificao de sujeitos de direitos.
A primeira fase de proteo dos direitos humanos foi
marcada pela tnica da proteo geral, que expressava o temor
da diferena (que no nazismo havia sido orientada para o
extermnio), com base na igualdade formal.
Torna-se, contudo, insuficiente tratar o indivduo de forma
genrica, geral e abstrata. Faz-se necessria a especificao do
sujeito de direito, que passa a ser visto em sua peculiaridade e
particularidade. Nesta tica, determinados sujeitos de direitos,
ou determinadas violaes de direitos, exigem uma resposta
especfica e diferenciada. Neste cenrio, as mulheres, as crianas,
a populao afro-descendente, os migrantes, as pessoas portadoras
de deficincia, dentre outras categorias vulnerveis, devem ser
vistas nas especificidades e peculiaridades de sua condio social.
Ao lado do direito igualdade, surge, tambm, como direito
fundamental, o direito diferena. Importa o respeito diferena
e diversidade, o que lhes assegura um tratamento especial.
148
17
A respeito, ver SANTOS (2003). p.25-68 e p.425-461.
18
Idem.
Para Nancy Fraser, a justia exige, simultaneamente,
redistribuio e reconhecimento de identidades. Vale dizer:
justia social somada ao reconhecimento das diferenas (direito
i denti dade). O reconheci mento no pode reduzi r-se
distribuio e nem tampouco a distribuio no pode reduzir-se
ao reconhecimento (a ttulo exemplificativo, cite-se o caso de
um banqueiro negro em Wall Street que no pode conseguir um
txi; cite-se ainda o caso de um trabalhador branco que
demitido porque houve cortes de funcionrios. H, assim, o
carter bidimensional da justia: redistribuio somada ao
reconhecimento. No mesmo sentido, Boaventura de Souza Santos
afir ma que apenas a exi gnci a do reconheci mento e da
redistribuio permite a realizao da igualdade
17
.
Ainda Boaventura acrescenta: temos o direito a ser
iguais quando a nossa diferena nos inferioriza; e temos o direito
a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza.
Da a necessi dade de uma i gual dade que reconhea as
diferenas e de uma diferena que no produza, alimente ou
reproduza as desigualdades
18
.
Consi derando os processos de femi ni zao e
etnicizao da pobreza, percebe-se que as maiores vtimas de
violao dos direitos econmicos, sociais e culturais, na
experincia brasileira, so as mulheres e as populaes afro-
descendentes. Da a necessidade de adoo, ao lado das polticas
universalistas, de polticas especficas, capazes de dar visibilidade
a sujeitos de direito com maior grau de vulnerabilidade, visando
ao pleno exerccio do direito incluso social.
Adicione-se, ainda, o componente democrtico a orientar
a formulao de tais polticas pblicas. Isto , h que se
assegurar o direito efetiva participao de grupos sociais no
149
que tange formulao de polticas que diretamente lhes
afetem. A sociedade civil clama por maior transparncia,
democratizao e accountability na gesto do oramento
pblico e na construo e implementao de polticas pblicas.
3) Otimizar a justiciabilidade e a acionabilidade dos
direitos econmicos, sociais e culturais, fortalecendo
a efetivao do direito incluso social
Como recomendou a Declarao de Viena de 1993,
fundamental adotar medidas para assegurar a maior justiciabilidade
e exigibilidade aos direitos econmicos, sociais e culturais, tais
como a elaborao de um Protocolo Facultativo ao Pacto
Internacional dos Direitos Econmicos, Sociais e Culturais (que
introduza a sistemtica de peties individuais) e a elaborao de
indicadores tcnico-cientficos capazes de mensurar os avanos
na implementao destes direitos.
No sistema global, o Pacto Internacional dos Direitos
Econmicos, Sociais e Culturais apenas contempla o mecanismo
dos relatrios a serem encaminhados pelos Estados, como forma
de monitoramento dos direitos que enuncia. J no sistema
regional interamericano, h a previso do sistema de peties
Comisso Interamericana de Direitos Humanos para a denncia
de violao do direito educao e dos direitos sindicais,
enunciados no Protocolo de San Salvador. Alm de instituir a
sistemtica de petio no mbito global, mediante a adoo de
Protocolo Facultativo, tambm essencial otimizar o uso deste
mecanismo regional, qual seja, o direito de petio, para a
proteo do direito educao e de direitos sindicais. Ademais,
h que se potenci al i zar a l i ti gnci a dos demai s di rei tos
econmicos, sociais e culturais, por meio, inclusive da violao
de direitos civis como porta de entrada para demandas afetas
aos desc. A ttulo ilustrativo, merecem destaque os casos: a)
fornecimento de medicamentos para portadores do vrus HIV
(com fundamento na violao ao artigo 4
o
da Conveno
150
Americana direito vida); b) demisso sumria de trabalhadores
(com fundamento na violao do devido processo legal caso
Baena Ricardo x Panam).
Percebe-se a potencialidade da litigncia internacional em
propiciar avanos internos no regime de proteo dos direitos
humanos. Esta a maior contribuio que o uso do sistema
internacional de proteo pode oferecer: fomentar progressos e
avanos internos na proteo dos direitos humanos em um
determinado Estado.
A incorporao da sistemtica de petio individual,
ademais, reflexo do processo de reconhecimento de novos atores
na ordem internacional, com a conseqente democratizao dos
instrumentos internacionais. Se os Estados foram ao longo de
muito tempo os protagonistas centrais da ordem internacional,
vive-se hoje a emergncia de novos atores internacionais, como
as organizaes internacionais, os blocos regionais econmicos,
os indivduos e a sociedade civil internacional (ex: organizaes
no-governamentais internacionais). O fortalecimento da
sociedade civil internacional, mediante um network que alia e
fomenta uma rede de interlocuo entre entidades locais, regionais
e globais, bem como a consolidao do indivduo como sujeito
de direito internacional demandam a democratizao dos
instrumentos internacionais. Demandam, ainda, o acesso aos
mecanismos internacionais e prpria justia internacional.
O surgimento de novos atores internacionais requer a
democratizao do sistema internacional de proteo dos
direitos humanos. A ttulo de exemplo, merece destaque o
Protocolo n.11 do sistema regional europeu, que permitiu o
acesso direto do indivduo Corte Europia de Direitos
Humanos. Acrescente-se ai nda a recente aprovao do
Protocolo Facultativo Conveno sobre a Eliminao da
Discriminao contra a Mulher, de 1999, que incorpora a
sistemtica de petio individual. Neste mesmo sentido, cabe
meno ao proj eto de Protocol o Facul tati vo ao Pacto
151
Internacional dos Direitos Econmicos, Sociais e Culturais,
que, do mesmo modo, introduz o direito de petio individual.
Contudo, vale ressaltar a resistncia de muitos Estados
em admitir a democratizao do sistema internacional de
proteo dos direitos humanos, especialmente no que tange
acei t ao da si st emt i ca de pet i o i ndi vi dual . Est a
sistemtica cristaliza a capacidade processual do indivduo no
plano internacional, constituindo um mecanismo de proteo
de marcante significao, alm de conquista de transcendncia
histrica, como leciona Antnio Augusto Canado Trindade
19
.
Com efeito, ainda grande a resistncia de muitos Estados
em aceitar as clusulas facultativas referentes s peties
individuais e comunicaes interestatais. Basta destacar que:
a) dos 147 Estados-partes do Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Polticos apenas 97 Estados aceitam o mecanismo das
peties individuais (tendo ratificado o Protocolo Facultativo
para este fim); b) dos 124 Estados-partes na Conveno contra
a Tortura, apenas 43 Estados aceitam o mecanismo das
comunicaes interestatais e das peties individuais (nos
termos dos artigos 21 e 22 da Conveno); c) dos 157 Estados-
partes na Conveno sobre a Eliminao de todas as formas
de Di scri mi nao Raci al apenas 34 Estados acei tam o
mecanismo das peties individuais (nos termos do artigo 14
da Conveno); e, finalmente, d) dos 168 Estados-partes na
Conveno sobre a El i mi nao de todas as for mas de
Discriminao contra a Mulher, apenas 21 Estados aceitam o
mecani smo das peti es i ndi vi duai s, tendo rati fi cado o
Protocolo Facultativo Conveno sobre a Eliminao da
Discriminao contra a Mulher.
Faz-se ainda fundamental que os tratados de proteo
dos direitos econmicos, sociais e culturais possam contar com
19
Ver TRINDADE (1991). p. 8.
152
uma efi caz si stemti ca de moni toramento, prevendo os
rel at ri os, as pet i es i ndi vi duai s e as comuni caes
interestatais. Seria importante acrescentar ainda a sistemtica
das investigaes in loco, apenas prevista na Conveno
contra a Tortura e no Protocolo Facultativo CEDAW. Neste
cenrio, fundamental encorajar os Estados a aceitar estes
mecanismos. No mais admissvel que Estados aceitem
direitos e neguem as garantias de sua proteo.
Alm destes mecanismos, crucial que se fomente a
elaborao de indicadores tcnico-cientficos para avaliar o
cumprimento e a observncia dos direitos econmicos, sociais
e culturais, especialmente no que tange sua necessria
progressividade e proibio de retrocesso social.
Outra estratgia propiciar a visita de relatores especiais
da ONU ou da OEA sobre temas afetos aos direitos econmicos,
sociais e culturais. As relatorias temticas constituem um eficaz
meio de catalisar as atenes e dar visibilidade a determinada
vi ol ao de di rei tos humanos, bem como de propor
recomendaes. Mais que simbolizar um diagnstico sobre a
situao dos direitos humanos em determinado pas, a maior
contribuio da atuao dos relatores, na elaborao de
relatrios, est em estes servirem de instrumento para obteno
de avanos internos no regime de proteo dos direitos humanos
em determinado pas. A respeito, vide o positivo impacto da
visita no Brasil do relator da ONU para a Tortura, em 2000.
Adicione-se ainda o impacto da visita do relator sobre o direito
alimentao no Brasil, em 2002.
Destaca-se, ainda, a indita experincia no Brasil de adoo
de relatorias temticas sobre os direitos econmicos, sociais e
culturais, sob inspirao das relatorias da ONU. Foram, assim,
criadas as relatorias para: a) sade; b) moradia; c) educao;
d) alimentao; e) trabalho; e f) meio ambiente. Tal como no
sistema da ONU, a proposta que tais relatorias formulem um
diagnstico da situao destes direitos e apontem recomendaes
para assegurar o pleno exerccio de tais direitos.
153
Em suma, so necessrios esforos para otimitizar a
justiciabilidade e a acionabilidade dos direitos econmicos, sociais
e culturais, fortalecendo a efetivao do direito incluso social.
4) Incorporar a pauta social de direitos humanos na
agenda das instituies financeiras internacionais,
das organizaes regionais econmicas e do
setor privado
Para enfrentar a pobreza como forma de violao de direitos
humanos e para reforar o direito incluso social, no basta apenas
a implementao dos direitos humanos pelo Estado. A prpria
Declarao sobre o Direito ao Desenvolvimento e o PIDESC
enfatizam tanto a necessidade de adoo de programas e polticas
nacionais, como da cooperao internacional. O artigo 4
o
da
Declarao reala que a efetiva cooperao internacional essencial
para prover aos pases em desenvolvimento meios que encorajem
o direito ao desenvolvimento.
No contexto da globalizao econmica, faz-se premente
a incorporao da agenda de direitos humanos por atores no-
estatais. Neste sentido, surgem trs atores fundamentais:
a) agncias financeiras internacionais; b) blocos regionais
econmicos; e c) setor privado.
Com relao s agncias financeiras internacionais, h o
desafio de que os direitos humanos possam permear a poltica
macroeconmica, de forma a envolver a poltica fiscal, a poltica
monetria e a poltica cambial. As instituies econmicas
internacionais devem levar em grande considerao a dimenso
humana de suas atividades e o forte impacto que as polticas
econmicas podem ter nas economias locais, especialmente em
um mundo cada vez mais globalizado
20
.
20
Cf. ROBINSON (1999). Adiciona ROBINSON (1999): A ttulo de exemplo, um
economista j advertiu que o comrcio e a poltica cambial podem ter maior impacto
no desenvolvimento dos direitos das crianas que propriamente o alcance do oramento
dedicado sade e educao. Umincompetente diretor do Banco Central pode ser mais
prejudicial aos direitos das crianas que um incompetente Ministro da Educao.
154
21
Afirma SACHS (1999). p. 8 apud STEINER & ALSTON (2000): Aproximadamente
700 milhes de pessoas as mais empobrecidas esto em dbito perante os pases
ricos. Os chamados Highly Indebted Poor Countries (pases pobres altamente
endividados) compem um grupo de quarenta e duas economias financeiramente
falidas e largamente desestruturadas. Eles devem mais de $100 milhes em dvida
no paga ao Banco Mundial, ao Fundo Monetrio Internacional, a demais Bancos
de desenvolvimento e governos (...). Muitos deste emprstimos foram feitos em
regimes tirnicos para responder aos propsitos da Guerra Fria. Muitos refletem
idias equivocadas do passado. (...) O Jubileu 2000, uma organizao que tem o
apoio de pessoas to diversas como o Papa Joo Paulo II, Jesse Jackson e Bono, o
cantor de rock, tem defendido a eliminao da dvida externa dos pases mais
pobres do mundo. A idia frequentemente vista como irrealista, mas so os
realistas que fracassam ao compreender as oportunidades econmicas da ordem
contempornea. (...) Em 1996, o FMI e o Banco Mundial anunciaram um programa
de grande impacto, mas sem prover um dilogo verdadeiro com os pases afetados.
Trs anos depois, estes planos fracassaram. Apenas 2 pases, Bolivia e Uganda,
receberam $200 milhes, enquanto que 40 pases aguardam na fila. No mesmo
perodo, a bolsa de valores dos pases ricos cresceu mais de $5 trilhes, mais que 50
vezes que o dbito dos quarenta e dois pases pobres. Assim, um jogo cruel dos
pases mais ricos do mundo protestar que eles no teriam como cancelar as dvidas.
Embora as agncias financeiras internacionais estejam
vinculadas ao sistema das Naes Unidas, na qualidade de agncias
especi al i zadas, o Banco Mundi al e o Fundo Monetri o
Internacional, por exemplo, carecem da formulao de uma
poltica vocacionada aos direitos humanos. Tal poltica medida
imperativa para o alcance dos propsitos da ONU e, sobretudo,
para a coerncia tica e principiolgica que h de pautar sua
atuao. A agenda de direitos humanos deve ser, assim,
incorporada no mandato de atuao destas agncias.
H que se romper comos paradoxos que decorremdas tenses
entre a tnica includente voltada para a promoo dos direitos
humanos, consagrada nos relevantes tratados de proteo dos direitos
humanos da ONU(comdestaque ao Pacto Internacional dos Direitos
Econmicos, Sociais e Culturais) e, por outro lado, a tnica excludente
ditada pela atuao especialmente do Fundo Monetrio Internacional,
na medida em que a sua poltica, orientada pela chamada
condicionalidade, submete pases em desenvolvimento a modelos
de ajuste estrutural incompatveis com os direitos humanos
21
.
155
Quanto aos blocos regionais econmicos, vislumbram-
se, do mesmo modo, os paradoxos que decorrem das tenses
entre a tni ca excl udente do processo de gl obal i zao
econmi ca e os movi ment os que i nt ent am reforar a
democracia e os direitos humanos como parmetros a conferir
lastro tico e moral criao de uma nova ordem internacional.
De um lado, portanto, lana-se a tnica excludente do processo
de globalizao econmica e, de outro lado, emerge a tnica
includente do processo de internacionalizao dos direitos
humanos, somadas ao processo de incorporao das clusulas
democrticas e direitos humanos pelos blocos econmicos
regionais. Embora a formao de blocos econmicos de alcance
regional, tanto na Unio Europia, como no Mercosul, tenha
buscado no apenas a integrao e cooperao de natureza
econmica, mas posterior e paulatinamente a consolidao da
democracia e a implementao dos direitos humanos nas
respectivas regies (o que se constata com maior evidncia na
Unio Europia e de forma ainda bastante incipiente no
Mercosul), observa-se que as clusulas democrticas e de
direitos humanos no foram incorporadas na agenda do
processo de globalizao econmica.
No que se refere ao set or pri vado, h t ambm a
necessi dade de acent uar sua responsabi l i dade soci al ,
especialmente das empresas multinacionais, na medida em que
const i t uem as grandes benefi ci ri as do processo de
gl obal i zao, bastando ci tar que das 100 (cem) mai ores
economias mundiais, 51 (cinqenta e uma) so empresas
multinacionais e 49 (quarenta e nove) so Estados nacionais.
Por exemplo, importa encorajar empresas a adotarem cdigos
de di rei tos humanos rel ati vos ati vi dade de comrci o;
demandar sanes comerciais a empresas violadoras dos
direitos sociais; adotar a taxa Tobin sobre os investimentos
financeiros internacionais, dentre outras medidas.
156
22
EIDE (1995) Op. Cit. p. 383 acrescenta: Onde a renda igualmente distribuda
e as oportunidades razoavelmente equnimes, os indivduos esto em melhores
condies para tratar de seus interesses e h uma menor necessidade de despesas
pblicas por parte do Estado. Quando, por outro lado, a renda injustamente
distribuda, a demanda por iguais oportunidades e igual exerccio de direitos
econmicos, sociais e culturais requer maior despesa estatal, baseada em uma
tributao progressiva e outras medidas. Paradoxalmente, entretanto, a tributao
para despesas pblicas nas sociedades igualitrias parece mais bem vinda que nas
sociedades em que a renda injustamente distribuda.
5) Reforar a responsabilidade do Estado na
implementao dos direitos econmicos, sociais e
culturais e do direito incluso social, bem como
na pobreza como violao de direitos humanos
Por fim, considerando os graves riscos do processo de
desmantelamento das polticas pblicas estatais na esfera social,
h que se redefinir o papel do Estado sob o impacto da
globalizao econmica. H que se reforar a responsabilidade
do Estado no tocante implementao dos direitos econmicos,
sociais e culturais.
Como adverte Asbjorn Eide: Caminhos podem e devem ser
encontrados para que o Estado assegure o respeito e a proteo
dos direitos econmicos, sociais e culturais, de forma a preservar
condies para uma economia de mercado relativamente livre. A
ao governamental deve promover a igualdade social, enfrentar
as desigualdades sociais, compensar os desequilbrios criados pelos
mercados e assegurar um desenvolvimento humano sustentvel. A
relao entre governos e mercados deve ser complementar. (...)
Onde a renda igualmente distribuda e as oportunidades
razoavelmente equnimes, os indivduos esto em melhores
condies para tratar de seus interesses e h uma menor necessidade
de despesas pblicas por parte do Estado. Quando, por outro lado,
a renda injustamente distribuda, a demanda por iguais
oportunidades e igual exerccio de direitos econmicos, sociais e
culturais requer maior despesa estatal, baseada em uma tributao
progressiva e outras medidas.
22
157
No mesmo sentido, pontua Jack Donnelly: Mercados
livres so economicamente anlogos ao sistema poltico
baseado na regra da maioria, sem contudo a observncia aos
direitos das minorias. As polticas sociais, sob esta perspectiva,
so essenciais para assegurar que as minorias, em desvantagem
ou privadas pelo mercado, sejam consideradas com o mnimo
respeito na esfera econmica. (...) Os mercados buscam eficincia
e no justia social ou direitos humanos para todos.
23
Acrescente-se ai nda que a efeti vao dos di rei tos
econmicos, sociais e culturais no apenas uma obrigao moral
dos Estados, mas uma obrigao jurdica, que tem por fundamento
os tratados internacionais de proteo dos direitos humanos, em
especial o Pacto Internacional dos Direitos Econmicos, Sociais
e Culturais. Os Estados tm, assim, o dever de respeitar, proteger
e implementar os desc enunciados no Pacto. Este Pacto, que conta
atualmente com a adeso de 145 Estados-partes, enuncia um
extenso catlogo de direitos, que inclui o direito ao trabalho e
justa remunerao, o direito a formar sindicatos e a eles se filiar,
o direito a um nvel de vida adequado, o direito moradia, o
direito educao, previdncia social, sade, etc. Nos termos
em que esto previstos pelo Pacto, estes direitos apresentam
realizao progressiva, estando condicionados atuao do
Estado, que deve adotar todas medidas, at o mximo de seus
recursos disponveis
24
, com vistas a alcanar progressivamente a
23
Ver em DONNELLY (1998) e (2001): Aliviar o sofrimento da pobreza e adotar
polticas compensatrias so funes do Estado e no do mercado. Estas so demandas
relacionadas justia, a direitos e a obrigaes e no eficincia. (...) Os mercados
simplesmente no podem trat-las porque no so vocacionados para isto.
24
Cabe realar que tanto os direitos sociais, como os direitos civis e polticos
demandam do Estado prestaes positivas e negativas, sendo equivocada e
simplista a viso de que os direitos sociais s demandariam prestaes positivas,
enquanto que os direitos civis e polticos demandariam prestaes negativas, ou
a mera absteno estatal. A ttulo de exemplo, cabe indagar qual o custo do
aparato de segurana, mediante o qual se assegura direitos civis clssicos, como o
direito liberdade e direito propriedade, ou ainda qual o custo do aparato
158
completa realizao desses direitos (artigo 2, pargrafo 1 do
Pacto)
25
. Como afirma David Trubek: Os direitos sociais,
enquanto social welfare rights implicam a viso de que o Governo
tem a obrigao de garantir adequadamente tais condies para
todos os indivduos.
Reitere-se que, em razo da indivisibilidade dos direitos
humanos, a violao aos direitos econmicos, sociais e culturais
propicia a violao aos direitos civis e polticos, eis que a
vulnerabilidade econmico-social leva vulnerabilidade dos
direitos civis e polticos. No dizer de Amartya Sen: A negao
da liberdade econmica, sob a forma da pobreza extrema, torna
a pessoa vul nervel a vi ol aes de outras for mas de
liberdade.() A negao da liberdade econmica implica a
negao da liberdade social e poltica.
26
Se os direitos civis e polticos mantm a democracia
dentro de limites razoveis, os direitos econmicos e sociais
estabelecem os limites adequados aos mercados. Mercados e
eleies, por si s, no so suficientes para assegurar direitos
humanos para todos.
27
eleitoral, que viabiliza os direitos polticos, ou, do aparato de justia, que garante
o direito ao acesso ao Judicirio. Isto , os direitos civis e polticos no se restringem
a demandar a mera omisso estatal, j que a sua implementao requer polticas
pblicas direcionadas, que contemplam tambm um custo.
25
A expresso aplicao progressiva tem sido frequentemente mal interpretada.
Em seu General Comment n. 3 (1990), a respeito da natureza das obrigaes
estatais concernentes ao artigo 2, pargrafo 1, o Comit sobre Direitos Econmicos,
Sociais e Culturais afirmou que, se a expresso realizao progressiva constitui
um reconhecimento do fato de que a plena realizao dos direitos sociais, econmicos
e culturais no pode ser alcanada em um curto perodo de tempo, esta expresso
deve ser interpretada luz de seu objetivo central, que estabelecer claras obrigaes
aos Estados-partes, no sentido de adotarem medidas, to rapidamente quanto
possvel, para a realizao destes direitos.
26
Ver SEN (1999). p.08.
27
DONNELLY (1998). Op. Cit. p. 160.
159
Diante destes desafios resta concluir pela crena na
implementao dos direitos humanos, como a nica plataforma
emancipatria de nosso tempo. Hoje, mais do que nunca, h que
se inventar uma nova ordem, mais democrtica e igualitria, capaz
de celebrar a interdependncia entre democracia, desenvolvimento
e direitos humanos e que, sobretudo, tenha a sua centralidade no
valor da absoluta prevalncia da dignidade humana.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ARENDT, H. As origens do totalitarismo. Rio de Janeiro: s.ed.,
1979.
BEDJAQUI, M. The Right to Development. In: _____ (Ed.)
International Law: Achievements and Prospects, 1991. p. 1182.
BOBBIO, N. Era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1988.
BUERGENTHAL, T. Prlogo. In: TRINDADE, A. A. C. A
proteo internacional dos direitos humanos: fundamentos jurdicos
e instrumentos bsicos. So Paulo: Saraiva, 1991, p.xxxi.
DONNELLY, J. Ethics and International Human Rights. In:
UNITED NATIONS UNIVERSITY. Ethics and International
Affairs. Tokyo: United Nations University Press, 2001. p.153.
_____________. International Human Rights. Boulder: Westview
Press, 1998. p.160.
EIDE, A. Obstacles and Goals to be Pursued. In: _____; _____;
KRAUSE, C. Economic, Social and Cultural Rights. Boston:
Martinus Nijhoff Publishers, 1995. p.383.
160
EIDE, A.; ROSAS, A. Economic, Social and Cultural Rights:
A Universal Challenge. In: _____; _____; KRAUSE, C.
Economic, Social and Cultural Rights. Boston: Martinus Nijhoff
Publishers, 1995.
________; _______; KRAUSE, C. Economic, Social and Cultural
Rights. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1995.
ESPIELL, H. G. Los derechos econmicos, sociales y culturales en el
sistema interamericano. San Jos: Libro Libre, 1986. p. 16-17.
FIX-ZAMUDIO, H. Proteccion juridica de los derechos humanos.
Mxico: Comision Nacional de Derechos Humanos, 1991. p.184.
HENKIN, L et al, International Law: Cases and materials, 3.
ed. Minnesota: West Publishing, 1993. p. 3.
LAFER, C. Comrcio, desarmamento, direitos humanos: reflexes
sobre uma experincia diplomtica. So Paulo: Paz e Terra,
1999. p. 145.
_________. A reconstruo dos direitos humanos: um dilogo com
o pensamento de Hannah Arendt. So Paulo: Cia das Letras,
1988, p.134.
PEREIRA, A. G.; QUADROS, F. Manual de Direito Internacional
Pblico. 3.ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. p. 661.
ROBINSON, M. Constructing an International Financial, Trade and
Development Architecture: The Human Rights Dimension. Zurich:
UNHCHR, 1999. Di spon vel em: <www. unhchr. org>.
Consultado em: 1 Jul. 1999.
ROSAS, A. The Right to Development. In: EIDE, A.; ROSAS,
A.; KRAUSE, C. Economic, Social and Cultural Rights. Boston:
Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995. p. 254-255.
161
ROSAS, A. So-Called Rights of the Third Generation. In: EIDE,
A.; ROSAS, A.; KRAUSE, C. Economic, Social and Cultural Rights.
Boston: Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995. p. 243.
SACHS, I. Desenvolvimento, direitos humanos e cidadania. In:
________. Direitos humanos no sculo XXI, 1998a. p.156.
________. O desenvolvimento enquanto apropriaao dos
direitos humanos, Estudos Avanados, v. 12, n. 33, 1998b, p.149.
_________. Release the Poorest Countries for Debt Bondage,
International Herald Tribune, 12 -13 Jun. 1999.
SANTOS, B. de S. Por uma concepo multicultural de direitos
humanos. In: _____. Reconhecer para libertar : os caminhos do
cosmopolitanismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 2003.
SEN, A. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf,
1999. p.08.
______. Worl d Povert y and Human Ri ght s: Cosmopol i tan
Responsibilities and Reforms. Cambridge: Polity Press, 2002.
SIKKINK, K. Human Rights, Principled Issue-Networks, and
Sovereignty in Latin America. Massachusetts: International
Organi zati ons Foundati on, Massachusetts Insti tute of
Technology, 1993.
STEINER, H.; ALSTON, P. International Human Rights in Context:
Law, Politics and Morals, 2.ed. Oxford: Oxford University Press,
2000. p.1329-1330.
TRINDADE, A. A. C. A proteo internacional dos direitos humanos:
fundamentos jurdicos e instrumentos bsicos. So Paulo:
Saraiva, 1991.
162
UNITED NATIONS. General Comment n.3. New York: UN, 1990.
(Document E/1991/23).
UNDP. Human Development Report, 2002. New York: UNDP,
Oxford University Press, 2002.
VASAK, K. For Third Generation of Human Rights: The Rights
of Solidarity. New York: International Institute of Human
Rights, 1979.
163
O objetivo deste ensaio anunciar e compartilhar o desenho,
os objetivos, a metodologia e a formatao do programa Fome Zero,
prioritrio do Governo Lula. Esse programa no nasceu em janeiro
de 2003; nasceu em janeiro de 1990, quando o candidato Lula
perdeu as eleies, no ano anterior, para o candidato Collor. Na
ocasio, atravs do Instituto Cidadania e do Governo Paralelo,
elaborou-se uma poltica de segurana alimentar para o Brasil. Esse
programa, que atravessou as trs ltimas campanhas eleitorais do
candidato Lula foi, inicialmente, elaborado pelo pai do Ministro
Jos Graziano, o companheiro Jos Gomes da Silva, j falecido,
unanimidade nacional na sua competncia em poltica agrria e em
poltica de segurana alimentar.
Segurana alimentar uma questo de segurana nacional.
Vrias naes descobriram, a partir da 1 Guerra Mundial, que a
alimentao uma arma. H ameaa de escassez ou extino
de alimentao em algumas regies do planeta e, portanto, um
pas que tem uma poltica estratgica, de longo prazo, deve ter
uma poltica de segurana alimentar.
Apenas em 2002, durante a campanha eleitoral, que a
proposta ganhou a marca Fome Zero e, uma vez eleito, o
presidente Lula, j no dia do resultado da eleio, anunciou
nao que esse seria o carro-chefe da sua administrao. Isso
O PROGRAMA FOME ZERO
Frei Betto*
* Assessor Especial do Presidente da Repblica e Coordenador da Mobilizao
Social para o Programa Fome Zero
164
tem a ver com um fator objetivo, que um escndalo, de
vivermos num pas que um dos maiores produtores mundiais
de alimentos e, no entanto, um tero da populao, cerca de 44
milhes de pessoas ou pouco mais de 9 milhes de famlias,
vivem em insegurana alimentar.
O primeiro portugus que pisou aqui, Pero Vaz de
Caminha, j se deu conta de que em se plantando, tudo d.
Portanto, a fome no Brasil traz essa conotao de escndalo, na
medida em que vivemos na terra da fartura, onde no h
nenhuma catstrofe natural, apesar das dimenses continentais
do pas e, ao contrrio de nossos vizinhos latino-americanos e
caribenhos, aqui no h neve, deserto, terremoto, vulces,
furaces. No entanto, h fome, o que injustificvel, a no ser
pelo descaso de tantos governos que, na verdade, nunca se
empenharam na questo social. Para muitos deles, a questo
social era um derivativo de primeira-dama.
O presidente Lula o primeiro da histria do Brasil que no
vem da pobreza, mas da misria. O Brasil teve um nico presidente
que veio da pobreza, Nilo Peanha. Mas Lula veio da misria. Passou
fome, teve uma histria trgica de infncia. Para ele, erradicar a
fome no Brasil um compromisso atvico, moral. Como se acaba
com uma mazela social? S h uma receita, que o Brasil aplicou
para erradicar a sua maior mazela, a escravido. Em nenhum pas
das trs Amricas ela durou tanto quanto aqui. Foram 358 anos, e
durante 300 anos a escravido foi considerada to natural quanto
o dia e a noite, e s foi erradicada oficialmente quando se
transformou num fato poltico. Tambm muitas geraes
conviveram, no Brasil, coma fome, semse importar, mas na medida
em que transformarmos a fome num fato poltico, ela h de acabar
no Brasil, como acabou a escravido.
Um exemplo de que a despolitizao das questes sociais
faz com que elas perdurem e se aprofundem so as campanhas
mundiais em prol da erradicao do vrus HIV. H contribuies
milionrias, mobilizaes de grandes sumidades de Hollywood,
165
empresrios como Bill Gates que, anualmente, doam milhes
de dlares para as pesquisas da Aids, e bom que isso acontea.
O escndal o que, se chegarmos em Santa Mni ca, na
Califrnia, e abrirmos a lista telefnica, vamos encontrar o
nmero da Fundao Elizabeth Taylor contra Aids, e isso
bom, mas jamais encontraremos o nmero da Fundao
Elizabeth Taylor contra a fome. O que significa isso? Significa
um terrvel preconceito de classe. A Aids no faz distino de
classe. A fome, sim; que os pobres morram, isso no nos
importa. Ento no h 0,01 por cento de mobilizao mundial
para acabar com a fome no mundo. At porque acabar com a
fome no mundo acabar com a desigualdade social.
No h poltica de erradicao da fome sem distribuio de
renda, sem tocar nas estruturas, ou seja, se no se toca nas
questes estruturais no possvel resolver a questo social e,
no Governo Lula, a lgica se inverteu: a economia meio e o
social fim. A economia a ferramenta e o social objetivo
primordial do governo. Por isso, ao ser empossado, o Presidente
priorizou os mais pobres entre os pobres, os famintos que, alis,
diga-se de passagem, no votaram nele, porque, segundo todas as
pesquisas de campanha, era nas classes C e D que havia os maiores
ndices de rejeio, talvez at por causa daquele princpio
denunciado por Marx e, mais tarde, pelo psicanalista Franz Fannon
num livro clssico, Os Condenados da Terra, que diz que, devido
sua baixa auto-estima, o pobre no elege outro pobre, por no
acreditar que algum na sua condio pode ser capaz de algo. Ele
cria tamanha dependncia, como trabalhou o professor Paulo
Freire em relao ao opressor, que internaliza, na sua conscincia,
os paradigmas do opressor, e o velho Marx j tinha constatado
que jamais nenhum pas miservel faria revoluo. De fato, no
o lumpemproletariado a classe mais revolucionria, como a
histria do Brasil revela. Foi no setor mais bem pago da classe
trabalhadora, os metalrgicos do ABC, que surgiram os
movimentos mais progressistas, e no entre os setores mais
166
deserdados. Da a importncia de se estabelecer um plano
estratgico de erradicao da fome para quatro anos.
O Fome Zero no um programa assistencialista, ao
contrrio da maioria das atividades de combate fome existentes
no Brasil. um programa de insero social, o que significa
que, quanto menos a famlia beneficiria depender do programa,
maior o seu xito. Ela tem que ser alada da excluso para a
incluso social. No Fome Zero menos importante distribuir
alimentos do que gerar renda, trabalho e resgatar a auto-estima
e a cidadania. No se exige nota fiscal dos beneficirios, a menos
que o comerciante local a emita. No h de ser o governo que
vai incentivar a sonegao. Quando se pede algum comprovante,
no por desconfiana do consumidor beneficirio, mas para
que o programa possa avaliar como est evoluindo na educao
nutricional; por exemplo, se est conseguindo vencer vcios
alimentcios que todos ns brasileiros trazemos, porque somos
analfabetos em matria de nutrio. Ao contrrio dos chineses,
os brasileiros no sabem o que ingerem; ingerem substncias
altamente danosas sade, por ignorncia, porque no fomos
educados para a nutrio.
Ao contrrio dos chineses, no sabemos quais so os
alimentos que convm ser ingeridos pela manh, porque
melhoram a nossa disposio para enfrentar o dia, e quais os
que devem ser ingeridos noite, porque nos preparam para
um bom repouso. Sequer temos uma educao para a
degl uti o. O brasi l ei ro sequer sabe masti gar, tem uma
tendncia a ingerir os alimentos sem permitir que o organismo
trabalhe como uma usina qumica para tornar mais fcil a
sua absoro. Disso decorre uma srie de problemas de sade
pel a m nutri o ou pel a i nsufi ci nci a nutri ci onal . Por
exemplo, na regio do semirido, que uma das prioridades
do Fome Zero, as pessoas passam o ms inteiro consumindo
macaxei ra ou fei j o, quando poderi am consumi r outros
produtos. Ento preciso que essa comprovao permita
167
saber se a famlia passou a ingerir legumes, verduras, frutas,
alimentos muito positivos na nossa nutrio.
O Fome Zero um programa de todo o governo, embora
elaborado e monitorado por um ministrio, o Ministrio
Extraordinrio de Segurana Alimentar e Combate Fome, para o
qual todas as polticas sociais devem convergir. A posteriori,
constatamos que as iniciais formam a palavra MESA. No desenho
do programa, colocamos um COPO, um PRATO, um SAL e um
TALHER, ou seja, preciso que em cada Estado do Brasil haja
um CONSEA, Conselho de Segurana Alimentar e Nutricional e
que, a exemplo do CONSEAFederal, os Conselhos Estaduais sejam
integrados por dois teros de representantes da sociedade civil
organizada e um tero por representantes do poder pblico. O
governo faz um apelo: que em cada municpio sejam mobilizados a
sociedade civil, as entidades, associaes, igrejas, ONGs, sindicatos,
clubes de servio que trabalham com a populao carente; que
essas instituies, entidades e organizaes se organizem em funo
da instituio do CONSEA, pressionando o poder pblico para
que isso seja formatado o quanto antes, porque assim o Fome
Zero se tornar um programa nacional.
Para 2003, o Programa tem cinco prioridades: o semirido
nordestino, incluindo os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri; as
aldeias indgenas em estado de subnutrio; os acampamentos e
assentamentos rurais; a populao que vive nos e dos lixes; e as
comunidades quilombolas, que so mais de 1.000 em todo pas.
At dezembro de 2003, o programa, que hoje j atinge 191
municpios, chegar a dois mil municpios com recursos do
governo federal. Porm, qualquer municpio que j tenha
estabelecido o seu CONSEA, e que tenha o programa em
andamento, pode e deve agilizar-se para implant-lo, porque o
FOME ZERO no propriedade do governo federal, e muito
menos do poder pblico; protagonismo da sociedade civil. Essa
mobilizao que vai garantir o xito do programa, que est acima
de partidos, de credos, de ideologias etc.
168
O COPO significa Conselho Operativo do Programa Fome
Zero. Em cada municpio, o CONSEA deve ter, como brao
executivo, um COPO, para credenciar as entidades que recebero
os alimentos doados. Existem entidades muito srias que fazem,
h anos, um trabalho com a populao em estado de insegurana
alimentar, como o caso dos Vicentinos. preciso averiguar
quais so as entidades que fazem um trabalho srio e quais as
que so apenas um cabide de empregos, disfaradas em ONGs,
mas que no atuam efetivamente junto populao carente. O
COPO tem esse papel, mas tambm ajuda a recolher os
alimentos, armazen-los e transport-los. Cria um sistema de
informao populao local sobre o programa.
O PRATO equivale aos comits do Betinho, Programa de
Ao Todos Pela Fome Zero. Se voc juntar mais duas pessoas,
voc formou um PRATO. Vamos encher o prato dos famintos. O
PRATO essa grande rede de voluntrios, em todo pas, que vai,
cada um deles, encontrar a sua maneira de participar do Fome Zero.
O ttulo do PRATO j revela que haver uma boa margem de
autonomia. Cada PRATO ir estabelecer o seu programa de ao
Todos Pela Fome Zero. No cabe ao CONSEA dizer o que cada
PRATO ir fazer. O CONSEA pode at apelar aos PRATOS, mas
o melhor que o PRATO j tome a iniciativa de exercer uma srie
de atividades, assumindo as populaes carentes dentro dos
objetivos do Programa e das suas possibilidades. Se puder atuar
numa creche, ou com filhos de uma comunidade que vive do lixo,
timo. Se puder atuar com um pequeno segmento de populao da
rua, mas que assuma algum tipo de compromisso junto queles
que vivem em estado de insegurana alimentar, timo. Os PRATOS
tambm recolhem alimentos, aprendem a armazen-los, fazem com
que cheguem s entidades que cuidam dessa populao, evitando
entregar diretamente famlia ou pessoa carente, para reduzir o
nvel de assistencialismo.
O SAL so os agentes de segurana alimentar. Cada agente
acompanha um nmero de famlias beneficirias. No caso do
169
semirido, estamos priorizando as 500 famlias que vivem no
estado de penria. O cadastro feito pelo governo federal anterior
no confivel, da a importncia de recadastrar as famlias
com renda mensal inferior a meio salrio mnimo. Essas famlias
tm um carto alimentao, entregue preferencialmente mulher
e no ao marido, porque a mulher administra melhor a economia
domstica. Ela retira na Caixa Econmica, mensalmente, 50
Reais, e adquire alimentos, evitando bebidas alcolicas, fumo e
refrigerantes. Algum pergunta: mas se o marido tomar o dinheiro
da mulher e beber em cachaa na esquina? Quem trabalha com
movimento popular sabe que, se isso acontecer, ser uma nica
vez, porque a prpria comunidade organizada vai impedir que
acontea de novo. Por exemplo, em Guaribas (PI), municpio
pi l oto do Fome Zero, a pri mei ra coi sa que as fam l i as
beneficirias fizeram foi elencar quais os comerciantes que
vendiam os produtos mais baratos do municpio, porque, quando
o Fome Zero comeou a ser implantado, alguns comerciantes
subiram excessivamente os preos do produto. Essas famlias
adquiriram um nvel de conscincia em apenas dois meses de
Fome Zero, graas organizao que o programa implanta.
Guaribas uma regio produtora de feijo e, todo ano, os
atravessadores aparecem para comprar o produto. Como sempre,
apareceram este ano e ofereceram 22 reais por saca de feijo e,
pela primeira vez na histria do municpio, o povo disse:
ningum vai vender separadamente, a venda ser comunitria,
e vamos fazer leilo. Resultado: graas ao Fome Zero, a saca
de feijo foi vendida a 60 reais. Por a se tem uma idia do que
representa a entrada do programa, no que diz respeito insero
social, num pequeno municpio. Algum pode dizer que 50 reais
muito pouco. muito pouco considerado individualmente,
mas se pensarmos que, num municpio como Guaribas, um dos
cinco mais pobres do pas, so 25 mil reais mensais em
circulao, reativando a economia local, isso uma revoluo.
Por isso, repito, que o mais importante no Fome Zero no
170
distribuir alimento, porque o programa no quer incentivar a
mendicncia alimentcia, o programa quer promover a insero
social e, por isso, prefere distribuir dinheiro.
O Governo Federal no vai absorver as pequenas doaes,
que devem ser trabalhadas pelos municpios, de modo que cheguem
o quanto antes a setores carentes. O Governo Federal s aceitar
as grandes doaes, que sero, preferencialmente, leiloadas pela
CONAB e transformadas em dinheiro. No haver procisso de
carretas atravessando o Brasil de sul ao norte, para o Nordeste,
levando alimentos para serem distribudos. Para saber como est
indo o Fome Zero basta saber a resposta para esta pergunta: se
cessarmos o trabalho amanh, a populao continua com fome
ou ter alcanado a sua insero social? isso o Fome Zero:
tanto mais exitoso, quanto mais rapidamente a famlia no
depender dele e da solidariedade nacional.
Quem e o que faz o agente de segurana alimentar?
Preferencialmente, esse agente ser um dos filhos das prprias
famlias beneficirias, que ter o seu primeiro emprego, de
acompanhar ms a ms cada uma das 30, 40 famlias sob a sua
guarda. Esse agente ir checar se os beneficirios esto
freqentando o curso de alfabetizao, de cooperativismo, de
microcrdito; se esto sendo feitas as hortas comunitrias; se est
sendo feito o aproveitamento integral dos alimentos; entre outras
questes. Ou seja, so esses agentes que vo garantir a progressiva
insero social de cada setor beneficiado, e todos eles sero
capacitados por uma equipe de educao cidad, que vai se
multiplicar em tantas outras equipes, chamadas TALHER.
Talher um instrumento de alimentao, mas tambm a
ressonncia do espanhol taller, oficina, capacitao. A equipe
do TALHER capacita o SAL, o agente de segurana alimentar,
os monitores dos PRATOS e dos COPOS, porque no basta
saciar a fome de po, preciso tambm saciar a fome de beleza
e, como diz o poeta, a primeira sacivel; a segunda, infindvel.
Em outras palavras, se no trabalharmos a subjetividade dos
171
beneficirios, o programa corre o risco de fracassar. Se no
trouxermos as pessoas para uma conscincia de cidadania, o
programa corre o risco de ficar no mero assistencialismo. No
queremos repetir no programa Fome Zero o erro dos pases
socialistas da Europa que, em nome do socialismo, ofereceram
aos trabalhadores um futuro burgus e, de repente, como
aconteceu com os operrios da Alemanha Oriental, ficaram
olhando para o outro lado do Muro e, vendo que os supostos
expl orados do outro l ado ti nham uma vi da mui to mai s
confortvel que a deles, que eram proprietrios dos meios de
produo. Ento disseram: Que se dane o socialismo! Prefiro
ser explorado, ter um carro novo e poder passar frias nas praias
da Itlia ou da Espanha, do que ser dono dos meios de produo
e estar aqui ralando o ano inteiro e com carro de quatro
geraes. isso que temos que evitar no programa, porque se
ficarmos s no benefcio material, que o carto, vamos formar
uma nova gerao de burgueses, individualistas, e o programa
quer formar um grande mutiro de cidados participantes da
vida social, como se formou nesse pas ao longo dos ltimos 40
anos, principalmente.
Conheo muitas experincias, mas vou falar daquela que
me toca mais de perto, as Comunidades Eclesiais de Base. Atravs
delas, dos cem mil ncleos de CEBs no pas, formamos toda uma
gerao militante sem oferecer nenhuma contrapartida material.
Dessa gerao de CEBs, temos cinco ministros, sem falar de
deputados federais, senadores e tantas outras lideranas. Conheci
nas CEBs a Ministra da Assistncia Social, Benedita da Silva; a
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; o Ministro Jos Fritsch,
da Pesca; o Ministro do Desenvolvimento Agrrio, Miguel
Rossetto; e o Ministro das Cidades, Olvio Dutra, na Pastoral
Operria. Se foi possvel criar uma gerao cidad atravs dos
movimentos sociais, sem nenhuma contrapartida material, muito
mais ser se soubermos atrelar a fome de po fome de beleza,
educao cidad; e isso fundamental no desenho do programa.
172
O programa rene polticas locais, feitas pelo municpio;
polticas especficas, como o caso do carto alimentao; e
polticas estruturais, as cinco reformas prioritrias do governo Lula:
agrria, tributria, previdenciria, trabalhista e poltica. H ainda a
campanha nacional de alfabetizao, e o brao hdrico do programa,
Sede Zero. Por intuio de um agricultor, h 20 anos se descobriu
que no se combate a seca, aprende-se a conviver com ela. Como
disse o Presidente da Repblica, combater a seca a mesma coisa
que combater a neve, ou seja, no Nordeste chove, s que chove
muito em poucos dias. O segredo, descoberto por aquele cidado,
como conservar a gua da chuva. Ele inventou a cisterna de
placa. O brao hdrico do Fome Zero a ASA - Articulao no
Semirido, o maior frum de entidades no Brasil. A ASA congrega
mais de 700 entidades, sindicatos, ONGs, igrejas, etc, voltados
para um programa de construo de 1 milho de cisternas de
captao da gua da chuva via telhado das casas. A FEBRABAN,
Federao dos Bancos, vai financiar a construo de 10 mil cisternas,
e o Presidente liberou verba para a construo de mais 12 mil
cisternas. uma revoluo na famlia beneficiada pela cisterna.
Primeiro, porque, at ento, essas famlias tinham suas crianas e
mulheres andando longos percursos, diariamente, para captar gua
contaminada. De cada trs crianas que morrem no Brasil, uma
morre de gua contaminada. Ou ento dependiam do carro-pipa,
um grande trambique eleitoralista dos maus polticos do semirido.
No momento em que se constri a cisterna, a famlia tem que passar
por um processo educativo. Ela capta, em dois dias de chuva, 16
mil litros de gua potvel, porque a primeira gua deixa-se correr
para lavar a atmosfera e os telhados; a segunda gua, que vai direto
para a cisterna, potvel, pode se beber durante oito ou nove meses.
Ela abastece uma famlia de cinco pessoas at que cheguem as
novas chuvas. Essa gua utilizada para dar de beber aos animais,
na higiene domstica, na cozinha. A gua domstica conservada
para a plantao em volta da casa, desde que no seja atirada
diretamente na planta. Ela precisa ser filtrada, nos seus
173
componentes qumicos, pela terra, e, por isso, precisa ser colocada
a trs palmos da plantao.
O Programa Fome Zero j est sendo implantado em todo
pas, atravs das iniciativas das prefeituras, via CONSEA ou
da sociedade civil, via movimento social articulado no Brasil,
incluindo a iniciativa privada e as empresas pblicas. As
empresas pblicas so obrigadas a participar, mas as privadas
entram como parceiras, e sempre exigimos que a parceria seja
por quatro anos. No queremos parceria porque agora o programa
est na moda. feito um protocolo, dado um certificado, de
maneira que essa parceria se torna uma coisa sria e conseqente.
Como podemos agilizar o programa? Alguns exemplos: a
comunidade judaica de So Paulo, atravs da Confederao
Israelita Brasileira, fez a seguinte pergunta: somos um grupo
pequeno, temos algum poder, e de que maneira podemos
agilizar o programa? No mesmo dia, a prefeitura de Diadema,
em So Paulo, fez a mesma pergunta. Juntamos os dois,
CONIB e Di adema que, por sua vez, assumi ram, nos
prximos quatro anos, uma parceria com a prefeitura de
Itinga, no Vale do Jequitinhonha, que recebeu a visita do
Presidente Lula e seus ministros em janeiro. Durante quatro
anos, esses dois parceiros vo ajudar Itinga a elevar os seus
nveis de desenvolvimento humano. Estamos incentivando
cidades-irms, em que uma cidade mais bem aquinhoada se
torne cidade-irm de um desses municpios em estado de
calamidade pblica, por quatro anos. J estamos planejando
uma viagem para alguns pases da Europa, porque h vrias
cidades na Itlia e na Espanha, especialmente, interessadas
em se tornar cidades-irms dos municpios prioritrios. Uma
escola do Rio de Janeiro fez a pergunta: Como podemos
participar do Fome Zero? Assinaram um convnio com uma
escola de ensino fundamental do Vale do Jequitinhonha, prxima
ao Rio. Durante quatro anos, essa escola vai acompanhar a outra
escola, ajud-la na merenda escolar, no material didtico, no
174
equipamento de esporte, lazer e cultura, fazer permutas em
feriados prolongados, em frias, entre professores e alunos. A
um grupo sindical que se ofereceu para participar do Fome Zero,
sugerimos a realizao de uma parceria com o sindicato de
agricultores do semirido. A Scania, uma empresa importante
de fabricao de caminhes, est assumindo, durante quatro
anos, um municpio do semirido Nordestino. Alm desses,
existem tantos outros exemplos.
Queremos que os PRATOs tambm funcionem assim,
dentro de uma perspectiva de longo prazo e educativa; nunca
assistencialista. O exemplo mais elementar de trabalho junto
populao carente uma ao emergencial e as aes
emergenciais so importantes. No desestimulamos a coleta
de alimentos, pois, como disse o Betinho, quem tem fome
tem pressa, e preciso fazer alguma coisa por aquelas pessoas
que esto em estado de insegurana alimentar.
O resultado da eleio do companheiro Lula a maior
prova de que o movimento social tem muito poder; e esse
poder que vai transformar esse pas. No h outra via.
Programas municipais e estaduais
de enfrentamento da pobreza
e da excluso
177
O modelo de gesto preconizado pela Constituio
brasileira de 1988 para as polticas sociais supe a articulao
entre o alcance da gesto democrtica com a consolidao dos
direitos sociais. O artigo 204 da Constituio claro a esse
respeito e foi includo por demanda de movimentos sociais,
principalmente ligados criana e ao adolescente. Sua redao
demarca que a descentral i zao, a muni ci pal i zao e a
participao so marcas da gesto social brasileira a serem
adotadas pelos rgos pblicos das trs instncias de governo.
Est e pri nc pi o const i t uci onal demarca os ei xos
ori ent adores da di vi so i nt ergovernament al das
responsabilidades sociais entre os nveis de governo e, por
conseqncia, da gesto das polticas sociais. Pode-se dizer
que, exceo da sade, as demais reas da poltica social no
est abi l i zaram, em seu modo de gest o, os di t ames
constitucionais. Na sade, a proposta de Reforma Sanitria,
nasceu sob a insgnia no s da ruptura com a exclusividade
do modelo curativo individual subordinando-o ao modelo
preventivo sanitarista, como tambm, na exigncia da sua
gesto democrtica, participativa e sob controle pblico.
GESTOINTERGOVERNAMENTAL PARA
OENFRENTAMENTODAEXCLUSO
SOCIAL NO BRASIL
Aldaza Sposati*
* Secretria Municipal de Assistncia Social da Prefeitura de So Paulo.
178
Sem ingressar no mbito das diversificaes conceituais
da excluso social, o que farei no percurso do texto, convm
afirmar de sada que at o incio do terceiro milnio no est
pactuado o alcance da gesto intergovernamental brasileira
para a incluso social.
A Frana, a exemplo, gerou lei nacional ao final da dcada
de oitenta, introduzindo alteraes nos dispositivos na sua
legislao social que permitissem a nfase na incluso social.
O Estado francs predomi nantemente central i zado,
portanto, esta louvvel conduo precisaria ser mesclada, no
caso brasileiro, com o compromisso de descentralizao e
alargamento dos canais democrticos, de modo a romper com a
herana ditatorial na cultura das instituies governamentais,
expressa pelo predomnio da tecnocracia.
A assistncia social, poltica que compe o regime
brasileiro de seguridade social com a sade e previdncia
soci al , no al canou ai nda a gesto descentral i zada. A
presena dos municpios nessa poltica operada como uma
organi zao executora do pensamento da Uni o. A
desconcentrao adotada fere o princpio constitucional de
i sonomi a entre os entes federati vos e de autonomi a do
municpio para atender s caractersticas de interesse local.
Nesse contexto de baixa definio poltica do carter da
descentralizao do social, vem ocupando espaos polticos a
discusso sobre o pacto intergovernamental de gesto dos
programas de transferncia de renda.
Desde o incio da dcada de 90, a transferncia de renda
comeou a ser apresentada como a alternativa eficaz s
ineficincias de programas sociais, com forte custo meio e
baixo investimentos nos fins, isto , a crtica de que vinha
ocorrendo o desperd ci o admi ni strati vo dos recursos
financeiros e de que pouco chegava s mos dos usurios.
emergncia de experincias municipais, como a de
Campinas, seguiram-se outras estaduais e posteriormente sua
179
pulverizao em programas nacionais. O novo modelo de gesto
do social era o de associar a cada poltica social uma transferncia
de renda. Na educao o bolsa-escola, na sade o vale-
alimentao, na assistncia social o benefcio de prestao
continuada, o agente jovem, o PETI (Programa de Erradicao
de Trabalho Infantil), nas Minas e Energia o vale-gs. Terminou
o ano de 2002 com tickets sociais em profuso, cuja avaliao
de resultados entre meios e fins para a incluso social est por
ser realizada.
Uma das bandeiras democrticas e de ruptura com a
tradicional poltica de assistncia social, sustentada em atenes
individuais, a de substituir o mecanismo assistencial por uma
poltica no contributiva de proteo social bsica e especial.
O percurso do mecanismo assistencial , em geral, o da
fragmentao e do reducionismo de ajudas no geradoras de
direitos sociais.
Enquanto a assistncia social vem operando este difcil
percurso, as polticas sociais tradicionais foram buscando
novos caminhos para estabelecer sua relao com o mercado.
A sade e a educao so geradoras, em sua ateno, de
demandas a serem supridas pelo mercado farmacutico de
medi camentos e de materi ai s di dti cos. O bai xo poder
aquisitivo da populao, isto , o grau de indigncia das
famlias foi afastando a condio para que garantissem o
provimento das pr-condies para uso dessas polticas
pblicas com seus salrios. A transferncia de renda seletiva
e sob a orientao segmentada das polticas sociais visa
retomar a capacidade de consumo dessas famlias para serem
usurias dessas polticas sociais.
i nteressante observar este desl ocamento do
mecanismo assistencial. Enquanto a assistncia social luta por
se tornar poltica de direitos, outras polticas sociais passam
a adotar mecanismos seletivos de acesso fora do campo das
seguranas e garantias sociais.
180
O pr edom ni o do mi l agr e dos pr ogr amas de
transferncia de renda no iderio das polticas sociais do incio
do terceiro milnio exige algumas consideraes particulares
no desenvolvimento desse artigo, principalmente no que diz
respeito ruptura que trazem expanso dos direitos sociais
e do exerccio da gesto democrtica.
EXCLUSO SOCIAL E TRANSFERNCIA DE
RENDA
Em contexto de alta desigualdade econmica e social,
como o caso do Brasi l , geram- se dvi das quant o
possibilidade das polticas sociais exercerem sua inerente
capacidade redistributiva. Uma das respostas a tais dvidas,
operada vi a de regra por economi st as, t em si do a de
subordi nar o al cance das pol t i cas soci ai s regul ao
econmica neoliberal e ao monetarismo, gerando programas
oficiais de transferncia de renda que no ingressam no campo
dos direitos sociais. A alta seletividade adotada em nome
da busca do mel hor f oco, acel erada pel a t ecnol ogi a
informacional, dispensa o conhecimento e a verbalizao das
necessi dades do requerente. A rel ao soci oeducati va e
humana subst i t u da por processos i nf or mat i zados
i nfl ex vei s, sob a j ust i fi cat i va de i mpedi r t radi ci onai s
mecani smos de favor da cul tura pol ti ca coronel i sta e
patrimonialista que marcou o acesso s polticas sociais
brasileiras pr Constituio de 1988.
Esta assepsia relacional retira dilogo, protagonismos,
trabalho socioeducativo considerando-os como mau uso do
recurso pbl i co. O padro soci al substi tu do pel o da
operao fi nancei ra, centrado no i ndi v duo que, com
dinheiro no bolso, escolher sua oportunidade no mercado.
O outro lado da moeda no levado em conta, isto , a
181
alta seletividade focalizada direciona a seleo a indigentes,
os mais pobres dentre os pobres, para quem o tamanho e a
diversificao das necessidades exige de tudo: acessos sociais,
acessos urbanos, ofertas intersetoriais, oferta de emprego,
sade, apoios familiares, transporte, endereo para receber
carta, entre outras tantas necessidades no alcanveis pela
ajuda financeira ou disponvel no territrio em que vivem.
Excluso e apartao social das condies de incluso social
de acesso aos demais habitantes so fortes motivos de sua
miserabilidade que o parco e transitrio dinheiro no bolso
no resolve. Muito menos quando processos de orientao
social, coletivos ou individuais, so abstrados e se mantm
as relaes entre governo e usurio, reificados em um carto
magntico. As medidas de avaliao pela info excluso
social deslocam-se do exame real das alteraes na vida do
beneficiado para o exame do grau de injeo de recursos que
ela provoca no mercado. O critrio de eficincia assim o da
capacidade de instalar um novo veculo de transferncia de
recursos pblicos para o mercado. O processo de transferncia
de recurso individual e a avaliao do comportamento do
mercado e no das aquisies do cidado e de sua famlia.
Este modo economicista liberal, ou neoliberal, restringe
o social do monetrio, no altera em absoluto o padro das
relaes sociais, da cidadania, da democracia na sociedade
brasileira. Portanto quando se tem por meta a relao
intergovernamental para o enfrentamento da excluso social
a discusso do aporte de financiamento de cada esfera
governamental uma parte do debate a ser realizado. A
questo central a distncia destas gestes para o alcance
dos direitos sociais e da gesto democrtica.
A discusso do mbito financeiro importante para o
gestor pblico, mas no , em absoluto, a questo que d
direo poltica ao enfrentamento da excluso/incluso social
para os brasileiros apartados na cidadania e no direito. Com
182
isto, no se nega a exigncia do adequado financiamento da
poltica social, mas no se pode fazer dele uma questo central,
subordinando o alcance de democracia e de direitos sociais
como secundrios. H aqui uma interdependncia entre uma e
outra dimenso caso, de fato, o horizonte seja a incluso social.
Considero que o enfrentamento da excluso social tem,
na alterao do contrato social entre Estado, sociedade e
mercado, seu enraizamento fundamental. Polticas e programas
que escamoteiam esta dimenso no alteram o padro de
civilidade dentre os brasileiros e no alcanam a condio da
universalidade do direito a ter direitos.
O social exige a forte incluso da dimenso poltico-
cultural principalmente em contextos brasileiros em que a
redistribuio de renda exige a expanso do contrato social.
inseparvel no Brasil o avano combinado entre
democracia, direito e polticas sociais. A luta brasileira pelo
Estado de Direito, em contraponto ditadura, soldou a busca
de uma agenda social com seu carter democrtico, a ser
cumprida pelo Estado em suas trs instncias de gesto.
O alcance formal de direitos sociais em 1988, atravs
de texto constitucional e no de condies efetivamente
i mpl antadas constri o que denomi no de regul ao
social tardia.
Trata-se da realidade de pases via de regra latino-
americanos e do sul da Europa que precisam enfrentar e
derrubar ditaduras para poderem expressar direitos sociais, mas,
que ao alcanar tal condio, se defrontam com a hegemonia da
regul ao econmi ca neol i beral que i mpede/di fi cul ta a
ampliao de provises sociais pblicas extensivas, usando, para
isso, de mecanismos transnacionais de regulao econmica
restritiva. A inteno de implantar um modelo de welfare
demandado pela agenda dos movimentos sociais vai ter pela
frente, ou pelos flancos, agncias internacionais que delimitam
as regulaes nacionais aos interesses econmicos globalizados.
183
Os mecanismos sociais e sindicais que levaram s rupturas
polticas do ltimo quartil do sculo XX no Brasil e trouxeram a
democracia e os direitos sociais cena defrontaram-se assim
com uma nova realidade:
alcance da democracia subordinada regulao
inter nacional ou globalizada. A nova realidade
mundial e nacional imps duas grandes lutas sociais:
o confront o com os di t ames i nt ernaci onai s,
demarcados principalmente pelas correntes de posio
mais esquerda, contra o imprio e o imperialismo
que historicamente subjugaram pases colonizados,
pobres ou subdesenvolvidos, integrantes da dvida
financeira internacional;
a construo de respostas locais com experincias
democrticas de gesto e de ampliao de acessos
sociais impulsionadas por movimentos locais pela
garantia de direitos e condies de vida. Esta segunda
vertente foi catalisada extensivamente por gestes
democrticas-populares no mbito de prefeituras do
PT Partido dos Trabalhadores, onde se destacam
Porto Alegre, Belo Horizonte e, mais recentemente So
Paulo, pontualmente por experincias da social
democracia brasileira.
Sem querer com este duplo recorte simplificar as lutas,
mas tendo por objetivo demarcar dois locus catalisadores de
foras de lutas sociais, preciso ter claro que diversamente
das realidades dos pases europeus, emergncia das respostas
sociais, no caso brasileiro, so marcadas mais pelas ousadias
municipais do que pela presena de compromissos nacionais.
A primeira onda deste municipalismo-social ocorreu
ainda sob a ditadura, em 1974, nas emblemticas experincias
emedebistas de Lages e de Piracicaba. A segunda onda
sociomunicipalista, no incio da dcada de 80, apareceu em Icapui
(Cear), com a inovao do oramento democrtico pichado nos
184
muros da cidade pelo Prefeito, como forma de publicizao e
estmulo ao controle pblico. As experincias da dcada de 90
sero difusas em cidades de vrios portes e marcadas por um
novo assento legal, agora constitucional sob o Estado de Direito.
Outro forte contributo do ps 88 a emergncia de leis sociais
i nfraconsti tuci onai s como o Estatuto da Cri ana e do
Adolescente em mbito nacional, a Lei Orgnica da Assistncia
Social, a Lei de Diretrizes e Bases da Educao, e uma srie de
leis estaduais e municipais de alcance de direitos a segmentos
sociais e de direitos diferena de gnero, etnia, etria, etc. Ao
mesmo tempo se consolida de modo exemplar: a experincia de
Oramento Participativo de Porto Alegre; o Programa de Renda
Mnima de Campinas; a instalao de Fruns de lutas municipais,
estaduais e nacionais por direitos sociais e direitos humanos; de
Consel hos pari tri os de gesto e de Fundos soci ai s de
financiamento intergovernamental com capacidade de captao
de recursos externos.
Nova era democrtica de gesto social articulada, ou no,
com ONGs que passam a ter tambm papel protagnico, muitas
vezes realado em detrimento da necessria regulao social do
Estado e fazendo perdurar o velho princpio da subsidiariedade.
Toda essa fora soci al vai construi r duas grandes
instncias na gesto das polticas sociais brasileiras: a macro
gesto poltica e a microgesto poltica. No mbito da microgesto,
a demarcao do territrio inter-relaciona o social com o urbano
e evidenca um novo campo de luta pelo direito cidade, ou o
direito a que o municpio consiga estender a infra-estrutura
urbano-social necessria qualidade de vida a todos os bairros
reais. Trata-se, no caso, da incluso na agenda pblica das reas
de ocupao da populao moradora de favelas, moradias
populares que reivindicam seu reconhecimento, embora vivam
sob a ilegalidade fundiria do espao ocupado. A legitimidade
supera a legalidade inalcanvel em sua realidade de vida
indigente e excluda.
185
A luta pelo direito cidade mescla-se com as lutas
ambientais e sociais e s vai ser reconhecida como legtima
pelo Estatuto das Cidades no terceiro milnio, todavia, sem
os necessri os mecani smos l egai s para sua efeti vao e
desenvolvimento operacional da concepo da propriedade
social da terra.
INSTNCIAS DA POLTICA SOCIAL
A macrogesto da poltica social composta pelas
organizaes: supra ou transnacionais, nacionais, regionais
ou estaduais. A microgesto, por sua vez, se compe pelas vrias
formas do territrio local: metrpoles, cidades e territrios intra-
urbanos at as relaes de vizinhana.
As regulaes supranacionais adquirem dupla mo: de um
lado, as agncias restritivas ao social pela regulao econmica
financeira; e, de outro, as cpulas mundiais com presena dos
segmentos institucionais das Naes Unidas (ONU), ONGs
internacionais com carter expansivo, em defesa de uma agenda
social ampliada e prescrito seu alcance, em um perodo de tempo
pactuado internacionalmente.
Enquanto acordos financeiros como FMI (Fundo Monetrio
Internacional) so restritivos, as cpulas difundem o alcance de
agendas mnimas para mulheres, pobreza, idosos, sade, direitos
humanos.
A poltica social em mbito nacional tambm vai seguir,
durante a dcada de 90, dupla mo. De um lado, desenvolve
experincias de regulao estatal interinstitucional, como no caso
da sade e a instalao do Sistema nico de Sade; de outro,
incentiva a subsidiariedade do Estado com a criao, por exemplo,
do Programa Comunidade Solidria, que vai diluir a necessria
regulao estatal no voluntariado e em transferncia de recursos
pblicos para organizaes sociais neogovernamentais.
186
A poltica social nacional passa a ser regulada pela seleo
de municpios ditos mais carentes pela construo do IDH,
diluindo-se o direito dos cidados que se transmuta em direito
do municpio. Isto , inscreve-se um modo seletivo de
reconhecimento dos cidados a partir, no de sua necessidade, mas
do lugar onde ele vive. Este modo discriminador da operao da
poltica social fragmenta a noo de direito de cidadania e a submete
s negociaes circunstanciais entre prefeitos e Unio.
A micropoltica, por sua vez, intensifica as relaes com
os cidados, que passam inclusive, em algumas cidades, a definir
a prioridade da alocao oramentria, gerando um novo
protagonismo.
Enquanto a instncia nacional descarta o cidado, a
muni ci pal refora sua presena democrti ca. Esta
inconsistncia da aliana entre o social e a democracia vai
gerar um conjunto de incongruncias entre as instncias
governamentais.
No se i nstal ou ai nda no Brasi l a coernci a entre
responsabilidade das instncias de governo na poltica social.
A gesto regional ou dos governos estaduais permanece com
papel difuso, concorrencial, paralelo ou suplementar aos
municpios, dependendo do interesse poltico partidrio que
preside a relao entre municpio/estado.
Construir direito incluso social ou enfrentar a excluso
social exige, no caso brasileiro, uma clara combinao entre uma
fora ascendente, pautada no protagonismo democrtico que
emerge nas cidades com a fora descendente de fortalecimento
de direitos atravs do necessrio papel regulador do Estado e
no sua fragilizao.
O modelo de gesto da poltica social, num pas de
extenso e desigualdade socioeconomica como o Brasil, exige a
incorporao decisria do municpio. preciso romper com o
modelo taylorista de gesto intergovernamental da poltica
social, onde a Unio pensa e o municpio executa.
187
A macropoltica deve conter o espao de interferncia e
deciso da micropoltica, garantindo democraticamente a
construo cidad, ativa e participativa, que emerge da micro
poltica. preciso romper o modelo da homogeneidade
totalmente incompatvel com a heterognea realidade das
cidades brasileiras. A exemplo, a ausncia de flexibilidade em
linhas de financiamento, adotadas pela Unio, exige que a
micropoltica crie uma realidade fantasia para se enquadrar
nos dispositivos que a macropoltica impe.
Clarear esta dimenso exige pontuar alguns elementos
sobre a concepo de excluso social.
RECONHECIMENTO DA EXCLUSO SOCIAL
A noo de excluso social tem sido aplicada no senso
comum como sinnimo de pobreza. Excluso social mais do
que renda, indica a perversa deciso histrica de uns pela
apartao de outros. No existem msticas religiosas que a
opacizam, mostrando que se trata de um sofrimento no hoje para
ter como prmio a conquista do paraso ps-morte. A excluso
histrica, isto , no h excluso antes de uma incluso. Ela
marcada pela desigualdade e diferenas das relaes societrias
fundadas na desigualdade, concentrao de riqueza e poder.
Como construo social, o enfrentamento da excluso s
pode se realizar com a desconstruo de sua reproduo
histrica. Isto significa uma nova relao entre as foras
societrias com o objetivo da incluso, eqidade, justia
social, isto , um novo contrato social entre sociedade,
mercado e Estado.
Alargar o contrato social entre sociedade, mercado e
Estado no Brasil exige, de sada, superar a incongruncia
reinante sobre o reconhecimento da pobreza e da excluso
social. Duas afirmaes so aqui necessrias:
188
primeiro, persiste um reducionismo na anlise da
realidade brasileira preconizado por economistas
que i ns i s t em em ut i l i zar r ef er nci as de
mi s er abi l i dade como cor t e de pobr eza. Por
cons eqnci a, ger a- s e a noo de pr ecr i as
cober t ur as s oci ai s que no r et m qual quer
possibilidade para que os miserveis e indigentes
cheguem a ser pobres, o que dir ultrapassar o limiar
da pobreza para o da no pobreza. Faltam cultura
poltica do pas consensos sobre a no pobreza,
ou mnimos sociais afianveis como patamar para
uma condio de autonomia, dignidade ou insero
em um patamar bsico de incluso social;
segundo, anlises pautadas em macrodados, em
mdi as, e no entrecortadas pel as di menses da
demografia, escamoteiam a realidade de vida dos
brasileiros. Os macrodados e as mdias, por melhor
tratamento estatstico, deixam escapar a realidade
extremamente heterognea das condies da vida real
da popul ao das ci dades. Enquant o 48% dos
municpios brasileiros tm at 10 mil habitantes,
cidades como So Paulo tm mais de 10 mil pessoas
que vivem em si tuao de rua. A popul ao em
situao de rua no includa nos censos oficiais,
poi s el a no domi ci l i ada, conf or me exi ge a
metodologia censitria. Inexiste uma linha censitria
no pas que conte os sem-teto, ou os sem-terra que
vagam em ruas ou estradas. Mais ainda, os mapas
of i ci ai s das ci dades regi st ram os ar r uament os
regulares e no a presena de brasileiros, mesmo que
em locais sem legalidade fundiria.
Perversamente, os conceitos de pobreza adotados no
Brasil e difundidos na cultura poltica de dirigentes so o
conceito de teto e no de piso. Com isso, o horizonte das
189
polticas sociais permanece na utopia de que os brasileiros
alcancem o lugar da pobreza, e no o da sua superao.
Inexi ste um i nvesti mento soci opol ti co em estabel ecer
consensos sobre condies bsicas de vida, que evidenciem
incluses, cidadania, no pobreza. Esta uma utopia a ser
aclarada.
Predominam as concepes em que o pobre, ao contrrio
do rico, enxergado to-s pelo que lhe falta na condio de
carente e necessitado. Ele visto como um vazio onde no
h espaos para suas potencialidades, ou mesmo para a
mutao do conceito de necessitado para o reconhecimento
de suas necessidades.
O entendimento de mnimos sociais de cidadania poder
levar a um pacto mais alargado, pautado na dignidade humana
para todos, como manifestao civilizatria. O conceito de
pobr eza, por cont r apont o, l eva r esi dual i dade e ao
entendimento de que a boa focalizao significa identificar
os mais pobres dentre os pobres os miserveis para que
sejam menos pobres, mas que continuem sob a chancela de
pobres.
Quero tocar ainda em duas conseqncias da aplicao
da concepo da pobreza como base do compromisso da
polcia social: a noo de compensatrio e de focalizao.
A regulao da poltica social centrada no mercado,
como querem os liberais ou neoliberais, traz distores
significativas. Ela deve ser desenvolvida como poltica no
mer cant i l . Tor nando cl ar a est a pr emi ssa, di r i a que
compensao, no campo econmico, signo positivo e no
campo social signo negativo. Compensar um cheque trocar
papel-compromisso por papel-moeda no mesmo valor. O
compensar social fazer al go no recomendvel que
favorece a t ut el a e a dependnci a. Ist o , t rat a-se de
compensar o mercado pelo no consumidor e no de indenizar
o cidado ou reconhecer-lhe direitos de igualdade.
190
Tom Campbell nos diz que, se a pobreza uma violao de
direitos humanos, ela supe identificar a responsabilidade, isto ,
a criminalizao da prtica de empobrecer outras pessoas e no o
ato de buscar a culpa do indivduo. Neste caso, estamos apontando
para a reparao ou indenizao. Temos aqui um signo positivo
de compensao para a pobreza. Quando nos afastamos do
referencial do conceito de mercado para exame da condio de
vida, verificamos criticamente que tal influncia mercadolgica
opera a noo de compensao a menor, discriminatria para quem
no consumidor e depende de proteo pblica. Por
contraponto, quando se analisa o carter da compensao fora da
referncia ao mercado, torna-se evidente nova apreenso, isto ,
a da compensao sob o signo de cidadania, onde ela assume o
sentido de indenizao de uma dvida social.
Outra concepo fundamental, e que vem ocupando o
debate pbl i co, da rel ao entre universalizao e
focalizao, utilizadas como oposies. Ao pensar/falar de
poltica social, estamos tratando de seres humanos. Portanto,
a universalizao imprescindvel enquanto direito de
cidadania afianvel a todo ser humano. O referencial em foco
na pobreza rompe o signo universal e traz como referncia a
cidadania invertida, j que se referencia na condio de
necessi tado e no de ci dado, produzi ndo uma noo
excludente e estigmatizadora.
A focalizao pode ser regra de prioridade, mas no de
excludncia. Se assim no for, a focalizao como construo
ideolgica e neoliberal castradora da condio de cidadania.
Por outro lado, a di reo de universalidade, em uma
sociedade em que o mercado produtor de atenes sociais
de forma concorrencial ao Estado, termina por limitar o
acesso aos servios estatais a quem no tem renda para
consumi r o ser vi o pri vado. Assi m, sade, educao,
habitao, assistncia social so todas polticas pblicas para
os mais pobres ou para aqueles sem renda para o consumo
191
pri vado. Dest e pont o de vi st a t odas so f ocal i zaes
universais ou universalizaes focadas.
A direo da poltica social a universalidade como direito
afianvel e constitucional, embora sua prtica, em uma
sociedade de mercado, termine por alcanar predominantemente
quem no consome o servio privado.
A pobreza tem rosto, gnero, diferenas e territrio, isto
, o lugar como elemento bsico para construo da identidade
do cidado. Muitos brasileiros no tm acesso a endereo
alcanvel pelo correio, no so comunicveis ou localizveis.
So muitos os demandatrios de acessos sociais que vivem em
reas onde os servios pblicos, ou o Estado no chega. Esta
realidade no s caracterstica dos povos da Amaznia, mas
tambm de cidade e metrpoles como So Paulo.
A propsito, quero aqui incluir alguns dados de estudos
soci oter ri tori ai s que temos desenvol vi do na Ponti f ci a
Universidade Catlica de So Paulo PUC/SP, desde 1995,
com a construo da metodologia do Mapa da Excluso/
Incluso Social, bem como, da pesquisa financiada pela
FAPESP (Fundo de Amparo Pesquisa) e atravs de parceira
com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), pelo
Centro de Estudos de Desigualdades Scio Territoriais
CEDEST. Out ro est udo compl ement ar o Mapa das
Vulnerabilidades, construdo pela Secretaria Municipal de
Assistncia Social da Prefeitura de So Paulo em parceria com
o CEM (Centro de Estudos Metropolitanos) do CEBRAP
(Centro Brasileiro de Anlise e Pesquisas).
Estes estudos geram medidas territoriais intra-urbanas,
no caso de So Paulo por distrito (96), por setores censitrios
(13.120), ou por reas da pesquisa OD (Origem/Destino) do
Metr (360). medida que ocorre a aproximao territorial, o
comportamento da relao incluso/excluso social se altera
sensivelmente, isto , ela emerge com fora de qualidade e de
quantidade nas concentraes urbanas.
192
Na seqncia de mapas que ilustram esse pensamento,
parte-se dos estudos do IDH-2000, realizados pelo PNUD
(Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento). O
Brasil examinado pelo IDH dos Estados mostra a regio sul
e sudeste com altos IDHs. A segunda aproximao dos IDHs
dos municpio brasileiros j altera essa realidade que pode
ser verificada, por exemplo, nas diferenas internas do Estado
do Ri o Grande do Sul ou do Estado de So Paul o ao
particularizar o IDH de seus municpios.
Em outro recorte, agora da cidade de So Paulo, atravs
da metodologia de balanceamento dos dados de cada distrito,
medindo-os enquanto a discrepncia entre as melhores e as
piores situaes detectadas e parametradas a partir de um
padro bsico de incluso, verifica-se que: dentre os 96
distritos, em 76 deles o conjunto populacional majoritrio
que ali vive est abaixo de um padro bsico de incluso. A
anlise do movimento populacional entre os distritos mostra
que a populao dos distritos mais includos decresceu na
dcada em at 27%, enquanto que a populao dos distritos
mais excludos cresceu em at 120%. Tende a aumentar a
populao nos territrios de maior excluso e, quando se
examina o percentual populacional por faixa etria, verifica-
se que ali vivem mais crianas do que em outras reas.
O segundo estudo Mapa das Vulnerabilidades traz
o recorte do terri tri o da ci dade pel os 13. 120 setores
censitrios que agrupam 200 famlias em mdia, ou 1.000
pessoas. Este estudo permitiu reconhecer 3.300 setores ou
cerca de 3 milhes de brasileiros que vivem em domiclios
chefi ados por j ovens em al t ssi ma pri vao e i dade de
reproduo. Isto significa que so territrios com maior
presena de crianas. Compromete-se, no caso, no s o
presente como o futuro. Recorta-se, ai nda, doi s dos 96
distritos da cidade de So Paulo, para melhor evidenciar
territrios com maior vulnerabilidade das famlias.
193
ndice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000
Todos os Estados do Brasil
ndice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000
Todos os Municpios do Brasil
Fonte: PNUD Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (out/2003).
194
ndice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000
Municpios do Estado de So Paulo
ndice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000
Municpios do Estado do Rio Grande do Sul
Fonte: PNUD Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (out/2003).
195
Mapa da Vulnerabilidade, 2003
Municpio de So Paulo
Distritos com maior ndice de
vulnerabilidade
Municpio de So Paulo
Fonte: PUC/SP, INPE, POLIS, Mapa da Excluso/Incluso Social, 2002.
196
Esta topografia social base para o planejamento de
prioridades da presena das polticas sociais.
Estes exemplos, que se enquadram na produo de uma
nova tecnologia social voltada para a incluso social, mostram
que temos capacidade cientfica e tecnolgica de, a partir das
cidades, desenvolver a alocao de respostas e provises sociais
territorializadas, integradas, intersetoriais e democrticas e, desta
forma, com manifesta capacidade de enfrentar a excluso social.
ndice de Excluso/Incluso Social, 2002
Municpio de So Paulo
Fonte: PUC/SP, INPE, POLIS, Mapa da Excluso/Incluso Social, 2002.
197
Para tanto, o modelo intergovernamental necessita incorporar
a l i nha ascendente de deci so para a gesto soci al . Em
contraponto, so necessrias redes locais intersetoriais, com
insero na organizao popular e no com exclusividade em
cartes pl sti cos de transfernci a de renda. O trabal ho
socioeducativo vivo e potenciador do empreendedorismo e do
protagonismo social fundamental. A linha de incluso social
supe que se expanda no tempo a capacidade de resilincia
para enfrentar os conflitos e se desenvolver as potencialidades
da populao. So necessrias polticas de desenvolvimento
humano e soci al al m da t ransfernci a de renda que
automaticamente no afiana resultados sociais e aquisies
demandadas ao cidado e sua famlia. Elas podem ser uma
porta de entrada, mas, com certeza, no so uma porta de sada,
como j se afirmou aqui.
Esta perspecti va de arti cul ao entre trabal ho
socioeducativo, expanso da rede de proteo social, programas
de transferncia de renda e disputa na sociedade pela inscrio
de direitos sociais a todos significa novos recursos sociais
financeiros e polticos de orientao redistributiva, com
capacidade de instalar pactos de solidariedade para a democracia
e a incluso social.
INDICAES FINAIS
O pacto federativo nas polticas sociais assim um pacto
de cidadania que busca romper com necessidades negligenciadas
na agenda pblica. A relao intergovernamental para incluso
social e, no contraponto, ao enfrentamento da excluso social
exige um novo pacto federativo de gesto interinstitucional das
polticas sociais no Brasil.
O model o pol ti co das pol ti cas soci ai s brasi l ei ras
precisa ser revisto luz de clara regulao estatal que, sem
198
abrir mo de necessrias parcerias com ONGs, no abra mo
de afianar direitos aos cidados e garantir a centralidade do
Estado nesse processo.
preciso desenvolver uma cultura poltica de poltica
social que se comprometa com o confronto excluso social
e a favor da incluso social. O modelo de poltica social em
construo deve ser coerente com a perspectiva da abolio
da pobreza a caminho da incluso social.
199
REDE DE ASSISTNCIA SOCIAL DE PORTO
ALEGRE
Porto Alegre a capital do Rio Grande do Sul e possui
1.360.595 habitantes. Dentre a sua populao total, conforme
dados do IBGE-2000, existem 59.297 famlias na linha de
indigncia, ou seja, vivem em residncias cujos responsveis
ganham at um salrio mnimo.
Na estrutura da poltica de Assistncia Social municipal,
o rgo gestor a Fundao de Assistncia Social e Cidadania
FASC, com a funo de gerenciar o sistema de Assistncia
Social, composto por programas e servios prprios e pela
manuteno e supervi so/assessori a rede de servi os
executados por entidades no-governamentais.
A partir de 1997, respaldada pelas deliberaes da II
Conferncia Municipal de Assistncia Social, a FASC passou
por um processo de reordenamento que apontou para a
estruturao de um novo formato de gerenciamento da Rede
de Assistncia Social e da prpria Fundao, no sentido da
descentralizao, no s dos programas e servios para as
regi es mai s empobreci das da ci dade, mas tambm da
descentralizao gerencial, favorecendo maior autonomia e
adequao s necessidades da gesto local.
O MUNICPIO DE PORTOALEGRE NO
ENFRENTAMENTOPOBREZA
Ana Paula Motta Costa*
* Presidente da Fundao de Assistncia Social e Cidadania de Porto Alegre.
200
Assim, a abrangncia da gesto de toda a Cidade, dividida
regionalmente para uma melhor administrao.
O rgo deliberativo da poltica de Assistncia Social em
Porto Alegre o Conselho Municipal de Assistncia Social/CMAS,
que organizado regionalmente atravs das Comisses Regionais
de Assistncia Social. As CRAS so instncias de participao direta
e livre de todos os membros e entidades da comunidade, que elegem
representantes para o Conselho e que tm carter consultivo deste
mesmo Conselho.
O CMAS responsvel, ainda, pela deliberao dos
recursos do Fundo Municipal de Assistncia Social, que recebe
recursos da unio, estado e municpio para financiamento de
toda rede municipal.
Do ponto de vista da execuo da poltica de Assistncia
Social, a cidade dividida em regies de abrangncia, que so
administradas por gerentes regionais, cujas responsabilidades so:
administrar os equipamentos, programas e servios prprios de sua
regio, gerenciar o processo de assessoria rede conveniada de
sua regio, responder perante a CRAS, responder perante o Conselho
Tutelar e articular o gerenciamento conjunto comas demais polticas
sociais do municpio.
A criao das Gerncias Regionais, com poder de
representao poltica e decisria no mbito da Regio, em
consonncia com a diretriz da descentralizao, possibilita uma
maior articulao intra e interinstitucional, no sentido de adequao
s especificidades regionais. Responde, ainda, necessidade de um
modelo gerencial mais flexvel e horizontalizado, onde o poder de
deciso compartilhado e mais prximo aos usurios, possibilitando,
por parte destes, atravs das Comisses Regionais da Assistncia
Social, a efetivao do controle social.
A estrutura do gerenciamento do sistema de Assistncia
Soci al divi di da entre Rede Bsi ca e Rede de Ser vi os
Especializados. Trata-se de redes de servios pblicos no
necessariamente estatais, controladas de forma muito prxima
pela populao.
201
A Rede Bsica consiste na rede de programas e servios
necessrios em todas as comunidades, destinados populao de
baixa renda vulnerabilizada, que mantm vnculos familiares e
comunitrios e que deve ser atendida, pelas caractersticas de
suas necessidades sociais, prxima a seus locais de moradia.
So equipamentos da Rede Bsica os nove Centros
Regi onai s de Assi stnci a Soci al , que se consti tuem em
referncia regional e plos de gerenciamento do sistema e os
doze Mdul os de Assi stnci a Soci al , responsvei s pel a
prestao de servios a determinadas comunidades, definidas
como prioritrias a partir de indicadores sociais.
A estratgia de descentralizao dos servios tambm
se d atravs de entidades no-governamentais conveniadas,
responsveis pela execuo de programas em regime de
parceri a com o poder pbl i co, atravs de convni os de
manuteno e assessoria tcnica.
Desta forma, a gesto da poltica de Assistncia Social de
Porto Alegre executada atravs da articulao de programas e
servios em um sistema regionalizado e hierarquizado, composto
por unidades operacionais prprias municipais, entidades
conveniadas e parcerias com a iniciativa privada.
So programas da Rede Bsica, os Ncleos de Apoio
Sciofamiliar, o Servio de apoio Socioeducativo SASE, o
Trabalho Educativo, o Programa de ateno ao idoso, o Apoio
ao trabalho, o Atendimento Comunidade/Planto Social, a
Assessoria Jurdica, o Agente Jovem e o PEMSE (execuo de
medidas socioeducativas).
J a rede de Servios Especializados consiste na rede de
programas e servios destinados populao com maior grau
de vulnerabilidade, que precisa de atendimento especializado
para contemplar suas necessidades.
Localiza-se em pontos estratgicos e destina-se ao
atendimento de toda a cidade, a partir de encaminhamentos do
conjunto da rede de atendimento ou das autoridades competentes.
202
So caractersticas da rede especializada o gerenciamento
da rede centralizado e especfico por equipamento e a rea de
abrangncia geral da cidade, no regional; alm do fato de os
servios serem especializados para pblicos especficos, sendo
o seu acesso, em geral, a partir de encaminhamentos.
So programas da Rede Especializada os abrigos para
crianas e adolescentes, de carter breve, casas de passagem
para vtimas de violncia, e de carter permanente, casas lares
e abrigos residenciais. O acolhimento noturno destinado a
crianas e adolescentes em situao de rua que ainda no se
vincularam aos programas da rede municipal.
J a rede especializada para populao adulta composta
dos abrigos de carter breve, seja abrigo com atendimento
integral de 24h, ou os albergues, com atendimento noturno
para populao de rua, ou ainda de carter permanente, no
caso, abrigos residenciais e instituies conveniadas para
populao idosa e portadora de deficincia.
Outros servios compem a rede especializada: a Casa de
Convivncia, o Atendimento Social de Rua, o Servio de
Educao Social de Rua, ambos voltados para a abordagem das
populaes nas ruas, e Reinsero na Atividade Produtiva RAP.
A concepo adotada na prestao dos servios em rede
tem como estratgia o objetivo da poltica de Assistncia Social
de acessibilidade s demais polticas, a incompletude dos
programas, a complementaridade entre as vrias polticas pblicas
e a articulao e potencializao de aes. Busca-se a avaliao
de cada situao social em atendimento, sendo feito diagnstico
e plano de trabalho, o qual deve ser socializado atravs da rede
de servio. Busca-se, ainda, priorizar a interveno atravs dos
servios da rede bsica. Somente quando imprescindvel, faz-
se o atendimento atravs da rede especializada.
O desafi o deste si stema est em promover mai or
autonomia para a gesto local, portanto, transferncia de
poder. Ao mesmo tempo, tambm desafiadora a manuteno
203
da conexo entre a realidade local e a poltica estabelecida
para o sistema de gerenciamento de toda a cidade.
Parte-se do conceito de que a excluso no apenas
econmica, tambm produz outras conseqncias na vida das
pessoas. Caracteriza-se pela falta de pertencimento social e
institucional, falta de informao e acesso s polticas pblicas,
perda do status e das referncias do mundo do trabalho,
determinando a baixa auto-estima dos sujeitos. A trajetria
de excluso da sociedade formalmente constituda um
processo de perda de vnculos familiares e comunitrios, alm
da ausncia de projeto de vida e de perspectiva.
Por outro l ado, a observao sobre o processo de
excluso social tambm permite constatar a resilincia e a
fora da populao, a qual se manifesta, no espao coletivo.
Neste contexto, a Assistncia Social constitui-se em
uma rede de proteo e resgate individual e coletivo. Deve
possibilitar aos usurios a resignificao da realidade, a
ampliao da conscincia acerca dos direitos sociais, alm de
permitir a construo de perspectivas de vida.
205
O Sistema Integrado de Controle Social de Polticas
Pblicas do Estado do Cear foi concebido considerando a
incluso poltica como pressuposto para aes estruturantes
de incluso econmica e social. A partir dessa perspectiva,
Secretaria Extraordinria de Incluso Social coube coordenar
esse sistema integrado, ultrapassando a dimenso meramente
tcnica dos instrumentos de controle estatal.
Oque se pretende trabalhar o tema da Incluso Social dentro
do Governo do Estado, de modo que cada Secretaria ou rgo
vinculado agregue valor social s aes implementadas, ao mesmo
tempo em que se busca viabilizar a mobilizao social a partir do
eixo da incluso e da gesto compartilhada de suas polticas.
Tal iniciativa representa um ousado desafio tcnico-
administrativo no quadro da cultura poltica prevalecente,
exigindo atores e instrumentos que promovam a capacitao
necessria para que os mais diversos setores da sociedade civil
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE
SOCIAL DE POLTICAS PBLICAS:
UMA PROPOSTA DE INCLUSO
POLTICA COMO INSTRUMENTO DE
INCLUSO SOCIAL
Celeste Cordeiro*
* Secretria Extraordinria de Incluso e Mobilizao Social do Estado do Cear.
206
organizada possam participar do monitoramento e da reflexo
sobre ndi ces e metas rel ati vos Incl uso Soci al como
princpio de desenvolvimento.
1. JUSTIFICATIVA
A justificativa para a proposio dessa estratgia de
inovao institucional pode ser fundamentada com base em
cinco pontos:
1. O aprofundamento da reforma do Estado brasileiro no
pode mais buscar legitimao como tarefa eminentemente
tcnico-organizacional, exigindo uma transformao
poltico-institucional do estado patrimonial nos rumos
do fortalecimento da democracia.
2. O fortalecimento da democracia depende do esforo em
socializar, de modo mais amplo, a responsabilidade social
sobre decises de conseqncias coletivas, o que impe
a ampliao de esferas pblicas em todos os nveis
(nacional, regional e local).
3. A nfase colocada pelo atual Governo Federal na
importncia da integrao nacional, incluindo sua
efetivao no plano territorial, precisa constituir-se
como integrao conceitual a respeito das diretrizes
para o desenvolvimento e integrao poltica no
sentido do controle social (e no mais meramente
estatal , corporati vo ou de mercado) sobre os
investimentos pblicos.
4. A evidncia do carter regressivo da desigualdade
sobre as pol ti cas pbl i cas, al i ado sua i ntensa
capaci dade de reproduo, est exi gi ndo mai or
focal i zao no estabel eci mento de pri ori dades
estruturantes voltadas ao combate pobreza e
preveno da excluso.
207
5. A disposio do Governo Estadual em colaborar, de
todas as formas possveis, com o Programa Fome Zero,
do Governo Federal, que imps a todos os brasileiros
a inadivel tarefa cvica de buscar a produtividade do
investimento pblico na direo da Incluso Social.
Nesse sentido, como afirmou Frei Betto
1
, o menos
importante no Programa a distribuio de alimentos,
chamando ateno para os necessrios fundamentos
estruturais do Fome Zero, tanto do ponto de vista
econmico (por exemplo, de fortalecimento da agricultura
fami l i ar) quanto do ponto de vi sta pol ti co (de
participao e controle social).
2. OPERACIONALIZAO DO SISTEMA
A estratgia de controle social das polticas a fim de
estimular a incluso tanto poltica como social assenta-se
sobre a articulao de instncias de negociao entre Governo
e sociedade em torno da avaliao das Metas de Incluso Social
e estrutura-se nos seguintes passos:
Sensibilizao das Secretarias para a definio setorial
de Metas de Incluso Social.
Consolidao das Metas de Incluso Social a partir
de ajustes com setores da sociedade e, novamente,
com as secretarias de governo.
Definio pblica do compromisso poltico do Governo
com a Incluso Social atravs da apresentao das Metas
de Incluso Social com destaque para 14 metas
principais a serem massivamente divulgadas a um
Frum composto por todas as lideranas da sociedade.
1
Conferncia proferida em Fortaleza, CE em maro de 2003.
208
Sofisticado processo de comunicao com a sociedade
para envolv-la efetivamente no esforo de qualificao
tcnica e parceria poltica; tal processo envolveria um
conjunto de aes, a partir de material publicitrio,
participao da imprensa, realizao de reunies com
setores organizados da sociedade, especialmente
Conselhos, realizao de seminrios regionais, e a
Conferncia Estadual de Incluso Social.
Implantao de ncoras locais do sistema, ou seja,
espaos de acolhimento e apoio s iniciativas da
sociedade civil no sentido de contribuir para o alcance
das Metas de Incl uso Soci al , que no so do
Governo, mas da sociedade como um todo; nessa
funo, os parceiros so os Conselhos Municipais
de Desenvolvimento Sustentvel (CMDS).
Organizao de Observatrios de Incluso Social, ou
seja, espaos de competncia tcnica e credibilidade
poltica, independentes e respeitados, que possam
produzir informaes qualificadas sobre as polticas
pblicas e a realidade do Estado para os diversos
setores da sociedade como Conselhos, organizaes
da sociedade civil, etc. Por sua decisiva importncia,
vale a pena tecer maiores consideraes sobre os
Observatrios de Incluso Social.
3. OBSERVATRIOS DE INCLUSO SOCIAL
Inicialmente instalados nas universidades estaduais e
federal, tendo em vista a base material e capacitao em alto
nvel que j possuem, os Observatrios de Incluso Social tambm
podem ser instalados na Assemblia Legislativa, atravs da
revitalizao de suas Comisses Tcnicas. Um encarte mensal
em jornal de grande circulao no Estado e programa semanal de
209
rdio sobre as polticas, as metas sociais e sua avaliao tambm
faro parte do sistema de Observatrios de Incluso Social.
Portanto, esses Observatrios tero importncia tanto como
formuladores de informao e opinio quanto como espaos de
mobilizao social, mesmo porque h o propsito de facilitar o
controle social atravs da traduo, num modo ludicamente
acessvel aos mais amplos setores sociais, dos ndices e Metas de
Incluso Social propostos.
Para isso, a Secretaria de Incluso e Mobilizao Social do
Estado do Cear (SIM Cear) vem inicialmente concentrando esse
esforo junto s Universidades que poderiam tornar-se verdadeiros
centros de referncia em avaliao de polticas pblicas para
Incluso Social no Estado. Esses nichos de conhecimento,
assessoria e prtica de avaliao esto sendo desenvolvidos nas
universidades estaduais UECE, Universidade Vale do Acara
UVA e Universidade Regional do Cariri URCA, alm da
Faculdade Vale do Salgado de Ic e na Universidade Federal
do Cear, descentralizando o controle social nas mais importantes
regies do Estado do Cear. O trabalho j comeou a envolver
tambm universidades particulares. Para se tornarem efetivamente
i nstr umentos de control e soci al , h a necessi dade de
disponibilizar para as universidades envolvidas:
a) Slida base de informao digital, em termos de
estrutura e de programas, como condi o para
cadastro de polticas, monitoramento e avaliao das
aes desenvolvidas. Esta base necessita constituir-
se em rede para atender de forma i ntegrada s
universidades envolvidas e outras instituies, com
destaque para o IPECE (Instituto de Pesquisa e
Estratgi a Econmi ca do Cear, vi ncul ado
Secretaria de Planejamento).
b) Interface permanente com centros avanados de
avaliao de polticas pblicas includentes, dentro e
fora do pas, procurando garantir assessoria tcnica,
210
i ncl usi ve com a previ so de vi nda ao Cear de
consultores e professores especializados.
c) Capacitao de Conselheiros e outros agentes da
sociedade para que se qualifiquem crescentemente em
sua atribuio de acompanhar e avaliar polticas
pblicas setoriais.
d) Capacitao permanente de tcnicos do Governo
para a adoo da Incluso Social como pressuposto
do desenvolvimento do Estado, para a racionalizao
das polticas propostas, o correto manejo de dados
que permita um planejamento eficiente e para a
interao com a sociedade, agora concebida como
co-gestora da ao pblica.
4. DIMENSES FUNDAMENTAIS PARA A
DEFINIO DE REAS DE AO COMUM
Trata-se, assim, de um sistema de controle e mobilizao
social centrado na implementao, monitoramento e avaliao
de Metas de Incluso Social, que se estabelecem em 4 linhas
de ao as quais se entrecruzam:
Informao tcnica sobre a realidade e as polticas.
Comunicao efetiva e criativa entre os diversos
atores envolvidos.
Mobilizao social e comunitria.
Capacitao permanente.
Com base nessas quatro di menses, defi ne-se a
construo de espaos polticos (esferas pblicas) que tambm
se interpenetram:
Espao para definir e discutir as prioridades no esforo
da Incluso Social, agregando governo e sociedade.
Espao para agir de acordo com as metas inclusivas
propostas.
211
Espao para comuni car e convocar, a parti r
principalmente da imprensa e tambm de seminrios
e conferncias.
Espao para aprimorar o olhar social sobre as polticas
includentes: Observatrios, Conselhos, ONGs etc.
Espao para discutir aes e resultados: Frum de
Incl uso Soci al , Consel hos, Observatri os,
imprensa, seminrios, conferncias.
Espao para capacitar a ao e seus agentes: Universidade
(educao a distncia), imprensa, e outras instituies e
entidades.
5. OS SIGNIFICADOS DA ESTRUTURAO DE
UM SISTEMA DE INCLUSO SOCIAL PARA
O ESTADO DO CEAR
A pri nci pal vantagem do si stema per mi ti r o
acompanhamento do desempenho do Estado e seus municpios,
ano a ano, no que diz respeito a indicadores sociais. Essa
objetividade e essa clareza tm vantagens polticas e tcnicas,
para dentro do Governo e para a sociedade, como se observa:
a) Politicamente, a primeira vez que um governo explicita
seus compromissos sociais de forma to direta, como por
exemplo, reduzir em 20% a mortalidade materna do
Estado at 2006. Mais que isso, assume o compromisso
de que nunca os indicadores sociais variaro abaixo do
percentual do PIB de um determinado ano.
b) Facilita o controle social.
c) Oferece critrios claros para a hierarquizao das
aes de governo, priorizando aquelas consideradas
centrais e dizendo o porqu; e, dessa forma, assumindo
compromisso oramentrio de alocao de recursos
nessas reas.
212
d) Internamente, o governo estabeleceu prioridades claras
que valem para o conjunto das secretarias, o que absoluta
novidade na cultura gerencial do Estado brasileiro.
e) Um conjunto de indicadores e metas de incluso social,
de alta qualidade tcnica, que permite comparaes
nacionais e internacionais, e o acompanhamento por
qual quer agnci a de estudos estat sti cos de
desenvolvimento. Permite ainda o mapeamento anual
do Estado no que se refere aos indicadores sociais, que
podem ser desagregados por regies, setores e grupos
populacionais.
f) Possibilita a montagem de um sistema lgico que liga
um indicador, numa ponta, ao trabalho interno de uma
secretaria, na outra; ou seja, pela primeira vez, o
monitoramento do rgo de planejamento tem efeitos
concretos nas opes cotidianas da poltica setorial.
6. REAS PRIORITRIAS DE POLTICAS DE
INCLUSO
A estruturao desse Sistema parte do princpio de que
a excluso social em nosso estado tem a pobreza, e em
especial a pobreza rural, como eixo fundamental, ainda que
outros fatores, como etnia, idade, sexo, deficincia fsica, etc.,
possam ser fatores agravantes.
Elege cinco reas de interveno fundamental, que no
esgotam as aes de governo contra a excluso social, mas que
se mostram, alm de estruturantes ou sustentveis no esforo
de incluso (e no meramente paliativas ou de efeito curto),
passveis de monitoramento por disporem de indicadores seguros:
I. Educao
II. Sade
III. Condies de moradia
213
IV. Emprego e Renda
V. Desenvolvimento Rural
Em cada uma dessas reas tem-se:
Uma meta global, como avanar nas condies de
empregabilidade como meio de combate pobreza.
Um i ndi cador de resul tado, como a taxa de
mortalidade infantil (na rea de Sade) que pode
medir o esforo de todos os agentes, governo e
sociedade, em direo a uma meta global.
Um indicador de oferta, para medir a contribuio do
governo nesse esforo, ex., mantendo o foco na Sade,
ampliao da cobertura do programa Sade da Famlia.
Metas setoriais de governo e os respectivos programas
para alcan-las: ex. ampliar o nmero de jovens
cursando o ensino mdio ou melhorar o desempenho
de nossos estudantes nas provas de portugus e de
matemtica do SAEB (rea de Educao).
A partir desse quadro, outros agentes sociais que
desejem contribuir podem se comprometer com metas
soci ai s espec fi cas dentro do si stema. Ex. uma
Prefeitura ou uma empresa pode definir para um
municpio ou regio a meta de alfabetizar x% dos
adul tos, dentro de uma meta governamental de
reduzir o analfabetismo em 47,7% at 2006.
A ao do Governo, como j expresso, no se esgota nessas
cinco grandes reas, havendo outras metas sociais e programas
di reci onados a segurana pbl i ca, cul tura, atrao de
investimentos industriais, assistncia social, cincia e tecnologia,
dentre outras. Especialmente no caso de definio e publicizao
das metas, foram pri ori zadas aquel as que apresentaram
indicadores, tanto de resultados, como de oferta, passveis de
serem monitorados ano a ano, por municpio, com possibilidade
de comparao, inclusive com outros Estados.
214
Trata-se, portanto, de um sofisticado sistema construdo
logicamente, que permite ao governo e, ao mesmo tempo,
sociedade, congregarem esforos numa mesma direo, com a
garantia de avaliao constante e segura dos resultados de sua
ao. Assegura a transparncia das aes de governo, convoca a
sociedade ao seu controle, busca atuar com aes estruturantes,
fugi ndo pi rotecni a do assi stenci al i smo e assumi ndo o
compromisso com um modelo de desenvolvimento includente.
Aceita o risco de priorizar aes, to difcil em nossa cultura
poltica, onde a falta de conhecimento sobre os problemas induz
a demandas i nvi vei s que fazem a del ci a de governos
descomprometidos com o social, pela facilidade com que isso
permite desmoralizar as oposies.
A base do Sistema fundamenta-se ainda na construo de
indicadores passveis de monitoramento e com alto poder de
comparabilidade. Tem como apoio a concepo das Metas de
Desenvolvimento do Milnio da ONU que, at o ano de 2015,
conclama os pases a combaterem a misria e outros tipos de
excluso social.
O Sistema de Incluso Social foi apresentado sociedade
cearense pelo Governo do Estado, juntamente com o Pacto de
Cooperao do Cear, no dia 8 de setembro de 2003. Em sntese,
o sistema pode ser acompanhado atravs do quadro a seguir.
2
1
5
217
O Rede Social SP o programa de enfrentamento da
pobreza e da desi gual dade soci al i mpl ement ado pel o
Governo Est adual at ravs da Secret ari a Est adual de
Assistncia e Desenvolvimento Social.
Trata-se de uma estratgia para combater a excluso
social a partir de uma abordagem territorial, oferecendo
projetos articulados que permitam melhorar as condies
de vida das famlias e aumentem a capacidade de insero
social e produtiva dos indivduos.
As aes estratgi cas a serem desenvol vi das esto
estruturadas em seis princpios bsicos:
1. integrao e articulao de programas intersetoriais,
evi tando a fragmentao, a superposi o e a
pulverizao das iniciativas, buscando a convergncia
e a atuao conjunta de diferentes reas do governo,
de organizaes da sociedade civil e do empresariado;
2. focal i zao nas fam l i as mai s vul nervei s, com
rendimento familiar mensal de at 1 SM;
3. focalizao da famlia vulnervel no territrio, o que
envolve a definio de reas prioritrias: municpios
com baixo desenvolvimento econmico e social; e
setores censitrios nas Regies Metropolitanas de
So Paulo, Campinas e da Baixada Santista;
REDE SOCIAL SP PROGRAMA DE
AES INTEGRADAS DO GOVERNO
DO ESTADO DE SO PAULO
Maria Helena Guimares de Castro*
* Secretria de Assistncia e Desenvolvimento Social do Estado de So Paulo.
218
4. flexibilidade no desenho dos projetos, de forma a
permitir o atendimento dos segmentos identificados
como mais vulnerveis nas diferentes localidades;
5. moni toramento cont nuo das aes como etapa
indispensvel para o gerenciamento do programa;
6. aval i ao das aes a part i r de i ndi cadores
quantitativos e qualitativos, de forma a dimensionar
os resultados e impactos obtidos.
REDE SOCIAL SO PAULO DESENHO DA
AO INTEGRADA
O desenho da ao integrada envolve a articulao de
programas e proj et os desenvol vi dos por di ferent es
Secretarias de Estado em vrios municpios do Estado de
So Paulo. So programas com reconhecida importncia
social e para os quais buscar-se- a ampliao seja do nmero
de beneficirios ou de localidades a serem cobertas.
Estes programas foram sel eci onados por estarem
orientados com os seguintes objetivos:
complementao da renda familiar;
gerao de trabalho e renda;
melhoria da escolaridade dos pais e dos jovens que
abandonaram os estudos;
melhoria das condies de vida das famlias;
complementao da jornada escolar, assegurando s
crianas e adolescentes atividades socioeducativas,
esportivas e culturais que alm de melhorarem o
desempenho escolar, funcionem como um espao
de integrao e proteo social;
ampliao das atividades de convivncia, esporte e
lazer.
219
O papel do Governo do Estado o de articular e
coordenar o setor pbl i co, pri vado, o vol untari ado e a
comuni dade, a parti r da defi ni o das reas-al vo para
i nt erveno, baseadas em di agnst i co preci so sobre a
situao de vulnerabilidade social destas localidades. Nesse
sentido, o estabelecimento de parcerias surge como forma
exemplar para a convergncia de aes com o objetivo de
evitar a pulverizao das iniciativas.
Est prevista a criao de estrutura permanente que
realize esta articulao, sob a coordenao da Secretaria
Estadual de Assistncia e Desenvolvimento Social. Essa
estrutura promover estratgias e aes intersetoriais, sendo
consti tu da de um Consel ho de Gesto, composto por
represent ant es da soci edade ci vi l e de uma Cmara
Governamental, formada por representantes das Secretarias
Estaduais. Um dos papis que caber ao Conselho de Gesto
ser o de mobilizar e articular as instituies privadas e
empresariais para o estabelecimento de parcerias.
Para a i mpl ementao de aes l ocai s, a Cmara
Governamental instituir comits tcnicos regionais, com a
220
ampla participao de representantes das instncias municipais
e da comunidade.
Etapas de Desenvolvimento
As carncias e caractersticas associadas s condies
de pobreza di ferem enormement e caso se compare
muni c pi os de pequeno port e, com predom ni o de
popul ao resi di ndo em reas rurai s, com as peri feri as
urbanas das regies metropolitanas. Assim, a ao integrada
ser desenvolvida em duas vertentes:
50 municpios paulistas com os piores ndices de
desenvolvimento humano, e
setores censitrios das Regies Metropolitanas de
So Paulo, Campinas e da Baixada Santista com
elevado grau de privao econmica e social.
As aes integradas nos 50 Municpios com Pior IDH-M
Na pri mei ra etapa, sero atendi dos 10 muni c pi os
paulistas entre os 50 com menor IDH-M. Dada a maior
concent rao de muni c pi os com bai xos ndi ces de
desenvolvimento humano na Regio do Vale do Ribeira, as
aes integradas estaro concentradas inicialmente nesta
regio, atendendo os municpios de Apia, Barra do Chapu,
Barra do Turvo, El dorado, Iporanga, Itaca, Itapi rapu
Paulista, Pedro de Toledo, Ribeira e Sete Barras. Para tanto,
est o sendo fi nal i zados os di agnst i cos regi onai s,
cont empl ando o mapeament o das carnci as e dos
atendimentos j existentes, para redirecionamento das aes
e formatao das novas intervenes.
As aes integradas nos setores censitrios com
maior grau de privao social e econmica nas
Regies Metropolitanas
Nas Regies Metropolitanas, as aes estaro focadas nos
bolses de vulnerabilidade social. Para a definio dos setores
221
censitrios a serem atendidos, est sendo utilizada metodologia
desenvolvida pelo Centro de Estudos da MetrpoleCEBRAP/
Seade que visa a deteco de diferentes situaes de carncias
sociais por meio da anlise da distribuio da estrutura
socioeconmica no espao urbano, permitindo a identificao de
grupos gerados a partir da combinao da dimenso da privao
econmica com a estrutura etria.
Na primeira etapa foram selecionados os municpios de
Carapi cu ba, Fer raz de Vasconcel os, Franci sco Morato,
Itapecerica da Serra e Itaquaquecetuba, que apresentam
concentrao elevada de setores censitrios com presena de
jovens em situaes de extrema privao social e econmica.
INFORMAO, MONITORAMENTO E
AVALIAO
Para os municpios e setores censitrios selecionados
para participar do Programa sero definidas metas precisas,
baseadas em diagnstico prvio. Nesse sentido, ser elaborado
quadro referencial com os objetivos detalhados identificados
por indicadores socioeconmicos.
Os programas e projetos so desenhados para resolver
problemas especficos, delimitados socialmente, com pblico-alvo
e objetivos bem especficos. Todos os programas tero indicadores
(medidos na situao inicial e na situao-objetivo) e contero
aes para os quais fiquem definidos custos e metas.
O monitoramento um requisito imprescindvel para o
exerccio da avaliao como um instrumento de gesto. um
processo sistemtico e contnuo que, produzindo informaes
sintticas e em tempo eficaz, permite a rpida avaliao
situacional e a interveno oportuna que confirma ou corrige
as aes monitoradas.
Os instrumentos de monitoramento sero, nesse sentido,
parte constitutiva do desenho da poltica integrada. Eles
222
funcionaro, por conseguinte, em dois nveis: o de cada ao/
projeto e o nvel da ao integrada. Seus objetivos sero:
verificar se o programa est sendo implementado
conforme seus objetivos, diretrizes e prioridades;
verificar se seus produtos esto atingindo as metas
previstas, com a necessria eficincia;
propiciar um conjunto de informaes de domnio
pblico sobre a atuao social do governo estadual e
dos governos municipais envolvidos.
Alm do monitoramento, a poltica integrada ser submetida
a uma avaliao de resultados, sob a coordenao da SEADS, que
dimensione sua eficcia no atendimento dos objetivos previamente
definidos nos municpios contemplados e nos bolses de
vulnerabilidade social metropolitanos. Ela envolver:
um sistema de indicadores municipais;
uma pesquisa de tipo painel que acompanhe ao longo
do tempo uma amostra das famlias beneficiadas pelo
Programa e de famlias inscritas que constituiro um
grupo de controle;
a identificao de impactos diferenciados nas famlias
de acordo com sua composi o e i nsero nos
programas ofereci dos, i sto , veri fi car se as
transformaes pri mri as e/ou secundri as na
real i dade so atri bu das s aes do programa,
estabelecendo as devidas relaes de causalidade.
O Cadastro pr-Social
Os programas que envolvem rgos governamentais sero
coordenados setorialmente; no entanto, para fins de macrogesto
do Programa ser desenvolvido um sistema de informaes de
monitoramento e de avaliao do Programa, como um todo.
Da mesma forma, as aes em parceria envolvendo a
sociedade civil, como por exemplo empresariado e entidades
filantrpicas, tambm sero acompanhadas e avaliadas.
223
Est sendo estruturado o Cadastro Pr-Social do Estado
de So Paulo, com a finalidade de coletar, armazenar e
disponibilizar informaes referentes atuao na rea social
dos rgos do governo e demais instituies, em sistema
corporativo. Ser composto de bancos de dados relacionais,
estruturado em trs mdulos: cadastro nico de instituies;
cadastro nico de programas /projetos/aes e cadastro
nico de famlias e beneficirios.
O sistema, baseado em arquitetura aberta, utilizando
tecnologia WEB (Internet), possibilitar aos usurios acesso
hierarquizado para incluso/excluso e consulta aos dados
armazenados, bem como disponibilizar instrumentos de
recuperao automtica de informaes e de cruzamento com
bases de dados secundrios.
Trata-se, portanto, de uma ferramenta indispensvel
para compartilhar informaes, coordenar aes e produzir
conhecimentos sobre os resultados da poltica social no
Estado. El e possi bi l i tar, tambm, a mel hori a dos
procedimentos de focalizao da poltica integrada e, em
conseqncia, aprimorar sua eficincia alocativa. SEADS,
em trabalho conjunto com a PRODESP, empresa estadual
de processamento de dados, coube o desenho e
implementao desse instrumento.
TABELA 1 Domiclios com Rendimento Total at 1 Salrio
Mnimo (1) Estado de So Paulo, Regies Metropolitanas e 50
Municpios com Pior IDH-M 2000
Fonte: Preparado por Fundao Seade a partir dos dados do Censo Demogrfico/IBGE 2000.
(1) inclusive aquelas que declararam no possuir nenhum rendimento.
224
ndice de Desenvolvimento Humano Municipal IDH-M
Estado de So Paulo 2000
Fonte: Novo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil PNUD/Fundao Joo Pinheiro/Ipea.
Parcela das Famlias com Renda de at 1 Salrio Mnimo
Estado de So Paulo 2000
Fonte: IBGE. Censo demogrfico 2000.
225
TABELA 2 50 Muni c pi os com os Pi ores ndi ces de
Desenvolvimento Humano no Estado de So Paulo 2000
Fonte: Novo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil PNUD/Fundao Joo Pinheiro/IPEA.
226
Fonte: Fundao SEADE.
(1) Ano de instalao do municpio posterior a 1991.
TABELA 3 Densidade Demogrfica,Taxa de Urbanizao
e Taxa de Crescimento Anual da Populao. Estado de So
Paulo e 50 Municpios com Piores IDH-M no Estado 2000
227
TABELA 4 Jovens de 15 a 24 Anos que No Concluram o Ensino
Fundamental e/ou Mdio. Estado de So Paulo, Regies
Metropolitanas e 50 Municpios com Pior IDH-M 2000
Fonte: Censo Demogrfico 2000 IBGE.
Grupos de Setores Censitrios classificados segundo Dimenso
de Privao e Ciclo de Vida Familiar
Regio Metropolitana de So Paulo 2000
Mapa da Vulnerabilidade Social CEM-Cebrap/IBGE/SAS/Fapesp
Desenhando estratgias de
enfrentamento da pobreza:
a contribuio internacional
231
INTRODUO
A pobreza, a desigualdade e a excluso social so,
seguramente, os principais problemas que afetam os pases
de nossa regio, nas ordens poltica, social, econmica e tica.
Este seminrio tem como objetivo refletir sobre o caso
especfico do Brasil, embora, naturalmente, o caso brasileiro
possa ser situado dentro de um contexto regional mais amplo.
O convite da UNESCO para participar de um Painel
sobre as contri bui es i nternaci onai s no senti do da
amenizao desses flagelos sociais me leva, necessariamente,
segui nte pergunta: Qual ou qual pode vi r a ser a
contri bui o dos mei os acadmi cos para um tema
caracterizado principalmente pela urgncia material?
A resposta que irei oferecer ser imaterial, no sentido
de que ela se concentrar numa viso que toma como ponto
de partida as cincias sociais, privilegiando as idias. Qual
a importncia das idias, num tema que, com toda a urgncia,
exige solues materiais? Vejamos. Trs dos conceitos que
habitualmente se usam, tanto nas cincias sociais como na
linguagem comum, quando falamos de pobreza, desigualdade
e excluso so: Estado, Mercado e Sistema internacional.
CINCIAS SOCIAIS E POBREZA:
ABUSCADE UMENFOQUE INTEGRADO
Alberto D. Cimadamore*
* Assessor do Conselho Latino-americano de Cincias Sociais (CLACSO) e Professor de
Relaes Internacionais da Faculdade de Cincias Sociais de Buenos Aires.
232
Qualquer um que reflita sobre o tema que nos ocupa e
preocupa aqui concordaria, em princpio, que esses trs
conceitos so de grande relevncia para a descrio e a
explicao das condies que favorecem a produo e a
manuteno da pobreza, da desigualdade e da excluso social.
cert o que os est udos emp ri cos deri vados desses
pressupostos tericos contribuiriam, como de fato ocorre,
para reafirmar hipteses derivadas daquela afirmao.
No entanto, algum j viu qualquer um desses conceitos
no mundo real? Claro que no. Eles no podem ser vistos,
nem tocados, porque so i materi ai s. So i di as, so
construes mentais que usamos para compreender alguns
aspectos fundamentai s das rel aes pol ti cas, soci ai s,
econmicas e internacionais.
Uma vez que concordamos que essas trs construes
intelectuais so importantes para a compreenso das causas da
pobreza e de suas possveis solues, comeamos, no CLACSO
e, mais especificamente, no Programa CLACSO-CROP de
Estudos sobre a Pobreza na Amrica Latina e no Caribe
1
, a
enfocar o apoio acadmico aos estudos e, indiretamente,
tomada de decises relativa erradicao ou mitigao da
pobreza em dois temas especficos e inter-relacionados: o
papel do Estado na luta contra a pobreza e a economia poltica
da pobreza. O terceiro tema, logicamente relacionado com os
dois anteriores na ordem das idias antes mencionada o
das relaes internacionais da pobreza.
O programa CLACSO-CROP avanou, com relao ao
primeiro tema, dando apoio a pesquisas originais e realizando,
1
Esse programa uma iniciativa conjunta do Conselho Latino-americano de Cincias
Sociais e do Comparative Research Programme on Poverty (CROP), do Conselho
Internacional de Cincias Sociais (CICS), que comeou a desenvolver seu programa
de trabalho no ano de 2001. Para maiores informaes, dirigir-se a www.clacso.org
ou www.crop.org.
233
com pesquisadores da rea social, oficinas sobre o tema do papel
do Estado na luta contra a pobreza. Ao longo dos dois ltimos
anos, vm sendo concedidas a acadmicos bolsas de pesquisa
de dez meses de durao para o estudo de temas considerados
cruciais para a reflexo sobre as condies da produo e do
alvio da pobreza. Da mesma forma, o Programa organizou
oficinas e seminrios, com o objetivo especfico de discutir esse
tema a partir das contribuies internacionais que privilegiam
as perspectivas comparativas nos estudos sobre a pobreza.
Atualmente, est sendo avaliado um segundo programa de bolsas
para pesquisadores latino-americanos e caribenhos, voltadas para
o tema da economia poltica da pobreza.
AS CONTRIBUIES: UMA AVALIAO
PROVISRIA
O programa CLACSO-CROP de estudos sobre a pobreza
na Amrica Latina e no Caribe vem avanando no fortalecimento
das bases para a formao de uma rede internacional de
pesquisadores sobre os temas relativos pobreza, ao facilitar a
dedicao pesquisa e interao em espaos virtuais ou reais.
2
Esse pode ser considerado como umdos pontos altos do Programa,
que se baseia no trabalho que ambas as instituies vm
desenvolvendo, desde seu incio.
Por outro lado, as contribuies cientficas produzidas nas
diferentes atividades desenvolvidas at o presente por esse
Programa poderiam ser consideradas como um reflexo do estado
2
Este ltimo tipo de interao se d principalmente em torno do Campus Virtual
do CLACSO. Essa plataforma permite a realizao de cursos, conferncias e outras
formas de interao eletrnica entre pesquisadores, docentes e administradores do
Campus, do Programa CLACSO-CROP e do Programa Regional de Bolsas de
Pesquisa da CLACSO, entre outros.
234
atual das cincias sociais latino-americanas, de modo geral, e
da rea de estudos sobre a pobreza, em particular. Uma vez que
novos caminhos esto sendo abertos para o pensamento sobre a
problemtica especfica da pobreza na regio, pode-se dizer que
os estudos sobre pobreza compartilham os problemas (e tambm
os sucessos, embora eu no v me ocupar destes, nesta
apresentao) que afetam de modo generalizado as cincias
sociais na Amrica Latina e no Caribe.
Nesse sentido, pode-se dizer que existe uma disperso
significativa nas pesquisas sobre o tema da pobreza. Um grande
nmero dessas pesquisas consiste de estudos de caso focalizados
em diferentes nveis de anlise principalmente nacionais ou
subnacionais cujas concluses so difceis de comparar entre si,
de modo a avanar no processo de acumulao de conhecimento
sobre as condies de produo e/ou reproduo da pobreza. Essas
dificuldades tm origem tanto no tipo de mtodo privilegiado (isto
, estudos de caso) quanto em outras questes metodolgicas e
tericas referentes aos problemas clssicos de definio de variveis
e utilizao de conceitos, de maneira que estes possam,
eventualmente, vir a formar parte de uma agenda de estudos
comparados. Uma agenda comparativa de amplo alcance permitiria
um aumento substancial da qualidade e da quantidade do
conhecimento sobre o tema, o que, por sua vez, ser indispensvel
para o desenvolvimento de uma estratgia efetiva de reduo e
eliminao da pobreza, em suas diferentes manifestaes.
Do mesmo modo, observa-se que muitos desses estudos
enfocam questes muito especficas, que dificultam um panorama
mais geral da problemtica da pobreza, ou seja, uma teoria sobre as
causas e condies de sua produo e reproduo. Em alguns casos,
seria possvel falar da existncia de uma ambio interpretativa
mais geral. No entanto, as limitaes empricas ou tericas inerentes
aos estudos de caso impossibilitam a traduo dessas ambies em
generalizaes vlidas para diferentes contextos geogrficos e
histricos da Amrica Latina e do Caribe.
235
Os problemas do uso das principais categorias e conceitos
algo que sem dvida est relacionado ao dficit terico
metodolgico antes assinalado no apenas afetam a qualidade da
produo cientfica, como tambmtranscendemessas esferas, tendo
impacto sobre a visualizao do problema a partir de uma
perspectiva normativa ou poltica. Um exemplo significativo a
falta de consenso, nos estudos sobre pobreza, acerca da definio
de um conceito central para o pensamento poltico e social dos
ltimos trs sculos: o Estado. possvel observar, tanto nos
trabalhos acadmicos como nos discursos sobre o tema da pobreza,
que os termos governo e Estado so usados indistintamente, sem
levar em conta que um um agente e o outro, uma estrutura; que
um possui entidade fsica, enquanto o outro uma construo
intelectual. De forma semelhante, em alguns casos, se fala de
sociedade civil como oposta ao Estado, sem levar em conta que o
conceito clssico de Estado inclui a sociedade como um de seus
componentes, juntamente com a ordem jurdico-constitucional, o
territrio e o governo. Essas confuses, infelizmente, fragilizam os
achados ou as concluses dos estudos ou das vises que os
promovem. Como natural, produzem-se assim posies
normativas ou visualizaes de polticas que partem de uma
percepo equivocada do problema do papel do Estado/Governo/
Sociedade na produo ou no alvio da pobreza.
Uma aproximao superficial do que poderia ser o estado
da arte nessa rea de estudos (algo que, no momento, no
possumos, mas que seria indispensvel para sabermos onde
estamos) provavelmente concluiria que grande parte dos
debates centrais sobre o tema concentram-se mais nas questes
relacionadas mensurao da pobreza certamente relevantes,
sej a qual for o ponto de vi sta ou nas mani festaes
particulares da pobreza em pontos especficos do tempo e do
espao. Essa concentrao nas questes quantitativas ou
particularistas da pobreza leva a uma distribuio de recursos
que tende a desfavorecer o tratamento de questes substantivas
236
mais gerais, que tenham o potencial de contribuir para a descrio
e a explicao das complexas situaes que acarretam sua produo
e reproduo, nos diferentes nveis (local, nacional e internacional).
Em outras palavras, poder-se-ia dizer embora arriscando
cair numa generalizao excessiva que, na rea de estudos sobre
a pobreza, no existem tentativas sistemticas de construir
enfoques tericos capazes de contribuir para a explicao da
pobreza e da derivar solues nos diversos contextos
espaciais e temporais. Essa uma importante brecha que tm
que enfrentar todos aqueles que se interessam pelas pesquisas
sobre a pobreza e pretendem que essas pesquisas venham a
exercer impacto sobre o mundo real.
O HORIZONTE DESEJVEL
Nesse contexto, a busca de um enfoque terico que integre
diversas perspectivas disciplinares das cincias sociais, cruzando
transversalmente os diversos nveis de anlise (local, nacional,
regional e internacional, entre outros) transforma-se num objetivo
central, tanto para os acadmicos como para as instituies que
realizam ou apiam pesquisas sobre a pobreza.
Um enfoque integrado que se proponha a cobrir o dficit
antes assinalado teria que tomar como base algumas diretrizes
fundamentais. Para tal, necessrio, em primeiro lugar, construir
um debate terico que, simultaneamente, tenda a descrever
melhor o universo em estudo complexo, por definio e traga
alguma clareza quanto ao uso dos principais conceitos e nveis de
anlise envolvidos na problemtica da pobreza. Esse primeiro
passo contribuir para uma melhor especificao das variveis
envolvidas nesses estudos, bem como de suas relaes causais, o
que, por sua vez, tender a favorecer, ou, pelo menos, possibilitar
a realizao dos estudos comparativos que so indispensveis para
o melhor conhecimento das condies da produo, reduo ou
eliminao da pobreza, nos diferentes contextos.
237
O debate metodolgico necessariamente vinculado ao
debate terico teria que apontar para a produo de pesquisas e
reflexes comparativas que reduzam a vulnerabilidade inerente aos
estudos de caso e permitam aumentar os graus de generalizao
dos achados e das concluses. Nesse ponto, ter-se-ia que dedicar
especial ateno aos problemas derivados dos nveis de anlise e
das interaes das variveis nesses diferentes nveis. Uma viso
agregada da problemtica da pobreza requer um exame meticuloso
da interao dos fatores ou variveis que operam nos nveis locais,
estaduais, nacionais, regionais e internacionais. No entanto, a
produo acadmica de nossa regio no tende a refletir sobre a
complexidade inerente a esse universo de estudo.
RUMO A UM ENFOQUE INTEGRADO
A construo de um enfoque integrado, como o que
aqui se prope, no implica, sob nenhum ponto de vista, a
construo de uma teoria nica para a descrio e a explicao
da problemtica, nem, muito menos, a adoo de um mtodo
nico que, por definio, seja o mais apropriado rea de
estudos sobre a pobreza. A idia consiste, simplesmente,
numa tentativa inicial de integrar alguns dos conceitos centrais
que operam em alguns dos principais nveis de anlise que so,
a priori, relevantes para a descoberta das condies que levam
tanto produo quanto eliminao da pobreza.
Poucos duvidam de que Estado, Mercado e Sistema
Internacional sejam conceitos centrais, operando em diferentes
nveis de anlise, para a explicao desse fenmeno. No seria
arriscado afirmar que na interao das variveis que operam dentro
dessas trs estruturas residam algumas das principais causas e
condies que levam tanto produo e reproduo da pobreza
quanto sua reduo e eliminao. No entanto, no conheo
estudos que, de forma sistemtica, trabalhem simultaneamente
238
com esses trs nveis e que tenham o potencial de serem integrados
numa agenda de pesquisa internacional.
A discusso de uma aproximao terico-metodolgica,
nos termos acima descritos, poderia partir de uma simplificao
de seus principais componentes, ou seja, de um modelo terico.
239
O modelo aqui apresentado , como todo modelo, uma
simplificao de uma aproximao terica possvel problemtica
da pobreza, abarcando nveis distintos de anlise. O propsito de
sua apresentao muito simples: favorecer um debate crtico
que possa contribuir para a diminuio do dficit acima assinalado.
A tarefa subseqente implica, entre outras coisas, definir os
principais conceitos, pensar sobre os modos em que eles
interatuam para gerar ou mitigar a pobreza, e apresent-los na
forma de hipteses que possam fazer parte de uma agenda de
pesquisa comparativa. Naturalmente, essa uma primeira
aproximao, que poder vir a ser superada a partir de diferentes
vises crticas, que resgatem outros conceitos e posies terico-
metodolgicas. O importante capturar os distintos nveis de
anlise que aqui se consideram fundamentais para a gerao de
uma agenda de pesquisas que nos permita abordar as complexas
rel aes econmi cas, pol ti cas e soci ai s que produzem,
reproduzem, amenizam ou eliminam a pobreza.
241
As retrospectivas do sculo XX abrem amplo espao a seus
horrores. Nelas, as catstrofes naturais so eclipsadas pelas guerras
e por outros desastres de autori a humana: sei s mi l hes
assassinados no holocausto alemo, 30 milhes mortos de fome
no Grande Salto para Frente de Mao-ts Tung, 11 milhes
eliminados por Stalin, 2 milhes mortos pelo Khmer Rouge, meio
milho de vidas ceifadas em Ruanda, e assim por diante. No
comparecem nessas retrospectivas as mortes por desnutrio e
por doenas evitveis em poucas palavras, a fome mundial:
cerca de 270 milhes apenas nos poucos anos decorridos desde o
fim da Guerra Fria. Por que razo essas mortes no so
mencionadas? Seriam elas desinteressantes e corriqueiras demais,
e no suficientemente chocantes? Ou ser que, pelo contrrio,
elas so perturbadoras demais por se tratar de mortes que,
diferentemente das demais, no podem sem atribudas
responsabilidade de outros.
Examinemos essa perturbadora idia. Somos responsveis
pelas mortes causadas por pobreza extrema, ocorridas em
outros pases? Confrontada com essa pergunta, a maioria das
pessoas responde com um firme no. Mas esse no vem rpido
AS EXIGNCIAS MORAIS DA
JUSTIA GLOBAL
Thomas W. Pogge*
* Professor de Fi l osofi a Moral e Pol ti ca da Uni versi dade de Col umbi a,
Nova York.
242
demais, evidenciando uma forte relutncia em examinar em
maior profundidade suas razes. Essa relutncia ocorre tambm
nos ticos, cujo trabalho pensar sobre as questes e as
responsabilidades morais. bem provvel que a maioria deles
concordasse com o firme no de seus compatriotas, embora
poucos tenham se dado ao trabalho de investigar a questo com
cuidado suficiente para fornecer boas razes para essa resposta.
Como se faz para examinar essa questo? Podemos comear
pela recapitulao dos fatos bsicos sobre a fome mundial. Estima-
se que, de um total de 6 bilhes de seres humanos, mais de 2,8
bilhes vivam com menos de 2,15 dlares (1993) por pessoa por
dia, ou seja, com uma renda anual per capita cujo poder de compra
seria de menos de 1000 dlares, nos Estados Unidos, hoje. Em
mdia, o complemento de renda necessrio seria de 43%. Alm
disso, 1,2 bilhes de pessoas vivem com menos da metade dessa
quantia (Chen e Ravallion, 290, 293).
Uma pobreza to severa traz conseqncias: 799 milhes
de seres humanos encontram-se hoje subnutridos, 1 bilho no
tm acesso a gua potvel, 2,4 bilhes no tm acesso a
saneamento bsico e 878 milhes de adultos so analfabetos
(PNUD 1999, 22). Aproximadamente, 1 bilho de pessoas no
possuem moradia adequada e 2 bilhes no so servidos por
energia eltrica (PNUD 1998, 49). Duas entre cada cinco
crianas, no mundo em desenvolvimento, so raquticas, uma
em cada trs tem peso abaixo do normal e uma em cada dez
sofre de seqelas irreversveis (FAO 1999, 11). 250 milhes
de crianas entre 5 e 14 anos de idade trabalham fora de casa
muitas vezes em condies duras ou cruis: como soldados,
prostitutas, empregados domsticos, ou na agricultura, na
construo, em indstrias txteis ou na produo de tapetes
(OMT, 9, 11, 18). Em todo o mundo, 34.000 crianas menores
de 5 anos morrem a cada dia, de fome ou de doenas evitveis
( USDA, i i i ) . Cerca de um t ero das mort es humanas,
aproxi madamente 50. 000 a cada di a, devem-se a causas
243
relacionadas pobreza, e seriam facilmente evitveis atravs
de melhor nutrio, gua potvel, vacinas, kits baratos de
reidratao e antibiticos (OMS 2001, Tabela Anexa 2). (Esse
percentual assim to alto porque bem mais de um quarto de
todas as mortes humanas - como tambm de suas vidas -
ocorrem no quarto mais pobre, devido expectativa de vida
muito menor da populao pobre).
So muitos, nos pases mais ricos, os que acreditam que a
pobreza severa, em termos globais, esteja em acelerado declnio.
Com tanto progresso econmico e tecnolgico, parece razovel
supor que a enchente da mar levante todos os barcos. Alm disso,
as declaraes, as conferncias de cpula e as convenes voltadas
para o problema projetam uma forte imagem de ao concatenada
e de progressos rpidos. Mas a tendncia real muito mais
ambgua. Houve progresso substantivo nas formulaes e na
ratificao de documentos tratando da questo, na coleta e na
publicao de informaes estatsticas, e at mesmo algum
progresso na reduo de aspectos importantes da pobreza. No
entanto, nos onze anos que se seguiram ao fim da Guerra Fria, o
nmero de pessoas que subsistem abaixo da linha de pobreza
representada pelos 2,15 dlares dirios (1993) cresceu em mais
de 10% (Chen e Ravallion, 290), e o nmero das pessoas
subnutridas permaneceu basicamente o mesmo.
As tendncias da desigualdade no nvel internacional
mostram claramente que a imagem da enchente da mar no se
aplica, nesse contexto: a disparidade de renda verificada entre
o quinto da populao mundial que vive nos pases mais ricos e
o outro quinto que vive nos pases mais pobres era, em 1997,
de 74 para 1, o que representa um aumento em relao aos 60
para 1 de 1990 e os 30 para 1 de 1960.As estimativas para
outros anos so de 72 para 1 em 1992; de 44 para 1 em 1973; de
35 para 1 em 1950; de 11 para 1 em 1913; de 7 para 1 em 1870
e de 3 para 1 em 1820 PNUD 1999, 3, 38). Uma tendncia
constante de aumento da disparidade de renda continuou, sem
244
interrupes, durante todo o fim do perodo colonial, ocorrido
h 40 anos. Hoje, enquanto os 47% mais desfavorecidos vivem
com cerca de 140 dlares anuais, em mdia (poder de compra
de 570 dlares), o PIB per capita para 2001, nos Estados Unidos,
foi de 35.277 dlares, e de um pouco menos, em mdia, nos
demais pases ricos (PNUD 2003, 278).
Uma disparidade de tamanhas dimenses pe em questo
a viso comum de que a erradicao da fome em todo o mundo
seria proibitivamente cara, e de que ela, de fato, empobreceria
a todos ns, destruindo nossa cultura e nosso estilo de vida.
Richard Rorty expressa essa viso: as partes ricas do mundo
tal vez estej am na si tuao de al gum que se prope a
compartilhar seu nico po com uma centena de famintos. Se
essa pessoa divi de seu po, todos, i ncl usive el a mesma,
morrero de fome. Ele manifesta dvidas quanto ao fato de
que sejamos capazes de ajudar os pobres do mundo, apontando
que um proj eto pol i ti camente vi vel de redi stri bui o
igualitria da riqueza exigiria que houvesse dinheiro suficiente
para que, aps a redistribuio, os ricos ainda pudessem
reconhecer a si mesmos, que eles continuassem sentindo que
sua vida vale a pena ser vivida (Rorty, 10, 14). Apreenses
dessa natureza talvez se justifiquem pelo imenso nmero de
pessoas extremamente pobres: 2, 8 bilhes. Mas elas, na
verdade, so grandemente exageradas devido ao fato de que a
desigualdade de renda, em termos mundiais, muito maior do
que Rorty parece supor. A renda agregada de toda essa
populao de apenas 384 bilhes de dlares, que representa
1 % do produto social global de 31, 5 trilhes (Banco
Mundial, 235). Uma alterao na distribuio mundial de renda
que duplicasse, s nossas custas, a renda dessas populaes
teria, ainda assim, um impacto de menor importncia sobre
ns. O dcimo superior teria seus rendimentos reduzidos em
cerca de 1,5%, o que certamente no significaria uma ameaa
grave nossa cultura e a nosso estilo de vida.
245
Essa concluso pode ser reforada pelo exame das
desigualdades de riqueza, que so consideravelmente maiores
que as desigualdades de renda, uma vez que o mais comum
que as famlias ricas possuam um patrimnio lquido maior
que sua renda anual, enquanto, nas famlias pobres, esse
patrimnio tende a ser menor que a renda. As fortunas dos
ultra-ricos, em particular, tornaram-se enormes: As 200
pessoas mai s ri cas do mundo mai s que dupl i caram seu
patri mni o l qui do nos quatro anos anteri ores a 1998,
atingindo hoje um total de 1 trilho de dlares. Os bens dos
trs grandes bilionrios ultrapassam em valor o total dos PIBs
de todos os pases menos desenvolvidos, com seus 600 milhes
de habitantes (PNUD, 1999, 3). O custo adicional de atingir
e manter o acesso universal educao fundamental para
todos, atendi mento mdi co bsi co para todos e sade
reprodutiva para todas as mulheres, alimentao adequada,
gua potvel e saneamento para todos seria inferior a 4% da
soma da riqueza das 225 pessoas mais ricas do mundo
(PNUD, 1998, 30). Aqui, tambm, as apreenses de Rorty
aparecem como grandemente exageradas.
Uma terceira maneira de colocar em perspectiva o custo
da erradicao da fome no mundo relacionar esse custo com
aquilo que conhecido como o dividendo da paz. Aps o
fim da Guerra Fria, os gastos militares caram de 4,7% do
produto social global, em 1985, para 2,9%, em 1996 (PNUD,
1998, 197). Essa queda produziu um imenso dividendo anual
de bem mais de 500 bilhes de dlares, em valores atuais
uma quantia muito superior aos 288 bilhes, em termos
agregados, que os pobres do mundo necessi tam para
ultrapassar a linha de pobreza de 2,15 dlares dirios (1993).
Muitos cidados dos Estados Unidos acreditam que uma
grande parcela do oramento federal j seja gasta em ajuda
externa. Mas no assim: A Agncia dos Estados Unidos
para o Desenvolvimento Internacional (USAID) administra os
246
programas de assistncia externa daquele pas, que recebem
menos da metade de 1% do oramento federal (USAID).
Alm disso, os pases de renda alta, em 1990, reduziram sua
assistncia oficial ao desenvolvimento (AOD) de 0,33% para
0,22% da soma de seus PIBs (PNUD 2003, 290). Os Estados
Unidos lideraram esse declnio, reduzindo sua AOD de 0,21%
a 0,11% de seu PIB, numa poca de grande prosperidade, que
culminou em grandes supervits oramentrios (ibid). Grande
parte da AOD alocada por razes polticas: apenas 23%
dela vai para os 49 pases menos desenvolvidos (ibid), e apenas
3,7 bilhes de dlares so gastos em servios sociais bsicos.
(http: //mi l l eni umi ndi cators. un. org/unsd/mi /mi _seri es_
results.asp?rowId=592) menos que os 20% acordados na
Cpula Mundial para o Desenvolvimento Social. A AOD
di reci onada aos servi os soci ai s bsi cos educao
fundamental , sade bsi ca, programas popul aci onai s,
abastecimento dgua e saneamento corresponde, ento,
em mdia, a cerca de 4 dlares por ano pagos por cada um de
ns, cidados desses pases. Os cidados dos pases ricos
tambm prestam aj uda atravs das organi zaes no-
governamentais. A cada ano, essa ajuda totaliza cerca de 7
bilhes de dlares, ou 7,60 dlares por cidado (PNUD 2003,
290). Em mdia, gastamos cerca de 11,60 dlares por ano com
a erradicao da pobreza severa que significa cerca de 3,80
dlares ao ano para cada pessoa pobre.
Um exemplo significativo da postura oficial vigente com
relao erradicao da pobreza nos dado pela Cpula
Mundial sobre Alimentos, realizada em Roma e promovida
pela Organizao das Naes Unidas para os Alimentos e a
Agricultura, em novembro de 1996. Seu principal feito foi o
segui nte compromi sso, assumi do pel os 186 governos
participantes: Ns, os Chefes de Estado e de Governo, ou
nossos representantes, reunidos na Cpula Mundial sobre
Al i mentos, reafi rmamos o di rei to de todos ao acesso a
247
alimentos seguros e nutritivos, coerentemente com o direito
de todos a alimentos suficientes e ao direito fundamental de
no sofrer de fome. Afirmamos nossa vontade poltica e nosso
compromisso comum e nacional de alcanar a segurana
al i mentar para todos, com o esforo atual mente sendo
envidado no sentido de erradicar a fome em todos os pases,
tendo em vista a imediata [!] reduo do nmero de pessoas
subnutridas metade de seu nvel atual, no mais tardar at
2015. Consideramos intolervel que mais de 800 milhes de
pessoas em todo o mundo, e particularmente nos pases em
desenvol vi mento, no tenham acesso a al i mentos em
quanti dade sufi ci ente para atender a suas necessi dades
nutricionais bsicas. Essa situao inaceitvel... (Roma).
O governo dos Estados Unidos publicou sua prpria
interpretao desse compromisso: a consecuo de qualquer
direito a alimentos suficientes ou do direito fundamental de
no sofrer de fome um objetivo ou aspirao a ser alcanado
progressivamente, no gerando obrigaes internacionais de
qualquer natureza (Declarao Interpretativa). O governo
ameri cano cont est ou t ambm a afi r mao da FAO
(Alexandratos) de que o cumprimento desse compromisso
exigiria que todos os estados desenvolvidos elevassem para 6
bi l hes de dl ares anuai s o total da AOD desti nada
agricultura: Como parte do Plano de Ao dos Estados Unidos
para a Segurana Alimentar, a USAID encomendou um estudo
espec fi co sobre a proj eo dos cust os i mpl i cados no
cumprimento da meta colocada pela Cpula Mundial sobre
Alimentos e sobre uma estratgia destinada a alcanar tais
obj etivos. Esse estudo, concl u do em meados de 1998,
concentrou-se numa possvel estrutura para os investimentos
de AOD e calculou que essa meta poderia ser atingida com
um aumento da soma total da AOD da ordem de 2,6 bilhes
de dlares anuais, contra os 6 bilhes anuais estimados pela
FAO (USDA, Apndice A). O estudo, desse modo, prope que
248
o compromisso seja cumprido com apenas 3, e no 7 dlares
anuais para cada pessoa pobre. O plano de reduo da fome
adotado em Roma prev, implicitamente, um total de mais de
200 milhes de mortes causadas pela fome e por doenas evitveis
ao longo do perodo contemplado pelo plano, de 1996 a 2015.
Poder-se-ia pensar que, mesmo que o aumento de 6 bilhes de
dlares anuais proposto pela FAO tornasse possvel reduzir a fome
no mundo num ritmo mais rpido que o planejado, no haveria
nada a lamentar quanto a esse fato. Reduzir pela metade a fome
no mundo num prazo de 15 anos, afinal de contas, significa um
avano glido. E 6 bilhes de dlares no representam uma quantia
excessiva para os pases de alta renda, que, em conjunto,
apresentaram, em 1998, um PIB de 22.600 bilhes de dlares.
Essa crescente relutncia em gastar dinheiro na reduo da
fome no mundo associa-se idia cada vez mais amplamente aceita
de que a melhor maneira de atingir esse objetivo atravs de
investimentos, e no de ajuda. A fome ser erradicada por meio da
globalizao e dos mercados livres. Mas essa idia apresenta
problemas. Os mercados mais livres e globalizados dos ltimos
anos no trouxeram consigo uma reduo significativa da pobreza
e da subnutrio. Os investimentos externos e a abertura dos
mercados talvez sejam teis em pases onde j exista uma infra-
estrutura mnima, e onde o desenvolvimento fsico e mental dos
empregados potenciais no tenha sido permanentemente
prejudicado pelas doenas, pela subnutrio e pelo analfabetismo.
Os investimentos externos, contudo, dificilmente criaro essas
condies, e em nada ajudaro as crianas que necessitam agora de
comida, gua potvel, saneamento bsico, atendimento mdico
bsico e educao primria. O dinheiro gasto hoje no atendimento
dessas necessidades permitiria progressos que, por sua vez, atrairiam
investimentos externos, que poderiam ento gerar um crescimento
auto-sustentvel. Se essas necessidades no forem atendidas, os
investimentos sero canalizados para outras regies, e o enorme
abismo entre ricos e pobres continuar a se expandir.
249
Essa soluo a de que as crianas tm que ter atendidas
suas necessidades bsicas, de que elas necessitam de um ponto
de partida decente seria decerto a soluo adotada num
contexto interno. Seria para ns intolervel se, em algum lugar
dos Estados Unidos, a mortalidade infantil fosse de 20%
devido falta de alimentos, de gua potvel, de saneamento
bsico, de servios de sade bsicos e de educao primria.
Por que razo condies de vida semelhantes, ocorridas em
pases estrangeiros, seriam vistas como muito mais aceitveis?
bvio que a fronteira nacional que demarca nosso pas
desempenha um papel significativo em nosso pensamento
moral. Mas qual, exatamente, o significado moral que essas
fronteiras supostamente possuem?
Uma idia comum a de que os Estados Unidos so uma
comunidade solidria, cujos membros devem muito mais uns
aos outros que a estrangeiros. Essa idia pode ser logicamente
extrapol ada de duas formas. Segundo uma del as, nossa
responsabilidade moral para com estrangeiros suplantada por
nossa responsabilidade com relao a nossos compatriotas.
Mas essa afirmativa no faz sentido, uma vez que os custos de
erradicar a fome no mundo so exguos demais para representar
perdas reais para nossos patrcios. Um por cento do PIB dos
pases desenvolvidos menos da metade dos dividendos da
paz poderia reduzir em muito a fome em todo mundo, num
prazo de poucos anos, permitindo que, a partir da, os gastos
fossem significativamente reduzidos (cf. Pogge, cap. 8). Esse
desembolso no nos impediria de continuar cumprindo nossas
responsabilidades com relao a nossos compatriotas, por mais
ampla que fosse sua interpretao.
Poder amos ai nda al egar que no cabe a ns a
responsabilidade de fornecer ajuda ou apoio para alm das
fronteiras da comunidade solidria nacional que estabelecemos
uns com os outros. Podemos reforar essa alegao dizendo que
as responsabilidades que de outro modo teramos so, nesse caso,
250
tornadas nulas pelo fato de que esses estrangeiros que passam
fome tm seus prprios estados e seus prprios compatriotas que
deveriam fornecer a ajuda e o apoio necessrio. Esse argumento,
entretanto, no promissor, uma vez que os pobres do mundo,
na verdade, no contam com estados e compatriotas dispostos e
capacitados a atender suas necessidades bsicas, e tampouco
concordaram em abrir mo de quaisquer reivindicaes que eles,
de outro modo, teriam a fazer a ns. mais promissor reforar
esse argumento afirmando que a responsabilidade de fornecer
ajuda ou apoio, alm do mbito de nossa famlia imediata e das
emergncias que porventura encontremos em nosso caminho,
justifica-se apenas por nossa participao voluntria numa
comunidade solidria. Ao viver nos Estados Unidos, aceitamos
essas responsabilidades com relao a nossos compatriotas, mas
no as aceitamos no caso de estrangeiros.
A fim de examinar esse ponto de vista, pensemos por um
momento no Brasil, partindo do pressuposto de que a maioria
dos brasileiros no pense em seu pas em termos de uma
comunidade solidria. H boas razes para adotarmos esse
pressuposto, uma vez que o Brasil uma das sociedades mais
desiguais do planeta, na qual o quinto superior dos rendimentos
29,7 vezes maior que o quinto inferior (PNUD 2003, 283
essa razo entre quintos tendendo a ser de 4 a 10, nos pases
situados fora da Amrica Latina). A desigualdade global apenas
ligeiramente mais alta que a do Brasil, quando as rendas so
computadas em termos de poder de compra, embora seja muito
mais alta quando essas rendas so computadas em termos de
taxas cambiais, o que tem necessariamente que ser feito para
que seja obtida uma medida aproximada dos custos da reduo
da pobreza. Os dois casos so semelhantes tambm em outros
aspectos: em termos de PNB real per capita, de incidncia de
pobreza, de expectativa de vida e de analfabetismo.
Suponhamos agora que a elite abastada do Brasil continue
afirmando no possuir qualquer responsabilidade com relao
251
aos pobres de seu pas, uma vez que a maioria dos brasileiros
no se v como membro, juntamente com os pobres, de uma
comunidade solidria. A meu ver, poucos americanos aceitariam
essa forma de se eximir de responsabilidade. Dispomo-nos a
respeitar outras sociedades, mesmo quando elas no praticam,
ou no tm a inteno de praticar a justia, tal como a
entendemos. Mas acreditamos na existncia de condies
mnimas que qualquer estado tem a obrigao de cumprir para
ser merecedor de respeito moral, quer seu povo se veja como
uma sociedade solidria ou no. Qualquer que seja a maneira
usada para detalhar esse padro mnimo de decncia (cf. Rawls),
parece claro que o Brasil, em razo de sua pobreza macia e
evitvel, no se qualificaria para essa respeitabilidade.
Mas se a ordem econmica global no mnimo to ruim
quanto a do Brasil, esse juzo no teria que se aplicar tambm a
ela? Essa idia sugerida na Declarao Universal dos Direitos
Humanos, que proclama que Todo homem tem direito a uma
ordem social e internacional em que os direitos e liberdades
estabelecidos na presente Declarao possam ser plenamente
realizados, inclusive o direito a um padro de vida capaz de
assegurar a si e a sua famlia sade e bem-estar, inclusive
alimentao, vesturio, habitao, cuidados mdicos ( 28 e 25).
Como sugere o 28, a ocorrncia de pobreza extrema fortemente
influenciada pela ordem social e internacional vigente. E uma tal
pobreza poderia ento acarretar no apenas responsabilidades
positivas para os brasileiros influentes e para ns, na qualidade
de doadores potenciais, mas tambm responsabilidades negativas
para os brasileiros influentes e para ns, na qualidade de
defensores de uma ordem mundial que reproduz maciamente a
fome e a pobreza. Ao contrrio de simplesmente no ajudarmos
os pobres, talvez sejamos culpados tambm por danos cometidos
contra eles, por meio da imposio de uma ordem econmica
global na qual as desigualdades aumentam to rapidamente que
os ganhos obtidos com o progresso econmico so enormes no
252
topo e minsculos, ou nulos, na base da hierarquia econmica
global (cf. Milanovic, 88).
No de surpreender que a ordem global reflita os
interesses dos estados ricos e poderosos. Dependendo de nossos
votos e de nossos impostos, nosso governo, juntamente com
seus aliados, trabalha intensamente para formular regras que
nos beneficiem, como se pode observar em sua reao Cpula
Mundial sobre Alimentos, em sua bem-sucedida renegociao
do Tratado da Lei Martima e em incontveis outros exemplos.
bvio que os pobres do mundo tm seus prprios governos.
Mas a quase totalidade deles fraca demais para exercer qualquer
influncia real na organizao da economia global. E o que
mais importante, esses governos tm pouca motivao para
atender s necessidades de seus compatriotas pobres, uma vez
que sua permanncia no poder depende, em medida muito maior,
das elites locais e de governos e empresas estrangeiros. No
surpresa, portanto, que nos pases em desenvolvimento, mais
bem dotados em termos de recursos naturais, a ocorrncia de
guerras civis e de regimes no-democrticos seja mais provvel
e que, por essa mesma razo, eles tendam a ter um crescimento
econmico mais lento ou at mesmo nulo (Lam e Wantchekon).
Seus governantes podem vender os recursos de seus pases,
comprar armas e soldados para manter o poder e acumular
fortunas pessoai s. Esses governantes gostam da ordem
econmica mundial tal como ela . E tambm os estados ricos
no tm o menor interesse em mudar as regras do jogo, de modo
a que os direitos de propriedade sobre os recursos naturais
deixem de poder ser obtidos de governos tirnicos. Uma tal
mudana reduziria a oferta, aumentando, portanto, o preo dos
recursos naturais que precisamos importar.
As pessoas podem se matar umas s outras com bombas
ou com faces. Os acordos econmicos, entretanto, podem ser
igualmente eficazes para esse fim. Milhes morreram vtimas
desses acordos na Grande Fome das Batatas, na Irlanda, na
253
coletivizao forada de Stalin, no Grande Salto para a Frente,
de Mao, na Coria atual, e tambm em muitos outros desastres
fabricados pelo homem e limitados no tempo e no espao. A
atual catstrofe da fome mundial pertence a essa mesma
categoria. Mas ela diferente, no sentido de ser menos restrita
no espao e no tempo, ainda mais devastadora em seus efeitos e
menos reconhecida. Ela causa um tero de todas as mortes
humanas. Mas essas mortes ocorrem a grandes distncias, a
pessoas que no conhecemos. Elas acontecem em contextos
sociais que dependem da ordem mundial vigente de maneira
que no compreendemos, e em regies nas quais, segundo
acreditamos, as pessoas sempre foram irremediavelmente pobres.
pouco provvel, portanto, que os cidados e os governos dos
pases desenvolvidos se sensibilizem com o problema em grau
suficiente para reconhecer a prpria responsabilidade. E,
portanto, podemos esperar que essa mortandade, pontuada por
conferncias de cpula espordicas, continue acontecendo por
muito tempo ainda.
So muitos os que dizem que as reflexes morais sobre
a fome no mundo de nada valem, uma vez que ningum duvida
que a fome seja uma coisa m, que no deveria existir. O que
deveramos fazer, ao invs de moralizar, pensar na questo
prtica: quais seriam as melhores maneiras de erradicar a
fome. Eu certamente concordo que deveramos pensar nessa
questo prtica, e tratarei dela logo a seguir. Mas discordo
veementemente da pri mei ra afi r mativa. O governo dos
Estados Uni dos fez todo o poss vel para negar que o
compromisso assumido na Cpula Mundial sobre Alimentos,
que classifica a fome de intolervel e inaceitvel, d
margem a obrigaes internacionais de qualquer natureza.
Esse grande erro moral, no qual incorrem tanto os governos
quanto os cidados dos pases desenvolvidos, o principal
obstculo erradicao da fome no mundo. Sem um sentido
de responsabilidade moral pela ordem econmica global que
254
estamos impondo, no haver a vontade poltica de reformar
essa ordem, nem disposio, da parte dos governos e dos
indivduos, para mitigar seus piores efeitos.
A responsabilidade moral que defendo parte do pressuposto
de que tanto os governos quanto os cidados dos pases
desenvolvidos tm a capacidade de reduzir a fome do mundo atravs
de medidas de reforma e alvio. Os escritos de alguns economistas
profissionais alimentam o ceticismo quanto a esse pressuposto, e o
fazem de trs maneiras: mostrando que os diferentes mtodos
adotados (por exemplo, boa parte da ajuda ao desenvolvimento)
no funcionaram bem na prtica; argumentando que os efeitos das
variveis especficas em sistemas altamente complexos no podem
ser mensurados de forma confivel ( bempossvel que os benefcios
inequvocos trazidos pelos projetos Oxfam aos microemprstimos
individuais do Banco Grameen sejam contrabalanados por seus
efeitos indiretos desconhecidos); e por acerbos desacordos quanto
ao que deve ser feito (fazendo com que os leigos dem de ombros,
pensando: se at mesmo os economistas discordam tanto, talvez
o melhor seja no fazer nada).
Um tal ceticismo rejeitado at mesmo pelos governos
dos pases ricos. Eles assumiram o compromisso proposto pela
Cpula Mundial sobre Alimentos e, no caso dos Estados Unidos,
argumentaram em grande detalhe que seriam capazes de reduzir
metade a fome do mundo at o ano de 2015 de maneira ainda
mais barata que as propostas pelas estimativas da FAO. Nem
mesmo esses governos que nunca hesitam em taxar de
impossveis as coisas que eles no querem fazer chegaram a
endossar a opinio de que reduzir a fome no mundo esteja alm
de nossas capacidades. verdade que esses governos, de modo
equivocado, no reconhecem qualquer responsabilidade moral
quanto a um esforo macio visando a rpida e imediata reduo
da fome no mundo. Mas at mesmo eles so forados a concordar
que, caso essa responsabilidade de fato exista, ela no seria
prejudicada por uma evidente incapacidade de cumpri-la.
255
verdade que grande parcela dessa suposta ajuda no surtiu
resultados no tocante erradicao da pobreza. Mas isso no de
surpreender, uma vez que boa parte dela consistiu de iniciativas
bilaterais de ajuda ao desenvolvimento, direcionadas para a compra
do apoio poltico de governos estrangeiros e de exportadores internos.
O dinheiro pode ser bem gasto, principalmente em bens e servios
de origem local, permitindo que as pessoas pobres possam pagar por
alimentos mais abundantes e melhores, e tambm por moradias mais
condignas, financiando um maior nmero de escolas e servios de
sade de melhor qualidade e ampliando a infra-estrutura local (gua
potvel, saneamento, energia eltrica, ligaes rodovirias e
ferrovirias). So muitos os governos de pases em desenvolvimento
que aceitariam de bom grado essas verbas, e que fariam sua parte
na aplicao eficaz desses recursos, principalmente se esse apoio
fosse recompensado pela continuidade dos financiamentos. Sim,
verdade que existem pases pobres cujos governantes esto mais
interessados em manter seus compatriotas na pobreza, no
analfabetismo, na impotncia, na dependncia e, portanto,
vulnerveis explorao. Nesses casos, o mnimo que podemos
fazer retirar nosso apoio a esses governantes, no permitindo que
eles vendam seus recursos a nossas empresas, nem tomem
emprstimos de nosso bancos em nome de seus pases, proibindo
que eles compremde nossas empresas as armas de que eles necessitam
para se manter no poder. Desse modo, estaramos dificultando a
permanncia no poder desses governantes sem apoio popular e, o
que ainda mais importante, estaramos reduzindo enormemente os
atrativos da tomada no-democrtica e do exerccio irresponsvel
do poder e, portanto, a motivao para assim agir.
Uma terceira resposta a essa cortina de fumaa de ceticismo
remonta a Immanuel Kant, que afirma que um projeto imposto
por obrigao moral no pode ser abandonado apenas por
supormos, com base em nosso conhecimento atual, que ele talvez
seja impraticvel, mas apenas se ele for demonstravelmente
impossvel (Kant 89, cf. 173-4). Quando os rendimentos dos seis
256
por cento mais ricos da humanidade so 70 vezes maiores que a
renda da metade mais pobre, quando um tero de todas as mortes
humanas se deve a causas relacionadas pobreza, e quando a
renda agregada global mantm-se em crescimento contnuo, seria
ridculo alegar que a reduo da pobreza demonstravelmente
impossvel. Talvez no saibamos, de partida, qual o melhor
caminho a tomar. Por outro lado, no verdade que nossa
ignorncia seja total, e ns aprenderamos muito mais no processo
de envidar esforos srios e concentrados nesse sentido. Fica claro
que o que nos falta aqui no so conhecimentos especializados,
mas sim o senso de responsabilidade moral e, baseada nele, a
vontade poltica de financiar o desenvolvimento e promover
reformas em nossa ordem econmica global.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALEXANDRATOS, N. (Ed.) World Agriculture: Toward 2010,
an FAO Study. Chichester, UK: J. Wiley & Sons, and Roma:
FAO, 1995.
CHEN; SHAOHUA; RAVALLION, M. How Did the Worlds
Poorest Fare in the 1990s? Review of Income and Wealth, n. 47, p.
283-300, 2001.
FAO. Decl arao de Roma sobre segurana al imentar mundial .
Disponvel em: <www.fao.org/wfs/>.
FAO. The State of Food Insecurity in the World, 1999. Disponvel
em: <www.fao.org/news/1999/img/sofi99-e.pdf>
ILO. A Fut ur e Wi t hout Chi l d Labour. Di spon vel em:
<www.ilo.org/public/english/standards/decl/publ/reports/
report3.htm>
257
KANT, I. Kants Political Writings, Cambridge: Cambridge
University Press 1970.
LAM; RICKY; WANTCHEKON, L. Dictatorships as a Political
Dutch Disease. 1999. Disponvel em: <www.nyarko.com/
wantche1.pdf>.
MILANOVIC, B. True World Income Distribution, 1988 and
1993: First Calculation Based on Household Surveys Alone,
The Economic Journal n. 112, p. 51-92, 2002.
POGGE, T. W. World Poverty and Human Rights. Cambridge:
Polity Press, 2002.
RAWLS, J. A Law of Peopl es. Cambri dge, MA: Har vard
University Press 1999.
RORTY, R. Who are We? Moral Universalism and Economic
Triage. Diogenes, n. 44, p. 5-15, 1996.
UNDP. Human Development Report, 2003. New York: UNDP,
Oxford University Press 2003.
_____. Human Development Report, 1999. New York: UNDP,
Oxford University Press 1999.
_____. Human Development Report, 1998. New York: UNDP,
Oxford University Press 1998.
UNITED STATES. DEPARTMENT OF AGRICULTURE.
Decl arao i nt er pret at i va. Di spon vel em: <www. fas. usda.
gov: 80/i cd/summi t/i nterpre. html >. (com refernci a ao
primeiro pargrafo da Declarao de Roma sobre Segurana
Alimentar Mundial)
258
UNITED STATES. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. U.S.
Action Plan on Food Security. Disponvel em: <www.fas.usda.gov/
icd/summit/usactplan.pdf>.
_______. USAID. Disponvel em: <http://www.info.usaid.gov/
pubs/cp98/progprview.htm>.
WHO. The World Health Report, 2001. Geneva: WHO, 2001.
WORLD BANK. World Development Report, 2003. New York:
Oxford University Press, 2002.
259
A Cpula Mundial da Alimentao, que contou com a
participao de 186 pases em nvel de chefes de estado e de
governo, definiu que a fome crnica um obstculo para eliminar
a pobreza j que l eva a um ci cl o de doenas, fal ta de
desenvolvimento biolgico e mental e, como conseqncia, a
baixo rendimento escolar, baixa produtividade no trabalho e
pobreza. A desnutrio crnica causa efeitos particularmente
nocivos nas mes grvidas e nas crianas menores de seis anos,
quando acontece o ciclo de maior desenvolvimento do crebro e
outros rgos vitais.
A fome ao mesmo tempo causa e resultado da pobreza.
Por esse motivo, os pases membros da FAO
unanimemente assinaram o Acordo de Roma, comprometendo-
se a reduzir a fome a 50% do nvel de 1996, estimado em 840
milhes de pessoas, para o ano 2015.
Na Cpula Mundial da Alimentao: Cinco Anos Depois, de
junho 2002, a avaliao dos resultados obtidos at essa data
mostrou que a meta no ser atingida, j que a reduo de famintos
no mundo est abaixo de um tero do acordado. Uns poucos pases
tm tido efeitos positivos na reduo da fome, mas outros
A CONTRIBUIO DA FAO PARA O
COMBATE FOME
Jos Tubino*
* Representante da FAO no Brasil.
260
apresentam situao ainda pior que na data da Cpula. A
informao em nmeros totais sobre a reduo da fome no mundo
(acima de 70 milhes de pessoas) distorcida em funo da
reduo de um s pas, a China.
As principais limitaes identificadas para uma reduo
mais significativa nos nmeros foram a falta de vontade poltica
dos governos e de recursos financeiros disponveis. As
organizaes no-governamentais que participaram no foro no-
governamental da Cpula manifestaram sua grande frustrao
com os resultados obtidos.
Uma sada lanada pelos pases, com apoio da sociedade
civil, foi a iniciativa para a Aliana Internacional Contra a Fome
com o objetivo de intensificar o esforo internacional para
atingir a meta da Cpula de reduzir a fome metade para o
ano 2015.
A sol i dari edade entre povos e entre ci dados foi
reconhecida como um ingrediente fundamental para mobilizar
as sociedades e os governos do mundo. Sem esse ingrediente
fundamental tambm no sero atingidas as metas do milnio
que marcam o caminho da humanidade e so o resultado das
outras cpulas e conferncias das Naes Unidas.
A eleio do Presidente Lula no Brasil e o lanamento
do Programa Fome Zero tm marcado o incio de uma nova
fase com renovadas esperanas para retomar o compromisso
da Cpula Mundial da Alimentao e das Metas do Milnio.
A declarao do Presidente na sua posse, de que a luta
contra a fome no Brasil a primeira prioridade social de seu
governo, teve uma resposta imediata da FAO, com apoio
incondicional. A guerra contra a fome lanada no Brasil pelo
governo com o apoio de amplos setores da sociedade civil
brasileira uma nova dimenso nas polticas de incluso social
e de gerao de cidadania.
Com respeito ao tema estratgias de enfrentamento da
pobreza, importante informar que a Organizao das Naes
261
Unidas para a Agricultura e a Alimentao FAO est
contribuindo com assistncia tcnica para consolidar a execuo
do Projeto Fome Zero em quatro eixos:
1) Apoi o para a consol i dao do Mi ni stri o
Extraordinrio de Segurana Alimentar, MESA, nas
reas de fortalecimento institucional, planejamento,
anlise e formulao de polticas, monitoramento e
aval i ao, assi m como oferecendo consul tori as
tcnicas rpidas em reas de trabalho prioritrias.
2) Reori entao de proj etos sobre execuo com a
FAO, parti cul armente nas reas de gerao de
emprego e renda e de agricultura familiar, e apoio ao
governo na adaptao de projetos de investimento
para atingir metas de segurana alimentar.
3) Apoio institucional no Nordeste atravs da formao
de capital humano nas instituies envolvidas no
Programa Fome Zero na execuo do programa de
convivncia com a seca.
4) Adicionalmente, a FAO est promovendo com os
Mi ni stri os da Educao, da Cul tura, do
Desenvol vi mento Agrri o e da Agri cul tura o
aprimoramento do currculo educacional rural, a colheita
da gua de chuva e a reincorporao das hortas escolares
e comunitrias como fator importante na mudana dos
hbitos alimentares e nutricionais da populao pobre,
particularmente do Nordeste.
Com relao ao tema da consolidao do MESA, a FAO
considera indispensvel o papel articulador desse ministrio
para a execuo do Programa Fome Zero com a participao
dos outros parceiros. Por isso, importante que o MESA tenha
a capacidade de articular a formulao do Plano Plurianual
no s desse ministrio, mas do Programa Fome Zero, no que
diz respeito definio das atividades a serem desempenhadas
pelos outros ministrios em nvel federal e estadual. Esse
262
trabal ho supe uma mudana na for ma tradi ci onal de
pl anej amento do governo com a defi ni o de agendas
compartilhadas em torno do Programa Fome Zero. Como
resultado, a coordenao entre ministrios deve ser orientada
para um conjunto ordenado e hierarquizado de reformas nos
enfoques, estratgias, polticas, instrumentos e programas com
os quai s at uam os mi ni st ri os e governos est aduai s e
municipais, parceiros do Programa Fome Zero.
A vinculao entre ministrios e governos estaduais
atravs de agendas compartilhadas pode ser um suporte
essencial para fortalecer o papel articulador do MESA no
i nteri or do poder executi vo; assi m como o papel de
catalisador no processo de convergncia desses dois nveis de
governo com o nvel municipal no fomento da participao
social e consolidao da base social do Programa Fome Zero.
A eficincia e a eficcia da articulao e sinergia de
programas e i nstrumentos em n vel l ocal dependem do
fortal eci mento de arranj os i nsti tuci onai s l ocai s para a
execuo do Programa Fome Zero que incentivem a evoluo
da gesto pblica local respaldada pela mobilizao social.
Os novos arranjos institucionais precisam ter capacidade de
garantir o controle social do Programa, particularmente nos
muni c pi os onde o poder tradi ci onal da el i te l ocal est
firmemente estabelecido nos governos municipais.
Neste contexto, torna-se fundamental que a mobilizao
cidad do Programa Fome Zero seja complementada por aes
especficas de fortalecimento das instituies municipais para
construir a capacidade de formular e executar uma poltica
pblica de articulao e sinergia local dentro do territrio
muni ci pal ; uma pol i ti ca pbl i ca l ocal de fomento e
consol i dao dos consel hos, comi ts e associ aes de
produtores, bem como de regulamentaes e incentivos; e
uma politica pblica de alianas e parcerias pontuais que
motive a vinculao intermunicpios at a consolidao dos
263
consrcios municipais para um desenvolvimento territorial
integral e sustentvel.
Em relao reorientao dos projetos em andamento,
a FAO consi dera que i mportante dar conti nui dade s
experincias relevantes do passado, tais como os projetos de
combate pobreza rural, e que necessrio avali-las e adapt-
las s novas prioridades do governo. Para esse propsito, a
FAO tem fundos disponveis e apoiar essas iniciativas de
acordo com l i neamentos de uma estratgi a que ser
desenvol vi da com o MESA, os mi ni stri os e governos
estaduais parceiros e as organizaes financieiras.
Com referncia ao terceiro eixo, a FAO est no processo
de concentrar seu apoi o na di menso de estrutura do
Programa Fome Zero, parti cul armente no mbi to da
agricultura familiar, do desenvolvimento rural sustentvel e
da gerao de emprego e renda. Nesse sentido, estamos
apoiando o Ministrio de Desenvolvimento Agrrio, atravs
de sua Secretaria Nacional de Agricultura Familiar, para
melhorar os sistemas de assistncia tcnica e crdito para os
produtores fami l i ares, com nfase parti cul ar nos
assentamentos da reforma agrria.
A estratgia apoiar o fortalecimento institucional das
organi zaes que parti ci pam do Proj eto, tai s como a
EMATER, a EMBRAPA e organizaes no-governamentais,
atravs da formao de capacitadores nas metodologias de
Escol as de Campo e de Comuni cao para o
Desenvolvimento e apoiando viagens de estudo.
Igualmente, a FAO est trabalhando com o Ministrio
da Integrao Nacional nos temas de incluso social com a
gerao de emprego e renda e de manejo dos recursos hdricos.
O apoio da FAO s mudanas estruturais inclui um
esforo conjunto que est sendo negociado com o Ministrio
de Educao e, possivelmente, com a UNESCO, para o
melhoramento do currculo das escolas rurais, atravs do
264
programa alimentando as mentes, e para a reintroduo das hortas
escolares e comunitrias, como espao educativo integral, para
produzir alimentos sadios a serem consumidos pelos prpios
produtores e suas comunidades. Para este ltimo componente,
a FAO j tem identificada uma grande lista de possveis
instituies parceiras. Um primeiro passo ser a organizao de
um seminrio regional no Nordeste sobre educao rural e hortas
escolares em que esperamos contar com a parceria da UNESCO.
Um segundo passo nessa l i nha ser o Concerto
Internacional Contra a Fome, que est sendo trabalhado
conjuntamente com o Ministrio da Cultura. O Teletom
Telefome Zero fornecer recursos da sociedade civil para
impulsionar o Programa das Hortas Escolares e Comunitrias
como parte integral do Mutiro Contra a Fome e a Misria.
A FAO tem expectativas de que o Presidente Luiz
Incio Lula da Silva participar no ato central do Dia Mundial
da Alimentao em Roma para tratar do tema da Aliana
Internacional Contra a Fome. Na prxima segunda-feira, o
Brasil estar participando do Comit Mundial da Segurana
Alimentar na FAO em Roma.
A guerra contra a fome est-se iniciando e, desde j, o
Brasil est procurando uma coligao de aliados.
Estratgias do Governo Federal de
combate pobreza e de
articulao com a sociedade civil
267
A arti cul ao com a soci edade ci vi l uma tarefa
constituidora das distintas polticas pblicas, no apenas por
sua inscrio em programas partidrios e compromissos
eleitorais, mas uma reafirmao atualizada diretamente pelo
Presidente Luiz Incio Lula da Silva a cada um dos seus
ministrios e, em particular, Secretaria-Geral da Presidncia
da Repbl i ca na medi da em que, entre suas funes, a
articulao com a Sociedade Civil uma das principais.
Nestes momentos iniciais de governo, dificilmente
podemos falar de uma estratgia acabada ou de um plano de
trabalho absolutamente definido. O que existe um conjunto
de aes em construo, o exame de iniciativas e fruns j
existentes e a busca da colocao deste conjunto de formas
de participao num patamar superior e articulado, o que
exige articulao e complementaridade das polticas muitas
vezes setorializadas e departamentalizadas.
Outra ressalva ainda preliminar de que, se verdade para
o Partido dos Trabalhadores em sua trajetria e histria de governo
a incidncia nos movimentos sociais, o tema da participao
popular constitutivo, quase gentico na sua ao poltica.
ESTADO E SOCIEDADE: A EXPERINCIA
DA PARTICIPAO SOCIAL
Cezar Alvarez*
* Sub-Secretrio Geral da Presidncia da Repblica.
268
O governo do presidente Lula tem uma composio
partidria mais ampla, desde o perodo eleitoral. A composio
governamental, construda aps a vitria nas eleies do ano
passado, tem carter e ampl i tude que asseguram uma
governabilidade ainda maior, muito mais ampla que o prprio
partido. Isto nos leva a afirmar que tambm o processo de
articulao e participao popular um processo em articulao
e discusso, convencimento real e no apenas formal, no interior
do prprio governo.
A experincia petista rica, diversificada, vinculada e
articulada com a realidade social, econmica, poltica nacional e
democrtica de cada regio e estado, mas no autoriza a
transposio mecnica, para o espao nacional, da participao
popular existente no local, no territrio delimitado de uma cidade,
de uma regio. A questo no meramente de logstica, de
ampliao de escala. Envolve outras relaes sociais, regionais e
polticas que nortearo esta dimenso da participao social no
territrio nacional.
Neste ensaio, buscaremos analisar algumas linhas de
trabalho, refletir e avaliar o processo do oramento participativo
em n vel l ocal , que consti tui um patri mni o parti dri o,
programtico e poltico para o pas; mostraremos brevemente o
que est em curso na preparao do PPA 2004-2007; e, finalmente,
levantaremos algumas hipteses e idias de conexo entre estes
diferentes momentos e apreciaes e a perspectiva de ento
dialogar com o tema original deste seminrio, ou seja, o quanto a
participao e a articulao da sociedade civil so capazes de
contribuir para o enfrentamento e combate pobreza.
Respeitada a primazia de Lajes, de Dirceu Carneiro, em
Santa Catarina ou de Pelotas, de Bernardo de Souza, no Rio
Grande do Sul na primeira experincia de governo democrtico
popular, na cidade de Porto Alegre, na gesto Olvio Dutra na
forma do Oramento Participativo que o tema da participao
popular ganha uma dimenso orgnica e sistmica. Constitui-se
269
enquanto poltica pblica, que foi alm dos limites daquela cidade,
experimentada por centenas e centenas de municpios, no apenas
no Brasil, mas em vrios pases da Amrica Latina e da prpria
Europa, sob governos de tradio, matriz e ideologia diversas.
Cada uma dessas experincias guarda evidentemente sua
peculiaridade, mas constitui um exemplo de poltica pblica,
referendada como elemento de controle social e eficcia de gesto
e controle dos recursos pblicos, at mesmo por organismos
internacionais de financiamento.
Na sua origem, numa viso conselhista, antiestatal e,
at mesmo, assemblestica, a experincia do Oramento
Participativo buscava a convalidao e a co-responsabilidade
de governo com setores popul ares tradi ci onal mente
afastados, benefi ci ri os apenas das sobras dos grandes
investimentos e servios dos tradicionais poderes pblicos.
A chamada i nverso de pri ori dade consti tu a um
elemento fundante desta viso original conselhista, que se
alargou rapidamente com a superao da viso de um governo
de parte da sociedade para a responsabilidade de governar
para a totalidade da sociedade desde um ponto de vista
particular, setorial, partidrio.
Mas a universalidade das polticas pblicas e a necessidade
de propor uma poltica para o conjunto da cidadania no territrio
imps e, gradualmente, transformou a viso assemblestica,
conselhstica numa viso de participao orgnica e permanente
chamada Oramento Participativo.
Algumas teses, concluses, constataes mais orgnicas ou
mais empricas realizadas em diferentes fruns ao longo dos ltimos
anos, em particular a elaborao terica do Ministro Tarso Genro,
ento prefeito da cidade de Porto Alegre, iluminam alguns elementos
constituidores da experincia do oramento participativo.
El es ressal tam o papel desnudador do Estado,
tradicionalmente na Amrica Latina, e em particular no nosso
pas, que sempre exerceu e combinou a viso opressora do
270
estado-patro com a viso paternalista da troca de influncia e
favores, da cooptao do estado-padrinho, do estado-pai, mas
sempre um elemento distante.
O desnudamento do poder do Estado, de suas prioridades,
seus critrios, seus financiamentos, e a democratizao da
discusso da prioridade um elemento que resgata o novo
protagonismo do poder popular, como sujeito orgnico e no
apenas como um elemento da literatura clssica da esquerda.
Outro ponto para observarmos o exerccio de cidadania
no interior do aparato do estado, mais em relao a um quadro
tcnico e burocrtico que exercia sempre de forma impiedosa
seu saber, seu conhecimento sobre as classes populares. A
estrutura de estado obrigada a mediar seu saber com o saber e
o controle populares, obrigada a interagir at com seus prprios
departamentos estanques. Isso traz uma nova qualificao e uma
nova relao entre camadas tcnicas, dirigentes governamentais
e o exerccio das suas funes profissionais no exerccio das
polticas pblicas.
Se num primeiro momento a democracia direta afronta e
contesta a dinmica, as formas e as instituies da repartio dos
poderes em particular do Legislativo esta dinmica refora,
reconstri e relegitima o prprio papel do estado, da cidadania,
dos partidos polticos. No temos qualquer dvida em dizer hoje
que est absolutamente superada qualquer viso antagnica entre
democracia direta e democracia participativa. Democracia
partidria e legislativa e democracia assemblestica cidad so
elementos de complementaridade, de revitalizao da vida
poltica, civil e cidad, inclusive com suas contradies e tenses.
Este ti po de parti ci pao ci dad contri bui para a
renovao de um teci do democrti co l ocal , com
associativismo e associaes de bairro, e total renovao de
vida cultural desse associativismo comunitrio, mesmo que
em al guns momentos corra-se o ri sco de di reci on-l o
exclusivamente para a demanda de estado. De qualquer forma,
271
evi dente que mesmo a parti ci pao ci dad i ndi vi dual
reforou os laos coletivos do associativismo territorial em
cada cidade que experimentou o Oramento Participativo.
Finalmente, uma dimenso das mais propagadas o quanto
este elemento de participao popular e controle social constitui
um elemento de transparncia e, conseqentemente, de combate
corrupo. Mais ainda o que no excludente de controle
da prpria eficcia e efetividade do gasto pblico, do gasto social,
do di nhei ro do ci dado. Este um tema no raro
superdimensionado pelos organismos multilaterais, na sua viso,
algumas vezes, preconceituosa em relao aos poderes polticos
tradicionais latino-americanos e sua relao com o dinheiro
pblico. Ressaltam a prtica do controle social e a eficcia do
gasto social do poder local o chamado small is beautiful em
detrimento de um projeto global de nao.
Em toda essa discusso, a questo que se coloca : os
elementos que constituem fundamentos de uma dinmica de
participao popular e social, num determinado microterritrio,
so capazes de gerar os mesmos efeitos renovadores, do pblico,
da dimenso pblica no-estatal, num territrio de uma nao
como o Brasil? Como tese, acreditamos que sim, porm no de
forma linear, mecnica e automtica.
Em relao experincia do Plano Plurianual, evidente
que aqui estamos trabalhando uma nova inveno poltica e
social, traduzida para aes governamentais, de um projeto
poltico novo que comea a se estabelecer. Esta inveno tem
razes, base e prticas em reflexes socializadas internamente,
muito alm do prprio Partido dos Trabalhadores, mas no deixa
de ser uma grande inveno. Inveno aqui em um sentido mais
amplo e generoso de um processo comum, coletivo, no linear e
at mesmo contraditrio, mas que no ser objeto do beletrismo
iluminado desta ou daquela cabea, deste ou daquele ministro,
deste ou daquele setor do governo. um processo que vai
alm do prprio governo, construdo socialmente a partir de
272
uma ao prtica: a construo do Plano Plurianual para 2004-
2007, que dever ser entregue pel o governo Lul a ao
Congresso Nacional at o final de agosto deste ano de 2003.
Evidentemente que a elaborao deste documento talvez
no seja a melhor experincia para iniciarmos um processo
de participao popular e social orgnica, interagindo com o
conj unto de mi ni stri os. Os prazos so absol utamente
ex guos, mas com i sto resgatamos um compromi sso de
campanha do ento candi dato Lul a, que propunha que
repensssemos a fundo nosso pas, construindo um projeto
de ao, um projeto com a viso de longo prazo, um projeto
solidrio e estratgico. Um projeto que permita que o Brasil,
evidentemente no isolado de um contexto internacional,
reencontre sua raiz, seu crescimento, sua incluso, seu espao
num contexto de nao soberana, moderna, democrtica com
distribuio de riqueza e combate s desigualdades sociais.
Combi nar uma pol ti ca de cresci mento e
desenvolvimento com elementos necessrios estabilidade
macroeconmica, diante da herana recebida de governos
anteriores, tem-se constitudo um desafio mpar que estamos
conseguindo, no sem dificuldades, superar.
Trata tambm o PPA de dar conta de uma viso
nacional das diferentes e complementares polticas regionais
de desenvolvimento, tendo na diversidade social, econmica,
cul tural , geogrfi ca deste i menso pa s um el emento de
riqueza, como tem assinalado o Ministro Chefe da Secretaria
Geral da Presi dnci a da Repbl i ca, Lui z Dul ci , ci tando
l i vremente Srgi o Buarque de Hol anda. Reconhecendo,
amplificando e valorizando nossas diferenas, precisamos
atravs delas combater as desigualdades.
Aprovei tando uma bel ssi ma frase do soci l ogo e
cientista poltico portugus Boaventura de Souza Santos, este
processo propiciar uma escuta muito forte da sociedade
brasi l ei ra. Estaremos escutando enti dades, movi mentos,
273
grupos soci ai s, personal i dades. Desenvol veremos uma
dinmica institucional, diversa, social, temtica e territorial:
a diversidade, as expectativas e as mltiplas relaes com as
polticas pblicas de idoso e do adolescente; a diversidade
demogrfica, racial, de gnero, mais do que simples discurso
ou afirmao de princpios deve atravessar de ponta a ponta
toda e qualquer poltica setorial e geral deste governo.
O PPA deve reforar as tendncias de uma repactuao
federalista entre as trs instncias e esferas, a Unio, governos
estaduai s e muni c pi os, sem subal terni dade, mas com
complementaridade, criando suas polticas para a cidadania.
O PPA no se constitui num documento esttico. um
processo social contnuo, em reviso, capaz de ser criticado,
aperfeioado. Conseqentemente, o processo de elaborao
do PPA exigir transparncia e qualificao no formato de
participao, controle e discusso, de forma que a participao
no se esgote num episdio deste ou daquele seminrio ou
assemblia, mas que construa mecanismos permanentes para o
exerccio da cidadania.
Esta interao e esta complementaridade de programas
em cada territrio, em cada poltica social, percebidas em cada
pblico distinto, sero elementos constituidores de maior
eficcia no conjunto das polticas pblicas, em particular
daquelas destinadas a combater as desigualdades e a pobreza,
alm da identidade de territrio e o compromisso federativo.
A complementaridade entre as diferentes esferas pblicas seria
outro elemento que traria maior eficcia e se daria no apenas
na i ntegrao estatal (Uni o, Estado e muni c pi o), mas
tambm na integrao de movimento sociais, ONGs, setores
e pblicos beneficirios; no apenas como receptculos da
pol ti ca, mas como el ementos ati vos na construo de
di retri zes propostas. O processo permi te cri ar a co-
responsabilidade na execuo, acompanhamento e crtica
dessas pol ti cas. Os consel hos setori ai s, e at mesmo
274
profissionais, acima de suas legtimas vises corporativas ou
departamentais, so chamados universalidade, a trazer
elementos de qualidade s polticas de combate pobreza.
O ncl eo fami l i ar, entendi do tanto como pbl i co
beneficirio de polticas como tambm elemento constituidor
de avaliao e participao na construo destas polticas,
deve constituir-se como referncia de maior efetividade no
combate pobreza e desigualdade. Alm disso, algumas
experi nci as em outros pa ses com o associ ati vi smo, as
cooperativas sociais, no consumo, na produo, na gesto,
nos mostram que estes so um elemento renovador das
polticas pblicas, em particular em formas e espaos pblicos
no-estatais.
Importante mencionar, ainda que se gere certa polmica,
a integrao do voluntariado nesta ampla rede de participao
por sua moti vao de i ntegrao soci al , de combate s
desigualdades com motivaes tico-religiosas e como um
outro elemento a perpassar, dinamizar e combater a viso
exclusivamente estatal na poltica de combate pobreza e s
desigualdades.
Este processo de discusso do PPA absolutamente
novo. Nos meses de junho e julho de 2003, realizaremos 27
fruns estaduais com participao de 80, 90, 100 entidades
sociais de cada estado do Brasil. Simultaneamente, cada
ministrio realizar fruns nacionais para definir, para cada
rea setorial, as grandes diretrizes do nosso projeto.
Este caminho ainda experimental, mas, por definio
programtica, inteno e vontade expressa do Presidente Lula,
um caminho que no ter volta. E so seminrios como este e
a contribuio desta rica platia em cada rgo, organismo,
sindicato, conselho, em cada cidade ou Estado deste pas, que
permitiro tornar esta experincia uma inveno criativa e nova
no contexto de um Brasil sem pobreza e sem desigualdades.
275
A sociedade brasileira adotou o Programa Fome Zero, o
qual estabelece que a alimentao de qualidade um direito
inalienvel de todos os cidados. dever do Estado criar as
condies para que a populao desfrute desse direito. A
nossa meta atingir 9,3 milhes de famlias (ou 44 milhes
de pessoas) muito pobres.
A tarefa de erradicar a fome e de assegurar o direito a uma
alimentao de qualidade no pode ser exclusivamente uma ao
de governo. vital envolver nessa luta a sociedade civil
organi zada: si ndi catos, associ aes popul ares, ONGs,
universidades, escolas, entidades religiosas diversas e entidades
empresariais.
O objetivo do programa atender emergencialmente as
famlias que esto em situao de risco alimentar. Para isso,
necessrio envolver as pessoas que no esto vinculadas
sociedade organizada nessa luta. Esses so grandes desafios.
Garantir a segurana alimentar promover uma grande
mudana em muitas regies do Brasil. Queremos deixar claro nesta
apresentao que o eixo central do Programa Fome Zero tende a
conjugar as polticas centradas no desenvolvimento com outras
cujo foco so as intervenes emergenciais. Limitar-se a estas
ltimas significa desperdiar recursos. Limitar-se s polticas de
PARA ACABAR COM A FOME
Flvio Borges Botelho Filho*
* Secretrio-Executivo do Ministrio Extraordinrio de Segurana Alimentar e
Combate Fome
276
desenvolvimento como uma condio prvia inadmissvel, pois
quem tem fome tem pressa. Limitar-se a uma ou a outra
representaria uma ruptura de uma viso solidria do mundo que
se baseia em um princpio de cooperao A solidariedade dever
e um imperativo do pensamento humanista.
As polticas pblicas requerem anos e, s vezes, dcadas
para gerar frutos consistentes. A fome segue ou matando a
cada dia, ou produzindo: desagregao familiar, enfermidades,
desespero e violncia crescente.
Por tudo isso, o Programa Fome Zero tenta combinar
esses dois tipos de medidas. Mas no cabe dvida de que nossa
prioridade mxima tem sido sistematizar as medidas que
podem ser implementadas, agora, imediatamente, sem perder
de vista as mudanas profundas.
Mudanas que construam um Brasi l que transmi ta
esperana no futuro para os brasileiros desesperanados de
hoje. Um Brasil onde a democracia se estenda ao domnio
econmico-social, no qual a justia seja meta de todos e a
solidariedade uma regra geral de convivncia.
O Fome Zero um processo e est em permanente
discusso. Queremos o aperfeioamento das aes concretas
para que o pas assegure a seus cidados um dos direitos
bsicos de cidadania que ter alimentao de qualidade.
Temos consci nci a de que podemos aperfei oar e
modificar nossas aes. Necessitamos, por exemplo, precisar
os aspectos operacionais das vrias propostas em diferentes
nveis de interveno governamental. Isto algo fundamental:
necessi tamos encontrar mecani smos permanentes que
i ncenti vem a cooperao das pessoas em uma ampl a
mobilizao pela garantia de alimentao saudvel para todos.
Trata-se de declarar um enorme esforo nacional, sem trguas,
para arrancar o espectro da fome de nosso pas.
Dito isso, vamos s explicaes mais concretas. Os
bolses de misria e ignorncia criam condies econmicas
277
e sociais para a existncia de foras polticas atrasadas. Essas
foras so constru das como redes de segurana dessas
populaes e isso facilita a perpetuao no poder de elites
conservadoras locais. As elites, h sculos, mantm intocveis
o seu status poltico e as causas da fome.
Nas zonas rurais, por exemplo, em Guaribas, pequena cidade
do nordeste brasileiro, regio sujeita seca, a populao recebia
gua atravs de um carro-pipa (ou caminho de abastecimento).
A distribuio da gua era, e at hoje, controlada pela elite
conservadora local (os coronis). Esse mesmo prefeito (coronel)
quem escolhia as pessoas que iam ser contratadas para as frentes
de trabalho. Hoje o programa-piloto est fornecendo uma ajuda
de aproximadamente vinte dlares (U$ 20) por ms a cada famlia,
de preferncia para a mulher/me. Esse programa-piloto articula
doaes de fundos privados, por exemplo, ofertados por
instituies financeiras, para construir pequenas cisternas, para
que as famlias possam conviver com a seca. Por exemplo, a
FEBRABAN (Federao Brasileira dos Bancos) doou dez mil
cisternas como projeto experimental para um programa de um
milho de cisternas, elaborado pela sociedade civil organizada,
somente com o estmulo catalisador governamental. Cada cisterna
tem um custo de materiais de aproximadamente quatrocentos
dlares (U$ 400) por famlia. As famlias se encarregam de
construir as cisternas.
Todas as famlias que recebem a ajuda participam de
programas de alfabetizao e de educao alimentar. Tenta-
se obter a substituio do consumo de mas e pras e
produtos industrializados por sirigela ou umbu, que so
frutas produzidas localmente. Deixando de lado o aspecto
do estmulo economia local, queremos somente enfatizar
os aspectos polticos e libertrios do programa.
As famlias agora obtm renda por meio de um mecanismo
participativo no mais dependente exclusivamente da elite local.
As famlias obtm acesso gua independentemente do carro-pipa
278
(ou caminho de abastecimento) das prefeituras, que era, e , at
hoje, controlado pela elite local. E ainda, as mulheres economizam
muito do seu tempo gasto na busca de gua, pois elas tm agora
gua ao lado da casa. Com tudo isto, as famlias e os cidados
podero exercer o direito de livre escolha do seu futuro.
Os bolses de misria e ignorncia, semelhantes aos
encontrados em Guaribas, esto localizados, tambm, nas favelas
das grandes cidades; apenas muda nesses locais o nome das foras
do atraso: em lugar dos coronis, se tm os narcotraficantes.
Nas favelas, sero aplicados trs tipos semelhantes de
polticas: a distribuio emergencial de aproximadamente (U$
20), a legalizao dos terrenos e a educao.
O programa complexo, mas vivel e possvel. Depois
de superadas a fome e a ignorncia, parecer muito simples
ter conseguido tal feito. Assim, a guerra contra a fome ser
venci da na arena pol ti ca. As resi stnci as (i mpl ci tas e
expl ci tas) superao da fome e da i gnornci a so
encabeadas por essas foras polticas j descritas e que esto
vinculadas ao atraso. O atraso poltico obtm parcela de sua
representao nos bolses de misria que esto espalhados
pel o pa s. A mi sri a e a i gnornci a convi vem com os
mecanismos polticos que do sustento parcial e alguma
segurana a essas comunidades. Dentre as vrias causas do
processo de excluso e da existncia dos polticos defensores
do atraso est a ausncia do Estado. Inexistem polticas
pblicas nesses locais que garantam a sobrevivncia dessas
comunidades marginalizadas em situao de risco do tipo:
seca, grupos organizados de narcotrfico, enchentes e outros.
A Pol ti ca de Segurana Al i mentar do Governo
Brasileiro prope superar essa omisso do Estado. Entretanto,
podem ocorrer erros de percepo dos tcni cos que
trabalham com os programas sociais. Eles podem acreditar
que, isoladamente, as polticas pblicas e a presena do Estado
resolvero positivamente a batalha poltica.
279
Sem uma mobilizao popular gigantesca, no se obter
a vitria poltica. As necessrias transformaes sociais e
polticas rumo a institucionalizar uma poltica de segurana
alimentar para todos os cidados dependem da ao dos
partidos polticos nacionais que queiram mudanas.
Para direcionar e conduzir esse movimento, necessrio que
os atores polticos e os atores dos movimentos populares atuem de
modo articulado e integrado para vencer as foras do atraso.
Sem a participao da sociedade no se superar a fome.
No se pode ter a iluso de que as foras polticas do atraso,
que ainda sobrevivem nas comunidades constitudas pelos bolses
de misria e de ignorncia e que esto espalhadas por todo o nosso
pas, vo desistir dos sistemas que as sustentam.
Nas metrpoles e nos grotes polticos, os representantes
do atraso criam vnculos que restringem a liberdade das famlias
e dos indivduos. Esses representantes (do atraso ou da
marginalidade) impedem que se exera a liberdade de escolha,
pois, para sobreviver, as pessoas dependem das redes de
segurana social que esto controladas por eles. A perda do
direito de exercer sua cidadania e seus direitos, e dentre eles, o
direito alimentao adequada e suficiente, d a necessria
amplitude humana ao Programa Fome Zero.
Ns queremos uma soci edade na qual a fome e a
insegurana alimentar sejam consideradas erros e que estes
possam e devam ser corrigidos.
Precisamos criar um mundo que coopere e crie uma condio
de convivncia na qual nema pobreza, nema insegurana alimentar,
nem a dominao de foras polticas do atraso existam, mas vamos
faz-lo de modo legtimo e democrtico.
281
NOTA SOBRE OS AUTORES
JORGE WERTHEIN Representante da Unesco no Brasil.
PhD em Educao, Mestre em Comunicao e Mestre em
Educao pela Universidade de Standford. Foi diretor do
Escritrio da UNESCO em Nova Iorque e Washington (1994
a 1996) ; Di ret or de Rel aes Ext ernas do Inst i t ut o
Interamericano de Cooperao para a Agricultura, Sede do
IICA, em San Jos, Costa Rica (1986 a 1994); e Especialista
em Educao Rural (encarregado dos Programas Sociais para
o Brasil), do Instituto Interamericano de Cooperao para a
Agri cul tura, no Brasi l (1977-1986). autor de di versas
publicaes, dentre elas Polticas de Educao e Combate
Pobreza; Pobreza e Desi gual dades Soc i ai s; Const ru o e
Identidade: As idias da UNESCO no Brasil; Fundamentos da
Nova Educao; Educao, Trabalho e Desemprego: Novos Tempos,
Novas Perspectivas; e Cadernos da UNESCO Brasil.
MARLOVA JOVCHELOVITCH NOLETO Diretora
Tcnica da UNESCO no Brasil e acumula a Coordenao de
Desenvolvimento Social, Projetos Transdisciplinares e do
Programa Cultura de Paz da UNESCO no Brasil. Mestre em
Servio Social pela Pontifcia Universidade Catlica do Rio
Grande do Sul PUC/RS e Especialista em Polticas Sociais no
Estado de Bem-Estar Social pela International Federation of
Social Workers IFSW, na Sucia. Foi Presidente do Conselho
Nacional de Assistncia Social CNAS (1994 a 1996) e Oficial
de Polticas Pblicas e Direitos do Fundo das Naes Unidas para
a Infncia UNICEF (1997 a 1999); Professora universitria de
Teoria e Metodologia do Servio Social, na Pontifcia Universidade
Catlica do Rio Grande do Sul PUC/RS (1987 a 1997);
Coordenadora Tcnica da rea Social no Governo do Estado do
Rio Grande do Sul (1987); e Coordenadora de Assistncia Social
282
e Cidadania da Federao das Associaes dos Municpios do
Rio Grande do Sul (1988 a 1997). autora de diversas publicaes
nas reas de servio social, municipalizao, direitos humanos e
terceiro setor, entre elas, Assistncia Social no Contexto dos Diretos
Humanos e Sociais no Brasil; A Unesco Brasil e o combate pobreza;
Abrindo Espaos: Educao e Cultura para a Paz, alm de vrios
artigos em revistas especializadas.
PIERRE SAN Diretor-Geral Adjunto para Cincias
Humanas e Sociais da UNESCO. Graduado em Finanas e
Contabilidade pela cole Nouvelle DOrganization conomique
et Sociale, em Paris; MBA pela cole Suprieure de Commerce
et DAdministration des Entreprises, em Bordeaux, Frana;
Mestre em Administrao Pblica e Poltica Pblica pela London
School of Economics, na Inglaterrra; e Doutor em Cincia
Poltica pela Carleton University, em Ottawa, Canad. Foi
Membro Fundador do PANAF (Dakar) e Frontline e Membro
Executivo do Henri Dunand Institute, em Genebra; Diretor de
Polticas e Oramento e Diretor Regional no Centro Internacional
de Pesquisa para o Desenvolvimento no Canad; e Secretrio
Geral da Anistia Internacional (1992 a 2001). Publicou diversos
livros sobre Desenvolvimento e Direitos Humanos.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA Senador da Repblica
e Lder do Governo no Senado Federal e no Congresso
Nacional. Graduado em Economia pela Universidade de So
Paulo USP, com mestrado e doutorado na Universidade
Estadual de Campinas UNICAMP. Professor de Economia
licenciado da Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo
PUC/SP e da UNICAMP. membro do Par t i do dos
Trabalhadores desde sua fundao, tendo exercido diversas
funes como Assessor Econmico, membro do Diretrio
Nacional e da Executiva Nacional, Vice-Presidente nacional
e, atualmente, Secretrio de Relaes Internacionais. Foi
283
Presidente da Associao de Professores da PUC; Vice-
Presidente Nacional da Associao Nacional de Docentes do
Ensino Superior; e Coordenador do Departamento de Estudos
da CUT. Deputado eleito em 1990 e 1998. Tem diversas obras
publicadas, entre elas, O Brasil ps-Real.
JOS GRAZIANO DA SILVA Mi ni st ro de Est ado
Extraordinrio de Segurana Alimentar e Combate Fome.
Graduado em Engenharia Agronmica pela Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz em So Paulo e Doutor em
Economia Agrcola pela Universidade Estadual de Campinas
UNICAMP. Foi Professor Ti t ul ar na UNICAMP e
Coordenador do Programa de Mestrado em Desenvolvimento
Econmi co, Espao e Mei o Ambi ente do Insti tuto de
Economia da UNICAMP at 2002. Autor de numerosos livros,
dentre os quais, Projeto Fome Zero: uma proposta de poltica de
segurana al imentar para o Brasil , alm de outros artigos.
Participou da equipe de Transio do Governo Lula (2002).
BENEDITA DA SILVA Ministra de Estado da Assistncia
Social. Graduada em Estudos Sociais e Servio Social. Foi
Vereadora do Municpio do Rio de Janeiro (1982), Deputada
Federal por dois mandatos (1986 e 1990), Senadora da Repblica
(1994) e Governadora do Estado do Rio de Janeiro (2002).
RICARDO HENRIQUES Secret ri o-Execut i vo do
Ministrio de Assistncia Social e Coordenador da Unificao
dos Programas de Transferncia de Renda do Governo Federal.
Professor l i cenci ado do Departamento de Economi a da
Uni versi dade Federal Fl umi nense UFF. Graduado em
Cincias Econmicas pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro UFRJ, Mestre em Economia pelo Instituto de
Economia Industrial UFRJ e Doutorando em Economia pela
Universit Paris. Pesquisador especializado na questo da
284
desigualdade, pobreza, racismo, avaliao de polticas sociais
e Terceiro Setor. autor de diversas publicaes, entre elas,
Desigualdade e Pobreza no Brasil; A Estabilidade inaceitvel:
desigualdade e pobreza no Brasil; e Pelo fim das dcadas perdidas:
educao e desenvolvimento sustentado no Brasil.
SONIA ROCHA Coordenadora de Proj etos IBRE
Fundao Getlio Vargas. Graduada em Economia e Doutora
em Planejamento Econmico pela Universit de Paris I
(Panthon-Sorbonne). Trabalhou no Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatstica IBGE e no Instituto de Pesquisa
Econmica Aplicada IPEA e realizou nos ltimos quinze anos
estudos sobre conceitos, medidas e caracterizao da pobreza
no Brasi l , assi m como aval i aes de pol ti cas pbl i cas
compensatrias e de transferncia de renda. autora de diversas
publicaes no pas e no exterior, entre elas, Poverty in Brazil:
basic parameters and empirical results; Governabilidade e pobreza: o
desafio dos nmeros; e Caracterizao da pobreza no Brasil.
MARCIO POCHMANN Secret ri o Muni ci pal do
Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura do
Municpio de So Paulo. Professor Livre Docente do Instituto
de Economi a da Uni versi dade Estadual de Campi nas
UNICAMP e Pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de
Economia do Trabalho CESIT. autor e organizador de
vrios livros, dentre os quais: Padres de Relaes de Trabalho e
Sindicalismo no Brasil; Outra Cidade Possvel Alternativas de
Incluso Social em So Paulo; Atlas da Excluso Social no Brasil
Dinmica e Manifestao Territorial; volume 2; e Atlas da
Excluso Social no Brasil.
TOM D. CAMPBELL Professor Fellow no Centro de Filosofia
Aplicada e tica Pblica na Universidade Charles Sturt,
Camberra; e Professor Visitante na Escola de Direito, Kings
285
College, em Londres. M.A. Mrito de Primeira Classe em
Lgica e Filosofia Moral, Universidade de Glasgow, Esccia;
B.A. Mrito de Primeira Classe em Teologia, Universidade de
Oxford; Ph.D. pela Universidade de Glasgow, Esccia e Membro
da Royal Society of Edinburgh. Membro da Academia de
Cincias Sociais da Austrlia. Foi Professor de Filosofia na
Universidade de Stirling, Esccia (1973 a 1979); Professor de
Jurisprudncia na Universidade de Glasgow, Esccia (1980 a
1990) e Reitor e Professor de Direito na Australian National
University. Publicou vrios livros, dentre eles, Seven Theories of
Human Society, The Left and the Rights: A Conceptual Analysis of
the Idea of Socialist Rights, Justice. Alm disso, autor de dezenas
de ensaios recentes e co-autor de diversos livros.
FLVIA PIOVESAN Procuradora do Estado de So Paulo,
desde 1991; Professora Doutora da Faculdade de Direito da
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo PUC/SP;
Assessora Cientfica da Fundao de Amparo Pesquisa do
Estado de So Paulo FAPESP; Consultora do CNPq; Membro
do Comit Lantino-Americano e do Caribe para a Defesa dos
Direitos da Mulher, do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana, da Comisso Justia e Paz e da Associao
dos Constitucionalistas Democrticos e da LASA Latin
American Studies Association. Mestre e Doutora em Direito
Consti tuci onal pel a PUC/SP, tendo desenvol vi do seu
doutoramento na Harvard Law School. autora de vrios livros,
dentre el es, Di rei t os Humanos e o Di rei t o Const i t uc i onal
Internacional; Temas de Direitos Humanos; Proteo Judicial contra
Omisses Legais: Ao Direta de Inconstitucionalidade por Omisso
Legal e Mandado de Injuno, alm de co-autora em outras obras.
FREI BETTO Assessor Especi al do Presi dent e da
Repblica, atuando como Coordenador da Mobilizao Social
para o Programa Fome Zero. Frade dominicano e escritor.
286
Graduado em Jornalismo, Antropologia, Filosofia e Teologia.
Foi assessor da Central de Movimentos Populares; do Instituto
Cidadania; das Comunidades Eclesiais de Base; e consultor
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Tambm assessorou a Pastoral Operria do ABC (So Paulo),
entre 1979 e 2002. Em 1983, ganhou o prmio Jabuti, da Cmara
Brasileira do Livro, pela obra Batismo de Sangue. Eleito
Intelectual do Ano de 1985, recebeu o trofu Juca Pato da
Unio Brasileira de Escritores. Em 1988, recebeu o prmio de
direitos humanos da Fundao Bruno Kreisky, em Viena. Na
Itlia, em 1988, recebeu o prmio Paolo E. Borsellino, por seu
compromisso com movimentos populares. Autor de 48 obras
publicadas, muitas das quais editadas no exterior.
ALDAZA SPOSATI Secretria Municipal de Assistncia
Social da Prefeitura de So Paulo (maro/2002). Vereadora
l i cenci ada do Muni c pi o de So Paul o pel o Parti do dos
Trabal hadores (1993-1996 / 1997-2000 / 2001-2004);
Professora Titular da Pontifcia Universidade Catlica de So
Paulo PUC/SP; e Coordenadora do Ncleo de Estudos e
Pesquisas de Seguridade e Assistncia Social PUC-SP.
Doutora em Servio Social e Ps Doutorada na Universidade
de Coimbra Faculdade de Economia. Foi Secretria das
Administraes Regionais da Prefeitura do Municpio de So
Paulo (1989-1990); Consultora Internacional para o Programa
de Desenvol vi mento Urbano pel a ONU/HABITAT, na
Nicargua; Professora em Programas de Mestrado e Doutorado
na Universidade de La Plata, na Argentina, no Instituto Superior
de Servio Social em Lisboa, Portugal, e no Instituto Superior
de Servio Social da Universidade do Porto, em Portugal.
autora de vrios artigos e livros sobre Polticas Sociais e Gesto
Municipal, dentre eles: Vida Urbana e Gesto da Pobreza, Mapa
da Excluso/Incluso Social da Cidade de So Paulo, Renda Mnima
e Crise Mundial: sada ou agravamento?, Cidade em Pedaos.
287
ANA PAULA MOTTA COSTA Presidente da Fundao
de Assistncia Social e Cidadania de Porto Alegre. Graduada
em Sociologia e Direito e Mestranda em Cincias Criminais.
Foi Assessora de Polticas Sociais da Secretaria Municipal de
Porto Alegre (1993 a 1996); Presidente da Fundao de
Assistncia Social de Cidadania de Porto Alegre (1997 a 2000);
e Presidente da Fundao de Atendimento Scioeducativo do
Rio Grande do Sul FASE/RS (2000 a 2002).
CELESTE CORDEIRO Secretria Extraordinria de
Incluso e Mobilizao Social do Estado do Cear; Professora
Titular de Sociologia Poltica da Universidade Estadual do
Cear; e Coordenadora do Ncleo de Pesquisa e Assessoria
em Associativismo e Polticas Pblicas. Doutora em Sociologia
pela Universidade Federal do Cear. Foi Coordenadora Geral
da Universidade Aberta do Nordeste, da Fundao Demcrito
Rocha; Pr-Reitora de Graduao e Coordenadora do Curso
de Cincias Sociais da Universidade Estadual do Cear, alm
de Diretora da Escola de Formao de Governantes do Cear.
Publicou vrios livros, dentre eles, Brinquedos da Memria, a
infncia em Fortaleza no incio do sculo XX, alm de dezenas de
artigos em revistas e jornais.
MARIA HELENA GUIMARES DE CASTRO Secretria
de Assistncia e Desenvolvimento Social do Estado de So
Paulo e Professora licenciada do Departamento de Cincia
Poltica da Universidade Estadual de Campinas UNICAMP.
Foi Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Inep; Secretria de Ensino Superior do Ministrio
da Educao MEC; e Secretria-Executiva do MEC no
Governo Fernando Henrique Cardoso. autora de diversas
publicaes, dentre elas, Education for the 21
st
century: the challenges
of quality and equity, Democratic Transition and Social Policy in
Brazil: Some Dilemmas in the Agenda of Reform e Social Policy and
Democratic Consolidation in Brazil.
288
ALBERDO D. CIMADAMORE Assessor do Conselho
Lati no-Ameri cano de Ci nci as Soci ai s CLACSO e do
Pr ogr ama CLACSO- CROP ( Compar at i ve Resear ch
Programme on Povert y; Int er naci onal Soci al Sci ences
Council) de Estudos sobre Pobreza, Pesquisador do Conselho
Nacional de Pesquisas Cientficas e Tcnicas da Argentina
CONITEC; e Professor de Relaes Internacionais e de
Integrao Regional da Faculdade de Cincias Sociais e do
Centro de Estudos Avanados da Universidade de Buenos
Ai res (UBA). Graduado em Di rei to pel a Uni versi dade
Catlica de Santa F, na Argentina, e em Cincia Poltica
pela Universidade Nacional de Rosrio, na Argentina; Mestre
em Relaes Internacionais pela Faculdade Latino-americana
de Cincias Sociais FLACSO, na Argentina; e Doutor em
Relaes Internacionais pela University of Southern USC,
em Los Angeles, Estados Unidos.
THOMAS W. POGGE Editor de Filosofia Poltica e Social
da Enci cl opdi a de Fi l osofi a de Stanford; Membro da
Academia de Cincia da Noruega; e Professor de Filosofia
Poltica e Moral na Universidade de Columbia, Nova York.
PhD em Fi l osof i a pel a Uni ver si dade de Har vard.
Atualmente, est cedido para o National Institutes of Health
em Bet hesda, Mar yl and, Est ados Uni dos. Suas vri as
publicaes recentes tais como, What we can reasonably
reject, Can the capability approach be justified?, On the site of
distribute justice incluem temas como a Pobreza no mundo,
Direitos Humanos e Justia Global.
JOS TUBINO Representante responsvel pelo programa
da FAO no Brasil. Graduado em Economia Agronmica pela
Universidade Federal de Agricultura, Lima/Peru, e Mestre
em Estudos Ambi entai s, Desenvol vi mento Sustentvel
Agrcola e Rural pela Universidade York, Toronto/Canad.
289
Foi Di retor de Assuntos Mul ti l aterai s do Mi ni stri o da
Agri cul tura do Canad; Representante Responsvel pel o
Programa da FAO na Bolvia e em El Salvador.
CEZAR SANTOS ALVAREZ Sub-Secretrio Geral da
Presi dnci a da Repbl i ca. Graduado em Economi a. Foi
Assessor do Gabi nete do Prefei to Ol vi o Dutra (1992);
Subsecretrio Geral de Governo na Prefeitura de Porto Alegre
(1995); Chefe de Gabinete do Prefeito (1996); Secretrio
Municipal de Administrao (1997 a 2000); e Secretrio
Municipal de Indstria e Comrcio (2001 e 2002).
FLVIO BORGES BOTELHO FILHO Secretri o-
Execut i vo do Mi ni st ri o Ext raordi nri o de Segurana
Alimentar e Combate Fome e Professor da Universidade de
Braslia. Graduado em Engenharia Agronmica pela Escola
Super i or de Agr i cul t ur a Esal q/USP; Mest r e pel a
Uni versi dade Federal da Bahi a UFBA; e Doutor pel a
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP.
ROSANA SPERANDIO PEREIRA Oficial de Projetos
do Setor de Desenvolvimento Social da Unesco no Brasil.
Mestre em Poltica Social pela Universidade de Braslia UnB.
Foi Assessora da Presidncia do Conselho da Comunidade
Sol i dri a ( 1996 a 2002) e Assessora da Secret ari a de
Pr ogr amas de Segur ana Al i ment ar do Mi ni st r i o
Extraordinrio de Segurana Alimentar e Combate Fome
(2003). Entre suas publicaes, destaca-se Seis Anos de
Interlocuo Poltica Metodologia, Resultados e Avaliao.
Você também pode gostar
- ACORDO de ESCAZÚ - Uma Oportunidae de Avanços Na Democracia e Combate A Corrupção No BrasilDocumento17 páginasACORDO de ESCAZÚ - Uma Oportunidae de Avanços Na Democracia e Combate A Corrupção No BrasilAnt GarciaAinda não há avaliações
- As Neves do Kilimanjaro e suas lembrançasDocumento30 páginasAs Neves do Kilimanjaro e suas lembrançasMelquisedeque PereiraAinda não há avaliações
- História Da Filosofia Antiga PDFDocumento218 páginasHistória Da Filosofia Antiga PDFkatiaregislAinda não há avaliações
- 1.1 A Versão Latina Por Pascásio de Dume Dos Apophthegmata Patrum - Retiro PDFDocumento407 páginas1.1 A Versão Latina Por Pascásio de Dume Dos Apophthegmata Patrum - Retiro PDFAnt GarciaAinda não há avaliações
- Liev Tolstói PDFDocumento8 páginasLiev Tolstói PDFAnt GarciaAinda não há avaliações
- São SerafimDocumento120 páginasSão SerafimrmdamasioAinda não há avaliações
- ABORDAGEM TRANSPESSOAL NO ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL - Pe. Brendan 17.12.18 PDFDocumento19 páginasABORDAGEM TRANSPESSOAL NO ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL - Pe. Brendan 17.12.18 PDFAnt GarciaAinda não há avaliações
- Liev Tolstói PDFDocumento8 páginasLiev Tolstói PDFAnt GarciaAinda não há avaliações
- As Neves do Kilimanjaro e suas lembrançasDocumento30 páginasAs Neves do Kilimanjaro e suas lembrançasMelquisedeque PereiraAinda não há avaliações
- São SerafimDocumento120 páginasSão SerafimrmdamasioAinda não há avaliações
- São SerafimDocumento120 páginasSão SerafimrmdamasioAinda não há avaliações
- O Patriarca Yuhanna MarunDocumento4 páginasO Patriarca Yuhanna MarunAnt GarciaAinda não há avaliações
- LIVRO - Teologia Mística - Pseudo-Dionísio Areopagita PDFDocumento129 páginasLIVRO - Teologia Mística - Pseudo-Dionísio Areopagita PDFArllington R. F. da CostaAinda não há avaliações
- EEDocumento72 páginasEElfslimaAinda não há avaliações
- A poética da compaixão: como a misericórdia transformaDocumento9 páginasA poética da compaixão: como a misericórdia transformaAnt GarciaAinda não há avaliações
- Ministério Público FederalDocumento19 páginasMinistério Público FederaltiagolirapeAinda não há avaliações
- O mistério da Palavra de Deus revelado por testemunhas ao longo dos séculosDocumento544 páginasO mistério da Palavra de Deus revelado por testemunhas ao longo dos séculosAnt GarciaAinda não há avaliações
- Apostila Maquinas AgricolasDocumento88 páginasApostila Maquinas Agricolasd-fbuser-6050490780% (5)
- Teoria Do Psiquismo PDFDocumento1 páginaTeoria Do Psiquismo PDFAnt Garcia0% (1)
- Livro É PossivelDocumento153 páginasLivro É PossivelAnt GarciaAinda não há avaliações
- De Uma Sabedoria AntigaDocumento1 páginaDe Uma Sabedoria AntigaAnt GarciaAinda não há avaliações
- Exercicios de GeografiaDocumento94 páginasExercicios de GeografiaJuliana LecaAinda não há avaliações
- 6 4 Haesbaert Vertentes Do TerritórioDocumento28 páginas6 4 Haesbaert Vertentes Do TerritórioWendell LimaAinda não há avaliações
- A Geopolítica Mundial AtualDocumento2 páginasA Geopolítica Mundial AtualWesley SilvaAinda não há avaliações
- AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE GEOGRAFIA - EM - GlobalizaçãoDocumento3 páginasAVALIAÇÃO BIMESTRAL DE GEOGRAFIA - EM - GlobalizaçãoCorporação Musical Santa Cecília de Rio PiracicabaAinda não há avaliações
- Cultura e Pós-Modernidade - Aula 03 - UninterDocumento16 páginasCultura e Pós-Modernidade - Aula 03 - UninterfabianovgaAinda não há avaliações
- Como Entender Os Processos OrganizacionaisDocumento6 páginasComo Entender Os Processos OrganizacionaisLuís OtávioAinda não há avaliações
- Avaliação Final - Geografia Da PopulaçãoDocumento12 páginasAvaliação Final - Geografia Da PopulaçãoMaria Laiz CabralAinda não há avaliações
- A Pilhagem Da África - A Economia Da Exploração - Patrick BondDocumento190 páginasA Pilhagem Da África - A Economia Da Exploração - Patrick BondValdirene Sousa100% (1)
- Sociologia e Vida CotidianaDocumento4 páginasSociologia e Vida CotidianaRonei Couto Melo100% (3)
- Gilles Deleuze & Félix Guattari - Mil Platôs Vol. 3Documento110 páginasGilles Deleuze & Félix Guattari - Mil Platôs Vol. 3Aline Andr100% (2)
- ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS Trabalho de Geografia 5anokkkkkkkkkDocumento2 páginasESCOLA MUNICIPAL CLOVIS Trabalho de Geografia 5anokkkkkkkkkSandra CastilhoAinda não há avaliações
- Estudo de Caso 2Documento17 páginasEstudo de Caso 2Priscila FacciAinda não há avaliações
- Precarização e Trabalho Decente Nas Cadeias Produtivas GlobaisDocumento304 páginasPrecarização e Trabalho Decente Nas Cadeias Produtivas GlobaiseditoriaemdebateAinda não há avaliações
- Capitalismo e SocialismoDocumento2 páginasCapitalismo e SocialismoALINE NEPOMUCENO DUARTE100% (1)
- RESENHA - A Sociedade de RiscoDocumento5 páginasRESENHA - A Sociedade de RiscoRodrigo Lopes50% (2)
- Fiori - o Mundo Como Ele É PDFDocumento6 páginasFiori - o Mundo Como Ele É PDFJoãoAinda não há avaliações
- Apresentação CapitalismoDocumento14 páginasApresentação Capitalismorafaelabc14Ainda não há avaliações
- 20 Dicas para Promover Seus Imoveis No ExteriorDocumento20 páginas20 Dicas para Promover Seus Imoveis No ExteriorGlaucius Hirsuta100% (2)
- Urgencia Das Ruas Coletivo BadernaDocumento211 páginasUrgencia Das Ruas Coletivo BadernaNuno de AlmeidaAinda não há avaliações
- Maria Joao Estorninho Estudos de Direito Da Alimentacao PDFDocumento248 páginasMaria Joao Estorninho Estudos de Direito Da Alimentacao PDFrosa sousaAinda não há avaliações
- Etapas Da GlobalizaçãoDocumento2 páginasEtapas Da GlobalizaçãoVitoria LopesAinda não há avaliações
- O Empadão GoianoDocumento119 páginasO Empadão GoianoPaulo Brito Do PradoAinda não há avaliações
- Contratos de prestação de serviços: mitigação de riscosDocumento3 páginasContratos de prestação de serviços: mitigação de riscosPedro Paulo Soares RosaAinda não há avaliações
- Teorias Marxistas Sore o Capitalismo ContemporâneoDocumento0 páginaTeorias Marxistas Sore o Capitalismo ContemporâneoREDEBOLIVARIANAAinda não há avaliações
- Governabilidade-Governança e Capacidade GovernativaDocumento21 páginasGovernabilidade-Governança e Capacidade GovernativaSergio KrugAinda não há avaliações
- Atividade para o Oitavo Ano - Há Incerteza Na MudançaDocumento1 páginaAtividade para o Oitavo Ano - Há Incerteza Na Mudançahelioabdala-1Ainda não há avaliações
- A Alimentação Através Dos Tempos - AnsDocumento8 páginasA Alimentação Através Dos Tempos - AnsFabiana Martins CurveloAinda não há avaliações
- Fichamento Do Texto - HALL, Stuart. A Identidade Cultural Na Pós-Modernidade - Introdução Capítulos 4 e 6.Documento4 páginasFichamento Do Texto - HALL, Stuart. A Identidade Cultural Na Pós-Modernidade - Introdução Capítulos 4 e 6.Rodolpho WALAinda não há avaliações
- Apostila Globalizacao PDFDocumento4 páginasApostila Globalizacao PDFRenato ClementeAinda não há avaliações
- Branqueamento de CapitaisDocumento295 páginasBranqueamento de Capitaisdaniel xipokoAinda não há avaliações