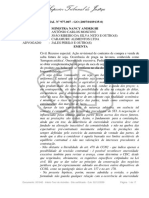Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Os Estados
Enviado por
Flávio RochaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Os Estados
Enviado por
Flávio RochaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Por1e 1. Cop. 11.
Os s1odos JJ
Os Estados
Secco I.
Introduo. Consideraes gerais
12. Ausncia de definio geral do conceito Estado
O conceito de Estado, no sentido que o direito internacional lhe atribui, no est definido em
nenhum instrumento jurdico internacional geral. Na verdade, muito embora o TIJ tenha entendido que
um Estado possui, na sua totalidade, os direitos e deveres internacionalmente reconhecidos pelo
direito internacional, certo que a sua caracterizao continua a ter de ser construda doutrinalmente,
atendendo, para o efeito, s normas internacionais pertinentes
1 1
. Esta tarefa complexa, e, quanto ao
seu sucesso, de resultado pouco seguro no ter sido por acaso que a prpria CDI evitou, ao longo
dos seus j prolongados trabalhos, uma formulao expressa do conceito jurdico-internacional em
discusso
2 2
.
No entanto, no ser por isso que se deixar de acentuar o carcter central da noo de Estado na
estrutura do direito e das relaes internacionais. Esta assero manifesta-se de variadas maneiras: por
exemplo, a participao plena nas principais organizaes internacionais depende da natureza estadual
da entidade que requer a sua admisso; e no deixa de ser significativo que as entidades com base
territorial a quem, num momento ou noutro, foi negada a natureza estadual (em nmero escasso, diga-
se), s participem nas relaes internacionais de um modo limitado
3 3
/
4 4
.
Como decorre do que j tivemos ocasio de demonstrar a propsito da natureza da sociedade inter-
nacional
5 5
, o Estado , para o direito internacional, uma exigncia lgica. Com efeito, constitui para
esta ordem jurdica o sujeito cujas relaes devem ser juridicamente disciplinadas, e sem o qual o
1 1
TIJ, Rec., 1949, p. 180. Mas o problema de saber se uma dada entidade tem ou no natureza estadual concreto (e complexo),
pelo facto de essa entidade, muitas vezes, ter algumas das caractersticas que, normalmente, se ligam quele conceito. Reconhea-se,
por estarmos perante realidade factuais, que se pode entrar no domnio do subjectivo, do arbitrrio e do contraditrio. Ademais, a
totalidade dos direitos a que se refere o TIJ deve ser entendida como potencial. Um Estado no-costeiro estar obviamente
impossibilitado de exercer os poderes internacionalmente reconhecidos sobre o mar territorial. V., p.e., PAUL DE VISSCHER,
Cours, p. 45, que fala a este propsito em plenitude virtual de todas as capacidades jurdicas; e ainda JOE VERHOEVEN, L'tat et
l'ordre juridique international, RGDIP, 1978, pp. 749-774, e esp. a pp. 752-756.
2 2
Tanto o Comit de Peritos da SDN para a Codificao Progressiva do direito internacional como a Comisso do direito
internacional rejeitaram sucessivamente propostas para procederem codificao de regras relativas aos elementos de manifestao
do Estado. V., p.e., ACDI, 1949, pp. 64 e ss. e 150 e ss.; ibid., 1956, II, p. 107; ibid., 1970, II, pp. 178 e 306. A questo do
reconhecimento de Estado, conexa com a anterior, foi includa no programa de trabalhos da CDI desde 1949, mas no tem havido
grande interesse em trat-la sob a forma da projecto de codificao. Cf. as declaraes neste sentido de BILGE e CASTAEDA
(ACDI, 1973, I, respect. a pp. 175 e 164); cf. porm TSURUOKA, ibid., p. 170. V., em geral, CRAWFORD, p. 107, n. 3, e
MARIO MENENDEZ, p. 49. Entendendo que o conceito de Estado de acordo com o direito internacional o resultado de uma
sntese das diferentes definies constitucionais internas, cf. BENGT BRMS, Entitlement in the International Legal System, in R.
St. J. MacDonald/D.M. Johnston (eds.), The Structure and Process of International Law, Dordrecht, 1986, p. 385.
3 33 3
o que sucedia de forma clara no caso de Andorra, at alterao do respectivo estatuto constitucional. Com efeito, com a
adopo, a 14 de Abril de 1993, da sua primeira Constituio (por referendo), Andorra tornou-se num Estado independente. Tambm
merecem citao os casos da Rodsia (hoje, Zimbabwe) e, sobretudo, de Taiwan (Formosa). claro que a Repblica da China ou
Taiwan mantm relaes bilaterais com muitos Estados, mesmo com alguns que no reconhecem a sua pretenso de ser o Governo
da China. Mas, desde 1971, no lhe reconhecido nenhum estatuto nas Naes Unidas. que nem todos os tipos de comunidade
humana assumem relevncia directa no plano internacional, mesmo se esta est adstrita a um territrio. Por isso, um povo, uma
nao, uma etnia, mesmo que individualizveis num contexto territorial, no constituem entidades por si capazes de participar nas
relaes 'internacionais' (GIOVANNI KOJANEC, ED, XLIII, p. 787). Cf. tb. CRAWFORD, p. 93.
4 4
No entanto, seja qual seja for a importncia do Estado como actor internacional, poder afirmar-se com certeza que perdeu a
situao de monoplio que, porventura, at nunca ter detido que alguns lhe reconheciam na sociedade internacional. Dizia
LAUTERPACHT, h alguns anos, que a doutrina positivista ortodoxa foi explcita na afirmao de que s os Estados so sujeitos
de direito internacional (LAUTERPACHT, International Law: Collected Papers, vol. II, 1975, p. 489. Cf. ainda SHAW, p. 137, n.
8). Esta posio no hoje transponvel para a sociedade internacional. A Santa S, os insurrectos, os beligerantes, as organizaes
internacionais e certas entidades territoriais detiveram e detm, em medida diferente, certo, capacidade jurdica internacional. Neste
sentido, cf. TIJ, parecer consultivo de 16 de Outubro de 1975, Sahara Occidental, Rec., 1975, pp. 12 e 39; tambm reproduzido em
ILR, vol. 59, pp. 30 e ss.
5 5
Cf. supra, n 6.1.
2
direito internacional no tem sentido
1 1
. desta forma que se dever entender a terminologia, corrente,
segundo a qual o Estado o sujeito primrio do direito internacional, por oposio aos seus sujeitos
derivados, que constituem todas as personalidades construdas e no pressupostas por aquele
direito, e de que so bom exemplo as organizaes internacionais
2 2
.
13. Definio do Estado e descrio do Estado
Vista a questo nos termos propostos, a definio do Estado no circunscritvel ao jurdico: ante-
cede logicamente o direito, e o seu ser vai, ao cabo e ao fim, escapar ao conjunto das suas
proposies jurdicas. Com efeito, o objecto do direito internacional o de determinar os direitos e
deveres respectivos dos seus sujeitos, no circunscrev-los
3 3
. A dar-se este ponto de vista como
correcto, aquilo a que se chama os critrios do Estado ou elementos de manifestao estadual no
poder fundar-se numa ou em vrias regras consuetudinrias, porque as precede
4 4
.
Nem por isso a descrio do Estado se deve rejeitar como intil. Em primeiro lugar, porque no
almeja definir o Estado, mas apenas identific-lo, uma vez que inexiste, no plano internacional, a
nitidez verificvel quanto condio de sujeitos primrios das pessoas fsicas no seio das so-
ciedades nacionais. A questo deixa por isso de ser de existncia, para se assumir como de
personificao do Estado.
14. Estado-comunidade e Estado-organizao
Antes mesmo de passarmos apreciao identificativa do Estado, ocorre tratar um outro ponto
prvio, suscitado por alguma da doutrina: tem ele a ver com a opo, no direito internacional, pela
expresso mais adequada do Estado. De certa forma ao arrepio da forma comum de tratar a matria,
alguns resumem o debate escolha entre o Estado como comunidade e o Estado como organizao
(ou Estado-aparelho, ou Estado-governo). De um lado, o acento tnico colocado numa comunidade
humana, situada em determinada parcela terrestre, e submetida s leis que a mantm unida
5 5
. este, em
traos forosamente gerais, o fenmeno a que a teoria do Direito e do Estado d o nome de Estado-
comunidade.
Numa perspectiva diferente, podemos atender aos governantes, e ao conjunto dos rgos que
exercem, e enquanto exercem, poderes de autoridade. Este ser o Estado-organizao.
A realidade destas duas abordagens inquestionvel. Procura-se resposta, por isso, para pergunta
diferente: qual delas mais adequada ao direito internacional
6 6
? Antes mesmo de prosseguir, convm
separar as guas. Ou seja, parece que uma coisa a realidade que se destaca quando do acto intelectivo
de personificao do Estado; e outra, complementar e compatvel, que sobressai na actuao dessa
entidade no plano internacional.
A posio de Conforti , em aparncia, diferente da que se sustenta, pois no distingue estes dois
aspectos, inclinando-se, de forma genrica, pelo Estado-organizao. ao conjunto dos rgos
estaduais que se atende quando () se liga a subjectividade internacional do Estado ao critrio da
efectividade, ou seja, ao exerccio efectivo do poder de Governo; so os rgos estaduais que
participam na formao das normas internacionais; aos rgos estaduais que se liga o contedo das
normas materiais internacionais, as quais se destinam a disciplinar e limitar o exerccio do poder de
governo (); e so finalmente os rgos estaduais, e apenas os rgos estaduais, que, com a sua con-
duta, podem desencadear a responsabilidade internacional do Estado
7 7
.
1 1
JOE VERHOEVEN, L'Etat, cit., p. 752.
2 2
Cf., entre muitos, SIMONE DREYFUS, p. 71.
3 3
JOE VERHOEVEN, loc. cit.
4 4
Cf., em sentido prximo, REUTER/COMBACAU, p. 107.
5 5
CONFORTI, p. 12.
6 6
V., em geral, REUTER/COMBACAU, p. 106, que sustentam que o Estado uma realidade com duas faces, interna e
internacional, e que nada implica retornamos ideia fulcral da independncia dos ordenamentos jurdicos que coincidam
perfeitamente. V. ainda, em sentido similar, FREITAS DO AMARAL, que se refere ao Estado-entidade-internacional. No quer isto
dizer, alis, que o Autor adira s teorias que sustentavam que a palavra Estado, nas suas diferentes acepes, implicava a existncia,
tambm, de entidades jurdicas diversas: o Estado sempre e s uma nica pessoa colectiva, ainda que com conotaes diferentes
conforme os ordenamentos que regulam a sua actividade. Cf. FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, vol. I,
Coimbra, 1986, pg. 199, n. 2.
7 7
CONFORTI, pp. 12-13; BRIERLY, pp. 123-124.
S
Mas, como logo a seguir referido pelo Autor, esta a forma de ver o Estado como destinatrio
das normas internacionais
1 1
, sem que, por inerncia lgica, seja tambm o Estado-organizao a
explicar da forma mais adequada o problema da descrio do Estado como pessoa internacional. Por
outro lado, a insistncia na efectividade do Estado como organizao (a efectividade do governo)
contm j, como pressuposto, os elementos plurais que descrevem o Estado-comunidade. Nesse
sentido, reafirma-se, a questo materialmente menor, porque discute apenas incidncias de um
conceito mais vasto. A forma correcta de ver a questo, por isso, a que considera que a importncia
especfica da realidade Estado-organizao a de encontrar quem representa o Estado nas relaes
internacionais
2 2
.
Seco II
Elementos de manifestao estadual
15. Introduo
Iremos debruar-nos sobre a problemtica da condio ou manifestao estadual (Statehood).
Tornar-se- patente, ao longo da exposio, que as relaes entre critrios jurdicos e elementos
factuais tm, neste domnio, uma relevncia fundamental. por isso que, como referimos, saber-se se
o nascimento de um Estado , primariamente, uma questo de facto ou de direito, e em que termos
se pode estabelecer a interaco entre o critrio da efectividade e outros princpios jurdicos relevantes,
problema complexo mas, ao mesmo tempo, nuclear para o direito internacional. Uma vez que j
no existem terrae nullius, a criao de novos Estados uma vez que o processo de descolonizao
est a atingir o seu termo s poder ser realizada como consequncia da diminuio ou desapareci-
mento de Estados pr-existentes. E de destacar que o movimento de descolonizao desencadeou
uma anlise renovada daquela que podemos designar como perspectiva tradicional nesta matria
3 3
.
O art. 1 da Conveno de Montevideu sobre os Direitos e Deveres dos Estados (de 26 de
Dezembro de 1933), atento muito embora o escasso nmero de Estados que nele so partes,
estabeleceu a que considerada a formulao corrente dos critrios que determinam a condio
estadual em direito internacional
4 4
. Aquele preceito dispe que um Estado, como pessoa jurdica
internacional, dever possuir as seguintes caractersticas: a) uma populao permanente; b) um territ-
rio definido; c) um governo; d) capacidade para estabelecer relaes com outros Estados.
Esta enumerao no nem taxativa, nem imutvel. Veremos a seguir que outros factores podem
ser atendidos, tais como questes particulares suscitadas pelo princpio do reconhecimento e pela
aplicao do princpio da auto-determinao dos povos. De qualquer modo, o aspecto essencial que
transparece daquela disposio o da efectividade territorial. Apreciaremos agora, com mais detalhe,
cada uma dos aspectos referidos.
16. A) Existncia de uma populao permanente
exigida com naturalidade, no se estabelecendo um patamar mnimo que condicione a natureza
estadual de uma certa entidade basta pensar nas ilhas Nauru e Tuvalu
5 5
.
1 1
Neste aspecto, identificamo-nos totalmente com a posio adoptada por CONFORTI, p. 13.
2 2
Como foi destacado por JORGE MIRANDA, Funes, rgos e actos do Estado, Lisboa, 1990, pp. 55-58.
3 3
Desenvolvidamente sobre este aspecto, REUTER/COMBACAU, pp. 80-83 e 111, com destaque para as consequncias no
plano internacional do desaparecimento de espaos terrestres livres. Daqui decorre que todas as questes territoriais, mesmo que
menores, assumem uma enorme importncia poltica. Destacar-se-, alis, ser sintomtico que a violao do territrio constitua o
elemento fundamental do conceito de agresso.
4 4
Reprod. in AJIL Suppl., vol. 28, pp. 75 e ss. Esta Conveno foi adoptada pela 7 Conferncia Internacional de Estados
Americanos (15 Estados latino-americanos e os Estados Unidos).
5 5
Pode porm discutir-se se, quanto a certas parcelas territoriais muito reduzidas e com um nmero de habitantes diminuto, ainda
legtima a aplicao do princpio da autodeterminao a pergunta tanto mais pertinente quanto existem ainda vrias pequenas
ilhas em relao s quais alguns falam, talvez impropriamente, em descolonizao.
4
Por este requisito se insiste em que que os Estados, sendo muito embora entidades territoriais, so
tambm agregados de indivduos
1 1
/
2 2
. Outro aspecto que se dever ter em conta o de que, em sentido
estrito, se exige uma populao permanente, sem referncia imediata sua nacionalidade, ou sequer
exigncia automtica de que esse Estado tenha nacionais. Poder-se- dizer ser absurdo o conceito de
Estado sem nacionais, ou que o Estado no identificvel se no possuir um ncleo prprio de pessoas
que ostentem a sua nacionalidade
3 3
. Mas estas afirmaes impem algum cuidado: entre outras coisas,
que a atribuio da nacionalidade questo que os Estados s podem aclarar mediante regra de direito
interno ou, eventualmente, decorrente de tratado. Por isso, como diz Crawford, a nacionalidade depen-
de da condio estadual, e no o inverso
4 4
. Nessa medida, a existncia de nacionais no pode ser
elemento do Estado, porque depende do Estado
5 5
. Extraindo do raciocnio todas as suas consequncias
lgicas, no repugnaria mesmo que indivduos pudessem ser considerados nacionais de um deter-
minado Estado luz do direito internacional (ou para certos e particulares fins de natureza
internacional), antes de esse Estado ter podido estabelecer regras que determinassem o regime jurdico
da nacionalidade segundo o direito interno
6 6
. Esta possibilidade assenta na diferenciao cuidadosa a
estabelecer entre a nacionalidade internacional e a nacionalidade interna
7 7
.
Feitos estes reparos, debrucemo-nos sobre o conceito de populao. Em sentido lato, a expresso
compreende todos os habitantes no Estado. E til como dado de facto, por ser suficiente e at a
mais correcta para a demonstrao da existncia do elemento pessoal do Estado
8 8
. Mas, aferida em
conjugao com o conceito de nacionalidade, peca tanto por defeito como por excesso. Por defeito,
uma vez que esquece os nacionais residentes no estrangeiro. Por excesso, porque assim nela se in-
tegram os estrangeiros que no tenham renunciado sua nacionalidade de origem.
Estamos assim confrontados com o conceito de nacionalidade. Esta pode definir-se como o
vnculo
9 9
jurdico que liga um indivduo, onde quer que se encontre, a um Estado, e em virtude do qual
o indivduo e o Estado esto relacionados por obrigaes mtuas
1 10 0
. Decorre do que atrs dissemos que
o direito internacional distingue o plano da atribuio interna de nacionalidade (que interessa
unicamente a um Estado e aos seus nacionais) do da oponibilidade (no sentido de eficcia) dessa
atribuio a Estados terceiros, ou na cena internacional. Por um lado, reconhece-se em princpio com-
petncia exclusiva ao Estado em todas as questes relativas aquisio ou perda de nacionalidade que
o oponham a um indivduo
1 11 1
. Por outro, como o TIJ afirmou com grande clareza no caso Nottebohm, a
nacionalidade de um indivduo no oponvel aos Estados terceiros a no ser na medida em que exis-
1 1
CRAWFORD, p. 114. A populao pode tornar-se muito importante como critrio nas situaes de pessoas que no vivam no
territrio cuja natureza estadual reclamam. o caso da dita Repblica de Minerva. Em 1970, o Governo de um Estado
denominado Minerva enviou uma carta a vrios Chefes de Estado, assinada pelo seu Primeiro-Ministro, na qual se pedia o
reconhecimento do novo Estado. Por sinal, este pedido era claramente prematuro. De facto, na nota enviada pelo Primeiro-
Ministro, dizia-se que, com alguns trabalhos de construo, os recifes de coral, at a parcialmente submersos, passariam a poder ser
habitados durante todo o ano! De acordo com dados de BENGT BRMS, em meados dos anos 80 ascendiam a mais ou menos 60 os
Estados fictcios, cuja existncia dependia apenas do valor econmico que possa ter para os seus criadores cunhagem de moeda,
numismtica, etc. Cf. BENGT BRMS, Entitlement, cit., pp. 386 e 419, n. 4.
2 2
Mas no se confundem, obviamente, Estado e Nao. Sobre este ltimo conceito, v., por ltimo, SIMONE DREYFUS, p. 73.
3 3
Como afirmado no caso A.B. v. M. B., ILR, vol. 17, p. 110. Em deciso sobre o estatuto de indivduos que eram cidados
palestinianos antes da lei da nacionalidade israelita, de 1952, um tribunal de Tel-Aviv entendeu que qualquer indivduo que, na
altura do surgimento do Estado de Israel, residisse em territrio doravante israelita, teria de ser um nacional de Israel. Qualquer
outra soluo levaria ao resultado absurdo de um Estado sem nacionais fenmeno cuja existncia ainda no foi observada.
Acerca deste caso, v. a anlise pertinente de BROWNLIE, p. 396. E, a propsito da questo suscitada, cf. MARIO MENENDEZ,
p. 51.
4 4
CRAWFORD, p. 115.
5 5
Contra, v. p.e. QUOC DINH/DAILLIER/PELLET, p. 396; EMANUELLI, p. 143.
6 6
Cf., sobre o direito potugus da nacionalidade, MOURA RAMOS, Do Direito portugus da nacionalidade, Coimbra, 1984,
espec. pp. 65 e ss.
7 7
Respectivamente, aquela que na doutrina dita do vnculo ou da nacionalidade efectivos; e aquela que titulada por uma
norma interna.
8 8
que o critrio da populao permanente, como aponta BROWNLIE, p. 73, deve ser usado em associao com o do territrio,
significando uma comunidade estvel.
9 9
A existncia de vnculos entre o indivduo e o Estado , por isso, condio para a atribuio de nacionalidade. Mas as
referncias feitas nacionalidade no exaurem a dimenso jurdica que podem assumir as relaes do indivduo com o Estado:
assim, a responsabilizao internacional do Estado (em certas circunstncias) por condutas de estrangeiros; o exerccio de jurisdio
criminal sobre no nacionais no caso de crimes individuais de interesse ou relevncia internacional, etc. Cf. BROWNLIE, p. 556.
1 10 0
Assim, EMANUELLI, loc. cit.
1 11 1
Cf. TPJI, caso Decrets de nationalit en Tunisie et au Maroc, parec. consultivo, 1923, Rec., Sr. B, n 4, p. 24: [n]o estado
actual do direito internacional, as questes de nacionalidade esto em princpio compreendidas no domnio reservado.
S
tam vnculos efectivos entre o Estado da nacionalidade e o indivduo
1 1
. Uma sentena arbitral posterior,
no caso Flegenheimer
2 2
, veio a atenuar esta exigncia, por nela se defender que a nacionalidade
atribuda por um Estado a um indivduo prevalecer sempre, a no ser nos casos de conflito positivo de
nacionalidades caso em que se procuraro vnculos efectivos, para determinar qual das
nacionalidades conflituantes dever prevalecer. [Q]uando uma pessoa detm uma nica
nacionalidade, que lhe atribuda, quer jure sanguinis, quer jure soli, quer por uma naturalizao
vlida e que leve, com certeza, perda da nacionalidade anterior, a teoria da nacionalidade efectiva
no pode ser aplicada sem risco de confuso; falta-lhe um fundamento suficientemente seguro para
poder prevalecer sobre uma nacionalidade que se apoia num direito estadual
3 3
. No fundo, esta uma
aplicao da presuno Lotus
4 4
. Dito de forma abreviada, a deciso do TIJ teria apontado a excepo
regra geral descrita na sentena Flegenheimer
5 5
. Esta parece, com efeito, a descrio adequada da
prtica dos Estados.
17. B) Um territrio
A exigncia de um territrio definido dever ler-se como a de uma base territorial especfica onde
possa operar o Estado
6 6
. No se confunde, portanto (muito embora tal parea ser o seu contedo literal),
com a hipottica necessidade de o Estado ter fronteiras definitivas e, sobretudo, incontrovertidas
uma vez que esta no constitui condio de estadualidade em direito internacional
7 7
. Significa tal que
um Estado pode existir e ser reconhecido como pessoa jurdica mesmo se estiver envolvido num dife-
rendo com os seus vizinhos ou, em geral, com Estados terceiros, quanto demarcao precisa das suas
fronteiras desde que, como se aceitar, exista uma parcela de territrio que seja indubitavelmente
controlada pelo governo do alegado Estado
8 8
/
9 9
.
Assim, a Albnia foi reconhecida por vrios pases, muito embora as suas fronteiras fossem
discutidas. De igual maneira, em 1948 a maioria dos Estados, bem como as Naes Unidas, aceitaram
a condio estadual de Israel, muito embora as suas fronteiras no tenham sido determinadas at hoje
e, a acrescer, Israel esteve at h pouco envolvido em hostilidades com os seus vizinhos rabes, que
punham em causa a sua prpria existncia, bem mais do que as suas demarcaes fronteirias
1 10 0
.
Releva, portanto, a presena de uma comunidade estvel dentro de uma certa rea, mesmo se as fron-
teiras desta so incertas
1 11 1
. mesmo possvel (como no caso do Paquisto antes da secesso do
Bangladesh, em 1971) que o territrio de um Estado esteja dividido em parcelas territoriais distintas
1 12 2
.
Em confirmao do que dito, percebe-se que o soi-disant Estado da Palestina, proclamado em 15
de Novembro de 1988 na Conferncia de Argel, no possa considerar-se validamente uma entidade
estadual. As diferentes organizaes palestinianas que pugnam pela criao de um Estado naquela re-
1 1
TIJ, caso Nottebohm, Rec., 1955, pp. 4 e ss., a p. 23.
2 2
qual no atribumos, obviamente, o mesmo peso e importncia que ao caso julgado pelo TIJ. Cf. RSA, XIV, 1958, p. 327.
3 3
Cf. RSA, ibid., loc. cit.
4 4
Cf. infra, n 93. E tambm SCHACHTER, pp. 250 e ss.
5 5
Cf. EMANUELLI, p. 144.
6 6
Daqui se parte para o princpio da soberania territorial, sendo que, assim integrado, o termo soberania designa apenas a
natureza dos direitos exercidos sobre o territrio. BRIERLY, p.e., entende que o direito internacional assenta numa concepo
territorial dos Estados. Mas j no seguimos o Autor quando invoca as alegadas afinidades da soberania territorial com o direito de
propriedade privada, muito embora, como o prprio afirma, a semelhana no seja hoje to acentuada como no tempo do Estado
patrimonial ( pp. 159-160).
7 7
V. Albino SOARES, p. 217.
8 8
SHAW, p. 139. Em aplicao da mesma ideia, o Estado desaparecer com a perda total do seu territrio.
9 9
Sobre os elementos fsicos que compem o territrio, cf., por todos, SIMONE DREYFUS, pp. 74-75.
1 10 0
Acerca das questes de delimitao territorial, vistas neste particular sentido, cf. TIJ, caso Plataforma Continental do Mar do
Norte, Rec., 1969, pp. 3 e ss.
1 11 1
SHAW, loc. cit.; QUOC DINH/DAILLIER/PELLET, p. 402.
1 12 2
Foram razes de ndole histrica que favoreceram a formao de enclaves em territrios estrangeiros ou a criao de Estados
sem unidade geogrfica. E os arranjos geogrficos podem levar a solues potenciadoras de futuros conflitos: veja-se o corredor em
territrio alemo para permitir continuidade entre a Polnia e Dantzig; e, tambm, o conflito grave que ops Portugal Unio
Indiana a propsito dos enclaves de Dadra e Nagar-Aveli. Um dos aspectos do diferendo (o direito de passagem de acesso aos
enclaves que Portugal reinvidicava) foi, alis, objecto de apreciao pelo TIJ, no caso Droit de passage en territoire indien (Ac. de
12 de Abril de 1960)
t
gio no controlam, com um grau mnimo de efectividade, qualquer parcela do territrio que
reclamam como seu
1 1
.
As relaes entre o territrio e os restantes elementos de manifestao estadual so de
interdependncia. Entre o territrio e a populao, desde logo. No haver territrio estadual, como
bvio, sem populao. Esta, alis, sedentria e estabilizada no interior das fronteiras estaduais, pelo
que hiptese acadmica a ideia do Estado nmada; da mesma forma, a presena de um indivduo
num territrio estadual constitui, seno uma prova da nacionalidade, ao menos um nexo de ligao ao
Estado, que representa um ndice til no caso de contestao da nacionalidade real
2 2
. Contudo, esta li-
gao entre o territrio e a populao no impede que esta possa modificar-se de maneira drstica
como p.e. nas hipteses de emigrao em larga escala.
Tambm entre as noes de territrio e de governo existem relaes cuja importncia escusado
acentuar. O primeiro condio prvia do segundo, muito embora o Estado seja compatvel sem poder
estvel, como a seguir se ver
3 3
. Sob outra perspectiva, alis, tambm verdade que o Estado exerce
com carcter de plenitude os seus poderes soberanos num determinado territrio
4 4
/
5 5
.
Sobre a natureza do territrio, note-se, podem referir-se vrias teses
6 6
. Algumas de entre elas
ultrapassadas, como as do territrio-sujeito
7 7
e do territrio-objecto
8 8
. Outras, porm, merecendo
ateno mais detalhada. So elas a do territrio-limite e a do territrio-ttulo jurdico. De acordo com
a primeira, defendida nomeadamente por Duguit, o territrio o limite do poder do Estado o que
supe a ligao entre territrio e governo. Mas ainda incompleta, por no destacar a importncia
jurdica que o territrio tem para a prpria existncia do Estado
9 9
. J no haver que fazer-lhe reparos
se for conjugada com a forma de entender o territrio como ttulo jurdico essencial da competncia
estadual. A jurisdio do Estado segundo o direito internacional est delimitada espacialmente pelo
territrio, mas este , demais, ttulo jurdico que legitima essa competncia
1 10 0
.
18. C) Um Governo
Em terceiro lugar, ser em princpio indispensvel que exista uma certa forma de governo ou de
controlo central. Este requisito, que no condiciona o padro especfico de estruturao interna do
Estado, fundamental para que a sociedade internacional possa funcionar com um grau razovel de
efectividade. Atente-se, contudo, em que este requisito no condiciona o surgimento de um Estado
independente, antes serve como fasquia indicativa da existncia de um mnimo coerente de estruturas
1 1
Sobre este assunto, cf. os desenvolvimentos de RUTH LAPIDOTH, N. K. CALVO-GOLLER, Les lments constitutifs de
l'Etat et la Dclaration de Conseil National Palestinien du 15 novembre 1988, RGDIP, 1992, pp. 776 e ss.; JEAN SALMON, La
proclamation de l'Etat Palestien, AFDI, 1988, pp. 37 e ss. Entendendo muito embora que Israel o ocupante estrangeiro que impede
o povo palestiniano de exercer o seu direito auto-determinao, o Autor citado por ltimo nem por isso conclui pela existncia do
Estado palestiniano: este no poder existir realmente sem que lhe tenha sido devolvido o seu territrio e sem que uma administrao
palestiniana possa exercer as suas competncia nesse territrio (p. 61). Contra, defendendo portanto que o Estado palestiniano existe
de facto e de direito, F. A. BOYLE, The Creation of the State of Palestine, EJIL, vol. 1, 1990, p. 301; M. FLORY, Naissance d'un
Etat Palestinien, RGDIP, 1989, pp. 385 e ss.
2 2
QUOC DINH/DAILLIER/PELLET, p. 399; cf. ainda TIJ, caso Nottebohm, Rec., 1955, p. 23.
3 3
Contra, v. QUOC DINH/DAILLIER/PELLET, loc. cit.
4 4
Da que se fale, por vezes, em soberania territorial. Como o TIJ disse no caso do Canal de Corfu, entre Estados
independentes, o respeito pela soberania territorial uma das bases essenciais das relaes internacionais (Rec., 1949, p. 35). V.
tambm, desenvolvidamente, JIMNEZ DE ARCHAGA, El Derecho Internacional, p. 212.
5 5
A situao dos Estados divididos (multisystem nations) das mais interessantes na revelao das relaes entre territrio e
restantes elementos de manifestao estadual, se por aquela expresso entendermos, com MEINHARD HILF, Divided States, EPIL,
I, 1992, pp. 1085-1089, a situao jurdica especfica de um certo nmero de Estados que previamente pertenciam a um nico
Estado (vg., Alemanha e China) ou a possesses coloniais (Vietname, Coreia) e que, no prodo susequente 2 Guerra Mundial,
ficaram divididos em Estados separados.
6 6
Com recenso destas, cf. QUOC DINH/DAILLIER/PELLET, pp. 400-401.
7 7
Ligada teoria organicista ou antropomrfica do Estado, nesta teoria o territrio considera-se como uma componente, uma
parcela do Estado-pessoa, sendo at designado como o corpo do Estado. Foi defendida, entre outros, por HAURIOU e por CARR
DE MALBERG.
8 8
A ideia dominante nesta teoria a de que o territrio propriedade do Estado. Este exerce, por conseguinte, um direito de
natureza real sobre o territrio. Em certo sentido, porm, esta tese constitui um progresso relativamente construo anterior, uma
vez que nela o territrio j dissociado do Estado.
9 9
QUOC DINH/DAILLIER/PELLET, p. 401.
1 10 0
Mas no se pode esquecer que, nos seus diferentes elementos, o territrio est submetido soberania exclusiva do Estado. No
fundo, esta a caracterstica principal do seu estatuto. Cf. SIMONE DREYFUS, p. 75.
?
polticas e sociais. Pelo que, tambm, o conceito de Estado se compadece com a ausncia de um
aparelho de poder sofisticado ou, at, submetido ao padro de repartio de poderes que se conhece,
por exemplo, do nosso ordenamento jurdico-constitucional. Dever at relativizar-se ainda mais o
requisito de que vimos falando. Indo beber de algum modo tese, largamente ultrapassada, que se
preocupava com certos nveis civilizacionais (vistos como pressuposto de acesso independncia e
condio estadual)
1 1
, foi sendo substituda pelo aspecto que de facto importa, o da soberania de uma
determinada entidade, sem atender a quaisquer condies polticas ou administrativas.
O exemplo mais conhecido de aplicao estrita da tese clssica o das Ilhas Aaland (1920).
A Comisso Internacional de Juristas designada para investigar o estatuto jurdico daqueles
territrios considerou, no relatrio ento apresentado, ser muito difcil estabelecer a data em que a
Finlndia se tinha tornado um Estado independente, devido aos dias conturbados que se tinham
seguido revoluo russa de 1917
2 2
. E, por isso, conclua dizendo que [a independncia da Finlndia]
no ocorreu, seguramente, at se afirmar uma organizao poltica estvel, e at que as autoridades
pblicas se tivessem tornado suficientemente fortes para se poderem afirmar atravs dos territrios do
Estado, sem a assistncia de tropas estrangeiras
3 3
. Em tempos mais recentes, no entanto, parecem ter
prevalecido nesta matria razes marcadamente polticas (se bem que orientadas pela aplicao de um
princpio jurdico). O acesso condio estadual do ex-Congo Belga, que a seguir se analisa
4 4
, no
suscitou grande oposio, muito embora fosse evidente que os requisitos contidos no excerto que se
citou no tinham sido preenchidos.
19. D) Capacidade relacional com outros Estados
A capacidade para estabelecer relaes com outros Estados outro dos aspectos da existncia
jurdico-estadual de uma entidade, bem como um ndice relativamente importncia do
reconhecimento por outros entes estaduais. No se trata de uma capacidade adstrita, em exclusivo, aos
Estados soberanos, uma vez que quer as organizaes internacionais quer, por exemplo, grupos
beligerantes, podem estabelecer relaes jurdicas (vg., de natureza convencional) com outras
entidades, de acordo com as normas de direito internacional. Porm, essencial para um Estado
soberano que este possa ter a aptido de criar tais relaes com outras unidades estaduais. L onde
isso no suceda, certo que essa entidade no se poder considerar um Estado independente. Da que,
com alguma razo, se possa sustentar que no estamos perante um elemento de manifestao estadual,
antes face a uma consequncia da condio estadual dependendo do estatuto e situao do Estado
concreto
5 5
. Alguns autores, porm, consideram que a capacidade para estabelecer relaes com outros
Estados engloba o conceito de independncia. Mas esta identificao no se deve aceitar, porquanto
aquele conceito menos vasto do que este
6 6
. Poder dizer-se que a ausncia de independncia vem a
aportar na incapacidade para estabelecer relaes com outros Estados. verdade. Mas no por isso
que se devero assimilar, nesta situao, causa e efeito.
Serve de demonstrao o caso do Estado palestiniano, proclamado a 15 de Novembro de 1988.
Como disse Hurwitz, a capacidade de um Estado conduzir as suas relaes internacionais significa no
apenas que possa esperar benefcios de outros Estados, mas tambm que possa acord-los. Em
resumo, deve ter a capacidade de conceder direitos a outros Estados e de exercer as obrigaes
1 1
V., sobre este aspecto, a crtica severa de BEDJAOUI, Poverty of the International Order, in FALK, KRATOCHWIL,
MENDLOVITZ, pp. 152 e ss.
2 2
Do momento em que se entendesse ter surgido o Estado finlands dependia, com efeito, a anlise das suas pretenses
territoriais sobre as ilhas com aquele nome.
3 3
LNOJ, Sp. Suppl., n 4, 1920, pp. 8-9. A adeso ao princpio da efectividade , aqui, clara. Mais tarde, no deixou de se
reconhecer a soberania finlandesa sobre as ilhas Aaland, submetida porm a algumas limitaes (obrigao de no-fortificao,
neutralizao e proteco do carcter tnico da populao das ilhas. Cf. LNOJ, vol. 21, II, 1921, p. 699. Sobre a questo das ilhas
Aaland, cf., por ltimo, TORE MODEEN, Aaland Islands, EPIL, I, 1992, pp. 1-3.
4 4
Cf. infra, n 63.
5 5
CRAWFORD, p. 119. Como acentua logo a seguir, este critrio de estadualidade, revelando-se numa capacidade para aceder
ao conjunto das relaes internacionais, podia at ser considerado til, no fora o facto de ser a smula de dois aspectos autnomos
da manifestao estadual: o governo e a independncia.
6 6
Cf. RUTH LAPIDOTH, N. K. CALVO-GOLLER, cit., p. 795.
S
inerentes ao Estado
1 1
. A essncia do problema por isso a reciprocidade, mas esta s poderia ser
obtida do Conselho Nacional palestiniano se este controlasse o territrio. Por exemplo, a OLP pode
estabelecer embaixadas nos pases que a tiverem reconhecido e tenham dado o seu acordo a esse
estabelecimento, mas os Palestinianos no podem agir do mesmo modo
2 2
.
Desta forma, a importncia da capacidade de estabelecer relaes internacionais a de nos permitir
afastar, em alguns casos, a pretensa estadualidade de certas entidades. No porque, como se disse, seja,
em sentido estrito, elemento de manifestao estadual. Mas porque, enquanto consequncia necessria
dessa estadualidade, a sua ausncia equivale, sem mais, ausncia de uma das condies de
estadualidade. O que, reconhea-se, vem a dar no mesmo.
20. E) A independncia
Torna-se ento fcil a ponte com problema algo diferente o do peso a reconhecer, neste assunto,
s presses polticas (ou de outra natureza) exercidas por um Estado sobre outro, que possam levar
este a adoptar (ou evitar) determinado tipo de conduta. Isso ocorre com grande frequncia na estrutura
relacional da sociedade internacional, mas no acarreta a incapacidade total do Estado objecto dessas
presses de actuar na cena internacional. O Estado A pode estar na zona de influncia e at domnio de
B, mas isso no exclui todas as actuaes independentes daquele na esfera internacional (e no se cr
que as relaes entre Portugal e Inglaterra, por ocasio do Ultimato, fossem muito diferentes do
exemplo abstracto que se prope)
3 3
. Por esta razo, a diferena a estabelecer reside na presena ou
inexistncia de capacidade jurdica da entidade em questo, e no no grau, maior ou menor, de
persuaso ou influncia que possa afectar a sua tomada de decises.
Ponderada sob esta perspectiva, a essncia de tal capacidade a independncia. E esta dever ser
encarada como o elemento fulcral de manifestao do Estado
4 4
. Neste sentido, a expresso significa
que o Estado no est submetido a outra soberania, e a sua natureza soberana no afectada nem pela
submisso s regras de direito internacional (como se viu)
5 5
, nem por uma relao de dependncia
factual relativamente a outro, ou outros, Estados (como agora se conclui)
6 6
.
Durante um certo perodo temporal especialmente nos anos 50 , o controlo exercido por uma
potncia estrangeira foi invocado como razo excludente da admisso s Naes Unidas. Mas, parte
o facto de o TIJ ter recusado este critrio de admisso
7 7
, a verdade que tal gnero de argumentos
servia quase em exclusivo como arma de natureza poltica e ideolgica, utilizada abundantemente
pelos dois blocos que, ento, disputavam a supremacia nas Naes Unidas. Nos ltimos 20 anos, alis,
foi admitido um grande nmero de Estados fortemente dependentes luz da garantia da sua
segurana e viabilidade econmicas, sem que a sua condio estadual tivesse sido posta em causa
8 8
.
Poder argumentar-se, por apelo a uma viso realista das relaes internacionais, ser necessrio um
certo grau de independncia material, a acrescer a completar a independncia jurdico-formal.
Este problema foi suscitado quando da outorga de independncia a alguns Bantustes pela frica do
1 1
HURWITZ, The Algiers Declaration and International Law, Middle East Review, 1989/90, p. 12, apud RUTH LAPIDOTH, N.
K. CALVO-GOLLER, cit., pp. 795-96.
2 2
HURWITZ, ob. cit., loc. cit.
3 3
Em sentido prximo, referindo-se independncia como o estatuto de um Estado que dirige as suas relaes externas sem
ingerncia alheia, BRIERLY, p. 126.
4 4
Assim, TRUYOL SERRA, Cours, p. 317.
5 5
Cf. ainda RANJEVA/CADOUX, p. 80.
6 6
Como afirmou o rbitro MAX HUBER na sentena no caso le des Palmes, [a] soberania nas relaes entre Estados significa
independncia. Independncia, no que respeita a uma poro do Globo, o direito de nela exercer, com excluso de qualquer outro
Estado, as funes de um Estado. O desenvolvimento da organizao nacional dos Estados durante os ltimos sculos e, como
corolrio, o desenvolvimento do direito internacional, estabeleceram o princpio da competncia exclusiva do Estado quanto ao seu
prprio territrio (TPA, 4 de Abril de 1928, RSA, II, p. 838).
7 7
Cf. infra, n 69.
8 8
HENKIN/PUGH/SCHACHTER/SMIT, p. 236. Contra, RANJEVA/CADOUX, p. 83, para quem a igualdade do estatuto
jurdico dos Estados leva apenas a uma identidade terica dos direitos e obrigaes dos Estados no plano internacional. No deixam
os Autores de ter razo (mas o problema diferente) quando acentuam a insero progressiva no direito internacional
contemporneo, ou, mais precisamente, no direito da cooperao internacional entre pases com nveis de desenvolvimento
desigual, de mecanismos de correco das desigualdades concretamente aferidas. V., para mais desenvolvimentos, JORGE
CAMPINOS, Igualdade Jurdica e desigualdade econmica em direito internacional Pblico contemporneo, BMJ, n 334, 1984,
pp. 5 e ss.; e, por ltimo, JOS MANUEL PUREZA, A clusula da nao mais favorecida, DDC, vol. 29/30, pp. 479 e ss.
9
Sul. No caso particular do Transkei, a frica do Sul contribua com uma parcela muito significativa
(mais de 80%) para o seu oramento, e o Bophuthatswana est dividido numa srie de parcelas
territoriais dispersas em territrio sul-africano
1 1
. Tanto a OUA como as Naes Unidas declararam que
tais independncias eram invlidas, e apelaram a todos os Estados para que no reconhecessem as
novas entidades. Quer dizer que, parte a frica do Sul, ningum mais as reconhece. Diga-se, em
contraponto, que muitos Estados esto tanto ou mais dependentes da ajuda de outros Estados como os
casos que acabmos de enumerar, e o seu sucesso ou insucesso econmico no altera a posio da
comunidade internacional relativamente sua natureza estadual (pense-se na dvida externa de alguns
pases da Amrica Latina). Como a frica do Sul, de acordo com o direito internacional, pode alienar
parcelas do seu territrio, estas entidades, ao menos formalmente, parecem independentes
2 2
. luz
deste entendimento, parece que a elucidao do estatuto dos bantustes h-de procurar-se noutro lado,
e no, porventura, na aplicao estrita dos critrios de estadualidade.
Outro exemplo, algo diferente (por repousar em fundamentos de natureza poltica), o da
declarao unilateral de independncia, a 11 de Maro de 1990, da Litunia, um dos Estados blticos
anexados ilicitamente pela URSS em 1940. Esta anexao nunca foi reconhecida de jure pelos
Estados ocidentais, e o controlo exercido pela URSS era aceite apenas numa base de facto. No deixa
por isso de ser curioso que, quando daquela proclamao de independncia, nenhum Estado tivesse
reconhecido, de imediato, a Litunia devido a razes menos jurdicas do que de sensibilidade
poltica. Refira-se apenas, como possvel explicao para este retraimento, que as autoridades sovi-
ticas exerciam, ainda em 1990, um controlo substancial sobre aquele territrio.
Finalmente, no pode deixar de suscitar alguma perplexidade, a situao da Macednia, cujo acesso
poltico cena internacional tem sido bloqueado, no essencial, por um nico Estado, a Grcia.
21. F) Estado e princpio da auto-determinao dos povos
Ter sido o critrio do governo efectivo como j atrs se sugeriu aquele que mais sofreu com
o desenvolvimento, em direito internacional, do princpio da auto-determinao dos povos. A viso
tradicional deste critrio concentrava-se na estabilidade, e efectividade, requeridas para a sua vigncia
e concretizao; do mesmo modo, a natureza representativa e democrtica do governo (funo de
legitimao) era proposta, tambm, como critrio de estadualidade. A evoluo do princpio da auto-
determinao afectou profundamente estes standards ao menos no aspecto do exerccio necessrio
de poderes de autoridade sobre um dado espao territorial e parece, em consequncia, ser requerido
um padro muito menos exigente de efectividade, pelo menos nos casos de descolonizao.
Vejamos alguns exemplos.
O ex-Congo Belga tornou-se independente a 30 de Junho de 1960, muito embora estivesse atolado
em lutas tribais violentas, que tinham mesmo atingido a capital. No espao de algumas semanas,
assistiu-se revolta das foras policiais, interveno das tropas belgas, e ao annico da secesso da
provncia do Katanga. Apesar da falncia generalizada de qualquer forma de governo, o Congo viu a
sua independncia ser reconhecida por um grande nmero de Estados, e acedeu mesmo, sem oposio,
qualidade de membro das Naes Unidas. A acrescer a isto, na mesma altura em que eram
adoptadas, na Assembleia Geral, uma srie de resolues pertinentes a esta questo (em Setembro de
1960), havia duas faces que se digladiavam para obter reconhecimento como legtimas re-
presentantes do Congo nas Naes Unidas. No caso, acabou por obter ganho de causa a faco do
Chefe de Estado, em detrimento da do Primeiro-Ministro.
O segundo exemplo toca-nos mais de perto, e tem a ver com o processo de independncia da
Guin-Bissau, antiga colnia portuguesa. Em 1972, uma misso especial da ONU deslocou-se s
reas libertadas do territrio, e concluiu que o poder colonial tinha perdido o controlo administrativo
efectivo sobre largas parcelas daquele territrio. Tanto bastou para que observadores estrangeiros
aceitassem a pretenso do PAIGC de que controlava 2/3 a 3/4 do territrio. Nos termos do relatrio
apresentado pela misso especial, os habitantes dessa rea apoiavam o PAIGC, o qual exerceria um
controlo administrativo de facto
3 3
. A 24 de Setembro de 1973, o PAIGC proclamou a independncia da
1 1
BYBIL, 1986, pp. 507-5088.
2 2
SHAW, p. 141.
3 3
Cf., sobre a questo da Guin-Bissau,YB of the UN, 1971, pp. 566-567.
JD
Repblica da Guin-Bissau. Da que fosse presente Assembleia Geral das Naes Unidas a questo
da ocupao ilcita pelas foras militares portuguesas de certas partes da Repblica da Guin-Bissau.
Neste contexto, um nmero significativo de Estados entendeu ser vlida, luz do direito
internacional, a independncia daquele Estado. Os Estados ocidentais recusaram aceitar tal
entendimento, uma vez que, na sua opinio, no estavam cumpridas as exigncias mnimas da
estadualidade. No entanto, 93 Estados votaram a favor da resol. 3061 (XXVIII) da Assembleia Geral,
a qual mencionava a recente acesso independncia do povo da Guin-Bissau, com a decorrente
criao do Estado soberano da Repblica da Guin-Bissau. Muitos Estados apoiaram esta tese,
fundando-se no facto de uma parcela importante do territrio ser, efectivamente, controlada pelo
PAIGC, muito embora tal no sucedesse quanto maioria da populao, nem to-pouco quanto s
cidades principais
1 1
.
Em certas circunstncias, a modificao dos princpios tradicionais relativos efectividade do go-
verno pode implicar outras consequncias, que caracterizam a reversibilidade do princpio da auto-
determinao. No caso da Rodsia do Sul, as diferentes resolues dos rgos das Naes Unidas a ele
atinentes negaram qualquer validade ou oponibilidade internacional declarao unilateral de inde-
pendncia de 11 de Novembro de 1965, exigindo que todos os Estados recusassem reconhecer aquela
entidade, na aparncia um Estado
2 2
.
Nenhum Estado reconheceu a Rodsia e, em 1979-80, a questo acabou por se resolver, no termo
de uma guerra civil prolongada, com a criao do Zimbabwe. Este caso coloca problemas muito
interessantes, porque se pode considerar que a Rodsia, luz dos critrios clssicos era,
objectivamente, um Estado uma vez que preenchia os requisitos factuais que determinavam o
acesso estadualidade. Contudo, tal opinio dever ser mitigada pela considerao conjunta de alguns
factores que seria imprudente negligenciar: a ausncia total de reconhecimento; a denncia vigorosa
desta proclamao de independncia pela comunidade internacional; a guerra civil larvar naquele
territrio, que, como j se disse, viria a concluir-se com o surgimento de um novo Estado. Quase
apeteceria, por isso, ir pela impossiblidade de uma entidade poder tornar-se Estado, verificada a ausn-
cia generalizada de reconhecimento por terceiros Estados. Mas esta uma concluso apressada, que
implicaria, alis, a consagrao internacional da teoria do reconhecimento constitutivo que no se
aceita
3 3
.
Assim sendo, a resposta que nos parece mais slida a seguinte: o respeito pelo princpio da auto-
determinao dos povos constitui hoje um requisito de estadualidade, a acrescer queles que,
classicamente, so estudados
4 4
. Esta concluso no vale, em alguns casos infelizmente, para os casos
de secesso, tratados com desfavor pelo direito internacional ou at, para alguns, ausentes desta
ordem jurdica
5 5
.
Seco III
A extino do Estado
22. Extino do Estado e sucesso de Estados
At agora, vimos como, e sob que condies, possvel admitir o surgimento de um Estado.
Cedendo um tanto tentao de antropomorfizar este sujeito de direito internacional, consagraremos
apenas algumas linhas a falar da sua extino. Alis, fazemo-lo somente para acentuar que, de acordo
com o direito internacional, e por via de regra, esta no suceder se resultar fisicamente do uso ilcito
da fora por outro Estado. anexao ilcita da totalidade do territrio de um Estado pr-existente j
no corresponde, por isso, de modo correlativo, seno o seu desaparecimento de facto, mas no de
direito por aplicao dos princpios da Carta que regulam o uso da fora nas relaes interna-
1 1
Cf. YB of the UN, 1973, pp. 143-47.
2 2
AG, resols. 2024 (XX), 2151 (XXI); e CS, resols. 216 (1965) e 217 (1966).
3 3
Cf. infra n 73.
4 4
V., porm, o enquadramento dado por AKEHURST, p. 53, n. 1.
5 5
a opinio de QUOC DINH/DAILLLIER/PELLET, pp. 496-498 (com tratamento dos principais casos de secesso do ps-
guerra). Cf. ainda, sobre a tentativa falhada de secesso do Katanga, J.-B. DUROSELLE, Histoire Diplomatique de 1919 nos jours,
10 ed., Paris, 1990, pp. 670-674. Resta saber se o direito internacional no comea a modificar-se neste domnio (veja-se o que
sucedeu, recentemente, com o acesso independncia da Eritreia).
JJ
cionais
1 1
. A extino de um Estado pode, no entanto, ocorrer pelo consentimento. Tomando apenas o
ano de 1990, assistimos unificao do Imen do Norte e do Sul (a 22 de Maio) e chamada
unificao alem (melhor, reunificao) quando, a 3 de Outubro, ocorreu a acesso constitucional
dos Lnder da RDA RFA.
Seja como for, analisaremos com mais detalhe esta questo quando tratarmos do problema da
sucesso de Estados.
Seco IV
Natureza estadual e admisso s Naes Unidas
BIBLIOGRAFIA: BRMS, B., Les Etats, BEDJAOUI, I, pp. 48 e ss.; RUDA, J. M., Reconnaissance d'Etats et de Gouvernements,
BEDJAOUI, I, pp. 473 e ss.; FEUER, G., Art. 4, in La Charte des Nations Unies, Paris, 1991, 168 e segs.; EISEMANN, P. M.,
COUSSIRAT-COUSTERE, V., HUR, P., Petit manuel de la Jurisprudence de la Cour, 4 ed., Paris, 1984, 211 e segs.
23. A natureza estadual relativa dos membros das NU
Acentuou-se j que no existe, na sociedade internacional contempornea, nenhum rgo que
decida, de forma centralizada, se uma entidade preenche todos os requisitos para o acesso condio
estadual. E, se bem que alguns autores tenham entendido que a admisso s Naes Unidas equivalia,
na prtica, ao reconhecimento do carcter estadual pela comunidade de Estados, no parece que tal
opinio seja de acolher.
O facto de a Carta ter sido assinada por um Estado no implica que este reconhea, juridicamente,
o carcter estadual de todos os membros da Organizao, especialmente nos casos em que a vontade
de no reconhecer faz parte de uma poltica conhecida, firme e tradicional
2 2
. Por outro lado, nos
termos do art. 4, n 1, da Carta, [a] admisso como membro das Naes Unidas fica aberta a todos os
outros Estados amantes da paz que aceitarem as obrigaes contidas na () Carta e que, a juzo da
Organizao, estiverem aptos e dispostos a cumprir tais obrigaes. Este preceito, que cristaliza a
distino entre membros originrios e no originrios (por confronto com o art. 3) supe, na
aparncia, a exigncia estadual e o mesmo se poder dizer quanto aos Estados que tenham
participado na Conferncia das Naes Unidas e queles que tenham assinado, em momento prvio, a
Declarao das Naes Unidas, de 1 de Janeiro de 1942 e, mais tarde, assinado e ratificado a Carta,
nos termos do seu art. 110.
A contrariar a aparente linearidade dos preceitos citados, vrios dos membros originrios no
tiveram, na prtica, de satisfazer a totalidade dos requisitos enunciados no art. 3. Na altura, com
efeito, s com grande boa vontade se poderiam qualificar como Estados a Repblica rabe Sria e o
Lbano (que a Frana considerava como territrios sob mandato). O prprio delegado das Filipinas
reconheceu ter dvidas quanto independncia do seu pas e, em consequncia, props que, no art. 3,
a palavra Estados fosse substituda por naes, para que as Filipinas pudessem respeitar as condi-
es requeridas para a admisso Organizao. Esta proposta no teve vencimento, tendo tido igual
sorte uma outra que propunha a substituio da palavra Estados pela de signatrios
3 3
.
Por conseguinte, todas as entidades que participaram na Conferncia de S. Francisco tornaram-se
membros originrios das Naes Unidas. Consideraes do mesmo gnero das que se acabam de
expor acrescidas de outras de natureza claramente poltica determinaram a admisso da ndia, da
Repblica Socialista Sovitica da Bielorrssia e da Repblica Socialista Sovitica da Ucrnia. Em
todos estes casos, aplicou-se o princpio do package deal
4 4
.
1 1
Veja-se a posio do Conselho de Segurana, expressa nas resols. 660 e 661, de Agosto de 1990, a propsito da anexao do
Kuwait pelo Iraque.
2 2
RUDA, p. 473.
3 3
BRMS, pp. 48-49.
4 4
Para uma anlise detalhada da natureza estadual como requisito de admisso s Naes Unidas, cf. FEUER, pp. 168-170.
J2
O TIJ recapitulou os critrios do art. 4, n 1 num parecer de 1948
1 1
, tendo entendido que o can-
didato deveria: a) ser um Estado; b) ser pacfico; c) aceitar as obrigaes da Carta; d) ser capaz de
cumprir as ditas obrigaes; e) estar disposto a faz-lo.
Tendo-se limitado, na prtica, repetio do n 1 do art. 4, o Tribunal, recusou definir o sentido e
o alcance das condies daquela disposio, e tambm a indicao dos elementos que, num caso
concreto, podem servir para verificar a existncia das condies requeridas. Por outro lado, o Tribunal
notou que os autores da Carta tinham procedido, no art. 4, por enumerao, tendo como finalidade o
estabelecimento de uma verdadeira regulamentao jurdica das condies de admisso e dos motivos
de recusa. Deste modo, para aquela jurisdio, no se poder atribuir enumerao da disposio da
carta em anlise um valor meramente enunciativo ou exemplificativo, sob pena de retirar qualquer
significado ao texto. O TIJ considerou tambm que aquelas condies no eram um mnimo
indispensvel, ao qual se sobrepusessem consideraes polticas, porque assim se atribuiria um poder
discricionrio aos Estados se estes pudessem fazer apelo a outras condies, o art. 4 teria
contemplado essa hiptese. certo que o art. 4 constitui uma regulamentao jurdica, que no exclui
a apreciao discricionria das circunstncias de facto, de modo a verificar se as condies requeridas
foram preenchidas pelo candidato. Mas essa apreciao deve reger-se pela razoabilidade e pela boa-
f
2 2
.
24. Hierarquizao dos critrios do art. 4, n 1, CNU
A ltima questo que importa tratar a da eventual hierarquizao dos requisitos do art. 4, n 1.
Pode afirmar-se, fazendo apelo a um simples argumento de lgica, que, [s]endo certo que a qualidade
de Estado o primeiro critrio mencionado, e que os outros parecem visar mais as qualidades que o
Estado deve possuir, o primeiro critrio que deve ser considerado fundamental
3 3
. Pelo que, em
concluso, pode dizer-se o seguinte: a qualidade de Estado considerada como condio necessria,
mas no suficiente, quando est em causa a admisso de um novo membro das Naes Unidas.
Tomando na devida conta, para alm disso, que quando da votao de admisso os Estados no tm de
fundamentar o respectivo voto, isso conduz-nos ao entendimento de que um voto negativo no
pressupe a recusa de um Estado em reconhecer estadualidade entidade impetrante o candidato,
podendo muito embora ser um Estado, poder tambm (na opinio do Estado membro que votou
contra) no respeitar um ou vrios dos requisitos que, alm deste, esto contidos no art. 4, n 1: no
ser pacfico, no estar disposto a cumprir as obrigaes contidas na Carta, etc. No entanto, qualquer
voto favorvel nesta questo querer dizer, sem dvidas, que o Estado membro reconhece, pelo menos,
natureza estadual ao candidato. Finalmente, parece que esta opinio se impor (para os Estados que
votem a favor) mesmo que o candidato, contados os votos, no venha a ser admitido na Organizao.
Seco V
O reconhecimento de Estado
25. Apresentao das teses em presena. Apreciao crtica
Em sentido genrico, podemos definir o reconhecimento como o acto jurdico-internacional pelo
qual um sujeito afirma que determinada situao conforme com o direito internacional, ou pela qual
afirma que se verificam determinados pressupostos previstos numa norma internacional para a
1 1
TIJ, parecer consultivo, Conditions de l'admission d'un Etat comme membre des Nations Unies, 28 de Maio de 1948, Rec.,
1948, p. 62.
2 2
Para um excelente resumo deste parecer consultivo, EISEMANN, COUSSIRAT-COUSTERE, HUR, pp. 211-215. V. tb.
KURT HENDL, Admission of a State to Membership of the United Nations (Advisory Opinions), EPIL, I, 1992, pp. 35-38; P. O.
HUMBER, Admission to United Nations, BYBIL, vol. 24, 1947, pp. 90 ss.; YUEN-LI LIANG, Notes on Legal Questions
Concerning the United Nations, Conditions of Admission of a State to Membership in U.N., AJIL, vol. 43, 1949, pp. 288 ss.; e,
sobretudo, M. S. KLOOZ, The Role of the General Assembly of the UN in the Admission of Members, AJIL, loc. cit., pp. 246-261.
3 3
BRMS, p. 50.
JS
produo de certos efeitos
1 1
. Esta definio suficientemente ampla para abranger, alm do problema
do reconhecimento de Estado, a questo do reconhecimento de outros sujeitos de direito internacional.
O reconhecimento de Estado, notar-se- ainda, diverso do reconhecimento de Governo.
Em matria de reconhecimento de Estado, podemos optar por uma de duas solues: ou
entendemos que o reconhecimento cria os Estados, e acolhemos a teoria do reconhecimento
constitutivo; ou consideramos que, simplesmente, d a conhecer a sua existncia, e escolhemos a
teoria do reconhecimento declarativo
2 2
.
De acordo com a primeira forma de ver, o Estado s existir a partir do reconhecimento deste
modo, toda a situao de facto anterior a este seria, em princpio, juridicamente irrelevante. Como
disse com pertinncia Gonalves Pereira, esta teoria a consequncia lgica dos pressupostos volun-
taristas: se todo o direito internacional resulta da vontade dos Estados, tambm este que determina a
entrada de um novo membro na Comunidade Internacional
3 3
. Aceite esta ideia-base, a qualificao
jurdica do acto de reconhecimento poder variar. Num primeiro momento da evoluo doutrinal
(Jellinek), este ser um acto unilateral do Estado. Entendendo-se, em perodo posterior, que o direito
internacional se funda na vontade comum dos Estados (princpio do consensualismo), ser um acto
bilateral entre um novo e um antigo sujeito de direito internacional (ANZILOTTI). Por isso, o
reconhecimento s produzir efeitos entre os Estados que o praticaram, no sendo oponvel erga
omnes
4 4
.
Para a teoria do reconhecimento declarativo, ao contrrio, o Estado existe antes do acto de
reconhecimento, sendo que a existncia de um novo Estado, com todos os efeitos jurdicos e materiais
que dela decorrem, no ser prejudicada pela negao do reconhecimento por parte de um ou de vrios
Estados
5 5
. Desta maneira, para a teoria que se expende, o principal efeito jurdico do acto de
reconhecimento ser o de impedir o Estado que reconhece de poder vir, mais tarde, contestar a legiti-
midade da situao que reconheceu.
Podemos explicar de modo mais apelativo as distines entre a teoria constitutiva e a teoria
declarativa, como o fez, de forma figurada, Sir Gerald Fitzmaurice
6 6
. Para a concepo constitutiva do
reconhecimento de estado, a comunidade internacional seria um clube para o qual s se entra mediante
eleio pelos membros. O Estado pode ter todas as qualificaes necessrias e, no entanto, ser
excludo por os membros no gostarem da sua aparncia, das suas maneiras, ou das suas opinies
polticas. Para a concepo declarativa, a comunidade internacional seria uma espcie de famlia, no
seio da qual nasce um novo membro. Ainda que se no goste do recm-nascido, ou se considere
inoportuno o seu aparecimento, no se lhe pode negar a qualidade de membro do grupo.
Tudo visto, entendemos ser de optar pela tese declarativa do reconhecimento de Estado. Como diz
explicitamente o art. 9 da Carta da OEA, a existncia de um Estado independente do
reconhecimento dos outros Estados. Na opinio de Jorge Miranda, tal dever-se- razo de que esta
a tese que melhor traduz a realidade de uma vida jurdico-internacional muito mais intensa, muito
mais institucionalizada, e em que avultam as relaes multilaterais
7 7
.
Se isto verdade, no parece que possa constituir argumento suficiente em favor da natureza
declarativa do reconhecimento. Com efeito, sempre se poderia manter (por apelo tese constitutiva) a
bilateralizao genrica dos actos jurdicos de reconhecimento, tal como propugnada por Anzilotti.
Desta maneira, a opinio de Jorge Miranda dever aceitar-se apenas porquanto acentua, com este argu-
mento, no a prevalncia da tese declarativa que dele decorra, mas antes a diminuio prtica da
importncia do acto de reconhecimento, como consequncia da evoluo para a coexistncia pacfica
entre Estados (), e da crescente importncia da concluso de tratados multilaterais, em que a
participao dos Estados pode no depender do reconhecimento
8 8
. Por este conjunto de factos, os
Estados (mesmo que no reconhecidos) podem participar em muitas actividades, e resolver muitos
problemas, sem reconhecimento formal
9 9
.
1 1
JORGE MIRANDA, p. 323.
2 2
GONALVES PEREIRA, p. 233.
3 3
GONALVES PEREIRA, p. 234.
4 4
GONALVES PEREIRA, loc. cit..
5 5
IDI, Bruxelas, 1936.
6 6
FITZMAURICE, RCADI, 1957, II, pp. 19-23, apud GONALVES PEREIRA, 236, n. 9.
7 7
JORGE MIRANDA, p. 325.
8 8
GONALVES PEREIRA, p. 240.
9 9
M. LACHS, BYBIL, 1959, pp. 252 e ss.
J4
Portanto, mais do que o aspecto que se acaba de apontar, de destacar nesta matria a existncia de
uma norma consuetudinria de direito internacional comum, segundo a qual o Estado soberano
sujeito de direito internacional, tornando-se a atribuio de personalidade jurdica internacional ao
Estado automtica, uma vez que surgir quando estiverem reunidos certos pressupostos de facto e de
direito
1 1
. Para alm disso, evitar-se-iam as curiosidades jurdicas a que levaria a aplicao estrita da
tese constitutiva, nomeadamente a de um Estado que fosse simultaneamente pessoa internacional e
no pessoa internacional, consoante tivesse sido, ou no, reconhecido por um determinado Estado
2 2
.
Finalmente, ao contrrio de alguns no vemos razo para refutar a opinio de que este processo vai
beber, em boa parte, ao acolhimento jurdico de certas realidades polticas e sociolgicas que,
verificadas num certo momento, impem a existncia do Estado na sociedade internacional
3 3
.
26. Reconhecimento de Estado por Estados
Por regra, apenas ser de atender ao reconhecimento de Estado feito por Estados, e este um sinal
de reciprocidade de relaes e de menor institucionalizao da vida internacional
4 4
. A evoluo de
certas organizaes internacionais no sentido de uma progressiva integrao (amparada num processo
de transferncia de competncias estaduais em favor da organizao), como o caso das Comunidades
Europeias, dever, no obstante, servir para atenuar esta proposio. Com efeito, o reconhecimento de
algumas das repblicas balcnicas, quando do processo de desintegrao da ex-federao Jugoslava,
mostrou j uma certa interveno, ao menos formal, das Comunidades, muito embora, de facto, tenha
sido cada um dos Estados membros a proceder ao reconhecimento propriamente dito.
Nesse sentido se explicam a Declarao sobre as linhas directrizes sobre o reconhecimento de
novos Estados na Europa de Leste e na Unio Sovitica e a Declarao dos Doze sobre a Jugoslvia,
adoptadas pelos Ministros dos Negcios Estrangeiros dos Doze a 16 de Dezembro de 1991, em
Bruxelas. certo que sempre se poder rebater a nossa opinio, insistindo em que as Comunidades so
tambm um instrumento, mais ou menos institucionalizado, de cooperao poltica intergover-
namental
5 5
. E que, demais, as linhas directrizes no eram, efectivamente, mais do que isso, por no
terem carcter vinculativo. Mas, como dissemos, o facto de os Estados manterem o poder
discricionrio de apreciar as condies de aplicao daquelas Declaraes no obsta a que tenha
havido um esboo de centralizao desta matria na organizao internacional
6 6
.
27. Direito ou dever de (no) reconhecer
Outra questo que se suscita a propsito do reconhecimento o da eventual existncia, em direito
internacional, de um direito de reconhecer e de um direito de no reconhecer. Sendo verdade que se
nota, nesta esfera, uma influncia marcada de condicionantes de natureza poltica, o problema
complica-se ainda com a discusso cerca de um hipottico dever de reconhecimento.
Comecemos, ento, por apreciar o ltimo dos aspectos recenseados. Alguns autores admitem a
existncia de um dever jurdico de reconhecer. A partir do momento em que uma determinada comu-
nidade preencheu as condies que permitem a sua caracterizao como Estado, e uma vez que o
direito internacional se basta com a verificao desses pressupostos para atribuir personalidade inter-
nacional ao Estado (neste sentido, atribuio automtica), seria de aceitar que os Estados pr-
existentes estivessem obrigados por um dever jurdico de reconhecer. Sem optar claramente por este
1 1
GONALVES PEREIRA, pp. 237-238. Nessa medida, juridicamente, a entrada do novo Estado no sistema de relaes
internacionais no depende da atitude dos outros Estados. Contra, REUTER/COMBACAU, p. 137 que, porm, analisam o
problema sob enfoque poltico.
2 2
BRIERLY, p. 135.
3 3
Contra, GONALVES PEREIRA, loc. cit.
4 4
JORGE MIRANDA, p. 326.
5 5
Veja-se porm, com desenvolvimento sobre a posio dos Doze face ao surgimento de novos Estados, JEAN CHARPENTIER,
Les dclarations des Douze sur la reconnaissance des nouveaux Etats, RGDIP, 1992/2, 343 e ss., a pp. 345-46, que defende a
existncia, nos casos referidos, de reconhecimentos concertados num enquadramento europeu.
6 6
Sobre este aspecto, JEAN CHARPENTIER, ibid., pp. 350 e ss.
JS
entendimento, Gonalves Pereira
1 1
sustenta que [a] admisso da existncia do dever jurdico de
reconhecer um novo Estado, logo que indiscutivelmente reunidos os seus elementos constitutivos,
representa o ponto de confluncia das verses modernas das teorias constitutivas e declarativas. Este
seria um meio pragmtico de superao das divises doutrinais a teoria constitutiva cedia, ao
admitir que, uma vez surgido o Estado, no deveria negar-se o reconhecimento e o acesso
comunidade internacional dele decorrente; e cedia tambm a teoria declarativa, uma vez que impunha
que, antes do reconhecimento, devesse estar pressuposta uma anlise atenta das condicionantes de
facto que designamos por elementos do Estado.
Entendemos, no entanto, que esta assimilao de teses no de acolher. Como o reconhece
Gonalves Pereira
2 2
, mesmo que se admita um dever jurdico de reconhecer, a sua violao no parece
acarretar qualquer sano. aqui que se h-de encontrar a falha daquela miscigenao de teorias. A
prtica estadual mostra que nunca um Estado foi acusado de ter cometido um facto ilcito internacional
por no ter reconhecido a existncia de outro Estado. Profundamente embrenhada em razes polticas,
esta questo tem, por isso, dificuldades em aceitar um enquadramento jurdico to estrito. Se alguns
Estados rabes, por exemplo, no reconhecem desde h dcadas o Estado de Israel, no consta que
alguma vez tal recusa tenha sido entendida como a violao de um dever fundado internacionalmente,
nem to-pouco que possa vir a accionar um aspecto especfico do regime jurdico da responsabilidade
internacional. Quer dizer: no nosso entender, a recusa em reconhecer uma determinada entidade como
Estado pode ter duas razes principais: a) o entendimento de um Estado de que aquela entidade no
pode aceder condio estadual, por no estarem presentes determinados pressupostos de facto e de
direito; b) por, no entender desse Estado, a recusa em reconhecer uma entidade que, objectivamente,
um Estado, poder ser funcionalmente instrumentalizada em favor de uma posio poltico-
internacional que aquele Estado considera dever prosseguir.
Nem num, nem noutro caso, se dever aceitar a tese do dever de reconhecer, uma vez que nem para
o prprio direito internacional escolhendo ns, pelas razes expostas, a tese declarativa tal
importar sobremaneira. Quando muito, o papel do reconhecimento dever ser reduzido sua
dimenso real e concreta, por importante que ela possa ser, ao nvel do condicionamento da capa-
cidade plena de exerccio dos direitos do novo Estado na sociedade internacional
3 3
.
Trataremos agora os eventuais limites ou condicionamentos do direito de reconhecer. No se pondo
em dvida que este direito est tolhido por certas exigncias de carcter factual-objectivo, somos
levados a aceitar uma regra correlativa, a da proibio dos reconhecimentos prematuros. Imagine-se,
por exemplo, que no Estado A, em virtude de uma revolta insurreccional, est a actuar um grupo
armado que controla, naquele Estado, com carcter instvel e de aparente provisoriedade, uma parcela
territorial diminuta. Se o Estado B reconhecesse, por isso, a formao de um novo Estado, estaria, por
certo, a cometer um facto ilcito internacional, por violar as regras mais elementares da boa-f e,
sobretudo, por desrespeitar o princpio da no-interveno nos assuntos internos de A
4 4
.
Como aponta justamente Jorge Miranda, poder-se- admitir neste caso, quando muito, o
reconhecimento de um movimento nacional ou de libertao (sem esquecer, acrescentaramos ns, as
situaes de beligerncia ou de insurreio), mas no um Estado
5 5
. A questo s mudar de figura,
como vimos atrs, se estiver em causa a aplicao dos princpios da auto-determinao dos povos ou
da proibio do uso da fora nas relaes internacionais, os quais alteram (completando-os e, em certa
medida, normativizando-os) os padres objectivos que subjazem ao surgimento do Estado na cena
internacional. S nestes dois casos, tambm, que no ser sequer lcito o reconhecimento, por desse
1 1
GONALVES PEREIRA, pp. 246-47.
2 2
GONALVES PEREIRA, loc. cit.
3 3
O no-reconhecimento de um Estado, portanto, dificulta o exerccio dos seus direitos e obrigaes. Neste sentido, BRIERLY,
p. 136.
4 4
O reconhecimento prematuro da independncia da parte revoltosa equivaleria a uma intromisso injustificvel nos assuntos
internos do Estado em causa (BRIERLY, p. 135). Mas, certeira na pureza dos princpios, esta ideia torna-se bem mais problemtica
quando da enumerao de critrios minimamente credveis que tornem possvel a deteco das situaes de reconhecimento
prematuro. Um deles ser o de que o carcter prematuro ser indiscutido se ainda houver luta, excepto se o simples apego do antigo
Estado a uma guerra sem esperana mostrar que outro dever ser o entendimento (loc. cit.). Como se v, estamos em pleno reino do
subjectivo. E estas consideres conhecem condicionantes de natureza poltica muito poderosas. Em 1903, os EUA reconheceram o
Panam trs dias depois da revolta deste contra a Colmbia; e reconheceram Israel algumas horas aps a proclamao da
independncia.
5 5
JORGE MIRANDA, pp. 327-28.
Jt
modo se desrespeitar uma obrigao internacional de alcance erga omnes, que se impe pela sua
natureza obrigatria reforada.
Seco VI
Reconhecimento de Governo
28. Definio
Entende-se por reconhecimento de Governo o acto pelo qual um Estado afirma que a autoridade
poltica que tomou o poder num outro Estado fora das formas constitucionais representa validamente o
Estado na esfera internacional
1 1
. Nesta definio encontram-se j as principais condicionantes do
problema. Bastar, por isso, a exposio de alguns aspectos complementares. Em primeiro lugar, h-de
verificar-se uma situao de ruptura constitucional. Em segundo lugar, o Governo no significa, para
este efeito, um dos rgos do Estado (normalmente, o chamado executivo), referindo-se, antes, aos
poderes e responsabilidades das relaes externas do Estado. O apuro destes termos permitir-nos-
saber, por conseguinte, quem ir doravante exercer o jus tractum, o jus legationis e os demais poderes
de representao internacional do Estado. Em terceiro lugar, com o reconhecimento de Governo no se
questiona (por esta ser indubitvel) a existncia de um Estado, uma vez que se aplicam, neste domnio,
os princpios da identidade e continuidade estadual.
29. Critrios de reconhecimento. Apreciao crtica
A representao vlida do Estado na esfera internacional tem sido entendida luz de dois factores
diferentes: a efectividade e a legitimidade
2 2
.
De acordo com a doutrina da efectividade, ou doutrina de Estrada, um Governo dever ser
reconhecido desde que exera, efectivamente, a autoridade no interior, e esteja em condies de
cumprir os compromissos internacionais do Estado
3 3
. Como se v, esta doutrina traduz-se no respeito
pela esfera interna dos Estados soberanos. No entanto, sendo o reconhecimento de Governo livre, e
ainda hoje ditado por razes eminentemente polticas (por isso, s em certa medida objectivveis),
poder suceder que esteja ligado de forma umbilical ao reconhecimento de Estado. Pense-se na
hiptese de uma guerra civil. Se um Estado entender reconhecer dois Governos, estar a reconhecer
tambm, ipso facto, a existncia de dois Estados.
A doutrina da legitimidade mais antiga, sendo em geral reportada Santa Aliana. De acordo
com este sistema, o poder pertencia de direito aos membros das casa reinantes de ttulo antigo, ou
resultantes dos Actos de Viena, no sendo reconhecidos os Governos que no obedecessem a estas
condies
4 4
. No sc. XX, o princpio de legitimao passou a ser o democrtico
5 5
, aferido a posteriori,
pela realizao (ou compromisso de realizao) de eleies. A esta doutrina se chama tambm
doutrina de Tobar (do nome do Ministro dos Negcios Estrangeiros do Equador, em 1907), e veio a
ser incorporada numa conveno entre alguns dos Estados da Amrica Central. Apoiam-se tambm no
mesmo gnero de consideraes as doutrinas Acheson (secretrio de Estado americano em 1949, em
1 1
GONALVES PEREIRA, pp. 247-48; REUTER/COMBACAU, p. 137.
2 2
A escolha dos termos baseia-se apenas na terminologia normalmente utilizada. Mas no , em sentido estrito, correcta, uma vez
que uma situao de efectividade pode ser, obviamente, legitimante.
3 3
Fundada numa declarao de 1930 do MNE mexicano do mesmo nome, onde se afirmava que [d]esde a Grande Guerra [1914-
1918], a doutrina dos ditos 'reconhecimentos' tem sido aplicada, em particular s naes deste continente, mesmo se em casos bem
conhecidos de mudanas de regime em pases europeus os governos das naes no fizeram declaraes expressas de
reconhecimento (). O Governo Mexicano no far declaraes no sentido do reconhecimento, uma vez que esta nao considera
que essa uma prtica insultuosa e que, para alm de ofender a soberania de outras naes, implica que possvel fazer juzos sobre
os assuntos internos dessas naes por outros governos (transc. in HENKIN/PUGH/SCHACHTER/SMIT, p. 248.
4 4
GONALVES PEREIRA, p. 249.
5 5
Seria por isso este padro que, adaptando aquilo que disse ROGRIO SOARES, garantiria ao Governo o cunho de aceitao
indiscutida e, consequentemente, de reconhecimento (Direito Constitucional, cit., p. 9).
J?
relao ao Panam) e Wilson (que recusou o reconhecimento de um governo mexicano no resultante
de sufrgio)
1 1
.
As doutrinas de legitimade que se acabam de tratar en passant podem ser criticadas por diferentes
razes: em primeiro lugar, por na prtica resvalarem com facilidade para situaes de ingerncia dos
Estados mais poderosos nos assuntos de terceiros Estados
2 2
. Depois, porque a figura do reconhecimento
de Governo, entendida nestes termos, pode ser contraditria (veja-se, por exemplo, a posio discu-
tvel dos Estados Unidos perante Cuba; e, seguindo padres diferentes, perante a Repblica Popular da
China
3 3
). D-se assim razo a Brierly: recusarem-se factos l porque so desagradveis poltica
difcil da seguir com coerncia por muito tempo, a no ser em relao a Estados fracos
4 4
. Mas
verdade que se assiste de novo a tentativas de relanar juridicamente este instituto, at h bem pouco
em franco declnio
5 5
.
Criticaram-se atrs as doutrinas da legitimidade. verdade porm que, se este critrio no de
admitir, a figura do reconhecimento de governo baseada apenas em razes de efectividade perde muito
do seu interesse.
Defendemos, portanto, o progressivo desuso da figura do reconhecimento de Governo; a qual tem
largussimos inconvenientes. No entanto, nem sempre fcil a conjugao dos interesses conflituantes
em presena. Exemplo do que se afirma -nos dado no incio dos anos 80, quando o Reino Unido
adoptou uma nova prtica no que respeita ao reconhecimento de governos, que se pode resumir aos
seguintes pontos: no reconhecer governos, por isso poder ser confundido com aprovao de regimes;
limitar a prtica do reconhecimento, neste domnio, a Estados; continuar a decidir a natureza das ()
relaes com regimes que ascenderam ao poder de forma inconstitucional luz do () juzo sobre se
so capazes de exercer controlo efectivo do territrio do Estado respectivo
6 6
; por fim, em
complemento, [e]m futuros casos, quando um novo regime chegar ao poder inconstitucionalmente, a
nossa atitude sobre a questo de saber se deve ser tratado como um governo decorrer das relaes, se
1 1
Mas no j a dita doutrina STIMSON do no-reconhecimento, segundo a qual os Estados deviam negar o reconhecimento a
qualquer situao, tratado ou acordo que tivesse sido obtido por meios contrrios aos compromissos e obrigaes do Tratado de
Paris (ou tratado de Briand-Kellog). Sobre esta doutrina, cf. BRIERLY, p. 170.
2 2
Situao limite aquela em que o reconhecimento de Governo utilizado como arma para impor o respeito pelo direito
internacional. Mas, como a opinio acerca do que seja, num concreto caso, o respeito pelo direito internacional, eminentemente
varivel, entendemos que este argumento s ser utilizado de maneira vlida se for subsequente a uma resoluo do Conselho de
Segurana que reconhea juridicamente ou que condene uma determinada situao. A esta luz, o reconhecimento pode ser
visto como meio de presso (REUTER/COMBACAU, p. 138). O reconhecimento, em Maio de 1993, do Governo do MPLA pelo
Estado americano , sob esse aspecto, interessante, por no atender, ostensivamente, a qualquer razo de efectividade (uma vez que,
no momento desse reconhecimento, o movimento rival, a UNITA, controlava a maioria do territrio angolano). Ainda assim, no
nosso entender, teria sido juridicamente mais adequada uma poltica de no-reconhecimento da situao de facto criada pelas atitu-
des da UNITA, em violao de compromissos cuja execuo estava submetida a um processo de controlo internacional.
3 3
Baseando-se em razes de legitimidade, o acto de reconhecimento tende a ser exclusivamente poltico. Sobre o caso chins, v.
as consideraes do secretrio-geral das Naes Unidas em 1950 sobre o problema que representava a existncia de dois governos da
China, Memorandum on Legal Aspects of Problems of Representation in the United Nations, UN Doc. S/1466 (1950). Quando a
Assembleia Geral tratou a questo do critrio de escolha entre governos rivais, a maioria dos governos entendeu no seguir o teste
objectivo proposto pelo Reino Unido, que se baseava no controlo efectivo de todo ou quase todo o territrio, e a obedincia da
maioria da populao. Diferentemente, num debate onde estiveram presentes as ideias de efectividade e de legitimidade, a
Assembleia Geral recomendou que, quando mais de uma autoridade pretendesse ser o governo legitimado para representar um
Estado Membro na Organizao, a questo devia ser considerada luz dos fins e princpios da Carta e das circunstncias concretas
de cada caso AG, resol. 396 V (1950). Esta resoluo foi claramente influenciada pela atitude negativa relativamente China
Comunista, na altura envolvida em hostilidades com a Fora das Naes Unidas na Coreia. No entanto, alm deste factor
conjuntural, parece que a relutncia em aceitar apenas o teste factual tem tambm a ver com a ideia do reconhecimento onde esto
envolvidas apreciaes valorativas (e que podem ter variados fundamentos a prossecuo de interesses nacionais, o respeito pelos
Direitos do Homem, etc.). Por aqui se demonstra quo arredia est a ideia de efectividade deste captulo. Sobre as consideraes
expendidas e docs. referidos, cf. HENKIN/PUGH, SCHACHTER/SMIT, pp. 246-47.
4 4
BRIERLY, p. 143.
5 5
Existem com efeito alguns ndices nesse sentido. No seu parecer n 1, a Comisso de arbiragem para a Jugoslvia defendeu que
uma nova associao federal eventual deveria, em virtude do direito internacional, ser dotada de instituies democrticas. V, por
ltimo, FRANCK, The Emerging Right to Democratic Government, AJIL, 1992, pp. 46 e ss.
6 6
Resposta escrita de Lord Carrington na Cmara dos Lordes, a 28 de Abril de 1980, transc. in
HENKIN/PUGH/SCHACHTER/SMIT, p. 245. Outro sistema, juridicamente interessante, constitudo pela prtica recente dos
Estados Unidos: esta tem sido a de no enfatizar a questo do reconhecimento de Governo, e insistir, ao contrrio, na vontade de
manter (ou no) relaes diplomticas com o Estado em causa o que diferente. Cf. Auts. cits. nesta nota, p. 246. V. ainda, com
anlise (crtica) da alternativa que decorre da prtica americana, por defender que, sendo os Estados entidades abstractas, sempre
ao nvel dos seus agentes que as relaes se estabelecem, PETERSON, Recognition of Governments Should not be Abolished, AJIL,
1983, p. 46 e ss.
JS
as houver, que pudermos ter com ele, e em particular do facto de estarmos ou no a lidar com ele
numa base de governo-a-governo
1 1
/
2 2
.
No se deixar porm sem nota que esta atitude, formalmente em consonncia com aquilo que
defendemos excepto no que respeita ao ltimo excerto reproduzido mereceu crtica severa (e,
em certa medida, justificada) da doutrina mais qualificada, pelas consequncias prticas que, luz do
direito interno, pode comportar
3 3
/
4 4
. De entre elas, destaque-se a incerteza judiciria quanto questo de
saber se as relaes estabelecidas, pela sua natureza, so ou no demonstrativas de reconhecimento
de governo
5 5
. Mas no deixa tambm de ser verdade que, como se afirmou claramento no caso Tinoco,
o reconhecimento ou no-reconhecimento indiferente quando estejam em causa relaes de
responsabilidade (a no ser que aquele se funde num padro de governo efectivo)
6 6
.
Seco VII
Situaes particulares: a insurgncia e a beligerncia
30. Apresentao
Iremos agora analisar as situaes de insurgncia e de beligerncia. Tal ser feito, no entanto, luz
de dois pressupostos bsicos. O primeiro o de que o seu tratamento no captulo consagrado ao Estado
no significa, de modo algum, que entendamos que os insurgentes ou beligerantes devem ser assimi-
lados a Estados sendo antes, quando muito, entidades pr-estaduais ou pr-governativas. O
segundo o de que no seu estudo se procuraro destacar os ndices de personalidade internacional que
derivam do acto de reconhecimento por terceiros Estados o que j levou alguns a pronunciarem-se,
nestas situaes, pela natureza constitutiva do acto de reconhecimento
7 7
.
31. Insurgncia e beligerncia
O problema do reconhecimento dos insurgentes coloca-se nas situaes em que ocorra uma revolta
no territrio de um Estado, que o Governo no poder no consegue reprimir de imediato. Se as foras
1 1
Sobre o conceito especfico de dealings on a Government to Government basis, que assim se traduziu, cf. Attorney-General
for Fiji v. Robt. Jones House Ltd., ILR, 80, pp. 1-10.
2 2
Lord Carrington, resposta, Cmara dos Lordes, 23 de Maio de 1980, transc. in AKEHURST, p. 68.
3 3
AKEHURST, pp. 68-69; CRAWFORD, pp. 105-106; BROWNLIE, pp. 145-146. Em geral, pugnando pelo reconhecimento de
Governo, PETERSON, Recognition, pp. 32 e ss., espec. 46-50, que defende um conceito suficientemente vasto de reconhecimento
de modo a poder excluir que este s deva valer para os sujeitos de direito internacional (no caso, os Estados) e no para os seus
agentes (o Governo); e adere, ademais, ao critrio efectivo (effectivist rule), rejeitado, nos termos e com as condicionantes atrs
vistos, pela AG. No deixa o Autor de ter razo, alis, quando diz que a aplicao desta regra impediria boa parte dos abusos at
agora verificados porquanto a questo seria transferida de uma situao de aprovao-rejeio para o seu plano devido, de status-
communication. Mas, como vimos, esta no tem sido a prtica seguida internacionalmente. de referir, para alm disso, que esta
posio tem sido confundida, de algum modo, com a da doutrina Estrada. Mas esta, tal como contida na declarao citada supra,
parece significar duas coisas: a) adopo do critrio da efectividade; b) rejeio de actos explcitos e formalizados de
reconhecimento (no que afasta daquilo que PETERSON defende).
4 4
Num estudo do Departamento de Estado americano efectuado em 1969, 31 Estados indicaram que tinham abandonado as
polticas de reconhecimento tradicionais pela doutrina Estrada ou outra equivalente, aceitando portanto a ideia de efectividade sem
sequer ser colocado o problema do reconhecimento (cit. por HENKIN/PUGH/SCHACHTER/SMIT,p. 248). Mas, sendo o Mxico
um dos pases includos nessa lista, a verdade que recusou reconhecer o regime franquista durante trinta anos. por isso difcil, em
concreto,eliminar qualquer valorao de ndole poltica, at porque mesmo a noo de controlo efectivo do territrio permevel a
influncias dessa natureza.
5 5
Porm, como destaca AKEHURST, loc. cit., a questo no se coloca quanto s imunidades do Estado estrangeiro (e dos seus
representantes), uma vez que nos termos da secc. 21 do State Immunity Act, de 1978, o MNE que certifica quais as pessoas que
devem ser consideradas como o Governo do Estado (para desse modo lhes ser reconhecida imunidade, tanto de jurisdio como de
execuo). E note-se, para alm disso, que mesmo sem reconhecimento de iure ou de facto, os tribunais ingleses podiam, antes de
1980, conhecer de causas em que estivessem em causa leis ou actos in regard to day to day affairs of a body in effective control of a
territory. Cf., por ltimo, Hesperides Hotels Ltd. and Another v. Aegean Turkish Holidays Ltd. and Muftizade, 6 de Julho de 1978,
ILR, 73, pp. 9 e ss.
6 6
Desenvolvidamente sobre este caso, cf. HARRIS, Cases and materials, pp. 132-134; BRIERLY, pp. 141-142.
7 7
V., por todos, Albino SOARES, pp. 208 e ss.
J9
insurgentes conseguirem manter-se numa parcela do territrio
1 1
, surge a possibilidade do reconhe-
cimento da situao de insurgncia. Esta figura de origem ibero-americana
2 2
. Geralmente, o Estado
no qual ocorreu a insurreio que tomar a iniciativa desta forma particular de reconhecimento. Este
comporta, no essencial, duas consequncias: a primeira a de que os insurgentes sero tratados, a
partir da, de acordo com as regras do direito da guerra e que, por via de reciprocidade, a luta entre as
foras governamentais e as foras insurgentes ser conduzida com menos crueldade; a segunda
consiste no facto de, pelo reconhecimento dos insurgentes, o governo no poder (que, sob um ponto de
vista formal, o governo regular) se eximir a responsabilidade internacional relativamente aos actos
danosos causados pelos insurgentes aos cidados estrangeiros ou aos seus bens
3 3
. Para alm disso, no
caso em que os insurgentes disponham de foras navais, o reconhecimento opera uma consequncia
especfica aqueles no sero considerados como piratas e disporo, por isso, de um pavilho lcito.
No fcil distinguir a situao insurreccional da de beligerncia. Tendencialmente, pode dizer-se
que a situao de insurgncia implica a obteno de um certo sucesso (militar, entenda-se) e o domnio
de uma parcela do territrio durante um lapso temporal minimamente prolongado. Ao contrrio do
reconhecimento de insurgncia, o reconhecimento de beligerncia tem como caracterstica importante
o facto de emanar de terceiros Estados (podendo muito embora o Governo territorial reconhecer
tambm tal situao)
4 4
.
Esta distino bem diferente daquela que separa estas duas categorias dos movimentos de
libertao nacional ou, na expresso de Marques Guedes
5 5
, movimentos nacionais. que estes so
Estados em projecto, e fundam-se, filosoficamente, no princpio da nacionalidade. Os movimentos
revolucionrios (aqui se incluem os beligerantes) tambm se exteriorizam em movimentos civis e luta
armada; mas, diferentemente deles, tm uma finalidade essencialmente ideolgica
6 6
. Por isso, no
procuram separar-se territorialmente, de modo a constituir uma nova entidade estadual; antes procu-
ram, de modo diverso, apoderar-se do poder num certo Estado
7 7
.
Diversamente, a Comisso do direito internacional aceitou que a insurreio tenha a finalidade de
constituir um novo Estado
8 8
.
32. Consequncias do reconhecimento
Opte-se por uma ou outra destas distines, a concluso ser sempre a de que o reconhecimento de
beligerncia , quanto aos efeitos jurdico-internacionais produzidos, inferior ao reconhecimento de
Estado. Limita-se a constatar o facto de que a sublevao no fracassou, tendo conseguido, numa
parcela do territrio, exercer um poder de facto. A principal consequncia do reconhecimento de
beligerncia a de aplicar contenda civil os direitos e obrigaes derivados do direito da guerra e da
neutralidade. Se o Governo do Estado onde ocorreu o levantamento armado reconhecer a situao de
beligerncia, poder, para alm disso, bloquear a navios de terceiros Estados o acesso s faixas
costeiras e portos controlados pelos revoltosos, bem como eximir-se a responsabilidade internacional
por factos que ocorram no territrio controlado pelos rebeldes
9 9
. Quanto aos Estados terceiros, a decla-
rao de beligerncia permite-lhes beneficiar de um estatuto de neutralidade, que pode ser muito
1 1
Esta condio pacificamente exigida. V., por todos, GONALVES PEREIRA, p. 254.
2 2
DIEZ DE VELASCO, p. 276. Diz mesmo GONALVES PEREIRA, p. 256, ser prtica exclusivamente americana.
3 3
COLLIARD, Institutions des relations internationales, 9 ed., Paris, 1990, pp. 188-189. V. ainda, em confirmao desta tese, o
art. 14 da Primeira Parte do Projecto de Artigos da CDI sobre a responsabilidade internacional do Estado por factos
internacionalmente ilcitos.
4 4
V. porm arts. 14 e 15 do Projecto de Artigos da CDI sobre a responsabilidade internacional dos Estados, acima referido.
Destes preceitos decorre que a Comisso aceitou apenas a figura da insurgncia, fazendo dela decorrer certos efeitos jurdicos.
5 5
MARQUES GUEDES, p. 215.
6 6
MARQUES GUEDES, p. 218.
7 7
Assimilando estas realidades, Albino SOARES, para quem um grupo beligerante quando uma parte da populao se
subleva, dando origem a uma guerra civil, pretendendo desmembrar-se do Estado de que faz parte ou ocupar definitivamente o
poder (p. 208).
8 8
O art. 15 do 1 Parte do Projecto de Artigos sobre a Responsabilidade Internacional dos Estados cobre as duas hipteses a que
faz referncia MARQUES GUEDES. No n 1, dito que [o] facto de um movimento insurreccional que se converta no novo
governo de um Estado considera-se facto desse Estado; e reza o n 2 do mesmo preceito que [o] facto de um movimento
insurrecccional cuja aco d lugar criao de um novo Estado, em parte de territrio do Estado pr-existente, ou em territrio sob
sua administrao, considera-se facto desse Estado.
9 9
DIEZ VELASCO, pp. 275-276.
2D
importante no caso em que tenham interesses (de natureza econmica) nos territrios controlados
pelos sublevados ou, do mesmo modo, quando estejam em causa cidados seus ou os seus bens. Alis,
qualquer declarao de neutralidade relativamente ao conflito equivale, de maneira necessria, ao
reconhecimento de beligerncia de ambas as partes.
Notar-se- que, relativamente aos insurrectos, as diferenas no so muito marcadas. Mais
importante at do que acentuar os aspectos diferenciadores
1 1
, convir pr no devido destaque que a
comunidade rebelde titularizada em alguns direitos e obrigaes que encontram a sua fonte directa
no ordenamento jurdico-internacional, o que nos permite concluir pela sua subjectividade internacio-
nal. No entanto, estamos perante uma subjectividade provisria, na medida em que a situao de facto
que constitui a sua base de sustentao tende, inevitavelmente, a desaparecer com o decurso do tempo.
O status de beligerante extingue-se com o fim da guerra civil, quando a insurreio dominada ou, ao
contrrio, consegue controlar todo o territrio, transformando-se, neste ltimo caso, de Governo de
facto local em Governo de facto geral
2 2
.
No se deixar sem nota, finalmente, que o estatuto de beligerante pode ser atribudo automatica-
mente, por aplicao das disposies de direito internacional Humanitrio, aos casos de revolta ou
insurreio o que ainda atenua mais a distino entre as categorias da insurreio e da beligerncia
3 3
.
Em concluso, dir-se- que, em concreto, os corpos beligerantes ou insurgentes que actuam num
dado Estado podem estabelecer relaes jurdicas e concluir acordos, vlidos no plano internacional,
com Estados e outros beligerantes ou insurgentes
4 4
. Na altura em que se preparava aquela que viria a
ser a Conveno de Viena sobre o Direito dos Tratados, Sir Gerald Fitzmaurice atribua capacidade
convencional a entidades para-estaduais em relao s quais se reconhecesse que possuam personali-
dade internacional definida ou mesmo limitada, por exemplo, comunidades de insurgentes s quais se
reconhecesse o estatuto de beligerncia
5 5
. Alis, no projecto de artigos sobre o Direito dos Tratados
adoptado pela CDI constava a referncia a Estados ou outros sujeitos de direito internacional
6 6
. Por
aqui se pretendiam abarcar os insurgentes e os beligerantes, muito embora mais tarde, no projecto de
artigos de 1966, fosse feita referncia exclusiva aos Estados (sem que por tal excluso se deva concluir
por uma recusa em reconhecer subjectividade internacional quelas entidades).
Seco VIII
Categorias (tipos) de Estados
33. Consideraes introdutrias
At agora, falmos do Estado em geral. Mas possvel o estudo mais detalhado das diferentes
categorias de Estados, importando acentuar, antes de mais, os elementos que possam ter influncia
sobre a capacidade jurdica internacional dos diferentes tipos de Estados. Nas Naes Unidas, como se
sabe, esto representadas quase todas as categorias de Estados, analisveis, vg., quanto dimenso do
seu territrio, quanto populao e quanto ao tipo de governo (aqui visto como regime). Vamos
portanto referir-nos, sucessivamente, aos Estados federais e s confederaes; aos protectorados; aos
Estados permanentemente neutralizados e aos micro-Estados. Deixaremos de lado outras categorias
1 1
Que para alguns, na prtica, no existem. Cf., por todos, BROWNLIE, pp. 64-65. E, que para outros, so ntidas. V., por todos,
GONALVES PEREIRA, p. 256, que defende que a diferena entre uma e outra situaes a de que os insurrectos, como
categoria, no adquirem a personalidade internacional. Esta tese no parece hoje defensvel.
2 2
DIEZ DE VELASCO, p. 276.
3 3
Cf. art. 3 comum das quatro Convenes de Genebra de 1949; art. 1 do II Protocolo adicional de 1977, que contemplou esta
aplicabilidade, sem restries, a todos os conflitos armados no internacionais; MARQUES GUEDES, pp. 220-221.
4 4
BROWNLIE, p. 64; SHAW, p. 168. Mas no so Estados, nem o reconhecimento pe as partes na posio de Estados,
mesmo que s para os fins e o perodo de durao da guerra (como defende BRIERLY, p. 139). Esta posio s se compreende para
quem identificar a subjectividade internacional com o Estado. Aderindo tambm tese que se critica, Albino SOARES, p. 209:
[r]econhecidos, os beligerantes adquirem, de facto, os direitos e deveres de um Estado. Da mesma maneira, s com pouco rigor, ou
quando menos em sentido figurado, se pode afirmar que a me-ptria a reconhecer ao grupo o carcter de beligerante.
5 5
ACDI, 1958, II, pp. 24 e ss.
6 6
ACDI, ibid., loc. cit.
2J
(cesses de administrao, Estados vassalos, unies reais e pessoais de Estados, etc.), por o seu
interesse ser, hoje, exclusivamente histrico.
34. Os Estados federais
O federalismo pode ser definido, lato sensu, como um processo de associao de comunidades
humanas distintas, que visa conciliar duas tendncias contraditrias: a tendncia da autonomia das
colectividades componentes e a tendncia para a organizao hierarquizada de uma comunidade
global que agrega o conjunto das colectividades elementares
1 1
.
Com mais preciso, entender-se- por Estado federal aquele onde, num mesmo territrio e para a
mesma populao, operam vrios sistemas estaduais, coexistindo, em particular, o sistema federal com
o de cada um dos Estados federados no mbito territorial destes ltimos
2 2
. Do ponto de vista do direito
internacional, no existem diferenas entre os Estados federais e os Estados unitrios. Por regra, o go-
verno central do Estado federal representa este nas relaes internacionais, mas conhecem-se
excepes a este princpio. o caso, citado por BRMS, de alguns Estados dos EUA, que j
concluiram tratados com outros Estados em matria de proteco do ambiente
3 3
. Por outro lado, no
Canad, a provncia do Quebeque estabeleceu acordos culturais com a Frana e com outros Estados,
no se tendo o governo federal oposto a tal. No entanto, jurdicamente, a unio federal que, em regra,
responde internacionalmente pelos actos dos Estados federados, pela razo simples de que se
considera e presume que aquela representa, internacionalmente, toda a entidade. H alis numerosos
precedentes que confirmam o princpio de que o Estado federal no pode invocar o seu regime
especial de repartio das competncias constitucionais para se eximir s suas obrigaes interna-
cionais
4 4
. Citem-se, apenas, o caso do massacre dos italianos da Nova-Orlees
5 5
, o caso da excluso
das crianas japonesas das escolas de S. Francisco, de 1906
6 6
, e o caso Succession d'Hyacinthe
Pellat
7 7
. Portanto, bem vistas as coisas, as competncias que eventualmente sejam exercidas no plano
internacional esto condicionadas por esta norma consuetudinria de salvaguarda; tm natureza
residual; e a capacidade do Estado federado para estabelecer relaes com outros Estados no plano
internacional estritamente aferida pela norma interna atributiva de competncias internacionais que
excepciona a regra geral.
35. As Confederaes de Estados
So correntemente associadas s federaes, talvez porque, muitas vezes, acabam por se
transformar em estruturas de tipo federal
8 8
. o caso dos EUA (Confederao americana de 1776 a
1787), da Alemanha (Confederao germnica de 1814 a 1866), da Sua (antes de 1848), muito
embora esta conserve, impropriamente, a designao de confederao helvtica, etc.
9 9
. Ao contrrio do
Estado federal, a confederao resulta de uma aliana entre vrios Estados independentes, que
concluem um acordo internacional para esse efeito
1 10 0
. A diferena essencial reside, por isso, no facto de
que a federao uma unidade poltica e jurdica constituda por um s Estado, internacionalmente
soberano, enquanto que a confederao, ao contrrio, uma pluralidade de Estados
1 11 1
. Deste modo, os
1 1
COLLIARD, p. 82.
2 2
Cf. KOJANEC, p. 788. O Estado federal, e cada um dos Estados membros da federao, so dotados de ordenamentos
originrios e soberanos, cada um dos quais aplicvel a distintos tipos de relaes entre os mesmos sujeitos, segundo um critrio de
reserva de competncias exclusivas que impedem que um ordenamento possa influenciar, ou prevalecer (com estes limites), sobre
outro. Acentuando o carcter permanente da transferncia da conduo das relaes exteriores para o governo central, BRIERLY, p.
125. Contra, na parte em que feita referncia a entidades soberanas, REUTER/COMBACAU, p. 126.
3 3
BRMS, p. 52.
4 4
ROUSSEAU, V, p. 28.
5 5
Crnica de J.-BARTHLEMY, RGDIP, 1907, esp. pp. 677-79.
6 6
Crnica de J.-BARTHLEMY, RGDIP, 1907, pp. 636-685.
7 7
Comisso das reclamaes franco-mexicana, 7 de Junho de 1929, RSA, V, p. 536.
8 8
Sobre o processo de transformao das confederaes em federaes, v. REUTER/COMBACAU, pp. 122-126.
9 9
REUTER/COMBACAU, p. 288.
1 10 0
BRMS, p. 53.
1 11 1
Ou, noutra perspectiva, de domnio institucional estrutural, REUTER/COMBACAU, pp. 33 e 287; BRIERLY, loc. cit.
22
Estados partes na confederao no perdem a sua soberania externa e interna, e o governo
confederal dever zelar por isso. Juridicamente, podemos estabelecer outra diferena importante: numa
confederao, ao contrrio daquilo que se passa com a federao, o governo central no exerce
poderes imediatos sobre os cidados das entidades estaduais que a compem. Por outro lado, por
exemplo no caso da confederao alem (1814-1866), os membros da confederao estavam
habilitados a concluir tratados com Estados estrangeiros e a estabelecer relaes diplomticas entre
eles. Tendo cado em franco desuso, a confederao teve um revigorar parcial com alguns exemplos
recentes, dos quais se destacar o da Repblica rabe Unida (1958-1961), que era composta pelo
Egipto e pela Sria. Durante este curto perodo temporal, a Sria no exerceu, de facto, a maior parte
das suas competncias internacionais. No exercia, nomeadamente, o treaty making power, tendo alis
deixado de ser membro da ONU e da Liga dos Estados rabes. A R.A.U. era, por conseguinte, uma
frmula intermdia entre a confederao e o Estado federal. Por as experincias mais prximas no te-
rem tido grande sucesso, e devido ao ressurgir vigoroso do mito do Estado nacional e unitrio
(sensvel a partir de meados da dcada de 80), no de prever que a estrutura confederal possa vir
ainda a ter a importncia passada nas relaes internacionais
1 1
.
36. O protectorado
Integrado na categoria dos fenmenos de domnio imperialista
2 2
, o protectorado supe um
desequilbrio de foras entre dois Estados, que se traduz numa modificao recproca das suas compe-
tncias territoriais. Pode ser definido como um regime convencional pelo qual dois Estados organizam
entre si uma repartio desigualitria do exerccio das competncias respectivas. O Estado protegido,
normalmente, perde a sua competncia externa em favor do Estado protector, o qual assegura, em
exclusivo, a representao diplomtica e a proteco, no plano internacional, dos cidados do Estado
protegido
3 3
. No domnio interno, a repartio de competncias pode variar. Em princpio, o regime de
protectorado exclui a administrao directa pelo Estado protector, mas sucedeu j a extenso de
competncias, em favor deste, da organizao dos servios pblicos do Estado protegido. A natureza
convencional da relao de protectorado, que se acaba de descrever de forma sucinta, constitui a regra.
No entanto, o protectorado estabelecido pela Gr-Bretanha sobre o Egipto (1914) tinha a caracterstica
particular de proceder de um acto unilateral britnico, e no de um tratado internacional. No caso dos
protectorados internacionais, o Estado protegido perde, normalmente, a sua qualidade de Estado sobe-
rano, mas esta regra admite excepes. Assim, no caso relativo aos direitos dos cidados dos EUA em
Marrocos, o TIJ realou que o governo francs no contesta que Marrocos, mesmo sob o
protectorado, conservou a personalidade de Estado em direito internacional
4 4
. Tal no ter sucedido
com o Buto (que , note-se, membro das Naes Unidas desde 1971), o qual, nos termos do tratado
de 9 de Agosto de..... com a ndia (art. 2), aceitava ser guiado pelo Conselho da ndia nas suas rela-
es externas. A natureza estadual dos Estados protegidos supe, por isso, uma anlise caso a caso,
no sendo redutvel a um padro uniforme
5 5
.
No entanto, no deixar de se referir que, muito embora os acordos de protectorado importassem,
de facto, a diminuio da independncia do Estado protegido, foram relativamente frequentes os casos
em que tribunais internos do Estado protector consideraram o Estado protegido como soberano em
certas situaes, tal como para efeitos do reconhecimento de imunidade jurisdicional
6 6
. Na prtica,
muito embora os protectorados tenham desaparecido da cena internacional como categoria jurdica au-
tnoma, os Estados fracos ou pequenos so ainda submetidos a graus variados de controlo estrangeiro,
seja ele militar, econmico ou poltico. Mas, como j vimos
7 7
, esta situao no obsta, em abstracto, ao
reconhecimento da personalidade jurdica internacional destas entidades.
1 1
Sobre toda esta matria, BRMS, pp. 52-3.
2 2
COLLIARD, 59; referindo-se ao Estado protector como imperial power, HENKIN, PUGH, SCHACHTER, SMIT, p. 236, n. 4.
3 3
De forma desenvolvida, BRIERLY, pp. 130-133.
4 4
TIJ, Rec., 1952, respect. pp. 176, 185 e 188.
5 5
Assim, SHAW, p. 151, que estabelece mesmo a distino, que em termos prticos nos parece pouco vivel, entre o
protectorado e o Estado protegido.
6 6
HENKIN/PUGH/SCHACHTER/SMIT, loc. cit.
7 7
Cf. supra, n 61.
2S
37. O Estado neutralizado
A situao particular do Estado permanentemente neutralizado assenta no facto de o seu regime ser
regulado pelo direito internacional. , por isso, diferente da situao em que um Estado, de modo
unilateral (por exemplo, atravs de uma disposio constitucional) adopta a neutralidade como linha
ou programa de conduta internacional
1 1
. Enquanto esta posio no for aceite por terceiros Estados
mediante tratado ou atravs da formao de uma norma consuetudinria prpria, esta neutralidade tem
importncia meramente poltica ou at tica, no sendo, por conseguinte, oponvel internacionalmente.
o caso, por exemplo (que se no quer desvalorizar) da Sucia e da Costa Rica.
Os aspectos essenciais do estatuto de neutralidade permanente podem reconduzir-se a trs facetas:
a) o Estado neutralizado obriga-se a no participar em nenhum conflito armado internacional; b) no
poder, tambm, ser parte em nenhuma conveno de aliana militar com terceiros Estados (por
exemplo, o tratado da OTAN); c) finalmente, o Estado neutralizado obriga-se a no admitir a
instalao de bases militares no seu territrio
2 2
. Os terceiros Estados, que garantem a neutralidade do
Estado, tm o direito de exigir aos Estados neutralizados o cumprimento daquelas obrigaes; mas, ao
mesmo tempo, esto obrigados a respeitar a neutralidade, no realizando condutas que a ponham em
causa. Resumindo, o Estado neutralizado aquele cuja integridade assegurada por um tratado
internacional, sob condio de manter neutralidade excepto, claro, nas situaes de legtima defesa.
Conhecem-se casos histricos de Estados neutralizados: o Luxemburgo (1867-1920), a Blgica
(1831-1919), o Estado Livre do Congo e o Laos (1962). Hoje, porm, podemos dizer que as trs
situaes mais importantes de neutralidade so a ustria, a Suia e Estado do Vaticano. O estatuto da
primeira foi objecto de regulamentao no perodo entre as duas guerras. No caso do Regime
Aduaneiro entre a Alemanha e a ustria, o TPJI tinha j indicado que a ustria, devido sua posio
geogrfica na Europa central e por causa das profundas alteraes polticas que resultam da ltima
guerra, um ponto sensvel no sistema europeu
3 3
. Depois de 1945, a ustria, de acordo com o
previsto no memorando austro-sovitico de 1955 e depois da celebrao do Tratado de Viena de 15 de
Maio de 1955, que restaurava formalmente a sua soberania, declarou-se unilateralmente neutralizada
atravs de uma clusula particular da sua Constituio de 26 de Outubro de 1955. Esta declarao
unilateral foi notificada a vrios Estados, e por eles aceite. Muito embora a ustria seja membro das
Naes Unidas, tal no constitui violao da sua neutralidade, por duas ordens de razes: em primeiro
lugar, porque os acordos previstos no cap. VII no foram concludos, e depois porque o prprio
Conselho de Segurana pode decidir eximir um Estado de tomar parte nas medidas coercitivas que
decida aplicar. Apenas convir destacar que, recentemente, a ustria aplicou sanes econmicas ao
Iraque quando da crise do Golfo, iniciada em Agosto de 1990
4 4
.
38. Os micro-Estados
A sua caracterstica principal a de terem um territrio muito pequeno e, correlativamente, uma
populao extremamente reduzida
5 5
. No h porm critrios seguros que estabeleam qual a (pouca) do
territrio que nos permita considerar uma entidade como micro-Estado, pelo que qualquer qualificao
, de certa forma, subjectiva. No continente europeu, parece haver consenso quanto natureza de
micro-Estado do Liechtenstein, do Mnaco e da Repblica de S. Marino. De um ponto de vista
jurdico, estas trs entidades tm caractersticas similares.
O Liechtenstein, muito embora seja geralmente considerado como um Estado, no conseguiu ser
admitido Sociedade das Naes, por se considerar duvidosa a sua capacidade para respeitar todas as
obrigaes decorrentes da qualidade de membro da organizao. Por isso, mais tarde (e para no correr
o risco de outra recusa), o Liechtenstein no pediu a sua admisso s Naes Unidas; mas solicitou
1 1
MARIO MENENDEZ, p. 81.
2 2
MARIO MENENDEZ, loc. cit.
3 3
TPJI, 5 de Setembro de 1931, srie A/B, n 41, p. 42.
4 4
Para um confronto documental da posio austraca nesta crise, cf. a compilao de LAUTERPACHT, The Kuwait Crisis:
Sanctions, I, 29-34.
5 5
Tambm so designados como Estados exguos. Em geral, cf. REUTER, COMBACAU, pp. 113-114.
24
tornar-se parte no ETIJ, com base no art. 93, n 2 CNU. Esta disposio admite que possam tornar-se
partes no Estatuto Estados no membros das Naes Unidas (em condies determinadas, caso a caso,
pela Assembleia Geral, sob recomendao do Conselho de Segurana).
Quando o pedido do Liechtenstein foi apreciado, alguns Estados manifestaram a sua oposio,
arguindo que o Liechtenstein no era um Estado independente uma vez que no era responsvel
pelas suas relaes externas. Mas estas objeces no foram tidas em conta, e o Liechtenstein foi
admitido como parte no ETIJ, em condies similares quelas que, em 1948, tinham sido aplicadas
Suia.
Que a questo sofreu modificao sensvel, sobretudo depois do desaparecimento do bloco de
leste, parece prov-lo o facto de, em Setembro de 1990, o Liechtenstein ter sido, finalmente, admitido
como membro das Naes Unidas
1 1
.
O Mnaco e S. Marino esto, do ponto de vista do direito internacional, em situao anloga. Cada
um destes dois Estados coopera de forma desenvolvida com o Estado que o rodeia. O Mnaco est
ligado por tratado Frana
2 2
; e S. Marino Itlia. S. Marino foi considerado, inicialmente, como um
protectorado; mas a sua posio jurdica reforou-se, e o seu Governo celebrou vrios tratados com
Estados estrangeiros. O Mnaco no membro das Naes Unidas
3 3
. E S. Marino -o desde 2 de
Maro de 1992 sendo j antes, tal como o Liechtenstein, parte no ETIJ, o que de alguma forma
reforava a ideia de que se tratava de um Estado
4 4
.
O problema mais interessante que hoje se coloca relativamente aos micro-Estados o da sua
participao em certas organizaes internacionais. Esta questo j foi objecto de debate na
Assembleia Geral. A ideia prevalecente a de que, em virtude do princpio da igualdade dos membros,
os micro-Estados beneficiariam de vantagens excessivas relativamente aos outros membros. O
secretrio-geral U'Thant abordou a questo em 1967, no seu relatrio anual Assembleia Geral, e os
Estados Unidos propuseram a criao de um estatuto especial de associao para esses Estados. Mas
isso implicaria rever a Carta o que no tarefa fcil; por outro lado, ganhou terreno a ideia de que a
pertena organizao incompatvel com estatutos jurdicos diferenciados. Nos termos da proposta
americana, os membros associados poderiam participar nos debates da Assembleia Geral, mas sem
direito de voto. Para alm disso, no poderiam ser eleitos para rgos principais com composio
restrita (sendo por isso inelegveis, obviamente, para o Conselho de Segurana).
Seco IX.
Caractersticas jurdicas gerais dos Estados face ao DI
39. Caractersticas jurdicas, gerais e exclusivas
Uma vez esboada a anlise dos principais aspectos exteriores do Estado, preocupar-nos-emos
agora com o estudo de algumas das caractersticas jurdicas, gerais mas exclusivas, dos Estados.
Em princpio, os Estados tm competncia plena para agirem (celebrao de tratados, negociaes,
protesto, etc.) na esfera internacional (esta , diga-se, uma das facetas ou atributos da qualidade
soberana dos Estados).
Tambm por princpio, os Estados so os nicos competentes no que respeita aos seus assuntos
internos, tal como previsto no art. 2, n 7 CNU. claro, porm, que isso no equivale ao
reconhecimento da sua omnipotncia perante o direito internacional no que respeita s matrias
1 1
Sendo tambm membro do Conselho da Europa.
2 2
As relaes entre a Frana e o Mnaco so enquadrveis como uma unio aduaneira, que remonta a 1865. Por seu turno, o
estatuto do Principado do Mnaco foi definido em vrios tratados concluidos com a Frana: de 10 de Abril de 1912, de 17 de Julho
de 1918, de 13 de Abril de 1945, de 2 de Dezembro de 1951 (denunciado pela Frana em 1982) e de 18 de Maio de 1963. Dados
colhidos em BRMS, p. 60, n. 36.
3 3
Mas pertence a organizaes internacionais de vocao universal, como p.e. a UNESCO.
4 4
de notar a existncia de outros elementos ou indcios que reforavam esta ideia. Em primeiro lugar, S. Marino manteve a sua
neutralidade durante a Segunda Guerra, muito embora encravado em territrio italiano. Por outro lado, tambm membro do
Conselho da Europa (o que acresce s similitudes do seu caso com o do Liechtenstein). alis incerto que outros membros das
Naes Unidas sejam, luz de critrios de grandeza (superfcie, nmero de habitantes, etc.), maiores do que os casos que
acabmos de referir. Mas a situao relativa de privilgio de que beneficiam dever procurar-se no facto de provirem de processos
de descolonizao de serem, portanto, antigas situaes coloniais.
2S
includas no domnio reservado. Significa, antes, que a sua jurisdio plena e no sujeita ao controlo
dos outros Estados.
Por regra, os Estados no esto obrigados a submeter-se a qualquer processo internacional
compulsrio, a menos que consintam em tal, quer num caso concreto quer em geral (este um
princpio basilar p.e. no captulo da resoluo dos diferendos internacionais)
1 1
.
40. Referncia ao princpio da igualdade
Em direito internacional, os Estados so iguais, princpio que a Carta reconhece explicitamente
2 2
.
Em parte, este um corolrio dos princpios anteriores, mas dele se deduzem outras consequncias.
Trata-se de um princpio jurdico-formal, no moral ou poltico
3 3
. No impede, portanto, que os
Estados possam no ter voto igual em organizaes internacionais de que sejam membros
4 4
. que,
numa organizao internacional que no se baseie na igualdade, requer-se, como bvio, o
consentimento de todos os Membros em derrogao do sobredito princpio (p.e. o processo de deciso
quanto a certas questes no Conselho de Ministros das Comunidades)
5 5
.
Finalmente, entendemos que quaisquer derrogaes a estes princpios devem ser analisadas com
cuidado. Porm, temos grandes dvidas quanto possvel aplicao, nos dias de hoje, da chamada
presuno Lotus
6 6
, nem nos parece to-pouco que seja de acolher a exigncia do enunciado claro da
restrio, uma vez que essa uma questo no autonomizvel das que, em geral, se colocam em sede
de interpretao (em alguns casos, dito melhor, determinao) de normas internacionais
7 7
. A este
assunto tambm retornaremos de forma mais desenvolvida.
Seco X.
A jurisdio do Estado sobre o territrio
41. O territrio como afirmao espacial do Estado
Baseado no conceito de Estado, o direito internacional no podia seno atribuir grande importncia
afirmao espacial deste. E se o Estado, por seu turno, se apoia no conceito de soberania, que, na
esfera das relaes internacionais, delimita o entendimento que dele se tem como pessoa jurdica, no
deixa de ser patente que a prpria soberania, descrita como feixe de poderes e deveres jurdicos (assim
conformando o estatuto jurdico do Estado perante o direito internacional), se funde no facto
territrio
8 8
.
Quase no valer a pena insistir no necessrio mbito espacial de qualquer sistema jurdico, que
determina a sua esfera de validade. Se esse espao no tem que estar perfeitamente unificado (pois
mesmo no direito interno h diferentes competncias territoriais (autoridades administrativas,
autrquicas e jurisdicionais), no direito internacional o problema muito diferente. No est em causa
1 1
Neste sentido, TIJ, parecer consultivo, Sahara Occidental, Rec., 1975, p. 33. Cf. ainda caso Or montaire pris Rome en 1943
(Itlia c. Frana, Reino Unido e Estados Unidos da Amrica), Rec., 1954, p. 19.
2 2
Cf. art. 2, n 1 CNU.
3 3
CRAWFORD, p. 108. Tambm neste sentido, v. BOUTROS-GHALI, Le principe d'galit des Etats et les organisations
internationales, RCADI, 1961, II, pp. 9 e ss., espec. 69-70. O Autor destaca, com razo que, em virtude do seu formalismo, o
princpio da igualdade acelera o movimento em favor da igualdade de condies (p. 69), no interessando sequer realizar a sociedade
dos iguais, mas antes obter um mnimo de igualdade de condies para todos. Cf. ainda KBA MBAYE, in COT/PELLET, pp. 79-
96.
4 4
Contudo, cf. questionando a prpria ideia de igualdade jurdica, BRIERLY, pp. 127-130; contra, REUTER/COMBACAU,
insistindo, no obstante, nas relaes entre este princpio jurdico e a desigualdade de facto dos Estados ( pp. 29-34).
5 5
Sobre este, cf., por todos, MOURA RAMOS, As Comunidades Europeias, Sep. DDC, ns 25/26, 1987, pp. 33-34. Vendo esta
questo como consequncia da igualdade e soberania dos Estados, BROWNLIE, p. 288.
6 6
Do nome do caso, julgado pelo TPJI, em que este entendeu que, estando em causa a soberania de um Estado, no podiam
presumir-se restries impostas pelo direito internacional. Cf. TPJI, srie A, n 10, 1927, p. 18. A favor, CRAWFORD, loc. cit.,
entendendo muito embora que esta presuno ilidvel. Contra, BROWNLIE, p. 289 (v. tb. 378 e ss.), adiantando alguns factores
dominantes (geogrficos, p.e.) em cada caso concreto que permitem resolver dvidas quanto soberania (competncia) do Estado.
7 7
Contra esta nossa opinio, CRAWFORD, loc. cit.
8 8
SHAW, 276.
2t
a forma como um sujeito gere ou distribui a sua esfera de autoridade, antes uma pluralidade de
sujeitos, em que cada um preserva o seu espao prprio e, ao mesmo tempo, procura garantir o acesso
e a partilha de poderes de autoridade em espaos comuns. Por isso, encarados do Estado, os espaos
internacionais repartem-se em trs categorias: o seu espao prprio, o espao prprio de cada um dos
outros Estados, e um espao comum. Os dois primeiros constituem os espaos territoriais, o terceiro
os espaos internacionais
1 1
. O regime internacional aplicvel aos espaos admite, todavia, outras
categorias (se bem que as atrs enunciadas tendam a constituir o padro), pela razo de que o direito
internacional reconhece juridicamente espaos no submetidos soberania territorial. Apurado desta
forma o conceito de espao, e a sua relevncia jurdica para o direito internacional, podemos referir-
nos a quatro tipos de regime. O primeiro o dos espaos submetidos soberania territorial. O segundo
ser formado pelos territrios no submetidos soberania de nenhum Estado, mas dotados de um
estatuto jurdico-internacional prprio (p.e., territrios sob mandato ou tutela). O terceiro ser o dos
espaos no submetidos a soberania territorial nem dotados de um estatuto jurdico prprio (res
nullius). O quarto ser formado pelos espaos comuns (res communio). O segundo e terceiro tipos
(sobretudo o terceiro, hoje simples categoria jurdica) tm carcter provisrio e, com o decurso do
tempo, vo integrar-se no primeiro
2 2
. A anomalia fica assim corrigida, e cumpre-se a regra da
prevalncia quase absoluta do Estado no exerccio de poderes soberanos sobre os espaos.
42. Territrio e soberania estadual
Sem territrio, como disse Oppenheim, uma pessoa jurdica internacional no pode ser um Estado
3 3
,
e esta , sem dvida, uma das suas caractersticas mais fundamentais. A soberania estadual, mesmo a
noo de competncia ou de jurisdio do Estado, s sero em grande medida compreendidas por
referncia ao territrio; pelo que a natureza jurdica e descrio deste elemento do ente estadual
tem importncia nuclear no estudo do direito internacional. Basta, como demonstrao, apontar o facto
de se pressupor que o Estado exerce poderes exclusivos sobre um territrio; e que este continua a ser
um dos axiomas fundamentais do direito internacional
4 4
. A jurisdio que o Estado exerce sobre
pessoas e bens, com excluso dos outros Estados, flui (e ainda hoje contm resqucios) das noes
patrimoniais de propriedade do direito privado. Alis, muitos dos primeiros pensadores do direito
internacional recorreram a princpios tpicos do direito civil no tratamento e qualificao da soberania
territorial
5 5
.
A expresso soberania territorial utilizada por razes de comodidade e tradio, mas no prima pela exactido ou
perfeio tcnica: como diz QUOC DINH
6 6
, as competncias exercidas pelo Estado sobre o seu territrio decorrem da
soberania sobre o territrio, so, por isso, manifestaes ou consequncias desta, no o seu contedo.
A influncia privatista perdurou at aos nossos dias, de modo que as regras sobre aquisio e
perda da soberania territorial continuam a reflectir as influncias do direito civil. Em certos domnios
desta matria, se certo que as referncias ao direito romano e/ou as analogias com o direito civil j
no tm cabimento, no menos verdade que a transposio para o direito internacional de princpios
caractersticos do direito interno continua a detectar-se, e beneficia mesmo de uma importncia
particular, e renovada, em alguns contextos especficos. Veja-se, nomeadamente, o que sucede com o
estatuto de favor rejuvenescido de que beneficia o princpio do uti possidetis, cuja excepcional
importncia para o continente africano foi reconhecida, em 1986, pelo Tribunal Internacional de
Justia, no caso que ops o Burkina Faso ao Mali
7 7
.
1 1
COMBACAU/SUR, Droit International Public, p. 395.
2 2
Cf. BROWNLIE, p. 107.
3 3
4 4
L. DELBEZ, Du trritoire dans ses rapports avec l'tat, RGDIP, vol. 39, 1932, pp. 46 ss.; STARKE, 144; SHAW, loc. cit.
5 5
5 ed., p. 444
6 6
5 ed., p. 444.
7 7
TIJ, Rec., 1986, pp. 554 ss., 20-26 (pr citao!). Tambm recentemente, este princpio foi aplicado num caso, de 1992, que
ops, perante o TIJ, El Salvador e as Honduras. Cf. TIJ, Rec., 1992, p. 351. V. ainda as consideraes do Juz Quintana no caso
Frontiers Land, TIJ, Rec., 1959, pp. 209 ss., p. 255. O Tribunal Arbitral do caso do Canal de Beagle (Argentina v. Chile, rep. in ILR,
vol. 52, p. 93), no entanto, entendeu que o princpio do uti possidetis no tinha carcter imperativo tal que suplantasse, no caso que
estava em juzo, um tratado que estabelecia fronteiras vinculantes para as partes. Cf. 21-23 da sentena.
2?
Assente que est ser o territrio a base fsica sobre a qual se exercem as competncias do Estado
1 1
,
quais so os traos gerais que nos permitem apreender a soberania territorial? Muitas vezes citado
um excerto da sentena proferida, em 1928, por Max Huber, a propsito de um diferendo que ops os
Estados Unidos e os Pases Baixos, acerca da ilha de Palmas, no Pacfico: [a] soberania, nas relaes
entre Estados, significa independncia. A independncia relativamente a uma parte do globo o
direito de a exercer, com excluso de qualquer outro Estado, as funes de um Estado. O
desenvolvimento da organizao nacional dos Estados nos ltimos sculos e, como corolrio, o
desenvolvimento do direito internacional, estabeleceram o princpio da competncia exclusiva do
Estado relativamente ao seu prprio territrio, de modo a torn-lo o ponto de partida para a resoluo
da maioria das questes que digam respeito s relaes internacionais
2 2
.
No entanto, como mostra o Parecer Consultivo do TIJ sobre o Sara Ocidental, as relaes jurdicas
que, em virtude do princpio da soberania territorial, se estabelecem entre o Estado e pessoas ou bens
sob a sua jurisdio devem ser distinguidas de outro tipo de vnculos, como o da nacionalidade (no que
se refere s pessoas, singulares ou colectivas) ou o direito consuetudinrio (em relao a um
determinado espao)
3 3
. Por outro lado, como sustentou em 1982 na ONU o Reino Unido, durante o
conflito das Malvinas, tambm h-de distinguir-se a soberania territorial do princpio da auto-
determinao. Por tal motivo, no entender deste pas, as pretenses da Argentina sobre as ilhas
Falkland-Malvinas no podiam suplantar o direito de auto-determinao da populao l residente,
que, para esse efeito, representava um povo
4 4
.
43. Caractersticas da soberania territorial
A actividade estadual que atinja um certo padro, que mostre de maneira irrefutvel o exerccio de
um poder de autoridade, sinal ou marca da existncia da soberania territorial. neste sentido que se
pode interpretar, no excerto de Max Huber acima transcrito, a parte que se refere s funes estaduais.
As caractersticas mais importantes da soberania territorial desdobram-se em trs aspectos primrios: a
plenitude, a exclusividade e a inviolabilidade
5 5
.
Nem se diga que o desenvolvimento do direito internacional questionou a afirmao destes
elementos caracterizadores da soberania territorial, p.e. atravs de limitaes forma como o Estado
pode exercer a sua jurisdio sobre o territrio. Com efeito, se o direito internacional geral limita j as
competncias discricionrias do Estado e supe-se que este processo no esteja ainda concludo; se
ordens jurdicas regionais, como a da Unio Europeia, vo mais longe ainda nesta direco, no se
deixar contudo sem destaque que: 1 estes constrangimentos cessam l onde estiver em causa a livre
disposio do territrio, a definio da sua consistncia e da jurisdio que se lhe aplica
6 6
; 2 este
fenmeno no seria possvel sem a sua prvia aceitao, por qualquer forma, pelo soberano territorial.
Esta ideia, j antiga, foi afirmada em 1923 pelo TPJI no caso Wimbledon
7 7
, onde se realou que este
tipo de aceitao, conjugada comrenncia, ainda uma manifestao da soberania territorial.
A soberania territorial permite ao Estado a prossecuo da suas funes. E como estas, directa ou
indirectamente, esto vocacionadas satisfao dos interesses de uma determinada comunidade
humana, num tambm determinado espao, de entender que, neste sentido, o direito internacional
no presume limitaes soberania territorial. Esta plena. E, sendo verdade que plenitude no se
identifica com ausncia de limites, estes tero de ser aferidos caso a caso, em concreto
8 8
. Esta
caracterstica compreende-se em confronto com as caractersticas de outros sujeitos internacionais.
Como se ver em devido tempo
9 9
, as organizaes internacionais, ao contrrio dos Estados, no
beneficiam da plenitude de competncias, uma vez que estas podem exercer somente os poderes que
1 1
No entanto, fica desde j antecipado que o Estado que o Estado exerce outro tipo de competncias fora do seu territrio, ou sem
qualquer conexo prpria ideia de territrio. Cf. infra,
2 2
RSA, II, p. 281; tb. rep. in AJIL, 1928, p. 875.
3 3
Cf. TIJ, Rec., 1975, p. 12.
4 4
Doc. A/37/582, de 29.10.1982, cit. por STARKE, 145, n. 4.
5 5
Na doutrina, cf., entre muitos,
6 6
NGUYEN, 5, 445.
7 7
TPJI, srie A, n 1, p. 25.
8 8
TIJ, Rec., 1950, p. 274.
9 9
Cf. infra,
2S
lhes tenham sido atribudos, expressa ou implicitamente, no tratado constitutivo. O princpio da
competncia atribuda, por isso, se lhes aplicvel, no faz sentido quando a entidade de que se fala
estadual.
Em segundo lugar, diz-se que a soberania territorial exclusiva. Significa isto que, parte a
situao em que se verifique o consentimento do soberano territorial, no se admite, no territrio de
um Estado, o exerccio de competncias territoriais por outro Estado. Mas esta faceta excludente no
suficiente. Tem ainda como consequncia um dever para o Estado de, no seu territrio, respeitar e
fazer respeitar o direito internacional. Seja isto, como disse tambm Max Huber na sentena do caso
da ilha de Palmas, a obrigao de proteger, no seu territrio, os direitos dos outros Estados, em
especial o direito integridade e inviolabilidade, em tempo de paz como em tempo de guerra, bem
como os direitos que os outros Estados podem reclamar para os seus nacionais em territrio
estrangeiro
1 1
.
A caracterstica da inviolabilidade da soberania territorial consequncia das duas anteriores,
consequncia do prprio reconhecimento da inviolabilidade do territrio estadual. Traduz-se na
obrigao de respeito da soberania e integridade territorial dos outros Estados, e esta obrigao, como
j foi dito, uma das bases essenciais das relaes internacionais
2 2
, tendo merecido consagrao em
inmeros instrumentos internacionais: destaquem-se a Carta das Naes Unidas (art. 2, n 4), a resol.
2625, de 25 de Outubro de 1970, etc.
44. Identificao dos elementos territoriais
O territrio terrestre composto pelas terras emersas, pelas guas interiores e pelos cursos de gua
internacionais que acompanham ou atravessam o territrio terrestre. As terras emersas, continentais e
insulares, so a expresso mais evidente do territrio do Estado, e incluem o solo e subsolo. Nas guas
interiores, umas so englobadas no espao terrestre estadual (rios, lagos, mares interiores), outras
acompanham o traado fsico do territrio terrestre: so as guas interiores martimas, compreendidas
entre as linhas da mxima preia-mar e da baixa-mar ou entre as primeiras e as linhas de base do
territrio que tiverem sido traadas em substituio da linha de baixa-mar
3 3
. Nesta ltima hiptese se
englobam certas baas de pouca abertura ou histricas. O Estado ribeirinho exerce, relativamente s
guas interiores martimas, as mesmas competncias que quanto ao territrio terrestre. verdade que,
em princpio, o acesso aos portos dos navios comerciais estrangeiros livre. No entanto, o Estado
ribeirinho poder proibi-lo, por exemplo por razes de segurana ou de natureza sanitria
4 4
. Por outro
lado, os navios estrangeiros no tm, nas guas interiores martimas, direito de passagem inofensiva, o
qual regulamentado para o mar territorial
5 5
.
Os cursos de gua internacionais, por seu turno, so os que atravessam ou acompanham as terras
emersas estaduais e que fazem comunicar o territrio terrestre a) com o territrio de outro Estado, ou
b) com um espao internacional. Incluem-se na primeira hiptese os lagos com mais do que um Estado
ribeirinho e os cursos de gua que atravessam ou longent, sucessivamente, o espao terrestre de vrios
Estados (rios internacionais). Incluem-se na segunda as vias artificiais cavadas num istmo e que
permitem a comunicao entre os espaos martimos que separava (canais internacionais)
6 6
.
O territrio areo, ou espao areo, composto pelo espao sobrejacente ao territrio terrestre e s
guas territoriais do Estado. A territorializao deste espao , quando confrontada com a do mar,
1 1
RSA, II, p. 839. Hoje completar-se-ia esta afirmao com a generalizao deste dever do Estado relativamente a todos os
sujeitos internacionais, maxime, as organizaes internacionais (mas tambm o indivduo, por exemplo, em matria de proteco
internac ional dos direitos do Homem). Esta doutrina foi afirmada com clareza pelo TIJ no caso do Canal de Corfu, quando
proclamou a obrigao de qualquer Estado de no permitir a utilizao do seu territrio para a prtica de actos contrrios aos
direitos de outros Estados. TIJ, Rec., 1949, p. 22.
2 2
TIJ, Rec. 1949, p. 35.
3 3
MARQUES GUEDES, Direito do Mar, p. 69.
4 4
JEAN TOUSCOZ, Droit International, Paris, 1993, p. 118.
5 5
A noo de guas arquipelgicas, introduzida pela Conveno de Montego Bay, tem alguma correspondncia com o das guas
interiores. Aquelas podem definir-se como o espao martimo que rodeia as ilhas de um Estado, e que por este seria delimitado. Mas
o regime que se lhes aplica intermdio - entre aquilo que vale para as guas interiores e para o mar territorial. Com efeito, o
Estado-arquiplago exerce a sua soberania sobre este espao martimo, mas sobre ele impende o que se poder descrever como
obrigao negocial, que salvaguarde os direitos adquiridos de Estados terceiros naquelas guas (sobretudo, em matria de pescas).
6 6
COMBACAU/SUR, Droit International Public, p. 401.
29
muito mais recente. Esta inicia-se no sc. XVII, aquela j no decorrer do sc. XX. Mas mais
universal (porque se todos os Estados tm um territrio areo, nem todos tm territrio martimo) e o
regime que se lhe aplica tambm universalmente reconhecido. O espao areo foi incorporado no
espao territorial, e se tal resultava j da Conveno de Paris de 13 de Outubro de 1919, resulta ainda
com mais clareza da Conveno de Chicago de 7 de Dezembro de 1944, relativa aviao civil
internacional. Quer uma, quer outra, estabelecem no art. 1 o princpio da soberania completa e
exclusiva do Estado sobre o espao areo [atmosfrico, dizia a conveno de 1919] acima do seu
territrio. A redaco infeliz, porque identifica territrio a territrio terrestre, mas o que aqui
importa destacar a plenitude dos poderes soberanos exercidos pelo Estado sobre o seu espao areo.
No territrio martimo h que distinguir o mar territorial (cuja incluso na esfera da soberania
territorial se no discute), a plataforma continental e a zona econmica exclusiva, cuja apropriao
pelo Estado no atinge o grau de plenitude que se reconhece ao mar territorial, sendo por isso
controvertido que, a seu propsito, se possa falar em territrio estadual. Sobre estas questes, como
alis, em geral, sobre os espaos martimos internacionais, versam as quatro Convenes de Genebra
de 29 de Abril de 1958
1 1
e a Conveno das Naes Unidas sobre o direito do mar, de 10 de Dezembro
de 1982, dita conveno de Montego Bay, recentemente entrada em vigor
2 2
. Sem grandes
desenvolvimentos, uma vez que os aspectos de regime sero tratados a seguir
3 3
, definir-se- por ora o
mar territorial como uma zona de mar adjacente costa do Estado
4 4
, submetido sua soberania
territorial.
A plataforma continental e a zona econmica exclusiva tm ainda vida curta no direito
internacional. Posteriores a 1945, o seu surgimento como categoria jurdica est associado ao
desenvolvimento tcnico que permite a explorao de recursos vastssimos (nomeadamente
biolgicos) nas guas e fundos marinhos prximos das costas, e ao consequente interesse dos Estados
costeiros em reservarem para si direitos soberanos sobre aquelas reas.
A plataforma continental definida na Conveno de Genebra de 1958 sobre a Plataforma
Continental como o leito do mar e o subsolo das regies adjacentes s costas [continentais ou
insulares] mas situadas fora do mar territorial at uma profundidade de 200 metros ()
5 5
e, na
Conveno de Montego Bay, como o conjunto formado pelo leito e subsolo das reas marinhas que se
estendem alm do mar territorial, em toda a extenso do prolongamento natural do territrio terrestre,
at ao bordo exterior da margem continental ou at uma distncia de 200 milhas contadas das linhas de
base a partir das quais se mede a largura do mar territorial
6 6
.
A zona econmica exclusiva, por seu lado, definir-se- como uma zona situada alm do mar
territorial e a este adjacente
7 7
, e o regime que lhe aplicvel respeita ao leito do mar e seu subsolo, bem
como aos recursos naturais, vivos ou no vivos, das guas sobrejacentes ao leito do mar
8 8
. A plataforma
continental e a zona econmica exclusiva, como se v, podem coabitar, cobrindo esta os elementos
referenciadores daquela, mas acrescendo-lhe as guas sobrejacentes ao leito do mar. Adiante veremos
que esta relao de potencial identidade no exclui o interesse da autonomizao destas duas
categorias de espaos.
Indiscutidamente de incluir no territrio estadual, o mar territorial distingue-se da plataforma
continental e da zona econmica exclusiva. Nestas no se fala em soberania do Estado, antes em
direitos de soberania
9 9
, reconhecidos para fins especficos, sobretudo os relacionados com a
explorao de recursos naturais o que conforta a opinio de que neles se no exerce a soberania
territorial com os traos que lhe apontmos. Mas a sua territorializao acentuada, porque (ao
menos em termos jurdicos) relativamente poucos aspectos da soberania territorial lhe escapam,
1 1
2 2
3 3
4 4
Art. 2, n 1, da Conveno de Montego Bay: A soberania do Estado costeiro estende-se alm do seu territrio e das suas
guas interiores e, no caso de Estado arquipelgico, das suas guas arquipelgicas, a uma zona de mar adjacente designada pelo
nome de mar territorial; art. 1, n 1, da Conveno de Genebra sobre o Mar Territorial e a Zona Contgua: A soberania do Estado
estende-se, para alm do seu territrio e das suas guas interiores, a uma zona de mar adjacente s suas costas, designada sob o nome
de mar territorial.
5 5
Art. 1.
6 6
Art. 76, n 1.
7 7
Conveno de Montego Bay, art. 55.
8 8
Conveno de Montego Bay, art. 56, n 1.
9 9
Arts. 56, n 1, e 77, n 1, da Conveno de Montego Bay.
SD
aproximando-se apenas com nitidez do regime dos espaos internacionais em matria de liberdade de
comunicaes.
45. Identificao dos espaos internacionais
O fenmeno da territorializao dos espaos, ocorrida em benefcio dos Estados, manifestou-se
sobretudo neste sculo, e ocorre em detrimento do alto mar (alargamento progressivo do mar territo-
rial, surgimento da plataforma continental e da zona econmica exclusiva) e do espao atmosfrico
(afirmao do territrio areo). Desta forma, mais fcil definir o que seja espao internacional (res
communio) pela negativa, como o conjunto de espaos que escapam jurisdio ou soberania
territorial.
46. A fronteira
As caractersticas da plenitude, da exclusividade e da inviolabilidade da soberania territorial
mostram como imperiosa a necessidade de assinalar, com exactido, o contorno espacial
1 1
em que
aquela vai exercer-se: ou seja, a determinao das fronteiras. A fronteira o limite internacional que
separa dois territrios estaduais. Vista assim, a fronteira distingue-se dos restantes limites interna-
cionais, independentemente da sua importncia prtica. o caso dos limites que dividam zonas
adstritas juridicamente mesma soberania, mas submetidas a autoridades diferentes
2 2
; ou as zonas ou
espaos cujo estatuto internacional objecto de contestao (p.e., linhas de armistcio, linhas de
cessar-fogo ou que demarcam zonas de ocupao, como na Alemanha, depois da segunda Guerra
Mundial); ou mesmo os limites que separam entidades estaduais em relao s quais se coloca o
problema da respectiva reunificao era o caso da RFA e da RDA; do Imen; da Coreia do Norte e
da Coreia do Sul
3 3
. Todos estes limites tm um estatuto especfico em direito internacional. E este
garante-lhes proteco internacional, que pode variar, consoante as circunstncias, de intensidade,
mesmo se alguns, pela sua natureza, so provisrios ou precrios. Mas o que importa destacar que
no so fronteiras estaduais por essa razo, no curaremos deles neste contexto.
No necessrio insistir na importncia da fronteira, quer para a definio fsica do Estado quer,
reflexamente, para a prpria sociedade internacional. Constituda por uma linha no mapa e no terreno,
a fronteira tambm mais do que isso. Dado o sentido amplo que hoje se atribui ao territrio do
Estado (que abrange o territrio terrestre, mas ainda o espao areo e as guas submetidas soberania
do Estado) a fronteira dever, por este motivo, ser visualizada como um plano vertical que, partindo do
subsolo, se eleva acima da terra firme ou das guas estaduais. Esta a regra; so porm frequentes os
regimes particulares aplicveis s regies fronteirias, fundados em usos ou convenes especficos.
Este direito de vizinhana desdobra-se em variados aspectos, que vo da circulao de pessoas, bens
ou animais coordenao ou gesto comum dos cursos fluviais ou luta contra a poluio.
A fronteira-linha ope-se fronteira-zona, hoje cada em desuso pelo carcter territorial cada vez
mais acentuado do poder estadual. Este no admite partilha e, por ser assim, claramente incompatvel
com zonas de sobreposio, e convive mesmo mal, diga-se em abono da verdade, com zonas incertas
ou contestadas (sempre do ponto de vista da soberania territorial que nela se h-de exercer). No
entanto, a ideia de fronteira-zona teve actualizaes estratgicas, polticas e de defesa que, arredadas
que estejam do direito internacional, foram particularmente sensveis durante a guerra fria. As duas
superpotncias (EUA e URSS) que, aps 1945, se digladiaram na cena internacional durante mais de
quatro dcadas, encararam muitos Estados amigos como espaos de interposio, como linhas de
defesa em profundidade (Amrica central e Carabas, ressalvado o caso do Canal do Panam, para os
Estados Unidos; Europa central, para a Unio Sovitica). Mas esta perspectiva estratgica, como se
disse, tem relevncia poltica; no influenciou o conceito jurdico-internacional de fronteira.
47. Delimitao e demarcao da fronteira
1 1
PASTOR RIDRUEJO, p. 348.
2 2
3 3
Cf. VIRALLY, Panorama, 148.
SJ
47.1. Delimitao da fronteira.
47.1.1. Delimitao convencional
Normalmente, a fronteira traada por acordo entre os Estados envolvidos. Deste modo, celebra-se
um tratado, cujo objecto a resoluo de um diferendo que com a fronteira se relacione ou o de pr
termo a incertezas sobre ela. O tratado pode versar exclusivamente sobre a delimitao propriamente
dita; ou nele serem tratadas questes mais gerais (resoluo genrica de uma situao conflitual) e,
entre outros aspectos, ocorrer a delimitao da fronteira ou de parte da fronteira. Serve como exemplo
da primeira hiptese o tratado entre a Argentina e o Chile, de 29 de Novembro de 1984, com mediao
do Papa, que vem a resolver um diferendo (dito do Canal de Beagle) que respeitava a reivindicaes
territoriais, e de competncia territorial, conflituantes entre os dois
1 1
. O acordo entre Israel e o Egipto,
de 26 de Maro de 1979 (com mediao dos Estados Unidos), que vem a encerrar o estado de guerra
entre os dois pases, que durava desde 1948, ilustra a segunda das hipteses acima apontadas
2 2
.
A estabilidade dos tratados relativos a fronteiras considerada valor relevante pelo direito
internacional. Assim, a Conveno de Viena de 1969 sobre o direito dos tratados, na parte em que trata
da alterao das circunstncias (art. 62) dispe que estas no podem ser invocadas para questionar a
vigncia de um tratado que estabelea uma fronteira (art. 62, n 2, al. a)): No pode ser invocada
uma alterao fundamental de circunstncias como motivo para pr fim vigncia de um tratado ou
para dele se retirar: a) se se trata de um tratado que estabelea uma fronteira. Noutro captulo do
direito internacional, a sucesso de Estados, tambm a preservao da estabilidade dos tratados
relativos a fronteiras mereceu consagrao, mais concretamente, na Conveno de Viena de 1978
sobre sucesso de Estados quanto aos Tratados. Este texto de codificao, que em muitos aspectos
consagrou o princpio da tbua rasa, salvaguardou expressamente que os tratados de fronteiras
subsistem no caso de sucesso de Estados.
47.1..2. Delimitao jurisdicional
Nesta situao, a delimitao da fronteira realizada por um terceiro. Os Estados confiam a
resoluo do seu diferendo quanto fronteira a um tribunal internacional ou a um tribunal arbitral. No
primeiro caso, refira-se a competncia natural do Tribunal Internacional de Justia, confirmada pela
tendncia de os Estados o demandarem, em causas recentes, para a resoluo de diferendos territoriais
e correspondente tarefa de delimitao da fronteira. Refiram-se, entre outros, os casos Burkina Faso-
Mali, de 1986; o caso Guin-Guin Bissau, Lbia-Chade e Honduras-El Salvador (1992).
Exemplo de resoluo arbitral de um diferendo territorial o do que ops a Argentina ao Chile a
propsito do suprareferido caso do Canal de Beagle, apesar de a Argentina no ter executado a
sentena do tribunal arbitral, composto por cinco membros (mas em que a sentena foi proferida pela
Rainha Isabel II, originalidade rarssima nos nossos dias), por ser favorvel, no seu entender, ao Chile.
Outro caso, mais recente, o da ex-Jugoslvia. O desmembramento deste Estado ocasionou o
surgimento de vrias entidades estaduais. E a Unio Europeia desempenhou um papel importante na
delimitao das novas fronteiras, atravs da criao de uma comisso, composta pelos presidentes dos
tribunais supremos de cinco pases europeus (Espanha, Blgica, Itlia, Frana e Alemanha) que, no
incio de 1992 (11 de Janeiro) considerou que, atenta a dissoluo da Jugoslvia, o critrio de
delimitao a adoptar era o das fronteiras internas que separavam as diferentes entidades federadas.
Acolhia-se assim o princpio do uti possidetis, que salvaguardava o status quo territorial e revelava
potencialidades mais vastas do que as de princpio aplicvel resoluo de situaes ps-coloniais
3 3
.
47.2. Demarcao da fronteira
A demarcao da fronteira consiste na materializao no terreno da fronteira, depois da operao
de delimitao, em que o traado da fronteira realizado por fronteira ou na sequncia de deciso
1 1
Estados Cf. texto deste acordo em RGDIP, 1985, p. 854.
2 2
Cf. texto em RGDIP, 1979, p. 582.
3 3
Cf. texto em RGDIP, 1992, p. 267.
S2
jurisdicional. A demarcao, tarefa tcnica, normalmente realizada por uma comisso mista, quer
dizer, que compreende representantes dos dois Estados intervenientes; e traduz-se, no terreno, na
colocao de marcos. Normalmente, esta operao tem uma componente documental, que permite
evitar contestaes futuras sobre a fronteira. que as possibilidades de conflito no so mera
congeminao terica. No caso do Templo de Prah Vihar, que opunha o Camboja Tailndia, o
diferendo residia no facto de no coincidir a delimitao com a demarcao da fronteira entre os dois
pases na zona do Templo de Prah Vihar. Tambm foi um problema de demarcao que esteve na
origem de um diferendo entre Israel e o Egipto, a propsito do enclave de Taba, pequena parcela
territorial com, aproximadamente, um quilmetro quadrado, que veio a ser resolvido por sentena
arbitral de 29 de Setembro de 1988
1 1
.
1 1
Cf. G. BURDEAU, Vers lpilogue de laffaire de Taba: la sentence arbitrale du 29 septembre 1988 entre Isral et lgypte,
AFDI, 1988, 195 ss.; DECAUX, La sentence du Tribunal arbitral dans le diffrend frontalier concernant lenclave de Taba, RGDIP,
1989; PINTO, La dlimitation de la frontire entre lgypte et Isral dans la zone de Taba, JDI, 1989, p. 569.
Você também pode gostar
- Manual Fase JulgamentoDocumento58 páginasManual Fase JulgamentoFlávio RochaAinda não há avaliações
- Organizacoes InternacionaisDocumento32 páginasOrganizacoes InternacionaisFlávio RochaAinda não há avaliações
- RESUMOS DE DIREITO DAS OBRIGAÇÕES - ANO LECTIVO 2008-2009 (Incompletos)Documento70 páginasRESUMOS DE DIREITO DAS OBRIGAÇÕES - ANO LECTIVO 2008-2009 (Incompletos)Flávio RochaAinda não há avaliações
- Dire I To Do TrabalhoDocumento46 páginasDire I To Do TrabalhoFlávio RochaAinda não há avaliações
- Aula 5Documento17 páginasAula 5Flávio RochaAinda não há avaliações
- Aula 23-24-25Documento22 páginasAula 23-24-25Flávio RochaAinda não há avaliações
- Resolução de Hipóteses Práticas de Direito Comercial-1 PDFDocumento18 páginasResolução de Hipóteses Práticas de Direito Comercial-1 PDFManel Santos Carvalho Martins100% (2)
- Resumos Sistema CirculatorioDocumento15 páginasResumos Sistema CirculatorioFlávio RochaAinda não há avaliações
- Exame BioquimicaDocumento6 páginasExame BioquimicaFlávio RochaAinda não há avaliações
- Metabolism oDocumento88 páginasMetabolism oPedro BaptistaAinda não há avaliações
- Homeostase 2012Documento2 páginasHomeostase 2012Flávio RochaAinda não há avaliações
- TeoriaGeraldaRelaoJurdica - CópiaDocumento66 páginasTeoriaGeraldaRelaoJurdica - CópiaFlávio RochaAinda não há avaliações
- PROGRAMAÇÃO - FINAL - 12º Congresso Brasileiro Sobre HIV-AIDS e Vírus RelacionadosDocumento5 páginasPROGRAMAÇÃO - FINAL - 12º Congresso Brasileiro Sobre HIV-AIDS e Vírus Relacionadosdskcq6phmpAinda não há avaliações
- BIBLIADocumento4 páginasBIBLIAdinamdnAinda não há avaliações
- Tutoria Fatec - NEW TUTORSDocumento4 páginasTutoria Fatec - NEW TUTORSSimone T M RamosAinda não há avaliações
- A Proclamação Do Evangelho de Cristo Nos SalmosDocumento4 páginasA Proclamação Do Evangelho de Cristo Nos SalmosAdeval BarbosaAinda não há avaliações
- Edgar Morin o Arquiteto Da ComplexidadeDocumento5 páginasEdgar Morin o Arquiteto Da ComplexidadeRodrigo Maia-NogueiraAinda não há avaliações
- Caderno Dna 1Documento19 páginasCaderno Dna 1fabriciodayseramosAinda não há avaliações
- ATIVIDADES 1 AnoDocumento21 páginasATIVIDADES 1 Anoluciana canalAinda não há avaliações
- Abnt NBR 5674-2012Documento31 páginasAbnt NBR 5674-2012Lucas De Moura QuadrosAinda não há avaliações
- Tabela de Atividades ComplementaresDocumento2 páginasTabela de Atividades ComplementaresGIOVANNA LEAO RODRIGUESAinda não há avaliações
- Sinopse LIVRO Feitiços e Magias para o AmorDocumento3 páginasSinopse LIVRO Feitiços e Magias para o Amorednaldo ferreira MatiasAinda não há avaliações
- Livro de Aventuras - Kalymba RPG (1 Edição)Documento108 páginasLivro de Aventuras - Kalymba RPG (1 Edição)Felipe Abrantes100% (2)
- A Corda de 81 NósDocumento15 páginasA Corda de 81 NósMarcos Paulo Mesquita100% (1)
- Plancon Edu-Escolas EMEB Prof Lucinda Maros PsheidtDocumento154 páginasPlancon Edu-Escolas EMEB Prof Lucinda Maros Psheidtfernando.djj29Ainda não há avaliações
- RSLEATDocumento78 páginasRSLEATJacinto RodriguesAinda não há avaliações
- Brito Broca - A Vida Literária No Brasil 1900 (Reformatado) PDFDocumento404 páginasBrito Broca - A Vida Literária No Brasil 1900 (Reformatado) PDFGabriel R. Ferreira75% (4)
- A Prática Do Assistente Social Na Saúde Mental - Relato de Experiência Da Intervenção Profissional No Hospital de EmergênciDocumento14 páginasA Prática Do Assistente Social Na Saúde Mental - Relato de Experiência Da Intervenção Profissional No Hospital de EmergênciRenata LeandroAinda não há avaliações
- 516 Signo Significante Significado Portugues Farias BritoDocumento3 páginas516 Signo Significante Significado Portugues Farias BritoLeonardo FagundesAinda não há avaliações
- TEMOS PRONTO - (32 98482-3236) - Hospital Brasileiro - Gestão HospitalarDocumento10 páginasTEMOS PRONTO - (32 98482-3236) - Hospital Brasileiro - Gestão Hospitalarsportfolios 123Ainda não há avaliações
- Bullying Não É Nada DissoDocumento1 páginaBullying Não É Nada DissoEstudante UFPAEREAinda não há avaliações
- Avaliação II - Individual Contablidade AvançadaDocumento6 páginasAvaliação II - Individual Contablidade Avançadajhonny henriqueAinda não há avaliações
- Interdito ProibitórioDocumento20 páginasInterdito ProibitórioPaulo AraújoAinda não há avaliações
- Olavo de Medeiros Filho: Lfi-A/ - .-...Documento214 páginasOlavo de Medeiros Filho: Lfi-A/ - .-...Carlos Lemos100% (1)
- Estudo Sobre A Oferta de Serviços Contábeis para Micro, Pequenas e Médias Empresas: Percepções Dos Contadores Versus Percepções Dos GestoresDocumento2 páginasEstudo Sobre A Oferta de Serviços Contábeis para Micro, Pequenas e Médias Empresas: Percepções Dos Contadores Versus Percepções Dos GestoresDEIVISSON RATTACASO FREIREAinda não há avaliações
- Raimundo Lulio - O Livro Das BDocumento49 páginasRaimundo Lulio - O Livro Das BhardestadjAinda não há avaliações
- Reportagem À Mesa Com o Valor - Erika Hilton - Vereadora Mais Votada Do Brasil Promete Ir Além Das Causas Trans e Negra - Eu & - Valor EconômicoDocumento17 páginasReportagem À Mesa Com o Valor - Erika Hilton - Vereadora Mais Votada Do Brasil Promete Ir Além Das Causas Trans e Negra - Eu & - Valor EconômicoFernanda MariaAinda não há avaliações
- PDF Discursivas PcbaDocumento24 páginasPDF Discursivas PcbaJéssica AraújoAinda não há avaliações
- Código de Conduta VolvoDocumento4 páginasCódigo de Conduta VolvoEduardo NascimentoAinda não há avaliações
- Auditorias Internas e ExternasDocumento26 páginasAuditorias Internas e ExternasmarquinhorobocopAinda não há avaliações
- STJ - REsp 977007Documento17 páginasSTJ - REsp 977007patriciacarvAinda não há avaliações