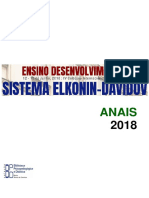Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Bases Conceituais Da THC e Pratica Pedagógica
Enviado por
Thaís Gomes NovaesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Bases Conceituais Da THC e Pratica Pedagógica
Enviado por
Thaís Gomes NovaesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SO CARLOS
CENTRO DE EDUCAO E CINCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM EDUCAO
BASES CONCEITUAIS DA TEORIA HISTRICOCULTURAL: IMPLICAES NAS PRTICAS
PEDAGGICAS.
Abel Gustavo Garay Gonzlez
SO CARLOS
2012
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SO CARLOS
CENTRO DE EDUCAO E CINCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM EDUCAO
BASES CONCEITUAIS DA TEORIA HISTRICOCULTURAL: IMPLICAES NAS PRTICAS
PEDAGGICAS.
Abel Gustavo Garay Gonzlez
Dissertao apresentada ao Programa
de Ps-Graduao em Educao do
Centro
de
Educao
Cincias
Humanas da Universidade Federal de
So Carlos, como parte dos requisitos
para a obteno do ttulo de Mestre
em Educao rea de concentrao:
Processo de Ensino e Aprendizagem.
SO CARLOS
2012
Ficha catalogrfica elaborada pelo DePT da
Biblioteca Comunitria da UFSCar
G212bc
Garay Gonzlez, Abel Gustavo.
Bases conceituais da teoria histrico-cultural : implicaes
nas prticas pedaggicas / Abel Gustavo Garay Gonzlez. -So Carlos : UFSCar, 2012.
190 f.
Dissertao (Mestrado) -- Universidade Federal de So
Carlos, 2012.
1. Teoria histrico-cultural. 2. Materialismo histrico. 3.
Materialismo dialtico. 4. Ensino - aprendizagem. 5. Anlise
microgentica. 6. Dificuldade de aprendizagem. I. Ttulo.
CDD: 370.1523 (20a)
Orientadora: Prof Dr Maria Aparecida Mello
BANCA EXAMINADORA
Prof Dr Maria Aparecida Mello ___________________________________________
(Orientadora)
Prof. Dr. Douglas Aparecido Campos ______________________________________
Prof. Dr. Francisco Jos Carvalho Mazzeu ____________________________________
ADRIANA
JLIA
AO
HENRIQUE
AGRADECIMENTOS
Agradeo a todas as pessoas e grupos de pessoas que colaboraram de vrias
formas para a concretizao deste trabalho.
minha famlia, daqui e de l, em especial a Adriana, a Jlia e ao Henrique.
Aos meus pais, Jos e Epifania, pelo incentivo de sempre estudar.
Aos meus irmos, Ruben, Gabriel e Fidel, por estarem sempre na torcida.
Prof Dr Maria Aparecida Mello, pelas orientaes e largas horas de
intercambio de ideias tericas e prticas. Tambm, pela amizade, pelo respeito e pela
confiana neste sujeito de terras longnquas.
Aos professores da Banca Examinadora, Prof. Dr. Francisco Jos Carvalho
Mazzeu, Prof. Dr. Douglas A. Campos e Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto, por terem a
pacincia e sapincia na orientao e concretizao do trabalho.
s professoras Cludia Raimundo Reyes e Denise de Freitas, pelas preciosas
contribuies sugeridas ao trabalho.
Ao Programa de Ps-Graduao em Educao - PPGE, na pessoa da Prof
Crmen Passos, por proporcionar um aprofundamento terico de qualidade na minha
formao acadmica.
s pessoas do grupo NEEVY, com as quais aprendi muito sobre escola, crianas
e adolescentes.
Aos amigos Carlos e Waldirene, pela amizade e pelas orientaes dadas.
Ao amigo Raphael, exemplo de docente comprometido com a tica profissional
e pela qualidade de ensino. Tambm a Thelma e a Beatriz, amigas da minha famlia.
Ao amigo Guilherme, pela amizade sem igual e pelas tradues ao ingls.
Aos amigos Hilda e Vilmar, pela fora das oraes.
A CAPES, pela ajuda financeira, elemento material importante para o
desenvolvimento da pesquisa.
E por fim, a todos que no esto nominados, mas, que no coletivo, ajudaram
muito para concretizar este trabalho.
E como bom materialista, obrigado a Energia Suprema, Alfa e Omega.
Resumo
A inteno desta pesquisa foi analisar e explicitar as bases conceituais da Teoria
Histrico-Cultural, fundamentadas no Materialismo Histrico-Dialtico de Marx, e suas
implicaes diretas nas prticas pedaggicas, especificamente sobre os processos de
ensino e de aprendizagem, com o intuito de colaborar com a Educao Bsica brasileira,
na busca de compreender e superar a problemtica relacionada s dificuldades de ensino
e de aprendizagem dos alunos. A Teoria Histrico-Cultural baseia-se no Materialismo
Histrico-Dialtico de Marx e tem sua fundamentao metodolgica alicerada na
anlise microgentica. Os pressupostos tericos marxistas subsidiam as anlises de
Vigotsky na discusso de que o ser humano no s estrutura biolgica, mas, sim,
consequncia da relao histrico-cultural, tendo o trabalho como mediador principal.
Vigotsky e colaboradores apresentam importantes contribuies terico-prticas para a
compreenso das relaes dialticas entre Ensino e Aprendizagem. A anlise
microgentica de Vigotsky nos mostra como superar esse dilema entre os processos de
ensino e de aprendizagem. Para Vigotsky os processos pedaggicos so intencionais,
deliberados e a escola o lugar onde a interveno pedaggica intencional desencadeia
os processos de aprendizagem e de ensino de qualidade. A pesquisa tem natureza
bibliogrfica, usando duas fontes: as primrias, obras dos autores de Teoria HistricoCultural e, secundrias, obras de autores que interpretam as obras primrias. A questo
que orientou a pesquisa foi: Quais os conceitos centrais da Teoria Histrico-Cultural,
fundamentados na teoria marxista e suas implicaes nas prticas pedaggicas? Os
objetivos delineados para responder esta temtica foram: analisar nos escritos da
filosofia marxista os principais pontos tericos do Materialismo Histrico-Dialtico
que subsidiam a Teoria Histrico-Cultural; explicitar os aportes da Teoria HistricoCultural para a compreenso das relaes dialticas nos processos desenvolvidos nas
prticas pedaggicas. Os resultados evidenciam a necessidade de superao do
paradigma biologicista da Educao e de apresentar um modelo educativo pautado na
viso de sociedade, de homem e de conhecimento como eminentemente social, bem
como as concepes de ensino e de aprendizagem como processos da atividade humana
mediados pelas relaes humanas e da prpria natureza. Um modelo educativo pautado
na atividade mediada do professor na zona de desenvolvimento proximal dos alunos. O
trabalho pretendeu contribuir para o avano das prticas pedaggicas e discusso
acadmica aprofundada sobre a atividade mediada e a zona de desenvolvimento
proximal, como focos da atuao docente, frente aos problemas de ensino e
aprendizagem escolares.
Palavras-chave: Teoria Histrico-Cultural. Materialismo Histrico-Dialtico. Ensino.
Aprendizagem. Anlise Microgentica. Educao Bsica. Dificuldades de Ensino e
Aprendizagem.
Abstract
The intention of this research was to analyze and clarify the conceptual foundations of
the Historical-Cultural Theory, based on the Historical-Dialectical Materialism by
Marx, and their direct implications for the pedagogical practices, specifically on the
processes of teaching and learning, in order to contribute to the Brazilian Basic
Education, in the search to understand and overcome the problems related to the
difficulties of teaching and student learning. The Historical-Cultural Theory is based on
the Historical-Dialectical Materialism by Marx and has its methodological foundation
founded in the microgenetic analysis. The Marxist theoretical presumptions assists
Vigotskys analysis with the discussion of humans being not only a biological structure,
but rather a consequence of the historical-cultural relation, having work as the main
mediator. Vigotsky and collaborators present important theoretical and practical
contributions to the understanding of the dialectical relations between Teaching and
Learning. Vigotskys microgenetic analysis shows us how to overcome this dilemma
between the processes of teaching and learning. From Vigotskys point of view, the
pedagogical processes are intentional, deliberate, and the school is the place where the
intentional pedagogical intervention triggers the learning and quality teaching processes.
The research is of a bibliographic nature and uses two sources: the primary ones, pieces
of work of authors from the Historical-Cultural Theory, and the secondary ones, pieces
of work of authors who interpret the primary pieces of work. The question that guided
the research was: What are the core concepts of the Historical-Cultural Theory, based
on the Marxist theory and its implications for the pedagogical practices? The objectives
outlined to answer this theme were: to analyze, in the writings of the Marxist
philosophy, the major theoretical points of the Historical-Dialectical Materialism that
assist the Historical-Cultural Theory; to clarify the contributions to the HistoricalCultural Theory to the understanding of the dialectical relations in the processes
developed in the pedagogical practices. The results clearly show the necessity of
overcoming the biological paradigm of Education and presenting an educative model
oriented around the viewpoint of society, of human being and of knowledge as highly
social, as well as the conceptions of teaching and learning as processes of human
activity mediated by human relations and of nature itself. An educative model oriented
around the teachers mediated activity in students zone of proximal development. The
work intended to contribute to the advancement of pedagogical practices and in-depth
academic discussion about the mediated activity and the zone of proximal development,
as focuses of teachers performance, towards school teaching and learning problems.
Keywords: Historical-Cultural Theory. Historical-Dialectical Materialism. Teaching.
Learning. Microgenetic Analysis. Basic Education. Teaching and Learning Difficulties.
SUMRIO
Consideraes iniciais....................................................................................................11
Captulo 1.......................................................................................................................25
Os conceitos marxistas do materialismo dialtico...........................................................25
1.1 Conceitos marxistas do materialismo dialtico.........................................................28
1.1.1 Conceito marxista da matria.................................................................................28
1.1.2 Conceito marxista da conscincia..........................................................................34
1.1.3. Conceito marxista do movimento..........................................................................54
1.2 As leis fundamentais da Dialtica.............................................................................57
1.2.1 Leis da passagem da quantidade qualidade.........................................................62
1.2.2 Lei da Unidade e da Luta dos Contrrios...............................................................66
1.2.3 Lei da negao da negao.....................................................................................70
Captulo 2.......................................................................................................................78
Os conceitos marxistas do materialismo histrico..........................................................78
2.1 Os conceitos marxistas do materialismo histrico....................................................78
2.1.1 A anatomia do Ser Humano como Histrico-Social..............................................79
2.1.2 A produo como processo dialtico do desenvolvimento humano.......................81
2.1.3 A atividade mediada como processo de objetivao e apropriao......................86
2.1.4 O Desenvolvimento Histrico-Cultural do Homem pela atividade
mediada................................................................................................................93
Captulo 3.......................................................................................................................99
O mtodo de pesquisa na perspectiva da Teoria Histrico-Cultural...............................99
3.1. Processo de formao do conhecimento na Teoria Histrico-Cultural..................100
3.1.1. A Histria e a Dialtica como fundamentos metodolgicos..............................100
3.1.2 A relao dialtica entre o individual e o social................................................105
3.1.3 Princpios metodolgicos da Teoria Histrico-Cultural....................................108
3.2. Anlises do mtodo de Vigotsky........................................................................... 110
3.2.1 Anlise do objeto como processo e no o objeto como produto.......................110
10
3.2.2 A Contraposio das Anlises Descritivas e Explicativas.................................111
3.2.3 Anlise dos comportamentos aparentemente fossilizados por meio da
reconstituio da sua gnese..............................................................................115
3.3 Procedimentos Metodolgicos..............................................................................117
3.3.1 As etapas da pesquisa........................................................................................118
3.3.2 Identificao das fontes.....................................................................................118
3.3.3 Leituras do material e etapas.............................................................................119
3.3.4
Diretrizes de leitura..........................................................................................119
a) Leitura de reconhecimento do material bibliogrfico...............................................119
b) Leitura Exploratria..................................................................................................119
c) Leitura Seletiva..........................................................................................................120
d) Leitura Reflexiva ou Crtica......................................................................................120
e) Leitura Interpretativa.................................................................................................120
f) Redao do trabalho de pesquisa...............................................................................120
Captulo 4.....................................................................................................................122
Importncia do enfoque da Teoria Histrico-Cultural para os processos de ensino e de
aprendizagem.................................................................................................................122
4.1 Base material e histrica da conscincia para o desenvolvimento do ser humano..122
4.2 Desenvolvimento do psiquismo humano (conscincia) pela atividade..................135
4.3 A cultura como atividade mediadora para desenvolvimento do psiquismo
humano....................................................................................................................142
4.4 Apropriao e objetivao como forma do desenvolvimento do psiquismo
humano....................................................................................................................147
4.5 As funes psquicas superiores como categorias de humanizao.......................155
4.6 A Zona de Desenvolvimento Proximal como forma de atividade mediadora para o
desenvolvimento das funes psquicas superiores.................................................162
4.7 Relao dialtica entre processo de ensino e processo de aprendizagem por meio da
atividade mediadora.................................................................................................170
Consideraes finais....................................................................................................181
Referncia.....................................................................................................................183
11
Consideraes iniciais
Os primeiros homens que se
levantaram do reino animal
eram, em todos os pontos
essenciais de suas vidas, to
pouco livres quanto os prprios
animais.
ENGELS, F.
A minha prxis1 como educador ajudou-me muito a ter uma viso totalizante
sobre os problemas de aprendizagem e de ensino, que vivenciei e continuo vivenciando
quase que diariamente nessa relao com o cotidiano escolar, e a no ter uma viso
retrgrada, reduzida, mecanicista e biologicista, no sentido de acreditar que isso um
problema velho e sem soluo e que nada se poderia fazer para mudar essa viso sobre
os alunos em relao questo da vida escolar e, mais especificamente, ao que se refere
s dificuldades de aprendizagem.
O problema de aprendizagem e de ensino deve ser analisado e questionado desde
uma perspectiva macroestrutural, ou seja, os problemas de aprendizagem e de ensino
no so unicamente problemas dos alunos e nem podemos concluir que so problemas
de ordem biologicista. Os problemas ultrapassam a questo biolgica dos alunos e
chegamos a analis-los como uma questo ideolgica, que busca perpetuar a diviso do
ser humano pautada em modelo biologicista. Esses problemas so tratados agora como
problemas referentes prpria estrutura do sistema escolar vigente, estrutura da
prpria sociedade escolar que est pautada na concepo biologicista do
desenvolvimento humano. Tambm devemos analisar este problema a partir da
perspectiva microestrutural, ou seja, situar o problema nos mbitos familiar, escolar e
social. Neste sentido, no podemos deixar de mencionar a famlia porque dentro dela
tambm o discurso de catalogar as crianas como problemticas est pautado numa
concepo biologicista. comum presenciar pais e mes culparem o fracasso escolar
1
O conceito de prxis de Marx pode ser entendido como prtica articulada teoria, prtica desenvolvida com e por meio de
abstraes do pensamento, como busca de compreenso mais consistente e conseqente da atividade prtica. prtica eivada de
teoria.
12
dos seus filhos devido a disfunes biolgicas, tais como: dislexia, dficit de ateno,
hiperatividade etc. Temos pais que por indicao da escola levam os seus filhos para
tratamentos psiquitricos ou psicolgicos quando eles apresentam graves problemas de
aprendizagem em alguma disciplina especfica, por acharem de que seus filhos sofrem
problemas biolgicos.
Neste sentido, a escola constitui o espao de excelncia para catalogar os alunos
com problemas mentais, de personalidade etc., orientando os pais a tomarem iniciativas
para que seus filhos iniciem tratamentos psicolgicos.
Por isso, nessa relao cotidiana no mundo escolar, como professor, sempre
presenciei a forma como os professores tratam os educandos, como se os estudantes
fossem os nicos responsveis pelas dificuldades de aprendizagem, e tambm presenciei
como os educandos rotulados como burros, ignorantes, que no compreendem os
conceitos de certas palavras etc., so excludos quase que automaticamente da vida
escolar. A averso por assuntos da escola, a negativa de aprender ou vivenciar novos
contedos e a indisciplina do educando disfaram dificuldades de aprendizagem.
Essa atitude dos professores levou-me a pensar no que Mello (2007) aponta ao
que se chama de dificuldades de aprendizagem como sendo o problema da perspectiva
biologicista, mas na realidade, mudando o enfoque, poderamos concluir tratar-se de
dificuldades de ensino.
Ainda que existam problemas fsicos ou algum problema de transtorno do
desenvolvimento, pode seguir existindo dificuldades de ensino e no de aprendizagem,
pois muitas vezes ocorre que o prprio ensino no se adapta s exigncias de
desenvolvimento do aluno (Mello, 2007).
Nos discursos dos professores se generalizam as situaes dos problemas dos
educandos como problemas de aprendizagem e se deixa de analisar que tipo de ensino
o que se usa para que o aluno desenvolva conhecimento.
necessrio analisar as justificativas que apresentam os professores quando
rotulam os educandos como aqueles que tm distrbios de condutas, de
comportamentos, que no tm capacidade de aprender, como se fossem todos esses
aspectos de dificuldades de aprendizagem, fundamentados, todos esses problemas,
numa concepo biologicista da educao.
O modelo de ensino e de aprendizagem est pautado na concepo biologicista
de desenvolvimento humano, modelo terico que justifica as dificuldades de
13
aprendizagem apenas pautadas nas condies biolgicas dos educandos. A
consequncia disso na escola a atribuio ao aluno da culpa pela falta de
aprendizagem. Tal modelo adotado por professores, gestores educativos e pelos
prprios alunos.
Devemos mudar esta concepo biologicista adotada nas escolas brasileiras de
ver o problema desde a perspectiva histrico-cultural, de uma perspectiva de anlise do
problema, da tica de uma dialtica da totalidade.
Por isso, o objetivo deste trabalho analisar nos escritos da filosofia marxista os
principais pontos tericos do Materialismo Histrico-Dialtico que subsidiam a Teoria
Histrico-Cultural; explicitar os aportes desta teoria para a compreenso das relaes
dialticas nos processos desenvolvidos nas prticas pedaggicas. Queremos, sim,
analisar e apresentar novos elementos da perspectiva da Teoria Histrico-Cultural,
porque essa teoria no est pautada na concepo biologicista, seno nas atividades
mediadas,
de ndole
social
e cultural,
como
elementos
determinantes
no
desenvolvimento do psiquismo humano, tendo como fundamentao terica o
materialismo histrico-dialtico de Marx. Isto significa buscar a soluo do problema da
pesquisa no mbito histrico, cultural e social, porque esses elementos so os que
determinam o funcionamento psicolgico do ser humano. No estamos negando o
aspecto biolgico, seno, estamos colocando e afirmando que ele no suficiente para
solucionar o problema da questo levantada.
Segundo pesquisa feita por Souza (2000) so ainda comuns as preocupaes dos
professores sobre os problemas de aprendizagem que aparecem como problemas
escolares ou simplesmente como distrbios de comportamento e aprendizagem.
Nessa perspectiva de fracasso escolar, o MEC/INEP (Brasil 2003) difundiu dados de
casos de repetncia que atingiram quase 20% dos alunos da Educao Bsica de todo o
Brasil. Os dados apontam que os culpveis dos fracassos escolares esto no prprio
aluno, na sua famlia ou nas suas histrias de vida.
Algumas autoras como Patto (1975 e 2000) e Kramer (1982 e 1989) verificaram
nas suas pesquisas que a forma como essas dificuldades de aprendizagem e de ensino
so compreendidas e avaliadas geram formas estigmatizadas de fracassos nos alunos. As
pesquisas delas apontam que a Escola concebe os problemas de aprendizagem e de
ensino como intrnseco aos prprios alunos, motivados por problemas de ndole
netamente psicobiolgico, ento, a culpa sempre do aluno. Os aspectos polticos e
14
sociais nem so considerados nessa concepo. uma forma biologicista de pensar o
problema, ou seja, pautada na concepo de que o aparato biolgico do ser humano a
nica explicao para as dificuldades apresentadas pelos alunos. Pensar que o problema
est concentrado na criana, como problema gentico, de genes mesmo, em nada nos
ajudar para avanar na compreenso do problema.
Outras pesquisas de Patto (1997 e 2000), Moyses e Collares (1997), Mazzotti
(2003), Souza (2000), Machado (2000), Angelucci, Kalmus, Paparelli e Patto (2004)
corroboram as pesquisas anteriores de que na Escola o fracasso escolar
conceitualizado como dificuldades de ensino e de aprendizagem ou como
dificuldades de apreender. Todo este fracasso escolar era por culpa das crianas, da
famlia, dos fatores intra-escolares como porque o aluno era visto como que no possua
potencialidade para aprender, que no tinha capacidade de abstrao etc. Por ltimo, o
fracasso escolar era por causa dos fatores econmicos e sociais, surgindo desta forma a
teoria da Privao Cultural2.
Patto (2000) afirma que
A escola pblica uma escola adequada s crianas de classe mdia e
o professor tende a agir, em sala de aula, tendo em mente um aluno
ideal. [...] crena na deficincia/diferena da clientela majoritria da
escola pblica de primeiro grau em relao aos seus pares de classe
mdia e alta (PATTO, 2000, p.123).
Patto (2000) discute em sua pesquisa que o fracasso escolar est relacionado
diretamente aos alunos e s famlias das classes populares, como sendo estes os fatores
extra-escolares. Ela tambm constata de que h fatores intra-escolares que sustentam o
fracasso escolar como sendo problemas das crianas pobres, concepo de fracasso
escolar chamado de privao cultural. Ou seja, estas crianas por no terem contato com
uma boa cultura ou porque vo para a escola com falta de bagagem cultural sofrem
problemas de aprendizagem. Ento, a Escola ao adotar a Teoria da Privao Cultural
mantm a culpa do fracasso escolar na criana e na famlia.
A carncia cultural das crianas pobres postulada para indicar o fracasso
escolar delas. Por isso, para a Escola comum indicar a pobreza material ou cultural
Patto (2000) apropriou-se do termo privao Cultural. J Poppovic (1973) cunhou o termo marginalizao cultural. No temos
como objetivo analisar os termos que usam essas autoras, s indicar que desde a perspectiva sociolgica e biolgica se culpou as
crianas pelo fracasso escolar.
15
como causadora de uma pobreza psquica, fsica e cultural, sendo a soma na sua
totalidade destas pobrezas os responsveis pela incapacidade de aprendizagem da
criana. Notamos que este tipo de privao cultural tem uma forte carga de preconceito
em relao s crianas pobres na idade escolar.
Todas estas autoras (Patto 2000 e Poppovic 1973) indicam que o problema de
fracasso escolar configurado como problema de ensino e de aprendizagem, culpando as
crianas, os pais e os professores, tm suas fundamentaes pautadas em teorias que
buscam a culpabilizao do indivduo, patologizando desta maneira os problemas
escolares. Tambm, Eidt e Tuleski (2007) afirmam que as dificuldades de ensino e de
aprendizagem no esto relacionadas a disfunes do sistema nervoso central, tal como
sugerem as teorias ligadas aos distrbios de aprendizagem. E elas vo mais longe,
quando afirmam que a grande parte da produo cientfica atual acerca dos problemas
de escolarizao tem centrado suas anlises, unicamente, nas caractersticas individuais
tomadas como naturalmente patolgicas (Eidt & Tuleski, 2007, p.538).
Por tudo isso, esta pesquisa bibliogrfica buscar compreender e discutir sobre
os processos de ensino e de aprendizagem, por meio de argumentos tericos, partindo
das anlises do materialismo histrico-dialtico de Marx, fundamentados nos
pressupostos da Teoria Histrico-Cultural, focalizando o desenvolvimento do psiquismo
humano, a partir das atividades mediadoras.
A Escola deve propiciar as atividades mediadoras de forma a que possa
socializar o conhecimento e criar formas adequadas para que as crianas possam
apropriar-se desse conhecimento.
A Teoria Histrico-Cultural vm se contrapor quelas teorias pautadas em
argumentos biologicistas, de teorias individualistas fundamentadas na prpria ideologia
liberal, na qual o indivduo deve lutar por si mesmo e que o fracasso do sujeito s
dele. Por isso, na Escola, antes de continuar acreditando e aplicando os testes
psicolgicos, necessrio mudar de estratgias escolares e ir gnese do problema em
si.
O maior representante e fundador da Teoria Histrico-Cultural Vigotsky3. Por
isso, os conceitos dele sero analisados criteriosamente. Isso no significa que no
analisaremos os conceitos dos seus colegas como Leontiev e Elkonin. Alm deles, esto
3
No corpo do trabalho utilizaremos a grafia Vigotsky para citar o referido autor, porm, nas citaes de textos manteremos a grafia
correspondente obra utilizada em respeitos s normas da ABNT.
16
os seus colaboradores, como Davydov, que estudaram e aprofundaram os conceitos
produzidos pelos fundadores da Teoria Histrico-Cultural.
bom ressaltar que estudos de Vigotsky (1988; 1991; 1993; 1995; 1997; 2002),
Leontiev (1978; 1983; 1992), Luria (1992) e Elkonin (1960), e das geraes posteriores
a eles, como Davydov (1987 e 1988), foram limitados pelas inmeras dificuldades de
acesso s suas produes. A produo em lngua russa dificulta, sobremaneira, os
estudos nas fontes primrias e as tradues para a lngua portuguesa so ainda
incipientes e nem sempre expressam, de fato, a teoria produzida. Por isto, as tradues
em lngua espanhola tem sido referncia dos estudos desenvolvidos no Brasil, por
expressar com maior rigor a produo dos psiclogos soviticos.
Neste sentido, a escolha do referencial da Teoria Histrico-Cultural resulta
importante por ela oferecer um sistema de referncia capaz de contribuir com a
problemtica do ensino na vida escolar e, tambm, com a busca de solues aos
problemas de dificuldades de aprendizagem dos educandos. Esta teoria muda o foco do
problema, antes de situar na criana os problemas citados, faz uma anlise no prprio
processo de ensino e de aprendizagem, que muitas vezes tem fundamentos numa
concepo biologicista-empiricista.
A Teoria Histrico-Cultural tem como objetivo buscar respostas concretas aos
problemas suscitados no ensino e na aprendizagem, de maneira a contribuir para o
entendimento de como se d o desenvolvimento do ser humano. Esta teoria une o
desenvolvimento da conscincia e da personalidade com os meios social, cultural, por
meio da mediao da atividade humana.
Na presente pesquisa apresentaremos alguns pontos essenciais de seus
pressupostos tericos, sabendo que o que vem, ainda uma ponta do iceberg terico e
que s ficaro mais evidentes e claras as contribuies desses autores na finalizao do
trabalho.
Vigotsky (2002), em suas pesquisas, buscava elaborar categorias e princpios
para desenvolver uma teoria psicolgica que abarcasse o psiquismo humano,
fundamentando-se no materialismo histrico-dialtico. Uma preocupao inicial nessa
busca era a de estabelecer interlocuo com os psiclogos russos da poca
demonstrando que a conscincia e o comportamento, objetos da investigao
psicolgica, no poderiam ser entendidos separadamente, mas como uma totalidade
dialtica. Sendo assim, tinha como motivao em sua obra identificar o mecanismo do
17
desenvolvimento de processos psicolgicos no indivduo (formao do Psiquismo) por
meio da aquisio da experincia social e cultural.
Vygotski (1993) o propulsor do carter histrico e social dos processos
psicolgicos superiores (nicos dos seres humanos), ou seja, a idia de que esses
processos, que tm a caracterstica de alto grau de universalizao e descontextualizao
da realidade emprica imediata, originam-se na vida social humana por meio das
atividades mediadoras, como so os signos e as ferramentas. Vygotsky (1988, p. 114)
indica que toda atividade psquica humana acontece em dois momentos relacionados
dialeticamente, como atividade coletiva chamada de interpsquica e como atividade
individual chamada de intrapsquica.
Algumas funes superiores como percepo, memria, pensamento etc.,
desenvolvem-se na relao dialtica entre o ser humano e o seu ambiente histricocultural, relaes mediadas por signos e ferramentas. Por isso, Vygotsky (2001b) foi
categrico sobre a questo do ensino quando afirma:
A aprendizagem s boa quando est frente do desenvolvimento.
Neste caso, ela motiva e desencadeia para a vida toda uma serie de
funes que se encontravam em fase de amadurecimento. O ensino
seria totalmente desnecessrio se pudesse usar apenas o que j esta
madura no desenvolvimento, se ele mesmo no fosse fonte de
desenvolvimento e surgimento do novo. (VYGOTSKY, 2001b, p.
334).
Por isso importante analisar como ocorre este ensino na escola, porque
geralmente, quando o ensino no atinge o plano da aprendizagem dos alunos, eles so
estigmatizados como problemas de aprendizagem oriundos dos prprios alunos. O
elemento diferenciador para que exista o bom ensino a forma como se faz esse
processo da atividade na aprendizagem. Nesse processo devem estar includos os
motivos e as intenes de forma aprofundada para que realmente o ensino desenvolva as
funes psquicas superiores do ser humano. Vygotsky (2001b) nos alerta de que o
docente no deve centrar o seu ensino naquelas categorias que o aluno j conhece ou j
sabe fazer. Por exemplo, quando uma criana est por primeira vez na escola, ela j tem
conhecimento ou j sabe fazer muitas coisas que ele aprendeu na vida extra-escolar. O
que ela conhece ou sabe fazer, no deve ser motivo para trabalhar-se, mas, deve ser um
elemento que o educador deve usar para impulsionar o bom ensino. Tudo isto significa
18
que a criana quando vai para a escola, j vai com uma bagagem de conhecimento e de
fazer muito amplo e deve ser motivo principal para que a criana, junto com a mediao
dos adultos na escola, possa realmente receber um bom ensino. Por isso, na escola, o
educador deve trabalhar a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, aquilo que ela
poder fazer na atividade mediada e no ficar insistindo apenas no nvel de
desenvolvimento atual, como produto final.
Nesse sentido importante a observao de Mello (2007) referente Zona de
Desenvolvimento Proximal:
Vigotsky (1993, Tomo II) discute a aprendizagem e o ensino escolares
por meio de dois conceitos: zona de desenvolvimento proximal
relacionada ao processo da aprendizagem; o que a criana pode fazer
hoje em colaborao, com ajuda de outra pessoa, poder faz-lo
autonomamente amanh e desenvolvimento atual relacionado ao
produto da aprendizagem, ou seja, o que ela j aprendeu e domina
(MELLO, M.A., 2007, p.206).
A escola no deve s insistir no nivel de desenvolvimento atual onde o
conhecimento j est amadurecido, mas, deve criar necessidades e problematizar a zona
de desenvolvimento proximal porque o conhecimento bom quando a criana, o que
hoje faz com mediao do adulto, conseguir fazer sozinho no dia de amanh. O
processo de formao de novos conceitos cientficos s possvel nesta zona de
desenvolvimento proximal, que deve ser explorada pelo educador.
Vygotski (1993, p. 239) esclarece que [...] a zona de desenvolvimento prximo
tem um valor mais direto para a dinmica da instruo que o nvel atual de seu
desenvolvimento, da que o processo de desenvolvimento segue o processo de
aprendizado e este o responsvel por criar a zona de desenvolvimento proximal,
portanto, o ensino deve incidir sobre ela.
Assim, a escola o lugar onde a interveno pedaggica intencional desencadeia
os processos de ensino e de aprendizagem. Se a escola perde o seu objetivo de formar
sujeitos desde a perspectiva da socializao do saber e de apresentar mtodos de
aprendizagem eficazes, certamente ocasionar incompatibilidade entre aprendizagens e
ensino, gerando as dificuldades de aprendizagens.
A relao entre o desenvolvimento e a aprendizagem est atrelada ao fato de o
ser humano viver em meio social. Aqui, o sujeito reconhecido como ser pensante
19
capaz de vincular sua ao representao de mundo que constitui sua cultura, sendo a
escola um espao e um tempo, nos quais este processo vivenciado, e nos quais os
processos de ensino e aprendizagem envolvem diretamente a interao entre sujeitos.
Vygotski (1993, p.242) considera que desenvolvimento e aprendizagem so
processos distintos, mas que caminham juntos. Tudo aquilo que o sujeito aprende
elaborado por ele, se incorpora a ele, transformando seus modos de agir e de pensar.
O indivduo se constitui por meio de transformaes qualitativas resultantes da
constante interao social do sujeito com outras pessoas, no plano intersubjetivo, e do
permanente processo de apropriao dessas relaes, formando assim as funes
psicolgicas superiores.
Na teoria deste autor as funes psquicas superiores inerentes ao ser humano
so consequncias das caractersticas biolgicas e da sua interao histrico-cultural
com o meio social, em que ele atua. Essa relao com o mundo mediada por signos e
ferramentas produzidos no meio social em que o homem est inserido. Desta relao
mediada se tm a criao das formas de sua ao no mundo e das funes psquicas
superiores.
Vygotski (1993) acredita que a aprendizagem se relaciona de maneira direta com
o desenvolvimento, de modo a favorec-lo. Interpretando a Vigotsky, diz Oliveira
(1993):
A concepo que Vigotsky tem do ser humano, portanto, a insero do
indivduo num determinado ambiente cultural parte essencial de sua
prpria continuao enquanto pessoa. impossvel pensar o ser
humano privado do contato com um grupo cultural, que lhe fornecer
os instrumentos e signos que possibilitaro o desenvolvimento das
atividades psicolgicas mediadas, tipicamente humanas. O
aprendizado, nesta concepo, o processo fundamental para a
construo do ser humano. O desenvolvimento da espcie est, pois,
baseado no aprendizado que para Vigotsky, sempre envolve a
interferncia, direta ou indireta, de outros indivduos e a reconstruo
pessoal da experincia e dos significados. (OLIVEIRA 1993, p. 78).
Podemos constatar que o ensino uma prtica social que se verifica numa
interrelao, mediada por sujeitos e ferramentas, como signos e smbolos, para buscar
uma educao de qualidade. O ensino a apropriao da cultura humana, produzida
social e historicamente, de forma a que os sujeitos sejam ativos e partcipes da
transformao dessa nova realidade da vida escolar, neste caso em particular.
20
Este ensino apresentado por Vygotsky (2001b) objetiva o ser humano, buscando
escolher contedos que sejam ensinados e dos diversos processos que se devem utilizar,
afirmando o seguinte sobre a importncia deste tipo de ensino:
O ensino consciente de novos conceitos e formas de palavras ao aluno
no s possvel como pode ser fonte de um desenvolvimento
superior dos conceitos propriamente ditos e j constitudos na criana,
que possvel o trabalho direto com conceito no processo de ensino
escolar. (VYGOTSKY, 2001b, p.250).
Entender as relaes entre o funcionamento do psiquismo humano e o cultural,
histrico e institucional na formao de um modo de pensar particular a tarefa
principal da escola, ou seja, compreender os processos de mediao que ocorrem ou que
podem ocorrer na escola para que haja interveno nesse funcionamento, do ponto de
vista da formao do psiquismo das crianas.
Leontiev (1978; 1983; 1992) analisou as relaes do processo de
desenvolvimento do psiquismo humano e a atividade humana. na relao dialtica do
sujeito com o objeto que o psiquismo humano se desenvolve por meio de atividades
como: as aes, operaes e tarefas, suscitadas por necessidades e motivos. Ele analisou
o conceito de atividade mediadora e o papel da cultura no desenvolvimento das
capacidades das funes psquicas humanas. Para ele, uma atividade distingue-se de
outra pelo seu objeto e se realiza nas aes dirigidas a este objeto. Assim, a atividade
humana no pode existir a no ser em forma de aes ou grupos de aes que lhes so
correspondentes. A atividade laboral se manifesta em aes laborais, a atividade
didtica em aes de aprendizagem, a atividade de comunicao em aes de
comunicao, as atividades de ensino em socializao do conhecimento produzido, a
atividade escolar em ensino e aprendizagem e, assim por diante.
Outro autor da Teoria Histrico-Cultural Elkonin (1987) quem pesquisou a
periodizao do desenvolvimento do psiquismo humano e a aprendizagem escolar. A
aprendizagem constitui-se numa forma essencial do desenvolvimento do psiquismo por
meio da atividade, levando em considerao os fatores externos do desenvolvimento,
em especial o papel da cultura como resultado da formao histrica e, no s como
cultura dada ao ser humano. A escola configura-se como o espao para a incorporao
da cultura por meio das atividades mediadoras.
21
Nessa lgica do desenvolvimento, Davidov (1988), aps perguntar como se
podem desenvolver nos alunos as capacidades intelectuais necessrias para assimilar e
utilizar com xito os conhecimentos, escreve:
Os pedagogos comeam a compreender que a tarefa da escola
contempornea no consiste em dar s crianas uma soma de fatos
conhecidos, mas em ensin-las a orientar-se independentemente na
informao cientfica e em qualquer outra. Isto significa que a escola
deve ensinar os alunos a pensar, quer dizer, desenvolver ativamente
neles os fundamentos do pensamento contemporneo para o qual
necessrio organizar um ensino que impulsione o desenvolvimento.
Chamemos esse ensino de desenvolvimental. (DAVIDOV, 1988,
p.3).
Para ele o que deve mudar a forma como o aluno aprende e, tambm, deve
mudar a maneira como os professores ensinam, tendo como base a relao dialtica
entre o ensino e os modos de aprender. O processo de aprender e de ensinar deve ser o
eixo principal para que haja o verdadeiro ensino. Os professores devem trabalhar a zona
de desenvolvimento proximal, mediar aprendizagem do aluno naquilo que ele ainda
no se apropriou. O verdadeiro ensino aquele em que no se d a criana quilo que
ele j sabe fazer ou conhece no nivel de desenvolvimento atual, mas o que est maduro
neste nivel deve ser um elemento mediador para criar novas formas de aprendizado e
conhecimento. No nivel de desenvolvimento atual no se oferece novas formas de
ensino, mas ele serve como fora mediadora para realizar o salto qualitativo. Por
exemplo, quando a criana sabe andar de bicicleta, significa que j est aprendido o
andar de bicicleta, mas, o fato de saber andar de bicicleta no lhe garante que saiba
andar de moto. Porem, esse conhecimento e esse saber andar em bicicleta, lhe sero
muito importantes quando ela for aprender a andar de moto. Essa criana, quando
adulto, for andar de moto, j ter o domnio do equilbrio por exemplo. Ela no
necessitar aprender a equilibrar-se porque j est amadurecido nela o equilbrio, mas,
esse domnio do equilbrio lhe ser o elemento impulsionador para trabalhar naquela
zona de desenvolvimento proximal para apropriar-se da forma de como andar de moto.
Por isso, verdadeiro ensino trabalha por meio das atividades mediadoras a zona de
desenvolvimento proximal, onde a criana ainda no sabe fazer ou desconhece, mas,
sempre levando em conta o que j est amadurecida na criana.
22
Para Davidov (1988), superar a pedagogia tradicional empiricista-biologicista s
possvel introduzindo o pensamento terico, ou seja, o ensino deve inserir mudanas
qualitativas no desenvolvimento do pensamento terico por meio de atividades que
desenvolvam as capacidades e hbitos humanos. O ensino deve gerar atitudes de
reflexo e apropriao do prprio conhecimento produzido pela humanidade. A
aprendizagem verdadeira aquela que propicia s crianas habilidades humanas pela
apropriao das especificidades histrico-cultural, de maneira a contrapor ao
desenvolvimento espontneo, quantitativo e sem intencionalidade.
Davidov (1988) destaca a aprendizagem como uma atividade principal das
crianas em idade escolar, cuja funo propiciar a assimilao das formas de
conscincia social mais desenvolvida a cincia, a arte, a moralidade, a lei. As crianas
incorporam tanto o conhecimento e as habilidades relacionados com os fundamentos
dessas formas de conscincia social, como, tambm, as capacidades elaboradas
historicamente para desenvolver a conscincia e o pensamento tericos. O contedo da
aprendizagem e do ensino, em outras palavras, o conhecimento terico e prtico
realizado e concretizado atravs das atividades mediadoras numa relao dialtica entre
sujeito e objeto.
Por isso, o presente trabalho pretende proporcionar, desde a perspectiva da
Teoria Histrico-Cultural, um momento de reflexo sobre a problemtica de
dificuldades de ensino e de aprendizagem no mundo escolar. O resultado da pesquisa
apresentar subsdios para um novo paradigma pedaggico, de uma nova forma de
enfrentar as situaes problemas apontadas e verificadas por culpa das dificuldades de
ensino, que impactam negativamente nos educandos, aos quais chamamos comumente
de dificuldades de aprendizagem. Neste sentido, o resultado da pesquisa ajudar
comunidade docente e acadmica, professores ativos, gestores de educao, educandos
etc., proporcionar subsdios tericos dos autores da Teoria Histrico-Cultural, teoria
fundamentada no prprio marxismo, para que possam romper com um modelo de
educao fundamentada em princpios biologicistas que tanto dano tem ocasionado aos
educandos nessa etapa de sua formao sociocultural e psicolgica e, desta forma,
avanar para a concretizao de um ensino de totalidade humanizante. Nota-se a
contradio existente no processo de ensino fundamentada por princpios biologicistas e
que dentro desta contradio na esfera escolar que se encontrar a fora para o salto
qualitativo.
23
O conhecimento como instrumento particular do processo educacional, pode ser
tratado de forma a contribuir ou a negar o processo de humanizao. Neste sentido,
pensemos sobre o que a educao: O trabalho educativo o ato de produzir, em cada
indivduo singular, a humanidade que produzida histrica e coletivamente pelo
conjunto dos homens (SAVIANI, 1994, p.24).
nos pressupostos tericos dos representantes da Teoria Histrico-Cultural que
buscaremos dar uma contribuio para os dilemas sobre Ensino e Aprendizagem desde
uma tica dialtica.
A questo de pesquisa levantada para buscar uma soluo desde a tica da
Teoria Histrico-Cultural a seguinte:
Quais os conceitos centrais da Teoria Histrico-Cultural, fundamentados na teoria
marxista, e suas implicaes nas prticas pedaggicas?
Os objetivos apontados para responder a questo elencada so:
Analisar nos escritos da filosofia marxista os principais pontos tericos do
Materialismo Histrico-Dialtico que subsidiam a Teoria HistricoCultural;
Explicitar os aportes da Teoria Histrico-Cultural para a compreenso das
relaes dialticas nos processos desenvolvidos nas prticas pedaggicas.
O trabalho tem a seguinte organizao:
Consideraes iniciais: um breve resumo para situar o motivo e a inteno da
pesquisa bibliogrfica, como tambm a apresentao da questo de pesquisa e os
objetivos marcados para concretizar o trabalho.
Captulo 1- analisar os conceitos marxistas do materialismo dialtico, como
matria, conscincia, movimento. Anlise das leis fundamentais da dialtica, desde uma
tica pedaggica.
Captulo 2- analisar os conceitos marxistas do materialismo histrico. Tambm,
analisar a anatomia do ser humano como histrico-social; a produo como processo
dialtico e totalizante do desenvolvimento humano e, a mediao social como processo
de apropriao e objetivao do ser humano.
Captulo 3- apresentamos o mtodo de pesquisa na perspectiva da Teoria
Histrico-Cultural;
os
procedimentos
metodolgicos,
bibliogrfica, as diretrizes das etapas de leitura etc.
as
etapas
da
pesquisa
24
Captulo 4- analise da importncia do enfoque da Teoria Histrico-Cultural para os
processos de ensino e os processos de aprendizagem. Neste captulo analisamos o
trabalho, as atividades mediadoras, as funes psquicas superiores, a zona de
desenvolvimento proximal, etc.
Consideraes finais: apresentao do resultado da pesquisa e a criao de uma
nova necessidade como um salto qualitativo.
Antes de continuar com a nossa exposio sobre o trabalho em si, queremos
indicar aos leitores desta obra, de que o trabalho est dividido em 4 captulos
constituindo uma totalidade que est ligada entre si. Os contedos levantados em cada
captulo tm um nexo com os contedos dos outros captulos, compactando uma
concepo fundamental do Materialismo Histrico-Dialtico e a Teoria HistricoCultural. A diviso em captulos deu-se pela importncia de analisar os pressupostos
tericos com mais detalhes, mas, sem perder a lgica dialtica do conhecimento.
Por isso, no se pode compreender ao quarto captulo sem que se faa a
interconexo com os outros.
Da a importncia de fazer uma leitura com sentido de totalidade, buscando em
cada pgina as contradies que nos indicaro o caminho para chegar raiz do
problema.
25
CAPITULO 1 - OS CONCEITOS MARXISTAS DO MATERIALISMO
DIALTICO
Bajo el prisma dialctico, los
contrarios slo tienen sentido en sus
relaciones mutuas, por lo que no es
posible el antes ni el despus
(Bermdez y Rodrguez)
Pela observao e pelas anlises de alguns trabalhos de dissertaes de
mestrandos e teses de doutorandos que se fundamentam na Teoria Histrico-Cultural de
Vigotsky, percebemos que muitos usam Vigotsky como o autor que est na moda, no
cenrio educativo. Muitos educadores abraam esse grande psiclogo russo, extraindo
a essncia principal de sua obra, que seriam os pressupostos tericos do Materialismo
Histrico-Dialtico.
Vygotski (1996, Tomo III) tem como objetivo estudar a histria do problema do
desenvolvimento das funes psquicas superiores, partindo da base de uma crtica
cientfica rigorosa pautada no materialismo histrico-dialtico de Marx. Vigotsky
(1996) analisa a crise da psicologia da sua poca e elabora o mtodo microgentico para
ir raiz do problema das funes psquicas superiores.
Por isso, para entendermos as obras de Vigotsky necessrio compreendermos
bem a teoria marxista e seus pressupostos tericos que foram usados na prtica pelos
prprios integrantes dos fundadores da Teoria Histrico-Cultural.
Duarte (2001a) mostra que h um esvaziamento das teorias e do pensamento de
Vigotsky quando se lhe retira categorias do materialismo histrico-dialtico, neste
sentido:
[...] a despeito do nome de Vigotski ser atualmente bastante
mencionado no meio educacional brasileiro, o fato que os escritos
desse autor permanecem desconhecidos para a maioria dos educadores
brasileiros, o que facilita a divulgao de interpretaes que procuram
aproximar a teoria vigotskiana a iderios pedaggicos afinados com o
lema aprender a aprender e ao universo ideolgico neoliberal e ps
moderno. Tal aproximao facilitada antes de mais nada porque so
retirados do pensamento vigotskiano seu carter marxista e sua
radicalidade na crtica s psicologias incompatveis com a perspectiva
marxista e socialista. (DUARTE, 2001a, p.210).
26
Duarte (2001a) salienta que Vigotsky permanece desconhecido no mbito do
pensamento dos professores brasileiros porque eles desconhecem o marxismo. Vigotsky
seria um autor conhecido no momento em que se tivesse conhecimento de todo o
pensamento marxista. No iremos analisar o porqu desta inteno do desconhecimento
da essncia do pensamento de Vigotsky.
Fica claro que no podemos cair numa vulgarizao da Teoria Histrico Cultural
(THC), retirando das obras de Vigotsky a alma de seu trabalho, que seria a prpria
historicidade dialtica, fundamentada no materialismo histrico-dialtico. Tirar-lhe este
ponto dialtico Teoria Histrico-Cultural tirar-lhe toda a sua essncia. Para Duarte
(2001a) h essa tentativa de descaracterizar a teoria de Vigotski para criar um iderio
pedaggico que se identifica com a ideologia ps-moderna. O ps-modernismo se
fundamenta na individualidade e no fim da prpria histria humana. Pregar o fim da
histria humana afirmar que o ser humano no produz mais nada e que o seu
desenvolvimento fica esttico porque no h mais transformao. Mas, no o nosso
objetivo analisar o que seria o ps-modernismo e as consequncias para a educao e
para o desenvolvimento humano desta forma de pensamento to em moda na atualidade.
Outra autora que defende uma leitura desde a perspectiva marxista da teoria e
pensamento de Vigotsky Tuleski (1999), nestes termos:
[...] retirar de seus textos a referencia a Marx, Lnin, e Trotsky
suprimir referencias importantes para a compreenso de sua teoria.
Ignorar sua formao marxista e seu envolvimento terico-prtico
com o projeto coletivo de construo do comunismo significa abstrair
suas idias das lutas vividas por ele e que lhe do significado
(TULESKI, 1999, p.12).
Tuleski (1999) continua o seu raciocnio no mesmo caminho que Duarte
(2001a), mas, acrescenta que esse intento de descaracterizar a teoria e o pensamento de
Vigotsky uma forma de negar nele a sua formao e sua opo de lutar pela
instaurao de uma sociedade comunista.
O nosso objetivo que fique bem claro que uma referncia ao marxismo no
s o uso de citaes ou anlise de dados dessa teoria. O objetivo concreto e real que o
professor seja como Vigotsky, na sua teoria e no seu pensamento, um professor que
olhe o ser humano na sua totalidade, fundamentando esse olhar crtico na perspectiva do
mtodo dialtico do marxismo, como o fez Vigotsky quando se apropriou da essncia
27
do marxismo e usou-a como o princpio da sua fundamentao terica. Vigotsky no
tinha a inteno de apenas citar o marxismo na sua pesquisa, mas apropriar-se do
mtodo dele para avanar em profundidade terica e prtica nas suas pesquisas. Por
isso, no podemos citar Vigotsky e no ter um desenvolvimento terico-prtico com o
processo de desenvolvimento da humanizao do ser humano, da humanizao das
crianas, do seu desenvolvimento desde a prtica at a sua totalidade. Vygotski (1996)
fundamenta a sua pesquisa no prprio materialismo marxista porque encontra nele o
mtodo capaz de entender as contradies existentes no interior do objeto de estudo,
neste caso, as funes psquicas superiores. Portanto, o mtodo dialtico marxista
permitiu a Vygotski (1996) ir s leis das contradies internas do objeto, ir do abstrato
para chegar ao ponto concreto na perspectiva da totalidade.
Depois de explicar sucintamente o porqu se faz necessrio uma anlise dos
pressupostos do materialismo histrico-dialtico, tentaremos expor a anlise sobre esses
pressupostos marxistas que nos chamam muito a ateno.
Se abraarmos a Teoria Histrico-Cultural, devemos deixar claro que estamos
abraando toda a essncia do pensamento marxista.
Por isso, o objetivo do item 1.1 ser apresentar aos leitores uma anlise das
categorias do materialismo dialtico. A inteno no repetir citaes de autores
marxistas, seno fazer uma explicao da teoria dele, ou seja, analisar estas categorias
marxistas desde a perspectiva da Pedagogia. Isto para que o leitor compreenda o
marxismo desde a tica pedaggica, do concreto, do real, e no desde a tica da
filosofia pura, da racionalidade pura e abstrata.
No item 1.2 se faz necessrio explicar e analisar as leis fundamentais da
dialtica. Este ponto muito importante para que se possa entender Vigotsky, quando
trabalha os processos de inter e intrapsicolgico no processo de humanizao do ser
humano que se d desde a atividade como mediadora da formao humana no mundo
material e concreto, demonstrado isto quando o ser humano se apropria e se objetiva no
mundo material.
Ento, s poderemos entender toda a teoria e o pensamento de Vigotsky se
chegarmos a ter uma noo filosfica e uma explicao pedaggica do pensamento
marxista, nas categorias da teoria de Vigotsky, tais como: mtodo microgentico e
materialismo histrico-dialtico, processo de mediao, zona de desenvolvimento
28
proximal, funes psicolgicas superiores, conceitos cientficos e espontneos,
linguagem, instrumentos, ferramenta, signos, atividades, cultura, etc.
Quais so esses conceitos do materialismo histrico-dialtico, de Marx, que
devemos compreender para entender a Vigotsky?
1.1 Conceitos marxistas do materialismo dialtico
1.1.1 Conceito marxista da matria.
O que seria a matria no pressuposto terico de Marx? A matria seria uma das
categorias essenciais do marxismo. Devemos procurar compreender o significado real
da matria, diferenciando os conceitos que surgem no idealismo e na concepo
metafsica.
O idealismo4 nega a matria objetiva, concreta, real, a matria como categoria
em-si. Isto significa que a conscincia que determina a matria. A realidade material
concebida como uma realidade da prpria conscincia, produo do Eu Puro, do Eu
Absoluto, onde algumas manifestaes da matria seriam ss concretizaes
particulares da matria. Desta forma, os idealistas concebem a matria como criada pela
conscincia. No h nada material alm da extenso do que concebido pela
conscincia. Notamos que o idealismo nega todos os dados materiais, as coisas em si,
as coisas objetivas e concretas, portanto, nega a trascendentalidade do mundo material e
abraa a mais absoluta imanncia do esprito.
Esta forma de negar o mundo material por parte do idealismo cria um mundo de
problemas relacionados forma de entender o ser humano e o conhecimento.
O idealismo suscita um problema ontolgico e gnosiolgico da maneira como
compreendem o mundo material, o mundo em si. O mundo material apresenta-se como
o lado obscuro do conhecimento, enquanto que a conscincia seria o lado claro do
conhecimento do mundo material. A metafsica no nega a matria em si, seno afirma
que podemos discursar sobre questes que esto alm da matria em si. A metafsica cai
no dogmatismo absoluto da razo, da prpria conscincia como absoluta. Isto significa
4
Indicao de obras sobre PLATO (Fdon e Fedro), KANT (Crtica da Razo Pura, Crtica da Razo Prtica e Crtica do
Julgamento), SCHELLING (Sistema do Idealismo Transcendental), SCHLIERMACHER (Discursos sobre a Religio, Crticas das
Doutrinas), FICHTE (Fundamentos da Doutrina da Cincia), chegando at o idealismo lgico de HEGEL (Fenomenologia do
Esprito, Lgica, Enciclopdia das Cincias Filosficas e Filosofia do Direito).
29
que o que a razo concebe vlido e apodctico. Neste caso, a metafsica no nega a
imaterialidade e o inatismo. vlido e absoluto o que a razo aceita como verdadeira. A
verdade apresentada como absoluta. A metafsica, com esta forma de pensamento,
nega a historicidade do ser humano e a prpria conscincia que cria o mundo
material (ego cogito ergo sum). Um dos grandes representantes da filosofia metafsica
Descartes, com as suas famosas obras: Meditaes Metafsicas e Discurso sobre o
Mtodo.
Definir a matria sempre tem sido um tema de destaque na histria mesma da
Filosofia, por isso fica evidente na nossa pequena apresentao sobre conceitos de
matria no idealismo e na metafsica, que ao longo do perodo filosfico, desde os prsocrticos at o aparecimento do marxismo, se teve vrias definies do que seria a
matria5.
Porm surge com fora essa definio quando nos remontamos poca clssica
de Marx e outros filsofos contemporneos a ele. Agora chegamos ao objetivo traado
para explicarmos e analisarmos o que a matria na tradio marxista, como podemos
compreender a matria pela sua essncia e no pela suas caractersticas particulares e
singulares.
Konstantinov (1959) expe de forma sistemtica os fundamentos da filosofia
marxista, isto , o Materialismo Histrico-Dialtico, quando escreve sobre o que a
matria e quais so suas formas de existncias, desta forma:
Nos rodea una cantidad innumerable de cuerpos, dotados de las ms
diversas propiedades. Unos figuran entre los seres vivientes, otros no
muestran en absoluto signo de vida; unos son slidos, otros blandos o
fluidos; unos infinitamente pequeos y ligeros, otras de gigantescas
proporciones e inconcebiblemente pesados; algunos estn cargados de
electricidad, otros no, etc. Todos estos conjuntos de seres forman lo
que llamamos la naturaleza. Por muchos que se distingan entre s los
cuerpos naturales, todos existen fuera e independientemente de la
conciencia, de las sensaciones, del espritu. Y la experiencia de vida
de cada hombre, junto con la actividad prctica de la humanidad
entera y los datos de la ciencia, atestiguan que as es en realidad.
(KONSTANTINOV, F.V., 1959, p.115).
O objetivo desta dissertao no aprofundar os conceitos da matria ao longo do pensamento filosfico, seno, apresentar
resumidamente o que se entende por matria dentro do pensamento marxista.
30
Partimos de uma verdade absoluta, tudo o que existe material. E o material no
s o que visvel aos nossos olhos. Atualmente as cincias empricas tm avanado
muito no desvelamento do que seria a matria. Concretamente, a natureza est composta
por elementos materiais visveis e materiais invisveis aos olhos humanos. Hoje, com o
uso dos instrumentos tecnolgicos, podemos falar de tomos, de plasmas e as pesquisas
feitas nos campos da fsica e da qumica vm demonstrando que a natureza
propriamente toda material. Isto significa que a natureza em si material. A totalidade
do mundo natural est composta pro sua materialidade e no h nada na natureza que
no seja matria. Hoje, a cincia, constata que a matria tem vrias formas de existncia
no mundo real e concreto, independente de qualquer manifestao consciente do ser
humano. Verificamos a existncia da matria desde nossa prpria experincia cotidiana,
diariamente, desde um lugar que de fundamental importncia para o marxismo, que
a nossa prpria atividade. O ser humano se apropria da matria desde a sua atividade no
mundo da natureza e desde a sua relao com os outros seres viventes. Notamos que a
matria independente das sensaes e das manifestaes espirituais. A matria no
consequncia das sensaes nem do espiritualismo. Essas duas categorias so
manifestaes da prpria matria, a forma de reflexo da prpria matria em si.
Outro autor, Krapivine (1986), realiza um estudo sobre os materialistas
mecanicistas (Feuerbach) e materialistas idealistas (Hegel), onde conclui que para eles:
Matria um conceito abstrato que abrange as particularidades gerais
de uma imensa diversidade de corpos e fenmenos do mundo versteis.
(KRAPIVINE, 1986, p. 92).
Notamos que eles no definiram a matria pela sua essncia, seno definiram-na
pela caracterstica geral que corresponde a cada matria do universo. Esta definio da
matria corresponde definio clssica das cincias naturais.
comum definir a matria pelo fato das suas caractersticas particulares,
deixando de lado a sua essncia em si mesma. O Materialismo Histrico-Dialtico se
ope a definio da matria pelas suas caractersticas particulares.
Esta definio recortada da matria levou compreenso do ser humano de
forma fragmentada, dualista. Apresentou o ser humano como tendo duas matrias, duas
substncias inconciliveis entre si. Tinha o corpo e a alma (mente) como duas matrias.
Esta viso dualista gerou, falando agora pedagogicamente, pontos crticos e irreparveis
31
na compreenso do ser humano como totalidade. A histria da educao ao longo dos
sculos apresentou esta viso dualista do ser humano, desvalorizando-o e motivando o
pr-conceito existencial dentro do prprio campo pedaggico.
Lnin (1982) se encarregar de definir a matria como:
Uma categoria filosfica para designar a realidade objetiva que dada
ao homem nas suas sensaes, que copiada, fotografada, refletida
pelas nossas sensaes, existindo independentemente delas. (LENIN,
1982, p.181).
Analisando criteriosamente nos damos conta que esta definio de matria tem
nas suas razes os seguintes elementos:
1. Matria como categoria filosfica. Indica a totalidade da matria, a sua
originalidade e universalidade como um todo real e concreto, como objetivo e em
constante movimento, num espaco e tempo fora do ser humano. Ela existe s nas coisas,
nos fenmenos e processos concretos. Ela uma diversidade infinita, da qual o ser
humano faz parte.
2. Matria como realidade objetiva, independente da ao do homem. A
matria existe por si s, em si mesma, no criada pelo ser humano, s transformada
pela ao humana, pelo trabalho ou pela sua prpria atividade.
3. Matria como refletida pelas sensaes, porm independente da
conscincia. A conscincia uma categoria que serve para apropriar-se do entendimento
da matria, de seu reflexo. (Fazemos um parntese para indicar que no item sobre
conscincia, vamos analisar melhor o que seria a conscincia no materialismo histricodialtico).
Notamos que Lnin (1982) apresenta a matria como uma realidade concreta,
real e a define desde a sua prpria essncia, desde a sua prpria transcendncia objetiva
e real, independente da prpria manifestao da conscincia.
Neste sentido Lnin (1982) conclui que o materialismo dialtico, com a nova
definio de matria, d um duro golpe ao pensamento metafsico, religioso e agnstico,
quando ele escreve:
O reconhecimento da unidade material do mundo o princpio de
partida do materialismo filosfico em oposio a todas as concepes
idealistas nas que se admite como substancia de todos os fenmenos
32
no mundo da vontade divina a idia absoluta, a energia, o
esprito etc. (LNIN, 1982, 273).
Reconhecer a unidade material nos leva a afirmar que o mundo material uma
realidade concreta e objetiva que est presente independente da nossa prpria
conscincia humana. A unidade material no significa negar a diversidade da
manifestao da matria. Reconhecemos a unidade intrnseca do ser humano, mas, no
podemos negar que h uma individualidade em si, da ordem biolgica, que passar a um
estado de generacidade para si, na sua unidade, desde a ordem histrico-cultural.
importante entender e compreender que a matria, sendo objetiva e
independente da conscincia, no existe num estado puro e esttico. Ela no pode ser
extinta, eliminada. Ela s pode sofrer transformaes, s pode ser renovada, etc. A
matria transformada e conservada na natureza pela prpria atividade humana, porm,
no podemos nunca pensar que ela exterminada, liquidada, extinta pela prpria
atividade humana.
Por isso, para Konstantinov (1959), o Materialismo Histrico-Dialtico:
Rechaza la idea de un ser acabado e inmutable de las cosas, de una
sustancia absolutamente simple, a cuyas propiedades y
manifestaciones definitivas pueda reducirse todo lo existente. La
naturaleza no conoce la inmutabilidad, ni tampoco una sustancia
simple. Por muy simple que pueda parecernos un objeto material, ser
siempre en realidad infinitamente complejo e inexhaustivo. La materia
es, en su entraa, inagotable. (KONSTANTINOV, 1959, p. 120).
O materialismo dialtico, pela prpria definio de matria, rejeita essa ideia de
que o ser algo acabado, que no sofre mudanas qualitativas e que to simples. A
matria, o ser mesmo, desde esta tica do materialismo dialtico, apresenta-se como
eterna, como infinita e ilimitada.
Qual a importncia em destacar a inesgotabilidade e mutabilidade da matria em
si mesma? Significa que no podemos compreender o estudo do ser humano somente a
partir da perspectiva biologizante, que no podemos afirmar que conhecemos na sua
totalidade o ser humano desde a tica biolgica. Notamos que o ser humano, como ser
material, inesgotvel e mutvel em toda a sua extenso. Compreender a matria na
perspectiva biolgica fazer um estudo simples e superficial. Leva a concluses
33
simples e como tal, leva a uma definio da matria num estado inferior, sem conhecer
a profundidade, a prpria essncia do objeto em si mesmo.
A que concluso chega o materialismo histrico-dialtico sobre a questo da
matria? Esta seria a concluso de Konstantinov (1959) sobre a matria:
As, pues, en ninguna parte del universo ha existido, existe o existir
nunca algo que no sea la materia en movimiento o que no sea
engendrado por ella. En esto consiste tambin la unidad del mundo.
[] Si no existe un mundo sobrenatural e inmaterial en parte
algunadnde existe, por tanto? Slo en la imaginacin de quienes
se niegan a reconocer los hechos evidentes; slo en la de quienes, de
acuerdo con opiniones preconcebidas, se condenan a s mismos a
verse privados de una concepcin cientfica, verdadera, de todo cuanto
ocurre en ellos mismos y en el mundo que les rodea. []El mundo es
material. Es tambin uno, eterno e infinito. Y el hombre mismo, su
producto superior, la flor y nata del mundo material, es un fragmento
de ese gran todo que llamamos naturaleza. (KONSTANTINOV, 1959,
p. 154).
A unicidade da matria se d no seu prprio movimento. Este movimento no
significa um movimento de translao ou rotao, mas, a forma de ser da matria no
mundo, forma de existncia mesma. Esta unidade da matria no seu movimento
pressupe a complexidade concreta e real de toda ela porque a unidade no significa a
simplicidade concreta. Quando falamos da unicidade da matria no movimento, estamos
afirmando que toda matria sofre transformaes. A transformao que acontece na
matria no est relacionada aos fatos externos, a sua superficialidade ou caractersticas
externas. Quando afirmamos a transformao da matria nos referimos s mudanas que
acontecem internamente da matria em si mesma. Esta transformao obedece a prpria
lei da contradio, lei que se refere aos cmbios profundos que acontecem na prpria
essncia material. S permanecem imutveis os rgos. Por exemplo, o estmago
continuar tendo sempre a mesma funo biolgica; os olhos continuaro tendo a
mesma funo biolgica etc.
Por isso, o ser humano como matria um ser em unicidade permanente por
estar em movimento dialtico eterno. O ser humano existe em unicidade eterna porque
lhe inato a dinmica do processo de produo e reproduo humana. Unicidade que
cria uma realidade humanizada objetiva e subjetivamente. O que seria esta realidade
humanizada objetiva e subjetivamente? Significa que o ser humano se objetiva nos
34
objetos concretos e reais da matria por meio da sua atividade, concretizada no trabalho
em si. Ao mesmo tempo em que se objetiva, dialeticamente, ele passa por uma
subjetivao, por uma transformao interna pela fora da sua atividade.
Esta forma de entender a matria definir o clssico pensamento de Vigotsky, e
dos representantes da Teoria Histrico-Cultural como Luria e Elkonin, quando ele
desenvolve no seu trabalho o processo de atividade, conscincia e pensamento.
Para a pedagogia no s deve ficar claro o conceito de matria e a compreenso
da sua importncia no mundo escolar. Matria no s um conceito abstrato criado
pela conscincia humana. Matria real, concreto. O ser humano material, concreto.
Ele no um mero resultado ftico do capricho da natureza. O ser humano fruto de
uma atividade histrica e social, resultado da totalidade de uma prtica social humana.
Quando afirmamos a materialidade do ser humano, estamos defendendo uma postura
dialtica do processo de formao e relao dele. O ser humano se relaciona
dialeticamente com a natureza e com seu gnero mediante a objetivao e apropriao
do trabalho que prprio do ser humano. nesta relao dialtica que devemos
compreender a formao do processo de humanizao do prprio ser humano. Marx
(1985) mostra a totalidade da prtica social humana como o pressuposto determinante
para a humanizao do homem. O ser humano no constitui um objeto acabado e
formado como se fosse uma categoria amaterial, mas, por meio da sua atividade o ser
humano, como verdadeira matria, transforma a natureza e se transforma na sua
essncia. Por isso, Marx (1985) destaca de que o ser humano, na sua atividade, como
prtica totalizante converte os seus cinco sentidos em sentidos humanos.
1.1.2 Conceito marxista da conscincia
Chegamos agora a um ponto muito importante que o nosso trabalho apontar
para buscar um entendimento do que seria a conscincia no Materialismo HistricoDialtico. de muita utilidade a compreenso do que seria a conscincia e quais so as
suas caractersticas peculiares.
Vigotsky e os representantes da Teoria Histrico-Cultural, como Luria e
Leontiev, desenvolveram o seu trabalho no entendimento que tem sobre a conscincia
do ponto de vista do Materialismo Histrico-Dialtico. Depois de compreender ou ter
uma noo do que a conscincia podemos chegar a compreender o trabalho de
35
Vigotsky, que destaca a importncia do desenvolvimento humano desde o histricocultural.
Qual a noo de conscincia no marxismo?
No h uma conceitualizao do termo conscincia em Marx. O que se entende
por conscincia em Marx & Engels (S/D) a seguinte afirmao:
[...] O homem tambm possui conscincia6. Mas no se trata de uma
conscincia que seja de antemo conscincia pura. [...] A
conscincia pois um produto social e continuar a s-lo enquanto
houver homens. A conscincia , antes de tudo, a conscincia do meio
sensvel imediato e de uma relao limitada com outras pessoas e
outras coisas situada fora do indivduo que toma conscincia. (MARX
& ENGELS, s/d, p.36).
Quando eles dizem que a conscincia no pura, esto afirmando que ela no
uma matria, seno uma propriedade da prpria matria, um reflexo da matria em si. A
conscincia o resultado de uma relao dialtica entre a natureza e os outros seres
humanos que mediada pela prpria atividade humana.
Em rodap colocamos o uso de esprito por Marx e Engels para indicar que a
matria o reflexo da prpria matria mais desenvolvida, que o ser humano.
Tambm, vrios autores, entre eles, Trivios (2009) faz uma interessante
reflexo sobre a conscincia nestes termos:
A matria capaz de reflexo. O reflexo uma caracterstica geral da
matria, uma propriedade dela. A conscincia um tipo de reflexo, a
propriedade mais evoluda de reflexo, peculiar s matria altamente
organizada. Desta maneira, a conscincia no matria como
pensavam os materialistas vulgares. A conscincia uma propriedade
da matria, a mais altamente organizada que existe na natureza, a do
crebro humano. Essa peculiaridade surgiu como resultado de um
longo processo de mudana da matria. (TRIVIOS, 2009, p.62).
A conscincia como propriedade da matria nos indica que a conscincia nunca
determina a matria, seno a matria que determina a conscincia. O ser humano
uma matria e a conscincia a sua maior propriedade organizativa vinculada ao
crebro humano. A conscincia surge quando o ser humano sente a necessidade de
6
Variante no manuscrito: apercebemo-nos de que, entre outras coisas, o homem tem esprito e que esse esprito se manifesta
como conscincia.
36
transformar a natureza com instrumentos especialmente preparados e de dar respostas
para as suas necessidades criadas por meio da conscincia. A conscincia a
capacidade de fazer inteligvel e compreensvel o reflexo que emana da prpria matria.
Leontiev (1978) afirma de que:
La tesis inicial del marxismo sobre la conciencia consiste en que sta
es una forma cualitativamente particular de la psiquis. Aunque la
conciencia tiene tambin una larga prehistoria en la evolucin del
mundo animal, en el hombre aparece por primera vez en el proceso en
que se fueron estableciendo el trabajo y las relaciones sociales. Desde
el comienzo afirman Marx y Engels en la Ideologa Alemana la
conciencia es un producto social (LEONTIEV, 1978, p.26).
Tanto o animal como o homem possuem a psiques porque tem o crebro, rgo
importante da formao da prpria psique. Mas, a conscincia surge no ser humano
como resultado da forma evolutiva do seu processo de atividade superior, estabelecido
pelo exerccio do trabalho numa relao dialtica entre a prpria natureza e as relaes
humanas. Sem o trabalho e as relaes humanas, no seria possvel a existncia da
prpria conscincia humana. Seria como o animal, com sua psique, mas sem
conscincia. Quanto mais sofisticado o trabalho humano, a conscincia mais
desenvolvida.
Num sentido pedaggico, poderamos pensar de que o tipo de atividade
oferecido aos alunos nas escolas deve ser atividades que possam incentivar exerccio da
conscincia. A atividade e os tipos de relaes sociais so cruciais e determinantes para
que a conscincia funcione.
Mas, qual a necessidade e a funo real da prpria conscincia? A conscincia,
no marxismo, no uma manifestao no sentido epifenmeno como resultado de
processos cerebrais, num sentido fisiolgico. A conscincia no resultado do simples
estmulo dos elementos cerebrais como consequncia da reao ao estmulo verificado
na simples manifestao do fenmeno. Leontiev (1978) afirma que:
La verdadera explicacin de la conciencia no se halla en estos
procesos, sino en las condiciones y modos sociales de esa actividad
que crea la necesidad, o sea, en la actividad laboral. Esta actividad se
caracteriza porque se produce su cosificacin, su extinsin segn
expresin de Marx en el producto (LEONTIEV, 1978, p.27).
37
O ser humano tem essa necessidade e, para satisfazer essa necessidade
existencial, surge o pressuposto do trabalho que vai diferenciar e transformar a natureza
e as relaes sociais. Satisfazer as necessidades prticas ser s possvel por meio da
prpria conscincia. Mas, a conscincia resultado da prpria atividade humana, o
trabalho, e da sua relao social. O trabalho e essa relao social ser o fator
determinante do surgimento da conscincia humana. Sem esses pressupostos, a
conscincia no seria possvel. O trabalho e a relao social so elementos vinculantes e
relacionados intrnseca e dialeticamente.
Outro autor, como Krapivine (1986), conclui:
[...] a conscincia surgiu das necessidades da produo e da vida
social em geral. Por isso, no pode nem aparecer nem existir fora da
sociedade e das relaes sociais. Do comeo ao fim, ela um produto
social, o resultado do trabalho coletivo dos homens. Esta concluso do
materialismo dialtico est inteiramente de acordo com as
investigaes cientficas, abrangendo tanto a formao da sociedade
em geral como tambm a da conscincia individual, em particular.
(KRAPIVINE, 1986, p.118-119).
O ser humano desenvolve a sua conscincia nessa relao dialtica entre
atividade prpria do ser humano e a prpria matria. A integrao na vida social do ser
humano faz com que a conscincia seja altamente desenvolvida.
Uma criana recm nascida no tem a conscincia, mas, ao longo da sua vida ir
desenvolvendo a sua conscincia. Mas, para desenvolver essa conscincia, o ser
humano precisa viver em sociedade, em relao constante com outro ser humano. A
conscincia s possvel nessa mediao constante que acontece entre os homens e a
natureza. S a simples relao com a natureza, com o mundo material, no lhe permite
desenvolver a sua conscincia. Temos vrios exemplos de seres humanos que foram
encontrados vivendo em estado de pura natureza, sem a relao com outro ser humano.
Os casos mais tpicos so de Amala e Kamala, as meninas-lobo. Estes casos nos
mostram que o desenvolvimento do ser humano e da sua conscincia esto diretamente
relacionados integrao que ele deve fazer na vida social.
Konstantinov (1959) escreve de que o materialismo marxista parte de duas
definies apodcticas sobre a conscincia quando ele afirma que:
1. A conscincia, propriedade da matria altamente organizada:
38
la conciencia es el producto superior de la materia, de la naturaleza
[...] La conciencia, propiedad de la materia altamente organizada. La
conciencia es la propiedad de la materia altamente organizada.
(KONSTANTINOV, 1959, p. 155).
O produto superior da matria a prpria conscincia. S a matria altamente
desenvolvida e organizada tem conscincia. E no mundo material, da prpria natureza, a
nica matria altamente organizada e desenvolvida o ser humano. Nenhuma outra
matria tem uma organizao ou desenvolvimento muito elevado como o ser humano
no mundo material.
A matria j existia antes mesmo da existncia do ser humano. Quando surge o
ser humano, num determinado momento da histria natural ou fsica, surge com ele, a
conscincia. Mas, o surgimento da conscincia no ser humano no foi por acaso, mas
est relacionado diretamente com o trabalho que ele comea a realizar. O trabalho o
elemento diferenciador e motivador do surgimento da conscincia no ser humano.
A formao da conscincia o resultado de um longo processo da atividade
humana ao longo de toda sua existncia histrica. E toda atividade um processo da
manifestao da objetivao e apropriao do ser humano na prpria matria. Toda
atividade humana resultado de uma sociedade concreta. Ou seja, a conscincia
humana resultado do processo social da atividade humana. A conscincia social e
cultural porque resultado do prprio trabalho humano, concretizado no mundo da
natureza para transformar a prpria natureza e buscar a sua humanizao. A conscincia
significa essa constante luta do ser humano no processo da sua prpria humanizao. O
ser humano, como material, est na natureza, no como um ser acabado e formado,
seno, est presente para concretizar a sua humanizao numa relao dialtica entre
natureza e outros homens.
E a conscincia, como elemento da matria altamente
organizada, o fundamental para que o ser humano seja a condio do critrio de
verdade absoluta de transformao das condies materiais da existncia humana. A
conscincia humana, como fruto da sua existncia humana, o instrumento que dirige,
governa toda a atividade prtica do prprio ser humano.
Por que o ser humano a matria altamente desenvolvida, que tem a conscincia
como caracterstica? E por que s o ser humano possui conscincia? Pelo simples fato
de que o ser humano tem crebro que o rgo da ativao da conscincia humana.
Sem o crebro, o ser humano no teria uma existncia consciente e concreta, no seria
39
diferente aos outros animais, aos outros seres vivos. Vygotski (1996) em todo o Tomo
III analisa essa questo do funcionamento do crebro humano desde a perspectiva das
funes psquicas superiores. Devemos deixar claro, na poca de Marx e de Vigotsky, o
estudo sobre o crebro humano e o sistema nervoso central ainda no estava bastante
desenvolvidos. Da que Marx pensava que s o homem tinha crebro. Hoje, com as
pesquisas realizadas, j sabemos que o animal tambm possui crebro, s que no tem
as condies de funcionalidade, as funes psquicas superiores, o sistema nervoso
central. O animal s tem uma relao de existncia com o mundo natural. Mais uma
simples relao de existncia que ele possui com o meio circundante. O animal no
transforma a natureza nem possui uma relao dialtica com esse meio, porque a nica
relao de aproveitar o que a prpria natureza lhe oferece para no deixar de existir. J
o ser humano no se relaciona simplesmente com a natureza, mas, interage com ela,
transformando o mundo natural e ao mesmo tempo, dialeticamente, ele prprio se
transforma. A interao do ser humano com esse meio resultado do seu trabalho e das
relaes sociais.
Konstantinov (1959) afirma o porqu do ser humano ser a matria altamente
desenvolvida:
Agreguemos a ello que el pensamiento lgico abstracto7, forma
superior de la conciencia, se halla condicionado por la existencia del
sistema nervioso ms altamente desarrollado y por la de su seccin
superior, el cerebro, que solamente se da en el hombre. Y cuanto ms
bajo estn los animales en la escala de la evolucin animal y ms
sencillamente se halla organizado el sistema nervioso, tantos ms
elementales son los fenmenos squicos, hasta llegar a su forma ms
simple, la sensacin. En los seres orgnicos inferiores, que carecen de
sistema nervioso central, no se descubre rastro alguno de vida
psquica. (KONSTANTINOV, 1959, p.157).
O ser humano possui o seu sistema nervoso altamente desenvolvido pelo crebro
que ele possui. O funcionamento de seu crebro o diferencia de todas as outras formas
de vida. Assim, a conscincia produto da atividade altamente organizada do crebro
humano, ser humano entendido como ser material. O ser humano possui a atividade
psquica, psquica que seria o nexo interno que possibilita ao ser humano interagir com
o meio natural para transformar e objetivar-se nele.
Em itlico pelo autor do livro.
40
Porm, o fato de viver em sociedade, o fato de relacionar-se com outro ser
humano, garante ao ser humano o desenvolvimento da conscincia? Alguns animais se
relacionam com o ser humano, vivem com o ser humano, mas, notamos que eles no
desenvolvem a conscincia. Qual seria o elemento diferenciador da existncia
consciente do ser humano, do animal no consciente? J respondemos esta questo
afirmando que a prpria estrutura e funcionamento do crebro humano.
Seguro que os leitores estaro perguntando se a conscincia uma matria ou/e
se ela possui uma existncia exterior matria? Respondemos dizendo de que no se
trata de duas substncias em si, conscincia como matria e conscincia como exterior
prpria matria. A conscincia uma qualidade intrnseca matria mais desenvolvida,
s dada na prpria matria. Ela uma qualidade imanente na prpria matria mais
desenvolvida, o ser humano.
O importante que fique bem claro que no materialismo dialtico, a conscincia
surge com o ser humano, especificamente quando ele comea a elaborar os seus
instrumentos para realizar o seu trabalho. O trabalho, a prpria atividade em si, o fator
determinante para o surgimento da conscincia no ser humano, trabalho que foi
constituindo-se ao longo de toda a histria humana. O aparecimento da conscincia
humana o resultado da atividade humana, atividade concretizada no seu trabalho e na
sua relao com os outros homens. Mas, se afirmamos que s a conscincia o
resultado do trabalho e da relao social, estaramos sendo imparciais. Junto com o
trabalho e essa relao social surge a linguagem humana. Nessa interao do ser
humano com a natureza e com os outros homens surge a necessidade objetiva e concreta
da comunicao. E a linguagem o resultado dessa comunicao. Leontiev afirma o
seguinte sobre a questo da linguagem:
Al entablar comunicacin entre ellos, los hombres producen tambin
el lenguaje, que sirve para denominar el objeto, los medios y el
proceso del trabajo. [] El lenguaje es la conciencia prctica, la
conciencia real, que existe tambin para los otros hombres y que, por
tanto, comienza a existir tambin para m mismo (LEONTIEV, 1978,
p.27).
Sem a linguagem, o ser humano nunca conseguiria comunicar esse mundo
objetivo apropriado por ele por meio do seu trabalho e das relaes sociais que ele
estabelece nesse processo de produo. A linguagem exterioriza a apropriao interna
41
do ser humano, no sentido em que comunica o objeto apreendido e faz cognoscvel e
compreensvel toda essa interao. A conscincia no teria sentido sem a linguagem,
pressuposto determinante da prpria comunicao.
Leontiev (1978) resume a importncia desta relao dialtica entre conscincia e
linguagem desta forma:
Su conciencia es tambin un producto de su actividad en el mundo
objetivo. Es en esta actividad, que se realiza por intermedio de la
comunicacin con otros hombres, donde tiene lugar el proceso de
apropiacin por el hombre de las riquezas espirituales acumuladas por
el gnero humano y que estn encarnadas en la forma objetiva
sensorial (LEONTIEV, 1978, p.28).
A conscincia em si mesma no faz cognoscvel o produto do seu trabalho. A
conscincia no tem essa capacidade de irradiar o conhecimento, mas, s pode
comunicar, exteriorizar, objetivar essa apropriao por meio da linguagem. A
linguagem humana adquire um papel fundamental nessa comunicao. Sem ela, seria
impossvel a transmisso dos eventos histricos produzidos pelo ser humano ao longo
do seu processo de humanizao.
Agora, a segunda verdade sobre a conscincia:
2. A conscincia, reflexo do mundo material.
O reflexo da matria constitui uma essncia da prpria matria altamente
organizada e desenvolvida. E a matria altamente organizada o ser humano. Pela sua
conscincia, o ser humano capta o reflexo das outras matrias. Isto significa que a
existncia da outra matria, que no seja o ser humano, real e concreta e, que a
existncia da outra matria no depende da conscincia do ser humano. O objeto em si
existe e real. S que esse objeto no tem conscincia para apropriar-se da realidade
como conhecimento. S o ser humano, pela conscincia altamente desenvolvida possui
essa capacidade de apropriar-se da matria em si.
Mas, o que seria o reflexo do mundo material? Krapivine (1986) afirma:
A experincia quotidiana do homem atesta que qualquer objecto,
mesmo no-orgnico, reflecte o mundo exterior, ou seja, pode
imprimir aces externas, modificando-se sob a sua influncia. E a
esta modificao ou, mais correctamente, ao vestgio resultante da
aco de um corpo sobre outro que se mantm durante certo tempo
que se chama de reflexo. Ele prprio dos objectos materiais, da
42
matria em geral nos seus diversos nveis de desenvolvimento, sob
diferentes formas. (KRAPIVINE, 1986, p. 110).
Significa que o reflexo uma caracterstica essencial, inato, em toda a matria.
Ele constitui uma forma de comunicar algo da matria para outra matria. Mas, s o ser
humano, pela sua conscincia, pelas suas sensaes e pelas suas percepes que vai
apropriando-se de toda manifestao do mundo material.
O reflexo da matria indica a sua comunicabilidade, a sua trascendentalidade e
indica a existncia da matria. O estado de reflexo que possui a matria nos indica que
toda a matria tem movimento, que atua dentro de um espao e tempo determinado. O
ser humano, como matria, tem o seu estado reflexo. Mas, s o ser humano tem essa
capacidade de captar, de compreender, de entender, de apropriar-se do reflexo das
outras matrias porque ele possui a conscincia. O ser humano, numa relao dialtica,
interage com a natureza e com os outros homens por meio do seu processo de trabalho e
da sua relao social. As outras matrias tm o reflexo, porm, no tem a conscincia
para captar a essncia da outra matria. Os animais possuem sensaes, mas no
significa que eles possam entender a essncia da matria. O que os guia o prprio
instinto, irracional, inconsciente. Os animais o mximo que fazem com a natureza e com
os outros animais uma relao num nvel muito precria. A relao entre os animais
no uma relao objetiva nem consciente. uma relao sem intencionalidade e sem
objetividade porque eles no realizam o trabalho nem tem uma relao consciente. No
podemos negar que o animal realiza uma atividade, s que uma atividade totalmente
sem prxis, sem finalidades e sem intencionalidade. s uma atividade inata no prprio
animal para que por meio dessa atividade consiga sobreviver na natureza.
A conscincia um produto da prpria atividade cerebral que surge por meio do
vnculo que tem o crebro, dos rgos sensoriais, com o mundo material, com o mundo
exterior a prpria conscincia. O reflexo da matria, que chega ao crebro atravs das
atividades sensrias, provoca no ser humano as sensaes.
Elas surgem pela fora do reflexo dada nas atividades sensoriais. Mas, a fonte
das prprias sensaes est no mundo material.
O que seriam as sensaes? Konstantinov (1959) diz o seguinte:
Las sensaciones constituyen la forma elemental de la conciencia,
sobre cuya base surgen todos los dems fenmenos, ms complejos,
43
de ella. Sin las sensaciones sera imposible el conocimiento. Slo
mediante las sensaciones adquiere la conciencia su contenido entero y
toda su riqueza. Cuanto ms amplios y diversos sean los vnculos que
la unen al mundo material circundante, tanto ms empapada estar de
contenido. [] Si el cerebro no mantuviera relacin alguna con el
mundo exterior a travs de los rganos de los sentidos no habra
sensaciones y, por consiguiente, no se daran tampoco otras formas de
la conciencia. (KONSTANTINOV, 1959, p. 162).
Toda matria tem a essncia do reflexo, s o ser animal, com sistema nervoso,
tem a essncia das sensaes. Mas, s o ser humano possui as sensaes mais
desenvolvidas por ser o ser humano a matria mais desenvolvida, graas ao crebro que
possui. O animal, pelo instinto, se adapta e se acomoda ao mundo natural. O animal luta
pela sua sobrevivncia nesse mundo. Por exemplo, a guia pode ser que enxergue mais
longe que o ser humano, mas, s o ser humano tem a capacidade de compreender, de
captar matizes, de raciocinar o que est observando ou enxergando. Pode ser que o
cachorro tenha o ouvido mais afinado, mas, s o homem pode compreender e definir os
tipos de sons, as intensidades de som etc., tudo isso porque o ser humano capta as
sensaes finas por meio do seu crebro altamente desenvolvido. O ser humano o
nico ser do mundo material que adquire o conhecimento na sua totalidade em si
mesma, isto pelas sensaes que so captadas pela conscincia em sua plenitude e sem
limite.
Gostaramos de estender um pouco mais a anlise sobre a categoria sensao e
estado reflexo da matria, para no cometer um erro dos idealistas dogmticos sobre
essas duas categorias. Quando estamos falando sobre a matria e as sensaes no
estamos colocando-as como duas substncias, como duas matrias independentes, como
pensam os idealistas, seno:
Las sensaciones no son una sustancia autnoma, independiente y
opuesta a la materia, sino la copia, la fotografa de ella; es decir, un
reflejo de la materia. Este reflejo se da en la materia y en virtud de ella,
razn por la cual se sienta la tesis de que la materia es la fuente de las
sensaciones. (KONSTANTINOV, 1959, p. 116-117).
A matria no resultado das sensaes do ser humano, como pensam os
idealistas, seno as sensaes so reflexos da prpria matria e o ser humano se apropria
dela por meio da sua conscincia, mediada pelas atividades e pelos instrumentos
mediadores que se encontram no mundo material. A matria em si mesma a origem, a
44
gnese das sensaes. Estas sensaes emanadas da prpria matria modificam o ser
humano quando ele entra em relao dialtica com elas. importante entender,
compreender e destacar que o ser humano sente e percebe no so as sensaes e as
percepes, seno as coisas ou fenmenos em si mesmos do mundo material. A matria
dada ao ser humano nas suas sensaes. Isto o ponto importante a destacar neste
aspecto sobre as sensaes. Por isso, a relevncia em destacar que a matria modifica o
pensamento do ser humano, a matria no uma atividade psquica, produzida pela
conscincia humana, seno, a matria lhe dada ao ser humano nas suas prprias
sensaes.
As sensaes so diferentes s percepes porque aquelas, as sensaes, so
resultados da ao da matria sobre os rgos dos sentidos. Pelas sensaes penetra no
ser humano o mundo exterior, o mundo material, por meio da prpria conscincia
humana.
Ento, no materialismo histrico-dialtico, h uma diferencia substancial entre
as sensaes e as percepes. A percepo :
Un complejo de sensaciones ligadas entre s que corresponde a las
propiedades-mutuamente relacionadas- del objeto que provoca la
percepcin dada. A cada objeto material corresponde en el sujeto
determinada percepcin; las peculiaridades de la percepcin expresan
las de los objetos materiales, sus propias semejanzas y diferencias.
[] Las percepciones son copias, fotografas o imgenes de los
objetos materiales. (KONSTANTINOV, 1959, p. 164).
Mediante a percepo, o ser humano toma conhecimento do objeto material. A
percepo uma categoria da prpria matria (o ser humano), pela qual o ser humano se
apropria racionalmente da essncia em si da matria. A percepo j indica um alto grau
de racionalidade para que o ser humano possa compreender logicamente todo o saber
produzido.
Por isso, em Konstantinov (1959) vemos que:
La percepcin del mundo por el hombre no es pasiva, contemplativa,
como un espejo inerte, sino una percepcin activa. En el proceso de su
actividad transformadora social, el hombre percibe los objetos y
fenmenos del mundo circundante. Ello le permite conocer ms a
fondo el mundo. En ese proceso de percepcin del mundo que le
rodea, desempean una funcin muy importante no slo los objetos
percibidos y los rganos sensoriales, sino tambin toda la experiencia
45
acumulada por el hombre y la humanidad. (KONSTANTINOV, 1959,
p.166).
Como a percepo est relacionada com o processo de raciocnio, processo de
formao do sujeito pensante, se conclui que o ser humano por essa percepo conhece
na sua totalidade a prpria matria. Pela percepo o ser humano se apropria tambm de
todo o conhecimento produzido. Ento, a percepo constitui uma funo muito
importante para raciocinar sobre o objeto material que se reflete nas prprias atividades
sensitivas do ser humano.
Durante o processo de percepo, o ser humano vai processando os dados
captados pelos sentidos e enviados ao crebro por meio do sistema nervoso. Diramos
que a percepo tem o papel de ordenar e associar os distintos objetos na sua
integridade, no conjunto das suas propriedades.
Petrovski (1995) afirma que:
La percepcin surge como resultado de la accin directa del excitante
sobre los receptores, las imgenes perceptivas siempre tienen un valor
semntico determinado. La percepcin est, en el individuo,
estrechamente ligada al racionamiento, a la comprensin del objeto.
Percibir conscientemente un objeto significa nombrarlo mentalmente y
esto significa, a su vez, relacionar el objeto percibido a un grupo
determinado, a una clase, generalizarlo en la palabra. (PETROVSKI,
1995, p. 227-228).
Temos o conhecimento da matria em si porque a percepo est unida razo
humana. O que entendemos do material ser o resultado da percepo que o ser humano
imprime sobre o objeto material. Mediante a percepo, o ser humano vai apropriandose do conhecimento do objeto na sua essncia. Pela percepo o ser humano comea a
conhecer com mais detalhes, com mais riqueza o objeto material. Pela percepo ele ir
modificando a prpria natureza, buscando um sentido ontolgico sua vida no mundo
material.
At aqui estamos afirmando que por meio da percepo, o ser humano se
apropria do conhecimento do objeto material. J conclumos que s existe a matria e
que no h nada alm da matria. Tambm, pela percepo do intelecto e dos rgos
sensitivos nos apropriamos da matria em si mesma, na sua essncia. Mas, como
explicar certas imagens que temos, por exemplo, da sereia, do centauro, etc.? Se no h
46
nada alm da matria, e se s captamos e processamos o que s existe no mundo
material, mundo objetivo e concreto, como o ser humano tm as representaes desses
seres?
Vejamos a explicao do materialismo histrico-dialtico na perspectiva de
Konstantinov (1959), quando ele escreve da seguinte forma:
Nuestro cerebro posee la facultad de formar representaciones, es
decir, imgenes de los objetos que en un momento dado no provocan
sensaciones en nosotros. Aunque esas imgenes son, al parecer,
productos de la autoactividad arbitraria de la conciencia, no es as en
realidad. Slo podemos representarnos los objetos que alguna vez
provocaron efectivamente sensaciones en nosotros, dejando grabadas
sus huellas en nuestro cerebro. Las representaciones, al igual que las
sensaciones y percepciones que le sirven de base, son reflejos,
imgenes, del mundo material. (KONSTANTINOV, 1959, p.167).
O nosso crebro possui a capacidade de formar representaes do mundo
material. No significa que as representaes em si de um objeto sejam verdadeiras.
Quando falamos de centauro ou sereias, no estamos indo contra o materialismo, seno
estamos na verdade afirmando a objetividade e a verdade sobre a matria em si mesma.
Se o ser humano no tivesse visto nunca um cavalo, um homem, um peixe ou, uma
mulher, no estaria representando no seu crebro a imagem de um centauro (metade
homem e metade cavalo) nem de uma sereia (metade mulher e metade peixe).
As representaes so associaes de aes imaginativas que acontecem na
mente humana em forma arbitraria e com relativa autonomia, frente ao prprio
raciocnio lgico e formal sobre os objetos concretos e reais. No nosso objetivo
analisar nem problematizar sobre Deus ou o diabo nesta perspectiva das representaes
deles como existncia sobrenatural. Esta anlise fica para os exegetas, hermenuticos e
para a rea da teosofia. Quando estamos analisando as representaes que acontecem no
ser humano s para indicao em um sentido pedaggico.
O ser humano vai apropriando-se do conhecimento do objeto material. Num
determinado momento da existncia humana, pela capacidade que tem para processar os
dados da essncia da matria, resulta o pensamento como elemento que vai significar os
dados da realidade, que vai buscar conhecer a universalidade e as propriedades de toda a
matria.
O que seria o pensamento no materialismo histrico-dialtico?
47
Petrovski (1995) faz a seguinte afirmao:
El pensamiento es el producto superior de la materia especficamente
organizada del cerebro-, es el proceso activo de reflejo del mundo
objetivo en conceptos, juicios, teoras, etc. El pensamiento es el
proceso psquico socialmente condicionado de bsquedas y de
descubrimientos de lo esencialmente nuevo y est indisolublemente
ligado al lenguaje. El pensamiento surge del conocimiento sensorial
sobre la base de la actividad prctica y lo excede ampliamente.
(PETROVSKI, 1995, p. 292).
Pelo pensamento elaboramos processos cognoscitivos sobre a realidade material.
O pensamento ordena o conhecimento apropriado e objetivado em conceitos, ideias,
axiomas, teorias etc., porque constitui uma mediao de conhecimento entre o sujeito
cognoscente e a matria cognoscvel. J sabemos que a matria reflexa e que por meio
das sensaes, das percepes e das representaes buscamos a apropriao, a
assimilao do mundo material na forma concreta, mas, pelo pensamento que
formamos os critrios de conhecimento abstrato da realidade concreta. Isto significa que
o pensamento penetra at a prpria essncia da matria para compreender na sua
mxima expresso a essncia da matria. pelo pensamento que o ser humano faz
inteligvel a estrutura essencial do mundo material. E pelo pensamento que o ser
humano se apropria de todo o conhecimento histrico, desenvolvido em forma de
cultura.
Devemos recordar que o pensamento surge da prpria atividade prtica do ser
humano. No estamos defendendo a ideia do pensamento emprico, que totalmente
diferente do pensamento do materialismo. O pensamento emprico defende a ideia de
que todo pensamento resultado da prpria experincia humana e que o conhecimento
fruto desse empirismo. Notamos que o conhecimento reduzido s sensaes, que nos
do as aparncias das coisas, no nos proporciona o conhecimento da realidade, seno
s o estado fenomnico do objeto. Nesta linha de pensamento, observamos a
trascendentalidade do sujeito pensante. H coisas desde a perspectiva do sujeito, desde o
seu processo sensitivo.
A matria consequncia do eu pensante, no da prpria razo, do intelecto
humano. S existe aquilo que pode ser experimentado. No h nada fora da experincia
humana. Os empiristas menosprezam o papel do pensamento abstrato no conhecimento
e negam, por esta via, as categorias qualitativas que o distinguem das sensaes e das
48
percepes. Como o conhecimento fica atrelado prpria experincia, s valido
quilo que foi experimentado.
Desta forma, o empirismo no consegue atingir a essncia da matria. O
empirismo estava bastante atrelado concepo religiosa. Da a negatividade de
reconhecer que a matria tem reflexo e que o pensamento pode analisar, por meio de
conceitos etc., o estado abstrato da matria em si.
O pensamento materialista nega as concluses do empirismo e racionalismo,
porque so concepes unilaterais e metafsicas. Concebem o conhecimento como inato
no ser humano; que s temos conhecimento ou pensamento da realidade pelas sensaes
e percepes. Mas, que fique claro que as sensaes e percepes s captam o objeto
que est presente na memria. Essas duas correntes do pensamento negam que a matria
tenha reflexo e que o ser humano seja a matria mais desenvolvida.
Porm, o objetivo no aprofundar a anlise sobre o empirismo, para isso, fica
a critrio do leitor um aprofundamento mais objetivo e concreto8.
Continuemos com nossa anlise do pensamento no materialismo. O
conhecimento que o ser humano adquire desde as bases das sensaes e das percepes
bastante limitado, reduzido, finito, etc. As caractersticas entre o singular e geral, entre
o causal e o necessrio, entre a essncia e o fenmeno, no se do por separados. Tanto
as sensaes e as percepes no chegam a diferenciar estas categorias. Observamos os
raios solares, o vento, o movimento das coisas, etc., porm, no captamos as leis que
regem tudo isso. Desconhecemos o abstrato desses objetos. Por exemplo, o pensamento
de uma criana que ainda no foi escola, ser totalmente diferente ao pensamento de
uma criana que est na escola. Isto significa que o pensamento humano fruto de uma
atividade exterior a ele. Pelo pensamento, o ser humano, realiza abstraes para
conhecer os nexos internos de cada matria.
Pelo pensamento abstrato o ser humano se distancia do conhecimento concreto e
real, sensitivo e perceptivo e, busca aproximar-se da verdade do objeto analisado. No
estamos dizendo que negamos a importncia do pensamento concreto. Estamos
colocando em evidencia que no materialismo dialtico, aprofundamos o conhecimento
Alguns empiristas: FRANSISCO BACON (Instauratio magna scientiarum e novum organum scientiarum); TOMS HOBBES
(Elementa philosophiae, uma trilogia de texto, entre eles est o LEVIAT); JOO LOCKE ( Ensaio sobre o intelecto humano e Os
pensamentos sobre a Educao) e, por ultimo o maior empirista pr-kantiano, DAVID HUME (O tratado sobre a natureza humana).
49
de qualquer objeto material indo prpria gnese desse objeto, que a sua essncia
infinita, concreta e real.
No pensamento h uma concordncia dialtica entre pensamento e objeto. Esta
concordncia se d no prprio processo. O processo do pensamento busca a verdade
absoluta, entendida como a apropriao geral da essncia da matria. Isto quer dizer que
o pensamento, pela dialtica entre sujeito e objeto, busca conceitualizar os fenmenos
materiais.
Kosik (1976) afirma o seguinte sobre o pensamento dialtico:
O pensamento dialtico parte do pressuposto de que o conhecimento
humano se processa num movimento em espiral, do qual cada incio
abstrato e relativo. Se a realidade um todo dialtico e estruturado, o
conhecimento concreto da realidade na consiste em um
acrescentamento sistemtico de fatos a outros fatos, e de noes a
outras noes. um processo de concretizao que procede do todo
para as partes e das partes para o todo, dos fenmenos para a essncia
e da essncia para os fenmenos, da totalidade para as contradies e
das contradies para a totalidade (KOSIK, K., 1976, p. 41).
Por meio do pensamento dialtico o ser humano consegue chegar essncia do
problema sem perder o sentido das contradies que se verificam na prpria matria no
seu processo de desenvolvimento. Mediante o processo do pensamento dialtico
possvel, numa linha de pensamento em espiral, chegar do abstrato ao concreto. O
pensamento sistemtico do racionalismo e do empirismo no consegue desenvolver um
pensamento dialtico. Como o pensamento tem um processo em espiral, o incio de cada
atividade pressupe algo abstrato e relativo. Abstrato porque parte da prpria teoria.
Mas, relativa no sentido que esse abstrato no esttico nem determinante. O incio
dialtico pressupe o comeo que deve ser superado para chegar a outro momento da
prpria dialtica. Isto significa que no pensamento dialtico todo est relacionado, h
uma relao intrnseca entre o todo e as partes e das partes com o todo.
Mas, o que seria a totalidade no pensamento dialtico? Comumente a totalidade
tem o sentido de compreender todos os fatos. Por exemplo, temos um conhecimento
sobre as dificuldades de aprendizagem e de ensino nas escolas. Mas, este conhecimento
que temos um conhecimento superficial, um conhecimento das particularidades de um
problema, sem nenhuma relao entre a totalidade e a concreticidade. Conhecer as
particularidades do objeto no significa conhecer a prpria essncia do objeto. Por isso,
50
a totalidade mais que o conhecimento da simples particularidades. A totalidade no
pensamento dialtico, segundo Kosik (1976) o seguinte:
Totalidade no significa todos os fatos. Totalidade significa: realidade
como um todo estruturado, dialtico, no qual ou do qual um fato
qualquer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser
racionalmente compreendido. Acumular todos os fatos no significa
ainda conhecer a realidade; e todos os fatos (reunidos em seu
conjunto) no constituem, ainda, a totalidade. Os fatos so
conhecimento da realidade se so compreendidos como fatos de um
todo dialtico isto , se no so tomos imutveis, indivisveis e
indemonstrveis, de cuja reunio a realidade saia constituda se so
entendidos como partes estruturais do todo (KOSIK, 1976, p. 35-36).
Ento, a totalidade dialtica difere totalmente do sentido de ter conhecimento
total dos fatos. Compreender a totalidade do objeto compreender a prpria essncia do
objeto, ou do prprio problema. Por isso, o problema de ensino ou de aprendizagem
deve ser analisado na sua totalidade, totalidade entendida como dialtica e no como
pressuposto mecanicista da compreenso do objeto de estudo. Da a importncia de
compreender e analisar o problema de educao desde a tica da totalidade dialtica,
porque dessa forma se faz uma anlise que realmente seja profunda e significativa.
Rosental (1959) escreve que alm dos conhecimentos baseados nos sensitivos e
perceptivos, surge no ser humano um conhecimento mais elaborado, que imprime o seu
carter em entender a essncia da matria. E esse novo conhecimento chama de
pensamento ou raciocnio.
Para Rosental (1959) o pensamento ou o raciocnio permite ao ser humano:
Penetrar no fundo das coisas, destacar nos objetos os seus aspectos
essenciais e no essenciais, distinguir o lado exterior, freqentemente
enganoso, do interior, que o mais importante decisivo.
(ROSENTAL, 1959, p. 58).
S o pensamento ou raciocnio capaz de subtrair a essencialidade da matria,
conhecer as propriedades intrnsecas dela, as leis que a governam, o seu
desenvolvimento interno e a sua multiplicidade. Todas estas categorias so
compreensveis e inteligveis ao ser humano por meio do seu pensamento e sua prtica
numa relao dialtica de totalidade e concreticidade.
51
Mediante o pensamento e seu trabalho o ser humano tem a capacidade de agir
sobre a natureza, consegue transform-la e consegue colocar disposio do ser
humano como instrumento de seu desenvolvimento material. Isto no significa dizer
que a natureza to simples e de fcil acesso. Estamos afirmando o seu contrrio. A
natureza complexa e s os dados coletados pelas sensaes e percepes no so
dados nicos e verdadeiros sobre a prpria matria. Da a importncia insubstituvel dos
dados apreendidos pelo pensamento ou raciocnio do ser humano, porque o pensamento
consegue demonstrar os dados abstratos da matria e s o pensamento capaz de
converter estes dados abstratos em dados concretos e reais sobre a matria em si mesma.
Relacionado ao pensamento est o conceito. J indicamos que o pensamento tem
sua gnese na atividade social do ser humano quando este se relaciona com a natureza e
com outros seres humanos. Indicamos, tambm, que os dados que as sensaes e as
percepes nos do sobre a matria em si, no so dados gerais das leis materiais, seno,
so dados das particularidades da matria e no dados da essncia material. Tambm, o
ser humano no consegue fotografar todos os dados materiais para transmitir a outras
geraes. Dessa impossibilidade de retratar a essncia material, surge o conceito.
O que seria o conceito? Segundo Konstantinov (1959, p.312) o conceito es la
forma del pensamiento que refleja la esencia de los fenmenos. Diramos que pelo
conceito o ser humano consegue apropriar-se do que abstrato, do essencial da matria,
ou seja, pelo conceito o ser humano se apropria, capta a essncia do fenmeno em seu
conjunto mais generalizante da matria. Pelo conceito abarcamos uma grande
quantidade de informaes da essncia dos fenmenos que no podem ser abarcadas
pelos sentidos. O animal no compreende a essncia da matria porque no tem a
capacidade de conceitualizar a matria. Tampouco possui a capacidade de compreender
e formar conceitos sobre a essncia material.
Pelo conceito o ser humano destaca a qualidade da matria, diferenciando-se da
sensao e da percepo, que s oferecem dados quantitativos. Se o conceito mostra a
qualidade intrnseca da matria, significa que o conceito no um fim em si mesmo,
seno um meio para penetrar mais profundamente na essncia da matria que est em
constante movimento e transformao.
S basta o conceito como forma de transmisso do conhecimento no ser
humano? J conclumos que o conceito abstrato e generalizante. No falam por si s,
no transmitem nada sem verbalizar. O pensamento de cada ser humano, os conceitos
52
formados ao longo da histria humana, s so compreensveis e inteligveis por meio da
linguagem.
Para Marx & Engels (s.d) a linguagem seria:
"El lenguaje es tan viejo como la conciencia; el lenguaje es la
conciencia prctica, la conciencia real, que existe tambin para los
otros hombres y que, por tanto, comienza a existir tambin por s
mismo; y el lenguaje nace, como la conciencia de la necesidad, de los
apremios del intercambio con los dems hombres" (MARX &
ENGELS, s/d, p. 31).
Segundo Marx, linguagem o meio principal pelo qual o conhecimento
desenvolvido pelo ser humano para apropriar-se da natureza vai acumulando-se,
transmitindo e aplicando como uma forma de conscincia prtica que surge da
necessidade de relao com os outros seres humanos.
A linguagem considerada como parte indissolvel da prpria autocriao
humana e no podemos pensar que ela uma categoria a priori s atividades humanas.
No pensamento marxista ela considerada como totalidade e simultaneidade da prpria
produo material, que faz com que o ser humano seja distinto ao animal. A linguagem,
ento, resultado da prpria necessidade humana que tem como principio uma relao
dialtica social.
Tambm, finalizando o raciocnio, a linguagem a mediao da expresso do
conhecimento adquirido do mundo exterior e de si mesmos e refletem, ao mesmo
tempo, dialeticamente, os meios cognoscitivos que possui o ser humano.
Por fim, desde a anlise feita, podemos concluir com os prprios escritos de
Konstantinov (1959):
El pensamiento y el lenguaje se hallan ntimamente unidos, pero de
esto no se deduce que sean idnticos entre s. Se diferencian en que el
pensamiento refleja la realidad objetiva, mientras que la palabra
(lenguaje) es slo un medio para expresar y fijar las ideas, un
instrumento que permite comunicar nuestros pensamientos a otros
hombres. Precisamente gracias al lenguaje podemos percibir los
pensamientos de los dems. Pero si no hay pensamiento sin palabras,
entonces las palabras sin pensamiento, sin lo que ste refleja, no son
ms que sonidos vacios. El pensamiento y el lenguaje se relacionan
ntimamente entre s y se condicionan el uno al otro.
(KONSTANTINOV, 1959, P. 184).
53
Vemos que h uma diferena entre o pensamento e a linguagem. Isto nos mostra
que no h uma condio biolgica para o incio do funcionamento do pensamento e da
linguagem. Os dois elementos so frutos da relao humana com o seu entorno social e
cultural. A diferena se verifica no trabalho que os dois realizam, nas suas funes
especficas em revelar a essncia da matria. Esta diferenciao existente entre os dois
elementos no antagnica, ou seja, nessa diferenciao se d uma relao dialtica
porque os dois elementos buscam que o conhecimento seja uma totalidade. E para isso
no h uma diferenciao entre os dois elementos. Mas, no quotidiano nos damos conta
que tanto a linguagem e o pensamento esto unidos, entrelaados numa relao bem
dialtica. Se no h nada no pensamento, no h nada que expressar pela linguagem. E
vice-versa, se no h nada de palavras, de linguagem, significa que no h nada para
expressar ou fazer conhecer. de importncia transcendental compreender esta unidade
dialtica entre pensamento e linguagem, pois, a conscincia reflete a realidade objetiva
e a linguagem, por meio do trabalho, nos mostra a essncia da matria refletida. o que
Engels (1990) nos diz:
Vemos, pois, que a mo no apenas o rgo do trabalho; tambm
produto dele. Por outro lado, o desenvolvimento do trabalho, ao
multiplicar os casos de ajuda mtua e de atividade conjunta, e ao
mostrar assim as vantagens dessa atividade conjunta para cada
indivduo, tinha que contribuir forosamente para agrupar ainda mais
os membros da sociedade. Em resumo, os homens em formao
chegaram a um ponto em que tiveram necessidade de dizer algo uns
aos outros. A necessidade criou o rgo: a laringe pouco desenvolvida
do macaco foi-se transformando, lenta, mas firmemente, mediante
modulaes que produziam por sua vez modulaes mais perfeitas,
enquanto os rgos da boca aprendiam pouco a pouco a pronunciar
um som articulado aps outro. (ENGELS, 1990, p. 73-74).
Esta passagem citada por Engels (1990) nos mostra que a linguagem resultado
de um longo processo de desenvolvimento humano, de um longo perodo de sua
atividade. A linguagem um produto social, num primeiro plano e, tambm, um
produto humano individual. Houve uma necessidade de contar algo a outros homens
sobre vrias questes. Esta necessidade, que s verifica-se no ser humano, foi
estruturando os rgos do ser humano. Notamos que o cultural tambm modifica os
rgos humanos pela atividade que desenvolve o ser humano em sociedade.
Pelo trabalho, pela sua atividade, o ser humano foi desenvolvendo e
54
transformando a natureza. Pelo trabalho o ser humano foi captando essa essncia reflexa
da matria e tomando conscincia dessa realidade objetiva.
O ser humano se sente na necessidade de dizer algo uns aos outros. E para dizer
isso surge a linguagem. A linguagem, ento, o processo mediador entre a matria
refletida e a conscincia como elemento essencial da apreenso do conhecimento do
reflexo material. A linguagem comunica e torna consciente todo ato da matria reflexa.
Neste sentido seria justo indicar que no podemos confundir ideias do ser
humano com a questo da conscincia. A ideia no conscincia. A ideia esta vinculada
ideologia. E a ideologia verdadeiramente uma falsa conscincia.
1.1.3 Conceito marxista do movimento
Se concluirmos que a matria eterna, infinita e ilimitada, devemos buscar a sua
fundamentao na categoria de movimento. O movimento apresenta-se como forma da
existncia da prpria matria. No podemos pensar a matria sem a categoria de
movimento, fato que se realiza dentro das categorias de espao e tempo. O movimento
atributo da prpria matria.
O movimento fato concreto e real que experimentamos todos os dias quando
observamos a matria no mundo que nos rodeia. Podemos falar de mudanas
qualitativas da matria porque toda matria possui o movimento como princpio de
existncia em si mesma.
Engels (1955) escreve sobre o movimento da seguinte forma:
El movimiento, en el sentido ms amplio de la palabra, concebido
como modo de existencia de la materia, como atributo inherente a ella,
comprende todos los cambios y procesos que se operan en el universo,
desde el simple cambio de lugar hasta el pensamiento. (ENGELS, F.,
1955, p.44).
O movimento expressa uma relao dialtica com a matria, inseparvel dela
mesma. Como ele se constitui na forma eterna da existncia da matria, indicamos que
esse movimento no se reduz a um simples deslocamento mecanicista, de uma mudana
de lugar para outro lugar, mas, o movimento indica essa mudana interior e exterior da
prpria matria como categoria inerente a prpria matria na sua transformao. O
movimento se caracteriza em dar vida prpria matria. E dar vida significa que a
55
matria est em constante devir, transformao. O movimento em si explica a
transformao da prpria matria para si. Isto equivale a afirmar que o movimento em si
da matria se traduz num sentido de modificao. A modificao que acontece na
matria resultado do movimento que lhe inerente. Constatamos no cotidiano esta
modificao constante da prpria matria. O ser humano est determinado pelo
movimento em constante modificao, interna e externa, inter ou intrapsicologicamente.
S podemos falar da modificao ou transformao da matria quando ela
compreendida como objetiva e concreta, isto d um significado muito grande para
afirmar que a matria tem uma modificao qualitativa e no s quantitativa. Como a
matria est em uma mudana perptua, podemos afirmar que ela s tende a modificarse qualitativamente. Se a matria fosse inerte ou subjetiva, dependendo apenas da nossa
conscincia, s restaria dizer que ela seria uma expresso quantitativa. Estaramos
afirmando que a matria seria perene, imutvel e como tal sofreria mudanas
qualitativas.
Mas, falamos at aqui do movimento como universal e como forma de
modificao da matria. Porm necessria uma diferenciao sobre a questo do
repouso e o equilbrio que verificamos na matria.
Konstantinov (1959) expressa o seguinte sobre estas questes:
La materia solamente no puede existir como materia en movimiento,
lo cual no excluye que puedan darse estados de reposo y equilibrio en
la incesante corriente universal de cambios materiales. Sin embargo,
el reposo y el equilibrio son relativos; solamente se dan, primero, con
relacin a determinados objetos singulares, no con respecto a la
materia en general, y, segundo, con referencia a una forma particular
del movimiento, no con respecto a todas las formas propias de un
objeto dado. [] El hecho de que los objetos materiales puedan
hallarse en relativo reposo y equilibrio influye considerablemente en
el desarrollo de la naturaleza. (KONSTANTINOV, 1959, p.128-129).
O que significa tudo isto? Experimentamos na mesma realidade cotidiana
exemplos do repouso relativo e equilbrio que possui a matria como forma de seu
prprio desenvolvimento. Repouso e equilbrio da matria no significam que ela seja
um ente sem movimento, inerte, sem transformao e modificao. Quando os
materialistas dialticos escrevem sobre estes estados da matria, esto indicando que a
matria continua tendo movimento, porque a matria s existe num estado de total
movimento.
56
Os estados de repouso e equilbrio da matria indicam as qualidades inerentes a
cada tipo de matria, indica estabilidade dos processos, a conservao do movimento
inerente aos corpos, a relativa permanncia das formas de movimento existentes em
determinadas condies vitais do ser humano, ou da matria.
O estado de repouso e equilbrio atemporal? Repouso e equilbrio no s so
relativos, seno temporais. Isto significa que a matria sofre modificaes qualitativas
ao longo da sua existncia temporal. Repouso e equilbrio so formas dialticas de
modificao e transformao da prpria matria, que acontece em distintas condies.
Esta compreenso da matria com movimento, repouso e equilbrio ser fundamental
para compreender nos estudos de Vigotsky conceitos como zona de desenvolvimento
proximal e as funes psquicas superiores.
O carter eterno e imutvel do movimento junto com o processo relativo de
repouso e equilbrio da matria indica a natureza contraditria interna da prpria
matria. este carter contraditrio que faz com que haja modificao e transformao
da matria no seu sentido mais qualitativo.
Se escrevermos sobre o movimento como forma da existncia do material, temos
que analisar o conceito de tempo e espao. Ambas as categorias so fundamentais para
situar e compreender a modificao e transformao da matria em processos
qualitativos.
Konstantinov (1959) afirma o seguinte sobre essas categorias:
En conclusin: el espacio es una forma objetiva y real de la existencia
de la materia en movimiento. Su concepto expresa la coexistencia de
las cosas, su alejamiento mutuo, su extensin y, por ltimo, el orden
en que se hallan situadas unas con respecto a otras. [] As pues, el
tiempo es una forma objetiva y real de la existencia de la materia en
movimiento. En ella se expresa el desenvolvimiento sucesivo de los
procesos materiales, el estado de separacin entre sus diferentes partes
y, finalmente, la duracin y desarrollo de esos procesos.
(KONSTANTINOV, 1959, p.136-137).
Isto significa que o espao uma categoria real e concreta onde a matria em si
entra em processos de grandes transformaes porque o movimento lhe inerente. O
tempo, por sua vez, indica a existncia da matria em movimento.
importante destacar estes conceitos de espao e tempo porque configuraro a
Teoria Histrico-Cultural de Vigotsky. S podemos entender a teoria deste autor,
57
compreendendo que espao e tempo so categorias reais e concretas onde acontece o
desenvolvimento humano por meio das atividades mediadoras.
Agora, passaremos anlise das leis que regem o materialismo histricodialtico.
1.2 As leis fundamentais da Dialtica.
Estas leis so de suma importncia para compreender como so dadas as grandes
mudanas dentro da prpria matria, porque estas leis indicam que a matria em si
mesma est em constante movimento. E estar em constante movimento significa que ela
sofre modificaes internas e externas, de que estas modificaes acontecem por
elementos unidos de causa e efeito.
Estas leis so universais, quer dizer que no s so aplicadas para a histria da
Natureza, no seu sentido epistemolgico, seno tambm, aplicadas no conhecimento,
como leis da gnosiologia e, tambm aplicadas para o ser humano, sendo as leis da
ontologia.
O objetivo da apresentao destas leis para que os leitores encontrem um
sentido real e concreto do uso destas leis na prtica cotidiana da vida escolar e da vida
do dia-a-dia. No temos a inteno de discutir estas leis no mbito filosfico, seno,
discutir e apresentar estas leis no mbito pedaggico e que seja aplicada nesse mbito
escolar. No podemos esquecer que todo o pensamento de Vigotsky est orientado,
delineado por estas leis da dialtica9.
No poderemos avanar no nosso raciocnio se no partirmos da concatenao, a
unidade existente no mundo material.
Para Konstantinov (1959) esta concatenao indica que:
[...] el movimiento en sus mltiples y variadas formas es atributo de la
materia, propiedad inseparable de sta. Lo primero que salta a la vista
cuando se observa la materia en movimiento es la universal
interdependencia y mutua incondicionalidad de los fenmenos, su
infinita concatenacin. (KONSTANTINOV, 1959, p.188).
9
Para isso, nos fundamentaremos na leitura de cinco livros: ENGELS, F. A Dialtica da Natureza; ENGELS, F. Anti-Dhring;
KRAPIVINE, V. Que o materialismo dialtico?; KONSTANTINOV, F.V. Los fundamentos de la filosofa marxista; LNINE,V.I.
Materialismo e Empiriocriticismo.
58
No s vemos no mundo material um desenvolvimento geral da matria em si
mesma, seno verificamos, experimentamos, sentimos que tudo no mundo material est
unido, concatenado. Todos os sujeitos e fenmenos no se desenvolvem por si mesmos,
isoladamente, mas, indissoluvelmente h unidade recproca, uma concatenao entre
todos os objetos e entre todos os fenmenos. H uma unidade de causa e efeito entre a
matria e os fenmenos. H uma influncia entre todos eles, entre os objetos e os
fenmenos, e tambm, experimentam as influncias reciprocamente entre eles mesmos.
No mundo cientfico temos muitos dados que confirmam desta concatenao e
condicionamentos mtuos de objetos e fenmenos, como por exemplo, o animal
necessita da natureza pura para a sua existncia, como tambm, a natureza precisa da
ao do animal para renovar a prpria natureza. Tambm podemos citar, nesta linha de
pensamento, a unidade indissolvel do homem com a prpria natureza. H uma unidade
entre o ser humano e a natureza porque a prpria vida humana seria impossvel sem esta
relao mutua com a prpria natureza. Tambm, verificamos esta concatenao nos
diversos aspectos da vida social humana porque todos os atos humanos e seus resultados
esto unidos. Nada acontece por azar, como se os acontecimentos fossem caprichos dos
deuses ou porque o biolgico determinante no ser humano. Verificamos no cotidiano
que h sim uma concatenao entre todas as aes humanas. Esta concatenao no
s verificvel no aspecto externo, seno verifica-se uma concatenao, unidade no
aspecto interno.
Tambm na nossa anlise verificamos que esta concatenao universal e o
conhecimento mtuo dos objetos e dos fenmenos constituem uma particularidade
intrnseca do mundo material. Por isso, para conhecer verdadeiramente o objeto
necessrio que se faa um estudo sobre todos os aspectos e os nexos do objeto. O estudo
do objeto como um todo concatenado, unido e o exame das concatenaes universais
constituem a mais importante funo do materialismo dialtico.
A concatenao entre os objetos o primeiro e mais importante reconhecimento
da matria para que ela seja analisada como um todo. Da a importncia de analisar o
objeto como um todo. Mas, esta anlise como um todo do objeto nos ajudar a chegar
essncia do problema e se buscar uma soluo a partir do fundo da questo. Por
exemplo, no podemos concluir que um aluno no tem capacidade de aprender por
questes biolgicas. A aprendizagem da criana no passa por motivos biolgicos,
como por exemplo, afirmar que o aluno agitado ou que no est preparado, maduro,
59
no seu aspecto biolgico, seno deve-se analisar a fundo o porqu do problema de
aprendizagem de uma criana. No h s um nico problema, h vrios motivos para o
efeito de uma causa. Nenhum fenmeno ou problema no objeto tem uma nica causa.
necessrio buscar no objeto todos os aspectos, elementos ou fatores que se relacionam
entre si.
por meio desta concatenao que podemos apropriar-nos do objeto com todos
os seus mltiplos nexos e mediaes.
Devemos entender esta relao como uma
conexo entre todos os elementos provocando causa e efeito. Causa e efeito no esto
vinculados a fenmenos casusticos ou mecanicistas. Isto quer dizer que o objeto tem as
suas prprias leis objetivas e concretas e que no h nada supra-humano ou biolgico
que determine a forma de ser de um ser.
A relao entre causa e efeito, uma relao dialtica porque se influenciam e se
condicionam ao mesmo tempo, como tambm, se verifica uma transformao, ou seja, a
causa no efeito e o efeito na causa. O que neste momento uma causa tem sido efeito de
outra causa, e o efeito que resulta de uma causa se transforma em causa de outro efeito.
O desenvolvimento da matria uma cadeia infinita de causas e efeitos.
Engels (1955) nos mostra esta relao dialtica entre causa e efeito:
Solamente partiendo de esta accin mutua universal podemos
llegar a la verdadera relacin de causalidad. Para poder comprender
los fenmenos sueltos, tenemos que arrancarlos a la trabazn
general, considerarlos aisladamente, y es entonces cuando se
manifiestan los movimientos mutuos, cuando vemos que unos
actan como causa y otros como efecto. (ENGELS, 1955, p.184).
Cada acontecimento da realidade se movimenta entre a causa e o efeito. Mas,
esta relao de causa e efeito no acontece no sentido mecanicista, onde a causa s
uma causa e o efeito s um efeito e que no tem nenhuma relao. No materialismo
dialtico a causa e o efeito um acontecimento dialtico que mostra o movimento da
prpria matria. Sem causa e efeito no haveria movimento e transformao da
prpria matria. Quando o ser humano se apropria de um conhecimento, ser a causa
de um efeito. Este mesmo efeito se converter em causa de outro efeito. O
conhecimento humano procede dessa forma. O que uma criana aprende agora, ser
60
a causa de outro conhecimento, como efeito da primeira causa10. Este conhecimento
apreendido torna-se causa para a aprendizagem de outro conhecimento.
Toda a histria do trabalho humano resultado desta relao dialtica de
causa e efeito. Quando o ser humano comeou a usar a pedra como ferramenta para
efetivar um efeito na natureza, foi o motivo para que o ser humano aperfeioasse
esse instrumento de pedra, buscando outras formas de ferramentas. Do uso da pedra,
como causa de um efeito chegamos a uma perfeio do uso da ferramenta mais
moderna.
O conhecimento da relao causal dos fenmenos nos oferece o
conhecimento necessrio para atuar sobre eles de maneira consciente, para
transformar o mundo de acordo a nossas necessidades. So as necessidades do
conhecimento que apontam para o descobrimento das causas como elementos para
modificar a realidade.
No podemos confundir ocasio ou motivo com a causa. A causa nos leva at
a essncia da matria, de um objeto. A ocasio ou motivo superficial, s nos
mostra as particularidades do objeto e no a essncia da matria. Por exemplo,
quando falamos que o problema de aprendizagem est na criana, estamos s
colocando o motivo ou ocasio de um problema, e no estamos colocando a causa
concreta e real do problema, como pode ser a mediao negativa do professor ou
problema de ensino. Estes elementos apontados como exemplos seriam as causas
concretas e reais do problema de aprendizagem ou ensino da criana.
A concatenao universal e o conhecimento mtuo dos objetos e fenmenos
constituem uma particularidade intrnseca do mundo material. Por isso, para
conhecer verdadeiramente o objeto necessrio estudar todos os seus aspectos e
nexos. Todas estas concatenaes refletem na conscincia do ser humano na forma
de leis e como categoria da dialtica materialista.
inegvel a importncia em conhecer estas concatenaes, porque pem de
manifesto o descobrimento das leis do mundo objetivo e concreto. Conhecer estas
leis condio indispensvel da atividade prtica dos homens. O objetivo da cincia
10
Quando falamos de primeira causa no nos estamos referindo ao conceito de primeira causa de Aristteles ou Santo
Toms de Aquino. Eles apresentam esta primeira causa num sentido mecanicista e no dialtica, como estamos
defendendo neste trabalho.
61
humana consiste precisamente em conhecer estas leis da matria para guiar as
prticas humanas.
Ao compreendermos que todos os fenmenos so um conjunto de
concatenaes e fundamentados em leis, estamos prontos para enumerar estas leis do
materialismo dialtico. Mas, antes mesmo de apresentar estas leis do materialismo
dialtico, necessrio analisar e compreender o que seria uma lei dialtica, uma vez
que compreendendo estas leis da dialtica, poderemos entender essas grandes
transformaes, mudanas, saltos qualitativos que acontecem no ser humano e na
prpria natureza.
Konstantinov (1959) ao buscar uma explicao objetiva e concreta sobre o
que seria a lei, ele escreve que:
La ley, en su forma general, es una determinada relacin necesaria
entre cosas, fenmenos o procesos; relacin que responde a su
naturaleza interna, a su esencia. El concepto de ley es una de las
fases de conocimiento de la unidad, los nexos y la accin mutua de
los fenmenos del mundo objetivo por el hombre. Y constituye el
fruto de un largo proceso de desarrollo de la ciencia y la filosofa.
(KONSTANTINOV, 1959 p. 196).
Esta definio de lei nos mostra que h uma relao, um nexo entre os
fenmenos ou objetos da prpria natureza, invisvel para os olhos humanos, mas,
inteligveis para o pensamento quando a estuda com objetividade. Buscar
compreender e captar estas leis dos fenmenos um processo de conhecimento
muito elevado para entender como a essncia dos objetos. Por isso que no h nada
determinado nem acabado no mundo material. comum, muitas vezes, concluirmos
que tal fato corresponde a tal causa, sem perceber, que muitas vezes, estas
concluses apriorsticas nos levam a concluses bastante irracionais e superficiais.
Por exemplo, geralmente, problemas de aprendizagem num determinado aluno, os
catalogamos como problemas s do aluno. Problema s do aluno, corresponde negar
que no haja outro fator negativo para ocasionar problemas de aprendizagem ou,
negar que haja uma relao ou nexo entre os fenmenos. Devemos buscar
objetivamente este problema no prprio aluno e em outro fenmeno para a
explicao do problema. Aqui se fundamenta a importncia da lei dialtica na rea
da pedagogia, por exemplo, em ir raiz do problema e no focalizarmos as respostas
62
aos problemas baseados em observaes subjetivas e de total desconexo da realidade
concreta e objetiva.
importante compreender que todo fenmeno atua de acordo a leis objetivas
e concretas, independentes da conscincia humana. Estas leis do materialismo
dialtico no so invenes da conscincia humana, seno elas esto no prprio
fenmeno, corresponde prpria essncia do fenmeno.
Agora, passaremos a apresentar estas leis do materialismo dialtico.
Engels (1991, p. 34) apresenta quais so essas leis da dialtica, fazendo uma
anlise objetiva delas como resultado da atividade intelectual de Hegel. Mas, no
temos interesse em analisar as obras de Hegel, nas quais constam tais leis seno,
apenas indicar que Hegel imps que estas leis fossem simples leis do pensamento
impostas Natureza e a Histria. Hegel no viu que estas leis so realmente
objetivas e concretas e que no so invenes do pensamento humano, seno que
realmente, so partes constitutivas da natureza, da matria e da prpria histria do
desenvolvimento humano.
Passemos agora a apresentar e a analisar estas leis do materialismo histricodialtico.
1.2.1 Leis da passagem da quantidade qualidade:
Temos uma passagem de Engels (1990), bastante longa, porm, necessria
acrescentar para que o leitor possa fazer esta leitura e compreender melhor sobre esta
lei. Esta lei enumerada por ele diz o seguinte:
Mais atrs, ao examinarmos a esquemtica do mundo, vimos que, com
o Sr. Dhring, se tinha passado a quase desgraa de ter reconhecido e
aplicado, num momento de debilidade, essa linha nodal de
despropores, como a chama Hegel, na qual, em certos pontos, as
transformaes quantitativas se convertem de repente em saltos
qualitativos. Citvamos um dos exemplos mais conhecidos: o da
transformao dos estados da agregao da gua que, sob a presso
normal do ar, ao chegar a zero centgrado, se converte de um corpo
liquido em corpo slido e aos 100, de lquido em gasoso, caso esse
que demonstra como, ao alcanar esses dois pontos decisivos, uma
simples mudana quantitativa de temperatura provoca uma
transformao qualitativa no corpo.
Centenas de casos como estes, tomados da natureza ou da sociedade
humana, poderiam ser lembrados para demonstrao dessa lei Assim,
por exemplo, em O Capital de Marx, toda a seo 4a., dedicada ao
estudo da produo da mais-valia relativa ao mbito da corporao, da
diviso do trabalho, e da manufatura, da maquinaria e da grande
indstria, contm inmeros casos de simples mudanas quantitativas
63
que fazem transformar-se a qualidade e, de mudanas quantitativas
que fazem com que se transforme a qualidade das coisas podendo-se
dizer, portanto, para usar uma expresso que tanta indignao provoca
no Sr. Dhring, que a quantidade se converte em qualidade e viceversa. Temos, por exemplo, o fato de que a colaborao de muitas
pessoas, a fuso de muitas foras numa s fora total, cria, como diz
Marx, uma "nova potncia de foras" que se diferencia, de modo
essencial, da soma das foras individuais associadas. (ENGELS, 1990,
p. 106-107).
Esta lei apresentada sobre a passagem das mudanas quantitativas para as
qualitativas nos mostra como e de que maneira acontece o processo de desenvolvimento
da matria, da histria e do pensamento humano. Por meio desta lei descobrimos como
e de que maneira acontece a transformao do velho em algo novo, em algo mais real e
concreto, mostrando desta forma as grandes revolues, entendidas como mudanas,
passagens radicais do velho para o novo. Estas mudanas no ocorrem num fechar e
abrir de olhos porque acontecem em forma de processos, ao longo da prpria existncia,
porque s no processo se podem verificar as mudanas profundas e convincentes do
objeto. (Faremos um parntese aqui para indicar que a anlise da citao de Engels no
est acabada, seno que ao longo desta seo iremos analisando as partes constitutivas
desta lei, porque o objetivo que compreendamos esta lei como as outras leis da
dialtica- num sentido pedaggico).
Mas, para compreender a essncia desta lei se deve compreender bem o que
seria quantidade e qualidade. Para Krapivine (1986):
O conceito de qualidade exprime as caractersticas de semelhana e
diferena que as coisas possuem. Por qualidade entende-se o conjunto
de caractersticas substanciais que expressam a natureza e os traos
especficos duma coisa. Alem de determinar o objeto, qualidade indica
que este se acha em equilbrio relativo. (KRAPIVINE, 1986, p. 166).
A observao do mundo material nos proporciona muitos exemplos sobre
infinidades de tipos de matrias, com grandes diferenas entre elas, sem que haja uma
mistura entre elas. Estes objetos e fenmenos so to diversos, que se movimentam e
sofrem mudanas radicais, mas, com tudo isso no chegamos a confundi-los, mas o ser
humano consegue diferenci-los e determin-los, no sentido de enunci-los. O ser
humano consegue captar estas particularidades e propriedades inerentes a cada
64
fenmeno ou objeto do mundo. Ento, podemos afirmar que a qualidade11 o que faz
com que o objeto seja precisamente o que e no outro, e o que o diferencia dos
demais objetos. Por isso, quando queremos entender um problema relativo ao ser
humano ou de outros fenmenos, no analisaremos a essncia (calidad) do ser humano,
mas suas caractersticas qualitativas, as qualidades, porque so elas que determinam a
forma de ser de um objeto. Por exemplo, a vida uma essncia (calidad) comum entre
os seres vivos, mas, as formas (qualidades) como se realiza essa vida o fator que
devemos analisar para modificar o objeto. Podemos concluir que entre o animal e o ser
humano no h diferencia de essncia (calidad) enquanto que ambos tm vida. O que o
torna diferentes a forma qualitativa de vida. E esta forma qualitativa que o diferencia
do animal, por exemplo, seriam a conscincia e o trabalho, porque por meio deles, o ser
humano tem a capacidade de transformar a natureza e desde essa transformao, o
prprio ser humano se transforma tambm.
A qualidade, tambm, um fator determinante para o desenvolvimento humano.
essencial no ser humano a apropriao e objetivao, mas, para que elas sejam foras
transformadoras, indiscutvel que as qualidades sejam iguais para todos os seres
humanos. H graus de formao humana porque as qualidades so diferentes. Por
exemplo, quando as qualidades de ensino so melhores numa instituio, a apropriao
e objetivao do ser humano so melhores, porm, quando as qualidades de ensino so
piores, o resultado pior. Isto significa que todos os fenmenos da vida social so
determinados pela qualidade. a qualidade que deve ser modificada ou mudada para
que haja um desenvolvimento humano de maior qualidade.
Agora nos ocuparemos em analisar o que seria a quantidade. Continuaremos
citando Krapivine (1986), quando afirma o seguinte:
A quantidade caracteriza o objeto sob o aspecto do grau, da
intensidade ou do nvel de desenvolvimento de uma qualidade. Em
regra, a quantidade expressa-se em nmero. Para conhecer melhor a
realidade, necessrio, alm da qualitativa, fazer a anlise quantitativa
dos processos e fenmenos. (KRAPIVINE, 1986, p.168).
11
Na lngua portuguesa, segundo o dicionrio Aurlio, no h o termo calidade, seno s o termo qualidade. Na lngua espanhola
h o termo calidad e cualidad. Segundo o dicionrio Espasa (1995), calidad es la propiedad o conjunto de propiedades
inherentes a una persona o cosa. Cualidad seria cada una de las circunstancias o caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a
las personas o cosas. Es la manera de ser de una persona o cosa. Calidad seria a essncia do objeto, comum a todos, e cualidad
seria as caractersticas de um objeto ou pessoa.
65
Cada objeto ou ser vivo possui, tambm, a quantidade como elemento particular
deles, verificada nos graus de desenvolvimentos ou nas intensidades das qualidades que
lhes so inerente, assim como o de magnitude, volume, etc. Toda quantidade tem uma
expresso numrica, da a facilidade de captar esta categoria dialtica nos objetos ou
fenmenos da natureza.
H uma unidade de relao e de dependncia entre a qualidade e a quantidade
verificada no conceito de medida. A medida (KONSTANTINOV, 1959, p.230) es la
unidad y accin mutua de la calidad y la cantidad. A relao que temos que a cada
qualidade corresponda uma mesma quantidade. Neste sentido verificamos o equilbrio
mtuo entre os dois elementos da categoria dialtica. Quando a quantidade varia no
objeto, temos a modificao do objeto em seu aspecto qualitativo.
Para que haja uma transformao no objeto, precisamos que haja um
desequilbrio na medida. Este desequilbrio seria a contradio como elemento do
movimento e transformao da prpria matria. O desequilbrio da medida para baixo
ou para cima corresponde grande transformao dialtica.
Diz Konstantinov (1959) sobre esta transformao da seguinte maneira:
La ley del trnsito de los cambios cuantitativos a los cualitativos es la
ley por virtud de la cual los pequeos y al principio imperceptibles
cambios cuantitativos, acumulndose gradualmente, rebasan al llegar
a cierta fase la medida del objeto y provocan radicales cambios
cuantitativos, a consecuencia de lo cual cambian los objetos,
desaparece la vieja cualidad y surge otra nueva. (KONSTANTINOV,
1959, p. 321).
Nos objetos de natureza fsica e qumica se verificam as mudanas quantitativas.
Por exemplo, quando h um desequilbrio da medida nesses elementos, verificamos
mudanas. A gua, quando sofre uma alterao na sua medida de estado lquido, pode
passar ao estado gasoso, de evaporao ou congelamento. Neste caso vemos que a
quantidade, o aspecto numrico que sofre as mudanas radicais.
Quando nos deparamos com as mudanas nos elementos de natureza fsica ou
qumica, falamos de que h uma evoluo. A evoluo se verifica com esses tipos de
elemento. Na natureza sempre temos evoluo nos elementos.
Na natureza de vida animal verificamos tambm este tipo de evoluo. Esta
evoluo se relaciona com os animais orgnicos, porm, no ser humano temos outro
tipo de mudana.
66
No ser humano verificamos mudanas qualitativas. O mais importante no ser
humano so estas mudanas qualitativas, que atingem a prpria essncia do ser humano.
Uma das melhores e mais radicais mudana qualitativa que teve o ser humano foi o
desenvolvimento da conscincia por meio das atividades mediadas e das relaes
sociais. A atividade mediada por signos e ferramentas e a conscincia constituram os
fatores da mudana radical que comeou a diferenciar entre o animal irracional e o ser
humano. As mudanas qualitativas no so evolutivas, mais, so revolucionarias. Estas
mudanas qualitativas modificam mesmo a essncia da matria.
Com isto no estamos afirmando que o ser humano no tenha mudanas
quantitativas. Claro que as tem. O ser humano sofre desequilbrio das medidas no seu
corpo. Por exemplo, se o ser humano experimenta uma mudana nas medidas das
formas de alimentao, ele experimentar uma anemia ou experimentar um sobrepeso.
Estas mudanas quantitativas no modificam a essncia humana, no modificam o seu
pensamento, a sua forma de conscincia, etc.
Mas, as mudanas qualitativas modificam a essncia do ser humano. Por
exemplo, quando mais o ser humano se apropria e se objetiva, ele modifica as suas
funes culturais e psicolgicas.
Para o materialismo histrico-dialtico, as mudanas qualitativas, como so
revolucionrias e radicais, operam em forma de salto. Neste sentido, salto significa a
interrupo do gradual, do quantitativo, para passar a algo melhor na essncia. O salto
constitui a forma mais intensa de mudana radical. Este salto, tambm, significa passar
do velho para o novo. No significa a continuao do velho no novo. No, significa que
se h eliminado esse velho e surge algo novo no ser humano. Por exemplo, a
conscincia no ser humano constitui um salto em relao aos outros animais. A
conscincia e o trabalho humano constituram saltos qualitativos porque modificaram a
essncia humana. Acho que o leitor j estar associando este salto do qual estamos
falando com a teoria de Vigotsky quando fala de saltos, mas, este tema o analisaremos
em outro captulo desta dissertao.
1.2.2 Lei da Unidade e da Luta dos Contrrios.
Esta lei nos mostra como acontece o movimento dialtico na matria. Da a
importncia de compreender-mos que a luta de contrrios a forma essencial das
grandes transformaes que acontecem no ser humano e na prpria natureza.
67
Diz Engels (1990) sobre esta lei:
Mas a coisa diferente se quisermos focalizar os objetos
dinamicamente, acompanhando-os em sua mobilidade, vendo-os
transformar-se, viver, e influir uns sobre os outros. Ao pisar neste
terreno, cairemos imediatamente numa srie de contradies. O
prprio movimento, por si mesmo, uma contradio; o deslocamento
mecnico de um lugar para outro somente pode ser realizado por estar
um corpo, ao mesmo tempo, no mesmo instante, num e noutro lugar e
tambm pelo fato de estar e no estar o corpo ao mesmo tempo no
mesmo local. A sucesso continua de contradies desse gnero, ao
mesmo tempo formadas e solucionadas, precisamente o que constitui
o movimento.
Temos, pois, diante de ns, uma contradio que existe
objetivamente e que pode ser apalpada, digamos, de um modo
corporal, nas coisas e nos prprios fenmenos". Que diz a este
respeito o Sr. Dhring? O Sr. Dhring afirma que, at hoje, "na
mecnica racional no se encontra nenhuma ponte que ligue o
estritamente esttico e o dinmico". O leitor, finalmente, perceber
agora o que est oculto por detrs dessa frase da predileo do Sr.
Dhring e que se resume no seguinte: A inteligncia que s sabe
pensar metafisicamente no pode, de modo algum, passar da ideia do
repouso idia do movimento, porque o obstculo da contradio lhe
barra o caminho. Para os que assim pensam, o movimento , como
contradio, alguma coisa de totalmente inconcebvel. E ao afirmar
que o movimento inconcebvel d como reconhecida, sem querer, a
existncia dessa contradio, reconhecendo, portanto, a existncia de
uma contradio que se encontra objetivamente nas coisas e nos
fenmenos e, alm disso, que esta contradio uma fora efetiva. E,
se o simples movimento mecnico, a simples mudana de um para
outro lugar, contm uma contradio, suponha-se ento a srie de
contradies que estaro contidas nas formas superiores de
movimento da matria, e, em particular, na vida orgnica e na sua
evoluo. Vimos atrs que a vida consiste, precisamente,
essencialmente, em que um ser , no mesmo instante, ele mesmo e
outro. A vida no , pois, por si mesma, mais que uma contradio
encerrada nas coisas e nos fenmenos, e que se est produzindo e
resolvendo incessantemente: ao cessar a contradio, cessa a vida e
sobrevm a morte. Vimos tambm como, no prprio mundo do
pensamento, no poderamos estar livres de contradies, como, por
exemplo, a contradio entre a capacidade de conhecimento do
homem, ilimitada interiormente e a sua existncia real, no seio de um
conjunto de homens, cujo conhecimento limitado e finito
exteriormente. Essa contradio, no entanto, se resolve na sucesso
infinita, pelo menos para ns, das geraes, num progresso.
(ENGELS, 1990, p. 102-103).
Esta lei da unidade e luta de contrrios a essncia da prpria dialtica porque
manifesta as fontes e causas do eterno movimento e desenvolvimento do mundo
68
material. O mundo material no s mundo da natureza, seno o prprio ser humano,
pela definio de matria que j tratamos neste captulo.
Mediante esta lei conhecemos e compreendemos a dialtica do desenvolvimento
da natureza, da sociedade e do pensamento humano, a cincia e toda a atividade prtica
do ser humano, conhecemos e compreendemos a essncia mais profunda das coisas, dos
objetos, dos processos, como tambm podemos captar os nexos e vnculos
contraditrios que existem entre todos os objetos.
Esta lei trata da unidade e da luta dos contrrios. esta parte que devemos
analisar para que possamos compreender a essncia desta lei.
Os contrrios so os aspectos, tendncias ou foras internas do objeto que se
opem mutuamente e, ao mesmo tempo, se necessitam, se pressupem um ao outro.
Esta relao de interdependncia que existe nos objetos precisamente o que configura
o carter de unidade dos contrrios. H, ento, uma luta de contrrios, de contradies
existentes no objeto, que provoca o movimento ou desenvolvimento do objeto em si.
Tudo isto que afirmamos sobre a unidade e luta de contrrios que acontece no
objeto, comprovvel desde a cincia objetiva, desde a experincia histrica da
humanidade, desde os objetos e fenmenos que sofrem grandes modificaes internas e
externas. Algum poderia afirmar que vemos os objetos como absolutamente idnticos a
si mesmos. Mas, no h nada idntico na natureza. A prpria cincia objetiva nos
mostra a cada dia de que h uma luta de contrrios nos objetos. Por exemplo, so
bastante eloquentes os avanos que acontecem na fsica, na qumica, na biologia, etc.
Tambm, verificamos mudanas na sociedade em uma luta de classes. No aspecto
psicolgico notamos mudanas significativas na forma de ser e pensar o ser humano.
Mas, at aqui s explicamos esta unidade e esta luta de contrrios. Agora,
precisamos diferenciar que entre as contradies h dois momentos muito importantes,
que seriam as contradies internas e externas.
Segundo Krapivine (1986),
As contradies internas so as aes recprocas dos aspectos opostos
de um determinado objeto ou fenmeno. As contradies externas so
a relao contraditria de um dado objeto ou fenmeno com outros
objetos ou fenmenos.
[...] As contradies internas so determinantes para o
desenvolvimento dum objeto ou fenmeno, porque esto relacionadas
com a sua essncia e natureza e do impulso sua modificao e
desenvolvimento.
69
[...] As contradies externas influem no desenvolvimento dos objetos
e fenmenos. Muitas vezes exercem uma influencia considervel
sobre as contradies internas. (KRAPIVINE, 1986, p. 159).
Desvelar as contradies internas do objeto chegar essncia do problema,
chegar raiz mesmo do problema. Por isso, a metodologia dialtica tem como objetivo
principal chegar essncia do problema para buscar uma mudana radical.
Para o materialismo histrico-dialtico, as contradies internas so importantes
para que o objeto passe de uma categoria quantitativa a uma categoria qualitativa. Por
exemplo, no ser humano, a contradio entre o consciente e o inconsciente leva
superao do ser humano, leva o ser humano a superar, dar um salto qualitativo, da
forma homindea forma humana.
As contradies internas na conscincia humana, na personalidade e no
psiquismo humano esto sempre numa luta de contrrios. H contradies internas entre
o consciente e inconsciente, entre o pensado e o percebido, entre os diferentes
propsitos e necessidades.
Estas lutas de contrrios auxiliam o ser humano a superar esse estado animal ou
a assumir posturas humanas. Notamos que estas lutas de contrrios que acontecem em
forma interna modificam a essncia do ser humano. J indicamos que o ser humano vai
humanizando-se neste movimento de lutas de contrrios.
As contradies externas acontecem entre um objeto ou fenmeno contra outro
objeto ou fenmeno. Esta luta contraditria verifica-se na sua forma externa. Por
exemplo, umas revolues armadas dentro de um pas seria uma luta entre dois grupos
diferentes, na sua estrutura externa. O resultado no busca mudar a essncia do
problema. Tambm, uma luta externa entre grupos de camponeses e operrios no
resultam no fim do capitalismo, mas, na superao de um estgio do capitalismo.
Afirmamos que no h transformao neste tipo de lutas de contrrios porque no se
modifica a essncia do capitalismo, que seria a explorao do trabalhador. Continuar a
explorao se no h uma transformao da essncia do capitalismo.
Ento, qual a importncia fundamental desta lei? Segundo Konstantinov
(1959), a essncia da lei da unidade e da luta de contrrios desta forma:
La unidad y la lucha de contrarios es la ley conforme a la cual todas
las cosas, todos los fenmenos y procesos que poseen internamente
lados y tendencias opuestos luchan entre s; la lucha de contrarios da
70
un impulso interior al desarrollo y conduce a una agudizacin de las
contradicciones que, al llegar a una cierta fase, se resuelven mediante
la extincin de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo.
(KONSTANTINOV, 1959, p. 252).
Diramos que esta lei explica as transformaes que acontecem no objeto, as
transformaes na sua forma interna e externa. Por exemplo, as mediaes humanas
transformam o ser humano, a criana, na sua forma interna. A criana se apropria da
cultura produzida pela humanidade e esta apropriao faz com que a criana modifique
o seu pensamento, o seu psiquismo, a sua forma de relacionar-se com o mundo. Quando
a criana luta para caminhar e quando vence esta fase, a criana obtm uma
transformao que se d na sua forma externa.
Tambm pode acontecer que estas transformaes da forma interna e externa se
do em forma paralela. Por exemplo, quando a criana comea a apropriar-se dos
conceitos e consegue expressar em fala, ela experimenta uma transformao de forma
interna e externa. Ela se apropria dos conceitos (forma interna) e quando expressa esse
conceito em forma da fala (forma externa) comea a comunicar-se com os outros seres
humanos.
Podemos colocar vrios exemplos do mundo material para explicar a
importncia da unidade e luta dos contrrios. Mas, devemos enfatizar que s esta lei
explica as transformaes essenciais da matria. O mundo burgus e capitalista, as
teorias pedaggicas que se fundamentam no biologicismo, as teorias educativas
neoliberais, todos eles so contra as leis do materialismo histrico-dialtico e defendem
a teoria do equilbrio.
1.2.3 Lei da negao da negao
Veremos que esta lei enunciada causa da transformao, da superao, do salto
qualitativo que se verifica no dinamismo dialtico do ser humano e da natureza. muito
importante a compreenso desta lei da negao da negao no mbito da educao,
especialmente quando estamos tratando a questo sobre os problemas de aprendizagem
e problemas de ensino. Da a importncia de retomar a anlise desta lei para
compreender-mos a transformao qualitativa que deve acontecer no mundo escolar.
Segundo Engels (1990) esta lei enunciada da seguinte forma:
71
Negar, em dialtica, no consiste pura e simplesmente em dizer no,
em declarar que uma coisa no existe, ou em destru-la por capricho.
J Spinoza dizia: Omnis determinatio est negatio, toda determinao,
toda demarcao , ao mesmo tempo, uma negao. Alm disso, em
dialtica, o carter da negao obedece, em primeiro lugar, natureza
geral do processo, e, em segundo lugar, sua natureza especifica. No
se trata apenas de negar, mas de anular novamente a negao. Assim,
a primeira negao ser de tal natureza que torne possvel ou permita
que seja novamente possvel a segunda negao. De que modo? Isso
depender do carter especial do caso concreto. Ao se moer o gro de
cevada, ou ao se matar o inseto, est-se executando, inegavelmente, o
primeiro ato, mas torna-se impossvel o segundo. Portanto, cada
espcie de coisas tem um modo especial de ser negada, que faz com
que a negao engendre um processo de desenvolvimento,
acontecendo o mesmo com as ideias e os conceitos. No clculo
infinitesimal, nega-se, de um modo diferente, a obteno de potncias
positivas que partem de razes negativas. Mas estes mtodos diferentes
de negar devem ser conhecidos e apreendidos, como acontece com
todas as outras coisas. No basta que saibamos que a muda de cevada
e o clculo infinitesimal se encontram sob as leis da negao da
negao, para que possamos cultivar com sucesso a cevada ou para
que possamos realizar operaes de diferenciao ou integrao, da
mesma maneira que no nos suficiente conhecer as leis que regem a
determinao do som, pelas dimenses das cordas, para que saibamos
tocar violino. Mas evidente que no pode sair nada de um processo
da negao da negao que se limite apenas puerilidade de escrever
num quadro negro um A, e logo depois apag-lo, ou a dizer que uma
rosa uma rosa para, logo em seguida, dizer que no . Somente se
poderia provar, dessa forma, a idiotice de quem se entrega a tais
divagaes. Isso no obsta, porm, a que os metafsicos pretendam
demonstrar que, se nos empenharmos em raciocinar sobre a negao
da negao, somente poderemos utilizar este processo. Muito antes de
saber o que era dialtica, o homem j pensava dialeticamente, da
mesma forma por que, muito antes da existncia da palavra escrita, ele
j falava. Hegel nada mais fez que formular nitidamente, pela primeira
vez, esta lei da negao da negao, lei que atua na natureza e na
Histria, como atuava, inconscientemente, em nossos crebros, muito
antes de ter sido descoberta. (ENGELS, 1990, p. 120-121).
A negao uma caracterstica do processo de transformao que se desenvolve
na matria como forma de superar um estado inferior para um estado superior de
desenvolvimento humano. A negao como processo de transformao na prpria
natureza e particularidades do objeto, nos indica que a matria em si torna-se matria
para si, isto , a materialidade do sujeito passa por profundas transformaes
qualitativas no decorrer do processo da matria. Por isso Engels (1990) explicita que a
negao no s um no categrico. Ela significa a transformao qualitativa que
ocorre dentro da matria por meio do ato de negar uma caracterstica intrnseca ao
objeto ou sujeito. O movimento da matria s possvel pelo processo de negao da
72
negao. Isto indica a superao de um estgio inferior para um estgio de
desenvolvimento superior, entendendo por superior as mudanas qualitativas que
acontecem midiatizados por diversas formas.
Agora, convm que diferenciemos o prprio conceito de negao.
Na histria da filosofia trilhamos trs conceitos do que seria a negao:
1. Ceticismo: esta teoria filosfica nega a possibilidade de que o ser humano possa
obter o conhecimento da prpria realidade objetiva e concreta, fora da percepo
humana. Tambm, indica a dvida de tudo o que verdade objetiva. Os seguidores
desta teoria duvidam e desconfiam de tudo.
Filsofos cticos foram Grgias, Hume, Sartre, enfim, podemos encontrar
representantes desta corrente terica no ceticismo filosfico e no ceticismo cientfico,
como o pragmatismo, a filosofia analtica e o existencialismo. Mas, o objetivo no
analisar o ceticismo neste trabalho.
2. Niilismo: a corrente terica em que se nega tudo, no h crena nem verdade
objetiva. Os niilistas no acreditam absolutamente em nada. Esta teoria apresenta-se na
forma de negao existencial, pela qual se nega que a vida tenha significado objetivo,
um propsito objetivo e concreto e um valor intrnseco. Argumenta que o mundo, e em
especial a existncia humana, no tem de maneira objetiva nenhum significado, verdade
compreensvel ou valor essencial superior. O niilismo faz uma negao a tudo o que
predique uma finalidade superior, objetiva ou determinista das coisas postas no que tem
uma explicao verificvel; por isso contrria explicao dialtica da histria. s
favorvel perspectiva de um devir constante ou concntrico da histria objetiva, sem
nenhuma finalidade superior ou linear.
Nesta linha de pensamento, temos, por exemplo, Nietzsche, Schopenhauer e
Heidegger. Mas, hoje temos este tipo de pensamento defendido pelos pragmatistas e
relativistas. No temos inteno de analisar o impacto que o niilismo provoca no
horizonte poltico, social, educativo e at religioso.
A negao dialtica segundo Krapivine (1986),
A substituio do velho, do caduco, pelo novo, isto , a sucesso das
etapas do desenvolvimento. este processo da passagem do velho
para o novo, da substituio de uma etapa por outra que se denomina
em filosofia, negao dialtica. (KRAPIVINE, 1986, p. 174).
73
A realidade material opera constantemente o processo de morte do velho, do
caduco e o nascimento do novo, progressivo. O processo de morte que falamos no se
refere morte ontolgica, biolgica, seno a morte, no sentido da passagem de um
estado velho para outro estado novo. Esta passagem do velho ao novo indica esse
processo dialtico do desenvolvimento material. Quando o velho vencido e surge o
novo a partir da base do velho o que se chama de negao dialtica.
Para o materialismo histrico-dialtico no existe um s desenvolvimento que
no negue as suas formas precursoras de existncia. Por exemplo, o desenvolvimento
das fases da terra passou por vrias pocas geolgicas, sendo cada nova poca o
resultado da superao do velho, da poca anterior. No mundo orgnico cada espcie
nova de planta ou animal, surgida base da velha, ao mesmo tempo a sua negao
dialtica. Verificamos tambm que a histria da sociedade constitui inmeros
acontecimentos de negaes de regimes sociais por outros novos. Por exemplo, a
sociedade primitiva foi negada pela escravista, esta foi negada pela sociedade feudal,
esta sociedade foi negada pelo capitalismo e o capitalismo pelo socialismo.
A negao tambm inerente ao desenvolvimento do conhecimento e da
cincia. Isto significa que o conhecimento e a cincia so a negao de algo velho, que
substitudo por algo novo. O conhecimento limitado que tinham os homens mais
primitivos foi superado pela apropriao de novos conhecimentos. A cincia tambm
teve esse impulso. Comparando a cincia antiga com a cincia atual, notamos que houve
um grande avano. E este avano o que determina a negao dialtica.
Devemos indicar que o processo da passagem do velho ao novo no um
elemento que se traz do exterior ao interior do objeto. O prprio objeto, pela lei da
passagem do quantitativo ao qualitativo nos mostra o dinamismo do movimento do
objeto. A negao da negao o prprio resultado do desenvolvimento interior do
objeto. Os objetos ou fenmenos so contraditrios, como j explicamos e ao
desenvolver-se a base das contradies internas, criam-se neles mesmos as condies da
sua prpria destruio para passar a outra qualidade nova, superior. A negao
precisamente a superao do velho base das contradies internas, o resultado do
autodesenvolvimento e automovimento dos objetos e fenmenos.
Mas, esta superao do velho pelo novo, indica o fim do desenvolvimento, o fim
do movimento? Este um tema crucial e importante que se entenda. A resposta a essa
pergunta no. A passagem do velho para o novo no o fim do desenvolvimento e do
74
movimento. Explicamos: quando surge o novo, no significa que este novo
eternamente novo. Ao desenvolver-se, este novo gera novas premissas e novas
condies que possibilitaro o nascimento de algo mais novo e avanado que este novo.
Quando estas premissas e condies estejam j prontas, maduras, voltam a
manifestar a negao deste novo porque se tornou velho. E nesta parte que o velho
ser novamente substitudo por algo novo. Esta parte j a negao da negao, ou seja,
a negao do que antes vencera o velho, agora substitudo por algo mais novo, pelo
novssimo. O resultado desta segunda negao torna-se a ser negado, vencido e, assim,
sucessivamente.
O desenvolvimento se manifesta como uma intocvel infinitude de negaes que
se sucedem uma atrs da outra, como uma substituio e superao infinita do velho
pelo novo. Esta substituio e superao infinita nos mostram que o movimento no
retilneo, seno um movimento extraordinariamente complexo, um movimento que tem
forma de espiral ascendente.
Segundo Konstantinov (1959) esta negao da negao acontece em forma de
espiral:
El movimiento de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo,
podemos representarlos grficamente por medio de una lnea espiral,
no mediante una recta o un crculo. El concepto de negacin de la
negacin expresa la forma del desarrollo en espiral. Como
demuestran numerosos hechos tomados de la historia de la naturaleza,
de la sociedad y del pensamiento, el desarrollo incluye habitualmente
un retorno de la fase superior al punto de partida, pero sobre bases
nuevas, ms elevadas. Esta forma del desarrollo se asemeja a una lnea
en espiral; en efecto, el extremo de cada espiral o vuelta se enlaza con
el principio, pero al llegar a este lmite ya no encuentra la vieja
espiral, sino otra nueva, situada por encima de la antigua.
(KONSTANTINOV, 1959, p.282).
O processo da passagem do velho para o novo acontece em forma de um
movimento dialtico, em forma de espiral. O conhecimento humano histrico e cultural
acontece em forma espiral, em forma dialtica. O conhecimento humano passa da
percepo sensvel para o pensamento abstrato, do conhecimento singular para o geral,
sempre em forma de espiral dialtica. A superao do conhecimento singular e sensvel
para o conhecimento abstrato e geral, no significa que o ser humano apaga esse
primeiro conhecimento, mas, sim, que esse primeiro conhecimento gera o impulso para
75
algo novo. Desta forma que temos o conhecimento mais antigo at o conhecimento
mais elaborado e concreto que hoje temos.
Tambm, a passagem da forma homindea a forma humanoide do ser humano
significou a negao de caractersticas animalescas para o surgimento do novo, o ser
humano. Esta passagem foi possvel pela conscincia que s o ser humano tem. E assim,
o ser humano, pela conscincia, busca forma mais humana, forma mais nova, para
vencer ou negar a sua essncia mais velha, mais animal que tem.
Agora, continuando o esquema dialtico de Konstantinov (1959), podemos
apresentar a importncia desta lei para conhecer a essncia do objeto desta forma:
La ley de la negacin de la negacin es la ley cuya accin determina
el nexo, la continuidad entre lo negado y lo que niega. En virtud de
ella, la negacin dialctica no es una negacin pura, gratuita, que
rechaza todo el desenvolvimiento anterior, sino la condicin misma
del desarrollo que mantiene y conserva todo lo positivo de las fases
anteriores, que reproduce a un nivel superior algunos rasgos de las
fases iniciales y, por ltimo, que tiene en conjunto un carcter
progresivo12. (KONSTANTINOV, 1959, p. 284).
Como estvamos indicando, a negao da negao no uma tarefa para
eliminar o antigo. Esse antigo, velho e caduco, tem sempre algo de positivo que ser
usado, aproveitado na nova fase do novo. No h nada que se pode rejeitar ou deixar de
lado do fenmeno ou objeto. Quando falamos de processo, estamos indicando de que
o novo que est contido no velho, no antigo que ser o elemento mediador entre o que
superado e o novo que esta surgindo.
Neste momento, se faz necessrio analisar um pouco as leis fundamentais do
conhecimento dialtico. Para esta contextualizao e conceitualizao nos remeteremos
aos trabalhos de Saviani (2004) e Libneo (1985), nos quais esses autores falam sobre
as leis da construo do conhecimento dialtico, quando analisam os conceitos de
sncrese, anlise e sntese. Conveniamos que esse esquema dialtico j foi elaborado e
analisado por Hegel, quando ele abarcou as categorias de Tese, Anttese e Sntese.
Tambm, importante destacar que Engels (1990) usou outra terminologia para indicar
esses mesmos pressupostos tericos de Hegel, usando os conceitos de Afirmao,
Negao e Negao da Negao. Achamos interessante indicar estas terminologias para
que os leitores tenham uma boa apropriao destes conceitos.
12
No original est em itlico.
76
Segundo
Saviani
(2004)
elaborao
do
conhecimento
perpassa
indiscutivelmente essas trs fases e so as fontes da explicao do processo de
conhecimento dialtico no ser humano. Assim, o ponto de incio de qualquer
conhecimento comea sempre pela:
a) Sncrese: que designa o momento do processo afirmativo da formao do
conhecimento, ou seja, o momento de buscar explicitar a viso do objeto na sua forma
de conjunto do todo, da sua totalidade. Trata-se de uma totalidade precria ou catica.
um momento onde o conhecimento se apropria do conjunto geral do objeto, sem
determinar os detalhes, as singularidades nicas do objeto. o momento em que
percebemos a realidade como algo catico e difcil de acesso essncia do prprio
objeto. Por exemplo, uma criana, que comea a andar, enxerga esse mundo de forma
catica, desordenada, etc. Esse momento de sncrese para uma criana seria o momento
em que ela est buscando apropriar-se e objetivar-se pela mediao do adulto e dos
instrumentos humanos. Ento, a sncrese corresponde viso global, indeterminada,
confusa, fragmentaria da realidade. Esta sncrese indica essa afirmao da realidade. Na
sncrese partimos da apropriao particular ao universal, ao geral do objeto.
b) Anlise: ela representa o momento em que o objeto indagado, dividido para
atingir a essncia mesma do objeto ou fenmeno.
Segundo Saviani (2004) a anlise o momento de mediao, de negao da
observao inicial que se faz do objeto. Como j indicamos, este negar no indica
descartar o conhecimento da observao primeira, seno que ela seja o incio para
chegar essncia do objeto, a essncia de um problema ou fenmeno. Como partimos
da observao ainda no seu estado sensvel e perceptvel, a anlise seria o reencontro da
sncrese com a sntese.
Para Libneo (1985) a anlise corresponde ao desenvolvimento operacional para
compreendermos o concreto por meio do pensamento. Mediante a anlise podemos
desvelar a essncia do fenmeno que no incio se apresentou como confuso ou catico
porque ainda no podamos compreender e captar a essncia das coisas em si. Por isso,
a anlise um momento importante da dialtica para que se possa chegar sntese total
do objeto. No podemos avanar para a sntese total sem antes o ser humano apropriarse das particularidades e essencialidades do objeto. Por exemplo, quando a criana
supera a sncrese pela anlise que ela realiza nesse primeiro contato com o mundo
exterior, ela se d conta que pode superar esse mundo catico. A criana se desenvolve
77
e vai aprimorando esse contato com o mundo material, vai captando e compreendendo a
sua relao com outros seres humanos e com o mundo externo. Nesta fase de anlise, a
criana encontra o seu sentido de ser no mundo e entre outros seres humanos.
c) Sntese: ela corresponde ao momento da sintetizao dos passos do prprio
conhecimento dialtico. Ela corresponde ao ponto de chegada de qualquer atividade
humana, estabelecendo-se uma nova totalidade, concreta, caracterizada por novas
relaes e determinaes. A sntese corresponde superao desse mundo catico e
superficial gerando um novo conhecimento, novo pensamento ou novas formas de
estruturas da atividade humana em si.
Para Libneo (1985) a sntese corresponde ao momento da integrao e
generalizao. Continuando o nosso exemplo com a criana, podemos concluir que o
momento em que a criana se apropria do sentido da ao, da atividade, ela est
operando uma sntese no seu pensamento. importante destacar que a sntese que se
realiza no uma sntese final, seno, uma sntese dialtica. E pensando nas leis da
dialtica, podemos afirmar que a sntese perfeita e eterna no existe. Se afirmarmos isto,
estamos negando a transformao ou movimento da matria em si.
A sntese corresponde ao momento dialtico da integrao de todos os
conhecimentos parciais, buscando um todo orgnico e lgico do conhecimento humano.
Isto significa que o ser humano consegue elaborar e concretizar a soluo dos
problemas, das dvidas e da critica por meio de elementos construtivos e significativos.
Pois bem, vimos e discutimos nestas longas pginas o estudo da importncia
transcendental do conhecimento e da compreenso das leis do materialismo histricodialtico. Agora, tendo em conta estas leis, podemos compreender as teorias, os
conceitos, os motivos, etc., que levaram a Vigotsky, e seus colaboradores, a enunciar e
proclamar a Teoria Histrico-Cultural.
E ainda continuamos afirmando que de transcendental importncia
apropriao e a compreenso do marxismo para que os leitores de Vigotsky possam
entender e captar as bases tericas da Teoria Histrico-Cultural.
78
CAPITULO 2 - OS CONCEITOS MARXISTAS DO MATERIALISMO
HISTRICO
Nihil humani a me alienum puto13.
Francisco Bacon
2.1 Os conceitos marxistas do materialismo histrico
Depois de analisarmos o materialismo dialtico, a sua forma mais conceitual, no
captulo 1, se faz necessrio, agora, analisar o materialismo histrico, a sua forma mais
prtica, para que compreendamos em que ponto crucial o ser humano teve o seu salto
qualitativo da esfera homindea a esfera humanide.
Devemos partir do fato concreto e real de que o ser humano um ser histrico e
social e que se desenvolve como ser humano na histria desde a perspectiva da
formao cultural, como resultado de seu trabalho de transformao da natureza e que
esta transformao da natureza o leva a transformar o seu psiquismo. A marca do ser
humano est na sua atividade como cultura e no seu psiquismo, dito de outra forma, no
desenvolvimento das funes psquicas superiores, categorias que fez com que o ser
humano superasse a sua forma de macaco para a forma de homem.
S nesta expresso j enunciamos vrias categorias marxistas, tais como, a
histria, o social, a formao da cultura, o trabalho como mediao e transformao e o
psiquismo humano. Resulta evidente e necessrio que nos detenhamos nestes pontos e
expliquemos todas estas categorias. E isto ser o nosso objetivo neste captulo 2.
Por isso, no item 2.1 analisaremos o ser humano como um ato histrico-social.
Importante neste item a anlise sobre os instrumentos como elementos mediadores
fabricados pelo ser humano para apropriar-se e objetivar-se. Tambm, as necessidades
humanas vistas como o elemento que impulsiona o ser humano a buscar novas formas
de objetivao no mundo material.
No item 2.2 discutiremos o conceito marxista de ser humano, conceito que
Vigotsky desenvolver quando ele escreve sobre a sua teoria, quando enfoca a questo
do histrico-cultural como processo de transformao da natureza e do ser humano em
si prprio. Importante analisar e compreender o conceito de humano, como espcie e
13
Tudo o que humano, no me estranho.
79
como gnero, como um ser que realiza atividade, trabalho e, desta mesma atividade ou
trabalho, o ser humano se humaniza, transforma a natureza para satisfazer as suas
necessidades primrias e, ao mesmo tempo, vai assumindo caractersticas mais
desenvolvidas dentro do reino animal. E para isso, a nossa anlise partir dos textos de
Marx & Engels, para discutir o que seria esse desenvolvimento histrico do ser humano.
E necessrio que se entenda o que o histrico em Marx, para que no tenhamos uma
abordagem distorcida da teoria marxista.
2.1.1 A anatomia do Ser Humano como Histrico-Social
Temos uma passagem do escrito lido por Engels (1979) no funeral de Marx,
num sbado, 17 de maro, que diz o seguinte sobre o seu amigo:
Tal como Darwin descobriu a lei da evoluo da natureza orgnica,
assim Marx descobriu a lei da evoluo histrica humana: o
simples fato, at ento camuflado por uma excrescncia da ideologia,
de que a humanidade tem antes de mais nada de comer, beber, abrigarse, vestir-se, antes de poder dedicar-se a poltica, cincia, arte,
religio, etc.; que, por conseguinte, a produo dos meios materiais
imediatos de subsistncia e, conseqentemente, o grau de
desenvolvimento econmico alcanado por uma dada poca, forma a
fundao sobre a qual as instituies estatais, as concepes legais, a
arte, e mesmo as idias sobre religio foram desdobradas, e luz das
quais elas tem, por isso, de ser explicadas, em vez do contrario, como
tinha sido at ento o caso. (ENGELS, F.,1979, p. 220. Grifo nosso).
Notamos nesta passagem o resumo totalizante da vida e da investigao a que
chegou Marx. Diz que Marx descobriu a lei da evoluo histrica humana, indicando
que esta a maior descoberta dele referente ao ser humano. A histria humana a
histria do desenvolvimento humano porque ele, por meio da sua atividade objetiva e
concreta, consegue formalizar uma sociedade que lhe inerente sua prpria essncia.
O ser humano resultado dessa constante relao dialtica entre natureza e o
social, constitudo pelos homens. O fato de que ele precisa comer, beber, vestir-se etc.,
configura que ele histrico, precisa elaborar os produtos por meio da sua atividade e
dos instrumentos para satisfazer as suas necessidades primarias, precisa viver em
sociedade para que ele possa concretizar estas realizaes humanas. Ele, sozinho, no
consegue viver sequer um segundo sem a presena do outro.
80
o prprio ser humano que faz a sua histria e nesse processo de formao
histrica que ele se desenvolve. O animal no escreve a sua histria, mas, podemos
falar da histria filogentica da espcie animal. Algumas cincias, como a Biologia,
falam sobre a histria animal. Esta histria filogentica ou a filognese s descreve o
processo biolgico da evoluo da espcie animal e humana, como nascer, reproduzir-se
e morrer. O animal no conta nem escreve a sua histria, porque ele no tem
conscincia. E como no tem conscincia, ele no se transforma nem transforma a
natureza. Ele vive num estado natural. O homem tem esse estado filogentico, porque
ele um ser biolgico, mas, no o determinante para a sua vida. O ser humano,
tambm
se
desenvolve
ontologicamente,
graas
conscincia
que
possui.
Ontologicamente o ser humano escreve a sua histria por meio das atividades que
realiza. O ser humano se humaniza por meio da sua atividade quando transforma a
natureza e, como consequncia disto, cria a cultura.
Diz Engels (1991) o seguinte sobre a humanizao do macaco:
Resumindo: o animal apenas utiliza a Natureza, nela produzindo
modificaes somente por sua presena; o homem a submete, pondo-a
a servio de seus fins determinados, imprimindo-lhe as modificaes
que julga necessrias, isto , domina a Natureza. E essa a diferencia
essencial e decisiva entre o homem e os demais animais; e, por outro
lado, o trabalho que determina essa diferena. (ENGELS, F., 1991,
p. 223).
Para o ser humano, a natureza uma ferramenta de mediao para o
desenvolvimento da prpria essncia humana. A mediao da natureza proporciona ao
ser humano o seu desenvolvimento psquico mediante o seu trabalho e tambm a
transformao da natureza. Dominar tem o significado de humanizar e de socializar a
prpria natureza. Por isso, a natureza constitui um elemento importante de mediao
para o desenvolvimento ontolgico e sociogentico do ser humano. Dominar pressupe
um alto grau de racionalidade e objetividade. S o ser humano possui esta racionalidade
e objetividade como categorias da essncia humana. Ento, dominar racionalizar e
objetivar a natureza para que seja elemento de desenvolvimento humano. Ele submete a
natureza porque tem uma finalidade concreta e objetiva, que a superao do estado
animal, bruto, biolgico em que se encontrava na natureza. O ser humano tem essa
capacidade de incluir a natureza nos seus propsitos de desenvolvimento por meio da
sua atividade. J o animal no inclui nada da natureza porque no realiza o trabalho.
81
Destacamos que o animal exerce uma influncia sobre o ambiente em que ele
vive, mas, esta no nada da sua vontade, s uma influncia causal, que no tem uma
finalidade especfica para o animal. Por isso, quando o animal, depois de exercer
influncia sobre um determinado local e no tem mais nada a usufruir desse ambiente,
ele muda-se para outro espao. O animal no capaz de apropriar-se desse ambiente, s
utiliza esse espao ou ambiente para fins biolgicos.
O ser humano encontra na natureza a expresso mxima para constituir-se num
ser racional e objetivo. Por meio de seu trabalho, ele se afasta da animalidade e por via
de um processo dialtico vai assumindo caractersticas humanas. Da a importncia
dessa relao dialtica do homem com a natureza em si mesma.
Outro dado a destacar nesta carta lida pelo amigo Engels (1979), diz respeito a
que o ser humano realiza as produes para sobreviver, para realizar-se como ser
humano e, isto, tambm, indica o grau de desenvolvimento econmico de um
determinado pas. A forma como realiza a produo dos meios de subsistncia indica o
desenvolvimento econmico de cada sociedade, isto pe de manifesto essa capacidade
humana de concretizar-se e objetivar-se na historia. O homem por essncia um ser
faber, ou seja, um ser que deve trabalhar para produzir, trabalhar para transformar a
realidade material e dispor para ele a sua produo, como forma de humanizar-se e fazer
que o seu trabalho seja um produto social, produto para todos.
2.1.2 A produo como processo dialtico do desenvolvimento humano
Marx (1999 e 2008) analisa a produo para explicar o desenvolvimento do ser
humano e a transformao da natureza por meio do trabalho. Para compreender o
materialismo histrico-dialtico necessrio compreender o que seria a produo que
ele com tanta frequncia tm utilizado nos seus escritos. Marx no limitou esse conceito
ao nivel econmico, mas, por meio do entendimento do que seria a produo, explicou o
desenvolvimento humano, a sua humanizao no processo dialtico entre natureza e
processo social, ou seja, a produo explica a formao ontolgica e sociolgica do ser
humano. Como a produo no define s o nivel econmico, mas um conceito
dialtico que nos permite conhecer uma totalidade social. O modo de produo no
descreve uma coisa, no tem essa inteno de descrever as particularidades visveis. Por
exemplo, no chegamos a compreender uma sociedade pela descrio particular do
82
nivel econmico. Se um pas no est desenvolvido, no encontraremos a causa s na
pobreza, no nivel econmico. necessrio captar ou descrever as contradies
existentes nesse pas para explicar a causa intrnseca da falta de desenvolvimento desse
pas. Isto pode ser aplicado a qualquer objeto para compreender o problema real do
objeto. Se observarmos de que h problemas de aprendizagem ou de ensino, no
podemos s aceitar como verdades os resultados da simples descrio do problema.
Devemos pensar e analisar a totalidade do objeto. Da importante compreender de que o
produto a sntese de muitas determinaes de unidades e contradies no prprio
objeto. O produto, tambm, um instrumento para analisar em forma cientfica as
diferentes etapas do desenvolvimento humano ao longo da prpria histria.
Hernecker (1983) faz uma interessante diferenciao entre modo de produo de
bens materiais e modo de produo, nestes termos:
Pois bem, no se deve confundir a expresso modo de produo de
bens materiais com o conceito de modo de produo. A primeira
uma noo descritiva e se refere apenas econmica da sociedade; o
segundo, pelo contrario, um conceito terico e se refere totalidade
social global, isto , tanto estrutura econmica como aos demais
nveis da totalidade social: jurdico-poltico e ideolgico
(HERNECKER, p. 134, 1983).
O modo de produo determina a forma como se processa historicamente a
atividade humana e como a prpria atividade, desde a perspectiva do trabalho base
de toda ordem histrico-social do ser humano.
A sociedade humana faz parte do mundo material porque o prprio ser humano
se caracteriza como material e como a matria mais desenvolvida porque est
constitudo de crebro, de um psiquismo, de uma conscincia, vontade e tem uma
finalidade, um objetivo prprio para apropriar-se da natureza e objetivar-se nela,
fazendo que a prpria natureza seja humanizada pelo ser humano. A sociedade humana
o espao onde o ser humano se desenvolve, onde acontece a vida social. Ento, a vida
social o produto da atividade humana. Por isso, no falamos s do homem como ser,
seno falamos dele como ser social, categoria que lhe imprime uma caracterstica
peculiar e bem formal para diferenci-lo do animal irracional, usando uma expresso
aristotlica.
83
Falamos de ser social porque s o ser humano capaz de transformar a natureza
e a partir dela constituir a sua prpria histria, uma histria humana de desenvolvimento
e de grandes realizaes humanas. S o ser humano social porque consegue fazer,
escrever a sua prpria histria, uma histria dialtica que pressupe o desenvolvimento,
aquisio e apropriao do produto humano realizado ao longo da histria. O ser
humano imprime uma caracterstica humana a prpria natureza.
Marx (1985) especifica a sociabilidade desta perspectiva:
Por isso precisamente somente na elaborao do mundo objetivo que
o homem se afirma como um ser genrico. Essa produo a sua vida
genrica ativa. Mediante ela aparece a natureza como a sua
objetivao da vida genrica do homem, pois este se desdobra no s
intelectualmente, como na conscincia, mas ativa e realmente, e se
contempla a si mesmo num mundo criado por ele. (MARX, K., 1985,
p.112).
A especificidade humana esta caracterizada em que ele, o ser humano, elabora
um mundo objetivo e concreto, mediante a sua atividade que realizada em conjunto,
em uma esfera social. Afirmar-se como ser genrico indica que s o ser humano capaz
de elaborar esse mundo objetivo mediante a sua atividade e s ele pode objetivar-se em
seu produto social. O mundo objetivo resultado da prpria atividade humana e,
tambm, este mundo objetivo serve como objetivao dele prprio. Notamos que o
mundo objetivo a objetivao do ser humano e no uma simples exteriorizao do ser
humano. Quando afirmamos que este mundo real e concreto a objetivao do ser
humano estamos afirmando que o ser humano se relaciona com o seu produto, se
apropria da essncia primeira e primria do objeto e encontra nele, no mundo real, a
forma das necessidades sociais, caractersticas sociais humanas. O produto humano
uma necessidade social, no uma necessidade de sobrevivncia, que s caracteriza aos
animais. O ser humano se objetiva14 no produto resultante da atividade humana.
Nesta passagem podemos observar a formao dialtica da histria, quando o ser
humano transforma o mundo como afirmao da sua essncia humana. Transformar
produzir e, esta produo de vital importncia para o ser humano porque significa
14
No entraremos em detalhar a diferena entre objetivao e exteriorizao agora, mas, podemos indicar de que exteriorizao, no
conceito marxista, indica alienao. Objetivao e exteriorizao so elementos discordantes. Uma pedagogia pautada no
biologicismo usa sempre a categoria exteriorizao.
84
ultrapassar a questo da sobrevivncia para elaborar produtos sociais por mediao da
sua atividade consciente e intencional.
Marx (2008) formula a clssica fundamentao materialista da histria humana
no seu famoso livro Contribuio crtica da economia poltica. interessante citar
toda essa larga exposio para que o leitor compreenda o desenvolvimento humano
realizado a partir da sua atividade, seu trabalho, ao longo da histria.
Diz Marx (2008) sobre a conceio histrica do ser humano:
Na produo social da prpria existncia, os homens entram em
relaes determinadas, necessrias, independentes de sua vontade;
essas relaes de produo correspondem a um grau determinado de
desenvolvimento de suas foras produtivas materiais. A totalidade
dessas relaes de produo constitui a estrutura econmica da
sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura
jurdica e poltica e qual correspondem formas sociais determinadas
de conscincia. O modo de produo da vida material condiciona o
processo de vida social, poltica e intelectual. No a conscincia dos
homens que determina o seu ser; ao contrario, o seu ser social que
determina a sua conscincia. (MARX, 2008, p. 47).
Nesta passagem podemos falar sobre a dialtica da apropriao e da objetivao
do ser humano no processo de produo como resultado de toda a atividade humana,
concretizada a apartir da perspectiva do seu trabalho.
A produo o resultado da atividade de transformao da natureza por meio de
instrumentos, como as ferramentas e a prpria conscincia humana. Na produo
material interferem vrios homens. Da que a produo sempre ser uma produo
social, no uma produo individual. Neste caso nos referimos ao produto em si mesmo.
Este produto concreto e real. resultado da interveno humana na natureza.
Por exemplo, o ser humano produz casas, camas, variados instrumentos, que o ajudam
na sua cotidianidade etc. Mas, no s o homem produz algo bruto, material na
transformao da natureza. Na produo da prpria matria, o ser humano se produz
como humano. Quando o ser humano est elaborando um dado objeto material, ele
tambm passa a produzir-se como ser humano. Ele se destaca no objeto, no produto, e
desde esta tica ele se diferencia do animal. O homem se humaniza, torna-se humano,
na sua atividade objetivada no produto. Diramos que o produto humano carrega as
marcas histricas do seu desenvolvimento psquico e, tambm, mostra como o mundo
85
se humaniza por meio da sua atividade produtora e transformadora. O produto em si
mesmo mostra esse processo histrico de humanizao.
A totalidade dessas relaes de produo constitui a base do processo de
desenvolvimento humano. Da Marx (2008) fala o que constitui a estrutura econmica
da sociedade. Entendemos por estrutura econmica a vida em totalidade, um processo
histrico de cada poca e que deixa a sua marca para cada gerao. Por isso falamos que
a produo em si mesma carrega essa histria humana e que em cada poca, o homem
vai apropriando-se destes produtos, frutos do trabalho humano, da sua atividade.
O homem um ser social, porque no consegue viver sozinho nem consegue ser
humano na sua prpria individualidade em si. O ser humano constitui-se em ser social
por meio de seu trabalho. Este ser social determina o prprio ser do homem, porque lhe
imprime uma categoria de humano. Por meio da fabricao do seu produto, o homem
modifica o seu ser filogentico. Se no fosse pelo seu produto, pelo seu trabalho, o ser
humano no conseguiria objetivar-se nem apropriar-se da totalidade da essncia de seu
produto.
O papel que desempenha a produo na histria humana e na sua vida social de
vital importncia para que compreendamos esse dinamismo da transformao do ser
humano e da prpria natureza, que se apresenta como natureza humanizada pela
atividade consciente e intencional desde a perspectiva da produo.
Vsquez (1986) diz o seguinte:
O homem se distingue do animal por sua atividade produtiva e,
nesse sentido, a produo no um trao entre outros da
existncia humana, e sim um trao essencial (VSQUEZ, 1986,
p. 165).
Isso significa que o ser humano comea a diferenciar-se do animal no momento
em que o humano comea a produzir seus meios de existncia fsica e espiritual. Por
isso a produo um trao essencial, inato, no prprio ser humano porque o meio da
concretizao da sua prpria vida material e espiritual.
Nota-se que a produo relaciona entre si de forma dialtica as foras produtivas
e as relaes de produo que se verificam na prpria vida social humana. No podemos
pensar a produo como algo esttico dentro da sociedade humana, mas, a produo
86
algo dinmico porque est em constante transformao por meio da prpria atividade
humana e por meio do uso de instrumentos mediadores.
Mediante a produo, o ser humano busca objetivar-se na natureza e no social
porque na produo o ser humano se objetiva mediante o seu trabalho. O trabalho a
atividade mediada pelo qual o ser humano humaniza a natureza e se humaniza a si
mesmo, de forma consciente e intencional. Poderamos concluir dizendo de que
produo autoproduo ou autocriao do prprio ser humano. Isto significa que no
processo de produo o ser humano supera o seu estado natural biolgico, eleva-se
sobre sua prpria natureza bilgica para constituir-se em ser humano histrico-social.
O que fica claro nesta forma de produo que o ser humano por meio da sua
produo, por meio da sua atividade, elabora um mundo objetivo e concreto.
2.1.3 A atividade mediada como processo de objetivao e apropriao
Com isto queremos analisar a atividade mediada como fundamento da
apropriao e objetivao de todo o processo de desenvolvimento humano. O social,
como j apontamos, o universo factual, no qual o sujeito-homem vai adquirindo e
desenvolvendo as caractersticas essncias e substanciais do ser humano em relao
dialtica entre a prpria natureza e outros homens, constitudos sempre em sociedade.
O histrico o espao essencial e real-concreto onde o ser humano, na sua
expresso mxima, transforma o seu ser individual e, tambm, transforma a sociedade,
em constante transformao verificvel no decorrer da prpria histria humana.
Campos (2005) referindo-se a atividade humana, diz o seguinte:
O processo de objetivao e de apropriao segue sempre um
fluxo de existncia contnua ou geradora de novos processos de
apropriao e de objetivao ao infinito, mas o homem no vive
apenas do ato comunicativo, sua vida repleta de atividades que
so instrumentalizados por aes que levam a transformao do
mundo objetivo (CAMPOS, 2005, p.45).
A atividade mediada seria o ato da evoluo da transformao scio-histrica do
prprio ser humano porque por meio da sua atividade que o ser humano permite criar
as necessidades e ao mesmo tempo permite satisfazer essas necessidades, relacionando
de forma objetiva e concreta o ser humano com a natureza e com outros seres humanos.
87
Mrkus (1974) escreve que compreender o que a histria humana desde a tica
da atividade nos leva a compreender o ser humano, a sua essncia e sua substncia. A
histria humana, aquela que entendemos como o processo da passagem do estado
homindeo ao estado humanide, concretizada pela atividade humana, o trabalho em si
mesmo, o princpio, a base existencial, para entender o que o ser humano.
Diz Mrkus (1974) sobre a questo do ser humano:
Creemos que Marx ha entendido por ser humano, o esencia
humana, o naturaleza humana, ante todos aquellos rasgos
esenciales de la historia humana real que permiten entender dicha
historia como un proceso unitario dotado de una determinada
direccin y de una determinada tendencia evolutiva. (MARKUS,
1974, p. 53).
Essas marcas essenciais que caracterizam a essncia humana so: a atividade
mediada, a liberdade e a sua prpria conscincia. O ser humano executa a sua atividade,
o seu prprio trabalho, de forma consciente. Estas categorias de atividade mediada,
liberdade e conscincia lhe so imanentes, lhe so caractersticas para o seu prprio
desenvolvimento como indivduo particular ou singular e como indivduo geral ou
social. Falamos de que so imanentes ao ser humano, porque s ele pode realizar e
concretizar esses elementos no desenvolvimento social de seu ser genrico. Para outros
seres vivos no lhes so imanentes estas categorias de atividade, liberdade e
conscincia. Os seres vivos, como os animais, no realizam a atividade, no possuem a
liberdade como princpio do ato livre para transformar a natureza por meio da sua
conscincia.
Leontiev (1978) indica que o animal no realiza uma atividade como a realizada
pelo ser humano. Ele afirma o seguinte:
[...] a atividade dos animais biolgica e instintiva. Por outras
palavras, a atividade do animal no pode exercer-se seno em relao
ao objeto de uma necessidade biolgica vital ou em relao a
estmulos, objetos e suas correlaes (de situaes), que revestem para
o animal o sentido daquilo que est ligado satisfao de uma
determinada necessidade biolgica (LEONTIEV, 1978, p. 61-62).
A atividade animal carece de racionalidade e objetividade porque s est para
satisfazer o seu prprio instinto ou aspecto biolgico. No h uma relao objetiva do
88
animal com o exterior. Dizemos relao objetiva porque o animal tem uma indiferena
total com o mundo, no tendo nenhuma necessidade de apropriao e de objetivao por
meio da atividade que realiza. O mundo s ter interesse para o animal quando s h
uma relao no sentido biolgico. O ser humano tem uma relao objetiva e racional
com o mundo porque tem conscincia e toda a sua atividade regida pelo motivo e pelo
sentido que ele d para essa relao com o mundo.
O tipo de atividade que o animal processa s de uma relao instintiva. Fora
desta relao instintiva, o animal no consegue ter uma relao objetiva com o mundo
objetivo e entre os prprios animais da mesma espcie.
Por isso Leontiev (1978) resume a diferena entre a atividade mediada humana
da atividade animal neste aspecto:
No mundo animal, as leis gerais que governam as leis do
desenvolvimento psquico so as da evoluo biolgica; quando se
chega ao homem, o psiquismo submete-se s leis do desenvolvimento
scio-histrico (LEONTIEV, 1978, p. 68).
No estamos afirmando que o ser humano no tenha aspectos biolgicos, como
os dos animais. O que acontece que desde o seu nascimento, a criana humana age
histrica e culturalmente, modificando o seu aspecto biolgico. Ou seja, o biolgico
transformado pelo social e vice-versa por meio da sua atividade mediadora, atividade
consciente e intencional, sempre orientada pelos sentidos e por uma significao da
atividade que realiza.
Podemos tecer vrios exemplos sobre esta diferena entre o ser animal e o ser
humano. Mas, achamos importante que o prprio leitor faa este exerccio de refletir, de
pensar, raciocinar sobre este fato da dialtica da imanncia.
Mrkus (1974) tambm afirma que a histria do ser humano est caracterizada
por uma teleologia, por uma finalidade em si mesma, que tem uma determinada direo
e uma determinada evoluo. S o ser humano tem essa finalidade em forma intrnseca
que lhe permite desenvolver-se como ser humano para si.
A finalidade no ser humano est direcionada a satisfazer as necessidades, mas
antes de analisar esta questo devemos indicar que no mundo grego, com os grandes
filsofos, a finalidade do ser humano estava direcionada a alcanar a prpria felicidade.
O fim ltimo do ser humano, para o mundo grego, era a conquista da felicidade, o reino
89
da felicidade. Mas, no Materialismo Histrico-Dialtico, a finalidade humana a
questo das necessidades. Vamos analisar esta questo.
Marx (s.d) diz o seguinte sobre a questo das necessidades analisados nos atos
histricos do ser humano:
[...] a existncia humana e, portanto, de toda a histria, a saber, que os
homens devem estar em condies de poder viver a fim de fazer
histria. Mas, para viver, necessrio antes de mais beber, comer, ter
um teto onde se abrigar, vestir-se, etc. O primeiro fato histrico pois
a produo dos meios que permitem satisfazer essas necessidades, a
produo da prpria vida material (MARX & ENGELS, s.d., p. 33).
O autor reconhece a existncia do ser humano como ontolgica, ou seja, o
homem vai adquirindo a sua humanidade na sua relao com a natureza e com os outros
homens e, no s um homem definido como biolgico. Por ser um ser ontolgico, ele
faz histria, mas, fazer histria significa que deve ter condies para viver. E a primeira
e fundamental forma de existncia, de vida, buscar a satisfao das primeiras
necessidades humanas, vitais para o no desaparecimento biolgico dele. Precisa ter
uma estrutura para satisfazer suas necessidades bsicas de existncia. E para satisfazer
essas necessidades, o ser humano deve fazer uma atividade mediada para produzir. S o
ser humano produz os meios, os instrumentos, as ferramentas para produzir a vida
material para a satisfao das necessidades. E isto, o de criar os meios, as ferramentas,
para produzir a sua vida material acontece em cada poca da histria humana.
Poderamos at ter a convico de afirmar de que o ser humano condenado a criar
meios para produzir, buscando satisfazer a suas necessidades. O animal irracional, como
age impulsionado pela questo biolgica, no cria as ferramentas, mas, a prpria
natureza lhe garante o mnimo, que seria o mximo, para que ele exista. O animal j
vem equipado para viver, para existir. No precisa transformar a natureza para que ele
exista.
Ento, esse primeiro ato histrico, refere-se ao fato de produzir as ferramentas
para que o ser humano possa viver e existir. Sem isso no seria possvel existncia do
ser humano. E no pensemos que isto s aplicado aos homens primitivos. No. O
homem continua produzindo os meios para sua existncia at hoje. Se o homem
deixasse de produzir os meios, significaria que ele deixou de existir. Porque a prpria
existncia que faz que produza os meios para satisfazer as suas necessidades bsicas.
90
Por isso, Marx (s.d, p. 34) diz que:
uma vez satisfeita a primeira necessidade, a ao de a satisfazer e o
instrumento utilizado para tal conduzem a novas necessidades
(MARX, s.d., p.34).
No h uma satisfao completa das necessidades humanas. Cada poca da
histria humana nos mostra que o ser humano vai superando as formas simples dos
meios e dos instrumentos de produo para satisfazer as suas necessidades. Se os nossos
antepassados partiram do uso da pedra at chegar hoje s mquinas mais modernas,
atestamos a superao da forma mais simples de ferramentas s formas mais
sofisticadas. A prpria necessidade faz com que se criem outras necessidades. E ao
criarmos outras necessidades, elaboramos novos instrumentos. E s o ser humano pode
concretizar este realidade.
As necessidades intrinsecamente humanas so satisfeitas pela criao de novos
instrumentos que entram no processo de produo de vrios elementos que estaro ao
servio da humanizao do prprio ser humano. O homem se humaniza quando faz os
instrumentos para oferecer um resultado mediato que a produo. A produo, nesta
perspectiva adquire um valor ontolgico, no s econmico. A produo adquire dois
caminhos dialticos, a produo como natural e a produo como social. Natural porque
s o ser humano pode produzir e, produzir, significa transformar a natureza material
para satisfazer as necessidades humanas. Ao mesmo tempo em que o ser humano
transforma a natureza, ele tambm se transforma pela cooperao que existe entre os
indivduos constitudos em sociedade. Exemplo de produo social seriam a cultura, a
conscincia e a linguagem.
A cultura o resultado da atividade de objetivao e apropriao social; da que
cultura o resultado de qualquer atividade humana que busca humanizar o ser humano.
O homem produz cultura porque transforma a natureza por meio do seu trabalho, por
meio da atividade mediada, que o realiza em sociedade. Quando dizemos que o ser
humano produz cultura, no estamos afirmando de que a cultura algo esttica, mas, a
cultura no materialismo histrico-dialtico est sempre em constante transformao,
porque a cultura dinmica e objetiva.
91
A conscincia humana o resultado do processo de produo atividade mediada
do ser humano. A conscincia constituda em sociedade, por isso ela um produto
social, resultante da atividade que ele realiza ao longo da historia humana.
A linguagem um instrumento social que tem a funo de mediar uma atividade
humana, porque se caracteriza em relacionar os seres humanos, em comunicar coisas,
em transmitir coisas para os outros. A linguagem fruto da necessidade imperiosa que
tem o ser humano de intercambiar com outros seres humanos. Sem o homem e sem sua
atividade mediadora para satisfazer as necessidades por meio dos instrumentos, por
meio do trabalho, no haveria cultura, conscincia e linguagem.
Mas, criar as ferramentas, os meios para satisfazer as necessidades, no uma
atividade individual. Neste sentido Marx (s.d.) afirma a importncia do social, da
famlia, no processo da humanizao:
o aspecto que intervm diretamente no desenvolvimento histrico
facto de os homens, que em cada dia renovam a sua prpria vida,
criarem outros homens; reproduzirem-se (MARX, s.d., p. 34).
Entretanto, nossa anlise no limita na simplicidade do fato da reproduo
biolgica do ser humano, mas, o mais importante nesse processo que o ser humano
no consegue viver individualmente a sua totalidade humana. A reproduo uma
necessidade para sua existncia em sociedade, caracterstica esta que lhe d a condio
de Humano. A sociedade o espao histrico do desenvolvimento humano porque o
mbito das relaes e das realizaes humanas, o mbito onde o ser humano
concretiza a sua essncia como ser social e como ser de prxis.
O ser humano se humaniza inter e intrapsicologicamente na relao social que
ele experimenta e vivencia com os outros. No h uma socializao e humanizao em
esfera que seja diferente prpria sociedade. Significa que a humanizao e o
desenvolvimento da psique humana s so possveis em sociedade, na relao entre os
homens.
Claro que podemos pensar no conceito aristotlico de que s o homem um ser
poltico e social, mais, o conceito marxista de existncia coletiva vai mais alm dessa
constatao emprica. No marxismo, o social e o cultural so determinantes para que o
ser humano possa desenvolver o seu psiquismo como forma de humanizar-se. A
humanizao objetiva e concreta porque s o ser humano pode constituir trabalho ou
92
atividade. S o ser humano tem essa possibilidade de intervir no seu desenvolvimento,
de buscar alternativas concretas e reais no espao da totalidade humana.
Ser humano, instrumentos e produo esto dialeticamente enlaados na histria
humana. O ser humano produz em sociedade por meio dos instrumentos que ele cria
para satisfazer as suas necessidades bsicas. O fato de produzir demonstra que o homem
se humaniza constantemente por meio das atividades e por meio dos instrumentos.
Desta perspectiva, a histria humana uma histria material, concreta e real. Por
isso, afirmamos que a produo sempre a apropriao da natureza pelo ser humano e,
ao mesmo tempo, a produo a objetivao dele como ser pensante e produtor. Isto o
desenvolvimento histrico do ser humano.
Neste sentido, Mrkus (1974), analisando o marxismo, conclui:
El principal criterio del desarrollo histrico es para Marx la medida en
la cual se constituyen los presupuestos de un desarrollo irreprimido y
rpido de las fuerzas esenciales humanas capacidades y necesidadesy del despliegue de la individualidad humana libre, multilateral, o sea,
la medida en la cual se actan esos presupuestos, la medida en la cual
se realiza el ser humano en la existencia humana individual concreta
(realizacin en la cual el desarrollo de las fuerzas productivas no es
ms que un momento, aunque sea el ms decisivo). Slo as es posible
estimar de un modo universalmente vlido y, al mismo tiempo, ticoaxiolgico, las varias pocas y manifestaciones de la historia, no sobre
la base de un orden axiolgico supra-histrico, trascendente, sino de
acuerdo con una caracterizacin objetiva, histrico-inmanente y al
mismo tiempo universalmente vlida de la evolucin humana.
(MARKUS, 1974, p. 72-73).
O ser humano no uma categoria supra-humana, resultado da manifestao
caprichosa da conscincia ou do prprio idealismo platnico. O ser humano se
caracteriza por ser histrico e imanente. E no estamos s falando que ele desse jeito,
seno empiricamente, podemos verificar essa evoluo humana ao longo das etapas
histricas. O importante que compreendamos que o ser humano evolui objetivamente
na prpria histria que ele realiza. No h histria sem o ser humano. No podemos
falar da histria sem o ser humano concreto e real. J manifestamos que o animal no
escreve a sua histria. o homem que escreve a histria animal. A histria humana o
desenvolvimento das foras produtivas pelas capacidades e pelas necessidades to s
humanas. O ser humano em si, imaginrio, supra-histrico no existe; s existe o ser
93
humano na forma real, concreta e objetiva, como processo evolutivo histrico de
indivduos concretos como resultados de atividades concretas.
E, esse ser o tema da nossa anlise no seguinte item, analisar o ser humano
como historicamente evoluindo por meio das suas atividades concretas e reais. Ou seja,
o ser humano se humaniza e se concretiza como tal, no seu desenvolvimento histricocultural. Este desenvolvimento amplo, abarca o desenvolvimento material e o seu
desenvolvimento psicolgico na sua forma dialtica.
2.1.4 O Desenvolvimento Histrico-Cultural do Homem pela atividade mediada
A categoria central para entender o desenvolvimento histrico e cultural do ser
humano passa pela compreenso do conceito de trabalho, categoria que para Marx
(1968) no representa como questo econmica, mas, uma questo antropolgica. O
trabalho representa a expresso de vida, um ato de autocriao humana, uma atividade
e, no uma simples mercadoria criada pelo ser humano. O trabalho imanente ao ser
humano. Ele constitui a sua prpria essncia.
Temos uma passagem de Marx (1968) onde descreve o trabalho. Destacamos a
importncia em citar toda essa parte para que o leitor compreenda a importncia
antropolgica e ontolgica do trabalho. Eis o que diz Marx (1968):
O trabalho , em primeiro lugar, um processo de que participam
igualmente o homem e a natureza, e no qual o homem
espontaneamente inicia, regula e controla as relaes materiais de suas
prprias foras, pondo em movimento braos e pernas, as foras
naturais de seu corpo, a fim de apropriar-se das produes da natureza
de forma ajustada a suas prprias necessidades. Pois, atuando assim
sobre o mundo exterior e modificando-o, ao mesmo tempo ele
modifica sua prpria natureza. Ele desenvolve seus poderes inativos e
compele-os a agir em obedincia a sua prpria autoridade. No
estamos lidando agora com aquelas formas primitivas de trabalho que
nos recordam apenas o mero animal. Um intervalo de tempo
imensurvel separa o estado de coisas em que um homem leva a fora
de seu trabalho venda no mercado, como uma mercadoria, daquele
em que o trabalho humano ainda se encontrava em sua etapa instintiva
inicial. Pressupomos o trabalho em uma forma que o caracteriza como
exclusivamente humano. Uma aranha executa operaes semelhantes
s do tecelo, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua
colmia; mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha que
ele figura na mente sua construo antes de transform-la em
realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado que j
existia idealmente na imaginao do trabalhador. Ele no transforma
apenas o material sobre o qual opera; ele imprime ao material o
94
projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei
determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua
vontade (MARX, 1968, p. 202).
Este trecho importante para analisarmos e compreendermos o que o trabalho
em si mesmo; como uma categoria antropolgica e ontolgica.
O trabalho imanente s ao ser humano, e isso significa que ele resultado de
suas faculdades psquicas e fsicas. Pelo trabalho o ser humano desenvolve o seu
psiquismo, a sua conscincia em si para uma conscincia para si, como forma de
humanizar-se. Tambm, o trabalho caracteriza-se como a funcionalidade dos membros
do corpo humano. Na atividade genuinamente humana, o ser humano d uma funo
especial a seus prprios membros, como sendo a significao expressiva do uso da
prpria energia humana. A essncia do trabalho no est configurada como um meio
para um fim, uma vez que ele um fim em si mesmo. O trabalho um processo que se
realiza entre o ser humano e a natureza material. Processo, porque por meio de seu
trabalho o ser humano vai humanizando o seu lado biolgico, as suas funes
biolgicas. um processo com a natureza, porque o ser humano vai transformando a
matria bruta em elementos humanizantes, como forma de expresso de sua influncia,
ao transformar a natureza material para a satisfao de suas necessidades.
H uma relao dialtica entre o trabalho humano e a ao de transformar a
natureza. O ser humano necessita agir sobre a natureza para transform-la e ajust-la s
suas necessidades existenciais. Negar o trabalho ao ser humano negar-lhe a sua
prpria existncia, a sua prpria essncia.
Por meio do trabalho o ser humano se apropria dos produtos resultantes da sua
prpria atividade, mediada pelo uso de ferramentas para transformar a prpria natureza.
Para apropriar-se da natureza, o ser humano deve fabricar os seus instrumentos,
que lhes serviro como forma de especial para apropriar-se do produto do seu trabalho.
Quando o homem fabrica os seus instrumentos devemos entend-lo como crucial
e determinante, porque quando ele se diferencia do animal. O ser humano um animal
faber, um ser que trabalha por meio dos instrumentos que ele prprio fabrica
transformando a natureza. Com o seu trabalho, o homem deixa de ser escravo da prpria
natureza e assume ser o senhor dela. Quando afirmamos que o ser humano transforma a
natureza, estamos indicando que com a transformao do mundo material, o espao da
existncia humana se amplia muito, como ao mesmo tempo, a sua animalidade se reduz
95
muito. A cada apropriao, cresce o domnio sobre a natureza e, tambm, fica mais
complexa e mltipla esta relao, mas, na mesma relao, de forma dialtica, o ser
humano se torna mais humano. Por meio da apropriao da natureza pelo ser humano, a
natureza em si torna-se natureza para si, isto significa que a natureza perde o seu estado
natural e se converte em cultural graas ao trabalho humano, a atividade.
A cultura o resultado da totalidade da ao do ser humano sobre a natureza,
uma produo humana, na qual os objetos da natureza tornam-se capacidades humanas,
foras essenciais humanas. Dito de outra forma, a cultura resultado da atividade
mediada realizada na natureza, onde os objetos dados so agora objetos trabalhados,
impregnados com a marca do ser humano, que se transmitir para outras geraes e
sero modificados ao longo da histria humana.
Agora, o ser humano no s opera sobre a natureza para transform-la, para
apropriar-se dela, mas significa tambm a objetivao da atividade humana, do sujeito
ativo na natureza, na sua produo. O produto humano, gerado pelo trabalho, adquire
caractersticas humanas, porque o produto leva as marcas dele, da sua conscincia e da
sua ao. O objeto do trabalho humano adquire a objetivao da vida genrica do
homem realizado por meio do trabalho. Quando falamos de objetivao no s essa
marca genrica do ser humano no objeto produzido, mas, significa dar uma funo
especifica aos objetos artificiais produzidos pelo homem. Cada objeto tem uma funo
especfica, determinada pelo ser humano, para satisfazer as necessidades humanas. O
ser humano transforma a matria bruta em matria humanizada para dar sentido ao uso
em cada cultura.
A objetivao do ser humano no seu produto, tambm nos remete a que os
objetos produzidos pelo ser humano adquirem um valor de uso. Este valor de uso
imprescindvel para a existncia prpria do ser humano. Sem este valor de uso do
objeto, o prprio objeto perderia a sua essncia e assim desapareceria a cultura gerada
pelo trabalho do ser humano.
Na apropriao e na objetivao, por meio do trabalho, surgem, no ser humano,
novas formas de potencialidades essenciais humanas, novas propriedades e capacidades
humanas. Isto significa que a atividade humana no algo repetitivo ou acabado.
Significa que as necessidades humanas no estaro nunca satisfeitas e que o homem
buscar sempre transformar a natureza ou os objetos produzidos com outras
funcionalidades, com outras intencionalidades, com outros significados e aspectos
96
motivacionais. Se fosse pura repetio, o ser humano se tornaria animal. O animal no
muda a sua atividade, da a comparao que Marx (1968) realiza entre a atividade da
abelha e a atividade humana. Vale a pena citar essa passagem para compreender melhor
o seu significado. Diz Marx (1968):
Uma aranha executa operaes semelhantes s do tecelo, e a abelha
supera mais de um arquiteto ao construir sua colmia; mas o que
distingue o pior arquiteto da melhor abelha que ele figura na mente
sua construo antes de transform-la em realidade. No fim do
processo do trabalho aparece um resultado que j existia idealmente
na imaginao do trabalhador. Ele no transforma apenas o material
sobre o qual opera; ele imprime ao material o projeto que tinha
conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu
modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. (MARX,
1968, p. 202).
A abelha s constri a sua colmeia, na pura perfeio. S que ela no poderia
construir outros elementos que no seja uma colmeia para a sua existncia. O ser
humano tem a capacidade de construir vrias formas de comodidades, de elementos que
lhe sirvam para garantir a sua existncia. O ser humano tem essa capacidade de sempre
transformar a natureza e pr a servio dele.
Notamos a perfeita relao dialtica entre apropriao e objetivao quando
Marx (1968, p.202) afirma:
No fim do processo do trabalho aparece um resultado
que j existia idealmente na imaginao do trabalhador.
O pensamento do ser humano resultado dessa atividade dialtica, do trabalho.
Este pensamento consequncia direta do processo de relao dialtica entre a
apropriao e a objetivao. S o ser humano pensa e reflete para concretizar o seu
trabalho. O fazer no inato no ser humano, no tem algo inato para repetir sempre a
mesma funo de trabalho.
Observamos que a abelha tem essa realizao inata, biolgica, no seu prprio
ser, porque no tem a capacidade de pensar e refletir sobre a sua atividade. Por isso
afirmamos que o ser humano se humaniza no seu trabalho. E j indicamos que
humanizar-se significa que o homem perca o seu estado mais natural, mais animal e v
adquirindo estado humano ao longo da sua histria. Pensemos numa criana. Nela no
so inatas as habilidades, a apropriao e a objetivao. Nos primeiros meses de vida,
ela atua biologicamente, sem nenhuma diferenciao de um filhote de animal. Porm, a
criana vai perdendo o seu estado puramente biolgico quando comea a apropriar-se
97
dos objetos humanos, quando comea a objetivar-se nos produtos humanos produzidos
culturalmente. A criana torna-se humana quanto mais se apropria e mais se objetiva.
Eis a diferena da criana do filhote de um animal.
Na criana s lhe so inatas s funes fisiolgicas, mas, as outras funes como
pensamento, conscincia etc., so resultados da sua prpria atividade concretizada no
trabalho por meio da mediao dos instrumentos, das ferramentas e da ao objetiva e
concreta do adulto.
No reino animal impera o instinto e a adaptao instintiva do animal para poder
sobreviver. J o ser humano deve perder esse instinto para que no desaparea e deve
assumir o trabalho como atividade mediada encaminhada para realizao da sua prpria
existncia.
Por isso muito importante expresso de Konstantinov (1959) quando ele se
refere sobre o trabalho humano desta forma:
Al actuar sobre la naturaleza en el proceso de la produccin y
transformar los objetos naturales con arreglo a sus necesidades y fines,
el hombre perfecciona sus hbitos de trabajo, su experiencia
productiva y su capacidad para someter a las fuerzas de la naturaleza
y, a la par con ello, desarrolla sus facultades naturales. Como
resultado de un largo ejercicio, el organismo humano fue adaptndose
a las operaciones del proceso de trabajo y fueron perfeccionndose sus
rganos. Desde los tiempos primitivos, en el proceso de trabajo fue
especializndose la mano del hombre en mltiples y variados
movimientos, a la par que se desarrollaban sus facultades fsicas e
intelectuales, su cerebro y rganos sensoriales (KONSTANTINOV,
1959, p. 362).
O que significa tudo isso? Significa que a cultura o resultado desse longo
processo de desenvolvimento humano por meio do trabalho. O trabalho, a atividade
mediada, o determinante e o concreto para o surgimento da cultura humana, cultura
entendida como longo processo de transformao da natureza e do prprio ser humano
pela sua atividade consciente e objetiva. Desde o primeiro momento em que o homem
foi usando a mo conscientemente para transformar a natureza, surge a cultura humana.
O homem torna-se ser humano para si, genrico para si, superando o seu aspecto
biologizante, no momento do seu desenvolvimento histrico e cultural.
O trabalho quando se constituiu na fonte da existncia humana para si, comeou
a histria do seu desenvolvimento histrico e cultural. Este desenvolvimento histrico e
98
cultural a base da sociedade humana, porque se caracteriza como exclusiva do ser
humano, como o seu processo de humanizao.
A cultura resultado da relao dialtica entre os meios de trabalho e a fora de
trabalho humano. O ser humano cria e usa instrumentos que ele mesmo produz,
constituindo-se os seus meios de atividade. Os instrumentos criados pelo ser humano,
no seu uso, adquirem uma funo de instrumento vivo, de valor de uso. Os instrumentos
que no adquirem valor de uso, funo social, so inertes, mortos e, portanto, no so
elementos que caracterizam o desenvolvimento do ser humano.
A fora de trabalho refere-se relao que o homem tem com outros homens e
com a prpria natureza. A fora de trabalho constitui-se, tambm, numa relao
dialtica. O ser humano se utiliza desta fora de trabalho para a produo dos bens
materiais, que so em ltima instncia, a cultura humana em si mesma.
Tratamos neste item sobre o desenvolvimento histrico-cultural do homem por
meio de seu trabalho, da sua atividade. importante destacar que este desenvolvimento
dialtico. Da a importncia que Vigotsky e a escola da Teoria Histrico-Cultural
daro atividade como processo de formao da psique humana e do seu processo de
humanizao, por meio das atividades mediadas pelo adulto, especificamente quando
nos referimos s crianas.
O nosso objetivo neste captulo foi refletir sobre o materialismo histrico e sobre
os conceitos que se referem a ele, de forma a aprofundar a compreenso do porque a
Teoria Histrico-Cultural tem sua base no Materialismo Histrico-Dialtico de Marx, e,
principalmente, que para entender essa teoria e implement-la nas prticas pedaggicas.
Por isso, fundamental pensar dialeticamente os processos de ensino e de aprendizagem
na Escola.
Nos prximos captulos passaremos a discutir e aprofundar as anlises sobre a
Teoria Histrico-Cultural e os processos de ensino e de aprendizagem.
99
CAPITULO 3 - O MTODO DE PESQUISA NA PERSPECTIVA DA TEORIA
HISTRICO-CULTURAL.
H um tempo para espalhar as pedras e outro para recolh-las.
Eclesiastes 3:5
Neste captulo abordaremos a metodologia e procedimentos metodolgicos
utilizados na pesquisa. Iniciaremos pela questo do mtodo na Teoria HistricoCultural, analisando alguns captulos das Obras Escogidas, especificamente, os Tomo I,
II e III e, o livro Pensamiento y Lenguaje, todos em verso espanhola. Em seguida,
apresentaremos os procedimentos metodolgicos da pesquisa, j que esta pesquisa
netamente uma pesquisa bibliogrfica, porm, tem sua importncia cientfica, social,
educacional, cultural e poltica porque a anlise bibliogrfica fundamentada no
materialismo histrico-dialtico nos ajuda a compreender a totalidade da formao e o
desenvolvimento do ser humano, na perspectiva ontolgica e psicolgica. Para isso,
tambm, apresentaremos algumas obras na perspectiva da Teoria Histrico-Cultural
produzidas no Brasil.
Alm da preocupao de explicar a metodologia de trabalho, a grande
preocupao analisar o que , o como e o porqu fazer uma pesquisa na perspectiva da
Teoria Histrico-Cultual. E para responder a isso, devemos partir da prpria experincia
de vida do Vigotsky que nos mostra os modos de ensinar, de sentir, de pesquisar e de
pensar na forma histrico-dialtica.
Vigotsky no s foi um homem de cultura universal porque tivera contatos com
vrios autores como, Plato, Aristteles, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Darwin,
Marx, Engels, Freud, Nietzsche, Kohler, Pavlov, Buhler, Brgson, Blonski, Lewin,
Janet, Ribot, Shakespeare, Tolsti, Dostoievski, Stanislavski, etc., mas, por ter tido
outros contatos no cotidiano social e individual, uma vez que foi um homem afetado
pelas circunstncias histricas dos acontecimentos, tais como: a Revoluo Russa; a
discriminao que ele sofreu pelo regime poltico da sua poca e; o mais trgico das
experincias vivenciadas por ele, a sua enfermidade, que o levou muito jovem do
mundo dos mortais.
100
Comeamos o captulo com uma citao do Eclesiastes, provavelmente uma
citao anotada por Zaparozetz, numa das tantas reunies de trabalho que aconteciam
com Vigotsky e os outros, para indicar que o trabalho investigativo deles levava a novas
formas de indagaes, novas formulaes sobre o tratamento do problema, resultando
em novas concluses cientficas.
H um tempo para analisar criticamente as outras obras na perspectiva da
psicologia. Tempo que se traduz em sncrese, momento perturbador e confuso da teoria
aplicada na realidade. H um tempo para espalhar as pedras, momento que se traduz em
analisar o objeto. Espalhar no sentido de ir raiz do problema mediante o uso de uma
metodologia capaz de penetrar na essncia do objeto. Esse espalhar o momento da
anlise dialtica, momento muito importante para aprofundar sobre o problema. E h
outro momento para recolher. Depois da anlise dialtica, hora da sntese dialtica.
Momento em apresentar a soluo ao problema suscitado.
E por isso, que todo o conjunto das obras de Vigotsky nos mostra uma
profunda preocupao pelo ser humano, uma sede enorme pelo conhecimento e pela
verdade cientfica, um grande humanismo que se reflete na forma de trabalhar em
grupo, tendo abertura ao pensamento dos outros, e por fim, uma convico com a
consistncia argumentativa com racionalidade e objetividade da construo social e
histrica da conscincia humana.
A finalidade deste captulo apresentar como Vigotsky realiza e concretiza a sua
teoria do conhecimento, que surge na anttese de sua pesquisa sobre o ser humano,
especificamente, quando busca compreender o desenvolvimento das funes psquicas
superiores, tipicamente humanas, pela mediao semitica da cultura produzida pelo ser
humano ao longo da sua histria ontolgica e biolgica, como espcie animal.
3.1
Processo de formao do conhecimento na Teoria Histrico-Cultural.
3.1.1 A Histria e a Dialtica como fundamentos metodolgicos
Entramos em um ponto muito importante da pesquisa qualitativa que toma as
bases tericas do materialismo histrico-dialtico que fundamenta a teoria de Vigotsky.
Este autor, quando critica com fundamentos tericos as teorias que sustentam a
psicologia da sua poca, por fundamentar-se na dialtica mecanicista, no empirismo e
101
no prprio idealismo, afirma que o problema da psicologia da sua poca deve-se ao uso
inadequado da metodologia, ou seja, a crise da psicologia devido ao uso de uma
metodologia que toma o seu objeto de pesquisa, neste caso, o ser humano, na forma
fragmentada, dividida, imparcial, etc., e no de forma de unidade dialtica, indo at a
prpria essncia do ser humano.
Ele apresenta uma psicologia geral, cultural e dialtica que no se fundamenta
no materialismo mecanicista ou idealista como forma de superar essa crise psicolgica,
mas, fundamenta-se no materialismo histrico-dialtico de Marx.
Abrimos um parntese neste ponto para indicar o seguinte: na pesquisa cientfica
atual temos trs formas de pesquisa: a pesquisa positivista lgica fundamentada na
explicao; a pesquisa fenomenolgica fundamentada na compreenso e; a pesquisa do
materialismo-histrico dialtico (marxismo) fundamentada na interpretao crtica do
fenmeno. Vygotski (1996) analisou criteriosamente o mtodo aplicado na psicologia
de sua poca, quando analisa a crise na psicologia e, desta crtica, ele apresentou outra
forma de pesquisa, quando ele busca apresentar o formato de uma psicologia geral
fundamentada no materialismo histrico-dialtico de Marx. Neste processo de anlise
crtica, ele inaugurou um novo paradigma na Psicologia Geral, elaborou sua teoria
cultural do desenvolvimento humano, compreendendo o sujeito como constitudo no a
partir dos fenmenos internos ou como produto de um reflexo passivo do meio, mas
construdo nas relaes histrico-culturais.
Por que ser que Vigotsky escolhe o materialismo histrico-dialtico como novo
paradigma para a Psicologia Geral?
Vygotski (1996) analisa algumas teorias psicolgicas da sua poca, como a
reflexologia russa e o behaviorismo norte-americano, que queriam responder a questo
das funes psquicas superiores, ora, davam importncia ao desenvolvimento
biolgico, ora, davam importncia ao desenvolvimento cultural. Vygotski (1996) no
aceita esta divergncia criticando a teoria que fundamentava essas correntes
psicolgicas e abraa o mtodo do materialismo histrico-dialtico.
Por isso, Vygotski (1996) procura o seu mtodo de pesquisa, pois:
La bsqueda del mtodo se convierte en una de las tareas de mayor
importancia de la investigacin. El mtodo, en este caso, es al mismo
tiempo premisa y producto, herramienta y resultado de la
investigacin. [] La total revelacin del mtodo deber ser el
objetivo de toda la obra en su conjunto. [] El problema del mtodo
102
es el principio y la base, el alfa y el omega de toda la historia del
desarrollo cultural del nio (VYGOTSKI, 1996, p.47).
E buscando esse mtodo para ir a raiz do problema que se refere s funes
psquicas superiores, abraa o materialismo histrico-dialtico pois:
Estudiar algo histricamente significa estudiarlo em movimiento. Esta
es la exigencia fundamental del mtodo dialectico. Cuando en una
investigacin se abarca el proceso de desarrollo de algn fenmeno en
todas sus fases y cambios, desde que surge hasta que desaparece, ello
implica poner de manifiesto su naturaleza, conocer su esencia, ya que
slo en movimiento demuestra el cuerpo que existe. As pues, la
investigacin histrica de la conducta no es algo que complementa o
ayuda el estudio terico, sino que constituye su fundamento
(VYGOTSKI, 1996, p. 67-68).
Vygotski (1996) no encontrou firmeza de pesquisa nos mtodos do empirismo
subjetivo e do materialismo mecanicista da sua poca. Essas duas teorias criticadas por
Vigotsky no foram capazes de dar uma soluo ao problema do objeto da psicologia.
Por isso Vygotski (1996) elabora o seu mtodo microgentico, fundamentado no
materialismo histrico-dialtico de Marx.
Gonalves (2001), tambm fundamenta o motivo que levou a Vygotski (1996) a
usar o mtodo do materialismo histrico-dialtico, desta forma:
As categorias metodolgicas da dialtica, numa perspectiva
materialista permitem o movimento da aparncia para a essncia; do
emprico e abstrato para o concreto; do singular para o universal a fim
de alcanar o particular; permitem tomar as totalidades como
contraditrias. Aliadas noo de que o sujeito ativo, em relao com
o objeto, histrico, tais categorias respondem necessidade de
conhecimento do diverso, das particularidades, do movimento, sem
cair no relativismo e sem perder o sujeito, que, assim entendido,
necessariamente integral, pleno. Permitem, ao mesmo tempo, explicar
e compreender (GONALVES, 2001, p. 124).
O mtodo histrico-dialtico uma alternativa metodolgica que assinala a
possibilidade de superao da dicotomia sujeito-objeto, indica a necessidade e a
transformao do psiquismo humano pela mediao semitica da cultura humana. O
objeto estudado tem relao dialtica com o prprio sujeito, propulsor da pesquisa.
Quando assinalamos esta reciprocidade intrnseca entre o objeto e o sujeito, estamos
indicando tomar na sua totalidade ambos os elementos e ir busca da origem de um
103
determinado problema. O mtodo histrico-dialtico no nos permite pensar nem agir
dicotomicamente, porque esse mtodo tem uma ao abrangente, totalizante e s analisa
o processo dos fatos, no o resultado final do processo. Aqui, dialeticamente, podemos
afirmar que o processo indica a forma qualitativa da pesquisa, contrapondo-se desta
forma anlise exclusivamente quantitativa, cujo objetivo principal a comprovao
dos resultados por meio de instrumentos numricos, estatsticos.
isso que Vygotski (1996) quer indicar quando ele afirma:
Son an muchos los que siguen interpretando errneamente la
psicologa histrica. Identifican la historia con el pasado. Para ellos,
estudiar algo histricamente significa el estudio obligado de uno u
otro hecho del pasado. Consideran ingenuamente que hay un lmite
infranqueable entre el estudio histrico, dicho sea de paso,
simplemente significa aplicar la categora del desarrollo de la
investigacin de los fenmenos. Estudiar algo histricamente significa
estudiarlo en movimiento. Esta es la exigencia fundamental del
mtodo dialctico. Cuando en una investigacin se abarca el proceso
del desarrollo del algn fenmeno en todas sus fases y cambio, desde
que surge hasta que desaparece, ello implica poner de manifiesto su
naturaleza, conocer su esencia, ya que slo en movimiento demuestra
el cuerpo que existe (VYGOTSKI, 1996, p.67-68).
O estudo histrico do objeto para Vigotsky no se refere a uma simples meno
de um fato acontecido no passado, um fato que no tem nenhuma relao com o prprio
desenvolvimento humano. A verdadeira histria que interessa, e tem valor para ele,
aquela histria que se relaciona com o presente do ser humano; uma histria que
carrega as marcas do gnero humano que fundamental para o desenvolvimento do
prprio ser humano, tanto no aspecto do seu psiquismo como no aspecto cultural.
A histria carrega a essncia do desenvolvimento da prpria sociedade humana,
carrega a cultura produzida para o desenvolvimento do ser humano, como carrega os
bens culturais para o desenvolvimento da prpria sociedade humana. Esse tipo de
histria que valoriza o autor russo. Resumindo, a histria no detalhar os fatos do
passado, num sentido mecanicista ou positivista, mas a histria tem sua fora
constituda nessa luta de contradies para superar o estado natural e cultural do ser
humano. E Vygotski (1996) v a histria em movimento. Mas, que tipo de movimento?
Claro, o movimento dialtico. Nesse movimento dialtico da histria que devemos
encontrar os saltos do quantitativo para o qualitativo, a luta dos contrrios como forma
de superar o velho pelo novo, a instaurao do novo mediante processos semiticos.
104
Nesse movimento dialtico do objeto encontramos a prpria essncia do objeto,
essncia esta que no podemos abarcar num estudo que toma o movimento na sua forma
linear.
Portanto, o mtodo no a causa do conhecimento. A metodologia proposta
conhecer as causas, sendo que o mais importante buscar a gnese, a origem dos
fenmenos e estud-los nos seus processos de mudana. Vygotski (1991, p.74),
parafraseando Espinosa, diz que [...] somente em movimento que um corpo mostra o
que . Nesse sentido que ele afirma que h a necessidade de se estudar a dimenso
histrica, o que no significa analisar simplesmente os eventos passados, mas
compreender o processo de transformao do presente implicado nas condies
passadas e nas projees do futuro.
O mtodo na abordagem histrico-cultural contempla o presente, o passado e o
futuro, como movimento dialtico do que , do que foi e do que ser. Entendemos que
Vygotski (1996) lutou em desfetichizar o mtodo da psicologia da sua poca, mas, ao
mesmo tempo, nos mostra que o conhecimento algo concreto e real que se descobre no
processo da investigao, na mediao entre teoria e mtodo, sujeito e objeto, sujeitos
histricos e realidade.
Neste sentido, Frigotto (2004), afirma que o mtodo histrico-dialtico, por ser
uma concepo ontolgica, histrica e cientfica, consegue:
[...] ir raiz da condio humana, no interior das relaes sociais
capitalistas, de forma mais abrangente e radical em relao s demais
concepes e teorias vigentes. Tambm e por conseqncia, este
instrumental crtico permite revelar a natureza anti-social e antihumana das relaes capitalistas (FRIGOTTO, 2004, p. 3).
Toda a pesquisa de Vygotski (1996) orienta-se em ir ao interior, raiz do
problema humano, para analisar e compreender a prpria origem do problema no ser
humano. Esta forma de fazer pesquisa, de ir raiz da condio humana, significou uma
verdadeira revoluo nos princpios metodolgicos que buscavam compreender o
psiquismo humano ou as funes psquicas superiores da tica histrico-cultural.
O estudo da gnese humana nos mostra que h uma relao histrica e cultural,
interpsicolgica e intrapsicolgica na formao do ser humano. Resumindo diramos, o
ser humano a soma da totalidade dessas relaes concretas e reais. E nessa totalidade
105
que encontraremos no ser humano a origem do prprio desenvolvimento integral do
homem. S conseguiremos ir raiz do problema, usando o mtodo histrico-dialtico.
Por isso a nossa preocupao em apresentar a anlise do mtodo de Vygotski
(1996) para que se tenha em mos um instrumento que nos ajude a chegar raiz do
problema.
Vejamos o que ele nos apresenta sobre a sua teoria.
H uma grande preocupao do autor em obter um mtodo eficaz e racional que
chegasse a atingir a prpria lei da essncia do objeto que se analisa. Ele tinha afirmado
o seguinte sobre este ponto:
Y segn esta regla, dudar de todo, no creer en nada a pie juntillas,
exigir a toda tesis sus fundamentos y sus fuentes del conocimiento es
la primera regla de la metodologa de la ciencia. As nos protegemos
de un error todava mayor: no ya considerar iguales los mtodos de
todas las ciencias, sino creer que la estructura de todas las ciencias es
la misma (VYGOTSKI, 1997, p. 301).
Ele dominava o conceito marxista do desenvolvimento humano que se realiza
pela mediao do trabalho, caracterizado pelo uso de instrumentos. Por isso, exige os
fundamentos e as fontes do conhecimento como primeiro critrio de veracidade e de
cientificidade, quando aponta de que h muitos mtodos cientficos que so parecidos
pela forma como analisam o objeto da perspectiva de caracterizao do prprio objeto.
O que h de igual so as estruturas essenciais que formam o objeto analisado. E a
verdadeira cincia deve atingir estas estruturas essenciais, a lei que est subjacente a
qualquer manifestao exterior do objeto. Por isso, prope que o mtodo deve ir raiz
do objeto para saber verdadeiramente o problema.
Passemos a anlise dos pressupostos centrais do mtodo microgentico.
3.1.2 A relao dialtica entre o individual e o social
No captulo 1 desta dissertao j analisamos as categorias de ser individual e
ser social. Agora nos toca evidenciar estas categorias na proposta de mudana
epistemolgica e metodolgica de Vigotsky. Esse autor compreende o ser humano
como fundamentalmente histrico e cultural, que se manifesta singularmente num
amplo conjunto de relaes sociais, relaes coletivas culturais. O prprio psiquismo
106
humano algo individual em cada ser humano, mas, o psiquismo humano constitudo
historicamente na complexa relao do sujeito, como indivduo e como integrante de
uma sociedade na sua forma cultural. A linguagem apresenta-se na sua forma
individual, mas tem uma grande relao dialtica com o social, j que a linguagem, a
sua formao, o resultado dessa relao dialtica entre o individual e o social. Por isso,
Vygotski (1993) afirma que a linguagem, a memria, o pensamento so produtos da
cultura, da produo social do ser humano.
Esta relao dialtica entre o individual e o social nos mostra que os processos
psicolgicos humanos mais simples do-se pela compreenso dos processos mais
complexos. Devemos "...mostrar en la esfera del problema que nos interesa como se
manifiesta lo grande en lo ms pequeo..." (VYGOTSKI, 1996, p. 64), isto significa que
numa anlise devemos buscar a resposta s questes suscitadas no social e no no
individual. Mas, isto no significa que estejamos desvalorizando o individual, temos
que ter sempre em mente que estamos pensando dialeticamente, no mecanicista, mas,
historicamente.
O social apresenta-se como um fator de desenvolvimento do prprio psiquismo
humano. Sem a forma social da cultura e da histria, no seria possvel o
desenvolvimento do pensamento, da linguagem e da memria. Foi nesse sentido que
Vygotski (1996) criticou bastante aquelas teorias psicolgicas da sua poca que davam
nfase, ora ao plano individual, ora ao plano social. Ele enfoca a realidade social como
combinada dialeticamente no plano do sujeito individual, como expresso e como
fundamento da prpria realidade da constituio do ser humano.
O individual e o social unificam-se, o particular e o coletivo tambm se
unificam, pois o social apresenta-se como parte constitutiva do individual e esta como
parte constituda no individual. Da que no podemos reduzir ou isolar ambos os
elementos como faziam os tericos da psicologia que tanto Vigotsky criticou nas suas
obras.
Portanto, devemos acabar com essa forma dicotmica de ver o individual e o
social, porque leva a um reducionismo epistemolgico e ontolgico da realidade
analisada.
Vygotski (1996) mostrava j esta preocupao quando afirmava a perspectiva da
sua anlise em abranger o todo, no o particular, no as caractersticas do objeto:
107
Ya se entiende claramente que el propio sentido del anlisis debe
modificarse de raz. Su tarea fundamental no es descomponer el todo
psicolgico en partes e incluso en fragmentos, sino destacar el
conjunto psicolgico integral determinados rasgos y momentos que
conservan la primaca del todo (VYGOTSKI, 1996, p.99-100).
O autor afirma, assim, a mtua constituio de totalidade do sujeito individual e
da realidade social, pois cada pessoa como indivduo dinmica, sntese aberta que se
realiza constantemente em movimentos de apropriao de aspectos da realidade social e
objetivaes que modificam esta realidade social. Neste processo de relaes vemos a
totalidade num eterno devir dialtico e no podemos negar isto, porque partimos do
prprio movimento dialtico, onde acontece a mudana quantitativa para a qualitativa.
Buscar essa relao entre o individual e o social que nos proporciona essas mudanas
qualitativas fundamentadas no prprio movimento dialtico da matria em si mesma.
Da que Vygotski (1996) resume a importncia desta relao dialtica e histrica do
individual e o social desta forma:
El punto central de nuestra investigacin consistir en estudiar el paso
desde la influencia social, exterior al individuo, a la influencia social,
interior al individuo y trataremos de esclarecer los momentos ms
importantes que integran ese proceso de transicin (VYGOTSKI,
1996, p. 87).
Esta citao determinante para entender o papel crucial, dialtico e histrico do
social na formao do sujeito como indivduo, como ser humano, na perspectiva da
totalidade do ser social, do ser cultural. Compreender de que h uma influncia social,
exterior ao indivduo, nos mostra a importncia e transcendentalidade de nunca isolar o
individuo do social. O indivduo se forma como ser humano nessa relao dialtica
dentro da sociedade, junto com os outros sujeitos por meio de atividades mediadas, tais
como signos e ferramentas.
A individualidade do ser humano no fica restringida a uma esfera isolada do
resto dos outros seres humanos. A individualidade exercida dentro do convvio
societrio, sem perder a liberdade e as caractersticas individuais como gnero humano.
Por isso que Vygotski (1996) em todo o seu trabalho se preocupa em estudar o
processo histrico do desenvolvimento do psiquismo como objetivao do prprio
gnero humano, gnero humano constitudo na concreticidade e na objetividade
mediante a sua atividade mediada, dentro da sociedade caracterizada como humana.
108
O indivduo humano se torna um ser humano na relao dialtica com a sua
prpria histria social, histria desenvolvida nessa relao com a natureza e com outros
indivduos. Fica claro que o ser indivduo se humaniza num processo histrico-social
por meio da cultura e no por meios de herana gentica.
Vygotski (1996) ao longo da sua pesquisa se guiar em proporcionar e em
diferenciar de que a distino do gnero humano, como individual e social, passa
necessariamente em distinguir a categoria da formao biolgica e a categoria de
formao histrico-cultural do prprio ser humano.
Vejamos agora outro tema de vital importncia para compreendermos a Teoria
Histrico-Cultural.
3.1.3 Princpios metodolgicos da Teoria Histrico-Cultural
Leontiev (1978), colega de Vygotski (1993) nas pesquisas que realizavam em
conjunto, refere-se a essa imensido da preocupao cientifica nesse aspecto:
Vygotski supo ver en la cuestin de la conciencia no slo el problema
del mtodo concreto a aplicar, sino, ante todo, un problema filosficometodolgico15 de colosal trascendencia, la piedra angular del futuro
edificio de la ciencia psicolgica (LEONTIEV apud VYGOTSKI,
1991, p.426).
Todo o trabalho de Vygotski (1996) estava focado em analisar a questo das
funes psquicas superiores e notava que as teorias psicolgicas da sua poca no
conseguiam chegar a resolver o problema, uma vez que o prprio mtodo para abordar a
questo estava mal formulado.
O problema do mtodo resulta ser um problema filosfico-metodolgico. Toda
teoria tem uma fundamentao filosfica manifestada nos resultados obtidos nas
pesquisas. E a psicologia que Vygotski (1993) criticava tinha essa fundamentao
filosfica, mas, no era o materialismo histrico-dialtico, mas, simplesmente a
dialtica mecanicista, que s se interessava com o resultado e no com o processo. Por
isso, Vygotski (1993) mostra muitos exemplos dos resultados obtidos por essas
psicologias, demonstrando a relao efeito e causa. Essas psicologias analisavam os
15
Em itlico no original.
109
processos naturais e nunca os processos culturais, resultantes da atividade mediatizada
pelos instrumentos histricos do ser humano, cujos elementos desenvolviam o
psiquismo humano. Aqueles que chegavam a conceber os aspectos culturais, o faziam
em segundo plano, priorizando os fatores biolgicos.
A partir dessa anlise crtica sobre as outras psicologias que Vigotsky (1993)
cria e defende o mtodo histrico16 - gentico17. Considera que os processos
psicolgicos devem ser estudados em seu desenvolvimento dinmico, devido ao fato de
que sua natureza se caracteriza mais por saltos revolucionrios do que por
incrementos
quantitativos
constantes.
porque
os
pontos
principais
do
desenvolvimento identificam-se com as mudanas experimentadas na forma de
mediao utilizada.
Para resolver esta problemtica metodolgica, Vygotski (1993), prope o
mtodo microgentico que consiste na anlise histrica dos fenmenos, particularmente
no estudo dos processos psicolgicos superiores, aqueles processos que so
genuinamente humanos (no compartilhados com os animais).
Por isso Vygotsky (1977) enfatiza dizendo:
Necesitamos concentrarnos, no en el producto del desarrollo, sino en
el proceso mismo mediante el que las formas superiores se
constituyen Plantear una investigacin sobre el proceso de
desarrollo de un objeto determinado con todas sus fases y cambio
desde el nacimiento hasta la muerte- significa fundamentalmente
descubrir su naturaleza, su esencia, de manera que es solamente en
movimiento cuando un cuerpo muestra lo que es. Por ello, el estudio
histrico (en el sentido ms amplio de la palabra historia) del
comportamiento no es un aspecto auxiliar del estudio terico, sino
que, ms bien, forma su autntica base (VYGOTSKY, 1977, p.64-65).
Para a criao dessa psicologia, era necessrio redefinir o objeto de pesquisa,
delineando de modo claro o problema, a partir do qual o ser humano poderia ser
investigado em sua totalidade.
O que Vygotski (1993 e 1996) buscava com esse novo mtodo de investigao?
Primeiro, buscava ser coerente no seu mtodo com a sua matriz terica, fundamentada
16
O termo histrico-gentico aparece na pagina 449, do tomo I das Obras Escogidas.
17
O conceito gentico tem um significado relacionado com os processos de desenvolvimento e no se referindo aos genes ou
cdigo gentico. Portanto, o conceito de mtodo gentico, desde o ponto de vista vigotskyano, no deve identificar-se com o
desenvolvimento evolutivo infantil, nem com os genes, mas ir gnese, mtodo central da cincia psicolgica marxista,
fundamentada no materialismo histrico-dialtico.
110
no materialismo histrico-dialtico de Marx (1985); segundo, buscava analisar o objeto
de pesquisa como processo, no como fatos isolados da realidade histrica, seno como
fatos que tem sua origem na historicidade e; terceiro, mudar, suplantar a anlise
fenotpica e anlise genotpica porque intentavam analisar os fenmenos psicolgicos
sem considerar seu desenvolvimento ou evoluo.
Com
esta
pequena
introduo,
agora,
apresentaremos
os
princpios
metodolgicos que nortearam todo o trabalho de pesquisa de Vygotski (1993) princpios
estes que esto fundamentados na premissa histrica e dialtica do marxismo. Tais
princpios do mtodo surgem quando ele discorre sobre as teorias psicolgicas de sua
poca, que fazem uma anlisis de las funciones psquicas superiores (VYGOTSKI,
1996, p. 97), onde ele analisa essa crise da psicologia sobre o tratamento do tema.
Conforme Vygotski (1996),
Podemos sealar tres momentos determinantes sobre las cuales se
apoya el anlisis de las formas superiores del comportamiento y que
constituyen la base de nuestras investigaciones (VYGOTSKI, 1996,
p.100).
Desta maneira ele apresenta os seus trs princpios metodolgicos, depois de
analisar criteriosamente as outras teorias psicolgicas de sua poca. interessante
destacar que ele no rejeita ou deixa de lado essas teorias que ele tanto analisou. Em
cada momento temos que ter em mente que a cabea dele funcionava dialeticamente.
Isto significa afirmar que o momento de crise no significa uma questo negativa, mas,
esse momento na realidade serve para realizar o salto do quantitativo para o qualitativo.
Em nenhum momento ele condenou as outras teorias. S mostrou na sua anlise
que essas teorias tinham limitaes para analisar o objeto ou problema at a prpria
essncia do problema.
3.2 Anlises do mtodo de Vigotsky
3.2.1. Anlise do objeto como processo e no o objeto como produto
Vygotski (1993) ao analisar o objeto como processo pensou contrariamente
teoria ou pensamento de sua poca, os quais analisavam os objetos de forma esttica,
decompondo-os para anlise, sem considerar o contexto em que estavam inseridos. Esta
anlise do objeto como processo fundamenta-se no prprio materialismo histrico-
111
dialtico porque nele o objeto tido em constante movimento dialtico. Pensar o objeto
como processo nos garante que os dados dos objetos no esto dados como imanentes
ao objeto da pesquisa. Os dados no esto fossilizados no objeto e, que a simples
observao no bastaria para atingir a sua anlise na totalidade.
Por isso, Vygotski (1996) afirma:
El anlisis del objeto debe contraponerse al anlisis del proceso el
cual, de hecho, se reduce al despliegue dinmico de los momentos
importantes que constituyen la tendencia histrica del proceso. [...]
Dicho en pocas palabras, la tarea que se plantea un anlisis as se
reduce a presentar experimentalmente toda forma superior de
conducta no como un objeto, sino como un proceso, y estudiarlo en
movimiento, para no ir del objeto a sus partes, sino del proceso a sus
momentos aislados (VYGOTSKI, 1996, p.101).
Esta anlise do objeto como processo nos facilita a apropriao e a compreenso
do problema do objeto na sua prpria raiz. Ir raiz do problema o que nos permite
buscar uma soluo ao problema levantado. Por isso, Vygotski (1996) se posicionou
contra as teorias que partiam apenas do objeto na sua anlise. Partir da anlise do objeto
no nos proporciona o verdadeiro conhecimento do problema. Outro dado importante a
indicar que no processo, o pesquisador est preocupado em descobrir a gnese dos
problemas e no s em mostrar as caracterizaes particulares do objeto.
A anlise do processo do objeto nos remete apropriao da formao histrica
do objeto. Esta a forma superior de analisar o objeto para chegar sntese da anlise.
Por isso, o problema de aprendizagem, que a questo de anlise desse trabalho, deve
ser submetido a uma anlise de processo para obter um conhecimento profundo desse
objeto em processo e em movimento, ir at a raiz do problema, sempre num processo
histrico e dialtico.
3.2.2 A Contraposio das Anlises Descritivas e Explicativas
Vygotski (1993) criticava teoricamente as posturas psicolgicas que se
fundamentavam em anlises descritivas, as quais se colocavam contrrias s anlises
explicativas. As pesquisas, analisadas pelo autor, que fundamentavam suas anlises em
apenas descrever o problema no chegavam raiz da questo. Assim, descreviam a
manifestao externa do objeto, ou seja, as particularidades da relao sujeito-objeto da
112
perspectiva de reao-estmulo. Analisavam o fenmeno externamente, embora os
resultados fossem apresentados como se tivessem atingido a raiz do prprio fenmeno.
Esta anlise descritiva tinha muita fundamentao fenomenolgica e na
Psicologia, na poca de Vigotsky, analisar as funes psquicas superiores do ser
humano neste mtodo, levava a perder a soluo do problema na sua prpria origem.
Para Vygotski (1996) a descrio do objeto por si s no suficiente,
necessrio ir alm estabelecendo as relaes que constituem a base de determinado
fenmeno.
Vygotski (1996) faz a seguinte observao sobre a anlise descritiva:
Hemos visto que en la vieja psicologa el concepto de anlisis
coincida de hecho con el concepto de descripcin y era contrario a la
tarea de explicar los fenmenos. Sin embargo, la verdadera misin del
anlisis en cualquier ciencia es justamente la de revelar o poner de
manifiesto las relaciones y nexos dinmico-causales que constituyen
la base de todo fenmeno que se estudia y no slo su descripcin
desde el punto de vista fenomnico (VYGOTSKI, 1996, p. 101).
Para Vygotski (1996) a anlise descritiva no tinha em conta o dinamismocausal do processo da anlise do prprio objeto. E neste sentido, essa anlise descritiva
s apresentava como resultado verdadeiro aquilo que foi analisado superficialmente.
Apenas descrever o objeto no nos permite indagar sobre o verdadeiro problema
que est subjacente a ele. Por exemplo, dizer que o problema de aprendizagem s um
problema que encontramos na criana apresentar o resultado parcial de uma anlise
sobre um problema to grave. Da que a descrio do fato no garante ter chegado ao
pice do problema referido. No primeiro momento a descrio positiva, mas, concluir
a anlise pela descrio resulta ser bastante parcialista.
Por isso Vygotski (1996) se posiciona a favor da anlise explicativa. Conforme o
autor: "explicar significa estabelecer uma conexo entre vrios fatos ou vrios grupos de
fatos, explicar referir uma srie de fenmenos a outra..." (VYGOTSKI 1996, p. 216).
Essa a questo principal da anlise explicativa, chegar a estabelecer conexes entre
todos os fatos que compem o objeto estudado, explicar a relao dialtica que acontece
entre o objeto estudado e a realidade que o compe histrica e culturalmente.
Esta anlise nos mostra que no podemos separar o objeto em si das formas
histricas da formao do desenvolvimento.
113
Quando aborda a questo das anlises descritivas e explicativas, ele inclui nesse
tratamento analtico as anlises fenotpicas e genotpicas.
Para Vygotski (1996) estes tipos de enfoques careciam de toda possibilidade de
explicao dos fenmenos; s podiam realizar uma descrio do mesmo.
Wertsch (1988) sintetiza desta maneira estas duas anlises observadas e
criticadas por Vygotski (1993), desta forma:
Siguiendo a Lewin, podemos utilizar [la]18 distincin entre las
perspectivas fenotpicas [descriptivas] y genotpicas [explicativas] en
psicologa. Por un estudio evolutivo de un problema determinado
entiendo el descubrimiento de su gnesis, de sus bases dinmicas
causales. Por fenotpico entiendo el anlisis que empieza por las
caractersticas y manifestaciones actuales del objeto. Es posible
brindar multitud de ejemplos dentro de la psicologa donde se han
cometido errores graves como resultado de haber confundido estos
puntos de vista ( WERTSCH, J., 1988, p.35).
Se no fosse pela anlise gentica, no teramos a maneira de como diferenciar
essas suas correntes biolgicas. Elas limitavam muito a descrio como a explicao
dos fenmenos. A descrio pelas caractersticas fenotpicas resultou ser muito
mecanicista e classificatria. O resultado da anlise s mostrava o que era exterior ao
objeto. Ou seja, esta no analisava o objeto at a sua gnese. Da mesma forma, a anlise
genotpica s informava sobre questo interna do objeto, ou seja, a anlise dava um
resultado netamente biologicista.
O trabalho de pesquisa de Vygotski (1993) mostra esta grande confuso que
acontecia na relao entre os aspectos fenotpicos e os genotpicos da anlise. Ele
apresenta um exemplo sobre a confuso analtica das duas teorias:
La ballena, por ejemplo, vista externamente se parece ms a los peces
que a los mamferos, no obstante por su naturaleza biolgica tiene
mayor afinidad con una vaca o con un reno que con un sollo o un
tiburn. (Vygotski, 1996, p. 103).
As duas formas de anlise esto pautadas na observao e na simples
experincia do cotidiano. E isto no fazer cincia. Por isso, Marx (s/d., A ideologia
18
Colchetes no original.
114
Alem) alertava: Si la forma de manifestarse y las esencias de las cosas coincidieran
directamente, sobrara toda ciencia (MARX, apud, VYGOTSKI, 1996, p.103).
Fica claro que os dados internos geralmente so diferentes aos dados externos e
vice-versa. Frente a esta semelhana mecanicista e emprica, ele prope a anlise
microgentica, nico mtodo que consegue descubrir tras la semejanza exterior las
diferencias internas (VYGOTSKI, 1996, p.104).
Pelo mtodo microgentico, o pesquisador consegue ir alm do que fenotpica e
genotipicamente aparece no dado como resultado da anlise. O dado analisado est
carregado por condies histricas e sociais e no d para desnaturalizar os fenmenos a
partir de um olhar que no enfoca a historicidade e a complexidade das relaes que o
constituram. Vygotski (1996) afirma categoricamente o seguinte:
[...] constitui um grave erro pensar que a cincia s pode estudar o
que nos mostra a experincia direta... Os estudos baseados na anlise
de vestgios de influncias, em mtodos de interpretao e
reconstruo, na crtica e na indagao do significado foram to teis
quanto os baseados no mtodo da observao "emprica" direta
(VYGOTSKI, 1996, p. 277).
Ento, a relao entre a descrio da aparncia e a explicao da essncia fica
notoriamente a descoberta.
Luria (1992), que trabalhou com Vigotski e tambm combate a idia de uma
psicologia meramente descritiva, fenomenolgica, relaciona intimamente a observao
com a descrio detalhada e sistemtica com a deduo e a explicao:
As observaes simples tm suas limitaes. Podem levar a uma
descrio de eventos imediatamente aparentes que seduza os
observadores a realizarem pseudo-explicaes baseadas em seu
prprio entendimento fenomenolgico. Este tipo de erro coloca em
perigo o papel essencial da anlise cientifica. Mas s perigoso
quando a descrio fenomenolgica superficial e incompleta. A
observao verdadeiramente cientifica evita estes perigos. A
observao cientifica no pura descrio de fatos separados. Sua
meta principal visualizar um evento a partir do maior numero
possvel de perspectivas. O olho da cincia no sonda uma "coisa", um
evento isolado de outras coisas ou eventos. Seu verdadeiro objeto e
ver e entender a maneira pela qual a coisa ou objeto se relaciona a
outras coisas e objetos (LURIA, 1992, p. 182).
115
O pesquisador no deve isolar os fatos internos e externos. Deve buscar a
relao dialtica entre as categorias internas e externas do objeto. Por isso a anlise
microgentica trabalha dialeticamente com os dados internos e externos, porque o
verdadeiro caminho para descobrir a verdade que est detrs da aparncia do objeto. Ou
seja, devemos ter cuidado com o problema, porque muitas vezes os processos que
aparentemente so idnticos podem ter origens diferentes, e aqueles objetos que
apresentam processos aparentemente diferentes, desiguais, podem ter a mesma origem.
Nesta forma de erro, j apresentamos o exemplo de Vygotski (1996) sobre a
baleia. Mas, no caso do ensino e da aprendizagem escolar devemos ter muito cuidado
contra certas interpretaes reducionistas centradas, exclusivamente, nos aspectos
diretamente observveis e mensurveis da prpria atividade do aluno, na medida em que
duas ou mais atividades ou processos mentais aparentemente iguais podem ter origens
diferentes e, dois ou mais processos aparentemente diferentes podem ter origens iguais
ou semelhantes.
Importante ter em conta esta anlise porque responderia a nossa questo de
pesquisa. No cotidiano escolar comum e frequente estas formas de anlise que fazem
sobre certos alunos e; h erros nos diagnsticos e o aluno encaminhado para
tratamentos psicolgicos, porque na realidade, o problema no foi analisado na prpria
raiz.
3.2.3 Anlise dos comportamentos aparentemente fossilizados por meio da
reconstituio da sua gnese.
Um caso fossilizado seria uma atividade ou um processo psicolgico
aparentemente mecnico, involuntrio ou, at um dado que muitos acreditam que seja
biolgico, uma vez que este dado se tornou automatizado e ele fica desapercebido ou
fora do processo que o gerou. Vygotski (1996) explica o que seria esta terceira lei da
microgentica, desta forma:
En psicologa solemos encontrar con bastante frecuencia procesos ya
fosilizados, es decir, que por haber tenido un largo perodo de
desarrollo histrico se ha petrificado. La fosilizacin de la conducta se
manifiesta sobre todo en los llamados procesos psquicos
automatizados o mecanizados. Son procesos que por su largo
funcionamiento se han repetido millones de veces y, debido a ello, se
116
automatizan, pierden su aspecto primitivo y su apariencia externa no
revela su naturaleza interior; dirase que pierden todos los indicios de
su origen (VYGOTSKI, 1996, p. 105).
Analisemos esta lei da microgentica vigotskyana detalhadamente, porque esta
lei, aplicada aos nossos problemas de aprendizagem ou problemas de ensino, nos dar a
chave para compreender e buscar uma soluo aos problemas dos alunos que, muitas
vezes, j temos fossilizados como se fossem casos biolgicos inerentes aos alunos.
Vygotski (1996) afirma que esta fossilizao se manifesta como processos
psquicos automatizados ou mecanizados. Por exemplo, comum fossilizar problemas
de aprendizagem como problemas psicolgicos dos alunos. Se um aluno tem
dificuldades para compreender uma questo, comum indicar que o aluno tem
problemas psicolgicos. Como o problema est fossilizado, o sistema escolar no vai
raiz do problema para analisar o processo dessa sua fossilizao. Os problemas dos
alunos que muitas vezes so catalogados como problemas psquicos, so analisados
pelas suas caractersticas ou manifestaes externas, sem nunca ir origem do
problema.
Por isso Vygotski (1996) indica que para superar esta forma fossilizada de um
objeto, devemos ir gnese do problema. Ele afirma:
[] no existe otra va que la del despliegue dinmico del proceso, es
decir, la indicacin de su origen. Por consiguiente, no debemos
interesarnos por el resultado acabado, ni buscar el balance o el
producto del desarrollo, sino el propio proceso de aparicin o el
establecimiento de la forma superior tomada en su aspecto vivo. Para
ello, el investigador debe transformar frecuentemente la ndole
automtica, mecanizada y fosilizada de la forma superior, retrayendo
su desarrollo histrico, hacindola volver experimentalmente a la
forma que nos interesa, a sus momentos iniciales para tener la
posibilidad de observar el proceso de su nacimiento (VYGOTSKI,
1996, p. 105).
Prope-se com esta lei a volta histrica e social do fenmeno, por meio da
anlise de seu desenvolvimento histrico, a busca pelas origens genticas de
determinada funo psquica, desde o momento em que se manifesta at o seu
desaparecimento ou at o momento em que esse fenmeno tornou-se fossilizado ou
automtico.
117
Agir desta forma frente aos fenmenos fossilizados nos possibilita uma viso
qualitativa do processo para mudar o fenmeno, o velho, em novo processo qualitativo.
Qualquer atividade escolar que tenha passado por este tipo de problema
fossilizado deve parar e voltar s origens do problema mediante um processo dialtico.
Terminamos esta parte sobre o mtodo gentico da Teoria Histrico-Cultural
com uma citao bblica: La piedra que desecharon los constructores, sta vino a ser la
piedra angular (Mt. 21:25). No explicarei o que significa esta citao, deixarei aos
leitores que faam uma leitura dialtica da citao, comparando-a com a lei
microgentica.
3.3 Procedimentos Metodolgicos.
O caminho percorrido para responder questo de pesquisa e aos objetivos
especificados tem sido a pesquisa bibliogrfica, que abrange a leitura, anlise e
interpretao de livros, peridicos, documentos mimeografados ou xerocopiados, etc.,
delineando e interpretando os resultados luz da Teoria Histrica Cultural.
Esta pesquisa bibliogrfica teve duas fontes de leitura: as primrias que seriam
as consultas feitas nos textos dos representantes da Teoria Histrico-Cultural. As
secundrias seriam as consultas feitas aos comentadores das obras dos autores da fonte
primria. Tambm realizamos leituras nas pesquisas de dissertao e teses que se
fundamentaram na Teoria Histrico-Cultural, em vrios assuntos relacionados escola,
aos professores, aos alunos e a prpria instituio escolar.
A Pesquisa Bibliogrfica implica num conjunto ordenado de busca de solues,
atento ao objeto de estudo, e que, por isso, no pode ser aleatrio.
No caso da pesquisa bibliogrfica, a leitura apresenta-se como a principal
tcnica, pois por meio dela que podemos identificar as informaes e os dados
contidos no material selecionado, bem como verificar as relaes existentes entre eles
de modo a analisar a sua consistncia.
Neste trabalho utilizamos o livro de SALVADOR (1986) para fundamentar o
uso da pesquisa bibliogrfica.
A pesquisa bibliogrfica requer mais trabalho do pesquisador, pois exige
disciplina e ateno tanto no percurso metodolgico definido quanto no cronograma de
estudos proposto para que a sntese integradora das solues no seja prejudicada.
118
um movimento incansvel de apreenso dos objetivos, de observncia das
etapas, de leitura, de questionamentos e de interlocuo crtica com o material
bibliogrfico que permite, por sua vez, um leque de possibilidades na apreenso das
mltiplas questes que envolvem o objeto de estudo. Ainda, ela importante na
produo do conhecimento cientfico capaz de gerar, especialmente em temas pouco
explorados, a postulao de hipteses ou interpretaes que serviro de ponto de partida
para outras pesquisas.
3.3.1 As etapas da pesquisa
As etapas no indicam fases cronolgicas, estticas e que no se possa fazer uma
etapa sem antes passar uma etapa. As etapas que enumeramos aqui so apenas como
fatores de registro. Porque as etapas do trabalho foram dinmicas, bastante ir e voltar s
fontes para responder questo de pesquisa.
3.3.2 Identificao das fontes:
As consultas para as fontes primrias e secundrias foram realizadas na
Biblioteca Comunitria da Universidade Federal de So Carlos UFSCar.
Foram realizadas consultas online sobre dissertaes e teses nos bancos de dados
de vrias Universidades do Brasil e de Universidades estrangeiras.
Foram realizadas consultas online sobre trabalhos publicados em:
1. ABRAPSO (Associao Brasileira de Psicologia social), usando vrios
descritores como Vigotsky: ensino; aprendizagem; educao; poltica; vida escolar, etc.
2. ANPED (Associao Nacional de Ps-Graduao e Pesquisa em Educao).
Foram usados os seguintes descritores: educao; educao e criana; polticas pblicas
educativas; cotidiano escolar; materialismo histrico-dialtico; marxismo, etc.
3. SciELO-Brasil (Scientific Electronic Library Online), consultando os artigos
com os seguintes descritores: Teoria Histrico-Cultural; marxismo; mediao;
desenvolvimento do psiquismo humano, etc.
119
3.3.3 Leitura do material e Etapas:
Nesta parte foram realizadas as leituras em sentido amplo dos materiais
coletados, como das fontes primrias e das secundrias, com os seguintes objetivos:
Identificar as informaes e os dados; estabelecer relaes entre as informaes e os
dados; Analisar a consistncia das informaes e os dados.
O cronograma de leitura foi previsto desde maro de 2010 at outubro de 2011.
Vale pena registrar de que por motivo de greve dos funcionrios da Universidade
Federal de So Carlos, iniciada em junho de 2011 at final do ms de setembro do
mesmo ano, a consulta as fontes primrias e secundrias na prpria biblioteca da
UFSCar ficou prejudicada, atrasando bastante o cronograma. Mas, tivemos que
formular um plano B, que consistia na compra de alguns livros de alguns Sebos
Virtuais.
3.3.4 Diretrizes de leitura
Desta forma foram seguidas as seguintes diretrizes para a realizao da
leitura dos materiais pesquisados e recolhidos para a leitura:
a) Leitura de reconhecimento do material bibliogrfico:
Consistiu em leitura rpida que objetivou localizar e selecionar o material que
poderia apresentar informaes e/ou dados referentes ao tema. Momento de incurso em
bibliotecas e bases de dados computadorizados para a localizao de obras relacionadas
ao tema.
b) Leitura Exploratria:
Constituiu-se numa leitura rpida cujo objetivo era verificar se as informaes
e/ou dados selecionados que interessavam de fato para o estudo; o conhecimento sobre
o tema, domnio da terminologia e habilidade no manuseio das publicaes cientficas
foi fundamental nessa etapa. Foi momento de leitura dos sumrios e de manuseio das
obras, para comprovar de fato a existncia das informaes que respondem aos
objetivos propostos.
120
c) Leitura Seletiva:
Procuramos determinar o material que de fato interessasse, relacionando-o
diretamente aos objetivos da pesquisa. Foi um momento de seleo das informaes
e/ou dados pertinentes e relevantes, quando so identificadas e descartadas as
informaes e/ou dados secundrios. Realizamos as leituras e fichamentos em cadernos
e arquivos de computador para registrar os dados coletados para que logo fossem
confrontados.
d) Leitura Reflexiva ou Crtica:
Procedemos a um estudo crtico do material orientado por critrios determinados
a partir dos objetivos propostos no projeto, tendo como finalidade ordenar e sumarizar
as informaes ali contidas, na busca de responder os objetivos. Foi o momento de
compreenso das afirmaes do autor e do por que de suas afirmaes.
e) Leitura Interpretativa:
Foi o momento mais complexo em delimitar a pesquisa. Este item teve por objetivos:
Relacionar as ideias expressas na obra com o problema para o qual buscvamos
respostas.
Interpretar as ideias do autor, acompanhada de uma interrelao destas com os
nossos propsitos. Foi necessrio um exerccio de associao de ideias, transferncia de
situaes, comparao de propsitos, liberdade de pensar e capacidade de criar.
Analisar as obras das fontes secundrias que usam como referenciais as obras
das fontes primrias. Desta forma busca-se relacionar os dados para chegar a uma
sntese final sobre o problema levantado na questo de pesquisa.
f) Redao do trabalho de pesquisa
o momento definitivo da produo bibliogrfica. a apresentao do resultado
e a resposta dada para a comunidade acadmica e escolar sobre o resultado do trabalho
de pesquisa.
O conhecimento da realidade no apenas a simples transposio dessa
realidade para o pensamento, pelo contrrio, consiste na reflexo crtica que se d a
121
partir de um conhecimento acumulado e que ir gerar uma sntese, o concreto pensado.
Isso ser o aporte fundamental da pesquisa usando a pesquisa bibliogrfica.
Por isso a pesquisa bibliogrfica constitui-se importante pelos seguintes pontos:
O pesquisador aluno e a orientadora tm "uma atitude e uma prtica terica de
constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente", pois
eles realizam uma atividade de aproximaes sucessivas da realidade, sendo que estas
apresentam "uma carga histrica" e refletem posies frente realidade (MINAYO,
1994, p.23). Desse modo, ao considerar a pesquisa qualitativa, todo objeto de estudo
apresenta especificidades, pois ele:
a) histrico est localizado temporalmente, podendo ser transformado;
b) tem conscincia histrica no apenas o pesquisador e a orientadora que
lhes atribuem sentido, mas a totalidade dos homens, na medida em que se relacionam
em sociedade, e conferem significados e intencionalidades a suas aes e construes
tericas;
c) apresenta uma identidade com o sujeito ao propor investigar as relaes
humanas, de uma maneira ou de outra, o pesquisador identifica-se com ele;
d) intrnseca e extrinsecamente ideolgico porque "veicula interesses e
vises de mundo historicamente construdas e se submete e resiste aos limites dados
pelos esquemas de dominao vigentes" (MINAYO, 1994, p. 21);
e) essencialmente qualitativo j que a realidade social mais rica do que as
teorizaes e os estudos empreendidos sobre ela, porm isso no exclui o uso de dados
quantitativos (MINAYO, 1994).
Considera-se, portanto, que o processo de pesquisa se constitui em uma
atividade cientfica bsica que, atravs da indagao e (re) construo da realidade,
alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente realidade. Assim como vincula
pensamento e ao j que "nada pode ser intelectualmente um problema se no tiver
sido, em primeiro lugar, um problema da vida prtica" (MINAYO, 2001, p. 17).
122
CAPTULO 4 - IMPORTNCIA DO ENFOQUE DA TEORIA HISTRICOCULTURAL PARA OS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM
Ser nio no puede ser otra cosa que ser y dejar de ser
permanentemente. Ser nio consiste en dejar de ser de
una manera (tanto cognitiva como afectivoemocionalmente) para constantemente ser de otra, con
nuevas posibilidades adaptativas en la vida. Es dejar de
ser para afirmarse en una nueva manera de ser. Ser nio
implica el permanente cambio; es dialctica pura. Es la
unidad y lucha de contrarios, ser y no ser, ser y dejar de
ser. Es la negacin de la negacin, es la negacin de lo
que se es para ser distinto, es la afirmacin de lo que no
se es (pero pudiera llegar a ser) para dejar de ser lo que
se es, es la negacin de lo que no se es para ser lo que se
es. Es el proceso de cambio y saltos de calidad de un
estado de desarrollo a otro.
(Autor: annimo)
4.1 Base material e histrica da conscincia para o desenvolvimento do ser
humano
Em todas as obras de Vigotsky19 notamos que ele props uma nova psicologia
fundamentada no mtodo do materialismo histrico-dialtico, por meio do qual buscou
compreender o aspecto psquico do ser humano a partir da descrio e explicao das
funes psquicas superiores. Estas funes psquicas superiores do ser humano esto
histrica e culturalmente determinadas ao longo do processo de desenvolvimento da
formao humana em diferentes pocas e contextos histricos, por meio das distintas
formas de ferramentas e dos signos, os quais auxiliam no desenvolvimento dessas
funes. Essas indicam o grau de apropriao do conhecimento e objetivao do ser
humano ao longo da histria da ontognese.
Neste sentido, Vygotski (1996) expe os objetivos da sua teoria desta forma:
[] caracterizar los aspectos tpicamente humanos del
comportamiento para elaborar hiptesis de como esas caractersticas
se forman a lo largo de la historia humana y se desarrollan a lo largo
de la vida del individuo. (VYGOTSKI, 1996, p. 25)
19
Obras de Vigotsky que j foram citadas ao longo do trabalho.
123
Os aspectos tipicamente humanos, como conscincia, memria semntica,
ateno voluntria, o pensamento abstrato, a fala, as atividades mediadoras etc.,
constituem caractersticas humanas elaboradas histrica e culturalmente dentro de uma
coletividade humana ao longo da histria. Notamos nesta passagem esse movimento
histrico-dialtico do desenvolvimento das caractersticas humanas que se formam na
histria ontolgica e so desenvolvidas em forma individual nos seres humanos.
Toda a obra de Vigotsky bastante extensa, mas, antes de detalhar os seus
principais pressupostos tericos dele, faremos um esquema terico para que o leitor
possa compreender a extenso e a importncia fundamental da investigao levada por
ele.
Assim, resumindo, diramos:
O ser humano histrico-cultural, resultado da relao dialtica entre a natureza
e os outros sujeitos histricos;
Ele determinado pelas relaes sociais constitudas pela cultura desenvolvida
historicamente em dois momentos, primeiramente na sua forma interpsicolgica e
depois na sua forma intrapsicolgica. Neste ponto a linguagem constitui a maneira
como o ser humano determinado e determinante.
A atividade da conscincia exclusivamente humana e resultado da
aprendizagem social e da interiorizao da cultura por meio da mediao e do uso das
ferramentas e signos mediadores;
O desenvolvimento psquico um processo que est marcado por saltos
qualitativos que ocorrem em trs momentos: da filognese sociognese; da
sociognese a ontognese e da ontognese a micrognese;
A atividade cerebral no s uma atividade nervosa ou neuronal superior, mas,
uma atividade que interioriza significados sociais que esto derivados das atividades
culturais e mediados por ferramentas e signos;
A linguagem configura-se como o fator do desenvolvimento das funes
psquicas superiores, que tem vrias formas de expresso, como linguagem oral,
interior, gestual, escrita, artstica, musical e matemtica;
A internalizao (apropriao) e exteriorizao (objetivao) so processos
implicados na transformao
dos fenmenos sociais produzidos cultural e
historicamente em fenmenos psicolgicos;
124
A autoconscincia constitui a forma superior e mais complexa da atividade
psquica, que consiste na reelaborao racional dos dados da experincia, nos processos
do estabelecimento de vnculos, o descobrimento de relaes e dependncias, que se
distingue por uma composio, estrutura e maneira de funcionamento particular;
A cultura interiorizada sob formas de sistemas neurofsicos que constituem
partes das atividades fisiolgicas do crebro, as quais permitem a formao e o
desenvolvimento das funes psquicas superiores.
Todos estes pontos levantados e os que ainda viro no decorrer da escrita desta
pesquisa mostram que devemos ler e compreender Vigotsky e seus colaboradores luz
do materialismo histrico-dialtico.
Antes mesmo de entrar na anlise, gostaria de indicar, que no tenho formao
em neurologia, para que esteja analisando a formao e maturao do sistema nervoso
central, a estrutura crvico ou corticalizao do crebro, tecido cerebral, o tlamo, o
hipotlamo, o tronco cerebral em toda a sua extenso e os desenvolvimentos
psicomotores do ser humano, mas, indico que Luria (1974 e 1977) fez vrias pesquisas
nesses nveis e indico a bibliografia para leitura individual sobre esses temas muito
importantes.
Devemos indicar que Vygotski (1979, 1988, 1991, 1996 e 1999) toma como
incio de seu trabalho as funes psquicas, divididas em inferiores e superiores, como
maneira de explicitar a sua compreenso materialista e dialtica sobre a conscincia. A
anlise materialista e dialtica sobre a conscincia humana e a relao com a atividade
mediada determinaro todo o seu trabalho. Vygotsky (1979) parte da concepo de que
todo organismo ativo, estabelecendo uma contnua relao mediadora com as
condies sociais que so mutveis e a base biolgica do comportamento humano que
so imutveis.
Devemos comear analisando o que seria a conscincia para Vigotsky, mas antes
seria correto demonstrar historicamente o que entende por conscincia ao longo da
histria da filosofia. Assim temos que Blank & Silvestri (1994) indicam que a categoria
conscincia, ao longo da histria tem sofrido transformaes que o prprio processo
histrico implica. Esses autores nos lembram de que antes que a psicologia se
estabelecesse como disciplina particular a conscincia era um tema especfico do
domnio da filosofia. Eles explicam que:
125
[] en forma muy amplia, y en vinculacin con su etimologa, el
trmino conciencia designa un saber: el saber sobre el hecho de saber,
la inteleccin del saber (BLANK & SILVESTRI, 1994, p. 25)
O intelecto implica o ato de entender ou conhecer o mundo fenomnico ou o
mundo metafsico. Este entendimento ou conhecimento implica as diversas formas de
apreenso do objeto em si por meio do sujeito.
Temos neste sentido o empirismo, o racionalismo, o idealismo, o metafsico at
chegar ao materialismo histrico-dialtico. A conscincia para todas essas escolas
filosficas, menos para o materialismo histrico-dialtico, entendida como atividade
cognoscitiva, como atividade do conhecimento. Sobre a conscincia no materialismo
histrico-dialtico, j a analisamos nos captulos anteriores. Mas, no o nosso objetivo
nesta pesquisa abordar a conscincia nesses pensamentos filosficos, s indicar que a
conscincia tem sido amplamente discutida ao longo da histria filosfica.
Neste sentido, indicamos que na filosofia antiga e medieval a conscincia estava
relacionada questo tica. Desde essa significao tica, a conscincia se igualou
capacidade individual para discernir entre o bem e o mal e assumir a responsabilidade
pessoal pelas aes que praticavam cada sujeito cognoscente. tica como conscincia
era a forma para indicar que s o tico tinha o domnio do conhecimento. Conhecer era
tico. Importante indicar que nessas pocas reaparece o pensamento socrtico
configurado na famosa expresso conhea-te a ti mesmo. O que era verdadeiro era o
conhecimento do bem em si mesmo.
De acordo com Padovani & Castagnola (1962), com a filosofia moderna
europia, encarnada no legado de Descartes, se consolida a concepo individual da
conscincia. Ela recebe uma significao introspectiva que remete ao conhecimento
como um ato pessoal. Na frase cogito ergo sum, Descartes estabeleceu que a
conscincia de cada sujeito o fundamento e o ponto de incio de todo conhecimento
verdadeiro. O parmetro da verdade est fundamentado no que designa a conscincia
para cada sujeito. Aqui, com a conscincia livre e soberana, chegamos a um
racionalismo anrquico nunca visto na histria do pensamento. Tambm, de acordo com
Padovani & Castagnola (1962), os idealistas alemes elaboraram esta idia da
centralidade da conscincia individual na explicao do conhecimento, como podemos
observar na filosofia de Kant e de Hegel.
126
No seu conjunto, a tradio filosfica comentada foi apropriada pela psicologia
quando esta se estabeleceu como disciplina independente. Aceitou-se como legtima que
a introspeco e a autoconscincia pertencem ao indivduo e ocorrem num nvel
separado da existncia cotidiana do ser humano. A psicologia inicia a sua existncia
como disciplina independente com o projeto de explicar a conscincia reduzida
experincia subjetiva. Mas, desde muito cedo, o desenvolvimento da psicologia chegou
a conhecer dois caminhos opostos, um que buscava explicar a conscincia, a partir dos
reflexos fisiolgicos e outro, que explicava a partir de atributos metafsicos inerentes
espcie animal.
Para Vygotski (1993) esta bifurcao era um problema fundamental na
Psicologia e ele se posicionou favoravelmente para interpretar estes modelos e buscar
uma soluo questo levantada. Ele criticou a forma como a Psicologia da sua poca
tinha abordado o problema da conscincia.
Para Vygotski (1993) a explicao da origem da conscincia deveria ser
investigada no nos recnditos do sistema nervoso central, nem no vo sem limites do
esprito, mas, na evoluo histrica e cultural de que ambos so partes. Vygotski (1993)
elaborou uma teoria que explica a origem histrico-cultural das funes psquicas
superiores, de forma a superar as limitaes da Psicologia da sua poca sobre a questo
da conscincia. Vygotski (1993) deriva a conceitualizao da conscincia da prpria
filosofia marxista de acordo com trs ideias fundamentais: primeiro, a conscincia
individual tem a sua origem na apropriao das formas da atividade coletiva. Esta
apropriao se d no modo de produo das atividades mediadas na forma coletiva entre
os homens. O modo de produo determina o modo da conscincia individual. Devemos
entender de que a forma como o ser humano produz a sua atividade determinar a sua
prpria conscincia. Esta conscincia individual tem a sua formao nas atividades
mediadas pelo uso de instrumentos e signos constitudos socialmente ao longo da
histria do desenvolvimento humano. Segundo, a idia de que a psique humana se
transforma mediante a atividade e, no, mediante a recepo passiva de estmulos. O
trabalho ou a atividade mediada o fator preponderante para o surgimento da prpria
psique humana. O animal no tem essa transformao porque no tem o psiquismo nem
realiza uma atividade consciente nem mediada. Por isso, o homem, mediante a sua
atividade se apropria e se objetiva nas formas produzidas culturalmente, modificando as
peculiaridades das funes psquicas. A atividade relaciona o ser humano entre si
127
mesmo e com o mundo das coisas. Da que por meio da atividade mediada o ser
humano se apropria da experincia da prpria humanidade. E terceiro, a conscincia,
como atividade mental e cognoscitiva fundamenta-se na histria cultural e nas
atividades mediadoras que caracterizam a sociedade coletiva. A fundamentao do
surgimento da conscincia humana o resultado da sua atividade mediada e da relao
dialtica da atividade social. Nesse sentido Leontiev (1978) afirma:
En otras palabras, los procesos psicolgicos superiores especficos del
hombre pueden nacer nicamente em la interaccin del hombre con el
hombre, es decir, intrapsicologicos, y slo despus comienzan a ser
efectuados independientemente por el individuo; adems, algunos de
estos procesos pierden luego su forma exterior inicial y se transforman
en procesos interpsicolgicos.[] La conciencia es engendrada por la
sociedad: se produce. (LEONTIEV, 1978, p.78).
O determinante desta citao est na ultima parte. A conscincia humana
determinada pela sociedade, pelo modo de produo da cada sociedade, por cada tipo de
formao cultural de cada poca da histria do desenvolvimento humano. A conscincia
no esta formada a priori no ser humano, ela se produz ao longo do seu
desenvolvimento histrico-cultural. Esta parte podemos associar com a afirmao de
Marx (2008, p. 47) de que [...] no a conscincia dos homens que determina o seu
ser; ao contrario, o ser social que determina a sua conscincia. Hoje, num ambiente
escolar, podemos dizer de que a vida social escolar o que determina a conscincia dos
alunos. A vida social escolar est fundamentada nas atividades mediadoras que so
realizadas nesse ambiente escolar. Mas, no qualquer atividade que determina a
transformao da conscincia humana. Deve ser uma atividade intencional e reflexiva,
ou seja, uma atividade regida pela prxis. Por isso, os problemas de ensino ou de
aprendizagem das crianas devem ser buscados, analisados e resolvidos no mbito da
vida escolar, nos tipos de atividades que so executados com as crianas, e no buscar
no aspecto biolgico das crianas.
Na perspectiva da Teoria Histrico-Cultural, subjacente aos processos
psicolgicos superiores, esto s leis da prpria dialtica e que na histria da
humanidade, a conscincia representa um salto qualitativo, no qual os processos
psquicos biolgicos so subordinados aos processos superiores de ordem histricocultural.
128
Para Vygotski (1993)
[] la conciencia se desarrolla como un todo, modificando en cada
nueva etapa su estructura interna y la relacin de las partes, y no como
la suma de los cambios parciales que se producen en el desarrollo de
cada funcin aislada (VYGOTSKI, 1993, p.209).
Ento, a conscincia desenvolve-se como um todo organizado numa perspectiva
dialtica, que modifica a estrutura interna do ser humano mediante as aes
mediatizadas pelo uso das atividades que cria as necessidades humanas.
Desta perspectiva, a conscincia o nvel supremo da realidade objetiva e
concreta, inerente ao ser humano, exclusivamente, em virtude da sua essncia histricocultural.
Conforme Vygotski (1991)
La capacidad que tiene nuestro cuerpo de constituirse en excitante (a
travs de sus actos) de s mismo (y de cara a otros nuevos actos)
constituye la base de la conciencia (VYGOTSKI, 1991, p. 49).
Assim, a conscincia reflexo da matria em si mesma, provocada por um
mecanismo de reflexo que reativa o prprio reflexo para tornar consciente um objeto
excitado a manifestar-se.
Essa identificao da conscincia com o excitante nos leva a pensar que toda
ao consciente resultado de motivos provocados no sujeito, de mediaes por meio
de instrumentos mediadores como do prprio ser humano. No h a conscincia em si,
mas temos uma conscincia para si, isto significa afirmar que a conscincia no algo
que j est dado para o ser humano, como uma medida certa para cada sujeito humano,
mas produzida culturalmente.
Mostrar que a conscincia resultado da elaborao de um desenvolvimento
histrico do social e do prprio ser humano, nos indica que a conscincia da criana no
tem nenhuma elaborao priori, como se fosse algo formado e dado na medida certa
para cada individuo. Fica claro de que a conscincia no um dom, uma herana
gentica, dado por meio dos genes, como a Psicologia biologicista nos quer dar a
entender, mas produzida pela prpria atividade mediada na criana.
Esta afirmao de que a conscincia no algo dado a priori ao ser humano
129
ficou demonstrado nos trabalhos de Luria (1999), quando ele afirma o seguinte sobre a
conscincia:
a forma mais elevada de reflexo da realidade; ela no dada a
priori, nem imutvel e passiva, mas sim formada pela atividade e
usada pelos homens para orient-los no ambiente, no apenas
adaptando-se a certas condies, mais tambm reestruturando-se
(LURIA,1999, p 23).
Luria (1999) nos mostra trs caractersticas que a conscincia no : ela no
uma coisa a priori, um elemento que j est dado no ser humano, carregando antes
mesmo que o ser humano entre em contato com as formas desenvolvidas da histria
humana; ela no imutvel, que no pode ser modificada ou que j est pronta de uma
forma em cada ser humano. Neste caso podemos colocar o exemplo da famosa
expresso popular: filho de peixe, peixinho . A conscincia no est determinada,
mas, ela algo que a posteriori ser modificada dentro da estrutura social de uma
determinada cultura onde est inserido o ser humano. A expresso do filho de peixe tem
um sentido biologicista imutvel e a priori. E o ltimo dado apontado por Luria (1999)
que a conscincia no passiva. Se pensarmos a conscincia na forma biologicista,
ento ela passiva, determinada, e cada ser humano j carrega geneticamente os dados
na sua estrutura individual. Mas, quando afirmamos que a conscincia no passiva,
estamos indicando que ela se desenvolve ao longo da histria ontolgica do ser humano.
Sobre a forma de desenvolvimento histrico da conscincia Leontiev (1978)
afirma o seguinte:
A conscincia humana no uma coisa imutvel. Alguns dos seus
traos caractersticos so, em dadas condies histricas concretas,
progressivos, com perspectivas de desenvolvimento, outras so
sobrevivncias condenadas a desaparecer. Portanto, devemos
considerar a conscincia (o psiquismo) no seu devir e no seu
desenvolvimento, na sua dependncia essencial do modo de vida, que
determinado pelas relaes sociais existentes e pelo lugar que o
indivduo considerado ocupa nestas relaes. Assim, devemos
considerar o desenvolvimento do psiquismo humano como um
processo de transformaes qualitativas. Com efeito, visto que as
condies sociais da existncia dos homens se desenvolvem por
modificaes qualitativas e no apenas quantitativas, o psiquismo
humano, a conscincia humana transforma-se igualmente de maneira
qualitativa no decurso do desenvolvimento histrico e social
(LEONTIEV, 1978, p.89).
130
Passagem muito importante para que seja analisada. Vejamos os pressupostos
tericos subjacentes nesta citao. O primeiro ponto importante a destacar a
imutabilidade da conscincia humana. Significa o rompimento com a tradio
biologizante da conscincia, na qual a conscincia humana algo relacionado
diretamente com os genes que cada indivduo carrega eternamente. Mas, a Teoria
Histrico-Cultural rompe com essa tradio biologizante e destaca a conscincia como
resultado de processos histricos e culturais de cada poca e de cada sociedade. A
formao histrica da conscincia nos mostra que certos elementos foram apreendidos e
outros elementos foram eliminados. Isto significa que a conscincia humana tem uma
formao dialtica. Notamos a luta de contrrios na formao da conscincia, quando
Leontiev (1978) afirma que algumas caractersticas so progressivas, com perspectivas
de desenvolvimento e, outras, tendem a desaparecer.
A conscincia humana representa um devir eterno, uma forma em que ela no
tem um fim para acabar, claro, desde que exista o ser humano. O devir da conscincia
nos mostra que no h forma acabada do desenvolvimento do psiquismo humano. A
formao, a construo da conscincia determinada pelo ambiente social e cultural
onde est inserido o ser humano. o social e o cultural que determinam esse processo
do desenvolvimento histrico da conscincia do prprio ser humano por meio de todas
as atividades mediadoras que so desenvolvidas ao longo da histria.
Se a conscincia humana no eterna nem est dada na herana gentica,
podemos afirmar que ela, a conscincia, se desenvolve por modificaes qualitativas.
Esta afirmao transcendental para que sejam valorizadas as mediaes, os
instrumentos mediadores, a escola, os adultos com o seu papel mediador na formao
do desenvolvimento psquico do ser humano.
Outro dado levantado por Leontiev (1978) a importncia da qualidade das
condies que so dadas ao ser humano para que a sua conscincia seja desenvolvida
qualitativamente. As condies devem ser da melhor qualidade para que a conscincia
tenha um desenvolvimento exemplar.
No adianta afirmar que problemas de aprendizagem um problema psquicogentico da criana, quando na verdade no so dadas as condies primordiais para
desenvolver a prpria conscincia dos pequenos. Estas condies abarcam os aspectos
fsicos e os aspectos no materiais que formam parte do ensino da criana. Dependendo
131
do tipo de condies dadas para cada sujeito histrico teremos um tipo de
desenvolvimento da conscincia humana. Por isso, as escolas devem dar ou oferecer
condies adequadas, atividades de qualidades, para que o desenvolvimento do
psiquismo das crianas tenha valor real e concreto.
Por isso, Leontiev (1978) escreve que a conscincia humana tem caractersticas
de contedo psicolgico, quando afirma:
Devemos, pelo contrario, estudar como a conscincia do homem
depende do seu modo de vida humano, da sua existncia. Isto significa
que devemos estudar como se formam as relaes vitais do homem
em tais ou tais condies sociais histricas e que a estrutura particular
engendra dadas relaes. Devemos em seguida estudar como a
estrutura da conscincia do homem se transforma com a estrutura da
sua atividade. Determinar os caracteres da estrutura interna da
conscincia caracteriz-la psicologicamente (LEONTIEV, 1978, p.
92).
H a total dependncia da estrutura da conscincia com a realidade objetiva e
concreta onde o ser humano est inserido. Isto significa que a cultura humana determina
a forma da qualidade do desenvolvimento da estrutura da prpria conscincia. Notamos
a relao dialtica entre a forma como est constituda a realidade para desenvolver a
conscincia humana.
As estruturas da conscincia modificam-se pela estrutura da atividade. Mas, esta
atividade no uma atividade qualquer; uma atividade que tem o seu significado
intrnseco muito importante para o desenvolvimento do psiquismo humano.
Por isso importante que na escola se analise o tipo de atividade que est sendo
usado para desenvolver a conscincia das crianas. comum indicar na escola que
problema de ensino e problema de aprendizagem esto relacionados s crianas, como
se fossem elas prprias as responsveis do atraso escolar ou dos problemas escolares.
Outro ponto importante quando falamos sobre a questo da qualidade da
conscincia radica no tema da significao, do significado e sentido que a atividade
psquica tem para o desenvolvimento do ser humano.
Leontiev (1978) afirma o seguinte:
A significao aquilo que num objeto ou fenmeno se descobre
objetivamente num sistema de ligaes, de interaes e de relaes
objetivas. A significao refletida e fixada na linguagem, o que lhe
132
confere a sua estabilidade. Sob a forma de significaes lingsticas,
constitui o contedo da conscincia social (LEONTIEV, 1978, p.94).
O animal, por no ter conscincia, quando realiza certas aes rudimentares,
instintivas, como comer, beber, deitar etc., as realiza sem que ele entenda o que est
fazendo, ou seja, as suas aes rudimentares no tm um significado para ele.
J o ser humano, por meio da conscincia elaborada histrica e socialmente,
quando realiza as atividades, as realiza por meio de uma fora intrnseca e inerente s ao
ser humano, que a significao da sua atividade consciente. O ser humano realiza as
atividades porque essa atividade possui o significado que o motiva a desenvolver na
histria da sua ontognese.
Por meio da significao o objeto se descobre como que ligado, relacionado ao
ser humano. Esta significao est refletida na linguagem. Por meio da linguagem h
uma apropriao do objeto e objetivao do sujeito. Por isso Leontiev (1978) indica:
No decurso da sua vida, o homem assimila as experincias das
geraes precedentes; este processo realiza-se precisamente sob a
forma da aquisio das significaes e na medida desta aquisio. A
significao , portanto, a forma sob a qual o homem assimila a
experincia humana generalizada e refletida. [...] A significao
mediatiza o reflexo do mundo pelo homem na medida em que ele tem
conscincia deste, isto , na medida em que o seu reflexo de mundo se
apoia na experincia da prtica social e a integra (LEONTIEV, 1978,
p. 94-95).
Assimilar as experincias vividas pelo ser humano no significa s um contato
superficial ou um simples conhecimento do que foi experimentado. A assimilao das
experincias histricas e sociais mais que isso; internalizar essas experincias na
forma objetiva e concreta. comum indicar que assimilar tal conhecimento s
conhecer o objeto assimilado, mas, assimilar um conhecimento deixar que esse objeto
provoque transformaes radicais no interior do psiquismo humano. O desenvolvimento
do psiquismo humano vlido e verdadeiro quando o objeto assimilado provoca
transformaes qualitativas no ser humano.
Focando esta premissa na realidade escolar, notamos que muitas vezes no so
dadas as condies adequadas para que a criana possa assimilar um contedo ensinado
a ela. A assimilao s ser proveitosa e trar mudanas qualitativas no
desenvolvimento psquico da criana quando h uma internalizao do contedo
133
apreendido. Para que ocorra essa verdadeira internalizao, a criana deve ter uma
excelente mediao do adulto. Sem isso, impossvel pensar em mudanas de
significaes para as crianas.
A escola deve repensar que tipo de significaes quer transmitir e que condies
esto dando para que as crianas possam assimilar, possam internalizar as experincias
das geraes precedentes.
Leontiev (1978) indica esta situao desta forma:
O homem encontra um sistema de significaes pronto, elaborado
historicamente, e apropriar-se dele tal como se apropria de um
instrumento, esse precursor material da significao. O fato
propriamente psicolgico, o fato da minha vida, que eu me aproprie
ou no, que eu assimile ou no uma dada significao, em que grau eu
o assimilo e tambm o que ela se torna para mim, para a minha
personalidade; este ltimo elemento depende do sentido subjetivo e
pessoal que esta significao tenha para mim (LEONTIEV, 1978,
p.96).
A escola a instituio encarregada de oferecer condies adequadas para as
crianas possam assimilar as significaes produzidas pelas geraes que nos
precederam.
Na escola, as crianas entram em contato com a totalidade das significaes,
mas, se no so dadas as condies para que estas crianas possam assimilar objetiva e
subjetivamente estas significaes, a escola no estar provocando mudanas
qualitativas nas crianas. Assimilar estas significaes deve partir de motivos criados
nas crianas. As crianas devem ser motivadas para que vejam e sintam de que
internalizar as significaes os tornar mais humanos. Internalizar as significaes
desde a perspectiva do sentido objetivo e subjetivo far que o indivduo seja mais
humano. Criar motivos nas crianas tem o sentido de problematizar os contedos para
elas, indagar sobre o problema ou at certo ponto provocar nas crianas situaes
problema, nas quais elas saiam buscando as solues para eles. Nas escolas, os tipos de
mediaes devem criar situaes problema para as crianas. Os professores no devem
ser facilitadores do prprio contedo de conhecimento para os alunos. Mas
problematizar as atividades para os alunos no significa que essas situaes no possam
ser resolvidas por eles devido idade; srie, etc. Pelo contrrio, problematizar os
contedos a partir das experincias dos alunos, criando novas necessidades e motivos
134
nos alunos para irem alm do que j sabem, ou aprender o que ainda no sabem
efetivamente. Por exemplo: criar situaes problema, por meio da mediao, tanto do
professor, como das atividades mediadas por outros, por objetos, pelos espaos fsicos,
contedos, materiais didticos etc., no significa ensinar a uma criana de 5 anos
matrias de fsica ou qumica no nvel do Ensino Mdio, mas utilizar metodologias de
ensino que priorizem a atividade mediada naquilo que ela j pode e consegue
compreender sobre esses assuntos, a partir de suas experincias e dos outros colegas.
importante que fique entendida esta forma de ensinar ou mediar o bom ensino para as
crianas. Nesta perspectiva, o trabalho do professor ir busca de alternativas de
exercer mediaes cada vez mais aprofundadas nos processos de aprendizagens das
crianas. desta maneira que os professores, tambm, sero os mediadores do processo
de humanizao das crianas.
A criana deve apropriar-se do sentido das significaes criadas pela
humanidade para que consiga viver em sociedade. A no assimilao dos sentidos das
significaes seria o fracasso dessa criana no mundo social, no mundo cultural. Por
exemplo, se uma criana no assimila o significado das regras sociais ou condutas
sociais, lhe ser difcil a essa criana ser aceita no meio coletivo. E assim por diante, o
ser humano deve assimilar ou apropriar-se dos significados dos contedos produzidos
ao longo da histria humana para que possa viver como ser humano e criar novas
necessidades para as crianas do futuro.
Muito importante para a rea de Didtica esta viso da conscincia no seu estado
de materialismo histrico-dialtico. Esta forma de encarar a conscincia nos
proporciona elementos para desenvolver nas crianas trabalhos na escola que motivem
despertar-lhes interesses e motivos para que realmente ocorram processos de
aprendizagem. Pensar em grande escala de que a conscincia no resultado dos
caprichos genticos nos fortalece para proporcionar aos alunos elementos mediadores
muito bem elaborados, de forma que se apropriem do conhecimento e se desenvolvam
psicologicamente.
Depois de analisarmos a conscincia como produto do desenvolvimento
histrico-cultural, podemos tambm concluir que a conscincia representa o mais alto
nvel da reflexo sobre a realidade objetiva e concreta, inerente s ao ser humano, em
virtude da sua essncia histrico-cultural. A conscincia o reflexo da matria objetiva
e concreta e como tal produto da atividade do desenvolvimento humano.
135
A conscincia desde a tica materialista histrico-dialtica nos remete a que
tenhamos uma viso diferente sobre a formao da prpria criana. Se a conscincia
um produto social de cada poca, significa que no existe o tal coeficiente intelectual,
sustentado e afirmado por uma Pedagogia que se fundamenta no biologicismo.
Na perspectiva da Teoria Histrico-Cultual a conscincia determinada e no
determinante. Os problemas de aprendizagem nas crianas da Educao Escolar no so
problemas cognoscitivos nem problemas mentais, ou seja, essas dificuldades de
aprendizagens que experimentam certas crianas no esto relacionadas aos problemas
de memria ou aos problemas mentais das crianas, mas, so problemas que os
encontraremos na forma como se realiza o processo de formao do psiquismo humano.
Ento, no h uma conscincia natural, biolgica. O que existe uma
conscincia cultural, produzida ao longo da prpria historia humana. Aceitar hoje este
postulado de que a conscincia cultural, um compromisso poltico muito grande em
favor daquelas crianas que muitas vezes so catalogadas como crianas que
apresentam fatores mentais patolgicos. A conscincia tem o seu prprio
desenvolvimento histrico que est influenciado pela cultura humana. Este o
postulado que cada professor deve ter em conta quando est ensinando a uma criana.
Este deve ser o postulado de toda escola, de pais, professores etc., para que os
problemas de aprendizagem sejam resolvidos desde uma tica histrico-cultural.
4.2 Desenvolvimento do psiquismo humano (conscincia) pela atividade
Vygotski (1991) analisa o desenvolvimento humano por meio da experincia
histrica, aquela que os homens produziram ao longo da histria humana, como os
instrumentos e os signos produzidos por cada cultura e, a experincia social, aquela que
tem sido estabelecido na experincia de outra pessoa. Como exemplo, para a
experincia histrica, podemos indicar os variados instrumentos produzidos pelo
homem. Para a experincia social, podemos indicar aquelas experincias vivenciadas
por uma pessoa ou grupo de pessoas, que logo relatam ou deixam testemunhas dessas
experincias e o ser humano se apropria , tomando essas experincias individuais como
social em outras culturas. Alm destas experincias, Vigotsky (1991) indica outra
experincia, chamada de duplicada quando ele escreve:
Esta explicacin de Marx, completamente indiscutible, no significa
136
otra cosa que la obligatoria duplicacin de la experiencia en el trabajo
humano. En el movimiento de las manos y en las modificaciones del
material el trabajo repite lo que antes haba sido realizado en la mente
del trabajador, con modelos semejantes a esos mismos movimientos y
a ese mismo material. Esa experiencia duplicada, que permite al
hombre desarrollar formas de adaptacin activa, no la posee el animal.
Denominaremos convencionalmente esta nueva forma de
comportamiento experiencia duplicada (VYGOTSKI, 1991, p.46).
O que seria esta experincia duplicada? Esta experincia imanente no ser
humano, ou seja, s ele tem essa capacidade para realizar esta atividade porque tem a
conscincia desenvolvida, mais que os animais. Esta experincia consiste em que o ser
humano consegue antecipar uma situao, um objeto, antes mesmo da realizao dessa
atividade pensada e conscientizada. O animal no pode realizar esta experincia
duplicada, porque carece do fator conscincia para poder atingir o objetivo pensando na
prtica.
Esta experincia duplicada focada por Vygotski (1991) nos mostra que a criana,
antes mesmo de ir para a escola, j pode antecipar na conscincia certas atividades que
lhe ajudaro no seu processo de formao e concretizao dos conceitos cientficos.
Ento, a criana, antes mesmo de entrar na escola, j assimilou muitos contedos
de atividades que no so contedos formais, como os conceitos, a linguagem falada
etc. Muitas atividades assimiladas e apropriadas pelas crianas na sua forma mais
comum lhes servem como os propulsores para provocar novas formas de atividades no
seu processo de humanizao. Fica claro que os professores no podem afirmar de que a
criana quando est pela primeira vez na escola esto sem conhecimentos. As crianas
pela influncia desse mundo social onde esto inseridas j vo acumulando
conhecimento. No um conhecimento cientifico, mas um conhecimento comum que
lhe crucial, importante para a sua prpria humanizao. Isto nos mostra de que a
criana no igual ao animal, que j vem todo programado geneticamente,
biologicamente para viver no mundo. A criana deve assimilar com ajuda do adulto ou
de outra pessoa esse mundo humano. Sem a mediao do outro, a criana, com certeza,
deixaria de existir.
Por isso, no ser humano esta experincia duplicada lhe inerente e lhe serve
para apropriar-se da atividade em relao natureza como em relao ao outro ser
humano.
137
A atividade chamada de experincia duplicada por Vygotski (1991) foi
enunciada por Marx (1999) para diferenciar a atividade humana da atividade animal,
nestes termos:
A aranha realiza operaes que lembram o tecelo, e as caixas
suspensas que abelhas constroem envergonham o trabalho de muitos
arquitetos. Mas at mesmo o pior dos arquitetos difere de incio da
mais hbil das abelhas, pelo fato de que antes de fazer uma caixa de
madeira, ele j a construiu mentalmente. No final do processo do
trabalho, ele obtm um resultado que j existia em sua mente antes de
comear a construo. O arquiteto no s modifica a forma que foi
dada pela natureza, como tambm realiza um plano que lhe prprio,
definindo os meios, e o carter da atividade aos quais ele deve
subordinar sua vontade (MARX, 1999, p. 211-212).
Verificamos que h uma diferenciao bsica entre o ser humano, que tem uma
inteligncia abstrata, devido a essa capacidade de entender a atividade semitica e, o
animal, que detm uma inteligncia concreta, que lhe garante uma capacidade mnima
para resolver problemas pertinentes sua realidade momentnea.
Surge no cenrio da vida humana o trabalho, como atividade terica e prtica,
pelo qual o ser humano produz o mundo e a si mesmo. O trabalho uma ao
transformadora da realidade humana, porque transforma o psiquismo humano e seu
comportamento ao longo do processo do desenvolvimento humano. Fica claro que o
animal no realiza o trabalho, porque no produz a sua existncia, mas, apenas, no
limite da existncia, s conserva essa existncia. O animal no recria a sua prpria
existncia.
Aranha & Martins (1993) ressaltam que:
O trabalho humano a ao dirigida por finalidades conscientes, a
resposta aos desafios da natureza na luta pela sobrevivncia. Ao
reproduzir tcnicas que outros homens j usaram e ao inventar outras
novas, a ao humana se torna fonte de ideias e ao mesmo tempo uma
experincia propriamente dita. O trabalho ao mesmo tempo em que
transforma a natureza, adaptando-a as necessidades humanas, altera o
prprio homem, desenvolvendo suas faculdades, isto significa que
pelo trabalho o homem se autoreproduz. O homem muda sua maneira
pelas quais age sobre o mundo, estabelecendo relaes tambm
mutveis, que por sua vez alteram sua maneira de perceber, de pensar
e de sentir (ARANHA & MARTINS, 1993, p.5)
O trabalho humano resultado de atividades conscientes humanas, por meio do
138
qual o ser humano realiza constantemente na sua relao com a prpria natureza e com
outros homens. S o ser humano, pela conscincia desenvolvida que tem, reproduz
tcnicas que o ajudaro a transformar a si prprio, criando necessidades como forma de
desenvolvimento. As necessidades que surgem como resultados das ideias da ao da
atividade humana fazem com que o ser humano seja um ser em constante
desenvolvimento. O psiquismo humano adquire capacidade de produzir e reproduzir
formas objetivas da formao da totalidade do ser humano. Este conceito de trabalho
nos levar a analisar a questo do desenvolvimento cultural como a expresso superior
da ao da conscincia sobre o mundo concreto e real.
Agora, precisamos avanar mais na nossa anlise sobre os demais pressupostos
tericos de escola vigotskyana, no basta s compreender que a conscincia um
produto cultural e j acharmos que o problema est resolvido. Indicar a conscincia
como resultado da ao histrico-cultural nos est mostrando de que maneira o
materialismo histrico-dialtico, defendido por todos os integrantes da escola de
Vigotsky, representa a sada para muitos problemas concebidos como problemas
biolgicos ou naturais na vida escolar.
Leontiev (1978) indica que o trabalho uma ao humana que surge quando o
ser humano chega a um ponto to alto de desenvolvimento do seu psiquismo. Neste
sentido, o animal no realiza o trabalho, porque no tem um psiquismo desenvolvido.
O animal no realiza o que o trabalho, s consegue realizar certas aes como
resposta aos estmulos que ele recebe ou experimenta. Essas aes que o animal realiza
esto s no plano instintivo, no no plano psquico, porque no tm esse plano.
Por isso, Leontiev (1978) diz que:
O trabalho um processo que liga o homem natureza, o processo de
ao do homem sobre a natureza. [...] O trabalho , portanto, desde a
sua origem, um processo mediatizado simultaneamente pelo
instrumento (em sentido lato) e pela sociedade (LEONTIEV, 1978,
p.74).
O trabalho humano se caracteriza por duas significaes: Primeiramente, ele
relaciona o homem natureza. Mas, no uma relao superficial, e sim, uma relao
onde o ser humano transforma a natureza graas ao desenvolvimento de seu psiquismo
e, dialeticamente, quando transforma a natureza, tambm, o prprio ser humano se
transforma. Neste sentido podemos afirmar que a prpria natureza humanizante, ou
139
seja, todos os objetos naturais so humanizantes. Quando falamos da transformao no
estamos falando num sentido quantitativo, seno qualitativo. O ser humano se objetiva
na natureza como o ser mais desenvolvido, porque a prpria natureza uma mediao
para o seu desenvolvimento histrico-cultural. Segundo, o trabalho uma atividade que
se concretiza na coletividade humana, no social. O trabalho, como coletivo, se mediatiza
por meio da prpria comunicao que faz que os indivduos se relacionem entre si para
superar o indivduo em si para uma forma de individuo para si. Ento, o trabalho, por
ser social e histrico, transforma qualitativamente o ser humano.
Agora, para compreender a teoria de Vigotsky, devemos falar sobre a atividade
mediada por meio de signos e ferramentas.
Como o trabalho coletivo, social, o homem cria instrumentos ou ferramentas e
signos como mediadores para transformar a natureza e para transformarem-se a si
prprios.
Vygotski (1996) desenvolve a teoria da atividade mediadora usando o conceito
de trabalho que Marx (1999 e 2008) desenvolveu para mostrar que o trabalho em si o
responsvel do processo de desenvolvimento humano.
Vygotski (1996) afirma o seguinte sobre signos e ferramentas, desta forma:
Por medio de la herramienta el hombre influye sobre el objeto de su
actividad la herramienta est dirigida hacia fuera: debe provocar unos
u otros cambios en el objeto. Es el medio de la actividad exterior del
hombre, orientado a modificar la naturaleza. El signo no modifica
nada en el objeto de la operacin sicolgica: es el medio del que se
vale el hombre para influir psicolgicamente, bien en su propia
conducta, bien en la de los dems; es un medio para su actividad
interior, dirigida a dominar el propio ser humano: el signo est
orientado hacia dentro (VYGOTSKI, 1996, p.94)
A ferramenta em si mesma o resultado da prpria atividade humana
concretizada no trabalho. Por meio da ferramenta, o ser humano modifica a prpria
natureza e ele prprio se modifica. Significa que a ferramenta mediadora do prprio
processo de transformao da natureza e do ser humano.
O signo tem essa funo de modificar o ser humano na sua prpria essncia. O
signo atua no interior do ser humano, possibilitando a superao da contradio que se
d no prprio ser humano. O signo, como atividade mediadora, possibilita essa
revoluo intrnseca no prprio ser humano.
140
Neste sentido muito importante compreender de que o signo modifica a prpria
conscincia humana. Modificando essa conscincia, o ser humano comea a superar o
seu estado biolgico para chegar ao estado do processo de humanizao. A modificao
da conscincia pelos signos nos indica de que:
El signo opera inicialmente en la conducta infantil como un medio de
relacin social, como una funcin interpsquica. Posteriormente se
convierte en un medio por el que el nio controla su conducta de
modo de que el signo simplemente transfiere al interior de la
personalidad la actitud social hacia el sujeto (VYGOTSKI & LURIA,
2007, p.51)
O signo uma funo interpsquica, j que modifica o interior do ser humano e
porque atua como funo mediadora no desenvolvimento histrico-cultural da prpria
conduta do ser humano.
Importante indicar que para Vygotski (2006) a linguagem, tanto interior, escrita
e falada, constitui um dos maiores signos que modifica interiormente o ser humano no
seu processo de desenvolvimento.
Vygotski (1996) indica de que a criana no seu processo de desenvolvimento das
funes psquicas superiores vai ampliando o seu vocabulrio quando vai
compreendendo e apropriando-se do significado dos signos que ela adquire na mediao
do adulto ou das ferramentas mediadoras. Nessa mediao a criana vai descobrindo a
funo simblica da linguagem que lhe permite ao longo desse processo de apropriao
e assimilao compreender a funcionalidade dos signos e suas relaes com o
significado cultural.
Tambm, Vygotski (1993, p. 21) sobre a linguagem como signo afirma: El
lenguaje es ante todo un medio de comunicacin social, un medio de expresin y
comprensin.
Agora, Leontiev (1978), tambm, analisa a questo do instrumento desta forma:
O instrumento , portanto, um objecto com o qual se realiza uma
aco de trabalho, operaes de trabalho. [...] O instrumento no
apenas um objecto de forma particular, de propriedades fsicas
feterminadas; tambm um objecto social, isto , tendo um certo
modo de emprego, elaborado socialmente no decurso do trabalho
colectivo e atribuido a ele. [...] O instrumento um objecto social, o
produto de uma prtica social, de uma experincia social de trabalho
(LEONTIEV, 1978, p. 82-83)
141
A criao de instrumentos e seu uso s so possveis porque o ser humano tem
essa capacidade psquica de fabricar e dar uma funo social, humana ao instrumento
criado para ajudar na mediao da transformao da natureza e a si prprio como ser
humano.
A criao de instrumentos pelo ser humano no para fazer uma operao como
a realizam os animais. Os animais tambm usam instrumentos, mas, eles no criam os
instrumentos, no tem uma funo social e no so criados no social, na forma coletiva.
O ser humano se humaniza por meio do domnio do instrumento. bom
ressaltar neste ponto de que o objeto em si no transmite nada para o ser humano, apesar
de que o objeto tem essa capacidade de reflexo na natureza. Mas, devemos ter cuidado
com esta afirmao, porque ao afirmarmos que a matria tem reflexo, estamos
indicando que cada matria em si tem essa capacidade objetiva de estar na natureza. Por
exemplo, toda a matria cognoscvel, porque no uma inveno da conscincia
humana. Cada objeto material real e concreto, porm, apesar da existncia objetiva,
concreta e real na natureza, no significa que esse objeto material possa se comunicar
com o ser humano. S o ser humano tem essa capacidade de apropriar-se do objeto na
sua forma racional e objetiva, graas ao seu psiquismo.
O instrumento como produto de uma prtica social, de uma determinada poca e
contexto histrico e cultural, no tem s um significado de pertena ao passado de uma
gerao precedente. O instrumento como social indica que esses instrumentos carregam
a funo social determinada por uma coletividade para uma finalidade nica e
exclusiva. O objeto em si no tem sentido nem se objetiva no ser humano porque no
tem conscincia em si. A objetivao parte do ser humano, por isso, ele precisa
assimilar e internalizar a funo social que possui cada objeto. Por exemplo, se um
sujeito de uma tribo indgena nunca assimilou ou, captou o significado do uso de um
computador, ele usaria esse computador de acordo com a funo social que ele lhe
determina. Ele usaria como cadeira, como mesa, como altar, como uma manifestao
dos deuses, etc. Por isso, o objeto em si, apesar de ter essa capacidade de reflexo, no
significa que tenha a capacidade de transmitir essa funo social. S o ser humano pelo
seu psiquismo altamente desenvolvido pode assimilar e internalizar a funo social que
tem cada objeto.
142
4.3 A cultura como atividade mediadora para desenvolvimento do psiquismo
humano
Vygotsky (1989) se prope a demonstrar que a formao do psiquismo humano,
as funes psquicas superiores, obedecem a uma estreita relao de produo humana
como histrica e cultural. Aqui estaremos introduzindo a importncia do papel da
mediao scio-cultural como determinante do desenvolvimento do psiquismo humano.
Vygotsky (1989) afirma a importncia do papel da mediao social na seguinte citao:
Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criana, suas
atividades adquirem um significado prprio num sistema de
comportamento social e, sendo dirigidas a objetivos definidos, so
refratadas atravs do prisma do ambiente da criana. O caminho do
objeto at a criana e desta at o objeto passa atravs de outra pessoa.
Essa estrutura humana complexa o produto de um processo de
desenvolvimento profundamente enraizado nas ligaes entre histria
individual e histria social (VYGOTSKY, 1989, p. 33).
Nesta citao Vygotsky (1989) enfatiza que o desenvolvimento do ser humano,
especificamente o desenvolvimento do seu psiquismo resultado de sua origem social,
pois ele entende que as somas das vivncias ou processos sociais que so internalizados,
apropriados, pelo ser humano por meio das funes sociais, so formas culturais que o
homem produziu para desenvolver o seu psiquismo.
A cultura o resultado dessa relao dialtica entre a histria individual e a
histria social. Esta relao dialtica bastante importante para compreender-mos que a
cultura humana tambm tem uma funo dialtica no desenvolvimento do psiquismo
humano.
Compreender desta maneira a formao da cultura muito importante para a
escola porque ela o espao ideal onde se vivencia a cultura humana, onde a criana
tem uma relao dialtica com todas as atividades que fortaleceram o desenvolvimento
do ser humano.
Mello et al. (2010) perguntam-se:
Mas o que significa considerar o homem e o conhecimento como
essencialmente sociais? Significa que o homem no pode elaborar o
seu conhecimento individual sem assimilar o conhecimento
historicamente produzido e socialmente existente e disponvel.
143
O social, o cultural e a histria so conceitos chave para entendermos
a relao entre a natureza e a cultura e como as diferentes linguagens
influenciam os modos como vivemos (MELLO, et al.2010, p. 13).
No h conhecimento fora dessa relao dialtica entre o homem e o que foi
elaborado socialmente ao longo da histria humana. O prprio conhecimento acontece
dentro do seio de uma coletividade e todas as funes psquicas superiores so
elaboradas pela influncia da cultura. Os autores pem como conceito chave o social, o
cultural e a histria como fundamente da humanizao do ser humano. Esta passagem
nos indica que o animal no consegue ter uma transformao qualitativa porque no est
inserido dentro de uma cultura, de uma histria e do social.
A forma individual de existncia no proporciona ao ser humano essa
capacidade de humanizar-se. O processo de humanizao passa necessariamente por
apropriar-se de todo o que foi produzido pela humanidade, produtos que esto inseridos
dentro da cultura humana.
Por isso, a escola esse espao exclusivo onde o pequeno ser humano, a criana,
tem o privilgio de entrar em contato com essa cultura milenar dos homens que mostra a
experincia acumulada ao longo do processo de formao do ser humano. A escola deve
propiciar elementos instigantes para despertar a curiosidade das crianas para apropriarse do conhecimento cultural.
A socializao humana resultado da apropriao da cultura. A cultura, como
inveno humana por meio do trabalho, socializa o ser humano, oferecendo-lhe as
ferramentas que o ajudaro a desenvolver o seu prprio psiquismo humano.
Diz Mello et al (2010):
O homem um ser social, no entanto, para se tornar humano no lhe
bastam as estruturas biolgicas. Ele precisa estar imerso em uma
cultura, em uma sociedade (MELLO et al. 2010, p.12).
O ser humano no se humaniza s nessa individualidade em si, primeiro porque
o ser humano no s uma carga gentica, uma expresso biolgica sua existncia
humana. O ser humano no recebe pela herana gentica as condies e os motivos
principais para que ele possa viver e realizar-se como um verdadeiro ser humano. H
esse processo de humanizao, da passagem da forma homindeo para a forma
144
humanizante, porque o ser humano est inserido dentro de uma cultura e de uma
sociedade.
Vygotski (1997) tambm se pronuncia sobre o social desta forma:
La palabra social, aplicada a nuestro tema de estudio tiene un
importante significado. Ante todo, en el ms amplio sentido de la
palabra, sta designa el hecho de que todo lo cultural es social. La
cultura es precisamente un producto de la vida social y de la actividad
social del hombre, y por eso el solo planteamiento del problema del
desarrollo cultural ya nos introduce directamente en el plano social del
desarrollo. []Podramos designar el resultado fundamental al que
nos lleva la historia del desarrollo cultural del nio como la
sociognesis de las formas superiores de la conducta (VYGOTSKI,
1997, p. 181)
A cultura o resultado dessa relao dialtica que acontece entre os homens e a
prpria natureza. No pelo fato de estar em sociedade que o ser humano produz
cultura. Essa simples interao social no lhe garante o exerccio da sua generacidade
para si. Isto significa que apenas estar em uma sociedade no lhe garante essa
socializao. O ser humano precisa apropriar-se da cultura produzida nesta sociedade
para que realmente haja esse processo de socializao da cultura. A cultura produzida
pelos seres humanos. E apropriar-se dela tem o significado de que a prpria existncia
humana se realiza no dia-a-dia, quando ele busca sempre a forma de humanizar-se nas
atividades que ele realiza constantemente. Mas, para que seja o ser humano parte das
produes sociais preciso que a sociedade proporcione as condies necessrias para
que ele possa se inserir e participar ativamente do processo de apropriao e construo
da nova sociedade.
Da a importncia de relacionar a cultura questo social. importante entender
esta relao num contexto escolar. O fato da criana frequentar a escola, ou seja, ter
acesso a ela, no lhe garante as formas de apropriao da cultura humana de forma
aprofundada para que ela possa ter as ferramentas de transformao de sua condio
social. Se a escola no tem as condies materiais, fsicas e humanas adequadas para o
desenvolvimento psquico das crianas preciso analisar o porqu no so dadas as
condies fundamentais e modific-las. Todas as crianas precisam apropriar-se da
cultura produzida pela humanidade e, a escola o local em que a apropriao pode e
deve acontecer, para que elas sejam ativas nas transformaes da prpria sociedade em
145
quem vivem. Isso significa que as crianas devem ter essas condies necessrias para
que elas possam apropriar-se e objetivar-se no seu processo de humanizao. Se a
escola no possui as condies materiais e humanas para concretizar a humanizao das
crianas, ento, est colaborando para a efetivao de posturas alienantes das crianas
com suas prprias vidas.
Da o carter revolucionrio que Vygotski (1997) d a educao neste sentido:
De manera que la conclusin fundamental que puede extraerse de la
historia del desarrollo cultural del nio con respecto a su educacin
consiste en lo siguiente: a la educacin le toca subir una cuesta all
donde anteriormente vea un camino llano, le toca dar un salto all
donde antes, al parecer, poda limitarse a dar un salto (VYGOTSKI,
1997, p. 185)
A educao o pressuposto indispensvel e importante para que o ser humano
consiga a sua humanizao a partir do contato com as formas culturais desenvolvidas
pelo ser humano.
Mas, que tipo de educao seria esta? Estamos falando de uma educao na qual
o ser humano esteja no centro do processo de ensino. A educao faz com que o ser
humano consiga dar um salto qualitativo rumo sua perfeita humanizao. Mas, esta
educao deve ser uma educao que d as condies adequadas para que o homem
consiga esse ensino totalizante, humanizante. A verdadeira educao deve propiciar e
dar as coordenadas efetivas para que o ser humano possa passar do estado natural a um
estado cultural.
Por isso, Vygotski (1996) proclama a importncia da cultura para o
desenvolvimento do psiquismo humano desta forma:
La cultura origina formas especiales de conducta, modifica la
actividad de las funciones psquicas, edifica nuevos niveles em el
sistema del comportamiento humano em desarrollo. [] En el proceso
del desarrollo histrico, el hombre social modifica los modos y
procedimientos de su conducta, transforma sus inclinaciones naturales
y funciones, elabora y crea nuevas formas de comportamiento
especficamente culturales (VYGOTSKI, 1996, p. 34)
S o desenvolvimento biolgico, orgnico, do ser humano no lhe garante as
formas do desenvolvimento do psiquismo humano.
146
Numa perspectiva pedaggica, o significado desta passagem tem o seu valor
muito grande, porque nos mostra a importncia de ter em conta que a criana no se
humaniza e no se apropria do cultural pela forma da herana gentica. O
desenvolvimento orgnico no basta para indicar que a criana est preparada para viver
em sociedade. Nesse processo de desenvolvimento humano, o cultural, o social e o
histrico so importantes para a formao da conduta humana. Conduta no referida ao
tico e ao moral, seno conduta num sentido de aprimorar a sua natureza humana
atravs da cultura onde o ser humano, neste caso a criana, entra em contato com as
formas mais avanadas do desenvolvimento humano.
Outra questo levantada que no o fato de entrar diretamente em contato com
a cultura que o ser humano j se apropria do cultural e histrico. Apropriar-se no uma
questo mgica. Modificar a conduta natural, o aspecto biolgico, no significa que se
faz com o simples contato com a cultura. No. preciso dar condies especficas e
motivaes as crianas para que elas possam se apropriar dessa produo humana.
necessrio que a criana internalize esses aspectos culturais por meio da mediao do
adulto e das atividades mediadoras. Se fosse uma questo mgica essa apropriao
cultural, no teria sentido ter a escola, como espao da mediao e da apropriao do
conhecimento humano.
Na escola a criana se apropria da cultura. Mas, no s isso que acontece na
escola. Ao mesmo tempo em que h essa apropriao, a criana elabora e cria outras
formas de contedo cultural. Nesta perspectiva notamos que o velho superado pelo
novo. A escola no deve ser um espao onde h uma apropriao passiva da cultura
produzida historicamente, mas, deve ser um espao onde so criadas novas
necessidades, novas formas de expresso cultural, porque o desenvolvimento do ser
humano nunca ter um fim.
Vygotski (1996) diferencia o desenvolvimento desde o nivel do tipo biolgico e
o desenvolvimento cultural da criana, quando ele escreve o seguinte:
Si, como decamos antes, el desarrollo cultural de la humanidad tuvo
lugar sin que cambiase sustancialmente el tipo biolgico del hombre,
en un perodo de estancamiento relativo de los procesos evolutivos y
cuando la especie biolgica del Homo Sapiens permaneca ms o
menos constante, por su parte, el desarrollo cultural del nio se
caracteriza, ante todo, por producirse mientras se dan cambios
dinmicos de carcter orgnico. El desarrollo cultural se superpone a
147
los procesos de crecimiento, maduracin y desarrollo orgnico del
nio, formando con l un todo (VYGOTSKI, 1996, p. 36).
Marx (1999) j indicava que quando o ser humano se desenvolvia culturalmente,
ele tambm se desenvolvia biologicamente. Todas as partes externas do corpo humano,
como as mos, os ps etc., comeavam a modificar-se e a tomar atitudes humanas por
meio da atividade mais importante que realizavam que o trabalho. O trabalho cria o
ser humano porque modifica as suas estruturas biolgicas em funo do trabalho ou o
tipo de atividade que deve realizar no seu desenvolvimento. O trabalho modifica
tambm o seu psiquismo e o desenvolvimento do seu psiquismo lhe proporciona as
capacidades culturais e sociais para que o ser humano possa existir no mundo material.
importante destacar que o desenvolvimento cultural se superpe aos processos
de crescimento e maturao da criana. O desenvolvimento cultural no acompanha o
desenvolvimento biolgico da criana, isto porque, para que a criana se aproprie dos
contedos culturais, no precisa possuir uma idade determinada. comum nas escolas
pensar que a maturao do psiquismo da criana se desenvolve paralelo ao crescimento
biolgico. Significa que no s o aspecto biolgico que determina a maturao e
crescimento da criana. Tambm modifica, mas, no o aspecto biolgico o
determinante para que a criana possa desenvolver as suas funes psquicas superiores.
O lado histrico-cultural fundamental nesse desenvolvimento. No estamos indicando
que o biolgico no seja importante para o desenvolvimento do psiquismo humano,
claro que importante, mas, afirmar como Piaget (1994) que a criana tem etapas de
desenvolvimento psquico, no possvel na Teoria Histrico-Cultural.
4.4
Apropriao e objetivao como forma do desenvolvimento do psiquismo
humano
Apropriao e objetivao, muitas vezes no mbito escolar, ficam como uma
expresso bonita, sem ter um sentido filosfico, antropolgico e psicolgico. Assim, por
exemplo, a apropriao fica reduzida categoria de possuir algo, de ter algo. E
objetivao entendida como dar sentido ao objeto em si mesmo. Mas, Marx (1985)
escreve que o ser humano ao transformar a natureza, ele prprio tambm se transforma,
apropriando-se dessa produo e objetivando-se nos produtos culturais elaborados por
ele.
148
Mas, o que seria realmente esta apropriao e esta objetivao? Ser que o fato
de possuir algo e de reconhecer nesse algo as marcas do humano j nos garantem esses
processos como forma de humanizao? Para a Teoria Histrico-Cultural a resposta ser
no. Apropriar-se do objeto produzido tem esse significado de captar as funes sociais
que o homem d aos objetos. Cada objeto produzido dentro de uma determinada cultura
possui essa funo social. E o ser humano, nesse processo da passagem da hominizao
para a humanizao se apropria dessa funo social que tem cada objeto. Apropriar-se
dessa funo social lhe permite ao ser humano continuar com o processo de
humanizao desde a perspectiva dialtica da produo cultural.
A objetivao um processo pelo qual o ser humano se projeta como um
indivduo para si, quer dizer, a objetivao mostra de que maneira o ser humano se faz
presente e atuante nas coisas por ele criado. Duarte (1996), se expressa desta forma
sobre a questo do indivduo para-si:
Todo o ser humano um indivduo, isto , cada ser humano se
apropria das objetivaes do gnero humano em circunstancias
singulares e se objetiva tambm em circunstancias singulares,
constituindo, assim, sua individualidade. A formao da
individualidade tem incio desde os primeiros momentos da vida de
cada ser humano e tem continuidade ao longo de toda a vida. Pode-se
dizer que a formao da individualidade comea no mbito do em-si,
ou seja, sem que haja uma relao consciente para com essa
individualidade (DUARTE, 1996, p. 27).
A individualidade no significa que o ser humano vive fora do mbito do social.
J explicamos que o ser humano social e como tal vive em sociedade onde em relao
dialtica com a natureza e com os outros homens, ele prprio, como um indivduo parasi, transforma a prpria natureza e ele tambm se transforma. A objetivao significa
esse ser-no-mundo como um indivduo nico e inigualvel que se apropria da cultura
produzida no mundo. A individualidade para-si rompe com o legado biolgico do ser
humano, ou seja, essa individualidade para-si no est ligada a questo da espcie
humana.
Duarte (1996) destaca a formao da individualidade para-si desde o nascimento
do ser humano. Vejamos que o exerccio da individualidade para-si no elimina o
social. Quando Duarte (1996) destaca o mbito do em-si, est afirmando que o ser
humano, desde o primeiro momento da sua existncia, no tem conhecimento das coisas
149
que ele realiza. Ele atua inconscientemente com os objetos e outras formas culturais.
Da que a linguagem ser a primeira forma da individualidade em-si. A criana vai
incorporando a linguagem dos adultos, da cultura onde est inserida, sem pensar nesse
ato. O problema da individualidade em-si ficar nesse estgio, na forma alienada
durante toda a vida. nica forma de romper com essa individualidade em-si por meio
da reflexo e assumindo conscientemente as coisas da cultura humana.
Devemos analisar esta questo da individualidade em-si no mbito escolar.
Quando o sistema escolar no propicia s crianas condies adequadas para sair dessa
individualidade em-si, est reforando a alienao dele no mbito da sociedade. A
escola deve propiciar as condies adequadas e necessrias para que essa criana
comece a ter condutas conscientes e reflexivas. Hoje, a escola continua defendendo essa
alienao para defender o status quo da sociedade em si mesma.
Duarte (1996) destaca a formao do indivduo para-si, desta forma:
A formao do indivduo para-si a formao do indivduo como
algum que faz da sua vida uma relao consciente com o gnero
humano. Essa relao se concretiza atravs dos processos de
objetivao e apropriao que, na formao do indivduo para-si,
tornam-se objeto de constante questionamento, de constante
desfetichizao. A formao do indivduo para-si a formao de um
posicionamento sobre o carter humanizador ou alienador dos
contedos e das formas de suas atividades objetivadoras, o que
implica a formao de igual posicionamento em relao aos contedos
das objetivaes das quais ele se apropria e das formas pelas quais se
realiza essa apropriao (DUARTE, 1996, p. 29-30).
O ser humano quando se objetiva no produto da cultura e se apropria desse
mesmo produto em forma consciente e reflexivo, est humanizando-se, ou seja, est
passando do indivduo em-si para a forma do indivduo para-si. Por isso, destacamos
sempre que a escola deve ser o mbito onde o ser humano encontre as condies do
desenvolvimento da sua prpria humanizao, humanizao esta, que passa por uma
atitude reflexiva constante e por uma atitude de desfetichizao. Se a escola no
propicia os caminhos da humanizao do ser humano, ela est doravante apoiando a
alienao.
Para a Teoria Histrico-Cultural, o ser humano deve apropriar-se e objetivar-se
na cultura produzida pelo ser humano ao longo da histria humana. Da que Luria
(1979), afirma o seguinte sobre esse ponto:
150
Diferentemente do animal, cujo comportamento tem apenas duas
fontes -1) os programas hereditrios de comportamento, subjacentes
no gentipo e 2) os resultado da experincia individual-, a atividade
consciente do homem possui ainda uma terceira fonte: a grande
maioria dos conhecimentos e habilidades do homem se forma por
meio da assimilao da experincia de toda a humanidade20,
acumulada no processo da histria social e transmissvel no processo
de aprendizagem.[...] A grande maioria de conhecimentos, habilidades
e procedimentos do comportamento de que dispe o homem no so
o resultado de sua experincia prpria mas adquiridos pela
assimilao da experincia histrico-social de geraes. Este trao
diferencia radicalmente a atividade consciente do homem do
comportamento animal (LURIA, 1979, p.73).
Nos dois primeiros pontos, notamos que a atitude do comportamento animal no
passa de atitudes biolgicas. Luria (1979) no nega esses caracteres biolgicos no ser
humano. S que esses caracteres biolgicos no so as condies determinantes para
que o ser humano se humanize durante a sua existncia. Da que Luria (1979) inclui um
terceiro elemento, a assimilao pelo ser humano de todas as coisas produzidas no
desenvolvimento
histrico-social
do
desenvolvimento
humano.
Todos
os
conhecimentos produzidos so transmissveis pela aprendizagem dentro de um
contexto, que hoje, situaramos no s no mbito escolar. O que o ser humano agora,
o resultado dessa assimilao produzida ao longo da histria-social da humanidade.
Tudo o que no ser humano no lhe vem da experincia individual ou particular, mas,
ele um ser humano porque as habilidades, os comportamentos e os conhecimentos
foram produzidos no decurso da formao e desenvolvimento do prprio ser humano
em sociedade. Por isso, insistimos que a escola o espao onde so transmitidos, por
meio da mediao do adulto, essas experincias e esses conhecimentos produzidos e
acumulados pelo ser humano. Esses variados conhecimentos produzidos e acumulados
na cultura so os que transformam o psiquismo do ser humano. A formao do
psiquismo humano no o resultado da individualidade em si, mas, resultado dessa
relao dialtica com os produtos da cultura humana, formada desde antigamente at
hoje. O conhecimento produzido pela humanidade e que est vivo na sociedade s pode
ser apropriado por meio do processo de aprendizagem no mbito da escola.
20
Em itlico no original
151
Luria (1979) no nega a importncia do carter biolgico no ser humano, mas o
biolgico no o elemento determinante para o desenvolvimento do psiquismo
humano, j que apenas proporcionaria uma adaptao ao meio ambiente onde
estivssemos inseridos. Para Luria (1979) a adaptao s um carter importante para a
vida animal.
Leontiev (1978) diferencia esse processo da seguinte forma:
A diferena principal entre os processos de adaptao em sentido
prprio e os de apropriao reside no fato de o processo de adaptao
biolgica transformar as propriedades e faculdades especficas do
organismo bem como o seu comportamento da espcie. O processo de
assimilao ou apropriao diferente: o seu resultado a
reproduo, pelo individuo, das aptides e funes humanas,
historicamente formadas. Pode-se dizer que o processo pelo qual o
homem atinge no seu desenvolvimento ontogentico o que atingido
no animal, pela hereditariedade, isto , a encarnao do
desenvolvimento da espcie (LEONTIEV, 1978, p. 169).
importante para a educao escolar tratar em diferenciar e problematizar o
processo de adaptao e de reproduo nos animais do processo de apropriao do
conhecimento pelo ser humano. Como j indicamos vrias vezes, o processo de
adaptao que se verifica no animal no passa de um processo biolgico. Este processo
biolgico s ajuda o animal a adaptar-se ao meio ambiente. O processo de adaptao
propicia ao animal as caractersticas particulares, individuais, para que ele consiga
sobreviver na natureza. Esta adaptao instintiva, no reflexiva nem produz formas
culturais para que os outros animais possam apropriar-se. O animal, pelo processo de
adaptao, no transforma nada na sua essncia, na sua substancialidade. Alguns
animais tm a capacidade de mudar de cor etc., mas, tudo isso acontece num plano
biolgico. O animal recebe pela hereditariedade as formas bsicas para a sua
sobrevivncia na prpria natureza.
J no ser humano, esse processo de assimilao ou apropriao tem a finalidade
de reproduo. O processo de reproduo importante para o ser humano como forma
de humanizao. por meio da reproduo do conhecimento e dos produtos da cultura
que o ser humano consegue existir no mundo. Parafraseando aos existencialistas no uso
do termo o ser humano est condenado, diramos que o ser humano est condenado
152
a reproduzir o conhecimento produzido ao longo da histria do seu desenvolvimento
psquico.
S o ser humano tem essa capacidade de produzir, acumular e transmitir os
produtos culturais e sociais na forma de conhecimento, por isso, desde o nascimento da
criana, o comportamento sofre cmbios qualitativos pela influncia do mbito cultural
e social.
Leontiev (2004) faz uma diferenciao entre apropriao e adaptao, da
seguinte forma:
[...] a adaptao biolgica um processo de modificao das
faculdades e caracteres especficos do sujeito e do seu comportamento
inato, modificao provocada pelas exigncias do meio. A apropriao
um processo que tem como resultado a reproduo pelo indivduo de
caracteres, faculdades e modos de comportamento humanos formados
historicamente. Por outros termos, o processo graas ao qual se
produz na criana o que, no animal, devido hereditariedade: a
transmisso ao indivduo das aquisies do desenvolvimento da
espcie (LEONTIEV, 2004, p.340).
O que conclumos com isto? Que o conhecimento, as habilidades, as formas de
procedimentos comportamentais que possui o ser humano no so s resultados da sua
experincia individual; no so s cargas genticas que esto nele. Todas essas formas
foram apropriadas e assimiladas da experincia histrico-cultural desenvolvida ao longo
da historia humana. Da a importncia do ensino para que a criana possa apropria-se e
internalizar essas experincias histrico-culturais.
Luria (1979) destaca tambm essa diferenciao entre a apropriao e
assimilao entre o ser humano e o animal, desta forma:
Os animais no tm nenhuma possibilidade de assimilao da
experincia alheia e de um indivduo transmiti-la assimilada a outro
indivduo, e muito menos de transmitir a experincia formada em
varias geraes. Os fenmenos que se descrevem como imitao
ocupam lugar relativamente limitado na formao do comportamento
dos animais, sendo antes uma forma de transmisso prtica direta da
prpria experincia que uma transmisso de informao acumulada na
histria de vrias geraes, que lembre o mnimo sequer a assimilao
da experincia material ou intelectual das geraes passadas,
assimilao essa que caracteriza a histria social do homem (LURIA,
1979, p.69).
153
O animal como no tem essa capacidade psquica de internalizar a experincia
histrico-social da sua prpria espcie. Primeiro, porque o animal na faz histria, no
escreve a sua histria. O ser humano tem conhecimento emprico e racional dos animais
porque tem sido o ser humano quem pesquisou e foi raiz da histria para compreender
o reino da espcie animal. Segundo porque o animal no trabalha, no produz
atividades, no usa os seus membros exteriores para produzir a cultura.
J o ser humano tem essa capacidade de assimilar, internalizar todas as
experincias histrico-sociais. O ser humano cria os meios necessrios para sua
existncia, por meio da sua atividade, neste caso, o seu trabalho. Estes meios criados
como os instrumentos no so realizaes particulares, so realizaes que se do ou se
deram na coletividade, na prpria cultura social humana.
Piaget (1994 e 1998) nos indica que a sua teoria interacionista est pautada no
modelo de biologizao do conhecimento.
Azenha (1993) nos mostra que o interacionismo-construtivista de Piaget
biologicista:
[...] a concepo do funcionamento cognitivo em Piaget a aplicao
no campo psicolgico de um principio biolgico mais geral da relao
de qualquer ser vivo em interao com o ambiente. Ser bem sucedido
na perspectiva biolgica implica a possibilidade de conseguir um
ponto de equilbrio entre as necessidades biolgicas fundamentais
sobrevivncia e as agresses ou restries colocadas pelo meio
satisfao dessas mesmas necessidades (AZENHA, 1993, p.24).
Para Piaget (1975c) a construo do conhecimento comea a partir da interao
do sujeito com o objeto e, durante esse processo de interao, so elaboradas e
reelaboradas determinadas estruturas cognitivas, medida que o conhecimento vai
sendo elaborado. Resumidamente, a conscincia que determina o objeto, o prprio
conhecimento do ser humano.
Piaget (1975c) explicita esta interao quando afirma:
(...) a interao do sujeito e do objeto tal, dada a interdependncia
da assimilao e da acomodao, que se torna impossvel conceber um
dos termos sem o outro. (PIAGET, 1975c, p. 388).
154
Na interao com o meio, o ser humano vai adquirindo uma assimilao do
objeto. Esta assimilao significa que o objeto esta sendo conhecido e apreendido pelo
sujeito-assimilador. interessante destacar que o sujeito assimilador o que torna o
objeto cognoscvel nessa interao.
pela assimilao e acomodao que o sujeito cognoscente vai adquirindo
conhecimento racional e emprico.
Piaget (1975a) destaca este surgimento do conhecimento quando escreve:
A inteligncia no principia, pois, pelo conhecimento do eu nem pelo
das coisas como tais, mas pelo da sua interao; e orientando-se
simultaneamente para os dois plos dessa interao que a inteligncia
organiza o mundo, organizando a si prpria. (PIAGET, 1975a, p.
330).
O conhecimento no est no prprio sujeito nem no objeto, mas uma
consequncia direta das continuas e profundas interaes que acontece entre sujeito e
objeto. Para Piaget a inteligncia est ligada a aquisio do prprio conhecimento, pois,
o objetivo da inteligncia estruturar as interaes sujeito-objeto. O conhecimento
resultado dessa interao que se da indiscutivelmente numa ao interacionista.
Segundo Duarte (2006) existe uma dialtica entre objetivao e apropriao
como dinmica essencial da produo e da reproduo da realidade humana. Esta
dialtica s possvel encontrar na Teoria Histrico-Cultural porque a atividade
humana no algo esttica que fica fixa na histria da sociedade humana, mas, cada
atividade tem em si mesma essa necessidade de criar outras necessidades, outras formas
de reproduo da atividade. As carncias humanas produzem outras formas de carncias
que devem ser superadas em outras formas de atividades. No mesmo instante (nem tem
como falarmos de tempo e espao na dialtica) em que o ser humano produz algo
objetivamente por meio do seu trabalho reflexivo e humanizante, ele reproduz as formas
j constitudas historicamente encontradas na sociedade cultural. Isto, como vimos e
analisamos nos captulos sobre o materialismo histrico-dialtico, o que chamado da
negao da negao onde acontece a mudana qualitativa.
155
4.5 As funes psquicas superiores como categorias de humanizao
Vygotski (1996) na sua obra analisa o problema do desenvolvimento das funes
psquicas superiores para saber se a conscincia do ser humano produto da histria
cultural do desenvolvimento humano. Para isso, Vygotski (1996) buscar determinar se
o biolgico ou o histrico-cultural o que realmente desenvolver as funes psquicas.
Para chegar a isso, depois de vrias anlises histricas do comportamento do ser
humano definir duas formas de funes psquicas: as funes psquicas inferiores,
referente ao aspecto biolgico do ser humano e, as funes psquicas superiores
referente ao processo histrico-cultural do ser humano.
As funes psquicas inferiores correspondem ao estado natural do
desenvolvimento animal, tambm verificado no ser humano, por exemplo, as funes
fisiolgicas humanas so de carter natural, biolgico. Tambm a ateno involuntria e
a memria imediata constituem forma de funes psquicas inferiores no ser humano. A
criana tem uma memria imediata sobre a realidade quando ela faz uma observao do
mundo material na sua totalidade. Significa que a criana no distingue as
particularidades do objeto observado. S conseguir uma observao mais detalhada
quando comea a educar sua conduta pela influncia do social.
A evoluo animal est orientada pelas formas das funes psquicas inferiores
porque atuam instintivamente. A evoluo biolgica da espcie animal est determinada
e condicionada por essas funes inferiores pautadas em condies totalmente
biolgicas. No podemos negar que o ser humano, no incio da sua existncia, esteja
tambm orientado e governado pelas funes psquicas inferiores. Mas, no ser humano
no inata a sua evoluo biolgica. No est condicionado como o animal a atuar por
estmulos e impulsos inconscientes.
Por isso, a grande discusso at o surgimento de Vygotski (1996) era que o
desenvolvimento humano passava por etapas biolgicas, para que certas funes
humanas sejam ativadas. Por exemplo, se pensava que a inteligncia era um processo
biolgico muito particular em cada indivduo. Relacionava-se a inteligncia a certas
maturidades psicolgicas para que funcionassem. Pensava-se que a escrita era um
desenvolvimento intelectual relacionada diretamente com o coeficiente intelectual da
criana. Esta forma biolgica, natural, classificava o ser humano de acordo com os
genes que possua. Era o biolgico, o natural, que determinava o desenvolvimento do
156
ser humano. Estas formas psquicas inferiores so totalmente determinadas pela
estimulao, pela relao direta e imediata de estmulos e reaes. Ao menor estmulo,
j tnhamos uma reao imediata. Todo isto demonstra que as funes inferiores tm um
funcionamento involuntrio, biolgico, determinado s pelo tipo de estmulo que recebe
o ser humano.
Para Vygotski (1996) no h uma separao entre as funes psquicas inferiores
e superiores no ser humano. Esta falta de dicotomia entre as duas funes obedece
prpria lei da dialtica, a chamada negao da negao, que nos indica que h uma
superao dialtica da inferior forma superior do psiquismo humano. As funes
inferiores no so eliminadas, mas, so includas nas funes superiores, continuam
existindo como instncia subordinada s funes superiores, ou seja, os processos
superiores negam a etapa da conduta primitiva, mas a conservam em forma oculta. O
homem chega a dominar a sua prpria conduta na etapa superior de seu
desenvolvimento, subordinando ao seu poder suas prprias reaes com base nas leis
naturais do comportamento.
Para Vygotski (1997):
Cada funcin psquica aparece en el proceso del desarrollo de la
conducta dos veces; primero, como funcin de la conducta colectiva,
como forma de colaboracin o de interaccin, como medio de la
adaptacin social, o sea, como categora interpsicolgica, y, en
segundo lugar, como modo de la conducta individual del nio, como
medio de la adaptacin personal, como proceso interior de la
conducta, es decir, como categora intrapsicolgica (VYGOTSKI,
1997, 214).
Notamos que as funes psquicas superiores, como percepo, memria,
pensamento, linguagem, conceitos etc., no se desenvolvem primeiramente no interior
do ser humano. So funes que so intrnsecas somente ao ser humano, mas so
desenvolvidas no mbito do social, da perspectiva da produo da cultura humana, que
se realiza sempre na esfera histrico-cultural.
de vital importncia ter bem definido que a primeira forma de
desenvolvimento psquico interpsicolgico, acontece no mbito cultural e social.
Quando nos referimos aos processos interpsicolgicos estamos colocando o
social como determinante no desenvolvimento do psiquismo da criana. A qualidade do
desenvolvimento do psiquismo da criana depender da qualidade da cultura, do social,
157
onde ela est inserida. Por isso, Vygotski (1996) alerta para o fato de que essa
apropriao da produo humana no uma simples cpia, uma mimese da realidade
cultural. A apropriao do cultural significa que h uma transformao qualitativa no
psiquismo humano. A apropriao, como j vimos, internalizar, assimilar os
contedos culturais em forma mediada pela cultura.
Internalizar consiste na transformao de uma atividade externa para uma
atividade interna e de um processo interpessoal para um processo intrapessoal. Essas
transformaes so fundamentais para o processo de desenvolvimento de funes
psicolgicas superiores e interessam particularmente ao contexto escolar, porque ele
lida com formas culturais que precisam ser internalizadas. Nota-se a importncia desta
relao dialtica entre o processo de ensino e o processo de aprendizagem como forma
de humanizar o ser humano desde a perspectiva da Teoria Histrico-Cultural.
Outro ponto a destacar que o social internalizado modifica o seu psiquismo.
Por isso falamos de um desenvolvimento intrapsicolgico. O social ou cultural se
torna individual, particular no ser humano. Desta forma, o ser humano assimila e se
objetiva no produto da cultura humana.
Estes dados de inter e intrapsicologicos so importantes para que possamos ver a
importncia que tem o ensino como elemento da formao das funes psquicas
superiores.
As funes psquicas superiores se diferenciam das inferiores porque aquelas, as
superiores,
tm
sua
origem
em
processos
eminentemente
histrico-cultural,
constituindo-se dessa forma num produto do prprio desenvolvimento social da conduta
humana e no da conduta biolgica.
Conclumos que as funes psquicas superiores tem sua gnese fundamentada
na cultura e no social, portanto, o aspecto biolgico fica em segundo plano, ou seja, o
seu desenvolvimento depende da qualidade dos mediadores culturais.
Esta afirmao de que o social e o cultural desenvolvem as funes psquicas
superiores tornam evidente a defesa do ensino que no se fundamente na maturao
espontnea do psiquismo humano. Diramos que no a maturao do ser humano a
condio prvia para as aprendizagens, mas, o ensino o responsvel pelo
desenvolvimento das funes psquicas superiores.
Vigotski (2001) afirma que s no processo de ensino e de aprendizagem que o
ser humano, a criana, desenvolve as funes psquicas superiores:
158
O ensino escolar opera com funes psquicas superiores que no s
se distinguem por uma estrutura mais complexa como ainda
constituem formaes absolutamente novas, sistemas funcionais
complexos. [...] todas as funes superiores tem uma base similar e se
tornam superiores em funo da sua tomada de conscincia e da sua
apreenso (VIGOTSKI, 2001, p.309).
As estruturas desenvolvidas no psiquismo humano pela influncia do social
constituem as formas mais complexas do seu desenvolvimento. Por isso, as funes
psquicas superiores desenvolvem a abstrao, os conceitos cientficos etc. Desta forma,
a criana no opera com conceitos espontneos porque opera com abstrao, com a
sistematizao e amplia o grau de generalizao dos conceitos.
O novo irrompe na criana como um ato revolucionrio que transforma
totalmente o psiquismo da criana. O ato revolucionrio, do qual estamos falando, tem
esse significado de superar o velho, o natural ou biolgico e deixar aflorar o novo nessa
relao dialtica que surge no social.
Mas, toda essa revoluo no psiquismo humano no acontece por uma atitude
mgica, mas, por meio das atividades mediadoras, como o uso de instrumentos e signos
para o desenvolvimento do processo de humanizao.
Por exemplo, ensino formal uma ferramenta de aprendizagem, que s pode ser
encontrada na escola. Por isso, Baquero (1998) afirma que os instrumentos de
mediao, como as ferramentas e os signos, como tambm os adultos, so fontes do
desenvolvimento da criana, quando diz:
O desenvolvimento (...) quando se refere constituio dos Processos
Psicolgicos Superiores, poderia ser descrito como a apropriao
progressiva de novos instrumentos de mediao ou como o domnio
de formas mais avanadas de iguais instrumentos (...) (Esse domnio)
implica reorganizaes psicolgicas que indicariam, precisamente,
progressos no desenvolvimento psicolgico. Progressos que (...) no
significam a substituio de funes psicolgicas por outras mais
avanadas, mas, por uma espcie de integrao dialtica, as funes
psicolgicas mais avanadas reorganizam o funcionamento
psicolgico global variando fundamentalmente as interrelaes
funcionais entre os diversos processos psicolgicos (BAQUERO,
1998, p.36).
159
Os instrumentos que atuam como mediadores para a apropriao do
conhecimento carregam essas marcas do cultural que por mediao do adulto ajudar a
desenvolver esse aspecto psicolgico da criana. A criana comear a internalizar
novas formas mais complexas, como os conceitos cientficos, para que possa
humanizar-se cada dia mais. O cultural opera formas novas de relacionamento que no
significam que o biolgico est sendo descartado, mas, numa relao dialtica, verificase esse salto qualitativo, onde o biolgico se insere dentro do aspecto cultural. Assim, as
formas inferiores do psiquismo humano passam por transformaes dialticas que se
inserem nas funes superiores.
Vygotsky (1996) tem essa preocupao com o desenvolvimento da criana, por
isso ele chegar a analisar os aspectos da ontognese e da filognese. Vygotsky (1996)
afirma o seguinte sobre esse ponto, desta forma:
Se desejamos estudar a psicologia do homem cultural adulto, devemos
ter em mente que ela se desenvolveu como resultado de uma evoluo
complexa que combinou pelo menos trs trajetrias: a da evoluo
biolgica desde os animais at o ser humano, a da evoluo histricosocial, que resultou na transformao gradual do homem primitivo no
homem cultural moderno, e a do desenvolvimento individual de uma
personalidade especfica (ontognese), com o que um pequeno recm
nascido atravessa inmeros estgios, tornando-se um escolar e a seguir
um homem cultural adulto (VYGOTSKY & LURIA, 1996, p. 151)
O desenvolvimento humano complexo porque no s o biolgico o que
determina a estrutura do psiquismo humano, mas, so trs elementos, que em forma
dialtica agem para que o desenvolvimento humano possa atingir um grau qualitativo de
desenvolvimento. Por isso, o ensino e a aprendizagem na perspectiva da Teoria
Histrico-Cultural tm um novo enfoque porque pe em evidncia a importncia do
social, primeiramente, como o fato que gera as transformaes qualitativas no ser
humano e, segundo, porque mostra que o biolgico sozinho no possui a forma
caracterstica para propiciar desenvolvimento na criana.
O ser humano deixa de ser criana, no sentido cognoscitivo, no fisiolgico,
quando internaliza com os outros homens categorias complexas que esto na cultura.
por meio do ensino qualitativo que a criana assume caractersticas humanas. Assumir
estas caractersticas indica que a criana se torna cada vez mais humano por meio da
atividade consciente e reflexiva que ela realiza no contexto cultural.
160
Para Vygotsky (2001b) o ensino deve ser o caminho certo para propiciar a
verdadeira revoluo na criana, indicando desta forma:
A experincia pedaggica nos ensina que o ensino direto de conceitos
sempre se mostra impossvel e pedagogicamente estril. O professor
que envereda por esse caminho costuma no conseguir seno uma
assimilao vazia de palavras, um verbalismo puro e simples que
estimula e imita a existncia dos respectivos conceitos na criana mas,
na prtica, esconde o vazio. Em tais casos, a criana no assimila o
conceito mas a palavra, capta mais de memria que de pensamento e
sente-se impotente diante de qualquer tentativa de emprego consciente
do conhecimento assimilado. No fundo, esse mtodo de ensino de
conceitos a falha principal do rejeitado mtodo puramente
escolstico de ensino, que substitui a apreenso do conhecimento vivo
pela apreenso de esquemas verbais mortos e vazios (VYGOTSKY,
2001b, p. 247).
Ser que uma leitura atenta desta passagem nos daria as respostas aos problemas
de ensino e de aprendizagem, dos quais tantos falamos nas escolas? Ser que nesta
passagem Vygotsky (2001b) nos est indicando que o problema de aprendizagem no
est nas crianas, mas nas formas como desenvolvido o ensino nas escolas? Ser que
nas escolas os professores s esto preocupados em que seus alunos memorizem dados
sem que entendam o real significado dos conceitos na vida pratica? Ser que quando um
aluno no memoriza o conceito, no lhe estamos impingindo que no tem maturidade
cognoscitiva para aprender?
Devemos fazer esse esforo dialtico para ir gnese do problema. E as pistas
esto dadas na Teoria Histrico-Cultural. importante a preocupao de Vygotsky
(1989) sobre as crianas que lhe so negadas o verdadeiro ensino, quando ele se
pergunta:
O que acontece na mente da criana com os conceitos cientficos que
lhe so ensinados na escola? Qual a relao entre a assimilao da
informao e o desenvolvimento interno de um conceito cientfico na
conscincia da criana? (VYGOTSKY, 1989, p. 71).
A escola deve propiciar o bom ensino, para isso deve extirpar da sua filosofia
educativa que a criana s uma estrutura biolgica e que o social, cultural no
influencia o desenvolvimento do seu psiquismo.
161
Conclumos esta parte sobre as funes psquicas superiores, quando Vygotski
(1996) v o desenvolvimento psquico da criana numa perspectiva dialtica:
[...] el positivo (de su personalidad psquica) puede hacerse tan slo en
el caso de que se modifique de raz la concepcin sobre el desarrollo
infantil y se comprenda que se trata de un complejo proceso dialectico
que se distingue por una complicada periodicidad, la desproporcin en
el desarrollo de las diversas funciones, las metamorfosis o
transformacin cualitativa de unas formas en otras, un entrelazamiento
complejo de procesos evolutivos e involutivos, el complejo cruce de
factores externos e internos, un complejo proceso de superacin de
dificultades y de adaptacin (VYGOTSKI, 1996, p.141).
O desenvolvimento das funes psquicas superiores nas crianas passa por um
processo dialtico. uma luta entre a involuo e a evoluo, uma luta entre a evoluo
biolgica e a revoluo cultural. Diramos que o desenvolvimento da criana passa por
verdadeiras crises que se verificam nelas, mas, estas crises de desenvolvimento no
devem ser tomadas como pontos negativos, mas, como saltos qualitativos, que so
realizados pela mediao dos instrumentos e signos, como tambm pela mediao dos
adultos. O que os professores devem compreender e entender sobre as funes psquicas
superiores?
Facci (2004) nos d a resposta a esta questo quando afirma que as funes
psquicas superiores so:
[...] tipicamente humanas, tais como a ateno voluntria, memria,
abstrao, comportamento intencional, so produtos da atividade
cerebral, tm uma base biolgica, mas, fundamentalmente, so
resultados da interao do indivduo com o mundo, interao mediada
pelos objetos construdos pelos seres humanos (FACCI 2004, p.6566).
As categorias das funes psquicas superiores, como ateno voluntaria,
memria lgica, linguagem interior, escrita e falada, como tambm o prprio
comportamento so formas que so desenvolvidas nessa mediao por meio das
atividades mediadoras, das relaes dialticas que se do entre a prpria natureza e entre
o ser humano. Por exemplo, a linguagem, tanto escrita como falada, tem seu processo
de formao nesse processo de apropriao e objetivao do ser humano. A linguagem
no algo inato no ser humano, ela resultado desse processo histrico e cultural.
162
No negamos a importncia que tem o biolgico do ser humano como esfera
constitutiva do desenvolvimento humano. Mas, todas as funes psquicas superiores do
ser humano no so produto da biologia, nem da histria da filognese, mas sim, das
relaes mediatizadas e internalizadas, apropriadas da ordem social, constituindo-se
ento como o fundamento da estrutura da personalidade humana.
4.6
A Zona de Desenvolvimento Proximal como forma de atividade mediadora
para o desenvolvimento das funes psquicas superiores
O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal21 ou Iminente22elaborado por
Vygotski (1993) pretende ser o incio de um novo paradigma de ensino e de
aprendizagem, levando em considerao o que j est como produto na criana e aquele
que ainda est em processo de apropriao e objetivao, que acontecer por meio da
mediao de um ser humano ou por meio das atividades mediadoras, como ferramentas
e signos.
Entre
parntese
indicamos
que
devemos
compreender
Zona
de
Desenvolvimento Proximal com carter histrico-dialtico para entender como se d
esse processo de desenvolvimento da formao psquica do ser humano. Somente com
esse carter histrico-dialtico compreenderemos que no so duas zonas ou nveis
excludentes de desenvolvimento, mas corresponde prpria lgica interna da lei da
dialtica, a negao da negao. Em captulos anteriores j analisamos que essa lei da
negao da negao nos indica que a matria possui um movimento dialtico, o que faz
que avance o conhecimento. Por isso, essas zonas ou nveis no so foras centrfugas
que se excluem mutuamente, seno, so foras centrpetas que se relacionam
21
22
Na nossa pesquisa manteremos o termo Proximal, por ser ele bem consolidado na literatura escolar brasileira.
Prestes (2010) faz uma traduo do russo ao portugus sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal e ela sugere que o termo mais
prximo da lngua portuguesa o termo iminente, como ela a detalha a continuao:
Pesquisas permitiram aos pedlogos pensar que, no mnimo, deve-se verificar o duplo nvel do desenvolvimento infantil, ou seja:
primeiramente, o nvel de desenvolvimento atual da criana, isto e, o que, hoje, j est amadurecido e, em segundo lugar, a zona de
seu desenvolvimento iminente, ou seja, os processos que, no curso do desenvolvimento das mesmas funes, ainda no esto
amadurecidos, mas j se encontram a caminho, j comeam a brotar; amanh, traro frutos; amanh, passaro para o nivel de
desenvolvimento atual. Pesquisas mostram que o nivel de desenvolvimento da criana define-se, pelo menos, por essas duas
grandezas e que o indicador da zona de desenvolvimento iminente e a diferena entre esta zona e o nivel de desenvolvimento atual.
Essa diferena revela-se num grau muito significativo em relao ao processo de desenvolvimento de crianas com retardo mental e
ao de crianas normais. A zona de desenvolvimento iminente em cada uma delas e diferente. Crianas de diferentes idades possuem
diferentes zonas de desenvolvimento. Assim, por exemplo, uma pesquisa mostrou que, numa criana de 5 anos, a zona de
desenvolvimento iminente equivale a dois anos, ou seja, as funes, que na criana de 5 anos, encontram-se em fase embrionria,
amadurecem aos 7 anos. Uma criana de 7 anos possui uma zona de desenvolvimento iminente inferior. Dessa forma, uma ou outra
grandeza da zona de desenvolvimento iminente e prpria de etapas diferentes do desenvolvimento da criana (PRESTES, Z. R,
2010, p.173-174 ).
163
mutuamente para que a aprendizagem seja efetiva no processo de formao do ser
humano.
A Zona de Desenvolvimento Proximal foi um avano para um novo paradigma
para a compreenso
adequada da relao dialtica entre aprendizagem
desenvolvimento23. Vygotski (1993 e 1997), depois de vrias pesquisas com crianas
normais e anormais, demonstra a importncia fundamental dos nveis24 de
desenvolvimento para a formao psquica do ser humano.
Vygotski (1993) explica o que a Zona de Desenvolvimento Proximal desta
forma:
La investigacin muestra sin lugar a dudas que lo que se halla em la
zona de desarrollo prximo en un estadio determinado que se realiza y
pasa en el estadio siguiente al nivel del desarrollo actual. Con otras
palabras, lo que el nio es capaz de hacer hoy en colaboracin ser
capaz de hacerlo por s mismo maana. Por eso, parece verosmil que
la instruccin y el desarrollo en la escuela guarden la misma relacin
que la zona del desarrollo actual. En la edad infantil, slo es buena la
instruccin que va por delante del desarrollo y arrastra a este ltimo.
Pero al nio nicamente se le puede ensear lo que es capaz de
aprender (VYGOTSKI, 1993, p. 241-242).
O desenvolvimento do ser humano acontece como dois momentos dialticos que
esto entrelaados: nivel de desenvolvimento atual, como resultados das mediaes de
apropriao e objetivao j desenvolvidas no ser humano, j como produtos em si que
j foram apreendidos e, a zona de desenvolvimento proximal, que indica aquilo que est
em processo de apropriao e objetivao que acontecer por meio da mediao de
outro ser humano ou instrumentos mediadores.
Vigotsky (1988) argumenta que possvel que duas crianas com o mesmo nivel
de desenvolvimento, antes situaes problemticas que impliquem tarefas que as
superam, podem realizar as mesmas tarefas com a mediao de um professor, mas os
resultados so diferentes para cada criana. Isto porque ambas as crianas possuem
23
De acordo com Moura (1998, p. 233), Todas as vezes que Vygotsky fala de aprendizagem, inclui, tambm, o ensino. Ou seja,
para ele so duas categorias intrinsecamente relacionadas, considerando que o aprendizado no acontece no indivduo isoladamente,
fruto das suas ideias e da sua construo pessoal, s existe aprendizagem nas interaes entre as pessoas, nas relaes sciohistrico-culturais que estabelecem. Segundo Oliveira (1995a, p.56) o termo que Vygotsky utiliza, na lngua russa, para se referir a
esse processo obuchen que significa algo como processo ensino-aprendizagem.
24
Uma alerta para os leitores sobre os termos zona ou nvel que so usados indistintamente nos Tomos II, III e V. Neles
encontramos o termo atual para indicar efetivo e, potencial para indicar prximo ou iminente. Neles tambm aparecem os
termos nveis como tambm a expresso zonas. Neste trabalho usaremos os termos Nivel de Desenvolvimento Atual e
Proximal.
164
distintos nveis de idade mental. neste sentido que surge o conceito de Zona de
Desenvolvimento Proximal como:
la distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por la
capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de
desarrollo potencial, determinado a travs de la resolucin de un
problema bajo la gua de un adulto o en colaboracin con otro
compaero ms capaz (VIGOTSKY, 1988, p.133).
H dois momentos do desenvolvimento do psiquismo humano que esto
intercomunicados dialeticamente, porque os dois momentos so cruciais e
determinantes na formao do processo histrico de apropriao e objetivao do ser
humano.
O primeiro momento o nvel de desenvolvimento atual que a capacidade que
possui o ser humano para realizar as tarefas cotidianas da sua vida em forma autnoma,
como por exemplo, podemos indicar que uma criana consegue fazer uma atividade
sozinha. Fica claro que este momento de desenvolvimento refere-se ao conhecimento
apreendido e apropriado como conhecimento comum e cotidiano. A criana adquire este
tipo de desenvolvimento por contatos sociais (interpsicolgico) que tem com o adulto.
Por exemplo, comea a andar de bicicleta, pode aprender a descascar uma laranja,
aprende a amarrar o cadaro do sapato, comea a chutar uma bola, aprende a brincar de
cozinhar, lavar roupas, comea a contar, comea a falar a lngua materna etc. Por isso
muito importante este momento de desenvolvimento da criana, muito bem apontado
pelo prprio Vigotski (2002), quando ele afirma:
O primeiro nvel pode ser chamado de nvel de desenvolvimento real,
isto , o nvel de desenvolvimento das funes mentais da criana que
se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento
j completados. Quando determinamos a idade mental de uma criana
usando testes, estamos quase sempre tratando do nvel de
desenvolvimento real. Nos estudos do desenvolvimento mental das
crianas, geralmente admite-se que s indicativo da capacidade
mental das crianas aquilo que elas conseguem fazer por si mesmas.
(VIGOTSKI, 2002, p. 111).
O desenvolvimento atual indica ento esse momento real da concretizao
objetiva de uma atividade pela criana. Refere-se ao produto j apropriado pela criana
165
no seu processo de desenvolvimento e que consegue operacionalizar por conta prpria
dentro do mbito do social.
Vigotski (2002) d muita importncia a este momento de desenvolvimento,
porque indica que a criana tem capacidade para solucionar as atividades ou funes
sema mediao de outra pessoa. Este momento do desenvolvimento significa as vitorias
e as conquistas que realizam as crianas. Por isso, este momento dialtico do
desenvolvimento indica que a criana consegue fazer uma atividade concreta, no social
e, tambm, indica que os processos mentais da criana esto em perfeita harmonia e que
o prprio desenvolvimento j est maduro.
Por isso, Vygotski (1993) nos indica algo muito importante sobre o nivel de
desenvolvimento atual, desta maneira:
El medio a que se recurre son las tareas que el nio resuelve por s
mismo. A travs de ellas conocemos lo que sabe el nio y de lo que es
capaz en este momento, ya que slo se tienen en cuenta las tareas que
ha resuelto por s mismo. Es evidente que con ayuda de este mtodo
podemos establecer nicamente lo que ha madurado en el nio en el
momento actual (VYGOTSKI, 1993, p. 238).
As tarefas que uma criana consegue fazer sozinha determinam o seu momento
de desenvolvimento psicolgico na realidade. Quando uma criana consegue cumprir
uma tarefa sozinha demonstra que essa criana j tem uma maturao do seu
desenvolvimento.
Mas Vygotski (1993) nos alerta de que esse momento maduro de conhecimento
no nvel de desenvolvimento atual no determina o seu desenvolvimento:
Pero el estado del desarrollo no se determina nunca a travs de la parte
ya madura del mismo nicamente. Igual que el horticultor, que
deseando determinar el estado de su huerto, no tendr razn si se
limita a valorar los manzanos que ya han madurado y han dado fruto,
sino que debe tener tambin en cuenta los rboles en maduracin. El
psiclogo, al valorar el estado del desarrollo, debe tener
obligatoriamente en cuenta no slo las funciones maduras, sino
tambin las que estn en trance de maduracin. No slo el nivel
actual, sino tambin la zona de desarrollo prximo (VYGOTSKI,
1993, p.238).
166
A parte que est madura no nivel de desenvolvimento atual no significa que o
processo de apropriao e objetivao acaba, mas, essa parte madura, certamente, ser o
trampolim que puxar o conhecimento cientfico da criana. Por isso, um erro que na
escola se deva medir o conhecimento da criana por meio do que ela j tem madura no
seu desenvolvimento. Este nivel de desenvolvimento atual s nos indica a quantidade do
desenvolvimento do ser humano. No a quantidade j madura o que indicar a
apropriao e objetivao do conhecimento humano. O importante no a quantidade
das coisas que j saiba fazer, mas, o importante para o desenvolvimento psquico da
criana apreender como resolver um problema com a mediao do adulto ou outra
pessoa, para que depois, essa criana possa fazer sozinha a tarefa.
A escola deve trabalhar a zona de desenvolvimento proximal, porque na opinio
de Vygotski (1993):
[...] en la escuela el nio no aprende a hacer lo que es capaz de realizar
por s mismo, sino a hacer lo que es todava incapaz de realizar, pero
que est a su alcance en colaboracin con el maestro y bajo su
direccin. [] Con otras palabras, lo que el nio es capaz de hacer
hoy en colaboracin ser capaz de hacerlo por s mismo maana
(VYGOTSKI, 1993, p. 241).
Para Vygotski (1993) essa a funo da escola e do professor no
desenvolvimento do psiquismo da criana: devem ser mediadores da apropriao e
objetivao do ser humano para o seu processo de humanizao.
A criana deve ser capaz de realizar atividades sozinhas no futuro, porque no
presente ela se apropriou do conhecimento cientifico por mdio da mediao do
professor. Na atualidade, a criana s consegue desenvolver uma tarefa com mediao
do adulto, isto porque na criana ainda no amadureceram certos princpios para que a
tarefa seja realizada. Mas isto no significa que a criana no conseguir realizar,
porque essas funes esto em processo de maturao, que esto presentes agora num
estado embrionrio.
O nivel de desenvolvimento atual est caracterizado como um contedo na
forma retrospectiva e, a zona de desenvolvimento prximo como um processo de
desenvolvimento mental prospectivamente. Por isso, Vygotski (1993) afirma que:
167
La enseanza debe orientarse no al ayer sino al maana del desarrollo
infantil. Slo entonces podr la instruccin provocar los procesos de
desarrollo que se hallan ahora en la zona de desarrollo prximo
(VYGOTSKI, 1993, p.242).
Esse ensino no deve orientar-se ao ontem, ou seja, o ontem seria aquelas
funes que j esto maduras na criana. J o amanh se refere a aquelas funes que
esto em processo de amadurecimento e que s poder estar maduras com a mediao
do adulto ou de outro colega das crianas que j tem essas funes amadurecidas. Por
isso o ensino no deve ficar no desenvolvimento mental retrospectivo da criana, mas,
deve ter em conta esse desenvolvimento mental que est em forma prospectiva.
Vygotski (1993) foi enftico na sua crtica quando diz que os pedagogos nas
escolas:
[...] Se orientaban hacia lo que el nio sabe hacer por s mismo en su
pensamiento y no tenan en cuenta la posibilidad de transicin de lo
que sabe hacer a lo que no sabe. Valoraban el estado del desarrollo, lo
mismo que el hortelano estpido: slo por los frutos ya maduros. No
tenan en cuenta que la instruccin debe hacer avanzar el desarrollo.
No tenan en cuenta la zona de desarrollo prximo. Se orientaban
hacia la lnea de menor resistencia, hacia la debilidad del nio y no
hacia su fuerza (VYGOTSKI, 1993, p.243).
No sistema escolar atual no estamos fora da realidade que Vygotski (1993)
descreve sobre os pedagogos da poca dele. Hoje continuamos definindo o
desenvolvimento mental da criana observando o seu passado, a sua debilidade e, no
estamos definindo o seu desenvolvimento tendo em conta aquelas funes que hoje ela
realiza com mediao do adulto e que no dia de amanha realizar sozinha por meio da
fora, da capacidade que ela tem para concretizar essas funes.
Nessa mesma linha de pensamento, Vygotski (1993) nos apresenta seu programa
didtico, quando ele diz:
La instruccin nicamente es vlida cuando precede al desarrollo.
Entonces despierta y engendra toda una serie de funciones que se
hallaban en estado de maduracin y permanecan en la zona del
desarrollo prximo. []La instruccin sera totalmente intil si slo
pudiera utilizar lo que ya ha madurado en el desarrollo, si no
constituyese ella misma una fuente de desarrollo, una fuente de
aparicin de algo nuevo (VYGOTSKI, 1993, p. 243).
168
Esta didtica revolucionria. No nos referimos aqui revoluo no sentido de
revoluo armada, mas, revoluo no sentido de que de algo velho, maduro, j
concretizado, possa surgir algo novo no desenvolvimento psquico da criana. No h
salto qualitativo na criana se s usamos as funes que j esto maduras. necessrio
ir raiz do prprio desenvolvimento para fazer surgir o novo nas crianas. uma
constante luta de contrrios o desenvolvimento das funes mais primordiais do ser
humano.
No h um processo revolucionrio no ensino quando s se quer ensearle a un
nio aquello que es incapaz de aprender es tan intil como ensearle a hacer lo que es
capaz de realizar por s mismo (VYGOTSKI, 1993, p.245).
Caram (2009) enfatiza mais o ato de ensinar quando ela afirma:
Ensinar o que a criana j sabe no tem sentido, assim como ensinar o
que ela no esta pronta para aprender. Acaso pode-se ensinar a um
beb de um ano a partitura de um arranjo de violino de uma obra de
Beethoven? Certamente, no. Porm, muito pertinente seria para o
desenvolvimento das habilidades musicais dessa criana, que a ela
fosse proporcionado desde cedo, a audio deste tipo de msica, bem
como o de outros gneros musicais, para que ela se aproprie da imensa
bagagem histrico-cultural musical herdada por ns (CARAM, A.M.,
2009, p.27).
Na escola devem-se problematizar os contedos proporcionados as crianas.
Significa que a funo do professor mediador que a criana desenvolva esprito crtico
e cientfico. A criana desde muito cedo deve saber levantar hipteses, desenvolver
formas de investigao para saber dar solues aos problemas da prpria sociedade. Por
isso, a escola deve criar necessidades nas crianas. A criao dessas necessidades nos
mostra de que o conhecimento histrico-dialtico e que no se orienta pelo simples
mecanicismo. Ficar s nas funes j desenvolvidas seria cair no materialismo
mecanicista.
Como o processo dialtico, observamos sempre conflitos, retrocessos, crises
etc., o professor e a escola devem estar atentos a todas estas manifestaes que fazem
parte do ser humano. No podemos esquecer que estes conflitos esto ali para ser
superados, para que sejam negados, para que assim a verdadeira mediao possa gerar o
verdadeiro ensino. Superar as amarras naturalistas e conflituosas sinal que o ensino
avanou e que houve apropriao e assimilao do conhecimento.
169
No podemos pensar que mediar o conhecimento na Zona de Desenvolvimento
Proximal uma tarefa mecnica e linear, que s a simples interao entre a criana e o
professor far que haja o verdadeiro ensino.
A Escola e os professores devem compreender que o ensino acontece na Zona de
Desenvolvimento Proximal porque cria novas condies mais adequadas para o
desenvolvimento do ser humano.
Por isso, a Zona de Desenvolvimento Proximal permite conhecer esse potencial
humano para definir as funes psquicas superiores que esto em potencial no sujeito e
que s possvel completar esse ensino a partir das relaes de aprendizagem que o
sujeito estabelece com o meio histrico-cultural.
A Zona de Desenvolvimento Proximal permite ao professor e a escola
compreender
que
uma
excelente
aprendizagem
aquela
que
avana
ao
desenvolvimento. Vygotsky (2001b) afirma que essa questo fundamental para que
professores e a escola se preocupem e saibam trabalhar a Zona de Desenvolvimento
Proximal, nestes termos:
A aprendizagem no desenvolvimento, mas, corretamente
organizada, conduz o desenvolvimento mental da criana, suscita para
a vida uma srie de processos que, fora da aprendizagem, se tornariam
inteiramente inviveis. Assim, a aprendizagem um momento
interiormente indispensvel e universal no processo de
desenvolvimento de peculiaridades no naturais, mas histricas do
homem na criana. Toda aprendizagem uma fonte de
desenvolvimento que suscita para a vida uma srie de processos que,
sem ela, absolutamente no poderiam surgir (VYGOTSKY, 2001b,
p.484).
comum atualmente nas escolas e entre os professores que se tenha uma viso
de ensino pautado na aprendizagem como desenvolvimento apenas biolgico. Muitos
professores ainda acreditam que a aprendizagem de contedos escolares pelas crianas
depende do grau de seu desenvolvimento e maturidade comportamental. Aquelas
crianas que no conseguem acompanhar esse ritmo de estudo, so taxados como alunos
com problemas psicolgicos e como tal precisam de acompanhamento psicolgico para
que esse profissional possa ajudar a esse aluno atingir a maturidade para acompanhar o
curso. Se esse aluno no chega a demonstrar certas maturidades, ele excludo do
sistema escolar, por vrios caminhos.
170
Notamos que a aprendizagem no est em desenvolver formas de maturidade do
estado natural ou biolgico da criana, mas deve ser uma fonte da apropriao e
assimilao dos processos histricos e culturais desenvolvidos pelo ser humano. Desta
forma, trabalhar os contedos escolares e no escolares na Zona de Desenvolvimento
Proximal possibilitar a criana apropriar-se e assimilar os elementos da cultura
humana, configurados como conhecimentos e experincias fundamentais, tais como: a
filosofia, as artes, as relaes tico-polticas, dentre outras objetivaes genricas do ser
humano, como indica Heller (2000). Todos estes conhecimentos s podero ser
efetivados com a mediao do adulto ou pelo professor num contexto escolar que
possibilitar a criana possuir uma atitude mais crtica em relao cultura onde est
inserida.
4.7
Relao dialtica entre os processos de ensino e processo de aprendizagem
por meio da atividade mediadora
A formao humana direcionada apropriao e a assimilao das experincias
humanas histrico-cultural, por meio da mediao dos adultos e das atividades
mediadoras, s possvel numa relao dialtica entre o processo de ensino e o
processo de aprendizagem no mbito da escola. S a escola pode propiciar a
apropriao dos conhecimentos cientficos e, nesse processo, o desenvolvimento das
funes psquicas superiores por meio da mediao do professor e outros meios
qualitativos que possam desenvolver na criana as formas mais humanizadoras do
desenvolvimento humano.
Neste aspecto, Elkonin (1960) enfatiza o papel do adulto no processo educativo
da criana:
O desenvolvimento psquico das crianas tem lugar no processo de
educao e ensino realizado pelos adultos, que organizam a vida da
criana, criam condies determinadas para seu desenvolvimento e lhe
transmitem a experincia social acumulada pela humanidade no
perodo precedente de sua histria. Os adultos so os portadores dessa
experincia social. Graas aos adultos a criana assimila um amplo
crculo de conhecimentos adquiridos pelas geraes precedentes,
aprende as habilidades socialmente elaboradas e as formas de conduta
criadas na sociedade. medida que assimilam a experincia social se
formam nas crianas distintas capacidades (ELKONIN, 1960 p.498).
171
Para a escola de Vigotsky, o verdadeiro ensino e aprendizagem acontecem no
mbito da escola, porque detm os meios eficazes, como a mediao dos professores e
das ferramentas mediadoras para concretizar o desenvolvimento das funes psquicas
superiores, trabalhando a Zona de Desenvolvimento Proximal, aqueles conhecimentos
que esto em processo de apropriao e assimilao do histrico-cultural do ser
humano.
Tanto os adultos como a prpria escola organizam os instrumentos mediadores
para criar as condies para o ensino. O verdadeiro ensino aquele em que os docentes
esto preparados para poder mediar o conhecimento humano atravs das atividades
mediadoras. Este ensino no transformador s porque h uma interao entre docente
e aluno. A interao no o determinante para a concretizao do bom ensino.
preciso uma mediao, apropriao e objetivao, aspectos inter e intrapsicologico,
atividades mediadoras para desenvolver a zona de desenvolvimento proximal da
criana.
importante observar que Elkonin (1960) valoriza essa funo mediadora do
adulto, o professor neste caso, como os sujeitos que se apropriaram e assimilaram o
conhecimento e que agora esto aptos para mediar essa nova forma de conhecimento
para as crianas. No podemos deixar de mencionar que o professor atingir o
desenvolvimento interpsicolgico da criana. O adulto ajudar criana a compreender
e a internalizar as vivncias das experincias acumuladas pelo ser humano. Num
processo dialtico, no mecanicista, a criana se apropria do conhecimento por
mediao do adulto e, depois de vrias tentativas, como procedimento normal do
processo do salto qualitativo, a criana estar apta a assimilar e a objetivar-se, no nivel
interpsicolgico, essas experincias feitas pelo ser humano no transcurso da sua vida
histrica.
Mas, Elkonin (1960) chama a ateno que nem todos os tipos de mediaes tm
essa fora dialtica para desenvolver a humanizao da criana, quando ele enuncia o
seguinte:
Nem todo conhecimento recebido (...) influi sobre a formao da
personalidade e na conduta da criana. No qualquer maneira de
adquirir os conhecimentos desenvolve as capacidades intelectuais e a
atividade intelectual. (...) O desenvolvimento do psiquismo no reflete
de maneira automtica tudo o que atua sobre a criana. O efeito dos
agentes externos, a influncia da educao e do ensino, dependem de
172
como se realizam estas influncias e do terreno j anteriormente
formado sobre o qual recaem. (ELKONIN, 1960, p.498).
Este texto de Elkonin (1960) nos mostra realmente que s a interao entre o ser
humano, especificamente entre as crianas, no influi na formao da personalidade e
da conduta humana. Por isso, a Teoria Histrico-Cultural v a interao s no nivel de
relacionamento do animal, porque a simples interao entre os animais no provoca a
atividade nem a transformao do prprio animal. Neste sentido, a simples interao
entre o ser humano no permite realizar saltos qualitativos na formao do prprio
psiquismo humano.
O texto de Elkonin (1960) nos indica que no qualquer maneira de mediao
que desenvolve o psiquismo humano, as suas capacidades e atividades intelectuais.
necessrio que a mediao do adulto tenha sentido e significado para as crianas, que
essa mediao seja planejada e que tenha intencionalidade para que realmente a criana
desenvolva o seu psiquismo. As atividades devem ser planejadas, com intencionalidades
e significados, para que o ensino e a aprendizagem sejam realmente frutferos para a
criana.
Os agentes externos, ou seja, o social, pela simples interao, no conseguir
realizar a apropriao e objetivao da cultura humana no nivel interpsicologico nem no
nivel intrapsicolgico. necessrio que o social esteja carregado de intencionalidade e
objetividade para que a criana realmente possa avanar no seu desenvolvimento
psquico.
Da mesma forma, as influncias da educao e do ensino no desenvolvimento da
criana no sero de qualidade se no estiver coberto de intencionalidade e objetividade.
Tanto a educao como o ensino devem propiciar mediaes de qualidades para que as
crianas possam desenvolver sua personalidade e a sua conduta.
Elkonin (1960) refere-se ao terreno j formado, referindo-se o nivel de
desenvolvimento atual, aquelas funes que j foram amadurecidas. Este terreno bem
trabalhado ser til para que o ensino avance. O bom ensino no fica analisando esse
terreno cultivado, mas, mostra que o terreno bem trabalhado cria novas
oportunidades para que sejam realizados novos conhecimentos com mediao do adulto.
Na escola no se pode descartar como inservvel esse terreno j cultivado, mas, deve ser
aproveitado porque ser esse o que impulsar o conhecimento da criana.
173
A escola deve ter um programa pedaggico que consiga propiciar a humanizao
do ser humano por meio da Zona de Desenvolvimento Proximal, focando nas atividades
mediadoras e nos agentes mediadores. A escola deve ser a instituio onde seja possvel
a socializao do saber cultural produzido pelo ser humano ao longo de seu
desenvolvimento histrico-cultural.
Leontiev (1978) fala sobre Vigotsky desta maneira quando se refere
importncia da Teoria Histrico-Cultural:
Foi ele o primeiro entre ns (em 1927) a exprimir a tese de que a
dmarche histrica devia tornar-se o princpio director da edificao
da psicologia do homem. Efectuou a crtica das concepes biolgicas
naturalistas do homem e ops-lhe a sua teoria do desenvolvimento
histrico e cultural. O mais importante que introduziu na
investigao psicolgica concreta a idia da historicidade da natureza
do psiquismo humano e a da reorganizao dos mecanismos naturais
dos processos psquicos no decurso da evoluo scio-histrica e
ontognica. Vygotski interpretava esta reorganizao como o
resultado necessrio da apropriao pelo homem dos produtos da
cultura humana no decurso dos seus contactos com os seus
semelhantes. Como se sabe, Vygotski tomou como base das suas
investigaes as duas hipteses seguintes: as funes psquicas do
homem so de carter mediatizado; os processos interiores intelectuais
provm de uma actividade inicialmente exterior, interpsicolgica
(LEONTIEV, 1978, p. 153).
Eis para ns a importncia da Teoria Histrico-Cultural para compreendermos
os problemas de aprendizagem que se reduzem nas escolas a problemas mentais ou
comportamentais, fundamentadas na teoria biolgica ou gentica, como a de Piaget.
Davidov (1988) realizou tambm vrios estudos sobre a teoria de Vigotsky, ao
enfatizar a importncia da Teoria Histrico-Cultural como soluo para os problemas de
educao na nossa sociedade capitalista.
Davidov (1988) resume desta forma a Teoria Histrico-Cultural:
La comprensin materialista dialctica de los procesos del desarrollo
histrico y ontogentico de la actividad, la psiquis y la personalidad
del hombre, formada en la filosofa y psicologa soviticas, es la base
para la teora psicopedaggica de la enseanza y la educacin
desarrollantes de las generaciones en crecimiento. La idea
fundamental de esta teora, creada en la escuela cientfica de L.
Vigotski, es la tesis de que la enseanza y la educacin constituyen
las formas universales del desarrollo psquico de los nios; en ella se
expresa la colaboracin entre los adultos y los nios, orientadas a que
174
stos se apropien de las riquezas de la cultura material y espiritual,
elaboradas por la humanidad. La enseanza y la educacin son los
medios con que los adultos organizan la actividad de los nios, gracias
a cuya realizacin stos reproducen en s las necesidades surgidas
histricamente, indispensable para la solucin exitosa de las diversas
tareas de la vida productiva y cvica de las personas (DAVIDOV,
1988, p. 243).
Davidov (1988) resume de forma cientfica a importncia da Teoria HistricoCultural para o ensino em si mesmo, como para o processo de aprendizagem para o
contexto geral da educao. A Teoria Histrico-Cultural tem suas bases fundamentadas
nesse materialismo histrico-dialtico e como tal, a anlise microgentica parte da
concepo de que para buscar a soluo a um problema deve ir-se at a raiz do
problema. O problema no ser encontrado nas superficialidades e particularidades do
sujeito ou do prprio objeto.
O problema levantado para esta pesquisa s ser possvel compreend-lo e
modific-lo se partimos da base da Teoria Histrico-Cultural. O ensino e a prpria
educao so as bases para que se criem as necessidades nas funes psquicas
superiores, como formas para que as crianas se apropriem e assimilem o conhecimento
produzido.
Da que Elkonin (1960) afirma que:
[...] a misso do pedagogo fazer avanar o desenvolvimento psquico
das crianas, formar o novo em seu desenvolvimento psquico,
facilitar o desenvolvimento do novo (ELKONIN, 1960, p. 503).
Esta a grande tarefa do professor e da escola, formar novas funes psquicas
superiores nas crianas para que elas desenvolvam a sua humanidade e possam dar
solues exitosas para as diversas atividades produtivas, como do trabalho, das cincias,
das artes, das filosofias e cvicas das pessoas. Este novo deve ser em qualidade, que
realmente desenvolva no ser humano esse processo de humanizao e que a partir desse
processo de humanizao o ser humano possa ter domnio sobre as suas condutas.
A escola deve criar as necessidades nas crianas como forma de gerar novas
formas superiores de desenvolvimento desde as tarefas cada vez mais complexas. No
adianta trabalhar nas crianas aquela zona atual, onde elas j sabem o que devem fazer.
175
Devemos gerar as necessidades de conhecimento na Zona de Desenvolvimento
Proximal das crianas para que realmente gere novas formas superiores de
humanizao. Por isso, muito importante mediao do adulto, e tambm o uso de
ferramentas e signos para provocar conflitos que gerem novos conhecimentos. O
conflito nas crianas importante para que seja o motivo do salto qualitativo. A prpria
dialtica nos ensina que o conflito bom para superar as formas petrificadas de
condutas que se encontram no ser humano.
O desenvolvimento cultural da criana abarca sempre as suas duas formas de
desenvolvimento: a social, no qual h transformaes qualitativas no desenvolvimento
humano da perspectiva interpsicolgica e, a individual, na qual as transformaes
qualitativas verificam-se no nivel intrapsicolgico. Por isso a importncia do uso de
ferramentas e signos como mediadores do processo de apropriao e do processo de
assimilao. Vygotski (1996) afirma o seguinte sobre isso:
El desarrollo cultural de cualquier funcin, incluida la atencin,
consiste en que o ser social en el proceso de su vida y actividad
elabore una serie de estmulos y signos artificiales. Gracias a ellos se
orienta la conducta social de la personalidad; los estmulos y signos
as formados se convierten en el medio fundamental que permite al
individuo dominar sus propios procesos de comportamiento
(VYGOTSKI, 1996, p. 215).
O uso de ferramentas e signos serve para que o ser humano crie as necessidades
qualitativas e, assim, possa desenvolver-se dialeticamente nesse ambiente histricocultural. O uso pelo ser humano de ferramentas e signos no tem essa relao superficial
e mecnica da sua funcionalidade. As ferramentas carregam a funo social que o ser
humano deu para cada objeto e dessa forma se converteu em social e cultural ao longo
da historia humana. O objeto na sua forma pura em que se encontra na natureza no tem
um valor ontolgico se no levar a prpria marca do desenvolvimento do ser humano.
A escola esse espao privilegiado onde as ferramentas e os signos so
apropriados e internalizados. Vejamos como define Vygotski (1996) essas ferramentas e
signos como mediadores do desenvolvimento humano.
Vygotski (1996) diz o seguinte:
[...] la diferencia, esencialsima, entre el signo y la herramienta, que es
la base de la divergencia real de ambas lneas, es su distinta
176
orientacin. Por medio de la herramienta el hombre influye sobre el
objeto de su actividad; la herramienta est dirigida hacia fuera: debe
provocar unos u otros cambios en el objeto. Es el medio de la
actividad exterior del hombre, orientado a modificar la naturaleza. El
signo no modifica nada en el objeto de la operacin psicolgica: es el
medio del que se vale el hombre para influir psicolgicamente, bien en
su propia conducta, bien en la de los dems; es un medio para su
actividad interior, dirigida a dominar el propio ser humano: el signo
est orientado hacia dentro. Ambas actividades son tan diferentes que
la naturaleza de los medios empleados no puede ser la misma en los
dos casos (VYGOTSKI, 1996, p. 94).
As ferramentas so externas ao ser humano e carregam as funes sociais que no
processo do desenvolvimento humano, o ser homem lhe deu uma funo humana, pela
qual, o prprio ser humano modifica a sua atividade. A criana, pela mediao do
adulto, se apropriar e internalizar as funes sociais que detm as ferramentas. Da
que o contato com as ferramentas no se traduz numa relao mecnica. Quando o ser
humano est usando uma ferramenta, deve saber que essa ferramenta carrega toda uma
historia cultural que serve para humanizar e apropriar-se da prpria cultura feita ao
longo da histria humana. O uso de ferramentas atua no nvel interpsicolgico,
provocando mudanas qualitativas no ser humano.
J os signos atuam internamente no ser humano. O pensamento uma forma de
signo, que modifica o ser humano internamente, no nivel intrapsicolgico. Como j
indicamos, o prprio trabalho criou ao ser humano. O trabalho, a atividade por
excelncia foi o ponto da passagem da forma homindeo para a forma humana.
Toda a ao humana est subordinada a criao das ferramentas e meios
semiticos para o desenvolvimento humano. Por meio das ferramentas, o ser humano
transforma a natureza e a constitui em objeto de conhecimento como produo
histrico-cultural e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo em sujeito de
conhecimento. A relao que o ser humano tem com o objeto, as ferramentas, no s
uma interao, mas, uma relao dialtica materialista, no uma dialtica mecanicista.
A mediao semitica uma mediao social, porque os meios tcnicos e
semiticos como a palavra, o pensamento, a linguagem so todos eles sociais,
desenvolvidos por meio do ser humano nesse processo de transformar a natureza por
meio das suas atividades.
A finalidade da perspectiva da Teoria Histrico-Cultural sob as crianas se
resume nas palavras do prprio Vygotski (1997), quando ele afirma:
177
Sigue siendo incomprensible por qu todos los conflictos, los traumas,
las vivencias ulteriores, slo se estratifican sobre los infantiles, que
constituyen el tronco y el eje de toda la vida. En la nueva teora, la
perspectiva revolucionaria del futuro permite comprender el desarrollo
y la vida de la personalidad como un proceso nico que tiende hacia
adelante y est orientado con necesidad objetiva a un ltimo punto, al
final indicado por las exigencias de la existencia social.
La perspectiva psicolgica del futuro es precisamente una posibilidad
terica de educacin. Por su propia naturaleza, el nio siempre resulta
insuficiente en la sociedad de los adultos; desde el comienzo, su
posicin le da motivo para que se desarrollen en l los sentimientos de
debilidad, inseguridad y dificultad. Durante muchos aos el nio
permanece inadaptado a la existencia independiente, y en esa
inadaptacin, en esa incomodidad de la infancia, est la raz de su
desarrollo. La infancia es el periodo de la insuficiencia y la
compensacin por excelencia, es decir, de la conquista de una
posicin con respecto al todo social. En el proceso de esta conquista,
el hombre, como biotipo determinado, se transforma en hombre como
sociotipo, el organismo animal se convierte en personalidad humana.
El dominio social de este proceso natural se llama educacin. Esta no
sera posible si en el propio proceso natural de desarrollo y formacin
del nio no estuviera involucrada la perspectiva de futuro,
determinada por las exigencias de la existencia social. La propia
posibilidad de un plan nico en la educacin, de su orientacin al
futuro son testimonio de la presencia de ese plan en el proceso de
desarrollo al que la educacin tiende a dominar. En esencia, esto
significa una sola cosa: el desarrollo y la formacin del nio es un
proceso socialmente orientado25. (VYGOTSKI, 1997, p. 177-178).
O adulto no pode olhar a criana como sendo seres incapazes porque no
consegue realizar uma atividade agora. Olhar dessa forma catalogar de que as crianas
so problemticas, de que o problema est na prpria criana. Da que no podemos
petrificar as atitudes negativas nas crianas. Como j indicamos varias vezes, os
problemas que as crianas apresentam no seu processo de aprendizagem e de ensino no
podem ser problemas que esto nas crianas.
Vygotski (1997) nos alerta de que a humanizao do ser humano deve acontecer
no processo educativo porque a escola o mbito onde se pode contar com a mediao
do docente para realizar as atividades mediadoras. Da a importncia de que o
desenvolvimento e a formao da criana um processo socialmente orientado.
O grito das crianas, pobres e coitadas para os adultos, mostram que elas tm um
terreno imenso para ser explorado e trabalhado com intencionalidade por meio da
25
No original em itlico.
178
mediao do adulto e dos instrumentos mediadores. As crianas so resultados do
desenvolvimento histrico e cultural e nesse campo imenso do histrico e do cultural
que encontraremos a resposta a nossa questo de pesquisa, sempre pautado no
materialismo histrico-dialtico.
Queremos fazer nossas as palavras de Vygotski (2006), quando ele escreve:
Anteriormente os psiclogos estudiaban en forma unilateral el proceso
de desarrollo cultural del nio y el proceso de su educacin. Ass,
todos se preguntaban qu dotes naturales de la psicologa del nio
condicionaban la posibilidad de su desarrollo cultural, en qu
funciones naturales debe apoyarse el pedagogo, para insertarlo en una
u otra esfera de la cultura. Estudiaron, por ejemplo, cmo el desarrollo
del lenguaje o su aprendizaje de la aritmtica depende de las funciones
naturales del nio, cmo se prepara ste durante el proceso del
crecimiento natural del nio, pero no estudiaron el proceso inverso:
cmo la asimilacin del lenguaje o de la aritmtica van transformando
las funciones naturales del escolar, cmo est reestructurada todo el
curso del pensamiento natural, rompiendo y desplazando las viejas
lneas y tendencias de su desarrollo.
Ahora el educador comienza a comprender que, con la incorporacin
a la cultura, el nio no slo adquiere algo de la cultura, asimila algo,
algo del exterior echa races en l, sino que tambin la propia cultura
reelabora toda la conducta natural del nio y rehace de un modo nuevo
todo el curso del desarrollo (VYGOTSKI, 2006, p.183-184).
Vygotski (2006) supera o pressuposto natural ou, biologizante da educao da
sua poca. Apresenta um novo enfoque, a teoria microgentica, para explicar o
desenvolvimento do psiquismo humano como resultado do contexto exterior e interior
do ser humano.
Mas, Vygotski (2006) no s supera a teoria natural, seno, enfatiza a
importncia e trascendentalidade da dialtica na educao para superar os problemas
relacionados aos problemas de aprendizagens e problemas de ensino, quando afirma:
El segundo punto es an ms importante. Introduce por primera vez en
el problema en el problema de la educacin el enfoque dialctico del
desarrollo del nio. Mientras que anteriormente, estando
indiferenciados los dos planos del desarrollo el natural y el cultural
se poda suponer ingenuamente que el desarrollo cultural del nio es
una continuacin y una consecuencia directa de su desarrollo natural,
ahora esa concepcin resulta imposible. [] Los nuevos
investigadores esbozaron puntos de viraje en el desarrollo all donde
los investigadores anteriores crean ver un movimiento en lnea recta.
[]Junto con esto, desaparece tambin la vieja concepcin sobre el
propio carcter de la educacin. Donde la antigua teora poda hablar
179
sobre cooperacin, la nueva habla de lucha. En el primer caso, la
teora enseaba al nio a dar pasos lentos y calmos, la nueva debe
ensearle a saltar (VYGOTSKI, 2006, p. 184).
Esta a importncia da dialtica para a educao e para os professores: ajuda a ir
raiz do problema e, ajuda as crianas darem saltos qualitativos no processo do seu
desenvolvimento psquico, das suas prprias funes. A dialtica ajuda a impulsar a
criana a dar esse salto qualitativo por meio da mediao do adulto e/ou ferramentas
mediadoras.
A privao cultural, determinada como causa sociolgica e causa biolgica, no
pode ser o baluarte de uma educao humanizadora.
E o ltimo texto de Vygotski (2006) resume tudo isso:
Si nos limitamos slo a determinar y medir los sntomas del
desarrollo, jams saldremos de los lmites de una constatacin
puramente emprica de todo que ya es conocido por las personas que
observan al nio. En el mejor de los casos podremos slo precisar
dichos sntomas y comprobarlos por la medicin, pero no podremos
explicar los fenmenos que observamos en el desarrollo del nio ni
prever el curso ulterior del desarrollo ni sealar qu medidas de
carcter prctico han de aplicarse al nio. Un diagnstico tan estril en
el sentido explicativo, prctico y previsor puede compararse con los
diagnsticos que hacan los mdicos cuando imperaba la medicina
sintomtica. Si el enfermo se quejaba de la tos, el mdico
diagnosticaba: la enfermedad es la tos; si se quejaba de dolores de
cabeza, el mdico anotaba: la enfermedad es el dolor de cabeza. Un
diagnstico semejante es, de hecho, baldo, porque no aade nada
nuevo a lo que ya sabe el paciente, se limita a devolverle sus propias
quejas con etiqueta cientfica. Un diagnstico huero no explica nada
de los fenmenos observados, nada predice respecto a su curso
ulterior ni proporciona ningn consejo prctico al paciente. Un
diagnstico autntico debe explicar y pronosticar y dar una
recomendacin prctica fundamentada cientficamente.
Lo mismo sucede con el diagnstico sintomtico en psicologa. Si se
presentan en la consulta con un nio quejndose de que va retrasado
en su desarrollo intelectual, que tiene mala memoria y tarda en
comprender y el psiclogo, despus de la investigacin, diagnostica:
bajo coeficiente de desarrollo intelectual retraso mental -, tampoco
explica nada, nada predice ni presta ninguna ayuda prctica al igual
que el mdico que diagnostica que el paciente tose (VYGOTSKI,
2006, p. 272).
O trabalho do professor, como mediador do processo de apropriao e
objetivao da criana, como mediador do desenvolvimento das funes psquicas
180
superiores, passa necessariamente por uma nova escola que pode ser estruturada nas
bases conceituais da Teoria Histrico-Cultural.
181
Consideraes finais
Este estudo partiu da necessidade de responder a seguinte questo: Quais os
conceitos centrais da Teoria Histrico-Cultural, fundamentados na teoria marxista, e
suas implicaes nas prticas pedaggicas? Na prpria questo vislumbramos trs
pontos importantes para pesquisar: os pressupostos tericos do materialismo histricodialtico, os principais pontos tericos da Teoria Histrico-Cultural, e suas implicaes
na prtica pedaggica.
Para tratar de responder esta pergunta optamos pelos seguintes objetivos:
analisar nos escritos da filosofia marxista os principais pontos tericos do
Materialismo Histrico-Dialtico que subsidiam a Teoria Histrico-Cultural;
explicitar os aportes da Teoria Histrico-Cultural para a compreenso das
relaes dialticas nos processos desenvolvidos nas prticas pedaggicas.
Para responder esta pergunta tivemos que navegar no mar da imensido do
Materialismo Histrico-Dialtico, da Teoria Histrico-Cultural e, pisar terras firmes nas
prticas pedaggicas que se fundamentam na prpria teoria.
O que constatamos com esta pesquisa quando chegamos da viagem ao porto?
1.
H uma necessidade imperativa na superao do paradigma biologicista
da Educao.
2.
A importncia da apropriao e da compreenso terica do materialismo
histrico-dialtico, porque esta teoria nos apresenta uma nova forma de compreender o
ser humano e a prpria natureza. No podemos prescindir do materialismo histricodialtico quando abraamos o pensamento filosfico da escola de Vigotsky. H uma
fuso entre as duas teorias aplicadas nas prticas pedaggicas.
3.
necessrio apresentar um modelo educativo pautado na viso de
sociedade, de homem e de conhecimento como eminentemente social, fundamentado no
modelo da Teoria Histrico-Cultural.
4.
A importncia da atividade mediada como elemento de transformao da
psique humana e da prpria natureza.
5.
A importncia da anlise microgentica como mtodo para chegar a raiz
do problema que verificamos na educao escolar.
182
6.
No ser humano, o aspecto biolgico no o determinante para o
desenvolvimento do ser humano. O determinante no ser humano esse
desenvolvimento totalmente dirigido pelo histrico-cultural.
7.
A importncia de que nas escolas, o docente mediador, trabalhe a zona de
desenvolvimento proximal e no insistir s no nivel de desenvolvimento atual. Por isso,
o docente deve realizar atividades desafiadoras com os alunos, atividades que tenham
sentido, significado e motivos para cada criana. Se o docente no leva em conta estes
pressupostos, lhe ser difcil que ele faa uma atividade realmente qualitativa onde o
aluno possa se apropriar e se objetivar nas coisas produzidas ao longo da histria
humana.
8.
A importncia dos signos e das ferramentas como elementos mediadores
para a transformao do ser humano e da prpria natureza. Desta forma, os objetos da
natureza se tornam humanizantes.
9.
O desenvolvimento do psiquismo humano por meio das atividades
mediadoras.
10.
Os problemas de aprendizagem evidenciam problemas de ensino. O
problema no est na criana, mas, na forma como se executa as atividades com os
alunos. No estamos negando de que no haja problemas biolgicos, mas, afirmar que
esses problemas so determinantes para a transformao do ser humano simplesmente
querer biologizar esses problemas e no ir raiz do mal.
Uma leitura atenta desta pesquisa nos ajudar a superar a forma de olhar as
crianas. Por isso, esta pesquisa no termina aqui, mas, cria outra necessidade para que
seja pesquisada. E essa outra necessidade seria: como a escola pode constituir-se em
produtora do gnero humano para si?
A nossa sociedade capitalista e os problemas de aprendizagens e de ensino
sempre esto nas crianas, porque o sistema escolar est fundamentado em categorias
excludentes de ordem sociolgica e biolgica. E a Teoria Histrico-Cultural pode ajudar
a constituir essa escola humanizadora.
183
Referncia
ANGELUCCI, C. B., KALMUS, J., P., PAPARELLI, R., & PATTO, M. H. S. O
estado da arte da pesquisa sobre o fracasso escolar (1991-2002): um estudo
introdutrio. Educao em Pesquisa, 30(1), 51-72, Brasil, 2004.
ARANHA, Maria Lcia & MARTINS, Maria Helena. Filosofando: Introduo a
Filosofia. So Paulo: Editora Moderna, 1993.
AZENHA, Maria da Graa. Construtivismo: de Piaget a Emlia Ferreiro. So
Paulo:tica,1993.
BAQUERO, R. Vygotsky e a aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes Mdicas,
1998.
BLANK, G. & SILVESTRI. S. Bajtn & Vygotski: La organizacin semitica de la
conciencia. Barcelona: Editorial Anthropos, 1994.
BRASIL Ministrio da Educao. Ensino Bsico Taxa de repetncia por srie
1981-2001. Brasil, 2003.
Disponvel: www.inep.goc.br/download/informativo/2003/taxa repetncia.
Acessado em: julho de 2011.
CAMPOS, Douglas Aparecido. Projeto Scio-Educacional: a reflexo sobre os
fundamentos dos seu sucesso a partir da ao comunicativa, o significado e sentido
e a metodologia. 2005. 207 f. Tese (Doutorado em Educao) Programa de PsGraduao em Educao, Universidade Federal de So Carlos, So Carlos, 2005.
CARAM, A.M. Crises das Idades os entraves nas prticas docentes e as
implicaes no desenvolvimento da criana: uma leitura a partir de Vygotski. So
Carlos: UFSCar, 2009. 104 f.
Dissertao (Mestrado) Universidade Federal de So Carlos, 2009.
DAVIDOV, Vasili. La enseanza escolar y el desarrollo psquico. Mosc: Editorial
Progreso, 1988.
DAVIDOV, V. V. Anlisis de los principios didcticos de la escuela tradicional y
posibles principios de enseanza en el futuro prximo. In:______. SHUARE, Marta. La
Psicologa evolutiva y pedagoga en la URSS. Antologia. Mosc: Editorial Progreso,
1987.
DUARTE, N. Educao escolar, teoria do cotidiano e a escola de Vigotski.
Campinas: Editora Autores Associados, 1996.
184
DUARTE, N. Vigotski e o aprender a aprender: crtica s apropriaes
neoliberais e psmodernas da teoria vigotskiana. Campinas: Autores Associados,
2006. (Coleo Educao contempornea).
EIDT, N.M. & TULESKI, S.C. Repensando os distrbios de aprendizagem a partir
da Psicologia Histrico-Cultural. Psicologia em Estudo, Maring, 12 (3), 531-540,
Brasil, 2007.
ENGELS, F. Dialctica de la Naturaleza. Mosc: Edicin Rusa, Rusia, 1955.
ENGELS, F. Anti Durhing. So Paulo: Paz e Terra, 3 Edio, SP, 1990.
ENGELS, F., O funeral de Karl Marx. In: FROMM, E. Conceito Marxista do Homem.
Rio de Janeiro: Zahar Editores, Stima Edio. Brasil, 1979.
ENGELS, F., A Dialtica da Natureza. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, Brasil,
1991.
ELKONIN, D.B. Sobre el problema de la periodizacin del desarrollo psquico en la
infancia. In:______. SHUARE, Marta. La Psicologa evolutiva y Pedagoga en la
URSS. Mosc: Editorial Progreso, 1987.
ELKONIN, D.B. Caracterstica general del desarrollo psquico de nos nios.
In:______.SMIRNOV, A.A. e cols. (orgs). Psicologa. Mxico: Grijalbo, 1960.
FACCI, M. G. D. A periodizao do desenvolvimento psicolgico individual na
perspectiva de Leontiev, Elkonin e Vigotski. In:______. Cadernos Cedes. Campinas,
vol.24, n. 62, p.64-81, abril 2004.
FRIGOTTO, G.O. Os desafios da teoria e da investigao educativa no contexto da
crise societal. In: ENCONTRO REGIONAL (SUDESTE) DE PESQUISA
EDUCACIONAL, 2004, Rio de Janeiro.
GALPERIN, P.I. Desarrollo de las investigaciones sobre la formacin de acciones
mentales. Mosc: Ciencia Psicolgica en la URSS, v. 1, 1959.
GONALVES, M. G. M. Fundamentos metodolgicos da psicologa scio-histrica.
In:______. BOCK, A. M. B. et al. (Org.). Psicologia scio histrica. So Paulo: Cortez,
p. 113-128, 2001.
HELLER, A. O cotidiano e a histria. So Paulo: Paz e Terra, 2000.
185
HERNECKER, Marta. Os conceitos elementares do materialismo histrico. So
Paulo: Global Editora, 1983.
KONSTANTINOV, F.V., Los fundamentos de la filosofa marxista. Mxico: Editor
Juan Grijalbo, Mxico, D.F., 1959.
KOSIK, Karel. Dialtica do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2 Edio, 1976.
KRAMER, Snia. Privao Cultural e Educao Compensatria: Uma anlise
crtica. Cadernos de pesquisa, n42, So Paulo, 1982.
KRAMER, Snia. O papel social da Pr-Escola. In:______. ROSEMBERG, Flvia et
alii. Creches: Temas em destaque. So Paulo: Cortez, 1989.
KRAPIVINE, V. Qu o materialismo dialtico? Moscou: Edies Progresso, 1986.
LEONTIEV, A. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Livros Horizonte,
Portugal, 1978.
LEONTIEV, A. O desenvolvimento do psiquismo. Traduo de Rubens Eduardo
Frias. 2 ed. So Paulo: Centauro, 2004.
LEONTIEV, Alexis N. Uma contribuio teoria do desenvolvimento da psique
infantil. In:______. VIGOTSKII, L.S., LURIA, A. R. e LEONTIEV, A . N.
Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. So Paulo: cone Editora, 1992.
LEONTIEV, A. N. Actividad, conciencia, personalidad. La Habana: Editorial Pueblo
y Educacin, 1983.
LEONTIEV, A. N. Actividad, conciencia, personalidad. Buenos Aires: Ediciones
Ciencias del Hombre, 1978.
LENIN, V.I. Materialismo e empiriocriticismo. Moscou, Editorial Progresso, Lisboa,
Edies Avante, 1982.
LIBNEO, Jos C. Tendncias pedaggicas na prtica
Democratizao da escola pblica. So Paulo, Loyola, 1985.
social.
In:______.
LNINE, V.I., Materialismo e Empiriocriticismo. Lisboa: Editorial Estampa 1975.
LURIA, A.R. Curso de Psicologia Geral. Vol.1. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
1979.
186
LURIA, A.R. Las Funciones Corticales Superiores del Hombre. La Habana: Orbe,
1997.
LURIA, A.R. Desenvolvimento cognitivo. So Paulo: cone, 1999.
LURIA, A. R. A Construo da Mente. So Paulo: cone, 1992.
MACHADO, A. M. Avaliao psicolgica na educao: mudanas necessrias.
In:______. E. R. TANAMACHI; M. L. ROCHA; M. P. R. PROENA (Orgs.),
Psicologia e Educao: desafios terico-prticos (pp. 143-167). So Paulo: Casa do
Psiclogo, Brasil, 2000.
MARX, K. O Capital. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, v.1, 1999.
MARX, K. O Capital. Vol1. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1968.
MARX, K. & ENGELS. F. Ideologa alemana. Mxico: Ediciones de Cultura Popular:
Mxico, s/d.
MARX, K. & ENGELS. A Ideologia Alem. So Paulo: Livraria Martins Fontes,
Vol.1, 3 Edio. Brasil, s/d.
MARX, K., Manuscritos: economa y filosofa. Madrid: Alianza Editorial, Espaa,
1985.
MARX, K. Para uma crtica da economia poltica. So Paulo: Global Editora e
Distribuidora Ltda, Brasil, 1979.
MARX, K. Contribuio crtica da economia poltica. So Paulo: Editora
Expresso Popular, 2008.
MARKUS, Gyorgy. Marxismo e antropologia. Barcelona: Ed. Grijalbo, Espaa.1974.
MAZZOTTI, A. J. A. Fracasso Escolar: representaes de professores e de alunos
repetentes. Anais da 26 Reunio Anual da ANPEd (pp.1-17). Poos de Caldas, 2003.
MELLO, M.A., Aprendizagens sem dificuldades: a perspectiva Histrico-Cultural.
In:______. Aprender- Caderno de Filosofia e Psicologia da Educao, ano 5,
nmero 9, edies UESB, p. 203-218, 2007.
187
MELLO, M.A. et al. As linguagens corporais e suas implicaes nas prticas
pedaggicas: cultura, corpo e movimento. So Carlos: EdUFSCar, coleo UABUFSCar, 2010.
MINAYO, M. C. Cincia, tcnica e arte: o desafio da Pesquisa Social. In:______.
(Org.) Pesquisa social: teoria, mtodo e criatividade. Petrpolis: Vozes, 2001.
MINAYO, M. C. O desafio do conhecimento. So Paulo/Rio de Janeiro: HUCITECABRASCO, 1994.
MOYSES, M. A. A., & COLLARES, C. A. L. Inteligncia Abstrada, Crianas
Silenciadas: as Avaliaes de Inteligncia. Psicologia USP, 8(1), 63-89, Brasil, 1997.
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vigotsky: aprendizado e desenvolvimento um processo
scio-histrico. So Paulo: Scipione, 1993.
PADOVANI, Humberto e CASTAGNOLA, Lus. Histria da Filosofia. So Paulo:
Edies Melhoramento, 1962.
PATTO, Maria Helena Souza. Para uma Crtica da Razo Psicomtrica. Psicologia
USP, 8(1), 47-62. Brasil, 1997.
PATTO, M. H. S. A produo do fracasso escolar: histrias de submisso e
rebeldia. (2 ed.). So Paulo: Casa do Psiclogo, 2000.
PATTO, Maria H. S.; WITTER, Geraldina P.; COPIT, Melany S. Privao Cultural e
Desenvolvimento. So Paulo: Pioneira, 1975.
PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. Edio 20. Rio de Janeiro: Forense
Universitria, 1994.
PIAGET, Jean. Sobre a Pedagogia (textos inditos). So Paulo: Casa do Psiclogo,
1998.
PIAGET, J. O Nascimento da Inteligncia na Criana. (Cabral, A., Trad.). Rio de
Janeiro: Editora Zahar, 1975c.
PETROVSKI, A. Psicologia General. Mosc: Editora Progreso, Rusia, 1995.
POPPOVIC, A. ESPOSITO, Y. L., CRUZ, L. M. C. Marginalizao cultural: uma
metodologia para seu estudo. Cadernos de Pesquisa, So Paulo, n. 7, p. 13-60, jun.,
1973.
188
PRESTES, Z. R. Quando no quase a mesma coisa Anlise de tradues de Lev
Semionovitch Vigotski no Brasil Repercusses no campo educacional. 2010. 295
f.
Tese (Doutorado em Educao) Faculdade de Educao, Programa de Ps-Graduao
em Educao, Universidade de Braslia, Braslia, 2010. Disponvel em:
http://biblioteca.fe.unb.br/pdfs/2010-03-191048zoiaprestes.pdf. Acessado em: Acesso
em: 27 set. 2011.
REGO, T.C. Vygotsky: uma perspectiva histrico-cultural em educao. Petrpolis:
Vozes, 1996.
ROSENTAL, M. Da Teoria Marxista do Conhecimento. Rio de Janeiro: Editorial
Vitria Limitada, Biblioteca da nova cultura. Vol.IX. Rio de Janeiro, 1959.
SALVADOR, ngelo Domingos. Mtodos e tcnicas de pesquisa bibliogrfica. Porto
Alegre: Sulina, 1994.
SAVIANI, D. Educao: do senso comum conscincia filosfica. Campinas:
Autores Associados, 15 ed., 2004.
SALVADOR, ngelo Domingos. Mtodos e tcnicas de pesquisa bibliogrfica. Porto
Alegre: Sulina, 1986.
SAVIANI, D. Pedagogia histrico crtica: primeiras aproximaes. So Paulo:
Autores Associados, 1994.
SOUZA, M. P. R. A queixa escolar na formao de psiclogos:desafios e perspectivas.
In:______. E. R. Tanamachi, M. L. Rocha & M. P. R. Proena (Orgs.), Psicologia e
Educao: desafios terico-prticos (pp. 105-142). So Paulo: Casa do Psiclogo,
2000.
TRIVIOS, Augusto N.S. Introduo pesquisa em cincias sociais. So Paulo:
Editora Atlas S.A., 2009.
TULESKI, Silvana Calvo. Para ler Vygotsky: recuperando parte da historicidade
perdida. Universidade Estadual de Maring UEM, Maring, Paran, 1999. 175 f.
Dissertao (Mestrado) Programa de Ps-Graduao em Educao da Universidade
Estadual de Maring - UEM. 1999.
VIGOTSKI, L.S. A construo do pensamento e da linguagem. Traduo de Paulo
Bezerra. So Paulo: Martins Fontes, 2001.
VIGOTSKI, L.S. A formao social da mente: o desenvolvimento dos processos
psicolgicos superiores. So Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda., Brasil,
2002.
189
VIGOTSKY, L. El desarrollo de los procesos psicolgicos superiores. Mxico:
Editorial Crtica, Grupo editorial Grijalbo, 1988.
VYGOTSKI, L.S. Historia del desarrollo de las funciones psquicas superiores:
Obras Escogidas III. Madrid: Editora Visor, 1995.
VYGOTSKI, L. S. Obras Escogidas. Tomo I. Madrid: Visor Distribuidores, S.A.,
1991.
VYGOTSKI, L. S. Obras Escogidas. Tomo II. Madrid: Visor Distribuidores, S.A.,
1993.
VYGOTSKI, L. S. Obras Escogidas. Tomo III. Madrid: Visor Distribuidores, S.A.,
1996.
VYGOTSKI, L. S. Obras Escogidas. Tomo IV. Madrid: Antonio Machado Libros,
S.A., 2006.
VYGOTSKI, L. S. Obras Escogidas. Tomo V. Madrid: Visor Distribuidores, S.A.,
1997.
VYGOTSKI, L. S. Teoria e mtodo em Psicologia. So Paulo: Martins Fontes, 1996.
VYGOTSKI, L.S & LURIA, A. El instrumento y el signo en el desarrollo del nio.
Madrid: Fundacin Infancia y Aprendizaje, 2007.
VYGOTSKY, L.S. El desarrollo de los procesos psicolgicos superiores. Barcelona:
Crtica, 1979.
VYGOTSKY, L.S. et al. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. So Paulo:
cone, 1988.
VYGOTSKY, L.S. Problemas tericos y metodolgicos de la psicologa. Madrid:
Visor, 1991.
VYGOTSKY, L.S. Teoria e mtodo em psicologia. 2 Ed. So Paulo: Martins Fontes,
1999.
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. So Paulo: Martins Fontes, 1989.
190
VYGOTSKY, L.S & LURIA, A.R. Estudos sobre a histria do comportamento:
smios, homem primitivo e criana. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1996.
VYGOTSKY, L.S. Psicologia Pedaggica. So Paulo: Martins Fontes, 2001b.
VYGOTSKY, L.S. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar.
In:______. VYGOTSKY, L.S. et al. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem.
So Paulo: cone; EDUSP, 1988.
VYGOTSKY, L. A formao social da mente. So Paulo: Martins Fontes, 1991.
VYGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: La Plyade,
1977.
WERTSCH, James. Vygotsky y la formacin social de la mente. Barcelona: Paids,
1988.
Você também pode gostar
- Fiorentini, Miorim - Uma Reflexão Sobre o Uso de Materiais Concretos e Jogos No Ensino Da MatemáticaDocumento235 páginasFiorentini, Miorim - Uma Reflexão Sobre o Uso de Materiais Concretos e Jogos No Ensino Da MatemáticaThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- KLINGER - Mapeamento de Dois GruposDocumento16 páginasKLINGER - Mapeamento de Dois GruposThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- O Conceito de Infancia em Artigos Brasileiros de PsicologiaDocumento200 páginasO Conceito de Infancia em Artigos Brasileiros de PsicologiaThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- O Estado Da Arte Das Pesquisas Educacionais Sobre Gênero eDocumento17 páginasO Estado Da Arte Das Pesquisas Educacionais Sobre Gênero eSandro NandolphoAinda não há avaliações
- Pesquisa em EducaçãoDocumento126 páginasPesquisa em EducaçãoGisele Galafacci100% (1)
- RAIMUNDO - Estado Da Arte Sobre Formacao de ProfessoresDocumento28 páginasRAIMUNDO - Estado Da Arte Sobre Formacao de ProfessoresThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- GAMBOA - Estado Da ArteDocumento22 páginasGAMBOA - Estado Da ArteThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- Como professores e alunos constroem conhecimento juntosDocumento10 páginasComo professores e alunos constroem conhecimento juntosThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- Análise epistemológica das pesquisas em educação de SPDocumento156 páginasAnálise epistemológica das pesquisas em educação de SPEduardo MoncayoAinda não há avaliações
- Perejivânie - Estado Da Arte Das PesquisasDocumento17 páginasPerejivânie - Estado Da Arte Das PesquisasThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- Inconsciente Na PsicologiaDocumento101 páginasInconsciente Na PsicologiaMarcosAinda não há avaliações
- Relacoes Interpessoais VigotskiDocumento120 páginasRelacoes Interpessoais VigotskiThaís Gomes Novaes100% (2)
- Pesquisa e formação de professores da Educação Básica: mapeando estudos sobre o temaDocumento25 páginasPesquisa e formação de professores da Educação Básica: mapeando estudos sobre o temaThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- Análise Da Produção Científica em Avaliação Psicológica Informatizada Analysis of The Scientific Production in Computerized Psychological AssessmentDocumento9 páginasAnálise Da Produção Científica em Avaliação Psicológica Informatizada Analysis of The Scientific Production in Computerized Psychological AssessmentVictor NamurAinda não há avaliações
- A Teoria de P Ya Galperin Nas Pesquisas em EducacaDocumento20 páginasA Teoria de P Ya Galperin Nas Pesquisas em EducacaThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- Teoria Da Atividade de EstudoDocumento342 páginasTeoria Da Atividade de EstudoWesley Meira100% (3)
- Elkonin, D. - 2012 - Enfrentando o Problema Dos Estágios No Desenvolvimento Mental Das CriançasDocumento25 páginasElkonin, D. - 2012 - Enfrentando o Problema Dos Estágios No Desenvolvimento Mental Das CriançasCorpoSemÓrgãosAinda não há avaliações
- Procedimentos Metodológicos Na Construção Do Conhecimento CientíficoDocumento9 páginasProcedimentos Metodológicos Na Construção Do Conhecimento Científicoclovis_gualbertoAinda não há avaliações
- ARAUJO - Contribuicoes Da THC Na EM AOEDocumento10 páginasARAUJO - Contribuicoes Da THC Na EM AOEThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- CASSANDRE - Geracoes e Evolucao Da Pesquisa TAHC PDFDocumento16 páginasCASSANDRE - Geracoes e Evolucao Da Pesquisa TAHC PDFThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- Adi A Let I CA Do Singular Particular UniversalDocumento21 páginasAdi A Let I CA Do Singular Particular UniversalFelipe LadislauAinda não há avaliações
- Ensino de Matemática na InfânciaDocumento9 páginasEnsino de Matemática na InfânciaThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- Se Me Tivessem Ensinado AntesDocumento26 páginasSe Me Tivessem Ensinado AntesThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- Anais Coloquio Ensino Desenvolvimental 2018. p.292Documento1.133 páginasAnais Coloquio Ensino Desenvolvimental 2018. p.292CeliaMiranda100% (2)
- VIANNA - Educacao e GeneroDocumento9 páginasVIANNA - Educacao e GeneroThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- DAMAZIODocumento22 páginasDAMAZIOThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- ANEMARI - Educacao Matematica e THC ApontamentosDocumento10 páginasANEMARI - Educacao Matematica e THC ApontamentosThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- Lizete MacielDocumento12 páginasLizete MacielThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- Transformação linguagem-pensamento aprendizagem conceitosDocumento19 páginasTransformação linguagem-pensamento aprendizagem conceitosThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- Preparo dos acadêmicos de enfermagem para morte e lutoDocumento13 páginasPreparo dos acadêmicos de enfermagem para morte e lutoFábio GoulartAinda não há avaliações
- Relatório Das Atividades de Estágio em Pedagogia EadDocumento18 páginasRelatório Das Atividades de Estágio em Pedagogia EadLizmara MacedoAinda não há avaliações
- Auditivo Material+de+apoio PDFDocumento57 páginasAuditivo Material+de+apoio PDFTatiane R. de SenaAinda não há avaliações
- Lobos CerebraisDocumento3 páginasLobos CerebraisCatfilipa Ricardo100% (1)
- Orientações Gerais SobreDocumento20 páginasOrientações Gerais SobreAndre LuisAinda não há avaliações
- Codigo de Conduta Dos Contabilistas No Ensino de ContabilidadeDocumento14 páginasCodigo de Conduta Dos Contabilistas No Ensino de Contabilidadeapub cof100% (1)
- Leitura e Producao de Textos II PDFDocumento44 páginasLeitura e Producao de Textos II PDFKeity DiasAinda não há avaliações
- Por que estudar processos mentais em PsicologiaDocumento7 páginasPor que estudar processos mentais em PsicologiaPsicologia UnifsaAinda não há avaliações
- A Cultura Da EducaçãoDocumento5 páginasA Cultura Da EducaçãoAngela Helena100% (1)
- Análise sintática 7a CDDocumento2 páginasAnálise sintática 7a CDCinthia AssisAinda não há avaliações
- AD1 Psicologia Da Educação 1Documento4 páginasAD1 Psicologia Da Educação 1Cristiane BragaAinda não há avaliações
- Tecnicas de Informatica Questionario II UnipDocumento7 páginasTecnicas de Informatica Questionario II UnipCarlaFerraz86% (7)
- Inglês - Capítulos sobre gramática, false friends e compreensão textualDocumento84 páginasInglês - Capítulos sobre gramática, false friends e compreensão textualalbertocarpinelliAinda não há avaliações
- Exercícios de Morfologia Completo (1) - PDF Chuchu Aula 1Documento3 páginasExercícios de Morfologia Completo (1) - PDF Chuchu Aula 1ROSELI GRANAAinda não há avaliações
- Cinval, Art 6Documento21 páginasCinval, Art 6Joaquim SimãoAinda não há avaliações
- Bateria Psicomotora de Vítor da FonsecaDocumento7 páginasBateria Psicomotora de Vítor da FonsecaPedro MartinsAinda não há avaliações
- Poesia Poema - Wlademir Dias PinoDocumento94 páginasPoesia Poema - Wlademir Dias PinoDjavam DamascenoAinda não há avaliações
- Fundamentos e percursos históricos do ensinoDocumento17 páginasFundamentos e percursos históricos do ensinoLolaTeixeiraAinda não há avaliações
- Xadrez ativa ambos os lados do cérebroDocumento4 páginasXadrez ativa ambos os lados do cérebroKasparico100% (1)
- Teoria X-barra: exercícios e implementação em PrologDocumento3 páginasTeoria X-barra: exercícios e implementação em PrologScliartArtAinda não há avaliações
- Uso de Mídia Interativa e Desenvolvimento Infantil PrecoceDocumento3 páginasUso de Mídia Interativa e Desenvolvimento Infantil PrecoceHannah HolandaAinda não há avaliações
- Construtivismo - Jean PiagetDocumento1 páginaConstrutivismo - Jean PiagetJoana Inês PontesAinda não há avaliações
- Esquemas e Comportamentos Disfuncionais YoungDocumento5 páginasEsquemas e Comportamentos Disfuncionais YoungJoana GaiãoAinda não há avaliações
- Ensino de Português e BilinguismoDocumento10 páginasEnsino de Português e BilinguismoAnabela Graça LopesAinda não há avaliações
- Parâmetros para A Educação Básica Do Estado de PernambucoDocumento176 páginasParâmetros para A Educação Básica Do Estado de PernambucoManoel NetoAinda não há avaliações
- Acolhimento dos alunos na Escola Estadual de Ensino Médio Integral Craveiro CostaDocumento4 páginasAcolhimento dos alunos na Escola Estadual de Ensino Médio Integral Craveiro CostaCraveiro Costa Integral100% (1)
- 1º TRABALHO de Linguas BantuDocumento13 páginas1º TRABALHO de Linguas BantuXavier100% (3)
- Disgrafia na Educação FundamentalDocumento43 páginasDisgrafia na Educação FundamentalSpot da Música EscolaAinda não há avaliações
- A relação do sujeito com o tempo na atualidade: transformações culturais e consequências subjetivasDocumento11 páginasA relação do sujeito com o tempo na atualidade: transformações culturais e consequências subjetivasAyrk ZamiskeAinda não há avaliações