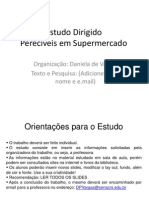Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Nossa Vendeia Canudos o Mito Da RF e A Formacao Da Identidade Cultutal No BR
A Nossa Vendeia Canudos o Mito Da RF e A Formacao Da Identidade Cultutal No BR
Enviado por
Stephany P. Mencato0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações17 páginasTexto de Roberto Ventura - Rev. Inst. Est. Bras., SP, 31:129-145,1990.
Título original
A Nossa Vendeia Canudos o Mito Da Rf e a Formacao Da Identidade Cultutal No Br
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoTexto de Roberto Ventura - Rev. Inst. Est. Bras., SP, 31:129-145,1990.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações17 páginasA Nossa Vendeia Canudos o Mito Da RF e A Formacao Da Identidade Cultutal No BR
A Nossa Vendeia Canudos o Mito Da RF e A Formacao Da Identidade Cultutal No BR
Enviado por
Stephany P. MencatoTexto de Roberto Ventura - Rev. Inst. Est. Bras., SP, 31:129-145,1990.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 17
“4 NOSSA VENDEIA”: CANUDOS, O MITO DA
REVOLUCAO FRANCESA E A FORMACAO DE
IDENTIDADE CULTURAL NO BRASIL (1897-1902)*
Roberto Ventura**
RESUMO
‘Unitermos: cultura brasileira — literatura oral — movimentos messidinicos — Repa-
bilica brasileira — Revolusdo Francesa.
“(...) ndo temas ainda wna historia. Ndo aventuro um para-
doxo. Temos anais, como os chineses. (...) Mas o seu dis-
curso € obscuro — e desdobra-se tdéo mecanicamente e€ so-
bremaneira mondtono que ndo nos permite ouvir, através do
estilo incolor dos que a escreveram,’ a longtnqua voz de-um
passado que entre nds falou trés linguas.’”
Euclides da Cunha!
1. A REVOLUGAO FRANCESA COMO HISTORIA UNIVERSAL.
“Em breve pisaremos o solo onde a Repwblica vai dar com seguranga 0
() _ Realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientffico ¢ Tecnolégico.
(eNO. A ‘as observacbes de Luiz Costa Lima, Hans Ulrich Gumbrecht, Ursula
Link-Hleer e Silviano Santiago.
” Profemor na Area de Teoria Litertra Literatura Comparada da FFLCH/USP,
(1) CUNHA, Euclides da. Contrastes e confrontos (1907), Parto, Chardron, 1923, p. 272.
Rev. Inst. Est. Bras., SP, 31:129-145, 1990 129
iltimo embate aos que a perturbam’”’.2 Revelando o fervor republicano de
Euclides da Cunha, a frase se encontra na série de artigos e reportagens de
1897 sobre a guerra de Canudos, em que 0 conflito entre as forcas do Exér-
cito e os seguidores de Antonio Conselheiro ¢ interpretado a partir da proje-
‘G80 do modelo da Revolugio Francesa sobre a-histéria brasileira. A compa-
ragdo se toma patente no titulo dos dois primeiros artigos da série, escritos
por Buclides em Séo Paulo, antes de ser enviado a Canudos como corres-
pondente de O Estado de S. Paulo: nossa Vendéia”, a Vendéia, episédio
Ga hist6ria universal, tal como manifestado na histéria nacional. De modo
semelhante 4.Revolucio Francesa, ameacada de margo de 1793 a fevereiro
de 1795 pela sublevagdo camponesa, de caréter realista e catdlico da regifio
da Vendéia, estaria a recém proclamada Republica brasileira em perigo, a
partir da manipulagao polftica do movimento de Canudos por uma conspira-
¢80 mon4rquico-restauradora: “Como na Vendéia o fanatismo religioso que
domina as suas almas ingénuas-e simples é habilmente aproveitado pelos
propagandistas do império”. (p. 167) Aprofundando a metéfora, conclui:
““A justeza do paralelo estende-se aus préprios revezes sofri-
dos. A Revolugo francesa que se aparethava para lutar com
@ Europa, quase sentiu-se impotente para combater os ad-
versdrios da Vendéia (...). Este paralelo serd, porém, levado
ds ultimes conseqiéncias. A Repitblica saird triunfante desta
ultima prova’’ . (p. 167)
Representado:de forma paradigmética por um conjunto de acontecimen-
tos e atores histéricos englobados sob a designagéo genérica de “‘a Revolu-
fo Francesa”, ee ee ee oe ee oe te natane
de forma paralela na sociedade brasileira, justificando o emprego da metiifo-
ra da Vendéia. Colocam-se af duas quest6es: a universalizagao da Revolugaio
Francesa, que adquire um cardter exemplar, e a insergiio de sociedades na-
cionais (no caso, a brasileira) em um modelo normativo de histéria universal.
A superposic¢ao de ambas as questdes iraz a tona a problemética acerca da
fungi e'sentido que paradigmas de aco e pensamento (a Revolucio Fran-
cesa e a ideologia liberal-republicana) adquirem quando deslocados de seus
contextos sécio-histéricos de origem. Devé-se indagar sob que formas, con-
digées ¢ limites, 0 paradigma da Revolucio Francesa se converte em modelo
de uma revolugaio nacional: trata-se, como colocou J. Guilhaumou a respeito
das relagées entre a tradigdo jacobina e o pensamento marxista, da possibili-
dade de construir, através da tradutibilidade entre duas culturas nacionais,
uma “repeticao identificatéria da histéria”.3
Entre Euclides da Cunha e seus contemporineos, a identificago com o
mito revolucionfrio franc&s integra um fenémeno religioso e politico, que
deixa perplexas.as populacées.¢ elites das cidades ¢ do litoral, a um hori-
(@. CUNHA, Boolides da. Canudos; Didrio de wna expedicdo. Rio de Janeiro, Joss Olympio,
1939, p.'6, Reumilo dos artigos o eportagens para 0 jornal O Estado de S. Pato, do 7 ds
agosto 0 26 de outubro de 1897
@) GUILHAUMOU, Jacques. Die Rezeption der Franzoesischen Revolution in den Texten des
agen ay a, Is: Corvigliai ‘Bemard / Gumbrecht, Hans Ulrich (eds.). Der
Baki ter -und Sprachhistorie. Frankfurt 2. M., Suhrkamap, 1983, p. 210-220.
130 Rev. Inst. Est. Bras., SP, 31:129-145, 1990
zonte- prévio de .expectativas, permitindo classificar 0 movimento: como
“monarquista”” ¢ “‘restaurador”, o que assegura, pela crenga-na repetigfio dii
histéria, uma resolugio pré-republicana ao conflito. A metéfora da-Vendéia
incorpora Canudos a uma histéria, a Revoluggo Francesa, vivida ao nfvel
imaginério’ pelos republicanos brasileiros, expurgando difvidas e incertezas
coletivas quanto ao futuro nacional. A hist6ria da Revolugio Francesa apre-
senta.no Brasil de fins do século XIX um efeito miftico-ideolégico enquanto
estrutura fechada de perguntas e respostas, que assimila acontecimentos ad-
versos a um horizonte em que as perguntas e as respostas jd esti dadas.
Com isso, péde Euclides escrever, em meio as reviravoltas polfticas provo-
vadas pela expansio do conflito, frases retumbantes e retéricas como: “A.
Republica € imortal!”*, ou: “Em breve pisaremos 0 solo onde a Republica vai
dar com seguranga 0 ultimo embate aos que a perturbam”.+
Em 1902, cinco anos apés a extinggo militar do conflito com o massacre
da comunidade, publica Buclides da Cunha Os sertées: campanha de Canu-
dos. Nessa obra, a histéria da campanha de Canudos € retomada segundo
uma perspectiva ensajstica e historiogréfica que, na tentativa de enfocar os
fatores ¢ leis, transforma, em suas palavras, o “tema” em “‘variante de.as-
sunto geral”: “‘os tragos atuais mais expressivos das sub-racas sertanejas do
Brasil”.> Entretanto, mais notével do que a passagem do jornalismo. ao en
safsmo historiogréfico € a sua demincia da campanha como “crime”, que:o
faz distanciar-se da metéfora da Vendéia ¢ da ideologia liberal-republicana:
Entre ‘os artigos de 1897 ¢ 0 livro de 1902, interpée-se, com a sua cobertura
“ao vivo” dos momentos finais da guerra, 0 contato néo mediatizado pela
Propaganda republicana com a realidade de Canudos. Produz-se uma “revi~
ravolta de opinifio” (W. N, Galvio) através da reversdo de seu horizonte
prévio de expectativas e da conseqilente introdug&o, em seu discurso, de uma
diferenciagao critica frene ao republicanismo. A partir de tal diferenciagio,
surge em Euclides a aguda, ainda que ambivalente, consciéncia da‘especifi-
cidade da formagao social brasileira em relagio aos modelos: temas da
“histéria universal”.
A interagao entre o acontecimento Canudos e o observador-narrador Eu-
clides da Cunha representa caso paradigmitico de constituigho de conscién-
de on
gem integrada de “nagio” e “cultura”. A investigacio das. mudangas-de
Perspectiva operadas em Euclides, entre 1897 ¢'1902, revela as condig6es‘de
emergéncia ou reformulagéo do conceito de cultura ‘nacional e 0 ‘cariter
Problemdtico dos processos correlatos de construgio de identidade. °°
2. A REPUBLICA DIVIDIDA,
Ingressando em 1885 no curso de engenharia da Escola, Politécnica e
‘ransferindo-se em 1886 para a Escola Militar, participa Fuclides de dois
centros de modemizagiio, em que encontrava ampla' ressonfincia a propagan-
(4) CUNHA, Enclides da. Canudos, p. 6-7.
(3) CUNHA, Boclides da. Os sertées; Campanha de Canudos (1902).: EdigSo crftica de Walnice
Nogucira Galvio, Sto Panio, Brasilioase, 1985, p.87, es
Rev, Inst. Est, Bras., SP, 31:129-145, 1990 1
da, republicana, voltada para a liquidag&o do, Segundo Império brasileiro. A
propaganda abolicionista e republicana se insere em um processo de ruptura,
a partir de 1870, com os quadros ideolégicos dominantes, por meio da incor-
porago da linguagem do liberalismo democritico e dos paradigmas positi-
‘vistas, naturalistas ¢ cientificistas.6 Nesse processo, engaja-s¢ Euclides, es-
crevendo poemas e artigos.de propaganda dos princfpios revoluciondrios
franceses, de que constituem exemplo os quatro sonetos dedicados a “‘Dan-
ton”, ‘Marat’, “‘Robespierre”’, “‘Saint-Just’”’, tidos como personagens impe-
recfveis na memdria dos homens, numa selegdo de Ifderes que indica o pos-
sfvel privilégio de uma interpretacéio jacobina de 1789. Em 1888, é expulso
da Escola Militar, devido.a ato de protesto contra a monarquia, s6 podendo
retomar a formago militar com o advento.do regime republicano.”
Proclamada em 1889 por um golpe do Exército, de escassa repercussiio
popular, a Republica brasileira se debate de 1889 a 1898 entre duas concep-
g6es politicas Conflitantes: de um lado, o grupo de inspiragio jacobina e po-
Sitivista, favordvel a ditadura militar centralizada, enquanto garantia contra
os riscos de desagregaciio politica e como forma de erradicar a dominagao
dos setores oligSrquicos e de implantar, de cima para baixo, a moderhizacéo
social; por outro, o movimento civilista e federalista, de embasamento libe-
ral-democrético, partidério de governo descentralizado que permitisse As oli-
garquias estabelecer o controle civil do sistema politico, convertendo-se,
pela manipulagio e coergio do voto popular, nas suas forgas de decisao.
‘Trata-se menos.do conflito entre ditadura e democracia, como se poderia de-
preender de uma leitura liberal da histéria brasileira, mas da disputa em tor-
no de duas compreensées igualmente pouco democraticas de repiiblica.8
De .1889-a 1894, predomina a concepgio ditatorial de repuiblica, assu-
mindo 0 Exército 0 papel de guardiao- da unidade nacional. O absolutismo do
poder mondnyuico, cuja critica sustentara o movimento republicano, acaba se
encamando, sem quebra de-continuidade, nos governos ditatoriais dos Mare-
chais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. No perfodo deste ultimo, de
det a 1894, atinge seu 4pice a corrente militarista, através de uma ideologia
de “‘salvacio nacional”, o florianismo, fusio de princfpios e elementos posi-
tivistas ¢ jacobinos.
Analisando as questées politicas e historiogréficas subjacentes A Revo-
lugiio Francesa, aborda Frangois Furet 0 jacobinismo como ‘“‘forma classica
de consciéncia revolucionéria”, por seu potencial de transformagio dos indi-
vfiduos isolados em ser coletivo, o povo, erigido simultaneamente em legiti-
midade. suprema ¢ em ator imaginério Winico da revolugdo. Tendo suas ori-
gens em uma nova forma de sociabilidade politica, a “‘sociedade de pensa-
mento”, organiza-se o jacobinismo enquanto partido ou grupo polftico, apre-
sentado como expressiio direta e absoluta da vontade popular. Sob a ficgao
(9 _ VENTURA, Roberto. Backaris ex lua: hierar aeiedado na de 1870 brasileira.
In: Boletim Bibllogrdfico Biblioteca Mario de Andrade. Sto Paulo, 44 (1/4): 89-106, 1983.
(i) ‘GALVAO, Walnice Nogueira. Gatos, .saco; Ensaios eriticos. Sho Paulo, Brasiliense,
© 1981, p, 63-68. SE ot ios (Sad. Rio de Janeiro, Civilizagho Bra-
aileira, 1966, p. 23-28.
(8 © CARDOSO, Femando Henrique. Dos militares a Prudente-Campos Sales. In:
Fausto, Bees (ol, ‘Histéria da civlteapto bresiira. ‘Slo Paulo, |, 1977. V. M2.
Leal, Victor Nunes. faa ele pee ‘S8o Paulo, Alfa: i975.
132 Rev. Inst. Est, Bras., SP; 31:129-145, 1990
do “povo’’ ¢ com base no modelo da democracia “pura”, exercida de forma
direta através das sociedades € clubes, substitui-se o grupo jacobino & socie-
dade civil ¢ ao Estado, o' que explica,.na historia francesa, a formagdo da
ditadura do salut publique do outono de 1793 ao 9 Termidor de 1794.9
. A partir da influéncia do positivismo nas Escolas Militares, o jacobinis-
mo assume no Brasil uma tend8ncia militarista, pela identificagio ente o
Exército ¢ a nagdo ¢ da sobreposigao da figura de Floriano Peixoto A imagem
do ditador central proposto por Auguste Comte. Abriga-se o grupo jacobino
sob 0 escudo militar, apresentando profunda desconfianga das liderangas ci-
vis ¢ considerando © povo menos como soberano do que enquanto atributo
da nagdo. Desponta evidente contradiggo entre os princfpios liberais demo-
crdticos, base do Manifesto Republicano de 1870, e a efetiva instauragiio de
formas ditatoriais de governo. A contradiciio é equacionada pelo. Marechal
Floriano em frase que constitui, por si s6, um programa politico: .
“Como liberal, que sou, néo posso querer para 0 meu pats o
governo da espada; mas, néo hd quem desconhega, e af es-
tao os exemplos, que ele € 0 que sabe purificar o sangue do
corpo social, que, como 0 nosso, estd corrampida’” 10
‘Nessa dialética do liberalismo, assume a “‘espada” (o Exército) uma fun-
40 mfstica de purificagao do “‘sangue do corpo social”: a legitimidade da
Tevolugio e sua reivindicagdo de generalidade justificam o emprego de todos
os meios para garantir a sua continuidade. Da fundacio da liberdade pela es-
pada, desponta a estrutura semfntica que impée ¢ justifica a violéncia ¢ 0
terror, levando & execugao sumfria dos implicados ém revoltas antiflorianis-
tas, como a federalista do Rio Grande do Sul, em cuja represso se destacou
© Coronel Moreira César, futuro comandante de expedig&o contra Canudos.
Ao protestar pela imprensa em 1894 contra essa Iégica do terror, manifes-
tando-se contrfrio @ morte dos prisioneiros da revolta da Armada pedida pe-
los jacobinos, incompatibiliza-se Euclides com os setores florianistas, entio
dominantes, o que 0 faz pedir licenga do Exéreito, passando a dedicar-se.A
engenharia civil.
Na década de 1870, Antonio Conselheiro, o Ider da comunidade rebela-
da contra a Republica, iniciara peregrinacdo pelo interior nordestino, fazen-
do pregagées, organizando as populagdes para a construgiio de igrejas e ce-~
mitérios e reunindo, em tomno de si, um crescente ntimero de fiéis e seguido-
Tes. Com a proclamagéo da Republica, agravam-se seus conflitos com:a or=
dem estabelecida, envolvendo o clero e 0 governo, preocupados ‘com a ex-
Pansfo de sua influéncia. A partir da revolta contra as medidas laicizantes do
Novo regime, como a separacio entre a Igreja e o Estado e a instituicao-do
casamento civil, ¢ contra os atos administrativos de cobranga de impostos €
de recenseamento da populagdo, politiza-se o antagonismo. Conselheiro se
©) — FURET, Frangois. Penser la Révolution Francaise. Paris, Gallimard, 1979, p. 48, 102-103,
223-232, Gumbrecht, Hans Ulrich. Funkzionen, -Rhetorik in der Franzoesis+
chen Revolution. Mucachen, W. Fink, 1978. Cap. 4.
(10) Citagao in: FAORO, Raymundo. Os donos do poder; Formardo do patronato politico brasi-
lero (1058). Poo Alegre, Globo, 1877, p< 4860 2 .
Rev, Inst, Est: Bras., SP, 31:129-145, 1990 133
instala, com seus seguidores, na fazenda abandonada de Canudos em 1893,
onde funda vila que chega aos 25.000 habitantes em 1897.
O fracasso sucessivo de duas expedicées enviadas contra Canudos am-
plia a questo a proporcées nacionais, sendo o governo civil colocado sob
forte press&o dos jacobinos e florianistas, que haviam perdido, com a-ascen-
so de Prudente de Morais em 1894, o controle do sistema polftico. A 3°
Expedic&o, formada em 1897 por 1.300 soldados, é entregue a direcao do
Coronel Moreira César, herdi da repress&o a revolta federalista e herdeiro,
apés a morte de Floriano Peixoto, da m{fstica jacobina. ‘A noticia de nova
derrota, sob cujo impacto Euclides redige os artigos sobre a “nossa Ven-
déia”, repercute de modo violento nas capitais, provocando as “‘jomadas ja~
cobinas” no Rio de Janeiro, em que sio destrufdos jomais mondrquicos. A
resistncia de uma comunidade religiosa € explicada a partir da hipdtese po-
iftica de uma conspiragdo restauradora, que estaria sustentando os rebeldes,
© que leva os florianistas a colocarem em questo a capacidade do governo
civil de conter a subversio mondrquica.
© confronto entre os conselheiristas e 0 governo republicano traz & tona
0 conflito interno ao conceito de “repiiblica”. A énfase jacobina na existén-
cia de uma ampla conspiragéo monérquica visava A desestabilizagao do go-
verno civil, encobrindo, através da imagem mftica de um poder republicano
sem divisdes, a verdadeira questo polftica, a disputa entre liberais e jacobi-
nos € a articulacdo de um golpe destes‘contra aqueles, com o fim de recupe-
rar 0 poder perdido em 1894. Se, como observa Raymundo Faoro, o governo
Prudente de Morais foi a ‘‘arena” onde a forma republicana encontrou o seu
“molde”!1, constitui Canudos o ponto central deste processo, através da
converséo da campanha militar em “cruzada” revolucionéria de consolida-
go do regime.
Contando com 0 apoio do novo Ministro da Guerra, Marechal Bitten-
court, paulista, adversério do florianismo e futura vitima de atentado jacobi-
no contra 0 presidente, e do governador paulista Campos Sales, civilista que
assumiré a presid&ncia em 1898, reage o govemo contra o grupo jacobino,
reprimindo o levante da Escola Militar. Organizada pelo Marechal Bitten-
court, cuja atuagio serd elogiada por Euclides em Os serides, a quatta e ul-
tima expedigdo, de que participam 8.000 homens dotados de moderno equi-
pamento, representa a oportunidade da corrente civilista demonstrar sua efi-
ciéncia repressiva e fortalecer a dominac&o civil oligarquica, sob a hegemo-
nia de Siio Paulo, fundando as bases do sistema polftico brasileiro vigentes
até 1930, Desta expediciio, participa Euclides da Cunha como correspon-
dente jomalfstico, presenciando quase um més de luta até a queda final de
Canudos. Daf resultam as reportagens enviadas a O Estado de S. Paulo, reu-
nidas posteriormente no volume Canudos (1939), ¢ seu livro de demincia da
campanha, Os sertées. .
Constitui Os seriées obra central do pensamento e da cultura latino-ame-
ricanos, enquanto texto revelador da tensao entre particularismo e civiliza-
gio, entre nacionalismo e cosmopolitismo, entre especificidade ¢ universali-
dade, Tal tensiio e dialética serfio aqui abordadas segundo trés aspectos: a) a
relagio entre cultura e extracultura; b) a construgéo (problemética) de iden-
(il) 1d. ibid., p. 561, ¥. 2.
134 Rey. Inst. Est. Bras., SP, 31:129-145, 1990
tidade nacional; c) a ambivaléncia entre identificactio etnolégica e distan-
ciamento etnocéntrico. Seri enfocada também a articulagao entre tais as-
estos © uma recepedo mitico-ideoldgica da ideologia liberal e.do modelo da
Revolugio Francesa.
3. DA INCULTURA A CONSTRUCAO DA CONTRACULTURA.
Em Os sertées, afasta-se Euclides da hipstese da conspiragio politica e,
em termos relativos, da met4fora da Vendéia. Observa que o anti-republica-
anismo de Antonio Conselheiro constitufa antes produto do que denomina
“messianismo da raga”, “‘variante forgada do delfrio religioso”, do que.re-
sultado de “‘intuito politico” (p. 223). Desqualificando qualquer pertinéncia
da oposicio entre republica'‘e monarquia para a interpretago de Canudos,
observa: “‘o jagungo € to inapto para apreender a forma republicana como a
monérquico-constitucional. Ambas lhe sao abstragdes inacessfveis”, A im-
plantago do governo republicano nao diria Tespeito aos sertanejos conse-
Ineiristas, que se encontrariam em “fase evolutiva” atrasada, caracterizada
pelo predomfnio de estruturas sociais clinicas e de liderangas de tipo mes-
sianico. ou carismético: “Est4 na fase evolutiva em que 86 & concepttvel o
imp6rio de um chefe sacerdotal ou guerreiro” (p. 248).
Rompendo com o fervor ideolégico de seus artigos de 1897 e fazendo a
autocritica de suas concepgées anteriores, observa Euclides da Cunha sobre
a introdugio da forma republicana no Brasil:
“Vivendo quatrocentos anos no litoral vasttssimo, em que
palejam reflexos da vida civilizada, tivemos de improviso,
como heranga inesperada, a Republica. (...)/ E quando pela
nossa imprevidéncia inegdvel deixamos que entre eles se
Sormasse um niicleo de mantacos, ndo vimos 0 trago superior
do acontecimento. Abreviamos o esptrito ao conceito estrito
de uma preocupacdo partiddria. (...) | Vimos no agitador
Sertanejo, do qual a revolta era um aspecto da prépria re-
beldia contra a ordem natural, adversdrio strio, estrénuo
paladino do extinto regimen, capaz de derruir as instituigées
nascentes. / E Canudos era a Vendéla...” (p. 248-249,
grifos meus).
Entretanto, paginas adiante, a comparago entre a histéria francesa ¢ a
brasileira se restabelece de forma retificada: “Malgrado os defeitos do con-
fronto, Canudos era a nossa Vendéia” (p. 282). O confronto é reintroduzido,
No texto euclidiano, a partir da restrigio de seus elementos semfnticos: Ven-
déia e Canudos sfo aproximados do ponto de vista do meio adverso em am-
bos os casos, a um exército de grande porte, e do misticismo de seus partici-
Pantes, sendo definitivamente afastada a hipétese polftica.!2 Esse tipo de re-
i metaf6rica, freqitente na ret6rica antitética do autor, revela uma os-
——_
(12) COSTA LIMA, Luiz, Nos sert5es da oculta mimesis. In.
no. Sip Paulo, Brasiliense, 1984.
+ Ocontrole do imagind-
Rev. Inst. Est. Bras., SP, 31:129-145, 1990 135
cilagSo terminolégica e conceitual, possfvel efeito da ambivaléncia éntre
Pressupostos universalistas e a construgao de uma especificidade cultural ¢
social naciozial. Se, por um lado, ao apontar o deslocamento e enviesamento
locais do liberalismo e do jacobinismo, critica as concepgses difusionistas
dos republicans brasileiros; por outro, sua andlise dos aspectos intrinsecos &
nacionalidade (marginais quanto ao paradigma da histéria universal) tende &
hipstese, de fundo evolucionista, acerca de um atraso relativo do processo
civilizatério no meio brasileiro.
Se considerarmos que toda cultura define e delimita sua identidade a
partir das relacdes entre ela e o campo do que lhe é culturalmente externo,
pode-se afinmar que a questo basica, para Euclides, € a construgaio de um
modelo interpretativo, capaz de dar conta das relag6es e conflitos entre uma
dada cultura ¢ aquilo que esta define como sua ‘‘extra-cultura”. Essa cons-
trugfio tem 0 objetivo de evitar os equfvocos advindos da projecio de crité-
tios culturais e polfticos (como a oposigao entre monarquia e repiiblica) a
contextos sociais em que estes nfo apresentariam pertinéncia, ou seja, nfo
estariam lingufstica e ideologicamente marcados. Sua hesitago acerca da
“‘justeza” ou “‘defeitos”, enfim, da legitimidade da metéfora da Vendéia, in-
dica a busca de uma perspectiva que permita incorporar ao discurso’escrito,
inserido em uma episteme pés-ilustrada (cientificista ¢ naturalista), elemen-
tos culturais e sociais pertencentes a uma outra ordem. Trata-se, para ele, de
indagar o estatuto desta ordem, de forma a defini-la como “‘contracultura”
(cultura em relag&o de negagio quanto ao paradigma da cultura oficial, mas
reconbecida por esta como portadora de critérios préprios de estruturagfo ¢
ordenagio), ou enquanto “‘incultura”’ (reunifio de elementos tidos como des-
providos de estruturacdo e ordenagio, ou seja, agrupamento caético de ter-
mos ausentes de fungo e sentido).!3
Nos dois artigos intitulados “‘A nossa Vendéia”, o messianismo religioso
€ reduzido ao estatuto de incultura, em que o-homem, reflexo de uma natu-
reza hostil, € caracterizado como “bérbaro”, “impetuoso”’, “‘adversério trai-
goeiro”, “sertanejo fanatizado”, “tipo etnologicamente indefinido”, e Canu-
dos enquanto “‘povoacéo maldita”, vgociedade obscura”. 14 Adotando pers
pectiva naturalista, influenciada por H. T. Buckle e H. A. Taine, aborda o
homem e a sociedade sertaneja como figuras ausentes de dimenso propria,
sujeitas A atuag&o direta dos fatores naturais ¢.4 manipulagio politica dos
gtupos monfrquicos. Desenvolve, nos artigos posteriores, um conjunto: de
oposicSes polares ¢ assimétricas que ratificam essa abordagem: a civilizacio
opse-se 0 atraso, ao litoral o sertiio, & repiiblica a monarquia, a0 soldado o
Jagungo.
Entretanto, no decorrer das reportagens, comegam a se delinear os con-
tomos de uma ordenagio etnoldgica e sociolégica dotada de relativa diferen-
ciagiio quanto aos padrées de civilizacio ‘‘importada” dominantes nas cida-
des ¢ no litoral. Ou seja, estrutura-se 0 esbogo de uma cultura distinta, for-
13) Bi 08 “‘cultura", “incultura’* ¢ “‘contracultura” com base em: Lachmann, Re-
ao nats, Rhetoric und tod Kultarmodel In: Link) en La Hee Ura en), Lene
‘Gacha cf Candi, Antonio, Ealides da Cunhe soidloge Ia: OBetade de. Pando,
Sto Pani 13 ex 1952,
(14) CUNHA, Buclides da, Canudos, p. 166-167, 172.
136 Rey, Inst, Eat, Bras., SP, 31:129-145, 1990
mando-se uma perspectiva antropolégica que toma o Ifder Antonio. Conse-
Iheiro ¢ a comunidade de Canudos de modo “‘sintomético”, enquanto sfnte-
ses dos “elementos negativos” do povo brasileiro.!5 Através da perspectiva
antropolégica, atenuam-se as polaridades antitéticas, dando margem ao si-
multéneo reconhecimento do soldado republicano e do jagungo messifinico:
“A audécia ind6mita do jagunco, contrapée-se neste momento a bravura
ineg4vel do soldado” (p, 92).
Essa mudanga de perspectiva provoca porém um progressivo impasse,
ifestado na aus€ncia de qualquer mengdo, ao longo das reportagens, de
fatos por ele presenciados ¢ que constituem 0 micleo do livro-demiincia: a
sistemética degola dos prisioneiros e o comércio de mulheres e criangas. En-
cerra-se a série, de forma enigmética, com um artigo em que sio elogiados o
batalhao do estado de Sao Paulo e 0 herofsmo histérico dos paulistas, o que
indica sua possfvel opg&o polftica pelo grupo civilista paulista, sem serem
narrados os dias e momentos finais da campanha — o que s6 ocorrerd poste-
rionmente em Os sertées. O siléncio sobre tais fatos nas reportagens revéla a
auséncia de perspectiva capaz de integri-los a um horizonte interpretativo,
tomando problemdtica a representacaio de atos de vinganga e desforra do
Exército. A percepgiio dos contomos de uma outra cultura e do potencial de
violéncia inerente sua cultura desarticula o seu quadro polftico-ideolégico
inicial, levando-o a crescente mutismo. :
4. DA CONTRACULTURA A IRRUPGAO DA INCULTURA.
A “reviravolta de opinifio” de Euclides da Cunha em Os sertées pode
ser analisada enquanto reversio das oposigdes anteriores, construindo-se un
novo esquema interpretativo que ndo mais identifica como equivalentes 0
litoral & cultura e o sertiio incultura. Por um lado, reconhece o autor os
“sertées” como contracultura, dotada de estruturagdo distinta ¢ historica-
mente defasada; por outro, procura aprender a irrupgao da incultira (ou
seja, da bérbarie) em meio aos termos anteriormente designados de forma
Bositiva. As assimetrias iniciais cedem lugar as simetrias relativas entre 9 li-
toral € © sertiio, a repiiblica e a monarquia, o Exército e Canudos, Moreira
César e Antonio Conselheiro, o florianismo e o messianismo. Enquanto nas
reportagens escrevia, “Daf a significagdo superior de uma luta que tem nesta
hora a vantagem de congregar os elementos sos da nossa terra e determinar
um largo movimento nacional tonificante ¢ forte”;)6 no livro-dentincia, deixa
de pensar Canudos como elemento extemo A nacionalidade, considerando-o
parte integrante de uma naco dividida entre o dinamismo do processo civili-
zatério (tide como positivo e inevitdvel):e a resist@ncia das sobrevivéncias
culturais ¢ atavismos etnoldgicos. Langa assim o brado de alarme que mostra
a consciéncia da antinomia entre as duas tendéncias: “Estamos condenados &
civilizagiio. / Ou progredimos, ou desaparecemos”.!7
(1S) Id. ibid., p. 23-24,
GO) 1d. ibid, p.24-25,
7) CUNHA, Buclides da. Os sert6es, p. 145.
Rev. Inst, Est. Bras,, SP, 31:129-145, 1990 : 137
A irmupgo da incultura recebe uma explicagdo emolégica, de base ra-
cista, segundo a qual as rages corresponderiam estddios evolutivos distintos.
Para Buclides, nfo haveria, devido & auséncia de unidade de meio e raga, a
-concreta de um fipo antropolégico brasileiro, existente apenas en-
quanto“ abstrato”, formado de um “‘entrelagamento consideravelmente
complexo”.18 Considerando a sociedade ¢ a cultura brasileiras como produ-
tos da fusao de clementos de origem européia, indfgena e africana, interpreta
© conflito entre Canudos e a Republica como efeito do choque entre dois
processos historicamente diferenciados de mestigagem: a “‘litorinea”’, de que
resultaria 0 mulato, a partir do cruzamento entre brancos e negros; e a “‘ser-
taneja”, marcada pelo predomfnio da miscigenagAo entre brancos e ind{ge-
nas, Partindo do pressuposto da inferioridade das ragas nio-brancas e da
desvantagem relativa da mesticagem, descaracteriza a hipstese de uma supe-
rioridade evolutiva das populagées litoraneas, chegando a inverter a oposi-
do entre litoral ¢ sertiio. O mestico apresentaria, em sua opinifio, vantagem
relativa em relagéo ao mulato do litoral, advinda do isolamento da sociedade
sertaneja e da aus@ncia de componentes africanos, permitindo maior estabili-
dade e parcial autonomia da evolugao racial e cultural: ‘‘O sertanejo , antes
de tudo, um forte. Nao tem o raquitismo exaustivo dos mesticos neurasténi-
cos do litoral” (p. 179, grifos meus).
Euclides se afasta da perspectiva médica e etnoldgica de Nina Rodri-
gues, professor de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Bahia, que
escrevera em artigo de 1897 sobre os seguidores de Conselheiro, tidos como
.Tacialmente inferiores: “‘Seréo monarquistas como so fetichistas, menos por
ignorfincia, do que por um desenvolvimento intelectual, ético e religioso, in-
suficiente ou incompleto”. Nina Rodrigues opée o /itoral, reduto da civiliza-
go branca, a0 sertdo, dominado por uma populaciio mestica, infantil e in-
culta. E adverte sobre a necessidade de chamar os habitantes de Canudos “2
obediéncia das leis da Repiiblica”: ‘a luta bavia de passar, forgosamente, da
simples propaganda pela palavra para‘o terreno da ago pelas armas”.!9
‘A tese de Euclides da Cunha sobre 0 carfter especifico da miscigenagio
sertaneja Ihe permite inverter as assimetrias iniciais, produzindo uma relativa
valorizagéio da nag&o interior (o pats “‘real”) em relago & nagiio em contato
com o exterior (0 pafs “legal”), sendo localizados, na sociedade dos sertdes,
08 contornos de uma “‘cultura nacional”, dotada de certa originalidade
quanto aos padrées metropolitanos de civilizagdo. Realiza-se a expansio da
idéia de nagio através da substituicéo de uma acepciio estrita e exclusiva,
identificada ao litoral e & civilizag&o (sem incorporar o fenémeno sertanejo),
por uma concepgao ampla ¢ inclusiva que integra, de modo problemitico,
cultura, contracultura e incultura.
Segundo Euclides da Cunha, o isolamento histérico da sociedade serta-
neja teria permitido a preservagio dos mitos sebastianistas ¢ messifnicos,
transmitidos com a colonizag&o portuguesa. Difundida em Portugal a partir
do século XVI com as trovas de Bandarra, a esperanga na vinda de um Mes-
sias, posteriormente identificado ao rei D. Sebastiio, capaz de assegurar a
(18) Id, Bid., p. 143.
(9) RODRIGUES, Nin. 4 loucura do Canudos: Antonio Conselheiro e 0s jagungos.
‘mst, tx .
Rio de. nov. 1897. Republicagéo int int_____ . As coleti-
Nizadesomortais Rio do Janeiro, CivilizacSo Brasileira, 1939. .
138 Rey. Inst. Est. Bras., SP, 31:129-14S, 1990
hegemonia ida. nag&o portuguésa, constitui-reagdo:coletiva.a-uma crise de
consciéncia nacional, motivada pela percepgfio de ameagas ao. poderio ¢ A
continuidade do império colonial, formulada por Lufs de Camées no canto
IV de Os Lustadas (1572). O desaparecimento de D. Sebastiao em “santa”
batalha contra os mouros na Africa e a conseqilente perda de autonomia po-
litica de Portugal, anexado a Castela em. 1580, reforcam o mito sebastianista
acerca do retorno de um rei predestinado e messifinico que realizaria a re-
dengiio nacional. Essa tradigfo, preservada em Portugal até o século: XIX, &
reavivada em 1808 coma invasiio das tropas napoleénicas.de Junot.20
As trovas de Bandarra ¢ o messianismo sebastianista coincidem histori-
camente com os: primérdios da colonizagao brasileira no.século XVI, mani.
festando sua presenga até fins do século passado.2! Nesse sentido, o-movi=
mento de Canudos constitui repotencializagio do. mito sebastianista, que ad-
quire, quire, através da expectativa de libertagdo de uma existéncia miserdvel, win
caréter predominantemente social (¢ no nacionalista),
Nos sermées ¢ prédicas de Antonio Conselheiro e em quadras de poesia
popular, de que foram recolhidas por Euclides da Cunha versGes mamuscti~
tas, formula-se a interpretagio do sebastianismo comum aos habitantes de
Canudos, articulando-se a visao interna & comunidade messifinica. Segundo
esta interpretacao, seria a implantagdo da Repiiblica obra do ‘Anti-Cristo ¢
indfcio da chegada do fim dos tempos, em que ressurgiria Dom Sebastifio,
com seus exércitos, reinstaurando a Monarquia e fundando 0 Milénio:
“(0 Anti-Cristo nasceu
Para o Brazil governar
Mas ahi estd o Consethelro
Para delle nos livrar!’
‘Visita nos vem fazer
Nosso rei D. Sebastidio
Coitado daquele pobre
Que estiver na lei do eto!" ** 22
- Nas prédicas do Conselbeiro, que recebem versio escrita. em meio ao
conflito armado (seu manuscrito data de 1897, ano da destruicfo de Canu-
dos), interpenetra-se 0 mito sebastianista A tradicHio catdlica, em especial o
Telato da paixdo, desenvolvendo-se a identificacdo entre o sacrificio exem-
plar de Cristo ¢ o extermfnio iminente do grupo.?3 Conselheiro opée o regi-
me mon4rquico, cuja legitimidade derivaria de uma ordem transcendental,
(20) uma anflise histérica do sebastianismo, cf. Azevedo, Joflo Lilcio, A evolucdo do sebas-
ertono (S18) Tnbor, Chisien, 1947,
(21) QUEIROZ, Maria Isaura Persira de. O messianiono no Brasil eno mundo (1965), So Paulo,
Alfa-Omege, 1976, p. 217-218,
(22) unt, Buclides do. Os serie, p. 780, Para outras qundas de poesia popular cole~
‘em Canudes, cf... . Caderneia de Sto Paulo, Cults, Bra INE,
1975, p. 58-61. Sobre as formas de poesia orl, cf
orale. Pats, Seuil, 1983.
(23) INTEIRO, Duglas Teixcira. Um confronto entre Juszeiro, Canudos ¢ Contestado. In:
Batt, Bone (cl) Hara gerald change Badr, p. 70, HI 2-
Rey. Inst. Est. Bras., SP, 31:129-145, 1990 139
eterna e imutével, a formas politicas temporais, como e republicana, contré-
tias 2 religifio e & vontade divina:
“a repdblica quer acabar. com a religiao, esta obra-prima
de Deus que hd dezenove séculos existe e hd de permanecer
até o fim da mundo; porque Deus protege a sua obra’? 24
Daf prever a inevitabilidade da queda da Repiblica e do restabeleci-
mento da Monarquia, fatos tidos como “verdades” tio seguras quanto o sur-
gimento da ‘“‘aurora” a “descobrir um novo dia”. Constitui-se, nos discursos
do Conselheiro e nessas quadras de poesia popular, uma concepgio cfclica e
redentora do tempo, em oposigSo & representacao linear-evolutiva adotada
Por liberais e republicans. Trata-se do conflito entre periodizagées distintas
da hist6ria: por um lado, existe no discurso messifinico e sebastianista uma
estrutura cfclica e redentora, centrada na idéia de salvagdo e de retorno a um
estado ideal de comunicagiio entre Deus e os homens; por outro, na ideologia
liberal-republicana, constréi-se um modelo do tempo hist6rico enquanto
evolugao necesséria a partir de ruptura polf{tica exemplar-e inaugural, repre-
sentada pela instauragdo da Repiiblica.
De acordo com a hipétese formulada em Os sertées, a introdugio do
sistema republicano e a desartiulacado dos padrées tradicionais de domina-
do patriarcal e estamental teriam criado uma situago de instabilidade social
€ politica, fazendo as populagées sertanejas regredirem, de forma “‘at4vica”,
a formas mfticas de origem portuguesa, como o sebastianismo, e & bravura
ancestral dos antepassados indfgenas. A partir dessa reacéo regressiva, cor-
Tespondente ao nfvel das estruturas de consciéncia a um retrocesso temporal,
congregar-se-ia o grupo em estado de “multidio”, sob a lideranga de Anto-
nio Conselheiro. Formaram-se assim as condigées para a irrupgiio da incultu-
ra (a barbérie primitiva) no interior da cultura sertaneja.
Quanto ao litoral e as capitais, a eclosio da barbfrie ¢ atribufda & agita-
Gao republicana e jacobina. Revelador, nesse sentido, é seu enfoque. de um
dos poucos acontecimentos “litoraneos” tratados no livro: as “jornadas ja-
cobinas” no Rio de Janeiro. Criticando a idéia de um complé restaurador
como construgao coletiva imaginéria, coménta Euclides a destruigao dos jor-
monérquicos por uma multidao aos gritos de “Viva a Repiblica” e
iva Floriano”:
“As linhas anteriores tém tn objetivo tinico: fizar, de relan-
» Similes que se emparelham na mesma selvatiqueza.
(21) Ea guerra de Canudos era, por bem dizer, sintomdtioa
apenas. O mal era maior. Nao se confinara num recanto da
Bahia. Alastrara-se. Rompia nas capitais do litoral. O ho-
mem. do sertéio, encourado e bruto, tinha parceiros porventu-
ra mais perigosos. / (...) A forga da hereditariedade (...) ar-
rasta para 0s meios mais adiantados — enluvados e encober-
tos de ténue verniz de cultura — trogloditas completos’’.25
@A) CONSELHEIRO, Antonio, Prédicas ¢ discarsos (1897). In: Nogueira, Ataliba, Antonio
* Consethero ¢ Cantudog; Reviato Msirica (1974). S40 Paulo, Nacional, 1978, p. 175-171.
(25) CUNHA, Buclides da, Os seriSes, p. 373-374, grifos meus.
140 Rey. Inst. Est.Bras., SP, 31:129-145, 1990
A construgiio de certa simetria entre o litoral e o sertio. d4 margem a‘do s
tipos humanos, sinteses dos fenémenos inculturais dos respectivos domfnios
geogrifico-sociais: 0 Coronel Moreira César, chefe militar da 38 Expedicio,
e Antonio Conselheiro, o ifder de Canudos. Ambos caracterizados por
uma verdadeira sociologia patolégica, enquanto casos de “delirio sistemati-
zado” (Conselhe ro) ou de desequilfbrio “‘epiléptico” (M. César) que refleti-
tiam “‘mal social gravfssimo” e a “‘instabilidade social” resultante da intro-
dugio do regime republicano (p. 206-207, 319-324).
Para Euclides da Cunha, o pais se encontraria, & ێpoca do conflito de
Canudos; nas m&os de um govero civil desprovido da “‘base essencial de
uma opiniao publica organ zada” e agitado pelos florianistas, cujo “‘entu-
siasmo suspeito pela Republica se aliava a nativismo extemporneo-e a cd-
pia grosseira de um jacobinismo pouco lisonjeiro é histéria’’. A respeito da
heranga florianista assumida por Moreira César, escreve: “O feti
Iftico exigia manipansos de farda. / Escolheram-no para novo {dolo” (p. 321,
grifos meus). Estabelece-se, desse modo, correlagio semAntica entre os dois
lados do conflito, impregnados do mesmo misticismo e atavismo: “A luta
pela Repiblica, e contra os seus imaginfrios inimigos, era uma cruzada” (p.
454).
Apresenta Os seriées uma fungao polftica antijacobina, antiflorianista €
antimilitarista, de maior importéncia no contexto da época do que a critica
a0 liberalismo, enfatizada pela tradigo interpretativa a respeito da obra. A
demincia do massacre cometido pelo Exército, junto com a revelagdo de seus
diversos erros de avaliacio politica ¢ militar, tem 0 objetivo de negar a legi-
timidade das pretensGes revolucion4rias e governamentais dos florianistas.
Em dois artigos reunidos em Contrastes e confrontos (1907), ‘‘O Marechal
de Ferro” e “A esfinge”, reforga-se sua oposigao ao florianismo pela critica
& figura de Floriano Peixoto, da pena de um autor pouco inclinado ao retrato
de individualidades.
Nos artigos iniciais de Euclides da Cunha, o modelo da Revolugio Fran-
cesa apresentava uma significagdo mitico-ideolégica, fornecendo respostas
definitivas que atendiam, de forma conclusiva, as duividas ¢ angyistias acerca
do desdobramento da “revolugdo brasileira”. Na campanha de Canudos, os
Oficiais se tratavam pelo titulo democratico de “cidadiio”, posto em circula-
gHo pelos revolucionérios franceses em nome da igualdade. Euclides men-
ciona, em Os sertées, a salva de 21 tiros ao alvorecer, com que as tropas
saudaram a “data de festa nacional” escolhida para o assalto a Canudos,
© 14 juiller, dia da tomada da Bastilha.26
As incertezas coletivas so ban das pela atribui¢ao de sentido fixo ao
fato histérico, cuja contingéncia e ndeterminagao reduzidas a distincia
efémera quanto ao horizonte ideolégico de um publico inserido na tradigéo
do liberalismo ilustrado. Adquire, dessa forma, a Revolugaio Francesa um ca-
rater exemplar enquanto dupla estrutura semAntica, simultaneamente histéri-
ca € universal: 0 modelo revolucionério se refere a acontecimentos passados,
historicamente localizados; mas tais acontecimentos se convertem em esque-
mas dotados de eficdcia permanente, projetados e aplicados:a outros con-
textos histérico-sociais. Por meio dessa dupla estrutura, aproximam-se ideo-
logias polfticas e modelos de pensamento, como 0 liberalismo ¢ a Dustracio,
(26) GALVAO, Walnice Nogueira, Gatos de outro saco, p. 87-93.
Rev. Inst. Eat. Bras., SP, 31:129-145, 1990 : 14
de. formas mfticas de pensamento, fornecendo, a partir da referéncia a fatos
pretéritos, modelos légicos para.a percepgdo das oposigées e contradigdes do
presente e para sua progressiva mediagao ¢ resolugiio.2” No caso de Canu-
dos, a interpretago da rebeliao pelos republicanos ¢ jacobinos como conspi-
rago monfrquico-restauradora se insere em uma recepgiio mftico-ideolégica
da. Revolugao Francesa, que provoca a paralelizagiio de ambas as histérias
nacionais.
Em Os sertées, rompe Euclides da Cunha com essa recepgio (e proje-
Gao) mftico-ideolégica do liberalismo, a partir da.critica a dois fenémenos
distintos de mitificagao histérica. Apesar da oposigao entre critérios diver-
gentes de periodizagao (representag&o ciclica e redentora do tempo vs. con-
cepgio | near-evolutiva), realizar-se-ia, por ocasidio do conflito de Canudos,
a convergéncia entre @ versio monérquico-messianica e a republicano-jaco-
bine da histéria. Ambas se construiriam com base em uma recepgiio mftica
dos fatos hist6ricos, tais como o desaparecimento de D. Sebastiao (cujo re-
torno se torna objeto de espera coletiva) e a fundagao da Repiblica brasileira
(cuja estabilidade estaria ameacade pela rebeliao conselheirista, suposta-
mente apoiada por grupos monfrquicos, ligados & famflia real e a poténcias
estrangeiras). Posteriormente, no ensaio “Um velho problema”, Euclides
aprofunda essa ruptura, 20 crit car a Revolugdo Francesa pela negacéo de
seus princfpios, devido a instauragdo e ao predominio da “propriedade bur-
guesa”, manifestando sua adesio ao socialismo de Karl Marx.
‘Ao aproximar, como fenédmenos polfticos de significado semelhante, 0
messianismo sebastianista e o patriotismo republicano, Euclides constréi uma
estrutura semantica diferenciada, que projeta a sua obra além dos paradigmas
liberais. Trata-se,segundo sua interpretagio, da irrupdo simétrica da barbd-
rie, tanto no litoral quanto no sertiio, enquanto resisténcia ao processo civili-
zat6rio € a0 projeto de universalizagio do modelo liberal. Desponta, em Eu-
clides da Cunha, a consciéncia “trigica” do desv d entre o modelo da Re-
volug&o Francesa e a sua internalizacao na histéria brasileira, levando a de-
finigfo de uma identidade diferenciada. Essa identidade diferenciada encon-
tra expresso na idéia ¢ conceito de “cultura nacional’.
5. A IDENTIDADE NACIONAL COMO PROBLEMA.
A relagao entre o narrador Euclides da Cunha e a realidade de Canudos
¢ a sua “reviravolta de opiniio”29 podem ser interpretadas enquanto proces-
80 de redefinigfo de identidade cultural. Em Euclides e na intelectualidade
brasileira e latino-americana do Ultimo tergo do século XIX, a ruptura com 0
paradigma da histéria universal ¢ a desarticulagdo de uma identidade. “‘clis-
sica” se. dio de forma ambivalente ¢ contraditéria, gerando ao nfvel da cons-
ciéncia cultural uma identidade problemdtica. O caréter problemitico desse
Processo de construciio de identidade social se deve ao impasse gerado pela
percepgao dos limites e obstculos a reprodugio, na América Latina, da his-
(i930) Pasa Plow, 9740p. 281, ™
(28) CUNHA, Buclides da, Um velbo problema. In:___ . Contrasves e confronzos.
9) GALVAO, Walnice Noguaira, Sooo de gatas; Ensals crions. Sho Paulo, Duas Cidades,
142 Rev. Inst. Est. Bras., SP, 31:129-145, 1990
‘toria a européia (ou norte-americana)e pela conscientizagao da necessidade de
substituir 0 paradigma da histéria “universal” por novos modelos de apreen-
sdo da nagdo e de redefinigdo de seu relacionamento com outras realidades e
culturas nacionais.
Os movimentos de independéncia polftica na América Latina constituem
momentos cruciais de difuséo dos modelos das luzes e do progresso e de
construgdo de identidade e consciéncia nacionais, através da elevagao de an-
tigas colénias & condigdo de-nages e da promogio das elites locais & posi-
gio de estamentos ou classes dirigentes. Os progressivos embates, nas na-
g6es politicamente recém-constitufdas, entre grupos e facgdes e os conflitos
com as poténc as neocoloniais geram porém a percepgio da existéncia de
interesses divergentes no seio da sociedade nacional, levando & problemati-
zagéo de uma histéria difusionista. Produz-se, na consciéncia do ex-coloni-
zado, de modo simultfneo, a identificacdo e a rejeigdo tanto da identidade
do antigo colonizador quanto da do nativo original, revelando a tensao entre
© projeto de integragio & civilizagio ¢ a construgio diferenciada da idéia de
nagio.
Em Os sertées, essa identidade problemética ou em crise se manifesta na
telagdo estabelecida entre a autodesignagao e a designag&o do oponente,
massacrado do outro lado da trincheira. A existéncia de um-conflito armado
© as condiges peculiares em que.se dé a “‘observagio etnolégica”’ determi-
nam uma tensio m4xima entre a cultura do narrador e a outra cultura, objeto
do seu discurso. O paradigma naturalista e etnolégico, monumentalizado nas
partes ‘A terra” e “O homem”, irrompe para dar conta das fissuras abertas
pela desarticulagao do sistema de referénc a do sujeito, preenchendo os va-
zios semfnticos entre as duas ordens culturais em confronto.
Apesar do propésito de se identificar como “‘narrador sincero” ao objeto
enfocado, Euclides manifesta forte distanciamento quanto aos padrées € va-
lores da sociedade sertaneja, descrevendo Canudos como ajuntamento caéti-
co e repugnante de casas, onde predominariam a promi suidade moral € o
coletivismo dos bens. O mesmo distanciamento se revela na abordagem:dos
escritos de Antonio Conselheiro, que comenta como “‘misto inextr ncdvel e
confuso de conselhos dogmét cos, preceitos vulgares da moral cristé ¢ de
profecias esdnixulas”, e das quadras de poesia popular, recolhidas junto as
rafnas da comunidade, sobre as quais escreve: “Pobres papéis, em*que a or-
tografia barbara corria parelhas com os mais ingénuos absurdos e a escrita ir-
regular e feia parecia fotografar o pensamento torturado”.30
A recriago ficcional do conflito de Canudos por Mario Vargas Llosa em
La guerra del fin del mundo (1981) tende a reproduzir elementos negativos
da “visio” de Euclides - como o destaque do “fanatismo religioso” dos
conselheiristas, em detrimento de sua organizaciio social e econémica — criti-
cados pelos estudos sociol6gicos ¢ de M. I. Pereira de Queiroz (1965) e de D.
T. Monteiro (1977).3! Embora nfo se deva interpretar uma obra de ficgdo @
partir de crit6rios de fidelidade documental, pode-se questionar, no romance
(G0) CUNHA, Euclides da. Os sertdes, p. 221, 249.
(1) Para uma sbordagem interextusl de Os sertfes ¢ La del fin del mundo, cf. MacAdam,
Alfred. Baclides Se oP ee ee facortataes. es
Toeroamericana, Pittsbur; 157-164, 1984,
Rey. Inst. Est. Bras., SP, 31:129-145, 1990 103
de Vargas Llosa, a significagdo do passado histérico e-de sua reconstrugo
literéria.
Se a relag&o etnoldégica pressupée uma redefinicéio mfnima dos padroes
de observagfo e conceituagao do sujeito, levando-o a pensar 0 especifico a
outra cultura ¢ a relativizar seu préprio quadro de referéncia, a radicalidade
do autor de Os sertées reside na preservagao de um etnocentrismo elementar
na abordagem da sociedade sertaneja e na concomitanite ruptura com seus pa-
rametros ‘iniciais, impedindo o retorno A cultura original, de extragio liberal-
-tepublicana. Essa experiéncia de choque transforma em problema a consti-
tuigéo de identidade nacional, por meio da oscilagdo entre identificagdo et-
nolégica ¢ distanciamento etocéntrico e pela dificuldade em estabelecer,
através de positividades e negagdes, as margens de seu prdprio campo se-
.mAntico e cultural.
Desse conflito de identidade, derivam alguns dos aspectos mais originais
do sistema literério e cultural na’ América Latina. Recalcados historicamente
pela expans&o de uma linguagem escrita apresentada como universal, os
elementos culturais provenientes de grupos de expresso oral ou oriundos de
outra tradigao histérica retornam, de forma recorrente, nas culturas nacionais
latino-americanas, fazendo surgir uma vertente antropoldgica, de que’ Os
sertées constitui uma dentre diversas manifestagdes.32 Essas culturas nacio-
nais apresentam a dupla fungao de legit mar, em termos ideolégicos, o pro-
Jeto civilizatério ¢ de revelar, de forma critica, as contradigdes nfo redutf-
veis ao modelo da histéria universal, intrinsecas a este projeto. Dentre as‘ {-
versas conflagragdes de grupos marginalizados do processo histérico, o con-
flito de Canudos tornou-se paradigmitico, ao ter sido trazido, com seus im-
Passes € paradoxos, para a consciéncia da cultura escrita por Euclides da
Cunha.
Nas péginas finais de Os sertées, Euclides ironiza o etndlogo e médico
legista Nina Rodrigues como representante da ‘“‘ciéncia”’, encarregada de dar
a “‘iltima palavra” sobre Canudos, através do exame do crénio de Conse~
Iheiro:
“Trouxeram. depois para o litoral, onde deliravam multi-
dies em festa, aquele créneo. Que a ciéncia desse a tiltima
palavra. Ali estavam, no relevo de circunvolugées expressi-
vas, as linhas essenciais do crime e da laucura...”" (p. 572,
grifos meus).
Nina Rodrigues 6 responsével pela colegio de cabegas de bandidos e as-
sassinos memordveis, objetos de estudos criminalfst cos segundo os métodos
de Lombroso e Garofalo, na Faculdade de Medicina da Bahia. Quanto a Eu-
clides da Cunha (morto em 1909, apés tiroteio com o Cadete Dilermando,
amante de sua mulher), seu cérebro — monumento de uma “‘meméria” nacio-
nal — € conservado em formol no Departamento de Antropologia do Museu
Nacional do Rio de Janeiro, devido ao interesse em seu exame por Roquette
(32) RAMA, Angel. Transculturacién narrativa en América Latina, México, Siglo XI, 1982,
Santiago, Sliviano, Vale quanto pest, A flgBo bracieire
quanto pesa; Ensaios sobre questbes poltico-culturais, Rio de Janeiro, Paz ¢ Terre, 1982.
4 Rev. Inst. Est. Bras., SP, 31:129-145, 1990
Pinto, um dos fundadores da antropologia brasileira.* Euclides ou Conse-
Iheiro, 0 “génio” ou o “louco”, ambos tém como destino a vala comum da
ciéncia antropométrica da virada do século.
Recebido ex 27 de jutho de 1989
ABSTRACT
Euclldes da Cunha's articles and reports on the Canudos conflict, wrirten in 1897,
and hs book fom 1902, On sertSex; Campania de Canudos, dr ere analwed
the relationships between cultures and other
gure, ) wee problematic ic eonstiution of national identity, c) the oveliation
between ethonological idensification and ethnocentric detachment, These aspects
Se elated to the projection of the model of the French Revolution to natbonal
Fastin the fr ycarsof Brass Repo
Key-words: Brazilian culnure — oral Bterature — messianic movement ~ Brazilian
Republic~ French Revolution,
G3) Calo m6rbido: Cidades dispatam cérebro de Buclides da Cunha, In: Veja, Sfo Paulo, 10 ag,
1983, p. 44,
Rev. Inst. Est. Brag., SP, 31:129-145, 1990 145
Você também pode gostar
- E Book 21 Receitas Low Carb Que Cabem Na DietaDocumento23 páginasE Book 21 Receitas Low Carb Que Cabem Na DietaBruno Delmoro100% (1)
- POP 01 Homeopatia Alcool 77Documento3 páginasPOP 01 Homeopatia Alcool 77Gislaine Vantroba BorgesAinda não há avaliações
- Este Xarope Caseiro Vai Derreter o Abdome e Desinchar Todo o Corpo em Menos de 30 DiasDocumento4 páginasEste Xarope Caseiro Vai Derreter o Abdome e Desinchar Todo o Corpo em Menos de 30 DiasAdriano GaldinoAinda não há avaliações
- Torta Salgada Com Farinha de Trigo IntegralDocumento5 páginasTorta Salgada Com Farinha de Trigo IntegralcassiadominguezAinda não há avaliações
- P0208Documento25 páginasP0208Vanessinha AndradeAinda não há avaliações
- O PenetraDocumento4 páginasO PenetraAlder Vieira de OliveiraAinda não há avaliações
- Crônica - Ser BrotinhoDocumento1 páginaCrônica - Ser BrotinhoSilvéria MatiasAinda não há avaliações
- BafometroDocumento2 páginasBafometroVaniele Silva LopesAinda não há avaliações
- Prévia de Cardápio Bacuri AtualizadoDocumento7 páginasPrévia de Cardápio Bacuri AtualizadoEmmanuel PruccoliAinda não há avaliações
- Destilados - 05 Acidez VolátilDocumento2 páginasDestilados - 05 Acidez Volátillucas0406Ainda não há avaliações
- Relatório Açúcar Redutor e InvertidoDocumento11 páginasRelatório Açúcar Redutor e InvertidoIsla AlcântaraAinda não há avaliações
- A Verdade Que A Mídia Não Mostra - O Câncer Tem CURA SIM!Documento24 páginasA Verdade Que A Mídia Não Mostra - O Câncer Tem CURA SIM!PabloS.Ferreira100% (1)
- Ebook Do Desafio15dias TROPA de ELITE PDFDocumento25 páginasEbook Do Desafio15dias TROPA de ELITE PDFAntonia Lorrayne AssunçãoAinda não há avaliações
- ebook-WEDDING CAKE - PDFDocumento32 páginasebook-WEDDING CAKE - PDFSara Oliveira100% (1)
- 10 Receitas Cha Seca BarrigaDocumento11 páginas10 Receitas Cha Seca BarrigajulianalippiAinda não há avaliações
- Fermentando AçucarDocumento20 páginasFermentando AçucarClaudia CarvanaAinda não há avaliações
- Marcelo Marmelo MarteloDocumento5 páginasMarcelo Marmelo MarteloThuane Oliveira Prior Prior100% (1)
- Trabalho - Produção Do Leite FermentadoDocumento18 páginasTrabalho - Produção Do Leite FermentadoSchrödinger67% (3)
- Roquefort (Apresentaçâo)Documento34 páginasRoquefort (Apresentaçâo)Rodrigo Antônio Pires VieiraAinda não há avaliações
- Cafeteira Britania cp15 ManualDocumento3 páginasCafeteira Britania cp15 ManualGilton Ribeiro SantosAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido PerecíveisDocumento73 páginasEstudo Dirigido PerecíveisJackson AntunesAinda não há avaliações
- MARGARITADocumento9 páginasMARGARITARikhardAinda não há avaliações
- CITROS Principais Informações e RecomendaçõesDocumento8 páginasCITROS Principais Informações e RecomendaçõesClistenes SarmentoAinda não há avaliações
- Análise Sensorial Da Qualidade Do Café em Uma Indústria de Cafeeira No Centro-Oeste de Minas GeraisDocumento58 páginasAnálise Sensorial Da Qualidade Do Café em Uma Indústria de Cafeeira No Centro-Oeste de Minas GeraisTays MarquesAinda não há avaliações
- Orientao Nutricional Na GastriteDocumento11 páginasOrientao Nutricional Na GastriteAnna Júlia SagginAinda não há avaliações
- Pastelaria Natal FinalDocumento32 páginasPastelaria Natal FinalPriscila AlmeidaAinda não há avaliações
- Simulado 1º EXTENSIVO - 3 SÉRIE - 1º DIADocumento54 páginasSimulado 1º EXTENSIVO - 3 SÉRIE - 1º DIADaniel LinoAinda não há avaliações
- O Uso Das Bebidas e A Confecção Do AluáDocumento2 páginasO Uso Das Bebidas e A Confecção Do AluáSergio NabaisAinda não há avaliações
- Minuta de Projeto de PesquisaDocumento16 páginasMinuta de Projeto de PesquisaYoan RguezAinda não há avaliações
- Rosca de PadariaDocumento8 páginasRosca de PadariaRobertoAinda não há avaliações