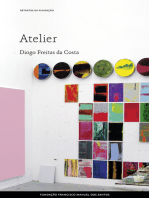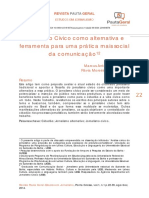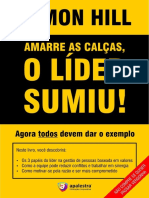Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Texto Luis Fernandes Revista Etnografica Trabalhos de Margem No Centro Da Urbe o Arrumador de Automoveis PDF
Enviado por
SofiaCostaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Texto Luis Fernandes Revista Etnografica Trabalhos de Margem No Centro Da Urbe o Arrumador de Automoveis PDF
Enviado por
SofiaCostaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Etnogrfica
vol. 16 (1) (2012)
Miscelnea e dossi "Futebol e emigrao portuguesa"
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lus Fernandes
Trabalhos de margem no centro da
urbe: o arrumador de automveis
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Aviso
O contedo deste website est sujeito legislao francesa sobre a propriedade intelectual e propriedade exclusiva
do editor.
Os trabalhos disponibilizados neste website podem ser consultados e reproduzidos em papel ou suporte digital
desde que a sua utilizao seja estritamente pessoal ou para fins cientficos ou pedaggicos, excluindo-se qualquer
explorao comercial. A reproduo dever mencionar obrigatoriamente o editor, o nome da revista, o autor e a
referncia do documento.
Qualquer outra forma de reproduo interdita salvo se autorizada previamente pelo editor, excepto nos casos
previstos pela legislao em vigor em Frana.
Revues.org um portal de revistas das cincias sociais e humanas desenvolvido pelo CLO, Centro para a edio
eletrnica aberta (CNRS, EHESS, UP, UAPV - Frana)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Referncia eletrnica
Lus Fernandes, Trabalhos de margem no centro da urbe: o arrumador de automveis, Etnogrfica [Online],
vol. 16 (1)|2012, posto online no dia 23 Maro 2012, consultado no dia 10 Outubro 2012. URL: http://
etnografica.revues.org/1363; DOI: 10.4000/etnografica.1363
Editor: CRIA
http://etnografica.revues.org
http://www.revues.org
Documento acessvel online em: http://etnografica.revues.org/1363
Este documento o fac-smile da edio em papel.
CRIA
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
Trabalhos de margem no centro
da urbe: o arrumador de automveis
Lus Fernandes e Tiago Arajo
O presente artigo centra-se na figura do arrumador de automveis. Situa a sua
emergncia em relao com as manifestaes e os atores que tm vindo, ao nvel
da rua, a protagonizar o fenmeno droga, e em torno dos quais os dispositivos de
controlo social foram elaborando alguns dos principais elementos definidores do
problema da droga. A partir dos dados duma etnografia conduzida no centro de
Guimares, caracteriza ento as rotinas da sua atividade, salientando o seu poder
estruturador no quotidiano dos indivduos, a dimenso relacional do estar na rua,
destacando a interao com o automobilista, a organizao territorial nos parques onde arrumam e a relao com as instncias de controlo. O arrumador de
automveis , a partir do que revelam os dados de terreno, conceptualizado como
uma figura do trabalho informal e como um novo utilizados da cidade (city user),
que vem da periferia social para participar, espacial e relacionalmente, no centro e,
nessa medida, ser tambm seu construtor.
PALAVRAS-CHAVE:
arrumador de automveis, trabalho informal, etnografia, droga,
utilizador da cidade.
Margin works in the city centre: the informal parking attendant This
paper focuses on informal parking attendants. It locates the rise of such business
in relation with street-drugs actors and their behaviours. It also considers the ways
in which social control agencies have elaborated crucial dimensions of the drugs
problem around informal parking attendants. Based on ethnographic work carried
out in downtown Guimares, the paper describes the routines of informal parking
attendants, stressing the structuring effects of such business in the lives of the
individuals who perform it. The relational realm of life in the streets, interactions
with drivers, the territorial organization of parking places, and the attendants relationship with control agencies are also emphasized. According to the empirical
data, informal parking attendants are seen as underground economy workers and
as a new type of city user: one that comes from the margins of society to take part,
both in spatial and relational terms, in its centre. Thus, they can also be seen as
builders of that centre.
KEYWORDS:
informal parking attendant, underground economy, ethnography,
drugs, city user.
Fernandes, Lus (jllf@fpce.up.pt) Faculdade de Psicologia e de Cincias da
Educao, Universidade do Porto, Portugal
Arajo, Tiago (tiagu_sousa@hotmail.com) Centro de Cincias do Comportamento
Desviante da Faculdade de Psicologia e de Cincias da Educao, Universidade do
Porto, Portugal
lus fernandes e tiago arajo
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
Os consumos problemticos de drogas, sobretudo quando
adquirem uma dimenso fortemente visvel no espao pblico, so um fenmeno que se tornou corrente nos sistemas urbanos. Mas nem por serem correntes perderam a carga com que so encarados, seja enquanto tema do debate
social, seja enquanto preocupao de diferentes instncias de controlo. Nas
sociedades urbanas complexas os consumos problemticos de drogas podem
assumir expresses variadas, dizer respeito a grupos sociais muito distintos e a
zonas muito diferentes entre si no que toca sua visibilidade e ao modo como
so percebidas como problema.
A construo do seu estatuto como problemtico tem uma longa histria, que poderamos remontar conquista espanhola da regio que tem ainda
hoje um grande protagonismo no panorama internacional das drogas: a regio
andina da folha de coca, reprimida ento pelos espanhis pela sua associao
a cerimoniais religiosos incas (Diaz 1998; Escohotado 1996). No traaremos
aqui o longo percurso que culminou com a ilegalizao das substncias a que
hoje chamamos drogas e que teve como grandes eixos construtores os dispositivos jurdico-penal e mdico-sanitrio (Fernandes 1998; Lamo de Espinosa
1989; Roman 1999). Pretendemos apenas sublinhar o atual estatuto problemtico de certos produtos e de indivduos, grupos sociais e zonas urbanas
a eles associadas, normalmente referidos no seu conjunto no debate pblico
como o problema da droga.
Em Portugal, a visibilidade pblica do drogado comeou a ganhar
contornos nos anos 70 do sculo XX e tornou-se presena constante na
comunicao social a partir de meados dos anos 80, acompanhando o
aumento do consumo de herona e a fixao dos seus principais mercados
de retalho nas periferias degradadas. Diramos que a comunicao social
explorou o potencial flmico de novas figuras que emergiam no espao
urbano, difundindo imagens e debates que erigiriam a droga como um
dos mais preocupantes problemas com que Portugal se debatia. A melhor
demonstrao do alarme social assim gerado foi o rpido crescimento dos
dispositivos de controlo em seu torno (cf. Agra 1993; Fernandes 2009,
2011).
O problema da droga teria assim, de acordo com a sua evoluo na interface entre consumos de psicoativos ilegais e reao social, figuras que se iam
tornando centrais: primeiro o toxicmano juvenil e o traficante, depois o
toxicodependente, que por sua vez se desdobrava em figuras como o heroinmano ou a prostituta-toxicodependente, passando tambm a distinguir-se
entre o traficante e o traficante-consumidor. Pelo meio destas figuras que
concentravam as atenes dos mass media e do dispositivo de combate
droga surge, bem no centro de Lisboa e do Porto, um novo ator que depressa
se percebeu estar tambm ligado ao problema da droga: o arrumador de
automveis.
trabalhos de margem no centro da urbe
justamente a figura do arrumador aquela que concentrar a nossa ateno neste texto. Ele o ator que materializou no contacto dirio da rua a
figura do drogado, que o cidado comum desenhava sobretudo a partir do
relato da comunicao social. O arrumador a interface com o comum utilizador da cidade; tem por isso um grande peso na produo de representaes sociais sobre o drogado, o excludo, o marginal. uma personagem
relativamente nova nos espaos urbanos comeamos a cruzar-nos com ela
em Lisboa ou no Porto no incio dos anos 90 , proliferou rapidamente, mas
nem por isso mereceu a ateno dos cientistas sociais que estudam a cidade
ou o desvio. No final dessa dcada, as autoridades municipais estimaram em
cerca de 700 o seu nmero nas ruas do Porto; em Lisboa, embora no houvesse
nmeros oficiais, calcula-se que seriam mais de 1500.
A inquietude provocada pela apario dos arrumadores no quotidiano das
cidades portuguesas deu origem, no final dos anos 90 no Porto, a uma primeira
interveno social, no quadro do contrato-cidade para o combate excluso
social, o programa H Porto contigo; a partir de 2002 iniciar-se-ia o Porto
Feliz, tambm de iniciativa autrquica, cujo primeiro objetivo era o de os retirar
das ruas e praas, de modo a restaurar a normalidade da cidade dominante.
No debate pblico da altura, o arrumador aparecia como um potenciador do
sentimento de insegurana: seria em regra um toxicodependente, e este era
tido nos relatos dirios da comunicao social como o principal responsvel
pelo aumento da criminalidade. Viemos agora encontr-lo em Guimares.
Esclareceremos na seco seguinte o porqu de ser nesta cidade e no em qualquer outra da mesma escala urbana.
DELIMITAO DO OBJETO E ESCOLHAS METODOLGICAS
A investigao que nos conduziria a centrar-nos sobre os arrumadores de automveis teve origem numa solicitao por parte duma autarquia. Com efeito,
a Cmara Municipal de Guimares quis aprofundar o conhecimento sobre os
consumos e os utilizadores problemticos de drogas, de modo a potenciar as
aes interventivas, tanto do seu departamento de ao social como das organizaes que integram a rede social. Estvamos, portanto, perante o desafio
de empreender um trabalho etnogrfico junto dos atores e dos territrios das
drogas em Guimares.1
1 Esta seria a parte qualitativa e, digamos, intensiva da investigao consumo de lcool e drogas no
concelho de Guimares estudos na populao estudantil e consumidores problemticos (implicaes
para a preveno das toxicodependncias), solicitada pelo Municpio de Guimares ao Centro de
Cincias do Comportamento Desviante da Faculdade de Psicologia e de Cincias da Educao da Universidade do Porto em 2009. A outra componente da investigao, de natureza quantitativa e, digamos,
extensiva, caracterizao dos padres de consumo de lcool e de outras drogas na populao estudantil
do concelho de Guimares, esteve a cargo do prof. Jorge Negreiros.
lus fernandes e tiago arajo
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
Delimitao do objeto
Tarefa primeira: delimitar o objeto da pesquisa. Circunscrevemos os consumos
problemticos s franjas de indivduos mais marginalizadas, que so normalmente aquelas em que os problemas sanitrios e sociais atingem maior gravidade, sendo tambm as que se tornam mais visveis nas dinmicas dirias
dos espaos urbanos. Do conjunto de dados que o trabalho de campo gerou
isolaremos a parte que diz respeito aos indivduos que optaram pela atividade
de arrumador de carros como estratgia para tornar vivel o financiamento dos
consumos da(s) droga(s) a que esto adictos.
A unidade de estudo
Tarefa segunda: escolher a unidade de estudo. A opo pela pesquisa de terreno em contexto natural exige o contacto prolongado com atores e respetivos
territrios. A existncia dum territrio com grande centralidade, tanto face ao
fenmeno droga como face prpria cidade, estava j previamente identificada por uma equipa de reduo de riscos e minimizao de danos.2
Recorremos ento equipa de rua como ncora de terreno, de modo a irradiar posteriormente a partir do seu local habitual de permanncia, situado no
centro histrico. Apesar da sua centralidade no mapa da cidade, tratava-se dum
espao intersticial: ao fundo duma viela, num pequeno largo fora das vistas
dos transeuntes, com um tnel rodovirio que oferecia o recato de consumir
resguardado dos outros e protegido do vento, o que se reveste de utilidade prtica quando tm de acender-se isqueiros e aspirar finas colunas de fumo, que
qualquer aragem faz dispersar. O decorrer do trabalho de campo confirmaria a
importncia deste territrio psicotrpico na organizao diria dos utilizadores: local de consumo, de compra e venda de produto, de relacionamentos e
contactos, uma vez ou outra de pernoita (havia quem dormisse no tnel), de
recurso aos servios da unidade mvel de reduo de riscos.
O trabalho de campo
A etnografia foi o mtodo escolhido para levar a cabo os objetivos definidos
para a investigao. Tem provado ser uma das estratgias metodolgicas com
maior capacidade de se acercar de realidades em relao s quais os grupos
dominantes produzem distncia social e simblica. Esta distncia redu-las a
imagens simplificadas e simplistas os esteretipos, que circulam como verdades de senso comum. Vrios estudos tm caracterizado estes esteretipos
a propsito da droga e dos drogados, mostrando o seu reducionismo e o
modo como funcionam como sentenas valorativas a priori (cf. Quintas 1997;
2 Referimo-nos In-Ruas, projeto da Sol do Ave Associao para o Desenvolvimento Integrado do
Vale do Ave que efetua trabalho de proximidade com consumidores problemticos nas ruas do centro
histrico de Guimares desde o vero de 2008.
trabalhos de margem no centro da urbe
Ribeiro 2004; Roman 2009). A tarefa inicial do etngrafo suspender tais
esteretipos, abordando os atores no seu contexto natural, nos lugares onde
desenrolam a sua atividade quotidiana, procurando adotar a postura de quem
pouco ou nada sabe do que v e ouve.
A profundidade com que vem a poder conhecer-se um mundo social especfico, nas pesquisas em contexto natural, depende do sucesso com que se
processa a aproximao do investigador s zonas e aos grupos e indivduos
que quer conhecer. E esta proximidade d-se pela conquista progressiva da sua
confiana, pelo que a evoluo necessariamente lenta.
O primeiro problema a resolver , desde logo, o de como entrar na zona que
se escolhe, o de como abordar os indivduos, o de como fazer-se aceitar por
quem nada tem, aparentemente, a ganhar com a sua presena ali.
Ter a equipa de reduo de riscos como ncora inicial permitiu beneficiar do
capital de confiana que os seus tcnicos j tinham construdo no trabalho de
proximidade com os utilizadores de rua. Mas o papel do investigador no deve,
por razes ticas, ser ocultado, nem, por razes tcnicas, pode ser confundido
com o dos profissionais que trabalham na unidade mvel. No estivemos ali,
portanto, fazendo-nos passar por alguns deles. De resto, no estvamos sequer
dentro da carrinha. Ela constituiu a possibilidade de, sem grande trabalho de
aproximao prvio, aparecermos no meio dum primeiro conjunto de utilizadores de drogas, constitudo pelos utentes mais ou menos regulares desta unidade
mvel. medida que fomos ganhando proximidade com alguns dos mais assduos, foi ento possvel alargar a nossa observao a todo o centro da cidade,
j que passmos a reconhec-los em vrios espaos e pudemos ir ficando por
ali pelas ruas centrais, pelas praas, pelas esquinas e, principalmente, pelos
parques, medida que constatvamos que os indivduos que conhecamos
da unidade mvel eram os mesmos que arrumavam carros nesses parques.
Sobre o que so e como estes funcionam, teremos tempo de ver j adiante.
Assim, os tempos iniciais duma pesquisa deste tipo so de negociao do
estatuto do investigador, tanto junto dos tcnicos como, principalmente, junto
dos atores das drogas, etapa fundamental para que a sua presena no seja um
obstculo ao livre curso dos fenmenos nos seus settings naturais, sob pena de
alterarmos irremediavelmente aquilo que queremos conhecer.
Fazer etnografia , deste modo, estar sempre no comeo: porque a unidade
de estudo nova, porque os atores so outros, porque o contexto exige novas
adaptaes. Os primeiros passos so sempre de incerteza, os primeiros contactos so sempre de descoberta:
Entretanto o Renato (tcnico da equipa de rua) diz, virando-se para
mim, Este aquele colega de que tnhamos falado que vinha uns tempos
connosco, frisando bem que eu no pertencia equipa, que estava a fazer
um estudo para a universidade. O F., ainda no cho, com uma prata usada
10
lus fernandes e tiago arajo
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
na mo, diz: um estgio, no , jovem? um estgio Eu respondo:
mais ou menos isso [entre risos], uma pesquisa para a Universidade do
Porto, dizendo o F.: isso, isso Quando o Renato diz o meu nome,
eu estendo a mo ao F., que ma aperta [dirio de campo, primeiro dia].
O etngrafo apresentado aos primeiros utilizadores com quem se cruza.
Inicia-se o processo de definio do seu estatuto naquele contexto, funcionando a intermediao do tcnico de reduo de riscos e a frase para a universidade como apaziguadores da desconfiana que a sua presena causa.
O R. est a desembrulhar com muito cuidado uma prata, e o Renato
diz: Queres vir ver aqui o R., que ele no se importa que o vejamos a consumir? O R. acrescenta: Eu no, no me importo nada Eu agradeo e
aproximo-me deles. Vo falando, mas eu concentro-me naquilo que o R. est
a fazer, acaba de desembrulhar a prata e no seu centro est uma mancha, que
parece uma mancha de caf coagulada. Com muito cuidado ele descola-a da
prata e tomba-a para outra prata nova, depois raspa os restos, como que a
tentar aproveitar ao mximo todos os bocadinhos que estavam na prata
[dirio de campo, primeiro dia].
O etngrafo obtm as primeiras autorizaes para participar, observando
diretamente a cena drug, ainda com a intermediao do tcnico de reduo
de danos. So os primeiros passos para que o vnculo que este j criou com os
utilizadores de drogas seja transmitido ao investigador. A continuidade deste
processo acabar por autonomiz-lo do intermedirio, passando a ter acesso
direto aos lugares e aos indivduos, explicando uma e outra vez porque se
encontra ali, caso note interrogao ou estranheza em algum deles. Ver ento
o utilizador no momento da consumao do interdito, ou o desvendar da privacidade que os mundos de rua tambm encerram:
Chegamos perto da parede e o R. acende o isqueiro e d uma passa.
Observo que a mancha se liquidificou, se moveu e largou fumo, que foi
aspirado pelo cano de prata. O R. pergunta-me, agachando-se de ccoras
encostado parede: Mas nunca tinha visto, ? Eu respondo que no, e ele
diz: Quer dizer, sabia o que mas nunca tinha visto Eu volto a dizer que
sim, e reparo que o Renato se afasta um pouco, percebo que era para no
apanhar com o fumo. Eu tambm me afasto, mas consegui sentir o cheiro,
era adocicado e esquisito [dirio de campo, primeiro dia].
Observar uma experincia sensorial plena: h tambm odores, o etngrafo regista como quem v pela primeira vez. E nada do que v trivial, tudo
interessa, precisamos de tudo quanto se oferea diante de ns porque, mais
trabalhos de margem no centro da urbe
11
frente, com o acumular dos dados, aquilo que parecia mero pormenor pode
revelar grande valor informativo. Resistir s definies prvias, deixar para trs
o esteretipo, fazem parte da arte de ver quando se est no terreno. So tambm as condies que permitem a emergncia da novidade.
SER ARRUMADOR
A figura do arrumador de automveis viria a ganhar, medida que o trabalho
de campo decorria, progressiva centralidade. Procuremos uma compreenso da
sua presena nos espaos de rua que nos leve para alm das evidncias de senso
comum. Quando chegamos perto dele, o que constatamos sobre este ator que
se tornou presena diria em vrias das nossas cidades? Que trajetria o trouxe
at rua? Que faz, em que consiste a sua atividade? Como se relaciona com o
automobilista e com os comerciantes das imediaes do seu parque? Quanto
rende a atividade? Que faz ao dinheiro que vai recolhendo? E como reagem
sua presena constante os que tm de interagir com ele?
No era, j o dissemos, nossa inteno inicial tomar o arrumador de
automveis como objeto de pesquisa. Fomos conduzidos at ele pela fidelidade
a um dos princpios da investigao etnogrfica: no impor ao objeto de estudo
uma delimitao prvia. Estar, ao invs, preparados para nos adaptarmos s
suas peculiaridades, seguir-lhe a pista, ir para onde ele nos for levando. E o
que este princpio ditou foi que, comeando a relacionar-nos com indivduos
que utilizavam a rua como local de compra e consumo da(s) sua(s) droga(s)
preferida(s), acabmos por ir dar aos parques: os lugares onde alguns deles
passam uma grande parte da jornada a angariar dinheiro para poder comprar a
substncia a que esto adictos.
Que faz ele por ali no parque horas a fio? Num olhar superficial, no
comentrio do senso comum, parece no fazer mais do que entreter o tempo,
tentando arranjar umas moedas para a droga. O arrumador seria um indivduo em errncia, uma espcie de herdeiro atual da velha figura do vadio.
Quando nos acercamos, porm, assemelha-se mais a uma figura do trabalho
informal. O vadio est longamente inscrito na histria das sociedades que consagraram o trabalho como a sua moral dominante, algo que foi ocorrendo com
muito maior intensidade a partir da revoluo industrial. Em Portugal, o sculo
XIX o sculo do vadio, do vagabundo, do ocioso, do pria o outro
lado da moeda do operariado industrial, constitudo sobretudo na segunda
metade desse sculo a partir da migrao macia do campo para a grande
cidade (Fatela 1999; Vaz 2006).
O cdigo penal de 1886 define assim o vadio:
Aquele que no tem domiclio certo em que habite, nem meios de subsistncia, nem exercita habitualmente alguma profisso, ou ofcio, ou outro
12
lus fernandes e tiago arajo
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
mester em que ganhe a sua vida, no provando necessidade de fora maior
que o justifique de se achar nestas circunstncias (cit. em Fatela 1989: 89).
Em comum com o vadio, o arrumador tem tambm a circunstncia de ser
uma das vtimas da profunda transformao em curso, que j nos habitumos
a chamar globalizao e cujos efeitos nos mais variados setores da vida vo
sendo descobertos sucessivamente. Esta transformao tem vindo a produzir
novas desinseres, novas errncias e novas marginalidades. A diferena em
relao quela poca que estas no so constitudas por aqueles que a lgica
do trabalho deixou de lado, mas resultam da degradao deste nos pases do
capitalismo avanado (deslocalizaes macias, desregulao laboral, explorao de migrantes clandestinos, trabalho temporrio, recrutamento ao dia,
degradao salarial, desemprego).
Quando traamos a sociografia dos arrumadores que fomos conhecendo ao
longo do trabalho de campo, todos eles do sexo masculino, notamos como tm,
invariavelmente, percursos laborais intermitentes (entrecortados com desocupao), quase sempre em trabalhos pouco qualificados os nicos a que podem
ter acesso em funo da baixa escolaridade de todos eles. frequente a permanncia pouco prolongada numa dada ocupao, com transies de trabalho em
trabalho. Por exemplo, passar da construo civil a uma tinturaria, desta a uma
tipografia; ou de talhante a operrio fabril, da fbrica para a construo civil.
tambm comum entre quase todos uma situao familiar, tanto da famlia
de origem como da que formaram, marcada por conflito e roturas. A convergncia entre esta e a degradao da situao face ao trabalho acaba por ter um
desfecho tambm frequente entre os arrumadores com quem contactmos: a
precariedade do alojamento, oscilando entre quartos de penso, passagem temporria por casas de familiares e, no raramente, a situao de sem-abrigo.
O protagonista deste tipo de trajetria no hoje, necessariamente, aquele
que no se integrou na ordem da sociedade industrial, o que vai sendo aos
poucos vtima da desintegrao do antigo mundo operrio, da sua fragmentao, da subproletarizao, que torna a relao entre as franjas populacionais
mais expostas a estes processos e o trabalho cada vez mais improvvel.3
Ao longo desta seco veremos como o arrumador traz a marca, ao nvel
individual, do processo a que acabamos de aludir: ele a expresso de mecanismos macroestruturais que operam muito longe da sua vida, mas que a afetam
profundamente. E um exemplo de como os nveis macro e micro se ligam na
anlise social, e de como difcil, no plano interventivo, operar mudanas no
3 A profunda alterao da estrutura do trabalho e do seu papel econmico, social, afetivo e no plano
dos valores est hoje amplamente analisada. Alguns autores tm feito a ligao deste processo com os
atores e os fenmenos que recobrimos com a etiqueta excluso social. Salientamos, a este respeito, as
anlises de Robert Castel (2000, 2004) e de Loc Wacquant (2006).
trabalhos de margem no centro da urbe
13
nvel micro quando nada se altera no macro. Mas o paralelo entre o consumidor problemtico/arrumador e o vadio para aqui. De facto, o que o arrumador
faz assemelha-se mais ao trabalho do que quilo que fazia o vadio no fazia
nada, definia-se pelo apego ociosidade.
Arrumar carros como atividade do trabalho informal
Esta preocupao com o bem-estar dos clientes, com a adoo duma
atitude agradvel que conquiste a confiana dos automobilistas, um dos
princpios mais respeitados pelos arrumadores com mais anos de carreira.
Veem-se como profissionais que prezam a sua atividade e que procuram, de
facto, prestar um servio que consideram til (Fernandes e Pinto 2004).
Escrevamos estas linhas h alguns anos, a propsito dos indivduos, maioritariamente toxicodependentes, que arrumavam carros no Porto. Arrumar carros um trabalho? Jos Machado Pais, numa das raras investigaes que deram
ao arrumador estatuto de objeto cientfico, diz-nos:
Entre estes sujeitos existe uma conscincia de grupo, um agir coletivo
que se rege por um saber prprio e por uma tica de trabalho baseada no
brio profissional, pelo que a preocupao expressa por alguns em respeitar
os locais pertencentes a cada um e manter o seu territrio limpo disso
exemplo (Pais 2001: 245).
Tambm ns verificmos que os arrumadores com presena assdua nas
ruas do centro de Guimares se autopercecionavam como estando a prestar
um servio ao automobilista, comportando-se como quem executa um trabalho. J no parece to claro poder afirmar que o automobilista o percecione
como um trabalhador, a avaliar pela quantidade dos que no pagavam o
servio
O arrumador inscreve assim a sua presena numa espcie de trabalho informal, semelhana do que acontece com outras atividades que, a despeito
de serem olhadas como desviantes, marginais ou mesmo criminais, correspondem a verdadeiras ocupaes, centrais na estruturao de modos de vida.
D-se o exemplo da prostituio de rua, revelada na sua dimenso de atividade comercial, definindo a prostituta como trabalhadora sexual (cf., para o
contexto do Porto, a etnografia conduzida por Alexandra Oliveira, apresentada em Oliveira 2011); d-se ainda o exemplo da venda ambulante levada a
cabo por ciganos, estudada por Daniel Seabra (2006) em Lisboa. O facto de,
no caso dos arrumadores, ser um servio que no foi solicitado pelo cliente
no lhe retira, pelo menos aos olhos de quem o realiza, o carter de trabalho
tambm aqui semelhana doutros, como as vendas por telefone ou porta
14
lus fernandes e tiago arajo
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
a porta, muitas vezes, de resto, correspondendo a atividades do trabalho reconhecido e formal.
No este o lugar para aprofundarmos o conceito de trabalho informal.
Mesmo assim, dada a centralidade que o arrumar carros desempenha enquanto
atividade estruturadora da vida do indivduo e, digamos, remunerada, vale a
pena situar o conceito. Que o trabalho acabou por ocupar um lugar absolutamente fulcral medida que a Modernidade avanou algo que, pela exaustividade das anlises que o demonstram, dispensa mais argumentao. E que as
profundas mutaes a que ele est sujeito na contemporaneidade esto a ter
amplos reflexos nos equilbrios sociais constitui um campo de anlise de grande
importncia. Ora, o arrumador disto um objeto-analisador: quase sempre um
desempregado de longa durao, no perdeu o emprego duma vez. Foi, sim,
resvalando nas posies que eram mais ou menos estveis h umas dcadas e
que correspondiam a trabalhos pouco qualificados mas enquadrados na categoria social do operariado, sendo o produto da desagregao desta categoria nas
sociedades ps-industriais. O mundo laboral a que pertencia ou foi desaparecendo como consequncia da automao e da deslocalizao ou se foi tornando
instvel, a sua baixa escolaridade constitui uma desvantagem muito maior do
que h poucas dcadas, saltar de ocupao em ocupao tornou-se comum, ficar
sem trabalho tambm. A consequncia foi a pauperizao, e as tentativas de
sada passaram pela emigrao, ou pelo desempenho de tarefas em economias
subterrneas como a do mercado de retalho de drogas ilegais. Estas expectativas
de sada de uma situao pessoal de grande vulnerabilidade revelaram-se com
frequncia apenas mais uma etapa no desenraizamento e na precarizao.
Conseguir angariar o mnimo atravs dum empreendedorismo de margem
correspondeu, no caso dos arrumadores, a uma reentrada no circuito da cidade.
E provavelmente por isso que se torna importante, olhado a partir do seu
prprio ponto de vista, considerar que se est a realizar uma atividade, algo
parecido com um trabalho. o que mostra o terreno, quando analisamos em
pormenor aquilo que fazem e como o fazem dia aps dia no seu parque.
So, a nosso ver, uma figura emergente do trabalho informal. No quadro da
atual desregulao, o trabalho informal comea a aparecer como uma categoria importante. Manuela Ivone Cunha situa o conceito de economia informal
como tendo sido avanado h cerca de duas dcadas
[] para qualificar [] os rendimentos instveis provenientes de atividades econmicas fora do alcance regulamentar do Estado. Porm []
convm precisar que Hart (o autor que props o conceito) se referia no a
um setor definido de antemo e separvel de outros, mas a fontes ou oportunidades de rendimento []. [Desde ento,] a noo de informalidade tem
sido profusamente utilizada em vrias disciplinas (a sociologia, a antropologia, a economia, a geografia, a cincia poltica) (Cunha 2006: 220).
trabalhos de margem no centro da urbe
15
luz do que o trabalho de campo nos revelou, propomos o arrumador
como figura emergente do trabalho informal. Para alm da ausncia de regulao das atividades econmicas pelo Estado, a ausncia duma lgica de mercado
e/ou a ausncia de legalidade seriam ainda caractersticas do trabalho informal,
segundo a mesma autora. Este suscetvel, assim, de englobar uma multi
plicidade de modalidades margem do mercado formal. Inscritas onde, ento?
Na reciprocidade, parece-nos. Veremos adiante como a relao entre arrumador e automobilista pode revestir esta forma ancestral na troca econmica e
social. O que o arrumador evidencia, aplicando os termos de Manuela Ivone
Cunha, um encastramento particular do econmico nas relaes sociais
(Cunha 2006: 221). Cheguemo-nos de novo focagem de perto vejamos os
arrumadores do centro de Guimares.
Pedi um clair e, ao pagar, perguntei funcionria se ela tinha visto
hoje o arrumador de carros que costuma estar ali. Ela disse que no e que
ainda era cedo para ele, que deveria vir por volta das trs e meia [dirio de
campo].
A presena continuada dos arrumadores tornou-os familiares. As empregadas da confeitaria sabem a que horas entra o Manel. Porque trabalhar num
parque tem bastantes parecenas com trabalhar noutro stio qualquer do trabalho formal: ateno tarefa (h alguma vaga para indicar ao automobilista
que quer parar?), competncias relacionais (interagir com o automobilista),
fornecimento do servio (por exemplo, ir mquina, trazer o ticket, receber a
moeda). De manh, no mesmo parque, est o Canija. Horas certas para chegar,
tal como o Manel de tarde no h relgio de ponto, mas h o relgio biolgico da ressaca, que frrea a exigir pontualidade.
A mquina, nas economias formais, revelou-se devastadora dos postos de
trabalho. Aqui, tanto pode ser aliada (d mais rendimento arrumar em zona de
parqumetros) como concorrente:
O automobilista retirou o ticket e veio p-lo dentro do carro. Parecia
no ter intenes de dar nada ao Manel e este pergunta se ele no tem uma
moeda. O homem disse-lhe que no tinha, que ia levantar e depois quando
viesse que lhe dava. Quando se afastou de ns, o Manel disse, sorrindo: Vai
levantar! Granda grupo, prefere dar dinheiro puta da mquina em vez de
a ns [dirio de campo].
O arrumador que tem presena assdua num parque geralmente o seu
parque conhece os ritmos dos utentes da zona, podendo assim tirar partido
desses ritmos. O Barbas, por exemplo, sabe que quinta-feira o seu parque
est fraco quase toda a tarde, mas entre as 18h30 e as 19h30 h uma boa
16
lus fernandes e tiago arajo
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
ovimentao de automveis que lhe permite, s nessa hora, fazer 6 ou 7
m
euros o suficiente para a dose necessria para passar a noite. Ser arrumador
implica portanto, a seu modo, um conhecimento do quotidiano da cidade:
O Barbas disse que aquele stio no era bom, que do outro lado que
era. Eu disse que do outro lado tinha parqumetros e que pensava que era
pior. Ele respondeu que no, que o facto de ter parqumetros ajudava, pois as
pessoas davam sempre 50 ou 20 cntimos para eles tirarem os tickets. Disse
que ali em uma ou duas horas se fazia 20 euros vontade.
Perguntei-lhe ainda qual era o dia que dava mais dinheiro. Ele disse que
era o sbado, porque as pessoas iam todas s compras e ento os carros estavam sempre a sair e a entrar [dirio de campo].
H porm outros horrios bem menos lucrativos. Vimos locais igualmente
centrais onde o arrumador que estava de manh, entre as 8 e as 10 horas,
apenas tinha amealhado dois euros. E quem d mais moedas? Tambm aqui os
arrumadores tm um saber feito de experincia. Vejamos a teoria explicativa
do Rujo:
Depois o Rujo ainda disse que os carros bons no davam nada e que podia
aparecer um carro velho e a pessoa dava uma boa moeda. Ele justificou a sua
teoria: As pessoas tm um carro e tudo, mas j o tm h muitos anos, no
, e sabem o que viver com necessidades e do uma boa moeda, agora os
outros com mais posses no sabem e no do nada [dirio de campo].
A ajuda ao arrumador pode, na interpretao deste, radicar numa espcie
de solidariedade sada da experincia direta das dificuldades.
Arrumar carros tem em comum com outros ofcios obrigar a perseverana
e esforo, por vezes em condies severas do ambiente de trabalho. Os dias
frios e chuvosos so disso exemplo e h que trabalhar, porque a ressaca no
hiberna Quando o dia est a correr mesmo mal, quando est difcil juntar a
quantia para o pacote de herona ou de base, lana-se mo, por vezes, da criatividade. Vejamos como que o Canija resolveu o problema:
O dia est a correr mal ao Canija, os carros no saem, os poucos que chegam no do moeda. Chega ento um, ele vai met-lo e, quando regressa,
diz: J tive que espetar uma mentira, dando a entender que era assim que
se ia safando. Contou que tinha dito ao homem que hoje fazia anos e que
ainda no tinha comido nada. Disse ainda que eram mentiras inofensivas e
eu acrescentei que era uma estratgia, que ele tentou comover o automobilista para este lhe dar dinheiro. Ele concordou e disse que o senhor lhe tinha
dado 2 euros [dirio de campo].
trabalhos de margem no centro da urbe
17
A vida na herona cansa, arrumar carros tambm, as duas juntas desgastam.
Estou farto desta vida! uma frase corrente. Para a semana vou comear
um tratamento tambm. E no dia seguinte esto no mesmo posto a arrumar
os mesmos carros, vo trocar as moedas aos mesmos stios, correm ento a
entregar a nota ao dealer para obter o p do alvio imediato. Tanto cansao
pede descanso, todo o trabalho precisa de frias. Quando que so as frias
dum arrumador? Quando finalmente recolhe a uma comunidade teraputica,
quando internado para uma desintoxicao. s vezes, as frias vo passar-se a
um estabelecimento prisional, quando finalmente h o desfecho dum processo
por trfico algo que no nada raro na trajetria de muitos.
O olhar distrado do habitante citadino achar provavelmente os arrumadores
todos iguais como temos tendncia a fazer quando reduzimos a um esteretipo um grupo em relao ao qual produzimos distncia social e simblica. Mas,
como em qualquer outra ocupao, os arrumadores exibem estilos pessoais ao
execut-la. Estes estilos tm relao com a personalidade de cada um. Vejamos o
que o etngrafo anotou quando foi ver o Rujo a trabalhar no seu parque:
Ns estvamos na entrada do parque encostados ao tal carro. E entretanto tive a oportunidade de ver o Rujo trabalhar. Vagou um lugar mesmo
ao nosso lado e ainda demorou uns minutos at aparecer um carro que l
estacionasse. Pensei que o Rujo se ia pr entrada do parque ou na rua
principal a angariar, como o Manel, mas no, ele manteve-se ali perto do
lugar. Foi um facto que constatei, o Manel muito mais pr-ativo do que o
Rujo, que no pressionava nada os condutores, no angariava carros para o
lugar, esperando que aparecessem, e no corria para os lugares para ajudar
as pessoas a estacionar.
[] O Rujo estava a arrumar um carro quando cheguei perto dele, e pude
v-lo durante alguns segundos a trabalhar sem que ele me visse. No notei
diferena das vezes em que ele sabia que eu estava ali, pelo que deduzo que o
estilo dele mesmo aquele. um estilo retrado e calmo, sem causar presso
nos condutores [dirio de campo].
Tambm o Barbas, que arruma num parque perto do Rujo, apresenta um
estilo low profile:
Eu fiquei ali com o Barbas e ele ia metendo uns carros e conversando
comigo. Fiquei parado e mantinha alguma distncia quando ele interagia
com os condutores. Tal como o Rujo, ele era bastante comedido, no pressionava os condutores e no era inconveniente [dirio de campo].
A vida no parque rotineira. Uma das operaes de rotina a troca das
inmeras moedas que se vo acumulando nos bolsos por uma nota, pois
18
lus fernandes e tiago arajo
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
prtica corrente os dealers no aceitarem moedas quando o arrumador lhes vai
comprar a dose. O comrcio local o entreposto em que o arrumador faz a sua
troca:
O balco do caf era cinzento claro e tinha alguns utenslios de trabalho
em cima. O Rujo despejou o porta-moedas, espalhando as moedas de forma
a que no ficassem sobrepostas. E quando a empregada passou por ns ele
tratou-a pelo nome e pediu um caf. [] O Rujo acabou de contar e ficou
inquieto. Queria que lhe trocassem logo o dinheiro, pois podia perder o
dealer. Olhou vrias vezes para as funcionrias que andavam atarefadas com
servio de outros clientes. Os olhares dele eram como uma splica para que
se despachassem [dirio de campo].
Outras vezes, o arrumador tenta enganar-se nos trocos. Poucos cntimos
tm um grande valor, sobretudo se so os que faltam para perfazer o preo que
paga por um pacote de herona:
Depois de estacionar, o Manel pediu-lhe uma moeda e o condutor, j
fora do carro, disse-lhe que no tinha troco. O Manel disse que lhe trocava,
se ele tinha uma nota de 5 euros. O rapaz disse-lhe que s tinha uma nota
de 10 euros e o Manel, sorrindo, disse que tambm lhe trocava. Comeou a
contar as moedas e deu-lhe uma nota de 5 euros e algumas moedas para a
mo e j estava a virar costas quando o rapaz lhe chamou a ateno, olhando
para as moedas na palma da mo. O Manel voltou-se e meteu l mais uma
moeda, guardando depois no bolso da camisa a nota de 10 euros. Depois
de o rapaz se ter ido embora, antes mesmo de lhe perguntar o que se tinha
passado, o Manel disse: Estava a ver se lhe comia um euro, mas o cabro
reparou e assim s me deu 50 cntimos! [dirio de campo].
Mas, em geral, a relao cordial e o arrumador tem oportunidade de mostrar as suas competncias:
Quando eu estava a pagar ao balco, o Manel apareceu l com uma
nota de 5 euros para trocar. Brinquei com ele e disse-lhe que ele estava
cheio de dinheiro. Ele disse que no era dele, que era de uma senhora que
tinha estacionado o carro. Estava a pedir funcionria para lhe trocar em
moedas de 1 euro, que era para a condutora lhe dar 1 euro. [] O Manel, a
condutora e a filha desta falavam sobre deixar ou no a janela do Mercedes
um pouco aberta, pois l dentro estava um animal numa jaula de plstico
que precisava de respirar. A senhora deixou a janela com um friso de ar
aberto e o Manel passou l os dedos e disse-lhe que no havia problema
[dirio de campo].
trabalhos de margem no centro da urbe
19
A atividade at poderia tornar-se lucrativa, caso o arrumador conseguisse
abandonar os consumos:
O Barbas comentou acerca do indivduo que estava naquele momento
a trabalhar naquele parque. Disse que o indivduo j no consumia, que
estava a tomar metadona e que agora aquilo que ele fazia l era tudo lucro.
Que devia fazer uma pasta do caraas. Disse o Barbas que o indivduo lhe
ter dito que em breve tambm ia deixar a metadona, que todos os meses
reduzia um pouco quando ia consulta [dirio de campo].
No entanto, esta situao no parece ser comum: a metadona no afasta
necessariamente o indivduo dos consumos de herona, muito menos o afasta
dos de base de coca, mantendo-se por isso a necessidade de financiamento
para a sua compra. Uma visita ao terreno j depois de termos dado por terminada a observao sistemtica mostrou-nos um Rujo espera de ser chamado
para um internamento, em mais uma tentativa de, no apenas parar com as
drogas, como de mudar de vida, desgastado pelo cansao. E disse que nessa
altura poderia ento, a sim, juntar umas moedas e quando l voltssemos seria
ele a pagar um almoo.
Quanto rende esta atividade? Precisemos um pouco mais:
Perguntei-lhe como tinha corrido o dia e ele disse que tinha corrido muito bem, que tinha feito 13 euros durante a manh [dirio de
campo].
Se se comear a atividade cedo, tem-se o dinheiro suficiente para o consumo
imediato de herona ainda antes do meio-dia. tarde, o ciclo recomea porque
a ressaca vir pontualmente e h que lhe impedir a chegada. Mas os ganhos
so muito variveis, dependendo da localizao do parque, do facto de haver
ou no parqumetros, dos ritmos de certas atividades que trazem gente ao
local, das condies meteorolgicas e, claro, das competncias do arrumador,
embora seja por enquanto inconclusivo sabermos qual dos vrios estilos na
relao com o automobilista se revela mais rentvel.
Vrios episdios tm-nos mostrado repetidamente que muitos dos arrumadores evidenciam responsabilidade na execuo da tarefa, como se de um
trabalho formal se tratasse. Vejamos o episdio em que o etngrafo tenta obter
do Manel uma entrevista sobre a sua trajetria nas drogas:
Perguntei-lhe se podamos fazer j a entrevista e ele ficou meio calado.
Eu disse-lhe que lhe dava uns 3 euros pelo tempo que ele no ia arrumar
carros. Respondeu-me que no era pelo dinheiro, mas sim pelos carros que
l estavam, que podiam apanhar uma multa. Perguntou quanto tempo
20
lus fernandes e tiago arajo
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
emorava e eu disse-lhe que eram uns 20 minutos. Pediu ento que esped
rasse um pouco para ele controlar os carros [dirio de campo].
Do repertrio de competncias faz tambm parte a cortesia:
Perguntei ao Manel como que ele fazia a abordagem. Ele disse que
chegava l e dizia boa tarde. Num caso como o de agora tinha acabado
de receber moeda dum Mercedes , ele dizia: Boa tarde, doutor. Eu disse-lhe que perguntava aquilo pois havia outros tipos de abordagem em que
contavam histrias interminveis sobre acidentes de percurso e etc. Ele disse
que era sempre bem-educado e que sabia falar, e que, quando as pessoas no
iam na cantiga dele, tambm usava outros mtodos para lhes dar a volta.
Eu j assisti a esses mtodos mais persuasivos por parte do Manel, enrola a
conversa e diz que est tudo controlado, que controla a polcia, que podem
confiar nele, etc. [dirio de campo].
No trabalho formal h um equilbrio entre a competio e a cooperao.
Tambm aqui identificamos este binmio. Sobre a competio falaremos mais
frente a propsito dos territrios; a cooperao tambm acontece, porque a
vida na rua tambm relacional e cria laos:
Pelo caminho perguntei-lhe se ele tinha deixado o tal rapaz arrumar na
rua dele. Ele disse que sim, que habitualmente deixava que esse tal indivduo
fosse para l das 5 s 6. Disse o Manel: Eu gosto de repartir a riqueza pelos
pobres [dirio de campo].
A pobreza , de facto, um estado que apresenta uma certa relatividade
A relao com o automobilista
A explorao etnogrfica que Jos Machado Pais levou a cabo entre os arrumadores de Lisboa sintetiza numa frase o essencial do modo de vida de arrumador: o seu carter relacional, a sua dinmica reguladora de quotidianos da
marginalidade urbana e a sua funo de subsistncia econmica (Pais 2001:
247).
Tambm ns, nas notas de terreno, dvamos conta duma economia de subsistncia, inspirando-nos na expresso que era utilizada para o campesinato
pobre do interior norte de Portugal, em que o trabalho da terra dava apenas
para o estritamente necessrio sobrevivncia. Tambm anotvamos a funo
reguladora que o estar no parque a arrumar carros tem no quotidiano destes
indivduos porque o trabalho ocupao, e a ocupao estrutura o tempo
objetivo e o subjetivo. E anotvamos com abundncia o carter relacional do
estar na rua arrumando carros, como que devolvendo cidade quem, doutro
trabalhos de margem no centro da urbe
21
modo, poderia bem estar numa rota de isolamento e de invisibilidade. Este lado
relacional aparece nas frequentes interaes que os atores estabelecem com os
automobilistas, com comerciantes da zona, com companheiros do ofcio, com
outros consumidores, com dealers. E, no caso de muitos deles, com a equipa de
rua de reduo de riscos e minimizao de danos, com os tcnicos do Centro
de Respostas Integradas (a que ainda chamam CAT) e com outros servios da
rede formal de instituies. Dum modo muito sinttico, diremos que este lado
relacional se desenvolve segundo duas modalidades: a confiana e a tenso.
Esperei mais um pouco at s 15h30 e depois resolvi ir embora da confeitaria, mas ia perguntar algumas coisas s funcionrias. Quando estava
a pagar perguntei se o Manel se dava bem com elas e apresentei-me como
estando a fazer um trabalho sobre a toxicodependncia para a universidade.
Elas disseram que ele se dava muito bem com elas e que era muito prestvel,
que as ajudava com as compras, tendo uma delas piscado o olho e dito: Para
poder comer! Disseram tambm que lhes arranjava lugar para estacionar e
que ele andava sempre apresentvel, limpinho e que sabia falar. De vez em
quando ia l trocar dinheiro [dirio de campo].
A confiana aquilo que permite o vnculo social, estando portanto na
base da vida coletiva. Os grandes espaos urbanos geraram padres interativos
defensivos, mais caracterizados pela indiferena e pelo anonimato do que pela
confiana. Mesmo assim, os indivduos e os grupos desenvolvem estratgias
para minimizar o efeito desse trao da vida urbana, pois apesar da grande
cidade continuamos a ser animais de pequeno grupo e de relao face a face.
Ora, o arrumador parece ter-se tornado um especialista deste relacionamento face a face, personalizando um espao que doutro modo seria um mero
stio de passagem e para-arranca de automveis. certo que fora com frequncia a interao, certo que da experincia de qualquer pessoa sentir que
preferia no ter de trocar alguma frase e, ainda menos, dar uma moeda. Mas
certo tambm que esta postura do arrumador contribui para quebrar o anonimato e a indiferena: com o passar dos dias conhece muitos automobilistas
mais ou menos frequentes no seu parque e, com alguns, desenvolveu mesmo
uma relao de confiana:
Disse que um automobilista que tinha estacionado num dos lugares que
estavam afastados de ns lhe pagava o pequeno-almoo de vez em quando.
Disse que ele o deixava pago e que depois ele ia l comer. s vezes no comia
nesse dia e comia no outro [dirio de campo].
Com alguns automobilistas a relao de confiana mtua vai ao ponto de
ser o arrumador a realizar a gesto do aparcamento:
22
lus fernandes e tiago arajo
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
Vi esse indivduo dirigir-se a um carro que acabou de estacionar, a
c ondutora pela janela aberta disse-lhe algo e ele foi mquina tirar um
ticket. A mulher no lhe deu dinheiro algum. Fiz essa observao ao Barbas
e ele disse que era assim. A pessoa estacionava e depois dizia ao arrumador
quanto tempo queria e este ia tirar o ticket, pagando do bolso dele. Depois
a pessoa dava-lhe uma moeda que cobrisse o investimento e que desse mais
algum. Imaginemos que a pessoa pedia um tempo que custava 50 cntimos,
depois podia dar ao arrumador 1 euro e este lucrava 50 cntimos. O Barbas
disse que at podia ser mais. E se o arrumador tivesse j um talo ainda com
tempo de validade, que era s lucro [dirio de campo].
A confiana pode exprimir-se sob a forma de solidariedade, sobretudo
quando o contexto envolvente apela a este comportamento social:
Depois perguntei como que estava a correr o dia e ele sorriu dizendo
que estava a correr muito bem, que j tinha feito 20 euros desde as 14 horas.
Eu sorri e fiquei espantado, mas depois disse, ao mesmo tempo que o Manel,
que era por ser Natal. Ele disse que as pessoas diziam: Pegue l um euro, que
Natal [dirio de campo].
O Natal para todos; em menos de duas horas o Manel juntou 20 euros.
A tenso
A relao com o automobilista por vezes sentida por este como incomo
dativa:
Um dos carros que ele arrumou chamou-me a ateno, no pelo carro,
mas pela atitude do Manel, que a sua forma de estar. Era uma jovem
condutora. O Manel dava-lhe as orientaes dizendo: Assim, jovem, assim,
anda assim, anda. Ele estava frente do carro, e como a condutora estava
a fazer a manobra de outra forma ele insistia e no saa da frente do carro.
Elevou o tom da voz nas suas indicaes. A jovem, no interior do carro,
passou-se e gritou para ele sair da frente do carro, levando as mos ao ar.
Ele acabou por sair e a condutora acabou de estacionar. No lhe deu nada,
tendo ido mquina tirar um ticket [dirio de campo].
Os nossos dados de terreno no mostram o centro de Guimares como
palco de tenses entre arrumadores e automobilistas. Se bem que pontualmente a interao possa ser confrontativa, no geral ocorre num clima que
releva mais da confiana do que da tenso. No conhecemos o histrico da
atividade na cidade. Mas levantamos a hiptese, que seria necessrio testar
com dados empricos, de que o estilo dos arrumadores se modificou em relao
trabalhos de margem no centro da urbe
23
aos tempos em que comearam a aparecer pelas ruas tomamos aqui como
referncia os do Porto, baseando-nos na nossa experincia de frequentadores
da cidade e numa investigao etnogrfica com arrumadores cujo parque
era a Loja do Cidado das Antas (Matias e Fernandes 2009). Com efeito,
inicialmente, o estilo de abordagem era com frequncia confrontativo, no caso
de negada a moeda podia tornar-se hostil e abundavam os relatos de ter sido
danificada a pintura do automvel como retaliao. Vem provavelmente daqui
a associao da figura do arrumador com o sentimento de insegurana, algo
que os prprios reconhecem quando dizem saber que so temidos como uma
ameaa para o automvel, enquanto o toxicodependente (que tambm so)
seria sentido como uma ameaa para as pessoas (Matias e Fernandes 2009).
Parece hoje diferente a interao dos arrumadores com os automobilistas,
o que provavelmente se relaciona com dois fatores: por um lado, o cidado
foi-se habituando sua presena e no confirmou os receios iniciais que esta
figura, por ser tida como drogado, inspirava; por outro lado, os prprios
arrumadores foram constatando que era mais eficaz, porque mais rentvel,
uma abordagem pautada pela cordialidade, desincentivando deste modo tanto
neles como nos colegas de ofcio atitudes que possam gerar desconfiana ou
receio no automobilista.
A observao mostrou-nos, no Porto, como alguns no iam para o parque antes de cuidar minimamente da apresentao (por exemplo, fazendo
a barba), e como repreendiam colegas que enganassem ou tentassem roubar
algum cliente (Fernandes e Pinto 2004; Matias e Fernandes 2009). Pois
bem, tambm agora verificmos o mesmo. E acrescentaremos que, se o cuidar
da apresentao uma estratgia calculada, tambm o apresentar-se com um
aspeto descuidado, sujo ou a indiciar ms condies de vida considerado por
alguns como uma estratgia eficaz para obter ajuda. Os asseados, digamos,
criticam os sujos por darem m imagem da atividade e estes defendem-se
da acusao invocando o pragmatismo da sua estratgia Afinal, verifica-se
o mesmo que em qualquer outra atividade laboral em que a maioria dos seus
profissionais tenta minimizar a m imagem causada por uns poucos, coisa que
temos verificado, por exemplo, numa outra figura tpica de qualquer cidade,
o taxista.
Territrios
Quando chegmos perto da rua do Manel vi que estava l um outro
indivduo a arrumar carros, conseguia ver a sua silhueta curvada e os gestos
caractersticos. Pensei que o Manel ia disparar para recuperar o seu territrio, mas ele no reagiu, parecia que j sabia. Antes de chegarmos mais perto
perguntei-lhe e ele apenas disse que estava l esse rapaz, que o tinha deixado
arrumar uns carros mas que ele se ia j embora.
24
lus fernandes e tiago arajo
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
Ao chegarmos perto do rapaz, o Manel falou com ele. Eu fui um pouco
mais para longe. O Manel foi logo para o incio da rua e comeou a angariar carros, pois havia um lugar vazio, ele assobiava e apontava [dirio de
campo].
A distribuio espacial dos arrumadores no casual nem aleatria. Pelo
contrrio, os espaos tm valores estratgicos diferentes, uns rendem mais do
que outros, pelo que os indivduos exercem um controlo sobre o seu territrio,
de modo a no o deixar apropriar por outros. A rua, para os arrumadores, tem
dono e cada um manda no seu parque. , alis, da experincia comum de
quem usa a cidade diariamente notar que os arrumadores so sensivelmente
os mesmos nos mesmos stios, contribuindo com esta constncia para a rotina
urbana. O que a observao detalhada mostra que no esto ali passivamente, como quem se limita a esperar que da sucesso dos automveis que vo
estacionando resulte o peclio que precisam de amealhar para cada dose. Ser
arrumador ser ativo: angariar automobilistas, estar atento aos lugares que vo
vagando, interagir com o dono da viatura, exercer domnio sobre aquele espao
que no querem largar para a concorrncia:
O Manel ia dizendo para ele ir embora, para ir para outro stio. E ele
respondeu-lhe que dava para os dois, que metiam um carro cada um.
O Manel disse-lhe que no dava, que s vezes nem para um dava, quanto
mais para dois. Depois apareceu um carro e o rapaz comeou a correr em
direo ao lugar. O Manel tambm ia para l, mas depois ficou a meio do
caminho e deixou-o ir. Veio ter comigo meio a resmungar, a dizer que se
davam abbias e que depois o pessoal abusava. Eu perguntei-lhe se o rapaz
era amigo dele e ele disse que sim, e que era por isso que ele ainda ali estava,
se no j o tinha corrido [dirio de campo].
E porque estava ali aquele arrumador? No tinha territrio e procurava
ocupar um? A resposta veio logo a seguir:
Perguntei-lhe se o ADM era novo e ele disse que devia ter cerca de
25 anos, e que o conhecia por viverem perto. Depois perguntei-lhe se o
ADM no tinha uma rua dele para estacionar e ele disse que sim, que era
num parque perto da estao, s que um automobilista andava atrs dele
porque o ADM ficou de vigiar para tirar um ticket caso viesse a polcia e
depois o homem foi multado. O ADM saiu de l sem tirar o ticket [dirio
de campo].
E porque se ausentou o ADM, desleixando o capital de confiana que o
cliente tinha depositado nele? Porque completou a quantia para a dose e a
trabalhos de margem no centro da urbe
25
ansiedade da compra, a pressa de consumir, se sobreps ao dever profissional. Quem que ainda no se escapou alguma vez mais cedo do trabalho?
Como se consegue um territrio, como se fica sem ele? No pudemos aprofundar estas circunstncias, mas sempre ficamos com uma pista ao ouvir o caso
do Manel:
Continuamos a falar acerca dos lugares de estacionamento. Eu perguntei
se, quando ele tinha ido para aquela rua, no estava l ningum. Ele disse
que no, que costumava estar l um fulano, mas que depois desapareceu.
Ele tomou a rua e depois, passado um ano, o fulano apareceu e queria a rua
outra vez. Combinaram que um ficava de manh e o outro ficava de tarde,
sendo que o Manel ficava de tarde. Depois perguntei-lhe quanto tempo
que era preciso uma pessoa no aparecer para lhe poderem tomar o lugar. Ele
respondeu que era uma semana. Eu disse-lhe ento que se ele ficasse doente
uma semana era um risco. Ele depois reconsiderou e disse que uma semana
se calhar era pouco tempo, mas que se fosse um ms ou dois, ou seis meses,
a j no havia hiptese [dirio de campo].
Eis aqui um importante inconveniente do trabalho informal: no d direito
a baixa mdica
Ter-se apropriado dum territrio apresenta, para alm da vantagem bvia de
saber que se tem um stio, a vantagem de poder criar uma relao com pessoas
habituais na zona:
Perguntei-lhe como era ao sbado e ele disse que ali era muito fraco e
lembrei-me que o Barbas me tinha dito que na rua ao lado era o melhor
dia. Perguntei-lhe porque que no tentava outros stios e ele disse que
no, que preferia ir para o mesmo stio porque era mau mudar, j que se
estivesse sempre no mesmo stio as pessoas iam-no conhecendo e que assim
ele estabelecia uma relao com as pessoas e deste modo j davam boas
moedas. Perguntei como que ele tinha chegado a essa concluso, se tinha
experimentado outros stios e ele disse que sim, que comeou a pensar que,
se ficasse sempre no mesmo stio, as pessoas comeavam a ganhar confiana
com ele [dirio de campo].
O territrio tambm um espao de interconhecimento, fornece uma base
para as relaes, mesmo que minimalistas. Apropriao, interconhecimento e
relao aproximam o parque do lugar, no sentido antropolgico do termo:
muito mais do que um espao neutro, um stio investido e significativo.
Ao chegar l avistei logo o Speedy Gonzalez e o Rujo. Estavam em stios
diferentes, sendo que estavam trocados, ou seja, o Rujo estava no stio do
26
lus fernandes e tiago arajo
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
Speedy Gonzalez e o Speedy Gonzalez no local onde costuma estar o Rujo.
[] Fui ter com ele e quando l cheguei cumprimentmo-nos. Fiz-lhe a
observao da troca de lugares e ele disse que ali no havia lugares fixos,
que tanto podia estar ele como o Speedy Gonzalez, que era quem chegasse
primeiro. Que agora estava ele ali naquele lugar, e que daqui a cinco minutos
podia ir para l o Speedy Gonzalez [dirio de campo].
Os parques dos arrumadores podem, portanto, configurar-se como
t erritrios secundrios: no so exclusivos, so ocupados segundo a regra primeiro a chegar, primeiro a usar. Esta regra exacerba a concorrncia, obrigando
quem quer manter o seu posto a no se desleixar no horrio e na continuidade.
O trabalho informal exige iniciativa, o indivduo tem de defender o seu prprio
interesse, ningum o faz por si neste aspeto, o arrumador assemelha-se a um
profissional liberal
Arrumadores e controlo social formal
Arrumadores e polcias municipais trabalham ambos no mesmo setor: a regulao do aparcamento urbano. natural, portanto, o modo pouco simptico
como os arrumadores olham os polcias:
O Manel comeou por fazer queixa de um polcia que o andava a
aborrecer por ele estar a arrumar carros. Disse ele que o polcia lhe disse:
No podem estar arrumadores onde est a polcia. Ele diz que disse
ao polcia: Olhe, ento v dar uma volta que eu fico aqui [dirio de
campo].
Olham para os polcias como tendo critrios discricionrios em relao a
quem pode estar estacionado, numa espcie de sistema de privilgios que mostra aos arrumadores o quanto esto afastados do verdadeiro controlo da rua
que pensavam sua:
O D+ foi mquina dos tickets, presumo para tirar um ticket para pr em
algum carro, depois quando estava ao p de ns disse: Queres ver que o gajo
vai me foder os tickets vai ser direitinho, foda-se. Vi que depois o polcia
estava a cham-lo ateno acerca de um dos carros. O D+ no mostrou
grande reao, apenas falou com ele e vi que sorriu.
O Canija comeou a resmungar, dizendo: Filhos da puta, s multam
a quem lhes interessa, esteve ali um Opel Corsa a manh toda, s porque
era do []. Ele disse que havia carros que eram dos polcias, que estavam
estacionados o dia todo, mas que nunca tiravam o ticket. Disse tambm que
estava ali um carro, que era do caf onde eles iam tomar o pequeno-almoo,
e que tambm no multavam [dirio de campo].
trabalhos de margem no centro da urbe
27
Encontramos nos arrumadores do centro de Guimares um dado que
recorrente nos grupos que se dedicam a atividades desviantes, ou ajuizadas
dum modo negativo pelo discurso dominante: a desconfiana perante as instncias e as figuras do controlo social, imputando-lhes frequentemente o desfrutar de privilgios ilegtimos, ou seja, a ideia de que mesmo os que seria
suposto defenderem a ordem quebram as normas. Tambm nos arrumadores
detetamos o uso da condenao dos condenadores, uma das cinco tcnicas
de neutralizao que Matza (1964) identificou.
Tendo a polcia o mandato de assegurar a ordem nos espaos pblicos, tendo
o ordenamento jurdico as atividades ligadas a determinadas substncias psicoativas como ilcitas e tendo tantos consumidores problemticos a rua como
contexto privilegiado, os (des)encontros entre ordem e desvio, entre lei
e crime no so apenas inevitveis so frequentes e expectados de parte a
parte. O tema foi surgindo nos relatos espontneos ao longo do nosso trabalho
de campo, tendo como argumento as detenes seguidas de revista, a descoberta de um ou vrios pacotes (conforme se consumidor ou tambm se anda
a vender), a ida para a esquadra. E, por vezes, um desfecho que os utilizadores
consideram negativo e sobre o qual falam com alguma revolta: a destruio
do produto mesmo sua frente quando estavam a precisar dele como de po
para a boca. A situao mais extrema , porm, a agresso fsica. Registemos
a seguinte passagem do dirio de campo:
Depois eles falavam de algum que andava todo partido, que tinha sido
agredido. Uns diziam que tinha sido a polcia, outros diziam que tinha sido
o gajo que lhe metia as cenas para ele vender um dos ciganos ou outros.
Passado pouco tempo desta conversa chegou o Manetas e eu percebi pela
cara dele que era dele que falavam. Tinha um olho todo esmurrado e uma
sobrancelha inchada. Vinha com um bon que tapava a maior parte. Quando
chegou fez uma entrada catita, anunciando a sua chegada, dizendo:
Boa tarde pessoal, que aqui vem o homem!
Perguntaram-lhe logo o que se passava e ele disse:
para verem a autoridade que a gente tem, a autoridade portuguesa!
Mostrou as mazelas ao pessoal, e o Andrsio perguntou se ele tinha
apresentado queixa, se ele tinha ido ao juiz. Ele disse que sim, mas que
os polcias disseram juza que tiveram de o agarrar, porque ele estava a
ressacar e a dar com a cabea na parede. volta o pessoal falava sobre o
sucedido [dirio de campo].4
4 A violncia policial tem sido testemunhada por tcnicos de muitas equipas de rua. Desenvolvemos
este tema a propsito dum outro territrio, nos bairros sociais da zona oriental do Porto. Remetemos
para Fernandes e Ramos (2010), onde, a partir da investigao etnogrfica, se faz um exerccio de relacionamento entre a excluso social, as violncias quotidianas e a violncia estrutural.
28
lus fernandes e tiago arajo
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
O exerccio da violncia sobre indivduos ou grupos marginalizados a
faceta mais aguda das consequncias do estigma social. Viver na margem
sofrer de invisibilidade mesmo que se esteja, como o caso dos arrumadores,
em espaos altamente visveis. E esta invisibilidade que torna invisvel a violncia de que so alvo. O arrumador est consciente da sua situao de desacreditado para tomar a expresso de Erving Goffman a propsito daquele que
atingido pelo estigma:
Enquanto subamos a rua, o Rujo continuou a conversa que estvamos
a ter e disse que as pessoas depois podiam comentar por me verem com ele.
Eu disse-lhe que no havia problema, que no me importava com o que as
pessoas pensavam, e ele disse: Muito bem, o que importa o que fazes e
no o que as pessoas dizem e pensam acho bem, acho bem! que nestes
stios pequenos [dirio de campo].
Fica por esclarecer se esta autoconscincia do estigma social deve a sua
maior quota-parte ao ser arrumador ou ao ser toxicodependente o que, como
se foi tornando claro com os nossos dados de terreno, so estatutos que andam
prximos.
NOTA FINAL: A EMERGNCIA DUM NOVO utilizador da cidade
Se compararmos a reao inicial que os arrumadores de automveis suscitaram, bem traduzida no acionamento dos planos autrquicos para lhes fazer
face que referimos na seco introdutria, com a aparente normalidade com
que esto hoje integrados nas rotinas do espao pblico, aplicar-lhes-emos a
frase que Fernando Pessoa criou para a Coca-Cola: primeiro estranha-se, depois
entranha-se. isso: a sua presena inicial um corpo estranho no sentido
literal. Um corpo que carrega a marca a partir da qual construmos os nossos
esteretipos de marginalidade, um corpo atingido pela droga, que lhe inscreve
sinais visveis e reconhecveis.
Mas a sua presena continuada impe o arrumador cidade, que, se primeiro o estranha, depois entranha-o. Eis o que parecem revelar os dados da
investigao que conduzimos em Guimares: mostram a sua naturalizao na
paisagem urbana, evidenciando-o como um novo tipo de utilizador da cidade.
O utilizador da cidade (city user) um conceito dos estudos urbanos para
designar o indivduo tpico da fase de metropolizao das cidades, responsvel
pelas suas novas centralidades: o turista, o homem de negcios que circula
entre centros financeiros, o consumidor de cultura e de cincia circuito dos
congressos, das exposies, dos festivais (cf., por exemplo, Baptista e Pujadas
2000). O utilizador da cidade vem do centro para construir centro. Ora, o
arrumador, o sem-abrigo, o migrante clandestino so tambm caractersticos
trabalhos de margem no centro da urbe
29
da metropolizao, ocupam e usam a cidade e mostram como o centro tambm se constri a partir da margem.
Os arrumadores fazem parte, portanto, dos circuitos relacional e econmico
da cidade eis algo que a nossa investigao no descobriu, posto que qualquer frequentador atento da urbe pode concluir o mesmo, sem recurso a mais
nada para alm do seu poder de observao. Pertencem ao circuito relacional
porque estabelecem interface com o cidado que frequenta as ruas e praas
onde se desenrola a vida ordinria; ao circuito econmico, porque so atores do
trabalho informal: dedicam-se a arrumar carros, o seu tipo de empreendedorismo; e aplicam parte desse dinheiro a comprar drogas, contribuindo para um
outro tipo de empreendedorismo, o dos dealers. Funcionam, portanto, como
intermedirios entre o dinheiro do cidado comum que estaciona o seu carro
e os atores das economias subterrneas: o arrumador branqueia o dinheiro ao
contrrio, leva-o do lado legal para o ilegal. a metfora do lado pobre do neoliberalismo: tm um trabalho flexvel e incerto, fazem circular a moeda, e o
capital que lhes passa pelas mos no passa pelas mos do fisco
Os especialistas dos estudos urbanos, como Hannerz ou Martinotti (cit.
em Baptista e Pujadas 2000), sinalizam as principais categorias de atores
sociais na cena urbana metropolitana contempornea. Mas, se excetuarmos o
migrante do terceiro mundo, pouco ou nada se referem a figuras da margem.
Os especialistas da cidade interessam-se mais pelo diurno do que pela sombra?
Estendamos ns o conceito de utilizador da cidade queles que, embora sem
reconhecimento, embora desinscritos das existncias valorizadas, tambm
constroem a paisagem com que a cidade se oferece.
Bibliografia
AGRA, Cndido da, 1993, Dispositivos da droga: a experincia portuguesa, em C. da Agra
(org.), Dizer a Droga, Ouvir as Drogas. Porto, Radicrio, 29-47.
BAPTISTA, Lus, e Juan PUJADAS, 2000, Confronto e entreposio: os efeitos da metropo-
lizao na vida das cidades, Frum Sociolgico, 2. srie, 3-4:293-308.
CASTEL, Robert, 2000, A precariedade: transformaes histricas e tratamento social, em
M.H. Soulet (org.), Da No-Integrao. Coimbra, Quarteto, 21-38.
, 2004, Encuadre de la exclusin, em S. Karsz (org.), La Exclusin: Bordeando Sus Fronteras. Barcelona, Editorial Gedisa, 55-70.
CUNHA, Manuela I., 2006, Formalidade e informalidade: questes e perspectivas,
Etnogrfica, X(2): 219-231.
30
lus fernandes e tiago arajo
etnogrfica fevereiro de 2012 16 (1): 5-30
DIAZ, Aurlio, 1998, Hoja, Pasta, Polvo y Roca: El Consumo de los Derivados de la Coca. B
arcelona,
Universitat Autnoma de Barcelona.
ESCOHOTADO, A., 1996, Histria Elemental de las Drogas. Barcelona, Editorial Anagrama.
FATELA, Joo, 1989, O Sangue e a Rua. Lisboa, Dom Quixote.
, 1999, Les mille visages du vadio portugais, em A. Gueslin e D. Kalifa (orgs.), Les exclus
en Europe, 1830-1930. Paris, Les ditions de lAtelier, 49-58.
FERNANDES, Lus, 1998, Os princpios da excluso da droga, em H. Gomes de Arajo,
P. Mota Santos e P. Castro Seixas (orgs.), Ns e os Outros: A Excluso em Portugal e na
Europa. Porto, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, 63-78.
, 2009, O que a droga fez norma, Toxicodependncias, 15(1): 3-18.
,
2011, Terapias punitivas e punies teraputicas: o estranho caso do toxicodependente, em M. Ivone Cunha e Jean-Yves Durand (orgs.), Razes de Sade: Poder e Administrao do Corpo, Vacinas, Alimentos, Medicamentos. Lisboa, Fim de Sculo, 39-56.
FERNANDES, Lus, e Marta PINTO, 2004, El espacio urbano como dispositivo de control
social: territorios psicotrpicos y polticas de la ciudad, Monografias Humanitas, 5: 147-162.
FERNANDES, Lus, e Alexandra RAMOS, 2010, Excluso social e violncias quotidianas em
bairros degradados: etnografia das drogas numa periferia urbana, Toxicodependncias,
16(2): 15-29.
LAMO DE ESPINOSA, Emilio, 1989, Delictos sin Victima: Orden Social y Ambivalencia Moral.
Madrid, Alianza.
MATIAS, Margarida, e Lus FERNANDES, 2009, Desarrumar o medo O arrumador de
carros como figura do medo na cidade, Toxicodependncias, 15 (3): 9-22.
MATZA, David, 1964, Delinquency and Drift. Nova Jrsia, Transaction Publishers.
OLIVEIRA, Alexandra, 2011, Andar na Vida: Prostituio de Rua e Reaces Sociais. Coimbra,
Almedina.
PAIS, Jos Machado, 2001, Ganchos, Tachos e Biscates: Jovens, Trabalho e Futuro. Porto,
Ambar.
QUINTAS, Jorge, 1997, Drogados e Consumos de Drogas: Anlise das Representaes Sociais.
Porto, Faculdade de Psicologia e de Cincias da Educao da Universidade do Porto,
dissertao de mestrado.
RIBEIRO, Marcos, 2004, Representaes Sociais das Novas e Velhas Drogas e Seus Consumidores: No Encalo da Deslocao/Alterao dos Padres de Consumo. Porto, Faculdade de Psicologia e de Cincias da Educao da Universidade do Porto, dissertao de mestrado.
ROMAN, Oriol, 1999, Drogas: Sueos y Razones. Barcelona, Ariel.
, 2009, Criticando esteretipos: jovenes, drogas y riesgos, comunicao ao congresso
Hablemos de drogas, famlias y jovenes, juntos por la prevencin, Barcelona.
SEABRA, Daniel, 2006, Mercados encobertos: os ciganos de Lisboa e a venda ambulante,
Etnogrfica, X(2): 319-335.
VAZ, Maria Joo, 2006, Gatunos, vadios e desordeiros: aspectos da criminalidade em Lisboa
no final do sculo XIX e incio do sculo XX, em P. Almeida e T. Marques (orgs.), Lei e
Ordem: Justia Penal, Criminalidade e Polcia Sculos XIX-XX. Lisboa, Livros Horizonte,
84-101.
WACQUANT, Loc, 2006, Parias urbains. Paris, La Dcouverte.
Você também pode gostar
- Trabalhos de Margem No Centro Da Urbe o ArrumadorDocumento27 páginasTrabalhos de Margem No Centro Da Urbe o ArrumadorTurma 10BAinda não há avaliações
- Indústrias Culturais e Criativas em PortugalDocumento6 páginasIndústrias Culturais e Criativas em Portugalredes sociaisAinda não há avaliações
- A Urbanização Capitalista - TopalovDocumento15 páginasA Urbanização Capitalista - TopalovIsabel AquinoAinda não há avaliações
- O Público e o PrivadoDocumento169 páginasO Público e o PrivadoKrisostof GrycAinda não há avaliações
- Otávio Raposo Aderaldo Etnografica-6395Documento26 páginasOtávio Raposo Aderaldo Etnografica-6395Miguel DoresAinda não há avaliações
- A Quadratura Do Circulo Anti Racismo ImiDocumento40 páginasA Quadratura Do Circulo Anti Racismo ImiMarcus SpolleAinda não há avaliações
- Issao TakashiDocumento10 páginasIssao TakashimaicolAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento44 páginas1 PBAléxis Vinicius Queiroz Dos SantosAinda não há avaliações
- Aula 7 (Canclini) - 01.04.2020 - Alex e CamilaDocumento27 páginasAula 7 (Canclini) - 01.04.2020 - Alex e CamilaalexAinda não há avaliações
- LAZARO, Gilson. SILVA, Osvaldo - Hip-Hop em Angola O Rap de IntervençãoDocumento19 páginasLAZARO, Gilson. SILVA, Osvaldo - Hip-Hop em Angola O Rap de IntervençãoDaniel RochaAinda não há avaliações
- OS PORCADEIROS E A PRÁTICA DA COMUNICAÇÃO POPULAR: ELEMENTOS PARA OBSERVAÇÃO DOS MEIOS INFORMAIS DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO CULTURAL UTILIZADOS NAS TROPAS DE PORCOS EM PONTA GROSSA E REGIÃO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XXDocumento45 páginasOS PORCADEIROS E A PRÁTICA DA COMUNICAÇÃO POPULAR: ELEMENTOS PARA OBSERVAÇÃO DOS MEIOS INFORMAIS DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO CULTURAL UTILIZADOS NAS TROPAS DE PORCOS EM PONTA GROSSA E REGIÃO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XXThiago Augusto Divardim de Oliveira100% (1)
- Transformacoes e Conflitos Na Area PortuDocumento19 páginasTransformacoes e Conflitos Na Area PortuJoão Felipe BritoAinda não há avaliações
- Consumo, Lazer e Espaço Urbano: A Reinvenção Da Rua 16 de Março, em PetrópolisDocumento15 páginasConsumo, Lazer e Espaço Urbano: A Reinvenção Da Rua 16 de Março, em PetrópoliscelaoturAinda não há avaliações
- Discursos Midiáticos e Arte Urbana PDFDocumento16 páginasDiscursos Midiáticos e Arte Urbana PDFThiago MorandiAinda não há avaliações
- CASTELLS, Manuel BORJA, Jordi. As Cidades Como Atores Políticos. Novos Estudos. CEBRAP N.º 45, Julho 1996. (Pp.152-166) - 0Documento15 páginasCASTELLS, Manuel BORJA, Jordi. As Cidades Como Atores Políticos. Novos Estudos. CEBRAP N.º 45, Julho 1996. (Pp.152-166) - 0carla marianiAinda não há avaliações
- Midias Identidades Culturais e Cidadania Denise CogoDocumento15 páginasMidias Identidades Culturais e Cidadania Denise CogoFernanda OzórioAinda não há avaliações
- Cidade Cultura e Global I ZaoDocumento264 páginasCidade Cultura e Global I ZaoArquitetandossa100% (1)
- A IMPORTÂNCIA DO CARTAZ DE RUA NOS DIAS DE HOJE CitaçãoDocumento24 páginasA IMPORTÂNCIA DO CARTAZ DE RUA NOS DIAS DE HOJE CitaçãoMarcelo BritoAinda não há avaliações
- Direito, Cidade e Cultura: Disputa Pela Democratização de Espaços Públicos No Caso Dos Grafites PaulistanosDocumento5 páginasDireito, Cidade e Cultura: Disputa Pela Democratização de Espaços Públicos No Caso Dos Grafites PaulistanosGabriel MantelliAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido - Sociologia Do Crime e Da ViolênciaDocumento8 páginasEstudo Dirigido - Sociologia Do Crime e Da ViolênciaJoão Paulo Chalegre VianaAinda não há avaliações
- SILVA, P. C. Da. O Campo Na Urbe. (Dossiê)Documento189 páginasSILVA, P. C. Da. O Campo Na Urbe. (Dossiê)cadumachadoAinda não há avaliações
- (Re) inVentAndo As FormAs de HABitAr: Comunicação, Consumo e sociABiLidAdes Na Cidade contemporÂneADocumento12 páginas(Re) inVentAndo As FormAs de HABitAr: Comunicação, Consumo e sociABiLidAdes Na Cidade contemporÂneAFabianeAinda não há avaliações
- PFArantes 2014 AntiReformaUrbana-2Documento13 páginasPFArantes 2014 AntiReformaUrbana-2Guilherme Basto-LimaAinda não há avaliações
- Cadernos IPPUR 23Documento132 páginasCadernos IPPUR 23Flávio GhilardiAinda não há avaliações
- 20906-Texto Do Artigo-83212-1-10-20140328Documento14 páginas20906-Texto Do Artigo-83212-1-10-20140328larimariaeuAinda não há avaliações
- Entre A Lança e A Prensa Conhecimento e Realidade No Discurso Do Jornal O Povo (1838-1840Documento249 páginasEntre A Lança e A Prensa Conhecimento e Realidade No Discurso Do Jornal O Povo (1838-1840Wlamir SilvaAinda não há avaliações
- COSTA, Bruno Marconi. Experiencia Social e Resistencia em Portugal No Seculo XIVDocumento26 páginasCOSTA, Bruno Marconi. Experiencia Social e Resistencia em Portugal No Seculo XIVLuis SantosAinda não há avaliações
- Dialnet UmaAlternativaAoJornalismoTradicional 5257529Documento18 páginasDialnet UmaAlternativaAoJornalismoTradicional 5257529GabrielFécchioAinda não há avaliações
- Os Discursos Sobre As Favelas e Os Limites Ao Direito CidadeDocumento25 páginasOs Discursos Sobre As Favelas e Os Limites Ao Direito CidadeMarcelo ValleAinda não há avaliações
- Pixo Arte de Rua Laura Correa Livro A RuaDocumento12 páginasPixo Arte de Rua Laura Correa Livro A RuaBárbaraAltivoAinda não há avaliações
- Negócios: EstrangeirosDocumento26 páginasNegócios: EstrangeirosNiedjaAinda não há avaliações
- Requixa - O Lazer No Brasil PDFDocumento10 páginasRequixa - O Lazer No Brasil PDFalves_al100% (1)
- ErikaMoretini ResumoDocumento4 páginasErikaMoretini ResumoNeilton FelicianoAinda não há avaliações
- BORIN, Marissa. Cidade e ModernidadeDocumento4 páginasBORIN, Marissa. Cidade e ModernidaderavereisAinda não há avaliações
- R4 Lourenco cp24 1991Documento8 páginasR4 Lourenco cp24 1991Wilton Correia PazAinda não há avaliações
- MAGNANI, J. C. G. Etnografia Como Prática e Experiência.Documento29 páginasMAGNANI, J. C. G. Etnografia Como Prática e Experiência.cadumachadoAinda não há avaliações
- Cultura e Novas ProfissoesDocumento3 páginasCultura e Novas ProfissoesbrunogmacAinda não há avaliações
- PolEconomiaCriativaBuenosAires Cap04Documento46 páginasPolEconomiaCriativaBuenosAires Cap04Neilton FelicianoAinda não há avaliações
- TCC Na Cidade Muro Implora Marina JacobiniDocumento33 páginasTCC Na Cidade Muro Implora Marina JacobiniJasiel RibeiroAinda não há avaliações
- Hip-Hop em Angola - O Rap de Intervenção Social PDFDocumento19 páginasHip-Hop em Angola - O Rap de Intervenção Social PDFSilvana CarvalhoAinda não há avaliações
- A Globalização Perversa e Invasão Dos Templos de ConsumoDocumento5 páginasA Globalização Perversa e Invasão Dos Templos de ConsumoJoãoAugustoNevesAinda não há avaliações
- Eh6 PDFDocumento196 páginasEh6 PDFLindervalMonteiroAinda não há avaliações
- SOCIOLOGIADocumento10 páginasSOCIOLOGIAcabral100% (2)
- Gomes - Adorno, Rubens - Tornar-Se-Noia-Trajetoria-E-Sofrimento-Social-Nos-Usos-De-Crack-No-Centro-De-Sao-Paulo PDFDocumento19 páginasGomes - Adorno, Rubens - Tornar-Se-Noia-Trajetoria-E-Sofrimento-Social-Nos-Usos-De-Crack-No-Centro-De-Sao-Paulo PDFAnny MikaellyAinda não há avaliações
- Depois de Junho A Paz Será TotalDocumento85 páginasDepois de Junho A Paz Será TotallorenamfAinda não há avaliações
- Políticas para o Audiovisual No Brasil (1985-2002) : Estado, Cultura e Comunicação Na Transição DemocráticaDocumento17 páginasPolíticas para o Audiovisual No Brasil (1985-2002) : Estado, Cultura e Comunicação Na Transição DemocráticarenataptrochaAinda não há avaliações
- "Questão Do Menor" À Garantia de Direitos Discursos e Práticas Sobre o Envolvimento...Documento17 páginas"Questão Do Menor" À Garantia de Direitos Discursos e Práticas Sobre o Envolvimento...Stefany FerrazAinda não há avaliações
- Artigo - Merchandising ArezzoDocumento14 páginasArtigo - Merchandising ArezzojandecsAinda não há avaliações
- Nas Páginas das Cidades: História, Cultura e Modernidade em Ribeirão Preto, SP (1883-1964)No EverandNas Páginas das Cidades: História, Cultura e Modernidade em Ribeirão Preto, SP (1883-1964)Ainda não há avaliações
- Pre Projeto Antropologia 2012Documento7 páginasPre Projeto Antropologia 2012YasmineAinda não há avaliações
- João Ferrão - Visão Humanista Da CidadeDocumento6 páginasJoão Ferrão - Visão Humanista Da CidadeDaniella MariiaAinda não há avaliações
- A Antropologia HojeDocumento18 páginasA Antropologia HojeEduardo LacerdaAinda não há avaliações
- 13 99 PBDocumento4 páginas13 99 PBMurilo Das Dores AlvesAinda não há avaliações
- 7517-Texto Do Artigo-31472-31275-10-20210409Documento24 páginas7517-Texto Do Artigo-31472-31275-10-20210409analu.lima09Ainda não há avaliações
- Expansão de Campos Do Goytacazes - VII Coninter Maceio 2019Documento15 páginasExpansão de Campos Do Goytacazes - VII Coninter Maceio 2019teresa_faria_1Ainda não há avaliações
- CASTELLS, Manuel. BORJA, Jordi. A Cidade Como Atores PolíticosDocumento15 páginasCASTELLS, Manuel. BORJA, Jordi. A Cidade Como Atores PolíticosJo Ya KimAinda não há avaliações
- Cidadania Moderna e Seus DesafiosDocumento49 páginasCidadania Moderna e Seus DesafiosTábata Torres TucatAinda não há avaliações
- Vou para o 1º AnoDocumento1 páginaVou para o 1º AnoSofiaCostaAinda não há avaliações
- Raven 141013173215 Conversion Gate01 CópiaDocumento24 páginasRaven 141013173215 Conversion Gate01 CópiaSofiaCostaAinda não há avaliações
- Vales e Cupões Archives - Poupadinhos e Com ValesDocumento6 páginasVales e Cupões Archives - Poupadinhos e Com ValesSofiaCostaAinda não há avaliações
- A BOLA - HomepageDocumento12 páginasA BOLA - HomepageSofiaCostaAinda não há avaliações
- Record: Tudo Sobre Desporto. Futebol, Mercado, Modalidades, Resultados e ClassificaçõesDocumento4 páginasRecord: Tudo Sobre Desporto. Futebol, Mercado, Modalidades, Resultados e ClassificaçõesSofiaCostaAinda não há avaliações
- Intervenção PocDocumento18 páginasIntervenção PocSofiaCosta100% (1)
- Testes ObjectivosDocumento9 páginasTestes ObjectivosSofiaCostaAinda não há avaliações
- 6 Dinâmicas para Encontros de CasaisDocumento6 páginas6 Dinâmicas para Encontros de CasaisElton Faria BastosAinda não há avaliações
- Pioneiro AuxiliarDocumento2 páginasPioneiro Auxiliarapi-3828035Ainda não há avaliações
- CleromanciaDocumento4 páginasCleromanciaVictor MagalhãesAinda não há avaliações
- Fichamento Coração Da AlmaDocumento32 páginasFichamento Coração Da AlmaUeslei Camelo Barbosa100% (2)
- 7 Semanas para Se Transformar em Um SexStarSocial2Documento25 páginas7 Semanas para Se Transformar em Um SexStarSocial2Yan RibeiroAinda não há avaliações
- Frases para TSTDocumento5 páginasFrases para TSTAprendiz TstAinda não há avaliações
- Construindo Relacionamentos Extraordinários: Alexander VogerDocumento21 páginasConstruindo Relacionamentos Extraordinários: Alexander VogerIda MantovaniAinda não há avaliações
- Linguagem Hipnótica & PersuasãoDocumento45 páginasLinguagem Hipnótica & PersuasãoFelipe Ramalho Rocha100% (2)
- O Dilema Dos Jovens - Purushatraya SwamiDocumento149 páginasO Dilema Dos Jovens - Purushatraya SwamiCaio Cezar Busani100% (1)
- Manual Do Expert SintaDocumento53 páginasManual Do Expert SintaSilvana Lopes100% (1)
- Trab. GruposDocumento68 páginasTrab. GrupostrtorrinhasAinda não há avaliações
- Ebook CLAREA - Brian TracyDocumento39 páginasEbook CLAREA - Brian Tracydomina08100% (1)
- Planejamento Do Relacionamento Aplicações Estratégicas e TáticasDocumento19 páginasPlanejamento Do Relacionamento Aplicações Estratégicas e TáticassergiommspAinda não há avaliações
- Entendendo Os Modelos de Compra OrganizacionalDocumento16 páginasEntendendo Os Modelos de Compra Organizacionaldiegofreitas1313Ainda não há avaliações
- Manipulação, Dominação e ControleDocumento37 páginasManipulação, Dominação e ControleSilvio SantanaAinda não há avaliações
- AfetividadeDocumento8 páginasAfetividadeanon_579046285Ainda não há avaliações
- Nova Apostila Do Curso MontessoriDocumento17 páginasNova Apostila Do Curso MontessoriDenise Araújo100% (2)
- Gases Do Efeito Estufa - Requisitos para Organismos de Validação eDocumento34 páginasGases Do Efeito Estufa - Requisitos para Organismos de Validação eEdison Da Silva FernandesAinda não há avaliações
- Brasil - Um País Sem Esperança PDFDocumento35 páginasBrasil - Um País Sem Esperança PDFNelson CamiloAinda não há avaliações
- A Arte de CalarDocumento42 páginasA Arte de CalarRuslan QueirozAinda não há avaliações
- Symon Hill - O Lider SumiuDocumento150 páginasSymon Hill - O Lider SumiuPalestrante Symon Hill100% (3)
- Analise Bioenergetica - Grace PDFDocumento16 páginasAnalise Bioenergetica - Grace PDFEliana CastroAinda não há avaliações
- Casos e Coisas (Duda Mendonça) PDFDocumento116 páginasCasos e Coisas (Duda Mendonça) PDFCarlos ZamborliniAinda não há avaliações
- A Expiação Original - Por Cleo SkousenDocumento11 páginasA Expiação Original - Por Cleo SkousenWillian Antonio100% (1)
- Savana 1170.text - MarkedDocumento31 páginasSavana 1170.text - MarkedAndre Bonifacio VilanculoAinda não há avaliações
- Mudança Organizacional Sob A Luz de KotterDocumento66 páginasMudança Organizacional Sob A Luz de KotterJoão Ricardo Lima RodriguesAinda não há avaliações
- O Domínio de Sí Mesmo (Port) Emile CoueDocumento50 páginasO Domínio de Sí Mesmo (Port) Emile CoueRodrigo100% (4)
- E-Book - Clara Niquini - Como Usar A Sua Comunicação para Conquistar e Convencer As Pessoas V2Documento25 páginasE-Book - Clara Niquini - Como Usar A Sua Comunicação para Conquistar e Convencer As Pessoas V2Josiane Cecília AlvesAinda não há avaliações
- Sibilla IndovinaDocumento23 páginasSibilla IndovinaRegina GuigouAinda não há avaliações
- A Vinha e o GirassolDocumento472 páginasA Vinha e o GirassolMannu TenorioAinda não há avaliações