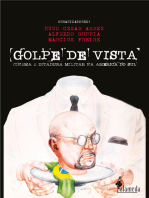Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ISMAIL XAVIER O ISMAIL XAVIER O DISCURSO CINEMATOGRÁFICO 1 e 2CAP 2º PERÍODO PDF
Enviado por
CAROLINA LOPES0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
52 visualizações34 páginasTítulo original
ISMAIL+XAVIER+O+ISMAIL+XAVIER+O+DISCURSO+CINEMATOGRÁFICO+1+e+2CAP+2º+PERÍODO.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
52 visualizações34 páginasISMAIL XAVIER O ISMAIL XAVIER O DISCURSO CINEMATOGRÁFICO 1 e 2CAP 2º PERÍODO PDF
Enviado por
CAROLINA LOPESDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 34
ISMAIL XAVIER
O DISCURSO
CINEMATOGRAFICO
a opacidade e a transparéncia
38 edigao
Revista ¢ ampliada
PAZ E TERRA
© Ismail Xavier
Foros: Acervo Cinemateca Brasileira
CIP-Brasil. Catalogaga
(Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ)
na-fonte
Xavier, Ismail, 1947-
x19d O discurso cinematogeifico: a opacidade ¢ a transparéncia, 3* edicao ~ Sao Paulo,
Paz e Terra, 2005.
ISBN 85-219-0676-5
Inclui bibliografia
1. Cinema ~ Estética, 2. Cinema - Filosofia 1. Tieulo I.
03-1822 CDD-791.4301
CDU-791.43.01
EDITORA PAZ E TERRA SIA
Rua do Triunfo, 177
o Paulo, SP — CEP: 01212-010
‘el: (O11) 3337-8399
Santa Efigénia
E-mail: vendas@pazeverra.com.br
HomePage: www. pazeterra.com.br
2005
Impresso no Brasil { Pinted in Brazil
PREFACIO
Hé quase trinta anos, 0 livro O discurso cinematogréfico resiste bravamente como a mais
importante obra sobre teoria cinematogrifica produzida no Brasil, mesmo considerando a ex-
celéncia de outras contribuigées que vieram depois, algumas inclusive do mesmo Ismail Xavier.
Varias gerages de profissionais do cinema, audiovisual ¢ comunicagao em geral se formaram
nas universidades tendo este livro como a sua principal referéncia bibliografica. As razes s30
simples de clucidar. Em primeiro lugar, Xavier tem uma vasta bagagem de leituras, abrangendo
praticamente tudo 0 que de importante foi pensado e escrito no terreno dos estudos de cinema
desde as suas origens até as mais recentes discussdes sobre o atual reordenamento do audiovisual.
‘Tem também uma invejavel capacidade de condensagio e sintese, sabendo extrair da babel dos
debates entre as diferentes tendéncias tedricas 0 seu fundo conceitual mais importante, para
depois destilar isso tudo numa linguagem clara e acessivel, mas sem comprometer a complex:
dade das questées discutidas, nem sacrificar a necessaria densidade conceitual em nome de
qualquer didatismo simplificador. B além de tudo isso, é um autor com opinigo: no apenas
apresenta objetivamente as virias teorias, mas se posiciona com relacéo a elas. Eis porque um
livro como O discurso cinematogrdfico demandava uma edigio nova ¢ atualizada.
Evidentemente, um livro publicado originalmente em 1977 reflete as discusses que
estavam em proceso naquele momento. Nos anos 1970, 0 processo de recepgao do filme € 0
modo como a posigéo, a subjetividade ¢ os afetos do espectador sio trabalhados ou “programa
dos” no cinema mereceram uma atengao concentrada da critica, a ponto desses temas terem se
constituido no foco de atengao privilegiado tanto das teorias estruturalistas, psicanaliticas €
desconstrucionistas, quanto das andlises mais “engajadas” nas varias perspectivas marxistas,
feministas ¢ multiculturalistas. Nessas abordagens, o aparato tecnolégico e econdmico do cine-
ma (na época chamado de “o dispositivo”), bem como a modelagao do imagindrio forjada por
seus produtos foram submetidos a uma investiga¢io minuciosa ¢ intensiva, no sentido de veri-
ficar como o cinema (um certo tipo de cinema) trabalha para interpelar o seu espectador en-
6 © DISCURSO CINEMATOGRAFICO
quanto sujeito, ou como esse mesmo cinema condiciona o seu piblico a identificar-se com
através das posigdes de subjetividade construidas pelo filme. Quando 0 “dispositivo” é oculta-
do, em favor de um ganho maior de ilusionismo, a operacao se diz de transparéncia. Quando o
“dispositivo” é revelado ao espectador, possibilitando um ganho de distanciamento ¢ critica, a
operagio se diz de opacidade. Opacidade ¢ transparéncia — subtitulo do livro — so os dois pélos
de tensio que resume o essencial do pensamento daquele period.
Nesta nova edigdo, Xavier optou por nao interferir no texto original de 1977 (e no
apéndice de 1984). Em compensa¢ao, adiciona a esta edi¢ao um capitulo novo, que dé conta do
posterior avango da teoria ~ e também da sua dispersdo ou desconcentragao em torno apenas de
alguns temas hegemdnicos. Esse capitulo adicionado € praticamente um livro novo — como se
fosse um Discurso cinematogréfico 2— onde, novamente com notavel poder de sintese, Xavier
traga o percurso do pensamento tedrico desde a critica do “desconstrucionismo” dos anos 1970.
até © surgimento de novas perspectivas de andlise. De fato, de 1977 para ci, 0 pensamento
predominante nos anos 1970 foi submetido a uma reviséo as vezes bastante dura. As teorias
daquele periodo pressupunham uma concepgdo um tanto monolitica do que era 0 cinema
“classico” e essa concepsao comecou a se mostrar problemética quando as atengdes se voltaram
para um numero imenso de filmes “comerciais” e até hollywoodianos que nao referendavam o
modelo. Por outro lado, a concepgao que se fazia da atividade do espectador ou do processo de
recepgfo era demasiado abstrata ¢ rigida: 0 espectador era visto, nesses sistemas teéricos, como
uma figura ideal, cuja posigao ¢ afetividade encontravam-se estabelecidas @ priori pelo aparato
ou pelo “texto” cinematogréfico, ndo cabendo portanto nenhuma consideracio a respeito de
uma possivel resposta auténoma de sua parte.
O novo capitulo acrescentado oferece ao leitor uma espécie de mapa conceitual dos
novos caminhos perseguidos pelo pensamento cinematogréfico a partir dos anos 1980: a critica
dos modelos tedricos do estruturalismo e da psicandlise (David Bordwell, Noel Carroll), os
novos modelos da semio-pragmatica (Roger Odin, Francesco Casetti), a retomada da tradiggo
baziniana em perspectiva contemporinea (Serge Daney), 0 retorno ao cinema das origens (Tom
Gunning, Miriam Hansen), as perspectivas feministas (Laura Mulvey, Mary Ann Doane), as
criticas da cultura (Fredric Jameson, Jean Louis Comolli, Paul Virilio), as incursées de fundo
filos6fico (Slavoj Zizek, Stanley Cavell, Gilles Deleuze), 0s estudos culturais (Raymond Williams,
John Fiske, Jesus Martin-Barbero), o didlogo com a pintura (Jacques Aumont, Pascal Bonitzer)
ou com a miisica (Michel Chion) ou com as outras artes visuais ¢ audiovisuais (Raymond
Bellour, Philipe Dubois) e a recente “inversio do principio” operada por Jacques Ranciére.
Trata-se de uma verdadeira viagem pelo pensamento contemporaneo do cinema, do audiovisual
da cultura inteira do presente, onde Xavier faz 0 papel néo apenas de guia, mas também de
protagonista, j4 que, em muitos momentos, ele nao esté apenas comentando o pensamento dos
outros, mas também dando forma ao seu préprio universo conceitual.
PREFACIO. 7
Mas, ainda que um certo fundamentalismo ortodoxo dominante nos anos 1970 tenha
passado pelas necessirias corregées e relativizagdes nas décadas seguintes, o essencial daquela
discussio permaneceu de alguma forma e é bom que nao seja esquecido. E muito instrutivo
norar como a dialética da opacidade e da transparéncia, anunciada como moribunda no cinema
€ na teoria mais recente, retorna agora com toda forga nos novos ambientes computacionais.
Uma autoridade nessa drea como Oliver Grau, em seu recente livro Virtual art. From illusion to
immersion (Cambridge: The MIT Press, 2003), discute as determinagoes ideoldgicas do ilusio-
nismo na realidade virtual e no video game ¢ o faz numa diregao tedrica que lembra estreita-
mente as discussGes em torno do “dispositive” nos anos 1970, Ele se pergunta se ainda pode
haver lugar para a reflexio critica distanciada nos atuais espacos de imersio experimentados
através de interagao. Mostra também como as técnicas de imersio com a interface oculta (cha-
mada ingenuamente de “interface natural”) afeta a instituicao do observador e como, por outro
lado, interfaces visiveis, fortemente acentuadas, tornam o observador mais cnscio da experién-
cia imersiva e podem portanto ser condutoras de reflexdo. Se a histéria se repete em ciclos, &
conveniente, vez por outra, retornar aos modelos de pensamento do passado no apenas para
constatar o que foi superado, mas também para avaliar o que podemos estar perdendo.
Arlindo Machado
NOTA INTRODUTORIA A 3? EDIGAO
Quando da primeira edigio deste livro, organizei a apresentagao das teorias a partir de um
eixo que marcava a oposicao entre “opacidade ¢ transparéncia’, partindo da diferenca entre
estilos de composicao da imagem ¢ do som no cinema. Num extremo, hé o efeito-janela, quan-
do se favorece a relacio inrensa do espectador com o mundo visado pela cimera ~ este é cons-
trufdo mas guarda a aparéncia de uma existéncia auténoma. No outro extremo, temos as opera-
ges que reforcam a consciéncia da imagem como um efeito de superficie, rornam a tela opaca
¢ chamam a atengio para 0 aparato técnico ¢ textual que viabiliza a representagao. Tal oposigio
se ajustava a0 debate tedrico de meados dos anos 1970, momento em que se criavam as nogoes
em consonancia com os desafios trazidos pela pritica do cinema nas versdes mais radicais do
underground norte-americano e do cinema europeu pés-1968, este que teve no Godard de Vento
do leste, nos documentitios de Jean Daniel Pollet € no cinema conceitual de Jean-Marie Straub
seus exemplos mais discutidos. No Brasil, era 0 momento em que o “cinema de invencao", ou
“experimental”, operava também no terreno da desconstrucao.
Desde entio, o campo das idéias ¢ teorias cinematogrificas se expandiu em variadas dire-
goes de modo a criar um novo quadro conceitual para o debate, o que exigiria um outro ponto
de vista para a apresentacio das teorias dentro do espirito didético, de introduso, presente no
corpo deste livro, Neste longo periodo, as idéias que emergiam do préprio contexto dos cineas-
tas e dos criticos conviveram com uma intensa produgio de textos tedricos vinda das univer
dades, uma vez. que 0 dado diferencial entre 1977 € hoje foi a consolidacao da pesquisa acade-
mica. Esta explorou os campos da anélise formal (o drama, a narrativa, a composigao visual e a
trilha sonora) ¢ a intrincada relacao entre o cinema e as outras artes, num mundo em que a
interpretagao de experiéncias estéticas mostra que nao é mais possivel montar um sistema das
artes distintas, especificas, como se fez durante algum tempo € como tentaram fazé-lo os pri-
meiros defensores do cinema como arte auténoma.
10 © DISCURSO CINEMATOGRAFICO
Tal como os cineastas em seu trabalho, teéricos ¢ criticos tém enfrentado o desafio trazido
pelo impacto do avango tecnolégico que desestabiliza a propria definigao do cinema. A ténica
é contabilizar perdas ¢ ganhos, reconhecendo que 0 seu destino esté atrclado a0 dos outros
suportes da experiéncia audiovisual (0 video, a imagem e som digitais). Transformacées do
mundo pritico rebatem sobre a teoria num momento em que, no plano da reflexio, hd maior
complexidade nas relagées entre a teoria do cinema e a filosofia, ¢ hd um enorme avanco dos
estudos histéricos viabilizados pela parceria entre as universidades ¢ as cinematecas. A diversi
dade do que foi produzido e as rotagées havidas no eixo dos debates exigiram, numa atualiza-
sa0, praticamente um novo livro caso adotasse o mesmo padrio de exposigao das teorias e dos
programas estéticos.
O discurso cinematogréfico, em seu formato original, em se mantido de grande utilidade
nos cursos de cinema. O testemunho dos colegas atesta a sua renovada procuta, 0 que me faz
cret que os parametros que o nortearam foram coerentes e eficientes na configuracao do percur-
so da teoria até 1977. Nesta nova edi¢ao, optei por nao intervir no corpo do texto. Descartei
eventuais alteragdes de passagens que posso hoje julgar esquematicas. Preservei o livro de 1977
e sua unidade (incluindo o Apéndice 1984). O dado novo vem no final desta edigao; em texto
complementar, fago um breve mapeamento do intervalo que nos separa da primeira, mais a
titulo de indicagio do que de explicacéo dos tépicos ¢ tendéncias que emergiram como respos-
tas ao debate jé apresentado no livro. Optei por um recorte que organiza o campo a partir de
um eixo que se ajusta as indagagées sobre a transparéncia e opacidade, mas traz a0 centro a
questio do dispositivo cinemarografico, foco maior da polémica ocorrida nos anos 70, capitulo
final da primeira edicio.
Ismail Xavier, julho de 2005.
SUMARIO
Introdugio
1. A janela do cinema ea identificagao ...
II. A decupagem cléssica
III. Do naturalismo ao realismo critico ...
a. A representacao naturalista de Hollywood ....
. As experiéncias de Kulechov ....
©. O realismo da “Visio de Mundo” .
D. O realismo critico explicitado.
IV. O realismo revelatério ¢ a critica 8 montagem_
4. O empirismo de Kracauer ¢ 0 humanismo neo-realist
8, O modelo de André Bazin
is ¢ a “abertura’
C. As corregies fenomenolégi
V. A vanguarda
A. O anti-realismo e 0 cinema de sombras ...
8, Cinema poético e cinema puro ...
©. O advento do objeto ¢ a inteligéncia da maquina ...
pb. O modelo onfrico ...
E. A imagem arquétipo ..
F. O olhar visiondrio e a questo epistemoldgica
13.
7
27
41
41
46
52
Bi
67
67
79
89
99
99
103
107
iii
115
118
12 (© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
VI.O cinema-discurso ¢ a desconstrugao 129
a. Eisenstein: da montagem de atrag6es ao cinema intelectual 129
b. O impacto das ciéncias da linguagem 137
c. A desconstrusio .. 146
VII. As falsas dicotomias 165
Apéndice 1984. 171
175
As aventuras do Dispositivo (1978-2004) ...
Indice onomastico ..
Indice de revistas... 212
INTRODUGAO
Minha tarefa ¢ apresentar, dentro da
faixa mais ampla possivel, as mais significa-
tivas posturas estético-ideolégicas que foram
assumidas frente ao cinema ao longo de pra-
ticamente sessenta anos (da Primeira Guerra
Mundial ao inicio da década de 1970). Um
periodo tao longo comporta uma diversida-
de de formulacies, no nivel da reflexéo es-
crita, que compée um elenco bastante am-
plo para embaracar a quem se propée apre-
senté-la em conjunto, Tais formulagdes nao
constiruem uma rede fechada de proposigdes
que se explicam por si mesmas nem sao inte-
ligiveis apenas na base de uma classificagao
que fornece o “quadro” de suas diferengas.
O cinema nao foge & condigao de campo de
incidéncia onde se debatem as mais diferen-
tes posigdes ideolégicas, ¢ 0 discurso sobre
aquilo que the ¢ especifico é também um
discurso sobre principios mais gerais que, em
liltima instdncia, orientam as respostas a
questes especificas. Tendo em vista tais con-
digées, para a montagem das diversas pers-
pectivas aqui discutidas, certas selegoes pre-
cisam ser feitas ¢ um principio ordenador
precisa ser escolhido, de modo que a exposi-
a0 das propostas seja capaz de tornar claras
as implicagdes presentes em cada uma.
Fica descartada a apresentago pura-
mente cronolégica, dada a sua tendéncia a
produzir a ilusio de que o texto esta dando
conta de uma determinada histéria ¢ que a
simples sucesso constitui um principio ex-
plicativo. Nao ha aqui também uma nova
“histéria das idéias cinematogréficas”, uma
vez que nao procuro explicar um proceso €
sua légica de desenvolvimento. Hi apenas 0
objetivo de por em confronto diferentes pos-
turas e situd-las com base em sua resposta a
uma questao fundamental nos debates em
torno da pratica cinematogréfica. O eixo que
me guia nesta exposigio é a concepgao assu-
mida por diferentes autores ¢ escolas quanto
ao estatuto da imagem/som do cinema fren-
te 8 realidade (dentro das concepgGes confli-
antes que se tem desta).
As varias posigdes assumidas quanto as
relagdes entre discurso cinematogrifico ¢ rea-
lidade nao constituem uma decisio puramen-
te tedrica, Para evitar confusdes raramente
14 © DISCURSO CINEMATOGRAFICO
faso uso do termo “teoria”, uma vez que,
esquematicamente, as perspectivas sio com-
postas em dois momentos basicos: hd, em
cada proposta, uma ideologia de base que
pretende explicar, ou simplesmente postu-
lar, a existéncia de certas propriedades na
imagem/som do cinema. Dentro do espago
ctiado por tal ideologia ¢ feita uma devermi-
nada proposigao referida 3 pritica cinema-
togrifica, basicamente no que diz respeito
a0 modo de organizar a imagem/som, tendo
em vista a realizagao de certo objetivo socio-
cultural tomado como tarefa legitima do ci-
nema, Em geral, a conexio entre teoria “ge-
ral” ¢ norma “particular” ganha nitidez na
medida em que a norma, referida ao que 0
cinema “deve set”, procura apoio numa teo-
ria que, em primeiro lugar, garanta que 0 ci-
nema “pode ser” o que se Ihe pede e, em se-
gundo lugar, afirme que “é mais préprio a
sua natureza” ser o que se Ihe pede. Por estes
motivos, prefiro usar o termo “estéticas ci-
nematogrificas”, aplicado a proposigoes dis-
postas a orientar uma determinada pritica e
uma determinada critica cinematogréfica.
Para tornar mais didatica esta apresen-
tacio, optei pela exposigéo mais detida das
idéias de um conjunto basico de autores, evi-
tando a acumulagio de referéncias historio-
gréficas que dariam mais precisio ao pano-
rama tracado, mas que nao contribuiriam
decisivamente para a discussio central que
me interessa. Ao mesmo tempo, uma tradi-
ao de debates em torno do problema do do-
cumentirio cinematografico nao recebe aqui
um tratamento 3 parte, tendo em vista que
isto acarretaria uma ampliagao dificil de ma-
nejat, dados os limites e proporgées deste tra-
balho, implicando num deralhamento que
procurei evitar. Ao discutir cada proposta,
minhas consideragdes vao estar concentra-
das no cinema ficcional, aquele mesmo que
tradicionalmente tem sido oposto ao cine-
ma documentirio como se fossem géneros
nitidamente separados. Isto nao significa a
aceitacao de tal oposigéo nos moldes em que
cla em geral foi proposta, seja na base da di-
cotomia “natural (espontanea)/artificial (re-
presentacéo)”, seja na base do grau de “vera-
cidade” do filme conforme sua pertinéncia a
um género ou outro. Aqui é assumido que 0
cinema, como discurso composto de imagens
sons é, a rigor, sempre ficcional, em qual-
quer de suas modalidades; sempre um fato
de linguagem, um discurso produzido e con-
trolado, de diferentes formas, por uma fonte
produtora.* Neste sentido, o que esta ausen-
te no meu texto nao é um discurso sobre 0
documentario; mas, um discurso sobre de-
terminados autores cuja perspectiva se defi
niu exclusivamente em relag4o ao documen-
tario — Flaherty, Grierson, Ivens, Jean Rouch,
por exemplo (a tinica excegio ¢ 0 rapido co-
mentirio sobre Dziga Vertov, dada a sua po-
sigdo central nas referéncias de certos ided-
* Fiz um uso largo da idéia de ficso ~ sindnimo aqui de “nao real”, universo do discurso. Nao levei em
conta a diferenga peculiar da “ficcio propriamente dita”, como invengao — simulacdo consentida -, diante
de outras formas de discurso, distingio que pode rornar-se relevante em outro contexto de andlise.
INTRODUGAO 15
logos contemporincos). As varias estéticas
aqui discutidas correspondem ao estabeleci-
mento de determinados princ{pios gerais que
se aplicam a diferentes modalidades de pro-
dugao cinematogréfica, incluido o documen-
tirio. Afinal, as proposiges de Bazin, Kra-
cauer, Pudovkin ou da revista Cinéthique nao
estio formuladas de modo a exclui-lo como
algo estranho ao seu dominio, pelo contré-
rio. Portanto, no que segue, o discurso sobre
o documentario esta presente, embora nao
especificado.
I
A JANELA DO CINEMA E A IDENTIFICACAO
E comum se dizer da imagem fotogra-
fica que ela ¢ 20 mesmo tempo um icone e
um indice em relagio aquilo que representa.
Entre outras formulagées semelhantes, po-
demos tomar a de Maya Deren, figura basica
da vanguarda americana de 1947 1961, que
fornece uma clara explicagao em seu artigo
“Cinema: 0 uso criativo da realidade” (1960).
“O termo imagem (originalmente baseado
em imitagao) significa, em sua primeira
acepgio, algo visualmente semelhante a um
objeto ou pessoa real; no proprio ato de espe-
cificar a semelhanga, tal cermo distingue e
estabelece um tipo de experiéncia visual que
nao é a experiéncia de um objeto ou pessoa
real. Neste sentido, especificamente negati-
vo — no sentido de que a fotografia de um
cavalo nao € 0 proprio cavalo ~ a fotografia é
uma imagem”. Até aqui, o critério da seme-
Ihanga compreende 0 que, de acordo com a
classificagéo de Pierce, define um tipo de sig-
no: 0 icone (em principio, a imagem denota
alguma coisa pelo fato de, ao ser percebida
visualmente, apresentar algumas proprieda-
des em comum com a coisa denotada)
‘Ao mesmo tempo, a prépria Maya
Deren é enfitica em apontar a diferenga fun-
damental que separa a imagem fotogréfica
de outros tipos de imagem, obtidas de acor-
do com processos distintos (por exemplo, as
imagens produzidas pela mio do homem:
desenhos, pinturas etc.): “Uma pintura nao
6 fundamentalmente, algo semelhante ou a
imagem de um cavalo; ela ¢ algo semelhante
a.um conceito mental, o qual pode parecer
um cavalo ou pode, como no caso da pintu-
ra abstrata, ndo carregar nenhuma relagao
visivel com um objeto real. A fotografia, en-
tretanto, é um processo pelo qual um objeto
ctia sua prépria imagem pela agao da luz so-
bre o material sensivel. Ela, portanto, apre-
senta um circuito fechado precisamente no
ponto em que, nas formas tradicionais de
arte, ocorre o processo criativo uma ver. que
a realidade passa através do artista”. Em ou-
tras palavras, ela esté falando sobre a indexa
18 (© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
lade da imagem fotogréfica pois, dado que
© proceso forogréfico implica numa “im-
pressio” luminosa da imagem na pelicula,
esta imagem enquadra-se também ma cate-
goria de indice ~ “um indice é um signo que
se refere a0 objeto que ele denota em virtude
de ter sido realmente afetado por este obje-
to” (Philosophical writings of Pierce, p.102).
A partir deste fato, toda uma série de
comentarios discusses podem ser feitos
quanto aos especificos mecanismos presen-
tes no funcionamento da imagem fotografi-
ca como signo, 0 que é justamente levado
até as tiltimas conseqiiéncias dentro de uma
perspectiva semidtica. Foi comecando por
esta constatagao da iconicidade e da indexa-
lidade que a pesquisa semiética
lida com a fotografia ¢ o cinema. Notada-
mente a partir da década de 1960, tal pers-
pectiva desenvolveu suas investigagdes no
tocante As condigdes (de percepgao) presen-
tes na leitura da imagem, buscando os cédi
gos responsiveis pelo seu poder significance.
A anilise semidtica atinge hoje um grau refi-
nado, mas nao é na diregio desta investiga-
ao teérica que vamos caminhar, mas na di
regdo das implicagées priticas que advém
destas propriedades bésicas do material fo-
tografico ¢ cinematografico. Estou interes-
sado em expor e discutir propostas estéticas,
defensoras de um tipo particular de cinema,
€ 0 modo como estas propostas encaram ¢s-
tas propriedades.
Sem discutir o que esta por trds da se-
melhanga ou da indexalidade, vamos reter a
idéia de fidelidade de reprodugéo de certas
propriedades visiveis do objeto ¢ a idéia de
que uma fotografia pode ser encarada como
um documento apontando para a pré-exi
téncia do elemento que ela denota. Estes sio
pontos de partida para a reiterada admissio
ingénua de que, na fotografia, s4o as coisas
mesmas que se apresentam 3 nossa percep-
do, numa situagao vista como tadicalmente
diferente a encontrada em outros tipos de
representacio. Se j4 € um fato tradicional a
celebragao do “realismo” da imagem foro-
gréfica, tal celebragéo € muito mais intensa
no caso do cinema, dado o desenvolvimento
temporal de sua imagem, capaz de reprodu-
zit, no s6 mais uma propriedade do mundo
visivel, mas justamente uma propriedade es-
sencial & sua natureza — 0 movimento. O
aumento do coeficiente de fidelidade ¢ a
multiplicagao enorme do poder de ilusio
estabelecidas gragas a esta reproducao do
movimento dos objetos suscitaram reacies
imediatas ¢ reflex6es detidas. Estas tém uma
longa historia, que se iniciou com a primei-
ra projecéo cinematografica em 1895 ¢ se
estende até nossos dias. Nos primeiros tem-
pos, sio numerosas as crénicas que nos fa-
lam das reages de panico ou de entusiasmo
provocadas pela confusao entre imagem do
acontecimento ¢ realidade do acontecimen-
to visto na tela. Os primeiros teéricos fize-
ram deste poder ilusdrio um motivo de elo-
gio (ao cinema) ¢ de critica (aos explorado-
res do cinema), que Ihes consumiu boa par-
te de suas elaboragdes: os psicdlogos, desde
Munstenberg (livro publicado em 1916) até
0s doutores da filmologia (pés-2* Guerra),
passando por Arnheim (1933), tiveram af seu
tema preferido, E a discussio do tema — a
AJANELA DO CINEMA E A IDENTIFICAGAO 19
impressdo de realidade no cinema —torna-se 0
estopim para uma polémica fundamental
desenvolvida recentemente na Franca, envol-
vendo uma tradicao filmoldgica, que em cer-
tos termos se estendea Jean Mitrye Christian
Metz, de um lado, ¢ as revistas Cahiers du
cinéma e Cinéthique do outro. Entre estas
duas revistas, 0 conflito também é¢ flagrante
¢ dele vem participar a figura de Jean-Patrick
Lebel.
Esta € uma discussio a que pretendo
chegar, mas nao estou preparado ainda para’
elucidd-la, Nada foi dito até aqui sobre a
implicagéo fundamental contida no fato de
um filme ser composto por uma sucessio de
fotografias. Eu disse algo sobre a reprodusio
do movimento, mas nao disse que o eixo das
discusses esta justamente no modo como
devem ser encaradas as possibilidades ofere-
cidas pelo processo cinematogréfico. O con-
junto de imagens impresso na pelfcula cor-
responde a uma série finita de forografias
nitidamente separadas; a sua projegao ¢, a
rigor, descontinua. Este proceso material de
tepresentagio nao impée, em principio, ne-
nhum vinculo entre duas fotografias sucessi-
vas. A relagio entre elas sera imposta pelas
duas operagées basicas na construgao de um.
filme: a de filmagem, que envolve a opcao de
como os varios registros serao feitos, € a
montagem, que envolve a escolha do modo
como as imagens obtidas sero combinadas
ritmadas. Em primeiro lugar, consideremos
uma hipétese elementar: a cimara sé € posta
em funcionamento uma ver ¢ um registro
continuo da imagem é efetuado, captando
um certo campo de visio; entre o registro ea
projecio da imagem nada ocorre sen
velagao e copiagem do material. Neste caso,
temos na projegao uma imagem que ¢ perce-
bida como um continuum. Uma primeira
constatagéo é que, mesmo neste caso, 0 re
tangulo da tela nao define apenas 0 campo
de visio efetivamente presente diante da ci-
mera ¢ impresso na pelicula de modo a for-
necer @ iluséo de profundidade segundo leis
da perspectiva (gracas as qualidades da len-
te). Noel Busch nos lembra muito bem o fato
clementar de que o espaco que seestende fora
do campo imediato de visio pode também
set definido (em maior ou menor grau). Burch
nao nos diz. “pode sex”; ele é mais taxativo na
admissio absoluta da virtual presenga deste
espago nao captado pelo enquadramento:
“Para entender o espago cinemitico, pode
revelar-se til consideré-lo como de fato cons-
tituido por dois tipos diferentes de espaco:
aquele inscrito no interior do enquadramen-
to e aquele exterior a0 enquadramento
(Praxis do cinema). A meu ver, esta admissio
ja €indicadora de uma valorizagio, onde cer-
to tipo de imagem passa implicitamente a
nao ser considerada “cinemética” apesar de
ser materialmente cinematogréfica
Isco fica mais claro, quando tentamos
estabelecer de que modo este espago “fora
da tela” pode ser definido dentro da hipéte-
se inicial (registro e projegao continua). Neste
caso, 0 espaco diretamente visado pela ci-
mara poderia fornecer uma definigio do es-
paco nio diretamente visado, desde que al-
gum elemento visivel estabelecesse alguma
relagio com aquilo que supostamente esta-
ria além dos limites do quadro, Uma relagio
20 (© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
freqiiente vem do faro de que © enquadra-
‘mento recorta uma porgio limitada, o que
via de regra acarreta a captagao parcial de
certos elementos, reconhecidos pelo espec-
tador como fragmentos de objetos ou de cor-
pos. A visao direta de uma parte sugere a
presenga do todo que se estende para o espa:
go “fora da tela”. O primeiro plano de um
rosto ou de qualquer outro detalhe implica
na admissdo da presenga virtual do corpo.
De modo mais geral, pode-se dizer que
espago visado tende a sugerir sua prépria
extensio para fora dos limites do quadro, ou
também a apontar para um espaco contiguo
nao visivel. Esta propriedade esta longe de
ser exclusiva & fotografia ou ao cinema. Ela
manifesta-se também em outros tipos de co-
municagao visual, dependendo basicamente
do critério adotado na organizagio da ima-
gem. A tendéncia & denoragao de um espaco
“fora da tela” ¢ algo que pode ser intensifica-
do ou minimizado pela composigio forne-
ida, Nestes termos s6 uma andlise mais cui-
dada poderia verificar a validade da afirma-
a0 de André Bazin: “Os limites da tela (ci
nematogrifica) nao s4o, como o vocabulério
técnico As veres 0 sugere, 0 quadro da ima-
gem, mas um ‘tecorte’ (cacheem francés) que
nao pode sendo mostrar um a parte da reali
dade. O quadro (da pintura) polariza 0 es-
paco em diregao ao seu interior; tudo aquilo
que a tela nos mostra, contrariamente, pode
se prolongar indefinidamente no universo.
O quadro é centripeto, a tela é centrifuga”
(Quest-ce que le cinéma? —v. tt, p.128).
Bazin tem a seu favor alguns dados da
histéria da pintura no século xtx. A tendén-
cia A composigao que procura o detalhe nao
auto-suficiente ¢ 0 fragmento como fragmen-
to, em vez do todo completo que se fecha
em si mesmo, foi crescentemente se mani-
festando paralelamente ¢ sob a influéncia da
fotografia (0 caso Deégas ilustra este efeito da
fotografia na concepgao da estrutura da ima-
gem pictorica). Além disso, seria forte carac-
teristica do instantineo fotogréfico resultar
numa composi¢ao espacial cuja tendéncia a
a
incompletude iria confirmar a tese de Bazin.
De qualquer modo, no caso do cine-
ma, hé algo mais do que isto. O movimento
efetivo dos elementos visiveis seré responsé-
vel por uma nova forma de presenca do es-
pao “fora da tela”. A imagem estende-se por
um determinado intervalo de tempo ¢ algo
pode mover-se de dentro para fora do cam-
po de visio ou vice-versa. Esta € uma possi-
bilidade especifica da imagem cinematogré-
fica, gracas 4 sua duragao. E claro que o tipo
de definigio dado ao espago “fora da tela”
depende da modalidade de entrada ou saida
que efetivamente ocorre. Um exemplo sig-
nificativo deste problema nos é dado pelo
proprio estagio da chamada “linguagem ci-
nematogrifica” no inicio do século. No pe-
riodo dominado pelo sempre criticado “tea-
tro filmado”, um caso limite de construgao
filmica era o da adogio de um ponto de vis-
ta fixo, A cimera, fornecendo um plano de
conjunto de um ambiente (cendrio teatral),
onde determinada representagao se dava nos
moldes de uma encenagao convencional, si-
tuava-se na clissica posicdo dos espectado-
res. Aqui, a entrada ¢ saida dos atores tinha
tendéncia a se definir dentro do estilo pré-
prio as entradas ¢ saidas de um palco. Este
seria um fator responsdvel pela redugao do
AJANELA DO CINEMA E A IDENTIFICACAO 21
espaco definido pela cimera aos limites do
espago teatral, portanto, nao cinematico na
acepcao de Burch. Os elementos fundamen-
tais para a constituicao da representagao en-
contram-se todos contidos dentro do espa-
0 visado pela camera, ocotrendo, além dis-
so, um reforco desta tendéncia ao enclausu-
ramento, proveniente de dois outros fatores
combinados: (1) a propria configuracio do
cenério, tendente a produzir uma unidade
fechada em si mesma; (2) a imobilidade e 0
ponto de vista da camera, ctimplice no efei-
to sugerido pelo cenario, na medida em que
a visio de conjunto evita a fragmentacéo do
espaco em que a agao se desenvolve.
Portanto, a ruptura com este “espago
teatral” € a criagdo de um espaco verdadeira-
mente cinematico estaria na dependéncia da
ruptura com esta configuracio rigida. No
caso deste plano fixo e continuo corresponder
a filmagem de um evento natural ou aconte-
cimento social em espacos abertos, apesat da
postura de cimera ser 2 mesma, a ruptura
frente ao espaco teatral estaria garantida pela
propria natureza dos elementos focalizados,
aptos a produzir a expansio do espaco para
além dos limites do quadro gracas ao seu
movimento. Nunca ninguém associou um
plano fixo ¢ continuo numa rua, ou mesmo
a famosa chegada do trem da primeira pro-
jesa0 cinematogréfica, a algo como 0 “teatro
filmado”. Mesmo num filme constituido de
um Gnico plano fixo ¢ continuo, pode-se
dizer que algo de diferente existe em relagao
a0 espago teatral, e também em relagio a0
espago pictérico (especificamente o da pin-
tura) ou mesmo o fotogrifico: a dimensio
temporal define um novo sentido para as
bordas do quadro, nao mais simplesmente
limites de uma composigio, mas ponto de
tensio origindrio de transformagées na con-
figuracao dada. Na verdade, quando Burch
fala em espaco cinematico ele esté se referin-
do justamente & organizacio e a0 dinamis-
mo nascidos desta diferenga. Minha aludida
preferéncia pelo “pode ser definido” em vez
do “é definido” em relagéo a0 espago “fora
da tela’, vem da admissio de que, nao sé
nesta hipétese elementar, mas também e es-
pecialmente em estruturas mais complexas,
uma construgio absolutamente cinemdtica
pode ganhar seu efeito justamente por tra-
balhar na direcao contréria, Neste caso, pro-
curar-se-ia deliberadamente produzir uma
indefinigéo do nao visto ¢ um enclausura-
mento do espaco visado (sem ser teatro fil-
mado).
JA falei de algumas coisas especificas a0
cinema ¢ ainda nem toquei nos dois elemen-
tos tradicionais sempre considerados como
fundadores da arte do cinema: a chamada
“expressividade” da cimera € a montagem.
Entrar neste terreno significa caminhar em
diregao a outras possibilidades advindas da
propria natureza material do processo cine-
matogrifico: numa delas, ainda mantemos
6 registro continuo, mas conferimos mobi-
lidade 4 camera; na outra, introduzimos a
descontinuidade de registro, o que implica
em supor o pedaco de filme projetado como
combinagao de, pelo menos, dois registros
distintos.
No caso do movimento continuo de
cimera, a constante abertura de um novo
22 (© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
campo de visio tende a reforcar a caracteris-
tica bésica do quadro cinematogréfico con
forme a tese de Bazin: ser centrifugo. O
movimento de cimera é um dispositivo tre-
mendamente reforsador da tendéncia & ex-
pansio, Concretamente, ele realiza esta ex-
pansio e, como diz Burch, transforma o es-
paco “fora da tela” em espago diretamente
visado pela cimera. As metéforas que pro-
poem a lente da camera como uma espécie
de olho de um observador astuto apdiam-se
muito no movimento de camera para legiti-
mar sua validade, pois so as mudangas de
direcdo, os avangos € recuos, que permitem
as associagbes entre 0 comportamento do
aparelho e os diferentes momentos de um
olhar intencionado. Ao lado disto, 0 movi-
mento de camera reforca a impressio de que
hé um mundo do lado de l4, que existe inde-
pendentemente da cimera em continuidade
20 espaco da imagem percebida. Tal impres-
so permitiu a muitos estabelecer com maior
intensidade a antiga associagéo proposta em
relagdo & pintura: 0 retingulo da imagem é
visto como uma espécie de janela que abre
para um universo que existe em si € por si,
embora separado do nosso mundo pela su-
perficie da tela. Esta nogao de jancla (ou as
vezes de espelho), aplicada ao retangulo ci
nematogréfico, vai marcar a incidéncia de
princfpios tradicionais & cultura ocidental,
que definem a relagio entre 0 mundo da
representacio artistica e 0 mundo dito real.
Bela Balazs nos lembra tal tradigao ¢, a0
‘mesmo tempo, aponta a radical modificacao
que vé no préprio estatuto de tal “janela”
com o advento do cinema. Ele aponta a con-
vengao segundo a qual a obra de arte apre-
senta-se como microcosmo, ¢ procura tes
saltar o principio vigente de que hé uma se-
paragio radical entre este ¢ 0 mundo real,
constituindo-se a obra numa composicao
contida em si mesma com suas leis préprias.
Como Balazs nos diz, tal microcosmo pode
apresentar a realidade mas nao tem nenhu-
ma conexio imediata ou contato com ela.
Precisamente porque ele a representa, est
separado dela, nfo podendo ser sua “cont
nuagio”. A conclusio a que Balazs procura
chegar é que a janela cinematografica, abrin-
do também para um mundo, tende a sub-
verter tal segregagio (Fisica), dados os recur
sos poderosos que o cinema apresenta para
carregar 0 espectador para dentro da tela.
“Hollywood inventou uma arte que nao ob-
serva o principio da composigao contida em
si mesma e que, nao apenas climina a distan-
cia entre 0 espectador e a obra de arte, mas
deliberadamente cria a ilusdo, no espectador,
de que ele esta no interior da aga reprodu-
zida no espago ficcional do filme” (Theory of
the film, p.50).
Aqui, o esteta htingaro faz coro com
uma ampla faixa de te6ricos do cinema, em
sua preocupacio em incluir, na propria ca-
racterizagao basica da nova arte, esta moda-
lidade de relagao marcada pelo forte efeito
de presenga visual dos acontecimentos (na
realidade ausentes) ¢ a sua nao-efetividade
sobre a situagio fisica do espectador. A and-
lise especifica do tipo de experiéncia forne-
cida pela projecao cinematogréfica constitui
tema privilegiado dos filmélogos da Revue
Internationale de Filmologiea partir de 1947.
AJANELA DO
Modernamente, em diferentes momentos,
‘Christian Metz vai retomar estas reflexes em
torno da segregacao dos espacos (o espago
inreal da tela em oposigio ao espago real da
sala de projegio) da experiéncia do espec-
tador, marcada pela “impresséo de realida-
de” ¢ pelo mergulho dentro da tela (identi
cago com personagens, participagao afetiva
no mundo representado). Num primeiro ar-
tigo - “Sobre a impressio de realidade no
inema” (1966) ~ ele trabalha num nivel fe-
nomenolégico, buscando uma descrigao que
revele quais caracteristicas da imagem e das
condig6es de projecdo que tornam possivel
a relagio de identificagao e 0 forte ilusionis-
mo. Num segundo artigo — “O significante
imaginario” (1975) — ele vai trabalhar num
nivel psicanalitico, procurando o que do lado
do espectador, em sua estrutura psiquica mais
profunda, pode explicar a poderosa incidén-
cia do cinema.
Edgar Morin fez do processo de iden-
tificagio/ projegio praticamente o miicleo de
seu livto— O cinema ou 0 homem imaginario
(1958). Neste trabalho, que ele préprio de-
nomina “ensaio antropolégico”, seu interes-
se concentra-se na discussao de um fendme-
no que considera bisico dentro da cultura
do século xx: a metamorfose do cinematé-
grafo cm cinema. O primeiro seria simples-
mente a técnica de duplicacio ¢ projegao da
imagem em movimento; o segundo seria a
constituigéo do mundo imaginario que vem
transformar-se no lugar por exceléncia de
manifestacao dos desejos, sonhos € mitos do
homem, gracas & convergéncia entre as ca-
racteristicas da imagem cinematografica
IEMA E A IDENTIFICACKO 23
determinadas estruturas mentais de base.
Dentro da literatura sobre cinema, Morin
corresponde a um exemplo extremo da vin-
culacio essencial entre o fendmeno de iden-
tificagao € o proprio cinema como insticui-
a0 humana e social. Para ele, a identifica-
ao constitui a “alma do cinema”, A partici
pago afetiva deve ser considerada “como
estado genético ¢ como fundamento estru-
tural do cinema” (p.91 do original francés),
ou seja, daquilo que é algo mais do que o
cinematégrafo (técnica de duplicacao), sen-
do materializagio daquilo que “a vida prati-
ca nao pode satisfazer”. Portanto, nesta qua-
se-identidade (cinema = imaginério, lugar da
ficgdo e do preenchimento do desejo), ele
julga constatar um dado definidor da essén-
cia universal do cinema. Dada sua perspec-
tiva, vinculada a uma certa antropologia,
Morin nao parte para a defesa ou ataque de
tal fendmeno, do ponto de vista ideolégico
ou estético (a sua propria definigao do esté-
tico vai passar pela nogio de participagao
afetiva). Ele estd convicto de que esta rela-
0, que um cinema particular num momen-
to particular estabeleceu com o espectador,
é imperativa, fazendo parte da esséncia do
novo veiculo. Em 1966, a posigao de Metz é
basicamente a mesma. Sua reflexdo, deposi-
tada no mesmo tipo de cinema que inspirou
Morin, nao acusa a presenga de pressdes em
sentido contrario, Tal nao acontece no arti-
go de 1975. Ele ainda dedica seu pensamen-
to exclusivamente ao cinema narrativo tipo
Hollywood, mas o contexto geral de produ-
Gio e discussio cinematogrificas que 0 cer-
«a, intensificando suas presses na quebra do
24 © DISCURSO CINEMATOGRAFICO
monolitismo da identificagao, 0 obriga a
admitir outras possibilidades. Mesmo para
um amante dos “bons tempos” da classica
ficgdo cinematografica, a vocagao do cine-
ma para a relagio de identificagao fica sub-
metida a diividas. Este ligeiro deslocamento
na atitude de Metz est relacionado com a
polémica entre Cinéthique, Cahiers du ciné-
‘mae Lebel, a que me referi. Continuemos,
asso a paso, a estabelecer as coordenadas
de tal discussio, partindo de consideragies
elementares. Vejamos 0 ponto critico onde a
polémica sobre o ilusionismo ¢ a identifica-
40 “esquenta”. Dentro dos comentarios fei-
{0s até aqui sobre o espago cinemitico e sua
“realidade”, cheguei 4 questo do “efeito de
janela” ¢ a0 papel do movimento de camera
neste efeito; adiantei algo sobre a metdfora
da “cimera-olho”, Esta metéfora ser um
polo vivo das discusses mais recentes (pés-
1968); por longo tempo, permaneceu em
segundo plano, diance da carga polémica
concentrada na montagem ¢ em seu estatuto
frente ao “efeito de janela”, Sabemos que a
chamada expressividade da camera nao se
esgota na sua possibilidade de movimentar-
se, mantendo 0 fluxo continuo de imagens.
Ela esta diretamente relacionada também
com a multiplicidade de pontos de vista para
focalizar os acontecimentos, o que justamen-
te é permitido pela montagem. Partindo do
registro clementar, chegamos & situagio que
implica na instauragao de uma descontinui-
dade na percepsao das imagens.
O salto estabelecido pelo corte de uma
imagem e sua substicuiggo brusca por outra
imagem, é um momento em que pode ser
posta em xeque a “semelhanga” da represen-
tacio frente a0 mundo visivel e, mais decisi-
vamente ainda, é 0 momento de colapso da
objetividade” contida na indexalidade da
imagem. Cada imagem em particular foi
impressa na pelicula, como conseqiiéncia de
um processo fisico “objetivo”, mas a justapo-
sigéo de duas imagens ¢ fruto de uma inter
vengao inegavel mente humana e, em prin
pio, nao indica nada senao o ato de manipu
lagao, Para os mais radicais na admissio de
uma pretensa objetividade do registro cine-
matogrifico, tendentes a minimizar o papel
do sujeito no registro, a montagem sera
lugar por exceléncia da perda de inocéncia.
Por outro lado, a descontinuidade do corte
poderd ser encarada como um afastamento
frente a uma suposta continuidade de nossa
percepcio do espaco e do tempo na vida real
(aqui estaria implicada uma ruptura com a
semelhanga). Veremos que tal “ruptura” é
perfeiamente superada por um determina-
do método de montagem, com vantagens no
que se refere ao efeito de identificacao.
Para nao nos confundit, chamemos a
descontinuidade visual causada pela substi-
tuigio de imagens de descontinuidade cle-
mentar. E lembremos que as alternativas de
acao diane da montagem ocorrem esquema-
ticamente em dois niveis articulados: (1) 0 da
escolha do tipo de relagao a ser estabelecida
entre as imagens justapostas, que envolve 0
tipo de relagio entre os fendmenos represen:
tados nestas imagens; esta escolha traz conse-
giiéncias que poderio ser trabalhadas num
nivel (2), o da opcio entre buscar a neutrali-
zacio da descontinuidade elementar ou bus-
car a ostentagao desta descontinuidade.
A JANELA DO CINEMA E A IDENTIFICAGAO
Dependendo das opsocs realizadas
diante destas alternativas, 0 “efeito de jane:
la” ea fé no mundo da tela como um duplo
do mundo real tera seu ponto de colapso ou
de poderosa intensificacio na operacao de
montagem. Um metodo especifico de inten-
sificagio ser explicado no préximo capitu-
BIBLIOGRAFIA
ARNHEIM, Rudolf. Filn as art, Berkeley,
University of California Press, 1957,
BALAZS, Bela. Theory of the film, New York,
Dover Public. Inc., 1970.
BAZIN, André. Quest-ce que te cinéma? vol.
ut, Paris, Editions du Cerf, 1960.
BURCH, Noel. Praxis do cinema, (wadugao
portuguesa do Praxis du Cinéma, Pa-
tis, Gallimard, 1969).
DEREN, Maya, “Cinematography: the crea~
tive use of reality” In Daedalus: the vi
sual arts today, Cambridge, 1960.
LEBEL, Jean Patrick. Cinéma et Idéologie,
Editions Sociales, Paris, 1971.
METZ, Christian. A significagao no cinema,
Sao Paulo, Perspectiva, 1971
Jo, no qual vou falar algo sobre o cinema
particular que instituiu ou aproveitou-se de
fenémenos tais como a impress@o de realida-
dea identificacao. Passemos a descrigao da
decupagem classica, método que comprovou
sua eficiéncia na neutralizacao da desconti-
nuidade clementar.
MITRY, Jean, Esehétique et psychologie du ci-
néma, v. 1 ¢ th, Editions Universitaires,
Paris, 1963/1965.
MORIN, Edgar. Le cinéma ou homme ima-
ginaire, Paris, Editions de Minuit.
MUNSTERBERG, Hugo. The film: a psy-
chological study (the silent phoroplay in
1916) New York, Dover Public. Inc.,
1970.
hatles $., Philosophical writings
of Pierce, New York, Dover Publica-
tions, 1955.
Revistas:
Cahiers du Cinéma, 0.209 .235/137 -
1969/1972.
Cinéthique, n.1 a n.13/14 ~ 1969/1972.
Communications n.23 (1975).
U
AA DECUPAGEM CLASSICA
Classicamente, costumou-se dizer que
um filme € constituido de seqiténcias ~ uni-
dades menores dentro dele, marcadas por sua
fungao dramatica e/ou pela sua posigio na
narrativa. Cada seqiiéncia seria constituida
de cenas — cada uma das partes dotadas de
unidade espaco-temporal. Partindo dai, de-
finamos por enquanto a decupagem como 0
processo de decomposigio do filme (e por-
tanto das seqiiéncias e cenas) em planos. O
plano corresponde a cada tomada de cena,
‘ou seja, & extensdo de filme compreendida
entre dois cortes, o que significa dizer que 0
plano é um segmento continuo da imagem.
O fato de que 0 plano corresponde a um
determinado ponto de vista em relagio a0
objeto filmado (quando a relagao cémera-
objeto ¢ fixa), sugere um segundo sentido
para este termo que passa a designar a posi-
particular da camera (distancia e angulo)
em relagio ao objeto, Dai decorre a escala
que, a grosso modo, apresento (conforme a
fonte, esta classificagao de planos modifica-
se, ndo havendo regras rigidas para a delimi
taco entre um tipo € outro).
Plano Geral: em cenas localizadas em
exteriores ou interiores amplos, a cimera
toma uma posigéo de modo a mostrar todo
© espago da acio.
Plano Médio ou de Conjunto: uso aqui
para situagdes em que, principalmente em
interiores (uma sala por exemplo), a camera
mostra 0 conjunto de elementos envolvidos
na ago (figuras humanas € cenério). A dis-
tingao entre plano de conjunto ¢ plano geral
€ aqui evidentemente arbitriria e correspon-
de ao fato de que o tiltimo abrange um cam-
po maior de visio.
Plano Americano: corresponde a0 pon-
to de vista em que as figuras humanas sio
mostradas até a cintura aproximadamente,
em fangio da maior proximidade da cimera
em relagao a ela.
Primeiro Plano (close-up): a camera, pr
xima da figura humana, apresenta apenas um
rosto ou outro detalhe qualquer que ocupa a
28 © DISCURSO CINEMATOGRAFICO
quase rotalidade da tela (hd uma variante
chamada primeirissimo plano, que se refere
um maior detalhamento—um olho ou uma
boca ocupando toda a tela).
Quanto aos angulos, considera-se em
geral normal a posigio em quea camera loca
liza-se a altura dos olhos de um observador
de estatura média, que se encontra no mes-
mo nivel ao da agio mostrada, Adotaremos
as expresses: “camera alta” ¢ “camera baixa”
para designar as situagoes em que a camera
visa os acontecimentos de uma posicdo mais
clevada (de cima para baixo) e de um nivel
inferior (de baixo para cima). Para esquema-
tizar 0s tragos basicos do que denominamos
decupagem clasica, fagamos uma experién-
cia, Voltemos aos primeiros tempos da ficgi0
cinematogréfica, supondo uma evolucio da
decupagem muito bem comportada a titulo
de clareza, embora nao seja totalmente corre-
to admitir que as coisas empiricamente se
passaram do modo exposto a seguir.
‘Tomemos 0 “teatro filmado”, Acaba~
mos de assistir a toda uma cena desenvolvi-
da dentro de um mesmo espaco € fluindo
continuamente no tempo, sem saltos. Supo-
nhamos que uma outra cena em outro espa-
0 deve seguir-se a esta para dar andamento
2 est6ria. A construcéo provavelmente ado-
tada seria a de filmar num sé plano de con
junto a primeira cena es6 cortar no momento
do salto para outro espaco. O corte estaria af
justificado pela mudanca de cena
diata sucesso, sem perda de ritmo, estaria
justamente possibilitada pelo corte. Terfamos
uma montagem elementar em que a descon-
tinuidade espago-temporal no nivel da die-
gese (diegético = tudo 0 que diz respeito a0
ea ime-
mundo representado) motiva e solicita o cor-
te. A montagem, inevitavel, s6 vem quando
a descontinuidade é indispensdvel para a
representagio de eventos separados no espa-
G0 € no tempo, nao se violando a integrida-
de de cada cena em particular. A platéia aceita
esta sucessio nio-natural imediata de ima-
gens porque esta sucesso caminha de encon-
tro a uma convencao da representacto dra-
matica perfeitamente assimilada. Tal conver-
géncia redime o salto, que permanece acei-
tavel ¢ natural porque a descontinuidade
temporal ¢ diluida numa continuidade logi-
ca (de sucessio de cenas ou fatos).
A utilizacao depreciativa do termo “tea-
tro filmado” vem desta obediéncia, tanto as
convencées draméticas, quanto as préprias
condigoes de percepsio do espetéculo tea-
tral (0 espectador tem um tinico ponto de
vista frontal cm relagéo 3 encenagao). As ce-
nas filmadas em exteriores, apesar da imobi-
lidade e unidade de ponto de vista da cime-
ra permanecer como estilo constante, apre-
sentavam algumas condigdes novas. Estas
advinham da prépria configuragao do espa-
0 aberto e rendiam a produzir um afrouxa-
mento da rigida estrutura presente na filma-
gem de interiores. A cimera podia assumir
um ponto de vista sob um Angulo diferente
do frontal; as entradas e saidas (c em geral a
movimentagao dos atores) eram efetuadas de
modo mais livre, permitindo-se inclusive a
movimentagio deles em diresao a camera, 0
que sugeria uma abertura que inclufa 0 es-
paco atrés desta. Como ja apontei, ganhava
mais forca a nocao de que o espaco visado é
um recorte extraido de um mundo que se
estende para fora dos limites do quadro. Os
A DECUPAGEM CLASSICA 29
tedricos do cinema, interessados em definir
05 passos decisivos na evolugéo da “lingua-
gem cinematogréfica” tiveram sempre ten-
déncia a dar uma importancia decisiva ao que
se passava atrés das cameras. O que implica
em, frente aos filmes deste periodo, dar mais
importancia a identidade de estilo no com-
portamento da camera do que as diferencas
que poderiam advir da oposigao exterior-in-
terior em termos de configuracao espacial.
Nio surpreende que a operagao habi-
tualmente apontada como libertadora em
relagao & pristo teatral seja precisamente a
utilizagio do corte no interior de uma cena;
a mudanga do ponto de vista para mostrar
de um outro angulo ou de uma outra dis-
tancia o “mesmo fato” que, supostamente,
nao sofreu solugéo de continuidade, nem se
deslocou para outro espaco. Aqui, estou me
referindo ao efeito de identidade (mesma
aso) e continuidade (a agao é mostrada em
todos os seus momentos, fluindo sem inter-
rupgao, retrocessos ou saltos para a frente).
E é claro que estou considerando a aio tal
como aparece na tela, dando a impressao de
que foi cumprida de uma s6 ver. na integra,
independentemente da camera. Todos sabe-
mos que isto nao acontece na producao do
filme ~a filmagem € o lugar privilegiado da
descontinuidade, da repeticio, da desordem
ede tudo aquilo que pode ser dissolvido,
transformado ou climinado na montagem.
André Malraux, em seu texto “Esboco
de uma psicologia do cinema”, escrito em
1946, aponta o corte dentro da cena como 0
ato inaugural da arte cinematogrifica, expl
citando algo naquele momento presente na
mente de muitos tedricos. Tal consenso nada
tem de estranho, porque muita coisa real-
mente esta envolvida neste procedimento,
embora nao se possa clevé-lo isoladamente a
tal posigdo. Antes de comentar mais 0 que
esta implicado neste tipo de corte, gostaria
de citar outro exemplo, cuja importancia no
cinema do inicio do século é também enor-
me. Trata-se da montagem paralela, focal
zando acontecimentos simultaneos, cujo
modelo clissico é a montagem de persegui
Ges. Desde os primeiros anos do século este
foi um procedimento capital nas narrativas
de aventura, extremamente populares, dada
a carga de emogoes que caracteriza os desfe-
chos na base da corrida contra o tempo, onde
© bem persegue 0 mal ¢ a figura do herdi
uta contra obstéculos para salvar a heroina,
prestes a ser vitima de algum acidente ou
uel ataque.
Neste esquema, temos um tipo de si-
tuagio que solicita uma montagem que esta-
beleca uma sucesso temporal de planos cor-
respondentes a duas ages simultaneas que
ocorrem em espagos diferentes, com um grau
de contigiiidade que pode ser variavel. Um
elemento é constante: no final, sera sempre
produzida a convergéncia entre as agGes ¢,
portanto, entre os espagos.
A propria natureza das agoes represen
tadas corresponde a uma situacao mais com-
plexa do que a desenvolvida numa tinica
agdo. A necessidade de representar a evolu-
ao simultinea de dois espagos, ¢ sua con-
vergéncia, exige os saltos da camera € a su-
cessio descontinua de imagens. Tal como no
caso elementar da mudanga de cena no “tea-
tro filmado”, também aqui a motivagao ini
cial para 0 corte vem de uma necessidade da
30 (© DISCURSO CINEMATOGRAFICO
40 ¢, por sua vez, a visualizacio expli-
cita dos acontecimentos 86 € possivel gracas
ao recurso da montagem, Novamente, a que-
bra na continuidade da percepcio € justifi-
cada. A seqiiéncia de imagens, embora apre-
sente descontinuidades flagrantes na passa-
gem de um plano a outro, pode ser aceita
como abertura para um mundo fluente que
esti do lado de lé da tela porque uma con-
vengao bastante eficiente tende a dissolver a
descontinuidade visual numa continuidade
admitida em outro nivel: o da narracio.
‘As imagens estao definitivamente sepa-
radas ¢, na passagem, temos o salto; mas, a
combinacio ¢ feita de tal modo que os fatos
representados parecem evoluir por si mes-
mos, consistentemente. Isto constitui uma
garantia para que 0 conjunto seja percebido
como um universo continuo em movimen-
to, em relagio a0 qual nos so fornecidos al-
guns momentos decisivos, Determinadas re-
lacies légicas, presas a0 desenvolvimento dos
fatos, ¢ uma continuidade de interesse no
nivel psicolégico conferem coesio a0 con-
junto, estabelecendo a unidade desejada.
Hiscoricamente, este procedimento —
montagem paralela — constituiu um dos pé-
los de desenvolvimento da narracio cinema-
togrifica. Esta, obviamente, envolve hoje
uma série muito mais complexa de procedi-
mentos, que inclui os casos elementares ci-
tados. Mas, inegavelmente, a montagem pa-
ralela ea mudanga do ponto de vista na apre-
sentagio de uma tinica cena constituiram
duas alavaneas bisicas no desenvolvimento
da chamada “linguagem cinematogréfica”
‘Areflexdo de alguns tedricos na década
de 1920 deu-se justamentena direcéo de uma
anélise mais detida deste procedimento em
suas caracteristicas especificamente cinemé-
ticas. Tal € 0 caso de Vitor Chklovski, uma
das figuras fundamentais no contexto dos
“formalistas russos” (¢ também roteirista de
alguns filmes), que ressaltou muito bem cer-
tas caracteristicas particulares da perseguigao
no cinema € suas diferengas em relago &
narragio literdria. Preocupado com uma teo-
ria da narragio, suas observagbes dizem res-
peito as conseqiiéncias especificas que advém.
da duragao definida que a montagem confe-
re a cada imagem, acentuando a influéncia
da organizagdo temporal (imposta ao espec
tador) na prépria natureza dos fatos escolhi-
dos para compor os momentos decisivos da
intriga, Como um exemplo simples, ele a-
ponta o largo uso de um tipo de ameaga cujo
feito pode sempre ser adiado, o que se ajusta
perfeitamente as necessidades da manipula-
40 emocional da montagem paralela: a morte
iminente da heroina deve ser produto de um
dispositivo de ataque mecanicamente elabo-
rado — a serra que corta o tronco na qual ela
esti amarrada numa posigio cada vez mais
préxima da limina— de duragéo compativel
com a aco do heréi, por sua vez, uma corri-
da de obstéculos contra o tempo. Tais dispo-
sitivos tornam mais eficiente 0 jogo de dur:
des cada vez menores caracterizador da mon-
tagem paralela e responsivel pela popular
dade de muitos filmes. Esta combinagao en
tre dispositivo elaborado ¢ corrida contra o
tempo é ainda de largo uso nos enlatados
exibidos na televisio.
Numa versio menos elaborada desta
situagao basica, também ainda séo numero-
50s 0s filmes de aventura em que todo 0 pro-
A DECUPAGEM
blema esté em inventar pretextos para o adia-
mento da acio, que pela sua nacureza, leva-
ria a um desfecho falminante (todos nés
assistimos a filmes em que o vilio “fala de-
mais” antes de dar o tiro final).
Aos olhos do inicio do século, esta cons-
truco, intercalando duas ages simultaneas
em diferentes lugares, era uma das modali-
dades de organizacéo espago-temporal mais
evidentemente especificas a0 cinema. Embo-
ra 0 procedimento do “enquanto isto...” te-
nha raizes literdrias bastante claras, a mane
ra de sua realizagio no cinema, dada a inten-
sificagao do efeito em fungio do ritmo e da
movimentagao plistica das imagens, era vis-
ta como marca de um poder exclusive 20
novo veiculo, Neste particular, esta monta-
gem chamava tanto @ atengio dos cinéfilos
quanto a expansio espacial da comédia, ba-
seada nas desabaladas correrias pelas ruas.
Nestas, em suas primeiras versGes, a cimera
permanecia fixa, estando no inicio de cada
plano a uma considerdvel distancia dos pro-
tagonistas, que vinham rapidamente em di-
recio a ela, dentro da confusio geral estabe-
lecida; a tomada de cena nao se interrompia
enquanto o desastrado cortejo (em geral de
perseguidores e perseguidos) nao passava
préximo & cémera, indicando a expansao do
espaco da ago para outro ponto, onde a cé-
mera teria com eles um novo encontro. Uma
variante mais claborada incluia a colocacéo
de algo (obstaculo ou pessoa entretida numa
atividade qualquer) a alguns metros da ci
mera e na trilha dos protagonistas, de modo
a criar uma antecipacio do efeito através da
expectativa frente & iminente colisio: esta
consumava-se, as vezes fazendo uso de uma
SICA 31
nova surpresa. Aqui, 0 efeito de suspense, de
expectativa a ser aliviada no momento da
convergencia, era baseado, ndo na monta-
gem, mas na profundidade do espaco visado
pela camera imével ¢ no conseqiiente tempo
transcorrido para que os protagonistas 0 atra-
vessem. Falo no pasado, mas é extremamente
facil encontrar tais procedimentos na cons-
trugio de filmes atuais. Por outro lado, in-
sisto nos exemplos ilustrativos destes dois
métodos de dramatizagao — uso da monta-
gem ou 0 uso da profundidade — para ressal-
tar a sua presenga desde a primeira década
do século.
Tal presenga é mais significativa se lem-
brarmos que, estes procedimentos jé eram
utilizados e reiterados em diferentes produ-
Ges, antes da utilizagao dos movimentos de
cimera, cujo uso mais sistematico desenvol-
veu-se com maior lentidao. A mesma lenti-
dao que caracterizou a incorporacio no re-
pertério cinematografico do uso de corre em
cena, bastante taro em 1908, se tomarmos
ainda os filmes de D. W. Griffith como refe-
réncia. E somente usado quando carregado
de uma motivagio precisa — mostrar com
maior detalhe uma aco importante ou dis-
positivo chave no desenvolvimento da est6-
ria, que nao poderia ser entendido no usual
plano de conjunto (ou plano geral) com que
se filmava tudo. O que é mais importante
para mim aqui, nao ¢ 0 fator cronolégico,
mas a constatagio basica de que 0 uso do
primeiro plano deu-se em fungao de uma
necessidade denotativa - dar uma informa-
io indispensavel para o andamento da nar-
rativa, Com outros procedimentos, nao foi
outra a trajetéria, como mostra 0 caso dos
32 © pisct
movimentos de cimera, de inicio ligados &
necessidade de acompanhar as personagens
em cenas exteriores. E notavel 0 fato de que
© uso sistemdtico das “panorimicas” (rota-
io da camera em torno de um eixo fixo),
no cinema ficcional, precedeu ao uso dos
ravellings (ou catrinho; movimento de trans-
lacio da cimera ao longo de uma direcio
determinada).
Basicamente, os mesmos fatores respon-
saveis pela “naturalidade” da montagem que
liga duas cenas desenvolvidas em espacos di-
ferentes estardo aptos a conferir “naturalida
de” ao corte no interior de uma cena. Ja vi-
mos o papel de convengGes tradicionais dra-
maticas € narrativas na aceitagao da descon-
tinuidade existente entre as imagens nos dois
exemplos citados; passagem de cena no “tea-
tro filmado” ¢ a intercalagao de planos na
montagem de perseguigées. Do mesmo
modo, os cortes que decompéem uma cena
continua em pedacos nao estilhagam a repre-
sentagao também em pedagos desde que se-
jam eferuados de acordo com dererminadas
regras, Estas, de um lado, esto associadas
manipulagio do interesse do espectador; de
outro, ao esforgo efetuado em favor da ma-
nutengio da integridade do fato representa-
do, As famosas regras de continuidade fun-
cionam justamente para estabelecer uma
combinagao de planos de modo que resulte
uma seqiiéncia fluente de imagens, tendente
a dissolver a “descontinuidade visual elemen-
tar” numa continuidade espaco-temporal re-
construida, O que caracteriza a decupagem
classica & seu carécer de sistema cuidadosa-
mente elaborado, de repertério lentamente
sedimentado na evolugao histérica, de modo
IRSO CINEMATOGRAFICO
a resultar num aparato de procedimentos
precisamente adotados para extrair 0 maxi-
mo rendimento dos efeitos da montagem €
a0 mesmo tempo torné-la invisivel, Em ter-
mos das alternativas colocadas ao final do
capitulo anterior, a opgao aqui é, primeiro
estabelecer entre os fenémenos mostrados
nos dois planos justapostos uma relagao que
reproduz. a “légica dos fatos” natural ¢, no
nivel da percepgao, buscar a neutralizagao da
descontinuidade elementar.
O trabalho para conseguir tais efeitos
pode ser dividido em varios aspectos. Hé,
presidindo toda a claboragéo, uma primeira
delimitagao: 0 conjunto de planos se insere
dentro de um filme cujos objetivos esto
ancorados 4 narracio de uma estéria, o que
implica na incorporagao de convengées nar-
rativas ¢ dramaticas nao exclusivas ao cine-
ma. Na sua organizacao geral, o espago-tem-
po construido pelas imagens e sons estara
obedecendo a leis que regulam modalidades
narrativas que podem ser encontradas no ci-
nema ou na literatura. A selecio ¢ disposi-
fo dos fatos, 0 conjunto de procedimentos
usados para unir uma situagéo a outra, as
eclipses, a manipulagio das fontes de infor-
magio, todas estas so tarefas comuns ao es-
critor e ao cineasta. Apontei a equivaléncia
entre paralelismo da montagem ¢ 0 “enquan-
to isto...” da lireratura. Posso apontar equi-
valéncias também em relagao ao procedimen-
to considerado chave na génese da arte cine-
matogrifica. A mudanga do ponto de vista
dentro de uma mesma cena, importante rup-
tura frente ao espaco tcatral, pode ser apro-
ximada a procedimentos freqiientemente
usados pelo escritor ao compor literariamente
A DECUPAGEM CLASSICA 33
uma cena qualquer. Também este expoe os
fatos através de um conjunto de deralhes
particulares ou através de observagées que
dizem respeito ao conjunto, tal como na
representagao do cinema. Esta aproximagao,
evidencemente, nao pode ir além desta indi
cagao de uma semelhanga de estrutura. Em
ambos os casos, trata-se da representacao dos
fatos construfda através de um processo de
decomposigao e de sintese dos seus elemen-
tos componences. Em ambos afirma-se a pre-
senga da selegio do narrador, que estabelece
suas escolhas de acordo com determinados
critérios. O faro de um ser realizado através
da mobilizagio de material linguistico ¢ de
outro ser concretizado em um tipo especifi-
co de imagem introduz. todas as diferengas
que separam a literatura do cinema. Dife-
rengas que, em geral, sio associadas ao su-
posto contraste entre 0 “realismo” da ima-
gem ea flagrante convencionalidade da pa-
lavra escrita. O que tal comparacio esconde
& a natureza particular das convengdes que
presidem um determinado método de mon-
tagem, pois a hipétese “realista” implica na
admissao de que ha um modo normal, ou
natural, de se combinar as imagens (justa-
mente aquele apto a nao destruir a “impres-
sao de realidade”).
Dentro desta moldura narrativa, 0 in-
teresse segundo o qual, em cada deralhe, tudo
pareca real torna obrigatérios os cuidados
ligados & coeréncia na evolugao dos movi-
mentos em sua dimensio puramente fisica.
Se ha um corte em meio a um gesto de uma
personagem, toma-se todo o cuidado para
que 0 momento do gesto correspondente ao
fim do primeio plano seja o instante inicial
do segundo, resultando na tela uma apresen-
tagio continua da ago. Todos os objetos eas
posigdes dos varios elementos presentes se-
Go rigorosamente observados para que uma
compatibilidade precisa seja mantida na se-
qiiéncia. As entradas e saidas (de quadro) das
personagens serao reguladas de modo a que
haja légica nos seus movimentos ¢ o especta-
dor possa mentalmente construir uma ima-
gem do espaco da representagao em suas co-
ordenadas bdsicas mesmo que nenhum pla-
no ofereca a totalidade do espaco numa tini-
ca imagem. As diregoes de olhares das perso-
nagens serio fator importante para a cons-
trugao de referenciais para o espectador, ¢
vio desenvolver-se segundo uma aplicagao
sistematica de regras de coeréncia. Dentro
desta orientagdo, a decupagem sera feita de
modo a que os diversos pontos de vista res-
peitem determinadas regras de equilibrio ¢
compatibilidade, em termos da denotacio
de um espago semelhante ao real, produzin-
doa impressao de que a agao desenvolveu-se
por si mesma ¢ 0 trabalho da camera foi
“capté-la”,
Num outro nivel, superposto aos ante-
riores, temos a continuidade produzida como
resultado de uma manipulacio precisa da
atengo do espectador, onde as substituigdes
de imagem obedecem a uma cadeia de moti
vagoes psicolégicas. Passamos de um plano
de conjunto a um primeiro plano de um tos
to porque, da propria natureza da agio re-
presentada, surge uma solicitagio que éaten-
dida justamente por esta mudanga de plano.
Contendo nova informagao necessiria 20
andamento da historia, precisando a reagio
de uma personagem particular diante dos
34 © DISCURSO CINEMATOGRAFICO
fatos, denunciando alguma aio marginal
imperceptivel para 0 espectador nos planos
anteriores, 0 novo plano é sempre bem vin-
do, e sua obediéncia as regras de equilibrio e
motivagao 0 transforma no elemento que
sustenta 0 efeito de continuidade, em vez de
ser justamente a ruptura,
Tal pritica corresponde a uma exten-
séo do esquema elementar do Griffith de
1908 acima apontado, ¢ a grande exposicao
erica e didatica de seus principios foi ela-
borada por V. Pudovkin; no seu livro Film
technique (1926), cle nos explica com gran-
de clareza toda a receita.
Algo mais pode ser encontrado no livro
de Pudovkin, assim como jé era encontrado
na realizagao de filmes competentes da épo-
ca: a preocupacio fundamental com o ritmo
de sucessio das imagens ¢ a observacio de
que devem haver certas compatibilidades
entre duas imagens sucessivas, de modo a se
definirem certas relagdes plisticas. As corre~
lagdes entre o desenvolvimento dramético €
o ritmo da montagem, assim como 0 jogo de
tensdes € equilibrios estabelecido no desfile
das configuracdes visuais, sio dois instrumen-
0s 8 disposigio de qualquer cineasta. O que
€ caracteristico da decupagem classica é a
utilizagéo destes fenémenos para a criagao,
no nivel sensorial, de suportes para o efeito
de continuidade desejado e para a manipula-
Gio exata das emogoes. Assim afirma-se um.
sistema de ressonincias, onde um procedi-
mento complementa e multiplica o efeito do
outro. Longe de termos um esquema linear
que vai da “impressio de realidade” a fé do
espectador, 0 que temos é um processo mais,
complexo: uma interagdo entre o ilusionis-
mo construido ¢ as disposigées do especta-
dor, “ligado” aos acontecimentos e domina-
do pelo grau de credibilidade especifica que
marca a chamada “participacio afetiva". Nes-
te sentido, um dos procedimentos mais sutis
e de conquista mais tardia, de tremenda efi-
ciéncia no mecanismo de identificagao, é
constituido pela combinacio de dois clemen-
tos: 0 esquema denominado no contextoame-
ricano “shot (plano)/reaction-shot” ¢a deno-
minada “camera subjetiva’. A camera € dita
subjetiva quando ela assume o ponto de vista
deuma das personagens, observando os acon-
tecimentos de sua posicao, e, digamos, com
os seus olhos, O shot/reaction-shot correspon-
de & situagéo em que o novo plano explicita
0 efeito (em geral psicoldgico) dos aconteci
mentos mostrados anteriormente no com-
portamento de alguma personagem; algo de
significativo acontece na evolugao dos acon-
tecimentos ¢ segue-se um primeiro plano do
heréi explicitando dramaticamente a sua re-
aso. E também corresponde a0 esquema
invertido, que concretiza uma combinacio
de grande eficiéncia: num plano, o herdi
observa atentamente ¢, no plano seguinte, a
camera assume 0 seu ponto de vista, mos-
trando aquilo que ele vé, do modo como ele
vé. Neste tiltimo caso, temos a tipica combi:
nagio das duas técnicas ~ shot/reaction-shot e
cimera subjetiva.
Um dado importante em relacio & ca-
mera subjetiva é que nem sempre sua pre-
senga é evidente. No caso em que o heréi
realiza um movimento em certa direcio e a
camera, ao assumir 0 seu ponto de vista, re-
produz exatamente o seu movimento, é mais
ficil o espectador tomar consciéncia do pro-
A DECUPAGEM CLASSICA 35
cesso. Ou também quando o heréi, penetran-
do em novo espago, assume uma atitude ex-
ploratéria dramaticamente importante, ¢ a
cimera substitu os seus olhos, explorando o
novo ambiente de modo a fornecer & platéia
a sua experiéncia visual. Mas, em boa parte
das situagdes em que ela é utilizada, o fato
de que o espectador observa as ages através
do ponto de vista de uma personagem, per-
manece fora do alcance de sua consciéncia.
E neste momento que o mecanismo de iden-
tificag4o torna-se mais eficiente (nao surpre-
ende que seu uso sistemético seja nos mo-
mentos de maior intensidade dramatica)
Nosso olhar, em principio identificado com 0
da cémera, confande-se com o da petsona-
gem; a partilha do olhar pode saltar para a
partilha de um estado psicolégico, e esta tem
caminho aberto para catalizar uma identi-
dade mais profunda diante da totalidade da
situagio.
A titulo de esclarecimento, lembro que
€ preciso nao confundir o procedimento da
camera subjetiva com a representacio direta
(visualizagao) de processos psicolégicos de
alguma personagem (lembranga, sonho, ima-
ginacdo), caso em que se trata de projetar na
tela um equivalente visual, apto a denotar 0
proceso psicoldgico em questo (nao temos
aqui uma questao estrita de uso do ponto de
vista).
Um caso fundamental de combinacio
entre camera subjetiva ¢ shot/reaction-shot é
© do chamado campo/contra-campo, proce-
dimento chave num cinema dramitico cons-
truido dentro dos principios da identifica-
fo, Seu ponto de aplicagio maxima se dé
na filmagem de didlogos. Ora a camera assu-
me o ponto de vista de um, ora de outro dos
interlocutores, fornecendo uma imagem da
cena através da alrerndncia de pontos de vis-
ta diametralmente opostos (dai a origem da
denominagao campo/contra-campo). Com
este procedimento, o espectador € lancado
para dentro do espago do didlogo. Ele, ao
mesmo tempo, intercepta e identifica-se com
duas diregoes de olhares, num efeito que se
multiplica pela sua percepgio privilegiada das
duas séries de reagdes expressas na fisiono-
mia e nos gestos das personagens.
Falei dos didlogos. Acentuei 0 uso do
sistema campo/contra-campo.
nos fornece um exemplo flagrante do papel
da trilha sonora na obtencéo dos efeitos rea-
listas ¢ na mobilizagao emocional do espe
tador. De certo modo, a sua consolidacio e
0 seu refinamento devem-se & sincronizagao
do som com a imagem, uma ver que, no
perfodo mudo, a seqiiéncia de planos era
interrompida pela presenga dos letreiros in-
dicadores das falas. Com 0 som, a cena dia-
logada ganhou maior coeficiente de realida
de e também ganhou em ritmo e forca dra-
matica,
Na verdade, 0 advento do cinema so-
noro, tao lamentado por diferentes estetas,
constituiu um passo decisivo no refinamen-
to do sistema voltado para o ilusionismo ¢ a
identificagio. © que nao significa dizer que
nao havia ourras propostas de utilizagao da
trilha sonora, pelo contrario. Desde 1928, 0
manifesto de Eisenstein, Pudovkin ¢ Alexan-
drov, assim como intimeras proclamagoes de
cineastas ¢ criticos, apontavam para outras
direges ¢ faziam sua critica incisiva ao prin-
cipio do som sincronizado com a imagem
fe sistema
36 © DISCURSO CINEMATOGRAFICO
(principio que estabelece a colocagéo das
palavras ¢ ruidos nos exatos momentos em
que vemos funcionar a fonte emissora, de
modo a produzir uma correspondéncia aceita
como natural entre a imagem € 0 som). O
fato € que este principio era necessério para
0 aperfeigoamento do método cléssicos tor-
nar audivel que ja esta sendo visto é uma
forma de torni-lo mais convincente. A ma-
nipulagio do chamado ruido ambiente, as-
sim como a presenga efetiva da palavra, vem
conferir mais espesstura ¢ corporeidade 3 ima-
gem, aumentando seu poder de ilusio. O
Cinema sonoro nos tem dado intimeras pro-
vas disto na representagao de eventos natu-
rais € conflitos humanos. Particularmente, a
clissica “cena de briga” tem cada vez mais
baseado sua credibilidade no som dos gol-
pes desferidos de parte a parte, tanto quanto
ou mais do que na precisa simulagao visual
dos gestos. Por outro lado, a ressonincia de
efeitos fornecida pela trilha musical, no
nema mudo baseada na presenga da orques-
tra na sala de projegio, teve uma enorme
ampliagio de suas possibilidades com o ci-
nema sonoro. A entrada, a safda, a modula-
Gio ¢ a propria peca musical escolhida pas-
sam para total controle dos realizadores do
filme.
Estas observagies sobre a eficiéncia da
trilha sonora no interior de um estilo parti-
cular estariam escondendo algo fundamen-
tal se eu nao insistisse no faro de que cine-
ma sonoro significa imagem e som como ele-
mentos integrantes de mesmo nivel, € nao,
como muitos preferem, imagem acrescida de
um acess6rio. A passagem mudo-sonoro re~
presenta um momento de extrema impor-
tancia na construgio da decupagem clissica.
E inegavel que os anos que antecederam a
guerra de 1914 constituiram um momento
chave de conquista de boa parte dos proce
dimentos. Nao € por acaso que Griffith é 0
cineasta que permeia todo este capitulo. Foi
ele sem duivida o primeiro grande sistemati-
zador, o modelo a ser seguido pelos cineas-
tas. O uso psicolégico do primeiro plano, os
seus grandes finais marcados pela convergén-
cia de tensdes e pela aceleragao, a combina-
¢a0 coerente dos varios recursos até entao
presentes de maneira dispersa em diferentes
filmes, estes si0 méritos que Griffith con-
centra em torno de si. Mas muita coisa ain
da estava por ser feita e aperfeigoada; o pro-
cesso de formacio estende-se pela década de
1920 e dé um verdadeiro salto com o adven:
to do som — de inicio, uma implantagao com
alguns pontos criticos, mas em pouco tem-
po perfeitamente integrado no sistema, com
excepcionais vantagens.
Voltemos ao principio. Eu havia defi-
nido decupagem como simplesmente uma
decomposigao das cenas em planos; agora é
preciso lembrar 0 que est4 implicado nesta
decomposicao. Em primeiro lugar, a rigor,
eu deveria falar em decupagem/montagem
pois uma pressupde a outra — sao logicamente
equivalentes. O uso dos dois termos deve-se
uma ordem cronolégica encontrada na pré-
tica, onde decupagem identifica-se com a fase
de confeccio do roteiro do filme « monta-
gem, em sentido estrito, ¢ identificada com
as operacbes materiais de organizacao, corte
¢ colagem dos fragmentos filmados. Em se~
gundo lugar, aos que estranharam o faco de
eu dar énfasc ao som num discurso sobre a
A DECUPAGEM CLASSICA a7
decupagem, lembro que esta, em um senti-
do mais amplo, corresponde & construgéo
efetiva de um espago-tempo préptio ao ci-
nema.
E construir um espago-tempo através
da combinagio de imagens define um tipo
de trabalho, enquanto que construi-lo atra-
vés de imagens ¢ sons é algo qualitativamen-
te diferente. Ou seja, a decupagem/monta-
gem passa a ter também uma dimensao so-
nora, 0 que traz uma infinidade de novos
recursos € possibilidades, ao lado de novos
problemas. Temos duas fontes de estimulo
independentes, ¢ 0 que vemos na tela nem
sempre precisa constituir a fonte emissora do
som que ouvimos. Mais ainda, este som nem
sequer precisa pertencer ao espaco definido
pelo que vemos. Em ermos de decupagem
classica, falo de vantagens excepcionais por-
que, mesmo dentro dos limites do principio
do sincronismo, restam muitas possibilida-
des de combinagao de imagem/som. Na
construcio do espaco “natural” que a carac-
teriza, tal decupagem recebera uma substan-
cial ajuda no momento em que contar com
uma dimensao sonora:
~ (1) diante de cada plano, 0 som pre-
sente é mais um fator decisivo de definigao
clara do espaco que se estende para além dos
limites do quadro; na construgio de toda
uma cena, a descontinuidade visual encon-
tra mais um forte elemento de coesdo numa
continuidade sonora que indica tratar-se 0
tempo todo do “mesmo ambiente”.
— (2) nos momentos de transigao ¢ nos
saltos bruscos de um espaco para outro, a
manipulacao do som e de suas surpresas vai
constituir um recurso basico de preparagio
c envolvimento do espectador.
— (3) além do mais, nao ficam exclui-
dos do método classico certos assincronis-
mos especiais, utilizados sempre a partir de
uma motivagio especifica e guardando com:
patibilidade com os objetivos gerais de cria-
20 de um espaco que parega natural
Gozando ou nio de tais vantagens ex-
cepcionais, o sistema de procedimentos que
constitui a decupagem classica foi, dentro de
certa orientacio, identificado com a verda-
deira conquista da especificidade cinemato
grifica, Mas, 0s seus adeptos, pelo menos no
plano tedrico, nao puderam ficar tranqiiilos
por muito tempo. Nem bem Griffith havia,
nas suas linhas basicas ¢ na sua versio muda,
consolidado este método, a dentincia de seus
limites jé surgia. O que nao impediu que,
sob a observancia de seus principios, déca-
das de cinema ficassem marcadas pelo pre
dominio absoluto deste método de narragio
no nivel da produgio industrial em escala
mundial, sem excesoes.
Enquanto isso, as limitagdes apontadas
pelos primeiros esteras do cinema, em seu
momento ainda acompanhadas pelas home-
nagens que todo cinéfilo sempre gostou de
prestar a Griffich ¢ a seus companheiros de
pioneirismo, serao crescentemente lembra
das ¢ reanalisadas. A medida em que a frente
sinica em defesa do prdprio cinema, em sua
acepgao mais abstrata, perde importincia,
maior a tendéncia a se interpretar as “con-
quistas” do cinema americano de 1908 1914
como a construcéo de um cinema particular,
38 © DISCURSO CINEMATOGRAFICO
carregado de nogées particulars, e nao como
aconstrugao do Cinema. Neste sentido, tam-
bém ganha formulagio cada vez mais clara.a
idéia de que este cinema particular inscrevia
o novo veiculo dentro dos limites de conven-
g6es particulares, naquele momento jé pre-
sentes e vigentes em outras formas de discur-
so dramatico e/ou narrativo
Nao se trata apenas de dizer, como ja
foi dito, que uma série de construgées mos-
tra-se cada vez mais como manifestagdes ci-
nematogréficas de estruturas nao exclusivas
ao cinema, Dentro da formulagao atual, tra
ta-se mais de acentuar o fato de que determi-
nadas “descobertas” do comeco do século
foram fundamentais porque abriram para 0
cinema a possibilidade de apresentar certas
rclagdes e estruturas, cumprindo a seu modo
tarefas jf antes assumidas por outros meios
de representacao no interior da sociedade. O
que implica dizer: a construgéo do método
clissico significa inscrigao do cinema (como
forma de discurso) dentro dos limites defini-
dos por uma estética dominante, de modo a
fazer cumprir através dele necessidades cor-
relatas aos interesses da classe dominance.
‘Asafinidades do cinema de Griffith com
um certo tipo de literatura popular e com
tum conceito de representacéo do século xix
tornam-se gradualmente mais relevantes para
a reflexdo critica. E passam a ser tio ou mais
importantes do que as solugées por ele en-
contradas no nivel especifico do cinema.
‘Mesmo porque, a expressao “nivel especifico
do cinema” nao tem hoje a conotacao heréi
ca do comeco do século, nem encontra no
nivel tedrico uma definigao clara, De certo
modo, tornou-se hoje mais um problema
sofisticado do que uma palavra de ordem de
feito prético, nao se constituindo no grande
pélo de discussio que punha em conflico os
estetas de 1920. Estaé uma razao porque nao
€ meu interesse aqui discutir a questio da
especificidade. Inevitavelmente, ao longo da
exposigdo 0 tema vai aparecer, por forga da
prépria postura de alguns autores analisados.
Mas, 0 meu interesse maior esti na avaliagao
das estéticas cinematogrificas em sua relacao
com 0 conceito de representago implicado
neste mérodo que chamei de clissico.
De um lado, encontraremos propostas
que, assumindo tal mérodo como um dado,
concentram seus esforcos no debate ideold-
gico-estético enderegado a outros niveis da
pritica cinematogrifica. De outro, encon-
traremos as varias oposicées contra ele, cada
uma trazendo consigo suas motivagoes par-
ticulares. O que torna estimulante a minha
tarefa, € a0 mesmo tempo define os seus li-
mites, € 0 fato de que o trajeto que vai dos
ptincipios ideolégicos-estéticos gerais a to-
mada de posigéo diante do processo de de-
cupagem/montagem tem sido, em geral,
cheio de bifurcacdes. E muitas vezes tem sido
percorrido originalmente em sentido inver-
so. Em ambos os sentidos, cada ponto de
partida, coerente ou incoerentemente, tem
Jevado a pontos de chegada distintos. Neste
ponto, via de regra, os estetas ¢ cineastas en-
contram companheiros ou conclusdes inde-
sejéveis, 0 que os obriga a mais um vai-e-
vem na sua reflex4o, Em todo caso, ¢ prd-
prio de uma apresentacao sintética agar
percursos claros, 0 que me trangiiiliza dian-
te das simplificagoes e desembaralhamentos
a que serei obrigado.
A DECUPAGEM CLASSICA 39
BiBLIOGRAFIA
BAZIN, André. Qu’est-ce que te cinéma? vol.
it, Paris, Editions du Cerf, 1960.
BURCH, Noel. Praxis do cinema, (traducio
portuguesa do Praxis du Cinéma, Pa-
ris, Gallimard, 1969).
CHKLOVSKI, Vitor. Cine y lenguage, Bar-
celona, Ed. Anagrama, 1971.
COHEN-SEAT, Gilbert. Essai sur les prin-
cipes d'une philosophie du cinéma, Pa-
ris, PUF, 1946.
MALRAUX, André. Esquisse d'une psycholo-
gie du cinéma, Paris, Gallimard, 1946.
MARTIN, Marcel. A linguagem cinematogré-
‘fica, Belo Horizonte, Itatiaia
PUDOVKIN, V. L. Fill technique and film
acting, New York, Grove Press Inc.,
1970 (deste autor, existe em portugués:
Argumento € montagem no cinema, Sio
Paulo, Ed. Iris, 1971; O ator no cine-
ma, Rio de Janeiro, Casa do Estuda
te, 1956; Diretor e ator de cinema, Si0
Paulo, Ed. Iria, 1971
PUDOVKIN, ALEXANDROV, EISENS-
TEIN. “Manifesto do sonoro” (1929)
in Film form, ensaios de S. M. Eisens-
tein, editados por Jay Leyda; Harcourt,
Brace & World Inc, 1949.
Revistas:
Revue internationale de filmologie (1947162)
publicada pela Associagio Internacio-
nal de Filmologia — secretério: Gilbert
Cohen-Séat
Revista communications n.15 (1970) ¢ n.23
(1975).
Você também pode gostar
- Narrativa Transmídia e EducaçãoDocumento161 páginasNarrativa Transmídia e EducaçãoDaniela AzevedoAinda não há avaliações
- Dic Fotografos Brasileiros Do CinemaDocumento164 páginasDic Fotografos Brasileiros Do CinemaGabriela Pozzoli100% (4)
- A Definição Sonora Do Filme IndefinidoDocumento34 páginasA Definição Sonora Do Filme IndefinidoArtesãos do SomAinda não há avaliações
- O cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971No EverandO cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971Ainda não há avaliações
- Vocabulário de CinemaDocumento42 páginasVocabulário de CinemaFernanda JustoAinda não há avaliações
- LE GOFF. Jacques - Dicionário Medieval Vol. IIDocumento30 páginasLE GOFF. Jacques - Dicionário Medieval Vol. IILorena BuchtikAinda não há avaliações
- 49) 2010 - Mateus Araujo Silva (Org.) - Jean Rouch 2009 Retrospectivas e Coloquios No Brasil (Belo Horizonte, Balafon, 2010, 172p)Documento176 páginas49) 2010 - Mateus Araujo Silva (Org.) - Jean Rouch 2009 Retrospectivas e Coloquios No Brasil (Belo Horizonte, Balafon, 2010, 172p)Maria ChiarettiAinda não há avaliações
- Teorico4 PDFDocumento36 páginasTeorico4 PDFAlexReblimBraunAinda não há avaliações
- Catalogo Exposicao-RosangelaRennoDocumento90 páginasCatalogo Exposicao-RosangelaRennoIgnez CapovillaAinda não há avaliações
- RED - INAV-O Audiovisual Contemporâneo Mercado Educação e Novas Telas PDFDocumento830 páginasRED - INAV-O Audiovisual Contemporâneo Mercado Educação e Novas Telas PDFjandecsAinda não há avaliações
- Um certo cinema paulista: Entre o Cinema Novo e a indústria cultural (1958-1981)No EverandUm certo cinema paulista: Entre o Cinema Novo e a indústria cultural (1958-1981)Ainda não há avaliações
- Palestra VideografismoDocumento10 páginasPalestra VideografismoThiago Ribeiro100% (2)
- Influência Das Vanguardas Européias Na Estética Do Filme Limite de Mário PeixotoDocumento44 páginasInfluência Das Vanguardas Européias Na Estética Do Filme Limite de Mário PeixotoKiti SoaresAinda não há avaliações
- Atravessagem: Reflexos e reflexões na memória de repórterNo EverandAtravessagem: Reflexos e reflexões na memória de repórterAinda não há avaliações
- XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematografico - A Opacidade e A TransparenciaDocumento202 páginasXAVIER, Ismail. O Discurso Cinematografico - A Opacidade e A TransparenciaIves RosenfeldAinda não há avaliações
- História Plugada e Antenada: Estudos Históricos Sobre Mídias Eletrônicas no BrasilNo EverandHistória Plugada e Antenada: Estudos Históricos Sobre Mídias Eletrônicas no BrasilAinda não há avaliações
- Fotografia Publicitária - David LachapelleDocumento9 páginasFotografia Publicitária - David LachapelleMichelineAinda não há avaliações
- Colagem e Montagem Cinematografica PDFDocumento16 páginasColagem e Montagem Cinematografica PDFMarco GiannottiAinda não há avaliações
- As Imagens na História: o cinema e a fotografia nos séculos XX e XXINo EverandAs Imagens na História: o cinema e a fotografia nos séculos XX e XXIAinda não há avaliações
- Manuais de Cinema II: Géneros Cinematográficos - Nogueira-Manual - II - Generos - CinematograficosDocumento163 páginasManuais de Cinema II: Géneros Cinematográficos - Nogueira-Manual - II - Generos - Cinematograficoslu2222Ainda não há avaliações
- Novas e Velhas Tendencias Do Cinema Portugues Contemporaneo - LivroDocumento443 páginasNovas e Velhas Tendencias Do Cinema Portugues Contemporaneo - LivroHugo BolaAinda não há avaliações
- Visualidades Hoje - Livro Compos 2013Documento333 páginasVisualidades Hoje - Livro Compos 2013Rodrigo CarreiroAinda não há avaliações
- Thiago Altafini-Cinema Documentario Brasileiro-Evolucao Historica Da LinguagemDocumento43 páginasThiago Altafini-Cinema Documentario Brasileiro-Evolucao Historica Da Linguagemdavid willianAinda não há avaliações
- A Imagem Televisiva: Autorreferência, Temporalidade, ImersãoNo EverandA Imagem Televisiva: Autorreferência, Temporalidade, ImersãoAinda não há avaliações
- Tom Gunning - Cinema de AtraçõesDocumento8 páginasTom Gunning - Cinema de AtraçõeslaecioricardoAinda não há avaliações
- Flusser Vilem 1966 Filosofia Da LinguagemDocumento40 páginasFlusser Vilem 1966 Filosofia Da LinguagemMoisesAinda não há avaliações
- Estilo e Som No AudiovidualDocumento268 páginasEstilo e Som No AudiovidualTasha BallardAinda não há avaliações
- Questoes Do Document A Rio em Portugal Jose Manuel CostaDocumento16 páginasQuestoes Do Document A Rio em Portugal Jose Manuel CostaDina NevesAinda não há avaliações
- O Contraste Do OlharDocumento22 páginasO Contraste Do OlharRafael SandimAinda não há avaliações
- A Fotografia Como Fonte HistoricaDocumento8 páginasA Fotografia Como Fonte HistoricaLorena Oliveira100% (1)
- Ismail Xavier - Bergman - O Labirinto Da Inveja (Cinema)Documento4 páginasIsmail Xavier - Bergman - O Labirinto Da Inveja (Cinema)Lorena TravassosAinda não há avaliações
- 2012 SoniaUmburanasBaladyDocumento197 páginas2012 SoniaUmburanasBaladyMaria Da Luz CorreiaAinda não há avaliações
- A Memória Do Cinema Mudo BrasileiroDocumento109 páginasA Memória Do Cinema Mudo BrasileiroAndressa AlmeidaAinda não há avaliações
- Tese Rosane Kaminski PDFDocumento476 páginasTese Rosane Kaminski PDFPaulo Soares100% (1)
- Xavier. Decupagem ClássicaDocumento8 páginasXavier. Decupagem ClássicaVinícius Lima CostaAinda não há avaliações
- Porque Nao Faco Filmes Politicos - Ulrich Kohler PDFDocumento7 páginasPorque Nao Faco Filmes Politicos - Ulrich Kohler PDFMarcelo Ikeda100% (1)
- O Mito Do Cinema Total - André BazinDocumento4 páginasO Mito Do Cinema Total - André BazinMylena Godinho100% (2)
- 20FESTCURTAS CATALOGO WEBpdf PDFDocumento376 páginas20FESTCURTAS CATALOGO WEBpdf PDFKênia FreitasAinda não há avaliações
- Iconografia e IconologiaDocumento8 páginasIconografia e IconologiaGuaraci GomesAinda não há avaliações
- A Influência Sensorial Das Cores: Análise Cromática Da Obra Cinematográfica de Wes AndersonDocumento28 páginasA Influência Sensorial Das Cores: Análise Cromática Da Obra Cinematográfica de Wes AndersonMarília LimaAinda não há avaliações
- Resenha: Brasil, Junho de 2013 - Classes e Ideologias CruzadasDocumento4 páginasResenha: Brasil, Junho de 2013 - Classes e Ideologias CruzadasMarcio de LucasAinda não há avaliações
- Virgínia Osório Flores - A ESCUTA FÍLMICA: UMA ATITUDE ESTÉTICADocumento6 páginasVirgínia Osório Flores - A ESCUTA FÍLMICA: UMA ATITUDE ESTÉTICACristianeAinda não há avaliações
- Marcelina 1Documento80 páginasMarcelina 1Leila Kelly GualandiAinda não há avaliações
- Cinema Mundial - Realismo, Evidencia, PresençaDocumento23 páginasCinema Mundial - Realismo, Evidencia, Presençaramayana.lira2398Ainda não há avaliações
- Livro Configurações Da Morte PDFDocumento300 páginasLivro Configurações Da Morte PDFmarciafamaralAinda não há avaliações
- AMARAL, Aracy. 34º Panorama Da Arte Brasileira. Da Pedra Da TerraDocumento130 páginasAMARAL, Aracy. 34º Panorama Da Arte Brasileira. Da Pedra Da TerraMiguel Angel Ochoa100% (1)
- O Finalizador de Vídeo e Sua FunçãoDocumento13 páginasO Finalizador de Vídeo e Sua FunçãoAlmir OrsanoAinda não há avaliações
- Caderno de Crítica 17 - Especial Afranio VitalDocumento21 páginasCaderno de Crítica 17 - Especial Afranio VitalJuliano GomesAinda não há avaliações
- Museus e Ciberespaço - 107-484-1-PB PDFDocumento24 páginasMuseus e Ciberespaço - 107-484-1-PB PDFAlice OliveiraAinda não há avaliações
- 20110909-Tradicao ReflexoesDocumento365 páginas20110909-Tradicao ReflexoesZoueinAinda não há avaliações
- Marketing de Cinema - A Promoção de Filmes Na Era DigitalDocumento164 páginasMarketing de Cinema - A Promoção de Filmes Na Era DigitalAmanda LoureiroAinda não há avaliações
- Diário de Bollywood: Curiosidades e segredos da maior indústria de cinema do mundoNo EverandDiário de Bollywood: Curiosidades e segredos da maior indústria de cinema do mundoAinda não há avaliações
- Golpe de vista: Cinema e ditadura militar na América do SulNo EverandGolpe de vista: Cinema e ditadura militar na América do SulAinda não há avaliações