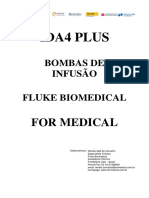Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
FATONE, Vicente - O Complexo de Édipo e Os Gandharvas
FATONE, Vicente - O Complexo de Édipo e Os Gandharvas
Enviado por
valdirTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FATONE, Vicente - O Complexo de Édipo e Os Gandharvas
FATONE, Vicente - O Complexo de Édipo e Os Gandharvas
Enviado por
valdirDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O complexo de Édipo
e os Gandharvas
Vicente Fatone
Tradução: Paloma Vidal
Nota introdutória
Apresentamos a tradução do escrito de Vicente Fatone "O Complexo de Édipo e os
Gandharvas". Uma das maiores figuras do pensamento filosófico na Argentina, Fatone
possuía um profundo conhecimento das criações míticas do Oriente. Sua preocupação com
o misticismo e seu interesse religioso o atraíram à filosofia oriental que tornou-se o centro
de sua obra. Por meio do domínio dos temas centrais da filosofia, Fatone examinou as
refinadasconcepções dobudismo"niílista"eda lógica índostânica. Sua produção se estende
da década de 30 até sua morte em 1962.
Em "O Complexo de Édipo e os Gandharvas" é surpreendente a precisão e a clareza do
filósofo ao tratar uma das questões mais espinhosas da teoria freudiana: a pulsão de morte
e o Nirvana. Ao revelar o essencial dos mitos indostânicos em relação ao Nirvana, Fatone
chega a regiões insuspeitadas que ultrapassam de longe com seu questionamento a produção
dos psicanalistas da época. Uma história da psicanálise na Argentina não poderia desco-
nhecer a importância deste texto produzido fora dos meios analíticos apartir de outras fontes
de inspiração. Fatone percebe com exatidão qual é o traçado da obra freudiana que parte
do mito de Édipo para deparar-se com o Nirvana, limite da significação para o sujeito. Os
mitos indostânicos constituem o avesso da descoberta freudiana porque originando-se no
Nirvana devem conduzir as relações de subjetivação próprias do Édipo. O Ocidente carece
de Nirvana e o Oriente de Édipo. O quiasma entre as duas culturas é cuidadosamente
realizado por Fatone. Queremos ainda salientar o estilo do autor que evita cair no discurso
do mestre — do ser — que habita a filosofia, para manter-se na cadeia dos mitos como forma
essencial de abordar a verdade pela ficção.
E.V.
-1-
uando já levava vinte e cinco anos de investigações psicanalíticas, Freud se
Q deteve a meditar sobre o mito que Platão faz Aristófanes expor em "O
Banquete". Três eram, de acordo com esse mito, as espécies de homens:
machos, fêmeas e andróginos; estes últimos haviam sido partidos em dois por Zeus e,
desde então, cada metade desejava unir-se a outra. Para isso se buscavam e se
estreitavam com muita força: queriam restabelecer um antigo ser, converter-se de dois
em um. O amor não era a simples busca do prazer sexual, senão o desejo de
reintegrar-se à antiga unidade. Ninguém haveria negado que Hefaístos o soldasse a sua
LETRA FREUDIANA - Ano XI - a810/11/12 49
O complexo de Édipo e os Gandharvas
outra metade unindo-o a ela para toda a vida; quando chegasse o momento de passar
ao reino de Hades, seguiriam sendo um em vez de dois, unidos numa só morte. Na
ânsia de voltar a unir-se, as metades são capazes de estreitar-se até morrer de fome e
de inércia, e cada uma se nega a fazer algo sem a outra.
É curioso que Freud, utilizando a informação que lhe forneceu o professor vienense
H. Gomperz, tenha aceitado, "contra a opinião corrente ", a existência, no que se refere
a esse mito, de influências indostânicas sobre o pensamento platônico, mesmo sem
descartar a possibilidade de que certas afinidades intelectuais houvessem levado os
pensadores gregos e bramanistas às mesmas concepções. Freud remete, para mostrar
as coincidências dessas concepções, a passagem da Brihad Aranyaka Upanishad
(anterior em vários séculos a "OBanquete"), onde o filósofo Yâjnavalkya diz[*l]:
"Mas ele não tinha nenhuma alegria; pois não tem nenhuma alegria quando está só.
Então desejou um segundo. Era, na verdade, grande como uma mulher e um homem
estreitados. Fez que seu Sim se dividisse em duas partes; assim nasceram o esposo e
a esposa. Por isso este corpo do Sim se parece a uma metade; isso é, na verdade, o
que explicou Yâjnavalkya. Por esta razão o espaço vazio está colmatado pela
mulher".
Freud invocou estes dois mitos quando se encontrava empenhado na crítica do
chamado "princípio do prazer", que até então havia sido considerado pela sua
psicanálise como o que regia a evolução dos processos psíquicos. Segundo esse
princípio, toda evolução se produz em virtude de uma tensão desagradável e se cumpre
de maneira que esse estado seja substituído por outro agradável, que consiste em uma
distenção; ao desagrado corresponde um aumento da quantidade de energia psíquica
e ao agrado, uma diminuição. O "princípio do prazer" não seria senão a tendência do
aparelho psíquico a manter o mais baixo nível possível, ou o mais constante, da
quantidade de excitações. Esse princípio se resolveria, então, na tendência à estabili-
dade, já enunciada por Fechner, e segundo a qual há uma relação direta entre
estabilidade e prazer e entre instabilidade e desprazer.
Quando o instinto de conservação exige a aceitação de uma dor, o princípio do
prazer cede ante o "princípio da realidade "; é a única maneira de salvar as dificuldades
que o mundo externo oferece para a satisfação imediata do prazer. Nos impulsos
sexuais essa "educação ", que posterga o prazer, é mais difícil de lograr; a substituição
do princípio do prazer pelo de realidade só se efetua nas sensações pouco intensas.
Além disso, pode haver, entre os diferentes impulsos, incompatibilidades que não
tomem possível sua satisfação conjunta, então se estabelece entre eles uma luta (que
lembra a dos possíveis de Leibniz na sua aspiração à existência): os vencidos ficam
condenados a não participar nas sínteses superiores da personalidade e a manter-se
num nível inferior, onde a satisfação direta do prazer está vedada. Mas aqui (à diferença
do que sucede com os possíveis de Leibniz) pode produzir-se uma satisfação indireta,
por substituição; e o princípio do prazer seguiria, dessa maneira, regendo a evolução
psíquica. No entanto, junto a esse princípio do prazer, e por cima dele, na vida psíquica
se adverte, segundo Freud, uma "tendência à repetição", um "eterno retorno ao
50 LETRA FREUDIANA - Ano XI - n910/11/12
O complexo de Édipo e os Gandharvas
idêntico", cujo exemplo mais convincente é o da "fatalidade" que parece perseguir
certos indivíduos: suas relações amorosas, apesar das diversas vicissitudes por que
passam, desembocam sempre na mesma situação; seus amigos, ou aqueles que mais
deveriam agradecer-lhes, terminam por abandoná-los e atraicioá-los e pagam com ódio
e rancor seus afetos e seus favores. 'Rido isso seria o reflexo de um passado esquecido
que conserve um forte dinamismo e tende areproduzir-se,manifestação, em definitivo,
de tendências recalcadas: obstinação na busca de situações que não fazem senão repetir
aquela primeira situação em que as tendências ficaram insatisfeitas. A tendência à
repetição está "além" do princípio do prazer e se apresenta como sendo "mais
primitiva, mais elemental e mais impulsiva " que ele.
Introduzida esta "tendência à repetição", esta "fatalidade", este "eterno retorno
ao idêntico ", não nos pode estranhar que Freud tenha feito o que Santayana descreveu
como "longo rodeio até o Nirvana". Um primeiro passo desse rodeio foi o que deu
Freud ao tentar estabelecer a relação entre os impulsos instintivos e a tendência à
repetição. Um instinto - diz Freud - seria uma tendência, própria do organismo, a
reproduzir e restabelecer um estado anterior ao que o organismo teve que renunciar
devido a ação de forças externas perturbadoras. Logo, os instintos traduzem não o
dinamismo mas a inércia do orgânico; são regressivos - nostálgicos, podíamos dizer
-: procedem como peixes que para depositar seus ovos emigram até zonas semelhantes
ao habitat primitivo que se viram obrigados a abandonar. Os instintos se manifestam
na tendência a "reproduzir o quejá existiu ". Uma estória psíquica resultaria, de acordo
com isso, algo assim como uma série de variações sobre um único tema: a parábola do
filho pródigo. "Uma vida uniforme, em condições imutáveis": a isso se reduz toda a
aspiração do ser vivo elemental. Os instintos não são forças de progresso ou evolução:
o único que buscam, por caminhos velhos ou novos, é a consecução de um "antigo
fim ", a volta ao "ponto de partida ": e a chamada evolução não é mais que o caminho
ou a série de caminhos pelos quais se tenta regressar à realidade inicial. Extremando
esse pensamento, Freud não vacilou em enunciar este paradoxo: o fim a que toda vida
tende é a morte; desafiada assim, aquela definição sensata, mas não muito útil, segundo
a qual a vida é um conjunto de forças que resistem à morte. "Os guardiões da vida ",
denominados instintos, não foram, em um começo, senão "satélites da morte".
Prescindindo das análises bizantinas em que por momentos Freud se entretem (como
o do ritmo alterna nte em que uns instintos tendem a lograr rápido o objetivo da vida e
outros desandam o andado para voltar a andá-lo), a função desses satélites parece
sempre consistir na repetição de uma satisfação primitiva.
Empenhar-se em seguir distinguindo entre instintos do eu, que tenderiam à morte,
e instintos sexuais, que tenderiam à prolongação da vida, não modifica fundamental-
mente a situação já que a vida que se prolonga continua repetindo o "eterno retorno
ao idêntico": a tendência à morte. A oposição nítida entre os instintos teve que ser
reconhecida como insuficiente pelo mesmo Freud. A libido narcisista (que não se dirige
a um objeto externo senão ao eu) obrigada a atenuar essa oposição ou a dar-lhe outro
caráter e o sadismo e o masoquismo ( os outros dois pólos do amor dirigido,
LETRA FREUDIANA -Ano XI - n a 10/11/12 51
O complexo de Édipo e os Gandharvas
respectivamente ao objeto ou ao eu) mostravam que o Eros, aparentemente destinado
a conservar a vida, podia tender a destruí-la. E, depois de discutir as conseqüências
para a vida da união sexual, Freud termina falando-nos do "princípio do Nirvana ". Há
instintos de morte, nos diz: e, uma das razões principais que obriga a aceitá-los, é o
convencimento de que a vida psíquica tende a suprir a tensão interna provocada pelas
excitações. Essa tendência à supressão da tensão interna é, precisamente, o que Bárbara
Low havia chamado "princípio do Nirvana ".
Os instintos de morte deviam ser aceitos, segundo Freud, em virtude do descobri-
mento da tendência à repetição. Mas essa tendência a reproduzir uma situação antiga,
aparece também no instinto sexual? Qual é a situação antiga que querem repetir dois
seres que se unem sexualmente? E agora, ante a necessidade de responder a essa
pergunta, Freud recorre ao mito de Aristófanes e de Yâjnavalkya, que permitia explicar
o instinto sexual como tendência a restabelecer um estado anterior. Os que se unem
querem, simplesmente, voltar à androgenia primitiva; querem voltar a ser o que antes
foram: um, e não dois; querem recuperar sua primitiva realidade perdida. Freud
reconhece que se trata de uma hipótese fantástica, e declara que se atreve a invocá-la
porque "satisfaz a aspiração que tentamos colmatar" e porque responde a essa
pergunta "que espanta os profanos e que mesmo os especialistas não se encontram
em condições de responder". Feita esta invocação, desconcertante para quem aspirava
a que a linguagem psicológica fosse substituída por uma terminologia "lógica e
química", era forçoso deter-se e até proceder a um exame de consciência científica.
Freud chegou a duvidar de que houvesse sentido em publicar esse trabalho em que,
por querer ir "além do princípio do prazer ", retrocedera até encontrar-se com um mito
bramista e com o Nirvana budista.
O escândalo inicial provocado pelas primeiras publicações psicanalíticas podia
resultar insignificante comparado com este escândalo final. Quem teria podido prever
que, partindo do complexo de Édipo, chegar-se-ia, mediante o "longo rodeio", ao
princípio de Nirvana? Ã expressão "princípio de Nirvana " era muito mais adequada
do que Freud e Bárbara Low suspeitavam, porque, assim como a tendência à repetição
não era uma aspiração ao aniquilamento, a busca do Nirvana não é, apesar das ligeiras
interpretações ocidentais, uma busca da extinção. Nos dois casos se tratavam da
recuperação de uma situação que havia sido perturbada; a tendência à repetição e a
busca do Nirvana eram, igualmente, uma reintegração à realidade inicial. O descon-
certante era que a escabrosa lenda do filho de Jocasta se convertia, ad usum delphini,
na amável lenda do filho de Maya - o príncipe tebano que depois de decifrar o enigma
obtém como prêmio uma esposa. Poderia converter-se, segundo a nova versão, no
príncipe nepalês que depois de abandonar a sua esposa obteve como prêmio o
deciframento do enigma. Porém, havia algo ainda mais desconcertante, que Freud não
suspeitou: partindo do complexo de Édipo, ele havia terminado no Nirvana; mas os
budistas partindo do Nirvana, terminaram, há quinze séculos, em algo muito seme-
lhante ao complexo de Édipo. A psicanálise e o budismo haviam feito o mesmo longo
rodeio, ainda que emsentido inverso. Vejamos em que consistiu o que podemos chamar
de "longo rodeio em direção ao complexo de Édipo".
52 LETRA FREUDIANA -Ano XI - n s 1 0 / l 1/12
O complexo de Édipo e os Gandharvas
O budismo primitivo não era senão uma técnica para alcançar a "serenidade superior"
de que fala Freud e para recuperar o estado original de que também fala Freud. Como
em todas as escolas indostânicas, no budismo tentava-se emigrar do ciclo da existência
e conduzir o corpo à sua "última morte ". O Nirvana, momento final do itinerário, não
era a simples extinção nem o aniquilamento que nele viram os primeiros intérpretes
ocidentais. Os textos budistas mais antigos se dedicam a polemizar contra as escolas
contemporâneas que ofereciam com suas técnicas a obtenção do reinado da niilidade:
"Equivocadamente, baixamente, falsamente, infundadamente alguns ascetas e bra-
manes me acusam dizendo que o asceta gotama é um niilista epredica a aniquilação,
a destruição e a não-existência do existente. Isso é o que eu não sou, isso é o que eu
não afirma Hoje como antes, manjes, eu anuncio uma só coisa: a dor, a destruição
da dor". O budismo primitivo combate da mesma maneira aqueles que afirmam a
existência de uma realidade substancial que permanece idêntica a si mesma; aqueles
que isso afirmam são combatidos, nos textos primitivos, sob a denominação de
"eternalistas ". O itinerário do budismo não promete, originalmente, nem a eternidade,
nem a nadificação. A concepção do eu como uma série em fluxo, onde cada um dos
momentos está determinado pelo anterior sem que através deles subsista nenhuma
entidade, conduziu o budismo a generalizar o método que a ciência médica da época
aplicativa ao diagnóstico e cura das doenças. A famosa fórmula das "quatro nobres
verdades" foi tirada da medicina: "a dor, a causa da dor, a supressão da dor". Os
Sâmkhyasôtras começam com uma fórmula semelhante, e os primeiros comentaristas
reconhecem sua origem médica. O Buddha é chamado o melhor dos médicos, e nos
diálogos de Milinda sua doutrina é comparada com uma farmacopéia. Não seria
exagero dizer que o budismo quer apresentar-se como uma psicoterapia. Aquela sua
concepção segundo a qual todo estado do indivíduo está determinado por estados
anteriores, e sua afirmação de cada um é filho de si mesmo, o fez orientar-se na busca
de procedimentos que acelerassem ou neutralizassem a ação do passado. Os estados
anteriores deviam "madurar", de acordo com a expressão habitual nos textos; mas
essa maduração podia ser ajudada, de maneira que se produzisse quanto antes, e para
isso serviam a doutrina e as práticas budistas. Podia ainda ser neutralizada mediante,
por exemplo, a confissão que o budismo organiza nas suas comunidades, fiel ao
princípio já expressado entre bramanes de que um pecado confessado "se torna
verdade", isto é, deixa de produzir efeitos.
O budismo original, empenho na busca da supressão da dor, se absteve de formular
hipóteses ou de adiantar teorias a respeito da natureza do último momento do itinerário
praticado pelos ascetas, ou seja o do Nirvana, que assegurava a paralisação do samsara,
o fluxo da existência. Nenhuma hipótese ou teoria sobre esse Nirvana facilitaria o que
se buscava, que era emigrar do ciclo das existências e por fim a "espantosa trindade "
da dor, da velhice e da morte. Tudo o que se podia fazer era esforçar-se para ver-se
livre dos efeitos do passado, do Karma, acelerando-os e neutralizando-os. Entretanto,
o budismo posterior não se resignou a deixar os interrogantes teóricos sem resposta;
LETRA FREUDIANA -Ano XI -n 8 10/11/12 53
O complexo de Édipo e os Gandharvas
surgiram assim as diferentes escolas e as duas seitas rivais do "pequeno veículo " e do
"grande veículo ": a primeira delas, mais fiel à atitude abstencionista primitiva, insiste
nas quatro verdades da dor e na concepção da série das doze causas determinantes da
existência. "Velhice, doença e morte"(1) estão determinadas pelo simples fato do
"nascimento"(2), que é próprio do reinado da "existência"(3) sustentada pelo "ali-
mento" (4); o alimento é exigido pelo apetite ou "sede"(5) que está, por sua vez,
determinada pela "sensação"(6); esta resulta do "contato"(7) com os objetos, função
dos "sentidos"(8); esses sentidos resultam da nossa condição de seres dotados de
"corpo" e "nome"(9), o que supõe uma "consciência"(10) determinada pelos resí-
duos ou "predisposições"(11) que foram deixadas na nossa existência anterior pela
"ignorância "(12). O "grande veículo ", sem abandonar esses temas que podem com
certeza considerar-se essenciais ao budismo, prefere acentuar o caráter positivo de
algumas idéias e símbolos que também figuravam na doutrina inicial. Chega assim a
afirmação da "budeidade" própria de todos os seres e persegue um ideal salvacionista
em que o asceta, mesmo podendo reintegrar-se ao Nirvana que não é senão sua própria
realidade original, prefere, para ajudar os seres na difícil obra da salvação, postergá-la
indefinidamente. Isto determina uma especulação rigorosa acerca da natureza dessa
budeidade (todos somos Buddhas) e o Nirvana (nossa essência é o próprio Nirvana),
é um maior refinamento na análise dos processos necessários para descobri-los. Vai
se constituindo, assim, o que se pode chamar de uma psicologia do profundo onde não
se prescinde nem dos sonhos, nem dos instintos sexuais, que tiveram tanta importância
na psicanálise, e onde vai adquirir importância primordial, especialmente entre os
tibetanos, a prática dos "mandalas" ou círculos cuja coincidência com os desenhos
dos esquizofrênicos alentaria, na forma que mais adiante veremos nas investigações
de Jung.
Para a revelação possível do Nirvana com o complexo de Édipo, a concepção
budista que mais interessa é a que se refere à existência "intermediária " e ao problema
concreto do nascimento de um novo homem. No antigo texto budista dizia-se que para
que se produzisse um novo homem era necessária, além da união dos parceiros, a
presença de um gandharva. Já nos hinos védicos os gandharvas apareciam como
"gênios" ou deidades relacionadas com as cerimônias nupciais e com a fecundação.
Nos primeiros dias do matrimônio, o gandharva disputa a esposa com o esposo; é a
ele a quem esta pertence. Gênios erotômanos, os gandharvas estão relacionados com
a fertilidade em geral e são invocados pelos esposos que desejam prole; mas, ao mesmo
tempo, mostram-se hostis e agressivos. A concepção do gandharva como músico e
cantor celeste acompanhado por sua esposa, a apsara dançarina, é tardia e pertence à
literatura épica; a concepção do gandharva como espírito hostil é, no entanto, muito
antiga e pertence à época indo-iraniana, pois com esse caráter aparece a figura do
gandharva no Avesta. Um detalhe que interessa porque o budismo tardio o utilizava
para explicar como o gandharva surpreende o casal a quem deve apresentar-se é a
etimologia do nome. No Rigveda (X,123,7) fala-se que o gandharva leva uma
vestimenta cheirosa; e no Atharvaveda (XII, 1,23) se diz que o odor (gandha) da terra
eleva-se em sua direção.[*2]
54 LETRA FREUDIANA - Ano XI - n" 10/11/12
O complexo de Édipo e os Gandharvas
O budismo, que num certo momento compreendeu a necessidade de explicar "o
que acontece na pausa existente entre uma morte e um novo nascimento", recorreu à
antiga concepção dos gandharvas, que um dos textos canônicos mais antigos consi-
derava indispensáveis para a gestação de um novo ser. Algumas escolas sustentam que
a série de existências podia ser descontínua e não precisava, então, preencher o lapso
entre uma e outra existência; outras escolas afirmam a continuidade da série e não
podiam admitir aquela pausa, nem sustentar, sem ver-se diante de complicações de
difícil solução, que "imediatamente" depois da extinção de uma vida surgia outra que
a herdava. Recorreu-se, por isso, à concepção do ser "intermediário" entre duas
existências, que nos textos posteriores se identifica como o antigo gandharva. Esse
ser intermediário (antarâbharva), que é discutido e até negado dentro da mesma
literatura canônica [*3], tem seu semelhante nas concepções bramanistas do "corpo
sutil", o "transportador" (âtivâhika) considerado necessário para a transmigração e
imaginado na Mahâbhârata à maneira de um Pequeno Polegar. A existência desse
gandharva, o ser intermediário ou corpo sutil, que serve para preencher o tempo e
cobrir a distância que separa duas existências propriamente ditas, é discutida cuidado-
samente nessa espécie de "suma", ou "cofre" ou "tesouro" de comentários da
doutrina (abhidharmakoça), que compôs no século V da nossa era o monge Vasu-
bandhu. O ser intermediário, explica este texto, começa no lugar onde se produz a
morte; é um ser que vai em busca do lugar do seu nascimento; tem, segundo alguns, a
forma que o caracterizará na sua próxima existência, mas é transparente; seus órgãos
estão perfeitamente desenvolvidos e, tratando-se de um futuro homem, suas dimensões
são "as de um menino de cinco a seis anos". O de um futuro Buddha tem já no corpo
as marcas que o distinguirão; o elefante que penetrou no flanco da mãe do fundador
da doutrina é uma "invenção" pois não se fala dele nos textos canônicos, e se existiu
foi no "sonho " da futura mãe. Dependendo do reino ao que, como criatura, pertencerá,
o ser intermediário estará nu, pelo seu impudor, ou vestido, pelo seu grande pudor. Ele
é invisível, exceto para os seres intermediários de igual ou superior hierarquia. Ele
penetra tudo pela força do karma e nem mesmo os Buddhas podem detê-lo; se alimenta
de cheiros, daí o seu nome (gandha: cheiro); cheiros que serão bons ou ruins,
dependendo também da hierarquia do ser intermediário, e que o guiarão até o lugar do
seu nascimento. Tem uma duração limitada, que segundo alguns é de sete dias e
segundo outros de sete vezes sete dias. Enquanto isso, está à espera de que sejam dadas
as condições exteriores que possibilitam o seu nascimento; algumas escolas afirmam
que se essas condições não são dadas (pois "as vacas não se unem nas estação da
chuva, nem os cães no outono, nem os ursos pardos no inverno, nem os cavalos no
verão"), terá uma existência pelo menos muito semelhante (em vez de vaca, búfalo;
em vez de cão, chacal; urso cinza em vez de urso pardo; asno em vez de cavalo).
Como se produz, então, a chamada reencarnação? O texto de Vasubandhu dá,
como resposta o seguinte: o ser intermediário "perturbado pela paixão, vai, por desejo
de amor, ao lugar de seu destino". "Ele vê o lugar de seu nascimento e, mesmo de
longe, vê seu pai e sua mãe unidos. Seu espírito é perturbado pelo efeito da compla-
LETRA FREUDIANA -Ano XI -n 8 10/11/12 55
O complexo de Édipo e os Gandharvas
cência e da hostilidade. Quando é macho, está possuído por um desejo de macho
endereçado à mãe; quando éfêmea, está possuída por um desejo de fêmea endereçada
ao pai; e, inversamente, odeia seja seu pai, seja sua mãe, o qual considera como um
rival, como uma rival... O espírito, perturbado por esses dois desejos errôneos, se
adere ao lugar onde estão unidos os órgãos, imaginando-se que é ele que os une "[ *4].
Nos encontramos, no final deste processo, com o famoso complexo de Édipo.
Assim como Freud fez seu longo rodeio em direção ao Nirvana partindo desse
complexo, os budistas fizeram um longo rodeio no sentido inverso: partindo do
Nirvana, foram em direção ao complexo de Édipo [*5]. O texto de Vasubandhu tem
uma clareza que permite a associação com as idéias de Freud sem as interpretações
forçadas tão habituais nestes casos. Há, além disso, entre esse texto de Vasubandhu
e as idéias de Freud uma coincidência que obriga a conceder à semelhança uma
importância ainda maior do que a que se adverte imediatamente: em seu longo rodeio,
o momento crítico que obrigou Freud a introduzir o inesperado "princípio do Nirvana "
foi o problema da procríação; e em seu longo rodeio em sentido inverso, o que obrigou
os budistas a introduzir o inesperado "complexo de Édipo" foi também o problema da
procriação.
-3-
As escolas budistas que admitiram a existência dos seres intermediários se perguntam
em seguida se era possível que esses seres evitassem o novo nascimento. Surgiu assim,
especialmente nos meios tibetanos, toda uma cultura relacionada aos gandharvas; e
ao mesmo tempo tentava-se descobrir as práticas as quais esses gandharvas deviam
submeter-se para não ir em busca de uma matriz. Para isso recorreu-se, sem preocu-
par-se muito com a coerência doutrinai, a idéias e técnicas próprias das diversas escolas
budista da religião indígena do Tibet, do shivaísmo e até do maniqueismo [*6], sem
excluir, naturalmente, o taoísmo. A redução de tudo o que é real à vacuidade; a teoria
da "consciência receptáculo" (âlayavijnâna), fundamento de toda consciência parti-
cular é algo assim como um subsolo onde se gesta a vida mental; a convicção de uma
androgenia original e o simbolismo francamente erótico de deuses e demônios unidos
a suas respectivas esposas que não são senão outro aspecto deles mesmos; a escrupu-
iosa preparação de círculos ou mandalas cujos diversos setores, figurações, linhas e
cores servem de apoio e de guia para os difíceis processos de concentração, de
meditação e de êxtases capazes de liberar do ciclo das existências as litanias mecânicas,
os conjuros, os conhecimentos médicos, a interpretação dos sonhos, tudo isso e muito
mais - a região das mães, a busca da flor maravilhosa - acabaram formando um
conglomerado cuja melhor expressão, para o estudo das relações entre psicanálise e
budismo, pode encontrar-se nas instruções dadas pelos tibetanos ao ser intermediário,
ameaçado, pelo seu karma, de voltar a conhecer o nascimento, a doença e a morte. O
gandharva das primeiras concepções budistas se torna o bar do [*7] tibetano. As
instruções recitadas ao ouvido do defunto para que seu bar do eluda a nova existência
a qual o karma acumulado o condena tem, especialmente por sua relação com a pratica
56 LETRA FREUDIANA-Ano XI-n s 10fl 1/12
O complexo de Édipo e os Gandharvas
dos mandalas ou círculos, numerosas semelhanças com as idéias e métodos da
psicologia analítica de Jung. Mas neste caso as semelhanças não são casuais, como
sucedia no dos longos rodeios entre o Nirvana e o complexo de Édipo. Jung, espírito
de curiosidade temerária, estudou e analisou os textos budistas, ou de inspiração
budista, que se referem aos seres intermediários, à pratica dos mandalas, à busca da
flor maravilhosa, e encontrou neles como veremos, não só uma confirmação das idéias
que já havia sustentado e sugestões para novas outras, senão também palavras com que
expô-las e métodos com que aplicá-las em seu ministério de "curador de almas".
Notas
[*1] Freud cita a tradução de Deussen, "Sechzig Upanishad's des Veda", pg.393. Porém, o mito
bramista remonta a uma época anterior as Upanishads, pois aparece já, mesmo obscuramente, no
hino rigvédico (X,l 29), onde se diz que o princípio só era o Um, sem ninguém fora dele, e que esse
Um, pela força do desejo, se dividiu em dois, macho e fêmea.
[*2] As principais passagens védicas nas quais se faz referência aos gandharvas podem ver-se em
Macdonell, "VedicMythology" pg.l36ys.
[*3] Katthavatthu, VII, 2.
[*4] Cito seguido a monumental tradução de De Ia Vallée Poussin ("L'Abhidharmakosa de Vasu-
bandhu", Paris, Geuthner, 1923-1931,6 volumes) vol. III, pag. 50.
[*5] No mesmo livro "O budismo 'niilista' (La Plata, 1941)" assinalei incidentalmente essa
impressionante semelhança. Ultimamente o professor Tucci, hoje a maior autoridade mundial no
budismo, também vem chamando a atenção para ela. Veja-se "// libro tibetano dei morti" pg. 38
(Milan, Bocca, 1949).
[*6] Tucci se detém a mostrar como teria sido possível essa influência que permitiria explicar muitas
idéias tibetanas que parecem não ter relação com a índia. A religião indígena do Tibet (Bon Po)
recebeu desde a região de Gilgit, próxima do mundo irânico, elementos que se incorporaram ao
grande sincretismo lamaísta. A crença no juízo dos mortos e no desdobramento da consciência, que
acusa e defende ao enjuizado, teriam ido do Iran ao Tibet por esse caminho. (Veja-se "// libro tibetano
dei morti", pg.45).
[*7] "Bardo" é tradução tibetana literal de "antharâ fcrava "(entre-ser).
LETRA FREUDIANA - ABO XI - ns 10/11/12 57
Você também pode gostar
- EF11 - Teste - Avaliaçao 1 20 - 21 - EnunciadoDocumento10 páginasEF11 - Teste - Avaliaçao 1 20 - 21 - EnunciadoSara Pereira100% (1)
- Oratoealua: António TorradoDocumento3 páginasOratoealua: António TorradoLuizSantosAinda não há avaliações
- O Nó Do Amor - Correio APPOADocumento21 páginasO Nó Do Amor - Correio APPOAburfzAinda não há avaliações
- Sobre A Metapsicologia A Epistemologia FreudianaDocumento5 páginasSobre A Metapsicologia A Epistemologia FreudianaDaniel Costa SimoesAinda não há avaliações
- Psicoterapia Breve Possibilidade Trabalho Psicanalitico InstituicaoDocumento7 páginasPsicoterapia Breve Possibilidade Trabalho Psicanalitico InstituicaoburfzAinda não há avaliações
- O Real Como Impossivel DizerDocumento7 páginasO Real Como Impossivel DizerburfzAinda não há avaliações
- Marcus Andre Vieira O Real Da PaixaoDocumento11 páginasMarcus Andre Vieira O Real Da PaixaoburfzAinda não há avaliações
- Cabala Códigos Secretos - SuperinteressanteDocumento4 páginasCabala Códigos Secretos - SuperinteressanteburfzAinda não há avaliações
- Topologia e Clínica Psicanalítica - de Ligia Gomes Victora - Correio APPOADocumento3 páginasTopologia e Clínica Psicanalítica - de Ligia Gomes Victora - Correio APPOAburfzAinda não há avaliações
- Topologia e Clínica Psicanalítica - de Ligia Gomes Victora - Correio APPOADocumento3 páginasTopologia e Clínica Psicanalítica - de Ligia Gomes Victora - Correio APPOAburfzAinda não há avaliações
- Tania C. Dos Santos (Org.) - Efeitos Terapêuticos Na Psicanálise Aplicada PDFDocumento113 páginasTania C. Dos Santos (Org.) - Efeitos Terapêuticos Na Psicanálise Aplicada PDFburfz100% (1)
- CORRECAO MAQUINA TEMPO 6 ASA Teste3Documento15 páginasCORRECAO MAQUINA TEMPO 6 ASA Teste3Nádia AndréAinda não há avaliações
- Historia Do Direito Portugues IDocumento25 páginasHistoria Do Direito Portugues IManuelaAinda não há avaliações
- Edital Mpu 2006 PDFDocumento54 páginasEdital Mpu 2006 PDFGeovani BezerraAinda não há avaliações
- Produção de Hambúrguer: Lilian GuerreiroDocumento28 páginasProdução de Hambúrguer: Lilian GuerreiroPedopassaAinda não há avaliações
- MatematicaDocumento14 páginasMatematicaTainá OliveiraAinda não há avaliações
- Pratica Interdisciplinar Aprendizagem e InclusãoDocumento5 páginasPratica Interdisciplinar Aprendizagem e InclusãoNanci FerreiraAinda não há avaliações
- Ava Univirtus PDFDocumento4 páginasAva Univirtus PDFDimas Guerreiro100% (2)
- Que Estratégias Reprodutivas Estão Presentes em Diferentes Grupos de Seres Vivos?Documento5 páginasQue Estratégias Reprodutivas Estão Presentes em Diferentes Grupos de Seres Vivos?Francisca SantosAinda não há avaliações
- Atividade Prática - Alvenaria - 2Documento2 páginasAtividade Prática - Alvenaria - 2Karine SilvaAinda não há avaliações
- XVII Encontro-Humanistico-UFMA 2023 EbookDocumento59 páginasXVII Encontro-Humanistico-UFMA 2023 EbookS Barreto BarretoAinda não há avaliações
- A Teologia Do Ger No Antigo Testamento - Doaldo BelémDocumento201 páginasA Teologia Do Ger No Antigo Testamento - Doaldo BelémDiego SerraAinda não há avaliações
- Dissertação Final - RosárioDocumento180 páginasDissertação Final - RosárioHeltonMoraesAinda não há avaliações
- Apostila Processo de SaúdeDocumento102 páginasApostila Processo de SaúdeRaphaela SantosAinda não há avaliações
- ANEXO 1 Manual SR 3 EIXOSDocumento35 páginasANEXO 1 Manual SR 3 EIXOSCaroline RochaAinda não há avaliações
- ORTOPEDIADocumento6 páginasORTOPEDIALarissa WelterAinda não há avaliações
- MorikolDocumento2 páginasMorikolNeusa AlvesAinda não há avaliações
- Casos Praticos Simples NacionalDocumento69 páginasCasos Praticos Simples NacionalAntonio QuirinoAinda não há avaliações
- Relatório Exp7 Conversor Analógico-Digital Eletrônica Digital Quad4.2Documento6 páginasRelatório Exp7 Conversor Analógico-Digital Eletrônica Digital Quad4.2Fernando Henrique G. ZucatelliAinda não há avaliações
- O Céu Como Guia de Conhecimentos e Rituais Indígenas PDFDocumento3 páginasO Céu Como Guia de Conhecimentos e Rituais Indígenas PDFAmanda DaphneAinda não há avaliações
- IDA4Documento8 páginasIDA4Bruno SouzaAinda não há avaliações
- Introducao Ao Estudo Dos TimerDocumento17 páginasIntroducao Ao Estudo Dos TimerThiago MeirelesAinda não há avaliações
- Termos Da OraçãoDocumento6 páginasTermos Da OraçãoCarlos HenriqueAinda não há avaliações
- Ensinando Futebol Americano Na EscolaDocumento25 páginasEnsinando Futebol Americano Na EscolaMatheus ÁvilaAinda não há avaliações
- FMB - Direitos e Garantias FundamentaisDocumento8 páginasFMB - Direitos e Garantias Fundamentaissimonebayer2Ainda não há avaliações
- O Jus Postulandi e o Acesso A Justiça No Processo Do TrabalhoDocumento30 páginasO Jus Postulandi e o Acesso A Justiça No Processo Do TrabalhoedimargsAinda não há avaliações
- Susan Buck Morss - Estetica Anestetica - Benjamin Magia Percepcao2 PDFDocumento48 páginasSusan Buck Morss - Estetica Anestetica - Benjamin Magia Percepcao2 PDFeduardo100% (1)
- Presença de Microorganismos No AmbienteDocumento11 páginasPresença de Microorganismos No AmbienteMatheus Azevedo de PaulaAinda não há avaliações
- VLT 900 Ficha Tecnica CDocumento2 páginasVLT 900 Ficha Tecnica CFelipe R.Ainda não há avaliações