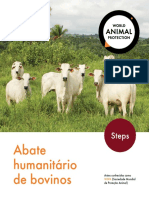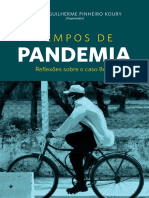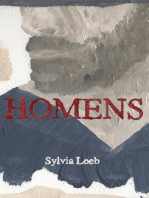Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Antropologia Das Emoções
Antropologia Das Emoções
Enviado por
Betânia Mueller0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações11 páginasTexto antropologia das emoções
Título original
Antropologia das emoções
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoTexto antropologia das emoções
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações11 páginasAntropologia Das Emoções
Antropologia Das Emoções
Enviado por
Betânia MuellerTexto antropologia das emoções
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 11
Antropologia das Emoções: retomando 647
concepções e consolidando campos
Resenhas e Críticas Bibliográficas
REZENDE, Claudia Barcellos e COELHO, Maria Cláudia.
Antropologia das Emoções.
Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas.
Série Sociedade e Cultura, 2010, 136 p.
| 1 Rosamaria Carneiro |
1
Professora adjunta de Saúde Coletiva/Ciências Sociais, Universidade de Brasília (FCE-UnB). Endereço eletrônico: rosacarneiro@unb.br
... o indivíduo, ao falar do que sente, comunica-se consigo mesmo através dos
outros, compreendendo, por meio desta expressão, aquilo que sente (p.62)
O livro de Claudia Barcellos Rezende e de Maria Cláudia Coelho tem
início com uma “fábula antropológica” vivida por Laura Bohannan: em um dia
chuvoso de sua pesquisa de campo, ao compartilhar Hamlet com uma tribo
africana, percebe como “os sentimentos são tributários das relações sociais e
do contexto cultural em que emergem” (p. 11). Naquele espaço, amor e ciúme
eram compreendidos e experimentados de outras maneiras e, por isso, o clássico
ocidental pouco logrou mobilizar os ouvintes da trama. Esse é o episódio que
anuncia a base do argumento das autoras: o fazer antropologia das emoções é
justamente colocar em xeque ideias essencialistas e universais que, muitas vezes,
temos dos nossos sentimentos e dos sentimentos dos outros.
Nas palavras das autoras, essa, no entanto, não é uma tarefa recente, quando
consideramos que autores como Emile Durkheim e Georg Simmel também se
dispuseram a pensar as emoções de modo não naturalista e muito mais atrelado
ao mundo social; assim como também, na antropologia, Radcliffe-Brown,
Ruth Benedict e Marcel Mauss procuraram compreender as tramas das regras
e as formas coletivas de expressão dos sentimentos, explorando sua função e
comparando seus padrões e/ou configurações. Entretanto, é na década de 1970
e na antropologia norte-americana que as autoras percebem o grande impulso
ao estudo dos comportamentos, aos conceitos de pessoa, de self e das emoções,
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 23 [ 2 ]: 647-652, 2013
648 quando a cultura passa a ser definida como uma “teia de significados” (GEERTZ,
1989). De acordo com suas palavras, essa teria a mola propulsora para que, na
Resenhas e Críticas Bibliográficas
década de 1980, as emoções passassem a ser pensadas mediante um viés relativista
e, mais recentemente, mediante uma leitura contextualista, que procura apontar
não só para a pluralidade de expressões culturais das emoções entre grupos, mas
também no interior de um mesmo grupo, à luz do debate sobre relações de poder
e do que denominam de seu potencial “micropolítico”.
Para Coelho e Rezende, a questão também foi pautada no Brasil, desde
Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, para depois perpassar, nos idos
de 1980, os escritos de Roberto DaMatta, em sua famosa distinção entre a casa
e a rua; de Gilberto Velho e Tania Salem, sobre o ethos das camadas médias
cariocas psicanalizadas, e depois, de Luiz Fernando Duarte sobre as camadas
populares, a partir da noção de pessoa do “nervoso”. Em minha leitura, essa breve
contextualização histórica do campo da antropologia das emoções, primeiro,
ressalta que a temática não é recente e, em segundo lugar, nos ajuda a compreender
a conformação do assunto nos anos de 1990, quando o fazer antropológico das
emoções ganha fôlego, despertando o interesse por revistas temáticas, de grupos
e linhas de pesquisa, bem como de congressos nacionais e internacionais, que
passam a contar com grupos de trabalho circunscritos à sua reflexão.
O livro encontra-se organizado em quatro capítulos: os dois primeiros têm uma
base mais teórica, problematizando a seara das emoções à luz, respectivamente,
da articulação natureza/cultura e estrutura/agência, enquanto os dois últimos
estão dedicados à tematização da interface sentimentos e “micropolítica” e à
crítica da noção de emoção na sociedade moderna ocidental. Em razão de assim
vir desenhado, tendo a considerar que, em que pese sustentar a não novidade do
assunto, trata-se de um dos primeiros esforços de peso para a sistematização e
legitimação desse campo de pesquisa, ainda pouco conhecido ou, infelizmente,
desmerecido por alguns antropólogos e demais cientistas sociais, que tendem a
tratar o campo, de modo pejorativo, sob a alcunha de “pós-moderno”.
O primeiro capítulo, “Emoções: biológicas ou culturais?”, concentra-se na
desconstrução da perspectiva etnopsicológica de que as emoções estão ancoradas
ao psicobiológico do indivíduo e de que são constantes e universais em razão de
virem fundamentadas na oposição corpo/mente ou sentimento/razão. Nessa grade
de leitura, as emoções aparecem ligadas ao corpo, enquanto a razão, à mente.
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 23 [ 2 ]: 647-652, 2013
Assim, as primeiras teriam origem no corpo e seriam negativadas em relação à 649
mente, dando ensejo, por exemplo, à repetida ideia de que as mulheres são mais
Resenhas e Críticas Bibliográficas
emotivas e, portanto, irracionais e incapacitadas para a vida pública. No entanto,
na acepção das autoras, a leitura das ciências sociais seria outra e bem diferente, a
saber, a de bem apontar, por exemplo, para culturas em que as emoções são tidas
em alta conta e, até mesmo, supervalorizadas (LUTZ, 1998). Em suas palavras,
para a antropologia, “o modo como entendemos e vivenciamos o corpo é sempre
mediado pelas formas de pensar cultural e historicamente construídas. Assim,
torna-se difícil separar o que seria um fato biológico de um fato cultural” (p.29).
Dessa maneira, com o intuito de ressaltar como as ciências sociais têm
contribuído para a desnaturalização das emoções, a partir da rememoração de uma
gama de trabalhos teóricos, argumentam em prol das emoções como fenômenos
incorporados, situados no corpo, mas sem que isso implique dizer que sejam
naturais. Pedem muito mais a atenção para a necessidade do aprendizado de como,
quando e por quem certas emoções são manifestadas ou têm espaço e sentido
simbólico, atravessando, inclusive, trejeitos corporais e faciais. De igual modo,
recorrem à noção de que os sentimentos somente são demonstrados na interação
social e de que a linguagem tem papel fundamental em sua transmissão. Nesse
sentido, rememoram que também coube às ciências sociais o questionamento do
caráter instintivo das emoções, na medida em que tende a compreendê-las a partir
do aprendizado social e não como algo da ordem do inato e do descontrolado.
Na realidade, bebendo de autores como Nobert Elias, em seus estudos sobre a
relevância do medo na eficácia do processo civilizador, advogam que também
os sentimentos controlam e são controlados pela sociedade. Anunciam, assim, a
importância de se pensar emoção a partir uma relação cultural e histórica, sem
deixar de pautar o corpo e seu controle nesse processo.
No segundo capítulo, “Emoções: individuais ou sociais?”, as linhas seguem
a tão famosa questão ação/reprodução ou agência/estrutura, na tentativa de
refletir sobre a possibilidade de estudos sócio-antropológicos dos sentimentos e
na contramão das premissas de sua individualidade e interioridade. Na tentativa
de sustentar a viabilidade de tais abordagens, retomam, uma vez mais, autores
clássicos, como Georg Simmel e sua ideia de “forma-motivação”, Emile Durkheim
e a noção de “fato social”, e Marcel Mauss, com a aposta nos “sentimentos como
linguagem”, terminando o capítulo com uma sequência de exemplos etnográficos
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 23 [ 2 ]: 647-652, 2013
650 que ilustram a culturalidade das emoções. De acordo com Simmel, toda interação
social teria uma forma e uma motivação; por isso, caberia à sociologia o estudo
Resenhas e Críticas Bibliográficas
desse binômio fluido, aplicável também à dimensão afetiva e ao estudo da não-
estabilidade dessas formas sociais. Para Durkheim, o fato social, como sabemos,
existiria fora das consciências individuais e teria força coercitiva, assim como as
emoções, que também encontram espaço no referido conceito, em que pese o
autor apartar a psicologia da sociologia. E por fim, para Mauss, o sentimento
teria uma expressão social na medida em que são ritualizados e seriam também
linguagem, através da qual o homem comunica suas emoções aos demais.
Em seguida, as autoras recorrem à análise da história de Romeu e Julieta,
enquanto mito de origem do amor romântico moderno, desenvolvida por
Viveiros de Castro e Benzaquem de Araujo (1977), a fim de recuperar o caráter
histórico do sentimento “amor”. Tecendo fios argumentativos a partir da leitura
holista/individualista de Louis Dumont, trazem à tona como o amor tem sido
experimentado a partir da modernidade, quando o ethos individualista conquista
espaço no Ocidente e pares analíticos como amor/família, corpo/nome e alma-
coração/corpo tomam outro desenho, dando uma suposta maior liberdade ao
homem, que, outrora, tinha sua noção de pessoa externamente determinada.
Nesse jogo, a ideia parece ser ressaltar, a partir também da tensão tipicamente
moderna apontada por Simmel, “entre saber-se igual e saber-se singular” (p.
58), como amar também pode ser historicamente determinado e os sentimentos
precisam ser historicizados e culturalizados. Nesse esforço de pontuar o caráter
social das emoções ou, ainda, que as “experiências emocionais são, a um só
tempo, subjetivas e sociais” (p. 74), recorrem aos estudos da própria Maria
Cláudia Coelho sobre o amor do fã que procura descolar-se da massa (p. 58);
ao debate de DaMatta sobre a saudade enquanto sentimento que brinca com a
temporalidade cronológica (p. 66) e, por último, à etnografia da própria Claudia
Rezende sobre a amizade no Rio de Janeiro e em Londres, quando o privado e o
público adquirem colorações distintas (p. 69).
No penúltimo capítulo, “A micropolítica das emoções”, a discussão gira
ao redor da capacidade de as emoções dramatizarem/alterarem/reforçarem a
dimensão macrossocial em que as emoções foram situadas. Para tanto, recuperam
as correntes teóricas das emoções, a saber, o essencialismo (as emoções teriam
uma estrutura universal e natural, preexistindo ao social), o historicismo e/ou
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 23 [ 2 ]: 647-652, 2013
relativismo (as emoções seriam um constructo cultural e histórico, a serem lidas, 651
por consequência, mediante um viés relativista) e, por último, o contextualismo
Resenhas e Críticas Bibliográficas
(inspirado numa leitura focaultiana, considera que as emoções, a um só tempo,
moldam e nomeiam o social, vindo, por isso, atravessadas por relações de poder,
hierarquias e concepções de moralidade que desenham fronteiras entre grupos).
Nessa esteira, procurando ressaltar o caráter micropolítico das emoções, as autoras
recorrem à discussão do sentimento de “gratidão” de Simmel enquanto subordinação
e mecanismo de coesão dos laços sociais diante da dádiva, para tematizar a troca de
presentes entre patroas e empregadas domésticas cariocas. Coelho é a responsável
pelo empreendimento investigativo recuperado nesse momento da obra. De
sua pesquisa teria ficado a perspectiva de que as patroas esperam a gratidão das
empregadas enquanto expressão de manutenção do laço de subordinação da última
para com ela, enquanto as empregadas, ao demonstrarem ingratidão (como é o
caso daquela que ganha um pacote de bolacha), contribuiriam para a ruptura da
ordem, do esperado ou previsível, dando margem para a dimensão micropolítica
das emoções, que tanto reatualizam como transformam a sociedade (p. 89).
Por fim, em “As emoções nas sociedades ocidentais modernas”, Rezende e
Coelho percorrem autores que tematizaram as emoções na sociedade moderna,
pontuando a diferença entre sentir e expressar; entre o controle das emoções, a
fase hedonista do prazer e a questão da autenticidade. Em um primeiro momento,
Richard Sennet é o autor recuperado, a partir da noção de “declínio do homem
público” e de que as emoções passam a ter espaço no doméstico, onde o que há
de mais profundo pode despontar, enquanto no público caberiam o controle e
o cultivo do socialmente predeterminado. Nas linhas das autoras, os “estranhos
passaram a ser mais misteriosos e a vida pública mais incerta, contrastando então
com o aconchego oferecido pela família” (p. 100). Há, como bem pontuam, uma
preocupação detida em descobrir-se e, assim, uma supervalorização do mundo
privado e advento do narcisismo. De outra parte, também partilha-se da ideia
de que o sujeito deve ter um controle emotivo, internalizado e automatizado,
ou, recorrendo a Elias, tanto a “racionalização” quanto a “psicologização” dos
comportamentos, a contenção e a necessidade de ajuste da conduta em função
dos outros e a partir do medo e da vergonha (p. 106). Dito de outro modo, “se a
vida torna-se menos perigosa, torna-se também menos prazerosa e essa é uma das
cicatrizes deixadas pelo processo civilizatório, na visão de Elias” (p. 108).
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 23 [ 2 ]: 653-657, 2013
652 Entretanto, paradoxalmente, para Coelho e Rezende, a sociedade moderna
é também o espaço da busca pelo prazer e o consumo, como sugerem as
Resenhas e Críticas Bibliográficas
interpretações de Duarte e Colin Campbell. E isso ainda se vê agregado ao
debate sobre autenticidade, quando, ao analisarem as relações amorosas na
esteira de Anthony Giddens e Zigmunt Bauman, Coelho e Rezende ressaltam
que mesmo, no amor, busca-se a individualidade ou o projeto pessoal, a despeito
de buscar-se, simultaneamente, segurança e “certeza” da contrapartida. Em
razão disso, com o advento da modernidade, as relações amorosas também são
pautadas pelo consumo. De um modo ou de outro, a busca parece ser, antes, pela
satisfação pessoal e, assim, “a vivência das relações amorosas nesses moldes ilustra
a articulação dos valores da autenticidade da expressão de si, do controle emotivo
e da ênfase no prazer e na satisfação característicos das experiências emotivas nas
sociedades ocidentais modernas” (p. 122).
Feito esse percurso por autores consagrados no campo da antropologia e da
sociologia, no esforço da desnaturalização das emoções enquanto sentimentos
universais e naturais, as autoras nos brindam, ao final da obra, com outra vivência
do amor trágico, a partir de Lila Abu-Lughod. Mais do que apontar para o caráter
estrutural e universal das emoções, esta sinaliza para a particularidade da expressão
dos sentimentos – que podem até matar –, como acontecera com um casal de
beduínos apaixonados, mas separados por questões políticas durante longos anos.
Essa passagem, assim todas as muitas outras apresentadas no livro, denota
a importância da compreensão das emoções in loco, (des)naturalizadas e (des)
internalizadas e, portanto, atravessadas pela história e pela possibilidade de
transformação social. Dessa maneira, trata-se de uma obra extremamente rica em
termos de exemplos etnográficos e da rentabilidade e importância da temática
das emoções para a compreensão de visões de mundo pluralizadas.
Em razão disso, em minha leitura, torna-se um marco no interior da teoria
antropológica, na medida em que sistematiza e adensa um campo de pesquisa,
enumerando autores e etnografias dedicadas ao assunto; no entanto, mais do que
isso, apresenta de que maneira as emoções atravessam outras searas de pesquisa
e despontam, por consequência, como solo profícuo de problematização da
pluralidade cultural, dos mecanismos de controle social e das artes do viver.
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 23 [ 2 ]: 653-657, 2013
Os vários mundos da saúde 653
Resenhas e Críticas Bibliográficas
BASTOS, F. I.
Saúde em Questão.
Rio de Janeiro: Claro Enigma / Fiocruz, 2012. 110 p.
| 1 Claudia Cristina de Aguiar Pereira, 2 Carla Jorge Machado |
1
Pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz). Endereço eletrônico: pereirac.claudia@gmail.com
2
Professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Endereço eletrônico: carlajmachado@gmail.com
Publicado em 2011, o livro Saúde em Questão, editado pela Claro Enigma em
parceria com a Editora Fiocruz, faz parte da nova coleção de ciências da Fundação
Oswaldo Cruz, que já conta com um volume anterior: Biodiversidade em questão.
O autor da obra, Francisco Inácio Bastos, também publicou mais de 200 artigos
em periódicos, além de outros livros e capítulos de livros. Em Saúde em questão,
o escritor aborda áreas correlacionadas, mas distintas, com desenvoltura. Através
de uma exposição clara, o pesquisador estabelece com leveza os parâmetros para
que se compreendam a vida e a saúde.
O livro se apresenta em sete capítulos, além de duas seções adicionais. Após
explicitar a necessidade de conceituar a saúde e a vida, no primeiro capítulo,
percorre um caminho lógico do que é “muito pequeno” em vista do ser humano
(átomos e moléculas) para o “muito maior” (o planeta Terra, do ponto de vista
do indivíduo), dos capítulos segundo ao sexto. O capítulo sétimo, didaticamente,
retoma a questão inicial: “Afinal, o que é a saúde?” As duas últimas seções do livro
(Sugestões de atividades e Sugestões de leitura) convidam o leitor a perceber, em
primeiro lugar, as diversas dimensões da vida e da saúde de forma prática. Em
segundo lugar, aprofundar-se em temas tratados no livro por meio de outras obras.
O primeiro capítulo (“O que é a saúde” ) reflete sobre o que é a vida e sobre
a falta de consenso em defini-la, exemplificando esta falta de unanimidade por
meio dos debates que existem sobre o que é “vida natural” e “vida artificial”.
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 23 [ 2 ]: 653-657, 2013
654 O autor faz uma anologia desta dificuldade de definição com a dificuldade
em se definir o que é a saúde, dizendo que definir a saúde pelo seu oposto, ou
Resenhas e Críticas Bibliográficas
seja, ausência de doença, embora tentador, é algo circular e incompleto. É como
definir um gato por não ser um cachorro ou como dizer que alguém baleado
não está saudável, ainda que este evento não caracterize doença. Finalmente,
o escritor comenta sobre a definição de saúde como o “silêncio dos órgãos”,
também problemática, proposta no século XIX. Essa definição é contrastada
pelo “silêncio” do sistema imunológico quando um indivíduo é infectado pelo
vírus HIV, por exemplo. Nesta situação, o “silêncio” é uma ausência de expressão
clínica de uma batalha travada entre o vírus e as células de defesa infectadas,
caracterizando, assim, uma expressão (silenciosa) da doença. O capítulo trata
ainda da definição da Organização Mundial da Saúde – “saúde como completo
bem-estar” – inaplicável ao mundo real. Apesar dos contrastes apresentados, o
leitor não se sente frustrado, pois o autor faz uma analogia do amor com a saúde:
difícil de definir, mas fácil de sentir.
A partir das ideias propostas no capítulo primeiro, o segundo (“O mundo
do muito pequeno”) aborda a composição do que existe no mundo – átomos e
moléculas –, buscando entender por que o “muito pequeno”, embora não diga
respeito à vida e à saúde (o autor problematiza o tema), interfere na constituição
do que é o nosso “eu”. Os elementos são importantes porque não conseguimos
sintetizá-los. Cita os exemplos dos oligoelementos, destacando o papel do zinco
e do flúor. Assim, Bastos consegue traduzir um tema complexo em algo muito
próximo do cotidiano do leitor, tais como os complexos vitamínicos.
Em sequência lógica, o terceiro capítulo cresce em dimensão (“O mundo do
pequeno”). Após explicar o que é homeostase, ATP, catálise e substratos e o ácido
lático (chamando atenção para atividade física após um período de inatividade),
os conceitos fluem bastante bem e é aí que se começa a entender o porquê das
alergias, da Aids e porquê, se há indivíduos vivos, é devido ao sistema imunológico
ter permitido. Ainda neste capítulo, o autor afirma que genoma não é algo vivo
e sim um roteiro, que orienta as células, traçando um paralelo entre uma planta
de arquitetura e uma construção. Explicita que, se o código genético de um
alimento é modificado (os transgênicos), o organismo vivo pode não “entender”
a nova mensagem e surgirão as alergias. Sem fazer alarde, mas deixando claras
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 23 [ 2 ]: 653-657, 2013
as implicações da engenharia genética, Bastos afirma que “é preciso ter alguma 655
paciência com os transgênicos”.
Resenhas e Críticas Bibliográficas
“Do meu e do seu tamanho” é o capítulo seguinte e trata do que está ao
nosso alcance ou ao nosso plano de visão, como os exames para diagnóstico, as
doenças transmissíveis e infecciosas e sua propagação, os surtos epidemiológicos
e as doenças transmitidas por alimentos contaminados. O que há de inovador
neste capítulo é a abordagem que se inicia no indivíduo e no seu significado
– indivisível – e se alastra pelo conceito de rede social. Rede social, na saúde,
atua permitindo a propagação de doenças e hábitos – tanto local quanto
global. Os exemplos de disseminação que autor aborda são o vírus da Aids, a
obesidade e a criminalidade.
Se no capítulo quarto a ideia eram as pessoas perto de nós, atuando em nossas
vidas por meio de contatos diretos, ou simplesmente compartilhando vetores ou
hábitos comuns, o capítulo seguinte aborda o que é a Saúde Pública, ou seja,
o que é “maior que eu”. As passagens são sempre pautadas pelas definições (o
que é saúde pública, prevalência e estigma, por exemplo). Bem elaborada é a
ideia do que (não) é o racismo e, finalmente, do que são o estigma social e a
discriminação. O capítulo é inquietante e o autor deixa claro: “as vítimas de
discriminação se sentem sós, tristes e desmotivadas”. E isso afeta a saúde.
O capítulo sexto trata do planeta Terra, e de temas como fotossíntese,
raios ultravioletas, câncer de pele, raquitismo, avançando em questões atuais e
preocupantes, como o buraco na camada de ozônio e o aquecimento global.
Enfim, refere-se a algo “bem maior do que eu”. Bastos cita desastres ecológicos e
comenta, sem grande assombro e sem assustar o leitor (ele não se considera um
pessimista), os efeitos de curto e longo prazo na saúde das pessoas. Segundo o
autor: “estamos no fim das contas forçando a velha Terra a nos mandar mais
cedo para o vestiário”.
“Afinal, o que é saúde” é o título do sétimo capítulo, que vem somar os
elementos trazidos nos capítulos anteriores, levando o leitor não a uma definição
estanque, mas ao seu próprio entendimento do que é saúde. O que não é difícil,
pois tudo o que é necessário para esta concepção ficou bem explicado ao longo
dos capítulos anteriores. A ideia de que a saúde é uma construção harmônica e
organizada emerge naturalmente.
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 23 [ 2 ]: 653-657, 2013
656 Ao final da leitura, percebe-se que o autor seguiu uma linha de raciocínio
e ordenamento lógico criativos, abordando temas que vão desde as partículas
Resenhas e Críticas Bibliográficas
subatômicas até as estrelas. Ao percorrer os mundos que variam do muito
pequeno ao muito grande, Bastos faz um passeio pela Inglaterra da Revolução
Industrial, o porto de Minamata, no Japão, poluído por causa do mercúrio, até
o espaço sideral, registrando os efeitos da ausência de gravidade no corpo dos
astronautas. Em uma abordagem ampla, chegou até mesmo diferenciar símios
(apes, em inglês) de macacos (monkeys). Por outro lado, em alguns pontos, o
autor mostrou-se repetitivo, como no caso das bombas americanas lançadas sobre
Hiroshima e Nagasaki.
Necessário registrar ainda que o escritor deixou de mencionar alguns nomes
importantes da História, principalmente no quarto capítulo, onde trata das
infecções. Por exemplo: poderia ter informado ao leitor sobre o papel de pessoas
como a enfermeira britânica Florence Nightingale, que durante a guerra da
Crimeia, constatou que a falta de higiene no tratamento de feridos provocava
doenças tão ou mais letais aos soldados que as próprias feridas, advocando, assim,
mudanças que salvaram muitas vidas. Também esteve ausente a contribuição
pioneira do médico Ignaz Phillip Semmelweiss, que observou a transmissão
de doenças nos hospitais causada pela falta de esterilização dos equipamentos
cirúrgicos e de assepsia pelos médicos, por não seguirem atos simples como
desinfetar as mãos.
A obra seria enriquecida se, nesse mesmo capítulo, houvesse menção da
batalha de anos entre os defensores de que a transmissão de doenças acontecia
através de micróbios, como John Snow, contra os que defendiam a teoria dos
miasmas, dentre os quais estava Edwin Chadwick, e que levou muito tempo para
ser refutada. Os miasmistas defendiam que doenças como a cólera eram causadas
por mau cheiro ou miasma. Tal crença está relacionada a milhares de mortes por
cólera em Londres e Paris, afetando até mesmo o Rio de Janeiro nos tempos do
sanitarista Oswaldo Cruz.
A descoberta dos antibióticos, ocorrida por acaso, como a penicilina, pelo
médico escocês Alexander Fleming, é também uma ausência sentida na obra.
Outra ausência decorre do fato de o autor, embora tenha feito observações
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 23 [ 2 ]: 653-657, 2013
importantes sobre elementos como o zinco e flúor no segundo capítulo, não 657
se ter dedicado ao sódio (cloreto de sódio), cujo papel no funcionamento do
Resenhas e Críticas Bibliográficas
organismo é imprescindível.
Apesar de algumas lacunas, até mesmo esperadas pela abrangência de temas
contemplados na obra, o livro pode e deve ser utilizado como material auxiliar aos
estudantes do ensino médio, como o próprio autor sugere. Contudo, o papel da
obra é muito maior. É um convite a todos, não apenas estudantes, a atualizarem
seus conceitos de vida e de saúde por intermédio de uma perspectiva integrada
e sequencial, que vai do muito pequeno ao muito grande, com notável fluidez,
tornando a leitura leve e agradável.1
Nota
1
As autoras participaram igualmente de todas as etapas de elaboração desta resenha.
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 23 [ 2 ]: 653-657, 2013
Você também pode gostar
- SCARED - Versao para PaisDocumento2 páginasSCARED - Versao para PaisKelly Fiorin88% (24)
- A Psicologia Do Amor YalomDocumento29 páginasA Psicologia Do Amor YalomThiago IgnacioAinda não há avaliações
- GoétiaDocumento13 páginasGoétiaL2DAinda não há avaliações
- Seminário - As Paixões OrdináriasDocumento7 páginasSeminário - As Paixões OrdináriasAugustoAinda não há avaliações
- Boleto Pe1a LT Com023Documento1 páginaBoleto Pe1a LT Com023Tiago FreitasAinda não há avaliações
- Aula Sobre GrotescoDocumento62 páginasAula Sobre GrotescorenatozfAinda não há avaliações
- O Jeito Do Corpo e o Jeitinho BrasileiroDocumento141 páginasO Jeito Do Corpo e o Jeitinho BrasileiroRose PradoAinda não há avaliações
- Antropologia Do CorpoDocumento5 páginasAntropologia Do CorpoFrancisco PazAinda não há avaliações
- Antropologia Das EmoçõesDocumento17 páginasAntropologia Das EmoçõesCássio GuimarãesAinda não há avaliações
- CPSocial02 PDFDocumento207 páginasCPSocial02 PDFSandro Olímpio SIlva VasconcelosAinda não há avaliações
- Conto de Fadas PDFDocumento14 páginasConto de Fadas PDFCayo Henrrique100% (1)
- Marketing de RelacionamentoDocumento15 páginasMarketing de RelacionamentoSergio Alfredo Macore100% (1)
- Modelo - ReciboDocumento2 páginasModelo - ReciboAndre MendezAinda não há avaliações
- Abate Humanitário de Bovinos (Cartilha)Documento138 páginasAbate Humanitário de Bovinos (Cartilha)Priscila LessaAinda não há avaliações
- Marcio Seligmann Silva Mal Estar Na CulturaDocumento18 páginasMarcio Seligmann Silva Mal Estar Na CulturaFernando FragaAinda não há avaliações
- Corporeidade ContemporâneaDocumento16 páginasCorporeidade ContemporâneaJoão Paulo Rodrigues BarrosAinda não há avaliações
- Desterros Natalia Timerman WebDocumento97 páginasDesterros Natalia Timerman WebDiego Crux0% (1)
- Paulo FreireDocumento19 páginasPaulo FreireRosângela Nogarini HilárioAinda não há avaliações
- Contracheque 082019Documento1 páginaContracheque 082019Paulo CésarAinda não há avaliações
- Notas Sobre Intercessores Importante PDFDocumento14 páginasNotas Sobre Intercessores Importante PDFLeandro Gorsdorf100% (1)
- A Antropologia Das Emoções No Brasil - MAURO GUILHEREME PNHEIRO KOURY 2005Documento15 páginasA Antropologia Das Emoções No Brasil - MAURO GUILHEREME PNHEIRO KOURY 2005Alberto Bernardino OhacoAinda não há avaliações
- Aula 5 (Motivação)Documento37 páginasAula 5 (Motivação)Daniel Teles100% (1)
- ABU-LUGHOD Lila & LUTZ, Catherine - Introdução - Emoção, Discurso e Políticas Da Vida CotidianaDocumento16 páginasABU-LUGHOD Lila & LUTZ, Catherine - Introdução - Emoção, Discurso e Políticas Da Vida CotidianaWilliane PontesAinda não há avaliações
- Entrevista - O Grande Salto para o Caos - Maria Da Conceição TavaresDocumento7 páginasEntrevista - O Grande Salto para o Caos - Maria Da Conceição TavaresCastoroil7100% (1)
- Resenha Antropologia Dos SentidosDocumento8 páginasResenha Antropologia Dos SentidosizlacerdaAinda não há avaliações
- Koury Organizador - Tempos de PandemiaDocumento243 páginasKoury Organizador - Tempos de PandemiaWilliane PontesAinda não há avaliações
- Mauro Koury - Das Subjetividades Às EmoçõesDocumento19 páginasMauro Koury - Das Subjetividades Às EmoçõesWilliane PontesAinda não há avaliações
- Cultura Emotiva, Estilos de Vida e Individualidade PDFDocumento6 páginasCultura Emotiva, Estilos de Vida e Individualidade PDFJainara OliveiraAinda não há avaliações
- 15 A Clinica Do Corpo Sem Orgaos Entre LacosDocumento26 páginas15 A Clinica Do Corpo Sem Orgaos Entre LacosMilton Ferreira100% (1)
- As Experiecnias Etnograficas de Ruth Benedict e Margaret MeadDocumento22 páginasAs Experiecnias Etnograficas de Ruth Benedict e Margaret MeadAthos Felipe Martins100% (2)
- O Lugar Dos Sujeitos Brancos Na Luta AntirracistaDocumento10 páginasO Lugar Dos Sujeitos Brancos Na Luta AntirracistaCamila Bastos BacellarAinda não há avaliações
- Festas, dramaturgias e teatros negros na cidade de São Paulo: OlaegbékizombaNo EverandFestas, dramaturgias e teatros negros na cidade de São Paulo: OlaegbékizombaAinda não há avaliações
- Corpos Trans-Formados No CinemaDocumento173 páginasCorpos Trans-Formados No CinemaRose OliveiraAinda não há avaliações
- E1 - Da Revolução Republicana de 1910 À Ditadura Militar de 1926Documento4 páginasE1 - Da Revolução Republicana de 1910 À Ditadura Militar de 1926Patricia Soares100% (1)
- Estruturacao Do Self de Lygia Clark Uma PDFDocumento17 páginasEstruturacao Do Self de Lygia Clark Uma PDFAnelise VallsAinda não há avaliações
- A Apropriação Do Mito de Ceridwen em As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer BradleyDocumento11 páginasA Apropriação Do Mito de Ceridwen em As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer BradleyDemetra YemahaAinda não há avaliações
- Helena Katz - Toda Coreografia É SocialDocumento11 páginasHelena Katz - Toda Coreografia É SocialRodrigo BernardiAinda não há avaliações
- Vanguarda Ou Terapia? - Arte TerapiaDocumento6 páginasVanguarda Ou Terapia? - Arte TerapiaJosé Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- Sociologia Das Emoções Relevância Teórico Acadêmica e Perspectivas de Análise.Documento20 páginasSociologia Das Emoções Relevância Teórico Acadêmica e Perspectivas de Análise.Gabriel PintoAinda não há avaliações
- A Emoção Como Função SuperiorDocumento12 páginasA Emoção Como Função SuperiorAndré Barros LeoneAinda não há avaliações
- Fabricantes de Endereço MACDocumento2.268 páginasFabricantes de Endereço MACanon_997176975Ainda não há avaliações
- Por Uma Epistemologia Do InvisívelDocumento6 páginasPor Uma Epistemologia Do InvisívelCéu CavalcantiAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre Desenraizamento E Bioetica NovoDocumento10 páginasReflexões Sobre Desenraizamento E Bioetica NovoAndré OliveiraAinda não há avaliações
- Caos e Complexidade Nas Organizações PDFDocumento10 páginasCaos e Complexidade Nas Organizações PDFolivia-pezzin-9061Ainda não há avaliações
- Le BretonDocumento9 páginasLe BretonAndreia DuarteAinda não há avaliações
- A Construção Da Equidade Nas Relações de Gênero e o Movimento Feminista No Brasil: Avanços e Desafios.Documento25 páginasA Construção Da Equidade Nas Relações de Gênero e o Movimento Feminista No Brasil: Avanços e Desafios.MozerAinda não há avaliações
- Qual A Importância Da Filosofia para A Psicologia PDFDocumento3 páginasQual A Importância Da Filosofia para A Psicologia PDFconta cadastroAinda não há avaliações
- Arlie Russell Hochschild e A Sociologia Das Emoções ArtigoDocumento16 páginasArlie Russell Hochschild e A Sociologia Das Emoções ArtigoFranciele DiasAinda não há avaliações
- Atlas Escolar Do Munic Pio de Duque de CaxiasDocumento63 páginasAtlas Escolar Do Munic Pio de Duque de CaxiasLu Flores100% (2)
- Lygia CLRCK - Suely RolnikDocumento9 páginasLygia CLRCK - Suely RolnikespacionixsoAinda não há avaliações
- Estranhos A Nossa Porta de Zygmunt BaumanDocumento3 páginasEstranhos A Nossa Porta de Zygmunt BaumanBruno OliveiraAinda não há avaliações
- Elisa Belém - A Noção de Embodiment e Questões Sobre Atuação - Rev Sala Preta USP - 2011 PDFDocumento13 páginasElisa Belém - A Noção de Embodiment e Questões Sobre Atuação - Rev Sala Preta USP - 2011 PDFValentina PagliereAinda não há avaliações
- RIBEIRO, PAULO. Pornografia RacialDocumento18 páginasRIBEIRO, PAULO. Pornografia RacialraisaAinda não há avaliações
- Teixeira Leticia Angel Vianna Mestrado UnirioDocumento87 páginasTeixeira Leticia Angel Vianna Mestrado UnirioCadu MelloAinda não há avaliações
- A Solidão Como Arma Política (Zine)Documento6 páginasA Solidão Como Arma Política (Zine)NataliaailataNAinda não há avaliações
- SILVA, M. A. TULESKI, S. C. Patopsicologia Experimental - Abordagem Histórico-Cultural para o Entendimento Do Sofrimento Mental PDFDocumento10 páginasSILVA, M. A. TULESKI, S. C. Patopsicologia Experimental - Abordagem Histórico-Cultural para o Entendimento Do Sofrimento Mental PDFUnknown020Ainda não há avaliações
- História Da Feiúra - ECODocumento46 páginasHistória Da Feiúra - ECOAnderson Jonas SilvaAinda não há avaliações
- David Le Breton - Sinais de IdentidadeDocumento1 páginaDavid Le Breton - Sinais de IdentidadeItamersonMacellAinda não há avaliações
- O Grupo Como Espaço de ResistênciaDocumento19 páginasO Grupo Como Espaço de Resistênciaisabella_pessan2823Ainda não há avaliações
- Audre Lorde - A Transformação Do Silêncio em Linguagem e AçãoDocumento4 páginasAudre Lorde - A Transformação Do Silêncio em Linguagem e AçãoZanza GomesAinda não há avaliações
- Adriana Vianna - Lendo Veena DasDocumento20 páginasAdriana Vianna - Lendo Veena DasEverton RangelAinda não há avaliações
- Por Uma Antropologia Do Sujeito - MalufDocumento28 páginasPor Uma Antropologia Do Sujeito - MalufluizgustavopscAinda não há avaliações
- (2009) Boechat - Eros, Poder e o Racismo Cordial - Aspectos Da Formação Da Identidade BrasileiraDocumento7 páginas(2009) Boechat - Eros, Poder e o Racismo Cordial - Aspectos Da Formação Da Identidade BrasileiraRaisa CardosoAinda não há avaliações
- A Cosntituição Do Ser Na Perspectiva VygotskyanaDocumento11 páginasA Cosntituição Do Ser Na Perspectiva VygotskyanaAngelo PapimAinda não há avaliações
- Espaço, Memória e IdentidadeDocumento12 páginasEspaço, Memória e IdentidadeCorina MoreiraAinda não há avaliações
- Ana Lucia Rocha - Corpo Criando Intimidade ConsigoDocumento9 páginasAna Lucia Rocha - Corpo Criando Intimidade ConsigoLivia ValleAinda não há avaliações
- DAS-Encarando A Covid-19Documento8 páginasDAS-Encarando A Covid-19Anonymous hnTZkWvAinda não há avaliações
- Hedonismo Competente Tese PDFDocumento558 páginasHedonismo Competente Tese PDFmadequal2658Ainda não há avaliações
- Elaboracao Do Processo de Luto Apos Uma Perda FetaDocumento11 páginasElaboracao Do Processo de Luto Apos Uma Perda FetaThiago IgnacioAinda não há avaliações
- TMT Teste de TrilhasDocumento34 páginasTMT Teste de TrilhasThiago Ignacio100% (8)
- O Amor Pode Ser AprendidoDocumento5 páginasO Amor Pode Ser AprendidoThiago IgnacioAinda não há avaliações
- As Bases Neuropsicologicas Da EmocaoDocumento8 páginasAs Bases Neuropsicologicas Da EmocaoThiago IgnacioAinda não há avaliações
- Porque Eu Sou Behaviorista RadicalDocumento7 páginasPorque Eu Sou Behaviorista RadicalThiago IgnacioAinda não há avaliações
- Matematica FinanceiraDocumento78 páginasMatematica FinanceiraThiago IgnacioAinda não há avaliações
- ParalelismoDocumento28 páginasParalelismoJunior e NiseAinda não há avaliações
- Calendario Descritivo 2021 1Documento6 páginasCalendario Descritivo 2021 1Diely LourençoAinda não há avaliações
- Legislação PenalDocumento317 páginasLegislação PenalMatheus TrindadeAinda não há avaliações
- Contrato Locacao Espaco Virtual PTDocumento7 páginasContrato Locacao Espaco Virtual PTJessica Salas100% (1)
- CPC 00 r2 Estrutura ConceitualDocumento40 páginasCPC 00 r2 Estrutura ConceitualEconomia Unespar 2018AAinda não há avaliações
- Fispq - B-821 - Detergente DesoxidanteDocumento7 páginasFispq - B-821 - Detergente DesoxidanteJacqueline NascimentoAinda não há avaliações
- Certificado de Reconhecimento Covid 19 - PreenchidosDocumento468 páginasCertificado de Reconhecimento Covid 19 - PreenchidosServiço de Psicologia HDEAMAinda não há avaliações
- Esboço - Dizimo (By - Hércules Botelho Couto)Documento8 páginasEsboço - Dizimo (By - Hércules Botelho Couto)Couto NetworkAinda não há avaliações
- Monografia - Um Estudo Das Representações de Akhenaton No BrasilDocumento69 páginasMonografia - Um Estudo Das Representações de Akhenaton No BrasilMaria IsabelAinda não há avaliações
- Balanca de Pagamentos PDFDocumento20 páginasBalanca de Pagamentos PDFMaud UateAinda não há avaliações
- John RobsonDocumento14 páginasJohn RobsonJoel Nascimento Dos SantosAinda não há avaliações
- Teo&exe 1 Lista de Literatura Obrigatória-1Documento3 páginasTeo&exe 1 Lista de Literatura Obrigatória-1Francisco FernandesAinda não há avaliações
- Fichamento - Liliana Minardi Paesani - Direito e Internet: Liberdade de Informação, Privacidade e Responsabilidade CivilDocumento8 páginasFichamento - Liliana Minardi Paesani - Direito e Internet: Liberdade de Informação, Privacidade e Responsabilidade CivilEduardoAinda não há avaliações
- Aula 5Documento36 páginasAula 5Kátia PinaAinda não há avaliações
- Motivos Baixa Frequencia - Sistema PresençaDocumento3 páginasMotivos Baixa Frequencia - Sistema PresençaCaucaia BAAinda não há avaliações
- 09 SETEMBRO Guia #3 - AdmiraçãoDocumento2 páginas09 SETEMBRO Guia #3 - AdmiraçãoTássyoAlmeidaAinda não há avaliações
- Unid 4Documento42 páginasUnid 4Eliana TarginoAinda não há avaliações
- Perfil SongwriterDocumento2 páginasPerfil SongwriterEdnilson ValiaAinda não há avaliações
- 2c2ba Ano Atividade para Nota Rev IndustrialDocumento1 página2c2ba Ano Atividade para Nota Rev IndustrialBianca figueiredoAinda não há avaliações
- Direito de FamíliaDocumento57 páginasDireito de FamíliaVictor Daniel OliveiraAinda não há avaliações