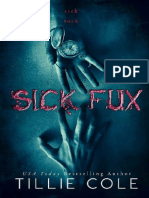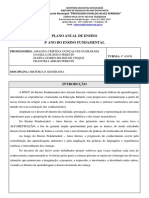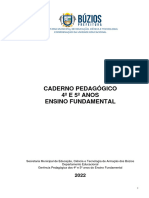Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sociolinguistica A Lingua e Suas Variacoes PDF
Sociolinguistica A Lingua e Suas Variacoes PDF
Enviado por
Tássio Bruno0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações5 páginasTítulo original
sociolinguistica-a-lingua-e-suas-variacoes.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações5 páginasSociolinguistica A Lingua e Suas Variacoes PDF
Sociolinguistica A Lingua e Suas Variacoes PDF
Enviado por
Tássio BrunoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
SOCIOLINGUÍSTICA – A LÍNGUA E SUAS VARIAÇÕES
Prof. Ângelo Renan A. Caputo
Especialista em Linguística Textual
Qualquer comunidade formada por indivíduos socialmente organizados dispõe
de recursos e métodos para os processos comunicativos que lhes são próprios. Estes
se valem das mais diversas possibilidades significativas para facilitar este processo
entre seus constituintes e agilizar a interação entre si.
Sem dúvida, a língua é o instrumento mais utilizado por estas comunidades e,
como as mesmas são heterogêneas, multifacetadas e sujeitas a constantes
modificações, ela (a língua) sofre, interna e externamente, a influência dessas
mudanças, conservando apenas a sua estrutura básica. É através de seus complexos
sistemas de signos que a língua preenche as necessidades mais rudimentares e os
mais complicados arranjos e combinações que se formam na mente humana para
expressar seus sentimentos, seus pensamentos e suas vontades. Portanto, torna-se
incompreensível a tentativa de uniformização e padronização da língua, uma vez que
é ela também produto dessas comunidades, é o retrato da história, da evolução que
caracteriza esses grupos sociais e das manifestações políticoculturais dos mesmos. A
esse respeito, afirma Houaiss (2008):
Pela língua o homem exerce um poder de significação
que transcende a função de nomear os dados ‘objetivos’ de
sua experiência cotidiana: o papel da linguagem na
expressão de ‘conceitos potencialmente significativos’ torna
o ser humano capaz de criar os universos de sentido que
circulam na sociedade sob a forma de enunciados/textos.
Como se pode depreender, é a língua instrumento bastante capaz, senão
quase único, de transmitir e representar todas as situações sociais, culturais,
religiosas, enfim, de qualquer âmbito, que são reflexos da vida em comunidade,
principalmente das sociedades que se estabelecem na contemporaneidade tão
marcada pela tecnologia e cientificismo em que as mudanças e transformações são
muito rápidas e velozes.
O próprio homem, no seu ciclo vital, é passível de modificações e
transformações, enquanto tomado como indivíduo, considerando as diversas etapas
do crescimento: infância, adolescência, juventude e velhice. Em cada uma dessas
fases, a linguagem de que ele se vale para interagir nos grupos que são
característicos e próprios de cada idade também é fator determinante de sua
aceitação entre os elementos que constituem esses grupos. Daí poder-se afirmar que
a língua, como organismo vivo que é, é passível de variações que se determinam
através dos mais intrincados mecanismos sociais e físicos. Essas variações têm sido
objeto de estudo de vários linguistas agrupados em uma ciência denominada
sociolinguística que apresenta estreita relação com a etnolinguística. A primeira tem
preocupação principal com o uso da língua na sociedade e, a segunda, com o uso da
língua em conformidade com a cultura do indivíduo falante. Neste artigo, a
preocupação restringe-se à sociolinguística e seu objeto de estudo. Quanto ao
conceito de sociolinguística, assim afirmam Votre e Cezario (2009, p. 141):
A sociolinguística é uma área que estuda a língua
em seu uso real, levando em consideração as relações entre
a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais da
produção linguística. Para essa corrente, a língua é uma
instituição social e, portanto, não pode ser estudada como
uma estrutura autônoma, independente de contexto
situacional, da cultura e da história das pessoas que a
utilizam como meio de comunicação.
Uma vez que esse conceito toma como escopo a sociedade, é importante que
se enfatize, nesta matéria, as diferentes variações que se processam na língua e se
dê um espaço para o estudo das situações e fatores que ocasionam tais mudanças.
Assim sendo, temos:
1. Variações lexicais - são mudanças que se realizam através do léxico, ou
vocabulário usado por pessoas de diferentes regiões geográficas, em que o
mesmo objeto recebe denominações diferentes e, às vezes, desconhecidas em
regiões próximas ou distantes. Tal situação está presente nos seguintes
exemplos:
- pão cabrito (no Rio Grande do Sul) tem a denominação de pão sovado no
resto do país.
- mandioca (na fronteira com o Uruguai) e aipim (nas demais regiões do país)
- lomba em Porto Alegre e lombada nos estados de São Paulo e Rio de
Janeiro
* Normalmente coloca-se, neste grupo, o uso de sinônimos para nomes e
verbos.
2. Variações fonético-fonológicas - são variações que se processam na
pronúncia de determinados fonemas da língua. Variações estas que se verificam pela
grande concentração de imigrantes oriundos dos mais diversos países e que tomam a
língua local como instrumento de comunicação. Elas são freqüentes quando há
necessidade de pronunciar o fonema /f/ que é trocado pelo fonema /v/, principalmente
por grupos de imigrantes da Alemanha e Itália, assim como a troca de /t/ por /d/ e a
pronúncia de alguns fonemas vocálicos em que a pronúncia pode se dar aberta ou
fechada, muito comum no uso de falantes de espanhol que se valem da língua
portuguesa. Incluímos, ainda, as diferentes pronúncias de fonemas nas diferentes
regiões do Brasil.
3. Variações morfológicas - este tipo de variação se dá na constituição do
vocábulo, através de processos de derivação, sendo a mais frequente a sufixação,
como é o caso de:
- verbos irregulares que são flexionados obedecendo os paradigmas dos verbos
regulares, como se dá nas seguintes formas:
ansio em vez de anseio
pentio em vez de penteio
nós fiquemos em vez de nós ficamos
nós cheguemos em vez de nós chegamos.
- acréscimo de sufixos ao radical primário dos vocábulos. Assim:
pegajoso - peguento - pegajento
morto - matado (casos de duplo particípio)
liso - alisado (idem)
4. Variações sintáticas – conforme o nível social e de escolaridade do falante,
muitas vezes, as estruturas sintáticas não se dão da forma que seria conveniente,
conforme é estabelecido pela própria gramática da língua. É o que ocorre em:
- O homem que a casa foi destruída falou com meu pai.
– em lugar de:
O homem cuja casa foi destruída, falou com meu pai.
Este tipo de variação também ocorre nos casos de concordância nominal e
verbal, como se vê em:
- Nós era seis lá em casa.
- Os home estava muito confuso.
A partir dessas considerações, pode-se enquadrar essas variantes nas
seguintes classes:
a) Variantes diatópicas – são variações que ocorrem de região para região, dentro de
um mesmo estado, ou mesmo dentro de um determinado país, como é o caso das
diferenças regionais entre Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e demais
estados nordestinos. É o caso do léxico empregado pelos gaúchos, pelos paulistanos,
pelos cariocas e pelos nordestinos que designa o mesmo objeto com vocábulos
diferentes.
b) Variantes diastráticas – são variações linguísticas que ocorrem entre diferentes
camadas sociais, que se valem de gírias e jargões para identificar e caracterizar os
grupos constituídos.
c) Variações diafásicas – estas ocorrem dentro da própria língua e está na
dependência do grau de formalidade e informalidade dos falantes da língua. Cada uma
apresenta formações vocabulares e sintáticas que lhes são inerentes. A linguagem
formal é mais rigorosa e procura obedecer as normas gramaticais tanto na oralidade
quanto na escrita. Já a linguagem informal é mais descuidada, menos monitorada,
mas espontânea.
O que se pode afirmar, a partir desses estudos, é que tanto na oralidade
quanto na escrita, a língua obedece determinados níveis no processo comunicativo,
daí proporem, alguns linguistas, uma classificação mais didática no que se refere aos
níveis de linguagem. Tem-se então duas posições distintas: a língua apresenta
diferentemente dois níveis: a língua falada e a língua escrita.
Para a língua falada (oralidade), temos as seguintes possibilidades de
classificação.
a) Lingua formal – culta – é a língua utilizada pelos falantes que detêm alto grau
de instrução e representatividade social e política. São pessoas que
normalmente frequentam os meios culturais voltados para as artes em geral.
b) Língua coloquial (informal) – menos prolixa, mais descuidada. Usada com
freqüência pelas camadas sociais menos prestigiadas. Normalmente circula
nas rodas de amigos e colegas em mesas de bares ou reuniões informais. Não
é tão rigorosa quanto às normas gramaticais, permitindo deslizes quanto à
concordância verbal e nominal e, em alguns casos, até mesmo incorreções
quanto à regência de determinados nomes e verbos.
c) Gíria – tem como característica principal ser considerada efêmera, passageira.
Sua compreensão se dá apenas nos grupos em que ela circula. Há casos de
gírias, inclusive, em determinados ramos profissionais.
d) Regionalismos – estes, circunscritos a determinadas regiões geográficas,
caracterizam as diversas culturas que constituem a etnia nacional.
Para a língua escrita, tem-se somente duas possibilidades de subdivisões:
a) Língua formal culta – como a língua falada, obedece rigorosamente os
preceitos da gramática de base. Exageradamente monitorada, exige
planejamentos e métodos adequados aos gêneros em que se enquadram as
produções.
b) Língua informal – nada semelhante à anterior, é despretensiosa.
Normalmente os usuários dessa modalidade tentam fazer uma aproximação
com a língua falada coloquial. Não há exageros quanto à normatividade
gramatical.
Neste estudo, tentou-se mostrar a variabilidade da língua em relação a
aspectos individuais do falante e, principalmente, a aspectos sociais, que são os
maiores responsáveis pelas mudanças não só do comportamento do homem, mas
também exige uma adequação da linguagem conforme o momento em que o
mesmo interage, levando-se em conta todas as relações contextuais. Fica,
portanto, a certeza de que qualquer pretensão de uniformizar a língua é, senão
utópica, inviável, visto as diversas influências sofridas em sua constituição e
estruturas. Outros aspectos há que interferem nas variações e que aqui, por
motivos outros, não foram contemplados. Eles existem e são tão importantes
quanto os referendados.
Bibliografia
AZEREDO, José Carlos de, Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, São
Paulo: Publifolha, 2008
LYONS, John, Linguagem e Linguística, direitos exclusivos para a língua
portuguesa by Zahar Editores S. A., Rio de Janeiro: 1981.
MARTELOTTA, Mário Eduardo (org.), Manual de Linguística, 1ª ed., 2ª
reimpressão – São Paulo: Contexto, 2009.
SAVIOLI, Francisco Platão & FIORIM, José Luiz, Lições de Texto: leitura e
redação -5ª ed. – São Paulo: Ática, 2006
Você também pode gostar
- Resumo Farmaco CompletoDocumento345 páginasResumo Farmaco CompletoSara Pollastreli67% (3)
- 2.manual TCC 2017 FceDocumento18 páginas2.manual TCC 2017 FceWagner CostaAinda não há avaliações
- The (BR) Ack Hack Final (Sem Ilustrações) v1.0 PDFDocumento126 páginasThe (BR) Ack Hack Final (Sem Ilustrações) v1.0 PDFAndré AngellisAinda não há avaliações
- Desenvolvimento de VocabularioDocumento19 páginasDesenvolvimento de VocabularioPeixePTAinda não há avaliações
- Inglês - Lendo Textos Com Técnicas de Leitura ENEMDocumento18 páginasInglês - Lendo Textos Com Técnicas de Leitura ENEMGabriella FeitosaAinda não há avaliações
- Jovem Aprendiz NUCLEP 2019Documento12 páginasJovem Aprendiz NUCLEP 2019Julyane CarvalhoAinda não há avaliações
- Fundamentos Históricos, Biológicos e Legais Da Surdez: Liliane Assumpção OliveiraDocumento152 páginasFundamentos Históricos, Biológicos e Legais Da Surdez: Liliane Assumpção OliveiraEduardo CruzAinda não há avaliações
- Complemento - Matemática 4 Ano Pronto PDFDocumento59 páginasComplemento - Matemática 4 Ano Pronto PDFLeandro CostaAinda não há avaliações
- Filosofia Africana Correntes AldibeniaDocumento24 páginasFilosofia Africana Correntes AldibeniaRenato Noguera100% (1)
- Trabalho Sobre Metodologia CientíficaDocumento16 páginasTrabalho Sobre Metodologia CientíficaDébora IsabelAinda não há avaliações
- 6 Ano - PortuguêsDocumento8 páginas6 Ano - PortuguêsMariza MinozzoAinda não há avaliações
- Oficina N 4 Teatro Alfabetizacao e LetramentoDocumento10 páginasOficina N 4 Teatro Alfabetizacao e LetramentoFlávio Daniel KollingAinda não há avaliações
- Exerc Coord SubordDocumento4 páginasExerc Coord SubordClau OliveiraAinda não há avaliações
- Esboço para Teologia ExegéticaDocumento13 páginasEsboço para Teologia ExegéticaFabio PaivaAinda não há avaliações
- Semântica e Ensino - Ana MullerDocumento56 páginasSemântica e Ensino - Ana MullerElcieres100% (1)
- A Caixa de PandoraDocumento4 páginasA Caixa de PandoraSandra PepesAinda não há avaliações
- Lenda Urbana: Xuxa BruxaDocumento15 páginasLenda Urbana: Xuxa BruxaShirlei Massapust100% (1)
- 1 AnoDocumento16 páginas1 AnoAna BeatrizAinda não há avaliações
- Diss Jessica Sabrina Oliveira MenezesDocumento145 páginasDiss Jessica Sabrina Oliveira MenezesBrenda Carlos de AndradeAinda não há avaliações
- Glossário Yorùbá1Documento10 páginasGlossário Yorùbá1Dami FaladeAinda não há avaliações
- 12.baladão 2021Documento33 páginas12.baladão 2021Mariana VieiraAinda não há avaliações
- Plano Anual de Ensino 4º Ano Do Ensino Fundamental: Escola Municipal "Professor Osvaldo Alves Ferreira"Documento9 páginasPlano Anual de Ensino 4º Ano Do Ensino Fundamental: Escola Municipal "Professor Osvaldo Alves Ferreira"Luana MarquesAinda não há avaliações
- AlfabetizaçãoDocumento61 páginasAlfabetizaçãoCarolina LúciaAinda não há avaliações
- Producao Do Texto em Lingua Inglesa OnlineDocumento284 páginasProducao Do Texto em Lingua Inglesa OnlineJoão Paulo RobertoAinda não há avaliações
- Atividades Diversas 5 Ano Semana 9 Maio 03-05-21 2 Compressed PDFDocumento30 páginasAtividades Diversas 5 Ano Semana 9 Maio 03-05-21 2 Compressed PDFElaine CristinaAinda não há avaliações
- Field WorkDocumento2 páginasField Workvicentebernardo0077Ainda não há avaliações
- Caderno PedagógicoDocumento43 páginasCaderno PedagógicoEliana Silva RibeiroAinda não há avaliações
- OrtografiaDocumento22 páginasOrtografiaHeldelene Rocha CavalcantiAinda não há avaliações
- 06A Familia Linguistica Caribe Karib Sergio MeiraDocumento18 páginas06A Familia Linguistica Caribe Karib Sergio MeiraCamila Jácome100% (1)
- Teste BrunitoDocumento3 páginasTeste BrunitoDavid BatistaAinda não há avaliações