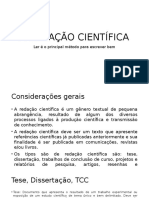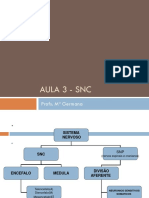Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizaçõesResenha de Teoria Da Literatura
Resenha de Teoria Da Literatura
Enviado por
Igor MirandaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você também pode gostar
- Exercícios GeraisDocumento56 páginasExercícios GeraisSilveston Silva100% (4)
- Presença e Campo TranscendentalDocumento1 páginaPresença e Campo TranscendentalIgor Miranda0% (1)
- 6º Ano CienciasDocumento3 páginas6º Ano CienciasMaria A AparecidaAinda não há avaliações
- BAKHTIN, Mikhail. Estética Da Criação Verbal. São Paulo. Martins Fontes, 2003Documento3 páginasBAKHTIN, Mikhail. Estética Da Criação Verbal. São Paulo. Martins Fontes, 2003Igor MirandaAinda não há avaliações
- RICOUER - Percurso Do ReconhecimentoDocumento1 páginaRICOUER - Percurso Do ReconhecimentoIgor MirandaAinda não há avaliações
- Raul Rónai - A Arte de Contar em SagaranaDocumento1 páginaRaul Rónai - A Arte de Contar em SagaranaIgor MirandaAinda não há avaliações
- Percepção Da Equipe Multidisciplinar Quanto À Participação Ativa de Primíparas Adolescentes Durante o Trabalho de PartoDocumento28 páginasPercepção Da Equipe Multidisciplinar Quanto À Participação Ativa de Primíparas Adolescentes Durante o Trabalho de PartoIgor MirandaAinda não há avaliações
- FRANZ KAFKA O Cavaleiro Do BaldeDocumento3 páginasFRANZ KAFKA O Cavaleiro Do BaldeIgor MirandaAinda não há avaliações
- Termos Introdutorios PDFDocumento2 páginasTermos Introdutorios PDFIgor MirandaAinda não há avaliações
- A Redação CientíficaDocumento12 páginasA Redação CientíficaIgor MirandaAinda não há avaliações
- Teologia IorubaDocumento10 páginasTeologia IorubaIgor MirandaAinda não há avaliações
- Campeonato de Tabuada 2024Documento5 páginasCampeonato de Tabuada 2024uccellaassistenciavirtualAinda não há avaliações
- Relatorio EcgDocumento7 páginasRelatorio EcgRodrigo LantyerAinda não há avaliações
- Transmissão DSG DQ200 Troca de OleoDocumento9 páginasTransmissão DSG DQ200 Troca de OleoSergio Miguel da SilvaAinda não há avaliações
- Aula 3 SNC-SNPDocumento54 páginasAula 3 SNC-SNPBeatriz BarbosaAinda não há avaliações
- A Energia Dos PensamentosDocumento2 páginasA Energia Dos PensamentosMarcosPaterraAinda não há avaliações
- Tabu Na Masturbação InfantilDocumento2 páginasTabu Na Masturbação InfantilJuliana MarçonAinda não há avaliações
- ARQUITETURA E URBANISMO - Geometria - Desenho e Forma - PORTEDocumento66 páginasARQUITETURA E URBANISMO - Geometria - Desenho e Forma - PORTEfontelles cairesAinda não há avaliações
- Guia para Elaboração de Projeto Apc CESEDocumento5 páginasGuia para Elaboração de Projeto Apc CESEAline MacielAinda não há avaliações
- Classificação Dos Seres Vivos ExercícioDocumento2 páginasClassificação Dos Seres Vivos ExercícioEdu G. SilvaAinda não há avaliações
- Atividade 02Documento3 páginasAtividade 02celso vilas boasAinda não há avaliações
- Trabalho GeografiaDocumento20 páginasTrabalho GeografiaAdriana ElitaAinda não há avaliações
- 2020.03.30-17.00.34ficha012 BT SILICONIZADODocumento2 páginas2020.03.30-17.00.34ficha012 BT SILICONIZADOOrlando MendozaAinda não há avaliações
- TCC Edson ReformuladoDocumento18 páginasTCC Edson ReformuladoEdson Gomes da Silva silvaAinda não há avaliações
- Fenômenos ÓpticosDocumento2 páginasFenômenos Ópticoscanal dos irmaos cunhaAinda não há avaliações
- A Hora Da Estrela AnaliseDocumento3 páginasA Hora Da Estrela AnalisePâmela MorenoAinda não há avaliações
- A Era Dos Direitos - Norberto Bobbio - PabloDocumento7 páginasA Era Dos Direitos - Norberto Bobbio - PabloPablo Henrique LopesAinda não há avaliações
- PARECER - Redução de Carga Horária para Servidor DeficienteDocumento5 páginasPARECER - Redução de Carga Horária para Servidor DeficientePaulão CLAinda não há avaliações
- 0.3 - The Chosen - Charlene HartnadyDocumento68 páginas0.3 - The Chosen - Charlene HartnadyNaylla FannyAinda não há avaliações
- Clínica Odontológica III (Prótese Total) - 7 Semestre - 2 Unidade - Aula 1 - Modelos e Confecção de Moldeira Superior e InferiorDocumento5 páginasClínica Odontológica III (Prótese Total) - 7 Semestre - 2 Unidade - Aula 1 - Modelos e Confecção de Moldeira Superior e InferiorMelania SimouraAinda não há avaliações
- CIANCONI Et Al - Gestão Do Conhecimento, Da Informação e de Documentos em Contextos InformacionaisDocumento150 páginasCIANCONI Et Al - Gestão Do Conhecimento, Da Informação e de Documentos em Contextos InformacionaisTiago BrandãoAinda não há avaliações
- Roteiro Simulação ANSYS - Conexao Longarina-ColunaDocumento10 páginasRoteiro Simulação ANSYS - Conexao Longarina-ColunaJosé Henrique DelábioAinda não há avaliações
- Vest ITA97 Provas ResolvidasDocumento61 páginasVest ITA97 Provas ResolvidasFabio Castro100% (1)
- Estratégias em Serviço Social - Slides de Aula - Unidade IIDocumento38 páginasEstratégias em Serviço Social - Slides de Aula - Unidade IITereza Cristina Lima Costa de FreitasAinda não há avaliações
- 8 Matthews ConstrutivismoDocumento5 páginas8 Matthews ConstrutivismoJuliano De Almeida EliasAinda não há avaliações
- Enunciado Projeto Individual AEDDocumento3 páginasEnunciado Projeto Individual AEDAna VieiraAinda não há avaliações
- Efeitos Da Indústria Farmacêutica No Brasil Do Século XXIDocumento1 páginaEfeitos Da Indústria Farmacêutica No Brasil Do Século XXIMariana DomingosAinda não há avaliações
- Aula 2 - A Escola Como Espaço SocioculturalDocumento9 páginasAula 2 - A Escola Como Espaço SocioculturalFlávio AlvesAinda não há avaliações
- Atlântico Negro - Na Rota Dos OrixásDocumento4 páginasAtlântico Negro - Na Rota Dos OrixásAwo Ifa Ogbe YonoAinda não há avaliações
Resenha de Teoria Da Literatura
Resenha de Teoria Da Literatura
Enviado por
Igor Miranda0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações3 páginasTítulo original
Resenha de Teoria da Literatura.docx
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações3 páginasResenha de Teoria Da Literatura
Resenha de Teoria Da Literatura
Enviado por
Igor MirandaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 3
Resenha de Teoria da Literatura: Uma Introdução de Terry Eagleton
No capítulo introdutório, Eagleton apresenta algumas das definições mais
comuns de “literatura”. A primeira possibilidade é a de definir literatura como escrita
imaginativa, ou seja, que não é literalmente verídica. Porém, isso pode ser facilmente
contestado se se levar em conta que há ensaios, sermões, autobiografias que, apesar de
não serem ficcionais, estão inclusos dentro daquilo que se chama literatura. A
incompletude dessa definição se mostra também na distinção entre fato e ficção, que é
muitas vezes questionável, já que ela não era efetivamente aplicada: os romances e as
notícias de jornais não eram claramente fictícios nem claramente factuais. Além disso, se
a literatura inclui muitos dos escritos factuais, também exclui muitos fictícios como as
histórias em quadrinhos, as piadas, etc. E, se a literatura se caracterizasse como “escrita
imaginativa”, poderíamos estar afirmando, implicitamente, que os escritos científicos são
destituídos de criatividade e imaginação!
Outra definição possível é a de que se faz literatura a partir do emprego peculiar
da linguagem, ou seja, a literatura intensifica a linguagem cotidiana gerando uma espécie
de “desconformidade entre os significantes e os significados” (p. 3) e chamando a atenção
sobre si mesma. Essa perspectiva é típica dos Formalistas Russos, grupo de intelectuais
que aplicaram a linguística ao estudo da literatura na tentativa de tornar a análise e crítica
literária mais “objetiva”. Segundo os formalistas, a literatura não deveria ser analisada
por outro viés que não o da linguagem, já que a literatura nada mais é que uma
“organização particular da linguagem” operando com leis, estruturas e mecanismos
específicos que deveriam ser estudados em si.
A obra literária não era um veículo de ideias, nem uma reflexão sobre a
realidade social, nem a encarnação de uma verdade transcendental: era um
fato material, cujo funcionamento podia ser analisado mais ou menos como
se examina uma máquina. Era feita de palavras, não de objetos ou
sentimentos, sendo um erro considera-la como a expressão do pensamento
de um autor (p. 4)
Preocupavam-se, portanto, com as estruturas da linguagem, do como se diz e não
o que se diz, sendo que o conteúdo simplesmente ocasiona o exercício formal. Embora
afirmassem a relação entre a literatura e a realidade social, não cabia ao crítico literário
analisar e estudar essa relação.
Posteriormente, os formalistas perceberam que os “artifícios” usados pelos
autores para gerar o efeito de “estranhamento” eram “funções” dentro de um sistema
textual global. Esses “artifícios” ou “funções” intensificavam, distorciam a linguagem
comum, transformando o que era cotidiano em algo não familiar. Mas, o que seria essa
“linguagem comum”? Por trás desse termo, existe a ideia de que existe uma única
linguagem “comum” ou normal”, ignorando a natureza heterogênea da língua. Outro fator
que pode interferir nesse julgamento do que seria uma “linguagem comum” é de que um
texto muito antigo pode nos gerar estranhamento e soar poético simplesmente pelo seu
arcaísmo, mas não saberíamos dizer se ele é de fato “poético” ou não pela pura análise
estrutural do texto. Teríamos de recorrer aos discursos daquela sociedade sobre o que
seria literatura.
Porém, os próprios formalistas tinham consciência dessa questão. Mas o que na
verdade eles tentavam definir não era “literatura” mas a “literariedade” e afirmavam que
a essência do literário estava em “gerar estranhamento”. Portanto, eles relativizavam o
uso da linguagem e esse “estranhamento” só se tornaria nítido no contraste dos discursos.
O contexto mostra-me que é literário, mas a linguagem em si não tem
nenhuma propriedade ou qualidade que a distinga de outros tipos de
discurso (...). Pensar na literatura como os formalistas o fazem é, na
realidade, considerar toda a literatura como poesia. De fato, quando os
formalistas trataram da prosa, simplesmente estenderam a ela as técnicas
que haviam utilizado para a poesia (p. 9)
Talvez, generalizar a linguagem além de sua finalidade pragmática seja uma
operação envolvida no que se chama de literatura. A partir dessa perspectiva, poderíamos
definir literatura enquanto discurso não pragmático, referente a um “estado geral das
coisas”, sendo um tipo de linguagem autorreferencial. Porém, o que é dito não é menos
importante do que como aquilo é dito: o conteúdo é relevante para se obter o efeito geral.
Assim, nessa concepção, a definição de literatura está à mercê do modo que alguém opta
por ler e não da natureza, da essência do que é lido.
Nesse sentido a literatura poderia ser definida de acordo com “as várias maneiras
pelas quais as pessoas se relacionam com a escrita” (p. 13), não existindo uma “essência”
da literatura e não importando como esses textos nascem, e sim o modo pelo qual as
pessoas os consideram. O termo literatura, portanto, seria um termo antes funcional que
ontológico: refere-se ao papel de um texto “num contexto social, suas relações com o
ambiente e suas diferenças com esse mesmo ambiente, a maneira pela qual se comporta,
as finalidades que lhe pode ser dadas e as práticas humanas que se acumularam à sua
volta” (p. 14).
Entretanto, se considerarmos que a literatura tem a ver com uma leitura “não
pragmática” e considerar que as piadas não são lidas pragmaticamente mas também não
são tidas como literatura, tem-se um problema. Além de talvez não ser tão nítido o que
seriam as maneiras pragmáticas ou não pragmáticas de se relacionar com a linguagem. A
própria literatura (e as outras artes) já teve um tratamento prático enquanto função
religiosa. Talvez, a distinção entre “prático” e “não prático” só seja possível nesse estado
da nossa sociedade, em que a literatura (e as outras artes) não exercem mais uma função
prática. Constatado isso, essa definição do literário pode ser, na verdade, historicamente
específica.
De qualquer forma, é certo que os julgamentos de valor tem estreita relação com
o que se considera literatura, “não necessariamente no sentido de ser ‘belo’ para ser
‘literário’ mas sim de que tem de ser do tipo considerado belo” (p. 15-6).
A expressão ‘bela escrita’ (...) é ambígua nesse sentido: denota uma
espécie de escrita em geral muito respeitada, embora não nos leve
necessariamente à opinião de que um determinado exemplo dela é
‘belo’ (p. 16)
Mas, considerar que literatura é um tipo de literatura altamente valorizada pode
significar que qualquer coisa pode tornar-se ou deixar de ser literatura, dependendo do
julgamento de cada sociedade em cada contexto histórico, tornando a ideia de literatura
pouco “objetiva” e mutável. Nesse sentido, interpretamos as obras sob a luz dos nossos
interesses e valores e quando lemos obras de autores como Shakespeare ou Homero,
estamos, na verdade, lendo diferentes Shakespeares e diferentes Homeros à medida que
nossos interesses e valores mudam, encontrando elementos que ora podem ser valorizados
ora desvalorizados.
(...)
Portanto, a definição de literatura, do que ela seja e do que espera dela está
estritamente lidados a juízos de valores que, por sua vez, mantém uma relação íntima com
as ideologias sociais.
Você também pode gostar
- Exercícios GeraisDocumento56 páginasExercícios GeraisSilveston Silva100% (4)
- Presença e Campo TranscendentalDocumento1 páginaPresença e Campo TranscendentalIgor Miranda0% (1)
- 6º Ano CienciasDocumento3 páginas6º Ano CienciasMaria A AparecidaAinda não há avaliações
- BAKHTIN, Mikhail. Estética Da Criação Verbal. São Paulo. Martins Fontes, 2003Documento3 páginasBAKHTIN, Mikhail. Estética Da Criação Verbal. São Paulo. Martins Fontes, 2003Igor MirandaAinda não há avaliações
- RICOUER - Percurso Do ReconhecimentoDocumento1 páginaRICOUER - Percurso Do ReconhecimentoIgor MirandaAinda não há avaliações
- Raul Rónai - A Arte de Contar em SagaranaDocumento1 páginaRaul Rónai - A Arte de Contar em SagaranaIgor MirandaAinda não há avaliações
- Percepção Da Equipe Multidisciplinar Quanto À Participação Ativa de Primíparas Adolescentes Durante o Trabalho de PartoDocumento28 páginasPercepção Da Equipe Multidisciplinar Quanto À Participação Ativa de Primíparas Adolescentes Durante o Trabalho de PartoIgor MirandaAinda não há avaliações
- FRANZ KAFKA O Cavaleiro Do BaldeDocumento3 páginasFRANZ KAFKA O Cavaleiro Do BaldeIgor MirandaAinda não há avaliações
- Termos Introdutorios PDFDocumento2 páginasTermos Introdutorios PDFIgor MirandaAinda não há avaliações
- A Redação CientíficaDocumento12 páginasA Redação CientíficaIgor MirandaAinda não há avaliações
- Teologia IorubaDocumento10 páginasTeologia IorubaIgor MirandaAinda não há avaliações
- Campeonato de Tabuada 2024Documento5 páginasCampeonato de Tabuada 2024uccellaassistenciavirtualAinda não há avaliações
- Relatorio EcgDocumento7 páginasRelatorio EcgRodrigo LantyerAinda não há avaliações
- Transmissão DSG DQ200 Troca de OleoDocumento9 páginasTransmissão DSG DQ200 Troca de OleoSergio Miguel da SilvaAinda não há avaliações
- Aula 3 SNC-SNPDocumento54 páginasAula 3 SNC-SNPBeatriz BarbosaAinda não há avaliações
- A Energia Dos PensamentosDocumento2 páginasA Energia Dos PensamentosMarcosPaterraAinda não há avaliações
- Tabu Na Masturbação InfantilDocumento2 páginasTabu Na Masturbação InfantilJuliana MarçonAinda não há avaliações
- ARQUITETURA E URBANISMO - Geometria - Desenho e Forma - PORTEDocumento66 páginasARQUITETURA E URBANISMO - Geometria - Desenho e Forma - PORTEfontelles cairesAinda não há avaliações
- Guia para Elaboração de Projeto Apc CESEDocumento5 páginasGuia para Elaboração de Projeto Apc CESEAline MacielAinda não há avaliações
- Classificação Dos Seres Vivos ExercícioDocumento2 páginasClassificação Dos Seres Vivos ExercícioEdu G. SilvaAinda não há avaliações
- Atividade 02Documento3 páginasAtividade 02celso vilas boasAinda não há avaliações
- Trabalho GeografiaDocumento20 páginasTrabalho GeografiaAdriana ElitaAinda não há avaliações
- 2020.03.30-17.00.34ficha012 BT SILICONIZADODocumento2 páginas2020.03.30-17.00.34ficha012 BT SILICONIZADOOrlando MendozaAinda não há avaliações
- TCC Edson ReformuladoDocumento18 páginasTCC Edson ReformuladoEdson Gomes da Silva silvaAinda não há avaliações
- Fenômenos ÓpticosDocumento2 páginasFenômenos Ópticoscanal dos irmaos cunhaAinda não há avaliações
- A Hora Da Estrela AnaliseDocumento3 páginasA Hora Da Estrela AnalisePâmela MorenoAinda não há avaliações
- A Era Dos Direitos - Norberto Bobbio - PabloDocumento7 páginasA Era Dos Direitos - Norberto Bobbio - PabloPablo Henrique LopesAinda não há avaliações
- PARECER - Redução de Carga Horária para Servidor DeficienteDocumento5 páginasPARECER - Redução de Carga Horária para Servidor DeficientePaulão CLAinda não há avaliações
- 0.3 - The Chosen - Charlene HartnadyDocumento68 páginas0.3 - The Chosen - Charlene HartnadyNaylla FannyAinda não há avaliações
- Clínica Odontológica III (Prótese Total) - 7 Semestre - 2 Unidade - Aula 1 - Modelos e Confecção de Moldeira Superior e InferiorDocumento5 páginasClínica Odontológica III (Prótese Total) - 7 Semestre - 2 Unidade - Aula 1 - Modelos e Confecção de Moldeira Superior e InferiorMelania SimouraAinda não há avaliações
- CIANCONI Et Al - Gestão Do Conhecimento, Da Informação e de Documentos em Contextos InformacionaisDocumento150 páginasCIANCONI Et Al - Gestão Do Conhecimento, Da Informação e de Documentos em Contextos InformacionaisTiago BrandãoAinda não há avaliações
- Roteiro Simulação ANSYS - Conexao Longarina-ColunaDocumento10 páginasRoteiro Simulação ANSYS - Conexao Longarina-ColunaJosé Henrique DelábioAinda não há avaliações
- Vest ITA97 Provas ResolvidasDocumento61 páginasVest ITA97 Provas ResolvidasFabio Castro100% (1)
- Estratégias em Serviço Social - Slides de Aula - Unidade IIDocumento38 páginasEstratégias em Serviço Social - Slides de Aula - Unidade IITereza Cristina Lima Costa de FreitasAinda não há avaliações
- 8 Matthews ConstrutivismoDocumento5 páginas8 Matthews ConstrutivismoJuliano De Almeida EliasAinda não há avaliações
- Enunciado Projeto Individual AEDDocumento3 páginasEnunciado Projeto Individual AEDAna VieiraAinda não há avaliações
- Efeitos Da Indústria Farmacêutica No Brasil Do Século XXIDocumento1 páginaEfeitos Da Indústria Farmacêutica No Brasil Do Século XXIMariana DomingosAinda não há avaliações
- Aula 2 - A Escola Como Espaço SocioculturalDocumento9 páginasAula 2 - A Escola Como Espaço SocioculturalFlávio AlvesAinda não há avaliações
- Atlântico Negro - Na Rota Dos OrixásDocumento4 páginasAtlântico Negro - Na Rota Dos OrixásAwo Ifa Ogbe YonoAinda não há avaliações