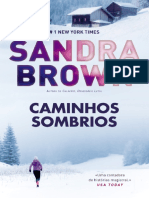Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Germano de Almeida
Enviado por
Maria MazniakDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Germano de Almeida
Enviado por
Maria MazniakDireitos autorais:
Formatos disponíveis
GERMANO DE ALMEIDA
(1994)
A Boa Vista povoa a memória e o imaginário de Germano de
Almeida. O escritor reencontra-a no tempo da sua infância,
esculpido serenamente em cada palavra de A Ilha Fantástica. Um
livro de memórias. Da infância. Memórias que ajudam uma pessoa a
crescer. Ficam dentro, ora a levedar, sem idade, ora rodopiando na
alma, de repente, num alvoroço que desperta a vontade de pular no
tempo para revisitar sítios e pessoas. E viver mais completamente.
Surgiu, assim, A Ilha Fantástica. A ilha da Boa Vista, do
escritor-advogado de Cabo Verde, com lugar marcado na literatura
de língua portuguesa. É dele, também, O Testamento do Sr.
Napomuceno da Silva Araújo. O traço literário de Germano de
Almeida está igualmente em títulos como O Meu Poeta e O Dia das
Calças Roladas, obras com estórias de amor e malícias de gente que
fala igual a todos.
Quando descobriu a sua ilha fantástica?
As recordações são maiores quando estamos longe. Fiz a descoberta da minha
ilha fora dela, no norte de Angola, em Buela (Maquela do Zombo), onde cumpri
serviço militar. Mas sinto uma grande dificuldade em falar dos meus livros. Se
repararmos, as personagens têm o seu mundo e a sua vida. Ganham a sua
independência. E os leitores vão interpretá-las de maneiras diferentes. Urna vez
escritos, os livros não nos pertencem mais.
Quem habita A Ilha Fantástica não é, sobretudo, Germano de Almeida?
Não posso negar que grande parte d'A Ilha Fantástica sou eu a reviver a minha
infância. Começa com uma estória sobre a nossa bruxa familiar, muito velha e
muito amiga, com quem brincávamos.
As bruxas nas comunidades africanas são diferentes das outras?
Parecem mais encantadoras...
Nem todas. A ti'Júlia era uma bruxa que trabalhava só com santos, mas tinha
uma atitude quase militarista perante eles. Quando os santos não lhe faziam a
vontade, ela obrigava-os.
Acredita mesmo em bruxas?
Já não, obviamente. Mas cresci num ambiente em que havia bruxas de toda a
espécie e feitio. Faziam parte de um imaginário.
Que recordações da sua ilha mais o marcaram?
Tinha para aí 12 anos. Escutei um barulho, já meu conhecido, mas mais violento
naquele instante. Um homem estava a levar palmatoadas, não sei quantas.
Havia uma forte seca na Boa Vista. Ele subira a um coqueiro e roubou dois cocos
para matar a sede e a fome. A dona queixou-se. O homem foi levado ao
administrador e deram-lhe não sei quantas palmatoadas. Naquela hora, disse a
mim mesmo: hei de ser advogado para defender esta gente.
Há outra personagem neste livro, o Lela, pela qual nutre especial
ternura...
Era o homem da contestação. Sem copos, o Lela era pacífico, pacato, mas se
bebia um copito, então falava, contestava, dizia mal dos que martirizavam o
povo, e eu adorava o Lela. Estava em causa o sistema e não o povo português.
Foi um menino que sonhou ser advogado por acreditar na justiça como
um bem inalienável. O advogado que tem hoje 48 anos ainda acredita?
A justiça é um ideal que não pode ser perdido de vista; tem maiores ou menores
solavancos.
Como se sentiu ao pegar numa arma do lado da guerra que combatia o
seu povo? Não foi em Cabo Verde, mas não deixava de ser África.
Fui mobilizado. Tentei fugir por duas vezes, só que não se propiciaram as
condições. Não tinha dinheiro para pagar aos «passadores».
Como enfrentou esse teatro de guerra?
Num cenário de guerra, a pessoa procura salvar a vida. Luta-se pela
sobrevivência. Uma vez, prendemos um homem do lado rebelde. Eu senti-me
próximo dele. Agora, em situações de grande conflito, com tiros de todos os
lados, a única coisa que se pensa é sobreviver. Mata-se para salvar a pele, nem
se pensa.
África poderia ter encontrado caminhos de independência sem
necessidade da luta armada?
Seria desejável que tivesse havido outros caminhos. O governo de Salazar
falhou em toda a sua perspetiva para África. Outras experiências mostravam
como se poderia resolver o problema sem recurso às armas.
Como olha para a África de hoje?
Tenho uma ideia muito arreigada. Há dias, disse a Pepetela e ao Craveirinha: os
meus netos ainda hão de viver nos Estados Unidos de África, o que só
acontecerá a muito longo prazo, mas parece-me inevitável.
Os intelectuais africanos, à semelhança de outros, tiveram na
clandestinidade um papel interventor. Não estão, hoje, um pouco
distanciados?
Desempenharam um papel de forte intervenção em dado período, visando
alcançar a independência. Está agora a criar-se uma nova classe de intelectuais
pós-independência. Os mais conhecidos talvez sejam, ainda, os antigos, mas
torna-se um pouco complicado para eles intervirem. Vai ter de se definir outra
etapa com uma nova geração.
E os mais velhos demitem-se do presente? Essa realidade não os toca?
Deve tocar, mas seria complicado para eles tomar qualquer atitude que pudesse
sugerir uma oposição aos ideais por que lutaram. Não encontraram, por
enquanto, as formas corretas de intervenção neste momento. Há de chegar-se
lá.
A língua portuguesa pode ser, ainda, um elo?
Direi que a minha pátria é, também, a língua portuguesa. Cresci numa casa
onde nunca ouvi ao meu pai uma palavra em crioulo e nem à minha mãe uma
palavra em português. O meu pai falava em português, nós respondíamos em
crioulo. Ninguém obrigava ou punia o outro.
© MARIA AUGUSTA SILVA
Você também pode gostar
- Vampiros Emocionais - Albert J. Bernstein Ph.D.Documento168 páginasVampiros Emocionais - Albert J. Bernstein Ph.D.Aguinaldo José de Oliveira100% (3)
- Parecer SocialDocumento3 páginasParecer SocialCarolina Moreira71% (7)
- Caminhos Sombrios - Sandra Brown PDFDocumento340 páginasCaminhos Sombrios - Sandra Brown PDFDaniel Nunes100% (1)
- Vantagens e Desvantagens TelemoveisDocumento3 páginasVantagens e Desvantagens Telemoveisefacdm27983Ainda não há avaliações
- Desafio 21 Dias, Dawn WatsonDocumento51 páginasDesafio 21 Dias, Dawn WatsonLívia Morgana A Essência Materna100% (1)
- Jose Regio, o Continuador de Sa-CarneiroDocumento9 páginasJose Regio, o Continuador de Sa-CarneiroMaria MazniakAinda não há avaliações
- Pintura Maneirista em PortugalDocumento0 páginaPintura Maneirista em PortugalEliana Ursine Da Cunha MelloAinda não há avaliações
- Nicolai Gogol o CapoteDocumento25 páginasNicolai Gogol o CapoteFabio Francener PinheiroAinda não há avaliações
- Antologia Do Conto Portugues Contemporan Org Alvaro SalemaDocumento238 páginasAntologia Do Conto Portugues Contemporan Org Alvaro SalemaAna Val-do -RioAinda não há avaliações
- Falares EmigresesDocumento150 páginasFalares EmigresesPeter SchmiedinAinda não há avaliações
- A Aia, de Eça de Queirós, Quase Um Contos de FadasDocumento9 páginasA Aia, de Eça de Queirós, Quase Um Contos de FadasMaria MazniakAinda não há avaliações
- O Estudo Das Línguas Exóticas No Século XVIDocumento93 páginasO Estudo Das Línguas Exóticas No Século XVIEdicarlos de AquinoAinda não há avaliações
- Caminho Do Oriente - Guia Do AzulejoDocumento145 páginasCaminho Do Oriente - Guia Do AzulejoAylana Canto100% (2)
- Vinte Anos de Cinema PortuguêsDocumento184 páginasVinte Anos de Cinema PortuguêsozufilmfanAinda não há avaliações
- Listovka PORTY 2014 PDFDocumento1 páginaListovka PORTY 2014 PDFMaria MazniakAinda não há avaliações
- O Romantismo de Viagem na Minha Terra de Almeida GarrettDocumento11 páginasO Romantismo de Viagem na Minha Terra de Almeida GarrettclaudiacalaisgarciaAinda não há avaliações
- Portugal Na Balança Da Europa PDFDocumento362 páginasPortugal Na Balança Da Europa PDFMaria MazniakAinda não há avaliações
- A Influência Da Cultura Portuguesa em MacauDocumento129 páginasA Influência Da Cultura Portuguesa em MacauAlberto MatheAinda não há avaliações
- A Comédia No BrasilDocumento30 páginasA Comédia No BrasilMaria MazniakAinda não há avaliações
- Leitura Renovada Frei Luis SousaDocumento6 páginasLeitura Renovada Frei Luis SousaMaria MazniakAinda não há avaliações
- Capítulo Livro AcciolyDocumento10 páginasCapítulo Livro Acciolygustavo calixtoAinda não há avaliações
- Leitura GramáticaDocumento28 páginasLeitura GramáticaarieleianAinda não há avaliações
- Redação - Parágrafo de ConclusãoDocumento7 páginasRedação - Parágrafo de ConclusãomarcoAinda não há avaliações
- Diagnóstico e Intervenção Psicopedagógicos 1Documento45 páginasDiagnóstico e Intervenção Psicopedagógicos 1Jessica Bretas100% (3)
- Didática - Metodologia para Recurso Do Ensino Da Matemática - U2Documento46 páginasDidática - Metodologia para Recurso Do Ensino Da Matemática - U2marcosiqueiraAinda não há avaliações
- Análise de Serial Killers 1Documento11 páginasAnálise de Serial Killers 1Yasmin GuedesAinda não há avaliações
- Como Fazer Inimigos e Afastar As Pessoas - Thomas - 230403 - 223044Documento183 páginasComo Fazer Inimigos e Afastar As Pessoas - Thomas - 230403 - 223044Lucineide MedeirosAinda não há avaliações
- A OBEDIÊNCIA E OS MILAGRESDocumento4 páginasA OBEDIÊNCIA E OS MILAGRESJuraci MirandaAinda não há avaliações
- O Gato ComeuDocumento32 páginasO Gato ComeuDra. FonoAinda não há avaliações
- 05 Ficha de Observacao Criancas EfDocumento3 páginas05 Ficha de Observacao Criancas EfAdriana CarolineAinda não há avaliações
- Atividades para crianças com história Pedro vira Porco-espinhoDocumento7 páginasAtividades para crianças com história Pedro vira Porco-espinhoDiego Dos SantosAinda não há avaliações
- Arteterapia em EducaçãoDocumento31 páginasArteterapia em EducaçãokatmartinsAinda não há avaliações
- Religião e Performances Corporais: Etnografia Com Alunos Evangélicos Da Zona Rural de Uma Escola Pública de Minas GeraisDocumento30 páginasReligião e Performances Corporais: Etnografia Com Alunos Evangélicos Da Zona Rural de Uma Escola Pública de Minas GeraismonalisatreveriAinda não há avaliações
- Cópia de Projeto Adaptação - 2020.Documento3 páginasCópia de Projeto Adaptação - 2020.juliana jackAinda não há avaliações
- Brincadeiras Do Folclore BrasileiroDocumento2 páginasBrincadeiras Do Folclore BrasileiroGeraldo J SouzaAinda não há avaliações
- MAM SP e nudez em arte geram debateDocumento11 páginasMAM SP e nudez em arte geram debateSérgio HenriqueAinda não há avaliações
- Educação Infantil planejamento anualDocumento274 páginasEducação Infantil planejamento anualMarcelo De Oliveira PintoAinda não há avaliações
- Análise de propostas pedagógicas e currículos em educação infantil brasileiraDocumento107 páginasAnálise de propostas pedagógicas e currículos em educação infantil brasileiraNadia Aparecida BossaAinda não há avaliações
- Crianças InvisíveisDocumento2 páginasCrianças InvisíveisCarolina BarrosAinda não há avaliações
- Memorial DescritivoDocumento2 páginasMemorial Descritivovaleriapreta236692Ainda não há avaliações
- PB Parecer Consubstanciado Cep 1211344Documento6 páginasPB Parecer Consubstanciado Cep 1211344Sérgio HenriqueAinda não há avaliações
- Plano anual Berçário CMEI Deus é AmorDocumento23 páginasPlano anual Berçário CMEI Deus é AmorDircilene Almeida Alves SouzaAinda não há avaliações
- Relatorio Obeservação AutismoDocumento5 páginasRelatorio Obeservação Autismoluana freitas100% (1)
- Resumo de Indagacoe Sobre o CurriculoDocumento43 páginasResumo de Indagacoe Sobre o Curriculocarlosstan80% (5)