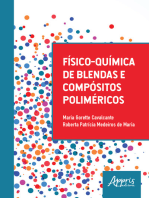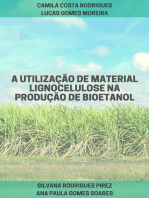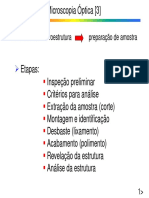Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1 Tec. Quimica de Produtos Coletânea de Aulas Teóricas PRIMEIRA PARTE PDF
1 Tec. Quimica de Produtos Coletânea de Aulas Teóricas PRIMEIRA PARTE PDF
Enviado por
wilsonTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1 Tec. Quimica de Produtos Coletânea de Aulas Teóricas PRIMEIRA PARTE PDF
1 Tec. Quimica de Produtos Coletânea de Aulas Teóricas PRIMEIRA PARTE PDF
Enviado por
wilsonDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT
FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL
COLETÂNEA DE AULAS TEÓRICAS
DISCIPLINA: TECNOLOGIA QUÍMICA DE PRODUTOS FLORESTAIS
DOCENTE:
Profa Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
CUIABÁ
OUTUBRO/2018
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
SUMÁRIO
Aula 1: A Química dos Carboidratos .................................................................. 3
Aula 2: Composição Química da Madeira .......................................................... 18
Aula 3: Celulose................................................................................................... 32
Aula 4: Polioses................................................................................................... 44
Aula 5: Lignina..................................................................................................... 57
Aula 6: Compostos secundários.......................................................................... 73
Aula 7: Pasta celulósica e papel ......................................................................... 87
Aula 8: Papel – Principais propriedades ............................................................. 110
Aula 9: Carvão Vegetal ........................................................................................ 123
Aula 10: A química da casca ............................................................................... 131
Aula 11: Látex – Borracha natural ....................................................................... 136
Aula 12: Resinas .................................................................................................. 143
Aula 13: Redução de carbono atmosférico .......................................................... 148
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
1a PARTE
A QUÍMICA DOS CARBOIDRATOS
1- INTRODUÇÃO
1.1- Produtos Florestais
Engloba os produtos madeireiros e não madeireiros.
- Produtos madeireiros: Produtos originados do lenho das árvores (madeira).
Exemplos: Madeira, Celulose, Carvão Vegetal, etc.
- Produtos não madeireiros: Todos os produtos que saem da floresta, exceto
madeira. Exemplos: Resina, Borracha natural, Carbono, Casca, Flor, Fruto,
Semente, etc.
1.2- Localização
- Componentes químicos que geram produtos madeireiros: estão dentro da
parede celular.
- Componentes químicos que geram produtos não madeireiros: localizados fora
da parede celular.
2- ESTRUTURA LENHOSA
A estrutura lenhosa da árvore é definida pelo arranjo dos elementos
anatômicos da madeira.
Anatomicamente a madeira é um tecido xilemático extremamente
complexo.
O xilema é um tecido característico das plantas superiores: arbustos,
cipós e árvores.
A estrutura lenhosa é diferente para gimnospermas e angiospermas.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
O lenho é formado por compostos químicos que tiveram origem na
reação de fotossíntese.
A glucose é o monossacarídeo básico que forma a madeira.
Toda madeira é proveniente de tecido xilemático, mas nem todo tecido
xilemático produz madeira comercial.
- Madeira comercial: é aquela aproveitada para geração de produtos primários e
secundários, que atendam as necessidades humanas.
3- QUIMICAMENTE
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
- Fase Clara:
Produção de ATP e NADPH.
- Fase Escura:
Conversão de CO2 em carboidrato.
Na fase clara ocorrem as
reações de transferência de
elétrons gerando energia
química.
Na fase escura ocorrem as
reações de fixação do carbono,
o ATP e o NADPH servem
como energia e força redutora
para a conversão de CO2 em
carboidrato (glucose).
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
3.1- Fixação de CO2:
Dióxido de ribulose 1,5-bifosfato Intermediário duas moléculas de
carbono 3-fosfoglicerato
3.2- Qual o destino das trioses formadas?
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
3.3- Fatores limitantes da fotossíntese:
- Intensidade luminosa;
- Concentração de CO2;
- Temperatura;
- Fatores internos: genética, posição das folhas, nutrição, entre outros.
3.4- Ponto de Compensação
O ponto em que a respiração e a fotossíntese se igualam em alguma
hora do dia.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Ponto de compensação para as plantas:
- Heliófitas: muita luz solar, alto ponto de compensação;
- Umbrófitas: pouca luz solar, baixo ponto de compensação.
??EXISTE OUTRA FORMA DE SE PRODUZIR COMPOSTOS ORGÂNICOS
NA NATUREZA??
3.5- Quimiossíntese
É uma reação que produz energia química, convertida da energia de
ligação dos compostos inorgânicos oxidados.
A energia química liberada é empregada na produção de compostos
orgânicos e gás oxigênio (O2), a partir da reação entre o dióxido de carbono
(CO2) e água molecular (H2O).
Etapas:
Primeira: Composto inorgânico + O2 Compostos inorgânicos oxidados +
Energia Química
Segunda: CO2 + H2O + Energia Química Compostos orgânicos + O2
Particularidades:
Esse processo autotrófico de síntese de compostos orgânicos ocorre na
ausência de energia solar.
É um recurso normalmente utilizado por algumas espécies de bactérias.
Elas recebem a denominação segundo os compostos inorgânicos que reagem.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Podem ser: ferrobactérias e nitrobactérias ou nitrificantes
(nitrossomonas e nitrobacter).
- Ferrobactérias: oxidam substâncias à base de ferro para conseguirem energia
química.
- Nitrificantes: utilizam substâncias à base de nitrogênio.
4- CARBOIDRATOS
4.1- Generalidades
Os carboidratos (ou hidratos de carbono) são também chamados de
açúcares, estando presentes em bolos, pães, biscoitos. Participam ainda de
estruturas como a parede celular de células vegetais e de bactérias.
São, provavelmente, os compostos orgânicos mais abundantes nos
organismos vivos. Nos vegetais compõem 75% do seu peso seco.
Fórmula geral: CnH2nOn, daí o nome “carboidrato” ou “hidratos de
carbono”.
4.2- Funções
- Fonte de energia: geração de ATP (adenosina tri-fosfato);
- Reserva de energia: impedir que ocorra uma degradação das proteínas para
geração de energia;
- Estrutural: Animais – DNA e RNA.
Vegetais – Parede celular.
- Combustível para o sistema nervoso central: o tecido cerebral “se alimenta”
quase que exclusivamente de glicose.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
4.3- Classificação
- Monossacarídeos: um açúcar por molécula;
- Oligossacarídeo: obtido pela soma de dois até dez monossacarídeos e perda
de uma molécula de água;
- Polissacarídeos: obtido pela soma de vários (acima de dez) monossacarídeos
e perda de moléculas de água.
4.3.1- Monossacarídeos
São constituídos por cadeias de carbono hidroxiladas (C-OH) com a
presença de grupos carbonila (C=O). A posição do grupo carbonila na cadeia
permite distinguir duas famílias de monossacarídeos: Aldoses e Cetoses.
As aldoses possuem o grupo carbonila na extremidade da cadeia de
carbono (sendo então um grupo aldeído) e as cetoses possuem o grupo
carbonila num outro carbono, que não é na extremidade (sendo então um grupo
cetona).
Estruturas químicas da D-glicose e D-frutose, respectivamente uma aldose (poli-hidroxialdeído)
e uma cetose (poli-hidroxiacetona)
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Quimicamente, os monossacarídeos são:
- Poli-hidroxiacetonas Cetoses;
- Poli-hidroxialdeídos Aldoses.
Os monossacarídeos mais simples possuem no mínimo três carbonos e
os mais complexos, oito carbonos.
A classificação é baseada no número de carbonos de suas moléculas:
TRIOSES, TETROSES, PENTOSES, HEXOSES, HEPTOSES, OCTOSES.
Trioses (C3H6O3) – Monossacarídeos mais simples:
Os monossacarídeos mais importantes são as pentoses e as hexoses.
- Pentoses mais importantes: ribose, arabinose e xilose;
- Hexoses mais importantes: glicose, galactose e frutose.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Pentoses (C5H10O5)
Hexoses (C6H12O6)
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
4.3.2- Oligossacarídeos
Nem tão simples, nem tão complexos.
Oligossacarídeos são açúcares formados pela união de dois a seis
monossacarídeos, geralmente hexoses. O prefixo oligo deriva do grego e quer
dizer pouco.
Os oligossacarídeos mais importantes são os dissacarídeos.
4.3.2.1- Dissacarídeos
São açúcares duplos formados pela combinação de duas moléculas de
monossacarídeos. Os principais são: sacarose, lactose e maltose.
Os dissacarídeos mais comuns:
- Sacarose: Glucose + Frutose. Fonte: cana-de-açúcar;
- Lactose: Glucose + Galactose. Fonte: leite;
- Maltose: Glucose + Glucose. Fonte: malte.
Molécula de lactose
Molécula de sacarose
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
4.3.3- Polissacarídeos
São os carboidratos mais complexos.
São macromoléculas formadas por milhares de monossacarídeos. Cada
monossacarídeo se liga com o outro através de ligações glicosídicas. Os mais
importantes são:
- Amido: é o polissacarídeo de reserva da célula vegetal, formado por moléculas
de glicose ligadas entre si;
- Glicogênio: é o polissacarídeo de reserva da célula animal;
- Celulose: é o carboidrato mais abundante na natureza. Possui função estrutural
na célula vegetal, além de ser um componente importante da parede celular.
POLISSACARÍDEOS OU POLÍMEROS ???
4.4- Polímeros
Termo que vem do grego (poli – muitas e mero – partes).
São moléculas grandes ou macromoléculas formadas de várias
unidades repetitivas (monômeros).
Podemos fazer uma analogia do polímero como uma corrente de clipes, isto é, várias
unidades repetidas.
4.4.1- Estrutura básica dos polímeros
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Linear
Reticulado
4.5- Compostos da parede celular
- Celulose - Polioses (Hemiceluloses) - Lignina
Celulose e poliose polissacarídeos
Lignina não-polissacarídeo.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
O QUE MANTÊM AS MACROMOLÉCULAS JUNTAS?
FORÇAS INTERMOLECULARES:
- Dipolo-dipolo induzido;
- Dipolo-dipolo permanente;
- Ligação de hidrogênio.
Ordem crescente de intensidade de interação:
dipolo induzido – dipolo induzido < dipolo – dipolo < ligação de hidrogênio
SABATINANDO:
De acordo com seus conhecimentos sobre anatomia da madeira, explique quais
são os tipos de crescimento apresentados por uma árvore e qual a importância
de cada um deles para o setor florestal.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Composição Química da Madeira
1- COMPONENTES QUÍMICOS ELEMENTARES
Não há diferenças consideráveis, levando-se em conta as madeiras de
diversas espécies. Os principais elementos existentes são: Carbono (C),
Hidrogênio (H), Oxigênio (O) e traços de Nitrogênio (N).
Composição química elementar das madeiras em relação ao seu peso seco
Elemento Porcentagem
C 49 - 50%
H 6%
O 44 - 45%
N 0,1 - 1%
2- COMPONENTES QUÍMICOS MINORITÁRIOS
Além dos componentes elementares, podem–se encontrar pequenas
quantidades de: Cálcio (Ca), Potássio (K), Magnésio (Mg) e outros.
Estes elementos constituem as substâncias minerais existentes na
madeira.
3- SUBSTÂNCIAS MACROMOLECULARES
Dentre os elementos químicos que formam a madeira, os de maior
destaque são os componentes macromoleculares constituintes da parede
celular: Celulose, Polioses (hemiceluloses) e Lignina. Essas substâncias
estão presentes em todas as madeiras.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
4- UM POUCO DE ANATOMIA DA MADEIRA
Estrutura Anatômica do Lenho:
Parede Celular:
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Formação da Parede Celular (Anatomicamente)
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
5- IMPORTÂNCIA DESSE ARRANJO INTERFIBRILAR
As moléculas de celulose irão formar pontes de hidrogênio INTER e
INTRAMOLECULARES.
Devido à formação dessas ligações, as moléculas de celulose irão se
ordenar formando as regiões cristalinas (altamente ordenadas) e amorfas
(desordenadas). Como consequência desse arranjo fibroso, a celulose
apresenta alta resistência à tração e se torna insolúvel na maioria dos solventes.
6- SUBSTÂNCIAS ACIDENTAIS
São componentes minoritários, com baixo peso molecular e não fazem
parte da estrutura da parede celular.
No tipo e quantidade, são específicos para certas espécies. São
conhecidos como materiais acidentais: os extrativos e as substâncias minerais.
A REGRA É: COMPOSIÇÕES QUÍMICAS DIFERENTES PARA DIFERENTES
TIPOS DE MADEIRA.
Composição química variável para os diferentes tipos de madeira:
- MFL e MFC;
- Madeiras de lenho inicial e lenho tardio;
- Madeiras de tração e de compressão;
- Madeiras de tração e de compressão;
- Madeiras de cerne e de alburno;
- Madeiras de clima tropicais e madeiras de clima temperado.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
7- QUÍMICA DA MADEIRA: O INÍCIO DE TODO VEGETAL
7.1.1- Celulose - Conceito
É o componente majoritário, perfazendo aproximadamente a metade das
madeiras tanto de coníferas, como de folhosas. Pode ser brevemente
caracterizada como um polímero linear de alto peso molecular, constituído
exclusivamente de -D-glucose. Este tipo de ligação glicosídica confere á
molécula uma estrutura espacial muito linear, que forma fibras insolúveis em
água e não digeríveis pelo ser humano.
Devido às suas propriedades químicas e físicas, bem como à sua
estrutura supramolecular, ela tem como função principal formar a parede celular
vegetal.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Quimicamente: Na estrutura do anel, o carbono onde ocorre a formação do
hemiacetal é denominado carbono anomérico, e sua hidroxila pode assumir 2
formas:
- Alfa: ela fica para baixo do plano do anel;
- Beta: ela fica para cima do plano do anel.
A interconversão entre estas formas é dinâmica e denomina-se
mutarrotação.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Deposição da celulose
Representação química da celulose
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
7.1.2- Polioses (Hemiceluloses)
Biossíntese
Descrição:
Estão em estreita associação com a celulose na parede celular. Os
principais constituintes das polioses são as hexoses (glucoses, manose,
galactose) e as pentoses (xilose e arabinose). Algumas polioses contêm
adicionalmente ácidos urônicos.
As cadeias moleculares são muito mais curtas que a de celulose,
podendo existir grupos laterais e ramificações em alguns casos. As folhosas, de
maneira geral, contém maior teor de polioses que as coníferas, e a composição
dos açucares é diferenciada.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Representação química da poliose:
Glucouronoxilose (arabinose)
- Açúcares mais comuns encontrados nas polioses: D-xilose, D-manose, D-
galactose, D-glicose, L-arabinose, ácido 4-0-metilglucurônico, ácido D-
galacturônico e ácido D-glucurônico.
Os constituintes mais raros são: L-ramnose, L-fucose e vários açúcares
metilados neutros.
LEMBRETE: Embora relacionadas, as polioses de madeiras de fibra longa e fibra
curta não são as mesmas, sendo os polissacarídeos das madeiras de fibra longa
os mais complexos, tanto quanto ao número de polioses presentes quanto às
suas estruturas. A seguir serão mostradas as principais polioses:
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Quantidade Relativa de Polioses em Madeiras de Folhosas e de Coníferas
As xilanas são consequentemente, depois da celulose, os carboidratos
mais importantes da madeira. De acordo com a espécie ela se diferencia da
seguinte forma:
- As xilanas de MFL não possuem grupos acetila (C=O);
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
- As xilanas de MFL possuem grupos L-arabinofuranosil;
- As xilanas de MFL possuem 2 vezes mais grupos ácidos que as de MFC (4-o-
ácido metil--D-glucopiranosilurônico).
As polioses podem ser removidas do tecido original por extração com álcali
aquoso ou, menos frequentemente, por água.
7.1.3- Lignina
É a terceira substância macromolecular componente da madeira, sendo
essas moléculas formadas completamente diferente dos polissacarídeos, pois
são constituídas por um sistema aromático composto de unidades de fenil-
propano.
Há maior teor de lignina em coníferas do que em folhosas e existem
diferenças estruturais entre a lignina encontrada nas coníferas e nas folhosas.
7.1.4- Substâncias Poliméricas Secundárias
São encontradas na madeira em pequenas quantidades, como amidos
e substâncias pécticas.
Proteínas somam pelo menos 1% das células parenquimáticas da
madeira, mas são principalmente encontradas nas partes não lenhosas do
tronco, como o câmbio e casca interna.
7.1.5- Substâncias de Baixo Peso Molecular
Junto com os componentes da parede celular existem numerosas
substâncias que são chamadas de materiais acidentais.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
7.1.5.1- Materiais acidentais
Estes materiais são responsáveis por certas propriedades da madeira
como: cheiro, gosto, cor, durabilidade natural, etc.
Embora estes componentes contribuam somente com uma pequena
porcentagem da massa da madeira, podem apresentar uma grande influência
nas propriedades e na qualidade de processamento delas.
LEMBRETE: Alguns íons de certos metais são essenciais para a árvore viva.
Sem eles não haveria nossas belíssimas árvores.
As substâncias de baixo peso molecular pertencem a classes muito
diferentes em termos de composição química e, portanto, há dificuldades em se
encontrar um sistema claro e compreensivo de classificação. Uma classificação
simples pode ser feita dividindo-se estas substâncias em: material orgânico e
inorgânico.
O material orgânico é comumente chamado de extrativos, e a parte
inorgânica é sumariamente obtida como cinzas. A análise química das
substâncias orgânicas é feita de acordo com suas solubilidades em água e
solventes orgânicos.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Principais grupos químicos que compreendem os extrativos
a) Compostos aromáticos (fenólicos) - as substâncias mais importantes deste
grupo são os compostos tânicos que podem ser divididos em: taninos
hidrolisáveis, estilbenos, lignanas, flavonoides e seus derivados.
Taxifolina - pertence ao grupo das flavononas, possui grande espectro de
atividade biológica como antioxidante e antinflamatório.
b) Terpenos - englobam um grande grupo de substâncias naturais,
quimicamente podem ser derivados do isopreno. Duas ou mais unidades de
isopreno constituem os mono, sesqui, di, tri, tetra e politerpenos.
c) Ácidos alifáticos - ácidos graxos saturados e insaturados são encontrados na
madeira principalmente na forma dos seus ésteres com glicerol (gordura e
óleo) ou com álcoois (ceras). O ácido acético é ligado às polioses como um
grupo éster. Os ácidos di e hidroxi-carboxílico ocorrem principalmente como
sais de cálcio.
d) Álcoois - a maioria dos álcoois alifáticos na madeira ocorre com componentes
éster, enquanto que os esteróis aromáticos, pertencentes aos esteroides, são
principalmente encontrados como glicosídeos.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Substâncias inorgânicas (cinzas) - os componentes minerais das madeiras
são predominantemente Ca, K e Mg.
Outros componentes - mono e dissacarídeos são encontrados na madeira em
pequenas quantidades, mas ocorrem em altas porcentagens no câmbio e na
casca interna.
Composição química média das madeiras de coníferas e folhosas
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
I- CELULOSE – Aspectos gerais
É um polissacarídeo de cadeia linear com comprimento consistindo
única e exclusivamente de unidades de -D-anidroglicopiranose (glicose) unidas
por ligações do tipo (1-4), possuindo uma estrutura organizada e parcialmente
cristalina.
A forma mais pura de celulose é obtida das fibras do línter de algodão
que, quando submetida a cuidadoso processo de purificação, apresenta 99,8%
de pureza, e essa celulose recebe o nome de celulose padrão ou referência.
- Fórmula molecular da celulose: (C6H10O5)n, sendo:
n = grau de polimerização (GP): número de vezes que a molécula se repete. GP
celulose: 8.000 a 10.000 e diminui com o envelhecimento da árvore.
Os grupos OH da celulose são responsáveis pelo seu comportamento
físico-químico, inclusive sua solubilidade.
As ligações de hidrogênio formam as ligações entre a molécula de
celulose, outros polissacarídeos e também entre a molécula de água.
1- TIPOS DE LIGAÇÕES DA CELULOSE
- Ligações intramoleculares: entre grupos OH de unidades glicosídicas
adjacentes da mesma molécula de celulose. – Responsáveis pela rigidez da
cadeia;
- Ligações intermoleculares: entre grupos OH de cadeias adjacentes (moléculas
de celulose, polioses, lignina) – Responsável pelo arranjo supramolecular na
parede celular.
Representação das ligações inter e intramoleculares na estrutura da celulose:
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Representação da configuração da β celulose:
As estruturas primárias, formadas pelas ligações hidrogênio, são as fibrilas que
formam as camadas da parede celular.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Arranjo físico da celulose na parede celular:
Cristalinidade da celulose:
2- MODELO HIPOTÉTICO DE FRANJA MICELAR DA CELULOSE.
a) seção longitudinal de parte de uma microfibrila;
b) seções transversais de 5 microfibrilas adjacentes, sendo que 3 estão ligadas
lateralmente por co-cristalização.
Quanto mais cristalina a celulose, maior a sua densidade: a densidade
da celulose cristalina é 1,59 enquanto a da celulose amorfa é 6% inferior.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
O valor da cristalinidade da celulose também depende da metodologia
utilizada para a sua medição (difração de raios-X, densidade, hidrólise ácida,
oxidação com periodato, sorção de iodo, oxidação com ácido crômico). A alta
cristalinidade da celulose é devido ao grande número de ligações hidrogênio
presentes.
Em se tratando de reatividade, a organização física das moléculas de
celulose se tornam mais importantes que a estrutura química de suas moléculas
individuais. A celulose mais cristalina existente na natureza é a do rami.
3- ISOLAMENTO DA CELULOSE
- Redução da madeira em pequenas partículas;
- Extração das partículas de madeira com solventes orgânicos e água para
remover resinas e outros extrativos;
- Deslignificação suave da madeira com clorito acidificado ou cloração seguida
de extração com monoetanolamina (NH2-CH2-CH2OH) ou oxidação com ácido
peracético (CH3COOOH);
- Extração das polioses com bases.
Resultado: celulose parcialmente degradada e contaminada com lignina e
frações de polioses resistentes ao álcali.
4- GRAU DE CONTAMINAÇÃO DA CELULOSE
Determinado pela hidrólise do resíduo e análise dos componentes
individuais por cromatografia. A degradação será avaliada pela medição do peso
molecular do resíduo e pela determinação do teor de grupos carbonila e carboxila
na celulose.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
A celulose não degradada não contém grupos carboxila e somente um
grupo carbonila por molécula.
5- REAÇÃO DE NITRAÇÃO
Um método de isolamento mais suave consiste da nitração direta da
madeira seguida de extração por solventes orgânicos.
Problema: O produto desse isolamento é também contaminado com polioses.
6- HIGROSCOPICIDADE DA CELULOSE
6.1- Fenômeno da Histerese
Fenômeno pelo qual uma determinada propriedade, modificada por um agente
externo, não retorna ao seu estado original quando esse agente é removido.
Também é conhecido como “enrijecimento da celulose” (hornification).
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
6.2- Teorias sobre a ocorrência da histerese
- Primeira: Baseia-se na interconversão da ponte de hidrogênio de celulose-água
e celulose-celulose.
Durante a dessorção, muitas pontes de hidrogênio entre a celulose e a
água são convertidas em pontes de celulose-celulose, as quais somente podem
ser desfeitas pela absorção de água à pressão de vapor elevada.
- Segunda: Baseia-se no fato de que a região amorfa da celulose é a única capaz
de absorver água, pois esta não penetra na região cristalina.
Quando a celulose sofre a secagem, as cadeias da região amorfa se
aproximam umas das outras, diminuindo a capacidade de absorção de água.
Mudança das ligações de hidrogênio durante a remoção de água de duas
cadeias de celulose adjacentes
- Interconversão de ligações de hidrogênio de celulose-água e celulose-celulose.
- Regiões amorfas e cristalinas.
-> Interconversão de Grupos Funcionais: Processo de converter um grupo
funcional em outro, por meio de reações de substituição, adição, eliminação,
redução ou oxidação.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
7- INCHAMENTO DA CELULOSE
A celulose sofre inchamento em diferentes solventes. A extensão do
inchamento depende do solvente e da natureza da amostra de celulose.
Exemplos de solventes: metanol, etanol, anilina, nitrobenzeno e benzaldeído.
De acordo com o sítio de absorção do solvente, são distinguidos dois
tipos de inchamento: intercristalino e intracristalino.
- Intercristalino: o solvente penetra somente nas regiões amorfas das
microfibrilas de celulose e entre as microfibrilas.
- Intracristalino: o solvente penetra na região cristalina das microfibrilas.
O inchamento intercristalino típico é aquele que ocorre na presença de água e o
intracristalino é o que ocorre na presença de hidróxido de sódio.
Resumo sobre inchamento da celulose:
Objetivo: torná-la mais reativa para a produção de derivados
- Ocorre devido à sua alta polaridade (grupos HO-);
- Inchamento intercristalino: pela água
» Ocorre entre as regiões cristalinas, isto é, ocorre nas regiões amorfas das
microfibrilas.
- Inchamento intracristalino: por ácidos e bases fortes;
» Ocorre dentro das regiões cristalinas das microfibrilas;
» A penetração de íons hidratados (HO-, H3O+) requer mais espaço que as
moléculas de água.
8- MERCERIZAÇÃO DA CELULOSE
É o processo de dissociação das microfibrilas, misturando umas às
outras e desordenando o sentido das mesmas. Técnica desenvolvida por John
Mercer, em 1844, que consiste no tratamento da celulose com álcali. Dois tipos:
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
- Celulose alcalina I
» Celulose tratada com NaOH 8-12%;
» Produção de viscose/rayon.
- Celulose alcalina II
» Celulose alcalina I tratada com NaOH 21%;
» Utilizada na fabricação de outros derivados (acetatos, nitratos).
Microscopia eletrônica de varredura, mostrando a morfologia da celulose e o
efeito da mercerização.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Representação esquemática das ligações intra e intermoleculares na
celulose I
9- DISSOLUÇÃO DA CELULOSE
A celulose é insolúvel em solventes comuns, devido a sua alta polaridade e
cristalinidade.
Dissolução da celulose:
- Solubilização em solventes específicos
- Via transformação em um derivado solúvel
» Nitrato - solúvel em acetona;
» Acetato - solúvel em clorofórmio ou acetona;
» Xantato - solúvel em hidróxido de sódio.
10- DEGRADAÇÃO DA CELULOSE
Por degradação entende-se a quebra da ligação 1,4 glicosídica da
molécula de celulose, ou seja, a quebra da ligação entre dois monômeros de
glicose. A degradação produz moléculas com grau de polimerização menor,
afetando, portanto, as propriedades que dependem do comprimento da cadeia
molecular da celulose, tais como viscosidade e resistência mecânica.
- Classes de degradação da celulose: hidrolítica, oxidativa, microbiológica, entre
outros tipos.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
10.1- Degradação hidrolítica
A degradação hidrolítica pode ocorrer em meio ácido e em meio alcalino.
A hidrólise ácida é bastante dependente do pH e, se a concentração do
ácido for alta, sua velocidade é alta, mesmo em temperaturas abaixo de 100°C.
A hidrólise alcalina, por sua vez, ocorre essencialmente de duas maneiras:
- Em temperatura superior a 150°C, mesmo em soluções concentradas de
álcali;
- Em temperatura acima de 70°C: resulta na retirada de uma glicose na forma
de ácido sacarínico. Essa reação denominada polimerização terminal, continua
até se formar (no término da cadeia de celulose), um grupo carboxílico que
estabiliza a celulose quanto a sua degradação.
10.2- Degradação oxidativa
A celulose é facilmente oxidada, sendo os grupos hidroxilas e aldeídicos
os pontos mais susceptíveis ao ataque. A maioria dos processos de oxidação é
ao acaso e leva, principalmente, à introdução de grupos carbonilas e carboxilas
em várias posições das glicoses da cadeia de celulose.
As ligações glicosídicas ativadas pelos grupos introduzidos na cadeia de
celulose podem sofrer degradação em meio alcalino ou ácido. Portanto, a
degradação oxidativa consiste em uma oxidação seguida de uma degradação
hidrolítica. Exemplos de agentes oxidantes: Cloro e peróxidos.
10.3- Degradação microbiológica
É uma hidrólise enzimática catalisada pela celulase, enzima produzida
amplamente por fungos e bactérias. É semelhante à degradação hidrolítica, mas
há uma diferença básica: na microbiológica, o ataque é localizado, devido as
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
moléculas das enzimas serem grandes e, portanto, não poderem se difundir
rapidamente na celulose. Na hidrolítica ocorre o contrário.
Na degradação microbiológica, embora haja perda de resistência da
celulose, conforme a degradação vai se processando, esta não é acompanhada
por uma grande diminuição da massa e do grau de polimerização da celulose.
10.4- Outros tipos de degradação
- Calor: A celulose pode ser aquecida sem ocorrer perdas até a temperatura
de 120°C. Se deixarmos sob uma prolongada exposição a essa temperatura
ela ficará escura em virtude da ausência de oxigênio. Em temperaturas mais
elevadas (140-150°C), as fibras tornam-se frágeis e perdem a maioria de suas
propriedades físicas. A 200°C, a celulose perde a sua estrutura fibrosa e a
325°C ocorre sua destilação.
- Luz: A luz produz uma intensa degradação da celulose, e os efeitos são
iguais a ação do calor (diminuição do grau de polimerização, oxidação,
resistência).
Resumindo: Reações de degradação da celulose
- Pela ação de ácido: Hidrólise;
- Pela ação de álcalis: Hidrólise alcalina e despolimerização terminal;
- Pela ação de oxidantes;
- Pela ação microbiológica;
- Pela ação do sol e da luz
11- Principais derivados da celulose
- Ésteres:
Nitrato de celulose: Usos: explosivos (TNC), laquês, filmes fotográficos;
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Acetato de celulose: muito utilizado na indústria têxtil e fotográfica, podendo em
muitas aplicações substituir o nitrato de celulose. Filmes de segurança e de raio
x.
- Éteres:
Metil celulose: plásticos, revestimentos, outros;
Carboximetilcelulose: Utilizada na indústria alimentícia, farmacêutica e de
cosméticos.
- Xantatos:
Xantato de celulose: Utilizada na indústria alimentícia, farmacêutica e de
cosméticos: Viscose e celofane.
Fixação de conteúdo
a) Descreva os tipos de ligações que ocorrem na molécula de celulose.
b) Descreva as teorias para explicar o fenômeno de histerese na celulose.
c) Descreva os tipos de inchamento que ocorre na celulose e qual é sua
importância.
d) Explique o processo de mercerização da celulose e qual é sua importância.
e) Descreva os tipos de reações de degradação que ocorrem na celulose.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
II- POLIOSES (HEMICELULOSES) – Aspectos Gerais
Fração dos CH2O extraível em álcali, correspondendo a 20 - 30 % do
peso da madeira. São polissacarídeos de baixo DP (~200), constituídos por
diferentes açúcares e ácidos:
- D-glucose, D-manose, D-galactose, D-xilose, Larabinose, L-fucose
- Ácido 4-O-metilglucurônico, ácido D-galacturônico e ácido D-glucurônico.
1- DISTRIBUIÇÃO E FUNÇÃO
- Estruturas ramificadas e amorfas;
- São associadas à lignina e a celulose;
- Possuem função estrutural;
- Localizadas em toda parede celular;
- Maior teor em S1 e S3;
- Alto teor em células do parênquima;
- Estas células podem conter até 80% de xilanas em madeiras de folhosas.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Açúcares componentes das Polioses
2- COMPOSIÇÃO DAS POLIOSES
As hexosanas resultam da condensação de hexoses. Ex: mananas,
glucanas, galactanas, glucomananas, galactoglucomananas (Coníferas).
As pentosanas resultam da condensação de pentoses. Ex: xilanas,
arabinanas.
Condensações de outros açúcares: Arabino 4-O-metilglucuronoxilana,
O-Acetil-4-O-metilglucuronoxilana (folhosas), arabinogalactana.
3- ISOLAMENTO DAS POLIOSES
- Extração com água: Arabinogalactanas
- Extração com álcali:
• Fraco: xilanas e arabinogalactanas
• Forte: galactoglucomananas
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
• Forte + borato: glucomananas
- Extração com DMSO (DIMETHYLSULFOXIDE): xilanas de folhosas.
4- SEPARAÇÃO DAS POLIOSES
- Extrações seletivas com álcali;
- Cromatografia de coluna;
- Metilação completa;
- Hidrólise total ou parcial;
- Identificação de monossacarídeos metilados;
- Determinação, em separado, de ácidos urônicos, grupos acetila e metoxila.
Quantidade de Polioses em Madeiras de Folhosas e de Coníferas
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
5- CLASSIFICAÇÃO DAS POLIOSES
- Madeiras de Folhosas:
• O-Acetil-4-O-metilglucurono-xilana;
• Glucomananas;
• Hemiceluloses extraíveis em água;
• Galactana de madeira de tensão.
- Madeiras de Coníferas:
• Arabino-4-O-metilglucurono-xilana;
• Galactoglucomananas;
• Arabinogalactanas;
• Galactana de madeira de compressão.
5.1- Poliose de Folhosas:
5.1.1- O- Acetil-4-O-metilglucurono-xilana
- 1-2 ud ácido 4-O- metilglucurônico: 10 ud xilose;
- 7 ud acetila : 10 ud de xilose;
- Ramificada e amorfa;
- Alta solubilidade em álcali;
- Representa cerca de 20-35% do peso madeira.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Estrutura da O-Acetil-4-O-metilglucurono-xilana
Estrutural:
Simbólica:
5.1.2- Glucomananas
- Representa cerca de 3-5% da madeira;
- Relação glucose:manose 1:2;
- Lineares e de difícil isolamento;
- Seu peso molecular exato é desconhecido;
- Boa estabilidade em ácido (C5 não disponível);
- Ligações manosídicas mais facilmente hidrolisadas que as glucosídicas.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Estrutura da Glucomanana
Estrutural:
Simbólica:
5.2- Polioses de Coníferas
5.2.1- Arabino 4-O- metilglucurono- xilana
- Difícil isolamento quantitativo: requer deslignificação prévia da madeira;
- Corresponde a 5-10% do peso da madeira;
- Resistem mais ao cozimento Kraft que as galactoglucomananas.
- Estrutura:
• β-D-xilopiranoses unidas por ligações β (1-4);
• grupos laterais de ácido 4-O-metil-α-D-glucurônico ligados ao C2 (2 ud
ácido : 10 ud xilose);
• grupos laterais de α-L-arabinofuranose ligados ao C3 (1-3 ud arabinose:
10 un. xilose).
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Estutura do Arabino- 4 -O- metilglucurono- xilana (formas estrutural e simbólica)
5.2.2- Xilanas de Coníferas x Xilanas de Folhosas
- Mais acídicas que as xilanas de folhosas (2 ud ácido: 10 ud xiloses);
- Não possuem grupos acetila;
- Possuem grupos laterais de L-arabinofuranose;
- Grupos laterais;
- Facilmente hidrolisados em ácido;
- Aumentam a resistência dessas xilanas ao álcali;
- Tornam essas xilanas parcialmente solúveis em água.
5.2.3- Acetato de Galactoglucomananas
- Corresponde a 15-20% do peso da madeira;
- DP~150;
- Estrutura:
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
• β-D- glucopiranoses e β-D-manopiranoses unidas por ligações β(1-4);
• Grupo acetila no C2 ou C3 (2-3 acetila: 10 ud G:M);
• Grupo lateral de α-D- galactopiranose ligado no C6;
• 3 man: 1 gluc : 1 galac = galactoglucomananas;
• 4 man: 1 gluc : 0,1 galac = glucomananas;
• Ramificada.
Estrutura do Acetato de galactoglucomananas (formas estrutural e
simbólica)
5.2.4- Galactoglucomananas
- Facilmente despolimerizadas por ácido;
- Solubilidade em álcali:
• alta (as de alto conteúdo de galactose);
• baixa (as de baixo conteúdo de galactose).
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
- Podem formar cristais após despolimerização e desacetilação, especialmente
as de baixa solubilidade em álcali.
Distribuição das polioses – Estudo aplicado
6- FUNÇÃO
- Facilitar a incrustação das microfibrilas;
- Planta que contém lignina contém hemiceluloses;
- Influenciam no teor de umidade da planta;
- Todas as hemiceluloses importantes da madeira são intrinsicamente solúveis
em água e, portanto muito hidrofílicas;
- Adesão à celulose através de pontes de hidrogênio.
7- IMPORTÂNCIA PRÁTICA
- Aumentam o rendimento em produção de celulose;
- Desejáveis na fabricação de papel refinado;
- São hidrofílicas: facilitam o refino da polpa (lubrificante);
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
- Melhoram resistências que dependem das ligações entre fibras (adesivo);
- Indesejáveis na fabricação de papeis sanitários;
- Formação de finos;
- Aderência ao rolo Yankee (expulsão de água).
8- REATIVIDADE
Diferenças em relação à celulose:
- Químicas:
• Maior número de grupos funcionais;
• Monômeros menos estáveis;
• Menor peso molecular.
- Físicas:
• ramificadas;
• amorfas → maior facilidade de acesso aos reagentes;
8.1- Particularidades
Embora a celulose e as polioses apresentem reações semelhantes, há
diferenças entre suas reatividades, que são devidas a diferenças em
acessibilidade.
Por não possuir regiões cristalinas, as polioses são atingidas mais facilmente por
produtos químicos. Entretanto, devido à perda de alguns substituintes da cadeia,
as polioses podem sofrer cristalização induzida pela formação de pontes de
hidrogênio, a partir de hidroxilas de cadeias adjacentes, dificultando, desta
forma, a atuação de um produto químico com o qual esteja em contato.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
8.2- POLIOSES – PASTA CELULÓSICA
As polioses são responsáveis por diversas propriedades importantes das
pastas celulósicas. Devido à ausência de cristalinidade, sua baixa massa
molecular e sua configuração irregular e ramificada, as polioses absorvem água
facilmente. Este fato contribui para: entumescimento, mobilidade interna,
aumento de flexibilidade das fibras, redução do tempo e da energia requeridos
na refinação de pastas celulósicas e o aumento da área específica ou de ligação
das fibras.
Outra influência das polioses nas propriedades das fibras de pastas
celulósicas pode ser observada na secagem.
As polioses, sendo amorfas e adesivas por natureza, tendem na
secagem, a perder sua elasticidade e endurecem, pois aumenta o contato fibra-
fibra no tecido da madeira, não deixando a água retornar quando a madeira sai
da estufa ou entra em contato com uma umidade relativamente maior que a da
madeira. Essa propriedade também atua na formação da folha de papel e sua
secagem.
Quantidades extremamente altas de polioses podem resultar em um
decréscimo das propriedades de resistência a tração, não devido ao efeito de
ligação, mas possivelmente devido à diminuição da resistência da fibra
individual, em decorrência do decréscimo do grau médio de polimerização do
sistema.
A presença de polioses é indesejável na fabricação de derivados de
celulose, por causa da formação de gel.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
8.3- Derivados das Polioses
Produtos derivados das polioses por hidrólise ácida, a partir de xilose e manose.
- IMPLICAÇÃO NA PRODUÇÃO DE DERIVADOS
Precisam ser removidas, pois são impurezas prejudiciais à xantação,
esterificação e eterificação e causam entupimento dos filtros, porque estes
formam gel.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
9. OUTROS CARBOIDRATOS DA MADEIRA
9.1- PECTINA
- Mais abundante na casca;
- Estrutura (pouco conhecida):
• Consistem de unidades de ácido α-Dgalacturônico unidas por ligações
α(1-4);
• Podem conter L-arabinose e D-galactose;
• De alto peso molecular.
9.2- AMIDO
- Principal polissacarídeo de reserva da madeira;
- Consiste de amilose e amilopectina:
• Amilose → α-D-anidroglucopiranoses unidas por ligacões α (1-4), linear
e de alto PM;
• Amilopectina → α-D-anidroglucopiranoses unidas por ligacões α (1-4) e
α (1-6), ramificada e de PM muito alto;
- Proporção: 1 amilose: 2 amilopectinas.
FIXAÇÃO DE CONTEÚDO
- Formule e responda 10 questões sobre a matéria dada.
OBS: As perguntas devem abranger todo o conteúdo exposto.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
III- LIGNINA – Aspectos Gerais
Nem tudo é branco no preto
1- INTRODUÇÃO
A lignina é o terceiro componente fundamental da madeira, ocorrendo
entre 15 e 35% de seu peso.
- POR QUE TANTO INTERESSE?
“Simplesmente” porque a lignina é a substância que mantém o vegetal em pé.
Interfere na produção de pasta celulósica e papel. Por isso, é a “menina dos
olhos” da área de bioenergia.
O que se procura atualmente é a manipulação genética de árvores para
produzirem menos ou mais lignina, ou um tipo de lignina diferente, que poderia
ser facilmente retirada. Tem um grande interesse econômico.
2- IMPORTÂNCIA GENÉTICA
2.1- Xilogênese
É o desenvolvimento do xilema secundário, ou seja, é a formação da
madeira propriamente dita. Etapas da xilogênese: divisão celular, elongação,
biossíntese da parede celular, lignificação e atividade celular programada.
3- LIGNINA
O termo lignina, de forma mais ampla, refere-se à lignina que compõe
os diferentes tipos de plantas, mas que diferem uma da outra de acordo com a
espécie e localização dentro da planta.
O termo protolignina ou lignina “in situ” refere-se à lignina associada ao
tecido da planta, uma vez que para separar a lignina da sua associação natural
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
na parede celular há, pelo menos, ruptura das ligações lignina-polissacarídeos e
uma redução no peso molecular.
PROTOLIGNINA (Macromolécula)
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
LIGNINA
A lignina se localiza principalmente na lamela média onde é depositada
durante a lignificação do tecido vegetal. Quando o processo de lignificação
termina, geralmente coincide com a diminuição das atividades fisiológicas da
célula. Conclui-se, portanto, que a lignina é um produto final do metabolismo da
planta.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Localização da lignina
Lignina – Distribuição na parede celular de um traqueoide
Madeira Região Volume do Lignina (% do Concentração
morfológica tecido (%) total) da lignina (%)
S 87 72 23
LI ML 9 16 50
CC 4 12 85
S 94 82 22
LT ML 4 10 60
CC 2 9 100
LI - lenho de início de estação; LT - lenho de fim estação; S - parede secundária ; ML -
lamela média composta e CC - canto das células.
A lignina assim como a celulose, também é uma macromolécula, mas
difere desta porque é predominantemente um composto aromático e porque é
altamente irregular em sua constituição e estrutura molecular.
As ligninas presentes nas paredes celulares das plantas estão
associadas com a holocelulose, não só através de interação física como também
química (ligações covalentes).
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
A lignina é encontrada em muitas plantas do reino vegetal, porém, sua
constituição não é a mesma em todas elas. Não deve ser considerada como uma
substância química única, mas sim como uma classe de materiais correlatos.
4- LIGNINA - CONCEITO ATUAL
É um polímero de natureza aromática, com alto peso molecular, que tem
como base estrutural unidades de fenil-propano e provavelmente está ligada aos
polissacarídeos (polioses e celulose) da madeira.
É bem aceito o fato de a lignina ter sua biossíntese a partir da
polimerização dehidrogenativa (iniciada por enzimas) dos seguintes precursores
primários: álcool trans-coniferílico, álcool trans-sinapílico e álcool para-
trans-cumárílico.
É constituída de unidades de fenil-propano unidas por ligações C-O-C e
C-C e com diferentes teores de grupos alcóolicos e metoxílicos dependendo da
madeira.
4.1- Lignificação
Precursores Majoritários da Lignina (monolignóis)
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
4.2- A química da lignina
Além dos monolignóis, diversas classes de compostos derivam, em
menor proporção, da mesma rota biossintetizante dos fenilpropanóides,
principalmente: flavonóides, isoflavonóides, furanocoumarinas, fenóis simples,
ácidos e álcoois coniferílicos glicosilados.
Essas substâncias possuem funções de defesa (fitoalexinas e protetores
à luz ultravioleta), ecológicas (pigmentos e fragrâncias) e de reguladores do
crescimento (hormônios).
4.3- Estrutura química da lignina
A estrutura química da lignina não é totalmente conhecida,
principalmente, devido ao fato das alterações que ela sofre durante o seu
isolamento na madeira.
4.3.1- Composição elementar
Na composição química elementar da lignina ocorrem única e
exclusivamente: carbono, hidrogênio e oxigênio.
A composição elementar percentual varia de espécie para espécie e
também conforme o método de isolamento da mesma.
4.3.2- Base estrutural
A base estrutural da lignina é o fenil-propano. No anel benzênico são
ligados um número variável de grupos hidroxílicos e metoxílicos. Esses grupos
fazem com que o fenil-propano tome a forma de radicais químicos bem definidos.
As ligações são do tipo éter (c-o-c) ou c-c.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Na lignina que ocorre nas madeiras das gimnospermas predominam
radicais do tipo guaiacil-propano (metoxi-3-hidroxi-4-fenil-propano). Tipo:
G.·
Na lignina que ocorre nas angiospermas dicotiledôneas predominam
radicais do tipo siringil-propano (dimetoxi-3-5-hidroxi-4-fenil-propano), mas
tem também guaiacil-propano (metoxi-3-hidroxi-4-fenil-propano). Tipo - S:G.
Quimicamente
(7) Predominância nas coníferas (G); (8) Predominância nas folhosas (S); (9)
Predominância nas monocotiledôneas (H).
Lembretinho ...
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
- Posição Orto: os grupos metila estão paralelos (juntos) – C2, C6.
- Posição Meta: os grupos metila estão separados - C3, C5.
- Posição Para: os grupos metila estão completamente opostos em relação ao
anel aromático que os contém - C4.
4.3.3- Grupos funcionais
a) Grupos metoxílicos (OCH3)
São os grupos funcionais mais característicos da lignina, e apesar de
aparecer também nas polioses, cerca de 90% dos grupos metoxílicos da madeira
são da lignina.
De maneira geral, a lignina das coníferas apresenta em torno de 16% de
OCH3 (0,95/unidade de fenil-propano) e das folhosas cerca de 22 (1,40/unidade
de fenil-propano).
b) Grupos hidroxílicos (OH)
Os grupos hidroxílicos que ocorrem na lignina representam cerca de
10% de seu peso (1,1/unidade de fenil-propano) tanto para coníferas como para
folhosas. Estes grupos em geral são de natureza fenólica ou alcoólica (álcoois
primários, secundários e terciários)
c) Outros grupos funcionais
Na lignina ocorrem outros grupos funcionais entre os quais se destacam
os grupos carboxílicos (COOH) em torno de 0,05/unidade de fenil-propano e
grupos carbonilos (CO), 0,1 a 0,2/unidade de fenil - propano.
Carboxila Carbonila
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
4.4- Propriedades da lignina
4.4.1- Massa molecular
As massas moleculares dos derivados solúveis de lignina situam-se
numa faixa bastante ampla. Na literatura há desde valores inferiores a 103 até
valores acima de 106, tanto para lignossulfonatos como para ligninas alcalinas.
De certo modo a molécula de lignina pode ser reduzida a um tamanho
suficientemente pequeno, neste caso, sendo considerada um composto químico
que exibe comportamento dos compostos solúveis, ou suficientemente grande,
assumindo o comportamento de um polímero artificial de cadeia longa.
A maioria dos valores de massa molecular para ligninas isoladas está na
faixa de 1.000 a 1.200, dependendo da intensidade da degradação química e/ou
da condensação ocorrida durante o isolamento. Considerando a massa
molecular do fenil/propano (unidade formadora) como 184, o grau de
polimerização das ligninas isoladas encontra-se na faixa de 5 a 60.
4.4.2- Transição vítrea
É uma propriedade dos materiais amorfos na qual um mesmo composto
pode se apresentar no estado vítreo ou no estado “maleável”, sem a ocorrência
de uma mudança drástica em sua estrutura química. É um processo
termodinâmico e cinético que ocorre de forma temporária e é induzido pela
temperatura.
A lignina sendo um polímero amorfo possui um ponto de transição vítrea
(de amolecimento ou enrijecimento), que varia consideravelmente conforme a
origem e o método utilizado para o seu isolamento.
4.4.2.1- Temperatura de transição vítrea
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
- Conhecida também como Glass Transition Temperature (TG), é o intervalo de
temperatura na qual um composto amorfo começa a plasticizar ou vitrificar.
- Experimentalmente seria o intervalo de temperatura abaixo do qual um
composto amorfo se torna duro e frágil (estado vítreo), e acima do qual o mesmo
composto se torna macio e maleável (estado “borrachoso”).
- Intervalo de temperatura de plasticização da lignina: 135 a 190°C. Essa
temperatura é influenciada pelo teor de umidade (quanto maior a umidade menor
a temperatura de plasticização) e pela massa molecular (quanto maior a massa
molecular, maior a temperatura de plasticização).
- Torna-se pegajosa – vira adesivo.
- É importante na fabricação de papel/papelão não-branqueado e nas
confecções de chapas de fibras.
4.5- Funções da lignina na planta
- Aumenta a rigidez da parede celular;
- Une as células umas às outras;
- Reduz a permeabilidade da parede celular à água;
- Protege a madeira contra micro-organismos (sendo essencialmente fenólica, a
lignina age como um fungicida);
- Fórmula elementar baseada no C9 (fenilpropano): C9H7,92O2,40(OCH3)0,92;
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
4.6- Derivados da lignina
4.7- Reações químicas da lignina
As reações químicas da lignina foram estudadas para conhecer sua
estrutura química. Estas reações servem também para explicar os fenômenos
que ocorrem no cozimento da madeira para a produção de pasta celulósica e no
seu branqueamento.
4.7.1- Tipos de reações químicas
- Sulfonação;
- Hidrólise ácida;
- Hidrólise alcalina;
- Condensação e mercaptação;
- Halogenação;
- Oxidação.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
a) Sulfonação
Ocorre quando a madeira ou a própria lignina é tratada com sulfitos ou
bissulfitos metálicos. Forma-se: compostos a base de ácido sulfuroso. Estes
produtos são denominados ácidos lignossulfônicos ou lignossulfonatos, que
ficam na solução enquanto os polissacarídeos permanecem insolúveis.
b) Hidrólise ácida
A lignina é bastante resistente à hidrólise ácida, porém quando aquecida
em meio ácido sob condições específicas, pode ocorrer hidrólise, principalmente
nas ligações éter.
c) Hidrólise alcalina
Quando a lignina é tratada com soluções alcalinas em altas temperaturas
podem ocorrer rupturas nas ligações de éter entre as unidades de fenil-propano,
formando grupos fenólicos, responsáveis por sua solubilização.
d) Condensação e mercaptação
Condensação é a reação que os componentes hidrolisados da lignina
podem sofrer entre si ou com outros componentes químicos. Neste tipo de
reação poderão ser formados compostos de elevado peso molecular e em
algumas espécies, poderá haver a reversão da hidrólise e solubilização da
lignina. Em alguns casos os produtos da condensação podem apresentar peso
molecular superior ao da lignina original.
A mercaptação é o resultado da reação de certos grupos da lignina com
os íons hidrossulfeto ou sulfeto. O nome mercaptação vem do fato de que entre
os produtos da reação ocorre a formação de mercaptanas. Esta reação é
bastante importante sob o aspecto da ocorrência de reações de condensação.
e) Halogenação
Do ponto de vista prático a reação de halogenação mais importante é a
cloração. A cloração da lignina seguida de extração alcalina é utilizada
comercialmente como estágios do processo de branqueamento da celulose.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
Cloração
f) Oxidação
Uma série de agentes oxidantes atuam sobre a lignina e o emprego dos
mesmos é importante nos processos de branqueamento da celulose. Os
principais agentes oxidantes empregados atualmente são: hipocloritos de sódio
e cálcio, clorito de sódio, dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio e sódio.
4.8- Importância da lignina
Para o vegetal: Marco de evolução dentro do reino vegetal.
- Adaptação da planta à vida terrestre.
- Condução eficiente de água e nutrientes.
- Defesa vegetal ao ataque de patógenos
Para o homem: Geração de coprodutos para a área de adesivos e
bioenergia.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
4.9- Novidades na ciência
4.9.1- Função fisiológica
As ligninas parecem exercer um importante papel na ancoragem e
sustentação de polissacarídeos da parede celular durante a deposição dos
mesmos.Ou seja, celulose e polioses só conseguem se manter na parede por
causa da presença da lignina.
4.10- Classificação atual
- Lignina não core: consiste de compostos fenólicos de baixa massa molecular,
liberados da parede celular por hidrólise, que é representada por ácidos p-
hidroxicinâmico éster-ligados.
- Lignina core: consiste em polímeros fenilpropanóides da parede celular,
altamente condensados e muito resistentes à degradação. Eles são compostos
de unidades p-hidroxifenilas (H), guaiacila (G) e siringila (S) em proporções
diferentes, de acordo com sua origem.
Compostos químicos da hidrólise da lignina
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Universidade Federal de Mato Grosso - Faculdade de Engenharia Florestal
Disciplina de Tecnologia Química de Produtos Florestais
4.11- Problemas à vista
Pouco se sabe a respeito da formação do polímero de lignina per se, sua
estrutura in situ e sua biodegradação.
O Fio de Ariadne: A rota metabólica de formação dos monolignóis.
Aplicação de aprendizado:
Responda as questões abaixo, mas, por favor, SEM CONSULTA.
1) Quais são os principais precursores da lignina?
2) Quais são os tipos de lignina predominantes em MFL e em MFC? Diferencie-
as quimicamente.
3) Quais são os grupos funcionais presentes na lignina? Fale sobre um deles.
4) Qual a importância dos grupos funcionais da lignina?
5) O que é transição vítrea e qual sua importância para a utilização da lignina?
6) Qual a diferença entre protolignina e lignina.
Professora Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza
Você também pode gostar
- Físico-química de Blendas e Compósitos PoliméricosNo EverandFísico-química de Blendas e Compósitos PoliméricosNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Relatório Análise Via SecaDocumento6 páginasRelatório Análise Via SecaCarolina Durães BragaAinda não há avaliações
- Ciências 6ºanoDocumento2 páginasCiências 6ºanoCubo Mágico100% (2)
- Caldeiras, Superaquecedores e Reaquecedores - FORMATADODocumento43 páginasCaldeiras, Superaquecedores e Reaquecedores - FORMATADOÍngrid Alves100% (1)
- NBR 8660 - Revestimento de Piso - Determinacao Da Densidade Critica de Fluxo de Energia TermicaDocumento10 páginasNBR 8660 - Revestimento de Piso - Determinacao Da Densidade Critica de Fluxo de Energia TermicaAlexandre Oliveira100% (3)
- Curso Online Gratuito Credito CarbonoDocumento28 páginasCurso Online Gratuito Credito CarbonoJuracy Soares100% (2)
- C3 C4 Cam - FIVADocumento12 páginasC3 C4 Cam - FIVAalcidiovascomurambiwa633100% (1)
- 2016 Thais Isabel RodriguesDocumento88 páginas2016 Thais Isabel RodriguesMarcos Antonio Ribeiro JuniorAinda não há avaliações
- Ecossistema Terrestre - SualeDocumento36 páginasEcossistema Terrestre - SualeMuniro Mussa83% (12)
- Biomassa&BiocombustiveisDocumento21 páginasBiomassa&BiocombustiveisRaphael CramerAinda não há avaliações
- Obtenção de Polímeros Biodegradáveis A Partir Do Bagaço Da Cana E Líquido Da Castanha de Caju Da Região Norte de MsDocumento4 páginasObtenção de Polímeros Biodegradáveis A Partir Do Bagaço Da Cana E Líquido Da Castanha de Caju Da Região Norte de MsEugenio ManuelAinda não há avaliações
- Compostagem Utilizando Bagaço de Cana-De-AçucarDocumento3 páginasCompostagem Utilizando Bagaço de Cana-De-AçucargerenciacpsejusAinda não há avaliações
- Compostagem - VermicompostagemDocumento9 páginasCompostagem - Vermicompostagemescunder89Ainda não há avaliações
- Lipidos e Proteinas Bioquimica, 1o Grup. CDocumento17 páginasLipidos e Proteinas Bioquimica, 1o Grup. CMomade Arnaldo MuatucaAinda não há avaliações
- Compostagem de Residuos Vegetais Por Diferentes Metodos de AeraçãoDocumento60 páginasCompostagem de Residuos Vegetais Por Diferentes Metodos de AeraçãoLuis AlvesAinda não há avaliações
- Organica II, 5 GrupoDocumento28 páginasOrganica II, 5 GrupoXadreque Victorino Monteiro UassedaAinda não há avaliações
- MONOGRAFIADocumento28 páginasMONOGRAFIACarla FerreiraAinda não há avaliações
- TCC Lucas CalladoDocumento108 páginasTCC Lucas CalladoEbrahim KazemiAinda não há avaliações
- Sergio Massafumi Okano PDFDocumento115 páginasSergio Massafumi Okano PDFDenner DédaAinda não há avaliações
- Produção de Plásticos Biodegradáveis Por Fermentação (PHA e PHB)Documento27 páginasProdução de Plásticos Biodegradáveis Por Fermentação (PHA e PHB)Lorraine OliveiraAinda não há avaliações
- Ciclagem de Nutrientes em Floretas e PastagensDocumento62 páginasCiclagem de Nutrientes em Floretas e PastagensDANILO SANTOS100% (1)
- Metabolismo Do MillhoDocumento16 páginasMetabolismo Do MillhoMomade Ibraimo AssaneAinda não há avaliações
- A Utilização De Material Lignocelulósico Na Produção De BioetanolNo EverandA Utilização De Material Lignocelulósico Na Produção De BioetanolAinda não há avaliações
- Trtamento Fibra Do Coco Como Reforço em CompostiosDocumento89 páginasTrtamento Fibra Do Coco Como Reforço em CompostiosfabsonfjbAinda não há avaliações
- Universidade Eduardo Mondlane: Estimativa de Carbono em Uma Área Florestal em MossurizeDocumento53 páginasUniversidade Eduardo Mondlane: Estimativa de Carbono em Uma Área Florestal em MossurizeSamuel ZefaniasAinda não há avaliações
- Sequestro de Carbono PDFDocumento161 páginasSequestro de Carbono PDFLeandro FrenedaAinda não há avaliações
- Caracterização Química de ResíduosDocumento9 páginasCaracterização Química de ResíduosCândido LelisAinda não há avaliações
- Quimica AmbientalDocumento98 páginasQuimica AmbientalCharles BritoAinda não há avaliações
- 1967 13707 1 PBDocumento14 páginas1967 13707 1 PBEmmanuel Reinan Santana PinheiroAinda não há avaliações
- Gerenciamento Ambiental de Fluidos de Corte em Indústrias Metal-MecânicasDocumento189 páginasGerenciamento Ambiental de Fluidos de Corte em Indústrias Metal-Mecânicaskelly jeusAinda não há avaliações
- TCC Guilherme Henrique Ribeiro Rodrigues (Versão Final)Documento37 páginasTCC Guilherme Henrique Ribeiro Rodrigues (Versão Final)Guilherme Henrique R. RodriguesAinda não há avaliações
- Polímeros BiodegradáveisDocumento17 páginasPolímeros BiodegradáveisVanurdy GoveAinda não há avaliações
- Lista Exercícios - 22 - Recursos EnergéticosDocumento3 páginasLista Exercícios - 22 - Recursos EnergéticosAna MazieroAinda não há avaliações
- Compost A GemDocumento38 páginasCompost A GemManoel Alexandre Diniz NetoAinda não há avaliações
- C Q T V, C P C: Omposição Uímica de Aninos Egetais Urtimento E Ropriedades Nos OurosDocumento104 páginasC Q T V, C P C: Omposição Uímica de Aninos Egetais Urtimento E Ropriedades Nos Ouros0000939686Ainda não há avaliações
- Etec Lauro GomesDocumento15 páginasEtec Lauro GomesSther LaisAinda não há avaliações
- 2 PBDocumento10 páginas2 PBMarcos JulianoAinda não há avaliações
- Projecto de Pesquisa PDFDocumento14 páginasProjecto de Pesquisa PDFjose ricardo changa changa100% (2)
- Biodegradacao e Preservacao Da MadeiraDocumento17 páginasBiodegradacao e Preservacao Da MadeiraLELIO JOSE DE SALESAinda não há avaliações
- Perdas Energeticas Na Superficie Da Radiacao Nos Fornos de PiroliseDocumento99 páginasPerdas Energeticas Na Superficie Da Radiacao Nos Fornos de PiroliseAlexandre VicenteAinda não há avaliações
- Solo LicenciamentoDocumento125 páginasSolo LicenciamentoRonaldo SáAinda não há avaliações
- BiorremediaçãoDocumento18 páginasBiorremediaçãoAlini DalbetoAinda não há avaliações
- Polímeros Materiais Que Transformaram o Mundo - Adriana Marmelo ArrudaDocumento69 páginasPolímeros Materiais Que Transformaram o Mundo - Adriana Marmelo ArrudaSalviano EvaristoAinda não há avaliações
- Influencia Vegetacao Conforto Termico UrbanoDocumento205 páginasInfluencia Vegetacao Conforto Termico UrbanomarcomilazzoAinda não há avaliações
- Apostila Química Dos Polímeros 2011 PDFDocumento84 páginasApostila Química Dos Polímeros 2011 PDFGuilherme Dos Santos MoreiraAinda não há avaliações
- Formas Aproveitamento Residuos MadeiraDocumento46 páginasFormas Aproveitamento Residuos MadeiraYancunha2Ainda não há avaliações
- W. Fisiologia VegetalDocumento9 páginasW. Fisiologia VegetalPedro ThaweAinda não há avaliações
- 7oano - Abc Lo 28092020Documento28 páginas7oano - Abc Lo 28092020Elaine Iaras Da Silva SiqueiraAinda não há avaliações
- Análise de Blendas Compostas Por Resíduos de PP e PeDocumento11 páginasAnálise de Blendas Compostas Por Resíduos de PP e PeRenata NegriniAinda não há avaliações
- Caíque e HenriqueDocumento15 páginasCaíque e HenriqueHenrique CandidoAinda não há avaliações
- Tcc-Cogea 2014 2 13Documento42 páginasTcc-Cogea 2014 2 13Monica BarbosaAinda não há avaliações
- 119Documento47 páginas119sosela8771Ainda não há avaliações
- TCC Paulo Ozeride SilvaDocumento40 páginasTCC Paulo Ozeride SilvaLeandro LuizAinda não há avaliações
- 7º Ano - Ciencias - 1 Quinzena - 4 e 5 Semana 26091349Documento4 páginas7º Ano - Ciencias - 1 Quinzena - 4 e 5 Semana 26091349Rochedao RogAinda não há avaliações
- Compostagem e VermicompostagemDocumento24 páginasCompostagem e VermicompostagemLarissa XavierAinda não há avaliações
- Camila Santos 2018Documento40 páginasCamila Santos 2018EmidioAinda não há avaliações
- EsgotoDocumento123 páginasEsgotoJuliana TenórioAinda não há avaliações
- Universidade Jean Piaget de Moçambique Curso de Licenciatura em AgronomiaDocumento13 páginasUniversidade Jean Piaget de Moçambique Curso de Licenciatura em AgronomiaHélioAinda não há avaliações
- Impacto Da Colheita de Cana-De-Açúcar Nos Mamíferos e Répteis Silvestres Da Região Do Pontal Do Paranapanema, SP.Documento50 páginasImpacto Da Colheita de Cana-De-Açúcar Nos Mamíferos e Répteis Silvestres Da Região Do Pontal Do Paranapanema, SP.Danilo Nascimento SilvaAinda não há avaliações
- Apostila Química Dos Polímeros 2011Documento84 páginasApostila Química Dos Polímeros 2011Eva SilvaAinda não há avaliações
- Plano de Eletiva (1) Riquezas Da AmazôniaDocumento7 páginasPlano de Eletiva (1) Riquezas Da AmazôniaMARCIO PINHEIROAinda não há avaliações
- Aula 1 - Conceito Geral - ResumoDocumento31 páginasAula 1 - Conceito Geral - ResumoHEITOR RENNAN INTERAMINENSE SILVAAinda não há avaliações
- Mestrado Revisado FormatadoDocumento75 páginasMestrado Revisado FormatadoAdriano ItoAinda não há avaliações
- Biosssorção de Metais Pesados em PlantasDocumento157 páginasBiosssorção de Metais Pesados em PlantasAlexandre WittAinda não há avaliações
- Poluentes Orgânicos Persistentes: a Dúzia Suja da Convenção de Estocolmo e a Realidade BrasileiraNo EverandPoluentes Orgânicos Persistentes: a Dúzia Suja da Convenção de Estocolmo e a Realidade BrasileiraAinda não há avaliações
- Usina Hidrelétrica.Documento8 páginasUsina Hidrelétrica.danielAinda não há avaliações
- Aps BromatologiaDocumento3 páginasAps Bromatologiafofinho.weslleyAinda não há avaliações
- Aula - 19 - Propriedades Térmicas e ElétricasDocumento46 páginasAula - 19 - Propriedades Térmicas e ElétricasAndré Henrique100% (2)
- Elemento TerraplenagemDocumento48 páginasElemento Terraplenagemshelton089Ainda não há avaliações
- Faraday - HistoriaDocumento4 páginasFaraday - HistoriaJanaina Diehl Ante DomenicoAinda não há avaliações
- Boletim Tecnico N.° 30Documento482 páginasBoletim Tecnico N.° 30Alcinei Ribeiro100% (1)
- Avaliação em Química - AV2Documento1 páginaAvaliação em Química - AV2Rafael PortoAinda não há avaliações
- TCC IDocumento8 páginasTCC ILarissa FreitagAinda não há avaliações
- O Ciclo de CarnotDocumento25 páginasO Ciclo de CarnotPedro LessaAinda não há avaliações
- Leis de Escala em Física e Estruturas BiológicasDocumento5 páginasLeis de Escala em Física e Estruturas Biológicasparente9702Ainda não há avaliações
- Metodos de TratamentoDocumento58 páginasMetodos de TratamentoRafael50% (2)
- JOAO VICTOR CEZAR TERRES 44000049 - 2 Ano Exercicios de RevisaoDocumento2 páginasJOAO VICTOR CEZAR TERRES 44000049 - 2 Ano Exercicios de RevisaoarthurAinda não há avaliações
- Apostila de Avaliacao de Impacto AmbientalDocumento52 páginasApostila de Avaliacao de Impacto AmbientalTarcila Valentim100% (1)
- Exercicios 2023 Aulas6a9Documento9 páginasExercicios 2023 Aulas6a9ensino.quimica.ufabcAinda não há avaliações
- Subsídios para Identificação Visual de Problemas em Células E Módulos FotovoltaicosDocumento12 páginasSubsídios para Identificação Visual de Problemas em Células E Módulos FotovoltaicosSarah SequeiraAinda não há avaliações
- Segundo Oficial de MaquinasDocumento13 páginasSegundo Oficial de MaquinasSkrillexAinda não há avaliações
- Aula3 CMM Parte1 PDFDocumento61 páginasAula3 CMM Parte1 PDFEric EspíndolaAinda não há avaliações
- Aprender e Brincar Fora Da Sala de AulaDocumento11 páginasAprender e Brincar Fora Da Sala de AulaStephanie Machado BarbosaAinda não há avaliações
- BiogeografiaDocumento318 páginasBiogeografiaJoão Matheus50% (2)
- Marista - Química - 9ºano - 1 Etapa - Avaliação DiagnósticaDocumento3 páginasMarista - Química - 9ºano - 1 Etapa - Avaliação DiagnósticaRenan Barcelos MendesAinda não há avaliações
- Aula 30 - Segunda Lei de NewtonDocumento2 páginasAula 30 - Segunda Lei de NewtonPaull VicthorAinda não há avaliações
- Trabalho de Fisica 2° Ano EFADocumento2 páginasTrabalho de Fisica 2° Ano EFALailson da ChaguinhaAinda não há avaliações
- Energia, Exercícios, Folha SoltaDocumento5 páginasEnergia, Exercícios, Folha SoltaKyki ConceiçaoAinda não há avaliações
- Abiogênese e BiogêneseDocumento3 páginasAbiogênese e BiogêneseZoom 16xAinda não há avaliações
- 1 - 1 Prospecção Geoquímica - CompletâoDocumento196 páginas1 - 1 Prospecção Geoquímica - CompletâoSilvioAngeloRabelo100% (3)